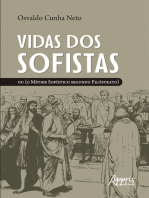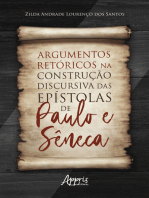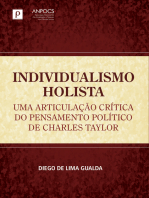Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
HABERMAS, Jurgen. Entre Naturalismo e Religião
Enviado por
Mil TonDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HABERMAS, Jurgen. Entre Naturalismo e Religião
Enviado por
Mil TonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DEDALUS - Acervo - FFLCH-HI
21200052008
C1P-BRASIL. CATALOGAO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS. RJ
H119e Habermas, Jrgen, 1929-
Entre naturalismo e religio: estudos filosficos / Jrgen
Habermas; (traduo Flvio Beno Siebeneichler). - Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007.
400 p.; - (Biblioteca Colgio do Brasil; 14)
Traduo de /s:|.+ \s+s|s-+s ++1 |.|+
|||s|s:|. 1+/ss,.
ISBN 978-85-282-0141-3
1. Metafsica. 2. Religio - Filosofia. 3. Naturalismo.
4. Tolerncia religiosa. 5. Solidariedade. I. Ttulo. II. Srie.
07-1889
CDD 110
CDU 11
JRGEN HABERMAS
ENTRE NATURALISMO E RELIGIO.
ESTUDOS FILOSFICOS
SBD- FFLCH- USP
325428
Tempo Brasileiro
BIBLIOTECA COLGIO DO BRASIL -l i
Diretor
EDUARDO PORTELLA
Professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Traduzido do original alemo
JrgenHabermas. Zwischen Naturalismus und Religion.
Philosophische Aufsatze
Copyright
SUHRKAMP VERLAG
Frankfurt am Main, 2005
(Todos os direitos reservados)
Traduo
FLVIO BENO SIEBENEICHLER
Capa e Diagramao
JUNIA CAMARI NHA DA SILVA
Direitos reservados a
EDIES TEMPO BRASILEIRO LTDA.
Rua Gago Coutinho, 61 - Laranjeiras
CEP: 22221-070 - CP 16.099
Telefax: (21) 2205-5949
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
e-mail: tb@tempobrasileiro.com.br
2007
SUMRIO
Introduo 7
I. A constituio intersubjetiva do esprito que se guia
por normas 15
1. Espao pblico e esfera pblica poltica. Razes
biogrficas de dois motivos de pensamento 15
2. Agir comunicativo e razo destranscendentalizada 31
3. Sobre a arquitetnica da diferenciao do discurso.
Pequena rplica a uma grande controvrsia 91
II. Pluralismo religioso e solidariedade de cidados do
Estado 115
4. Bases pr-polticas do Estado de direito democrtico . . 115
5. Religio na esfera pblica. Pressuposies cognitivas
para o "uso pblico da razo" de cidados seculares e
religiosos 129
III. Naturalismo e religio 169
6. Liberdade e determinismo 169
7. "Eu mesmo sou um bocado de natureza" - Adorno
sobre o enlaamento entre razo e natureza.
Consideraes sobre a relao entre liberdade e
indisponibilidade 203
8. A fronteira entre f e saber. Sobre o alcance e a importncia
histrica da filosofia da religio, de Kant 235
IV. Tolerncia 2 7 9
9. A tolerncia religiosa como precursora de direitos
culturais 2 7 9
10. Direitos culturais iguais - e os limites do liberalismo
ps-moderno 301
11. Uma constituio poltica para a sociedade mundial
pluralista? 348
Sobre os captulos deste livro 393
Registro de nomes 395
INTRODUO
Duas tendncias contrrias caracterizam a situao cultural
da poca atual - a proliferao de imagens de mundo naturalistas
e a influncia poltica crescente das ortodoxias religiosas.
De um lado, domi nam a cena os progressos na rea da
biogentica, nas pesquisas sobre o crebro e na robtica, que so
impulsionados por esperanas teraputicas e eugnicas. O conjunto
desses programas se destina propalao, nos prprios contextos
da ao e da comunicao, de uma autocompreenso objetivada
das pessoas nos moldes das cincias naturais. O adestramento numa
perspectiva de auto-objetivao capaz de reduzir tudo o que viven-
civel e compreensvel a algo observvel poderi a estimular,
outrossim, a disposio a uma correspondente auto-instrumen-
talizao.' A luz da filosofia, possvel afirmar que tal tendncia
vem associada ao desafio de um naturalismo cientificista. O que
se discute no o fato de que todas as operaes do esprito humano
dependem de um subst r at o orgnico. Jque o mot i vo da
controvrsia tem a ver, antes, com o modo correto de naturalizao
do esprito. Uma compreenso naturalista adequada da evoluo
cultural tem de fazer jus, no somente constituio intersubjetiva
do esprito, mas tambm ao carter normativo de suas operaes
orientadas por regras.
1
Cf. HABERMAS, J. b. /+|++/ 1.-.+s:||:|.+ \s|+ Ed. ampliada, Frank-
furt/M.: Suhrkamp, 2002.
7
De outro lado, aumenta inesperadamente a tendncia difuso
de imagens de mundo naturalistas e se constata uma politizao,
em escala mundial, de comunidades de fe de tradies religiosas.
Na perspectiva da filosofia, o reavivamento de foras religiosas
que parece acontecer em todos os pases, menos na Europa,
significa o desafio de uma crtica fundamental autocompreenso
ps-metafsica e no religiosa da moderni dade oci dent al . A
controvrsia no gira em torno do fato de que as possibilidades de
uma configurao poltica s se do no interior do universo das
infra-estruturas tcnico-cientficas e econmicas surgidas no
Ocidente e para as quais no existem alternativas. O alvo dos
debates passa a ser, acima de tudo, a interpretao correta das
conseqncias da secularizao oriundas de uma racionalizao
social e cultural, a qual sofre ataques cada vez mais acirrados por
parte dos defensores das ortodoxias religiosas por constituir o
caminho privilegiado da histria mundial do Ocidente.
Tais t endnci as intelectuais, que cami nham em sentido
contrrio, tm suas razes em tradies opostas. O naturalismo
enri geci do pode ser ent endi do como uma conseqnci a das
premissas o Iluminismo - que vivia da fna cincia; juma
conscincia renovada pela poltica rompe com as premissas liberais
da cincia. Em que pese isso, tais figuras do esprito no se
digladiam apenas nos espaos das controvrsias acadmicas, j
que se transformam em foras polticas - seja no mago da
sociedade civil da nao lder do Ocidente, sejam em escala
internacional, no encontro das religies mundiais e das culturas
que dominam o mundo.
Na viso de uma teoria poltica que trabalha com fundamentos
normativos e com as condies de funcionamento de Estados de
direito democrticos, tal oposio deixa transparecer, alm disso,
uma cumplicidade secreta: quando nenhuma das duas tendncias
que caminham em sentido contrrio estdisposta auto-reflexo,
suas respectivas polarizaes das imagens de mundo colocam em
risco, cada uma sua maneira, a coeso da comunidade poltica.
Uma cultura poltica que - em questes de pesquisa de embries
8
humanos, do aborto ou do tratamento de pacientes que se encontram
em coma - se polariza de modo irreconcilivel fixando-se na
antinomia "secular/religioso" coloca em xeque o Commonsense
dos cidados, mesmo dos que residem numa das mais antigas
democracias. O etos do cidado liberal exige, de ambos os lados, a
certificao reflexiva de que existem limites, tanto para a l como
para o saber.
O exemplo recente dos Estados Unidos sinaliza que a inveno
do Estado constitucional moderno tambm deve servir para a
criao de possibilidades para um pluralismo religioso pacfico.
Somente o exerccio de um poder secular estruturado num Estado
de direito, neutro do ponto de vista das imagens de inundo, est
preparado para garantir a convivncia tolerante, e com igualdade
de direitos, de comunidades de f diferentes que, na substncia de
suas doutrinas e vises de mundo continuam irreconciliveis. A
secularizao do poder do Estado e as liberdades positivas e
negativas do exerccio da religio constituem que dois lados dc
uma mesma medalha. No passado, elas protegeram comunidades
religiosas, no somente das conseqncias destrutivas resultantes
de conflitos sangrentos que irromperam entre elas, mas tambm
de um modo de pensar, inimigo da religio, difundido numa
soci edade secul ar. No obst ant e i sso, a t arefa do Est ado
constitucional, que consiste na proteo de seus cidados, sejam
eles religiosos ou no-religiosos, no poder ser cumprida quando
estes, no seu convvio cidado, tm de se contentar apenas com
um determinado modus vivendi: necessrio que eles estejam, alm
di sso, convi ct os da necessi dade de vi ver em uma or dem
democrtica. O Es t ado democrtico al i ment a- s e de uma
solidariedade de cidados que se respeitam reciprocamente como
membros livres e iguais de uma comunidade poltica. Ora, tal
solidariedade no brota das fontes do direito.
Na esfera pblica poltica, tal solidariedade de cidados de
um Estado, a qual arrecadada em pequenas doses, tem de se
comprovar para alm dos limites fixados pelas vises de mundo.
O reconhecimento recproco pode significar, por exemplo, que
cidados seculares e religiosos estejam dispostos a se ouvirem
mutuamente em debates pblicos e a aprenderem uns com os
outros. Alm disso, na virtude poltica do relacionamento civil
recproco manifestam-se determinados enfoques cognitivos que
no podem ser impostos de cima para baixo, apenas aprendidos.
Tal circunstncia envolve, no entanto, uma conseqncia de grande
interesse em nosso contexto. A proporo que o Estado liberal
estimula seus cidados a adotarem um comportamento cooperativo
que ultrapassa as fronteiras das cosmovises, ele tem de pressupor
que os enfoques cognitivos exigidos de ambos os lados, isto , do
cidado secular e do religioso, j se formaram como resultado de
pr oces s os de a pr e ndi z a ge m histricos. E pr oces s os de
aprendi zagem de tal envergadura no consi st em apenas em
modificaes fortuitas de uma certa mentalidade que "ocorrem"
independentemente de compreenses racionais, as quais podem
ser repetidas a bel-prazer. Tampouco eles podem ser reproduzidos
ou controlados por meios tais como o direito ou a poltica. Visto
que o Estado liberal depende, no longo prazo, de mentalidades
que ele no capaz de produzir com recursos prprios.
Isso se torna patente quando pensamos nas expectativas de
tolerncia a que os cidados religiosos tm de fazer jus no Estado
liberal. Modos de pensar fundamentalistas no se conciliam com
a mentalidade a ser compartilhada por um grande nmero de
ci dados quando pr et endem mant er coesa a comuni dade
democrtica. Na perspectiva da histria da religio, os enfoques
cognitivos que os cidados religiosos precisam assumir no seu
relacionamento civil com crentes de outras religies e com no-
crentes podem ser interpretados como resultado de um processo
de aprendizagem coletivo. No Ocidente cristo, a teologia assumiu
um papel pioneiro no trabalho de auto-reflexo hermenutica sobre
doutrinas oriundas da tradio. Serque a elaborao dogmtica
dos desafios cognitivos representados pela cincia moderna e pelo
pluralismo religioso, pelo Estado constitucional e pela moral social
secular, tersido "bem-sucedida"? Serque ela veio acompanhada
de "processos de aprendizagem" em geral? As possveis respostas
10
a tais perguntas obrigam-nos naturalmente a recorrer perspectiva
interna daquelas tradies que, por este caminho, encontram uma
maneira de se ligar s condies da vida moderna.
Em sntese, a formao da opinio e da vontade na esfera
pblica democrtica spode funcionar realmente quando uni
nmero relativamente grande de cidados do Estado consegue
satisfazer a determinadas expectativas vinculadas civilidade de
seu comportamento apesar das diferenas profundas da fe das
cosmovises. No obstante isso, os cidados religiosos s podem
ser confrontados com isso quando for possvel supor que eles
preenchem concretamente os pressupostos cognitivos requeridos
para tal. Eles tm de aprender a relacionar, de modo reflexivo e
compreensvel, suas prprias convices de fcom o fato do
pluralismo religioso e cultural. Alm disso, preciso encontrar
uma forma de col ocar o privilgio cogni t i vo das ci nci as
institucionalizadas socialmente bem como a precedncia do Estado
secular e da moral social universalista em consonncia com sua
f. A filosofia, ao contrrio da teologia, a qual se liga l das
comunidades, no encontra nenhuma possibilidade de influenciar
tal processo. Nesse contexto, ela se limita a assumir o papel de um
observador que se encontra do lado de fora e que no possui
competncia para julgar sobre o que vale e o que no pode valer
como argumento no mbito de uma doutrina religiosa.
A filosofia somente entra em campo quando se trata de um
j ogo secular. Porquanto os prprios cidados no-religiosos, no
momento em que pretendem preencher as expectativas de uma
solidariedade cidad, so levados a assumir um det ermi nado
enfoque cognitivo em relao aos concidados religiosos e s suas
respectivas exteriorizaes. Quando os dois lados se encontram,
na confuso de vozes de uma esfera pblica pluralista do ponto de
vista das vises de mundo, a fim de discutir sobre questes polticas,
a exigncia de respeito mtuo impe certos deveres epistmicos.
Os prprios participantes que se expressam numa determinada
linguagem religiosa alteiam a pretenso de serem levados a srio
por seus concidados seculares. Por conseguinte, estes ltimos no
11
podem negar a priori a possibilidade de um contedo racional
inerente s contribuies formuladas numa linguagem religiosa.
bem verdade que, no entender das constituies democr-
ticas em geral, todas as leis, todas as decises judiciais, todos os
decretos e medidas so formulados numa linguagem pblica, ou
melhor, acessvel a todos os cidados o que implica o fato de
poderem ser alvo de uma justificao secular. Entretanto, ao nvel
de uma troca informal de opinies, o que tambm faz parte da
esfera pblica poltica, os cidados e as organizaes da sociedade
civil ainda se encontram aqum do umbral institucional do poder
de sano de um Estado. Aqui, a formao da opinio e da vontade
no pode ser canalizada por meio de censuras linguagem nem
isolada das possveis fontes geradoras de sentido.
2
Neste contexto,
o respeito que os cidados secularizados devem manifestar pelos
concidados crentes possui, alm disso, uma dimenso epistmica.
De outro lado, o que se espera de cidados seculares, isto , a
disposio para aceitar a possibilidade de um contedo racional
nas contribuies religiosas e a vontade de participar da traduo
cooperat i va dos contedos dos idiomas religiosos para uma
linguagem acessvel a todos, spode ser exigido deles luz de um
pressuposto cognitivo, o qual, no entanto, contestado. Porquanto,
na linha de um pensamento secular, o conflito entre convices
seculares e doutrinrias s pode assumir prima facie o carter de
um dissenso racional quando for possvel pensar que as tradies
religiosas no so simplesmente irracionais ou absurdas. Somente
sob tal pressuposto, os cidados no-religiosos podem tomar como
ponto de partida a idia de que as grandes religies mundiais
poderiam carregar consi go intuies raci onai s e moment os
instrutivos de exigncias no quitadas, porm, legtimas.
Isso tudo constitui, verdade, objeto de uma discusso aberta
que no pode ser prejulgada por nenhum tipo de princpios
constitucionais. Alm disso, ningum sabe de antemo qual das
2
HABERMAS, J. "Glaubenund Wissen", in: id., /.1s+s.+ Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 2003.
12
duas partes vai ter razo no final. O secularismo que emoldura a
imagem de mundo cientfica insiste na idia de que as formas de
pensament o arcaicas contidas nas doutrinas religiosas foram
superadas e desvalorizadas de forma global e total pelos progressos
do conhecimento e da pesquisa estabelecida. No obstante isso, o
pensamento ps-metafsico no-derrotista estabelece relaes
falibilistas com os dois lados - e o faz estribando-se numa reflexo
sobre os prprios limites e numa tendncia superao de limites,
inserida nele mesmo. Porque ele desconfia tanto das snteses das
cincias naturais como das verdades reveladas.
A polarizao entre vises de mundo religiosas e seculares,
que coloca em risco a coeso entre os cidados, o objeto de uma
teoria poltica. Entretanto, to logo atentamos para os pressupostos
cognitivos das condies de funcionamento da solidariedade de
cidados de um Estado, temos de transportar a anlise para um
ouo plano. Jque a superao reflexiva da conscincia secularista,
do mesmo modo que a conscincia religiosa na era da modernidade,
possui um lado epistemolgico. O modo de caracterizar esses dois
processos de aprendizagem, complementares, revela uma descrio
distanciada, levada a cabo na perspectiva de um observador ps-
metafsico. Ao passo que na perspectiva de participantes, entre os
quais se coloca o prprio observador, desencadeia-se uma disputa.
Os pontos controversos so claros. Por um lado, a discusso tem
como objeto o modo correto de naturalizao de um esprito cuja
estrutura , por natureza, intersubjetiva e regulada por normas.
Por outro lado, existe uma disputa pela compreenso correta do
impulso cognitivo inerente ao surgimento das religies mundiais
em meados do primeiro milnio antes de Cristo - Karl Jaspers
caracteriza tal poca como "era axial" (Achsenzeit).
Nessa contenda, defendo a tese hegeliana, segundo a qual, as
grandes religies constituem parte integrante da prpria histria
da razo. J que o pensamento ps-metafsico no poderia chegar
a uma compreenso adequada de si mesmo caso no inclusse na
prpria genealogia as tradies metafsicas e religiosas. De acordo
com tal premissa, seria irracional colocar de lado essas tradies
13
"fortes" por consider-las um resduo arcaico. Tal "desl ei xo"
significaria a impossibilidade de qualquer tentativa de explicao
do nexo interno que liga essas tradies s formas modernas de
pensamento. At o presente, as tradies religiosas conseguiram
articular a conscincia daquilo que falta. Elas mantm viva a
sensibilidade para o que falhou. Elas preservam na memria
di menses de nosso convvio pessoal e social, nas quais os
progressos da racionalizao social e cultural provocaram danos
irreparveis. Que razo as impediria de continuar mant endo
potenciais semnticos cifrados capazes de desenvolver fora
inspiradora - depois de vertidas em verdades profanas e discursos
fundamentadores?
O presente volume rene estudos que se dedicam a tais
questionamentos. Foram elaborados durante os ltimos anos, em
diferentes circunstncias, obedecendo a motivos diversificados.
No formam, por tal motivo, um conjunto sistemtico. Mesmo
assim, possvel descobrir, por trs das diferentes contribuies,
a inteno de tratar dos desafios do naturalismo e da religio, que
so complementares, bem como a insistncia ps-metafsica no
sentido de uma razo destranscendentalizada.
Os estudos e comentrios da primeira parte relembram o
princpio intersubjetivista destinado construo de uma teoria
do esprito, que eu persigo hmuito tempo. Na linha de um
pragmatismo que cria elos entre Kant e Dar wi n\ possvel, com o
auxlio de pressupostos idealizadores, desinflacionar as idias
platnicas sem que haja necessidade de inflacionar, por outro lado,
o antiplatonismo a ponto de reduzir as operaes do esprito,
orientadas por regras, a regularidades explicveis nomologica-
mente. Os estudos da segunda parte desenvolvem o questionamento
central que hpouco esboamos, na perspectiva de uma teoria
normativa do Estado constitucional. Ao passo que os textos da
3
Cf. a introduo a HABERMAS, J. "s||. ++1 |.:|/.|++ Frankfurt/
M.: Suhrkamp, 1999. 7-64.
14
terceira parte se aglutinam em uma tentativa de abordar o tema
epistemolgico e de explicar a posio do pensament o ps-
metafsico, o qual julga poder colocar-se entre a religio e o natura-
lismo. As trs contribuies finais retomam, por seu turno, temas
da teoria poltica. Neles me interesso especialmente por correspon-
dncias entre tentativas nacionais destinadas a dominar o pluralismo
das religies e das vises de mundo, bem como os esboos de uma
cons t i t ui o poltica dest i nada a uma s oci edade mundi al
pacificada.
4
Starnberg, maro de 2005
JRGEN HABERMAS
4
Na ltima contribuio eu retomo questes da constitucionalizao do direito
internacional (direito das gentes). Cf. o ensaio correspondente inHABERMAS,
J. b..ss|.+. ".s.+ Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2004, 113-193.
15
I. A CONSTITUIO INTERSUBJETIVA
DO ESPRITO QUE SE GUIA POR NORMAS
1. ESPAO PBLICO E ESFERA PBLICA POLTICA.
RAZES BIOGRFICAS DE DOIS MOTIVOS DE PENSAMENTO.
Foi-me encaminhado o pedido para transmitir, numa linguagem
compreensvel ao pblico em geral, algo sobre o caminho trilhado
por minha vida e sobre minhas experincias de vida que pudesse ser
tido na conta de instrutivo. Confesso que tal pedido me coloca numa
situao embaraosa. A exigncia do Presidente Inamori, dirigida aos
agraciados com o prmio, foi a seguinte: "Falem, por favor, sobre
vocs mes mos " - "Di gam- nos como consegui r am super ar
dificuldades, e que idia serviu de orientao nas encruzilhadas da
vida?" Convm lembrar, entretanto, que a vida dos filsofos , em
geral, muito pobre em termos de eventos de grande repercusso. J
que esses eventos transcorrem, por via de regra, em um plano geral.
Por este motivo, eu peo licena para deter-me, inicialmente, nas
inibies de uma esfera privada fazendo uma referncia geral relao
entre o privado e o pblico.
Para chegar a esse ponto, til uma distino entre dois tipos de
esfera pblica. Em nossa sociedade, dominada pela mdia, a esfera
pblica serve, em primeiro lugar, como espao da auto-apresentao
daqueles que se destacam na sociedade por uma razo ou por outra. A
finalidade das aparies em pblico reside na visibilidade ou na
notoriedade. Astros e estrelas pagam por este tipo de presena nos
meios de comunicao de massa o preo de uma confuso entre a sua
17
vida privada e pblica. J a participao em controvrsias polticas,
cientficas ou literrias possui outra finalidade. Aqui, o entendimento
sobre um tema substitui a auto-apresentao pessoal. Nesse caso, o
pblico no configura um espao de ouvintes ou espectadores, mas o
espao para falantes e destinatrios que se interrogam mutuamente e
que tentam formular respostas. Trata-se de uma troca de argumentos,
no da concentrao de olhares. Os que participam de discursos e se
concentram num tema comum voltam, por assim dizer, as costas
sua vida privada. Eles no sentem necessidade de falar de si mesmos.
As esferas pblica e privada no se misturam, mas assumem uma
relao de complementaridade.
Tal tipo de objetividade pode explicar por que ns, professores
de filosofia, ao falarmos sobre Aristteles, Toms de Aquino ou Kant,
nos limitamos a fornecer os dados biogrficos sumrios: quando
nasceram, onde viveram e quando morreram. At episdios turbulentos
na vida desses filsofos passam para segundo plano, abrindo espao
para sua obra. Isso porque a vida dos filsofos no possui nenhuma
caracterstica capaz de transform-la em uma lenda de santos. O que
resta deles , no melhor dos casos, um novo pensamento, muitas vezes
enigmtico, que vai ocupar as mentes das geraes futuras. Em nossa
especialidade, caracterizamos como clssico aquele pensador que
continuou sendo nosso contemporneo por meio de sua obra. O
pensamento de tal clssico similar ao ncleo incandescente de um
vulco cujas escrias se sedimentaram formando os anis de sua
biografia. Tal imagem sugerida pelos grandes pensadores do passado
cuja obra resistiu inclume s mudanas dos tempos. De outro lado,
permanecemos ns, os filsofos vivos - que somos muito mais
professores de filosofia do que filsofos - contemporneos de nossos
contemporneos. E quanto menos originais os nossos pensamentos,
tanto mais eles se apegam ao seu respectivo contexto de surgimento.
Muitas vezes, eles no passam de uma simples expresso da histria
da vida qual pertencem.
Por ocasio do meu septuagsimo aniversrio, meus discpulos
redigiram uma "Festschrift" intitulada: A esfera pblica da razo e a
razo da esfera pblica. A escolha do ttulo foi muito boa porquanto
18
a esfera pblica, entendida como espao do trato comunicativo e
racional entre as pessoas, o tema que me persegue a vida toda. De
fato, a trade constituda pela esfera pblica, pelo discurso e pela razo
dominou minha vida poltica e meu trabalho cientfico. Toda a
obsesso, no entanto, possui razes na histria de uma vida. No meu
caso, parece que quatro experincias se destacam: (1) Aps o
nascimento e nos primeiros anos da infncia, passei pela experincia
traumtica de intervenes cirrgicas. (2) O currculo de muitos
filsofos revela certas experincias provocadas por doenas. Aps
minha matrcula na escola, lembro-me de dificuldades de comunicao
e de melindres em conseqncia de minha deficincia fsica. (3) Du-
rante a adolescncia fui marcado pela cesura do ano de 1945 que
atingiu toda minha gerao. (4) No decorrer de minha vida adulta
passei por inquietaes provocadas pelas experincias polticas de
uma liberalizao periclitante e gradativa da sociedade alem do ps-
guerra. Permitam-me, pois, elucidar certas suposies sobre eventuais
ligaes entre teoria e histria de vida.
(1) Logo aps o parto, fui submetido a uma cirurgia. Apesar de
suposies em contrrio, eu no creio que tal interveno tenha abalado
definitivamente minha confiana no mundo ambiente. De qualquer
forma, essa interveno poderia ter despertado, tambm, o sentimento
de dependncia e o sentido para a relevncia do trato com outros. O
fato que, mais tarde, a natureza social do homem tornou-se um dos
pontos de partida de minhas reflexes filosficas. Existem muitas
espcies de animais que vivem em sociedade. Inclusive os macacos,
nossos parentes mais prximos, vivem em hordas e formas de
socializao familiais - desconhecendo, no entanto, os complexos
sistemas de parentesco que somente o homo sapiens conseguiu
inventar. O que caracteriza o homem no so as formas de convivncia
social em geral. Para descobrirmos as caractersticas especficas da
sua natureza social temos de traduzir textualmente a famosa formulao
de Aristteles, segundo a qual, o homem um zoon politikn: o homem
um animal poltico, isto , um animal que vive num espao pblico.
Em uma formulao mais precisa teramos de afirmar: o homem
19
um animal que, graas sua insero originria numa rede pblica de
relaes sociais, consegue desenvolver as competncias que o
transformam em uma pessoa. Quando comparamos entre si os
equipamentos biolgicos de mamferos recm-nascidos descobrimos
que nenhuma outra espcie vem ao mundo to carente de cuidados
como o homem e que nenhuma espcie necessita de um perodo to
longo de educao no seio de uma famlia e de uma cultura pblica
compartilhada intersubjetivamente pelos semelhantes. Ns, homens,
aprendemos uns dos outros. E isso s possvel no interior de um
espao pblico, capaz de fornecer estmulos culturais.
Ao completar cinco anos, a cirurgia do palato teve de ser repetida.
Nessa poca, a conscincia j tinha despertado e se agudizou
certamente assumindo a forma de uma conscincia da radical
dependncia de uns em relao aos outros. Em todo o caso, tal
sensibilizao surgida por ocasio da reflexo sobre a natureza social
do homem conduziu-me aos princpios filosficos que destacam a
constituio intersubjetiva do esprito humano, ou seja: tradio
hermenutica que remonta a Wilhelm vonHumboldt, ao pragmatismo
americano de Charles Sanders Pierce e de George Herbert Mead,
teoria das formas simblicas, de Ernst Cassirer e filosofia da
linguagem, de LudwigWittgenstein.
A intuio da dependncia recproca profunda de cada um em
relao aos outros articula-se em uma "imagem" da "posio do
homem no mundo". E tais paradigmas determinam, de um lado, nossa
autocompreenso cotidiana. Porm, eles tambm proporcionam,
muitas vezes, as coordenadas para uma srie inteira de disciplinas.
Tenho ante os olhos a imagem de uma subjetividade a ser representada
como se fora uma luva virada do avesso, a qual pe mostra a estrutura
de suas malhas tecidas com os fios da intersubjetividade. Porquanto o
esprito subjetivo obtm sua estrutura e seu contedo a partir de um
engate no esprito objetivo das relaes intersubjetivas entre sujeitos
que por natureza so socializados.
O homem singular no se defronta com seu entorno social na
condio de um simples organismo do entorno natural - como um
elemento interior que se delimita osmoticamente contra um mundo
20
exterior estranho. A oposio abstrata entre sujeito e objeto, entre um
"dentro" e um "fora", engana, porquanto o organismo do recm-
nascido sconsegue formar-se como homem mediante a assuno de
interaes sociais. Ele sse toma uma pessoa quando entra no espao
pblico de um mundo social que o espera de braos abertos. E tal
elemento pblico de um interior, habitado em comum, isto , do mundo
da vida, simultaneamente interior e exterior.
Por isso, a pessoa adolescente sconsegue formar o centro inte-
rior de uma vida vivenciada de modo consciente proporo que se
aliena nas relaes interpessoais criadas de modo comunicativo. A
conscincia, que apenas na aparncia privada, continua a alimentar-
se, mesmo nas ext eri ori zaes de suas sensaes pessoais e
movimentos ntimos, dos fluxos da rede cultural de pensamentos
pblicos, expressos de modo simblico e compartilhados intersubje-
tivamente. A atual retomada da imagem cartesiana das mnadas da
conscincia, pelas cincias da cognio, gera confuses, j que estas
cincias as interpretam como mnadas fechadas recursivamente em
si mesmas, as quais se encontram em uma relao opaca com o
substrato orgnico de seu crebro e de seu genoma.
Jamais consegui aceitar a idia de que a autoconscincia constitui,
por si mesma, um fenmeno originrio. Ou no serverdade que ns
somente nos tomamos conscientes de ns mesmos nos olhares que
um outro lana sobre ns? Nos olhares de um "tu", de uma segunda
pessoa que fala comigo como uma primeira pessoa, eu me tomo
consciente de mim mesmo, no somente como um sujeito capaz de
vivenciar coisas em geral, mas tambm, e ao mesmo tempo, como
um "eu" individual. Os olhares subjetivadores do outro possuem uma
fora individuadora.
( 2) Minhas pesquisas tomam esse paradigma como fio condutor.
O princpio da filosofia da linguagem e a teoria moral que desenvolvi
nesta linha poderiam ter-se inspirado em duas experincias pelas quais
passei durante a poca da escola: (a) a de que os outros no me
entendiam (b) e a de que no aceitavam tal fato.
21
(a) Recordo-me bem das inmeras dificuldades que sentia na
sala de aula e nos intervalos entre as aulas ao tentar me fazer entender.
Hoje em dia, tenho certeza de que a causa residia numa nasalizao e
numa articulao distorcida de que eu no tinha conscincia. Para me
afirmar num espao at certo ponto annimo, tive de ultrapassar os
limites da famlia e da vizinhana familiar. Ora, comunicaes mal-
sucedidas chamam a ateno para a realidade de um mundo
intermedirio de smbolos que, de outra forma, seriam imperceptveis
e que no poderiam ser apreendidos na qualidade de objetos. Somente
no fracasso se mostra o mdium da comunicao lingstica como
camada de uma comunho sem a qual no podemos existir como
indivduos. Ns nos encontramos preliminarmente no elemento da
linguagem. Somente os que falam podem calar. Ns podemos nos
isolar porque somos ligados, naturalmente, com outros.
No obstante, os filsofos nem sempre tiveram grande interesse
por esta fora da linguagem, capaz de criar uma comunho. Desde
Plato e Aristteles, eles analisam a linguagem como mdium da
representao e investigam a forma lgica de proposies por meio
das quais nos referimos a objetos e reproduzimos fatos. No obstante
isso, a linguagem existe, em primeira linha, para a comunicao, e
por ela, qualquer um pode tomar posio perante as pretenses de
validade de um outro lanando mo de um "sim" ou de um "no".
Noutras palavras, ns necessitamos da linguagem, em primeiro lugar,
para fins comunicativos; em segundo lugar a utilizamos para fins
puramente cognitivos. A linguagem no o espelho do mundo, uma
vez que ela apenas nos franqueia um determinado acesso a ele.
certo que, ao dirigir nossos olhares ao mundo, ela o faz de um certo
modo. Nela estinscrito algo que se parece com uma viso de mundo.
Fel i zment e, tal saber preliminar que adquirimos j unt o com o
aprendizado de uma determinada linguagem no estdefinido de uma
vez por todas. Caso contrrio, no poderamos aprender nada de novo
em nosso trato com o mundo e nos dilogos sobre ele. Ora, o que vale
para as linguagens tericas das cincias vale tambm no dia-a-dia:
ns temos condies de corrigir o significado de predicados e de
conceitos luz de experincias que fazemos com o seu auxlio.
22
Minha deficincia de linguagem tambm pode explicar, qui,
por que eu sempre estive convencido da superioridade da palavra
escrita. A forma escrita disfara, talvez, a mcula da forma oral. Sempre
avaliei meus estudantes mais pelos trabalhos escritos do que pela sua
participao em discusses nos seminrios, por mais inteligente que
ela fosse. E, como podeis constatar, at o presente tenho receio de
falar em pblico sem o apoio de um texto escrito, apesar das
desvantagens que isso acarreta para meus ouvintes. Tal retirada para a
forma precisa da expresso escrita pode ter-me estimulado a uma
di st i no terica i mport ant e. No agir comunicativo ns nos
comportamos, de uma certa forma, de modo ingnuo; ao passo que
no discurso ns trocamos razes e argumentos a fim de examinar
pretenses de validade que se tomaram problemticas. E esse discurso
tem por finalidade deixar vir tona a "coao no-coativa" do melhor
argumento.
(b) Tal concepo auxiliou-me na elaborao terica de uma
experi nci a de vida permeada de mel i ndres provocados por
discriminaes mais ou menos inocentes que muitas crianas sofrem
na escola ou na ma pelo fato de serem diferentes das outras. Nesse
meio tempo, a globalizao, o turismo em massa, a migrao em escala
mundial, bem como o crescente pluralismo das vises de mundo e
das formas de vida culturais nos familiarizaram com tais experincias
de excluso de estranhos e de marginalizao de minorias. Hoje em
dia, cada um de ns capaz de tecer uma imagem do que significa ser
um estrangeiro no exterior, um estranho entre estranhos ou um outro
para outros. Tais situaes despeitam nossas sensibilidades morais.
J que a moral constitui um dispositivo de proteo para a extrema
vulnerabilidade de indivduos socializados comunicativamente - tecido
com os meios da comunicao.
A proporo que a individuao avana para o interior, o
indivduo enreda-se, cada vez mais, e como se fosse de dentro para
fora, em uma rede, cada vez mais densa e frgil, de relaes de
reconhecimento recproco. Com isso, porm, ele se expe aos riscos
de uma reciprocidade negada. A moral do igual respeito por cada um
23
pretende absorver tais riscos. Porquanto ela se coloca como objetivo
precpuo eliminar a discriminao e incluir os marginalizados na rede
da considerao recproca. Ora, normas da convivncia capazes de
fundar solidariedade, at mesmo entre estranhos, dependem de um
assentimento geral. Temos de aceitar entrar em discursos, a fim de
desenvolver tais normas. Porque os discursos morais permitem a todos
os atingidos tomar a palavra, de forma simtrica. Eles levam qualquer
um dos participantes a adotar tambm a perspectiva do outro.
(3) At o momento, discorri sobre motivos pessoais de minha
infncia. Convm destacar, outrossim, que a cesura de 1945 enriqueceu
minha gerao dotando-a de uma nova experincia, sem a qual eu
talvez no tivesse me encaminhado filosofia nem teoria da
sociedade. A sociedade e o regime de um dia-a-dia vivenciado mais
ou menos como normal foram, da noite para o dia, desmascarados
como patolgicos e criminosos. Por isso, o confronto com a herana
do passado nazista tornou-se um tema fundamental de minha vida
poltica adulta. O interesse dirigido para o futuro, que tenta escapulir
desse olhar sobre o passado, tem a ver com condies de vida que se
subtraem da falsa alternativa entre "comunidade" e "sociedade". Eu
sonho com aquilo que Brecht caracteriza como formas "amigveis"
de convi vnci a que no desperdiam o ganho em termos de
diferenciao, obtido pelas sociedades modernas, nem renegam a
dependncia recproca de sujeitos que andam de rosto erguido - e que
precisam uns dos outros.
Poucos meses antes de completar dezesseis anos, a Segunda
Guerra Mundial chegou ao fim. Minha adolescncia - extremamente
sensvel e atenta - transcorreu durante os quatro anos que se passaram
at a fundao da Repblica Federal, em 1949, ou at o incio de
meus estudos, no vero do mesmo ano de 1949. Eu tive a "sorte de ter
nascido mais tarde" - tive idade suficiente para acompanhar a virada
histrica numa idade sensvel moral; era, porm, jovem demais para
carregar o pesado fardo das circunstncias polticas. Ns nem mesmo
fomos soldados. No houve necessidade de assumir responsabilidade
por tomadas de partido falsas ou por erros polticos desastrosos. Aps
as revelaes sobre Auschwitz, tudo passou a ser interpretado a partir
de uma dupla base. O que tnhamos vivenciado, no contexto de uma
infncia ou adolescncia mais ou menos normais, passou a ser visto,
a partir deste ponto, como um dia-a-dia sombra de uma ruptura da
civilizao. Devido minha idade, portanto, sem mrito algum de
minha parte, tive a chance de poder aprender, sem reservas, com os
processos de Nrnberg contra os criminosos de guerra - ns
acompanhvamos esses processos pelo rdio. Apropriamo-nos da
di st i no sugeri da por Karl Jaspers ent re cul pa col et i va e
responsabilidade coletiva.
Hoje em dia, esse hbito analisado criticamente e estbem
longe de ser considerado um mrito. O padro de reao que
encontramos entre nossos coetneos liberais, entre os da direita e da
esquerda, possui algo de coercitivo, tpico da poca. Naquele tempo,
as noes de poltica e de moral, adquiridas sem nenhum dispndio,
tinham a ver com o revolucionamento do modo de pensar em geral -
com a abertura cultural para o Ocidente. Durante a poca do nazismo,
ns, que no tivemos conhecimento da era Weimar, crescemos em
um ambiente pesado e permeado de ressentimento, orientado ao
monumentalismo, ao culto da morte e a um kitsch patritico. Aps
1945, abriram-se as portas para a arte do expressionismo, para Kafka,
Thomas Manne HermannHesse, para a literatura mundial anglo-
sax, para a filosofia contempornea de Sartre e dos catlicos franceses
de esquerda, para Freud e para Marx, tambm para o pragmatismo de
um JohnDewey, cujos discpulos influenciaram, de modo decisivo, a
reeducation. Alm disso, o cinema contemporneo trouxe mensagens
excitantes. O esprito revolucionrio da modernidade encontrou sua
incorporao visual mais convincente no construtivismo de um
Moridrian, nas formas geomtricas frias da arquitetura da Bauhaus e
no design industrial descompromissado.
A palavra mgica para mim era a "democracia", no o liberalismo
anglo-saxo. As construes da tradio do direito da razo, s quais
tive acesso, na poca, pelo caminho de representaes populares,
tinham ligaes com as promessas de emancipao e com o esprito
de advento (Aufbruch) da modernidade. E isso contribuiu, ainda mais,
para que ns, estudantes, nos sentssemos isolados em um ambiente
24
25
ps-guerra que no tinha perdido nenhuma de suas feies autoritrias.
A continuidade das elites sociais e das estruturas preconceituosas de
que Adenauer se serviu para conseguir a adeso sua poltica era
paralisante. No tinha havido nenhuma ruptura, nenhum re-incio
pessoal e nenhuma mudana de mentalidade - nenhuma renovao
moral e nenhuma transformao no modo de pensar poltico.
Compartilhei meu profundo desapontamento poltico com minha
mulher, que conheci durante a poca dos estudos. Ainda durante os
anos 50, fomos alvo de ataques da autocompreenso elitista e, ao
mesmo tempo, anti-poltica da universidade alem, bem como da
ligao funesta entre nacionalismo e anti-semitismo burgus, a qual
tinha desarmado intelectualmente, em 1933, nossos professores
acadmicos ou os colocara diretamente nos braos dos nazistas.
Em tal clima, minhas convices polticas, que tendiam mais
para a esquerda, quase no tinham conseguido estabelecer um contato
com o meu estudo de filosofia. Filosofia e poltica - dois universos de
pensamentos - permaneceram separadas durante um longo perodo
de tempo. Entretanto, elas acabaram se chocando, num final de semana,
no semestre de vero de 1953, quando meu amigo Karl-Otto Apel me
colocou nas mos um exemplar da Introduo metafsica, de
Heidegger, que acabara de ser impresso. At esse momento, Heidegger
tinha sido, mesmo que distncia, o mentor principal. Eu tinha lido
Ser e tempo com os olhos de Kierkegaard. A ontologia fundamental
continha uma tica que apelava, no meu entender, conscincia indi-
vidual e veracidade existencial do indivduo. No obstante isso, esse
mesmo Heidegger publicara, sem retoque algum, os textos de aulas
ministradas no ano de 1935. Ora, o vocabulrio dessas aulas refletia o
endeusamento do esprito do povo, o coletivismo que se expressa na
expresso festiva do "ns" e o consolo "Schlageter"'. Inopinadamente,
o "Dasein do povo" ocupara o lugar do "Dosem" do indivduo. Passei
imediatamente para o papel o meu espanto ante tal fato.
' Not a do tr ad.: Haber mas r efer e-se aqui ao mit o construdo em tor no de Alber t
Leo Schlaget er , patr iota alemo catlico, execut ado em Dsseldorf, em 26
de maio de 1923, pelas tr opas de ocupao fr ancesas.
2 6
O ttulo do artigo, publicado num jornal, revela, apesar de tudo,
que o seu autor era discpulo de Heidegger: "Pensar com Heidegger
contra Heidegger". Hoje possvel inferir, a partir da escolha das
citaes, qual foi o elemento do texto de Heidegger que me deixou
nervoso. Foram principalmente quatro coisas: A ligao fatal da
conclamao herica para o "poder criativo" com um culto da vtima
- o "sim mais amplo e profundo para o declnio" (Untergang). A
seguir, o que me irritou foram os preconceitos "platonistas" do
mandarim alemo que desvalorizava a "inteligncia" em favor do
"esprito", a anlise em favor do pensamento propriamente dito e que
pretendia reservar a "uns poucos" a verdade esotrica. Tambm me
incomodavam os afetos anticristos e anti-ocidentais que eram
dirigidos contra o universalismo igualitrio da Aufklrung. A gota
d'gua, no entanto, foi o fato de o filsofo nazista recusar a
responsabilidade moral e poltica pelas conseqncias de uma
criminalidade de massa sobre a qual poucas pessoas falavam, oito
anos aps o final da guerra. Na controvrsia que se seguiu, perdeu-se
de vista a interpretao formulada por Heidegger para estilizar o
fascismo transformando-o num "destino do ser" (Seinsgeschick)
pessoal. Sabemos que ele tentou corrigir seu erro poltico - o qual
trouxe inmeras conseqncias - alegando ser simples reflexo de um
engano que no poderia ser imputado sua pessoa.
( 4 ) Nos anos seguintes, consegui reconhecer com maior clareza
qual era o elemento que unia espritos tal como Heidegger, Carl
Schmitt, Emst Jnger ou Amold Gehlen. Todos eles alimentavam um
desprezo pela massa e pelo que mediano, passando a celebrar o
excepcional, o escolhido, o indivduo orientado pelo poder, e rejeitavam
o palavreado, a esfera pblica e o que no verdadeiro em sentido
prprio (Uneigentlich). O silenciar contraposto ao dilogo, a ordem
ent r e mando e obedi nci a cont r apost a i gual dade e
autodeterminao. Desta maneira, o pensamento jovem-conservador
definiu-se por meio de uma oposio rude ao impulso democrtico
bsico que nos estimulava desde o ano de 1945. Aos meus olhos, essa
"sndrome de Weimar" tomou-se um ponto de referncia negativo a
27
partir do momento em que, aps a concluso de meus estudos, passei
a elaborar teoricamente o desapontamento tomando como ponto de
referncia o processo tenaz e sempre ameaado de democratizao da
Alemanha no ps-guerra. O temor de que houvesse um retrocesso
poltico acompanhou-me at os anos 80 transformando-se num
aguilho para o trabalho cientfico - um trabalho que eu iniciara no
final dos anos 50 ao publicar Mudana estrutural da esfera pblica.
Na qualidade de assistente de Theodor W. Adorno, eu tinha-me
transformado num colaborador do Instituto de Frankfurt para Pesquisa
Social. A Teoria Crtica da Sociedade ofereceu-me uma perspectiva
que permitia inserir no contexto mais amplo da modernizao social
os incios da democracia americana, francesa e inglesa, bem como os
impulsos fracassados da democracia na Alemanha. Naquela poca,
isto , no final dos anos 50, a cultura poltica ainda no possua entre
ns razes muito slidas. No havia garantias de que os princpios de
uma ordem democrtica, que de certa forma foram impostos a partir
de fora, iriam deitar razes nas cabeas e nos coraes das pessoas. E
certamente uma tal mudana de mentalidade no poderia acontecer
de modo isolado. Tampouco poderia ser imposta administrativamente.
Tal processo s poderia ser alavancado por uma formao vital e,
dentro das possibilidades, pblica e discursiva, da opinio.
Por isso, minha ateno terica dirigiu-se para a esfera pblica
poltica. Sempre me interessei pelo fenmeno geral do "espao
pblico" que surge at mesmo em interaes simples porque nele a
intersubjetividade possui uma fora misteriosa capaz de unir elementos
distintos mantendo, mesmo assim, a sua identidade. A anlise de
espaos pblicos permite decifrar estruturas da integrao social. A
constituio dos espaos pblicos revela, de preferncia, caractersticas
anmicas da decomposio ou fraturas de uma socializao repressiva.
Nas condies de sociedades modernas, a esfera pblica poltica da
comunidade democrtica adquire um significado sintomtico para a
integrao da sociedade. Porquanto as sociedades complexas spodem
ser mantidas coesas normativamente por meio de uma solidariedade
entre cidados, extremamente abstrata e mediada pelo direito. Entre
cidados da sociedade que no podem mais conhecer-se pessoalmente,
28
possvel criar e reproduzir uma comunho fragmentria, atravs do
processo de formao pblica da opinio e da vontade. Jque possvel
auscultar o estado de uma democracia sentindo as pulsaes de sua
esfera pblica poltica.
Os professores no so, certamente, apenas cientistas que se
envolvem em questes da esfera pblica poltica na perspectiva de
um observador. Eles so tambm ci dados da soci edade. E
eventualmente tomam parte na vida poltica de seu pas na qualidade
de intelectuais. Eu mesmo participei, durante os anos 50, do protesto
pacfico da "Marcha da Pscoa"; e nos anos 60 tive que assumir uma
posio pblica ante o protesto dos estudantes. Nos anos 80 e 90
imiscu-me em debates sobre a elaborao do passado nazista, sobre
a desobedincia civil, sobre o modo da reunificao, sobre a primeira
guerra do Iraque, sobre a forma do direito de asilo poltico etc. Du-
rante os ltimos dez anos, a maioria de minhas tomadas de posio
tm a ver com questes da Unio Europia e da biotica. Aps a invaso
do Iraque - contrria ao direito das naes - trabalho com a idia de
uma constelao ps-nacional tendo em vista o futuro do projeto
kant i ano envol vendo uma or dem de ci dadani a mundi al
(weltburgerlich). Estou mencionando tais atividades, jque pretendo
deter-me, no final destas consideraes, naquilo que consegui aprender
sobre o papel do intelectual, levando em conta os meus erros e os
erros de outros.
O intelectual deve fazer uso pblico do saber profissional que
possui, por exemplo, na qualidade de filsofo, escritor, fsico ou
cientista social, independentemente de seus contratos pessoais ou de
instncias superiores. Sem deixar de lado sua imparcialidade, ele tem
de manifestar-se luz da conscincia de sua falibilidade. Deve limitar-
se a temas relevantes e fornecer informaes objetivas, alm de bons
argumentos. Deve, por conseguinte, envidar esforos para melhorar o
nvel discursivo das controvrsias pblicas, o qual , ainda, lastimvel.
H outros pontos de vista que dificultam a tarefa do intelectual. Ele
trairsua autoridade, nos dois sentidos, a partir do momento em que
no conseguir mais separar, cuidadosamente, o seu papel profissional
da sua funo pblica. Ele no pode utilizar, alm disso, a influncia
29
que adquire mediante palavras para adquirir poder poltico, ou seja,
ele no deve confundir "influncia" com "poder". E uma vez instalados
em cargos pblicos, os intelectuais deixam de ser intelectuais.
No de admirar que, na maioria das vezes, ns fracassamos
perante tais critrios; tal fato, porm, no invalida os critrios.
Porquanto os intelectuais, que tantas vezes combateram os prprios
intelectuais ou os declararam mortos, no podem permitir-se, sob
hiptese alguma, o cinismo.
30
2. AGIR COMUNICATIVO E
RAZO DESTRANSCENDENTALIZADA.
Ao amigo Tom McCarthy, por ocasio do seu
sexagsimo aniversrio.
No prefcio a Ideais and Illusions, Thomas McCarthy delineia
contornos de dois tipos de crtica aos conceitos de razo, kantianos,
cultivados a partir de Hegel; "Onone side are those who, in the wakes
of Nietzsche and Heidegger, attack Kantian conceptions of reason
and the rational subject at their very roots; on the other side are those
who, in the wakes of Hegel andMarx, recast them in socio-historical
molds."
[
As "idias" mant m, mes mo em suas for mas
pragmaticamente dessublimadas, a dupla funo original. Elas
continuam sendo utilizadas, de um lado, como norma da crtica. De
outro lado, porm, so desmascaradas como foco de uma iluso tran-
scendental - ideais and illusions. McCarthy ope-se, no somente a
uma desconstruo iconoclasta, [...] mas tambm a um tipo de
interpretao normativista que no se atreve a tocar nas iluses da
razo pura. Mesmo aps a guinada pragmtica, ele continua levando
a srio as duas funes da razo, ou seja, tanto a funo que coloca
1
MCCARTHY, T.A. |1.ss s+1 |||+s+s Cambr idge (Mass.), 1991, 2: " De um
lado encont r am-se os que seguem as pegadas de Niet zsche e de Heidegger ,
que os levam a acomet er contr a as concepes kantianas sobr e a r azo e o
suj eit o na sua prpria or igem; do outr o lado est o os que tentam remodel-
las em dimenses scio-histricas, seguindo o exemplo de Hegel e Mar x" .
31
normas e possibilita a crtica, como a funo camufladora, que desafia
a autocrtica: "If we take a pragmatic turn, we can appreciate both
aspects of the social-practical ideas of reason: their irreplaceable
function in cooperative interaction and their potentialfor misuse."
2
Em outra passagem, McCarthy fala em "anlogos prtico-sociais
das idias de razo, de Kant" (social-practical analogues of Kanls
ideas of reason). Tal formulao tem a ver, propriamente, com trs
pressuposies pragmtico-formais do agir comunicativo, correferidas
entre si, formando aspectos de uma razo dessublimada, incorporada
na prtica comunicativa cotidiana. So elas: a suposio comum de
um mundo objetivo, a racionalidade que sujeitos agentes se atribuem
mutuamente e a validade incondicional que eles reivindicam para suas
asseres em atos de fala. "The idealizations of rational accountabil-
ity and real world objectivity both figure in our idealized notion of
truth,for objectivity is the other side of the intersubjective validity of
certain types oftruth claims"? Com isso, a tenso transcendental en-
tre o ideal e o real, entre o reino do inteligvel e o dos fenmenos
emigra para a realidade social das instituies e das aes. McCarthy
atribui grande importncia a essa transformao da razo "pura" em
razo "situada" e a contrape, a seguir, aos tipos de critica desestabili-
zadora e desmascaradora que so desenvolvidos, seja no estilo
objetivador, de Foucault, seja no estilo paradoxal, de Derrida (mesmo
assim, McCarthy no se descuida da desconstruo das iluses da
razo que penetram at os capilares do discurso cotidiano).
A tarefa de "situar a razo" foi interpretada como "destranscen-
dentalizao" do sujeito cognoscente, a qual se realiza, seja na linha
do pensamento histrico que vai de Dilthey at Heidegger, seja na
2
Ibid., p. 4: " luz de uma guinada pragmtica podemos avaliar dois aspect os
das idias prtico-sociais da r azo, a saber , sua funo insubstituvel na
inter ao cooper at iva e o seu pot encial para um mau uso" .
1
HOY, D. C. e MCCARTHY, T. A. (:s I|.; Oxfor d, 1994, 39: " Tanto
as idealizaes de imput abilidade r acional como a obj et ividade do mundo
r eal figur am em nossa noo idealizada da ver dade, pois a obj et ividade o
outr o lado da validade inter subjeti va de cer tos tipos de pr etenses de ver dade" .
32
linha do pensamento pragmatista que vai de Peirce at Dewey (e, de
uma certa maneira, atWittgenstein). O sujeito finito encontra-se em
"o mundo" sem perder inteiramente sua espontaneidade "capaz de
gerar mundos". At esse ponto, a controvrsia entre McCarthy e os
discpulos de Heidegger, Dewey e Wittgensteinconstitui uma briga
de famlia na qual se discute para saber qual dos lados estrealizando
corretamente a destranscendentalizao.
4
Serque os vestgios de uma
razo transcendente se perdem nas areias da contextualizao e da
historieizao ou serque uma razo incorporada em contextos
histricos consegue manter a fora necessria para uma transcendncia
a partir dentro? Serque a cooperao entre sujeitos dotados da
faculdade de aprender continua mantendo, no interior de seus
respectivos mundos da vida, articulados de modo lingstico, fora
para modificar, de modo racionalmente motivado, a interpretao do
mundo? Serque a razo se encontra inteiramente merc do evento
de uma linguagem que apenas franqueia mundos (welterschliessend)
ou serque ela continua sendo, ao mesmo tempo, uma fora capaz de
mover mundos (weltbewegend)T
Ao menos um pont o pacfico na di sput a com os
desconstrutivistas, a saber, o questionamento enquanto tal. Todavia,
para os discpulos de Hume e, por conseguinte, para uma grande parte
da filosofia analtica, a dialtica entre linguagem desvendadora de
mundos e processos de aprendizagem intramundanos nem sequer
possui sentido. Ora, quando no aceitamos mais a idia kantiana de
uma razo "formadora de mundo" nem a concepo de uma razo
cognitiva (Verstand) que "constitui" os objetos da experincia possvel,
no pode haver razes para se falar numa destranscendentalizao da
"conscincia" de sujeitos agentes e cognoscentes; e h menos razes
4
No necessrio r etomar aqui uma br iga 1.+ 1s br iga em famlia. Cf.
MCCARTHY, T. " Pr actical Discour se: Onthe Relat ionof Mor ality to Poli-
t ies" , in: id. (1991), 181-199; MCCARTHY, T. " Legit imacy and Diver sit y" ,
in: ROSENFELD, M. e ARATO, A. (eds.). hs|.-ss + |s s+1 b.-:s:;
Ber keley, 1998, 115-153; minha r esposta encontr a-se, inibid., 391-404.
5
HABERMAS, J. "s||. ++1|.:|/.++ Fr ankfur t/M.: Suhr kamp, 1999.
33
ainda para uma controvrsia sobre os problemas derivados de uma tal
correo. McCarthy defende a explicao lingstico-pragmtica do
"modo de situar a razo" contra objees desconstrutivistas. Tentarei
enfrentar a incompreenso da filosofia analtica no tocante questo
do uso destranscendentalizado da razo.
Entretanto, no pretendo repetir os argumentos j conhecidos
nem pleitear uma teoria do significado pragmtico-formal seguindo
um caminho direto.
6
J que as dificuldades de compreenso derivam
do princpio, no dos detalhes. A prpria semntica da verdade
estabeleceu um nexo interno entre o significado e as condies de
validade de asseres preparando assim o caminho para concepes
de uma racionalidade incorporada na linguagem e na comunicao
(Davidson, Dummett, Brandom). Em que pese isso, as indicaes
fornecidas por Kant e Hume para se tomar posio a favor ou contra
uma anlise nominalista das operaes do esprito humano continuam
sendo utilizadas, ainda hoje em dia, para orientar, sobre outros trilhos
e em direes variadas, pensamentos estruturalmente semelhantes.
Se meu ponto de vista no for incorreto, a reformulao das
"idias" kantianas da razo pura, que se tornam pressupostos
"idealizadores" do agir comunicativo, acarreta dificuldades de
compreenso, especialmente no que tange ao papel ftico das assunes
contrafticas pressupostas performativamente. Tais assunes
revestem-se de um efeito operativo na estruturao de processos de
entendimento (Verstndigung)' e na organizao de contextos de ao:
I|s -..; +ss |. .//.: / .|:s+ |. |s+s+
s+ |...+ |. .s| s+1 |. 1.s| |+ |. 1-s+ /
s:s| s::. (.s.. +.s:+ s s..+ |. s+:+.1
6
HABERMAS, J. 0+ |. |s-s:s /(--++:s+ s; M. COOK, Cam-
br idge (Mass), 1998.
* Not a do tr ad.: impor tante atentar para a diferena entr e dois conceit os de
" ent endiment o" , ist o , par a o conceit o de '.ss+1 de Kant, que se situa
inteir amente no nvel cognit ivo da r azo, e para o conceit o de " entendimento"
'.su+1++; que fundamental no pensament o haber masiano, e cuj o
sent ido no apenas cognit ivo mas, tambm, comunicat ivo.
34
s++1 1.ss / .ss+ |:| s. +.|. /+||; :+s+.. +
|. ||s+: s.+s. + -..|; .+|s.. + |. |s+s+ s.+s.
1s 1.s|,+ s+s+s . :s++ s.1 -s|+ ||. .+
s.1 + :.ss.s / -++s| ++1.ss+1+ |.; s. s:+s||;
.//.:.. + s+,+ :--++:s+ s+1 |. ss-. -.
:++./s:+s| + s;s |s + |.;+1 |. |-s / s:+s|
s+s+s 1s s .s+| s:s|s::s| 1.ss / .ss+ s. ||
--s+.+ s+1 s+s:.+1.- s::.s :+s+.. //-s
/|/.
|
Na perspectiva da pragmtica formal, a estrutura racional interna
do agir orientado pelo entendimento reflete-se em suposies que os
atores tm de conceber quando pretendem engajar-se nessa prtica. O
sentido de obrigatoriedade inerente a esse "ter de" precisa ser
interpretado mais na linha de Wittgensteindo que na de Kant, ou seja,
no pode mais ser compreendido no sentido transcendental de
condies da experincia possvel, gerais, necessrias e inteligveis,
devendo ser encarado no sentido gramatical de uma "inevitabilidade"
que resulta de correlaes conceituais internas de um sistema de
comportamento prtico conduzido por regras, o qual , "ineludvel
para ns". Aps a deflao pragmatista do princpio kantiano, a "anlise
transcendental" passa a significar uma investigao de condies
supostamente gerais que, apenas de fato, so ineludveis e que tm de
ser satisfeitas a fim de que certas prticas ou realizaes fundamentais
possam acontecer. Nesse sentido, so tidas como "fundamentais" as
7
MCCARTHY (1994), 38: " Este (lance) tem como efeit o a r ecolocao da
oposio kantiana entr e o ideal e o real + +. do domnio da prtica
social. A inter ao cooper at iva tida como estr utur a em tor no das idias da
r azo que no so int eir ament e const it ut ivas no sent ido platnico nem
mer ament e r egulativas no sent ido kantiano. Enquanto s+s.s 1.s|,s
1ss que no podemos deixar de efetuar enquant o est amos engaj ados em
pr ocessos de ent endiment o, elas so s+s|-.+. ./..ss na or ganizao da
comunicao e, ao mesmo t empo, :+s/s:ss por quanto apontam para
alm dos limit es de sit uaes atuais. Como r esultado disso, as idias sociais
e prticas da r azo so ' imanent es' s prticas que const it uem as for mas de
vida e, ao mesmo t empo, ' t r anscendent es' ."
35
prticas para as quais no existem equivalentes funcionais no interior
de nossas formas de vida culturais. bem verdade que uma linguagem
natural pode ser substituda por uma outra linguagem natural. No
entanto, ainda no conseguimos pensar num substituto para uma
linguagem diferenada em proposies enquanto tal (para a "faculdade
da espcie") que pudesse preencher as mesmas funes. Gostaria de
elucidar tal pensamento fundamental esclarecendo sua genealogia, a
qual tem incio em Kant.
Aqui no se trata de uma explicao sistemtica do conceito
"razo comunicativa",
8
j que nos limitaremos a tratar apenas do seu
contexto de surgimento. Abordarei as pressuposies idealizadoras,
j citadas, que se exteriorizam, de modo performativo, no agir comu-
nicativo, a saber: a suposio comum de um mundo de objetos que
existem independentemente; a suposio recproca da "imputabili-
dade" ou da racionalidade; a incondicionalidade de pretenses de
validade, tal como a verdade e a correo moral, que ultrapassam os
contextos; e as pressuposies exigentes da argumentao que obri-
gam, de certa forma, os participantes a uma descentrao de suas
perspectivas de interpretao. Emprego o termo "pressuposies"
porque se trata de condies a serem satisfeitas a fim de que o
condicionado se revista de um determinado valor: atos de referncia
podem falhar ou ser bem-sucedidos, mas para isso necessrio um
sistema de referncias; os participantes de uma comunicao podem
entender-se mutuamente ou continuar vtimas de um mal-entendido,
o que, porm, s possvel quando se supe a racionalidade; se as
asseres que num determinado contexto so caracterizadas como
"verdadeiras" pudessem vir a perder tal caracterstica em um outro,
ento a correspondente pretenso de verdade no poderia mais ser
questionada em nenhum contexto; e se no houvesse uma situao de
comunicao que promete fazer jus coao no-coativa do melhor
argumento, os argumentos no poderiam contar, nem a favor nem
" " AB.
E R M
AS, J. " Rat ionalit t der Ver st ndigung. Spr echakt t heor et ische
102
U
137
Ungen B e g r i f f
^
k o m m u ni k a t i v e n
Rationalitt" , in: id., (1999),
3 6
contra. Ainda teremos ocasio de analisar o contedo "ideal" de tais
pressuposies.
Em todo o caso, preciso levar em conta que existe um parentesco
entre essas pressuposies e os conceitos kantianos. J que possvel
supor um elo genealgico:
- (1) entre a "idia" cosmolgica da unidade do mundo (ou da
totalidade das condies do mundo dos sentidos) e a suposio
pragmtica de um mundo objetivo comum;
- ( 2 ) entre a "idia de liberdade" como um postulado da razo
prtica e a suposio pragmtica da racionalidade de atores imputveis;
- ( 3 ) entre o movimento totalizador da razo que - enquanto
"faculdade das idias" - transcende tudo o que condicionado
reportando-se a um incondicionado, e a incondicionalidade das
pretenses de validade levantadas no agir comunicativo;
- (4) finalmente, entre a razo como a "faculdade dos princpios",
a qual assume o papel de um "tribunal superior de todos os direitos e
pretenses", e o discurso racional enquanto frum ineludvel das
justificaes possveis.
Pretendo, na primeira parte, aprofundar a histria desses conceitos
(1-4). Certamente no possvel traduzir, sem rupturas, as idias de
uma razo pura, formuladas na linguagem de uma filosofia transcen-
dental, para a linguagem de uma pragmtica formal. A formulao de
"analogias" estlonge de conseguir realizar tal faanha. Os pares de
conceitos kantianos opostos tal como (constitutivo versus regulativo,
transcendental versus emprico, imanente versus transcendente, etc.)
perdem sua nitidez crtica quando se tenta destranscendentalis-los
porque isso significa um corte profundo na arquitetura das concepes
bsicas. Em que pese isso, possvel descobrir, luz desses elos
genealgicos, os caminhos entrecruzados atravs dos quais a filosofia
analtica da linguagem perambula quando recusa a herana das idias
37
da razo, de Kant. Apesar disso, tentarei mostrar, na segunda parte,
que ela consegue chegar, mesmo assim, a descries normativas da
prtica da linguagem semelhantes s da pragmtica formal, a qual se
apoia mais fortemente em Kant. Tomando como ponto de partida a
crtica ao psicologismo, elaborada por Frege (5), perseguirei a linha
analtica da discusso tomando como ponto de referncia o "princpio
de caridade", elaborado por Davidson(6), a crtica de Dummett
recepo de Wittgenstein(7), bem como a teoria de Brandom que
concebe o entendimento (Verstndigung) como uma troca discursiva
de argumentos (8).
(1) Kant computa entre as idias tericas da razo, no somente
as idias de unidade do sujeito pensante e de Deus como origem unitria
das condies de todos os objetos do pensamento, mas tambm a
idia cosmolgica da unidade do mundo. E ao caracterizar tal idia,
que tem funo heurstica para o progresso do conhecimento emprico,
ele menciona um uso "hipottico" da razo. A antecipao totalizadora
do universo dos objetos da experincia possvel possui uma funo,
que tem muito mais a ver com a conduo do conhecimento do que
com a sua viabilizao. O conhecimento emprico a "pedra de toque
da verdade", ao passo a idia cosmolgica desempenha a funo de
um princpio metodolgico da completude; ela aponta para o objetivo
de uma unidade sistemtica dos conhecimentos do entendimento.
Diferentemente das categorias constitutivas do entendimento e das
formas de (observao), a "unidade do mundo" uma idia reguladora.
A proporo que faz uso constitutivo tal idia reguladora, o
pensamento metafsico recai na iluso dialtica de uma ordem do
mundo hipostasiada. Alm disso, o uso reificador da razo terica
confunde o projeto construtivo de um focus imaginarius para o
andamento da pesquisa com a constituio de um objeto acessvel
experincia. A esse uso "apodtico" da razo, que exageradamente
efusivo, corresponde o uso "transcendente" que ultrapassa os limites
da experincia possvel. Tal ultrapassagem de limites conduz a uma
assimilao indevida do conceito de "mundo" - como totalidade de
todos os objetos experimentveis - ao conceito de um objeto em
38
formato superdimensionado capaz de representar o mundo como tal.
A diferena entre "mundo" (Welt) e "intramundano" (Innerweltliches),
reclamada por Kant, precisa ser mantida, mesmo depois que o sujeito
transcendental perde a posio que o mantinha alm do espao e do
tempo e se transforma em inmeros sujeitos providos da faculdade de
falar e de agir.
A destranscendentalizao leva, de um lado, insero de sujeitos
socializados em contextos do mundo da vida; de outro lado, ao
entrecruzamento da cognio com o falar e o agir. Por isso, o conceito
de "mundo" modifica-se junto com a arquitetura da teoria. Vou explicar,
em primeiro lugar, como deve ser entendida, na pragmtica formal, a
"suposio de um mundo" (a); a seguir, chamarei a ateno para
algumas conseqncias importantes, especialmente: a dissoluo do
idealismo transcendental operada por um realismo interno (b); a funo
regulativa do conceito de verdade (c), e a insero das relaes com
mundos em contextos do mundo da vida (d).
(a) A partir do momento em que, em uma comunicao recproca,
sujeitos providos da faculdade de falar e de agir desejam entender-se
"sobre algo" ou pretendem arranjar-se "com algo" no trato prtico,
tm de poder "referir-se", a partir do horizonte de seu respectivo mundo
da vida compartilhado, "a algo" no mundo objetivo. Para poder referir-
se a algo, seja na comunicao sobre estados de coisas ou no trato
prtico com pessoas e objetos, eles tm de tomar como ponto de partida
uma pressuposio pragmtica - cada um para si, porm em
consonncia com todos os outros. Eles supem "o mundo" como uma
totalidade dos objetos que existem independentemente, os quais podem
ser manipulados e examinados. So "examinveis" todos os objetos
dos quais possvel afirmar fatos. Convm lembrar que somente
objetos identificveis no espao e no tempo podem ser "tratados" no
sentido de uma manipulao teleolgica.
A "objetividade" do mundo tem de ser interpretada no sentido
de que ela nos dada como um "mundo" que idntico para todos.
Ora, o que nos leva suposio pragmtica de um mundo objetivo
comum a prtica da linguagem - especialmente a utilizao dos
3 9
termos singulares. E o sistema de referncia embutido em linguagens
naturais garante, para qualquer tipo de falante, a antecipao formal
de possveis objetos de referncia. Pelo caminho dessa suposio for-
mal de mundos, a comunicao sobre algo no mundo se entrecruza
com intervenes prticas no mundo. Para falantes e atores, o mundo
objetivo sobre o qual eles se entendem e no qual podem intervir, o
mesmo. Para a garantia das referncias semnticas, importante que
os falantes possam, enquanto atores, estar em contato com objetos do
trato prtico e possam retomar tais contatos.
9
A concepo da suposio de um mundo repousa, do mesmo
modo que a idia da razo cosmolgica, de Kant, sobre a diferena
t r anscendent al ent re " mundo" {Welt) e " i nt r amundano"
(lnnerweltlich.es) que reaparece em Heidegger como diferena
ontolgica entre "ser" (Sein) e "ente" (Seiendes). O mundo objetivo,
suposto por ns, diferente daquilo que, conforme tal suposio, pode
aparecer como objeto (na forma de estado, coisa ou evento). De outro
lado, tal concepo no se encaixa mais nos conceitos kantianos,
opostos. A partir do desarme das categorias a priori da razo cognitiva
(Verstand) e das formas de intuio, a distino clssica entre razo e
cognio torna-se menos ntida. Salta aos olhos que a suposio
pragmtica de um mundo no uma idia reguladora, porquanto ela
"constitutiva" para a referncia a tudo aquilo do qual possvel
constatar fatos. E nesse ponto, o conceito de mundo torna-se to for-
mal, a ponto de o sistema para possveis referncias no prejulgar
determinaes conceituais para objetos em geral. Todas as tentativas
visando a reconstruo de um a priori de sentido material para possveis
objetos de referncia fracassaram.
10
(b) Nesta perspectiva a prpria distino entre fenmeno e "coisa-
em-si" perde sentido. A partir de agora, experincias e juzos esto
9
Sobr e a cor r espondent e teor ia da r efer ncia, de Putnam cf. MUELLER A
|./..+, ++1 |s||||s-+s Ber lim, 2004
10 S
Nt
b
nnT
d
u
U
r
0 d 3 S P CSq USa S d e P e t e r S t r a w s o n s o b r e e s t e
^ ma cf,
i Ni yUb l , M. Is+s,.+1.+s|. 1+-.+. Fr ankfur t/M., 1991, cap. 4 e 5.
40
retro-ligados a uma prtica destinada a intervir na realidade. Por
intermdio do agir destinado a resolver problemas, controlado pelo
sucesso, eles esto em contato com uma realidade que sempre
surpreende, a qual capaz de se opor s nossas intervenes ou de
"colaborar". De um ponto de vista ontolgico, o idealismo transcen-
dental que concebe a totalidade dos objetos experimentveis como
um mundo "para ns", isto , como um mundo que aparece,
substitudo por um realismo interno. Segundo este, "real" tudo aquilo
que pode ser representado em asseres verdadeiras, apesar de os
fatos serem representados numa linguagem que respectivamente
"nossa" linguagem. O mundo no nos impe "sua" linguagem; ele
no falae s"responde" num sentido figurado." Caracterizamos como
"real" a persistncia dos estados de coisas asseverados. No entanto,
tal "sentido veritativo" dos fatos no pode - de acordo com um modelo
de representao do conhecimento - ser representado como realidade
copiada que , a seguir, equiparada "existncia" de objetos.
Constataes de fatos no podem apagar completamente, seja o
sentido operativo dos processos de aprendizagem, seja as solues de
problemas, seja as justificaes dos quais resultam. Por isso,
recomendvel seguir o conselho de Charles Sanders Pierce e distinguir
entre a "realidade" representada na linguagem e aquilo que temos de
enfrentar, no trato prtico, como "existncia" experimentada como
resistncia em mundo repleto de riscos. Em proposies verdadeiras,
a "relutncia" ou "anuncia" dos objetos designados jestprocessada.
De forma que, na resistncia dos estados de coisas faz-se valer, de
modo indireto, tambm a "existncia" de objetos renitentes (ou a
facticidade de circunstncias que podem causar surpresas). No entanto,
esse "mundo" que supomos ser a totalidade dos objetos, no dos fatos,
no pode ser confundido com a "realidade" que consiste em tudo
aquilo que pode ser representado em asseres verdadeiras.
11
Sobr e o " r ealismo inter no" , de Hilar y Putnam cf. HABERMAS, J. " Wer te
und Nor men. EinCommentar zu Hilar y Putnams Kant ischem Pr agmatismus" ,
in: id., "|s|. ++1 |.:|/.++ (edio de bolso ampliada), Fr ankfur t/
M.: Suhr kamp, 2004.
41
(c) Os conceitos de "mundo" e de "realidade" expressam
totalidades; porm, somente o conceito de realidade pode ser colocado
lado a lado com as idias reguladoras da razo, dada sua relao interna
com o conceito de verdade. O conceito peirceano de realidade (como
a totalidade dos fatos constatveis) constitui uma idia reguladora no
sentido de Kant, porquanto ele obriga a constatao de fatos a orientar-
se pela verdade que, por seu turno, desempenha uma funo regulativa.
Para Kant, a "verdade" no uma idia nem se conecta a idias da
razo porque as condies transcendentais da objetividade da
experincia devem esclarecer simultaneamente a verdade do juzo da
experincia: "Para Kant, a questo [...] relativa s condies de
possibilidade da constituio de objetos, isto , da constituio do
sentido da objetividade, era idntica questo [...] relativa s condies
de possi bi l i dade da validade intersubjetiva do conheci ment o
verdadeiro."
12
K.-O Apel contrape a isso uma distino entre o "a
priori da experincia", interpretado de modo pragmtico, o qual
determina o sentido dos objetos da experincia possvel, e as condies
da justificao argumentativa de afirmaes sobre tais objetos.
Peirce tentou explicar a "verdade" nos conceitos epistmicos de
um progresso do conhecimento orientado pela verdade. Ele determina
o sentido de verdade pela antecipao do consenso ao qual tm de
chegar, sob condies ideais, todos os que participam do processo de
pesquisa, que autocorretivo.
13
A "comunidade de investigadores",
destituda idealmente de limites, constitui o frum para o "tribunal
superior" da razo. E possvel aduzir bons argumentos contra tal
12
APEL, K.-O. " Sinnkonst it ut ionund Geltungsr echtfer tigung" , in: Frum fr
Philosophie (ed.). 4s+ h.1.. |++.+ ++1 1+ss.+s+s:|.+ Fr ank-
fur t/M., 1989, 134.
13
PEIRCE, Ch. S. (||.:.1 |s.s vol. VAT (1934), 268: " The opinionwhich
is fated to be ult imat ely agr eed to by ali who invesligat e, is what we meanby
the tr uth, and the obj ect r epr esented inthis opinionis the r eal" (5.407) (A
opinio destinada a ser consensual em ltima instncia entr e os que investigam
o que ent endemos por ver dade e o obj et o r epr esentado nesta opinio o
r eal). Cf. sobr e isso APEL, K.-O. b. b.+|. .+ (|s|.s |.:. Frank-
fur t/M., 1975.
42
"epistemizao" do conceito de verdade, a qual assimila "verdade" a
"afirmabilidade idealmente justificada".
14
No obstante, a orientao
pela verdade assume, enquanto "caracterstica inalienvel" de
afirmaes, uma funo regulativa indispensvel para processos de
justificao falveis, em princpio, mesmo que tais processos consigam
apenas levar a uma deciso sobre a aceitabilidade racional de
afirmaes, no sua verdade.
15
A advertncia de Kant contra um uso apodtico da razo ou um
uso transcendente da faculdade cognitiva continua inalterada aps
uma destranscendentalizao que liga o conhecimento objetivo a uma
justificao discursiva como "pedra de toque da verdade". A partir
da, no mais a sensibilidade nem a cognio que definem a fronteira
que separa o uso transcendental da nossa faculdade de conhecimento
do seu uso transcendente: entra no seu lugar o frum dos discursos
racionais nos quais bons argumentos podem desenvolver sua fora de
convencimento.
(d) De certa maneira, a diferena entre verdade e aceitabilidade
racional coloca-se no lugar da diferena entre fenmeno e "coisa em
si". Kant no conseguiu superar tal fosso nem mesmo lanando mo
da idia reguladora da unidade do mundo porque a heurstica que cria
m acabamento para todos os conhecimentos condicionados no
consegue retirar a faculdade cognitiva (Verstand) do reino dos
fenmenos. Mesmo aps a destranscendentalizao do sujeito
cognoscente, remanesce um vcuo entre aquilo que verdadeiro e
aquilo que justificado para ns ou que racionalmente aceitvel.
No possvel preencher completamente tal vcuo no mbito de
discursos; porm, possvel super-lo pragmaticamente por meio de
uma passagem, motivada racionalmente, do discurso para o agir. Uma
vez que os discursos permanecem enraizados no mundo da vida, existe
14
Cf. a crtica ao conceit o discur sivo de ver dade in: WELLMER, A. |||| ++1
bs| Fr ankfur t/M., 1986, 51 ss.; LAFONT, C. I|. |++s:I++ +
h.-.+.+: |||s|; Cambr idge (Mass.), 1999, 283 ss.
I?
HABERMAS, J. " Wahr heit und Recht fer t igung. Zu Richar d Ror t ys
pr agmatischer Wende" , in: id. (1999), 283 ss.
4 3
um nexo interno entre os dois papis que a idia da orientao pela
verdade assume aqui e l - nas figuras de certezas de ao e em
pretenses de validade hipotticas.
16
Em que pese isso, a funo regulativa da orientao pela verdade,
apoiada na suposio do mundo objetivo, dirige os processos fticos
de justificao rumo a um alvo que, de certa forma, transforma o
tribunal superior da razo em algo mvel. Na esteira da destranscen-
dentalizao, as idias tericas da razo saem, de certa forma, do mundo
esttico do inteligvel e passam a desenvolver sua dinmica no inte-
rior do mundo da vida. Kant nos lembra que do mundo inteligvel ns
temos apenas uma "idia", no um "conheci ment o". Aps a
transposio da idia cosmolgica para a suposio de um mundo
objetivo comum, a orientao por pretenses de validade, incon-
dicionais, libera os recursos do mundo, outrora inteligvel, para a
aquisio de conhecimentos empricos. E o abandono das acepes
lgico-transcendentais transforma as idias da razo em idealizaes
levadas a cabo por sujeitos providos da faculdade de falar e agir. O
"ideal", elevado condio de reino do alm e calcificado, transforma-
se em operaes no aqum, ou seja, retirado do estado transcendente
e transposto para a realizao de uma "transcendncia a partir de
dentro". Porquanto, na disputa discursiva pela interpretao correta
daquilo que nos cerca no mundo, os contextos de mundos da vida que
se alteram constantemente tm de ser superados "a partir de dentro".
Os sujeitos providos da faculdade de falar e agir no so capazes
de se dirigir s "algo no interior do mundo" (intramundano), a no ser
s s do horizonte do seu respectivo mundo da vida. No existem
relaes com o mundo que sejam totalmente isentas de contexto.
Heidegger e Wittgensteindemonstraram, cada um a seu modo, que a
consci nci a t ranscendent al de objetos al i ment a-se de falsas
abstraes.
17
As prticas lingsticas e os contextos do mundo da vida,
16
HABERMAS, J. (1999), 48 ss., 261 ss., 291 ss.
17
Sobr e a " her menutica do ser -no-mundo, que desde sempr e inter pr etado
linguist icament e" , cf. APEL, K.-O. " Wit t genst ein und Heidegger " in-
MCGUI NNESS et ali. b. |c. :| ++1 |++.+ |+ +:|
..s.|.+ Fr ankfur t/M., 1991, 27-68.
44
nos quais os sujeitos socializados se encontram, "desde sempre",
franqueiam o mundo nas perspectivas de costumes e tradies
fundadoras de sentido. Tudo o que os membros de uma comunidade
local de linguagem detectam no mundo, no experimentado como
objeto neutro, j que tal experincia acontece luz de uma pr-
compreenso gramatical j exercitada. A mediao lingstica da
relao com o mundo explica a retroligao da objetividade do mundo
- suposta no falar e no agir - intersubjetividade de um entendimento
entre participantes de uma comunicao. O fato que eu assevero de
um objeto tem de ser afirmado e eventualmente justificado perante
outros, que podem eventualmente contradizer. A necessidade de
interpretao surge pelo fato de ns no podermos prescindir da
linguagem que franqueia o mundo, nem mesmo quando a utilizamos
num sentido descritivo.
Tais problemas de traduo lanam nova luz sobre a estrutura
emaranhada dos contextos do mundo da vida. Eles no fornecem,
porm, nenhum argumento para o teorema da incomensurabilidade.
18
Os participantes da comunicao podem entender-se, alm das
fronteiras de mundos da vida divergente, porque eles, com o olhar
voltado para um mundo objetivo comum, orientam-se pela pretenso
de verdade, isto , pela validade incondicional de suas afirmaes.
Ainda retomarei esse tema da orientao pela verdade.
( 2 ) A idia cosmolgica da unidade do mundo ramifica-se, de
um lado, na suposio pragmtica de um mundo objetivo tido como
uma totalidade dos objetos e, de outro lado, na orientao por uma
realidade concebida como totalidade dos fatos. Ora, nas relaes
interpessoais entre sujeitos prendados com a faculdade de falar e agir
e que cobram posicionamentos, uns dos outros, ns topamos com
outros tipos de idealizao. No trato recproco e cooperativo, eles tm
de supor a racionalidade, pelo menos at um momento ulterior. E
18
BERNSTEI N, Richar d F. |.;+1 0|.:.s- s+1 |.|s.s- Philadelphia,
1983.
45
pode ser que, sob circunstncias especiais, se comprove que essa
suposio era injustificada. possvel que, contra todas as expectativas,
o outro no seja capaz de fornecer uma justificativa adequada para
suas exteriorizaes e aes e que ns no consigamos enxergr
nenhum argumento que justifique seu comportamento. No contexto
do agir orientado pelo entendimento, tal desapontamento s pode
manifestar-se luz de uma suposio de racionalidade que ns temos
de fazer sempre que adotamos o agir comunicativo. Tal suposio
significa que um sujeito, ao agir intencionalmente, encontra-se em
condies de apresentar um argumento mais ou menos plausvel capaz
de explicar, em circunstncias favorveis, por que ele (ou eles) agiu
desta ou daquela maneira ou por que ele (ou eles) deixou de reagir.
Exteriorizaes incompreensveis, curiosas, bizarras ou enigmticas
provocam interesse em informao porque elas cont radi zem
implicitamente uma suposio inevitvel no agir comunicativo
desencadeando, por isso, irritaes.
Quem no capaz de assumir a responsabilidade por suas
exteriorizaes e aes perante outros levanta a suspeita de no ter
agido "de modo responsvel". O prprio juiz criminal, ao levantar a
suspeita de um delito, constata primeiro a possibilidade de o acusado
ser culpado. Alm disso, ele examina a possibilidade de haver
argument os exi mi dores. Para o j ul gament o de um cri me ser
considerado eqitativo, temos de saber antes se o assassino era
imputvel e se o delito no deve ser atribudo, antes, s circunstncias
do que ao prprio agente. Razes eximidoras confirmam a suposio
de racionalidade da qual partimos, no somente nos procedimentos
judicirios, mas tambm no dia-a-dia, nas nossas relaes com outros
atores. O exemplo do discurso jurdico tambm se presta muito bem
para uma comparao entre a suposio pragmtica da capacidade de
imputao e a idia de liberdade, de Kant.
At o presente momento, consideramos a razo "no seu uso
terico" como "a faculdade de julgar conforme princpios". A razo
torna-se "prtica" medida que determina o querer e o agir conforme
princpios. E a idia de liberdade adquire, sobretudo por meio da lei
moral, expressa no imperativo categrico, uma "causalidade prpria",
4 6
a saber, a fora racionalmente motivadora de bons argumentos. A
liberdade constitui uma "exigncia irrecusvel da razo prtica",
constitutiva para o agir. Distingue-se, pois, das idias tericas da razo,
que apenas regulam o uso da faculdade cognitiva. Sem dvida alguma,
podemos tambm e a qualquer momento, observar aes sob categorias
do compor t ament o observvel t omando-as como fenmenos
determinados por leis naturais. No entanto, numa inteno prtica,
ns temos de referir as aes a argumentos que poderiam ter levado
um sujeito racional a realiz-las. A "inteno prtica" significa uma
mudana de perspectiva: quando supomos racionalidade, ns adotamos
um tipo de julgamento normativo que seguimos no prprio agir
comunicativo.
bem verdade que os argumentos relevantes para a "liberdade"
(no sentido kantiano) formam apenas um recorte do amplo espetro de
argumentos que teriam condies de comprovar a capacidade de
imputao de sujeitos que agem comunicativamente. Kant determina
a liberdade como a faculdade um ator capaz de ligar sua vontade a
mximas, isto , de orientar seu agir por regras das quais ele possui o
conceito. Desta forma, dependendo da inclinao ou do fim escolhido
subjetivamente, a "liberdade de arbtrio" nos coloca em condies de
adot ar regras de pr udnci a (Klugheit) ou de habi l i dade
(Geschicklichkeit); ao passo que a "vontade l i vre" segue leis
universalmente vlidas que ela se d a si mesma por compreenso
perspicaz (aus Einsicht), de um ponto de vista moral. A liberdade de
arbtrio precede a vontade livre; permanece, no entanto, subordinada
a ela no que se refere ao estabelecimento de fins. Por conseguinte,
Kant limita-se formulao de argumentos prtico-tcnicos e prtico-
morais. O agir comunicativo, no entanto, coloca em jogo um espectro
de argumentos mais amplo: argumentos epistmicos para discutir a
verdade de afirmaes; pontos de vista ticos para avaliar a
autenticidade de uma deciso vital; indicadores para detectar a
sinceridade de confisses, de experincias estticas, de explicaes
narrativas, de padres culturais valorativos, de pretenses de direito,
de convenes, etc. A capacidade de imputao no se mede apenas
pelos padres da moralidade e da racionalidade teleolgica. Ela
47
tampouco constitui tarefa exclusiva da razo prtica, uma vez que
consiste, de modo geral, na capacidade que um ator possui de orientar
seu agir por pretenses de validade.
19
Segundo Kant, a liberdade destaca-se entre as idias prticas da
razo porque podemos compreender a priori a possibilidade de sua
realizao, o que no acontece com as outras idias. Por isso, tal idia
adquire, para todo ser racional, fora "legisladora". Ela visualizada
mediante o ideal de um "reino dos fins" ao qual se ligam, sob leis
sociais, todos os seres racionais, de tal sorte que eles jamais podem
tratar-se apenas como meios, j que constituem fins em si mesmos.
Nesse reino, toda pessoa "legisladora em geral, porm, ao mesmo
tempo, sujeita a essas leis". Temos uma compreenso a priori desse
modelo de autolegislao, cujo significado duplo: De um lado, ela
possui o sentido categrico de uma obrigao (Verpflichtung) que
consiste na realizao do reino dos fins por meio das prprias
realizaes e omisses. De outro lado, o sentido transcendental de
uma certeza (a de que esse reino pode ser promovido mediante nosso
fazer e deixar de fazer moral). Podemos saber a priori que possvel
uma realizao dessa idia prtica.
Sob o primeiro aspecto, a comparao entre a idia da liberdade
e a suposio da racionalidade no agir comunicativo no muito
produtiva. J que a racionalidade no constitui uma obrigao. No
prprio contexto do comportamento moral ou legal, o sentido da
suposio da racionalidade no consiste no fato de que o outro se
sente obrigado a obedecer a normas; s se imputa a ele um saber
sobre o que significa agir de forma autnoma. O segundo aspecto da
comparao, no entanto, mais fecundo porque aqui a idia de
liberdade nos proporciona a certeza de que o agir autnomo (e a
realizao do reino dos fins) possvel - no havendo necessidade de
ela nos ser atribuda contrafaticamente. Na viso de Kant, os seres
racionais entendem-se como atores que agem impulsionados por bons
argumentos. No tocante ao agir moral, eles possuem um saber a priori
" HABERMAS, J. |s|,s ++1 0.|++ Fr ankfur t/M.: Suhr kamp, 1992, 19.
4 8
sobre a possibilidade de realizao da idia de liberdade. Na atividade
comunicativa, ns tambm tomamos como ponto de partida a idia
de que todos os participantes so atores capazes de imputao. Est
includa na autocompreenso de sujeitos que agem comunicati vmente
a capacidade de posicionar-se, por motivos racionais, quanto a
pretenses de validade; qualquer ator supe que o outro ator age de
fato levado por razes a serem justificadas racionalmente.
As ci nci as sociais e as pesqui sas psicolgicas sobre o
comportamento demonstram que tal "saber" performativo, que conduz
a execuo da ao, altamente problemtico. Na prtica cotidiana,
ns mesmos somos, ao mesmo tempo, participantes e observadores
podendo constatar que muitas exteriorizaes no tm como motivo
bons argumentos. Sob este ngulo emprico, a imputabilidade daquele
que age comunicativamente no passa de uma suposio contraftica
semelhante da idia kantiana da liberdade. O curioso, no entanto,
que, aos olhos dos prprios sujeitos, tais conhecimentos perdem seu
carter contraditrio durante a execuo da ao. O contraste entre o
saber objetivo do observador e o saber da ao, de que se lana mo
de modo performativo, perde seu efeito in actu. O estudante de
sociologia aprende, jno primeiro semestre, que todas as normas valem
contrafaticamente, mesmo que sejam obedecidas apenas por um
determinado nmero de pessoas porque, no entender do observador
sociolgico, os casos estatisticamente comprovados de possveis
comportamentos desviantes j so contemplados pelas normas
vigentes.
20
No entanto, o conhecimento desse fato no impedir
nenhum destinatrio de aceitar e de seguir uma norma reconhecida
como vlida na comunidade.
Quem age moralmente no se arroga apenas uma autonomia
"mais ou menos"; e no agir comunicativo, os participantes no se
atribuem ora "um pouco mais" de racionalidade e ora "um pouco
menos". J que, na perspectiva de participantes, tais conceitos so
20
Tal consider ao j se encont r a em DURKHEI M, E. b. |..|+ 1.
s,|s:|.+ 4.|1. (1895), Fr ankfur t/M., 1992,18.
4 9
codificados de modo binrio. To logo ns passamos a agir por
"respeito lei" ou "orientados pelo entendimento mtuo", no
podemos mais agir, ao mesmo tempo, na perspectiva objetivadora de
um observador. Durante a realizao da ao, ns exclumos
autodescries empricas, as quais cedem o lugar autocompreenso
racional de atores. No obstante isso, a suposio de racionalidade
constitui uma assuno refutvel, no um saber a priori. Ela "funciona"
como uma pressuposio pragmtica, comprovada de muitas maneiras,
sendo constitutiva para o agir comunicativo em geral. No entanto, ela
pode no funcionar em um determinado caso singular. Essa diferena
no status do saber da ao no se explica apenas pela destrans-
cendentalizao do sujeito agente, que foi retirado do reino dos seres
inteligveis e colocado no mundo da vida de sujeitos socializados,
que se articulam por intermdio da linguagem. A mudana de
paradigma implica uma transformao completa do modo de anlise.
No quadr o concei t uai ment al i st a, Kant ent ende a
autocompreenso racional de atores como um saber da pessoa a
respeito de si mesma; a seguir, ele contrape tal saber da primeira
pessoa ao saber de um observador na terceira pessoa. Entre ambos,
existe uma diferena de nvel transcendental, de tal forma que a
autocompreenso de um sujeito inteligvel no pode ser corrigida, no
fundo, por meio de um saber de mundo. De outro lado, na qualidade
de falantes e destinatrios, os sujeitos que agem comunicativamente
encontram-se no papel de primeiras e segundas pessoas, isto ,
literalmente, no mesmo nvel. Eles assumem uma relao interpessoal
proporo que se entendem sobre algo no mundo objetivo e enquanto
assumem a mesma referncia ao mundo. Nesse enfoque performativo
recproco, eles tambm fazem, ao mesmo tempo e ante o pano de
fundo de um mundo da vida compartilhado intersubjetivamente,
experincias comunicativas uns com os outros. Eles entendem o que
o outro diz ou pensa. Eles aprendem com as informaes e objees
do oponente e tiram suas concluses da ironia ou do silncio, das
exteriorizaes, aluses etc. A incompreensibilidade de um compor-
tamento opaco ou o colapso da comunicao constitui uma experincia
comunicativa de tipo reflexivo. Nesse nvel, uma suposio de
50
racionalidade pode ser refutada indiretamente, porm, no desmentida
enquanto tal.
Parece que tal tipo de refutabilidade no vale para as idealizaes
das quais se parte no mbito da cognio, mesmo que elas tenham a
mesma forma de uma suposio pragmtica. A suposio de um mundo
objetivo, comum, delineia um sistema de possveis referncias ao
mundo tornando possveis, por este caminho, intervenes no mundo
e interpretaes de algo no mundo. A suposio de um mundo objetivo
comum necessariamente "transcendental" no sentido de que ela no
pode ser corrigida por meio de experincias que, sem ela, no poderiam
acontecer. Os contedos descritivos de caracterizaes dependem
naturalmente de revises fundamentadas. O mesmo, porm, no pode
ser aplicado ao esboo formal de uma totalidade de objetos
identificveis em geral - pelo menos enquanto nossas formas de vida
forem configuradas pelas linguagens naturais histricas conhecidas,
as quais so construdas de modo proposicional. O mximo que
podemos descobrir a posteriori que o esboo no foi suficientemente
formal. As suposies "inevitveis", no entanto, so "constitutivas",
tanto para prticas como para domnios de objetos, porm, no no
mesmo sentido.
Para um comportamento conduzido por regras, as regras
constituidoras abrem sempre uma alternativa entre a obedincia regra
e a infrao da regra. Alm disso, existe basicamente a alternativa
ene ser capaz de (Knnen) e no ser capaz de (Nichtknnen). Quem
no domina as regras de um jogo, no consegue cometer erros, mas
tambm no pode jogar. Isso se manifesta no decorrer da prtica.
Durante o agir comunicativo, possvel constatar que quem desaponta
a suposio pragmtica da capacidade de imputao no est
conseguindo "acompanhar o jogo". Se for verdade que a suposio
de um mundo objetivo comum no depende do controle pelo tipo de
experincias que ela toma possveis, verdade tambm que a suposio
de racionalidade, necessria no agir comunicativo, vale somente at
logo mais. Uma vez que ela estexposta aos desmentidos de
experincias que os participantes fazem com essa prtica.
51
(3) At o presente momento, investigamos o uso destranscenden-
talizado da razo adotando como referncia a suposio de um mundo
objetivo comum e a suposio recproca de racionalidade que os atores
tm de tomar como ponto de partida quando assumem um agir
comunicativo. Abordamos en passant um outro sentido de "ideali-
zao" quando tratamos da funo regulativa da orientao pela
verdade, que completa a "referncia a um mundo" (Weltbezug). A
concatenao genealgica com as "idias", de Kant, sugere a expresso
"idealizao". A prtica o agir orientado pelo entendimento obriga
seus participantes a certas antecipaes totalizadoras, abstraes e
superaes de limites. Entretanto, convm perguntar: o que as
diferentes idealizaes tm realmente em comum quando as
investigamos na prtica?
A "referncia a um mundo" de uma linguagem diferenciada em
termos proposicionais, a qual preenche funes de representao,
obriga os sujeitos providos da faculdade de falar e agir a esboar um
sistema comum de objetos de referncia existentes independentemente,
sobre os quais eles formam opinies e sobre os quais eles podem
influir intencionalmente. A suposio pragmtico-formal de um mundo
engendra certos guardadores de lugar para objetos, aos quais sujeitos
falantes e agentes podem referir-se. Todavia, a gramtica no pode
"impor leis" natureza. Um "esboo transcendental" mitigado supe
que a natureza "vem ao nosso encontro". Por conseguinte, na dimenso
vertical da referncia a um mundo, a idealizao consiste na
antecipao da totalidade das possveis referncias. Ao passo que na
dimenso horizontal das relaes que os sujeitos estabelecem entre
si, a suposio da racionalidade efetuada reciprocamente significa,
basicamente, o que eles esperam uns dos outros. O entendimento e a
coordenao comunicativa da ao implicam uma dupla faculdade
dos atores, a saber: a de que eles podem, apoiados em argumentos,
posicionar-se quanto s pretenses de validade, criticveis, e orientar-
se, em seu prprio agir, por pretenses de validade.
Aqui, a idealizao implica uma abstrao passageira dos desvios,
das diferenas individuais e dos contextos limitadores. Quando tais
desvios ultrapassam uma certa margem de tolerncia passam a ser
estorvos da comunicao - podendo levar, em casos extremos, ao
52
colapso da prpria comunicao. Nesse contexto faz-se valer um certo
sentido platnico de idealizao, o qual no coincide plenamente com
a compreenso kantiana. Antes de atingir o limiar, no qual a
discrepncia entre o ideal e a realizao incompleta num caso especfico
torna-se por demais gritante, os agentes, enquanto mantiverem um
enfoque performativo, no precisam tomar conhecimento das
insuficincias observveis empiricamente. Nesta dimenso, no
decisiva a antecipao totalizadora que se estende a todos os
participantes. Decisiva a neutralizao, concretizada in actu, dos
desvios - que podem ser desconsiderados - de uma medida ideal pela
qual o prprio agir objetivamente desviante se orienta.
Entretanto, quando a orientao pela verdade acontece no mbito
de um exame crtico de pretenses de validade incondicionais, entra
em cena uma idealizao aparentemente efusiva que une os sentidos
platnico e kantiano de "idealizao", criando um novo sentido de
idealizao, o qual hbrido. J que nosso contato com o mundo
mediado pela linguagem, o mundo se retrai, seja de uma apreenso
direta pelos sentidos, seja de uma constituio imediata mediante
formas de intuio e de conceitos da faculdade cognitiva (Verstand).
A objetividade do mundo, que supomos em nossa fala e em nossas
aes, estto intimamente entrelaada com a intersubjetividade do
entendimento sobre algo no mundo, que no podemos eludir, em
nenhuma hiptese, tal coeso nem fugir do horizonte de nosso mundo
da vida que franqueado por meio da linguagem. Isso no exclui,
evidentemente, uma comunicao para alm das fronteiras de mundos
da vida particulares. Jque podemos sobrepujar reflexivamente nossas
situaes hermenuticas iniciais e chegar a concepes sobre temas
controversos, compartilhadas intersubjetivamente. Para fazer jus a isso,
Gadamer utiliza o conceito "fuso de horizontes".
21
GADAMER, H.-G "s||. ++1 4.|1. Tubinga, 1960. A viso sobr e a
apr opr iao de obr as clssicas seduz, no ent ant o, Gadamer levando-o a uma
est et icizao da problemtica da ver dade. Cf. HABERMAS, J. " Wie ist nach
dem Histor ismus noch Metaphysik mglich?" , in: " Sem 1ss ..ss+1.+ s
1.+ |s++ s s:|. h--s. s+ hs+s0. 0s1s-. Fr ankfur t/M.,
2001, 89-99.
5 3
A suposio de um mundo comum de objetos existentes
independentemente dos quais podemos predicai- fatos completada
com o auxlio da idia de verdade como caracterstica "no
desperdivel" dessas asseres. No entanto, se as asseres falveis
no puderem ser confrontadas diretamente com o mundo, necessitando,
para sua fundamentao ou refutao, de outras afirmaes e se, alm
disso, no houver nenhuma base de afirmaes pura e simplesmente
evidentes, isto , credenciadas por si mesmas, ento o nico caminho
para examinar pretenses de verdade passa a ser o discursivo. Em
decorrncia disso, a relao bipartida da validade de asseres
ampliada passando a ser uma relao tripartida da validade que
afirmaes tm "para ns". Sua verdade precisa ser reconhecvel por
um pblico. Neste caso, porm, pretenses de verdade incondicionadas
desenvol vem, sob as condi es epi st mi cas de sua possvel
justificao, uma fora explosiva no interior dos respectivos contextos
de entendimento existentes. O reflexo epistmico de incondicionali-
dade constitui a revalorizao ideal de um pblico crtico que se torna
instncia "derradeira". Para representar isso, Peirce emprega a imagem
de uma comunidade de pesquisadores, ideal, no confinada ao espao
social nem ao tempo histrico, a qual impulsiona, o mais longe
possvel, um processo de pesquisa inclusivo - que chega a atingir o
valor-limite de uma "final opinion".
Tal imagem , no entanto, enganadora, em dois sentidos. Em
primeiro lugar, ela sugere que a verdade pode ser entendida como
assertibilidade ideal, que se mede, por seu turno, por um consenso
obtido sob condies ideais. Qualquer assero, no entanto, objeto
do assentimento de todos os sujeitos racionais por ser verdadeira; pol-
i sse ela no verdadeira apenas pelo fato de que poderia formar o
contedo de um consenso obtido em condies ideais. Em segundo
lugar, tal imagem no consegue levar o olhar a se fixar no processo da
justificao durante o qual asseres verdadeiras tm de resistir a todas
as tentativas de refutao: ela apenas chama a ateno para o estado
final de um consenso imune a objees. Contra tal concepo levanta-
se uma autoconscincia falibilista que se manifesta no "uso, em termos
de admoestao", do predicado "verdadeiro". Na qualidade de espritos
54
finitos, no podemos prever a modificao de condies epistmicas
e por isso no podemos excluir a possibilidade de que uma afirmao,
por mais que esteja justificada idealmente, possa vir a ser desmascarada
como falsa.
22
Entretanto, mesmo que se leve em conta tais objees
contra uma verso epistmica do conceito de verdade, a idia de um
processo de argumentao, possivelmente inclusivo e retomvel a
qualquer momento, continua desempenhando uma funo importante
para a explicao da "aceitabilidade racional" - mesmo que no seja
mais da "verdade". Porquanto ns, seres falveis e situados no mundo
da vida, no possumos outro caminho para nos certificarmos da
verdade que no seja o do discurso que , ao mesmo tempo, racional
e aberto ao futuro.
Em que pese isso, por mais que a imagem de uma comunidade
de comunicao ampliada em termos ideais (Apel), - a qual visa um
acordo fundamentado sob condies ideais de conhecimento (Putnam),
ante um auditrio ideal (Perelman) ou numa situao de fala ideal
(Habermas), - possa nos enganar, ns no podemos deixar de emitir
idealizaes semelhantes. Porquanto a ferida aberta na prtica cotidiana
por uma pretenso de validade que se tornou problemtica precisa ser
tratada em discursos que no podem ser finalizados de uma vez por
todas por meio de evidncias "convincentes" nem por argumentos
"concludentes". Na verdade, as pretenses de verdade no se deixam
resgatar em discursos; mesmo assim, para nos convencermos da
verdade de afirmaes problemticas, temos de lanar mo de
argumentos. Convincente tudo aquilo que podemos aceitar como
racional. Ora, a aceitabilidade racional depende de um procedimento
que no nos protege contra nada e contra ningum. Por isso, o processo
de argumentao, enquanto tal, tem de permanecer aberto a qualquer
tipo de objees relevantes e a todas as melhorias impostas por
circunstncias epistmicas. Tal prtica de argumentao inclusiva e
per pet uada depende de uma idia de " des confi nament o"
(Entschrankung) de formas atuais de entendimento sobre espaos
21
Cf. a crtica de WELLMER, A. ||| ++1 bs| Fr ankfur t/M., 1986, 69 ss.
55
sociais, tempos histricos e competncias profissionais. Por meio disso
amplia-se o potencial de rplica que serve de pedra de toque para
pretenses de validade aceitas racionalmente.
A compreenso intuitiva do sentido da argumentao em geral
faz com que proponentes e oponentes se obriguem mutuamente
descentrao de suas respectivas perspectivas de interpretao. De
sorte que a antecipao idealizadora, levada a cabo por Kant, da
totalidade de um mundo objetivo, transposta para a totalidade do
mundo social. No enfoque performativo dos participantes da
argumentao, semelhante "totalizao" se liga a uma "neutralizao";
os participantes desconsideram, de um lado, a evidente diferena de
nvel entre o modelo ideal da incluso objetiva e social completa de
um "dilogo sem fim" e os discursos locais finitos e temporalmente
limitados que ns realizamos de fato, de outro lado. Uma vez que s
participantes da argumentao se orientam pela verdade, reflete-se,
no nvel onde buscamos certificar-nos discursivamente da verdade, o
conceito de uma verdade que vale de modo absoluto em idealizaes
performativas que conferem a essa prtica de argumentao seu carter
pretensioso. Antes de abordar em detalhes tais pressuposies
pragmticas de discursos racionais, convm caracterizar sinteticamente
o espectro das pretenses de validade, que mais amplo do que a
pretenso de "verdade". E preciso lembrar que, mesmo sob as
premissas do conceito kantiano de razo prtica, ns pretendemos
validade incondicional no somente para afirmaes assertricas
verdadeiras, mas tambm para afirmaes morais corretas (e, com
ressalvas, para asseres jurdicas).
( 4) At o presente momento tivemos em mente, ao asseverarmos
que os sujeitos que agem comunicativamente se entendem sobre algo
em "o" mundo, a referncia ao mundo objetivo, comum. As pretenses
de verdade levantadas em prol de frases assertricas serviram como
paradigma para pretenses de validade em geral. Em atos de fala
regulativos, tal como conselhos, pedidos e ordens os atores referem-
se a aes s quais seus destinatrios se sentem obrigados (ao menos
isso que os atores supem). Na qualidade de membros de um grupo
56
social, eles compartilham determinadas prticas e orientaes
axiolgicas, reconhecem determinadas normas, esto acostumados a
determinadas convenes, etc. No caso do uso regulativo da linguagem,
os falantes tomam como base um complexo de costumes, instituies
ou regras (reconhecido intersubjetivamente ou apenas exercitado na
prtica cotidiana) que ordena as relaes interpessoais de uma
coletividade de tal forma que os seus membros sabem qual o tipo de
comportamento legtimo que pode ser esperado reciprocamente. (Ao
passo que um falante, ao exteriorizar atos comissivos produz uma
relao legtima medida que assume uma obrigao; neste caso, os
participantes supem que os sujeitos que agem comunicativamente
podem assumir responsabilidade e ligar sua vontade a mximas).
Nesses jogos de linguagem normativos os atores tambm se
referem - por meio dos contedos assertivos de suas exteriorizaes
- a algo num mundo objetivo, porm, apenas en passant. Eles
mencionam as circunstncias e as condies de sucesso das aes
que eles exi gem, pedem, aconselham, censuram, descul pam,
prometem, etc. Porquanto eles se referem, diretamente, a aes e
normas como a "algo no mundo social". Eles no entendem as aes
reguladas por normas como fatos sociais que formam, por assim dizer,
um corte extrado do mundo objetivo. Na viso objetivadora de um
observador social, "existem" certamente "no mundo", ao lado de coisas
fsicas e de estados mentais, expectativas normativas, prticas, cos-
tumes, instituies e prescries de todo tipo. Mesmo assim, o enfoque
adotado in actu pelos atores engajados na malha de suas interaes
reguladas normativamente de outro tipo, a saber, o enfoque
performativo de um destinatrio cujas aes podem transgredir normas
nica e exclusivamente pelo fato de ele as reconhecer como
obrigatrias. Na viso de uma segunda pessoa, a cuja "boa vontade"
se dirigem expectativas normativas, eles (os atores) utilizam um
sistema de referncia complementar ao mundo objetivo. Para fins de
tematizao, esse sistema recorta do contexto abrangente do seu mundo
da vida a seco relevante para o agir regulado por normas. E assim
que os membros entendem seu "mundo social" como uma totalidade
das possveis relaes interpessoais reguladas legitimamente. A
57
exemplo do "mundo objetivo", tal sistema de referncia tambm
constitui uma suposio necessria ligada gramaticalmente ao uso
regulativo da linguagem (no lugar do uso constatativo).
O uso expressivo de frases de primeira pessoa completa tal
arquitetnica de "mundos". Dada a autoridade epistmica que um
falante possui para a exteriorizao veraz de "vivncias" prprias,
distinguimos entre "mundo interior" (Innenwelt), mundo objetivo e
mundo social. Provocada pelo argumento wittgensteiniano das
linguagens privadas e pela crtica ao mentalismo, de Wilfried Sellars,
23
estabeleceu-se uma discusso sobre frases que reproduzem vivncias
e frases de autopercepo, o que leva a concluir que a totalidade das
vivncias s quais se tem um acesso privilegiado no pode ser
entendida, em analogia com os mundos objetivo e social, como um
outro sistema de referncia. As "minhas" vivncias so certas de um
ponto de vista subjetivo, isto , no precisam nem podem ser
identificadas como dados objetivos ou como expectativas normativas.
O "mundo" subjetivo determinado, de um ponto de vista negativo,
como sendo a totalidade daquilo que no aparece no mundo objetivo,
e que no possui validade ou reconhecimento intersubjetivo em um
mundo social. De modo complementar a esses dois mundos, aos quais
se tem acesso pblico, o mundo subjetivo abrange todas as vivncias
de um falante quando ele deseja dar a conhecer algo de si mesmo
perante um pblico no modo expressivo de uma auto-apresentao.
A pretenso correo de afirmaes normativas estriba-se na
validade presumida de uma norma tomada como base. Diferentemente
da validade veritativa de afirmaes descritivas, o mbito de validade
de uma pretenso de correo varia, em geral, juntamente com o pano
de fundo legitimador; por isso, ela acompanha os limites de um mundo
social. Somente mandamentos morais (e normas do direito que
necessitam de uma justificao moral, tal como os direitos humanos,
por exemplo) pretendem validade absoluta ou reconhecimento uni-
versal similar ao de asseres. Isso explica a exigncia kantiana,
SELLARS, W. |-:s- s+1 |. |||s|; /4+1 Cambr idee (Mass )
1997.
58
segundo a qual, mandamentos morais vlidos tm de ser "universa-
lizveis". As normas morais precisam encontrar o reconhecimento
racionalmente motivado de todos os sujeitos capacitados para a
linguagem e a ao, numa dimenso que supera os limites histricos
e culturais dos respectivos mundos sociais. A idia de uma comunidade
inteiramente ordenada em termos morais implica, por conseguinte, a
ampliao contraftica do mundo social - no qual nos encontramos
previamente - at atingir as dimenses de um mundo totalmente
inclusivo de relaes inteipessoais bem ordenadas: Todos os homens
tomam-se irmos (e irms).
bem verdade que, se tentssemos hipostasiar essa comunidade
"universal" de todas as pessoas capazes de julgar e de agir moralmente
no sentido de um desconfinamento espao-temporal, estaramos sendo
induzidos a erro. A imagem de um "reino dos fins", autodeterminado,
sugere a existncia de uma repblica de seres racionais, pouco
importando o fato de que se trata, apenas, de uma construo que, no
entender do prprio Kant, "no esta, podendo tornar-se realidade
por meio de nossas aes e omisses." Ela pode e deve ser concretizada
de acordo com a idia prtica da liberdade. O reino dos fins "mantm-
se", de um certo modo, e dado antes como tarefa (aufgegeben) do
que simplesmente dado (gegeben). Por causa dessa ambigidade, Kant
tambm decomps a prtica dos humanos em dois mundos, a saber, o
do inteligvel e o dos fenmenos. Entretanto, a partir do momento em
que no conseguimos mais nos apoiar nessa diviso transcendental,
somos forados a procurai
-
outros caminhos para fazer valer o sentido
construtivo da moral.
Podemos representai
-
processos de aprendizagem, morais, como
uma ampliao inteligente e como um entrecruzamento de mundos
sociais que, ao se depararem com conflitos, ainda no conseguem se
sobrepor suficientemente. As partes contendentes aprendem a inserir-
se, reciprocamente, em um mundo construdo em comum, a partir do
qual possvel avaliar e solucionai
-
consensualmente, luz de padres
de avaliao consensuais, aes controversas. G. H. Mead descreveu
tal processo como ampliao de uma troca reversvel de perspectivas
de interpretao. Na terminologia piagetiana, as perspectivas dos
59
participantes, enraizadas inicialmente no prprio mundo da vida,
tomam-se tanto mais fortes ou "descentradas", quanto mais o processo
de entrecruzamento das perspectivas se aproxima do valor-limite da
"incluso". Ora, interessante notar que a prtica da argumentao
aponta naturalmente para essa direo. Uma vez que, sob o ponto de
vista moral, somente normas igualmente boas para todos merecem
reconhecimento, o discurso racional se oferece como o procedimento
adequado para a soluo de conflitos, j que ele representa um
procedimento que assegura a incluso de todos os atingidos e a
considerao simtrica de todos os interesses em jogo.
A "imparcialidade" no sentido da justia converge com a
"imparcialidade" no sentido da certificao discursiva de pretenses
de validade discursivas.
24
Tal convergncia fica patente quando se
compara a orientao de processos de aprendizado moral com as
condi es a ser em pr eenchi das para uma par t i ci pao em
argumentaes em geral. Processos de aprendizado moral solucionam,
por meio da incluso recproca do respectivo outro ou dos respectivos
outros, conflitos desencadeados pela oposio entre partes rivais que
se ori ent am por valores dissonantes. Sem embargo, a forma
comunicativa da argumentao talhada para tal ampliao dos
horizontes de valores, da qual resulta um entrelaamento de perspec-
tivas. A salvaguarda do sentido cognitivo da discusso de pretenses
de validade controversas exige que os participantes da argumentao
acatem um universalismo igualitrio que , de certa forma, requerido
pela prpria estrutura da argumentao e que no possui, inicialmente,
nenhum sentido moral, apenas pragmtico-formal.
Nas argumentaes, o carter cooperativo da competio pelo
melhor argumento pode ser compreendido quando atentamos para a
finalidade ou funo constitutiva desse j ogo de linguagem: os
participantes pretendem convencer uns aos outros. No entanto, ao
transportar o agir comunicativo cotidiano para o nvel reflexivo de
pretenses de validade tematizadas, eles no deixam de orientar-se
24
REHG, W. |+s|s+1 |1s; Ber keley, 1994.
60
pelo entendimento mtuo porque um proponente s pode ganhar o
jogo a partir do momento em que conseguir convencer seus oponentes
do direito de sua pretenso de validade. A aceitabilidade racional da
assero correspondente funda-se na fora de convencimento do
melhor argumento. No o discernimento privado que decide qual
o argumento mais convincente. Isso tarefa das tomadas de posio,
enfeixadas num acordo racionalmente motivado, de todos os que
participam da prtica pblica da troca de argumentos.
Entrementes, os prprios standards de que se lana mo para
avaliar os bons e os maus argumentos podem transformar-se em objeto,
de controvrsias. Tudo pode ser arrastado para o turbilho dos contra-
argumentos. Por esta razo, a aceitabilidade racional de pretenses de
validade tem como nico apoio, em ltima instncia, argumentos que
conseguem, sob determinadas condies exigentes da comunicao,
afirmar-se contra objees. O sentido genuno do processo de
argumentao exige que a forma comunicativa do discurso no
somente tematize todas as possveis informaes e explicaes
relevantes, mas tambm que sejam abordadas de tal forma que os
posi ci onament os dos par t i ci pant es possam ser mot i vados
intrinsecamente apenas pela fora revisora de argumentos que flutuam
livremente. Ora, caso seja este o sentido intuitivo que vinculamos s
argumentaes em geral, ento no podemos deixar de admitir que
uma determinada prtica no poderser tida como argumentao sria
caso no preencha determinadas pressuposies pragmticas.
25
As pressuposies mais importantes so as seguintes: (a) Incluso
e carter pblico: no pode ser excludo ningum desde que tenha
uma contribuio relevante a dar no contexto de uma pretenso de
validade controversa; (b) igualdade comunicativa de direitos: todos
tm a mesma chance de se manifestar sobre um tema; (c) excluso da
iluso e do engano: os participantes tm de acreditar no que dizem;
Sobr e o que se segue cf. HABERMAS, J. " Eine genealogische Bet r acht ung
zum kognit ivenGehalt der Mor al" , in: id. b. |+|.,.|++ 1.s 1+1..+
Fr ankfur t/M.: Suhr kamp, 1996, 11-64, aqui 61 s.
61
(d) ausncia de coaes: a comunicao deve estar livre de restries
que impedem a formulao do melhor argumento capaz de levar a
bom termo a discusso. As pressuposies (a), (b) e (d) impem ao
comportamento argumentativo regras de um universalismo igualitrio
que tm como conseqncia - no tocante s questes prlico-morais
- a considerao (simtrica) dos interesses e orientaes valorativas
de cada um dos atingidos. E uma vez que os participantes so, nos
di scur sos prticos, ao mesmo t empo, os at i ngi dos, neles a
pressuposio (c) adquire uma importncia adicional, j que permite
aos participantes adotar, em relao a auto-enganos prprios, uma
atitude crtica e, em relao autocompreenso e compreenso de
mundo de outros, uma atitude hermeneuticamente aberta e sensvel
(no mbito de questes terico-empricas, tal pressuposio exige
apenas uma ponderao isenta e sincera de argumentos).
Tais pressupostos da argumentao contm, evidentemente,
idealizaes fortes a ponto de levantarem a suspeita de que se trata de
uma descrio tendenciosa. Haveria a possibilidade de os participantes
da argument ao t omarem como ponto de partida, de modo
performativo, pressuposies cuja natureza contraftica eles no
poderiam ignorar? Porquanto, ao participarem do discurso, eles no
olvidam, por exemplo, que o crculo de participantes extremamente
seletivo, que a amplitude comunicativa de uma das partes maior do
que a de outras, que um ou outro participante, ao discutir este ou
aquele tema, vtima de preconceitos, que muitos se portam
eventualmente de modo estratgico ou que, finalmente, as tomadas
de posi o em termos de "si m" ou "no" so, muitas vezes,
determinadas por motivos esprios, no pelo motivo do melhor
argumento. Sem dvida alguma, um observador no envolvido no
discurso poderia apreender, melhor do que os prprios participantes
engajados, esses desvios de uma "situao de fala" que se supe ser
quase "ideal". No obstante isso, os prprios participantes no se
deixam sorver inteiramente pelo seu engajamento participativo, pois,
no prprio enfoque performativo permanecem atuais, ao menos
intuitivamente, muitas coisas das quais eles poderiam ter um
conhecimento temtico caso adotassem um enfoque objetivador.
62
De outro lado, as pressuposies inevitveis da prtica da
argumentao no so, apesar de contrafticas, meros constructos, j
que operam efetivamente no comportamento dos participantes da
argumentao. Quem participa seriamente de uma argumentao adota
fat i cament e tais pressuposi es. Isso pode ser inferido das
conseqncias que os participantes tiram, quando necessrio, de
inconsistncias percebidas. O procedimento da argumentao
autocorretivo no sentido de que as razes necessrias, por exemplo,
para uma liberalizao "pendente" das normas de funcionamento e
do regime de discusso, para a modificao de um crculo de
participantes no-suficientemente representativo, para uma ampliao
da agenda ou para uma melhoria da base de informao resultam do
prprio transcurso de uma discusso insatisfatria. Ns simplesmente
percebemos quando novos argumentos enam em cena ou quando
vozes marginalizadas so levadas a srio. De outro lado, nem todas as
inconsistncias percebidas so motivo para tais "consertos" ou
semelhantes. Isso se explica pela circunstncia de que os participantes
da argumentao deixam-se convencer imediatamente pela substncia
dos argumentos, no pelo design comunicativo utilizado para a troca
de argumentos. Caractersticas procedimentais do processo de
argument ao fundamentam a expectativa racional de que as
informaes e argumentos decisivos "venham tona" e sejam
"colocados na mesa". Enquanto os participantes da argumentao
tomam como ponto de partida a idia de que isso o caso, no tm
nenhuma razo para se preocupar com caractersticas procedimentais
insuficientes do processo de argumentao.
As caractersticas formais da argumentao adquirem relevncia,
tendo em vista a diferena entre afirmabilidade e verdade. Uma vez
que, "em derradeira instncia", no existem argumentos definitivos
ou evidncias concludentes, nem asseres bem fundamentadas que
eventualmente no se revelem falsas, a expectativa racional de que as
melhores informaes e argumentos possveis estejam disponveis
para o discurso e "contem" realmente no final das contas spode ser
fundamentada pela qualidade do procedimento da certificao
discursiva da verdade. As inconsistncias que levantam a suspeita
6 3
"de que aqui ningum estargumentando" sso percebidas quando
participantes relevantes so visivelmjnte excludos, contribuies
relevantes so supressas, ou quando tomadas de posio em termos
de "sim/no" so manipuladas ou condicionadas por meio de outro
tipo de influncias.
A eficcia operativa da antecipao idealizadora levada a cabo
tacitamente pelos participantes por intermdio de suas pressuposies
argumentacionais torna-se perceptvel na funo crtica que tal
antecipao preenche: uma pretenso de validade absoluta precisa
justificar-se em foros cada vez mais amplos, perante um pblico
competente cada vez mais extenso e contra objees cada vez mais
freqentes. Tal dinmica de uma descentrao cada vez maior das
prprias perspectivas de interpretao, embutida na prtica da
argumentao, estimula especialmente os discursos prtcos, nos quais
no se trata da certificao de pretenses de validade, mas da
configurao inteligente e da aplicao de normas morais (e jurdicas).
26
A validade de tais normas "consiste" no reconhecimento univer-
sal que elas merecem. Uma vez que as pretenses de validade morais
so destitudas de conotaes ontolgicas, que so caractersticas das
pretenses de verdade, surge, no lugar da referncia a um mundo
objetivo, a orientao pela ampliao do mundo social, isto , pela
incluso cada vez mais ampla de pessoas e de pretenses estranhas. A
validade de uma assero moral possui um sentido epistmico, isto ,
o sentido de que ela poderia ser aceita sob condies ideais de
justificao. Entretanto, uma vez que o sentido da "correo moral",
ao contrrio do sentido de "verdade", se esgota na aceitabilidade
racional, nossas convices morais tm de confiar, em ltima instncia,
no potencial crtico da descentrao e da auto-superao, que se
encontra embutido, juntamente com a "inquietao" resultante da
antecipao idealizadora, na prtica da argument ao - e na
autocompreenso de seus participantes.
Sobr e o que se segue cf. HABERMAS, J. " Richtigkeit vs. Wahr heit" , in: id.
(1999), 271-318.
64
II
( 5 ) Kant movimentou-se num paradigma onde a linguagem no
exerce nenhum papel constitutivo para a teoria ou para a prtica. O
mentalismo concebe a imagem de um esprito, ora mais construtivo
ora mais passivo, que converte seus contatos com o mundo, mediados
pelos sentidos, em representaes de objetos e em influncias
funcionais sobre obj et os, e tais operaes no so afetadas
essencialmente pela linguagem e suas estruturas. Enquanto a
linguagem no perturba o esprito com seus dolos, com as imagens
ou simples ideais herdados da tradio, ele consegue ver atravs do
mdium da linguagem como se fora atravs de um cristal sem mcula.
Por isso, a linguagem ainda no aparece, em uma viso genealgica
r et r ospect i va sobre a pr ocednci a ment al i st a de um uso
destranscendentalizado da razo, como o mdium configurador do
esprito que recoloca a conscincia transcendental nos contextos
histricos e sociais do mundo da vida.
Para Kant, no mbito da prtica, a razo consegue capturar-se a
si mesma, inteiramente, j que ela constitutiva para o agir moral.
Isso sugere que rastreemos as pegadas da razo destranscendentalizada
no agir comunicativo. A expresso "agir comunicativo" assinala as
interaes sociais para as quais o uso da linguagem orientado pelo
entendimento assume o papel de coordenador da ao.
27
Por meio da
comunicao lingstica, as pressuposies idealizadoras emigram para
um agir orientado pelo entendimento. Por isso, a teoria da linguagem,
especialmente a semntica, que esclarece o sentido de exteriorizaes
lingsticas lanando mo das condies da compreenso da
linguagem, o lugar no qual uma pragmtica formal, de procedncia
kantiana, poderia encontrar-se com pesquisas oriundas do campo
analtico. De fato, a tradio de pesquisa analtica, que se inicia em
Frege, toma como ponto de partida o caso elementar de uma
pressuposio idealizadora, o que somente foi notado, no entanto,
aps a guinada lingstica. Porquanto, se as estruturas do esprito so
HABERMAS, J. " Handlungen, Spr echakte, spr achlich ver mittelte Inter aktionen
und Lebenswelt" , in: id. \s:|-.s|;ss:|.s b.+|.+ 1988, 63-104.
65
cunhadas pela gramtica da linguagem, coloca-se a seguinte questo:
de que modo frases e expresses predicativas conseguem manter, na
variedade de seus contextos de aplicao, a generalidade e a identidade
da significao que elas possuem naturalmente na esfera mental?
O prprio Frege, que ainda se encontra na tradio kantiana e
que deve ser, segundo Dummett, colocado ao lado de Husserl, props
uma distino entre o conceito semntico de "pensamento" e o conceito
psicolgico de "represent ao". Para serem comuni cados, os
pensamentos precisam ultrapassar, inalterados, os limites de uma
conscincia individual; ao passo que as representaes pertencem
apenas a um sujeito individuado no espao e no tempo. De outro lado,
proposies conservam o mesmo contedo de pensamento, mesmo
quando exteriorizadas ou compreendidas como tais proposies por
diferentes sujeitos e em contextos distintos. Isso levou Frege a
adscrever aos pensamentos e contedos conceituais um status ideal,
isto , desligado do espao e do tempo. Ele explica a peculiar diferena
de status entre pensamentos e representaes apontando para as formas
gramaticais de sua expresso. Diferentemente de Husserl, Frege
pesquisa a estrutura de juzos ou pensamentos analisando a estrutura
da frase assertrica, composta de palavras, e que tida como a menor
unidade gramatical, podendo ser verdadeira ou falsa. Na estrutura das
proposies e na inter-relao entre referncia e predicao podemos
ler como os contedos de pensamentos se distinguem dos objetos do
pensamento representador.
28
Em situaes variadas, as expresses lingsticas podem manter
a mesma significao para diferentes pessoas; mas supe que o pensa-
mento ultrapasse os limites de uma conscincia individualizada no
espao e no tempo, e que o contedo ideal dos pensamentos seja inde-
pendente do fluxo de vivncias do sujeito pensante. Jno nvel elemen-
tar do substrato do signo, os falantes e ouvintes tm de aprender a
reconhecer o mesmo tipo de signo na pluralidade das correspondentes
ocorrncias de signos. A isso corresponde, no nvel semntico, a
suposio de significaes invariantes. Porquanto, na prtica, os
TUGENDHAT, E. |+/u|++ + 1. ss:|s+s|;s:|. |||s|. Fr ank-
fur t/M., 1976, 35 ss.
66
membros de uma comunidade lingstica tm de supor, inicialmente,
que as expresses formadas gramaticalmente, e que so exteriorizadas
por eles, possuem uma significao geral e idntica para todos os
part i ci pant es, na vari edade dos cont ext os de apl i cao. Tal
pressuposio permite constatar o fato de que eventuais exteriorizaes
so incompreensveis. A suposio da utilizao de expresses de uma
linguagem comum com significado idntico, inevitvel in actu, no
exclui, evidentemente, a diviso de trabalho lingstica nem a mudana
histrica da significao. Um saber sobre o mundo, modificado, induz
uma mudana do saber lingstico, e os progressos no conhecimento
depositam-se em uma mudana de significao dos conceitos tericos
fundamentais.
29
Tambm no caso da generalidade ideal da significao de
expresses gramaticais se trata de uma pressuposio idealizadora
que muitas vezes inadequada na perspectiva de um observador e
que, luz do microscpio de um etnometodlogo, sempre inadequa-
da. Enquanto suposio contraftica, ela , no entanto, inevitvel para
o uso da linguagem orientada pelo entendimento. Por sua crtica
justificada ao psicologismo, Frege deixou-se levar para um platonismo
da significao compartilhado, alis, por Husserl, mesmo que sob
premissas diferentes. O Frege tardio pensava que a arquitet-
nica mentalista dos dois mundos, segundo a qual existe uma contra-
posio entre o mundo objetivo das coisas e um mundo subjetivo das
representaes, tem de ser complementada por um terceiro mundo, a
saber, o mundo ideal das proposies. Tal manobra infeliz o coloca,
no entanto, em uma situao complicada. Quando hipostasiamos as
significaes da frase transformando-as em um em si ideal, o modo
de relacionamento dessas entidades etreas situadas no "terceiro
reino"
30
com as coisas fsicas do mundo objetivo e com os sujeitos
PUTNAM, H. ' The meaning of meaning" , in: id., 4+1 |s++s. s+1 |.s|;
Cambr idge, 1975,215-271.
FREGE, G. " Der Gedanke (1918/19)" , in: id., Logische Unt er suchungen.
Gt t ingen, 1966, 30-53. Nesse t ext o Fr ege chega ao seguint e r esult ado: " Os
pensament os no so coisas do mundo ext er ior nem r epr esent aes.
necessrio r econhecer um ter ceir o r eino" .
67
representadores torna-se um enigma. A relao da "representao"
mental de entidades torna-se independente de um esprito subjetivo,
e, a partir da, no se sabe mais como ele vai "apreender" ou "avaliar"
proposies.
Frege deixou como herana para seus sucessores dois problemas:
em primeiro lugar, os "pensamentos que so expelidos da conscincia"
(Dummett) amargam, enquanto proposies, uma existncia ambgua
e incompreensvel; o segundo problema constitui, de certa forma, o
outro lado da idia pioneira que introduz a "verdade" como conceito
semntico fundamental para a explicao do sentido de expresses
lingsticas. Para entender uma frase necessrio conhecer as
condies sob as quais ela verdadeira, isto , necessrio saber -
como Wittgensteinafirmarmais tarde - "o que o caso quando ele
verdadeiro". A partir daqui, coloca-se a tarefa de explicar o sentido de
verdade da satisfao das condies de verdade. A proposta fregeana,
de entender o valor de verdade de uma frase como seu objeto de
referncia, insatisfatria. J que a prpria anlise da estrutura da
frase revela que a verdade no pode ser assimilada a nenhum tipo de
referncia. Constatamos, pois, que a tradio da semntica veritativa
foi sobrecarregada, desde o incio, com dois problemas de difcil
soluo.
Os contedos proposicionais extrados do fluxo de vivncias
tm de ser, enquanto significados, incorporados de tal maneira ao
mdium das expresses lingsticas que o reino intermedirio e
fantasmagrico das proposies livremente flutuantes se dissolve. No
entanto, o caminho da explicao semntico-veritativa do sentido de
frases s funciona quando o conceito explanatrio "verdade", o qual
fundamental, sai da sombra. Ambas as questes - o que podemos
fazer com proposies e como devemos entender o predicado
"verdadeiro" - podem ser interpretadas como hipotecas de um conceito
mentalista de razo, reprimido. Em uma viso lingstica, dois tipos
de reaes se oferecem: ou se liquida o prprio conceito de razo
juntamente com o paradigma mentalista; ou se liberta tal conceito de
sua moldura mentalista transformando-o, a seguir, no conceito da razo
comunicativa. Donald Davidson adota a primeira destas duas
68
estratgias. Ele pretende desarmar, luz de premissas empiristas, a
peculiar normatividade da linguagem que se reflete no somente na
relao dos sujeitos - providos de fala e ao - com o mundo, mas
tambm em suas relaes interpessoais ( 6) . Michael Dummett e Rob-
ert Brandom caminham em uma direo contrria alimentando a
pretenso de reconstruir, passo a passo, a normatividade da prtica de
entendimento ( 7 e 8) . O esboo delineado a seguir coloca-se como
uma tentativa de reproduzir a linha na qual o sentido normativo, prprio
da razo incorporada na linguagem, tambm se faz valer na filosofia
analtica da linguagem.
( 6) Davidsonimprime caractersticas objetivas a um fenmeno
carente de explicao, perguntando: o que significa compreender uma
expresso lingstica? Sua deciso metodolgica prenhe de
conseqncias, uma vez que modifica o papel do analista da linguagem.
Tal papel no mais o de um leitor ou de um ouvinte que tenta
compreender textos ou exteriorizaes de um autor ou de um falante.
Ao invs disso, ele atribui ao intrprete o papel de um terico que
procede de forma emprica, que formula observaes sobre o
comportamento de uma cultura estranha e que, diferentemente de um
etnlogo wittgensteiniano, busca uma explicao nomolgica para o
incompreensvel comportamento lingstico dos nativos. Com isso, o
comportamento comunicativo de sujeitos providos da faculdade de
fala e ao deslocado, de certa forma, para o lado do objeto. A
assimilao da compreenso do sentido a explicaes para as quais
necessitamos de uma teoria emprica corresponde assimilao
enrgica de exteriorizaes simblicas compreensveis categoria de
fenmenos naturais observveis. Davidsondesenvolve tal teoria
utilizando a conveno veritativa de Tarsky como conceito funda-
mental no definido para a criao de equivalncias semnticas.
Tal lance permite-lhe enfocar, de modo menos dramtico, o
problema que se coloca quando se trata de enfrentar a idia da verdade
e do contedo ideal de pretenses de verdade que se fizeram valer
comunicativamente. Com relao ao problema da reduplicao
platnica de significados de frases em proposies, que tem a ver
69
com a utilizao de expresses gramaticais com significao idntica,
ele sugere pura e simplesmente a eliminao do conceito de significado.
Davidsonpensa que uma das vantagens de seu procedimento
objetivista reside precisamente no fato de que ele no precisa lanar
mo "de significados como entidades": "No so introduzidos objetos
que devam corresponder a predicados ou sentenas".
11
No obstante
isso, o problema ainda no desaparece inteiramente sem deixar rastos.
Ele retoma no plano metodolgico quando nos perguntamos sobre o
modo como o intrprete toma as provas coletadas no campo de pesquisa
-o comportamento lingstico e as caractersticas das atitudes de
falantes estranhos - e as agrega corretamente a proposies verdadeiras,
geradas teoricamente. Para extrair uma estrutura lgica do fluxo de
dados observados, o intrprete levado a decompor, inicialmente, as
seqncias de comportamentos em unidades semelhantes a frases e
associveis aos "bicondidionais" da teoria tarskiana. Todavia, mesmo
no caso de uma segmentao bem-sucedida, no suficiente, para
uma correspondncia clara, a co-varincia de exteriorizaes singulares
e circunstncias tpicas nas quais estas surgem.
Em geral, um falante competente exterioriza uma frase de
percepo apoiado na significao lexical conhecida das expresses
utilizadas, mas somente em contato com aquilo que ele acredita estar
percebendo realmente na situao dada, portanto, com aquilo que ele
tem por verdadeiro. E jque a crena e a significao da palavra podem
variar autonomamente, os dados auferidos por observao, isto , o
comportamento do falante estranho e as circunstncias nas quais ele
surge, spodem informar o intrprete sobre o significado da
exteriorizao a ser interpretada quando o falante estranho tem por
verdadeiro o que diz. Para descobrir o significado do que foi dito, um
observador tem de saber se o falante estranho acredita no que diz. Por
conseguinte, o intrprete tem de pressupor, caso pretenda excluir a
incmoda interdependncia entre crena e significado, que o "ter-por-
verdadeiro" do falante constatado constante. Somente a suposio
do ter-por-verdadeiro consegue transformar a co-varincia de
31
DAVI DSON, D. "s||. ++1 |+..s+ Fr ankfur t/M., 1986, 10.
7 0
exteriorizao e situao da exteriorizao, constatada, numa prova
suficiente para a escolha teoricamente informada da interpretao
corret a. Por esta razo, Davi dson i nt roduz, como princpio
metodolgico, a idia refutvel de que os falantes observados no campo
comportam-se, por via de regra, de modo racional. Isso significa que
eles acreditam, em geral, no que dizem e que no se enredam, na
seqnci a de suas ext eri ori zaes, em cont radi es. Sob tal
pressuposio, o intrprete pode tomar como ponto de partida a idia
de que, na maioria das situaes, os falantes observados percebem o
mesmo que ele percebe e acreditam nas mesmas coisas em que ele
acredita, de tal sorte que ambos os lados coincidem em um grande
nmero de convices. Isso no exclui, evidentemente, discrepncias
em determinados casos. No entanto, o princpio induz o intrprete a
"maximizar o consenso".
Neste ponto, necessrio precisar que o "princpio de caridade",
introduzido metodicamente, obriga um intrprete a atribuir a um falante
estranho, na perspectiva do observador, a "racionalidade" como
disposio do comportamento. Tal atribuio no pode ser confundida
com uma suposio de racionalidade que feita performativamente
por participantes. Porquanto, em um dos casos, o conceito de
racionalidade utilizado de modo descritivo; no outro, a utilizao
nor mat i va. Em ambos os casos, porm, t rat a-se de uma
pressuposio falvel: "O conselho metdico de interpretar, de uma
maneira a otimizar o consenso, no deveria ser interpretado como
al go apoi ado numa pressuposi o cari t at i va com rel ao
inteligncia humana [...]. Se no encontrarmos nenhuma possibilidade
de interpretar as exteriorizaes e demais atitudes de uma criatura de
tal modo que dentre elas se manifeste um certo nmero de convices
isentas de contradio e verdadeiras de acordo com nossos prprios
padres, no teremos nenhuma razo de considerar tal criatura um ser
racional que defende convices ou que capaz de dizer algo em
geral".
32
DAVI DSON, D. " Radikale Inter pr etation" , in: id. (1986), 199 (a tr aduo foi
modificada, obser vao de J. Haber mas).
71
Tal formulao (reencontrada no argumento davidsoniano con-
tra a distino entre contedo e esquema conceituai) j indica que o
princpio metodolgico adquire uma espcie de significao transcen-
dental.
11
A atribuio de racionalidade no apenas uma pressuposio
inevitvel para a interpretao radical, mas tambm para a comunicao
cotidiana normal entre membros de mesma comunidade lingstica.
14
Sem a suposio recproca da racionalidade, no encontraramos
qualquer tipo de base de um entendimento suficientemente comum,
capaz de nos arrancar de nossas diferentes teorias da interpretao
(ou de nossos "ideoletos").
15
A seguir, no quadro de uma teoria
integrada da ao e da linguagem, o "ter-por-verdadeiro" retroligado
a uma "preferncia" geral por proposies verdadeiras Cpreferring
one sentence true to another")?
6
A racionalidade da ao mede-se pelos standards comuns - pela
consistncia lgica, pelos princpios gerais do agir orientado pelo
sucesso e pela considerao de evidncias empricas. Recentemente,
na rplica a uma interveno de Richard Rorty, Davidsonvoltou a
formular seu princpio de caridade da seguinte maneira: "A caridade
uma questo de encontrar suficiente racionalidade naqueles que
pretendemos entender para que faa sentido o que dizem e fazem,
pois, se no formos bem-sucedidos neste empreendimento, no
33
FULTNER, B. Radical |+..s+ (--++:s.. 1:+ h|s- +
bs.1s+ s+1 hs|.-ss Disser t ao filosfica, Nor thwester n Univer sity,
1995, 178 ss.
14
CUTREFELLO, A. "Onthe Tr anscendental Pr et ensions of the Pr incipie of
Char ity" , in: HAHN, L. E. (ed.), I|. |||s|; /b+s|1 bs.1s+ LaSalle
(III.) 1999, 333: " Supe-se que o princpio da car idade uma condio
univer salment e vinculant e para a possibilidade de inter pr etao de qualquer
pessoa" . Em sua rplica, Davidsonaceita a expr esso " tr anscendental" no
sent ido fr aco de uma inevit abilidade ftica; em t odo caso, ele fala na
" inevitabilidade do apelo a tal princpio" (ibid., 342).
35
DAVI DSON, D. " Eine hbsche Unor dnung vonEpitaphen" , in: PICARDI, E.
e SCHULTE, J. (eds.) b. "s||. 1. |+..s+ Fr ankfur t/M., 1990
203-227.
36
DAVI DSON, D. hs+1|++ ++1 |.+s Fr ankfur t/M., 1985.
7 2
poderemos identificar os contedos de suas palavras nem de seus
pensamentos. Descobrir a racionalidade nos outros uma questo de
reconhecer nos comportamentos e atos de fala deles nossas prprias
normas de racionalidade. Tais normas incluem as normas da
consistncia lgica, da atuao em conformidade com os interesses
bsicos do agente e a aceitao de pontos de vista sensveis luz da
evidncia."
17
interessante observar que, para Davidson, a normatividade do
comportamento humano, que o alvo da suposio de racionalidade,
serve tambm como critrio para delimitai
-
a linguagem da fsica ante
a linguagem mental: "Existe um sem nmero de razes para a
irredutibilidade do mental ao fsico. Uma das razes [...] o elemento
normativo introduzido na interpretao pela necessidade (!) de apelar
para a caridade quando tentamos combinar as sentenas dos outros
com as nossas prprias".
38
Contra a viso monista do cientificismo
naturalista, Davidsongostaria de manter, ao menos, uma tnue linha
de demarcao entre esprito e natureza. E Richard Rorty pode oferecer
argumentos fortes contra tal tentativa herica, uma vez que, com isso,
ele apenas radicaliza a estratgia seguida pelo prprio Davidsonque
enfraquece o potencial da razo inserido na comunicao lingstica.
39
E no fica claro, de modo nenhum, como Davidsonpode manter um
dualismo das perspectivas corpo-esprito aps ter localizado o
comportamento racional inteiramente ao lado dos objetos e aps ter
reduzido a compreenso das expresses lingsticas s explicaes
tericas de um intrprete dotado de um enfoque objetivador. Porquanto
a prpria compreenso da linguagem, bem como os standards de
racionalidade, que Davidsonatribui, inicialmente, ao intrprete radi-
cal, no caram simplesmente do cu. Eles carecem de uma explicao
ulterior.
Cf. HAHN (1999), 600.
DAVI DSON, D. " Could ther e be a Science of Rat ionalit y?" , in: |+.+s+s|
|++s| / |||s|:s| +1.s n 3, 1995, 1-16, aqui 4.
RORTY, R. " Davidson' s Ment al-Physical Dist inct ion" , in: HAHN (1999),
575-594.
73
Uma interpretao radical no suficiente para tornar compre-
ensvel, no mbito da moldura emprica escolhida, de que modo o
prprio intrprete aprendeu a falar, e de que modo a linguagem
conseguiu surgir. Se os sujeitos providos da capacidade de fala e ao
so "seres dotados de esprito" porque podem assumir atitudes
intencionais em relao a contedos proposicionais conectados
logicamente e se, alm disso, a estrutura intencional de seus atos de
fala e de suas aes exige dos intrpretes a suposio de racionalidade,
bem como uma conceitualidade mentalista, ento permanece aberta a
questo: como foi possvel o surgimento da intencionalidade?
Davidsonresponde, como sabido, apresentando o modelo de uma
situao de aprendizado "triangular" na qual dois organismos reagem,
ao mesmo tempo, entre si tendo como referncia "o mundo". Ele
pretende mostrar, no sentido de uma gnese lgica da aquisio de
expresses lingsticas elementares, como poderia ter sido possvel, a
partir de "nossa" viso e sob premissas naturalistas, o fato de que dois
organismos da mesma espcie, inteligentes e altamente desenvolvidos,
porm, ainda completamente adaptados a um ambiente natural pr-
lingstico, aprendem a adquirir, com o auxlio de smbolos utilizados
com significado idntico, uma distncia em relao ao seu entorno
sensvel, a qual ns designamos como "intencional".
Para a constituio intencional do esprito, constitutiva a
suposio de um mundo objetivo de objetos, ao qual podemos referir-
nos. Tal referncia ao mundo pressuposio para que possamos
formular asseres sobre objetos e assumir atitudes variadas em relao
a contedos de enunciados. A luz de tal descrio, a conscincia
intencional aparece como co-originria com uma linguagem
diferenciada em termos proposicionais. No obstante isso, a gnese
dessa conscincia tem de ser pensada como se tivesse resultado de
uma espcie de interao com o mundo para a qual a referncia a um
mundo suposto como objetivo ainda no constitutiva. A relao do
mundo com a linguagem casual. Tal premissa naturalista se adequa
tese do assim chamado externalismo, segundo o qual, a linguagem
est, de um lado, "ancorada no mundo" por meio de um vocabulrio
elementar de percepo; de outro lado, porm, o seu contedo
semntico resulta de uma elaborao inteligente de estmulos causais
74
dos sentidos: "Nos casos mais simples e fundamentais, as palavras e
frases adquirem seu significado dos objetos e das circunstncias sob
as quais elas foram aprendidas. Uma frase que temos por verdadeira
por causa da presena do fogo durante um processo de aprendizagem
serverdadeira quando houver fogo".
40
Tal explicao remete o significado de uma expresso e a verdade
de uma sentena s circunstncias causadoras sob as quais elas fo-
ram aprendidas. O processo, descrito no jogo de linguagem causai
como condicionamento, encontra-se numa tenso contra-intuiti va com
nossa autocompreenso enquanto seres racionais. Por isso, Davidson
quer explicar o modo como o distanciamento intencional do mundo e
em relao ao mundo poderia ter sido provocado, de acordo com o
padro estmulo-reao, pelo prprio mundo. Dois seres vivos, que
interagem entre si, conseguem adquirir tal distanciamento especfico
do estmulo que inicialmente condiciona sem distanciamento e ao
qual eles reagem de modo semelhante, no apenas pelo fato de que
eles percebem apenas o prprio estmulo, mas tambm porque, pelo
caminho da observao recproca, tambm percebem, ao mesmo
tempo, que o respectivo outro reage ao mesmo estmulo, da mesma
maneira: "Com isso, muitas caractersticas foram colocadas no seu
lugar, a fim de emprestar um significado ao pensamento, segundo o
qual, o estmulo tem um lugar objetivo num espao comum; tudo
depende do fato de duas perspectivas privadas convergirem a fim de
marcar uma posio no espao intersubjetivo. At agora, no entanto,
nada prova, nessa imagem, que [...] os objetos das experincias [...]
disponham do conceito de objeto".
41
Entretanto, ainda no ficou claro como algum pode saber que o
outro reage ao mesmo objeto da mesma maneira que ele. Ambos tm
de averiguar se o respectivo ouUo tem em mente o mesmo objeto. E
sobre isso eles tm de entender-se. Todavia, eles somente podem entrar
numa comunicao recproca se utilizarem simultaneamente o padro
de reao, percebido como semelhante (ou uma parte dele), como
DAVI DSON, D. b. 4;|s :.s +|.|..+ Stuttgar t, 1993, 93 ss.
Ibid., 12.
75
expresso simblica, e o enderearem, como mensagem (Mitteilung),
ao outro. Eles precisam comunicar entre si sobre o que propriamente
desencadeou em ambos a reao: "Para que duas pessoas possam
saber que elas - seus pensamentos - se encontram em uma tal relao
recproca, necessrio que elas entrem em comunicao. Cada uma
delas tem de falar com a respectiva outra e ser entendida por ela".
42
Um estmulo que desencadeia uma reao semelhante nas duas partes
envolvidas transforma-se "para elas" em um objeto, isto , num
elemento situado num mundo objetivo comum, to logo elas, partindo
da observao recproca da semelhana de suas reaes, se entendem
"sobre ele" com o auxlio de sua reao comportamental, endereada
reciprocamente por meio de smbolos. Com isso, o estmulo
desencadeador transformado em objeto. Somente por um tal emprego
comuni cat i vo, o padro das duas reaes compor t ament ai s,
semelhantes, adquire um significado idntico para ambos os lados.
A intuio davidsoniana, expressa na imagem da triangulao,
clara: a referncia ao mundo objetivo e a atitude intencional em relao
a algo em um inundo objetivo s so possveis numa perspectiva de
falantes, a qual acoplada perspectiva de, ao menos, um outro falante,
na base de relaes intersubjetivas criadas comunicativamente. A
objetividade nasce junto com um distanciamento intencional do
inundo. E os falantes s podem adquirir tal distanciamento quando
aprendem a comunicar entre si sobre a mesma coisa. Todavia, difcil
mostrar como Davidsonpoderia explicar esse entrecruzamento da
objetividade com uma intersubjetividade co-originria lanando mo
de sua situao de aprendizagem fictcia. As dificuldades no so
devidas propriamente ao externalismo do princpio epistemolgico
bsico, mas ao solipsismo do observador solitrio.
De que modo esses dois organismos, que se encontram no mesmo
entorno observando-se mutuamente e as suas reaes semelhantes a
um estmulo proveniente desse entorno, podem entender-se recipro-
camente sobre o fato de que eles tm diante de si o mesmo estmulo -
a no ser que eles j disponham de um conceito correspondente?
42
Ibid., 15.
76
Entretanto, eles sadquirem esse conceito com o auxlio de um critrio
que eles aplicam do mesmo modo - a saber, com o auxlio de um
smbolo que tem o mesmo significado para ambos. Somente ento,
eles poderiam entender-se entre si sobre semelhanas objetivas.
Certamente, se algum pudesse assumir em relao a uma criana o
papel de um intrprete radical, por exemplo, o papel de um professor,
ele iria tentar descobrir se ele e a criana "pensam o mesmo" - e,
conforme o caso, ele iria corrigir as falhas dela. No obstante isso,
esse caso de triangulao poderia explicar, na melhor das hipteses, o
modo como adolescentes podem aprender - no interior de uma
comunidade de linguagem existente - componentes elementares do
vocabulrio da percepo. Isso ainda no revelaria nada sobre a
possibilidade de um surgimento originrio da intencionalidade a partir
da observao recproca do comportamento de organismos que reagem
de modo semelhante a determinadas seces do entorno, mas que no
reagem de modo intencional.
Para a percepo recproca de reaes objetivamente semelhantes
transformar-se numa atribuio recproca do mesmo padro de reao,
necessrio que os participantes utilizem o mesmo critrio. J que
sujeitos diferentes sso capazes de constatar semelhanas objetivas
sob certas perspectivas determinadas intersubjetivamente. Conforme
o dito de Wittgenstein, eles tm de poder seguir uma regra. No
suficiente ter reaes semelhantes na viso de um observador no-
participante; os prprios participantes tm de notar uma semelhana
das reaes na linha do mesmo estmulo ou do mesmo objeto.
41
E isso
jpressupe o que deveria ser explicado: "Toda a conscincia de tipos,
-|
|s |: encontr o a mesma objeo em FENNELL, J. " DavidsononMeaning
Nor mativity: Publicor Social" , in: |+.s+ |++s| / |||s|; 8, 2000,
139-154: " A r egular idade no entor no, a identificao dos estmulos comuns
como sendo aqueles aos quais ambos r espondemos supe um juzo de semelhan-
a nor mativa. [...] Para emitir o r equer ido juzo de semelhana nor mativa o in-
trprete deve ir alm daquilo que tem ao seu alcance como obser vador exter no
[...] Por isso, a tr iangulao tem que enfrentar o pr oblema da identificao dos
estmulos comuns, [...] e se a tr iangulao entendida em ter mos pur amente
causais como a cor r elao de pares de estmulo-resposta, o pr oblema no
r esolvido" .
77
semelhanas, fatos, etc. [...] uma questo lingstica".
44
certo que
Davidsondestaca o ncleo social da normatividade de um esprito
que, entre outros aspectos, caracterizado pela intencionalidade e
pela referncia a um mundo objetivo comum. Mesmo assim, ele no
compreende a socialidade na perspectiva de um membro que se
encontra preliminarmente em um modo de vida compartilhado com
outros, ou seja, que no estapenas munido objetivamente de
disposies comportamentais similares, mas que tem conscincia, ao
menos intuitiva, dessa coincidncia.
A compreenso - compartilhada preliminarmente com outros
membros - daquilo que torna o prprio modo de vida algo comum
faz parte da pertena ou da "qualidade de ser membro". A escolha de
um princpio objetivista que assimila a compreenso do sentido a uma
explicao conduzida por uma teoria significa a deciso por um
solipsismo metdico. Este obriga a entender todo acordo comunicativo
como resultado construtivo da coordenao e da sobreposio de
operaes de interpretao que cada um pode realizar por si mesmo
na perspectiva de um observador, sem a necessidade de lanar mo de
um fundo comum de elementos pr-estabelecidos que se regulam por
si mesmos e que esto presentes subjetivamente. No fosse assim,
seria mais indicado, por exemplo, introduzir a triangulao no sentido
de G H. Mead, isto , como um mecanismo que explica como um
casal de indivduos da mesma espcie torna-se consciente do
significado dos padres de reao comuns da espcie pelo caminho
da adoo de atitudes mtuas e como esse significado se torna
disponvel simbolicamente para ambas as partes.
45
( 7) A hermenutica assume uma posio contrria a princpios
objetivistas. E segundo ela, o processo de interpretao dirigido por
uma pr-compreenso no controlada por observaes sobre um
comportamento alheio, como no caso de uma hiptese emprica, mas
explicitada e corrigida pelo caminho de perguntas e respostas, como
44
SELLARS, W. |-:s- s+1 |. |||s|; /4+1 (1956), Cambr idge
(Mass.), 1997), 63.
45
HABERMAS, J. (1981), vol. 2, 11-68.
7 8
num dilogo com uma segunda pessoa. Os parceiros de um dilogo
movi ment am- se, mesmo quando preci sam desenvol ver uma
linguagem comum, no horizonte de uma compreenso compartilhada
que funciona como pano de fundo. Tal procedimento circular
proporo que tudo aquilo que um intrprete aprende a entender
constitui o resultado falvel da explicao de uma pr-compreenso
que geralmente vaga e indeterminada. E Gadamer, coincidindo com
Davidson, sublinha que, nesse processo, o intrprete toma como ponto
de partida a suposio pragmtica de que o texto a ser interpretado s
pode ter um sentido claro enquanto exteriorizao de um autor racional.
A incompreensibilidade de textos e a opacidade de exteriorizaes s
podem aparecer ante a folha de contraste dessa "antecipao da
completude": "Isso constitui evidentemente uma pressuposio for-
mal que orienta toda e qualquer compreenso. Ela significa que
somente compreensvel o que representa realmente uma unidade
completa de sentido."
46
A suposio hermenutica da racionalidade revela um parentesco
surpreendente com o princpio davidsoniano de caridade. E o
parentesco, vai, inclusive, ainda mais longe. Da mesma forma que o
"intrprete radical" obrigado a dirigir seu olhar para as circunstncias
sob as quais um falante estranho emite uma exteriorizao que se
presume verdadeira, assim tambm, o intrprete gadameriano
obrigado a dirigir o olhar simultaneamente para o texto e para a coisa
nele enfocada. Antes de "extrair e entender a opinio do outro, enquanto
tal", necessrio que nos "entendamos na coisa". Tal a verso
hermenutica do princpio bsico da semntica formal, segundo o
qual, o sentido de uma frase determinado por suas condies de
verdade. Existe, no obstante, uma diferena considervel em um outro
aspecto. Enquanto o intrprete davidsoniano, adotando a perspectiva
de um observador, atribui ao estranho a disposio de orientar-se pelas
normas de racionalidade que ele mesmo toma como orientao, o
intrprete gadameriano supe, na perspectiva de um participante, que
o parceiro do dilogo manifesta-se racionalmente de acordo com
padres de racionalidade comuns. Neste caso, a suposio de raciona-
GADAMER (1960), 277 s.
79
lidade, realizada de modo performativo, surge de uma compreenso
comum da racionalidade, no de uma compreenso que coincide
apenas objetivamente, como o caso da atribuio objetivadora da
racionalidade.
Em todo caso, o modelo global de um dilogo que se alimenta
de tradies importantes para a vida lana mo de uma srie de
pressuposies no esclarecidas. Para torn-lo acessvel a uma anlise
mais precisa, a pragmtica formal reduz esse grande cenrio
hermenutico estrutura de uma troca elementar entre atos de fala
orientados pelo entendimento (Verstndigung). O potencial da razo
que opera ao nvel macroscpico do agir comunicativo analisado,
por Wittgenstein, ao nvel microscpico do comportamento conduzido
por normas. Tal lance de Wittgensteinserviu de inspirao para um
ramo da tradio fregeana, no-empirista, que chega at Dummett e
Brandom. Esses autores, diferentemente da tradio que segue a linha
Carnap-Quine-Davidson, tomam como ponto de partida prticas
comuns exercitadas normativamente, as quais fundam um complexo
de sentido compartilhado intersubjetivamente. Do ponto de vista
metdico, eles adotam a perspectiva de parceiros de um jogo que
explicitam capacidades de falantes competentes.
O que uma anlise pragmtico-formal, que parte "de cima",
apresenta como rede de suposies idealizadoras, focalizado, "a
partir de baixo", por um princpio analtico que corre em direo
contrria da destranscendentalizao. Entretanto, esse enfoque
tambm revela que a suposio de significados idnticos de palavras
aponta para suposies mais complexas de um mundo objetivo
comum, para a racionalidade de sujeitos capazes de fala e ao e para
o carter incondicional de pretenses de verdade. No se pode pensar
o nvel inferior da idealizao independentemente dessas outras
idealizaes. Wittgensteinanula o platonismo semntico de Frege sem
lanar fora a idia da comunicabilidade pblica e dos significados
idnticos. Dummett conserva a autonomia da funo representadora
da linguagem e da referncia ao mundo objetivo, conapondo-as
forma de vida compartilhada intersubjetivamente e ao consenso bsico
da comunidade de linguagem, que serve de pano de fundo. Brandom,
finalmente, apreende, em conceitos detalhados de uma pragmtica
formal, a racionalidade e a imputabilidade que os participantes do
discurso atribuem-se mutuamente. Limito-me aqui a recordar, em
grandes pinceladas, esses lances de argumentao, extremamente
densos, com o propsito de por mostra pressuposies idealizadoras
das quais tal perspectiva no pode fugir.
A significao de uma expresso simblica aponta para alm
das circunstncias especficas nas quais ocorre. Wittgensteinanalisa
esse momento platnico da generalidade do significado que se liga a
qualquer conceito ou predicado, lanando mo do conceito de
comportamento guiado por regras. Ora, na perspectiva de um
observador, o comportamento "regular" apenas coincide com uma
regra; ao passo que o comportamento "guiado por regras" exige a
orientao por uma regra da qual o prprio sujeito agente precisa ter
um conceito. Isso faz lembrar a distino que Kant in
-
oduz entre o
"agir segundo uma lei" (gesetzmassig) e um "agir por respeito lei"
(aus Achtung vor dem Gesetz). Wittgenstein ainda no pensa em
normas de ao complexas, e sim, em regras de produo para
operaes simples - aritmticas, lgicas ou gramaticais - que podem
ser investigadas seguindo o modelo das regras de um jogo.
Por esse caminho, ele analisa a camada inferior da normatividade
detectvel em atividades mentais. As regras tm de ser dominadas
praticamente, uma vez que - e isso o prprio Aristteles j sabia -
elas no poderiam regulai
-
a aplicao de si mesmas sem que o agente
casse em um regresso infinito. O saber implcito que nos ensina como
seguir uma regra precede o saber explcito contido nela. Quando no
conseguimos "entender-nos" "sobre" uma prtica conduzida por regras,
tambm no podemos tomar explcita essa capacidade nem formular,
enquanto tal, as regras que conhecemos intuitivamente. E uma vez
que o conheci ment o de regras se funda em uma espcie de
competncia, Wittgensteinconclui que todo aquele que tenta obter
clareza sobre seu saber prtico j se encontra, preliminarmente, de
certa forma e enquanto participante, em uma prtica.
47
Cf. com relao a esse ponto o que Apel j afirmara: APEL, K.-O. "Wittgenstein
und das Problem des HermeneutischenVerstehens" (1966), in: id. Is+s/
-s+ 1. |||s|. Vol. I, 1973, 335-377.
81
A anlise da peculiar normatividade desse tipo de comportamento
elementar, conduzido por regras, revela, alm disso, que essas prticas
so exercitadas em comum, ou seja, possuem um carter social que as
acompanha desde o incio. As regras so "normativas" num sentido
atenuado - sem qualquer conotao obrigatria do tipo que inerente
a normas de ao - ou seja, elas ligam o arbtrio de um sujeito
"dirigindo" suas intenes em uma determinada direo:
- Regras "ligam" a vontade, de tal sorte que os sujeitos agentes
tentam evitar possveis infraes da regra; a obedincia a uma regra
significa a omisso de um "agir em sentido contrrio".
- Quem obedece a uma regra pode cometer erros e expor-se
crtica de possveis faltas; ao contrrio do saber prtico, que tem a ver
com o modo como se segue uma regra, a aval i ao de um
comportamento correto exige um saber explcito em termos de regras.
- Em princpio, quem segue uma regra deve estar em condies
de se justificar perante um crtico; por isso, o prprio conceito de
"seguir uma regra" inclui a diviso virtual do trabalho entre os papis
do crtico e do prtico, os quais possuem saberes distintos.
- Por conseguinte, ningum pode seguir uma regra para si mesmo,
de modo solipsista; o domnio prtico de uma regra significa a
capacidade de participar socialmente de uma prtica costumeira na
qual os sujeitos j se encontram previamente, to logo se certificam
reflexivamente de seu saber intuitivo com a finalidade de se justificar
uns perante os outros.
Wittgenstein explica a universalidade ideal do significado,
mencionada por Frege, lanando mo de um "consenso" j existente
ent re membr os numa prtica comum. Nela se mani fest a o
reconhecimento intersubjetivo de regras seguidas tacitamente. Ante
tal pano de fundo, os membros podem "tomar" uma determinada
conduta como exemplo para uma regra ou entend-la como "cum-
primento" de uma regra. E j que pode haver, em princpio, contro-
vrsias sobre a correo de uma determinada conduta, o "sim" ou o
"no" de um possvel crtico, o qual a acompanha implicitamente, faz
parte do sentido da validade normativa de uma regra. A codificao
binaria: "correto" ou "falso" introduz, na conduta guiada por regras,
um mecanismo de autocorreo.
82
bem verdade que no ficou claro qual seria em ltima instncia,
o critrio que deveria servir de medida para a crtica pblica. Parece
que a crtica no pode abranger as regras que subjazem intuitivamente
porque estas so constitutivas para determinadas prticas tal como,
por exemplo, o jogo de xadrez. E uma vez que Wittgensteinanalisa a
gramtica dos jogos de linguagem seguindo o modelo de jogos da
sociedade, ele considera (em uma linha de interpretao s vezes
questionada) a concordncia da comunidade lingstica exercitada
faticamente, como autoridade inapelvel para a avaliao do correto e
do falso - como o tipo de certeza contra a qual "a p se dobra". Assim
possvel interpretar, em todo caso, a passagem da semntica da
verdade para a teoria do significado como uso, efetuada pelo
Wittgensteintardio. Frege j definira o significado de uma frase com
o auxlio de condies de verdade que determinam o modo como ela
utilizada corretamente. Ora, se possvel extrair as condies de
verdade do consenso local que serve de pano de fundo, o qual se
difundiu convencionalmente entre os membros de uma comunidade
lingstica, muito mais simples descrever diretamente o uso da
linguagem estabelecido, renunciando ao conceito complicado de
verdade ou falsidade de proposies: "Por isso, o significado de uma
proposio ou forma proposicional no deve ser explicado pela
determinao de uma condio necessria para que seja verdadeira, e
sim, descrevendo o seu uso."
48
Tal argumento perde, no entanto, sua plausibilidade quando
recordamos o princpio fregeano do contexto, segundo o qual, o sig-
nificado de palavras isoladas determinado pela contribuio potencial
que elas podem fornecer para a composio do sentido de frases
verdadeiras. De acordo com isso, o significado de predicados ou
conceitos individuais no se infere diretamente das circunstncias do
uso de palavras isoladas, mas no contexto das frases nas quais, caso
as frases sejam verdadeiras, elas encontram uma utilizao correta.
Porquanto o sentido dessas frases se determina, no todo, segundo as
circunstncias sob as quais elas podem ser utilizadas de acordo com a
DUMMETT, M. " Language and Communicat ion" , in: id. The .ss / |s+
+s. Oxfor d, 1993, 181.
83
verdade. Para saber se algum utiliza o predicado "vermelho" de forma
correta, ou seja, se domina a correspondente regra dos predicadores,
temos de lanar mo de frases exemplares que devem ser verdadeiras
para expressar resultados testados com sucesso - por exemplo,
referncias a objetos vermelhos, repetidas sucessivamente.
De modo similar, o domnio prtico de regras matemticas ou
lgicas comprova-se pela correo das proposies correspondentes.
Enquanto se trata de regras operativas com funo cognitiva, - como
o caso das regras de jogo negociadas explicitamente que no esto
enraizadas em um saber prtico preliminar - parece que a sua "validade"
no explicada pelas convenes existentes, mas pela conubuio
que as operaes realizadas conforme regras fornecem para a formao
de asseres verdadeiras. De acordo com isso, na esfera das operaes
cognitivas simples, a conduta guiada por normas deixa enever uma
normatividade que japonta para a verdade e a aceitabilidade racional
de asseres de uma linguagem natural. O "sim" ou "no" elementar
de um professor wittgensteiniano, que conola a operao de um aluno
que aplica uma regra, parece que sse desenvolve - ou d-se a conhecer
plenamente em seu sentido de validade - sobre o degrau mais complexo
dos posicionamentos explcitos, em termos de sim/no, que participan-
tes da argumentao assumem quanto a pretenses de verdade dotadas
de contedo emprico.
De modo semelhante, Dummett faz valer a idia originria de
Frege cona o Wittgensteintardio. Sua objeo consiste essencial-
mente em afirmar que o julgamento da verdade de uma assero tem
de ser medido pela reproduo de um fato e no pelo fato de o falante
ater-se ao uso da linguagem de seu entorno. A autoridade epistmica
da assertibilidade justificada no se esgota na autoridade social da
comunidade lingstica. Certamente, aps a guinada lingstica, ficou
claro que a representao de estados de coisas depende do mdium da
linguagem, pois, qualquer pensamento claro precisa ser expresso na
forma proposicional de uma proposio assertrica correspondente.
O pensamento estvinculado funo representadora da linguagem.
Porm, uma proposio assertrica, enunciada corretamente, no
verdadeira por que as regras da aplicao da proposio refletem o
consenso ou a imagem de mundo de uma determinada comunidade
8 4
lingstica, mas porque elas garantem, por meio da aplicao correta,
a aceitabilidade racional da proposio. As regras, talhadas conforme
a funo de representao da linguagem, possibilitam uma referncia
a objetos e uma relao a estados de coisas, sobre cuja existncia o
prprio mundo objetivo decide, no os costumes locais. Os falantes
no conseguem comunicar-se sobre algo no mundo se o prprio
mundo, suposto como objetivo, no se "comunicar", ao mesmo tempo,
com eles.
Wittgensteinutiliza a expresso "gramtica da linguagem" no
sentido amplo de uma "gramtica da forma de vida" porque toda
linguagem natural est"entrelaada", por sua funo comunicativa,
com a articulao dos conceitos fundamentais da imagem de mundo
e da estrutura social da comunidade lingsca. Mesmo assim, as regras
da linguagem no podem ser assimiladas a "usos e costumes", porque
toda linguagem goza de uma certa autonomia em relao ao pano de
fundo cultural e em relao s prticas sociais da comunidade
lingstica. Tal autonomia resulta da troca entre saber lingstico e
saber sobre o mundo. O desvendamento lingstico do mundo viabiliza
processos de aprendizagem, dos quais se alimenta o saber sobre o
mundo. Todavia, o saber sobre o mundo conserva, ante o saber
lingstico, uma fora revisora porquanto a funo representadora da
linguagem no se esgota nas formas do seu uso comunicativo: "Que
uma assero satisfaa condio de ser verdadeira no , em si
mesma, uma caracterstica de seu uso [...]. As asseres no adquirem,
em geral, sua autoridade pela freqncia com que so feitas. Precisamos
distinguir, antes, entre o que dito simplesmente de modo habitual e
o que os princpios que regem os significados de nossas asseres
requerem de ns ou nos autorizam a dizer."
49
Esse sentido prprio da
funo de representao da linguagem nos lembra a suposio comum
de um mundo objetivo, que deve ser adotada pelos participantes da
comunicao quando formulam asseres sobre algo no mundo.
(8) De outro lado, Dummett, contrapondo-se a Frege, mantm a
idia wittgensteiniana, segundo a qual, a linguagem deita razes no
Ibid., 182 s.
85
agir comunicativo e, por esta razo, sua estrutura s pode tornar-se
visvel pelo caminho da explicao de um saber de falantes nela
treinados. Em que pese isso, dentre os complexos contextos de uso,
ele destaca, especialmente, uma determinada prtica, a saber, o jogo
de linguagem de asseres, de objees e justificaes nas quais
"obrigaes" e "justificaes" ("o que os princpios da linguagem
requerem e nos autorizam a dizer"), semanticamente fundamentadas,
transformam-se em tema explcito. Aposio privilegiada do discurso
racional se explica pela guinada epistmica que Dummett imprimiu
semntica veritativa. Jque ningum possui um acesso no-mediado
s condies de verdade, s podemos entender uma frase quando
soubermos como reconhecer que suas condies de verdade foram
preenchidas. As condies que tomam uma frase verdadeira spodem
ser conhecidas por meio de argumentos corretos que um falante poderia
aduzir quando afirma ser verdadeira a frase: "Quando identificamos,
no somente que algum toma por verdadeira uma sentena, mas
tambm sua vontade de asseri-la, ns distinguimos dois critrios de
correo: o modo como os falantes estabelecem ou reconhecem a
verdade de sentenas; e o modo como, ao reconhec-las, esto afetando
o curso ulterior da ao".
50
Naturalmente tal estrutura discursiva interna do entendimento
mtuo s aparece quando existe um pretexto para se duvidar da
compreensibilidade ou da validade de um ato de fala. A troca
comunicativa, entretanto, acontece sempre ante o pano de fundo de
um teatro de sombras, discursivo, que implicitamente caminha junto,
porque uma exteriorizao scompreensvel para aquele que conhece
os argumentos (ou o tipo de argumentos) que a tomam aceitvel.
Conforme esse modelo, os falantes oferecem implicitamente, uns aos
outros, na prpria comunicao cotidiana normal, argumentos para a
aceitabilidade de suas exteriorizaes; eles exigem tais argumentos
uns dos out ros e aval i am r eci pr ocament e o st at us de suas
exteriorizaes. Cada um decide se aceita como justificada a obrigao
argumentativa que o outro contraiu, ou se a recusa.
DUMMETT, M. " Language andTr uth" , in: id. (1993), 143.
8 6
Robert Brandom escolhe esse princpio como ponto de partida
de uma pragmtica formal que conjuga a semntica inferencial de
Wilfried Sellars com uma impressionante investigao lgica centrada
na prtica do "dar e exigir argumentos". Ele substitui a questo
semntica bsica da teoria do significado (o que significa compreender
uma frase?) por uma questo pragmtica: o que faz um intrprete
quando "aborda e trata" corretamente um falante como algum que,
com seu ato de fala pretende verdade para a assero ' p' exteriorizada?
O intrprete atribui ao falante uma obrigao (commitment) de justificar
' p' ; e ele mesmo se posiciona quanto a essa pretenso de verdade
(claim) proporo que autoriza ou no o falante a afirmar ' p' (en-
titlemeni). Eu j me posicionei alhures quanto essa teoria.
51
Aqui me
interesso apenas pela suposio de racionalidade necessria em tais
discursos. Na verdade, Brandom parte da idia de que o falante e o
ouvinte tratam-se reciprocamente como seres racionais para os quais
argumentos "contam". Falantes e ouvintes deixam-se obrigar ou
autorizai" por argumentos para o reconhecimento de pretenses de
validade, criticveis em princpio. No entanto, falta em Brandom a
interpretao intersubjeti vista da validade objetiva que conecta a prtica
da argumentao a uma antecipao fortemente idealizadora.
Brandom localiza a normatividade da linguagem, capaz de "ligar"
sujeitos racionais, na coao no-coativa do melhor argumento. Tal
coao desenvolve-se pelo caminho de uma prtica do discurso na
qual participantes justificam racionalmente suas exteriorizaes, uns
perante os outros: "Essa uma espcie de fora normativa, um 'ter
de' racional. Ser racional estar vinculado ou obrigado por estas
normas, estar submetido autoridade das razes. Dizer 'ns', nesse
sentido significa colocar-nos a ns mesmos e a cada um dos outros,
no espao das razes, oferecendo e solicitando razes para nossas
atitudes e performances."
52
Tal tipo de responsabilidade racional (re-
sponsibility) constitutivo para a autocompreenso de sujeitos cuja
caracterstica principal reside na faculdade de fala e ao. A
51
HABERMAS, J. " VonKant zu Hegel. Zu Rober t Br andoms Spr achpr agmatik" ,
in: id. (1999), 138-185.
" BRANDOM, R. B. 4s|+ |s|: Cambr idge (Mass.), 1994, 5.
87
autocompreenso racional , ao mesmo tempo, determinante para a
perspectiva de um "ns", na qual uma pessoa se qualifica como "um
de ns".
interessante constatar que Brandom inicia seu livro seguindo,
na ntegra, a tradio de Peirce, Royce e Mead, e apresentando uma
verso intersubjetivista de um conceito de razo universalista. Esses
pragmatistas entendem basicamente o universalismo como uma forma
de evitar a excluso. A perspectiva do "ns", pela qual seres racionais
- no tanto como enquanto "sencientes" porm, mais como "sapientes"
- distinguem-se de outros seres vivos probe o particularismo, mas
no o pluralismo: "A colocao mais cosmopolita inicia-se com um
insight pluralista. Quando perguntamos: quem somos ns ou que tipo
de coisa somos, as respostas podem variar sem deixarem de ser
compatveis. Cada um define, de forma diferente, o modo de dizer
"ns"; cada modo de dizer "ns" define uma comunidade diferente.
Aponta para uma grande Comunidade que compreende todos os
membros de todas as comunidades particulares - a Comunidade
daqueles que di zem "ns" de qualquer um e a qualquer um,
independentemente do fato de os membros dessas comunidades
diferentes se reconhecerem entre si ou no. "
51
0 C maisculo poderia
caracterizar o ponto de referncia ideal para a aceitabilidade racional
exigida para pretenses de validade incondicionais, isto , que
transcendem contextos e que tm de justificar-se perante um pblico
"cada vez mais dilatado". Em Brandom, no se encontra, todavia, um
equivalente pragmtico para essa idia - por exemplo, na figura das
pressuposies da argumentao que mantm em movimento a
dinmica de uma descentrao progressiva das perspectivas de
interpretao pluralistas. Isso pode ser explicado, j que existe, nesta
obra imponente, um aspecto esclarecedor que eu gostaria de destacar
criticamente.
Brandom descuida, como, alis, a quase totalidade da tradio
analtica, a relevncia cognitiva do papel da segunda pessoa. Ele no
atribui nenhum peso atitude performativa do falante perante um
destinatrio, a qual constitutiva em todo dilogo; tampouco entende
Ibid., 4.
88
a relao pragmtica entre pergunta e resposta como uma troca
dialgica. Tal objetivismo transparece, por exemplo, quando ele aborda
o problema da preservao da "precedncia metdica do social": como
mant-la sem atribuir ao consenso da comunidade lingstica a ltima
palavra em questes da validade epistmica? Brandom conape
imagem coletivista de uma comunidade lingstica, que impe
autoridade, uma imagem individualista de relaes que se isolam aos
pares. Um par de sujeitos individuais, i sol ados, at ri buem-se
reciprocamente commitments (compromissos) e se concedem ou
negam reciprocamente entitlements (autorizaes). Cada lado forma
seu juzo monologicamente, ou seja, de tal modo que nenhum deles
consegue "encontrar-se" "com" o respectivo outro no reconhecimento
intersubjetivo de uma pretenso de validade. Brandom menciona,
verdade, "relaes-eu-tu". De fato, porm, ele as constri como
relaes entre uma primeira pessoa - que se fixa na verdade de uma
assero - e uma terceira pessoa que atribui outra uma pretenso de
verdade, mantendo a reserva de uma avaliao prpria. O ato de
atribuio, fundamental para a inteira prtica do discurso, objetiviza a
segunda pessoa convertendo-a num terceiro observado.
No simples casualidade o fato de Brandom equiparar, por via
de regra, o intrprete a um pblico que julga a exteriorizao de um
falante observado, e no a um destinatrio do qual o falante espera
uma resposta. Dado o fato de que ele no cogita a possibilidade de
uma atitude dialgica ante uma segunda pessoa, Brandom v-se
obrigado, no final das contas, a dissolver o nexo interno entre
objetividade e intersubjetividade em favor de uma "prioridade do
objetivo". Parece que o distanciamento monolgico o nico meio
de que o indivduo dispe para garantir a independncia epistmica
ante a autoridade coletiva da respectiva comunidade lingstica. No
entanto, tal descrio individualista falseia o ponto mais interessante
do entendimento lingstico.
As comunicaes cotidianas acontecem no contexto de assunes
subjacentes e compartilhadas, de tal sorte que surge uma preciso de
comunicao quando se trata de colocar em harmonia as opinies e
intenes de sujeitos que julgam e decidem autonomamente. Em todo
caso, a necessidade prtica de coordenar planos de ao confere um
89
perfil claro expectativa dos participantes da comunicao de que os
destinatrios iro posicionar-se quanto s suas prprias pretenses de
validade. Eles esperam uma reao de aceitao ou de recusa, que
conta como resposta, porque somente o reconhecimento intersubjetivo
de pretenses de validade criticveis capaz de produzir o tipo de
comunidade (Gemeinsamkeit) sobre a qual possvel fundamentar,
para ambos os lados, vnculos confiveis e relevantes para as
conseqncias da interao.
A prtica da argumentao d simplesmente continuidade a esse
agir comunicativo, porm, em um plano reflexivo. Por isso, os
participantes individuais da argumentao, que continuam mantendo
sua orientao pelo entendimento lingstico, permanecem, de um
lado, inseridos numa prtica exercida em comum; de outro lado, porm,
eles precisam posicionar-se fundamentadamente quanto s pretenses
de validade tematizadas, isto , luz de uma coao no-coativa, que
os leva a uma avaliao prpria, autnoma. Nenhuma autoridade
coletiva limita o espao individual de avaliao nem mediatiza a
capacidade de julgar do indivduo. A "bifrontalidade" peculiar das
pretenses de validade incondicionais faz jus a esses dois aspectos.
Na qual i dade de pret enses, j ungem- se ao r econheci ment o
intersubjetivo; por isso, a autoridade pblica de um consenso obtido
discursivamente sob condies de "poder dizer no" no pode ser
substituda, em ltima instncia, pela inteleco privada de um nico
indivduo que sabe mais e melhor. No obstante isso, enquanto
pretenses de validade absoluta, elas apontam para alm do acordo
obtido faticamente. J que o aceito, aqui e agora, como racional,
pode revelar-se, sob condies epistmicas melhores, perante um outro
pblico e perante futuras objees, falso.
Para fazer jus a tal caracterstica bicpite das pretenses de
validade, incondicionais, a discusso precisa ser desenvolvida sob
pressuposies idealizadoras tais que permitam a afluncia de todas
as informaes e argumentos, relevantes e acessveis. E uma vez de
posse desta idealizao ngreme, o esprito finito pode enfrentar a
compreenso (Einsichf) transcendental, segundo a qual, a objetividade
fundamenta-se, de forma ineludvel, na intersubjetividade lingstica.
9 0
3BB
3 . SOBRE A ARQUITETNICA DA DIFERENCIAO DO DISCURSO.
PEQUENA RPLICA A UMA GRANDE CONTROVRSIA.
Devo antecipar que meu esboo de resposta a trs ofertas de
dilogo crtico, que me foram endereadas pelo meu amigo Karl-Otto
Apel, ficar, apesar de tudo, a meio caminho, aqum do nvel de
adequao exigido.' Tal falha conseqncia da abrangente comple-
xidade de suas consideraes cuidadosas e extremamente amplas, mas
tambm, e especialmente, do tipo das diferenas. Esto em questo
diferenas que tm a ver com a arquitetura da teoria sobre as quais
difcil discutir ao nvel das premissas porque a construo das teorias
tem de ser comprovada na fecundidade de suas conseqncias. E tal
comprovao no pode ser tarefa dos autores envolvidos. Na
comparao de teorias, cujas intenes se aproximam tanto, falta,
muitas vezes, aos que dela participam di ret ament e o flego
hermenutico necessrio para que um possa acompanhar, a partir da
distncia requerida, os argumentos do outro. No meu entender, os
elementos que existem em comum interferem tanto na elaborao da
crtica, que os dois interrompem prematuramente a palavra um do
outro, aduzindo precipitadamente argumentos prprios. As ressalvas,
amistosas ou crticas, podem ter-se intensificado durante o perodo
que se situa entre Conhecimento e interesse (1968) - escrito na poca
em que houve o maior consenso - e Direito e democracia (1992).
Durante esse tempo, aprofundou-se, de um lado, a diferena entre a
pretenso fortemente transcendental, de Apel, e meu procedimento
1
APEL, K.-O. 1+s.+s+1.s.,++.+ Fr ankfur t/M., 1998, 689-838.
91
destranscendentalizado. De outro lado, espero ter entendido melhor,
em seminrios dos quais participei juntamente com Apel, as diferenas
que marcam nossas estratgias de argumentao. E assimilei, da
cooperao ininterrupta, conhecimentos que formam atualmente o
plano de fundo de nosso dilogo.
No lugar adequado, abordarei uma objeo central que Apel
levanta contra o princpio do discurso tal como foi delineado em Direito
e democracia (1). Com a finalidade de enfraquecer tal objeo, distingo
inicialmente entre contedo normativo de pressuposies inevitveis
da argumentao e aspectos de validade sob os quais tal potencial de
racionalidade pode ser explorado ( 2) . A partir da, o princpio moral
no pode mais ser inferido, conforme sugesto de Apel, exclusivamente
de pressuposies da argumentao, as quais so normativas em um
sentido transcendental. Jque tal princpio extrai um sentido de
obrigao deontolgica da ligao do contedo transcendental de
discursos com o sentido de validade de normas morais de ao
introduzidas em discursos de fundamentao ( 3) . O direito moderno,
por seu turno, positivo, subjetivo e coativo, dependente das
determinaes de um legislador poltico. E uma vez dadas essas
caractersticas formais, ele se distingue da moral da razo, seja em
sua funo, seja na necessidade de fundamentao (4). Finalmente, a
necessidade de uma justificao neutra de um direito entrelaado com
a poltica (isto , neutra em termos de uma viso de mundo), pode
explicar porque o princpio da democracia assume uma posio
autnoma em relao ao princpio moral (5). As diferenas na arqui-
tetura terica, que continuam presentes na tica da responsabilidade,
elaborada por Apel com a finalidade de complementar a "tica do
discurso" tornando-a apta a servir de introduo realizao da moral,
fundam-se, em ltima instncia, em idias metafilosficas. Retomarei
esse ponto no final (6).
(1) Desenvolvi, em Direito e democracia, uma proposta destinada
fundamentao do sistema dos direitos fundamentais, que pretende
fazer jus intuio, segundo a qual, a autonomia privada e a pblica
92
so co-originrias.
2
No decorrer da fundamentao do Estado
constitucional democrtico, ambos os princpios de legitimao, ou
seja, a "dominao das leis" e a "soberania do povo", pressupem-se
mutuamente. Contrapondo-se a isso, o liberalismo que remonta a Locke
defende a prioridade da liberdade dos modernos sobre a liberdade dos
antigos. Eu prefiro evitar tal subordinao contra-intuitiva do princpio
da democracia ao princpio do Estado de direito, jque ela desemboca
na necessidade de se fundar o direito positivo e coativo sobre normas
morais bsicas. A subordinao retira os fundamentos da constituio
democrtica da formao democrtica da vontade. No hnecessidade
de abordar aqui a estratgia de argumentao da qual lano mo para
fundamentar a co-originariedade ou eqiprimordialidade do princpio
da democracia e dos direitos humanos.
3
Ela deve servir, aqui, apenas
como motivao para tornar mais ntido o ponto de partida da
controvrsia com Apel.
O fato de as normas da moral e do direito terem surgido de
diferenciaes de formas religiosas e jusnaturalistas da eticidade
tradicional reveste-se de um interesse que ultrapassa o plano histrico.
Porquanto tal paralelismo do surgimento sugere que esses dois tipos
complementares de normas de ao, altamente complexas, distinguem-
se, no quanto ao nvel em que se situam, mas na forma de sua
fundamentao. O direito coativo moderno tem de ser produzido de
acordo com um procedimento garantidor de legitimidade, o qual
obedece ao mesmo nvel ps-metafsico, portanto, neutro - em termos
de uma viso de mundo, - no qual se situa a moral da razo. Todavia,
tal procedimento democrtico no pode extrair sua fora legitimadora
de uma moral anteposta ao direito. Porque neste caso destruir-se-ia o
sentido performativo da autodeterminao democrtica de uma
coletividade concreta, delimitada no espao e no tempo.
Em que pese isso, o procedimento que visa a criao do direito
tem de ser, por seu turno, institucionalizado juridicamente, a fim de
2
HABERMAS, J. |s|,s| ++1 0.|++ Fr ankfur t/M., 1992, 135 ss.
Td. " Constitutional Democr acy - A Par adoxical Unionof Contr adictor y Pr in-
cipies?" , in: ||:s| I|.s; Vol. 29, 6, dezembr o de 2001, 766-781.
93
garantir uma incluso simtrica de todos os membros da comunidade
poltica na formao democrtica da opinio e da vontade. O prprio
princpio da democracia estconstitudo na linguagem do direito: ele
assume uma figura positiva nos direitos polticos de participao que
so iguais para todas as pessoas. Naturalmente, os cidados do Estado
tambm devem ser capazes de emitir juzos morais; no entanto, eles
no emitem tais juzos num contexto extra-jurdico do mundo da vida
de pessoas naturais, e sim, no seu papel, juridicamente constitudo, de
cidados de um Estado autorizados ao exerccio de direitos democr-
ticos. Caso contrrio, os destinatrios do direito no teriam condies
de se entender tambm como seus autores. Eles somente poderiam
preencher adequadamente o papel de um cidado do Estado caso
expelissem a cpsula da pessoa de direito e retomassem a faculdade
de julgar moralmente, que prpria das pessoas naturais.
A tese da independncia de um princpio da democracia, o qual
deve ser "livre de moral", tambm coloca em jogo uma outra tese, a
de que a l egi t i mi dade do direito vigente pode ser explicada
simplesmente pelo procedimento da formao democrtica da opinio
e da vontade. Por isso, fui levado a determinar o princpio do discurso
- que no incio foi talhado apenas para o princpio de generalizao
"U" - de modo to abstrato, a ponto de ele poder expressar apenas
uma necessidade ps-metafsica de justificao em geral, isto , tendo
em vista normas de ao em geral. Tal princpio deveria deixar espao
para uma ulterior especificao das exigncias de fundamentao.
|ss. +: ss+ j :.s-.+. +- :ss.
+-s. +-s .., +. .|. .s|:s s.+1 1s -s:s|1s1.
1. +,s s:s |- .|. s. s+s .- +- +..| 1. s|sss
s| +. s.ss 1.ss. :+.u1 +-s. ainda neut r o .-
.|ss s 1. . s -s|. +s+ .|. s. ./.. s +-ss
1. ss .- .s|
b ss .s|1ss .:ss-.+. ss +-ss 1. ss :- ss
+ss 1.s- :+s.+ .++s+ s:s+.s 1. 1s:+ss
s:+ss 1s s ss..s s+1s
-
4
HABERMAS, I. (1992), 138.
94
Veremos, mais para frente que, no que respeita s condies de
validade, o contedo de "D" especificado ao nvel de um princpio
moral e de um princpio da democracia;
5
as regras, tanto morais como
jurdicas, tm de satisfazer, respectivamente, a tais condies de
validade, a fim de merecer reconhecimento geral em seus prrpios
domnios de validade, os quais certamente se sobrepem, porm, no
so idnticos.
Apel, no entanto, exteriorizou a seguinte dvida: serque "D" j
no contem o inteiro contedo normativo do princpio moral?:
|+ +s .. :- s.s ss..| +.ss +s|1s1. -s|
1 :+.u1 +-s. 1 +: 1s -s:s|1s1. 1.
+,s s:s j s. +. 1...-s :+/-. s+|s1 s
s.+ hs|.-ss +/. 1. s| +: -.1s+.
.s.:/:ss 1 +: .s| 1 1s:+s +- +:
-s| ss +s| 1... :+++s .s|.+1 + 1. .ss 1s
:+s1.ss s-:s 1s +..ss.s1. 1s s s+1s
-.s- +. ss .|. s.s u+:
inquestionvel o fato de que, para a fundamentao de normas
que apresentam as caractersticas formais do direito moderno, os
argumentos morais desempenham um papel importante, ao lado de
argumentos empricos, pragmticos, ticos e jurdicos. Em muitos
5
Recor demos: O princpio moral tem a figura de um princpio de univer salizao,
intr oduzido como regra de ar gumentao. Em confor midade com isso, nor mas
de ao mor ais vlidas tm de satisfazer condio, segundo a qual, as
conseqncias e efeit os colater ais que pr ovavelment e ter o lugar no caso de
uma obedincia gener alizada, ter iam de ser aceitveis por t odos os possveis
at ingidos enquanto par ticipantes do discur so. O princpio da democr acia,
que nas const it uies democrticas assume a figura de dir eitos de par ticipao
e de comunicao, gar ant indo a prtica de aut odet er minao de uma
associao de membr os do dir eito, livr es e iguais, significa que soment e
podem pr etender validade legtima as leis que, num pr ocesso de cr iao do
dir eito configur ado discur sivament e, podem contar com o assent iment o de
todos os cidados (o qual tambm oper acionalizado j ur idicament e).
" APEL, (1998), 761 ss.
95
casos at, o seu papel decisivo. E bem verdade que os direitos tm
de se configurar, em geral, de tal forma que possam ser respeitados
tambm "por respeito lei".
Entretanto, se o direito no pode ir contra a moral, o princpio da
democracia, que controla a produo de direito legtimo, tambm no
pode ser "neutro" do ponto de vista moral. Parece que ele deve seu
contedo moral ao mesmo princpio "D", que tambm estna base
do princpio moral. O pontapinicial para a controvrsia foi dado
pela seguinte questo: serque Apel, apoiando-se em tal considerao,
pode atribuir a primazia ao princpio moral, que estaria acima do
princpio da democracia, o qual decisivo para a legitimao do
direito? O esclarecimento de minhas ressalvas em relao a tal
fundamentalismo implica inicialmente um retorno rememorativo
quilo que constitui o ponto de partida comum de nossas reflexes
sobre a "tica do discurso".
( 2 ) A teoria discursiva da verdade, da moral e do direito foi criada
num moment o em que o pensament o ps-metafsico se viu,
inopinadamente, num beco sem sada, aps ter-se desfeito dos
conceitos de natureza, fortes, os quais extraem os elementos normativos
de uma constituio do ente ou da subjetividade. A teoria discursiva
procura obter um contedo normativo da prtica de argumentao, da
qual nos sentimos dependentes sempre que nos encontramos numa
situao insegura - no apenas como filsofos ou cientistas, mas
tambm quando, em nossa prtica comunicativa cotidiana, a quebra
de rotinas nos obriga a parar um momento e a refletir, a fim de nos
certificarmos reflexivamente acerca de expectativas justificadas. Por
conseguinte, o ponto de partida formado pelo contedo normativo
daquelas pressuposies pragmticas "inevitveis", nas quais os
participantes da argumentao tm de se apoiai' implicitamente quando
- l evados pela pret enso de resgatar pretenses de validade
controvertidas - decidem-se a tomar parte numa busca cooperativa
da verdade a qual assume a forma de uma disputa por melhores
argumentos. O sentido performativo de tal prtica da argumentao
consiste no fato de que, no que tange a questes relevantes e na base
96
das i nformaes devi das, "a coao no-coat i va do mel hor
argument o" deve ser decisiva(l). Na ausncia de argumentos
concludentes ou de evidncias convincentes, a prpria deciso
sobre aquilo que vale como bom ou mau argumento no respectivo
contexto pode ser controversa. Por isso, a aceitabilidade racional
de afirmaes questionveis estapoiada, em ltima instncia, na
ligao entre "bons argument os" e idealizaes da si t uao
cogni t i va, que os participantes tm de levar a cabo quando
participam de discursos racionais. Nomeio, a seguir, as quatro
pressuposies pragmticas inevitveis mais importantes:
(a) Inclusividade: nenhuma pessoa capaz de dar uma contribuio
relevante pode ser excluda da participao.
(b) Distribuio simtrica das liberdades comunicativas: todos
devem ter a mesma chance de fazer contribuies.
(c) Condio de franqueza: o que dito pelos participantes tm
de coincidir com o que pensam.
(d) Ausncia de constrangimentos externos ou que residem no
interior da estrutura da comunicao: os posicionamentos na forma
de "sim" ou "no" dos participantes quanto a pretenses de validade,
criticveis, tm de ser motivados pela fora de convi co de
argumentos convincentes.
Neste ponto, topamos com a premissa sobre a qual Apel apoiar
seu argumento. Porquanto ele interpreta a fora vinculante do contedo
normativo de tais pressuposies da argumentao em um sentido
forte e deontologicamente obrigatrio, acreditando ser possvel extrair
diretamente da certificao reflexiva desse contedo normas bsicas
tal como o dever de tratar a todos de modo igual ou o dever da
franqueza. Ele pretende, inclusive, extrair daquilo que ns temos de
pressupor quando argumentamos um princpio da "co-responsabi-
lidade" orientada para o futuro: segundo tal princpio, ns temos
condies de saber que todos os participantes do discurso so
responsveis pela implementao de discursos prticos para a soluo
97
de conflitos de interesses.
7
Confesso que nunca consegui acompanhar
bem essa extrapolao que feita sem nenhuma ressalva. Pois no ,
de forma nenhuma, evidente que as regras constitutivas para a prtica
da argumentao enquanto tal, as quais so inevitveis no interior de.
discursos, tambm sejam obrigatrias quando se trata de regular o
agir fora dessa prtica improvvel.
8
As pressuposies transcendentais (em sentido fraco
9
) da
argumentao distinguem-se das obrigaes morais pelo fato de que
elas no podem ser transgredidas sistematicamente sem que o prprio
jogo da argumentao seja destrudo. Quando, porm, transgredimos
regras morais no precisamos sair, de forma nenhuma, do jogo de
linguagem moral. Mesmo quando entendemos a distribuio simtrica
das liberdades comunicativas no discurso e a condio da franqueza
para a participao nele no sentido de direitos e deveres da argu-
mentao, no possvel transferir diretamente, do discurso para a
ao, a obrigao fundamentada na pragmtica transcendental, nem
traduzi-la para uma fora deontolgica de direitos e deveres morais,
capazes de regular a ao. Tampouco a condio da "inclusividade"
implica, alm da acessibilidade ilimitada do discurso, a exigncia da
universalidade de normas de ao. E a pressuposio da ausncia de
coao tambm se refere apenas estrutura do prprio processo de
argumentao, no a relaes interpessoais que se estabelecem fora
de tal prtica.
O contedo normativo do jogo de argumentao representa um
potencial de racionalidade que pode ser atualizado na dimenso
epistmica do exame de pretenses de validade proporo que a
publicidade, a igualdade de direitos, a franqueza e a ausncia de coao,
7
Ibid., 756; APEL, K. - O. " Diskur sethik ais Ethik der Mit ver ant wor t ung vor
denSachzwngender Politik, des Rechts und der Mar ktwir tschaft" , in: APEL,
K. -0. e BURCKHART, H. ( ed sj |+, 4..s+++ Wrtzburg,
2001, 69-96.
8
HABERMAS, J. " Diskur sethik - Notizenzu einem Begrndungsprogram", in:
I d 4s||.+sss.+ ++1 |--++|s..s hs+1.|+ Fr ankfur t/M., 1983, 96.
9
No posso deter -me aqui na discusso sobr e o sent ido pragmtico-lingstico
nem sobr e o status dos ar gumentos tr anscendentais.
98
pressupostas na prtica da argumentao, fornecerem critrios para
um processo de aprendizagem que se corrige por si mesmo. A forma
pretensiosa de comunicao, constituda pelo discurso racional, obriga
os participantes, durante a apresentao das informaes disponveis
e da mobi l i zao de todos os argument os rel evant es, a uma
descentrao progressiva de suas perspectivas cognitivas. Nesta
medida, e num sentido bem limitado, a substncia normativa contida
nas pressuposies da argumentao adquire "relevncia para a ao",
ou seja, ao tornar possvel julgar pretenses de validade criticveis,
ela contribui para processos de aprendizagem. Entretanto, convm
levar na devida conta um ponto extremamente importante neste
contexto: tal potencial de racionalidade desenvolve-se em diferentes
direes, dependendo do tipo da pretenso de validade que tematizada
e do correspondente tipo de discurso.
A di reo da transferncia de r aci onal i dade tambm
determinada de acordo com as conotaes da pretenso de validade e
de acordo com os padres de fundamentao relevantes. Para entender
a autonomia do princpio do discurso - o qual prescreve um
determinado nvel de fundamentao que prescinde de assunes
metafsicas bsicas sem prejudicar, com isso, os sentidos instrumen-
tal, utilitrio, tico, moral ou jurdico, inerentes validade das
afirmaes possveis sobre normas - temos de obter, antes, clareza
sobre a diferena entre o contedo pragmtico-transcendental da forma
de comunicao dos discursos racionais e o sentido da validade
especfica de normas de ao fundamentadas. A fundamentao de
afirmaes descritivas simples pode revelar que o contedo normativo
das pressuposies da argumentao representa um potencial geral
de racionalidade que possui ligaes especficas com o sentido de
validade das formas de assero introduzidas no discurso.
( 3 ) O sentido de pretenses de verdade, que atribumos a frases
assertricas no se exaure na afirmabilidade ideal porque ns referimos
os fatos asseverados a objetos dos quais supomos, pragmaticamente,
que fazem parte de um mundo objetivo, que , por conseguinte, idntico
para todos os observadores e que existe independentemente de nossas
99
descries.
10
Tal suposio ontolgica antecipa, para o discurso da
verdade, um pont o de referncia situado alm do di scurso,
fundamentando, destarte, uma diferena entre verdade e afirmabilidade
justificada. Em que pese isso, os participantes do discurso, que
tematizam uma pretenso de verdade controversa, tm de aceitar, no
final, mesmo em condies epistmicas favorveis, a "melhor
justificao possvel" de "p", ao invs da "verdade" de " p" -
precisamente no momento em que dizemos: "esgotaram-se todos os
argumentos". Na conscincia de nossa falibilidade, ns nos apoiamos,
consolados, nesse quidproquo porque confiamos em uma situao
epi st mi ca da qual sabemos que promove uma descent rao
progressiva de nossas perspectivas.
O mesmo acontece em discursos, nos quais se examina a
racionalidade da escolha ou da finalidade de decises, isto , a
idequao da escolha dos meios ou a adequao da escolha entre
Iternativas de ao. Aqui, os participantes precisam dominar, alm
ia suposio de um mundo objetivo de estados possveis, interligados
a forma de leis, o j ogo lingstico da realizao efetiva de fins
scol hi dos de modo racional, a fim de saber o que significa
iindamentar regras do agir instrumental ou estratgias de decises
tomplexas. Todavia, aqui tambm, no prprio ncleo emprico, trata-
Uu se do resgate discursivo de pretenses de verdade.
Uma outra pretenso de validade entra em jogo com asseres
valiativas "fortes" to logo se tomam problemticos os prprios
alores luz dos quais os atores escolhem metas ou fins (Zwecke).'
1
lOs discursos que se prestam ao esclarecimento de tais orientaes
valorativas possuem uma fora epistmica mais fraca. Eles viabilizam
conselhos clnicos referidos ao contexto da histria de uma vida indi-
vidual ou de uma forma de vida coletiva, ambas vividas de forma
' " HABERMAS, J. "s||. ++1 |.:|/.++ Fr ankfur t/M., 1999, Intr oduo,
VII, 48-55.
" HABERMAS, J. " Vom pr agmatischen, et hischenund mor alischenGebr auch
der pr aktischcnVer nunft" , in: id., ||s+.++.+ ,+ bs|+s.|| Fr ank-
fur t/M., 1991, 100-118.
100
consciente, j que se orientam pelas pretenses de autenticidade da
autoconscincia ou do projeto de vida de uma primeira pessoa no
singular ou no plural. E ns ligamos a autoridade epistmica da primeira
pessoa suposio de um mundo subjetivo ao qual os prprios
envolvidos possuem um acesso privilegiado. No obstante isso, quando
se trata da escolha de valores generalizados que encontram guarida
em normas de ao morais, impe-se uma outra perspectiva.
Ao colocar a questo fundamental da moral, a saber, que tipos
de ao so "igualmente bons" para todos os membros, ns nos
referimos a um mundo de relaes interpessoais regradas de modo
legtimo. Apretenso correo de afirmaes morais possui o sentido
de que as normas correspondentes merecem reconhecimento geral no
crculo dos destinatrios. Diferentemente da pretenso de verdade, a
pretenso de correo, que anloga de verdade, no possui um
significado capaz de transcender a justificao; ela esgota seu sentido
numa afirmabilidade justificada idealmente.
12
Em casos de conflito, a
aceitabilidade racional no apenas uma prova para a validade,
porquanto nela consiste tambm o sentido de validade de normas
destinadas a fornecer, para as partes litigantes, argumentos imparciais;
isto , capazes de convencer a todos. Tal "imparcialidade", incorporada
inicialmente na figura do juiz, pode, aps sua ampliao em termos
de uma idia de justia ps-tradicional, ser equiparada (zur Deckung
kommmen) "imparcialidade" epistmica de participantes do discurso,
os quais, no jogo da argumentao, so levados a uma descentrao
de suas perspectivas. A feliz convergncia entre "justia", no sentido
de uma soluo imparcial de conflitos, e "correo", no sentido de
uma fundamentao discursiva de correspondentes afirmaes
normativas, spode ser detectada num nvel de fundamentao ps-
tradicional.
A adoo recproca de perspectivas de interpretao epistmicas,
qual os participantes da argumentao so obrigados quando
manifestam a inteno de examinar a aceitabilidade racional de
12
HABERMAS, J. " Richligkeit vs. Wahr heit . Zum Sinn der Sollgellung
mor alischer Ur teile und Nor men" , in: id. (1999), 271-318.
101
qualquer afirmao, transforma-se, no entanto, sob o ponto de vista
moral da considerao simtrica dos interesses de todos os que
possivelmente sero atingidos, na exigncia de uma adoo de
perspectivas relevantes do ponto de vista existencial. Em questes
prticas, nas quais os participantes esto envolvidos persona prpria,
as condies de comunicao da argumentao no tm apenas o
sentido de garantir que todas as contribuies relevantes entrem em
jogo e levem a posicionamentos em termos de sim/no motivados
racionalmente. A inofensiva pressuposio da considerao sincera e
imparcial de todos os argumentos leva os participantes de discursos
prticos a tratar suas prprias necessidades e avaliaes da situao
de modo autocrtico e a ter em conta interesses dos outros nas
perspectivas de compreenses de mundo e de compreenses de si
mesmo alheias.
Por conseguinte, no possvel fundamentar o princpio moral
da consi derao simtrica dos interesses apoiando-se nica e
exclusivamente no contedo normativo das pressuposies da
ar gument ao. Spodemos lanar mo desse pot enci al de
racionalidade, embutido em discursos em geral, quando j sabemos
antecipadamente o que significa ter obrigaes e justificar moralmente
aes. O saber sobre o modo de participar de uma argumentao tem
de ligar-se a um conhecimento que se alimenta das experincias vitais
de uma comunidade moral. Quando observamos a genealogia do
desafio a ser enfrentado pela moral da razo, fica claro que j temos
de estar familiarizados, antes, com a validade dentica de mandamentos
morais e com a fundamentao de normas.
11
A situao que serve de ponto de partida modernidade se
caracteriza pela irrupo de um pluralismo de cosmovises. Nessa
situao, os membros de comunidades morais passam a enfrentar o
seguinte dilema: em casos de conflito sobre o que necessrio fazer
ou evitar, eles tm de continuar a discusso lanando mo de
argumentos morais, mesmo que o contexto de insero - religioso e/
" HABERMAS, J. " Eine genealogische Betr achtung zum kognitivenGehalt der
Mor al" , in: id., b. |+|.,|++ 1.s 1+1..+ Fr ankfur t/M., 1996.
102
ou metafsico - capaz de criar consenso no exista mais. O nico
contexto unificador que continua sendo compartilhado pelas filhas e
filhos "sem teto" da modernidade a prtica de uma disputa moral,
cujos argument os, no entanto, no so mais suficientes. Por
conseguinte, o "reservatrio" de elementos em comum encolheu
limitando-se s caractersticas formais de tais discursos. Neste caso, a
nica sada que resta aos participantes consiste em lanar mo,
retroativamente, do contedo normativo das pressuposies da
argumentao, as quais eles j tinham adotado, a partir do momento
em que se envolveram em controvrsias morais.
No entanto, o tlos inerente ao propsito de consuir um novo
consenso de fundo sobre a base estreita das caractersticas formais
daquela prtica discursiva comum continua vindo acompanhado de
conhecimentos prvios, originrios de experincias morais passadas.
Sem o recurso ao seu parentesco preliminar com relaes de
reconheci ment o intactas e carregadas por tradies fortes da
comunidade moral, qual pertenceram, sob condies pr-modernas
de vida, os participantes nem poderiam formular o propsito de
reconstruir uma moral ps-tradicional unicamente a partir das fontes
da razo comunicativa. Eles j sabem o que significa ter obrigaes
morais ou o que significa justificar uma ao luz de normas
obrigatrias. Para tomar esse potencial de racionalidade, embutido na
argumentao, e utiliz-lo para a fundamentao de uma moral
autnoma e subtrada aos contextos das vises de mundo, necessrio
se faz levar na devida conta tais conhecimentos preliminares.
14
Sob condies do discurso, o sentido deontolgico da validade
das normas, que nesse meio tempo se tornaram problemticas,
apresenta-se como a idia ps-tradicional de justia que leva ao respeito
simtrico dos interesses. A seguir, a necessidade de fundamentao,
estendida s prprias normas, chama a ateno para o desideratum de
um princpio moral correspondente que pudesse, enquanto regra da
argumentao, viabilizar um consenso fundamentado sobre normas
14
Sobr e o esboo de fundamentao que se segue cf. HABERMAS, J. (1996),
60-63.
103
controversas e, com isso, conservar um sentido cognitivo da moral,
mesmo sob condies modernas. A idia ps-tradicional de justia
nos inspira a adotar o princpio de universalizao "U" ,
, s
que fora
introduzido apenas como uma possibilidade hipottica. E tal princpio,
caso possa pretender obrigatoriedade geral e transcultural, poderia
explicar de que modo questes morais em geral podem ser decididas
racionalmente. A seguir, e luz do saber que j se tem sobre o que
significa fundar, em geral, normas de ao, a validade geral de "U"
pode ser "inferida" do contedo de pressuposies da argumentao
que obrigam de modo transcendental. Ao adotai
-
tal procedimento,
estou me apoiando no padro de uma fundamentao no-dedutiva,
elaborada por Apel, e que consiste em franquear as contradies
performativas nas quais se enreda o ctico que nega a possibilidade
de uma fundamentao de asseres morais.
( 4 ) O ponto controverso que me separa de Apel no consiste
propriamente neste lance de fundamentao em si mesmo, mas no
valor posicionai que ele assume em um jogo de fundamentao no-
fundamentalista. Porquanto, quando ns, na base de uma distino
entre sentido transcendental e sentido deontolgico de normatividade,
entendemos que o potencial de racionalidade insertado de modo geral
em discursos no obrigatrio em sentido deontolgico, possvel
interpretar o juzo imparcial sobre a consensualidade de normas,
exigido de modo no-especfico por "D", como algo que ainda
"neutro do ponto de vista da moral e do direito". Jque a formulao
de "D"
16
tem a ver com "normas de ao", e com "discursos racionais"
em geral, tal princpio situa-se em um nvel de abstrao mais alto
que o do princpio moral e do princpio da democracia. Neste nvel,
ainda se prescinde do tipo de aes que necessitam de justificao,
bem como do aspecto de validade especfico, sob o qual elas so
justificadas. bem verdade que o princpio do discurso j esttalhado
para questes prticas; ele arrolado para questes de verdade quando
" Cf. acima nota de rodapn 5.
16
Cf. acima, 94-95.
104
certos fatos se tomam relevantes para a justificao de aes. Tendo
em vista as condies discursivas, sob as quais um consenso deve ser
obtido, " D" reivindica uma fundamentao ps-convencional de
normas de ao em geral - porm, ainda sem determinar com preciso
a linha na qual a fora dos argumentos, capazes de criar consenso,
deve ser mobilizada.
O potencial de racionalidade, embutido, em geral, em discursos,
pode ser reivindicado: para a fundamentao de regras do agir instru-
mental que tem a ver com uma escolha racional (sob pontos de vista
da verdade, da efetividade e da consistncia conceituai); para a
fundamentao de orientaes valorativas e ticas (sob o ponto de
vista da autenticidade); para a justificao de normas e juzos morais
(sob o aspecto da justia). Conforme j foi destacado, esses tipos de
afirmaes e normas vm sempre acompanhados de diferentes
conotaes. Asseres empricas despertam conotaes ontolgicas
que tm a ver com a existncia de estados de coisas; intervenes
orientadas pelo sucesso provocam conotaes instrumentais de eficcia
e de maximizao do proveito; questes ticas possuem conotaes
axiolgicas acerca da excelncia de bens; ao passo que questes morais
possuem conotaes de reconhecimento de relaes interpessoais
ordenadas. Tais referncias estrutura de mundos (objetivo, social e
subjetivo) determinam as linhas nas quais " D" adquire um sentido
concreto. O princpio moral, por exemplo, pode ser entendido, no
campo de um mundo social legitimamente ordenado, como uma
operacionalizao especial de "D", a qual viabiliza uma avaliao
racional de normas e aes sob o aspecto da justia.
Entretanto, mesmo que as normas do direito tambm sejam
selecionadas sob o aspecto da justia e no possam estar em
contradio com a moral, o princpio da democracia, que autoriza os
cidados a criar direito legtimo, no estsubmetido ao princpio moral,
como Apel supe. A fim de mostrar que a subsuno do direito sob a
moral e que a subordinao jusnaturalista do direito positivo a uma
hierarquia de leis incorreta, tenho de mencionar a posio sui generis
do direito entre os diferentes tipos de normas citadas at o momento,
uma vez que ele representa um sistema de aes que se fundem com
105
um poder poltico. Tal fato conseqncia das caractersticas formais
do direito, por meio das quais ele se distingue da moral enquanto: (a)
direito subjetivo; (b) direito coativo e (c) direito positivo.
(a) O direito moderno se constri sobre direitos subjetivos que
garantem pessoa singular espaos de liberdade bem circunscritos,
portanto, esferas da liberdade de arbtrio e de configurao autnoma
da vida. Ele no se inicia com mandamentos ("Voc deve [...]") -
como acontece com o ponto de vista moral, onde nos certificamos,
antes, dos nossos deveres para, a seguir, inferir direitos prprios a
partir das obrigaes que temos para com outros - mas com a
especificao de um "ser permitido" (Diirfen). Na base de direitos,
igualmente distribudos, os deveres do direito s se colocam a partir
das expectativas justificadas que outros dirigem a ns. Tal assimetria
pode ser explicada pela autolimitao do direito moderno, o qual
permite tudo o que no esteja explicitamente proibido. Jque o direito
serve primariamente proteo das esferas da vida privadas e
autnomas contra intervenes arbitrrias de um poder pblico. Ao
passo que o poder penetrante da moral abrange todos os domnios da
vida, no conhecendo nenhum limiar entre a conscincia privada e a
responsabilidade pblica. O direito uma forma seletiva, no-holista,
de regulao do comportamento, no atingindo o indivduo na figura
concreta de uma pessoa individuada em uma histria de vida. Ele
atinge as pessoas, porm, somente proporo que pessoas naturais
assumem o status artificial e extremamente circunscrito de pessoas
de direito, isto , de portadores de direitos subjetivos.
' f l K:
(b) O Direito moderno vem acompanhado da ameaa de sanes
por parte do Estado. O poder do Estado garante uma obedincia da
maioria s leis e preenche, por meio da obedincia coagida ao direito,
uma condio secundria da legitimidade de sentenas jurdicas gerais.
Pois a obedincia a uma norma simputavel quando cada destinatrio
pode pressupor que ela tambm obedecida por todos os outros. A
moral da razo, que no estmais embutida em cosmovises religiosas,
tambm precisa ser ligada a tradies culturais e padres de
106
socializao, para que os juzos morais possam transformar-se, de
modo geral, em agir moral. Porm, o talho natural de tal moral, que se
tornou autnoma, serve apenas para a finalidade cognitiva da
viabilizao de compreenses perspicazes (Einsichten). Os bons
motivos e sentimentos continuam sendo propriedade dos sujeitos
perspicazes. Ao passo que, no direito, o carter institucional libera o
indivduo do peso dos motivos. Diferentemente da moral, o direito
no apenas um sistema de saber, mas tambm um sistema de ao.
Enquanto a moral apela para a compreenso e para a boa vontade, o
direito limita-se exigncia de um agir legal. Tal desligamento entre
um comportamento "conforme lei" e um comportamento "por
respeito lei" tambm capaz de explicai
-
porque as regulamentaes
jurdicas s podem estender-se, no essencial, a um "comportamento
exterior".
(c) A poltica no somente empresta ao direito os meios de uma
sano estatal, como tambm se aproveita, por seu turno, do direito -
seja como meio para as prprias realizaes de configurao e de
organizao, seja como fonte de legitimao. O direito estatudo, dada
sua dependncia da vontade poltica de um legislador, adapta-se
funo de um meio de organizao do poder. Resulta desse carter
positivo uma separao de papis entre autores que estatuem o direito
e destinatrios, submetidos ao direito. Tal voluntarismo presente na
criao do direito tambm estranho a uma moral entendida de modo
construtivista. Alm disso, o direito assume em si mesmo metas e
programas polticos que tm de ser justificados exclusivamente sob
um ponto de vista moral. As matrias precisadas de regulamentao
exigem justificaes complexas, nas quais se introduzem argumentos
de natureza tica, estratgica, emprica e pragmtico-instrumental.
Sendo que a forma do direito s permanece intacta proporo que
cada nova regulamentao se insere, de modo consistente, no sistema
jurdico vigente e no coloca em risco o princpio da justia. A objeo,
segundo a qual os argumentos morais no podem ser sobrepujados,
desarmada (quando se considera) a ligao da legislao ao contedo
dos princpios de uma constituio democrtica.
107
( 5 ) Para entender a autonomia sistemtica do princpio da
democracia, criticada por Apel, convm analisar a necessidade de
fundamentao resultante especialmente do cruzamento entre direito
e poltica. De um lado, o direito constitutivo para o poder poltico;
17
de outro lado, ele prprio depende do exerccio do poder poltico, j
que os programas do direito so o resultado de uma vontade poltica.
Tal vontade perde o carter de um uso arbitrrio do poder poltico,
no apenas mediante a domesticao do Estado de direito. O processo
de criao do direito sadquire uma qualidade capaz de fundar
legitimidade medida que ele, tendo em vista o estabelecimento de
um procedimento democrtico, aplicado a si mesmo. Por este
cami nho, as det ermi naes do legislador poltico t ornam-se
dependentes, no somente do resultado de uma formao inclusiva
da opinio na ampla esfera pblica (mediada pela mdia), mas tambm
das deliberaes discursivamente estruturadas de corporaes
democr at i cament e eleitas. A institucionalizao jurdica dos
procedi ment os de uma poltica deliberativa extrai sua fora
legitimadora da idia diretriz de uma autolegislao racional que
independe de premissas cosmolgicas.
Nesse ponto, podemos constatar uma analogia com o conceito
kantiano da autodeterminao moral. Visto que a autolegislao
democrtica requer um procedimento de formao discursiva da
vontade, capaz de propiciar a autoligao do legislador democrtico a
compreenses perspicazes (Einsichten) da razo prtica, de tal sorte
que, mesmo sem adotar um sentido voluntarista, os destinatrios do
direito podem entender-se como seus autores. Disso resulta o princpio
da democracia, segundo o qual, spodem pretender validade legtima
as leis que puderem encontrar, num processo jurdico de criao de
direito, o assentimento de todas as pessoas. Neste ponto, importante
no esquecer o sentido propriamente poltico da analogia com a
autonomia moral.
Sob as condies coletivas de formao poltica da vontade dos
membros de uma comunidade concreta, a analogia com o modelo da
" HABERMAS, J .( 1992), 167-186.
108
autodeterminao moral da pessoa individual consiste na simulao
da autoligao perspicaz, do arbtrio. Tal semelhana estrutural da
legislao poltica com a autodeterminao moral no significa,
evidentemente, a assimilao de uma outra. Certamente, as pessoas
que se orientam pelo bem comum no devem fechar-se a consideraes
morais. Entretanto, j que a prtica de deciso deliberativa parte
integrante de um sistema poltico que tambm levado a se legitimar
- mesmo que no seja, em primeira linha, - pela efetividade dos
imperativos de uma automanuteno perspicaz assumidos em
conformidade com a constituio, o procedimento democrtico da
legislao precisa esgotar - levando na devida conta todos os possveis
aspectos de validade - o potencial de racionalidade das deliberaes,
e no apenas o ponto de vista moral da generalizao simtrica de
interesses.
Quando passamos da moral para o direito, realizamos uma
mudana de perspectivas, isto , passamos do plano do ator para o
nvel do sistema institucional. As normas que orientam o indivduo
no agir insuumental - que depende de uma escolha racional (wahl-
rational) - no agir tico e no moral, so justificadas sempre na
perspectiva de um agente, mesmo quando este apresentado como
participante de discursos. Enquanto participante de discursos, o ator
pretende responder seguinte pergunta: o que devo fazer sob aspectos
do sucesso, da vantagem, do bem ou do justo? A razo prtica
incorpora-se em discursos que os participantes entabulam para
clarificar questes prticas. Esse vis cognitivo no se perde nos
discursos dos cidados de um Estado. Entretanto, as normas do direito
carregam consigo um carter institucional que elas no podem perder.
Aqui, a razo prtica se faz valer, no somente na prtica do discurso
ou nas regras da argumentao que ela segue. No plano sistemtico,
ela se incorpora, ao invs disso, nos princpios de acordo com os quais
o sistema de ao poltica, enquanto tal, estconstitudo. Isso explica
porque o princpio da democracia, enquanto parte de uma ordem
constitucional, no intervm em discursos, como o caso do princpio
moral, fornecendo padres de argumentao, mas se limita a colocar
medidas e critrios para um cruzamento entre os discursos polticos.
109
Os discursos dos cidados de um Estado e dos seus representantes
inserem-se preliminarmente num sistema de ao poltica, o qual
obedece a imperativos funcionais de sobrevivncia prprios. O direito
legtimo tem de cuidar certamente para que haja uma ordem justa nas
relaes interpessoais no interior de uma determinada coletividade.
No ent ant o, ele constitui, ao mesmo t empo, a linguagem da
programao de um sistema de ao constitudo na forma do direito,
responsvel pela estabilidade e pela reproduo da sociedade em seu
todo - por conseguinte, para a vida coletiva como um todo, no somente
para uma convivncia legtima. Por isso, o direito exige, a partir de si
mesmo, critrios de avaliao que no so os mesmos da moral, a
qual orienta os seus mandamentos sob o nico aspecto da justia e,
inclusive, levando em conta o assentimento fundamentado de todas
as pessoas, no apenas e primariamente o assentimento dos cidados
de um Estado. Os imperativos de manuteno da integridade, polticos,
econmicos e culturais, constituem pontos de vista no desprezveis
sob os quais regulamentaes jurdicas consistentes podem ser
submetidas a uma crtica tica, pragmtica e emprica, sem ser
necessrio entrar em conflito com os fundamentos morais da
constituio.
Desta maneira, uma ordem constitucional que se corrige a si
mesma, democracamente, capaz, no somente, de perenizar
18
uma
concretizao reformista do sistema dos direitos, mas tambm de re-
solver, pelo caminho da moral, o problema que levou Apel a introduzir
uma tica da responsabilidade que sobrepuja a moral em geral.
(6) Devido ao entrecruzamento entre o direito moderno e o poder
poltico, o princpio da democracia, que regula a criao do direito,
goza de autonomia em relao ao princpio da moral. E uma vez que
Apel no leva na devida conta tal coeso interna entre direito e poder,
ele tambm desconhece o papel domesticador do direito, que capaz
Sobr e as apor ias de posicionament os inteligente quanto pr oduo de r elaes
nas quais possvel imputar , de modo ger al, o agir mor al, cf. HABERMAS,
J. " Wege der Det r anszendent alisier ung. VonKant zu Hegel und zurck", in:
id., (1999), 186-270, aqui 224 ss.
110
de impor freios ao poder. Ele se preocupa, ao invs disso, com uma
domesticao moral do poder poltico processando a produo poltica
de condies morais. O "problema da aplicao histrica da moral"
19
no pode ser colocado no interior de discursos morais porque uma
tica deontolgica nos moldes kantianos exclui todo e qualquer tipo
de compromissos, e isso por boas razes. Mandamentos morais
incondicionalmente vlidos no podem selar compromissos com metas
polticas, por mais elevadas que estas sejam. Entretanto, convm
perguntar: serque a tica necessita de uma complementao no
sentido de uma tica da responsabilidade, qual Apel dedica a assim
chamada "parte B" da tica?
O sentido categrico de mandamentos morais permanece intacto,
mesmo vista de uma injustia insuportvel; de qualquer modo, no
necessita de uma "complementao" nos moldes de um compromisso
enquanto levarmos na devida conta, no que respeita a deveres positivos,
uma "diviso moral do trabalho" que faz jus a um princpio moralmente
justificado, segundo o qual, ns s "temos" de fazer o que estiver
faticamente ao nosso alcance: nemo ultra posse obligatur. At mesmo
as normas bem fundamentadas, que antes de sua aplicao valem
apenas prima facie, no perdem, por isso, o rigor do seu sentido
categrico. E verdade que elas necessitam, no caso de uma coliso
com outras normas vlidas, de um exame cuidadoso que verifique
sua "adequao"; entretanto, sua validade no abalada, nem mesmo
quando, em um caso concreto, elas tm de "ceder o lugar" a outras
normas.
20
A pretenso de validade deontolgica de mandamentos
morais seria relativizada e ligada a condies de sucesso do agir
estratgico - Apel fala em agir "estratgico-contra-estratgico"
(strategie-konterstrategischen) - caso o cuidado "poltico" em sentido
amplo para com o "sucesso aproximativo do elemento moral em geral"
(na figura de um outro princpio da responsabilidade tica, por
exemplo) fosse incorporado prpria moral.
21
19
APEL, K.-O. bs|+s ++1 '.s+++ Fr ankfur t/M., 1988, 103-153.
20
GNTHER, K. b. ++ /u 1+.-.ss.+|. Fr ankfur t/M., 1988.
21
APEL (2001), 77 S. 82.
1 1 1
Entretanto, se o contedo normativo de pressuposies gerais
da ar gument ao no possui um sentido deont ol ogi cament e
obrigatrio, ou seja, no fornece nenhum elemento concreto para uma
inferncia direta da reciprocidade e da igualdade de direitos exigidas
fora da prtica da argumentao, no vejo como seja possvel extrair
dessa substncia normativa algo para exigncias que vo mais alm.
Apel gostaria de fundamentar, num nico lance, a "co-responsabilidade
de todos os homens para as seqelas de atividades coletivas e, nesta
medida, para as instituies.
22
Ele pretende inferir, da auto-reflexo
sobre as normas pressupostas na argumentao, e sem nenhuma
mediao, as obrigaes morais para uma poltica que visa a produo
de condies de vida morais para todos os homens em escala mundial.
De um lado, o poder poltico constitui, at hoje, o nico meio
para influenciar voluntria e coletivamente, de modo cogente, as
condies sistmicas e as formas institucionais de nossa existncia
social. De outro lado, a poltica no se deixa moralizar diretamente
por nenhum tipo de modelo poltico, seja ele o do "bom senhor",
platnico, o do agir revolucionrio, ou o do reforo moral das virtudes
do agir poltico, que parece ser a soluo acalentada por Apel. Em que
pese isso, parece que uma domesticao institucional do poder poltico
por meio de umajuridiftcao, controlada democraticamente, constitui
o nico cami nho vivel para uma reforma moral de nosso
comportamento. Para detectar as possibilidades que se oferecem nesse
contexto convm analisar o desenvolvimento complexo dos Estados
constitucionais democrticos, bem como as garantias oferecidas pelo
Estado social, as quais foram obtidas mediante lutas. A poltica
" I bid. Cf. tambm BHLER, D. " Warum mor alisch sein? Die Ver bindlichkeit
der d i a l ogb ezogenen Selbst - und Mit ver ant wor t ung" , in: APEL e
BURCKHART (2001), 50: " Co-r esponsabilidade em que sent ido? Em
pr imeir o lugar , pelo exame das prprias pr etenses de validade; a seguir
pela conser vao e pelo melhor ament o das condies r eais necessrias para
uma concr et izao livr e e aber ta de discur sos crticos (especialment e que
envolvem quest es de dir eitos humanos); finalment e, pela consider ao
prtica (ecolgica, econmica e poltica), ou seja, pela aplicao de seus
r esultados" .
112
domesticada, ao menos parcialmente, nas constituies de Estados
nacionais precisa passar por uma nova transformao, no mbito de
uma ordem jurdica cosmopol i t a, a fim de se livrar de suas
caractersticas agressivas e autodestruvas e transformar-se numa fora
confguradora e civilizadora em escala mundial.
21
Por este caminho poltico, a moral constitui uma bssola por
demais imprecisa e, inclusive, enganadora. O que Apel oferece na
"parte B" como forma de compromisso de uma moral capaz de calcular
perspectivas de sucesso de uma moral em geral, desconhece a dimenso
de uma juridificao democrtica da poltica, que poderia ter como
resultado uma civilizao das condies de vida. E verdade que tal
estratgia pode perder o seu objeto na esteira do autodesdobramento
neoliberal da poltica impulsionado pela globalizao econmica: aqui,
a poltica deixa de ser um meio de auto-influenciao consciente
proporo que entrega sua funo de controle aos mercados. A "guerra
contra o terrorismo", que rearma exrcitos, a polcia e os servios
secretos, todos contribuem, sua maneira, para a eliminao da
poltica.
Apel sobrecarrega o discurso do filsofo que, ao compor uma
argumentao qualquer, reflete sobre o contedo de pressuposies
necessrias da argumentao. Tal sobrecarga ipla, j que consiste
em: (a) fundamentar diretamente normas morais bsicas sem passar
pelo desvio da fundamentao de um princpio de universalizao;
(b) apresentar uma obrigao existencial para o "ser moral"; (c)
complementar a moral por meio de uma obrigao para a realizao
histrica da moral (tica da responsabilidade). Tomando como
referncia a fundao transcendental e primordial, de Husserl, Apel
caracteriza tal discurso como "primordial". Eu suponho que nossa
controvrsia sobre a construo arquitetnica correta da teoria deriva,
em ltima instncia, de um dissenso sobre o papel da prpria filosofia.
Apel reconstri, de modo convincente, a histria da filosofia ocidental
como uma seqncia de trs paradigmas, os quais ele subordina,
respectivamente, ontologia, epistemologia e filosofia lingstica.
Cf. abaixo, (348 ss.)
113
Ele tem conscincia do ponto de partida autocrtico da modernidade e
tambm da limitao falibilista que marca o pensamento ps-
metafsico. Mesmo assim, ele se inclina para uma compreenso
fundamentalista da filosofia, a partir do momento em que ele
caracteriza a auto-reflexo filosfica como um discurso primordial
sobrecarregado de metas efusivas. No final das contas, Apel confia,
apesar de tudo, nas evidncias infalveis de um acesso direto, pr-
analtico, s intuies de um participante da argumentao, j treinado
na reflexo. Porquanto o argumento pragmtico-transcendental ao qual
se atribui o papel de uma "fundamentao ltima" possui, na verdade,
o valor posicionai de uma certificao que se presume "infalvel" ou
que, em todo caso, no pode ser revista discursivamente. Se ele fosse
realmente um argumento, encontrar-se-ia em um contexto lingstico,
o qual possui tantos flancos abertos quantas so suas facetas.
O termo "reflexo estrita", introduzido por WolfgangKuhlmann,
abre um novo tema, que no pode ser abordado aqui. Limitei minha
exposio a diferenas que Apel elaborou em sua controvrsia com
minha filosofia do direito. preciso notar que tais diferenas persistem
apenas em princpio. Uma vez que elas no conseguem encobrir os
elementos comuns nos resultados, nem as compreenses perspicazes
que adquiri graas aos ensinamentos inigualveis de um amigo sempre
presente no esprito, desde a poca de meus estudos em Bonn.
1 1 4
II. PLURALISMO RELIGIOSO E SOLIDARIEDADE
DE CIDADOS DO ESTADO.
4 . BASES PR-POLTICAS DO ESTADO DE DIREITO DEMOCRTICO.
O tema proposto para nossa discusso tem algo a ver com uma
pergunta formulada por WolfgangBckenfrde em meados dos anos
60, nos seguintes termos: Serque o Estado secularizado continua
alimentando-se de pressuposies normativas que ele no consegue
garantir por si mesmo?
1
Tal indagao provocada, de um lado, pela
dvida sobre a possibilidade de o Estado constitucional democrtico
conseguir manter e renovar suas pressuposies normativas a partir
de recursos prprios; de outro lado, pela suposio de que ele mesmo
depende de tradies metafsicas ou religiosas autctones, em todo
caso, de tradies ticas, as quais fornecem elementos normativos
capazes de obrigar coletivamente. Ora, tal fato colocaria o Estado -
obrigado a manter neutralidade ante o "fato do pluralismo" (Rawls) -
em dificuldades. Em que pese isso, tal deduo no coloca em xeque
a prpria suposio enquanto tal.
Em primeiro lugar, gostaria de especificar o problema, em duas
direes distintas: (1) Em uma linha cognitiva, ele pode ser formulado
como segue: serque, aps uma positivao do direito, a dominao
poltica pode continuar lanando mo apenas de umajustificao secu-
BCKENFRDE, E. W., " Die Ent st ehung des St aat es ais Vor gang der
Skular isation" (1967), inid. |.:| ss |.|. Fr ankfur t/M., 1991, 92
ss, aqui 112.
115
lar, isto , ps-metafsica e no religiosa? (2) Entretanto, mesmo que
se conceda a possibilidade de uma tal legitimao, ainda restam dvidas
do ponto de vista motivacional: serque uma comunidade pluralista
no que tange s vises de mundo pode estabilizar-se normativmente
graas suposio de um acordo de fundo, exclusivamente formal,
limitado a procedimentos e princpios, o qual , no entanto, algo mais
do que um simples modus vivendil ( 3 ) bem verdade que, mesmo
que consegussemos sobrepujar tal dvida, continuaria de po fato de
que as ordens liberais dependem da solidariedade de seus cidados -
e que suas fontes podem secar no caso de uma secularizao
"descarrilhadora" da sociedade como um todo. No podemos,
certamente, descartar tal diagnstico. Mesmo assim, no podemos
entend-lo no sentido de que os eruditos entre os defensores da religio
obtm com isso uma espcie de "mais valor". (4) Contra tal modo de
ver, eu sugiro que interpretemos a secularizao cultural e social como
um duplo processo de aprendizagem que obriga ambas as tradies, a
do Esclarecimento e a das doutrinas religiosas, reflexo sobre os
seus respectivos limites. (5) Com relao a sociedades ps-seculares
coloca-se a seguinte pergunta: que tipo de enfoques cognitivos e de
expectativas normativas o Estado liberal pode esperar das pessoas
crentes e das no-crentes no que tange ao trato recproco?
(1) O liberalismo poltico na forma de um republicanismo
kantiano, (que eu defendo
2
), se auto-interpreta como uma justificao
ps-metafsica e no-religiosa dos fundamentos normativos do Estado
de direito democrtico. Tal teoria coloca-se na tradio de um direito
da razo que renuncia s assunes cosmolgicas e salvficas, fortes,
dos jusnaturalistas clssicos ou religiosos. A histria da teologia crist
medieval, especialmente a da alta Escolstica espanhola, fazem parte
dagenealogia dos direitos humanos. No obstante isso, os fundamentos
da legitimao do poder do Estado, neutros em termos de vises de
mundo, nasceram de fontes profanas da filosofia nos sculos XVII e
X Vm . Somente mais tarde, a Igreja e a teologia conseguiram entender
2
HABERMAS, J. b. |+|.,.|++ 1.s1+1..+ Fr ankfur t/M., 1996.
116
os desafi os cul t ur ai s lanados pel o Est ado const i t uci onal
revolucionrio. No entanto, se no me engano, parece que, do lado
catlico, que sempre teve uma relao mais tranqila com a "luz natu-
ral" (da razo) lumen naturale, no existe, em princpio, nenhum
obstculo que impea uma fundamentao autnoma do direito e da
moral (independentemente de verdades reveladas).
No sculo XX, a fundamentao ps-kantiana de princpios
constitucionais liberais foi questionada, muito mais por formas de
crtica oriundas do empirismo e do historicismo, do que do direito
natural objetivo ou da tica material dos valores. No meu entender,
assunes fracas sobre o contedo normativo da constituio
comunicativa de formas de vida scio-culturais so suficientes para
defender, seja um concei t o de razo no-derrot i st a cont ra o
contextualismo, seja um conceito no-decisionista da validade do
direito contra o positivismo jurdico. A principal tarefa, a ser enfrentada
agora, consiste em esclarecer:
- Por que o processo democrtico vale como um procedimento
de criao legtima do direito?
- Por que a democracia e os direitos humanos, tidos como
elementos co-originrios, se enlaam durante o processo constituinte?
A explicao consiste na prova:
- de que o processo democrtico, proporo que preenche
condies de uma formao discursiva e inclusiva da opinio e da
vontade, fundamenta a suposio de que os resultados de tal processo
so racionalmente aceitveis;
- de que a institucionalizao jurdica de tal procedimento de
criao democrtica do direito exige, ao mesmo tempo, a garantia dos
direitos fundamentais, tanto liberais como polticos.
3
O ponto de referncia desta estratgia de fundamentao a
constituio que as pessoas associadas se doam a si mesmas e no a
domesticao de um poder do Estado j constitudo, porquanto esse
1
HABERMAS, J. |s|,s ++1 0.|++ Fr ankfur t/M., 1992, Cap. III.
1 17
poder ainda precisa ser criado mediante a dao democrtica de uma
constituio. Um poder do Estado "constitudo" j se encontra
juridifcado at suas entranhas, de tal sorte que o direito permeia, sem
deixar resto, todo o poder poltico. No mbito do positivismo da
vontade do Estado, defendido por juristas alemes (de Laband e Jellinek
atCarl Schmitt) e cujas razes se encontram no Imprio, ainda havia
um esconderijo para uma substncia tica "do Estado" ou para o
elemento "poltico" isento de direito. Ao passo que no Estado
constitucional no existe nenhum sujeito do poder que se alimente de
uma substncia pr-jurdica.
4
A soberania pr-constitucional dos
prncipes no deixa nenhum lugar vago, a ser preenchido por uma
soberania substancial do povo - na figura do etos de um povo mais ou
menos homogneo.
A luz de tal herana problemtica, a questo de Bckenfrde foi
entendida no sentido de que a ordem constitucional, uma vez
positivada, necessita da religio ou de um outro tipo de "poder
mantenedor" para garantir as bases cognitivas de sua validade. Segundo
tal interpretao, a pretenso de validade do direito positivo depende
de uma fundao nas convices ticas pr-polticas de comunidades
nacionais ou religiosas, j que tal ordem jurdica no pode legitimar-
se auto-referencialmente, apenas por meio de procedimentos jurdicos
pr oduzi dos democr at i cament e. Todavia, se i nt erpret armos o
procedimento democrtico, no de modo positivista, maneira de
Luhmannou Kelsen, mas como um mtodo para a produo de
legitimidade por legalidade, no haverdficit de validade a ser
preenchido por "eticidade". A interpretao procedimental ancorada
em Kant contrape-se a uma compreenso do Estado constitucional,
inspirada na direita hegeliana, e insiste na fundamentao autnoma
de princpios constitucionais que pretendem aceitao racional por
todas as pessoas.
( 2) Nas pginas seguintes, tomo como ponto de partida a hiptese
de que a constituio do Estado liberal pode obter sua legitimao de
4
BRUNCKHORST, H. " Der lange Schattendes St aat swilenposit ivismus" , in:
|..s|s+ 31, 2003, 362-381.
118
modo auto-suficiente, ou seja, a partir das reservas cognitivas de um
estoque de argumentos, o qual no depende de tradies religiosas
nem metafsicas. Entretanto, mesmo sob tal premissa, persiste uma
dvida a nvel motivacional. Tendo em vista o papel de cidados do
Estado (Staatsbrger)qae se auto-entendem como autores do direito,
as pressuposies normativas de integridade do Estado constitucional,
democrtico, so mais pretensiosas do que quando se trata do papel
de ci dados da sociedade (Gesellschaftsbrger), que so os
destinatrios do direito. Dos destinatrios do direito espera-se apenas
que, ao tomarem conscincia de suas liberdades subjetivas (e
pretenses), eles no ultrapassem os limites jurdicos. Entretanto, as
motivaes e enfoques que se esperam de cidados do Estado, no
papel de co-legisladores democrticos, no podem ser tratados da
mesma maneira que a obedincia a leis coativas da liberdade.
Porquanto os co-legisladores devem assumir seus direitos de
comunicao e de participao de modo ativo, no somente no sentido
bem-entendido do interesse prprio, mas tambm orientados pelo bem
comum. Isso exige uma taxa elevada de motivao que no pode ser
imposta legalmente. Por isso, no Estado de direito democrtico, uma
obrigao de votar seria um corpo estranho, algo parecido a uma
solidariedade imposta. Em comunidades liberais, a disposio de ajudar
co-cidados estranhos e annimos, bem como de se sacrificar pelos
interesses comuns, pode apenas ser recomendada. Por esta razo, as
virtudes polticas - que s podem ser obtidas em pequenas doses -
so to importantes para a sobrevivncia de uma democracia. Elas
fazem parte da socializao e da introduo em prticas e modos de
pensar de uma cultura poltica acostumada liberdade. O status de
cidado do Estado est, de certa forma, embutido numa sociedade
civil que vive de fontes espontneas ou, se preferirmos, "pr-poUticas".
Disso no segue que o Estado liberal seja incapaz de reproduzir
seus pressupostos motivacionais a partir de recursos seculares. Os
motivos para uma participao dos cidados (Brger) na formao
poltica da opinio e da vontade alimentam-se, certamente, de projetos
de vida ticos e de formas de vida culturais. As prticas democrticas,
no entanto, desenvolvem uma dinmica poltica prpria. Somente um
119
Estado de direito sem democracia, ao qual estivemos acostumados
durante muito tempo, na Alemanha, poderia sugerir uma resposta
negativa questo levantada por Bckenfrde: "Serque povos unidos
pelo Estado podem viver apenas com a garantia da liberdade do
indivduo, sem um lao unificador prvio, que antecede tal liberdade?"
5
Entretanto, o Estado de direito constitudo democraticamente no
garante apenas liberdades negativas para os cidados da sociedade
interessados em seu prprio bem; ao liberar liberdades comunicativas,
ele tambm mobiliza a participao dos cidados do Estado na disputa
pblica sobre temas que so do interesse de todos. O "lao unificador"
nada mais do que um processo democrtico, no qual estem
discusso, em ltima instncia, a compreenso correta da constituio.
E por isso que, nas controvrsias atuais sobre a reforma do Estado
do bem-estar social, sobre a poltica de imigrao, sobre a guerra no
Iraque, sobre a abolio do servio militar obrigatrio, no se trata
apenas de "polticas" particulares, mas tambm da interpretao correta
de princpios constitucionais - e implicitamente se trata do modo como
pretendemos nos entender - luz da pluralidade de nossos modos de
viver culturais, e do pluralismo de nossas cosmovises e de nossas
convices religiosas - como cidados da Repblica Federal ou como
europeus. No passado, certamente, um pano de fundo religioso comum,
uma l i nguagem comum e, especi al ment e, a recm-reativada
conscincia nacional foram de grande valia para a configurao de
uma solidariedade de cidados do Estado, eminentemente abstrata.
No entanto, os modos de pensar republicanos se desligaram, em grande
escala, de tais ancoragens pr-polticas - o fato de no estarmos
dispostos a morrer "por Nizza" no constitui apenas mais uma objeo
contra uma constituio europia. Pensemos nos discursos tico-
polticos sobre o Holocausto e sobre a criminalidade em massa: eles
contriburam para que os cidados da Repblica Federal tomassem
conscincia de que a constituio era uma conquista. O exemplo de
uma "poltica da memria", autocrtica, (que no mais excepcional,
estendendo-se a outras naes) revela o modo como podem formar-
se laos de um patriotismo constitucional em meio prpria poltica.
5
BCKENFRDE, (1991), 111.
120
Contrariando um mal-entendido generalizado, "patriotismo
constitucional" significa que cidados se apropriam dos princpios da
constituio, no apenas analisando seu contedo abstrato, mas em
seu respectivo contexto nacional. O procedimento cognitivo no
consegue, apoiado apenas em si mesmo, aglutinar - nos modos de
sentir e de pensar - os contedos morais de direitos fundamentais. As
intuies morais e a indignao provocada, em escala mundial, pelo
desrespeito macio aos direitos humanos, seriam suficientes apenas
para uma integrao por demais tnue dos cidados de uma sociedade
mundial politicamente constituda (isso se algum dia ela realmente
existisse). Entre cidados do Estado surge uma solidariedade - mesmo
que abstrata e mediada pelo direito - apenas quando os princpios da
justia conseguem ter acesso rede das orientaes axiolgicas
culturais, que so muito mais densas.
( 3 ) Segundo o teor das reflexes desenvolvidas at o presente
momento, a natureza secular do Estado constitucional democrtico
no apresenta qualquer fraqueza interna - tpica do sistema poltico
enquanto tal - que pudesse constituir uma ameaa auto-estabilizao
cognitiva ou motivacional. Com isso, no se excluem, bem verdade,
razes externas. Uma modernizao "descarrilhadora" da sociedade
poderia muito bem esgarar, em sua totalidade, o lao democrtico e
consumir o tipo de solidariedade da qual o Estado democrtico depende
e a qual ele no pode obter pela fora. Pois neste caso, entraria em
cena a constelao que Bckenfrde tem na mira, ou seja: a
transformao dos cidados de sociedades liberais abastadas e pacficas
em mnadas individualizadas que agem guiadas pelos prprios
interesses e que utilizam seus prprios direitos subjetivos como se
fossem armas apontadas para os outros. No contexto mais dilatado de
uma dinmica onde impera uma economia mundial, e uma sociedade
mundial, possvel detectar evidncias de um esmigalhamento da
solidariedade de cidados do Estado.
Os mercados que no podem ser democratizados da mesma
maneira que administraes estatais assumem cada vez mais funes
de controle em domnios da vida, cuja manuteno tinha sido
121
conseguida at o presente momento de forma normativa, isto ,
mediante formas de comunicao poltica ou pr-poltica. Por causa
disso, a polaridade das esferas privadas invertida, em crescente
medida, e transposta para mecanismos do agir orientado pelo sucesso
e pelas preferncias prprias; alm disso, o domnio que depende de
presses de legitimao pblicas encolhe. Fortalece-se, destarte, o
privatismo de cidados do Estado pela perda de funo, por demais
desencorajadora, de uma formao democrtica da opinio e da
vontade, a qual continua funcionando, por enquanto e de modo
precrio, apenas nas arenas nacionais, no conseguindo, por isso, atingir
os processos de deciso, os quais so deslocados para nveis suprana-
cionais. A prpria esperana na fora de configurao poltica da
sociedade internacional, minguante, provoca uma tendncia despo-
litizao dos cidados. Face aos conflitos e s injustias sociais gritantes
de uma sociedade mundial fragmentada em larga escala, cresce, a
cada insucesso no caminho da constitucionalizao do direito interna-
cional das gentes (que foi iniciado aps 1945),
6
o desapontamento.
Teorias ps-modernas abordam a crise pelo ngulo de uma crtica
racional entendendo-a, no como conseqncia de um esgotamento
seletivo dos potenciais racionais inseridos na modernidade ocidental,
mas como resultado lgico de um programa de racionalizao espiritual
e social autodestruti va. O ceticismo radical da razo jamais se coadunou
com a tradio catlica. Mesmo assim, o catolicismo teve, ato limiar
dos anos 60, imensas dificuldades para lidar com o pensamento secu-
lar do humanismo, do Esclarecimento e do liberalismo poltico. De
sorte que, hoje em dia, o teorema, segundo o qual uma modernidade
contrita s poderia sair do beco sem sada adotando um ponto de
referncia transcendente e religioso, encontra novamente ressonncia.
Em Teheran, um colega me perguntou se, na perspectiva de uma
sociologia das religies e numa comparao de culturas, a secularizao
europia no deveria ser interpretada como um caminho desviante e
necessitado de uma correo. Tal fato faz lembrar o clima reinante na
Repblica de Weimar, Carl Schmitt, Heidegger ou Leo Strauss!
6
Cf. abaixo, 326 ss.
122
Julgo que a melhor sada consiste em no agudizar, por meio de
uma crtica racional, a questo sobre a possibilidade de os poderes
seculares de uma razo comunicativa conseguirem ou no estabilizar
uma modernidade ambivalente: o melhor a fazer enfrentar tal questo
de modo no-dramtico, como uma questo emprica aberta. Com
isso, eu no pretendo apenas colocar em j ogo o fenmeno da
persistncia da religio num entorno, em via de secularizao, como
se ela fosse apenas um mero fato social; jque a filosofia tem de levar
a srio esse fenmeno "a partir de dentro", isto , como um desafio
cognitivo. Todavia, antes de acompanhar esse fio de discusso, gostaria
de mencionar um certo desvio do dilogo que segue numa outra
direo, e que sugerido por tais idias. que a radicalizao da
crtica da razo levou a filosofia a refletir sobre suas prprias origens
metafsico-religiosas e a se deixar convencer a tomar parte em dilogos
com uma teologia que procurou, por seu turno, estabelecer contato
com as tentativas filosficas de uma auto-reflexo da razo ps-
hegeliana.
7
Excurso. O ponto de engate para um discurso filosfico sobre a
razo e a revelao constitui uma figura de pensamento que retorna a
cada passo. A razo que reflete sobre o seu fundamento mais profundo
descobre que sua origem precisa ser buscada em um "outro"; e que
ela tem de reconhecer o poder que este outro possui sobre o destino,
caso no pretenda perder sua orientao racional no beco sem-sada
de um auto-apoderamento hbrido. Neste ponto, pode servir de modelo
o exerccio de uma converso realizada pelas prprias foras ou, ao
menos, desencadeada pelas prprias foras, ou ainda, uma converso
da razo pela razo - o fato de a reflexo se iniciai
-
em Schleiermacher
na autoconscincia do sujeito cognoscente e agente, em Kierkegaard,
na historicidade de uma autocertificao existencial de mim mesmo,
e em Hegel, Feuerbach e Marx, no dilaceramento provocador de
condies ticas, no faz diferena. Mesmo desprovida de qualquer
tipo de inteno teolgica inicial, uma razo que se torna consciente
' NEUNER, P. e WENZ, G. (eds.) I|.|.+ 1.s : |s||++1.s Dar mstadt,
2002.
123
dos seus limites consegue sobrepujar-se a si mesma, a partir do
momento em que corre em busca de um outro: seja na fuso mstica
com uma conscincia que abarca todo o universo, seja na esperana
desesperanada que aguarda o evento histrico de uma mensagem
salvadora ou na figura de uma solidariedade com os humilhados e
ofendidos que pretende acelerar a salvao messinica. Entretanto,
esses deuses annimos da metafsica ps-hegeliana - a conscincia
abrangente, o evento impensvel que estantes do pensamento
(unvordenklich), a sociedade no-alienada - so presa fcil da teologia.
J que eles se oferecem decifrao como pseudnimos da trindade
do deus pessoal que se revela pessoalmente.
Tais tentativas de renovao de uma teologia filosfica aps Hegel
so, apesar de tudo, mais simpticas do que o nietzscheanismo, o qual
simplesmente toma de emprstimo as conotaes crists do ouvir e
do sentir, da expectativa da graa e da devoo, do evento e da chegada,
a fim de formular um pensamento sem contedo proposicional que ,
a seguir, ancorado numa dimenso situada atrs de Cristo e de Scrates,
em uma espcie de inundo indeterminado e arcaico.
Cont rapondo-se a isso, uma filosofia consciente de sua
falibilidade e de sua posio frgil no interior da estrutura diferenciada
da sociedade moderna, insiste na distino genrica - no pejorativa
- entre a fala discursiva secular, a qual pretende ser acessvel a todos
em geral e a fala discursiva religiosa que dependente de verdades
reveladas. Diferentemente de Kant e de Hegel, o estabelecimento de
tais limites gramaticais no compartilha a pretenso filosfica que se
arroga uma capacidade de estabelecer por si mesma o que verdadeiro
ou falso no contedo das tradies religiosas - e inclusive o que
verdadeiro ou falso no saber sobre o mundo, institucionalizado na
sociedade. O respeito, que caminha de mos dadas com tal absteno
cognitiva do juzo, funda-se no respeito por pessoas e modos de vida
que obtm sua integridade e autenticidade de convices religiosas.
bem verdade que o respeito no tudo, uma vez que a filosofia tambm
possui argumentos que a levam a assumir, perante tradies religiosas,
a atitude de algum que estdisposto a aprender.
124
( 4 ) Diferentemente do que acontece com a abstinncia tica de
um pensador ps-metafsico que no consegue obter um conceito de
vida boa ou exemplar a ser considerado obrigatrio para todos, as
Escrituras Sagradas e as tradies religiosas contm intuies sobre a
falta moral e a salvao, sobre a superao salvadora de uma vida
experi ment ada como sem salvao, as quais so mant i das e
interpretadas sutilmente durante milnios. Por isso, possvel supor
que na vida das comunidades ou nas comunidades religiosas que
evitam o dogmatismo rgido e a coao das conscincias se mantenha
intacto algo que j se perdeu alhures e que no pode ser restaurado
apenas pelo saber profissional de especialistas - refiro-me a
possibilidades de expresso suficientemente diferenciadas e a
sensibilidades para uma vida fracassada, para patologias sociais, para
o fracasso de projetos de vida individuais e para a deformao de
contextos vitais. A assimea das pretenses epistmicas permite que
se pense numa disposio ao aprendizado que a filosofia adota em
relao religio, e isso no apenas por simples razes funcionais,
mas por razes de contedo - tendo presentes na memria os
"processos de aprendizagem" bem-sucedidos, de Hegel.
A interpenetrao recproca entre cristianismo e metafsica grega
no produziu apenas a figura da dogmtica teolgica e uma helenizao
do cristianismo - a qual nem sempre foi benfica. Porquanto ela
promoveu tambm, de outro lado, uma apropriao, por parte da
filosofia, de contedos genuinamente cristos. Tal trabalho de
apropri ao sol i di fi cou-se em redes concei t uai s car r egadas
normativamente, tal como, por exemplo: responsabilidade, autonomia
e justificao; histria, recordao e recomeo; inovao e retorno;
emancipao e completude; renncia, incorporao, internalizao,
i ndi vi dual i dade e comuni dade. Ela tambm t r ansfor mou,
originariamente, o sentido, porm, no o consumiu inteiramente nem
o deflacionou de um modo esvaziador. A traduo da idia de que o
homem semelhante a Deus para a idia da "dignidade do homem",
de todos os homens, a ser respeitada de modo igual e incondicionado,
constitui uma destas tradues salvadoras. Ela expe o contedo de
conceitos bblicos para um pblico geral de crentes de outras confisses
e para no-crentes, ultrapassando, por conseguinte, os limites de uma
125
comunidade religiosa particular. Benjamin foi um daqueles que
conseguiram, s vezes, formular tais tradues.
Uma vez aceita a experincia de um parto secularizador de
potenciais de significao encapsulados, possvel atribuir ao teorema
de Bckenfrde um sentido menos capcioso. Mencionei o diagnstico,
segundo o qual, o equilbrio moderno entre os trs grandes meios da
integrao corre perigo, j que os mercados e a fora administrativa
esto desalojando, em um grau cada vez mais elevado e em um nmero
crescente de domnios da vida, a solidariedade social - que constitui
uma coordenao da ao por meio de valores, de normas e do uso da
linguagem orientada pelo entendimento. Por esta razo, o Estado
constitucional tem todo o interesse em poupar as fontes culturais que
alimentam a conscincia de normas e a solidariedade de cidados. Tal
conscincia, que se tornou conservadora, reflete-se na fala sobre a
"sociedade ps-secular".
8
Tal formulao no tem na mira apenas o fato de que a religio
obrigada a se afirmar em um entorno cada vez mais dominado por
elementos seculares e que a sociedade continua a contar, mesmo assim,
com a sobrevivncia da religio. A expresso "ps-secular" foi cunhada
com o intuito de prestar s comunidades religiosas reconhecimento
pblico pela contribuio funcional relevante prestada no contexto da
reproduo de enfoques e motivos desejados. Mas no somente isso.
Porque na conscincia pblica de uma sociedade ps-secular reflete-
se, acima de tudo, uma compreenso normativa perspicaz que gera
conseqncias no Uato poltico entre cidados crentes e no-crentes.
Na sociedade ps-secular impe-se a idia de que a "modernizao
da consci nci a pblica" abrange, em diferentes fases, tanto
ment al i dades r el i gi osas como profanas, t r ansfor mando- as
reflexivamente. Neste caso, ambos os lados podem, quando entendem,
em comum, a secularizao da sociedade como um processo de
aprendizagem complementar, levar a srio, por razes cognitivas, as
suas contribuies para temas controversos na esfera pblica.
8
EDER K. " Eur opische Skular isier ung - einSonder weg indie po.stskulare
Oesellschaft ?" , in: |.|+. |++s|/ ,|. cad. 3, 2002, 331-343.
126
(5) De um lado, a conscincia religiosa foi constrangida a
processos de adaptao. Toda religio , no incio, "doutrina
compreensiva" ou ainda, "imagem de um mundo", (comprehensive
doctrine), inclusive no sentido de que ela pretende ter autoridade na
configurao de uma forma de vida em sua totalidade. Em que pese
isso, sob as condies da secularizao do saber, da neutralizao do
poder do Estado e da generalizao da liberdade de religio, a religio
foi obrigada a renunciar a essa pretenso que visa o monoplio da
interpretao e a configurao abrangente da vida. A seguir, sob os
imperativos da diferenciao funcional de subsistemas sociais, a
prpria vida das comunidades religiosas se destacou de seus entornos
sociais. O papel de um membro da comunidade diferencia-se do papel
de um cidado da sociedade. E j que o Estado liberal depende de
uma integrao poltica dos cidados, a qual no pode reduzir-se a um
simples modus vivendi, tal diferenciao de modos de pertena no
pode esgotar-se numa mera adaptao - destituda de pretenses
cognitivas - do etos religioso a leis impostas pela sociedade secular.
Ao invs disso, a ordem jurdica universalista e a moral igualitria da
sociedade tm de ser engatadas, a partir de dentro, ao etos da
comunidade, de tal sorte que uma coisa possa surgir consistentemente
da outra. Para tal "insero", JohnRawls escolheu a imagem de um
mdulo: entretanto, mesmo que tal mdulo da justia secular tenha
sido construdo com o auxlio de argumentos neutros do ponto de
vista da viso de um mundo, ele deve caber nos respectivos contextos
de uma fundamentao ortodoxa.
9
Tal expectativa normativa, com a qual o Estado liberal confronta
as comunidades religiosas, vem ao encontro dos respectivos interesses
prprios uma vez que, com isso, abre-se a possibilidade de exercer,
mediante a esfera pblica poltica, uma influncia prpria na sociedade
como um todo. verdade que, como mostram as regras mais ou menos
liberais das regulamentaes do aborto, os fardos resultantes da
tolerncia no so distribudos de forma simtrica entre crentes e no-
crentes; a conscincia secular, todavia, tambm no deixa de pagar
tributo para ter o gozo da liberdade de religio, negativa. Dela se espera
' ' RAWLS, J. ||s:|. ||.s|s-+s Fr ankfur t/M., 1998, 76 ss.
127
o treino para uma relao auto-reflexiva com os limites do Esclareci-
mento. A compreenso da tolerncia das sociedades pluralistas, dotadas
de uma constituio liberal, exige no somente que os crentes tenham,
no seu trato com no-crentes e crentes de outras denominaes, a
compreenso razovel de que eles tm de contar com a permanncia
de um dissenso. Porquanto ela exige, no mbito de uma cultura poltica
liberal, a mesma compreenso dos no-crentes no trato com crentes.
Para o cidado no-afinado do ponto de vista da religio, isso
significa uma exigncia, nada trivial, de que relao entre fe cincia
deve ser determinada autocriticamente na perspectiva de um saber
sobre o mundo. S se pode auibuir expectativa de uma no-
coincidncia persistente entre saber e fo predicado "racional" quando
se concede, na perspectiva de um saber secular, um status epistmico
s convices religiosas, que no seja pura e simplesmente irracional.
Por isso, na esfera pblica poltica, as cosmovises naturalistas, que
nasceram de uma elaborao especulativa de informaes cientficas
e so relevantes para a autocompreenso tica dos cidados,
10
no
tm prima facie prioridade sobre concepes religiosas ou cosmo-
vises concorrentes.
A neutralidade em termos de vises de mundo, que impregna o
poder do Estado, o qual garante iguais liberdades ticas para cada
cidado, no se coaduna com a generalizao poltica de uma viso
de mundo secularista. Cidados secularizados no podem, proporo
que se apresentam no seu papel de cidados do Estado, negar que
haja, em princpio, um potencial de racionalidade embutido nas cosmo-
vises religiosas, nem contestar o direito dos concidados religiosos a
dar, em uma linguagem religiosa, contribuies para discusses
pblicas. Uma cultura poltica liberal pode, inclusive, manter a
expectativa de que os cidados secularizados participaro dos esforos
destinados traduo - pata uma linguagem publicamente acessvel
- das contribuies relevantes, contidas na linguagem religiosa."
l
Por exemplo, SINGER, W. "Ningum pode ser difer ente do que ele . Est amos
pr esos a engr enagens: Deveramos parar de falar em liber dade" in- |s+|
` |+. 1||.-.+. /.++ de 08 de j aneir o de 2004, 33.
" HABERMAS, J. 0|s+|.+ ++1 "ss.+ Fr ankfur t/M., 2001
128
5. RELIGIO NA ESFERA PBLICA.
PRESSUPOSIES COGNITIVAS PARA o "Uso PBLICO DA RAZO"
DE CIDADOS SECULARES E RELIGIOSOS.
1
(1) Desde a virada de 1989/90, tradies religiosas e comunidades
de f adquiriram, inesperadamente, importncia poltica.
2
Temos em
mente, acima de tudo, os tipos de fundamentalismo que surgem, no
somente no Oriente Mdio, mas tambm nos paises da frica, no
Sudeste da sia e no subcontinente da ndia. Eles inserem-se,
eventualmente, em conflitos nacionais e tnicos constituindo, hoje
em dia, uma espcie de incubadora de unidades descentralizadas de
um terrorismo que opera a um nvel global, opondo-se aos melindres
produzidos pela civilizao ocidental tida como superior. Mas h outros
fenmenos sintomticos.
No Ir, o protesto contra um regime corrupto, imposto e
promovido pelo Ocidente, fez surgir um verdadeiro domnio de
sacerdotes que serve de modelo a outros movimentos. Em muitos
paises do Isl, mas tambm em Israel, o direito familial religioso
substitui o direito civil estatal, j constitudo, ou, ao menos, oferece
uma opo alternativa. Em paises como o Afeganisto e o Iraque,
uma ordem constitucional que , em linhas gerais, liberal, tem de se
1
Agradeo a Rainer For st e Thomas M. Schmidt pelos comentrios valiosos
que ambos publicar am sobr e esse tema. Tambm agradeo a Melissa Yates
- que se ocupou, em sua disser tao, com temas semelhantes - por indicaes
bibliogrficas e discusses est imulant es.
2
BERGER, Peter L. (or g.) I|. b.s.:+|s,s+ / ||. "|1 Washingt on,
1999.
129
compatibilizar com a Scharia. Na prpria arena internacional eclodem
fenmenos religiosos. As esperanas ligadas programtica poltica
das "modernidades mltiplas" (multiple modernities) continuam
alimentando-se da mesma autoconscincia cultural das religies
mundiais que at hoje marcam indelevelmente a fisionomia das grandes
civilizaes. Tambm no lado ocidental, a percepo dos conflitos e
das relaes internacionais modificou-se ante os temores de um
"choque de civilizaes" {clash of civilisations) - do qual "o eixo do
mal" constitui apenas um exemplo destacado. Os prprios intelectuais
ocidentais, at agora autocrticos, comeam a reagir ofensivamente
imagem de um ocidentalismo, tecida pelos no-ocidentais.
3
Noutras partes do globo, o fundamentalismo pode ser entendido
tambm como conseqncia, no longo prazo, de uma colonizao
violenta e de uma descolonizao mal-sucedida. Uma modernizao
capitalista vinda de fora desencadeia, sob condies desfavorveis,
inseguranas sociais e rejeies culturais. Nesta linha de interpretao,
os movimentos religiosos tendem a processar as mudanas sociais
radicais e a no-simultaneidade cultural, que so experimentadas sob
as condi es de uma moderni zao acelerada ou fracassada,
interpretando-as como desenraizamento. Em que pese isso, o fato mais
surpreendente consiste propriamente na revitalizao poltica da
religio no mago dos Estados Unidos da Amrica, portanto, no centro
da sociedade ocidental, onde a dinmica da modernizao se expande
com maior sucesso. E bem verdade que conhecemos, tambm na
Europa, desde os dias da Revoluo Francesa, as foras de um
tradicionalismo religioso que se auto-interpreta como contra-
revolucionrio. Porm, nesta evocao da religio como fora da
tradio transparece sempre a dvida corrosiva sobre a vitalidade
daquilo que apenas tradicional. No obstante isso, tudo indica que o
despertar poltico de uma conscincia religiosa forte nos Estados
Unidos no foi atingido pela dvida sobre um poder, o qual se torna
inseguro quando entra em cena a reflexo.
' BURUMA, I. e MARGALI T, A. 0|,1.+s|s-+s b. ".s.+ + 1.+ 1+.+
s.+. |.+1. Munique, 2004.
130
No perodo aps o final da Segunda Guerra mundial, todos os
paises da Europa, com exceo da Irlanda e da Polnia, foram atingidos
por uma onda de secularizao, que acompanha os passos da
modernizao social. Nos Estados Unidos, porm, todas as pesquisas
de opinio confirmam que a elevada porcentagem dos cidados
religiosamente ativos permaneceu relativamente constante durante os
ltimos sessenta anos.
4
Mais importante ainda a circunstncia atual
de que o movimento a favor dos direitos religiosos, nos Estados Unidos,
no configura propriamente um movimento tradicionalista. E pelo
prprio fato de liberar energias espontneas de despertamento, esse
movimento provoca irritaes paralizadoras em seus opositores
seculares.
Os movimentos religiosos de renovao, que tm lugar no
corao da sociedade civil da potncia lder do Ocidente, reforam,
pois, a nvel cultural, a diviso poltica do Ocidente provocada pela
guerra do Iraque.
5
No entanto, parece que, aps a eliminao da pena
de morte, com as regulamentaes liberais do aborto, com a recusa
incondicional da tortura, com a equiparao das orientaes sexuais e
com a paridade de conbios homossexuais e, em geral, com o acento
nos direitos e no nos bens coletivos tal como, por exemplo, a segurana
nacional, os paises da Europa continuam a trilhar, sozinhos, o caminho
que t i nham encet ado, desde a poca das duas r evol ues
constitucionais do final do sculo XVIII, junto com os Estados Unidos.
Nesse nterim, cresceu no mundo em geral a importncia das religies
no contexto poltico. E nesse horizonte, a diviso do Ocidente
interpretada como se a Europa se isolasse do resto do mundo. E
observando as coisas pelo ngulo de uma histria mundial, o
"racionalismo ocidental", de Max Weber, passa a ser encarado, agora,
como um caminho que foge normalidade.
Em tal viso revisionista, parece que as correntes tradicionais
das religies mundiais, que continuam a fluir sem interrupes,
4
NORR1S, P. e INGLEHART, R. s:.1 s+1 .:+|s |.|+ s+1 ||:s
"|11. Cambr idge (Mass.) 2004, Cap. 4.
5
HABERMAS, J. b. 0.ss|.+. ".s.+ Fr ankfur t/., 2004.
131
eliminam ou, ao menos, nivelam os umbrais entre sociedades modernas
e tradicionais que at hoje eram mantidos intactos. De sorte que a
auto-imagem da modernidade ocidental estsendo submetida, por
uma espcie de experimento da psicologia da Gestalt, a um teste de
inverso: aquilo que antes era tomado como um modelo normal para
o futuro de todas as culturas passa a ser um caso a parte. Mesmo que
tal figura sugestiva no consiga resistir por muito tempo a um exame
sociolgico mai s ri goroso, e mesmo que as expl i caes da
secularizao em termos de teorias da modernizao possam ser postas
em consonncia com evidncias aparentemente contraditrias,
6
no
se pode duvidar das prprias evidncias e, acima de tudo, no se pode
duvidar da agudizao sintomtica dos climas polticos.
Dois dias aps a ltima eleio para presidente, veio a pblico a
contribuio de um historiador com o seguinte ttulo: "O dia em que o
iluminismo se despediu" (The Day the Enlightenment went out). Nesse
texto, o autor levanta a seguinte questo alarmista: "Pode um povo
que acredita mais fortemente no nascimento virginal do que na
evoluo ser chamado de nao iluminada? A Amrica, a primeira
democracia real na histria, era produto dos valores do Iluminismo
[...]. Embora os fundadores manifestassem divergncias sobre muitas
coisas, eles compartilhavam tais valores que tinham a ver com o
significado da modernidade [...]. Parece que o respeito pela evidncia
no faz mais sentido quando uma pesquisa de opinio, realizada alguns
" NORRI S e I NGLEHART, (2004, Cap. 10) defendem a hiptese clssica,
segundo a qual, a secular izao se impe medida que se pr opagar - j unt o
com condies de vida sociais e econmicas melhor adas - o sent iment o de
"segurana exist encial" . Juntamente com a assuno demogrfica que indica
um decrscimo da taxa de fer tilidade nas sociedades desenvolvidas, essa
hiptese esclar ece inicialment e por que r azo a secular izao at ingiu, em
linhas ger ais, apenas " o Ocident e" . Os Est ados Unidos const it uem uma
exceo, em pr imeir o lugar , devido a um capit alismo que no assegur a a
toda a populao um bem-estar maior, expondo-a, em mdia, a um gr au maior
de insegurana exist encial; em segundo lugar , devido gr ande quantidade
de imigr antes or iundos de paises cujas sociedades so tr adicionais e que
apr esent am uma taxa de fer tilidade r elativamente alta.
132
dias antes da eleio mostrou que setenta e cinco por cento dos eleitores
do Sr. Bush acreditavam que o Iraque no trabalhava com a Al Qaeda
nem estava envolvido diretamente com os ataques do onze de
setembro".
7
Independentemente do modo como avaliamos os fatos ocorridos,
as anlises da eleio confirmam que a diviso cultural que sacode o
Ocidente perpassa a prpria nao americana: orientaes valorativas
conflitantes - Deus, os gays e as armas - sobrepuseram-se a conflitos
de interesses aparentemente mais slidos. De qualquer modo, o
presidente Bush deve a sua vitria a uma coaliso de eleitores cujos
motivos predominantes eram religiosos.
8
Ora, tal deslocamento dos
pesos polticos revela uma modificao mental correspondente que
ocorre na sociedade civil. E esta tambm forma o pano de fundo para
as controvrsias acadmicas sobre o papel poltico da religio no Estado
e na esfera pblica.
E a disputa tem a ver novamente com a substncia da primeira
frase do First Amendmenf. "O congresso no poderemitir nenhuma
lei para regular o estabelecimento de uma religio nem proibir o livre
exerccio dela". Percebe-se que os Estados Unidos foram os pioneiros
de uma liberdade da religio apoiada no respeito recproco da liberdade
de religio do outro.
9
O grandioso artigo n 16 da Bill of Rights,
1
WI LLS, Gar r y. " The Day the Enlight enment Went Out" , in\. I| I-.s de
04 de novembr o de 2004, A, 31.
8
GOODSTEI N, W. Yar dley. "O pr esidente Bush apr oveit a-se dos esforos
despendidos na for mao de uma coaliso de eleit or es r eligiosos" , in: \.
I| I-.s 05/11/2004, A, 19. Bush t eve 60% dos vot os dos eleit or es de
fala espanhola, 67% dos vot os dos pr otestantes de raa br anca e 78% dos
vot os dos evanglicos ou cr istos r enascidos. At mesmo entr e os catlicos,
que costumam votar nos democr atas, Bush conseguiu obter a maior ia. A opo
partidria dos bispos catlicos sur pr eendente, dado o fato de que o gover no,
ao contr ar io da Igr eja, defende a pena de mor te e se decidiu por uma agr esso
blica que vai contr a o dir eito inter nacional, colocando em j ogo a vida de
milhar es de soldados amer icanos e de civis ir aquianos.
9
Sobr e essa " concepo de r espeito" cf. a pesquisa histrica e sistemtica de
FORST, R. I|.s- - |+/|| Fr ankfur t/M., 2003.
133
proclamado na Virgnia, em 1776, constitui o primeiro documento de
uma liberdade de religio garantida como um direito fundamental,
que os cidados de uma comunidade democrtica se concedem
mutuamente independentemente dos limites estabelecidos pelas
diferentes comunidades de f. Nos Estados Unidos, ao contrrio do
que sucedeu na Frana, a introduo da liberdade de religio no
significou uma vitria do laicismo sobre uma autoridade que garantira
para as minorias religiosas, no melhor dos casos, uma tolerncia
interpretada de acordo com seus prprios critrios, os quais eram
impostos populao. O poder do Estado, cuja postura quanto a vises
de mundo era neutra, no tinha, em primeira linha, o sentido negativo
de proteger os cidados contra imposies oriundas da conscincia
ou da f. Ele deveria, ao invs disso, garantir para os colonos que
tinham dado as costas velha Europa a liberdade positiva de colocar
em prtica, sem restries, sua respectiva religio. Por isso, at hoje
em dia, qualquer uma das partes envolvidas numa discusso sobre o
papel poltico da religio pode reiterar sua lealdade para com a
constituio. Ainda teremos ocasio de analisar at que ponto tal
pretenso pode ser mantida.
Nas pginas seguintes deter-me-ei na discusso que se seguiu
formulao da teoria poltica de JohnRawls, especialmente na sua
concepo do "uso pblico da razo". At que ponto a separao en-
tre Igreja e Estado, a qual requerida pela constituio, pode influenciar
o papel, a ser desempenhado pelas tradies e comunidades religiosas,
na esfera pblica poltica e na sociedade civil, portanto, na formao
poltica da opinio e da vontade dos cidados? Por onde deve passar
tal delimitao de fronteiras, no entender dos revisionistas? Serque
os opositores, isto , os que atualmente assumem a ofensiva contra as
formas clssicas de demarcao liberal, conseguem realmente levar a
cabo uma modificao radical da agenda liberal? Serque eles apenas
esto interessados em adotar um aspecto favorvel religio, o qual
inerente neutralidade do Estado quanto a vises de mundo, a fim de
contrap-lo compreenso secularista da sociedade pluralista? Ou
serque el es j se movi ment am no horizonte de uma outra
autocompreenso da modernidade?
134
Pretendo recordar, em primeiro lugar, as premissas liberais do
Estado constitucional, dando especial realce ao impacto da idia do
uso pblico da razo, de JohnRawls sobre o etos dos cidados do
Estado (2). A seguir, enfrentarei as principais objees levantadas
contra tal interpretao restritiva do papel poltico da religio (3).
Desenvolvo uma concepo cuja finalidade principal consiste em
mediar entre os dois lados discutindo as propostas revisionistas que
atingem fundamentos da autocompreenso liberal (4). certo que os
ci dados seculares e religiosos no conseguem preencher as
expectativas normativas do papel de cidados do Estado, liberais, se
no preencherem determinadas pressuposies cognitivas e se no se
atriburem mutuamente os correspondentes enfoques epistmicos. A
explicao desse ponto levar-me-, inicialmente, a lanar mo da
mudana de forma da conscincia religiosa, a qual constitui uma
resposta aos desafios da modernidade (5). No plano filosfico, ao
contrrio, a conscincia secular, segundo a qual vivemos em uma
sociedade ps-secular, sedimenta-se, assumindo a forma de um pensa-
mento ps-metafsico (6). Em que pese isso, o Estado liberal enfrenta,
em ambas as direes, o seguinte problema: os cidados, tanto crentes
como no-crentes, adquirem tais enfoques em "processos de
aprendizagem" complementares nem sempre aceitos como tal e sobre
os quais o Estado no pode influir lanando mo do direito e da poltica,
mesmo que tais meios estejam, em princpio, sua disposio (7).
(2) A autocompreenso do Estado de direito democrtico formou-
se no quadro de uma tradio filosfica que apela exclusivamente a
uma razo "natural", ou seja, a argumentos pblicos que, de acordo
com sua pretenso, so acessveis da mesma maneira a todas as
pessoas. Ora, a assuno de uma razo humana comum constitui a
base epistmica para a justificao de um poder do Estado secular
que independe de legitimaes religiosas. E isso permite, por outro
lado, pensar a separao entre Igreja e Estado ao nvel institucional.
No mbito de uma compreenso liberal, a qual serve de pano de fundo,
a superao das guerras de religio e das querelas entre as confisses,
que teve lugar no incio dos tempos modernos, constitui um ponto de
135
partida histrico; o Est ado constitucional reagiu a esse fato
neutralizando, de um lado, o exerccio do poder, o qual se tornou
independente de qualquer tipo de cosmoviso; de outro lado, ele abriu
espao para a autodeterminao democrtica de cidados que passam
a dispor de iguais direitos. Tal genealogia tambm forma o pano de
fundo para a teoria da justia, de JohnRawls.
10
O direito fundamental da liberdade de conscincia e de religio
constitui a resposta poltica adequada aos desafios do pluralismo
religioso. Isso permite desarmar, no contexto do trato social dos
cidados, o potencial conflituoso que continua permeando, no nvel
cognitivo, as convices existenciais de crentes, de no-crentes e de
crentes de outras denominaes. Para uma garantia simtrica da
liberdade de religio, o carter secular do Estado constitui uma
condio necessria, porm, no suficiente. Tal funo no pode ser
preenchida pela benevolncia desdenhosa de uma autoridade
secularizada. As prprias partes envolvidas tm de chegar a um acordo
sobre as fronteiras precrias que separam o direito positivo ao exerccio
da religio da liberdade negativa, segundo a qual, ningum obrigado
a seguir a religio do outro. Para proteger o princpio da tolerncia
contra a suspeita de uma determinao repressiva dos limites da
tolerncia e para definir aquilo que ainda pode ser tolerado e aquilo
que no pode mais ser tolerado, hmister de argumentos convincentes
e aceitveis, de modo igual, por todas as partes." A criao de regras
eqitativas pressupe que os participantes aprendem a assumir as
perspectivas uns do outros. E nesse sentido, a formao deliberativo-
democrtica constitui um procedimento adequado.
No Estado secular, hque transpor o exerccio do poder poltico
para uma base no mais religiosa. A constituio democrtica precisa
preencher a lacuna de legitimao aberta pela neutralizao - em
termos cosmolgicos - do poder do Estado. Os direitos fundamentais,
simtricos, que cidados livres e iguais so obrigados a atribuir uns
aos outros quando pretendem regular sua convivncia mtua lanando
10
RAWLS, J. 1 I|.; / |+s:. Cambr idge (Mass.), 1971, 33 s.
" Sobr e a concepo do r espeito recproco toler ante cf. FORST, (2003).
136
mo dos meios da razo e do direito positivo, so frutos de uma prtica
constituinte.
12
O procedimento democrtico extrai sua fora geradora
de legitimao de dois componentes, a saber: da participao poltica
simtrica dos cidados, a qual garante aos destinatrios das leis a
possibilidade de se entenderem, ao mesmo tempo, como seus autores;
e da dimenso epistemolgica de certas formas de uma disputa guiada
discursivamente, as quais fundamentam a suposio de que os
resultados so aceitveis em termos racionais.
11
As expectativas e modos de pensar e de se comportar dos
cidados, que no podem ser simplesmente impostas mediante o
direito, podem ser, no entanto, explicadas a partir desses dois
componentes da legimao. As condies para uma participao bem-
sucedida na prtica comum da autodeterminao definem o papel de
cidado do Estado: os cidados devem respeitar-se reciprocamente
como membros de sua respectiva comunidade poltica, dotados de
iguais direitos, apesar de seu dissenso em questes envolvendo
convices religiosas e vises de mundo; sobre esta base de uma
solidariedade de cidados do Estado, eles devem procurar, quando se
trata de questes disputadas, um entendimento mtuo motivado
racionalmente, ou seja, eles so obrigados a apresentar uns aos outros,
bons argumentos. Nesse contexto, Rawls fala num dever dos cidados
do Estado para com a atitude civil e para com o uso pblico da razo:
"O ideal da cidadania impe um dever moral, no legal - o dever da
civilidade - de ser capaz, nessas questes fundamentais, de explicar
uns aos outros como os princpios e normas de conduta propostos e
votados so compatveis com os valores da razo pblica. Portanto,
12
Cf. HABERMAS, J. |s|,s ++1 0.|++ Fr ankfur t/M., 1992, Cap. III;
I d., " Der demokr a t i sche Recht sst aat - ei ne par adoxe Ver bindung
widersprchlicher Pr inzipien?" , in: Id. /. 1. |.s+. Fr ankfur t/M.,
2001, 133-151.
L,
Cf. RAWLS, John. " The I deaof PublicReasonRevisited" , in: I|. +..s; /
(|:s |s |... vol. 64, 1997, n 3, 765-807, aqui, 769: " Idealmente os
cidados tm de entender -se como legislador es e perguntar a si mesmos que
estatutos - apoiados em quais r azes capazes de satisfazer ao princpio de r eci-
pr ocidade - eles gostar iam que fossem pr omulgados como os mais razoveis."
137
esse dever envolve a disposio de prestar ateno aos outros e uma
compreenso eqitativa quando se trata de chegar a uma acomodao
razovel de seus pontos de vista".
14
A base de referncia para um uso pblico da razo s obtida
aps a diferenciao de uma associao de cidados livres e iguais
que se determinam a si mesmos: os cidados justificam, uns perante
os outros, seus posicionamentos polticos luz (de uma interpretao
fundamentada
15
) dos princpios constitucionais em vigor. Rawls refere-
se a "valores da razo pblica" e a "premissas que aceitamos e
pensamos que os outros tambm podem aceitar razoavelmente",
16
porque no Estado que neutro do ponto de vista das vises de mundo
s valem como legtimas as decises polticas que puderem ser
justificadas luz de argumentos acessveis em geral, isto , que so
imparciais tanto para cidados religiosos como para no-religiosos,
como tambm para cidados de orientaes de fdistintas. O exerccio
de um poder que no consegue justificar-se de modo imparcial
ilegtimo porque, nesse caso, um partido estaria impondo sua vontade
ao outro. Cidados de uma comunidade democrtica devem apresentar,
uns aos outros, argumentos porque somente assim o poder poltico
perde o seu carter eminentemente repressivo. Tal reflexo nos
confronta com a polmica (Proviso) qual deve ser submetido o uso
pblico de argumentos no-pblicos.
O princpio da separao entre Igreja e Estado obriga os polticos
e funcionrios no interior das instituies estatais a formular e a
justificar as leis, as decises judiciais, as ordens e medidas em uma
linguagem acessvel a todos os cidados.
17
De outro lado, porm, na
esfera pblica poltica, cidados, partidos polticos e seus candidatos,
' " RAWLS, J. Political Liberalism. New Yor k, 1993, 217.
15
Rawls r efer e-se a uma "famlia de concepes liber ais de justia", qual o
uso pblico da r azo pode r ecor r er quando da inter pr etao de princpios
const it ucionais vigent es. Cf. RAWLS, (1997), 773, s.
l 6
I bid. , 786.
" Sobr e a especificao da exigncia de ar gumentos numa linguagem "acessvel
em ger al" , cf. FORST, R. |+.s. 1. 0..:||. Fr ankfur t/M., 1994,
199-209.
138
organizaes sociais, igrejas e outras comunidades religiosas no esto
submetidos a uma reserva to estrita: "Em primeiro lugar, as doutrinas
razoveis e compreensivas, sejam elas religiosas ou no-religiosas,
podem ser introduzidas, a qualquer momento, na discusso pblica
poltica desde que sejam apresentados, no devido tempo, argumentos
polticos apropriados - e no razes exclusivas de doutrinas
compreensivas - os quais devem ser capaz.es de suportar tudo aquilo
que se diz que as doutrinas compreensivas suportam."** Isso significa
que os argumentos polticos aduzidos, alm de serem (empurrados
para frente) tambm "contam" fora de seu contexto de insero
religioso.
19
Nos moldes de uma interpretao liberal, o Estado somente
garante liberdade de religio sob a condio de que as comunidades
religiosas aceitem, na perspectiva de suas prprias tradies, no
somente a neutralidade das instituies do Estado do ponto de vista
das vises de mundo, ou seja, a separao ene Igreja e Estado, mas
tambm a determinao restritiva do uso pblico da razo dos cidados.
Rawls mantm tais exigncias mesmo contra a objeo que ele mesmo
levanta: "Como podem [...] os crentes [...] endossar um regime
constitucional apesar de suas doutrinas compreensivas no poderem
prosperar nele, correndo, inclusive, o risco de declinar?"
20
A concepo do uso pblico da razo provocou posicionamentos
crticos decididos. As objees no se dirigem inicialmente contra as
premissas liberais enquanto tal, mas contra uma determinao por
18
RAWLS, (1997), 783 s. (a grafia em itlico de minha autor ia). Esta passagem
contm um r eviso da for mulao do princpio r awlsiano for mulado no t ext o
de (1994), 224 s. Rawls delimita a sua r essalva a quest es centr ais que atingem
:+s++s| .ss.+s|s (element os essenciais da const it uio); no meu
entender , tal pr ocediment o no r ealista no que tange s or dens jurdicas
moder nas nas quais os dir eitos fundamentais per meiam imediat ament e a
legislao mater ial e a aplicao da lei e quase t odos os t emas cont r over sos
podem ser agudizados e tr ansfor mados em quest es de princpios.
RAWLS (1997), 777: " Nas doutr inas compr eensivas no exist em, por detrs
das cenas, mar ionet es manipuladas."
20
Ibid., 781. Retomar ei tal obj eo mais abaixo.
139
demais estreita, secularista, do papel poltico da religio no quadro de
uma ordem liberal. Mesmo assim, o dissenso parece atingir, no final
das contas, a prpria substncia da ordem liberal. A mim me interessa
a linha que separa pretenses ilegtimas do ponto de vista de um direito
constitucional. No obstante, no podemos confundir dois tipos de
argumentos - no to rigorosos - em prol de um papel poltico da
religio, a saber, de um lado, os que so inconciliveis com o carter
secular do Estado constitucional e, de outro lado, os que constituem
objees j ust i fi cadas contra uma compreenso secularista da
democracia e do Estado constitucional.
O princpio da separao entre Igreja e Estado exige das
instituies estatais rigor extremo no trato com as comunidades
religiosas; parlamentos e tribunais, governo e administrao ferem o
mandamento da neutralidade a ser mantida quanto a vises de mundo
quando privilegiam um dos lados em detrimento de um outro. De
outro lado, no entanto, a exigncia laicista de que o Estado deve (em
consonncia com a liberdade de religio) abster-se de toda poltica
que apoia ou coloca limites religio enquanto tal constitui uma
interpretao por demais estreita desse princpio.
21
Em que pese isso,
a rejeio do secularismo no deve abrir as portas para revises que
venham a anular a separao entre Igreja e Estado. E por isso que,
como ainda iremos ver, a admisso de justificaes religiosas no
processo de legislao fere o prprio princpio. No obstante isso, a
posio liberal de Rawls dirige a ateno dos crticos, no tanto para
a neutralidade que as instituies do Estado devem manter quanto a
vises de mundo, mas para as implicaes normativas do papel de
cidado do Estado.
(3) Os crticos de Rawls apelam, inicialmente, para exemplos
histricos, a fim de chamar a ateno para a influncia poltica benfica
exercida de fato pelas igrejas e movimentos religiosos na defesa e na
implantao da democracia e dos direitos humanos. MartinLuther
21
Cf. a discusso entr e Rober t Audi e Nicholas Wolter stor ff in: |.|+ + |.
|+||: |.. New Yor k, 1997, 3 s., 76 s. e 167 s.
140
Kinge o movimento americano em prol dos direitos dos cidados
ilustram a luta bem-sucedida por uma incluso ampliada das minorias
e de grupos marginais no processo poltico. Neste contexto, so
impressionantes as razes religiosas profundas do estoque motivacional
da maioria dos movimentos sociais e socialistas, seja nos paises anglo-
saxes, seja nos paises da Europa continental.
22
H muitos exemplos
histricos que revelam um papel autoritrio e repressivo das igrejas e
movimentos fundamentalistas; mesmo assim, no quadro dos Estados
constitucionais estabelecidos, as igrejas e comunidades religiosas em
geral preenchem funes que no so destitudas de importncia para
a estabilizao e o desenvolvimento de uma cultura poltica liberal.
Isso vale especialmente para a religio civil que se desenvolveu assaz
na sociedade americana.
23
Paul Weithmannaproveita tais elementos sociolgicos para uma
anlise normativa do etos do cidado do Estado. Ele descreve igrejas
e comunidades religiosas como atores da sociedade civil que
desempenham pressuposies necessrias para a sobrevivncia da
democracia americana. Tais comunidades fornecem argumentos para
o debate pblico dos temas que envolvem a moral e assumem tarefas
da socializao poltica, a partir do momento em que veiculam
informaes para os seus membros e os motivam participao
poltica. Entretanto, e esse o argumento, o engajamento civil das
igrejas ficaria comprometido se elas tivessem que adotar o "Proviso"
rawlsiano e decidir, a cada passo, entre valores polticos e religiosos -
se estivessem obrigadas a procurar, para cada exteriorizao religiosa,
um equivalente numa linguagem acessvel em geral. Por isso, o Estado
liberal teria de renunciar, por razes funcionais, ao desejo de impor s
igrejas e comunidades religiosas esse tipo de autocensura. Com muito
: 2
BI RNBAUM, N. \s:| 1.- |s:| Stuttgar t-Munique, 2003.
" Cf. a pesquisa influente de BELLAH, R., MADSEN, R SULLI VAN, W. M.,
SW1DLER, A., TIPTON, St. M. hs|s /|. h.s Ber keley, 1985. Sobr e
os t r abalhos de Bellah r elacionados a esse t ema cf. MADSON, R.,
SULLI VAN, W. M., SWI NDLER, A. e TIPTON, St. M. (eds.) 4.s++ s+1
41.+; |.|+ ||; s+1 .|/ Ber keley, 2003.
141
mais razo, ele no podersubmeter seus prprios cidados a tal
restrio.
24
Esta no , evidentemente, a objeo central. Independentemente
do modo como os interesses envolvidos na relao entre Estado e
organizaes religiosas estejam distribudos, um Estado no pode
impor aos cidados, aos quais garante liberdade de religio, obrigaes
que no combinam com uma forma de existncia religiosa - porquanto
ele no pode exigir deles algo impossvel. Tal objeo merece ser
aprofundada.
Robert Audi revestiu o dever virtuoso da civilidade, postulado
por Rawls, com a roupagem de um "princpio de justificao secu-
lar": "Ningum tem prima facie obrigao de defender ou de suportar
qualquer tipo de lei ou poltica pblica (...) a no ser que tenha razes
seculares ou esteja disposto a oferecer tal tipo de razes para a defesa
ou a 'tolerncia'".
25
Audi anexa a esse princpio a seguinte exigncia: os argumentos
seculares devem ser, independentemente dos motivos religiosos que
correm paralelamente, suficientemente fortes, pois, do contrrio no
poderiam ser decisivos para um comportamento prprio tal como,
por exemplo, o voto nas eleies polticas.
26
Na avaliao tico-poltica
de um cidado em particular a coeso entre os motivos reais da ao
24
Sobr e esse ar gumento emprico cf. WEITHMANN, P. J. Religionand the Obli-
gat ions of Cit izenship. Oxfor d, 2002, 91: " Eu ar gumentei que as igr ejas
contr ibuem para a democr acia nos Estados Unidos pr omovendo a cidadania
democrtica. Elas encor ajam seus membr os a aceitar valor es democrticos como
a base par a decises polticas impor tantes e a par a aceit ar inst it uies
democrticas como legit imadas. Os meios pelos quais elas fazem suas
cont r ibuies, incluindo suas prprias inter venes na ar gumentao cvica e
no debate poltico pblico afetam os ar gumentos polticos que os seus membr os
tendem a usar, a base sobr e a qual eles votam e a especificao de sua cidadania
com a qual eles se identificam. Eles podem encor ajar seus membr os a pensar a
si mesmos como ligados por nor mas mor ais dadas pr eliminar mente com as os
r esultados finais da poltica tm de ser consistentes. A concr etizao da cidadania
entr e aqueles que so autor izados legalmente a tomar parte na for mao das
decises polticas constitui um enor me feito para a democr acia liber al, no qual
as instituies da sociedade civil desempenham um papel cr ucial" .
25
AUDI e WOLTERSTORFF (1997), 25.
142
e os argumentos oferecidos publicamente pode ser relevante; no
entanto, ela irrelevante sob o ponto de vista sistemtico da
contribuio a ser dada pelos cidados na esfera pblica poltica para
a manuteno de uma cultura poltica liberal. Porquanto, no final das
contas, somente os argumentos manifestos tm conseqncias
institucionais decisivas para a formao da maioria e para a busca da
deciso no interior das corporaes polticas.
No tocante s conseqncias propriamente polticas, "contam"
todos os temas, posicionamentos, informaes e argumentos que en-
contram eco nos crculos annimos da comunicao pblica e
contribuem de alguma forma para a motivao cognitiva de certas
decises (implementadas com o poder do Estado) - seja imediata-
mente, quando se trata da votao de cidados que tomam parte em
eleies, seja indiretamente, quando estem jogo a deciso de parla-
mentares ou detentores de cargos pblicos (tal como juizes, ministros
ou funcionrios da administrao). Prescindo, por esse motivo, da
exigncia de uma motivao suplementar, de Audi. Tampouco distingo
entre argumentos exteriorizados publicamente e outros que servem
de motivo no momento em que algum se encontra perante a uma
eleitoral.
27
Para a verso standard essencial apenas a exigncia de
uma "justificao secular": uma vez que, no Estado secular, contam
somente argumentos seculares, os cidados crentes so obrigados a
estabelecer, entre suas convices religiosas e seculares, uma espcie
de "equilbrio" tico e teolgico (theo-ethical equilibrium)}*
26
Ibid., 29.
27
Tal difer enciao leva tambm Paul Weit hman a difer enciar , de modo
cor r espondent e, a sua pr oposta modificada. Cf. WEI THMANN (2002), 3.
28
Nesse meio t empo Rober t Audi intr oduziu um cont r apeso ao princpio da
j ust ificao secular : " Em democr acias liber ais, cidados r eligiosos tem -s
/s:. uma obr igao de no advogar ou suportar qualquer tipo de lei ou poltica
pblica [..] a no ser que tenham ar gumentos adequados e r eligiosament e
aceitveis para essa (advocacia) ou supor te e est ej am dispost os a ofer ec-
los." Tudo indica que esse princpio da j ust ificao r eligiosa pr etende impoV
aos cidados que se deixam or ientar +:s|-.+. por ar gument os r eligiosos
a obr igao da aut ocer t ificao crtica.
143
Contra tal exigncia objeta-se que muitos cidados religiosos
no poderiam concretizar tal diviso artificial da prpria conscincia
sem colocar em jogo sua prpria existncia piedosa. necessrio
estabelecer uma distino entre tal objeo e a constatao emprica,
segundo a qual, muitos cidados que se posicionam quanto a questes
polticas, assumindo uma perspectiva religiosa, no tm idias nem
conheci ment os sufi ci ent es para encont rar fundament aes
seculares independentes de suas convices autnticas. E uma vez
que um dever pressupe sempre um determinado poder, tal fato j
se reveste de importncia. No entanto, a objeo central adquire
denotaes normativas. Ela se refere ao papel integral, isto ,
"posi o" que a religio assume na vida das pessoas crentes.
Porquanto a pessoa piedosa encara sua existncia "a partir" da f.
E a f verdadeira no apenas doutrina, contedo no qual se cr,
mas tambm fonte de energia da qual se alimenta a vida inteira do
crente.
29
No obstante isso, tal caracterstica totalizadora de uma forma
de crena que se infiltra nos poros da vida cotidiana ope-se, segundo
o teor a objeo, a qualquer tipo de transposio de convices polticas
enraizadas na religio para uma outra base cognitiva: "Faz parte das
convices religiosas das pessoas religiosas em nossa sociedade o
fato de que elas devem basear suas decises concernentes a questes
fundamentais de justia em suas convices religiosas. Elas no podem
ver isso como uma opo qualquer entre fazer ou no fazer certas
coisas. A sua prpria convico as obriga a se esforar para atingir a
completude, a integridade e a integrao em suas vidas: elas devem
permitir que a palavra de Deus, o ensino da Torah, os mandamentos e
o exemplo de Jesus, e semelhantes configurem sua existncia como
um todo incluindo, a seguir, sua existncia social e poltica."
30
Sua
concepo de justia, fundada na religio, lhes ensina o que
Sobre a distino agostiniana entre /1.s +s. :.1+ e /1.s +s :.1+ cf.
BULTMANN, R. I|.|s:|. |+,;||u1. Tubinga, 1984, Anexo 3:
" Ver dade e certeza", 183 ss.
WOLTERSTORF in: AUDI e WOLTERSTORF, (1997), 105.
144
politicamente correto ou incorreto, de tal sorte que eles so incapazes
de "discernir entre razes seculares e razes 'pu//'".
31
Caso aceitemos tal objeo, que considero convincente, o Estado
liberal, que protege expressamente tais formas de vida mediante a
garantia da liberdade de religio, no pode esperar, ao mesmo tempo,
que todos os crentes fundamentem seus posicionamentos polticos
dei xando inteiramente de lado suas convices religiosas ou
metafsicas sobre o mundo. Tal exigncia estrita s pode ser dirigida
aos polticos que assumem mandatos pblicos ou se candidatam a
eles e que, por esse fato, so obrigados a adotar a neutralidade no que
tange s vises de mundo.
32
Tal neutralidade do exerccio do poder constitui uma pressupo-
sio institucional necessria para uma garantia simtrica da liberdade
de religio. O consenso constitucional que se estabelece entre os
cidados, atinge tambm o princpio da separao entre Igreja e Estado.
Entretanto, a transposio desse princpio de cunho institucional para
posicionamentos de organizaes e de cidados na esfera pblica
poltica em geral constitui, luz da objeo central, hpouco exposta,
uma generalizao excessiva. O carter secular do poder do Estado
31
WEI THMANN, (2002), 157
" Es s e fato levanta a seguinte questo interessante: at que ponto os candidatos
numa campanha eleitoral podem apresentar-se como pessoas religiosas? O
princpio da separao entre Igreja e Estado se est ende, em todo caso,
plataforma, ao programa ou "linha" que pretende ser seguida pelos partidos
polticos e por seus candidatos. Do ponto de vista normativo, as eleies que
se orientam mais por caractersticas pessoais do que por questes objetivas
so problemticas. E a quest o fica ainda mais problemtica quando os
eleitores se orientam pela auto-apresentao religiosa dos candidatos. Cf.
nesse contexto as consideraes de Paul WEI THMANN (2002), 117-120:
"Seria bom que houvesse princpios que mostrassem claramente qual a
funo a ser desempenhada pela religio quando os candidatos so avaliados
por aquilo que podemos caracterizar como seus ' valores expressi vos' - sua
adequao para expressar os valores de seu eleitorado [...]. Entretanto, o
mais importante nesses casos lembrar que as eleies no deveriam ser
decididas inteiramente ou primariamente na base dos valores expressivos
dos diferentes candi dat os" (12).
145
no implica, para o cidado em particular, uma obrigao pessoal e
imediata de complementar suas convices religiosas, publicamente
exteriorizadas, e de traduzi-las por meio de equivalentes em uma
linguagem acessvel em geral. E a expectativa normativa, segundo a
qual todos os cidados religiosos, ao votarem, devem deixar-se
conduzir por consideraes seculares, no tem nada a ver, em ltima
instncia, com a realidade de uma existncia conduzida pela f. Tal
afirmao foi, no entanto, questionada dado o fato de o crente estar
situado no entorno secular diferenciado da sociedade moderna.
11
O conflito entre convices religiosas prprias e polticas ou
propostas de lei, seculares, spode surgir porque o cidado religioso
j aceitou antes, apoiado em boas razes, a constituio do Estado
secular. Ele no vive mais, enquanto membro de uma populao
r el i gi osament e homognea, numa ordem estatal l egi t i mada
religiosamente. Por isso, as certezas da f, religiosas, esto entrelaadas
com convices falveis de natureza secular, tendo perdido, h muito
tempo, sua suposta imunidade em relao a moventes "no movidos"
(unmoved), porm, no "inamovveis" (unmovable).
M
De fato, as
certezas da f esto expostas, na estrutura diferenciada da sociedade
moderna, a uma presso crescente da reflexo. Todavia, convices
existenciais enraizadas na religio esquivam-se - por meio de sua
referncia, que s vezes racional, autoridade dogmtica de um
ncleo intocvel de verdades infalveis da revelao - das formas de
abor dagem di scursi va irrestrita, s quais se expem outras
cosmovises e formas de orientao tica da vida, isto , "concepes
mundanas" do bem.
15
" SCHMI DT, Th. M. "Glaubensberzeugungenund skulare Grnde", in:
/.s:|/ /u |.s+.|s:|. ||| cad. 4, 2001, 248-261.
34
Schmidt apoia sua obj eo em GAUS, Ger ald F. |+s/:s; ||.s|s-
New Yor k, 1996.
" Esse status especial probe, alm do mais, uma equipar ao nor mativa e poltica
entr e convices r eligiosas e ticas, confor me suger ido por FORST, Rainer
(1994, 152-161). Nesse texto ele coloca em segundo plano a distino entre
ar gumentos secular es e r eligiosos, dando pr efer ncia a critrios pr ocedimentais
da justificao em detr imento de critrios conteudsticos. Sabemos a fortiori
146
Em determinadas interpretaes, aextraterritorialidade discursiva
de um ncleo de certezas existenciais pode emprestar s convices
religiosas um carter integral. Em todo caso, o Estado liberal que pro-
tege de igual modo todas as formas religiosas de vida, no pode obrigar
os cidados religiosos a levarem a cabo, na esfera pblica poltica,
uma separao estrita entre argumentos religiosos e no-religiosos
quando, aos olhos deles, esta tarefa pode constituir um ataque sua
identidade pessoal.
(4) O Estado liberal no pode transformar a exigida separao
institucional entre religio e poltica numa sobrecarga mental e
psicolgica insuportvel para os seus cidados religiosos. Entretanto,
eles devem reconhecer que o princpio do exerccio do poder neutro
do ponto de vista das vises de mundo. Cada um precisa saber e aceitar
que, alm do limiar institucional que separa a esfera pblica informal
dos parlamentos, dos tribunais, dos ministrios e das administraes,
scontam argumentos seculares. Para se entender isso no se necessita
nada alm da capacidade epistmica, a qual permite no somente
observar criticamente convices religiosas prprias a partir de fora,
mas tambm conect-las com compreenses seculares. To logo
participam de discusses pblicas, cidados religiosos podem
reconhecer tal "reserva de traduo institucional" sem que haja
necessidade de dividir sua identidade em partes privadas e pblicas.
Por isso, eles deveriam poder expressar, e fundamentar, suas
convices em uma nguagem religiosa mesmo quando no encontram
para tal uma "traduo" secular.
Isso no deve alienar das decises polticas os cidados "de uma
slinguagem" porque mesmo quando aduzem razes religiosas esto
assumindo posio em sentido poltico.
16
Mesmo que a linguagem
religiosa seja a nica que eles falam e mesmo que as opinies com
que no possvel chegar a um consenso fundamentado, porm, apenas quando
se trata de inter pr etaes r eligiosas conflitivas. O prprio For st chega mais tarde
a concluses semelhantes, in: FORST (2003), 644 ss.
Refir o-me a uma obj eo que Rainer For st fez por escr it o numa car ta.
147
fundo religioso sejam as nicas que eles possuem para contribuir para
a controvrsia poltica, eles se entendem como membros de uma
"cidade terrena" (civitas terrena) que os autoriza enquanto autores
das leis s quais eles esto sujeitos como destinatrios. Uma vez que
eles podem manifestar-se numa linguagem religiosa apenas sob a
condi o do r econheci ment o da "ressal va de uma t raduo
institucional", eles podem, apoiados na confiabilidade das tradues
cooperativas de seus concidados, entender-se como participantes do
processo de legislao, mesmo que os argumentos decisivos nesse
processo sejam seculares.
A admi sso de exteriorizaes religiosas no-traduzidas
referentes a temas da esfera pblica poltica no se justifica apenas
normativamente pela no-imputabilidade da reserva rawlsiana para
crentes que no podem privar-se do uso poltico de argumentos tidos
como privados, isto , no-polticos, sem colocar em risco seu modo
de viver religioso. Porquanto existem, alm disso, argumentos
funcionais que probem uma reduo precipitada da complexidade, a
qual vem sempre acompanhada de muitas vozes. O Estado liberal
possui, evidentemente, um interesse na liberao de vozes religiosas
no mbito da esfera pblica poltica bem como na participao poltica
de organizaes religiosas. Ele no pode desencorajar os crentes nem
as comunidades religiosas de se manifestarem tambm, enquanto tal,
de forma rx>ltica porque ele no pode saber de antemo se a proibio
de tais manifestaes no estaria privando, ao mesmo tempo, a
sociedade de recursos importantes para a criao de sentido. Os
prprios cidados seculares como tambm os crentes de outras deno-
minaes podem, sob certas condies, aprender algo das contribuies
religiosas, tal como acontece, por exemplo, quando eles conseguem
reconhecer, nos contedos normat i vos de uma det ermi nada
exteriorizao religiosa, certas intuies que eles mesmos compar-
tilham, as quais, porm, foram olvidadas, s vezes, h muito tempo.
As tradies religiosas possuem poder de aglutinao especial
no trato de intuies morais principalmente no que tange a formas
sensveis de uma convivncia humana. Tal potencial faz do discurso
religioso que vem tona em questes polticas referentes religio
148
um candidato srio a possveis contedos de verdade, os quais podem
ser, ento, tomados do vocabulrio de uma determinada comunidade
religiosa e traduzidos para uma linguagem acessvel em geral.
Entretanto, os limiares institucionais que se colocam entre uma esfera
pblica poltica "selvagem" e as corporaes estatais criam, na
confuso das vozes dos crculos da comunicao pblica certos filtros,
os quai s, no ent ant o, so cunhados apenas para dar vazo a
contribuies seculares. No parlamento, por exempl o, a ordem
agendada deve permitir ao presidente retirar da ordem do dia
posicionamentos ou justificativas religiosas. Para no se perder os
contedos de verdade de exteriorizaes religiosas, necessrio, por
isso, que a traduo jtenha ocorrido antes, no espao pr-parlamentar,
ou seja na prpria esfera pblica poltica.
Tal trabalho de traduo tem de ser entendido, no entanto, como
uma tarefa cooperativa da qual participam igualmente cidados no-
religiosos. Caso contrrio, os concidados religiosos desejosos e
capazes de participar seriam sobrecarregados de modo assimtrico."
Entretanto, os cidados religiosos podem manifestar-se em sua prpria
linguagem, porm, com a ressalva da traduo; tal fardo compensado
pela expectativa normativa segundo a qual, os cidados seculares se
abrem a um possvel contedo de verdade de contribuies religiosas
" Nesse sent ido Rainer FORST (1994, 158) tambm fala em uma " tr aduo"
quando exige que " uma pessoa deve estar em condies de s1+, [o itlico
do t ext o or iginal] aos poucos seus ar gument os em r azes aceitveis na
base de valor es e princpios da r azo pblica." Todavia, ele no consider a a
tr aduo como uma busca cooper ativa da ver dade da qual par ticipam cidados
secular es mesmo quando a outr a par te se limita a ext er ior izaes r eligiosas.
For st for mula a exigncia, seguindo Rawls e Audi, como um dever cidado
par a a prpria pessoa r eligiosa. No mais, a det er minao pur ament e
pr ocediment al do tr abalho de tr aduo com o obj et ivo de uma " j ust ificao
ger al e recproca" no consegue fazer j us ao pr oblema semntico da
t r ansmisso de contedos do discur so r eligioso par a uma for ma de
r epr esentao ps-religiosa e ps-metafsica. Dest a maneir a, a diferena en-
tre o discur so tico e o discur so r eligioso se per de. Cf., por exemplo, ARENS,
E. |--++|s.. hs+1|++.+ Dsseldorf, 1982. Nesse t ext o, o autor
inter pr eta parbolas da Bblia como aes de fala inovador as.
149
e ent ram em dilogos nos quais as razes religiosas podem,
eventualmente, aparecer como argumentos acessveis em geral.
18
Cidados de uma comunidade democrtica devem fundamentar seus
posicionamentos, polticos e recprocos, lanando mo de argumentos.
Apesar de no passarem por uma censura na esfera pblica poltica,
as contribuies religiosas dependem, mesmo assim, de trabalhos
cooperativos de traduo. Porquanto, sem uma traduo bem-sucedida,
o contedo das vozes religiosas no conseguiria entrar, de forma
alguma, nas agendas e negociaes das instituies estatais, o que as
impediria de "influenciar" o processo poltico ulterior. Nicholas
Wolterstorff e Paul Weithmanngostariam de eliminar, inclusive, esta
ltima ressalva. Ao assumirem tal atitude, no entanto, eles no somente
se posicionam contra a sua prpria pretenso, que consiste em trabalhar
com premissas liberais, mas tambm contra o princpio da neutralidade
do poder do Estado, o qual no pode assumir nenhuma viso de mundo
em detrimento de outras.
Na compreenso de Weithman, os cidados tm, do ponto de
vista moral, um direito a posicionamentos polticos fundamentados
no contexto de uma doutrina religiosa ou de uma determinada viso
de mundo. Nesse caso, porm, eles precisam cumprir duas exigncias,
a saber: estar convencidos de que seu governo estjustificado a
implementar leis e polticas que eles mesmos apoiam em argumentos
religiosos ou vises de mundo; e eles tm de estar preparados para
explicar por que eles acreditam nisso. Tal ressalva (Proviso)
39
mitigada
desemboca na exigncia de fazer um teste de generalizao na
perspectiva da primeira pessoa. Com isso, Weithmangostaria de
HABERMAS, J. " Glaubenund Wissen" , in: s/.1s+s.+ Fr ankfur t/M.,
2003, 249-263, aqui 256 ss.
WEI THMAN (2002), 3: " Os cidados de uma democr acia liber al podem
ofer ecer ar gument os nos debat es polticos pblicos que dependem de r azes
esboadas a partir de suas vises mor ais compr eensivas, incluindo suas vises
r eligiosas que no podem ser (melhor adas) apelando para outr os tipos de
ar gument os - contanto que eles acr editem que seu gover no gostar ia de adotar
tais medidas que est ej am pr epar ados para indicar que o que eles pensam
poder ia j ust ificar a adoo de medidas."
150
assegurar que os cidados emitam o seu julgamento sob pontos de
vista de uma concepo da justia, fundada na religio ou numa viso
de mundo. Eles devem refletir, na perspectiva da sua respectiva
doutrina, sobre o que igualmente bom para todos. Em que pese isso,
a regra de ouro no deve ser procurada num imperativo categrico.
Porque ela no obriga assuno recproca de perspectivas, por parte
de todos os atingidos.
40
De acordo com tal procedimento, aplicado de
modo egocntrico, a perspectiva de uma viso de mundo prpria forma
o horizonte no-ultrapassvel das consideraes sobre a justia: "A
pessoa que pleiteia uma medida em pblico tem de estar preparada
para dizer o que poderia, segundo ela, justificar o governo a decret-
la; no entanto, a justificao que ela estdisposta a oferecer pode
depender de pretenses, incluindo pretenses religiosas, que os propo-
nentes podem considerar inacessveis numa abordagem standard."**
Uma vez que no esto previstos filtros institucionais, essa
premissa no exclui que certas polticas e programas de leis possam
vir a ser implementadas, pelo simples fato de que determinadas
convices religiosas ou confessionais obtm maioria. Nicholas
Wolterstorff, que pretende liberar o caminho para a utilizao poltica
de razes religiosas, chega seguinte concluso: o legislador poltico
tambm deve poder servir-se de argumentos religiosos.
42
Todavia, a
abertura do parlamento para a disputa em torno de certezas da f pode
transformar o poder do Estado num agente de uma maioria religiosa,
a qual impe sua vontade ferindo o procedimento democrtico.
Certamente no ilegtima, no meu entender, a prpria votao
democrtica, realizada de modo correto, mas a transgresso de um
outro componente essencial do procedimento, a saber, o carter
discursivo das deliberaes em curso. Ilegtima a transgresso do
princpio da neutralidade do exerccio do poder poltico, segundo o
40
HABERMAS, J. " Vom pr agmatischen, et hischenund mor alischenGebr auch
der pr aktischenVer nunft" , cap. IV, in: id., ||s+.++.+ ,+ bs|+s.||
Fr ankfur t/M., 1991, 112-115.
41
WEI THMAN (2002), 121. (O for mato itlico foi intr oduzido por mim).
42
AUDI e WOLTERSTORFF, (1997), 117 s.
151
qual, todas as decises implementadas pelo poder do Estado tm de
ser formuladas e justificadas numa linguagem acessvel a todos os
cidados, sem tomar partido por nenhum tipo de viso de mundo.
Durante o processo de formao poltica da opinio e da vontade, o
poder da maioria transforma-se em represso quando uma maioria
que utiliza argumentos religiosos nega s minorias seculares ou aos
que so de outras denominaes a possibilidade de reproduzir
discursivamente as justificaes que lhe so devidas. O procedimento
democrtico extrai sua fora de legitimao de seu prprio carter
deliberativo e da incluso de todos os participantes; pois sobre esse
carter que se fundamenta a suposio, fundamentada, dos resultados
racionais in the long run (no longo prazo).
A proporo que rejeita a limine o princpio de legitimao de
um consenso constitucional apoiado sobre argumentos, Wolterstorff
antecipa-se a tal objeo. Na perspectiva de uma democracia liberal,
no entanto, o poder pohtico consegue disfarar sua essncia dominativa
por meio de uma ligao, juridicamente cogente, a princpios de
exerccio do poder suscetveis de um assentimento geral.
43
Contra tal
posio, Wolterstorff levanta algumas objees empiristas. Ele
ridiculariza as suposies idealizadoras embutidas nas prprias prticas
do Estado constitucional considerando-as "quaker meeting ideal"
(mesmo que o princpio de afinao dos Quaker no seja tpico de um
procedimento democrtico). Ele parte da idia de que a disputa entre
concepes diferentes sobre a justia, isto , concepes fundadas na
religio, de um lado, e em vises de mundo, de outro lado, no pode
ser dissolvida quando se assume, em comum, a idia de um consenso
que se coloca como pano de fundo, por mais formal que seja tal
assuno. Ele admite, verdade, o princpio da maioria, remanescente
do consenso constitucional liberal. Sem embargo, Wolterstorff
43
RAWLS (1994), 137: " Nosso exerccio do poder poltico sserinteir amente
apr opr iado quando for exer cido em acor do com uma const it uio cuj os
element os essenciais possam ser endossados r azoavelment e, luz de
princpios e ideais aceitveis, por sua r azo humana comum, por t odos os
cidados enquanto livr es e iguais.
152
representa cognitivmente o tipo de convivncia irreconcilivel -
assegurada por decises da maioria - de coletividades religiosas com
coletividades amparadas em vises de mundo opostas, como adaptao
a um determinado modus vivendi, a qual "aceita" contra a vontade:
"Eu no concordo, eu simplesmente aquieso - a no ser que a deciso
me parea realmente horrorosa".
44
No fica claro como tal premissa possa evitar o risco de a
comunidade poltica ser dilacerada por guerras de f. Certamente, a
concepo empirista da democracia liberal sempre interpretou as
decises da maioria como a submisso temporria de uma minoria
sob o poder ftico do partido mais numeroso.
45
Entretanto, segundo
tal teoria, a aceitao do procedimento da votao se explica pela
disposio dos partidos em negociar um compromisso; mesmo assim,
eles concordam, apesar de tudo, em aceitar a circunstncia de que
cada um deles se orienta pelas prprias preferncias pela maior
participao possvel em bens bsicos tal como dinheiro, segurana
ou lazer. E uma vez que todos desejam os mesmos tipos de bens
compartilhveis, podem assumir compromissos. No obstante, tal
categoria no mais preenchida a partir do momento em que a irrupo
dos conflitos no acontece mais no mbito de bens bsicos consentidos,
mas na esfera de bens salvficos concorrentes. Ora, os conflitos
existenciais sobre valores entre comunidades de f no se prestam a
compromissos. Tais conflitos somente podem ser desarmados por uma
despolitizao que lana mo de princpios constitucionais, ante o
pano de fundo de um consenso que se supe ser comum.
( 5) No possvel aplainar cognitivamente a concorrncia entre
doutrinas religiosas e vises de mundo que pretendem explicar a
posio do homem na totalidade do mundo. To logo, porm, tais
dissonncias cognitivas se infiltram nas bases da convivncia dos
cidados, regulada normati vmente, a comunidade poltica se segmenta
44
WOLTERSTORFF (1997), 160.
45
Na tr adio de Hayek e Popper cf., por exemplo, BECKER, W. b. |.|.
1. -.+.+ Munique, 1982.
153
em comunidades religiosas e comunidades que adotam vises de
mundo irreconciliveis, as quais oscilam sobre o solo de um modus
vivendi fragmentado. Sem o lao unificador de uma solidariedade, a
qual no pode ser imposta por normas do direito, os cidados no
conseguem entender-se como participantes, com iguais direitos, de
uma prtica comum que possibilita a formao da opinio e da vontade
na qual uns devem aos outros argumentos para seus posicionamentos
polticos. Tal reciprocidade das expectativas de cidados do Estado
diferencia uma comunidade liberal, a qual integrada por uma
constituio, de uma comunidade segmentada por vises de mundo.
Uma comunidade segmentada dispensa cidados crentes e seculares,
no seu trato recproco, da obrigao recproca de justificar seus
posicionamentos quanto a questes polticas controversas. E uma vez
que, aqui, as convices tcitas e ligaes subculturais sobrepujam o
consenso constitucional suposto, bem como a esperada solidariedade
de cidados do Estado, em conflitos mais srios os cidados no
precisam relacionar-se entre si na qualidade de segundas pessoas.
Parece que a indiferena recproca e a renncia reciprocidade
se justificam pelo fato de o Estado liberal cair numa contradio quando
imputa a todos os cidados, simetricamente, um etos poltico que
distribui desigualmente entre eles o nus cognitivo. A precedncia
institucional, bem como a ressalva da traduo que favorece os
argumentos seculares, exige dos cidados religiosos uma operao de
aprendizado e de adaptao, da qual os cidados seculares esto isentos.
Em todo caso, a observao emprica parece confirmar que tambm
no interior das igrejas se desenvolveu, durante muito tempo, um certo
ressentimento contra a neutralidade do Estado - que no pode tomar
partido quanto a vises de mundo - porque o dever de "utilizar
publicamente a razo" s pode ser cumprido sob determinadas
pressuposies cognitivas. Tais enfoques epistmicos so, todavia,
expresso de uma mentalidade jdada; eles no se deixam transformar,
semelhana dos motivos, em contedo de expectativas normativas
ou de apelos polticos virtude. Qualquer "dever ser" (Sollen)
pressupe sempre um "ser capaz de" (Knnen). As expectativas
vinculadas ao papel da cidadania democrtica diluem-se no vazio
154
quando no h uma correspondente mudana de mentalidade; e nesse
caso, elas apenas despertam ressentimentos por parte daqueles que se
sentem sobrecarregados e mal-compreendidos.
De outro lado, podemos observar na cultura ocidental, desde a
poca da Reforma e do Iluminismo, uma mudana real na forma da
conscincia religiosa. Os socilogos descrevem tal "modernizao"
como uma resposta da conscincia religiosa a trs desafios da
modernidade, a saber: o fato do pluralismo religioso; a ascenso das
cincias modernas; e a disseminao do direito positivo e da moral
social profana. As comunidades de f, tradicionais, vem-se obrigadas,
sob tais aspectos, a processar dissonncias cognitivas que no se
colocam para cidados seculares ou que se colocam apenas quando
estes tambm seguem doutrinas ancoradas em dogmas:
- Os cidados religiosos precisam encontrar um enfoque
epistmico que seja aberto s vises de mundo e s religies estranhas,
as quais eles, at o momento, conheciam apenas por intermdio do
universo discursivo adotado pela religio qual pertencem. Isso pode
dar certo proporo que correlacionarem, de modo auto-reflexivo,
suas prprias idias religiosas com as asseres de doutrinas salvficas
concorrentes, sem colocar em risco a prpria pretenso de verdade,
que exclusiva.
- Os cidados religiosos precisam encontrar, alm disso, um
enfoque epistmico aberto ao sentido prprio do saber secular e ao
monoplio do saber de especialistas, institucionalizado socialmente.
E isso s pode acontecer quando eles determinarem, a partir de sua
viso religiosa, a relao entre contedos de f dogmticos e saber
secular sobre o mundo de tal modo que os progressos do conhecimento
autnomo no entrem em contradio com as asseres relevantes
para a salvao.
- Os cidados religiosos precisam assumir, finalmente, um
enfoque epistmico para encarar os argumentos seculares que gozam
de precedncia na arena poltica. E isso s possvel medida que
conseguirem inserir, de modo convincente, o individualismo igualitrio
do direito da razo e da moral universalista no contexto de suas
respectivas doutrinas abrangentes.
155
Tal trabalho da auto-reflexo hermenutica tem de ser realizado
pelo ngulo de uma autopercepo religiosa. Em nossa cultura, ele foi
realizado essencialmente pela teologia; e na vertente catlica houve,
alm disso, uma filosofia da religio, de cunho apologtico, cuja tarefa
consiste em explicar a razoabilidade da f.
46
Em ltima instncia, no
entanto, quem decide se uma determinada elaborao dogmtica dos
desafios cognitivos da modernidade foi bem sucedida, a prtica da
fdas comunidades; somente ento ela pode ser entendida pelos crentes
como um "processo de aprendizagem". A luz de condies modernas
de vida, para as quais no temos alternativas, novos enfoques
epistmicos so "aprendidos" quando resultarem de uma reconstruo
de verdades de ftransmitidas, a qual se toma evidente para os prprios
participantes. Se esses enfoques resultassem apenas de simples
domesticaes ou de processos de adaptao impostos, a questo sobre
o modo como as pressuposies cognitivas devem ser preenchidas
para que se tenha imputabilidade do etos da cidadania igualitria teria
de ser respondida no sentido de Foucault, isto , elas seriam
conseqncia de um poder do discurso que se impe na aparente
transparncia do saber esclarecido. Tal resposta, no entanto, estaria
certamente em contradio com a autocompreenso normativa do
Estado constitucional democrtico.
Nesse cont ext o, interessante focalizar a pergunt a que
permaneceu em aberto: serque a concepo de cidadania, por mim
46
Graas cor r espondncia com Thomas M. Schmidt, descobr i que a filosofia da
r eligio, desenvolvida por uma ver tente no-agostiniana que no se coloca a
servio de uma autoglor ificao da r eligio, no fala, como a t eologia, " em
nome" de uma r evelao r eligiosa, mas tambm no fala simplesmente como se
for a uma mer a " obser vador a da r eligio" . Cf. tambm sobr e isso LUTZ-
BACHMANN, M. " Religion-Philosophie-Religionsphilosophie" , in: J UNG M.,
MOXTER, M. e SCHMIDT, Th. M. (eds.). |.|+s||s|. Wrzburg,
2000, 19-26. No lado pr otestante Fr iedr ich Schleier macher desempenha um
papel exemplar . De incio, ele separ ou cuidadosamente o papel do telogo e do
filsofo apologeta da r eligio (o qual sai da tr adio tomista para adotar a da
filosofia tr anscendental, de Kant); a seguir , ele adota pessoalment e essas duas
per spectivas. Cf. a intr oduo sua dogmtica cr ist: b. :|s|:|. 0|s+|.
(1830/31), Ber lim, 1999, 1-10.
156
sugerida, no impe s tradies religiosas e s comunidades religiosas
um fardo que continua sendo, apesar de tudo, assimtrico? Do ponto
de vista histrico, os cidados religiosos tiveram de aprender a adotar
enfoques epistmicos em relao ao seu entorno secular, os quais so
assumidos sem nenhum esforo pelos cidados seculares. Porquanto
estes no se vem expostos a semelhantes dissonncias cognitivas.
Mesmo assim, eles no conseguem fugir inteiramente de um fardo
cognitivo, j que uma conscincia secularista no suficiente para o
trato cooperativo com concidados religiosos. Tal operao de
adaptao cognitiva deve ser diferenada da exigncia de tolerncia,
seja ela moral ou poltica, que os cidados devem demonstrar no trato
com pessoas crentes ou que tm crenas diferentes. No que se segue,
no se trata da atitude respeitosa para com uma possvel significao
existencial da religio, a qual se espera dos prprios cidados seculares,
mas da superao auto-reflexiva de uma aut ocompreenso da
modernidade, exclusiva e esclerosada em termos secularistas.
Enquanto os cidados seculares estiverem convencidos de que
as tradies religiosas e as comunidades religiosas constituem apenas
uma relquia arcaica de sociedades pr-modernas, mantidas na
sociedade atual, eles consideraro a liberdade de religio apenas como
uma proteo cultural para espcies naturais em extino. Na sua viso,
a religio no possui mais uma justificao interna. Nesta linha de
raciocnio, o prprio princpio da separao entre Igreja e Estado s
pode ter o sentido laicista de um indiferentismo preservador. No modo
de ler secularista, possvel prever que as vises de mundo religiosas
dissolver-se-o luz da crtica cientfica e que as comunidades
religiosas sucumbiro s presses de uma modernizao social e cul-
tural, a qual cada vez mais intensa. evidente que no se pode
exigir de cidados que assumem tal enfoque epistmico em relao
religio que levem a srio contribuies religiosas para disputas
polticas nem que examinem o seu contedo - na perspectiva de uma
busca cooperativa da verdade - o qual pode ser eventualmente expresso
numa linguagem secular e justificado num discurso fundante.
Todavia, sob premissas normativas de um Estado constitucional
e de um etos de cidados do Estado democrtico, a admisso de
157
exteriorizaes religiosas na esfera pblica poltica s passa a ser
razovel quando se exige de todos os cidados que no excluam a
possibilidade de um contedo cognitivo dessas contribuies -
respeitando, ao mesmo tempo, a precedncia de argumentos seculares,
bem como a ressalva da traduo institucional. Tal a pressuposio
normal dos cidados religiosos; no mbito dos cidados seculares, no
entanto, isso pressupe uma mentalidade que ainda no auto-evidente
nas sociedades secularizadas do Ocidente. A compreenso perspicaz
de cidados seculares, de que preciso viver numa sociedade ps-
secul ar sintonizada epistemicamente com a sobrevivncia de
comunidades religiosas, depende de uma mudana de mentalidade
cujas pretenses no so menores do que as de uma conscincia
religiosa que precisa adaptar-se aos desafios do entorno que se
seculariza cada vez mais. De acordo com as medidas de um esclareci-
mento que se assegura criticamente dos prprios limites, os cidados
seculares interpretam sua no-concordncia com vises religiosas
como sendo um dissenso razovel que pode ser esperado de antemo.
Sem tal pressuposio cognitiva, no se pode exigir nenhuma
expectativa normativa de um uso pblico da razo, em todo caso, no
no sentido de que os cidados seculares iro tomar parte numa
discusso poltica sobre o contedo de contribuies religiosas com a
inteno de traduzir, eventualmente, intuies morais e argumentos
convincentes para uma linguagem acessvel a todos. Pressupe-se um
enfoque epistmico que resulta da certificao autocrtica dos limites
da razo secular.
47
Tal pressuposio significa que o etos democrtico
de cidados do Estado (na interpretao por mim sugerida) s pode
ser imputado simetricamente a todos os cidados se estes, tanto os
seculares como os religiosos, passarem por processos de aprendizagem
complementares.
'n a m e i 7 '
P CSq USa m a g nb l T C a s o b r e a
histria *>
t 0 l e r a nC , a
'
P i e r r e B a
y
| e
como o " maior pensador da
tolerncia , por que est e oper ou exemplar ment e tal aut olimit ao r eflexiva
da r azo em r elao r eligio. Sobr e Bayle, cf. FORST, R. (2003) 8
Sobr e o seu ar gument o sistemtico cf. 29 e 33.
158
(6) A superao crtica da conscincia que eu caracterizo como
limitada de modo secularista, questionada - no menos do que as
respostas teolgicas que, desde a poca da Reforma, foram formuladas,
(no apenas por protestantes), para enfrentar os desafios cognitivos
da modernidade. Pelo ngulo de uma retrospectiva histrica, a
"modernizao da conscincia religiosa" pode ser considerada, de um
lado, como tarefa especfica da teologia; de outro lado, porm, o pano
de fundo da conscincia secularista, que tecido de vises de mundo,
objeto de um debate filosfico permanente, cujo final continua em
aberto. A conscincia secular que se tem de viver em uma sociedade
ps-secular, reflete-se filosoficamente na figura do pensamento ps-
metafsico. Ora, tal pensamento no se esgota no trabalho de
acentuao da finitude da razo, nem na simples tentativa de jungir
uma conscincia falibilista e uma orientao veritativa antictica, a
qual caracteriza, desde a poca de Kant e Peirce, a autocompreenso
das modernas cincias experimentais. Jque o pensamento ps-
metafsico constitui uma contrapartida secular para a conscincia
religiosa que se fez reflexiva, delimitando-se em duas direes
diferentes: Sob premissas agnsticas, ele se abstm de emitir juzos
sobre verdades religiosas e insiste (sem intenes polmicas) em uma
delimitao estrita entre fe saber. De outro lado, ele se volta contra
uma concepo cientificista da razo e contta a excluso das douinas
religiosas da genealogia da razo.
E bem verdade que o pensamento ps-metafsico renuncia a
afirmaes ontolgicas sobre a constituio do ente em sua totalidade;
isso no significa, porm, uma reduo de nosso saber sobre as
inumerveis afirmaes que representam respectivamente o "estado
atual das cincias". O cienficismo nos induz, com freqncia, a borrar
a fronteira entre conhecimentos tericos das cincias da natureza, os
quais so relevantes para a auto-interpretao do homem e para a
compreenso de sua posio no todo da natureza, e a imagem de inundo
produzida, de forma sinttica, a partir desses conhecimentos.
48
Tal
tipo de naturalismo radical desvaloriza todas as formas de frases
declarativas que no podem ser reduzidas a observaes experimentais,
a afirmaes de leis ou a explicaes causais - incluindo, por
159
conseguinte, as asseres morais, jurdicas ou valorativas e, no por
ltimo, as rel i gi osas. A recent e di scusso sobre l i berdade e
determinismo revela que os progressos havidos na rea da robtica,
da pesquisa dos gens e da biogentica geraram impulsos para que se
estabelea uma espcie de naturalizao do esprito que coloca em
questo nossa autocompreenso prtica como pessoas que agem de
modo responsvel
49
e estimularam uma reviso do direito penal.
50
Todavia, uma auto-objetivao naturalista de sujeitos providos da
faculdade de falar e agir, que imigra para o dia-a-dia, no se coaduna
com a idia de uma integrao poltica que supe haver entre os
cidados um consenso normativo implcito que funciona como pano
de fundo.
A reconstruo das veredas que permitiram o surgimento da
razo, que multidimensional e no se fixa apenas em sua relao
com o mundo obj et i vo, pode ser um bom cami nho para o
esclarecimento crtico dos seus limites. E nesse processo, o pensamento
ps-metafsico no se limita herana da metafsica ocidental. Ele
tambm se certifica de sua relao interna com as religies mundiais
cujas origens se situam - do mesmo modo que os incios da filosofia
antiga - na metade do primeiro milnio antes de Cristo, portanto, na
poca que Jaspers caracteriza como "era axial".
51
As religies que
48
Wolter stor ff r ecor da, em ger al, essa dist ino, freqentemente descuidada,
entr e afir maes secular es e ar gumentos que podem contar , de um lado, e
imagens de mundo secular es, as quais tambm no dever iam contar mais do
que as dout r inas r eligiosas. Cf. AUDI , WOLTERSTORFF (1997), 105:
" Muit as vezes, seno a maior ia das vezes , somos capazes de avist ar
ar gumentos r eligiosos de uma milha de distncia [...]. Tipicamente, no entanto,
as per spect ivas compr eensivas secular es passam desper cebidas."
w
GEYER, Ch. (ed.) h+/s:|++ ++1 "||.+s/.|. Fr ankfur t;M., 2004;
PAUEN, M. |||+s+ |.|. Fr ankfur t/M., 2004.
5U
ROTTLEUTHNER, H. " Zur Soziologie und Neur obiologie r ichter lichen
Handelns" , in: |.ss:|/ Thomas |ss. Ber lim, 2005, 579-598.
51
Cf. o pr ogr ama de pesquisa desenvolvido, desde os anos 70, por S. N.
Eisenst adt , ult imament e por : ARNASON, J. P., EI SENSTADT, S. N. e
WI TTROCK, B. (eds.) 1ss| (.|,s+s s+1 "|1hs; Leiden, 2005.
160
deitam suas razes nessa poca operaram a passagem cognitiva das
explicaes narrativas do mito para um logos que discrimina essncia
e aparncia de modo semelhante ao que ocorreu com a filosofia grega.
Desde o Concilio de Nicia, a filosofia tambm passou a se apropriar,
pelo caminho de uma "helenizao do cristianismo" de muitos
conceitos e motivos histrico-salvficos da tradio monotesta.
52
Ao contrrio do que pensa Heidegger, as relaes de herana,
complexas e enoveladas, no podem ser desdobradas na linha de um
pensamento ontologia).
5
-
1
Os conceitos de procedncia grega, tal como
"autonomia" e "individualidade", ou ainda os conceitos romanos de
"emancipao" e "solidariedade" h muito tempo foram preenchidos
com significados de procedncia judeu-crist.
54
No trato com tradies
religiosas, inclusive rabes, a filosofia constatou, reiteradas vezes, que
possvel obter impulsos inovadores a partir do momento em que se
consegue separar, no cadinho de discursos fundamentadores, contedos
cognitivos de suas cascas originariamente dogmticas. Kant e Hegel
constituem os exemplos mais bem-sucedidos neste trabalho. Tambm
exemplar o encontro de muitos filsofos do sculo 2 0 com
Kierkegaard, escritor religioso que pensa de modo ps-metafsico,
porm, no ps-cristo.
Mesmo quando se apresentam como o "outro" intransparente
da razo, as tradies religiosas continuam, aparentemente, presentes,
inclusive de modo mais intenso do que a metafsica. Seria irracional
lanar fora, a priori, o pensamento, segundo o qual, as religies
mundiais - que so tidas como o nico elemento sobrevivente das
culturas dos velhos reinos, as quais se tomaram estranhas - conseguem
manter um lugar em meio estrutura diferenada da modernidade
55
LUTZ-BACHMANN, M. " Hellenisier ung des Cr hr istentums?" , in: COLPE,
C , HONEFELDER, L. e LUTZ-BACHMANN (EDS.) ss+|. ++1
(|s.++- Ber lim, 1992.
53
Cf. os esboos da histria do ser , in: HEI DEGGER, M. |.s. ,+
|||s|. '- |.+s Fr ankfur t/M., 1989.
M
Cf. as consider aes inter essantes contidas in: BRUNKHORST, H. |1ss
Fr ankfur t/M., 2002, 40-78.
161
porque o seu contedo cognitivo ainda no perdeu sua validade. No
podemos, em todo caso, excluir de todo que elas levam consigo certos
potenciais semnticos capazes de desenvolver fora inspiradora para
a sociedade inteira, a partir do momento em que liberam seus potenciais
de verdade profanos.
Em sntese, o pensamento ps-metafsico assume uma dupla
atitude perante a religio, porquanto ele agnstico e est, ao mesmo
tempo, disposto a aprender. Ele insiste na diferena entre certezas de
fe pretenses de validade contestveis em pblico; abstm-se, porm,
de adotar uma presuno racionalista, a qual o levaria a pretender
decidir por si mesmo sobre o que racional e o que no nas doutrinas
religiosas. Enetanto, os contedos dos quais a razo se apropria por
traduo no constituem necessariamente uma perda para a f. Alm
disso, uma apologia da f, elaborada com meios filosficos, no
tarefa da filosofia, que continua agnstica. No melhor dos casos, ela
consegue projetar um crculo ao redor do ncleo opaco da experincia
religiosa quando se pe a refletir sobre as caractersticas do discurso
religioso e sobre as peculiaridades da f. Tal ncleo inacessvel ao
pensament o di scursi vo, o mesmo acontecendo com o ncleo
indevassvel da contemplao esttica, que tambm pode ser circulado
pela reflexo filosfica.
Deixei-me levar a uma abordagem sobre a forma ambivalente
que o pensamento ps-metafsico adota ao tratar da religio porque
nisso se manifesta tambm uma pressuposio cognitiva para a
disposio de cooperao que se espera de cidados seculares. Ela
corresponde precisamente ao enfoque epistmico que cidados
seculares precisam assumir quando, em debates pblicos, esto
dispostos a aprender com contribuies de seus concidados religiosos,
as quais, dado o caso, possam ser traduzidas para uma linguagem
acessvel em geral. A certificao filosfica da genealogia da razo
desempenha aparentemente, para o auto-esclarecimento da conscincia
secular, um papel semelhante ao do trabalho de reconstruo que a
teologia desenvolve para o auto-esclarecimento da f religiosa na
modernidade. O dispndio em termos de auto-reflexo filosfica revela
que, entre os cidados seculares, o papel de cidado de um Estado
162
democrtico supe uma mentalidade cujas pressuposies no so
menos fortes do que as da mentalidade de comunidades religiosas
esclarecidas. Nesse contexto, os fardos cognitivos impostos a ambas
as partes pela aquisio de enfoques epistmicos adequados no so
distribudos de maneira simtrica.
( 7) Sem embargo, o fato de o "uso pblico da razo" - na forma
por mim introduzida - depender de pressuposies cognitivas, que
no so pura e simplesmente auto-evidentes, tem conseqncias
interessantes e discrepantes. Tal circunstncia nos lembra, em primeiro
lugar, que o Estado constitucional democrtico, o qual depende de
uma forma deliberativa de poltica, representa, em geral, uma forma
de governo pretensiosa do ponto de vista epistmico e, de certa forma,
sensvel verdade.
55
luz de tais consideraes, uma "democracia
ps-verdade" (post-truth-democracy), do tipo caracterizado pelo New
York Times durante a ltima campanha para a eleio presidencial,
no seria mais uma democraci a. Neste caso, a exi gnci a de
mentalidades complexas chama a ateno para uma condio de
funcionamento, improvvel, sobre cujo preenchimento os meios
administrativos e jurdicos do Estado liberal praticamente no tm
influncia. O exemplo da polarizao das cosmovises de uma
comunidade que se divide em dois campos - um fundamentalista e
outro secularista - demonstra que a integrao poltica ameaada a
partir do momento em que um nmero demasiadamente elevado de
cidados no conseguem atingir os standards do uso pblico da razo.
Em que pese isso, a origem das mentalidades pr-politica. Elas se
modificam, sem nenhum aviso prvio, j que reagem perante novas
circunstncias da vida. No melhor dos casos, um processo desse tipo
pode ser acelerado, no longo prazo, no mdium de discursos pblicos
conduzidos pelos prprios cidados. Entretanto, convm perguntar:
serque se trata, neste caso, de um processo dirigido e conduzido
" Cf. a aula inaugur al em Munique, de NIDA-RMELIN, J. b.-|s. ++1
"s||. (manuscr ito 2004)
163
cognitivamente, o qual pode ser descrito como um processo de
aprendizagem?
Por isso, o que mais preocupa uma terceira conseqncia.
At aqui nos apoiamos na idia de que os cidados de um Estado
constitucional democrtico podem adquirir as mentalidades funcio-
nalmente requeridas pelo caminho de "processos de aprendizagem
complementares". O exemplo citado, no entanto, indica que tal
idia no de todo isenta de problemas. Em que perspectiva
podemos afirmar que a coliso fragmentadora provocada por modos
de pens ar e de sentir, r espect i vament e fundament al i st as e
secularistas, constitui o resultado de "dficits de aprendizagem"?
Lembremo-nos da mudana de perspectiva que empreendemos ao
passarmos de uma explicao normativa da conduta de cidados
do Estado, democrticos, exigida poltica e moralmente, para a
pesquisa epistemolgica das pressuposies cognitivas sob as quais
tal etos de cidados do Estado imputvel. A reflexivizao da
conscincia religiosa, como tambm a superao auto-reflexiva
da conscincia secularista, fruto de uma superao auto-reflexiva
de e nfoque s epi s t mi cos . Apenas uma det er mi nada
a ut ocompr e e ns o da moder ni dade per mi t e qual i fi car t ai s
modificaes de mentalidade como "processos de aprendizagem".
Certamente possvel defender tal viso no quadro de teorias
evolucionistas da sociedade. Todavia, independentemente da posio
controversa que tais teorias ocupam no interior das respectivas
disciplinas acadmicas, na viso de uma teoria poltica normativa no
se pode exigir, sob nenhum pretexto, que cidados de um Estado
liberal se descrevam a si mesmos, por exemplo, nos termos de uma
teoria da evoluo religiosa que os classificaria como "atrasados" do
ponto de vista cognitivo. Somente os participantes e suas respectivas
organizaes religiosas podem decidir a questo: serque uma f
"modernizada" continua sendo f"verdadeira"? E serque, de outro
lado, um secularismo fundamentado maneira cientificista no tem,
no final das contas, melhores razes do que o conceito compreensivo
de razo, delineado pelo pensamento ps-metafsico? Mesmo entre
os filsofos, no h argumentos decisivos, nem pr nem conUa. No
164
obstante isso, dado que a teoria poltica no tem condies de saber se
as mentalidades funcionalmente necessrias podem ser adquiridas pelo
caminho de processos de aprendizagem, ela tem de reconhecer que
sua concepo do uso pblico da razo, fundada normativamente,
continua sendo "questionada essencialmente" pelos prprios cidados.
Porquanto o Estado liberal s pode confrontar seus cidados com
deveres que eles mesmos podem aceitar apoiados numa "compreenso
perspicaz' (aus Einsicht) - e tal compreenso pressupe que os
enfoques epistmicos necessrios podem ser obtidos por meio de
compreenso perspicaz, o que implica, por conseguinte, a possibilidade
de serem "aprendidos".
Tal aut odel i mi t ao da t eori a poltica no i mpl i ca
necessariamente que ns, na qualidade de cidados ou de filsofos,
consigamos ou devamos defender, com sucesso, uma verso forte
dos fundamentos liberais e republicanos do Estado democrtico
constitucional, seja intra muros, seja nas arenas polticas. Porm, tal
discurso sobre a compreenso correta, sobre a prpria correo de
uma ordem liberal em geral e do etos dos cidados do Estado
democrtico em particular, atinge domnios nos quais os argumentos
normativos no bastam mais por si mesmos. A controvrsia tambm
se estende para a questo epistemolgica da relao entre fe saber, a
qual atinge, por seu turno, elementos essenciais da compreenso que
serve de pano de fundo modernidade. E interessante notar que
tentativas que se propem determinar, de modo auto-reflexivo, seja
no campo da filosofia, seja no da teologia, a relao entre f e saber,
levantam questes sobre a genealogia da modernidade, dotadas de
longo alcance.
Recordemos a questo levantada por Rawls: "At que ponto os
religiosos e os no-religiosos podem endossar um regime secular
quando suas doutrinas compreensivas no conseguem prosperar nesse
regime, podendo, inclusive, entrar em declnio?".
56
Tal pergunta no
pode ser respondida, em ltima instncia por explicaes normais da
56
Cf. nota de rodapn 20.
165
teoria poltica. Tomemos o exemplo da "ortodoxia radical",''
7
que
assume e leva adiante a inteno e o pensamento fundamental da
t eol ogi a poltica de um Carl Schmi t t ut i l i zando mei os da
desconstruo. Telogos que se postam nesta linha negam que a
modernidade possua qualquer tipo de direito prprio,
5
" j que ela
estaria desenraizada nominalisticamente, e tentam refundament-
la ontologicamente numa "realidade de Deus". A controvrsia com
esses oponentes precisa ser conduzida no mbito da prpria matria,
ou seja, asseres teolgicas somente podem ser respondidas por
as s er es teolgicas; ao passo que asser es histricas e
epistemolgicas tm de ser respondidas por contra-argumentos
histricos e epistemolgicos.
59
Ora, isso tambm vale para o lado oposto. A questo de Rawls
dirige-se, em igual medida, para a esfera secular e para a esfera religiosa.
Quando um naturalismo apoiado em vises de mundo ultrapassa as
fronteiras de suacientificidade, impe-se, com razo, uma controvrsia
acerca de questes bsicas da filosofia. Enquanto no houver clareza
filosfica sobre o sentido pragmtico e sobre o contexto da transmisso
histrica das proposies existenciais bblicas, nenhum tipo de
conhecimento neurolgico pode obrigar as comunidades religiosas a
abjurar as asseres sobre a existncia de Deus e sobre uma vida aps
a morte, veiculadas pela tradio.
60
O problema que se coloca quando
se tenta relacionar asseres das cincias experimentais com
convices religiosas nos coloca novamente no contexto da genealogia
57
MI LBANK, J. I|.|; s+1 :s| I|.; |.;+1 .:+|s |.ss+ Ox-
for d, 1990; MI LBANK, D., PICKSTOCK, C. e WARD, G. (eds.). |s1:s|
0|1s; Londr es-N. Yor k, 1999.
58
Sobr e a posio contrria, cf. a obr a de BLUMENBERQ Hans. |.-s 1.
\.+,. Fr ankfur t/M., 1966.
59
SCHMI DT, Th. M. " Postskular e Theologie des Recht s. Eine Kr itik der
r adikalenOr t hodoxie" , in: FRHAUF, W. e LSER, W. (eds.). |||s:|.
1+/||s++ 1. |+|1.:|++ .+. Is1+ Fr ankfur t/M., 2005, 91-108.
60
Cf. a obser vao final de DETEL, W. em um ar tigo ext r emament e bem
infor mado: " For schungenber Hir nund Geist" , in: b.+s:|. /.s:|/ /u
|||s|. 52, (2004), 891-920.
166
da autocompreenso da modernidade, levantando a seguinte pergunta:
serque a cincia moderna constitui uma prtica que determina
performativamente a medida do verdadeiro e do falso, podendo ser
entendida unicamente a partir de si mesma, ou no serela resultado
de uma histria da razo que inclui, essencialmente, as religies
mundiais?
Rawls transformou sua Teoria da justia num Liberalismo
poltico, a partir do momento em que reconheceu a relevncia do "fato
do pluralismo". Ele teve o grande mrito de refletir, desde cedo, sobre
o papel poltico da religio. Em que pese isso, tais fenmenos tambm
podem chamar a ateno de uma teoria poltica, pretensamente "livre",
para o alcance limitado da argumentao normativa. Serque os
cidados podem aceitar o liberalismo como sendo a nica resposta
correta para o pluralismo religioso? Para chegar a uma concluso sobre
esse ponto, os cidados religiosos, como tambm os seculares, devem
saber interpretar, cada um na sua respectiva viso, a relao entre f e
saber, porquanto tal interpretao prvia lhes abre a possibilidade de
uma atitude auto-reflexiva e esclarecida na esfera pblica poltica.
167
III. NATURALISMO E RELIGIO
6. LIBERDADE E DETERMINISMO.
Assistimos hoje, em solo alemo, a um acalorado debate sobre a
liberdade da vontade, o qual se manifesta, inclusive, na imprensa diria
supra-regional.
2
A gente se sente transportada de volta ao sculo XIX.
E agora, como antes, os resultados da pesquisa sobre o crebro
conferem nova atualidade a uma velha disputa filosfica - bem
verdade que agora existe o reforo de procedimentos tecnolgicos.
Neurlogos e representantes da pesquisa da cognio disputam com
filsofos e outros intelectuais da rea das cincias do esprito sobre a
interpretao determinista, segundo a qual, um mundo fechado de
modo causai elimina qualquer tipo de possibilidade para a liberdade
de escolha entre aes alternativas. Desta vez, no entanto, o ponto de
partida da controvrsia foi dado pelos resultados de uma tradio de
pesquisa que se apoia sobre os experimentos realizados, j nos anos
70, por BenjaminLibet.
1
Os resultados parecem confirmar estratgias de pesquisa
reducionistas cujo alvo uma explicao de fenmenos mentais que
1
Est e t ext o ser viu de base para uma confer ncia pr ofer ida em 2004 por ocasio
da r ecepo do Pr mio-Kiot o, confer ido pela quar ta vez a um filsofo -
aps Karl R. Popper , Willar d vanOr manQuine e Paul Ricoeur .
2
Agradeo novament e os conselhos detalhados e enr iquecedor es de Lutz Winger t
que, mais do que eu, estfamiliar izado com essa quest o. Agradeo tambm
a TilmanHaber mas pelas sugest es e melhor ias.
1
GEYER, Chr . (ed.) h+/s:|++ ++1 "||.+s/.|. /+ b.+++ 1.
+.+.s.+ |s.-.+. Fr ankfur t/M., 2004.
169
se baseia apenas em condies fisiolgicas observveis.
4
Tais
princpios partem da premissa, segundo a qual, a conscincia da
liberdade, que os atores se adscrevem a si mesmos, constitui um auto-
engano. Porquanto a vivncia da deciso prpria , de certo modo,
uma roda que gira no vazio. A liberdade da vontade, entendida como
uma "causao mental" constitui apenas uma aparncia atrs da qual
se oculta uma conexo inteiramente causai de estados neuronais que
se estabelecem de acordo com leis da natureza.
5
Sem embar go, tal det er mi ni smo inconcilivel com a
autocompreenso cotidiana de sujeitos que agem. No dia-a-dia, ns
temos de nos atribuir mutuamente a autoria responsvel por nossas
aes. Por isso, o esclarecimento cientfico sobre a determinao de
nosso agir por leis da natureza no pode colocar em questo,
seriamente, a autocompreenso intuitiva de atores imputveis,
comprovada no plano pragmtico. A linguagem objetivadora da
neurobiologia atribui ao "crebro" o papel gramatical desempenhado,
at agora, pelo "eu". Porm, ela perde, a partir desse momento, a
conexo com a psicologia do dia-a-dia. bem verdade que a
provocao que se vislumbra na afirmao de que "o crebro" deve
pensar e agir no lugar de mim "mesmo" apenas um fato gramatical;
isso constitui, no entanto, um meio de que o mundo da vida lana
mo para se proteger de dissonncias cognitivas.
Esta no seria, certamente, a primeira vez que uma teoria
engendrada pelas cincias da natureza se choca cona o Commonsense.
Ela teria de enUar em contato com uma psicologia do cotidiano, pelo
menos a partir do momento em que as aplicaes tcnicas do saber
terico se imiscuem, por exemplo, graas sua familiaridade com
tcnicas teraputicas, na prtica cotidiana. As tcnicas mediante as
quais os conhecimentos da neurobiologia podem vir a ter, um dia,
acesso ao mundo da vida poderiam, qui, adquirir relevncia em
" ROTH, G. "Worber Hir nfor scher r edendrfen- und inwelcher Weise?" , in;
b.+s:|. /.s:|/ /u |||s|. : (2204), 223-234, aqui 231.
3
A t ese deter minista mantm-se mesmo que inter pr etemos as leis da natur eza de
modo pr obabilista. Pois o arbtrio no pode ser r eduzido ao acaso.
170
termos de modificao da conscincia, que falta aos prprios
conheci ment os. Convm pergunt ar, no ent ant o: serque a
fundamentao da interpretao determinista consistente? Ou no
seria ela, simplesmente, componente de uma imagem de mundo
naturalista, fruto de uma interpretao especulativa de conhecimentos
das cincias da natureza? Eu gostaria de dar prosseguimento ao de-
bate sobre liberdade e determinismo reinterpretando-o em termos de
uma controvrsia sobre modos corretos de naturalizao do esprito.
De um lado, gostaramos de fazer jus evidncia - que
incontestvel do ponto de vista de uma intuio - de uma conscincia
que acompanha, performativamente, todas as nossas aes; de outro
lado, gostaramos de satisfazer, ao mesmo tempo, a necessidade que
temos de uma imagem coerente do universo, a qual inclui tambm o
homem enquanto ser da natureza. Kant tentou reconciliar entre si a
causalidade oriunda da liberdade e a causalidade da natureza. Isso,
porm, s foi possvel ao custo de um dualismo que se estabelece
entre o mundo do inteligvel e o mundo dos fenmenos. Hoje em dia,
preferimos evitar tais pressupostos metafsicos. Nesse caso, porm,
temos de encontrai' uma sintonia ene aquilo que aprendemos de Kant
sobre as condies anscendentais de nosso conhecimento e o que
Darwinnos ensinou sobre a evoluo natural.
Na parte crtica inicial, tentarei mostrar que programas de
pesquisa reducionistas no conseguem evitar dificuldades inerentes
ao dualismo que separa, de um lado, jogos de linguagem e, de outro,
perspectivas de esclarecimento - a no ser assumindo as conseqncias
de um "epifenomenalismo". A segunda parte, mais construtiva,
pretende recordar as razes antropolgicas desse dual i smo de
perspectivas, o qual no exclui uma viso monista da evoluo natu-
ral. A imagem mais complexa de uma interao entre um crebro que
determina o esprito, e um esprito que programa o crebro, fruto de
uma reflexo filosfica, no de uma pesquisa elaborada pelas cincias
naturais. Eu defendo um naturalismo "mitigado", no-cientificista.
Nessa perspectiva, "real" tudo aquilo, e somente aquilo, que pode
ser representado em proposies verdadeiras. A realidade, todavia,
no se esgota na totalidade das asseres limitadas regionalmente e
171
que contam, de acordo com standards atuais, como asseres
verdadeiras das cincias experimentais.
I. Reducionismo: Prs e contras.
Partindo da crtica estrutura e fora de tematizao dos
experimentos de Libet, gostaria de introduzir, inicialmente, um conceito
fenomenolgico de liberdade de ao (1). A teoria analtica da ao
abre cami nho para um conceito no-determinista da liberdade
condicionada e para uma concepo da autoria responsvel. Ambos
exigem, diferentemente de uma explicao a partir de causas, uma
explicao racional da ao (2 e 3). O reducionismo tenta eludir a
discrepncia entre perspectivas de esclarecimento e formas de saber
complementares. As dificuldades encontradas por tal estratgia de
pesquisa motivam os questionamentos da segunda parte: serque o
dualismo das perspectivas epistmicas, que estrutura e delimita nosso
acesso ao mundo, poderia ter-se originado do desenvolvimento natu-
ral de formas de vida culturais? (4).
(1) Benjamin Libet solicitara das pessoas submetidas ao teste
neurolgico que fizessem espontaneamente um movimento do brao
e registrassem o momento exato em que a deciso acontecera. De
acordo com as expectativas, tal deciso precede os movimentos do
prprio corpo. Entretanto, o intervalo de tempo que se coloca entre
processos inconscientes observados nas reas dos crtices cerebrais
primrios e associativos, de um lado, e o ato consciente que a pessoa
submetida aos testes experimenta como sendo sua prpria deciso, de
outro lado, crtico.
6
Tudo indica que se constri, no crebro, um
"potencial de disposio", especfico da ao, antes que a prpria
pessoa se "decida" a agir. Esse resultado da seqncia temporal que
6
Sobr e as disposies do teste e os poster ior es exper iment os de cont r ole cf.
ROTH, G. |u||.+ b.+|.+ hs+1.|+ Fr ankfur t/M., 2003, 518-528. Cf.
tambm LIBET, B. Mind Time. ". 1ss 0.|+ |.+sss.+ 1+,.
Fr ankfur t/M., 2005.
172
se estabelece entre evento neuronal e vivncia subjetiva parece
confirmar que certos processos do crebro determinam aes
conscientes sem que o ato da vontade, que o agente se adscreve a si
mesmo, desempenhe uma funo causai. Pesquisas psicolgicas
confirmam, alm disso, a experincia, segundo a qual, sob certas
condies, os atores realizam aes s quais atribuem, apenas
postumamente, intenes prprias.
No obstante isso, os experimentos de Libet no conseguem
enfrentar satisfatoriamente o peso da prova da tese determinista, o
qual lhes atribudo. As disposies manifestas pelo experimento
so talhadas para movimentos arbitrrios do corpo que proporcionam
aos atores apenas fraes de segundos entre a inteno e a realizao
da ao. Por isso, convm perguntar se os resultados dos testes podem
ser generalizados para alm das classes de aes observadas. At
mesmo uma interpretao cautelosa nesse sentido no consegue
eximir-se de uma outra objeo, a saber, a de que a significao das
seqncias observadas continua obscura. O design parece admitir a
possibilidade de que as pessoas submetidas ao teste e instrudas sobre
o andamento do experimento j se concentraram no plano de ao
antes de se decidir sobre a execuo da ao atual. Neste caso, porm,
a estrutura do potencial de disposio, observado de um ponto de
vista neurolgico, apenas refletiria a fase do planejamento. Finalmente,
muito mais grave a objeo que se levanta contra uma produo
artificial de situaes de deciso abstratas, a qual se apoia em
consideraes de princpio. Como em qualquer design, aqui tambm
se coloca a questo sobre o que deve ser medido - e a questo filosfica
preliminar sobre o que deveria ser medido em geral.
De modo geral, as aes resultam de um encadeamento complexo
de intenes e reflexes que permitem avaliar fins e meios alternativos
luz de ocasies, recursos e obstculos. Um design que comprime
temporalmente o planejamento, a deciso e a execuo de um
movimento do corpo e que o retira de um contexto de objetivos amplos
e de alternativas fundamentadas s pode abranger artefatos que
possuem exatamente aquilo que transforma implicitamente as aes
em aes livres, a saber: a vinculao interna com argumentos. Quem
173
pensa que a liberdade "de-poder-agir-assim-ou-de-outra-forma" se
corporifica no "asno de Buridan"* vtima de um mal-entendido. Na
"simples" deciso de estender o brao direito, ou o esquerdo, ainda
no se manifesta uma liberdade de ao. Para que isso acontea
necessrio um contato com argumentos, os quais poderiam, por
exemplo, motivar um ciclista a dobrar direita ou esquerda. Aps
tal ponderao, possvel abrir um espao para a liberdade "porquanto
o sentido do ponderar inclui simplesmente a possibilidade de poder
agir no somente desta forma, mas tambm de outra".
7
A partir do momento em que entram em jogo argumentos, que
falam a favor ou contra uma determinada ao, somos levados a supor
que a tomada de posio, qual pretendemos chegar mediante uma
avaliao dos argumentos, no estdeterminada a priori* No entanto,
se a questo que envolve modos e possibilidades de nossa deciso
fosse uma questo fechada, no haveria necessidade nenhuma de
ponder aes ou raciocnios. Uma vont ade se forma,
imperceptivelmente, na esteira de raciocnios. E j que uma deciso
amadurece na seqncia de consideraes imprecisas e fugazes, ns
nos sentimos livres apenas nas aes realizadas de modo mais ou
menos consciente. Existem, evidentemente, diferentes tipos de aes:
instintivas, habituais, episdicas, neurticas, compulsivas, etc. Todavia,
todas as aes realizadas conscientemente podem ser examinadas,
retrospectivamente, tendo em vista sua imputabilidade. Outras pessoas
podem chamar responsabilidade um ator imputvel e responsvel
" Cf. obser vao da pg. 207 (n.t .).
1
TUGENDHAT, E. " Der Begr iff der Willensfr eiheit" , in: id. |||s|s:|.
Aufsatze. Fr ankfur t/M., 1992, 334-551, aqui 340.
8
O ar gumento empir ista aduzido contr a a asser o, segundo a qual a funo das
consider aes se esgot a no exame da " supor t abilidade emocional" de
conseqncias da ao pr essupe o que dever ia ser pr ovado. Cf. ROTH
(2003), 526 s.: " Pouco impor ta o r esultado da avaliao r acional: ele est
submet ido deciso ltima (!) do sist ema lmbico, por quanto ele tem de ser
.-:+s|-.+. s:.s..| [...] Difer ent ement e do que afir mado pela
psicologia do cot idiano, no so os ar gumentos lgicos .++s+ s| que nos
est imulam ao agir r acional."
174
por seus atos: "O que o agente realiza intencionalmente precisamente
aquilo que se coloca diante de sua liberdade e para cuja execuo ele
possui argumentos adequados."
9
Somente uma vontade refletida livre.
O prprio BenjaminLibet refletiu, mais tarde, sobre o papel de
processos de avaliao conscientes. Ele passou a interpretar os
resultados de suas experincias num sentido tal que coloca as
interpretaes costumeiras sob uma outra luz.
1
" Ele admite que, na
fase entre inteno e execuo, a vontade livre possui uma funo
controladora em relao s aes iniciadas inconscientemente,
proporo que estas enttariam, previsivelmente, em conflito com outras
expectativas, por exemplo, normativas. Conforme tal interpretao, a
vontade livre apresentar-se-ia negativamente na forma de um veto
contra a atualizao consciente de uma disposio de ao inconsciente,
porm no justificada.
( 2) Peter Bieri conseguiu deslindar, em uma linha fenomenolgica
convincente, as confuses que cercam o conceito de uma liberdade
da vontade destituda de origem, mas que cria origens." Se o ato de
"deciso livre" significa que o ator "liga" sua vontade "a argumentos",
ent o, o moment o de abert ura da deci so no excl ui sua
"condicionalidade" racional. O agente livre quando quer o que
considera correto levando em conta o resultado de seu raciocnio.
Ns sentimos que no livre uma coao imposta a partir de fora, a
qual nos constrange a agir diferentemente do modo como pretendemos
agir, apoiados em nossa prpria compreenso perspicaz (Einsicht).
Disso resulta um conceito de liberdade condicionada que leva na devida
conta dois momentos distintos, a saber, uma liberdade sob condies.
De um lado, para chegar ao juzo prtico decisivo sobre como
agir, o ator obrigado a pesar as alternativas de ao. certo que tais
alternativas de ao apresentam-se a ele no interior de um espao de
possi bi l i dades l i mi t ado por capaci dades, pel o carter e por
' ' DAVI DSON, D. " Handlungsfr eiheit" , in: id. hs+1|++ ++1 |.+s Fr ank-
fur t/M., 1985, 99-124, aqui 114.
' " LIBET, B. " Habenwir einenfr eienWillen?" , in: GEYER (2004), 209-224.
11
BIERI, P. bss hs+1.| 1. |.|. Munique, 2001.
175
circunstncias. No entanto, vista das alternativas que esto espera
de uma avaliao, ele precisa considerar-se capaz de agir desta ou
daquela forma. Porquanto, aos olhos de um ator que reflete, as
capacidades, o carter e as circunstncias transformam-se noutros
tantos argumentos para seu "ser capaz de" (Knnen) delimitado pela
si t uao especfica. Nesse sentido, ele no livre para agir
incondicionalmente, desta ou daquela forma. No processo da reflexo,
o ator chega a um posicionamento motivado racionalmente. E isso
no acontece por acaso, porque no deixa de haver algum tipo de
fundamento. Compreenses no surgem arbitrariamente porque sua
formao depende de regras. Caso a pessoa que se decidiu a agir tivesse
chegado a um outro juzo, o seu querer teria sido diferente.
De outro lado, no poderemos entender o papel dos argumentos
na motivao da ao se nosso modelo for o da causao de um evento,
observvel, por um estado anterior. O processo do juzo autoriza o
agente a tomar-se o autor de uma deciso. Se se tratasse de um processo
natural explicvel de modo causai, o autor sentir-se-ia desautorizado,
isto , privado de sua iniciativa. Por conseguinte, a assero: "se o
autor tivesse julgado de modo diferente, sua vontade tambm deveria
ter sido diferente" falsa, no somente no sentido gramatical. A coao
no-violenta do melhor argumento, que nos motiva a tomar posio
dizendo "sim" ou "no", no pode ser confundida com a coao causai
de uma restrio imposta que nos constrange a agir de uma forma no
querida: "Quando no conseguimos detectar a autoria, isso significa
que no conseguimos, enquanto pensantes e julgadores, exercer
influncia sobre nosso querer e nosso fazer. Nesse sentido, a liberdade
suportvel junto com condicionalidade [...]; porquanto ela exige
condicionalidade e no seria pensvel sem ela."
12
Para expl i car a significao da mot i vao racional por
argumentos temos de assumir a perspectiva do participante de um
processo pblico onde "se do e se aceitam argumentos" (Robert
Brandom). Por isso, um observador do evento do discurso
obrigado a descrever nos termos de uma linguagem mentalista,
BIERI (2001), 166.
176
isto , numa l i nguagem que contem os predicados "opinar",
"convencer", "afirmar" e "negar". Nos termos de uma linguagem
empirista, no entanto, ele teria de eliminar, por razes gramaticais,
todas as referncias a enfoques proposicionais de sujeitos que tm
algo por verdadeiro ou falso. Nesta tica, o evento do discurso
transformar-se-ia num evento da natureza, o qual decorre, de certa
forma, por detrs das costas dos sujeitos.
Peter Bieri tenta reconciliar o conceito de liberdade condicionada
com o evento da natureza, determinista: "No geral, a reflexo sobre
as alternativas constitui um evento que, no final, ir me vincular,
juntamente com minha histria, a uma vontade bem determinada."
13
Todavia, a frase acrescentada "eu sei disso, porm, isso no me
incomoda" revela que aqui nos deparamos com algo falso. Porquanto
o carter condicionado de minha deciso no me incomoda, verdade,
porm, soment e ato moment o em que posso compreender,
retrospectivamente, esse "processo" como um processo de pensamento
mesmo que implcito, no qual estou engajado enquanto participante
do discurso ou enquanto sujeito que reflete no foro interno. Pois neste
momento se trata de minha inteleco, a qual permite tomar uma
deciso. Por conseqncia, a determinao de minha deciso por um
evento neuronal, do qual eu no participo na condio de uma pessoa
que toma posio, constituiria um verdadeiro estorvo: porque, neste
caso, no seria mais minha deciso. Somente a mudana imperceptvel
da perspectiva participante para a perspectiva observadora pode causar
a impresso de que a motivao da ao constri, mediante argumentos
compreensveis, uma ponte para a determinao da ao por causas
observveis.
O correto conceito da liberdade condicionada no fornece
nenhum apoio para o monismo ontolgico apressado, segundo o qual,
as causas e os argumentos constituem dois aspectos distintos da mesma
realidade. Na esteira dessa concepo, os argumentos constituem o
lado subjetivo, ou melhor, uma certa "maneira de vivenciar" processos,
os quais so constatveis tambm sob um ponto de vista neurolgico.
' BI ERI (2001), 287 s.
177
E nas conexes lgico-semnticas estabelecidas entre contedos
proposicionais e enfoques refletem-se "encadeamentos complexos
de eventos neurofisiolgicos": "De acordo com isso, argumentos
constituiriam o aspecto vivenciado ' internamente' e as causas o
aspecto ' ext erno' , neurofisiolgico, de um ' terceiro' abrangente
que se desenvolve de modo determinista, o qual, porm, no se
abre para ns."
14
Tal interpretao naturalista apela injustamente
para a "teoria causai da ao", defendida por Donald Davidson,
segundo a qual, desejos e enfoques, intenes, convi ces e
orientaes valorativas so causas de uma ao quando constituem
as razes que levaram o ator a realizar uma ao.
Apesar da recusa de Davidsonem aceitar o reducionismo,
15
a
conceitualizao dos argumentos em termos de causas sugeriu uma
certa interpretao da liberdade da ao que promete nivelar o fosso
que se interpe entre o espiritual e o fsico. A teoria no consegue,
no entanto, cumprir tal promessa. Na viso dessa teoria da ao,
possvel, sem dvida, enfraquecer o combalido conceito idealista
de uma liberdade incondicionada e destituda de origens, qual se
atribui uma fora capaz de ativar novas sries causais. Todavia, a
insero da liberdade de ao em um contexto de argumentos, que
motivador, no pode ocultar a diferena que separa explicaes
da ao por motivos racionais de explicaes por causas. Da mesma
forma, o conceito da liberdade condicionada tambm no contribui
para a tese, segundo a qual, podemos organizar tais explicaes da
l 4
ROTH (2004), 232.
15
Cf. a rplica de D. Davidsona R. Ror ty in: HAHN, L. E. (ed.). I|. |||s
|;/ b+s|1 bs.1s+ |sss||. (III.) 1999, 599: " Enfatizei pr incipalmente
a ir r edutibilidade de nossos conceit os mentais. Eles so irredutveis em dois
sent idos: Em pr imeir o lugar , eles no podem ser definidos nos vocabulrios
das cincias natur ais, nem h leis empricas ligando-os a fenmenos fsicos
de modo a torn-los disponveis. Em segundo lugar , eles no const it uem
par te opcional de nossos r ecur sos conceit uais. So t o impor t ant es e
indispensveis como os significados do common-sense quando pensamos e
falamos sobr e fenmenos seguindo um caminho no psicolgico."
178
ao como se fossem os dois lados de uma mesma medalha -
desconhecida, por enquanto.
10
( 3 ) A explicao racional de uma ao no oferece condies
suficientes para a ocorrncia ftica do evento da ao, como o caso
de uma explicao causai comum. J que a fora motivadora dos
argumentos da ao pressupe que eles so, em determinadas
circunstncias, determinantes para o sujeito, isto , so suficientes
para "vincular" a vontade do ator. Uma motivao por argumentos
no exige apenas um ator que assume posio racional, na qual contam
argumentos, mas um ator que se deixa determinar por sua inteleco.
Dada essa referncia a um sujeito, que tambm pode agir contra um
saber melhor, a assero de que " S" realizou a ao "A" levado pelo
argumento "a" no equivalente assero de que "a" causou a ao
"A".
17
Diferentemente da explicao causai comum, a explicao
racional da ao no permite a inferncia, segundo a qual, um nmero
indeterminado de pessoas, sob os mesmos antecedentes, chegariam
mesma deciso. A indicao de motivos racionais da ao no
suficiente para a transformao de uma explicao num prognstico.
A autoria responsvel exige no somente a motivao por argumentos,
mas tambm uma tomada de iniciativa, fundamentada, que o autor se
atribui a si mesmo: isso que faz com que o ator se torne "autor".
O fato de que "depende dele" agir assim ou de outro modo, exige
duas coisas, a saber: ele precisa estai- convencido de que estfazendo
o que correto, porm, ele tem de fazer isso por si mesmo. A
espontaneidade do agir, presente na auto-experincia, no uma fonte
annima, e sim, um sujeito que se atribui a si mesmo um "ser capaz
16
Atravs do pr ogr ama exper imental da ver ificao de um " ter ceir o" , por enquanto
apenas post ulado, Thomas Nagel desenvolve essa var iante do monismo
ontolgico ligado ao dualismo de aspectos. Essa teor ia futura pr etende ofer ecer
a base sobr e a qual as descr ies do fsico e do mental, complement ar es, podem
ser r eduzidas de acor do com modelos conhecidos: " The Psychophysical Nexus" ,
in: NAGEL, Th. (+:.s|-.+ s+1 |ss+. Oxfor d, 20021 194-235.
11
Sobr e esse ar gumento cf. SEARLE, J. |.|. ++1 \.+||. Fr ankfur t/
M., 2004, 28-36.
179
de" (Knnen). E o ator pode entender-se como autor porque ele se
identifica com o prprio corpo (Krper) e existe, ao mesmo tempo,
como um substrato orgnico (Leib) que o toma capaz de agir e o
autoriza para isso. O agente pode deixar-se "determinar", sem nenhum
prejuzo de sua liberdade, pelo substrato orgnico que experimentado
como (Leio) porque ele experimenta sua natureza subjetiva como fonte
do "ser capaz de" (Knner). Na perspectiva dessa experincia do
substrato orgnico (Leio), os processos vegetativos controlados pelo
sistema lmbico - como de resto todos os demais processos do crebro
que, na perspectiva neurolgica de um observador, transcorrem de
modo "i nconsci ent e" - transformam-se, para o agente, e por
determinantes causais, em condies possibilitadoras. Nesta medida,
a liberdade de ao no apenas "condicionada" por argumentos,
mas tambm liberdade "condicionada pela natureza". Uma vez que o
cor po (Krper), enquant o subst r at o orgnico (Leib), "",
respectivamente o prprio corpo (Krper), ele determina aquilo de
que somos capazes: o "ser determinado constitui um respaldo
constitutivo da autodeterminao."
18
Isso vale, de modo similar, para o carter que formamos durante
o transcurso histrico de uma de vida, individuador. autora a pessoa
determinada que nos tomamos ou o indivduo insubstituvel que o
modo como nos pensamos a ns mesmos. E por esta razo, os prprios
desejos e preferncias podem contar, eventualmente, como bons
argumentos. Entretanto, tais argumentos de primeira ordem podem
ser suplantados por argumentos ticos que se referem nossa vida
pessoal em sua totalidade e por argumentos morais. E estes resultam,
por seu turno, de obrigaes que ns assumimos, enquanto pessoas,
uns em relao aos outros.
19
Segundo Kant, ns stemos autonomia
ou vontade livre quando a vontade se deixa ligar por argumentos desse
tipo - ou seja, por compreenses perspicazes fundamentadas no
somente na pessoa e nos interesses bem entendidos de um indivduo,
mas tambm no interesse comum e simtrico de todas as pessoas.
I 8
SEEL, M. :| |.s--.+ |sss.+ Fr ankfur t/M., 2002, 288.
l 9
SCANLON, T. M. "/s ". 0. |s:| 0|. Cambr idge (Mass.) 1998.
1 8 0
Ora, a caracterizao do agir moral e do dever categrico favoreceu
um conceito inflacionado de liberdade inteligvel destituda de origens
a qual, isolada de qualquer tipo de contexto emprico, passa a ser
"absoluta" nesse sentido.
A fenomenologia da autoria responsvel conduziu-nos, no
entanto, para o conceito de uma liberdade condicionada enraizada no
organismo e numa histria de vida, o qual incompatvel com a
doutrina cartesiana das duas substncias e com a doutrina kantiana
dos dois mundos. O dualismo metodolgico apoiado em duas
perspectivas de explicao, isto , a de participantes e de observadores,
no pode ser ontologizado nem transformado num dualismo que separa
esprito e natureza.
20
As explicaes racionais da ao tambm tomam
como ponto de partida o fato de que os atores, ao tomarem suas
decises, encontram-se inseridos em contextos e enredados em
circunstncias da vida. Isso significa que os atores, quando permitem
que a vontade seja determinada por aquilo que estem suas foras e
por aquilo que tm por correto, no se encontram fora do mundo. Eles
encontram-se dependentes do substrato orgnico de seu "ser capaz
de", de sua histria de vida, de seu carter e de suas capacidades, do
entorno social e cultural, no por ltimo, dos componentes atuais da
situao da ao. Em que pese isso, o agente se apropria, de certa
forma, de todos esses fatores, a tal ponto que eles no so mais
considerados como causas externas que podem influenciar ou irritar a
formao da vontade ou da conscincia. O autor identifica-se com o
prprio organismo, com a prpria histria de vida e com a cultura -
que influenciam seu comportamento - e com os prprios motivos e
capacidades. E o sujeito que julga introduz na prpria reflexo todas
20
Essa a alter nativa contr a a qual W. Singer t ece sua inter pr etao deter minista:
" Uma possibilidade consist e no fato de que r ealment e exist em dois mundos
ont ologicament e dist int os, um mater ial e outr o imater ial, sendo que o homem
par ticipa dos dois e ns simplesment e no somos capazes de ent ender de que
modo um se r elaciona com o outr o." SI NGER, W. " Selbster fahr ung und
neur obi ol ogi sche Fr emdbeschr eibung" , in: b.+s:|. /.s:|/ /u
|||s|. 52, 8 (2004), 235-256, aqui 239.
181
as circunstncias exteriores, medida que estas so relevantes, seja
como ocasies propcias, seja como restries.
A discusso desenvolvida at o presente momento desenvolveu
um conceito forte de liberdade da ao, o qual no , porm, idealista.
Sua funo principal consiste em desenvolver uma perspectiva correta
para os fenmenos a serem explicados. Liga-se a tal concepo um
conceito de explicao racional da ao que chama a ateno para um
dualismo de perspectivas de explicao e de jogos de linguagem, cuja
superao parece impossvel. hem verdade que tal dualismo
epistmico possui apenas um sentido metdico, no ontolgico.
Mesmo assim, no ficou claro, at o presente momento, de que modo
ele pode ser sintonizado com uma interpretao monista do universo,
a qual pretende satisfazer a necessidade que sentimos de uma imagem
coerente do mundo. Os advogados de uma estratgia de pesquisa
reducionista colocam em dvida os direitos iguais de ambas as
perspectivas, e existem, certamente, razes para isso. Porquanto tal
estratgia conseguiu, at hoje, contrapor-se ao Commonsense lanando
mo de conhecimentos contra-intuitivos. Um fenmeno experimen-
tado pelos sentidos, por exemplo, o calor, atribudo ao movimento
de molculas e ningum se escandaliza com os conceitos da fsica
dos quais lanamos mo para analisar diferenas de cores ou elevaes
de tom. Tambm no mbito da presumida interao entre esprito e
crebro, possvel que a resposta correta esteja do lado dos princpios
de pesquisa que confiam apenas em explicaes causais "duras"
recusando as explicaes racionais mais "brandas", tidas como
psicologia do cotidiano e, por isso, como ilusrias.
(4) A biologia tambm oferece um bom argumento para isso.
Pel o cami nho do real i smo das ci nci as exper i ment ai s, ns
conseguimos superar a seletividade de mbitos de percepo que
decorre de nossa constituio orgnica, que contingente. A teoria do
conheci ment o evolucionista acentua a relevncia funcional do
pensamento lgico e do processamento construtivo - formador de
teorias - de percepes para a sobrevivncia da espcie: "Nossos
sistemas de sentidos so surpreendentemente adaptados para, a partir
182
de uns poucos dados, apreender as condies relevantes para o
comportamento. Mesmo assim, eles no do nenhuma importncia
objetividade ou completude. Eles no reproduzem fielmente as coisas,
e sim, de modo reconstrutivo, lanando mo do saber prvio
armazenado no crebro [...]. Os crebros utilizam esse saber prvio
com a finalidade de interpretar sinais dos sentidos, o que permite a
sua insero em contextos mais amplos [...]. Tais reconstrues
apoiadas no saber podem contribuir para compensar parcialmente as
deficincias dos sistemas dos sentidos. O saber prvio pode ser
utilizado com a finalidade de sanar falhas, jo raciocnio lgico pode
ajudar na deteco de absurdos [...]. Alm disso, possvel descobrir,
mediante sensores tcnicos, fontes de informao inacessveis aos
nossos sentidos naturais."
21
Neste contexto, costuma-se falar no valor
de adaptao biolgica da aprendizagem coletiva da pesquisa
organizada.
Entretanto, convm perguntar, de que modo tal concepo do
sistema da cincia, cujos membros so treinados para uma busca
cooperativa da verdade e para a avaliao de argumentos, se afina
com o carter ilusrio de argumentos e justificaes? Quando
colocamos em jogo premissas da teoria da evoluo, a fim de explicar
o valor de reproduo da pesquisa das cincias naturais, ns attibumos
a essa pesquisa um papel causai significativo para a sobrevivncia da
espcie. Ora, isso contradiz uma perspectiva neurobiolgica, a partir
da qual tal prtica classificada, a exemplo de qualquer outro tipo de
prtica de justificao, como epifenmeno. E um princpio de pesquisa
r educi oni st a i mpe como obrigatria tal i nt er pr et ao
epifenomenalista, jque os argumentos no constituem estados fsicos
observveis que variam segundo leis da natureza. Por isso, eles no
podem ser identificados com causas. E uma vez que se subtraem a
explicaes causais rigorosas, os argumentos s podem assumir o
papel de comentrios racionalizadores pstumos de um comporta-
mento inconsciente e explicvel neurologicamente, os quais apenas
"caminham junto". Ns agimos de certa forma, "levados por" causas,
31
Ibid., 236.
183
mesmo quando justificamos nosso agir perante os outros "com o
auxlio" de argumentos.
Para sustentar esse ponto, o reducionismo paga um preo elevado.
Por quant o, se na vi so neurobiolgica os ar gument os e o
processamento lgico de argumentos no desempenham nenhum papel
causai, ento torna-se problemtico explicar, na viso da teoria da
evoluo, por que a natureza se d o luxo de criar um "espao de
argumentos" (Wilfried Sellars). Os argumentos no ficam boiando
como as bolhas de gordura na sopa da vida consciente. Porquanto os
processos do agir e do julgar esto ligados sempre, aos olhos dos
sujeitos participantes, com argumentos. Se tivssemos que rejeitar o
"dar e receber argumentos" como epifenmeno, no restaria muita
coisa das funes biolgicas da autocompreenso de sujeitos capazes
de agir e falar. Qual a razo que nos obriga a colocar, reciprocamente,
exigncias de legitimao? Que funes so preenchidas pela
superestrutura das agncias de socializao, que endeream s crianas
uma exigncia desse tipo, a qual desprovida de todo contedo
causai?
22
JohnSearle levantou, contra o epifenomenalismo da vida, a
seguinte objeo: "Os processos da racionalidade consciente
constituem parte to importante de nossa vida, especialmente da
biolgica, que, se um fentipo de tal importncia no tivesse nenhum
papel para a sobrevivncia do organismo, ela seria totalmente diferente
da imagem que se formou dela pela evoluo."
2
-
1
Gerhard Roth refere-
se, certamente, a essa objeo quando esclarece, de um lado, que a
autocompreenso de atores, especialmente a liberdade de ao,
constitui uma iluso e quando exorta, ao mesmo tempo, a no entender
22
As explicaes for necidas por ROTH, (2003), 528 ss., so cur iosament e
tautolgicas: por quanto a quest o consist e pr ecisamente em per guntar : por
que sur ge a iluso da liber dade da vont ade, uma vez que ela no desempenha
nenhuma funo causai?
23
SEARLE (2004), 50. Os ar gumentos aduzidos por SI NGER (2004), 253 s.,
para a difer enciao de um nvel de deciso conscient e ser iam concludent es
apenas sob a pr essuposio de que no ilusria a conscincia da liber dade
enquant o expr esso de um agir r acional.
184
a conscincia do eu
24
ou a liberdade da vontade
25
como simples
epifenmenos.
Tal admoestao no se encaixa muito bem nas premissas de
Roth. Uma funo causai da vida consciente, independente, s se
adapta ao quadro de um princpio de pesquisa reducionista quando se
"interpreta o esprito e a conscincia [...] como estados fsicos" que
"se encontram numa relao de ao recproca" com outros estados
fsicos.
26
Todavia, grandezas semnticas tal como argumentos ou
contedos proposicionais em geral no podem ser "instantaneizados"
como estados observveis. O prprio Roth classificou, por isso, os
argumentos - e o processamento lgico de argumentos - como
epifenmenos. De sorte que a funo causai da conscincia do eu e da
liberdade da vontade no parece to convincente.
Parece que os procedimentos do reducionismo, o qual faz derivar,
de modo determinista, todos os processos mentais de influncias
causais recprocas entre o crebro e o entorno e que nega ao "espao
dos argumentos", ou melhor, esfera da cultura e da sociedade fora
de interveno, no so menos dogmticos do que os do idealismo, o
qual julga poder vislumbrar, em todos os processos naturais, a fora
fundamentadora de um esprito. O tipo de monismo que trabalha de
baixo para cima mais cientfico do que o monismo que parte de
cima, porm, apenas no procedimento, no nas concluses.
Perante tal alternativa, torna-se mais atraente um outro tipo de
dualismo de perspectivas, o qual subtrai nossa conscincia da liberdade,
no da evoluo natural, mas da perspectiva de explicao das cincias
da natureza atualmente conhecidas. Nesse sentido, Richard Rorty
24
ROTH (2003), 397: " O element o decisivo consist e em que no deveramos
consider ar esse ator vir tual como epifenmeno. Sem a possibilidade de uma
per cepo vir tual e do agir vir tual o crebro no conseguir ia levar a t er mo as
oper aes complexas que r ealiza."
25
Ibid., 512 s.: "Ns podemos tomar como ponto de par tida que a vont ade no
um simples epifenmeno, isto , um est ado subj et ivo, sem o qual tudo
continuar ia a andar , no crebro e na r elao, exat ament e como anda com
ele."
26
Ibid., 253.
185
explica a diviso gramatical de nossos vocabulrios de explicao, ou
seja, os que dirigem o olhar para causas observveis e os que o guiam
para argumentos compreensveis, como resultado de uma adaptao
funcional de nossa espcie a dois tipos de entorno: o do mundo
ambiente natural e o do social. A irredutibilidade de um jogo de
linguagem ao outro no deveria preocupar-nos, aqui, mais do que a
insubstituibilidade de uma ferramenta por outra.
27
Tal comparao
poderia, certamente, satisfazer nosso desejo de uma imagem coerente
do universo somente se, a exemplo de Rorty, estivssemos dispostos
a recolher a pretenso de verdade das teorias sob o ponto de vista
funcionalista do sucesso de sua adaptao.
28
Entretanto, a verdade
das teorias no se esgota no sucesso dos instrumentos que podemos
construir com sua ajuda; por conseguinte, a necessidade de uma
interpretao monista do mundo no satisfeita. Se quisssemos
encontrar um lugar no mundo para um dualismo epistmico, a teoria
pragmatista do conhecimento, que sugere uma destranscendentalizao
das pressuposies do conhecimento, pode apontar, apesar de tudo,
na direo correta.
Na viso antropocntrica de uma forma de vida de comunidades
lingsticas de indivduos socializados, capazes de solucionar
problemas de modo cooperativo, os dois vocabulrios e as perspectivas
de esclarecimento que "ns" impomos ao mundo continuam sendo,
para ns, "ineludveis". Eles conseguem explicar a estabilidade de
nossa conscincia de liberdade, a qual se contrape ao determinismo
das cincias naturais. De outro lado, a interpretao que considera o
esprito uma entidade no mundo, enraizada de modo orgnico, no
pode atribuir s duas formas complementares de saber uma validade
a priori. Porquanto o dualismo epistmico no caiu diretamente de
um cu transcendental. Ele deve ter sido fruto de um processo de
aprendizado evolucionrio e deve ter conseguido comprovar-se na
disputa cognitiva do homo sapiens com os desafios de um entorno
27
RORTY, R. " The Br ainas Har dwar e, Cultur e as Softwar e" , |++; 47, 2004,
219-235.
28
ENGELS, E. M. ||.+++s ss 1+sss++ Fr ankfur t/M., 1989.
186
repleto de riscos.
29
A continuidade de uma histria natural, da qual
podemos tecer, ao menos, e em analogia com a evoluo natural de
Darwin, uma idia, a qual no atinge, bem verdade, o nvel de um
conceito teoricamente satisfatrio, garante, mesmo assim - atravs
do fosso epistmico que se abre ene a natureza objetivada pelas
cincias naturais e uma cultura compreendida preliminarmente de
modo intuitivo, por ser compartilhada intersubjetivamente - a unidade
de um universo ao qual os homens pertencem enquanto seres da
natureza.
II. Sobre a interao entre natureza e esprito.
Gostaria de retomar, inicialmente, a "no-eludibilidade" dos jogos
de linguagem especializados em explicaes causais e/ou racionais
porque no estclaro, do ponto de vista da teoria do conhecimento, se
essas duas perspectivas so essenciais ou se possvel marginalizar
uma delas (5). A fim de capturar o dualismo metodolgico num
nat ural i smo "br ando" eu recordo, alm di sso, cert os dados
antropolgicos conhecidos. Eles tm por funo tornar plausvel o
modo como tal dualismo epistmico poderia ter surgido da socializao
da cognio de membros da mesma espcie que dependem uns dos
outros (6). Alm disso, um dualismo metodolgico ainda enfrenta,
numa perspectiva neurobiolgica, o seguinte problema decisivo para
a questo do determinismo: como entender a "ao recproca" entre
crebros individuais e programas culturais? (7).
(5) O fato de no podermos "retroceder" atrs do dualismo
epistmico das perspectivas do saber significa, em primeiro lugar,
que os jogos de linguagem correspondentes e os padres de explicao
no podem ser reduzidos uns aos outros. De outro lado, pensamentos
que podemos expressar no vocabulrio mentalista no podem ser
Cf. tambm sobr e esse " ^pr agmatismo kant iano" minha int r oduo a
HABERMAS, J. "s||. +1 |.:|/.++ Fr ankfur t/M., 1999, 7-64.
187
traduzidos, sem deixar restos semnticos, para um vocabulrio
empirista talhado para coisas e eventos. Nisso consiste precisamente
a cruz das tradies de pesquisa, as quais so foradas a isso quando
pretendem atingir o seu alvo, isto , uma naturalizao do esprito que
procede de acordo com os standards cientficos usuais.
30
Pode tratar-
se, de um lado, de um materialismo que pretende reduzir estados
intencionais, contedos proposicionais ou enfoques a eventos e estados
fsicos; ou de um funcionalismo, segundo o qual, circuitos eltricos
no computador ou estados fisiolgicos naturais no crtex cerebral
"realizam" funes causais que so agregadas a processos mentais ou
contedos semnticos. Em ambos os casos, porm, tais tentativas de
uma naturalizao do esprito fracassam ao nvel dos conceitos bsicos
da necessria traduo. J que as tradues empreendidas por estas
teorias nutrem-se, implicitamente, do sentido das expresses
mentalistas que pretendem substituir; ou ento falseiam, simplesmente,
aspectos essenciais do fenmeno inicial, sendo, por isso, levadas a
redefinies imprestveis.
Isso no deve nos espantar, uma vez que na gramtica dos dois
jogos de linguagem esto inseridas duas ontologias inconciliveis.
Ns sabemos, desde Frege e Husserl, que contedos proposicionais e
objetos intencionais no se individuam no quadro de referncia de
estados e de eventos datveis no espao e no tempo e dotados de
efeitos causais. Isso tambm pode ser elucidado pelo cruzamento do
conceito de causa com o do crculo de funes do agir instrumental.
A proporo que ns interpretamos a sucesso de dois estados do
mundo observados, A e B, como uma relao causai (no sentido
rigoroso de que o estado A condio suficiente para o surgimento de
B), ns nos deixamos conduzir implicitamente pela idia de que ns
mesmos poderamos provocar o estado B, caso intervissemos
Cf. DESCOMBES, V. I|. 4+1s |.s+s 1 (+. / (+.s-
Pr incet on, 2001 e CRAMM, W.-J. |.us.+s+ 1. '.su+1++ |+.
|| +s+s|ss:|. |||s|.+ 1. |.1.+++ ++1 1.s 0.s.s Tese
de dout or ado, Univer sidade de Fr ankfur t/M., 2003.
188
instrumentalmente no mundo e provocssemos o estado A.
31
Tal pano
de fundo intervencionista do conceito de causalidade pode explicar
por que estados mentais ou contedos semnticos, que no podemos
manipular como coisas ou eventos seguindo um caminho instrumen-
tal, resistem a esse tipo de explicaes causais.
E j que no conseguimos reduzir um ao outro os jogos de
linguagem talhados conforme o espiritual, de um lado, e conforme o
fsico, de outro, coloca-se a seguinte questo interessante: talvez seja
necessrio observar o mundo lanando mo das duas perspectivas,
simultaneamente, a fim de poder aprender algo sobre ele. Tudo indica
que a perspectiva do observador, qual o jogo de linguagem empirista
nos restringe, precisa ser cruzada com a de um participante em prticas
sociais e comunicativas, a fim de conseguir, para sujeitos socializados
como ns, um acesso cognitivo ao mundo. Ns somos, em uma nica
pessoa, observadores e participantes de uma comunicao.
Ao assi mi l armos o sistema dos pronomes pessoai s, ns
aprendemos tambm a desempenhar o papel de um observador na
"terceira" pessoa. Isso implica, no entanto, uma vinculao com os
papis do falante e do ouvinte, ou melhor, os papis de uma "primeira"
e de uma "segunda" pessoa. O fato de as duas funes bsicas da
linguagem, isto , a representao de fatos e a comunicao, se
entrelaarem, no casual.
32
E a viso filosfico-lingstica sobre
falantes e destinatrios que se entendem entre si sobre algo no mundo
objetivo, ante o pano de fundo de um mundo da vida compartilhado
intersubjetivamente, pode ser invertida, ao nvel de uma teoria do
conhecimento: ou seja, para um observador, a objetividade do mundo
s se constitui se ocorrer juntamente com a intersubjetividade do
possvel entendimento sobre aquilo que ele apreende cognitivamente
do evento situado no limite do mundo. Quer dizer que somente o
11
WR1GHT, G. H. von. |s|s+s+ s+1 +1.ss+1+ Londr es, 1971, Par te
II; cf. tambm WELLMER, A. " Geor g Henr ik vonWr ight ber ' Er klr en'
und ' Ver st ehen' " , in: |||s|s:|. |++1s:|s+ 26 (1979), 1-27, aqui 4 ss.
" DUMMETT, M. " Language and Communicat ion" , in: id. I|. .ss / |s+
+s. Oxfor d, 1993, 166-187.
189
exame intersubjetivo de evidncias subjetivas possibilita a objetivao
progressiva da natureza. Por isso, os processos de entendimento no
podem ser deslocados inteiramente para o lado dos objetos, isto ,
no podem ser descr i t os como um event o excl usi vament e
"intramundano", o que permitiria a sua "absoro" objetivadora.
33
No cr uzament o compl ement ar entre as perspect i vas do
participante e do observador enrazam-se no somente a cognio
social e o desenvolvimento da conscincia moral,
34
mas tambm a
elaborao cognitiva de experincias que nos atingem quando nos
defrontamos com o entorno natural. As pretenses de verdade so
submetidas a dois testes: ao da experincia e ao do dissenso que outros
podem manifestar contra a autenticidade das experincias de cada um
- ou contra a interpretao que formulamos sobre elas. Por conseguinte,
no laboratrio da cincia, as coisas no so muito diferentes daquelas
que ocorrem no dia-a-dia.
35
Conceito e compreenso perspicaz, construo e descoberta,
interpretao e experincia so momentos que no podem ser isolados
uns dos outros, nem mesmo no processo de pesquisa. Observaes
experimentais so pr-estruturadas pela escolha de um design
determinado teoricamente, a qual repleta de conseqncias. Alm
disso, observaes experimentais podem assumir a funo de uma
instncia de controle proporo que passam a contar como
argumentos que podem ser defendidos contra oponentes. Nesse nvel
" Cf. sobr e isso o ar tigo clssico de SELLARS, W. " Philosophy and the Scien-
t ificlmageof Man" (1960), in: s:.+:. |.:.|+ s+1|.s|; Atascader o
(Cal.), 1991, 1-40.
14
SELMAN, R. b. |+:||++ s,s|.+ '.s.|.+s 1984; HABERMAS, J.
4s||.+sss.+ ++1 |--++|s..s hs+1.|+ Fr ankfur t/M., 1983, 127-
206.
35
Sobr e o que se segue, cf. WINGERT, L. " Die eigenenSinne und die fr emde
St imme" , in: VOGEL, M. WINGERT, L (eds.) "ss.+ ,s:|.+ |+1.:|++
++1 |+s+|+ Fr ankfur t/M., 2003, 218-249; id. " Epist emisch ntzliche
Konfr ontationenmit der Welt" , in: WINGERT, L. GNTHER, K. (eds.) b.
0//.+|:||. 1. '.+++/ ++1 1. '.+++/ 1. 0//.+|:||. Fr ankfur t/
M., 2001, 77-105.
190
de reflexo, a perspectiva do observador que, proporo que faz
experincias, refere-se a algo no mundo num enfoque objetivador se
cruza com a perspectiva de um participante de discursos, o qual, ao
aduzir argumentos, assume um enfoque performativo e se envolve
com seus crticos: "Experi nci as e argument os formam dois
componentes que no se separam da base ou do fundamento de nossas
pretenses de saber algo sobre o mundo."
36
A partir da constatao de que o prprio crescimento terico do
saber depende de um cruzamento complementar entre as perspecti vas
do observador e do participante, Wingett chega concluso de que as
condi es de ent endi ment o, as quais so acessveis apenas
performativamente, isto , na viso de participantes de prticas de
nosso mundo da vida, no podem ser alcanadas cognitivamente com
meios das cincias naturais, ou seja, no podem ser objetivadas
completamente. Por essa razo, uma viso determinista do mundo
no pode pret ender mai s do que uma val i dade ci rcunscri t a
regionalmente. Todavia, esse argumento no implica necessariamente
uma autonomizao transcendental do "para ns" de um "ser em si
mesmo" objetivado maneira naturalista. Ao invs disso, no acesso
bifocal ao mundo, que tpico dos observadores e dos participantes,
do qual depende inclusive o conhecimento objetivador da natureza,
poder-se-ia manifestar o resultado de um processo de aprendizado
evolucionrio.
37
( 6) Numa viso pragmatista, a qual pretende reconcilia
-
Kant
com Darwin, a tese da ineludibilidade pretende demonstrar que o
cruzamento complementar de perspectivas do saber, ancoradas em
um nvel anopolgico profundo, surgiu juntamente com a prpria
forma de vida cultural. A vulnerabilidade do recm-nascido, que
"inacabado" do ponto de vista orgnico, e o longo perodo de formao
tornam o homem dependente, desde o primeiro instante, de interaes
sociais que, no caso dele, mais do que em qualquer outra espcie,
36
WI NGERT (2003), 240.
" HABERMAS, J. (1999), 36 ss.
191
atingem a organizao e a configurao das capacidades cognitivas.
No homem, a existncia social se manifesta numa socializao
comunicativa de cognio e de aprendizagem, a qual se desencadeia
logo no incio. Michael Tomasello caracteriza a capacidade cognitiva
e social de entender um membro da mesma espcie
38
como um ser
que age intencionalmente, j destacada por G H. Mead, como a
conquista evolucionria que separa o homo sapiens de seus parentes
mais prximos e o capacita para um desenvolvimento cultural.
39
Os primatas podem agir intencionalmente e distinguir objetos
sociais de objetos inanimados; no entanto, membros de sua espcie
continuam sendo para eles "objetos sociais" num sentido literal porque
eles no reconhecem no outro um alterego. Eles no compreendem o
outro como um ator que age intencionalmente, o que os impede de
construir juntamente com ele elementos intersubjetivos comuns em
sentido estrito; ao passo que as crianas humanas j aprendem, aos
nove meses, por conseguinte, numa fase ainda pr-lingstica, a dirigir
sua ateno, juntamente com uma pessoa de referncia, aos mesmos
objetos. Ao assumirem a perspectiva de um "outro", este se transforma
num vis--vis, o qual assume em relao a elas o papel comunicativo
de uma segunda pessoa. A perspectiva comum que jsurge nesta idade
inicial, da relao original entre uma primeira pessoa e uma segunda,
constitutiva para o olhar objetivador que assume distncia em relao
ao mundo e em relao a si mesmo: "As novas capacidades cognitivas
e sociais, adquiridas, abrem para as crianas a possibilidade de poder
aprender algo sobre o mundo do ponto de vista dos outros e de poder
aprender, a partir deste ponto de vista, algo sobre si mesmas."
40
Sobre
a base da compreenso social, a controvrsia cognitiva torna-se
dependente do trato cognitivo recproco. O cruzamento da perspectiva
do observador de estados intramundanos com a do participante de
MEAD, G. H. 0.s |1.+s ++10.s.||s:|s/ Fr ankfur t/M., 1968; cf. tambm
HABERMAS, J. I|.. 1.s |--++|s..+ hs+1.|+s Vol. 2, Fr ankfur t/
M., 2002.
Sobr e o que se segue cf. TOMASELLO, M. b. |+|+.||. |+:||++ 1.s
-.+s:||:|.+ b.+|.+s Fr ankfur t/M., 2002.
TOMASELLO (2002), 110.
192
interaes socializa a cognio das crianas com a dos membros de
sua espcie. Tal cruzamento de perspectivas se fixa na troca - regulada
gramaticalmente - dos papis comunicacionais de falante, de
destinatrio e de observador, a partir do momento em que a criana
aprende a dominar, no contexto da aquisio da linguagem, os
pronomes pessoais.
Enquanto os chipanzs no conseguem levar membros de sua
espcie a apontar para objetos, os homens aprendem isso, seja mediante
cooperao, seja mediante ensino. E no trato com artefatos culturais
encontrados j prontos, eles aprendem, por conta prpria, as funes
neles objetivadas. O modo da formao da tradio, a ritualizao e o
uso de instrumentos, que tambm podem ser observados entre os
chipanzs, no revelam nenhum saber cultural implcito compartilhado
intersubjetivamente. Sem intersubjetividade da compreenso no h
objetividade do saber. Sem a "ligao" reorganizadora do esprito
subjetivo e de seu substrato natural, que o crebro, a um esprito
objetivo, isto , a um saber coletivo armazenado simbolicamente, no
so possveis enfoques proposicionais dirigidos a um mundo colocado
distncia. Faltam igualmente os sucessos tcnicos de um trato
inteligente com uma natureza objetivada desta maneira. Somente
crebros socializados, isto , os que conseguem engate em um
determinado meio cultural, tomam-se portadores de processos de
aprendizagem cumulativos, extremamente acel erados, que se
desengataram do mecanismo gentico da evoluo natural.
bem verdade que a prpria neurobiologia faz jus ao papel da
cultura e da socializao da cognio. Wolf Singer distingue entre o
saber congni t o, ar mazenado nos gens e i ncor por ado nas
circunvolues do crebro humano, geneticamente determinados, e o
saber adquirido individualmente, armazenado na cultura. A prpria
adolescncia, a cultura e a sociedade tm uma influncia estruturadora
sobre o crebro; a partir da, tal influncia se manifesta em uma maior
eficincia: "At a puberdade, os processos de experincia e de educao
marcam a configurao estrutural das redes de nervos no interior do
espao de configurao previsto. Mais tarde, quando o crebro jestiver
mais maduro, tais modificaes bsicas da arquitetura no so mais
193
possveis. A partir da, toda aprendizagem limitar-se-a modificaes
da eficincia das conexes existentes. Por conseguinte, o saber sobre
as condies do mundo e sobre as realidades sociais, o qual adquirido
desde o incio da evoluo cultural, deposita-se em marcas culturais
especficas dos crebros individuais. Marcas precoces programam os
processos no crebro de forma quase to persistente como os fatores
genticos, uma vez que ambos os processos se manifestam na
especificao de padres de circuitos."
41
Tais asseres parecem sugerir algo como a "programao" do
crebro por tradies culturais e prticas sociais e, destarte, uma
interao entre esprito e natureza. Todavia, parece que o fato inconteste
de que todas as vivncias conscientes e inconscientes so "realizadas"
indiferenciadamente por processos descentralizados no crebro
suficiente, aos olhos de Wolf Singer, para excluir uma possvel
influncia dos processos do agir e do julgar conscientes, regulados
gramat i cal ment e e armazenados culturalmente, em processos
neuronais: "Se se admite que a negociao consciente de argumentos
repousa sobre processos neuronais, neste caso, ela tem de estar
submetida ao determinismo neuronal da mesma forma que a deciso
inconsciente. "
42
No obstante isso, a realizao neuronal de
pensamentos no implica necessariamente a excluso de qualquer tipo
de programao mental do crebro.
43
( 7 ) O esprito objetivo constitui a dimenso da liberdade da ao.
E na conscincia da liberdade, que o acompanha, performativamente,
reflete-se a participao consciente do "espao dos argumentos",
estruturado simbolicamente, no qual se movem espritos socializados
pela linguagem. Nessa dimenso, a motivao racional de aes e
convices se realiza de acordo com regras lgicas, lingsticas e
41
SINGER (2004), 249
42
Ibid., 251.
Sobre isso, cf. tambm KRGER, H. P. " Das Hirnim Kontext exzentr ischer
Positionier ungen" , in; b.+s:|. /.s:|/| /u |||s|. 52 (2004), 257-
194
pragmticas, as quais no podem ser reduzidas apenas a leis da
natureza. Por que no pensar numa "causao mental" no sentido de
uma programao do crebro pelo esprito objetivo, ao contrrio do
que afirma a tese da determinao do esprito subjetivo pelo crebro?
Singer nega tal possibilidade apoiando-se em trs argumentos
principais, a saber: (a) Ns no sabemos como representar a influncia
causai de um esprito - o qual inobservvel - sobre processos
observveis no crebro, (b) Os processos neuronais, que ingressam
na conscincia pelo caminho da ateno, so variveis, ficando na
dependncia de um amplo fluxo de processos que permanecem
inconscientes, (c) A neurobiologia no consegue descobrir, no crebro
que opera de modo descentralizado, nenhum correlato para o "si
mesmo" de um ator que se atribui decises conscientes.
(a) De fato, porm, na linha da ineludibilidade das perspectivas
do saber, que so complementares e intercruzadas, coloca-se realmente
o "problema da causao": parece que nosso aparelho cognitivo no
estpreparado para entender de que modo os efeitos dos estados de
excitao neuronais, deterministas, podem interagir com uma
programao cultural (a qual vivenciada como uma motivao por
argumentos). Ou seja, em termos kantianos: impossvel entender
como a causalidade da natureza e a causalidade por liberdade possam
entrar em uma ao recproca. Sem embargo, esse enigma coloca
ambos os lados numa situao embaraosa. De um lado, continua
sendo enigmtica a "causao mental" de movimentos de corpos,
explicveis neurologicamente, por intenes compreensveis. Sempre
que assimilamos esse tipo de programao causalidade da natureza
perde-se pelo caminho algo essencial, a saber, a referncia a condies
de validade, sem a qual os contedos proposicionais e os enfoques
permaneceriam incompreensveis.
44
Entretanto, o preo a ser pago
pelo outro lado no menor. O determinismo obrigado a declarar
que a autocompreenso de sujeitos que assumem uma posio racional
no passa de auto-engano.
44
WINGERT, L. " Die Scher e im Kopf. Gr enzender Natur alisier ung" , in: GEYER
(2004), 155-158.
195
Os custos do epifenomenalismo no diminuem, nem mesmo
quando se caricatura a posio contrria: "Se essa entidade imaterial
e espiritual realmente existe, a qual se apossa de ns e nos atribui
dignidade e liberdade, de que modo ela poderia participar de uma
ao recproca com os processos materiais que ocorrem em nosso
crebro?"
45
Como quer que seja, o esprito s"existe", de fato, graas
sua incorporao em substratos materiais sgnicos, os quais so
perceptveis acstica ou oticamente, ou seja, em aes observveis e
exteriorizaes comunicativas, por conseguinte, em objetos ou
artefatos simblicos. Ao lado da linguagem diferenciada em termos
de proposies, a qual constitui a pea-chave das formas de vida
culturais, existem muitas outras formas simblicas, variados meios e
sistemas de regras, cujos contedos significativos so reproduzidos e
compartilhados intersubjetivamente. Podemos interpretar tais sistemas
de smbolos como caractersticas emergentes que se formaram junto
com aquele impulso evolucionrio dirigido para a "socializao da
cognio".
A fim de evitar um falseamento do status ontolgico de um
esprito "objetivo" incorporado simbolicamente em sinais, prticas e
objetos preciso levar na devida conta dois aspectos importantes: de
um lado, o esprito objetivo surgiu da interao dos crebros de animais
inteligentes que tinham desenvolvido a capacidade de assumir as
perspectivas uns dos outros; e ele se reproduz, a seguir, pelas prticas
sociais e comunicativas dos "crebros" e dos seus organismos que,
agora, interagem de um modo novo. De outro lado, o "esprito objetivo"
mantm uma relativa autonomia em relao a esses indivduos j que
o estoque de significaes compartilhadas intersubjetivamente,
organizado de acordo com regras prprias, assumiu uma determinada
figura simblica. E mediante a regulao do uso de smbolos, fixada
gramaticalmente, tais sistemas de significados podem, por seu turno,
exercer influncia nos crebros dos participantes. No fluxo da
socializao de sua cognio forma-se o "esprito subjetivo" dos
participantes individuados que tomam, ao mesmo tempo, parte em
45
SI NGER (2004), 239 s.
196
prticas comuns. Caracterizamos desta maneira a autocompreenso
dos sujeitos que sobressaem no espao pblico de uma cultura comum.
Enquanto atores, eles desenvolvem a conscincia de que podem agir
desta ou daqueloutra maneira porque so confrontados, no espao
pblico dos argumentos, com pretenses de validade que os desafiam
a tomar uma posio.
A idia de uma "programao" do crebro pelo esprito desperta
imagens da linguagem computacional. No entanto, a analogia com o
computador cria uma falsa pista proporo que sugere a imagem
cartesiana de mnadas da conscincia, isoladas, que desenvolvem para
si mesmas "uma imagem interior do mundo exterior". E, com isso,
ela falseia a socializao da cognio, que caracterstica distintiva
do esprito humano. A imagem falsa, no entanto, no provocada
pela "programao". Tudo indica que, em um determinado nvel de
desenvolvimento antropolgico e a partir da interao intensificada
dos membros da espcie, nasce, materializada em sinais, uma camada
de complexos de sentido compartilhados intersubjetivamente e
regulados gramaticalmente. Mesmo que a fisiologia do crebro no
admita uma distino entre "software
1
'' e "hardware", esse esprito
objetivo pode adquirir uma fora estruturadora em relao ao esprito
subjetivo dos crebros individuais. O prprio Singer fala em "marcas"
precoces do crebro, as quais se colocam no contexto da aquisio da
linguagem. Parece que, por um caminho ontogentico, o crebro in-
dividual adquire as disposies necessrias para se "ligar" aos
programas da sociedade e da cultura.
O ceticismo de Wolf Singer baseia-se, acima de tudo, sobre o
fato de que o observador neurolgico no consegue constatar, no
crebro ativado por estmulos dos sentidos, nenhuma diferena de
reao entre os sinais oriundos do entorno natural e os oriundos do
entorno social. No somos capazes de dizer se os estados de excitao
cerebrais se originam pelo caminho da percepo direta de um "prado
em flor" ou de uma percepo cor r espondent e, codi fi cada
simbolicamente - por exemplo, pela contemplao de um quadro
impressionista que retrata esse prado em flor ou por uma recordao
desse prado em flor provocada pela leitura de um romance. E caso
tenhamos diferenas sistemticas, estas no podem ser explicadas pela
197
codificao simblica dos estmulos dos sentidos, isto , como uma
conseqncia da interpretao do prado em flor levada a cabo pelo
estilo de um Renoir ou pela complementao de significao no
contexto de uma ao num romance: "Por isso, acordos culturais e
interaes sociais influenciam as funes do crebro na mesma
proporo que os outros fatores neuronais e seguindo padres de
excitao que neles se formam. A atividade dos neurnios pode ser
provocada por estmulos normais dos sentidos ou por sinais sociais
[...] isso indiferente para as decorrncias de funes nas redes
neuronais."
46
Ningum duvida da existncia de uma conexo causai universal
entre estados observados neurologicamente; no obstante isso, a
circunstncia de que programas culturais tm de ser realizados por
meio de operaes do crebro no obriga, de per si, a um nivelamento
da diferena entre a compreenso da significao de sinais percebidos
simbolicamente e o processamento de "estmulos dos sentidos",
"comuns", no-codificados. Entretanto, o modelo causai,pressuposto
sem discusso, exclui a influncia de um "esprito" programador sobre
processos do crebro. Certamente o crebro no aparece imediatamente
nos contedos proposicionais dos sinais de seu entorno, expressos
simbolicamente, mas mediado por um saber coletivo armazenado
simbolicamente, que se construiu atravs das realizaes cognitivas
das geraes passadas. Por meio das caractersticas fsicas dos sinais
recebidos, o crebro, que se comporta como um esprito subjetivo,
descobre complexos de sentido regulados gramaticalmente que
del i mi t am o espao pblico do mundo da vida compartilhado
intersubjetivamente, destacando-o de um entorno, agora objetivado.
E nesse "espao dos argumentos" estrutura-se o agir e o julgar
conscientes, constitutivos para conscincia da liberdade que os
acompanha.
(b) O fenmeno da liberdade da vontade saparece na dimenso
das decises conscientes. Uma segunda objeo apela, por esta razo,
Ibid., 249.
198
para a irrelevncia neurolgica da distino entre processos conscientes
e inconscientes: " certo, apenas, que as variveis, sobre as quais
repousa o processo de avaliao, so de natureza abstrata no caso da
deliberao consciente e presumivelmente podem ser interligadas
seguindo regras mais complexas do que no caso das decises que so
tomadas, preponderantemente, seguindo motivos inconscientes."
47
Entretanto, sconseguem atingir o limiar da conscincia as vivncias
capazes de atrair sobre si a ateno, podendo ser fixadas no celeiro do
instante, articuladas lingisticamente e interpeladas a partir da memria
declarativa. E as vivncias formam, quando muito, ilhas fugazes no
oceano dos processos inconscientes que se realizam seguindo a linha
de desenvolvimento de padres mais antigos, situados em nveis muito
mais profundos.
A prioridade gentica atribuda aos processos inconscientes
sugere que os processos conscientes tambm dependem, da mesma
forma que aqueles, de leis naturais deterministas. Em que pese isso,
as caractersticas diferenciais h pouco mencionadas no conseguem
explicar por que processos de um tipo de conscincia deveriam estar
subtrados do contexto causai que imposto ao outro: "Nas variveis
de decises conscientes trata-se, de maneira precpua, de algo que foi
aprendido tardiamente, a saber: de saber cultural estilizado, de
colocaes ticas, de leis, de regras do discurso e de normas de
comportamento consensuais. Estratgias de avaliao, valoraes e
contedos de saber implcitos, que entram no crebro por intermdio
de dados genticos preliminares, de impregnao infantil ou de
processos de aprendizagem inconscientes furtando-se, por isso,
conscientizao, no se encontram disposio na qualidade de
variveis para decises conscientes."
48
Mesmo assim, a estratificao gentica ainda no poderia ser
tomada como um argumento inteiramente concludente a favor de uma
interpretao determinista. Porquanto, para chegar a tal concluso
seria necessrio demonstrar a priori, que o crebro no consegue
47
Ibid., 248.
48
Ibid., 252.
199
realizar processos culturais nem desenvolv-los mediante processos
conscientes. certo que os programas culturais tambm no
conseguem obter eficcia no comportamento sem estarem apoiados
em processos realizadores do crebro. A dependncia da vida
consciente do substrato orgnico reflete-se nele mesmo como
conscincia do organismo (Leib). Durante o agir, ns sabemos que
dependemos de um corpo (Krper), com o qual nos identificamos
enquanto substrato orgnico (Leib). Entretanto, j que ns mesmos
somos esse organismo (Leib), experimentamos o organismo auto-
regulador como um conjunto de condies possibilitadoras. O "poder
II agir" caminha junto com a conscincia do substrato orgnico (Leib).
1
Ora, o carter, o substrato orgnico e a histria da vida no sero
percebidos como determinantes causais enquanto no definirem, na
qualidade de um organismo (Leib) prprio, de um carter prprio e de
uma histria da vida prpria, o "si mesmo" que faz com que as aes
se tornem nossas aes.
(c) A terceira objeo refere-se a esse "si mesmo" da autocom-
preenso de atores - construdo socialmente - os quais partem da
idia de que podem agir desta ou daquela maneira. A neurobiologia,
no entanto, busca em vo uma instncia capaz de coordenar tudo no
crebro e que poderia ser subordinada ao "eu" experimentado
subjetivamente. Singer conclui, a partir dessa observao neurolgica,
que o carter da conscincia do eu ilusrio e que o valor posicionai
da conscincia da liberdade "epifenomenal". Ele acentua que a "nossa
intuio se engana dramaticamente nesse ponto. Diagramas dos
circuitos de entrecruzamento das seces dos crtices cerebrais no
conseguem detectar nenhum indcio da existncia de um centro de
convergncia singular. No existe nenhuma central de comando, [...]
a partir da qual o ' eu' pudesse constituir-se. Crebros de animais
vertebrados altamente desenvolvidos apresentam-se, ao invs disso,
como sistemas organizados distributivamente, ext remament e
entrelaados, nos quais um nmero gigantesco de operaes realizado
simultaneamente. Tais processos paralelos organizam-se sem a
necessidade de um centro de convergncia singular e levam, em sua
200
totalidade, a percepes coerentes e a um comportamento coordenado".
Disso tudo resulta o assim chamado problema de ligao: "de que
modo os inumerveis processos de el aborao, que ocorrem
simultaneamente nas diferentes seces dos crtices cerebrais podem
coordenar-se a ponto de viabilizar interpretaes coerentes dos variados
sinais dos sentidos, determinaes claras para determinadas opes
de ao e reaes motoras coordenadas?"
49
Sem embargo, tal observao no pode servir como argumento
contra a liberdade da vontade, a no ser que se admita a premissa,
segundo a qual, a auto-referncia do agente responsvel pressupe
uma central de comando para a qual existe um correlato neuronal. Tal
idia integra a herana da filosofia da conscincia, a qual centra o
sujeito vivenciador na autoconscincia e o contrape ao mundo tido
como uma totalidade de objetos. O fato de a crtica neurolgica julgar
necessrio lanar mo da imagem da "instncia-eu", hierrquica, revela
que a neurologia e as cincias da cognio mantm um parentesco
secreto com tal filosofia da conscincia. Partindo da relao bipolar
entre o "eu" e o "mundo", ou melhor, entre "crebro" e "entorno", os
dois lados chegam ao mesmo paradigma do esprito, que tido como
uma conscincia subjetiva que se descobre na "perspectiva-da-
primeira-pessoa" de um sujeito que possui vivncias. Tal conceito de
"mental", comum aos dois lados, criado quando se desfoca a
perspectiva da segunda pessoa, qual uma primeira pessoa se refere
enquanto participante de uma prtica comum.
O uso do pronome pessoal da primeira pessoa singular revela,
segundo Wittgenstein, que atrs do "dizer-eu", reificador, no se
esconde nenhuma instncia que pudesse ser tomada como uma
entidade no mundo, com a qual pudssemos nos relacionar.
50
Alm
da funo de ndice, a expresso "eu" assume ainda diferentes funes
gramaticais. No uso expressivo da linguagem, as frases formadas com
4
" Ibid., 243.
5
Cf., em conexo com o ar gumento wit t genst einiano das linguagens pr ivadas,
a anlise excel ent e de TUGENDHAT, E. .||s|.+sss.+ ++1
.||s|.s--++ Fr ankfur t/M., 1979, aulas 4 e 6.
201
auxlio de "eu" mais uma expresso mentalista, vivenciais, preenchem
uma funo de exteriorizao de vivncias que o pblico atribui ao
falante. A realizao de atos ilocucionrios, que so verbalizados com
o auxlio de "eu" mais uma expresso performativa, preenche a funo
no-temtica de reclamar para o falante, enquanto iniciador de aes
imputveis, um lugar na rede de relaes sociais.
51
Em nosso contexto,
importante destacar que o "eu" s preenche todas essas funes
enquanto componente de um sistema de pronomes pessoais sem
assumir, no entanto, nenhuma posio privilegiada.
O sistema dos pronomes pessoais funda uma rede descentrada
de relaes simetricamente conversveis entre primeiras, segundas e
terceiras pessoas. Ora, se as relaes sociais, que alter ego assume
com o falante, possibilitam uma relao auto-referencial de ego, as
instncias de referncia - que por natureza so relacionadas -
constituem variveis em um sistema de comunicao abrangente.
Podemos entender o "eu" como uma construo social
52
e, nem por
isso, ele deve ser tido como uma iluso.
Na conscincia do eu reflete-se, de certa forma, o engate do
crebro individual em programas culturais que se reproduzem somente
por comuni cao soci al , ou seja, distribudos pel os papis
comunicativos de falantes, destinatrios e observadores. Os papis da
pr i mei r a, da segunda e da t ercei ra pessoa, r eci pr ocament e
intercambiveis, servem tambm para a insero individuadora do
organismo singular no "espao dos argumentos", o qual pblico,
permitindo aos indivduos socializados, na qualidade de autores
responsveis e livres, agir e tomar posio quanto a pretenses de
validade.
51
HABERMAS, J. " I ndividuier ung dur ch Ver gesellschaft ung" , in: id.
\s:|-.s|;ss:|.s b.+|.+ Fr ankfur t/M., 1988, 187-241. Para acompanhar
a discusso entr e E. Tugendhat, Dieter Henr ich e eu cf. MAUERSBERG, B.,
b. |s+. 1|s:|.1 .+ 1. |.+sss.+s||s|. Tese de dout. Fr ank-
fur t/M., 1999.
" Cf. sobr e isso a intr oduo in: DBERT, R., HABERMAS, J. e NUNNER-
WINKLER (EDS.) |+:||++ 1.s |:|s Colnia, 1977, 9-31.
202
7. " EU MESMO SOU UMBOCADO DE NATUREZA" -
ADORNO SOBRE O ENLAAMENTO ENTRE RAZO E NATUREZA.
CONSIDERAES SOBRE A RELAO ENTRE LIBERDADE E INDISPONIBILIDADE.
O jubileu de Adorno estricamente guarnecido: temos livros,
biografias, lbuns com fotografias, conferncias - e inumerveis
eventos da mdia, de voyeurs e de amantes. No que Adorno
desprezasse tudo isso. Todavia, tal interesse vital de uma esfera pblica
mais ampla e ruidosa contrasta com as hesitaes mais silenciosas
dos colegas de ofcio que, estimulados por este mesmo evento, voltam
a se debruar sobre a obra do grande filsofo e socilogo - e se deparam
com inmeras dificuldades, aparentemente insuperveis. A teoria da
sociedade e a filosofia de Adorno encontram-se ainda mais distantes
das discusses atuais do que o eram durante a "Adorno-Konferenz"
realizada neste mesmo local, vinte anos atrs.
1
O evento de hoje
pretende examinar se a teoria ainda tem algo a oferecer para a
atualidade: qual a relevncia do filsofo e socilogo Adorno no
contexto das atuais controvrsias? Para enfrentar tal questo escolhi o
tema da liberdade que Adorno abordou nas suas aulas sobre filosofia
moral
2
e na Dialtica negativa,
3
especialmente nos pontos que mantm
um dilogo com a filosofia moral de Kant.
1
FREI DEBURG, L. v. e HABERMAS, J. (eds.) 11+|+/..+, Fr ankfur t/
M., 1983.
2
ADORNO, T. W. |||.-. 1. 4s|||s|. (1963), Fr ankfur t/M., 1996.
No que se segue essa obr a sercitada pelas iniciais " PM" .
3
ADORNO, T. W. \.s.. bs|.|| in0.ss--.|. :|/.+ Vol. 6. Fr ank-
fur t/M., 1973. No que se segue, essa obr a sercitada pelas iniciais " ND" .
203
Como conseqncia dos progressos acelerados nas cincias
biolgicas e nas pesquisas sobre a inteligncia artificial, os princpios
naturalistas adquiriram uma nova relevncia no mbito da filosofia
do esprito. E na seqncia, a antiga disputa sobre determinismo e
liberdade encontra eco, surpreendentemente, nas prprias disciplinas
das cincias naturais. Ao menos aqui, em nossa terra, onde - ao contr-
rio dos Estados Unidos - os pressupostos de um naturalismo cientifi-
cista no conseguiram lanar razes muito profundas na tradio filos-
fica, apesar da ampla difuso de uma mentalidade secular. Ns conti-
nuamos tentando uma reconciliao entre Kant e Darwine nos
propomos uma compreenso melhor do estado de coisas aparentemen-
te paradoxal que Adorno formula da seguinte maneira: "Que a razo
algo distinto da natureza e, mesmo assim, um momento dela: sua
pr-histria que se tornou sua determinao imanente."(ND, 285).
Tal formulao fruto de uma intuio, segundo a qual, os
prprios sujeitos que se guiam pela razo e, nesta medida, agem
livremente, no esto totalmente liberados do evento da natureza. Eles
no podem desligar-se de sua procedncia natural ao tentarem a
transferncia para um espao inteligvel e originrio. Entretanto, tal
renncia ao dualismo kantiano, que criara um hiato entre o reino da
liberdade transcendental e o reino dos fenmenos da natureza,
conectados segundo leis, v-se confrontada, agora, com o seguinte
problema, o qual reproduz basicamente, em frmulas novas, o velho
problema: de que modo uma liberdade da vontade, presa natureza,
pode encontrar, de modo compreensvel, um lugar num mundo fechado
de modo causai? "Se os sujeitos empricos podem realmente agir por
liberdade, ento a unidade kantiana da natureza - fundamentada por
categorias - estquebrada, porque os prprios sujeitos fazem parte da
natureza. Nesse caso, porm, a natureza revelaria uma falha que estaria
em contradio com a unidade do conhecimento da natureza, alvo
principal das cincias da natureza [...]." (PM, 150 s.)
Nessa passagem, Adorno refora expressamente a caracterizao
kantiana das cincias naturais, a fim de relembrar a aporia que deriva
da concepo, segundo a qual, a vontade livre incompatvel com o
conceito de causalidade da natureza entendida como "conexo,
204
conforme leis, de um estado com um outro que o precede."
4
Sua
argumentao visara dissoluo da antinomia que envolve liberdade
e determinismo. E com tal intuito, ele procede a um deslocamento
semntico no conceito de natureza, o que darorigem a uma srie de
conseqncias. Ele subordina o conceito cientificista de natureza, isto
, o domnio de objetos das cincias naturais, cujas explicaes so
causais, ao conceito schellingiano, romntico, de uma "natureza
naturante" (natura naturans) - de uma histria da natureza que pode
ser decifrada na "nossa" retrospectiva como pr-histria do esprito.
Pelo caminho de uma assimilao natureza objetivada e disponibi-
lizada, surgiu, no interior da esfera do esprito, uma segunda natureza,
que se mostra como que invertida, na figura de relaes sociais que se
apresentam "com a aparncia de natureza" (naturwuchsig). O estigma
de tal natureza invertida reside na fora causai de motivos inconscientes
nos quais a causalidade segundo leis da natureza parece confundir-se
com a "causao por ar gument os", a qual no cont r adi z a
autocompreenso de um autor capaz de agir de modo responsvel.
Desta forma, explicaes psicanalticas do desenvolvimento da moral
constrem uma ponte entre a liberdade e o determinismo.
bem verdade que tal concepo de uma histria da natureza
que sai dos trilhos no capaz de solucionar realmente a antinomia;
mesmo assim, ela nos fornecer, no final, um aspecto interessante.
Debruar-me-ei, inicialmente, sobre a fenomenologia da conscincia
cotidiana da liberdade, a qual nos acompanha intuitivamente e que
Adorno desenvolveu de passagem. Nela j se encontra um conceito
destranscendentalizado de liberdade condicionada pela natureza, o
qual, todavia, deixa intocada a antinomia entre a liberdade e o
determinismo (I). A intuio adorniana sobre a rememorao da
natureza no sujeito tem na mira a liberdade no sentido pretensioso de
uma emancipao da "aparncia de natureza" (Naturwchsigkeit). Tal
crtica de uma razo entregue natureza (naturverfallen) tambm no
consegue solucionar o enigma de uma razo entrelaada com a
natureza, desenvolvido na terceira antinomia kantiana (II). No ob-
4
KANT, I. || 1. .+.+ '..++/ B, 560.
205
stante isso, os dois momentos da liberdade condicionada pela natureza,
desenvolvidos especulativamente, isto , a indisponibilidade da
natureza subjetiva e a indisponibilidade dos posicionamentos de um
"outro", no-idntico - colocam-nos no centro das atuais polmicas
sobre princpios naturalistas (III).
I. Sobre a fenomenologia da conscincia da liberdade.
Para uma fenomenologia no-distorcida da conscincia da
liberdade de sujeitos agentes decisivo um primeiro lance: a viso
no pode ficar presa ao sujeito da auto-observao nem subjetividade
da vivncia. A conscincia da liberdade conscincia implcita da
ao. O olhar fenomenolgico hque estar dirigido para a realizao
da ao, onde tentarsondar o saber que funciona como pano de fundo
e que acompanha de modo intuitivo. Entretanto, o levar em conta de
alguma coisa que aparece de modo no-temtico enquanto realizamos
out ra coisa, de modo intencional e temtico, possui carter
performativo. Adorno destaca esse ponto quando, ao posicionar-se
contra o carter supostamente inteligvel da liberdade, leva a campo a
"at ual i zao t emporal " da auto-experincia do agente: "No
inventvel, como a liberdade e, em princpio, atributo do agir tempo-
ral [...], deve poder ser predicado de algo radicalmente intemporal."
(ND, 251)
Desta maneira, o sentido ilocucionrio de atos de fala se nos
torna presente quando "fazemos" asseres sem tematiz-las
explicitamente como asseres, objees, perguntas ou conselhos. De
certa forma, no entanto, tal saber situa-se apenas na superfcie. Basta
trocar a perspectiva do participante pela de uma terceira pessoa para
que o sentido ilocucionrio de uma ao de fala se transforme,
imediatamente, no contedo de uma nova descrio anafrica. Dessa
maneira, o "saber como se faz algo" pode ser transposto para um
"saber de algo". No obstante isso, no se pode analisar qualquer tipo
de prtica maneira dos jogos de linguagem wittgensteinianos, isto ,
como uma observncia de regras conhecidas implicitamente.
Porquanto a conscincia da liberdade, que acompanha tacitamente
todas as nossas aes, estsituada num nvel to profundo ou estto
206
distante, na retaguarda, que no fcil traz-la luz do dia. O
importante, porm, que o carter performativo chama nossa ateno
para a perspectiva de participantes, a nica capaz de estabelecer um
acesso auto-experincia do sujeito que age livremente.
Ope-se a isso o clssico arranjo experimental que faz de ns
"asnos de Buridan"*, a fim de isolar o momento da liberdade de arbtrio
que se encontra na possibilidade de agir desta ou daquela forma. Ele
nos convida a assumir a perspectiva de uma pessoa que se observa a
si mesma, mesmo que a consci nci a da liberdade, present e
performativamente, se esquive da perspectiva de um observador.
Adorno no suporta tal tipo de experimento. Ao levantar o livro que
se encontra diante dele e ao deix-lo cair, a seguir, ele demonstra a
"liberdade de arbtrio" com a finalidade de chamar a ateno dos seus
estudantes para o espao pblico dos argumentos, o qual no levado
na devida conta pelo conceito solipsista da liberdade de arbtrio.
Porquanto aquela exibio, absurda, deixa de s-lo somente no
horizonte de expectativas sociais de um estabelecimento de ensino:
"Por conseguinte, retomando, mais uma vez, o exemplo idiota, se eu
deixo cair o livro, num primeiro momento isso determinado como
minha deciso livre; existe, todavia, uma srie de condies que podem
nos levar a pensar o mesmo. Por exemplo, eu me sinto levado a
demonstrar para vocs o fenmeno da assim chamada ao por
liberdade e no tenho mo nada melhor do que esse maldito livro;
ento eu o deixo cair e isso pode ser aplicado a todo tipo de coisas
[...]." (PM, 80).
A pessoa que age por liberdade j se movimenta em um espao
intersubjetivo, onde outras pessoas podem interpel-la perguntando,
" Tal expr esso utilizada, em ger al, para car acter izar a situao de algum
obr igado a escolher entr e dois obj et os de igual valor . atribuda a J ohannes
Bur idanus, lgico e filsofo da natur eza, dur ante vinte anos reitor da Sor bonne,
na pr imeir a metade do sculo XIV. Tr ata-se da imagem de um asno esfomeado
que se encontr a no meio, atrado por dois feixes de feno eqidistantes. Ainda
de acor do com a tr adio, o animal iria mor r er de fome, j que se sentir ia
atrado, em igual medida, pelos dois lados (n.t.).
207
por exemplo: "Por que o senhor levanta o livro e o deixa cair
novamente?" Com isso tocamos em um primeiro aspecto do contedo
daquilo que temos intuitivamente presente quando agimos. Um ator
no se sentiria livre se no pudesse, quando necessrio,prestar contas
dos motivos de seu agir. Reaes involuntrias ou emoes tal como,
por exemplo, o enrubescer e o empalidecer ou ainda desejos cegos
no entram na categoria do agir. Spodem ser atribudas a um sujeito
as aes que deixam transparecer uma inteno. No agir cotidiano
ns podemos sentir-nos intuitivamente "livres", porm, somente
quando nossas aes puderem ser interpretadas como a execuo de
um determinado propsito, isto , como exteriorizao da vontade.
Caso contrrio, nossas aes no so passveis de imputao.
5
O que
distingue a vontade de uma pulso cega so os argumentos. Ora, h
muitos tipos possveis de argumentos capazes de levar a uma deciso
refletida. E uma vez que a vontade sempre se movimenta em meio a
argumentos, o sujeito agente pode ser interrogado sobre "seus
argumentos". Alm disso, jque a razo a faculdade dos argumentos,
torna-se compreensvel a assero de Adorno, segundo a qual, "a razo,
na figura da vontade, confisca a pulso" (PM, 190). A razo
raciocinante forma a vontade lanando mo das sensaes e emoes
difusas, isto , do seu "material". (ND, 327).
Tal formulao, at certo ponto brusca, a qual desloca Kant para
a perspectiva de Freud, d a entender, todavia, que esse primeiro
aspecto da conscincia da liberdade - a racionalidade da vontade como
base da responsabilidade para com outras pessoas - no esgota o
sentido da liberdade. Porquanto a razo, enquanto faculdade impessoal,
poderia perpassar anonimamente a vontade de qualquer tipo de sujeito
sem abrir nenhum espao para um agir prprio da respectiva pessoa.
Em que pese isso, quem age tendo conscincia da liberdade entende-
se como autor de suas aes. Um olhar mais circunspeto no pode
ignorar o fato de que, nessa conscincia da autoria se ligam dois
aspectos distintos, a saber, o de que eu tomo uma iniciativa e o de que
sou eu e somente eu que tomo tal iniciativa.
5
TUGENDHAT, E. " Der Begr iff der Willensfr eiheit" , in: id. |||s|s:|.
1+/ss,. Fr ankfur t/M., 1992, 334-352.
208
Sentir-se livre significa, em primeiro lugar, poder iniciar algo
novo. No que tange a esse "iniciar", Adorno se situa, de modo
inteiramente convencional, num ponto prximo terceira antinomia
kantiana, porquanto, segundo ele, sujeitos que agem livremente
intervm em processos regulados por leis naturais e "fundam", como
ele diz, novas sries de causas. O agente que toma uma iniciativa
supe que, com isso, ele estcolocando algo em movimento, o que
no aconteceria de outra forma. J que no possvel colocar, no
enfoque performativo, a questo sobre o modo como nossas aes
podem "criar um nexo objetivo com a causalidade da natureza".
Entretanto, a iniciativa tem de ser experimentada como prpria
e, para que isso acontea, toma-se necessrio um momento de auto-
adscrio. Eu tenho de referir-me a "mim" mesmo, reflexivamente,
como sendo, em ltima instncia, o autor competente das colocaes
de uma nova srie de determinantes. preciso que o fato de eu tomar
uma iniciativa em relao a algo, de eu agir desta ou daquela maneira
"dependa de mim". A fenomenologia da conscincia da liberdade capta
as suposi es de uma autoria responsvel, l evadas a cabo
performativamente, considerando dois aspectos at agora abordados,
a saber, a vontade moldada por argumentos e o reiniciar de algo.
Convm perguntar, todavia: quem esse "si mesmo" da auto-atribuio
de aes das quais me sinto autor? Para responder a tal pergunta,
Adorno situa-se no contexto de uma disputa com o conceito kantiano
de liberdade inteligvel.
Ele afirma que o meu substrato orgnico (Leib) e minha histria
de vida constituem, juntos, o ponto de referncia das aes que me
so atribudas.
A espontaneidade de "meu agir", presente na experincia de si
mesmo, de um agente, no brota de nenhuma fonte annima, mas de
um centro que sou eu mesmo, com o qual, portanto, eu me identifico.
Kant localizara a fonte de uma referncia consi go mesmo na
subjetividade transcendental da vontade livre, no eu "noumenal".
Todavia, caso se entenda a vontade livre como idntica vontade
racional, o eu individual dificilmente poderfundar-se numa vontade
livre. Pois tal vontade livre no teria fora individuadora, j que sua
209
estrutura dependeria de uma razo impessoal. O lance destranscenden-
talizador, de Adomo, desenvolvido numa direo oposta, principia
com uma diferenciao que introduz uma cunha entre o juzo e o agir.
Para que os bons argumentos no produzam apenas uma vontade
"boa", porm, impotente, mas uma ao correta, necessrio que a
simples conscincia venha "acompanhada de algo mais": "A prxis
necessita tambm de algo diferente que no se esgota na conscincia,
ou seja, mais precisamente, de algo somtico, inclinado para a razo,
porm, qualitativamente distinto dela."(ND, 228). O elemento prtico
que, na realizao do agir e na concretizao do propsito, ultrapassa
o elemento terico dos bons argumentos, descrito por Adomo como
"impulso", como "aquilo que desde sempre salta para fora", como
"espontaneidade que Kant transplantou para a esfera da conscincia
pura" (ND, 229).
Nesse "elemento que vem juntar-se", que , ao mesmo tempo,
mental e somtico, e que, portanto, tambm ultrapassa a esfera da
conscincia qual pertence, faz-se valer o substrato orgnico de um
corpo; e para t-lo como meu corpo eu tenho de ser esse corpo (Krper)
enquanto soma (Leib).
6
Eu experimento a natureza subjetiva "inte-
rior" no modo da existncia somtica que eu vivo enquanto tal: "Kant
inverte tal estado de coisas. Por mais que se sublime, com conscincia
crescente, aquilo que se junta e, inclusive, por mais que o prprio
conceito da vontade seja formado, com isso, como algo substancial e
unssono - a forma de reao motora seria liquidada inteiramente;
caso a mo no mais se contrasse, no haveria mais vontade."(ND,
229). A base de referncia do "ser si mesmo" (Selbstsein) e da auto-
atribuio das aes "respectivamente minhas" no vontade racional
enquanto tal, mas natureza subjetiva que acolhe tal vontade, seu
enraizamento orgnico na natureza vivenciada de minha vida vivida
somaticamente.
6
Helmut Plessner escolhe o dualismo entr e " ser cor po" (|.|; e "ter um cor po"
|.; como chave para anlise da " posio excnt r ica" do homem. Cf.,
id. b. +/.+ 1.s 0s+s:|.+ 0sss--.|. :|/.+ Vol. IV, Fr ankfur t/
M., 1981. M. Weingar tenr etoma esse mot ivo no cont ext o da biotica. Cf. id.
|.|.+ ||||.| 1s|.|s:|. 0++1|.//. Bielefeld, 2003.
210
A centrao de minha existncia, experimentada no modo de ser
orgnico, condio necessria para uma referncia reflexiva a mim
como autor de minhas aes, porm, no suficiente. O soma o
substrato orgnico da vida de uma pessoa insubstituvel fisicamente
que adquire caractersticas de um indivduo inconfundvel no decorrer
da histria de sua vida. Na passagem para o agir no entra em cena
apenas o impulso corporal - a "mo que estremece" - mas tambm a
histria da vida como moldura do cuidado existencial para com o
prprio bem, que sempre vem antes. A considerao racional sentra
em jogo na forma de uma persecuo inteligente de fins prprios. A
primeira sublimao de emoes, de sentimentos e impulsos, imediata,
surge de um desejo de felicidade j refrato reflexivamente, o qual se
lana cada vez mais para frente. Retroligada existncia somtica,
uma vontade tica esboa o projeto de uma autocompreenso indi-
vidual luz do qual o cuidado moral pode ser integrado no interesse
simtrico de outros.
Aberta para reflexes morais, porm, inicialmente auto-
referencial, a vontade tica a fora formadora do carter constituindo,
juntamente com a autocompreenso pessoal, um "si mesmo" que pode
dizer "eu" a si mesmo. Adomo reconhece no "carter" que transforma
a pessoa em um indivduo, "esse meio termo entre a natureza e o
mundus intelligibilis, o qual (carter) Benjamin contrasta com o
destino" (ND, 237). A razo prtica e a liberdade moral, que foram
objeto dos esforos kantianos, s se desenvolvem em contextos da
histria das vidas de pessoas preocupadas com o seu prprio bem.
Podemos ver agora que a fenomenologia da conscincia da liberdade
que se prope elaborar uma explicao de aspectos da autoria
responsvel presentes at mesmo em aes ingnuas, ainda no se
refere "vontade livre" no sentido kantiano estrito. J que o sentido
intuitivo da autoria responsvel refere-se a todo tipo de aes, no
apenas s aes morais.
Adomo descreve tal conscincia da ao em geral ou experincia
de liberdade - ainda no especificada de acordo com argumentos
pragmticos, ticos ou morais - sem projet-la para um eu inteligvel
situado alm da natureza e da histria. Sua descrio aponta para um
211
sujeito que procede da natureza e da histria levado por sensaes e
i mpul sos, o qual se constitui como um "si mesmo" que age
responsavelmente apoiado em seu modo de existir somtico e por
intermdio da fora individualizadora de cuidados ticos para com a
prpria biografia. Sob o ponto de vista gentico, a relao entre natureza
e razo assimtrica; - num bom sentido darwinista - uma resulta da
outra: "Surgindo efemeramente desta, a razo , ao mesmo tempo,
idntica e no-idntica natureza."(ND, 285). Em suma, aps a
destranscendentalizao da vontade livre, no mais possvel
determinar os limites entre a razo e a natureza como fronteiras entre
um inteligvel e um emprico, j que a linha divisria passa a correr
"em meio a uma empiria" (ND, 213). Sem embargo, convm perguntar,
em que sentido se deve entender, aqui, o conceito de "natureza" e de
causalidade natural.
A proporo que Adorno retira a vontade - guiada pela razo -
da esfera do inteligvel e a situa nos domnios da experincia corporal
e das biografias individualizadoras de pessoas que agem, ele substitui
o conceito de liberdade incondicionada, aportico, pelo conceito de
uma liberdade procedente da natureza. Na perspectiva do agente que
se entende como autor de aes responsveis, tal conceito de uma
liberdade condicionada pela natureza e inserida em contextos da
histria de uma vida ainda no oferece nenhum enigma. Porquanto,
no processo do agir, a natureza se nos apresenta apenas frontalmente
como entorno, como uma esfera - determinada por leis da natureza -
de condies limitadoras, de ocasies convidativas e de meios
disponveis. A causalidade natural que entra em j ogo a tergo
desfocalizada no decorrer da realizao da ao - porque, na
perspectiva participante, a viso no consegue atingi-la.
A estabilidade da conscincia da liberdade pode ser ameaada
reflexivamente por um saber proveniente do enfoque objetivador de
um observador da natureza objetiva - ou da natureza constituda pelas
cincias experimentais. Os motivos de nossas aes somente
conseguem emaranhar-se contra-intuitivamente na complexa rede do
evento do mundo, fechado e entrelaado de modo causai, quando
abandonamos a perspectiva de um participante e passamos a adotar a
de um observador. Na conscincia do ator no pode colocar-se o
212
problema da combinabilidade entre liberdade e causalidade da
natureza. Porque o agente no se sente, enquanto tal, submetido
natureza qual ele se contrape e na qual ele intervm. Tampouco ele
pode sentir-se dependente da prpria natureza subjetiva, pois, na
espontaneidade de seu agir, enquanto "soma" que ele , ele se sabe
idntico a ela. Sob a premissa de ser uma s coisa com seu soma, a
estrutura de condies da natureza interior lhe aparece como conjunto
(Ensamble) de condies possibilitadoras da prpria liberdade. E
proporo que o substrato orgnico se introduz de modo determinante,
enquanto natureza de instintos, na biografia, o agente se reconhece
como o autor que toma posio frente aos prprios impulsos que ele
processa transformando-os em argumentos motivadores.
Isso tambm vale para argumentos ticos do agir pelos quais o
carter e a histria da vida conseguem motivar racionalmente uma
vontade. Como no caso da identificao com o prprio corpo {Krper)
e com as tendncias, trata-se, tanto aqui como l, de um ato de
apropriao, ou melhor, de um ato de identificao mais ou menos
consciente capaz de explicar porque as influncias cunhadoras da
identidade, oriundas da socializao e do entorno, no so sentidas
como um destino que limita a liberdade. Em princpio, a criana pode
posicionar-se, numa viso retrospectiva, quanto aos prprios processos
de formao e decidir quais formas de vida culturais, tradies ou
modelos so "determinantes" - a ponto de ela apropriar-se deles - e
quais no so. Deixar-se determinar por isso no constitui obstculo
liberdade, j que faz parte dela. O agente s pode experimentar os
argumentos que resultam de seu "carter" e de seu surgimento histrico
como uma coao quando ele se coloca, de certa forma, "ao lado de si
mesmo", passando a considerar a histria da sua prpria vida como
algo indiferente, destitudo de qualquer tipo de valor.
7
7
Deixar -se deter minar no constitui limit ao da liber dade, e sim, uma for ma
de possibilitao dela. Cf. sobr e isso SEEL, M. :| |.s--.+ |sss.+ Fr ank-
fur t/M., 2002, 288: " Quem no fosse deter minado em vrios sent idos no
conseguir ia deter minar -se a si mesmo [...]. O ser deter minado um r espaldo
const it ut ivo da det er minao de si mesmo."
213
Os argumentos e a troca de argumentos criam o espao lgico
para a configurao da vontade livre. Os argumentos podem,
certamente, obrigar, por exemplo, algum a modificar sua opinio.
Todavi a, bons ar gument os conduzem forosamente a uma
compreenso perspicaz; mas no podem confinar (einschranken) a
unidade de uma vontade - que livre somente enquanto vontade
razovel.
8
A "coao" inerente aos argumentos no deve ser
interpretada no sentido de uma limitao da liberdade. Antes, pelo
contrrio, eles so constitutivos para a conscincia da liberdade que
constitui a folha de contraste para as experincias da no-liberdade.
Nesse contexto, Peter Bieri afirma, com razo: "A liberdade confivel
da deciso consiste no fato de que no se pode decidir diferentemente
daquilo que temos por correto".
9
Argumentos podem motivar ou causar
aes, porm, preciso que o sujeito que reflete esteja convicto de
sua fora de imposio. Em processos de avaliao prtica, os
argumentos adquirem sua fora - capaz de motivar aes - pelo fato
de serem decisivos para uma ao alternativa. E medida que eles,
por intermdio disso, assumem a funo de motivos, no adquirem
sua eficcia por leis da natureza, mas por regras gramaticais. A conexo
lgico-semntica, a qual liga uma assero a outra, que a precede, no
do mesmo tipo que a conexo nomolgica entre um estado e um
outro estado precedente.
II. Liberdade como emancipao da "aparncia de natureza" -
Rememorao da natureza no sujeito.
A fenomenologia da conscincia da liberdade consegue formular,
pois, um conceito consistente de liberdade condicionada pela natureza.
Contrapondo-nos a Kant, que via na liberdade uma faculdade
inteligvel, podemos sustentar a idia de que no se pode entender a
relao entre liberdade e no-liberdade a partir do contraste entre
8
SCHNDELBACH, H. " Ver mutungenber Willensfr eiheit" , in: id. '.+++/
++1 0.s:|:|. Fr ankfur t;M., 1987, 96-125.
9
BIERI, R Das hs+1.| 1. |.|. Munique, 2001, 83.
214
incondicionalidade e condicionalidade.
10
Em que pese isso, a
liberdade inteligvel - desprendida do mundo - no pode ser negada
de modo incorreto. Adorno tem na mente a imagem de uma razo
que procede da natureza e permanece enlaada com ela. A natureza
experimentada como conjunto das condies que possibilitam a
liberdade abrange os impulsos corporai s de uma exi st nci a
vinculada a um soma (Leib), bem como aspiraes e modos de
sentir, por conseguinte, o "material" acessvel auto-experincia,
a partir do qual possvel forjar, na flama das consideraes
di scur si vas, uma det er mi nada vont ade. A vont ade l i vre
determinada pela fora da motivao de consideraes que refletem
no somente sobre desejos e representaes prprias, mas tambm
sobre condies, ocasies, meios e possveis conseqncias. In-
clusive, aos olhos do agente, tais pensamentos formadores da
vontade nascem de sua natureza subjetiva; porm, eles no podem
ser, na sua viso, projetados, ao mesmo tempo, para o interior da
natureza objetivada de modo cientificista.
Os complexos de condies que um sujeito assume in actu, na
qualidade de autor de suas aes, refletem-se nessa conscincia, porm,
no como complexos determinadores no sentido da causalidade da
natureza, kantiana. Porque, se verdade que os fenmenos da
conscincia da liberdade, que acompanham de modo no-temtico,
so acessveis no enfoque performativo de um agente, s podemos
atribuir natureza a causalidade no sentido de uma conexo regular
de estados que se sucedem um ao outro quando adotamos o enfoque
objetivador de um observador. Por isso, seria necessrio, para superar
a antinomia entre liberdade e determinismo, estabelecer uma relao
compreensvel entre a auto-experincia do ato de deciso refletida, o
qual se realiza intuitivamente, e o evento que ocorre simultnea e
"obj et i vament e" no subst rat o do corpo (Leib). A anlise
fenomenolgica da liberdade condicionada pela natureza no dispe,
por si mesma, de meios para a construo de tal ponte entre a linguagem
da filosofia, ligada perspectiva da ao, e a linguagem da neurologia,
10
Ibid., 243.
215
ligada perspectiva do observador." Como traduzir a assuno
responsvel da autoria em relao ao prprio agir para um
acontecimento observvel e explicvel mediante causas, de tal modo
que possamos saber, tanto antes como depois, que estamos falando
sobre os mesmos fenmenos?
Qualquer pessoa desejosa de solucionar a antinomia entre
liberdade e determinismo deveria colocar tal pergunta. Adorno,
entretanto, no a coloca. Ao invs disso, ele retira a causalidade da
primeira natureza, constituda pelas cincias experimentais, e a
transfere para a esfera de uma segunda natureza, social, constituda
pelo caminho da represso da liberdade. Tal conceito de sociedade,
revestido de caractersticas naturais, sui generis, torna possvel analisar
a relao entre causalidade e liberdade no horizonte da experincia de
sujeitos que agem livremente. Porque a causalidade s pode ser
analisada em geral como "coao", isto , como uma espcie de
encolhimento do espao para a avaliao racional de possibilidades
alternativas de ao, no interior desse horizonte da conscincia da
liberdade cotidiana.
" Na per spect iva de um obser vador , BIERI (ibid., 287) descr eve o pr ocesso de
avaliao de alter nativas de ao como um " acontecimento" , porm, ele
focaliza esse saber na prpria conscincia da ao de uma ter ceir a pessoa.
Nesse pont o, ele comet e o er r o de nivelar a diferena de linguagem que
exist e entr e uma anlise de condies r ealizada em conceit os de ar gumentos
e uma anlise de condies r ealizada em conceit os de causas: " De modo
ger al, a r eflexo sobr e as alter nativas um acont eciment o que, j unt ament e
com minha histria, no final, ir me amarrar a uma vontade deter minada. Eu
sei disso, porm, isso no me incomoda. Ao contrrio, nisso que consist e
pr ecisament e a liber dade da deciso." De fato, porm, a estabilidade r eflexiva
da conscincia da liber dade mediante saber obj et ivador colocada em r isco
- e nessa medida a ant inomia kantiana par ece ter r azo. A passagem para
uma descr io natur alista de consider aes - daquilo que se nos afigur a como
r eflexo prpria - como pr ocessos neur onais no crebro pr ovoca, cer tamente,
uma dissonncia cognit iva por que a conscincia da liber dade e todas as suas
suposies se pr ende de tal modo ao enfoque per for mativo da r ealizao
atual da ao, que ela se decompe instantaneamente quando tem incio uma
consider ao objetivador a.
216
Adorno leva a srio uma antinomia entre liberdade e deter-
minismo que se coloca nessa viso interna e tenta dirimi-la a favor da
conservao da liberdade: "As decises do sujeito no se desligam da
corrente causai, por isso, acontece um solavanco."(ND, 226) A
fenomenologia da liberdade condicionada pela natureza probe,
todavia, o desvio para o reino do inteligvel: "E novamente a tradio
filosfica interpreta tal elemento ftico, que advm e no qual a
conscincia se aliena, apenas como conscincia, como se fosse possvel
representar a interveno do esprito puro." (Ibid.) E certo que Adorno
atm-se intuio que guiou Kant quando da elaborao de sua
proposta de soluo: "Somente a reflexo do sujeito poderia, se no
quebrar a causalidade da natureza, ao menos modificar sua direo
acrescentando outras sries de motivao." (Ibid.) Entretanto, jque a
soluo idealista inconsistente, e uma vez que o naturalismo no
estmais interessado numa explicao que faa jus aos fenmenos,
ele v-se obrigado a ir em busca de uma outra soluo, "materialista"
- no sentido de uma pesquisa causai das patologias sociais nas quais
se manifesta uma supresso estrutural da liberdade. E ele coloca tal
teoria da sociedade, materialista, no quadro de uma concepo da
histria da humanidade: a histria da humanidade uma histria da
natureza que saiu dos trilhos.
Nas trs operaes conceituais, delicadas, necessrias ao
desenvolvimento de tal concepo, o conceito de natureza interna ou
subjetiva, o qual conhecemos por intermdio da fenomenologia da
liberdade condicionada pela natureza, assume um papel indiscutvel.
decisivo o contraste entre a indisponibilidade da prpria natureza,
experimentada na realizao espontnea de nossa vida somtica, de
um lado, e a submisso da natureza exterior, objetivada, de outro lado.
No jogo alternado entre essas duas modalidades de natureza, isto ,
entre natureza subjetiva, indisponvel, e natureza objetiva, tornada
disponvel, h resqucios de uma normatividade jusnaturalista discreta,
resguardada nas filosofias da vida, a ser discutida mais adiante.
Inicialmente, Adorno lana mo do conceito de "aparncia de
natureza" (Naturwuchsigkeit) para colocar em cena a causalidade so-
cial de uma liberdade retida, expulsa da conscincia (1). A seguir, ele
217
radicaliza a liberdade cotidiana ordinria transformando-a numa
emancipao extra-ordinria de condies que se aparentam natureza
(naturwchsig) (2). Finalmente, ele limita a causalidade natural de
estados que resultam uns dos outros, de modo regular, a uma natureza
constituda com a finalidade de tomar as coisas disponveis, ou seja,
ele a circunscreve ao campo de objetos das cincias naturais cujas
explicaes so causais. Tudo isso permeado por uma razo instru-
mental que no combina com uma dimenso abrangente do destino
natural da humanidade. A causalidade de condies sociais que apenas
"se aparentam natureza" parasitria, j que se alimenta de uma
liberdade reprimida no podendo, por essa razo, ser superada mediante
reflexo. A liberdade pode, por conseqncia, continuar mantendo a
ltima palavra (3).
( 1 ) 0 destino que marca a natureza interna de sujeitos agentes
em decorrncia de uma submisso, socialmente organizada e cada
vez mais intensa, da natureza exterior, constitui o ponto de partida
para o conceito de "aparncia de natureza" (Naturwuchsigkeit). No
incio, a razo distancia-se das carncias primrias, a fim de satisfazer
apenas funes insuspeitas de uma autoconservao - sem negar sua
procedncia da natureza. Graas a consideraes racionais, no entanto,
os sentimentos e carncias se sublimam, em um primeiro degrau,
transmutando-se em preferncias de uma atividade teleolgica
(zweckrational); no prximo degrau, eles se transformam em
representaes da felicidade ou em ideais de uma vida no-fracassada.
E proporo que a razo continua trabalhando, em sintonia com a
natureza subjetiva, na formao da vontade inteligente e tica, ela
passa a constituir uma "fora psquica separada para fins da
autoconservao; e uma vez separada e colocada em contraste com a
natureza, ela se toma o seu outro" (ND, 284 s.). Sem embargo, a
razo, que se originou da natureza, entra em desavena com esta to
logo el a- impulsionada pela vontade de autoconservao transformada
num fim em si mesmo - entrega-se corrida social desenfreada que
visa uma submisso da natureza exterior chegando a ponto de negar a
natureza que se encontra nela prpria. Ora, "quanto mais a razo
218
desenfreada insiste em se perfilar dialeticamente como o oposto
absoluto da natureza e quanto mais ela olvida a natureza que existe
dentro dela mesma, tanto mais ela regride, auto-afirmao asselvajada,
simples natureza."(ND, 285).
E isso abre espao paia um outro conceito de natureza, pejorativo
- o da involuntria "aparncia de natureza" (Naturwuchsigkeit)
assumida por condies sociais que se coagulam maneira de um
sistema. Diferentemente da natureza interior - que inscreve na razo
dela nascida uma orientao para a felicidade -, a razo instrumental
- que visa uma autoconservao pouco inteligente - transformou-se
no agente de uma sociedade que "se aparenta natureza". "Aparncia
de natureza" significa uma sociedade assimilada s regularidades e
leis de uma natureza objetivada, isto , de uma sociedade que reprime
a interao social por intermdio de uma inverso, a qual coloca a
liberdade abaixo do nvel do agir livre. Na concorrncia desenfreada
entre atores que tentam se auto-afirmar uns contra os outros e na
soci al i zao funci onal , i nt r anspar ent e, os i mper at i vos da
autoconservao, que no so, todavia, irracionais por natureza,
voltam-se contra seu prprio objetivo, a saber, a felicidade do indivduo
e da sociedade. Porquanto na concorrncia egocntrica entre indivduos
singulares ligados sistemicamente uns aos outros sufocada a
camaradagem entre estranhos, a qual sempre inspirou o sonho socialista
de uma sociedade emancipada que garante a todos, em igual medida,
a liberdade.
12
A crtica sociedade "que aparenta ser natureza" coloca mostra
o ponto que a fenomenologia adomiana da conscincia da liberdade
pretendia atingir: tal fenomenologia tinha uma tarefa propedutica, a
qual consistia no esclarecimento do pano de fundo intuitivo que permite
entrever experincias de no-liberdade. J que a no-liberdade no
pode aparecer a no ser no horizonte da liberdade. Ns sentimos que
no somos livres quando descobrimos que as limitaes de nosso
espao de ao so conseqncia de uma coao, seja ela externa ou
interna. Ns agimos coagidos quando fazemos algo contra a vontade
l 2
BRUNKHORST. H. |1ss| ++. |.-1.+ Fr ankfur t/M., 1997.
219
- na qual i dade de sditos e necessitados, como dependentes
internamente, ou como fugitivos.
13
E somos no-livres num sentido
ainda mais intenso, inquietante, quando no conseguimos mais sentir
como tal, aquelas coaes internalizadas. O interesse de Adomo volta-
se para os mecanismos sociais de coao que se estabelecem sob a
aparncia de liberdade, isto , que se transformam em coaes
neurticas, inconscientes, graas a uma internalizao de princpios
normativos. As sociedades que se aparentam natureza funcionam
como se suas leis fossem leis da natureza. O controle sistmico realiza-
se pelo "mdium" do agir livre, o qual continua intacto; apesar disso,
o controle impe-se por sobre a cabea dos sujeitos agentes degradando
a conscincia da liberdade subjetiva, que passa a ser tida como mera
iluso.
(2) Podemos desconsiderar, aqui, a assuno totalizadora,
segundo a qual, os mecanismos do mercado e da normalizao
burocrtica culminam numa expanso descontrolada do princpio de
t roca e no funci onal i smo extremo de um mundo t ot al ment e
administrado.
14
Foucault continuou, no entanto, a trabalhar nesta linha.
Quanto a mim, tendo em vista a controvrsia de Adomo com Kant,
interesso-me por uma outra questo: serpossvel encontrar, na
filosofia moral de Kant, um elemento capaz de se contrapor
"aparncia de natureza", da sociedade, ou serque tal filosofia nada
mais do que um simples reflexo dessa "aparncia de natureza" -
apenas o espelho de uma auto-afirmao asselvajada? Adomo parece
sugerir essa segunda alternativa quando critica o imperativo categrico
pelo fato de no conseguir descobrir nele nada mais do que "o prprio
princpio da dominao da natureza elevado condio de um princpio
absol ut o e t ransformado em algo normat i vo" (PM, 155). O
mandamento abstrato da considerao simtrica dos interesses de todos
l3
BI ERI , (2001), Ca p. 4, 84 ss.
' " HABERMAS, J. I|.. 1.s |--++|s..+ hs+1.|+s Fr ankfur t/M., 1981,
vol. 1,489-534; id. b.||s|s:|. bs|+s 1.41.+. Fr ankfur t/M.,
185, cap. V.
220
parece centrar as energias impulsivas num eu, o qual, sob o jugo
rigoroso de um superego estranho ao eu, impe normas da sociedade
ao desejo de felicidade dos movimentos libidinosos individuais.
De outro lado, porm, Adomo no esconde de seus estudantes
que ele um crtico da sociedade que fala a partir da filosofia moral
de Kant. Adomo descobre, especialmente no formalismo e no patos
da incondicionalidade da lei moral, o corretivo de uma "imagem do
possvel que prescinde de imagens", a qual Kant ops tendncia que
tudo nivela e transmuda em algo fungvel (PM, 224 s.). Segundo
Adomo, o mandamento que obriga a tratar toda a pessoa, ao mesmo
tempo e em qualquer momento, como fim e jamais somente como
meio, ope-se tendncia geral que procura o sentido prprio do agir
no desempenho de funes do mercado e da burocracia. Adomo
tolhido, sempre e de novo, pela sua prpria crtica fora niveladora
de leis gerais e abstratas - a crtica a uma "identidade" que agrega a si
mesma tudo o que "no-idntico" - como se ele pressentisse que a
liberdade de um universalismo igualitrio, desenvolvida em termos
i nt ersubj et i vi st as, no tem necessi dade de se fechar a uma
fundamentao de normas, sensvel a diferenas, ou a uma aplicao
de normas, adequada situao. A oposio entre dever e inclinao
no significa que deva haver, em cada caso, represso da simpatia
nem que "qualquer tipo de impulso deva ser suprimido". Porquanto
Adomo pensa que a diferenciao entre desejo e vontade tem de ser
atribuda introduo de argumentos capazes de justificar o bem
prprio no quadro da considerao simtrica dos interesses de outros.
O nico ponto controverso, a pedra de escndalo, tem a ver com
a idia de um inteligvel completamente destacado da natureza, ao
qual Adomo contrape o entrelaamento da razo prtica com a
natureza. Ele no se interessa tanto pela liberdade na figura trivial da
conscincia da autoria responsvel, que acompanha todas as nossas
aes, mas pela liberdade como emancipao do feitio de uma
sociedade que "se aparenta natureza" (naturwchsig): "A liberdade
toma-se concreta nas figuras cambiantes da represso, isto , na
resistncia contra elas. Sempre houve tanta liberdade da vontade quanto
os homens tiveram vontade de libertar-se."(ND, 262). Adorno atribui,
221
pois, a liberdade a uma vontade de segunda ordem, vontade de tomar-
se consciente de sua no-liberdade. Para apreender isso, mister se faz
um esforo auto-reflexivo da razo, o qual permita eludir a falsa
constelao formada pela natureza e pela razo.
Segundo o modelo da anlise freudiana de motivos excludos da
conscincia, os quais determinam o comportamento eludindo uma
vontade esclarecida racionalmente e se tornam perceptveis em
sintomas patolgicos, a "rememorao da natureza no sujeito" tem
como finalidade preparar a sua libertao da coao - com aparncia
de natureza - da sociedade.
15
Aqui, mais uma vez, trata-se de elevar
para o plano da conscincia necessidades e interesses excludos do
discurso pblico, os quais continuariam, de outra forma, presos sua
fora cega e determinante. O que corta a comunicao da natureza
interna com a formao da vontade racional no o processo que
toma a natureza exterior, enquanto tal, disponvel do ponto de vista
tcnico e cientfico. Porquanto o tipo de causalidade redutora da
liberdade fruto da auto-afirmao asselvajada de uma sociedade que
apenas se aparenta natureza e que se organiza segundo o princpio
de uma "persecuo cega de fins da natureza". Ela desacorrenta o
crculo vicioso da dominao - monstruoso e em constante expanso
- , o qual acompanha tanto a natureza exterior como a correspondente
opresso da natureza interior.
( 3 ) Sob tais premissas, Adomo pensa ter encontrado uma soluo
para a antinomia que decorre da relao entre liberdade e determinismo.
Porquanto, quando se superam, de um lado e mediante reflexo, as
restries neurticas ao espao de liberdade da ao, e quando se
consegue reconstituir a comunicao interrompida entre a razo e os
elementos da natureza interior, dissociados, temos um crescimento
da liberdade. De outro lado, tal ato libertador da rememorao da
15
HORKHEI MER, M. e ADORNO, TH. W. bs|.|| 1. 1+/||u++
Amst er dam, 1947, 55; esta obr a sercitada daqui para fr ente por " DA" . Cf.
tambm SCHMI DNOERR, G. bss |+.1.+|.+ 1. \s+ - +|.|
Dar mstadt, 1990.
222
natureza no cai diretamente do cu. Jque, motivada pelo sofrimento
resultante de uma liberdade manietada, a auto-reflexo levada a
buscar apoio na compreenso dos nexos e regularidades que se
estabelecem entre trauma, defesa e formao de sintomas. Nesse ponto
tambm se toma claro que, a partir do momento em que a causalidade
transferida semanticamente da "primeira" para a "segunda" natureza,
o prprio problema da liberdade deslocado. A emancipao das
coeres de uma sociedade que detm uma "aparncia de natureza"
no atinge a antinomia originria que resulta da relao entre a
conscincia da liberdade do agente e o saber posterior sobre o
fechamento causai do mundo, que desestabilizador.
Adomo poderia enfrentar tal objeo lanando mo de sua verso
de uma "histria da natureza" que imprime na histria da humanidade
um duplo cunho. No entanto, impressionado pela filosofia da vida, de
Simmel, e imbudo pelas lies de Benjamin, o j ovem Adorno
apropriou-se da idia de uma "segunda natureza" em uma verso que
o jovem Lukcs tinha formulado na Teoria do romance, da seguinte
maneira: "Esta natureza no muda, nem manifesta ou, menos ainda,
inimiga dos sentidos, como a primeira: ela constitui um complexo
petrificado de sentidos, o qual se tomou estranho e incapaz de despertar
a interioridade; uma espcie de cemitrio da interioridade assassinada;
por isso, ela somente poderia ser reconquistada - caso isso fosse
possvel - por um ato metafsico de ressurreio do elemento
espiritual."
16
Adomo interpreta tal diagnstico da seguinte maneira: o
destino de uma desunio provocada pela cultura se vinga com natureza.
Por isso, na reflexo sobre tal desunio est"contida a verdade oculta
de toda cultura" (DA, 5 7 ) .
A Dialtica do esclarecimento arremata tal pensamento. Aqui, a
"rememorao da natureza no sujeito" (ibid.) tem por funo liberar a
16
ADORNO, TH. W. " Die Idee der Natur geschichte" , in: 0.ss--.|. :|/.+
Fr ankfur t/M., 1997, vol. I, 356, s., cit. in: LUKCS, G. b. I|.. 1.s
|-s+s Ber lim, 1920,52 s. Cf. HONNETH, A. " Eine Welt der Zer r issenheit.
Die untergrndige Aktualitt vonLukcs' Frhwerk", inid. b. ,.ss.+.
".| 1.s ,s|.+ Fr ankfur t/M., 1990, 9-24.
223
viso para a considerao dos incios arcaicos - reconstrudos como
pr-histria de nossa natureza subjetiva - de uma natureza ainda no
desunida, os quais continuam legveis nas cifras das mutilaes. O
descarrilamento da histria da natureza atribudo "disponibilizao"
"selvagem" - incorreta - de uma natureza objetivada, proporo
que tal disponibilizao entrega uma natureza, inteiramente depredada,
ao imperativo social de foras produtivas desencadeadas que se
tornaram sistemicamente autnomas e cegas. Para nosso tema,
decisiva a suposio pragmtico-transcendental, segundo a qual, a
mesma razo instrumental incorpora-se nas cincias que subsumem
a natureza circundante aos conceitos da causalidade e da
regularidade, a fim de torn-la disponvel. Entrementes, atravs desse
lance, a imagem naturalista de um mundo determinado por leis e
regularidades perde seu poder sobre a autocompreenso dos sujeitos.
Pois, to logo a recordao da natureza no sujeito descobre a diferena
abissal que se estende entre essa natureza constituda "para ns" e
uma natureza que "em si mesma", os enunciados das biocincias
sobre a natureza objetivada do homem deixam de ser a medida
indubitvel para se medir a estabilidade reflexiva da conscincia da
liberdade de sujeitos que agem.
III. A cominao naturalista natureza subjetiva.
Um pensamento que pretendia continuar solidrio com a
metafsica no instante da sua queda no tinha necessidade de temer a
concepo metafsica de uma prioridade da natureza no-objetivada
sobre a natureza constituda pelas cincias experimentais. Sem em-
bargo, na perspectiva daqueles que vieram depois, como o nosso
caso, tal conceito de uma histria da natureza que sai dos trilhos, que
vem carregado normativamente - e de um direito natural posto em
movimento por uma filosofia da histria - parece suspeito. E a partir
do momento em que renunciamos a tal narrativa referencial no
podemos mais relativizar o que sabemos sobre a natureza constituda
tomando como ponto de referncia o destino de uma natureza
pretensamente "outra". Quando reconhecemos como instncia ltima
224
e medida suprema de nosso saber a natureza das cincias naturais,
cujas epistemologias so realistas, desperdiamos os ganhos que a
idia de uma histria da natureza prometia fornecer para a superao
da antinomia da liberdade. Porquanto, nesse caso, o saber sobre o
fechamento causai do mundo do qual o homem participa enquanto
produto da evoluo natural reduz-se - agora como antes - a uma
disputa com a conscincia da liberdade, a qual , de uma forma ou de
outra performativmente inexterminvel.
No final destas consideraes, gostaria de averiguar se tal
premissa, que nos obriga a uma maior sobriedade, ainda permite extrair
dos diagnsticos de Adorno algo instrutivo sobre a dissoluo da
antinomia kantiana. H vrios pontos que sugerem a possibilidade de
se tomar a dialtica do esclarecimento como ponto de referncia para
uma interpretao do debate biotico sobre as possveis conseqncias
das intervenes tcnicas no genoma humano; porquanto nela tambm
se trata dos limites de uma interveno prtica na natureza subjetiva
que torna esta ltima disponvel (1). Em que pese isso, a problemtica
envolvendo a liberdade e o determinismo atinge, antes, os limites da
disponibilizao epistmica da subjetividade vivenciadora e realiza-
dora de uma razo enlaada com a natureza. Ora, o contedo normativo
da idia adorniana de histria da natureza no se esgota na indisponi-
bilidade da natureza subjetiva j que se estende ao "no-idntico", o
qual se subtrai, no encontro com um outro, a uma interveno
objetivadora. Tal considerao pode lanar alguma luz sobre o debate
atual acerca das tentativas de naturalizao do esprito (2).
(1) A indisponibilidade dos incios orgnicos da vida vivida
desempenha um papel preliminar na fenomenologia da liberdade
determinada pela natureza. A intuio, segundo a qual, a orientao
racional por metas no longo prazo deve estar em sintonia com as
sensaes espontneas e com os impulsos de uma natureza interior, a
qual no pode estar disposio de ningum, insuspeita do ponto de
vista metafsico. O faro pelos limites morais da disponibilidade da
natureza subjetiva pode ser justificado independentemente do sentido
normativo, prprio de uma ortognese, que Adomo inscreve na histria
225
da natureza descarrilada como um todo. Serque ns no nos
sentiramos limitados em nossa liberdade tica de configurar coisas
se, um belo dia, a manipulao bem-sucedida das disposies
hereditrias do organismo humano se tomasse um costume aceito pela
sociedade?
17
No sabemos se no futuro teremos nossa disposio tecnologias,
as quais permitem a manipulao gentica de caractersticas desejadas,
de disposies ou capacidades dos descendentes. No obstante isso,
os progressos na pesquisa biogentica e na tecnologia dos gens abriram
recentemente perspectivas de prticas eugnicas despertando, ao
mesmo tempo, as fantasias de um "shopping no supermercado
gentico" shopping in the genetic supermarket (Peter Singer), as quais
conferem surpreendente atualidade ao pensamento que serve de base
Dialtica do esclarecimento. De acordo com tal diagnstico, um
sujeito que se autoriza a si mesmo e que transforma tudo sua volta
em objeto expande a disposio sobre a natureza exterior ao preo da
represso da prpria natureza interior. Aobjetivao do entorno exte-
rior intensifica a auto-objetivao no interior do prprio sujeito: "O
domnio do homem sobre si mesmo [...] constitui virtualmente o
extermnio do sujeito, porquanto a substncia dominada, reprimida e
decomposta por meio de autoconservao no nada mais do que o
elemento vivo [...] precisamente aquilo que deve ser conservado."
(DA. 71).
Tal relao dialtica entre dominao da natureza e decomposio
do sujeito provocada por uma segunda natureza que resulta da
organizao social de um crescimento descontrolado das foras
produtivas. Sabemos, no entanto, que hoje em dia tal dialtica tambm
pode ser vislumbrada quando situamos a relao entre uma pessoa,
cujos gens foram modificados, e seus pais - supostamente bem
intencionados e preocupados - fora de um contexto social mais amplo.
A natureza exterior, tomada disponvel, , neste caso, o corpo (Krper)
embrionrio de uma futura pessoa; e a natureza subjetiva em
decomposio o organismo, desenvolvido a partir do embrio, que
17
HABERMAS, J. b. /+|++/ 1. -.+s:||:|.+ \s+ Fr ankfur t/M., 2002.
2 2 6
a pessoa em crescimento experimenta como seu substrato orgnico
ou soma (Leib), o qual foi manipulado na fase pr-natal.
Em que pese isso, uma pessoa s pode atribuir suas prprias
aes a si mesma caso ela se identifique com o corpo (Krper)
enquanto seu prprio soma (Leib). Caso contrrio, no haveria
nenhuma base de referncia para uma familiaridade originria consigo
mesma enquanto autora de aes prprias. A pr-histria pr-natal da
natureza subjetiva, ela mesma, tambm precisa estar livre de
intervenes estranhas. Jque, por mais inteligentes, liberais e sensveis
que os pais sejam, eles no podem excluir a possibilidade de que o
filho talvez rejeite, um dia, o dote gentico que eles pensaram para
ele. E no caso de uma recusa, a pessoa programada ir questionar os
pais pelo fato de eles no terem escolhido um outro design que teria
garantido melhores condies iniciais para o prprio projeto de vida.
Na perspectiva de atingidos, os pais aparecem como co-autores
indesejados da histria de uma vida em relao qual cada um exige
a autoria exclusiva, a fim de se sentir livre no agir. Os pais tiveram de
escolher - seguindo preferncias prprias - a distribuio dos recursos
naturais para um espao de configurao no interior do qual uma outra
pessoa deverdesenvolver sua concepo de vida e persegui-la. Tal
escolha acarreta virtualmente implicaes que coarctam a liberdade,
porque ningum pode prever, sob as circunstncias imprevisveis da
histria de uma vida futura, o tipo de significao que determinadas
caractersticas genticas podero ter para a pessoa programada.
De acordo com a compreenso normativa de uma sociedade
pluralista em termos de vises de mundo, na qual cada cidado tem o
direito de configurar sua vida conforme orientaes valorativas
prprias, a interveno na definio de espaos de um jogo - que
normalmente entregue aos cuidados de uma loteria natural - no
interior dos quais uma outra pessoa terde fazer uso, um dia, da
liberdade de configurar sua prpria vida, tida como uma usurpao
indevida. proporo que a diferena entre "o que se tomou" e "o
que foi feito" avana no organismo do ainda no-nascido, estabiliza-
se, na esfera do prprio soma (Leib), uma vontade estranha, fazendo
estremer a base de referncia para a auto-atribuio de iniciativas de
uma conduta de vida prpria. Na esteira do exerccio reiterado de tais
227
prticas, passaria a ser tido como cada vez mais normal o fato de os
pais imiscurem-se, na qualidade de co-autores instrumentais, na
histria da vida de seus filhos. Neste caso, uma corrente de aes
intergeneracionais, cada vez mais densa, impor-se-ia irreversivelmente
por intermdio das redes de interao contemporneas causando danos
conscincia da liberdade cotidiana, conectada indisponibilidade
prtica da nat ureza subjetiva, que cami nha j unt o, de modo
performativo.
Tal experimento mental revela o modo como a autocompreenso
no-naturalista de sujeitos agentes poderia impor-se pelo caminho de
uma implantao muda de novas tecnologias e de prticas modificadas.
No entanto, tal solapamento silencioso da conscincia da liberdade
no atinge propriamente nossa questo sobre a estabilidade dessa
conscincia. Jque, para se chegar a um saber desestabilizador sobre
a determinao natural de nossa vontade, que supomos seja livre, no
basta uma objetivao prtica da subjetividade vivenciadora e
realizadora do homem: necessria, alm disso, uma objetivao
epistmica. No sentido das cincias experimentais, os fenmenos
culturais tal como pensamentos, atitudes proposicionais, intenes e
vivncias tornam-se "disponveis epistemicamente" to logo so
traduzidos para uma linguagem observacional. E a partir da, podem
ser descritos, exaustivamente, como fenmenos mentais. Tal linguagem
talhada conforme a ontologia nominalista de coisas e eventos
identificveis no espao e no tempo, o que possibilita uma interpretao
de estados intramundanos com o auxlio de conceitos de um evento
explicvel em t ermos de causas e encadeado em t ermos de
regularidades. Se tal tipo de programas de pesquisa naturalista fosse
bem-sucedido, seria possvel substituir os fenmenos acessveis na
perspectiva participante por autodescries objeti vadoras. E com isso,
teramos encontrado equivalentes funcionais para a conscincia
intuitiva da liberdade, os quais abririam o caminho a uma soluo
naturalista para a terceira antinomia kantiana.
( 2) Adomo jamais se ocupou de tais tentativas de reduo. Mesmo
assim, ele poderia interpretar como vestgios do "no-idntico" os
228
"furos'' semnticos que surgem regularmente nas tentativas destinadas
a reconceitualizar argumentos em termos de causas. Parece que o poder
de objetivao de uma razo que submete tudo a si mesma topa, na
dimenso de uma auto-relao, com o sentido prprio de uma natureza
interior espontnea e, na dimenso horizontal das relaes sociais,
com a vontade e as caractersticas prprias de segundas pessoas -
pessoas que se diferenciam umas das outras e que podem contradizer.
Quando um alter ego tenta tomar disponvel, de modo objetivador,
uma outra pessoa, estferindo essa pessoa, num duplo sentido. E com
isso, ele deixa transparecer outros dois aspectos da indisponibilidade.
O sentido prprio do outro faz-se valer, de um lado, como
individualidade de uma pessoa inconfundvel, a qual se subtrai s
intervenes de determinaes gerais. O Adomo da Dialtica negativa
confere grande destaque a esse momento do "no-idntico".
18
Ora, a
si ngul ar i dade histrica do indivduo spode ser acessada
performativamente, a saber, pelo caminho de um reconhecimento da
alteridade do outro, a ser obtido no decorrer de uma interao.
19
Somente uma intersubjetividade invulnerada pode impedir que os
desiguais sejam assimilados ao igual. Ela consegue evitar a anexao
de um pelo outro e salvaguardar a possibilidade de ambos "continuarem
sendo, numa proximidade consentida, o distante e o diferente, num
plano situado alm do heterogneo e do prprio" (ND, 192). De outro
lado, o sentido normativo prprio do "outro" tambm se manifesta
nos posicionamentos do interlocutor, os quais no so manipulveis.
I 8
BUTLER, Judith ocupa-se, em suas aulas sobr e Adomo, das implicaes ticas
do " no-idnt ico" || 1. 0.s| Fr ankfur t/M., 2003). Seu princpio
inter subjetivista consegue descobr ir , na obr a de Ador no, aspect os que ele
mesmo deixa imer sos na penumbr a levado pelo seu cet icismo em r elao
comunicao. No obstante isso, ela dr amatiza a r esponsabilidade para com
a segunda pessoa impulsionada pela viso cripto-teolgica de Emmanuel
Levinas, o qual - difer entemente do, neste ponto kantiano Ador no - ent ende
a r elao inter pessoal no de modo igualitrio, mas como uma r elao tridica
assimtrica: LEVI NAS, E. b. + 1.s 1+1..+ Fr eibur g, 1983.
19
HABERMAS, J. " Individuier ung durch Ver gesellschaftung" , in: id. \s:|-.s
|;ss:|.s b.+|.+ Fr ankfur t/M., 1988, 187-241.
229
Qualquer tentativa de instrumentalizao nega ao outro a posio de
uma pessoa insubstituvel que toma, por conta prpria, posio crtica,
dizendo "sim" ou "no" e que age de forma correspondente, por
vontade prpria.
20
No podemos interferir arbitrariamente nos
posicionamentos autnomos do outro.
Ao topar com tais resistncias singulares nos lembramos dos
problemas conceituais com os quais se defrontam as tentativas que
pretendem reduzir os argumentos a causas.
21
Esse o primeiro lance
no jogo epistmico de uma naturalizao da conscincia da liberdade:
Jque a vontade livre uma vontade determinada por bons argumentos,
a motivao racional por argumentos tem de ser derivada de uma
causao de acordo com o modelo nomolgico. Os argumentos,
todavia, no valem de modo absoluto, porquanto so, naturalmente,
argumentos comunicveis - so sempre argumentos para algum.
Alm disso, a comunicao de argumentos realiza-se pelo mdium de
uma linguagem comum, de tal sorte que o "sim" ou o "no" dos
participantes segue determinadas regras "gramaticais". O fato de que
uma das partes no pode dispor, num enfoque objetivador, sobre as
tomadas de posio da outra pode ser explicado lanando mo da
circunstncia de que a linguagem comum precede as intenes dos
falantes singulares. "Os significados so desprovidos de intenes"
(Meanings ain 't something in the head) (Putnam). A precedncia de
uma estrutura de perspectivas entrecruzadas obriga os participantes a
se posicionarem uns em relao aos outros na qualidade de segundas
pessoas. Por meio disso, cada um toma-se dependente dos incalculveis
posicionamentos de um outro. Atravs da socializao em uma
linguagem natural e pela entrada performativa no status de membro
de uma comunidade lingstica, as pessoas adentram o espao pblico
dos argumentos. A fim de adquirir a capacidade de prestar contas uns
2U
GNTHER, K. " Gr und, der sich selbst begrndet. Oder : Was heist eine Per -
sonzu sein" , in: \.+. |++1s:|s+ 114 (2003), 66-81.
21
Cf. CRAMM, W.-J . |.us.+|s+ 1. '.su+1++ |+. ||
+s+s|ss:|. |||s|.+ 1. |.1.+++ ++1 1.s 0.s.s Tese de dout.
em filosofia. Fr ankfur t/M., 2003.
230
aos outros, o que constitui uma qualidade essencial para qualquer
pessoa em geral e para um autor de aes, responsvel, imprescindvel
a capacidade de participar de uma troca de argumentos.
Corresponde a tal precedncia ontolgica e social da linguagem
a precedncia metodolgica de que gozam, na ordem da explicao,
as significaes incorporadas nas prticas comuns e compartilhadas
intersubjetivamente, as quais precedem os estados internos dos
indivduos participantes. At agora, todas as tentativas elaboradas com
o intuito de substituir a imagem pragmtico-social da incorporao
do esprito em prticas compartilhadas intersubjetivamente pela
imagem naturalista de processos neuronais, que tm lugar no crebro
humano, ou por operaes desenvolvidas no computador fracassaram
ante a ineludibilidade de um dualismo de jogos de linguagem.
22
Os
fundamentos desse fosso semntico, insuplantvel, o qual se abre entre
o vocabulrio das linguagens do cotidiano - que se apresentam
carregadas normativamente permitindo a primeiras e segundas pessoas
comunicarem entre si sobre algo - e o feitio nominalista das linguagens
cientficas, especializadas em asseres descritivas, ancoram-se na
diferena profunda que separa a perspectiva do observador da de um
participante. Ambas so complementares no sentido de que nem tudo
o que acessvel por uma dessas perspectivas pode ser alcanado por
intermdio da outra. Tal complementaridade pode ser comprovada
por um argumento epistemolgico capaz de estremecer a convico
bsica do naturalismo cientificista, o qual insiste na precedncia da
perspectiva do observador.
23
De um lado, o saber "duro" sobre fatos, prprio das cincias
naturais, destaca-se da compreenso "branda" de prticas e contextos
de sentido simblicos. Uma das formas do saber pode apelar para a
"experincia" no sentido de uma confrontao controlada com "o
22
KEIL, G e SCHNDELBACH, H. (or gs.) \s+s|s-+s Fr ankfur t/M., 2000,
Intr oduo.
23
Cf. sobr e o que se segue: WINGERT, L. " Die eigenenSinne und die fr emde
St imme" , in: VOGEL, M. e WINGERT, L. "ss.+ ,s:|.+ |+1.:|++
++1 |+s+|+ Fr ankfur t/M., 2003, 219-248.
231
mundo", apoiada em observao; e aqui supomos que esse mundo
"objetivo", isto , constitui um mundo de objetos (de possveis
referentes), o qual idntico para todos os observadores e independente
de suas descries. Ao passo que a outra forma de saber apela para a
interpretao ou para a explicao de significaes e casos que podem
ser controlados por questionamentos e respostas hipotticos. O sentido
de exteriorizaes simblicas somente se revela ao intrprete na base
de suas prprias competncias de linguagem e de ao, adquiridas
performativamente, ou seja, a partir de uma pr-compreenso que
eles adquiriram enquanto participantes de prticas comuns. Os
conhecimentos das cincias da natureza distinguem-se do saber
hermenutico pela sua fora de explicao e pela capacidade de
formular prognsticos. A autoridade do contedo emprico desse sa-
ber sobre o mundo decorre de sua aproveitabilidade tcnica. Com
isso, temos a impresso de que, em ltima instncia, existe apenas um
cami nho para nos certificarmos da realidade. O progressi vo
"desencantamento do mundo" (M. Weber) parece justificar a sugesto
de que o saber apoiado na observao mais importante do que a
compreenso, a qual depende da comunicao.
Tal convico alimenta a assuno naturalista de que o saber
hermenutico, menos rgido, ligado perspectiva de um participante,
pode ser substitudo, em geral, por um saber sobre fatos, mais
"consistente". No obstante isso, tal programa fracassa, desde logo,
pelo simples fato de que a prpria pesquisa do mundo objetivo depende
de uma disputa, a qual, mesmo estando estribada num evento ao qual
se tem acesso na perspectiva de um observador, tambm lana mo
de recursos hermenuticos, j que s pode ser decidida num foro
argumentativo. Isso porque as experincias so estruturadas de modo
conceituai e podem, no decorrer da aquisio do saber, assumir o
papel de uma instncia de controle, porm, somente proporo que
contam como argumentos e podem ser defendidas perante segundas
pessoas. Construo e descoberta, conceito e intuio, interpretao e
experincia so momentos que no podem ser isolados uns dos outros
durante o processo de conhecimento. Por isso, a perspectiva de um
observador que, ao fazer experincias, assume um enfoque objetivador
2 3 2
em relao a algo no mundo, no pode ser separada da perspectiva de
algum que participa de uma disputa terica, isto , de algum que,
proporo que apresenta argumentos, refere-se a seus crticos
assumindo um enfoque performativo: "Experincia e argumento
constituem dois componentes no-independentes da base ou do
fundamento de nossas pretenses de saber algo sobre o mundo."
24
Os pr ogr amas reduci oni st as per dem, no ent ant o, sua
plausibilidade se for demonstrado que a complementaridade das
perspectivas do saber, reciprocamente encadeadas, no pode ser
abolida, j que a intersubjetividade do entendimento no pode ser
subordinada objetividade da observao. Internamente, a instncia
do protesto da experincia, que parte do mundo objetivo, e a
represent ao de algo no mundo cont i nuam referidas a um
entendimento com outros participantes da argumentao sobre algo
no mundo e instncia de justificao do contraditrio por eles mani-
festo. Isso significa que spodemos aprender algo do confronto com
o mundo proporo que formos capazes de aprender algo da crtica
do outro. A ontologizao dos conhecimentos das cincias naturais, a
qual culmina numa imagem de inundo, naturalista, encolhida em fatos
"duros", no cincia, apenas metafsica ruim.
A ineludibilidade do dualismo de linguagens impe a idia de
que o cruzamento complementar entre perspectivas antropolgicas
de saber, profundas, surgiu junto com a prpria forma de vida cul-
tural. Uma emergncia "co-originria" das perspectivas do observador
e do participante poderia explicar, em uma viso evolucionria, por
que os complexos de sentido acessveis numa viso dirigida a segundas
pessoas no podem ser objetivados nem esgotados totalmente por
meios das cincias naturais. Isso pode levar a uma reviso de certas
concepes epistemolgicas;
25
mesmo assim, a "indisponibilidade
epistmica" da subjetividade do homem, que vivncia e realiza, no
eqivale imunizao de um "inteligvel" distanciado do mundo. Pois,
a partir do momento em que o dualismo de linguagens, dependente
" WI NGERT, L. (2003), 218.
25
HABERMAS, J. WahrheitundRechtfertigung. Fr ankfur t/M., 1999, Intr oduo.
233
de perspectivas, tido na conta de uma caracterstica emergente de
formas de vida culturais, ele pode conciliar-se com um naturalismo
"menos rgido".
E a concepo de uma razo enlaada com a natureza, que respeita
conhecimentos neodarwinistas, no constitui ameaa estabilidade
reflexiva de nossa conscincia da liberdade. Quando compreendemos
que a conscincia da liberdade, atualizada performativamente, co-
originria com a forma de vida estruturada lingisticamente, no
precisamos mais nos inquietar com a idia de que essa mesma forma
de vida encontra-se num processo de evoluo natural.
234
8. A FRONTEIRA ENTRE FE SABER.
SOBRE O ALCANCE E A IMPORTNCIA HISTRICA
DA FILOSOFIA DA RELIGIO, DE KANT.
1
O processo de helenizao do cristianismo no foi unilateral.
Resultou de uma apropriao teolgica e de uma contratao da
filosofia grega, a qual passou a servir teologia. Durante a Idade Mdia
europia, a teologia era a protetora da filosofia. Enquanto pendant da
revelao, a razo natural tinha seus direitos reconhecidos. No entanto,
com o advent o da gui nada ant ropocnt ri ca, provocada pel o
humanismo, nos incios da modernidade, o discurso sobre a f e o
saber conseguiu evadir-se do cercado clerical. O peso da prova mudou
de lado a partir do momento em que o saber profano tornou-se
autnomo, no necessitando mais de uma comprovao enquanto saber
secular. Ora, a partir desse momento, a religio foi intimada a
comparecer em j uzo perante a razo. E nesse momento surge a filosofia
da religio.
2
A autocrtica da razo, formulada por Kant, visa dois
pontos, a saber: a posio da razo terica quanto tradio metafsica
1
Agradeo a Rudolf Langthaler por seus comentrios e por suas pr est imosas
indicaes de t ext os. Suas obj ees e os r esultados crticos de uma r eiter ada
leitur a dos t ext os kantianos no decor r er de um seminrio sobr e filosofia da
r eligio ministr ado na Nor thwester n Univer sity obr igar am-me a cor r igir a
pr imeir a ver so que ser viu de base a uma confer ncia em Viena e foi publicada
a seguir .
2
LUTZ-BACHMANN, M. " Religion, Philosophie, Religionsphilosophie" , in:
JUNG, M., MOXTER, M., SCHIMIDT, Th., M. (eds.). |.|+s||s|.
Wrzburg, 2000,19-26: id., " Religionnachder Religionskr it ik" , in: I|.|.
++1 |||s|. Ano 77, Cad. 2, 2002, 374-388.
235
e a posio da razo prtica quanto doutrina crist. Ao passar pela
auto-reflexo transcendental, o pensamento filosfico configura-se,
de um lado, como pensamento ps-metafsico e, de outro lado, como
pensamento ps-cristo - o que no significa, todavia, que ele deva
ser necessariamente anticristo.
Ao traar as linhas demarcatrias entre o uso especulativo da
razo e o transcendental, Kant lanou as bases do pensamento ps-
metafsico mesmo que ele continuasse a utilizar os nomes de uma
"metafsica" - da natureza e dos costumes - e mesmo que a
"arquitetnica" de sua construo terica, a qual separa o mundo
inteligvel do mundo dos sentidos, continue servindo-se dos prstimos
de um pano de fundo metafsico. A prpria razo transcendental projeta,
ela mesma, uma totalidade do mundo, lanando mo de idias capazes
de fundar unidade; por essa razo, ela obrigada a renunciar a asseres
hipostasiantes sobre qualquer tipo de estrutura ontolgica ou
teleolgica da natureza e da histria. Porquanto, nem o ente em sua
totalidade, nem o mundo tico enquanto tal forma um objeto possvel
de nosso conhecimento. Tal confinamento epistemolgico da razo
terica, a qual se v limitada ao uso de uma capacidade cognitiva
(Verstand) dependente da experincia, encontra o seu pendant na
filosofia da religio onde temos o "confinamento da razo - limitada
s condies de seu uso prtico - tendo em vista todas as nossas idias
sobre o supra-sensvel".
1
Nesse ponto, Kant enfrenta "arrogncias da
razo" que se manifestam nas duas direes.
Na perspectiva da autocompreenso da filosofia, a crtica da
metafsica vem, certamente, antes da crtica da religio. Mediante ela,
Kant tenta combater as fantasmagorias especulativas de uma razo
que no resultam apenas de erros, isto , de proposies falsas, mas
de uma iluso da razo - assentada em razes profundas - sobre o
modo de operar e sobre o alcance da prpria capacidade de conhecer.
Ao delimitar o uso terico da razo, Kant pretende franquear filosofia,
que at aquele momento simplesmente vagueara pelo campo de batalha
' KANT, I. || 1. .|s|s/ A, 435/B, 440. (Todas as cit aes de Kant
so extradas da edio das obr as de Kant (Wer kausgabe) em 12 vols.,
or ganizada por W. Weischedel para a Edit. Suhr kamp, I
a
ed., 1974).
236
da metafsica, o "andar seguro da cincia". Ao passo que a liquidao
da metafsica tem como objetivo liberar o caminho para uma moral
autnoma fundada sobre a razo prtica; no obstante isso, o objetivo
imediato de tal superao tem de ser procurado no prprio negcio
terico da filosofia. J que o traado de fronteiras entre o uso prtico
da razo e a fpositiva segue numa outra direo. Uma domesticao
da religio pela razo no tarefa da autoterapia filosfica, uma vez
qe ela no se presta higiene do pensamento, mas proteo de um
pblico em geral contra duas formas de dogmatismo. De um lado, o
Kant iluminista pretende fazer valer a autoridade da razo e da
conscincia individual contra uma ortodoxia coagulada em igrejas, a
qual "transforma os fundamentos naturais da eticidade numa coisa
secundria". De outro lado, o Kant moralista tambm se volta cona
o derrotismo esclarecido da descrena. Ele pretende, inclusive, salvar,
das garras do ceticismo, certos contedos da f e certas normas da
religio, as quais podem ser justificadas dentro das fronteiras da simples
razo.
4
Aqui, a crtica da religio se liga ao motivo de uma apropriao
salvadora.
O atual fundamentalismo religioso que pode ser observado dentro
e fora dos muros do cristianismo, confere inusitada atualidade, triste,
inteno daquela crtica da religio. Existe, no entanto, um
deslocamento nas acentuaes. Aqui, no Ocidente europeu, uma auto-
afirmao antropocntrica ofensiva, da compreenso de si mesmo e
do mundo, a qual se posiciona contra uma auto-afirmao teocntrica,
tida na conta de uma batalha j passada, de ontem. Por esta razo, a
tentativa de recuperar contedos centrais da Bblia numa f racional
passou a ser mais interessante do que a luta obstinada contra o
obscurantismo e as mentiras dos clrigos. A razo prtica pura no
pode mais estar to segura de sua capacidade de enfrentar, sozinha e
lanando mo apenas das compreenses perspicazes de uma teoria da
justia, uma modernizao que estcomeando a sair dos trilhos. Ela
no possui a criatividade que permitiria franquear o mundo por meio
da linguagem, sem a qual toma-se difcil regenerar, a partir de si mesma,
uma conscincia normativa que estfenecendo em todas as partes.
4
KANT, I. || 1. .+.+ '.+++/ B, VII-XLIV, prefcio segunda edio.
237
Por isso, meu interesse na filosofia da religio, de Kant, toma
como orientao a seguinte questo: possvel apropriarmo-nos da
herana semntica de tradies religiosas sem borrar os limites que
separam os universos da f e do saber? E em caso afirmativo, como
isso possvel? No prefcio Disputa das faculdades, o prprio Kant
lembra - e isso certamente no foi provocado por motivos de
autoproteo - "a deficincia terica da pura fda razo, que esta no
nega". Ele entende a compensao de tal deficincia como "satisfao
de um interesse da razo" e pensa que as sugestes e estmulos
provenientes de doutrinas da f, transmitidas historicamente, podem
contribuir "mais ou menos" para tal processo. E nesse sentido, pelo
ngulo da prpria fda razo, "a revelao tida como uma doutrina
da f, contingente e no essencial, porm, mesmo assim, no suprflua
ou desnecessria".
5
A pergunta que se coloca agora : que razes as
tradies religiosas podem aduzir e em que sentido elas podem exigir,
por parte de uma filosofia da religio agnstica - desenvolvida sem
nenhuma inteno apologtica - um tratamento que as considere "no-
suprfluas?" A resposta, qual pretendo chegar por intermdio de
uma leitura crtica, no pode estribar-se tanto em asseres sistemticas
de Kant como em motivos e explicaes de inteno.
Em primeiro lugar, vou lembrar o traado dos limites delineado
por Kant em sua filosofia da religio (1-5); num segundo momento,
lanarei um olhar sobre a repercusso histrica e a atualidade dessa
tentativa de apropriao racional de contedos religiosos (6-12).
(1) Nascida do esprito do Iluminismo - cujo principal alvo era a
crtica da religio - a filosofia da religio, de Kant, pode ser interpretada
inicialmente como a ufana declarao de independncia da moral
racional e profana das amarras da teologia. O prprio prefcio j inicia
com uma declarao altissonante: "A moral, medida que estfundada
no conceito do homem tido como um ser livre, isto , como algum
que, mediante sua razo, se liga a leis incondicionais, no necessita
s
KANT, I. . 1. |s|+||s.+ A XVII.
238
da idia de um outro ser acima dele [...] nem de outra mola
impulsionadora que no seja a prpria lei".
6
Para descobrir a lei moral
e reconhec-la como pura e simplesmente obrigatria no se necessita
mais da f num Deus criador do mundo nem de uma f num Deus
salvador.
A moral do igual respeito por cada um vale independentemente
de qualquer tipo de contexto religioso. Numa outra passagem, Kant
confessa, verdade, que no somos capazes de intuir o sentido de
validade categrica de obrigaes morais, isto , a "obrigatoriedade
moral, sem pensar, ao mesmo tempo, em um outro e em sua vontade
(perante o qual a razo legisladora em geral se transforma numa mera
locutora), ou seja, sem pensar em um Deus." Convm destacar,
entretanto, que esse "tomar acessvel intuio" serve apenas para
"fortalecer as molas impulsionadoras da moral em nossa prpria razo
legisladora".
7
O fato de considerarmos Deus ou a razo como
legisladores morais no muda o contedo das leis morais - j que
"quanto matria, isto , quanto ao objeto, a religio no se distingue,
em nenhum ponto, da moral, j que ela tem a ver com obrigaes em
geral".
8
Uma doutrina religiosa s possvel, enquanto disciplina
filosfica, no sentido de uma aplicao crtica da teoria moral a
tradies histricas dadas. Nesta medida, a filosofia da religio tambm
no parte da tica desenvolvida pela simples razo prtica.
9
Na perspectiva de uma crtica religio, Kant descreve a religio
positiva como simples "f da igreja", particular e exterior. As grandes
religies mundiais, fundadas por profetas, transmitidas por doutrinas
6
KANT, I. b. |.|+ ++.|s|| 1.0.+,.+ ||ss. '.+++/ BA, III. Cit, a
seguir , como |.|+
7
KANT, I. 4.s|;s| 1. .+ (Doutr ina das vir tudes), A, 181.
"
. 1. |s|+|u.+ A, 45.
' ' Nesta per spect iva, uma pr oposio contida na " Concluso" da Dout r ina das
vir tudes, que ocasio de muitas inter pr etaes falsas, adquir e um sent ido
menos capcioso: "possvel numa ' r eligio nos limit es da simples r azo' , a
qual, no ent ant o, no deduzida apenas 1s simples r azo, mas tambm, ao
mesmo t empo, estfundada nas doutr inas da histria e da r evelao [...]." .
Cf. 4.s|;s| 1. .+ Tugendlehr e, A, 182.
239
e praticadas em formas de culto fundamentam uma f ligada a
determinados fatos e testemunhos histricos, cuja influncia se
desenvolve nos limites de uma determinada comunidade religiosa em
particular. A feclesial, que se apoia sobre verdades reveladas, surge
sempre no plural; ao passo que o elemento puramente moral da religio
natural se "comunica a qualquer um": "Existe apenas uma (verdadeira)
religio; pode haver, no entanto, muitos tipos de f."
10
A religio criada
pela pura razo prtica no necessita de formas de organizao nem
de estatutos; j que ela estancorada na interioridade "do corao
para observao de todos os deveres humanos", "no em estatutos ou
observncias"." As doutrinas bblicas formam um invlucro que no
podemos confundir com o contedo racional da religio.
12
Os filsofos "ilustrados pela razo" fundam-se nessa premissa
quando pretendem discutir com os telogos "ilustrados pela Bblia" a
correta interpretao da Bblia no que tange ao essencial da religio
("que consiste no elemento prtico-moral, naquilo que devemos
fazer"). Kant eleva a razo como medida para a hermenutica da f
das igrejas transformando, destarte, "a melhora moral do homem, a
finalidade propriamente dita de toda religio racional" no "princpio
supremo de toda a interpretao da Escritura".
13
Na Disputa das
faculdades o tom se agudiza ainda mais. Aqui trata-se explicitamente
da pretenso da filosofia, a qual se julga no direito de decidir sobre as
verdades da Bblia e de colocar de lado tudo aquilo que no pode ser
reconhecido "mediante conceitos de nossa razo proporo que eles
so puramente morais e, com isso, infalveis". interessante notar
que o pronome pessoal "nossa", sublinhado, elucidado ironicamente
por intermdio de uma referncia ao princpio protestante da exegese
individual de leigos. Porquanto, somente "o Deus em ns mesmos",
intrprete autntico, o qual confirmado por meio de um fato da razo,
a saber, a lei dos costumes.
14
|
|.|+ A, 146/B, 154.
|.|+ 1 107/B, 116.
|:
. 1. |s|+|s.+ A 65.
|.|+ 1 152/B 161.
|-
. 1. |s|+|s.+ A 70 e A 108.
240
natural que a hermenutica racional marginalize, sobre tal base
antropocntrica, inmeros artigos da f, tal como, por exemplo, a
ressurreio dos corpos, sob a alegao de que se trata a de simples
ornamento histrico. Ela se v obrigada, alm disso, a despir
proposies centrais da f, como a encarnao de Deus na pessoa de
Jesus Cristo, de sua significao essencial e a reinterpretar, por
exemplo, a graa de Deus, passando a trat-la como imperativo para o
auto-engajamento: "Por conseguinte, as passagens da Bblia que
parecem conter uma entrega passiva a um poder exterior que provoca
em ns santidade tm de ser interpretadas de tal sorte que fique claro
que ns temos de trabalhar por ns mesmos no desenvolvimento
daquelas disposies morais que se encontram em ns."
15
O contexto
histrico e salvfico do pecado, do arrependimento e da reconciliao
e, com isso, a prpria confiana escatolgica no poder retroativo de
um Deus salvador, retiram-se, passando a ser retaguarda do dever que
exige um esforo moral no interior do mundo. A retroligao subjetiva
de todas as referncias transcendentes da f razo prtica pura do
homem tem, no entanto, o seu preo. Isso aparece to logo colocada
a seguinte pergunta: qual o ponto de partida de nosso agir moral: "a
fno que Deus fez por ns? Ou o que temos de fazer para nos tomarmos
dignos disso (independentemente da forma que isso venha a
assumir)?";
16
Kant decide-se pelo valor intrnseco do modo de vida
moral: "O que o homem em sentido moral, ou deve ser - bom ou
mau - tem de ser feito ou deve ser feito por ele mesmo."
17
Sem em-
bargo, o comportamento moral no lhe confere nenhum direito
felicidade. Por intermdio disso ele se mostra, quando muito, digno
de experimentar felicidade. A eticidade torna o justo digno da
felicidade, mas no necessariamente feliz.
( 2) proporo que tradies religiosas so reduzidas, por este
caminho, a um contedo puramente moral, no podemos resistir
|
. 1. |s|+|s.+ A 60.
|
|.|+ A 163/B 172.
|.|+ A45/ B 48.
241
impresso de que a filosofia da religio se limita, a exemplo da crtica
da metafsica, destruio de uma aparncia transcendental. Kant, no
entanto, no permite que a filosofia da religio se esgote no negcio
da crtica da religio. Precisamente na passagem onde ele lembra
teologia que "a lei moral no [promete], por si mesma, nenhuma
felicidade",
18
fica claro tambm um outro aspecto da filosofia da
religio, construtivo, porquanto ela capaz de encaminhar para a razo
certas fontes religiosas das quais a prpria filosofia pode extrair
estmulos e, desta forma, aprender algo. Entretanto, mesmo que no
fosse possvel descobrir, nas prprias leis morais, "a menor razo para
um nexo necessrio" entre a pessoa que se tornou moralmente digna
da felicidade e a felicidade de que realmente ela goza, o fenmeno
dos que sofrem injustamente ofende um sentimento profundo. Nossa
indignao provocada pelo andar injusto do mundo nos revela, de
modo inequvoco, que "no pode ser indiferente o fato de um homem
honesto e justo at o final de sua vida no encontrar, ao menos
aparentemente, nenhum tipo de felicidade como recompensa para suas
virtudes ou o fato de um homem desonesto e violento at o final de
sua vida no encontrar nenhum tipo de castigo para seus crimes.
como se [ns] captssemos uma voz que dissesse, tudo tem de ser
diferente"}
9
Certamente, a respectiva felicidade de cada um, que
pretendemos usufruir tendo em vista nosso comportamento virtuoso
constitui apenas o fim terminal e subjetivo de seres racionais que vivem
neste mundo, para o qual eles tendem por sua prpria natureza. Em
que pese isso, existe um outro pensamento que quase mais ofensivo
razo prtica - que visa o geral - do que a falta de garantia da
felicidade individual para as pessoas que agem corretamente: trata-se
do fato de que todas as aes morais no mundo, tomadas em seu
conjunto, no conseguem fazer nada para melhorar o estado desastroso
em que se encontra a convivncia da humanidade em sua totalidade.
E este protesto contra a contingncia de um destino natural da sociedade
que "relana na goela do caos absurdo da matria aqueles que poderiam
18
KANT, I. || 1. s|s:|.+ '.+++/ A 231.
|
|| 1. .|s|s/ A 434/B 439. Sublinhado por mim.
242
acreditar estarem sendo o fim terminal da criao",
20
encontra
certamente ouvidos na "doutrina do cristianismo".
A mensagem religiosa enfrenta a proverbial insensibilidade de
mandamentos morais vlidos incondicionalmente, os quais so
impassveis ante as conseqncias do agir moral na histria e na
sociedade, lanando mo de uma promessa: "A lei moral, de si mesma,
no promete nenhum tipo de felicidade [...]. Entretanto, a doutrina
moral crist preenche tal lacuna [...] por meio da representao do
mundo - no qual seres racionais se entregam de todo corao lei
tica - como um reino de Deus no qual a natureza e os costumes [...]
entram em harmonia atravs de um autor sagrado que toma possvel
o bem supremo inferido."
21
Como se v, Kant traduz a representao
bblica do "reino de Deus" lanando mo do conceito metafsico de
"bem supremo", porm, no o faz - como era de se esperar - na
inteno de uma crtica da metafsica, isto , na inteno de recolocar
em seu devido lugar uma razo especulativa divagadora. Porque
filosofia da religio no interessa colocar limites razo terica, a
qual importunada por questes no respondidas, e sim, ampliar o
uso da razo prtica para alm da legislao moral de uma rigorosa
tica do dever, incluindo os postulados presuntivamente racionais de
Deus e da imortalidade.
J no prefcio ao texto sobre a religio, Kant chama a ateno
para o momento excedente que distingue a pura freligiosa da simples
conscincia de deveres morais, porquanto ns, na qualidade de seres
racionais, temos interesse na promoo de um fim terminal, mesmo
que a sua realizao - proporcionada por um poder superior - spossa
ser pensada como resultado de uma acumulao feliz de efeitos
colaterais, para ns inteiramente imprevisveis, do agir moral
incondicional. Sem dvida, um agir correto no necessita de nenhum
tipo de fim. E, inclusive, qualquer representao de fim desviaria os
que agem moral ment e da i ncondi ci onal i dade daqui l o que
respectivamente exigido de forma incondicional. Mesmo assim, "a
|| 1. .|s|s/ A 423/B 428.
|
|| 1. s|s:|.+ '.+++/ A 231 s.
243
razo no pode deixar de ser afetada pelas respostas dadas pergunta:
o que advirde nosso agir correto, o qual no pode deixar de ser o fim
para o qual dirigimos e continuaramos a dirigir nosso fazer e deixar
de fazer, mesmo que isso no estivesse plenamente ao nosso
alcance?".
22
O que transforma a pura freligiosa numa fo interesse
(que ultrapassa a conscincia moral) da razo "em aceitar um poder
capaz de assegurar a elas (s leis morais e s aes conformes lei) o
inteiro efeito possvel num mundo e coerente com um fim terminal
tico."
23
Por que razo tal carncia tem de ser racional e por que esse
interesse tem de ser precisamente um interesse da razo? A tarefa de
mostrar isso compete prpria razo prtica. E a prova no pode ser
esperada do encontro da filosofia com as doutrinas histricas da
religio. Ela tem de ser apresentada na prpria teoria moral (e
franqueada pela crtica da faculdade do juzo, teleolgica, portanto,
por consideraes heursticas da filosofia da natureza
24
). Como ponte,
serve o antigo conceito de "bem supremo", o qual pode ser recheado
com contedos escatolgicos quando equiparado ao conceito bblico
de "reino de Deus". De fato, graas antecipao imperceptvel da
fora semntica religiosa - capaz de franquear o mundo - que Kant
tem condies de avanar, tateando, at uma doutrina de postulados,
a qual capaz, apesar de tudo e apesar dos paradoxos, de emprestar
razo prtica a fora necessria para insuflar esperana numa
"promessa da lei moral".
25
( 3 ) Em sentido estrito, a competncia da razo prtica abrange
apenas as exigncias morais que cada pessoa singular toma como seu
dever de acordo com a lei dos costumes. O prprio "reino dos fins",
no qual todas as pessoas se encontram reunidas na qualidade de
cidados de uma comunidade moral e no qual legislam e agem em
::
|.|+ BA VII.
:
|.|+ 1 139/B 147.
24
No posso apr ofundar essas consider aes nos pargrafos 82-91 da (:s
1s /s:+|1s1. 1 +, Por isso, limit o-me algumas passagens espordicas.
:
|| 1. .|s|s/ B 463, nota de rodap.
2 4 4
consonncia com a lei, uma simples idia que nada acrescenta ao
contedo da lei moral dirigida a cada indivduo em particular. Com o
auxlio de tal idia transcendental, Kant soletra, bem verdade, a
forma de uma convivncia (ordenada, de certo modo, maneira de
uma republica) que adquire forma sob as condies de uma obedincia
geral a leis morais (quando "cada um faz o que deve fazer"). No
obstante isso, somente quando tal idia deixasse de ser uma simples
diretriz de um agir moral individual e fosse traduzida para o ideal de
um estado poltico e social, a ser realizado cooperativamente no mundo
das manifestaes fenomnicas, o reino inteligvel dos fins transformar-
se-ia em um reino deste mundo. Ora, a filosofia da religio, de Kant,
tentou realmente concretizar tal transposio mediante o conceito
"comunidade tica". Ele introduzir, todavia, no quadro de sua teoria
moral, na forma de escrito intermedirio, a concepo do "bem
supremo", a qual tambm projeta a "consonncia entre moral e
felicidade" como um estado no mundo. Tal ideal, entretanto, no
representado como um alvo a ser perseguido cooperativamente, mas
como o esperado efeito coletivo de todos os fins particulares
perseguidos individualmente sob leis morais.
Tal estado ideal de felicidade geral, derivado indiretamente da
suma de todas as aes morais, no pode, no entanto, sob premissas
da teoria moral kantiana, ser proposto propriamente como um dever.
Quando Kant declara "ns devemos tentar promover o bem supremo",
tal dever fraco - como ele poderia ser chamado - bate de encontro aos
limites da perspiccia racional humana, a qual, quando se trata da
per secuo comum de fins benemer ent es l ogo se enr eda,
inevitavelmente, nas malhas intransparentes de efeitos colaterais no
intencionados.
26
Por si mesma, a razo prtica no pode ir alm da
reproduo fenomenal da realidade "noumenal" do reino dos fins no
26
Sobr e a concr et izao do bem supr emo cf. a anlise pr imor osa de WI MMER,
R. |s+s |s:|. |.|+s||s|. Ber lim, 1990, 57-76 e 186-206. Eu
no vej o, entr etanto, como possvel (75s.) entender a " pr omoo" do bem
supr emo como idia mor al obrigatria sendo que, ao mesmo t empo, a
" r ealizao" desse fim ter minal vale apenas como ideal. Eu posso " pr omover "
um fim medida que tento contr ibuir para a sua r ealizao.
245
ideal do bem supremo - que transparece em contornos debilitados - ,
o qual no , em todo caso, vinculante do ponto de vista moral. E
sabemos que os "ideais" so para Kant "platnicos", isto , menos
importantes. E j que a capacidade cognitiva humana no consegue
prever a complexidade das conseqncias da cooperao tica no
mundo conduzido por leis da natureza, o agir por dever exige de quem
se decide por ele uma orientao por idias e uma circunscrio da
escolha de seus objetivos (Zwecke) de acordo com leis morais; ele
no pode, por outro lado, ser obrigado moralmente a perseguir um
alvo (Ziel) efusivo, isto , um fim que ultrapassa as leis morais -
como seria o caso da concretizao de um estado ideal no mundo.
interessante notar que, no obstante isso, Kant manipula todos
os registros conceituais disponveis para alar a realizao do bem
supremo no mundo categoria de um dever moral. E mesmo que o
mandamento, segundo o qual cada um deve colocar como fim termi-
nal (Endzweck) de seu agir o maior bem possvel no mundo - uma
afinao geral entre moralidade e felicidade, - no possa estar contido
nas prprias leis morais, ou seja, no possa ser justificado a partir da
lei dos costumes, como o caso de todos os deveres concretos ("por
conseguinte, quando se coloca a questo acerca do princpio da moral
pode-se passar por alto e deixar de lado a doutrina do bem supremo
[...]"
27
), Kant gostaria de nos convencer de que no "respeito pela lei
moral" j estimplcita a "inteno dirigida ao bem supremo".
28
Ns
devemos representar o bem supremo como "o objeto inteiro da razo
prtica", "porque inerente a esta um mandamento que exige envidar
todos os esforos possveis para a concretizao dele".
29
S capaz
de entender tal mandamento "supramoral" quem tiver cincia da
pergunta que provocou tal resposta, a saber: o que nos obriga a ser
seres morais?
30
27
KANT, I. |. 1.+ 0.-.+s+:| A 213.
:"
|| 1. s|s:|.+ '.+++/ A 239.
:
|| 1. s|s:|.+ '.+++/ A 214.
., Par ece que Karl -Ot t o Apel d esse passo na "Parte B" de sua tica, o qual
conduz, mediante apr eenso de um princpio deontolgico, a uma concluso
246
Tal pergunta, no entanto, no conseguiu aflorar em Kant tendo
em vista a obrigatoriedade incondicional de uma lei dos costumes
fundada unicamente no fato do sentimento do dever. Podemos
convencer-nos da obrigatoriedade da lei dos costumes mesmo privados
da possibilidade de uma promoo efetiva de um bem supremo e sem
a posse da idia dos correspondentes postulados. Numa referncia ao
exemplo de Spinoza temos: "Suposto que: um homem se convence a
si mesmo [...] de que no existe Deus: mesmo assim, ele seria, aos
seus prprios olhos, algum sem nenhuma dignidade caso considerasse
as leis do dever como simplesmente forjadas, invlidas, no
obrigatrias".
31
Por conseqnci a, as prprias t ent at i vas de
fundamentao, que Kant elabora em diferentes contextos, no
conseguem convencer de forma cabal. Uma tica fundamentada
deontologicamente, a qual entende todo o agir moral como um agir
sob normas justificadas moralmente, no consegue subordinar, a seguir,
a vontade autnoma, a qual se autovincula a compreenses morais, a
uma finalidade.
No entanto, Kant objeta: "No existe nenhuma vontade sem
algum tipo de finalidade (Zweck); mesmo que, ao se tratar da pura
obrigao legal das aes, seja necessrio abstrair dele [...]."
32
Convm,
pois, perguntar se, ao desistirmos de um comportamento injusto,
devemos subordinar a deciso de nos atermos a leis morais a um fim
(Zweck). Entretanto, se todos os fins (Zwecke) j se subordinam a
uma avaliao moral, como possvel o "despontar" de um fim ter-
minal (Endzweck) a partir do conjunto de todos os fins legtimos, o
qual justifica a prpria moralidade? Kant se satisfaz com uma indicao
da inexistncia de proveito prprio na necessidade de participar da
realizao do fim terminal, a qual spode ser pensada nas condies
teleolgica falsa. Cf. APEL, K.-O. bs|+s ++1 '.s+++ Fr ankfur t/M.,
1988,103-153; contr a essa posio cf. HABERMAS, J. "Zur Ar chitektonik der
Diskur sdiffer enzier ung" , in: BHLER, D., KETTNER, M. SKIRBEKK, G.
(eds.). |./|.s+ ++1 '.s+++ Fr ankfur t/M., 2003, 44-64. No pr esente
volume, cap. 2.
|
|| 1. .|s|s/ A421/ B 426.
|:
|| 1. .|s|s/ A 42 l/B 426.
247
de um agir totalmente moral: "Por isso, no homem, a mola propulsora
- que consiste na idia do maior bem possvel no mundo mediante a
sua participao - no a felicidade prpria, visada com isso, porm,
apenas essa idia como fim em si mesma, portanto (?) sua persecuo
enquanto um dever. Porquanto ela no contm a perspectiva da
felicidade enquanto tal, apenas a perspectiva de uma proporo entre
ela e a dignidade do sujeito, qualquer que ele seja. Entretanto, uma
determinao da vontade que confina a si mesma - e sua inteno de
pert encer a essa t ot al i dade - a semel hant e condi o no
interessei."
33
No obstante isso, a ausncia de interesse prprio no
perfaz o sentido de um dever, pois, ela pode eventualmente constituir
uma pressuposio para a obedincia a um dever determinado que se
ope aos prprios desejos. No final, Kant obrigado a admitir que
aqui nos defrontamos com "uma determinao da vontade de tipo
especial",
34
a qual no pode ser colocada no mesmo plano dos
"deveres" que ele caracteriza geralmente.
( 4 ) Por que razo Kant insiste, mesmo assim, no dever de
promover o bem supremo? Uma primeira resposta j sugerida pelo
postulado da existncia de Deus. Entretanto, supondo que aceitemos
um tal dever efusivo, no temos como fugir seguinte pergunta: de
que modo uma obedincia geral a leis morais poderia realizar o bem
supremo em um mundo dominado pela causalidade da natureza? A
razo prtica spode transformar numa tarefa moralmente obrigatria
a co-participao na realizao de tal fim se a concretizao desse
ideal no fosse impossvel a priori. Em que pese isso, ela tem de ser
possvel ao menos em pensamentos. Por conseguinte, a razo prtica
nos incumbe de uma tarefa que aparentemente ultrapassa as foras
humanas, e que consiste em contar com a possibilidade de uma
inteligncia superior capaz de harmonizar os efeitos intransparentes
da moralidade com o movimento do mundo que controlado por leis
da natureza: "Ns devemos tentar promover o bem supremo (que deve
ser possvel, apesar de tudo). Por conseqncia, postula-se tambm a
|. 1.+ 0.-.+s+:| A 213, nota de rodap.
-
|. 1.+ 0.-.+s+:| A 212, nota de rodap.
248
existncia de uma causa de toda a natureza, distinta da prpria natureza,
que contem o fundamento de tal coeso, isto , da coincidncia precisa
entre felicidade e eticidade."
35
Serque tal concepo do bem supremo, a qual no se coaduna
sem mais nem menos com os fundamentos da teoria moral, no obriga
Kant a costurar uma argumentao sinuosa a fim de postular, ao menos,
a existncia de Deus? Sem embargo, a imputao de tal motivo ao
esprito incorruptvel que se exterioriza em cada uma das proposies
elaboradas por esta filosofia seria, no somente barata, mas tambm
inverossmil. Longe disso, Kant tentou acrescentar ao modo de pensar
moral a dimenso que abre a perspectiva de um mundo melhor por
amor prpria moral, isto , para fortalecer a prpria confiana no
modo de pensar e sentir moral e para proteg-la contra o derrotismo.
Adorno afirma que o segredo da filosofia kantiana reside em "a
inesgotabilidade (Unausdenkbarkeit) do desespero, o qual jamais pode
ser tematizado inteiramente pelo pensamento". Ora, eu no consigo
entender tal dito apenas no sentido de uma crtica aos olhos azuis do
iluminista, mas como assentimento ao Kant dialtico que mira os
abi smos de um i l umi ni smo que se enrijece e emper t i ga na
subjetividade. Kant pretende imunizar o Spinoza secular - "que se
mantm firmemente convencido de que: no existe Deus [...] nem
vida futura" - contra o desespero provocado pelos efeitos lamentveis
de um agir moral que tem o seu fim apenas em si mesmo.
E bem verdade que Kant pretendia superar a metafsica, a fim de
abrir espao para a f. No obstante isso, ele encara a "f" mais como
um modo do que como contedo. Ele procura um equivalente racional
para a atitude de f, a saber, o hbito cognitivo do crente: "Af (Glaube)
(caracterizada pura e simplesmente como tal, por conseguinte, no
somente af religiosa, mas tambm afda razo {Vernunftglaube)
uma confiana no xito de uma inteno cuja promoo dever, cuja
possibilidade de concretizao, no entanto, no temos condies de
ver."
36
Na nota de rodap, Kant acrescenta, a ttulo de explicao: "
|
|| 1. s|s:|.+ '.+++/ A 225.
|| 1. .|s|s/ A 456/B 462 (as palavr as em itlico for am inser idas
por mim).
249
uma confiana na promessa da lei moral; porm, no enquanto tal, ou
seja, enquanto promessa contida na mesma lei, mas como promessa
que eu insiro nela [o itlico meu] precisamente porque possuo uma
razo moralmente suficiente." Kant gostaria de manter um momento
da promessa, porm, destituda de seu carter sacral. Para imunizar o
modo de sentir e pensar moral contra as aparncias que sufocam a
coragem, ele deve ser ampliado pela insero da dimenso de uma
confiana num sucesso finito que poderia ser tomado como fim de
todas as aes morais contempladas em conjunto. Com esse passo,
Kant no pretende recuperar conceitualmente, em primeira linha,
contedos religiosos, e sim, integrar na razo o sentido pragmtico do
modo da freligiosa. Nessa passagem ele mesmo comenta sua tentativa
como "imitao lisonjeira" do conceito cristo da f (fides). A f da
razo conserva, ao que tudo indica, o carter especial de uma espcie
de "ter-por-verdadeiro" que mantm, pelo ngulo do saber moral, a
referncia a argumentos convincentes e, pelo ngulo da freligiosa, o
interesse na realizao de esperanas existenciais.
17
Quando tentamos explicar a complementao da lei dos cos-
tumes por meio do dever de colaborar na realizao do fim terminal -
que problemtica, inclusive, luz dos prprios pressupostos kantianos
- lanando mo do motivo da "inesgotabilidade do desespero que
jamais pode ser tematizado cabalmente pelo pensamento" toma-se
claro o ponto da tradio judeu-crist pelo qual Kant deve interessar-
se acima de tudo. Mais do que a promessa de um alm envolvendo a
existncia de Deus (ou, inclusive, a imortalidade da alma humana)
trata-se da perspectiva da promessa do reino de Deus sobre a terra:
"A doutrina do cristianismo, mesmo quando no se a considera como
doutrina da religio, fornece [...] um conceito do bem supremo (do
reino de Deus) que o nico capaz de resistir s exigncias mais
severas da razo prtica."
38
O pensamento escatolgico de um Deus,
que age na histria e que supera todos os ideais platnicos, permite
Esse conceit o no cabe no esquema dos tr s modos de "ter por ver dadeir o"
que Kant tinha intr oduzido na (:s 1s s,s +s (A 828/B 856).
|| 1. s|s:|.+ '.+++/ A 230 s.
250
traduzir a idia do "reino dos fins", isto , permite transp-la da palidez
transcendental do inteligvel para uma utopia intramundana. Por este
caminho, os homens adquirem confiana, a qual lhes permite pensar
que, com o seu agir moral, eles podem colaborar na realizao da
"comunidade tica" que Kant soletra filosoficamente lanando mo
da metfora de um domnio de Deus sobre a terra.
Sem a antecipao histrica que a religio positiva fornece
nossa i magi nao por intermdio de seu tesouro de imagens
estimulantes, a razo prtica estaria privada de estmulos epistmicos
capazes de al-la ao nvel de postulados dos quais ela lana mo para
recuperar, no horizonte de consideraes racionais, uma necessidade
que j se encontra articulada em conceitos religiosos. E caso seja
possvel apropriar-se, segundo medidas racionais, do material histrico
encontrado, a razo prtica pode encontrar algo j estruturado nas
tradies religiosas que promete compensar uma preciso formulada
em termos de "carncia da razo" (Vemunftbedrfhis).
Kant no reconhece tal dependncia epistmica quando concede
religio positiva e feclesial uma funo meramente instrumental.
Ele de opinio que os homens necessitam de modelos concretos, de
histrias exemplares de profetas e de santos, de promessas e milagres,
de imagens sugestivas e narrativas edificantes apenas como "ocasies"
para superar sua "descrena moral" e explica tal fato apelando para a
fraqueza da natureza humana. A revelao apenas abrevia o caminho
para a propagao de verdades da razo. Sob uma forma doutrinria,
ela toma acessveis verdades s quais os homens "poderiam ter chegado
por si mesmos [...] mediante o simples uso de sua razo" mesmo sem
conduo autoritria.
39
De sorte que, no final das contas, "a f
puramente moral" surgirdas cpsulas convencionais da f eclesial:
"E preciso depor [...] as cpsulas [...]. O tomo principal da sagrada
tradio, com seus apndices, estatutos e observncias que, no seu
|.|+ A 219/B 233. Cf. tambm . 1. |s|+|s.+ A 46: " O telogo
bblico diz: pr ocur ai na Escr itur a onde pensais encontr ar a vida eter na. Esta,
porm, uma vez que as condies so as mesmas do apr imor ament o mor al
do homem, no pode ser encontr ada em nenhum lugar de nenhuma escr itur a.
251
tempo, prestou bons servios, torna-se, mais e mais dispensvel e, no
final, peia [...]."
40
(5) Sem embargo, quando Kant descreve tal "passagem da f
eclesial para o domnio exclusivo da pura freligiosa" sob o aspecto
de uma "aproximao do reino de Deus"
41
(o que constitui, por sua
vez, uma cifra para representar o estado do "melhor dos mundos"
realizado), e quando o faz de tal modo que as formas de organizao
eclesial j antecipam determinadas caractersticas essenciais de uma
constituio futura, isso no combina com a rgida compreenso crtica
da feclesial, segundo a qual, esta constitui simples "veculo" para a
propagao da f da razo. A frmula da "aproximao" pode ser
entendida em dois sentidos: no sentido de um genitivo subjetivo, o
reino de Deus aproxima-se do homem (aproximao do reino de Deus);
no sentido de um genitivo objetivo (aproximao ao reino de Deus), o
homem aproxima-se do reino de Deus. Isso significa que, quando ns
entendemos a realizao de um "reino de Deus sobre a terra" - em
que pese o "contra-senso que a idia, segundo a qual, os homens
deveriam fundar um reino de Deus"
42
- como resultado dos esforos
cooperativos do prprio gnero humano, as instituies voltadas
salvao, que surgem inicialmente no plural, desempenham um papel
organizatrio importante no difcil caminho que leva "verdadeira
igreja". Ao passo que a aproximao ao reino de Deus representada
"na forma sensvel de uma igreja [...], cuja organizao compete aos
homens enquanto obra que lhes confiada e que pode ser exigida
deles".
43
A instituio de uma comunidade eclesial que se auto-entende
como "povo de Deus reunido sob leis ticas" estimula Kant a formar,
na filosofia da religio, um conceito que oferece, para a plida herana
metafsica contida no "bem supremo", a incorporao plstica na figura
|.|+ 1 170/B 179.
41
Cf. o ttulo do captulo in: |.|+ A 157/B 167.
-:
|.|+ A213/ B 227.
-;
|.|+ A 212/B 226.
252
concreta de uma forma de vida. Kant no desenvolve o conceito da
"comunidade tica" em contextos da filosofia prtica, mas no decorrer
de sua aplicao "a uma histria j feita".
44
Tudo indica que a "religio
nos limites da simples razo" no extrai das tradies religiosas tudo
aquilo que poderia fazer sentido perante a razo;
45
ao contrrio, parece
que ela tambm recebe, por seu turno, impulsos para a ampliao de
um "estoque de razo" bem circunscrito do ponto de vista deontolgico.
No processo de reconstruo do contedo racional das "doutrinas da
histria e da revel ao" Kant interessa-se especialmente pela
contribuio oferecida pelas comunidades de f organizadas para a
"fundao do reino de Deus sobre a terra". A "doutrina da religio
aplicada" elabora o conceito racional de uma "comunidade tica" -
que corresponde cifra do reino de Deus sobre a terra - e obriga,
destarte, a razo prtica a superar o plano de uma simples autolegislao
moral por intermdio de um "reino dos fins", inteligvel.
Conforme j vimos, a teoria moral atribui ao "reino dos fins"
um status inteligvel, o qual no tem preci so de nenhuma
complementao terrena.
Tal idia dirige-se, respectivamente, a cada um dos destinatrios
da lei dos costumes. Ela no necessita de nenhum tipo de realizao
na figura de uma comunidade moral porque o sentido de tal modelo
de uma "unio de seres racionais mediante leis objetivas comuns"
no consiste em forar qualquer tipo de cooperao ou de participao
numa prtica comum. Somente in abstracto o "reino dos fins" coloca
ante os olhos um estado em que dominam leis morais vlidas
categoricamente - sem a considerao das conseqncias fticas da
ao no complexo mundo dos fenmenos. O carter pblico desse
mundus intelligibilis permanece, de certa forma, virtual. O seu pen-
dam real no mundo encontra-se na comuni dade de ci dados
--
4.s|;s| 1. .+ 1 182 s.
45
A meta declar ada da filosofia da r eligio consist e em " r epr esentar [...] soment e
aquilo que, no t ext o da r eligio tida como r evelada, isto , no texto da Bblia,
pode ser r econhecido pela simples r azo" . Prefcio a . 1. |s|+|s.+
A XI, nota de rodap.
253
republicanos organizados sob leis jurdicas. E a moralidade, que
tida como interna, s pode aflorar passando pelo mdium do direito
coativo, o qual permite que ela deixe pegadas visveis no comporta-
mento legal.
Ora, Kant desfaz-se desse forte dualismo entre dentro e fora,
entre moralidade e legalidade, quando traduz a idia de uma igreja
geral, invisvel e inscrita em todos os tipos de associao religiosa
para o conceito de "comunidade tica". Como resultado de tal passo,
o "reino dos fins" se evade da esfera da interioridade e assume uma
figura institucional - em analogia com uma comunidade eclesial
inclusiva e universal: "Podemos designar [...] uma relao entre
homens sob simples leis da virtude [...] uma relao tica e, medida
que tais leis so pblicas, podemos caracteriz-la como relao tico-
cidad (ethisch-brgerlich) (para diferenci-la da relao jurdico-
cidad) (rechtlich-brgerlich).
,,46
Tai passagem clarifica sobremaneira
o fato de que a formao dos conceitos e teorias da filosofia depende
de uma fonte de inspirao que se alimenta da tradio religiosa.
Ao elaborar a concepo de um "estado tico-cidado" de uma
comunidade organizada apenas de acordo com leis da virtude, o qual
surge ao lado do "estado jurdico-burgus", Kant fornece uma nova
possibilidade de interpretao, intersubjetivista, do "fim terminal de
seres do mundo racionais". Atravs disso, o prprio dever de colaborar
na realizao do fim terminal adquire um novo sentido. At agora, a
"realizao" do bem supremo tinha de ser pensada mais como uma
"espcie de resultado" (Hervorgehen) - no intencionado pelo homem
- constitudo pela soma de efeitos e efeitos colaterais complexos e
imprevisveis de todas as aes morais. Por isso, o curioso "dever" de
colaborar na realizao do fim terminal no poderia ter uma influncia
direta sobre a orientao do agir, apenas, quando muito, sobre a
motivao para o agir. Somente as leis morais possuem fora
orientadora, pois, segundo elas, cada pessoa decide por si mesma o
que o dever exige em cada situao. Mesmo quando o estado ideal da
convergncia entre virtude e felicidade no referido apenas salvao
|.|+ 1 122/B 129 s.
254
individual, mas tambm quilo que "melhor para o mundo", isto ,
para todos, o "superdever" de promover tal estado continua vazio de
sentido; porquanto ele no pode ser concretizado a no ser pelo
caminho indireto da obedincia individual a deveres simples.
Cada um em particular estligado "diretamente" lei dos cos-
tumes. Ora, isso se modifica quando o bem supremo, que toda pessoa
justa espera promover mediante um agir moral perseverante,
substitudo pela viso de uma forma de vida que Kant traduz pelo
conceito de comunidade tica. Porquanto, a partir de agora, as prticas
locais de uma vida em comunidade, que tal forma de vida antecipa
mesmo que de forma truncada, e que incorpora de forma mais ou
menos aproximada, podem constituir "pontos de unio" para tentativas
cooperativas de uma aproximao maior: "Pois somente assim pode-
se esperar uma vitria do bom princpio sobre o mau. A razo que dita
leis morais, alm de prescrever leis a cada um em particular, ainda
empunha a bandeira da virtude como ponto de unio para todos os
que amam o bem, a fim de que eles se renam sob ela[...]."
47
Nesta
perspectiva, o dever individual de promover o bem supremo
transforma-se no dever de membros de comunidades distintas, j
existentes, de se unir em um "Estado tico", isto , em um "reino da
virtude" cada vez mais abrangente e inclusivo.
48
( 6) Entretanto, a razo no capaz de recuperar a idia de uma
aproximao do reino de Deus sobre a terra - a qual extrapola a lei
dos costumes - lanando mo apenas dos postulados de Deus e da
imortalidade. Muito mais do que isso, a intuio que se liga a tal
projeo lembra que o correto tem de procurar respaldo no bem con-
creto de formas de vida melhores e melhoradas. As imagens
orientadoras de formas de vida no-fracassadas que poderiam auxiliar,
de certa forma, a moral, pairam ante nossos olhos - mesmo sem a
certeza da proteo divina - como um horizonte do agir que , ao
mesmo tempo, confinante e propiciador de abertura, porm, no como
|.|+ 1 12 l/B 129.
|.|+ 1 122/B 130.
255
a comunidade tica kantiana no singular e tambm no nos contornos
rgidos daquilo que devido. Elas nos inspiram e nos encorajam a
tentativas cautelosas de cooperao, e a repeties teimosas de um
mesmo tipo, que mui freqentemente transcorrem sem sucesso algum
porque elas spodem ser bem sucedidas em circunstncias felizes.
A doutrina dos postulados deve sua existncia introduo de
uma obrigao {Pflicht) problemtica que permite ao "dever ser"
{Sollen) ultrapassar a tal ponto o "ser capaz de" (Knnen) humano,
que tal assimetria precisa ser sanada pela ampliao do "saber" (Wissen)
acerca da f. Tal estado de coisas reflete tambm o dilema no qual
Kant se enreda por causa do conflito provocado por sua inteno de
considerar a religio como oponente e, ao mesmo tempo, herdeira.
De um lado, a religio , para ele, fonte de uma moral que satisfaz a
medidas da razo; de outro lado, ela pode ser tida como um refgio
desde que a filosofia a purifique da ganga do obscurantismo e do
fanatismo. Entretanto, a tentativa de uma apropriao reflexiva de
contedos religiosos entra em conflito com o objetivo declarado da
crtica da religio, que consiste em julgar filosoficamente sobre sua
verdade e falsidade. A razo no pode realizar, ao mesmo tempo, duas
coisas opostas: comer o bolo da religio e, ao mesmo tempo, conserv-
lo. Mesmo assim, a inteno construtiva da filosofia da religio,
kantiana, continua merecendo nosso interesse quando nossa questo
: serque - na perspectiva de um pensamento ps-metafsico - o uso
prtico da razo poderia aprender algo da fora de articulao das
religies mundiais?
A traduo da idia do poder de Deus sobre a terra para o conceito
de uma repblica sob leis virtuosas revela de maneira exemplar que
Kant liga a delimitao crtica, e, ao mesmo tempo, autocrtica, entre
saber e f, com a ateno para a possvel relevncia cognitiva de
contedos conservados em tradies religiosas. No seu todo, a filosofia
moral de Kant pode ser interpretada como tentativa de reconstruir o
dever-ser {Sollen) categrico dos mandamentos divinos por um
caminho discursivo. Em seu todo, a filosofia transcendental tem o
sentido prtico de transladar o ponto de vista transcendente de Deus
para uma perspectiva intramundana funcionalmente equivalente e de
256
conserv-la ai como ponto de vista moral.
49
A tentativa visando
desinflacionar racionalmente o modo da fsem, contudo, liquid-lo,
tambm se alimenta de tal genealogia.
O prprio idealismo kantiano, destitudo de iluses, expresso
de uma atitude cognitiva que liga uma abertura honesta para os
protestos pessimistas da razo terica a uma deciso otimista de uma
razo prtica que no se deixa intimidar. Tal combinao preserva um
"habitus da razo", o qual tende naturalmente ao ceticismo, de cair na
indiferena derrotista ou na autodestruio cnica. bem verdade que
Kant no conseguiu superar o umbral de uma conscincia histrica,
cuja relevncia foi reconhecida, logo a seguir, por Hegel. Ele ainda
entendia a apropriao reflexiva de contedos religiosos na perspectiva
de uma substituio gradativa da religio positiva por uma fpura na
razo, e no como a decifrao genealgica de um contexto de
surgimento histrico da qual a prpria razo participa. Porm, de um
certo modo, a doutrina dos postulados j reconcilia a razo, que tem
certeza de si mesma e que critica a religio, com a inteno de uma
traduo salvadora de contedos religiosos.
Nosso olhar hermenutico sobre a filosofia da religio, de Kant,
passa naturalmente pelo filtro de duzentos anos de influncia histrica.
Nesse contexto, lembro-me do carter apologtico da obra de Hermann
Cohen, o filsofo da religio mais importante no mbito do
neokantismo: ele utiliza a religio da razo, de Kant, como chave
para uma interpretao detalhada das fontes literrias da tradio
judaica.
50
Contra o anti-semitismo intelectual de seu entorno, ele
pretende colocar em relevo o contedo humanista e o sentido
HABERMAS, J. " Eine genealogische Betr achtung zum kognit ivenGehalt der
Mor al" , in: id., b. |+|.,.|++ 1.s 1+1..+ Fr ankfur t/M., 1996, 11-64,
aqui, 16 ss.
COHEN, H. |.|+ 1. '.+++/ s+s 1.+ +.||.+ 1.s |+1.++-s
(Reimpr esso da segunda ed. 1928), Wiesbaden, 1988, 4: " Uma vez que o
conceit o de r eligio me leva s fontes literrias dos pr ofetas, t enho a dizer
que elas per manecem mudas e cegas se eu no me apr oximar delas com um
conceit o na mo - cer tamente instrudo por elas, porm, no simplesment e
conduzido por sua autor idade - o qual coloquei na base do ensinament o que
elas me for necer am."
257
universalista do Antigo Testamento, alm de tentar comprovar com
meios filosficos a igualdade de status entre judasmo e cristianismo.
51
Entretanto, as trs figuras mais influentes nas quais pretendo
concentrar-me, a seguir, no so herdeiras diretas de Kant. Hegel,
Schleiermacher e Kierkegaard reagiram s delimitaes ene fe sa-
ber, estabelecidas pela crtica da religio, de Kant, de modo inteira-
mente distinto. E o pensamento dos trs teve grande influncia. Eles
estavam convencidos de que Kant, crtico da religio e filho do sculo
XVIII, tinha ficado preso a uma forma abstrata da Aufklarung,
privando, destarte, as tradies religiosas de sua verdadeira substncia.
bem verdade que nesse captulo da histria da repercusso do
pensamento kantiano, dominado pelo protestantismo - o que no
aconteceu por mero acaso - luta-se especialmente por uma descrio
no-fragmentada do "fenmeno religioso" e pelo estabelecimento
correto dos limites entre razo e religio. Limitar-me-ei a delinear, em
pinceladas bem amplas, as trs linhas metacrticas que se originam,
respectivamente, em Hegel, Schleirmacher e Kierkegaard e atingem
at a constelao atual.
( 7 ) Kierkegaard critica Kant como o iluminista que apreende a
religio mediante conceitos abstratos da razo cognitiva e menospreza
o seu contedo essencial caracterizando-o como algo meramente
positivo. Ao dar esse passo, a razo subjetiva estaria obtendo apenas
uma vitria de Pirro sobre o pretenso obscurantismo; e a falsa
autodelimitao transcendental da razo produziria, enquanto pen-
dant seu, um conceito de religio truncado de modo positivista.
52
E
1I
BRUMLI K, Micha sada a obr a como expr esso do " humanismo hebr eu" in:
id. '.+++/ ++1 0//.+|s++ Ber lim/Viena, 2001, 11-28.
52
HEGEL, G W. F. 0|s+|.+ ++1 "ss.+ Obr as, vol. 2, Frankfurt I 986, 288:
"Aps a vitria glor iosa da r azo esclar ecedor a sobr e aquilo que ela, luz de
sua mnima compr eenso r eligiosa, consider ava como f opost a a ela
descobr imos, no entanto, que nem o posit ivo que ela combat eu, a r eligio,
cont inuou sendo r eligio nem ela, que venceu, continuou sendo r azo." Cf.
nesse cont ext o, SCHMIDT, Th. M. 1+.|.++++ ++1 s|s|+. |.|+
Stuttgar t-Bad Cannstatt, I997.
258
possvel entender tal crtica como radicalizao do princpio kantiano,
proporo que ela prpria pretende superar a oposio entre f e
saber no interior do horizonte de um saber ampliado de modo racional.
Hegel certamente entende, de um lado, a histria das religies na
amplitude de suas prticas rituais e de seus mundos de representaes;
de outro lado, porm, as interpreta como genealogia de uma razo
abrangente, cujo porta-voz a filosofia. Ele se apega, alm disso, s
pretenses do esclarecimento filosfico que justifica o contedo de
verdade da religio de acordo com as medidas da razo.
53
De outro lado, no lugar de uma apropriao seletiva de contedos
religiosos isolados por uma razo consciente de seus limites, entra em
cena a superao consciente da religio em seu todo. A filosofia
reconhece o que racional no pensamento representador da religio.
Todavia, o casamento desproporcional que o abrao da filosofia impe,
no final das contas, religio subjugada, acarreta para o parceiro
aparentemente superior um resultado de dois gumes. O conceito do
esprito absoluto que se aliena em natureza e histria, a fim de
recuperar-se reflexivamente nesse "out ro" permite filosofia
incorporar o pensamento fundamental do cristianismo e fazer da
encarnao de Deus o princpio do prprio pensamento dialtico -
isso, implica, no entanto, um preo dobrado: De um lado, a
ultrapassagem dos limites da razo transcendental, traados numa
autocrtica, relanam a filosofia de volta metafsica; de outro lado, o
fatalismo de um esprito que gira em torno de si mesmo - e que, aps
ter alcanado o cimo do saber absoluto precisa ser relanado de volta
natureza - fecha precisamente a dimenso escatolgica de um novo
comeo, para o qual se dirige, apesar de tudo, a esperana de salvao
dos crentes.
54
A dupla desiluso - a da recada numa metafsica e a da retirada
quietista de uma teoria que abandona a prtica - incitou os discpulos
53
HEGEL, G. W. F. '|.s++.+ u|. 1. |||s|. 1. |.|+ II, Obr as,
Vol. 17, 318: " O ver dadeir o contedo da fcr ist tem de ser j ust ificado pela
filosofia."
54
LWITH, K. " Hegels Aufhebung der chr istlichenReligion" , in: id. /+ ||
1. :|s|:|.+ |.|./.++ Stuttgar t, I 966, 54-96.
259
da esquerda hegeliana a radicalizarem a crtica da religio, de Kant,
num outro sentido, materialista. Feuerbach e Marx contrapem
histria idealista do desenvolvimento do esprito absoluto a viso de
uma razo intersubjetiva, encarnada na linguagem e no corpo e situada
na histria e na sociedade. Alm disso, atribuem primazia razo
prtica, no terica. E bem verdade que eles entendem a religio, de
modo sbrio, como um reflexo de condies vitais dilaceradas e como
o mecanismo que permite vida alienada ocultar-se de si mesma.
55
A
sua crtica da religio antecipa uma explicao psicolgica de Freud,
segundo a qual, a conscincia religiosa preenche projetivamente
precises negadas. Em que pese isso, aqui, como em Kant, tal
destruio de uma positividade falsa deve liberar um contedo de
verdade que est espera de uma concretizao prtica. E aqui como
l, novamente a idia do reino de Deus sobre a terra, interpretada
como comunidade tica, que deve encontrar uma incorporao profana,
agora na figura revolucionria de uma sociedade emancipada.
56
Tal apropriao atesta de contedos religiosos teve continuadores
no marxismo ocidental. Aqui fcil identificar os motivos teolgicos,
seja na filosofia da esperana de Bloch, fundada na filosofia da
" MARX, K. |+|.++ ,+ || 1. h..|s:|.+ |.:|s||s|u. (1843),
Ber lim/DDR, 1976, 378: " O homem, isto o mundo do homem, o Est ado, a
sociedade. Esse Est ado, essa sociedade pr oduzem a r eligio, uma conscincia
inver tida do mundo por que eles se encontr am em um mundo inver tido. A
r eligio a teor ia ger al desse mundo [...], seu ent usiasmo, sua sano mor al,
sua complement ao festiva, sua r azo ger al de j ust ificao e de consolo.
Ela a r ealizao fantstica da natur eza humana por que a natur eza humana
no possui uma r ealidade ver dadeir a. A luta cont r a a r eligio , pois,
indir etamente, a luta contr a aquele mundo cuj o ar oma espir itual a r eligio."
54
FEUERBACH L. 0++1,u. 1. |||s|. 1. /+|++/ (1843), 59: " O
ser humano individual no tem, para si mesmo, a natur eza do homem, seja
enquant o ser mor al, seja enquanto ser pensante por si mesmo. A natur eza do
homem sestcontida na comunidade, na unidade dos homens com os homens
- uma unidade, porm, que se apoia soment e na r ealidade da diferena entr e
' eu' e ' t u' ." Aqui Feuer bach antecipa mot ivos essenciais da filosofia do
dilogo, de Mar tinBuber ; cf. nesse cont ext oTHEUNI SSEN, M. b.1+1..
(1964), Ber lim, 1977, 243-373.
260
natureza, seja nos esforos de salvao, de Benjamin, desesperados,
porm, inspirados messianicamente, seja no negativismo gretado de
Adomo. De outro lado, certas concepes filosficas encontraram,
inclusive, ressonncia no interior da prpria teologia. Encontram-se
nesse caso JohannBaptist Metz e JrgenMoltmann.
Desde Hegel at Marx e o marxismo hegeliano, a filosofia tenta,
seguindo as pegadas semnticas do "povo de Deus" deixadas para
trs por Kant, apropriar-se do contedo de libertao coletiva
encontrvel na mensagem de salvao judeu-crist. Entretanto, para
Schleiermacher e Kierkegaard, a salvao individual - a qual levanta
as maiores dificuldades para a filosofia orientada para o geral - constitui
o ncleo da f. Esses dois pensadores so cristos, porm, ps-
metafsicos. O primeiro assume alternadamente dois papis que Kant
separara: o do telogo e o do filsofo; o outro mergulha no papel do
escritor religioso, passando a enfrentar os desafios de um Scrates
que filosofa maneira kantiana.
(8) Diferentemente de Hegel, Schleiermacher respeita as balizas
fincadas pela crtica metafsica, elaborada por Kant. E bem verdade
que ele compartilha com Hegel a reserva contra uma crtica que
reencontra na religio apenas uma moral. Em que pese isso, no que
respeita crtica do conhecimento, Schleiermacher mantm firme a
auto-referncia da razo subjetiva. Ao elaborar, no horizonte dos
conceitos fundamentais da filosofia da conscincia, o sentido e o direito
prprios do elemento religioso, ele desloca a fronteira entre fe saber
para alm da simples razo, tentando favorecer, por este traado, a f
autntica. Na sua qualidade de filsofo, Schleiermacher no se interessa
pelos contedos da f religiosa - "a f que se acredita" (fides quae
creditur) - mas pela questo: o que significa, de um ponto de vista
performativo, ser um crente? - A f pela qual se acredita" (fides qua
creditur).
51
Ele distingue entre uma teologia cientfica que elabora
" I sso explica por que Bultmann pode encontr ar um caminho que o leva de
Schleier macher a Kier kegaar d: cf. a contr ibuio de F. Nssel sobr e Bultmann
in: NEUNER, R, WENZ, G. (eds.) I|.|.+ 1.s : |s||++1.s
Dar mstadt, 2002, 70-89.
261
dogmaticamente contedos nos quais se acredita e uma piedade devota
que inspira e serve de base conduta de vida pessoal do crente.
Schleiermacher amplia, por certo, a arquitetnica das faculdades
da razo kantiana. Contudo isso, ele no a implode, mesmo quando
cria um lugar transcendental prprio para a f religiosa, o qual fica
situado ao lado do saber, da inteleco moral e da experincia esttica.
A partir de agora, ao lado das jconhecidas faculdades da razo, surge
a religiosidade da pessoa crente que, no sentimento da devoo toma-
se imediatamente consciente de sua prpria espontaneidade e de sua
dependncia pura e simples de um outro. Schleiermacher pe mostra
o modo como a autocertificao e a conscincia de Deus se cruzam.
O famoso argument o toma como ponto de partida a posio
intramundana de um sujeito cuja caracterstica principal consiste na
sua capacidade receptiva e na auto-atividade, bem como numa ao
recproca entre o seu modo de relacionar-se com o mundo, o qual
ativo e passivo.
58
Para um sujeito ftnito que se volta para o mundo
impensvel uma liberdade absoluta, assim como impensvel uma
dependncia absoluta. Do mesmo modo que uma liberdade absoluta
inconcilivel com as barreiras colocadas pelo mundo ao agir situado,
assim tambm uma dependncia absoluta no se coaduna com a
distncia intencional do mundo, sem o qual, estados de coisas no
podem ser apreendidos de modo objetivador nem manipulados.
Todavia, se este sujeito, ao tornar-se consciente da espontaneidade da
prpria vida consciente, se desvia do mundo, ele sacudido por um
sent i ment o da mais absol ut a dependnci a: na real i zao da
autocertificao intuitiva, ele se conscientiza da dependncia de um
outro, o qual - aqum da diferena entre aquilo que recebemos do
mundo e aquilo em funo do qual agimos no mundo - toma possvel
nossa vida consciente.
Tal anlise transcendental do sentimento de devoo proporciona
experincia religiosa uma base geral e independente, tanto da razo
terica como da prtica, sobre a qual Schleiermacher desenvolve uma
alternativa bem-sucedida para o conceito de "religio da razo" no
SCHLEI ERMACHER, F. b. :|s|:|. 0|s+|. (1830)/31 ), 3-5.
262
iluminismo. A experincia religiosa que lana razes na "conscincia
de si mesma imediata" pode reclamar co-originariedade com um uma
razo que brota da mesma raiz. A filosofia transcendental da
religiosidade, de Schleiermacher, possui, inclusive, vantagens, quando
confrontada com o conceito de religio da razo, jque tem condies
de fazer jus ao pluralismo religioso na sociedade e no Estado sem
prejudicar a positividade de tradies religiosas recalcitrantes, isto ,
sem reduzir nem eliminar o direito delas. O cunho pietista da
interioridade religiosa conduz ao segundo argumento, segundo o qual,
o sentimento antropolgico e geral da dependncia ramifica-se em
diferentes tradies, to logo o sentimento piedoso articulado de
uma certa maneira, isto , alado por sobre o umbral da expresso
simblica adquirindo a figura prtica de uma fpraticada de modo
eclesial na socializao comunicativa de crentes.
A compreenso filosfica de que todas as religies tm a mesma
origem racional abre para as igrejas - e para a interpretao dogmtica
dos respectivos credos eclesiais - a possibilidade de encontrar um
lugar legtimo em cpsulas diferenciadas das sociedades modernas.
Sob tal premissa, elas podem, sem nenhum prejuzo de sua respectiva
pretenso de verdade vis a vis no-crentes ou crentes de outras
confisses, exercitar a tolerncia recproca, reconhecer a ordem secu-
lar do Estado liberal e respeitar a autoridade das cincias que se
especializam num saber sobre o mundo. A justificao filosfica da
experincia religiosa em geral liberta a teologia de um peso de prova
desnecessrio. Provas da existncia de Deus, metafsicas, bem como
especulaes similares, so suprfluas. E ao lanar mo dos melhores
mtodos cientficos para a elaborao de seu ncleo dogmtico, a
teologia estabelece-se, sem nenhum alarde, nas universidades, ao lado
de outras disciplinas prticas. Todavia, o protestantismo cultural do
final do sculo XIX e do incio do sculo XX chama a ateno para o
preo pago por Schleiermacher por esta elegante reconciliao entre
religio e modernidade, entre fe saber. A integrao social da Igreja
e a privatizao da fretiram da referncia religiosa transcendncia
sua fora explosiva capaz de influenciar o interior do mundo.
A pessoa e a obra de Adolf vonHarnack levantaram a suspeita
de que a seriedade religiosa tinha passado por um processo de
263
amenizao. Ora, a adaptao moderadora da religio ao esprito da
modernidade priva o agir solidrio da comunidade religiosa da fora
de uma prxis reformadora no mundo, especialmente da energia de
uma prxis revolucionria. Sob tais premissas, a presena de Deus
retira-se para as profundezas da alma individual: "O reino de Deus
chega medida que ele vem ao indivduo e habita na sua alma."
59
Max Weber e Ernst Troeltsch entendem a religio do mesmo modo
que Schleiermacher, como uma formao da conscincia que mantm
sua autonomia e sua fora configuradora nas sociedades modernas. E
claro que, para eles, o sentido da tradio religiosa spode ser captado
por meio de evidncias empricas. Para extrair algum tipo de contedo
religioso normativo da esteira do historismo, eles tm de lanar mo
de uma reflexo astuta sobre as razes crists da cultura individualista
atual, esclarecida em termos liberais, na qual eles reencontram sua
prpria autocompreenso.
60
(9) A obra de Kierdegaard apresenta-se como um contraponto
anlise schleiermacheriana, apaziguadora, de uma existncia devota
reconciliada com a modernidade. Ele compartilha, inicialmente, com
Marx, seu coetneo, a conscincia de crise que acompanha uma
modernidade inquieta. No obstante isso, distanciando-se dele, ele
busca o caminho que permite sair do pensamento especulativo e da
sociedade burguesa corrompida, o qual no consiste, segundo ele,
numa inverso da relao entre teoria e prxis, mas na confeco de
uma resposta existencial questo luterana dirigida a um Deus
mi seri cordi oso, que o at orment a. A consci nci a do pecado,
HARNACK, A. v. bss ".s.+ 1.s (|s.++-s (ed. Por RENDTORFF, T.),
Gtersloh, 1999, 90; cf, tam.bm WENZ, G. " A. v. Har nack -
Her zensfr mmigkeit und Wissenschaftsmanagement" , in: NEUNER, WENZ
(2002), 33-52.
GRAF, F. W., TROELTSCH, E. " Theologie ais Kult ur wissenschaft des
Hist or ismus" , in: NEUNER, WENZ (2002), 53-69; sobr e Max Weber cf.
SCHLUCHTER, W. " Zukunft der Rel i gi on" , in: id. |.|+ ++1
|.|.+s/u|++ Vol. 2, Fr ankfur t/M., 1988, 506-534.
264
radicalizada, faz com que a autonomia da razo caia na sombra do
poder pura e simplesmente heterogneo daquele Deus que
irreconhecvel, atestado apenas pela histria e que se comunica a si
mesmo. Tal lance neo-ortodoxo que contradiz a autocompreenso
antropocntrica da modernidade constitui um estgio extremamente
importante na histria da filosofia da religio inspirada em Kant.
Porquanto ele fortalece o traado de limites entre a razo e a religio,
desta vez partindo do continente da f da revelao. E neste
procedimento demarcatrio, Kierkegaard emprega a autolimitao
transcendental da razo kantiana contra o prprio antropocentrismo
inerente a ela. No cabe razo traar limites religio, j que a
experincia religiosa indica razo o espao que ela no pode
ultrapassar. No entanto, Kierkegaard sabe muito bem que a razo s
pode ser batida com suas prprias armas. Por isso, ele tem convencer
"Scrates" - que nada mais do que a figura de seu prprio opositor
kantiano - de que a moral da conscincia, ps-convencional, s poder
tornar-se um ponto de cristalizao de uma conduta de vida consciente
quando for inserida em uma autocompreenso religiosa.
61
Kierkegaard descreve desta maneira, inspirando-se em formas
de vida patolgicas, estgios sintomticos de uma "doena para a
morte", salutar, e figuras de um desespero inicialmente reprimido e
que, a seguir, ultrapassa o limiar da conscincia obrigando, finalmente,
a uma converso da conscincia centrada no eu. Essas diferentes figuras
do desespero constituem outras tantas manifestaes do fracasso da
relao existencial fundamental que poderia tomar possvel um ser
"si mesmo" (Selbst) autntico. Kierkegaard descreve os estados
inquietantes de uma pessoa que, de um lado, se conscientiza de que
estdeterminada a tornar-se um "si mesmo" mas que, de outro lado,
foge para uma das seguintes alternativas: "desespera de querer ser
algum ou, num nvel ainda mais baixo: desespera de querer ser "si
mesmo" ou, descendo para o nvel mais baixo de todos: desespera de
61
HABERMAS, J. "Begrndete Ent halsamkeit . Gibt es post met aphysische
Antwor tenauf die Fr age nach dem ' r ichtigenLeben' ?" , in: id. b. /+|++/
1. -.+s:||||.+ \s+ Fr ankfur t/M., 2001, 11-33.
265
querer ser um outro diferente do que se ."
62
Quem, no final das contas,
reconhece que a fonte do desespero est, no nas circunstncias, mas
nos prprios movi ment os de fuga, empreendera tentativa
recalcitrante, porm, mesmo assim, infrutfera, de "querer ser algum".
O fracasso desesperado desse derradeiro ato de fora - do querer
ser "si mesmo" que se empertiga sobre si mesmo - tem como finalidade
mover o esprito finito para o transcender de si mesmo e, com isso,
tambm para o reconhecimento da dependncia de um outro em sentido
absoluto, no qual se fundamenta a prpria liberdade. Tal reviravolta
marca o ponto de virada, isto , a superao da autocompreenso
secularizada da razo moderna: " proporo que se relaciona consigo
mesmo e proporo que pretende ser ele mesmo, o "si mesmo"
apia-se de modo cristalino sobre o poder que o instituiu."
6,
Somente
tal conscincia torna possvel um ser si mesmo autntico.
64
A razo
que reflete sobre o fundamento mais profundo descobre sua origem
num outro; e ela tem de reconhecer tal poder, que tambm um destino,
a fim de no perder sua orientao no beco sem sada de um hbrido
apoderar-se de si mesma.
Em Schleiermacher, tal converso da razo tem incio na
autoconscincia de um sujeito que conhece e age; em Kierkegaard, na
historicidade da autocertificao existencial. Em ambos os casos, uma
razo que se torna consciente dos seus limites ultrapassa a si mesma,
indo em direo a um outro: seja no sentimento da dependncia
protegida de um elemento csmico que tudo abrange ou na esperana
desesperanada em um evento histrico de salvao. A diferena
decisiva consiste no fato de que Kierkegaard entende a converso da
razo como abdicao da razo perante a autoridade do Deus cristo
que se comunica a si mesmo; ao passo que Schleiermacher mantm a
viso antropocntrica e fundamenta filosoftcamente a experincia
religiosa fundamental, da qual derivam as tradies positivas da f.
62
KI ERKEGAARD, S. b. |s+||.| ,+- I1. (ed. por RICHTER, v. L.),
Fr ankfur t/M., 1984, 51.
65
Ibid., 14.
M
THEUNI SSEN, M. bss .||s s+/ 1.- 0++11. '.+./|++ Meisenheim-
Fr ankfur t/M., 1991.
266
Para Karl Barth, tal compreenso filosfica da religiosidade e da
religio constitui pura e simplesmente "incredulidade" - j que a
revelao crist , pura e simplesmente, "superao da religio".
65
Barth e Bultmannfazem coro a Kierkegaard, a fim de destacar, com
perseverana, o sentido normativo prprio da f na revelao e a
existncia da fcrist contra a corrente do pensamento histrico, con-
tra a presso de secularizao da sociedade e contra a privatizao da
f. Eles destacam na mensagem da fcrist o elemento no integrvel,
a oposio irreconcilivel entre fe saber. Todavia, tal confrontao
se desdobra sobre a base de um pensamento ps-metafsico, o qual
capaz de impedir que a crtica modernidade seja vtima das presas
do antimodemismo reacionrio (o posicionamento poltico de Barth
e Bultmannquanto ao regime nazista revelam bem isso).
De outro lado, a filosofia da existncia assume a herana de
Kierkegaard. Ela o acompanha no caminho para uma tica que
caracteriza o modo histrico de uma conduta de vida consciente e
autocrtica como sendo puramente formal.
66
Karl Jaspers tenta, alm
disso, reconstruir em termos racionais a tenso radical entre a
transcendncia e o elemento intramundano na viso secular de uma
"clarificao da existncia". E o preo que ele tem de pagar por isso
se contabiliza na equiparao da pretenso de validade das proposies
filosficas ao status de verdades de f. Ele generaliza para toda a
filosofia o conceito kantiano de "f da razo", talhado para os
postulados de Deus e da imortalidade, e distingue a "f filosfica" do
modo de conhecer da cincia. Tal procedi ment o enseja uma
similaridade familiar entre as doutrinas filosficas e as tradies
religiosas. Ambos os lados encontram-se em concorrncia com os
poderes da f. A filosofia pode, quando muito, esclarecer o carter
dessa disputa; mas no pode decidir a prpria di sput a com
argumentos.
67
M
PFLEIDERER, G. " Karl Bar th - Theologie des Wor tesals Kritik der Reli-
gions" , in: NEUNER, WENZ (2002), 124, aqui 135.
66
HABERMAS (2001), 11-33.
67
J ASPERS. K. b. ||s|s:|. 0|s+|. s+.s:||s 1. 0//.+|s++
Munique, 1984.
267
(10) O que nos ensina esse rude traado histrico da atualidade
da filosofia da religio kantiana? Tal pergunta se coloca hoje, porm,
na perspectiva de uma ameaa que coloca em risco o contedo
normat i vo da moderni dade configurada no Oci dent e. Hegel
caracterizara as conquistas da modernidade lanando mo dos
conceitos "autoconscincia", "autodeterminao" e "auto-realizao".
A autoconscincia decorre de um incremento da reflexividade no
contexto de uma reviso permanente de tradies fluidificadas; a
aut odet ermi nao fruto da di ssemi nao do uni versal i smo
individualista e igualitrio no direito e na moral; ao passo que a auto-
realizao acompanha a presso individuao e a um autocontrole
sob as condies de uma "identidade-eu" extremamente abstrata.
68
Tal aut ocompreenso da modernidade tambm resultado da
secularizao, portanto, da desintegrao das coeres oriundas de
religies detentoras de poder poltico. Hoje em dia, no entanto, aquela
conscincia normativa corre perigo porque sofre ameaas, no somente
"a partir de fora" devido a pretenses reacionrias de uma contra-
modernidade fundamentalista, mas tambm "a partir de dentro", pela
prpria modernizao que estsaindo fora dos trilhos. A diviso do
trabalho entre os mecanismos integradores do mercado, da burocracia
e da solidariedade social deixou de ser equilibrada, o que permitiu um
deslocamento na direo de imperativos econmicos que estimulam
apenas um tipo de convivncia dos sujeitos agentes entre si, isto , a
convivncia orientada pelo sucesso. A familiarizao com novas
tecnologias que interferem profundamente nos substratos da pessoa
humana, os quais eram tidos, at agora, como "naturais" fomenta,
alm disso, uma autocompreenso naturalista nos sujeitos que vivem
e se comunicam entre si.
69
Tal abalo da conscincia de normas
manifesta-se tambm na insensibilidade cada vez maior para com
patologias sociais - para com uma vida fracassada em geral. Ora,
HABERMAS, J. b. ||s|s:|. bs|+s 1. 41.+. Frankfurt/M
1985, 390-435.
HABERMAS, J. "Auf dem Wegzu einer liberalenEugeni k?" in: id (2001)
34-126.
268
uma filosofia que se tomou sbria em termos de metafsica no tem
mais condies de compensar tal falta, a qual j tinha sido farejada
por Kant. Ela no dispe mais daquele tipo de argumentos capazes de
isolar uma nica imagem de mundo motivadora, e de coloc-la, a
seguir, acima de todas as outras; ou seja, uma imagem de mundo
capaz de pr eencher expect at i vas exi st enci ai s, de or i ent ar
normativmente uma vida em sua totalidade ou de distribuir consolo.
Tivemos ocasio de averiguar que Kant, ao formular sua doutrina dos
postulados da religio, pretendia extrair da razo prtica mais do que
ela realmente suporta.
O que ele intencionava com o modo da f racional tem mais a
ver com a compreenso de si mesmos de membros de comunidades
religiosas e de grupos culturais em geral, os quais so determinados
por fortes tradies que cunham a identidade. Tal modo de fequipara-
se aos enfoques proposicionais que ns assumimos perante modos de
vida que so nossos e, por isso, tidos como autnticos. Ns s vivemos
com a certeza de um modo de vida quando estamos convencidos de
seu valor. Entretanto, existe uma pluralidade de modos de vida
autntica, de tal sorte que, neste contexto, a certeza e a validade em
termos de verdade no coincidem, o que no deixa de ser curioso. Por
mais certos que estejamos de tal autocompreenso existencial, no
podemos confundir juzos de valor, subjacentes, com convices
morais generalizveis (ou, muito menos ainda, com proposies
tericas). Em todo caso, ns no atribumos a Orientaes valorativas,
que tm para ns - e para outros membros tal como ns - uma
significao existencial, uma pretenso ao reconhecimento universal.
Temos de assegurar i ni ci al ment e, cont ra Kant , que as
representaes do reino de Deus ou de uma "comunidade tica" surgem
sempre no plural. E temos de saber que no foi Hegel, e sim Kant, isto
, o Kant da filosofia da religio, quem percebeu que a moral da razo,
que surge no singular, e a institucionalizao jurdico-constitucional
dos direitos humanos e da democracia necessitam de uma insero no
denso contexto de uma forma de vida. Porquanto eles adquirem fora
impulsionadora mediante a insero nos multifacetados contextos de
imagens de mundo e de modos de vida, nos quais esto inscritos fins
269
terminais concorrentes. Existe entre eles um dissenso que a prpria
razo j pressupe, o qual deve ser trazido linguagem em discursos
pblicos, a fim de evitar que ele fique chocando a violncia ou leve
inimizada surda. Nesse ponto, a filosofia, no papel de uma tradutora,
pode promover uma concrdia moral, jurdica e poltica caso ela
consiga esclarecer a multiplicidade legtima dos projetos de vida
substanciais de crentes, de crentes que crem de forma diferente e de
incrdulos sem assumir a postura de um concorrente que sabe mais
do que os outros. Nesse papel de intrprete, ela pode, inclusive,
contribuir para renovar sensibilidades, pensamentos e motivos que se
originam, verdade, de outras fontes, mas que permaneceriam
encapsulados caso o trabalho conceituai filosfico no os trouxesse
luz da razo pblica.
A filosofia da religio, de Kant, estabeleceu medidas para dois
papis distintos da razo, a saber: para a conteno autocrtica de uma
razo que traa limites e para o papel maiutico de uma apropriao
discursiva e pblica dos potenciais particularistas encapsulados em
linguagens especiais. Em que pese isso, para descobrir a luz que tal
filosofia da religio pode lanar sobre a constelao formada pela fe
o saber em nossas sociedades ps-seculares necessrio considerar
tambm a histria de sua repercusso. Em cada uma das trs linhas
citadas - a do marxismo hegeliano, do protestantismo cultural e da
dialtica da existncia - destaca-se um aspecto diferente de tal
constelao modificada. Isso toma necessria uma breve observao
no final das presentes consideraes.
( 1 1 ) 0 olhar genealgico de Hegel consegue decifrar imagens
sugestivas e a narrativa densa das religies mundiais interpretando-as
como histria de um esprito que est espera de uma apropriao
reflexiva mediante o trabalho do conceito. Sob tal ngulo de viso, a
filosofia pode encontrar, ainda hoje em dia - em tradies religiosas
no-compreendidas e em prticas da vida da comunidade - intuies,
compreenses perspicazes, possibilidades de expresso, sensibilidades
e formas de trato, as quais no so de todo estranhas razo pblica,
e que so, no obstante isso, por demais enigmticas, o que impede a
sua aceitao pura e simples pelo crculo comunicativo da sociedade
270
em seu todo. Entretanto, tais contedos podem adquirir fora
regeneradora perante uma conscincia normativa, que se encontra em
via de encolhimento, caso se consiga desenvolver, a partir desse fundo,
novos conceitos formadores de perspectiva. Por esse caminho, concei-
tos tal como "positividade", "alienao" ou "reificao" - os quais
no escondem a sua procedncia do pecado original e da proibio de
criar imagens - conseguiram, em sua poca, modificar uma percepo
geral. Porquanto eles permitiriam, de um lado, que a marcha triunfal
da modernizao capitalista fosse visualizada numa outra luz, e que
os sentidos, os quais no conseguiam mais captar patologias sociais,
fossem sensibilizados. O uso crtico de tais conceitos tirou o vu da
normalidade que cobria tais condies transformadas em hbito.
Aps o colapso da civilizao, o conceito benjaminiano de
"solidariedade anamntica" com injustias passadas - um conceito
que, sem dvida alguma, tenta cobrir a lacuna aberta pela perda da
esperana em um juzo final - traz a r ecor dao de uma
responsabilidade coletiva, a qual se estende para alm da obrigao
moral.
70
A idia da aproximao do reino de Deus adotada no mbito
das fronteiras da simples razo apenas dirige o olhar para o futuro.
Em ger al , tal idia desper t a em ns uma consci nci a de
responsabilidade coletiva pelos auxlios no prestados, pelos esforos
cooperativos no envidados para evitar um mal que se aproximava ou
simplesmente para melhorar uma situao que causa indignao.
Certamente, apenas em momentos felizes, uma cooperao bem-
sucedida pode estar altura de tal expectativa. Todavia, a fraca
responsabilidade pelo destino coletivo do prximo ou dos que se
encontram distantes no tirada de nossos ombros pelo simples fato
de ela superar, na maioria das vezes, nossas foras falveis levando,
de quando em quando, loucura espritos fanticos ou obstinados
que desconhecem sua prpria falibilidade.
PEUKER, H. "ss.+s:|s/s|.. hs+1|++s|.. u+1s-.+s|.
I|.|. Dsseldorf, 1976,278 ss. Cf. tambm HABERMAS, J. 's+1.+
++1|s+,++.+ ,+ I|.. 1.s |--++|s..+ hs+1.|+s Fr ankfur t/M.,
1984, 514 ss.
271
Kant, Hegel e Marx fizeram com que a conscincia secular
sentisse o aguilho da herana religiosa. Schleiermacher e Kierkegaard,
no entanto, foram os primeiros a exigir da filosofia que aceitasse a
religio como uma parceira a ser situada no mesmo nvel. Eles
liberaram o cristianismo dos laos que o prendiam metafsica grega
e o criticaram ou defenderam, ao nvel de um pensamento ps-
metafsico kantiano, contra os eruditos e os indiferentes entre seus
detratores.
Schleiermacher, de sua parte, explica por que a religio no
algo simplesmente passado e fechado complexidade da modernidade.
Ele mostra como a Igreja, a conscincia religiosa e a teologia podem
afirmar-se, no interior de uma diferenciao cultural e social, na
qualidade de figuras contemporneas e, inclusive, funcionalmente
especficas. Neste sentido, Schleiermacher apresenta-se como um pre-
cursor no quadro da conscincia de uma sociedade ps-secular que
procura estar em sintonia com a continuidade da religio num entorno
em vias de secularizao. Ao mesmo tempo, ele realiza, como que a
partir de dentro, uma modernizao da conscincia religiosa que faz
coro com as condies normativas inalienveis do direito ps-
convencional, com o pluralismo de vises de mundo e com o saber de
mundo institucionalizado cientificamente. Sem sombra de dvida,
Schl ei ermacher, ao tentar uma reconciliao entre religio e
modernidade utilizando meios filosficos, aproxima-se de uma
filosofia que pretende farejar na felementos do saber.
Kierkegaard foi o primeiro a confrontar o pensamento ps-
metafsico com a heterogeneidade insupervel da fque nega,
descompromissadamente, a viso antropocntrica do pensamento
filosfico, o qual toma como ponto de partida o interior do mundo.
Por intermdio deste desafio, a filosofia obtm uma relao dialtica
com o domnio da experincia religiosa. O ncleo dessa experincia
subtrai-se s intervenes secularizadoras de uma anlise filosfica
do mesmo modo que a experincia esttica, a qual tambm resiste a
intervenes racionalizadoras. Com os conceitos do belo, do feio e do
sublime, a filosofia consegue apenas circunscrever cuidadosamente a
excitao sensvel e desprovida de linguagem que impulsiona o jogo
da faculdade do juzo reflexionante. A fonte da sensibilidade evade-
272
se da faculdade cognitiva (Verstand). O mesmo acontece no caso de
uma "transcendncia" que irrompe no mundo a partir de fora. Por
meio desse conceito, a filosofia circunscreve o abissal e o ascendente,
inerentes a essa energia utpica, reinterpretando-os como "promoo
do bem supremo" sobre cuja fonte uma razo destranscendentalizada
no possui mais nenhum poder. Porquanto ela scapaz de reconstruir
uma transcendncia discursivmente, a partir de dentro.
71
Entrementes, a filosofia sconsegue nutrir-se, de modo racional,
da herana religiosa at o momento em que se tomar inaceitvel a
fonte da revelao que lhe contraposta de forma ortodoxa. As
perspectivas centradas exclusivamente ou em Deus ou no homem
no podem ser substitudas uma pela outra. Por isso, to logo a fronteira
entre fe saber toma-se porosa e to logo motivos religiosos se infiltram
na filosofia sobnome falso, a filosofia perde seu sustentculo, caindo
em devaneios. A autocrtica da razo, de Kant, no tinha como tarefa
apenas a de clarear a relao entre razo terica e prtica, mas tambm
a de isolar a prpria razo, em seu uso terico e prtico justificados,
das extravagncias de pretenses de conhecimento metafsicas, de
um lado, e das certezas da freligiosa, de outro lado. Tais determinaes
das fronteiras do pensamento ps-metafsico (e ps-cristo) podem
servir-nos, ainda hoje, como medida, a partir do momento em que
pretendemos obter orientao, na paisagem filosfica atual, sobre as
relaes entre fe saber.
( 12) A fim de obter indicadores de caminho para uma localizao
genrica, gostaria de fazer uma distino entre trs tipos de correntes
de pensamento: (a) as que retomam tradio da metafsica situando-
se atrs das fronteiras traadas por Kant; (b) as que se atm s fronteiras
do pensamento ps-metafsico; (c) e as que apagam novamente tais
marcas proporo que "saem das fronteiras" e imergem num
pensamento criador de fronteiras.
(a) bem verdade que a necessidade especulativa caracterizada
por Plato, no momento em que propunha uma escalada at o cimo
71
HABERMAS, J. I.s. ++1 |+.s. Frankfurt7M., 1991, 127-156.
273
das idias e uma libertao das peias da matria, como sendo o bero
da filosofia, jamais se aquietou. De sorte que a revivescncia, ou
melhor, a apropriao dialtica - na plataforma ps-kantiana de uma
conscincia de si - de padres de argumentao da tradio clssica
tambm serve, ao menos de forma implcita, recuperao de
pensamentos relevantes para a salvao. Freqentemente tais motivos
se combinam com impulsos de crtica modernidade e correspondentes
intenes polticas (como o caso de Leo Strauss). No entanto, a re-
obteno da tradio da metafsica ocidental nem sempre aponta para
os incios gregos, estando voltada mais para uma onto-teologia medi-
eval (como no caso de Carl Schmitt). Neste caso, as feridas abertas
pela modernidade no podem ser curadas pelo caminho da certificao
contemplativa de uma ordem csmica (do ente em geral), ou seja,
pelo "caminho da salvao" que funda um parentesco entre a "vida
terica" (bios theoretikos) e as prticas de meditao orientais. Trata-
se, neste caso, acima de tudo, da justificao metafsica de proposies
fundamentais de doutrinas monotestas, como era feito antes no
neotomismo e como ainda acontece, hoje em dia, na filosofia islmica.
Em determinadas interpretaes, possvel detectar um hegelianismo
teolgico ou a ontologia analtica como continuao da apologtica
clssica com outros meios.
(b) Kant elaborou uma diferenciao entre f e saber, a qual
pressupe uma ruptura com a pretenso totalizadora do conhecimento
metafsico. Tal gui nada rumo ao pensament o ps-metafsico
desvalorizou certos conceitos ontolgicos e uma determinada estrutura
de explicao, jque ela deveria trazer a filosofia para o mesmo plano
da cincia moderna.
72
E certo que, aps tal guinada, a filosofia passou
a adotar vrios posicionamentos quanto religio.
A apologtica moderna, cuja importncia no arrefeceu na
filosofia da religio catlica, distingue-se da apologtica clssica no
somente pelos meios do pensamento, como tambm pelo alvo da
HABE RMAS, J. " Mot i ve na ch met a p h ysi sch en Denkens" , in: id.
\s:|-.s|;ss:|.s b.+|.+ Fr annkfur t/M., 1988, 35-60.
274
argumentao. Ambas no falam mais, verdade, como a teologia
"em nome" de uma tradio de f, mas "referindo-se" a uma tradio
de ftida como verdadeira, e ambas aproveitam os princpios
filosficos atuais (da Teoria Crtica atWittgenstein) com a finalidade
de uma justificao racional dos componentes cognitivos da respectiva
doutrina religiosa.
71
Todavia, a apologtica moderna no compartilha
mais com a clssica a idia de que a sociedade e a cultura seculares
no tm nenhuma base espiritual. (Lado a lado com a moderna teologia)
ela promove, levada por uma inteno, ao mesmo tempo crtica e
apologtica, a racionalizao interna de uma tradio de f com o
objetivo de encontrar uma resposta dogmaticamente satisfatria para
os desafios modernos do pluralismo religioso, do monoplio cientfico
das cincias e do Estado de direito democrtico.
O plo oposto a tal reconstruo racional de contedos de f
formado pelo cientificismo, no entender do qual, as convices
religiosas so per se inverdicas, ilusrias e destitudas de qualquer
sentido. De acordo com tal interpretao, saber legtimo somente
aquele que pode apoiar-se nos conhecimentos aceitos pelas cincias
experimentais institucionalizadas na sociedade. A validade de
convices religiosas, ela mesma, deve ser avaliada por essa mesma
medida e somente por ela; por isso, o jogo da linguagem religiosa tem
de ser recusado como sem importncia cognitiva, jpor simples razes
gramaticais. Nesse caso, a avaliao prtica da religio - a qual de-
cide se ela deve ser combatida ou eventualmente tratada de modo
teraputico por ser tida como perigosa - depende apenas de uma
pesquisa emprica sobre suas causas, funes e conseqncias. O
cientificismo, no obstante isso, entra numa verdadeira concorrncia
com as doutrinas religiosas to logo ele se prope a desenvolver uma
imagem do mundo extrada das cincias da natureza e quando estende
7,
Cf. PEUKERT, B. H. Wissenschaft st heor ie, handlungst heor ie, fundamentale
Theologie. Dsseldorf, 1976; LUTZ-BACHMANN, M. " Mater ialismus und
mat er ialismus-kr it ik bei max Hor kheimer und Theodor W. Ador no" , in;
|.ss:|/ 1|/.1 :|-1 Munique, 1991, 143-159; RI CKEN F.
|.|+s||s|. Stuttgar t, 2003.
275
o olhar cientfico, objetivador, ao mundo da vida, pessoa que age e
vivncia coisas exigindo dela uma auto-objetivao da conscincia
do dia-a-dia.
Caracterizo, finalmente, como ps-metafsicas num sentido
substancial, portanto, no apenas num sentido puramente metdico,
o qual atinge apenas os procedimentos e os meios do pensamento, as
posies agnsticas que estabelecem uma distino rigorosa entre saber
e f, porm, sem supor a validade de uma determinada religio (como
o caso da apologtica moderna) e sem negar (como no caso do
cientificismo) a essas tradies em geral um possvel contedo
cognitivo. E gostaria tambm de fazer uma distino entre princpios
racionalistas que suprassumem a substncia da fno conceito filosfico
(seguidores de Hegel) e princpios dialgicos que se comportam ante
as tradies religiosas de uma maneira, ao mesmo tempo, crtica e
disposta a aprender (Karl Jaspers).
74
Tal diviso pode servir de auxlio quando tentamos enfrentar a
seguinte questo: serque a filosofia pode decidir por si mesma o que
verdade na religio e o que no ? Ou serque ela deixa as questes
internas de validade da religio entregues s disputas de uma
apologtica racional, limitando-se a conservar contedos cognitivos
extrados das tradies religiosas? Tenho na conta de "cognitivos",
nesse sentido, todos os contedos semnticos traduzveis em um
discurso que no se encontra sob o "efeito ferrolho" que acompanha
normalmente verdades da revelao. Nesse discurso, contam apenas
argumentos "pblicos", por conseguinte, argumentos capazes de
convencer tambm os que se encontram fora de uma comunidade
particular de f. A separao metdica dos dois universos de discurso
combina com a abertura da filosofia para possveis contedos
cognitivos da religio. A "apropriao" acontece sem nenhuma
inteno de intromisso ou de "assuno hostil". Em tal delimitao,
ao mesmo tempo clara e tolerante, em relao dogmtica religiosa
reflete-se, alm do mais, o estado de conscincia de cidados seculares
74
J ASPERS, K. b. ||s|s:|. 0|s+|. s+.s:|s 1. 0//.+|:++
Munique, 1962.
276
conscientes de estarem vivendo numa sociedade ps-secular. Nessa
atitude, a autocompreenso ps-metafsica de cunho kantiano
distingue-se do neopaganismo, o qual se reporta - com ou sem razo
- a Nietzsche.
(c) A posio da filosofia diante da religio no expressa apenas
uma autocompreenso controversa da filosofia, ou seja, o que, segundo
ela, ainda pode ser feito por ela mesma e o que no pode mais ser
feito. A interpretao da relao entre filosofia e religio deixa entrever,
alm disso, uma dupla atitude: de recusa pura e simples da modernidade
ou de aceitao crtica. De sorte que a fora regeneradora da herana
metafsica deve compensar uma falta sentida na modernidade. Em
contrapartida, o pensamento ps-metafsico pode retirar-se dos
contedos de uma formao do mundo a partir da natureza e da histria,
ou seja, da construo de um todo, porque ele simplesmente adota as
diferenciaes modernas, aps terem passado pelo crivo de uma
ressalva crtica; as trs "Crticas", de Kant, revelam que o pensamento
ps-metafsico integra-se s esferas de validade da cincia e da tcnica,
do direito e da moral, da arte e da crtica, j diferenciadas. O nexo,
quase sempre implcito, entre posicionamentos quanto religio, de
um lado, e posicionamentos quanto modernidade, de outro lado,
eclode explicitamente no arraial ps-moderno dos herdeiros de
Nietzsche.
Aqui aparece em primeiro plano, tematicamente, a inteno de
superao - que no gesto revolucionria e voltada ao futuro - de
uma modernidade funesta e condenada. Desta feita, porm, o retorno
a um "outro comeo" conduz para um contexto situado atrs da "era
axial" (Jaspers). Na modernidade, agarrada a si mesma e esquecida
das tradies, deve culminar uma histria da queda que j se constata
nos incios da metafsica e da religio, com Scrates e Moiss. Resulta
desse diagnstico do tempo o escalonamento nivelador da religio -
ela deve ser, do mesmo modo que a metafsica, expresso do
esquecimento do ser. Somente os poderes originrios de um Mythos
que ainda estpor vir conseguem levar a cabo a to sonhada converso
que permite superar obstrues do Logos. Sem embargo, ao falar de
277
um local situado alm do Lagos, tal especulao neopag sobre "a
chegada ou a fuga dos deuses" obrigada a apropriar-se de uma retrica
na qual a fora do argumento convincente foi substituda pela auto-
encenao evocadora do "grande e oculto Indivduo".
Ironicamente, nesses casos somente encontramos nossa
disposio um nico vocabulrio, a saber, o escatolgico! O Heidegger
tardio utiliza claramente as seguintes expresses: susto (Schrecken),
risco (Wagnis) e salto (Sprung), deciso (Entschlossenheit) e serenidade
(Gelassenheit), recordao (Andenken) e arrebatamento (Entrckung),
privao (Entzug) e chegada (Ankunft), entrega (Hingabe) e ddiva
(Geschenk), acontecimento (Ereignis) e volta (Kehre). Ao mesmo
tempo, ele se v obrigado a borrar os vestgios da procedncia de tal
j ogo de linguagem. Pois a mensagem de salvao crist, a cuja
semntica ele no pode renunciar, foi por ele, mesmo assim, degradada
como interldio ontoteolgico insignificante de uma "dominao de
igrejas, que j perdeu sua fora".
75
O confinamento da razo ao seu
uso prtico, levado a cabo por Kant na sua filosofia da religio, atinge
hoje em dia, no tanto o fanatismo religioso, mas uma filosofia efusiva
que apenas se aproveita das conotaes profticas de um vocabulrio
religioso e salvfico a fim de se eximir do rigor de um pensamento
discursivo. Nesse contexto, Kant tem algo a nos dizer: porquanto sua
filosofia da religio pode ser entendida, no seu todo, como advertncia
contra uma "filosofia religiosa".
" HEI DEGGER, M. |.:. ,+ |||s|. '- |.+s Gesamtausgabe,
vol. 65, Frankfurt/M., 1989.
278
IV. TOLERNCIA
9. A TOLERNCIA RELIGIOSA
COMO PRECURSORA DE DIREITOS CULTURAIS.
(1) No sculo XVI, a palavra "tolerncia" foi emprestada do
latim e do francs, por conseguinte, no mbito do grande cisma
religioso. Nesse contexto de surgimento, ela tinha, inicialmente, o
significado mais restrito de uma transigncia com outras confisses
religiosas.
1
No decorrer dos sculos XVI e XVII, a tolerncia religiosa
passa a ser um conceito do direito. Governos redigem documentos de
tolerncia que impem aos funcionrios e a uma populao ortodoxa
um comportamento tolerante no trato com minorias religiosas -
luteranos, huguenotes e papistas.
2
O ato jurdico das autoridades que
toleram pessoas e prticas de outras crenas estabelece a exigncia de
um comportamento tolerante com os membros de uma comunidade
religiosa at ento perseguida ou oprimida.
1
Cf. 1||.-.+.s hs+1.|+:| 1. ||s|s:|.+ "ss.+s:|s/.+ +.|s|
|. |.s+ ++1 0.s:|:|. (ed. K.RUG, Willelm Traugot, 2a. ed. 1832):
'Tolerncia (de tolerar, agentar, aturar) transigncia [...]. Entretanto, aquela
palavra empregada na maioria das vezes no sentido estrito de transigncia
religiosa, assim como a palavra oposta intolerncia empregada no sentido
de intransigncia religiosa."
2
Em 1598 Henrique IV promulga o |1 1. \s+.s. cf. tambm o 1: (+
:.++ |.|+ do governo de Maryland no ano de 1649; o I|.s+ 1:
do rei ingls de 1689; ou ainda - como um dos ltimos nessa srie de
"permi sses" da autoridade - o I|.s+,s.+ de JosII. Em 1781.
279
No ingls, mais do que no alemo, possvel uma distino
mais ntida entre "tolerance" enquanto virtude ou disposio para o
comportamento e "toleratiori\ que constitui um ato jurdico. Ns
empregamos a mesma expresso "tolerncia" {Toleram) para designar
ambas as coisas: tanto uma ordem jurdica que garante tolerncia,
como a virtude poltica do trato tolerante. Montesquieu destaca o nexo
consecutivo que existe entre aturar e tolerar: ' To logo as leis de um
pas conseguem ajustar-se admisso de vrias religies, elas tm de
obrig-las, a seguir, a se aturarem mutuamente [...]. Por isso,
aconselhvel que as leis estabeleam a seguinte exigncia: que essas
diferentes religies no apenas deixem o Estado em paz, mas que
mantenham, alm disso, a paz entre si."
3
At poca da Revoluo, o conceito de tolerncia englobava
dois aspectos: de um lado, referia-se, acima de tudo, a destinatrios
religiosos, e de outro lado, tinha a conotao de uma simples
transigncia das autoridades. Em que pese isso, j desde Spinoza e
Locke, as fundamentaes filosficas da tolerncia religiosa apontam
para um caminho que leva do ato jurdico autoritrio, o qual declara
unilateralmente a transigncia religiosa, a um direito ao livre exerccio
da religio, o qual repousa no reconhecimento recproco da liberdade
de religio dos outros e que carrega aps si um direito negativo de ser
poupado de prticas religiosas estranhas. Rainer Forst contrape
"concepo de permisso" de uma autoridade que garante liberdades
religiosas, a "concepo do respeito". Esta ltima corresponde nossa
concepo da liberdade de religio, a qual tida como um direito
fundamental que compete a toda pessoa enquanto ser humano,
independentemente da religio qual adere.
4
Pierre Bayle continua a inventar novos exemplos, a fim de levar
seu oponente intolerante a assumir a perspectiva do outro e a aplicar
as prprias medidas aos seus adversrios: "Por conseguinte, se o Mufti
for assaltado pelo desejo de enviar alguns missionrios para doutrinar
' Cit ado de acor do com HERDTLE, C. e LEEB, Th. (eds.) I|.s- I.s. ,+
I|.. ++1 |s:|.+ |sss Stuttgar t, 1987, 49.
" Cf. nota de rodapn 10.
280
os cristos, do mesmo modo que o Papa os envia s ndias, e se
surpreendermos esses missionrios turcos no momento em que se
introduzem em nossas casas a fim desempenhar sua tarefa na qualidade
de missionrios, eu no creio que teramos autorizao para castig-
los. Porquanto, se eles dessem a mesma resposta que dada pelos
missionrios no Japo, isto , que eles vieram levados pelo zelo de
pregar a verdadeira religio queles que ainda no a conhecem e de
cuidar da salvao de seus prximos [...], - se enforcssemos esses
turcos, no seria, neste caso, extremamente ridculo nos queixarmos
se os japoneses agissem da mesma forma?"
5
Bayle pratica uma
assuno de perspectivas recprocas insistindo na generalizao das
idias sob cuja luz ns julgamos "a natureza do agir humano - e neste
caso ele pode ser tido como um precursor de Kant".
6
Na base de um reconhecimento recproco de regras do trato
tolerante, possvel solucionar tambm o paradoxo que levara
aparentemente Goethe a rejeitar a tolerncia por consider-la uma
benevolncia desdenhosa. O paradoxo estaria no fato de que todo ato
de transigncia tem de circunscrever, ao mesmo tempo, um mbito de
caractersticas daquilo que precisa ser aceito e, com isso, tal ato traa,
inevitavelmente, um limite prpria tolerncia: Nenhuma incluso
sem excluso. E proporo que esse traado de limites se desenvolve
de modo autoritrio e, por conseguinte, unilateral, o ato de tolerar traz
impressa a mcula de uma excluso arbitrria. Somente a concepo
de liberdades iguais para todos e a fixao de um domnio de tolerncia
capaz de convencer simetricamente a todos os atingidos so capazes
de extrair da tolerncia o aguilho da intolerncia. Os possveis
at i ngi dos tm de l evar na devi da cont a per spect i vas dos
respectivamente "outros" caso pretendam chegar a um acordo sobre
as condies sob as quais desejam exercitar tolerncia recproca
apoiando-se no argumento de que todos merecem igual respeito.
As conhecidas condies para a convivncia liberal de diferentes
comunidades religiosas passam por tal teste de reciprocidade, o qual
' BAYLE, P. cit. de acor do com HERDTLE e LEEB (1987), 42.
6
Ibid., 38.
281
implica, em primeira linha, a renncia a meios de coao poltica para
a imposio de verdades de f, bem como uma liberdade de associao
que exclui qualquer tipo de coao moral contra os prprios membros.
Quando encontram reconhecimento intersubjetivo para alm das
fronteiras confessionais, normas desse tipo podem fornecer argumentos
em condies de sobrepujar razes subjetivas alocadas a favor de
uma recusa de convices e de prticas religiosas estranhas. Em que
pese o fato de a tese de Jellinek sobre o surgimento dos direitos
humanos a partir da liberdade de religio no ter consistncia histrica,
existe, mesmo assim, um nexo conceituai entre tal fundamentao
universalista do direito fundamental da liberdade de religio, de um
lado, e as bases normativas de um Estado constitucional, isto , da
democracia e dos direitos humanos, de outro lado.
Porquanto os cidados spodero especificar consensual mente
a fronteira de uma tolerncia exigida reciprocamente, se tomarem suas
decises luz de um modo de deliberao que leva as partes, ao mesmo
tempo atingidas e participantes, assuno recproca de perspectivas
e eqitativa ponderao dos interesses. Os procedi ment os
democrticos do Estado constitucional esto precisamente a servio
de tal formao da vontade deliberativa. A tolerncia religiosa pode
ser garantida de modo transigente pelas condies sob as quais os
cidados de uma comunidade democrtica se concedem mutuamente
liberdade de religio. Desta maneira, possvel solucionar o aparente
paradoxo h pouco mencionado: pelo direito ao livre exerccio da
prpria religio e pela correspondente liberdade negativa de no ser
molestado pela religio dos outros. Na viso de um legislador
democrtico que eleva os destinatrios do direito condio de autores
desse mesmo direito, o ato jurdico que impe a todos uma tolerncia
recproca funde-se com a auto-obrigao virtuosa a um comportamento
tolerante.
Parece, todavia, que o paradoxo envolvendo uma intolerncia
que habita no mago de toda tolerncia delimitada no se dilui
inteiramente mediante a generalizao recproca da liberdade de
religio, concebida em termos de um direito fundamental; e ela retoma
no mago do prprio Estado democrtico constitucional. Uma ordem
constitucional que pretende garantir tolerncia precisa precaver-se
282
contra os inimigos da constituio. Quando da passagem "legal" da
Repblica de Weimar para o regime nazista, as pessoas tomaram
conscincia da peculiar dialtica da auto-afirmao de uma democracia
"militante" ou "disposta reao".
7
Os tribunais podem enfrentar a
questo sobre os limites da liberdade religiosa num determinado caso
concreto apelando para a lei e a constituio. No entanto, quando a
prpria constituio - a qual garante a liberdade - se defronta com
inimigos da liberdade, coloca-se, de forma auto-referencial, a questo
acerca dos limites da liberdade potica: At que ponto e em que medida
a democracia pode tratar tolerantemente os inimigos da prpria
democracia?
Caso o Estado democrtico pretenda evitar sua prpria dissoluo,
ele tem de se comportar de modo intolerante contra o inimigo da
constituio lanando mo dos meios do direito penal poltico ou das
determinaes para a proibio de partidos polticos (Art. 21,2 GG
[Lei Fundamental]) e para a perda de direitos fundamentais (Art. 18
GG, Art. 9,2 GG). Na figura do inimigo da constituio, retorna,
revestido de conotaes originariamente religiosas, o inimigo do
Estado - seja na figura secularizada do idelogo poltico que combate
o Estado liberal, seja na figura do fundamentalista que combate formas
de vida moderna enquanto tal. Entretanto, convm perguntar, quem
deve definir o inimigo da constituio a no ser os prprios rgos do
Estado constitucional? Este ltimo encontra-se na iminncia de
enfrentar, no somente a inimizade de opositores existenciais, como
tambm traies aos seus prprios princpios - e o perigo permanente
de uma recada culposa numa prtica de fixao unilateral e autoritria
de fronteiras da tolerncia. proporo que a tolerncia religiosa
consegue passar adiante a tarefa paradoxal de uma autodelimitao,
colocando-a nas mos da democracia, esta se v confrontada com o
paradoxo da tolerncia constitucional no prprio mdium do direito.
Uma proteo paternalista da constituio agudizaria, alm do
mais, tal paradoxo. Pois um direito objetivado na forma de "ordem
7
LOEWENSTEIN, K. "Militant Democracy and Fundamental Rights", in: 1-.
:s+ ||:s|:.+:. |... (31), 1937; id., './sss+-.s|.|. 3a. ed. 1975
348 ss.
283
objetiva de valores" carrega consigo, no entender de Konrad Hesse,
"a tendncia a uma segurana da constituio e do Estado, constitudo
por seu intermdio, de preferncia num sistema de defesa e de
policiamento." No deveramos deixar de levar na devida conta que
"a substncia da democracia garantidora da liberdade no pode ser
assegurada porencurtamentos da prpria liberdade."
8
Se conseguisse
transladar a auto-referencialidade do procedimento democrtico, que
se auto-instala na prpria disputa democrtica - que aberta em termos
de resultados - para as interpretaes corretas de uma determinao
da constituio, a democracia militante poderia evitar o risco do
paternalismo
Em tal contexto, o trato da desobedincia civil constitui uma
espcie de teste do tornassol. Evidentemente, a prpria constituio
determina os procedimentos a serem seguidos para se enfrentar um
conflito de interpretaes da constituio. Em que pese isso, mediante
a justificao da "desobedincia civiC por parte das instncias judiciais
superiores, (a qual no isenta de pena), o esprito tolerante de uma
constituio liberal ultrapassa a totalidade das instituies prticas
nas quais o seu contedo normativo se solidificou. Uma constituio
democrtica que se auto-entende como projeto de realizao de iguais
direitos cidados tolera a resistncia de dissidentes que, aps o
esgotamento de todos os caminhos legais, combatem decises tomadas
de modo legtimo, com a reserva, no entanto, de que os cidados
"desobedientes" conseguem justificar sua resistncia apoiados em
princpios da constituio e em meios no-violentos, os quais so, por
conseqncia, simblicos.
9
Essas duas condies especificam a
fronteira de uma tolerncia poltica aceitvel por parte de uma
democracia erigida sobre os alicerces de um Estado de direito, o qual
se protege contra seus inimigos utilizando meios no-patemalistas -
mesmo em se tratando de opositores com mentalidade democrtica.
"HESSE, K. 0++1,u.1.s './sss++s.:|s 1. |++1.s.+||| b.+s:||s+1
17
a
. Ed. Heidelberg, 1990, Randnotiz, 694; cf. FRANKENBER, G b.
'./sss++ 1. |.+||| 107, ss.
' ' Sobre a problemtica da desobedincia civil cf. minhas duas contribuies in:
HABERMAS, J. b. +.+. +u|.s|||:||.h Frankfurt/M;. 1985, 79-117.
284
Reconhecendo a desobedincia civil, o Estado democrtico
consegue processar o paradoxo da tolerncia, o qual reaparece na
dimenso do direito constitucional. Com isso, ele traa a fronteira
entre um trato tolerante e um trato autodestrutivo com dissidentes
ambguos, de tal sorte que estes - que no final das contas poderiam
ser considerados como inimigos da constituio-obtm, contra todas
as aparncias, a chance de aparecer como os verdadeiros patriotas
const i t uci onai s, ou melhor, como os ami gos de um projeto
constitucional interpretado de forma dinmica. Tal traado de fronteiras
de tolerncia da constituio, que auto-reflexi vo, pode ser entendido,
ele mesmo, como expresso do princpio da incluso simtrica de
todos os cidados, cujo reconhecimento geral tem de ser pressuposto,
caso se pretenda institucionalizar corretamente a tolerncia com
pessoas que seguem outras crenas ou que pensam de modo diferente.
O pluralismo em termos de vises de mundo e a luta em prol da
tolerncia religiosa forneceram, certamente, combustvel para o
surgimento do Estado constitucional democrtico; em que pese isso,
eles ainda continuam, hoje em dia, a fornecer impulsos para a
configurao conseqente desse Estado. Pretendo guarnecer o conceito
de tolerncia com contornos mais ntidos e mostrar em que consiste,
mais precisamente, o fardo das exigncias de tolerncia recprocas(2);
a seguir, tentarei abordar o tema da tolerncia religiosa como precursora
de um multiculturalismo bem-entendido e de uma coexistncia, com
iguais direitos, de diferentes formas de vida no interior de uma
comunidade constituda de modo democrtico (3).
(2) J assinalamos en passant os trs componentes do moderno
concei t o de tolerncia dest acados por Rai ner Forst: recusa
(Ablehnung), aceitao (Akzeptanz) e repulso (Zurckweisung).
10
Normas de tolerncia surgem quando hconflitos de religio. O desafio
FORST, R. "Toleranz, Gerechtigkeit und Vernunft", in: id. (ed.). I|.s-
Frankfurt/M., 2000, 144-161; id. "Grenzender Toleranz", in: BRUGGER,
W. e HAVERKATE, G. (eds. ) 0.+,.+ ss I|.-s 1. |.:||s ++1
,s|||s|. ARS, Beiheft, 84, Stuttgart, 2002; agora tambm: FORST,
R. I|.s+, - |+|| Frankfurt/M., 2003.
285
consiste em que a recusa mtua de convices e prticas pode ser
entendida, bem verdade, na base de bons motivos subjetivos mesmo
no havendo expectativa racional de uma dissoluo cognitiva do
dissenso (a). Por isso, o dissenso persistente entre crentes, crentes que
acreditam de forma diferente, e incrdulos, tem de ser desacoplado da
esfera social, a fim de que as interaes entre os cidados da mesma
comunidade possam prosseguir sem estorvos inoportunos. Para que
isso acontea, h mister de uma base de argumentos imparciais, aceitos
em comum, os quais no neutralizam, mesmo assim, bons argumentos
em prol da recusa, j que os superam (b). A regulao jurdica
obrigatria exige, finalmente, um traado de fronteiras entre aquilo
que deve ser tolerado e aquilo que no pode mais ser tolerado. A
imparcialidade dos argumentos reflexivos, tecidos, seja em prol da
aceitao, seja a favor da recusa, assegurada, conforme mostramos,
por meio de um procedimento inclusivo de formao deliberativa da
vontade, o qual exige, da parte dos participantes, respeito recproco,
bem como a assuno das perspectivas um do outro. A isso corresponde
um mandamento de neutralidade dirigido ao Estado, que passa a
oferecer, a seguir, a base normativa para a generalizao dos direitos
religiosos e culturais (c).
Ad a) A especificao do componente de rejeio responde
seguinte pergunta: quando que a situao exige um comportamento
tolerante e quando que tal comportamento possvel? Estaramos
utilizando o conceito num sentido demasiado laxo caso a "tolerncia"
se estendesse, em geral, s disposies para um trato paciente e
tolerante com outros ou com estranhos. O que se entende aqui , antes
de tudo, a virtude poltica, no exigvel juridicamente, de cidados no
trato com outros cidados que se apegam a uma convico rejeitada.
Devemos continuar respeitando no outro o co-cidado, mesmo quando
avaliamos a sua f ou seu pensamento como falsos ou rejeitamos a
correspondente conduta de vida como ruim. A tolerncia preserva
uma comunidade poltica pluralista de se dilacerar em meio a conflitos
oriundos de vises de mundo diferentes.
De sorte que, s pode praticar tolerncia quem tem argumentos
subjetivamente convincentes para a rejeio de pessoas que seguem
286
credos diferentes. J que tolerncia no indiferena, uma vez que
indiferena por convices e prticas estranhas e, inclusive, a avaliao
do outro e de sua alteridade em termos meramente apreciativos,
anularia o objeto da tolerncia. Todavia, os argumentos de rejeio,
que exigem tolerncia, no podem ser tidos como bons apenas de um
ponto de vista subjetivo: eles tm de valer como legtimos perante a
esfera pblica. Preconceitos no contam. S podemos falar em
tolerncia quando os participantes puderem apoiar sua recusa em uma
no-concordncia que encontra motivos razoveis para continuar
existindo. Nesse sentido, nem toda recusa racional. Porquanto no
atingimos o racista, nem o chauvinista, apenas clamando por tolerncia,
mas exigindo que eles superem seus preconceitos. Tendo em vista o
"ser diferente" exige-se, inicialmente, que seja evitado qualquer tipo
de discriminao, ou melhor, que se imponha o igual respeito por
cada um - e no, como no caso do "pensar diferente", quando se
exige simplesmente tolerncia.
Isso nos leva concluso interessante de que a tolerncia s
pode ter incio alm da discriminao. Como no caso da liberdade de
religio, ns s podemos exigir tolerncia aps a eliminao do
preconceito que permitia a opresso de uma minoria. bem verdade
que a rejeio de crentes de outros credos, e o exemplo do anti-
semitismo pode ilustrar bem isso, se liga a preconceitos enraizados
faticamente, cujo alcance ultrapassa, em muito, a emancipao jurdica
dos cidados judeus. Todavia, o Nathan, de Lessing, revela que, aos
olhos do cristo esclarecido, do muulmano e do judeu, as diferenas
da fcapazes de proporcionar "bons" argumentos para uma rejeio
de convices e prticas estranhas s podem manifestar-se aps a
superao de todos os preconceitos em relao quelas diferenas de
f. De outro lado, aps a superao dos preconceitos contra pessoas
de cor, homossexuais ou mulheres, no restaria mais nenhum compo-
nente do estranho ou do "heterogneo" sobre o qual uma rejeio fun-
ddmentada e reconhecida em geral como legtima pudesse apoiar-se.
Ao lado de tal qualificao dos fundamentos da rejeio, que
resultam de um dissenso cuja continuidade razovel, as prprias
concepes rejeitadas, porm, toleradas, tm de comprovar uma
287
relao interna com a prxis. Por tal caminho, religies de salvao
adquirem, devido sua importncia para a salvao pessoal do crente,
fora, a qual capaz de orientar diretamente a ao. Todavia, as prprias
cosmovises de origem metafsica e, inclusive, as ideologias polticas,
explicam o mundo, a histria, ou a sociedade numa linguagem dotada
de contedo normativo que traz concluses prticas para uma vida
que pode no ser bem-sucedida. Somente concepes com tal contedo
tico tm eficcia para o comportamento e se qualificam para uma
imputao de tolerncia capaz de frear o comportamento. De outro
lado, nossa atitude em relao a teorias cientficas concorrentes pode
ser crtica e inspecionadora; mas jamais tolerante."
No caso de uma disputa sobre teorias, a prpria especificao
funcional do empreendimento cientfico cuida para que haja uma
neutralizao dos conflitos envolvendo uma ao no mundo da vida,
os quais, no entanto, eclodem quando se trata de uma querela de
religies - devido relevncia direta das verdades de fpara a conduta
da vida pessoal. Os cientistas s so envolvidos em conflitos desse
tipo quando a prtica de pesquisa (como no caso da pesquisa sobre
embr i es) per mi t e prever conseqnci as que iro afetar a
autocompreenso tica das pessoas, mesmo fora do contexto da
pesquisa propriamente dita. E nesse caso revela-se, alm do mais, que
o naturalismo, enquanto fruto de um processamento sintetizador de
informaes cientficas, de natureza metafsica - relacionada a
cosmovises - e se encontra, no que tange relevncia do saber para
orientaes ticas da ao, no mesmo plano das interpretaes
religiosas.
De outro lado, somente exigem tolerncia concepes que
conflitam umas com as outras por razes que podem ser reconstrudas
subjetivamente, porm, sem a expectativa racional de uma unio
motivada racionalmente. Os cientistas tomam como ponto de partida
a idia de que esto trabalhando com problemas que admitem, por via
de regra, uma soluo convincente mesmo que esta, no fundo, seja
" HABERMAS, J. "Wannmssenwir tolerant sein? ber die Konkurrenz von
Wel t bi l dern, Werten und Theor i en", in: |+||+:| :::; 1. |.|+
|s+1.+|+s:|.+ 1|s1.+u. 1. "ss.+s:|s/.+ Berlim, 2003, 167-178.
288
criticvel. Eles esto procura de verdades ainda no descobertas
que, em relao a ns, esto depositadas no futuro. Ao contrario disso,
os crentes se entendem a si mesmos como intrpretes de uma verdade
revelada no passado, que no passvel de revises, podendo ser
defendida, sobre a base de bons argumentos, contra verdades de f
concorrentes. Nessa linha de pensamento, a disputa das compreenses
polticas de partidos que se digladiam entre si, seguindo procedimentos
democrticos, a fim de conseguir influncia, tem mais semelhanas
com a disputa entre teorias dos cientistas do que com a disputa
dogmtica dos telogos. Mutatis mutandis, a prpria disputa entre as
opi ni es polticas regul ada por procedi ment os metdicos
democrticos, de tal forma que os participantes dessa contenda os
adotam a fim de chegar a solues aceitveis de um ponto de vista
racional. bem verdade que, nas contendas polticas, o traado do
horizonte em cujos limites o presumvel dissenso se desenrola mais
amplo do que o horizonte das disputas cientficas. Porm, a expectativa
de um dissenso permanente refere-se somente insero mais forte
das convices polticas em contextos de convices bsicas
metafsicas, tecidas com fibras de vises de mundo, que servem de
pano de fundo.
Por conseguinte, a fala sobre "tolerncia poltica" precisa
configurar-se num sentido mais restrito - ela no pode dar-se ao nvel
dos assuntos polticos que constituem a rotina diria de uma
democracia, j que se situa no contexto de conflitos entre ideologias
polticas abrangentes. Porque durante o tempo em que os cidados
discutem sobre problemas que eles julgam solucionveis, suficiente
um comportamento civil: a tolerncia no o mesmo que a virtude
poltica do trato civil. A definio que JohnRawls prope para tal
"dever de civilidade" (civity) aproxima-se muito, verdade, da
tolerncia: "Esse dever implica a disposio de ouvir outros e um
modo de pensar e sentir eqitativo (fair) quando se trata de decidir, de
forma razovel, sobre o momento em que deveramos fazer concesses
s opinies de outros."
12
Todavia, tolerncia dos que pensam de modo
12
RAWLS, J. ||s:|. ||.s|s-+s Frankfurt/M., 1998, 317 s.
289
diferente no pode ser confundida com disposio de compromisso
ou de cooperao. Jque, para alm de uma busca paciente da verdade,
abertura, confiana mtua e de um sentido de justia, a tolerncia s
requerida quando as partes no buscam de modo razovel nem julgam
possvel uma unio na dimenso de convices conflitantes.
Ad b) Se pretendemos saber em que consiste precisamente o
fardo de imputaes de tolerncia, temos de explicar, antes, a aceitao
de argumentos capazes de superar moralmente argumentos de recusa.
Trata-se, pois, de um duplo fardo: quem tolerante, spode realizar,
de um lado, o prprio etos no interior das fronteiras daquilo que com-
pete, em igual medida, a todos. De outro lado, no espao de tais
fronteiras, ele tem de respeitar tambm o etos dos outros. O que se
deve aceitar, no so, porm, opinies recusadas ou pretenses de
validade concorrentes. J que as prprias certezas e pretenses de
verdade permanecem intocadas. O fardo no resulta de uma
relativizao de convices prprias, mas de um "confinamento" de
sua efetividade prtica. A imputao resulta da concluso, segundo a
qual, o modo de vida, prescrito pela prpria religio, ou o etos inscrito
na prpria imagem de mundo spodem ser praticados sob a condio
de iguais direitos para todos e cada um. Tal fardo de tipo cognitivo,
j que a moral e o direito de uma sociedade configurada em moldes
liberais tm de ser sintonizados com as convices religiosas nas quais
o prprio etos estenraizado. O significado disso pode ser detectado
naquelas adaptaes cognitivas que foram exigidas da conscincia
religiosa na Europa, desde a era da Reforma.
Cada religio , originariamente, "imagem do mundo" ou, como
afirma JohnRawls, "doutrina compreensiva" {comprehensive doc-
trin), inclusive no sentido de que ela pretende estruturar uma forma
de vida em sua totalidade. Em sociedades pluralistas, uma religio
tem de renunciar a tal pretenso a uma configurao abrangente da
vida, que inclui a prpria comunidade, to logo a vida da comunidade
religiosa se diferencia da vida da comunidade poltica, que mais
ampla. Caso haja, entre as duas comunidades, um nexo genealgico -
como o caso da tradio judeu-crist na Europa -, as grandes religies
290
tm de apropriar-se, elas mesmas, dos fundamentos normativos do
Estado liberal, lanando mo de premissas prprias. Para a "insero"
da moral dos direitos humanos em diferentes imagens de mundo
religiosas, JohnRawls escolheu a imagem de um mdulo a qual,
mesmo tendo sido construda com auxlio de bases metafisicamente
neutras, cabe dentro dos respectivos contextos de fundamentao
ortodoxos.
11
De um ponto de vista funcional, a tolerncia religiosa
tem por finalidade receptar a destrutividade social de um dissenso
irreconcilivel e permanente. No obstante isso, a necessria
diferenciao dos papis de membro de uma comunidade e de cidado
da sociedade precisa ser fundamentada, convincentemente, na viso
da prpria religio. Caso contrrio, os conflitos de lealdade aprofundar-
se-o.
A socializao religiosa s estarafinada com a secular quando
os valores e normas se diferenciarem entre si, no apenas numa viso
interna, mas tambm quando uma socializao surgir consistentemente
da outra. A diferenciao dos dois tipos de pertena, concebida para
superar o plano de um simples modus vivendi, s sereficaz caso a
modificao no se esgote numa simples adaptao - destituda de
pretenses cognitivas - do etos religioso a leis impostas pela sociedade
secular. Ela exige, alm disso, que a moral da sociedade, inscrita na
constituio democrtica, se diferencie cognitivamente do etos da
comunidade. E, em muitos casos, isso torna necessria uma reviso
de prescries e representaes que repousam sobre uma longa tradio
de interpretao das Escrituras Sagradas - como o caso, por exemplo,
da condenao dogmtica da homossexualidade. Em casos mais
difceis, inclusive, a prpria codificao de matrias carentes de uma
regulamentao enquanto "ticas" e/ou "morais" questionada. Na
questo do aborto, por exemplo, os catlicos tm de aceitar que lhes
seja imputada, por parte dos tribunais pblicos e como parte de seu
etos religioso especfico, uma compreenso que, na sua perspectiva,
estapoiada em juzos morais, mas que, de acordo com sua prpria
pretenso, estapoiada em juzos vlidos em geral. Sob tal ponto de
" I bid.,76 ss.
291
vista complementar do respeito pelo etos do outro, torna-se ainda mais
claro que o peso resultante da tolerncia no estdistribudo de modo
eqitativo entre crentes e incrdulos. Para a conscincia do cidado
secular, que lida com pequena bagagem metafsica, e que capaz de
aceitar uma fundamentao "livre" ou autnoma da democracia e dos
direitos humanos, o ponto de vista do justo - ou moral - precede o
bem substancial. Sob tal premissa, o pluralismo dos modos de vida,
nos quais se refletem, respectivamente, diferentes imagens de mundo,
no desperta nenhuma dissonncia cognitiva nas convices ticas
prprias. Porquanto agora, nos diferentes modos de vida, incorporam-
se apenas diferentes orientaes de valores. E valores distintos
constituem, quando comparados entre si, valores diferentes que no
se excluem reciprocamente como verdades diferentes.
Nos juzos ticos fica inscrita a relao a uma primeira pessoa -
histria da vida de um indivduo singular ou forma de vida de uma
coletividade. Por esta razo, o que bom para um, em seu prprio
contexto, pode ser ruim para um outro, em outro contexto. E j que a
forma de assentimento geral, exigido para uma avaliao de formas e
projetos de vida, estranhos, no a mesma que se exige para juzos de
justia ou asseres sobre fatos, podemos respeitar de igual maneira
cada um em particular, mesmo que no avaliemos da mesma maneira
todas as formas de vida. Por isso, no difcil, para uma conscincia
secular, reconhecer que um etos estranho pode ter, para os outros, a
mesma autenticidade e gozar da mesma precedncia que o etos prprio
tem para cada um de ns mesmos. Em que pese isso, a pessoa que
obtm sua autocompreenso tica a partir de verdades de f, as quais
pretendem validade universal, no pode tirar essa mesma conseqncia.
Para o crente, assim como para o viajante que carrega uma grande
bagagem metafsica, o bem precede epistemicamente o justo. Sob tal
premissa, a validade do etos depende da verdade de uma imagem de
mundo, a qual forma o seu contexto. E em conformidade com isso, as
pretenses de validade, exclusivas, das imagens de mundo subjacentes
ligam-se a diferentes orientaes ticas de vida e a formas de vida
concorrentes. E to logo a prpria representao da vida correta se
orienta por caminhos de salvao religiosos ou por concepes
metafsicas sobre o bem, adquire contornos uma perspectiva divina
292
(ou uma "viso de algo que no se encontra em nenhum lugar") (view
from nowhere), luz da qual (ou a partir da qual) outros modos de
vida aparecem, no somente como diferentes, mas tambm como
fracassados. Quando o etos estranho constitui, no apenas uma questo
da avaliao hipottica de valores, que pode ser relativizada, mas
tambm uma questo de verdade ou inverdade, a exigncia que obriga
a ter, por cada cidado, o mesmo respeito, independentemente de sua
autocompreenso tica e de sua conduta de vida, passa a ser tida na
conta de uma impertinncia. Por isso, a concorrncia entre verdades
ticas, ao contrrio do que ocorre quando de uma concorrncia entre
valores, obriga tolerncia.
Tal assimetria entre os pesos que oneram, de modo diferenado
crentes e no-crentes, contrabalanada, em todo caso, pelo fato de
que o cidado desprovido de ouvidos religiosos v-se confrontado
com uma imputao de tolerncia de outro tipo. Porquanto, em
sociedades pluralistas constitudas de modo liberal, a compreenso
da tolerncia no exige apenas dos crentes,' no seu trato com crentes
de crenas diferentes, que levem na conta, de modo s,s..| a devida
permanncia de um dissenso. Jque a mesma compreenso exigida
dos no-crentes no seu trato com crentes em geral. Para a conscincia
secular isso implica, contudo, a exigncia de determinar, de modo
autocrtico, a relao entre fe saber. Pois a expectativa de uma no-
coincidncia continuada entre saber de mundo, razovel, e tradio
religiosa s merece o predicado "racional" quando se atribui, na
perspectiva de um saber secular, a convices religiosas um status
epistmico que no pura e simplesmente irracional.
No entanto, como poderia a naturalizao progressiva do esprito
humano estar afinada com tal assero de uma teoria poltica em geral?
Hoje em dia, o tema do "saber e f", que ocupou as atenes da filosofia
desde o sculo XVII, toma-se novamente explosivo, ante os progressos
da biogentica e das pesquisas sobre o crebro. O Estado secular, em
todo caso, spode garantir, de modo imparcial, tolerncia quando for
capaz de assegurar, na esfera pblica poltica, que o pluralismo de
cosmovises se desenvolva sobre a base do respeito mtuo - sem
regulamentaes preconceituosas. E isso possui um bom sentido. J
293
que opinies polticas sobre um assunto polmico, que podem ser
expostas numa linguagem religiosa e numa perspectiva metafsica
apoiada em vises de mundo, podem abrir os olhos de outros cidados
para um aspecto at ento negligenciado, de tal sorte que eles podem
influenciar a formao da maioria - mesmo quando a descrio do
assunto, sobre o qual necessrio tomar uma deciso, no est
impregnada de conotaes metafsico-religiosas.
Ad c) Com isso se atinge, aps a apresentao das razes de
rejeio e de aceitao, o terceiro componente conceituai: Pelas razes
de excluso aduzidas a favor de um comportamento intolerante
possvel descobrir se o Estado observa ou no o mandamento da
neutralidade e se a legislao e a jurisprudncia institucionalizam a
tolerncia de modo correto. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, por
exemplo, os Sikhs conseguiram abrir excees nas medidas de
segurana vlidas em geral para o porte de turbantes e punhais
(Kirpans). Tambm aqui, entre ns, nas respectivas querelas jurdicas,
trata-se do traado de fronteiras entre as prticas e leis da cultura crist
majoritria, de um lado, e as pretenses de minorias religiosas, de
outro lado. Em nome da liberdade de religio, estas exigem igualdade
de tratamento (as testemunhas de Jeov, por exemplo, conseguiram
reconhecimento judicial como corporao de direito pblico), regras
de exceo (por exemplo, para o uso de turbantes ou para a rejeio
de comidas tidas como impuras) ou medidas do Estado (por exemplo,
para o ensino da lngua materna nas escolas pblicas). Em tais casos,
os tribunais tm de decidir quem deve e quando deve aceitar o etos de
outros: os cristos que habitam nas aldeias devem atender s chamadas
do muezim? Os nossos protetores dos animais devem aceitar o abate
de bezerros? Os alunos que no seguem nenhum tipo de religio ou
que so de outra denominao religiosa devem aceitar o traje da
professora islmica? Ou o pai turco deve aceitar que a filha tenha
aulas de esporte juntamente com meninos?
14
14
Cf. a enumer ao de GRIMM, D., in|s+|/+. 1.-.+. /.++ de 21
de j unho de 2002, 49: " Pode um sikh, que dir ige mot ociclet a, apelar para o
294
( 3 ) A liberdade de religio constitui uma prova para a neutralidade
do Estado. Freqentemente ela ameaada pelo predomnio de uma
cultura da maioria que abusa de seu poder de definio, adquirido na
histria, para determinar, de acordo com suas prprias medidas, o que
pode valer, na sociedade pluralista, como a cultura poltica obrigatria
em geral.
15
Tal fuso, quando no solucionada, pode levar a uma
substancializao furtiva da compreenso de uma constituio, a qual
, no obstante, essencialmente procedimental. A substncia moral
dos princpios da constituio assegurada por procedimentos que
devem sua fora legitimadora imparcialidade e considerao
eqitativa de interesses; e perdem tal fora quando certas idias de
uma eticidade substancial se imiscuem na interpretao e na prtica
das prescries formais. E neste caso, possvel que o mandamento
da neutralidade venha a ser ferido, seja pelo lado religioso, seja pelo
laico.
seu dever r eligioso de portar um tur bante, a fim de eximir -se da obr igao
ger al de por tar um capacet e de pr ot eo? imper at ivo for necer a um
pr isioneir o j udeu aliment ao pura? Terum operrio islmico o dir eito de
inter r omper inopinadamente o tr abalho para fazer or aes? Pode-se demitir
um operrio que no compar ece ao trabalho nos dias santos de sua comunidade
r eligiosa? E teralgum, demit ido nestas circunstncias, o dir eito ao segur o-
desempr ego? pr eciso per mitir aos negociant es j udeus a aber tur a de suas
lojas aos domingos, j que eles, por mot ivos r eligiosos, no podem fazer
nenhum tipo de negcio aos sbados? Tera aluna islmica o dir eito de ser
dispensada do ensino do espor te, dado que a ela no per mitido apar ecer
diante dos outr os alunos em trajes espor t ivos? Deve ser per mit ido s alunas
islmicas portar na escola o vu na cabea? E como as coisas ficam quando
se trata de pr ofessor as em um escola pblica? Serque as nor mas que valem
para as ir ms catlicas no valem para as pr ofessor as islmicas? [...] Deve-
se admitir , nas cidades alems, as conclamaes do muezim, tr ansmitidas
por alto-falante, da mesma for ma que o dobr ar dos sinos nas igr ejas? Deve-
se per mitir a est r angeir os o abate de animais, mesmo que isso const it ua uma
violao das r egr as de pr oteo nacionais? [...] Deve-se per mitir aos mrmons
exer cer entr e ns a poligamia, desde que ela seja per mitida em suas naes
de or igem?"
15
Sobr e a unidade da cultur a poltica na plur alidade das subcult ur as, cf.
HABERMAS, J. b. |+|.,.|++ 1.s1+1..+ Fr ankfur t/M., 1996, 142 ss.
295
Dois exemplos merecem meno neste contexto: oAffaire Fou-
lard e a reao do governo bvaro sentena sobre o crucifixo, emitida
em Karlsruhe. No primeiro caso, a direo de uma escola proibira as
alunas muulmanas de portarem seus tradicionais vus na cabea;
noutro caso, o governo de um Estado opusera-se sentena do Tribu-
nal Constitucional Federal que aceitara a queixa de pais antroposficos
que se opunham manuteno do crucifixo na sala de aula de sua
filha. No primeiro caso, colocou-se discusso a liberdade de religio
positiva. No segundo, a negativa. Os catlicos opem-se sentena
contra o crucifixo alegando que defendem o smbolo religioso do
crucificado enquanto expresso de "valores ocidentais" e, com isso,
enquanto componente de uma cultura que pode ser compartilhada
por todos os cidados. Este o caso clssico da generalizao cultural
e poltica de uma prtica religiosa predominante a nvel regional, da
qual o regime das escolas primrias da Baviera, estabelecido em 1983,
um exemplo. Na Frana, no entanto, as alunas muulmanas so
proibidas de usar o vu sob a alegao laicista de que a religio tem de
ser encarada como algo atinente esfera privada, a ser excluda da
esfera pblica. Este , sem dvida alguma, o caso de uma determinada
compreenso laicista da constituio e necessrio perguntar se a
interpretao tradicional, republicana, a qual predomina na Frana,
no por demais "forte", a ponto de ferir a exigida neutralidade do
Estado no trato da pretenso legtima de uma minoria religiosa que
tem direito auto-apresentao e ao reconhecimento pblico.
Tais casos conflituosos podem ilustrar bem por que a propagao
da tolerncia religiosa, que pode ser tida como pioneira do surgimento
das democracias, tomou-se no somente um modelo, mas tambm
um estmulo para a introduo de outros tipos de direitos culturais. A
incluso de minorias religiosas na comunidade poltica desperta e
pr omove a sensi bi l i dade para pret enses de out ros grupos
discriminados. O reconhecimento do pluralismo religioso pode assumir
tal funo de modelo porque ele traz conscincia, de modo exem-
plar, a pretenso de minorias a incluso. E bem verdade que o debate
sobre o multiculturalismo no gira tanto em tomo da preterio de
minorias religiosas como em tomo de pontos controversos tal como a
fixao de feriados nacionais, a regulamentao da(s) lngua(s)
296
oficial(is), a promoo do ensino do idioma materno para minorias
tnicas ou nacionais, o estabelecimento de cotas para mulheres, negros
e autctones na poltica, no emprego ou na universidade. No entanto,
sob o ponto de vista da incluso eqitativa de todos os cidados, a
discriminao religiosa, qualquer que ela seja, continua sendo
discriminao, no se distinguindo de outros tipos de discriminao:
cultural, lingstica, tnica, racista, sexual ou fsica.
A incluso atinge um de dois aspectos da igualdade de cidados
do Estado. Mesmo que, na maior parte das vezes, a discriminao de
minorias venha acompanhada tambm de discriminao social,
recomenda-se que ambas as categorias de tratamento desigual sejam
mantidas separadas. A primeira pode ser medida pelos critrios do
direito livre associao ilimitada; a segunda, pelo princpio da justia
distributiva.
16
Sob pontos de vista da justia distributiva, o princpio
do tratamento eqitativo exige que todos os cidados tenham iguais
chances de fazer uso concreto de liberdades e direitos, igualmente
distribudos, a fim de realizar seus respectivos e pessoais planos de
vida. As lutas polticas e movimentos sociais que se dirigem contra
uma desigualdade de status, ancorada em estruturas de classes, visando
uma redistribuio de chances de vida sociais alimentam-se das
experincias de injustias havidas na dimenso da justia distributiva.
Ao contrrio, nas lutas pelo reconhecimento da integridade de uma
determinada identidade coletiva encontra-se uma experincia de
injustia de tipo diferente, isto , a experincia do desprezo, da
marginalizao ou da excluso por razes de pertena a um grupo
que, de acordo com os padres da cultura da maioria dominante,
tida como "inferior".
17
nesse sentido que a superao da
discriminao religiosa toma-se, hoje em dia, uma precursora de
direitos culturais de tipo novo.
As proibies de discriminao por motivos de religio, do sexo,
da orientao sexual ou da raa no tm na mira, em primeira instncia,
l6
Cf. sobr e essa dist ino FRASER, N. " From Redistr ibutionto Recognit ion?" ,
in: WILLET, C. (ed. ) I|.,+ 4+|:+|+s|s- Oxfor d, 1998, 19-49.
17
HONNETH, A. bss 1+1.. 1. 0..:||. Fr ankfur t/M., 2000) trata
especialment e dessas pat ologias envolvendo o r econheciment o r etido.
297
a distribuio desigual de chances de vida sociais. Em muitos casos,
inclusive, elas no podem visar uma compensao pelas conseqncias
da desigualdade de status; as mulheres e os homossexuais distribuem-
se, de modo mais ou menos igual, em todas as camadas da sociedade.
A excluso de determinadas esferas da vida social revela o que
recusado aos discriminados: uma pertena social isenta de qualquer
tipo de l i mi t ao. Mecani smos de excl uso est rut ural ment e
cristalizados so de difcil apreenso. bem verdade que, luz da
igualdade formal de direitos, a discriminao retirou-se para zonas
menos salientes do trato informal, chegando atos confins da
linguagem corporal; atmesmo essas formas de discriminao mais
sutis so, no obstante, muito dolorosas.
18
Os direitos culturais, do mesmo modo que o exerccio da religio,
tm por objetivo garantir a todos os cidados um acesso eqitativo s
comunicaes, tradies e prticas de uma comunidade que eles julgam
necessria para o exerccio e a manuteno de sua identidade pessoal.
Tal fato no precisa limitar-se apenas a grupos de procedncia, podendo
incluir tambm entornos eleitos. certo que, em muitos casos,
membros de minorias nacionais, lingsticas ou tnicas, atribuem aos
meios e possibilidades da reproduo desejada dos prprios idiomas
e formas de vida grande importncia, a qual no menor que a
importncia atribuda, por minorias religiosas, liberdade de
associao, transmisso da doutrina religiosa e ao exerccio de seu
culto. Por isso, a luta pela igualdade de direitos da comunidade religiosa
proporciona, seja na teoria poltica, seja na jurisprudncia, argumentos
e impulsos para o conceito de uma "cidadania estatal multicultural".
19
Em todas as culturas, as prticas e convices religiosas tm
influncia decisiva na autocompreenso tica dos crentes. Detectamos
relevncia semelhante nas tradies lingsticas e culturais para a
formao e manuteno da identidade pessoal dos falantes ou dos
membros - que estsempre entrelaada com identidades coletivas.
Tais conhecimentos sugerem uma reviso dogmtica do conceito
18
Cf. a fenomenologia da discr iminao racial em MILLS, Ch. W. I|. |s:s|
(+s: Ithaka (N. Y.), 1997, Cap. 2, 41-89.
' " KYMLICKA, W. 4+|:+|+s| (,.+s| Oxfor d, 1995.
298
"pessoa de direito". A individuao de pessoas naturais ocorre pelo
caminho da socializao. E indivduos socializados desta maneira s
conseguem formar e estabilizar sua identidade no interior de uma
rede de relaes de reconhecimento recproco. Esse fato tem
conseqncias para a proteo da integridade da pessoa de direito - e
para uma ampliao intersubjetivista do prprio conceito, que ato
momento era tecido de uma forma por demais abstrata (e talhado
conforme as dimenses de um individualismo possessivo).
Os direitos constitutivos para a proteo da integridade do
indivduo singular determinam tambm seu status como pessoa de
direito. Tais direitos tm de ampliar-se a ponto de garantir o acesso
aos contextos da experincia, da comunicao e do reconhecimento
nos quais uma pessoa pode articular a compreenso de si mesma,
bem como desenvolver e manter uma identidade prpria. De acordo
com isso, os direitos culturais, exigidos e introduzidos luz de uma
"poltica do reconhecimento", no podem ser entendidos como sendo
naturalmente direitos coletivos. De acordo com o modelo da liberdade
de religio, trata-se, antes de tudo, de direitos subjetivos que garantem
uma incluso completa.
20
Eles garantem a todos os cidados um acesso
eqitativo aos entornos culturais, s tradies e relaes interpessoais
medida que estas so essenciais para a formao e a garantia de sua
identidade pessoal.
Todavia, os direitos culturais no significam simplesmente "mais
diferena" e autonomia. J que grupos discriminados no chegam ao
gozo de direitos culturais iguais "de graa". Eles no podem ser simples
aproveitadores de uma moral da incluso eqitativa antes de se
engajarem, eles mesmos, nela. Isso no serdifcil para velhos
discriminados, homossexuais ou deficientes, porque, neste caso, a
caracterstica formadora de grupos, decisiva paia a discriminao, no
estligada a tradies emperradas. Ao contrrio, comunidades "fortes"
(tal como as minorias tnicas, subculturas de imigrantes ou de
moradores autctones, descendentes de escravos, etc.) trazem o cunho
TAYLOR, Ch. 4+||+|+s|s-+s ++1 1. ||| 1. 1+.|.++++ Fr ank-
fur t/M., 1993. Cf, neste texto, minha crtica compr eenso comunit ar ist a
dos dir eitos cultur ais que os trata como dir eitos colet ivos.
299
de tradies comuns e j formaram uma identidade prpria.
21
Tais
tradies tambm abrem "perspectivas de mundo" que podem, por
seu turno, entrar em concorrncia, do mesmo modo que as imagens de
mundo religiosas.
22
Tolerncia mtua exige, por isso, das prprias
comunidades seculares "fortes", o engate cognitivo de seu etos interno
moral da humanidade, a qual prevalece no entorno social e poltico.
Em casos de "assincronia histrica", isso lhes parecer, talvez, mais
difcil do que s comunidades religiosas que podem lanar mo de
fontes conceituais altamente desenvolvidas das religies mundiais.
O empurro para a reflexo que as sociedades dotadas de uma
pluralidade de vises de mundo esperam da conscincia religiosa
constitui, por seu turno, um prottipo para a configurao mental de
sociedades multiculturais. Porquanto um multiculturalismo bem-
entendido no constitui apenas uma via de mo nica para a auto-
/3 afirmao cultural de grupos que possuem identidade prpria. Por
3 outro lado, a coexistncia, com igualdade de direitos, de diferentes
formas de vida no pode levar a uma segmentao. Ela exige uma
- j integrao dos cidados do Estado - e o reconhecimento recproco de
suas pertenas a grupos subculturais - no quadro de uma cultura poltica
compartilhada. A autorizao para formar caractersticas culturais
tpicas exige, como condio preliminar, que os "cidados da
Q sociedade" se entendam - para alm de qualquer tipo de fronteira
DO 1 subcultural - como "cidados do Estado" de uma mesma comunidade
poltica. Direitos e autorizaes culturais encontram os seus limites
nos fundamentos normativos de uma constituio que forma a base
de sua legitimao.
RBXD
CL
U.
21
Sobre o conceito de tais "encompassi nggroups" cf. MARG ALIT. A., RAZ, J.
"National Self-Determination", in: KYMLICKA, W. (ed.). I|. |||s /
4+; (+|+.s Oxford, 1995, 79-92, aqui, 81 ss.
22
Quant o mais abrangentes as formas de vida culturais, tanto mais forte sero
seu contedo cognitivo e tanto mais elas assemelhar-se-o aos modos de
vida estruturados mediante imagens de mundo religiosas: "The inescapable
aspect of any culture that it will include ideas to the effect that some beliefs
are true and some are false, and that some things are right and others wrong. "
BARRY, B. (+|+. s+1 |+s|; Cambridge, 2001, 270.
300
10. DIREITOS CULTURAIS IGUAIS -
E OS LIMITES DO LIBERALISMO PS-MODERNO.
O liberalismo clssico cujas origens remontam, em primeira linha,
a Locke, lana mo do mdium e dos conceitos do direito moderno, a
fim de domesticar o poder poltico e coloc-lo a seu servio. O
pensamento liberal tem na mira o seguinte alvo: proteger a liberdade
do indivduo enquanto cidado da sociedade (Gesellschaftsbrger).
O ncleo de uma constituio liberal reside na garantia de liberdades
subjetivas iguais para todos. Tal ncleo eqivale ao "princpio geral
do direito", de Kant, segundo o qual "a liberdade do arbtrio de cada
um pode conviver com a liberdade de todos os outros de acordo com
leis gerai s". O "poder do povo" tambm continua sendo um
ins-umento do "poder das leis". A autonomia poltica dos cidados
do Estado (Staatsbrger) no constitui um fim em si mesmo, uma vez
se mede pela tarefa de assegurai- a autonomia privada simtrica dos
cidados da sociedade.
O liberalismo indicado porque nele se entrelaam, elegante-
mente, duas intuies normativas fortes. A idia das liberdades
subjetivas iguais para cada um satisfaz, de um lado, a medida moral
de um universalismo igualitrio que exige igual respeito e a mesma
considerao por cada um; de outro lado, ela satisfaz a medida tica
de um individualismo, segundo o qual cada pessoa deve ter o direito
de configurar sua vida conforme as prprias preferncias e convices
(ou de deixar-se conduzir por outros). Na generalidade das leis
manifesta-se a igualdade de todos os cidados, ao passo que os direitos
reclamveis, que so inferidos das leis em cada caso particular, abrem
301
espaos, bem circunscritos, os quais permitem a cada cidado modelar
sua prpria forma de vida. O individualismo tico constitui, pois, o
sentido prprio do universalismo igualitrio, que o direito moderno
empresta da moral.
A distino entre projetos de vida ticos e questes de justia
vem ao encontro das necessidades de um pensamento ps-metafsico
desarmado. Aps lanar fora sua ambio de concorrer com imagens
de mundo religiosas, a filosofia no pretende mais formular
fundamentaes ontoteolgicas ou cosmolgicas a fim de tecer
modelos gerais e obrigatrios de uma vida no-fracassada. Ela con-
tinua mantendo uma pretenso geral, porm, apenas no que respeita a
asseres morais sobre o que do "interesse simtrico de todos", isto
, sobre o que igualmente bom para todos ou suportvel por todos.
Tal teoria moral no pretende mais configurar representaes
substanciais de uma conduta de vida exemplar determinante para
todos. A moral que, sob tal aspecto, tornou-se "formal" guarda
semelhanas com a idia do igual respeito e considerao por cada
pessoa. Tal idia retorna no prprio direito positivo da modernidade,
estruturado de maneira individualista e obrigatrio, a saber, no direito
a um tratamento igual e no conceito da "dignidade do homem"
(purificado de todas as caractersticas estamentais).
Tal idia de igualdade, liberal, foi submetida a reiteradas crticas.
Inicialmente, o republicanismo, suplantado pelo liberalismo, retirou-
se objetando que a "liberdade dos antigos" no poderia ser sacrificada
no altar da "liberdade dos modernos". O liberalismo clssico ameaava
realmente reduzir o sentido de liberdades ticas iguais a uma
i nt erpret ao individualista possessiva de direitos subjetivos
interpretados de forma instrumentalista. E com isso ele falseou uma
intuio normativa importante, a qual merece ser salvaguardada mesmo
nas condies de sociedades modernas, a saber, a solidariedade que
une entre si, para alm dos meros laos polticos, no somente
membros, amigos e vizinhos em esferas da vida privada, mas tambm
cidados do Estado enquanto membros de uma coletividade poltica.
O ncleo da ordem jurdica liberal consiste em direitos de liberdade
talhados para relaes econmicas de proprietrios privados, bem
302
como para a conscincia religiosa e a confisso religiosa de pessoas
privadas. Isso permitiu o surgimento de uma interpretao "egosta"
da liberdade tica, a qual ainda repercute na polmica do jovem Marx
contra as declaraes dos direitos humanos na Frana e nos Estados
Unidos. Segundo tal objeo, a liberdade do indivduo no consiste
apenas na autorizao para uma busca utilitarista da prpria felicidade
"pursuit of happiness", ou seja, no se esgota na autorizao para a
persecuo privada do interesse em bens da terra ou do cu.
Para compensar tal dficit, a retomada moderna do republicanis-
mo coloca em jogo uma outra compreenso da liberdade, ampliada
intersubjetivamente e ligada ao papel do cidado democrtico. Nessa
tradio, que remonta a Rousseau, os iguais direitos de participao e
de comunicao servem no somente para a configurao de direitos
privados subjetivos, mas possibilitam, alm disso, uma prxis exercida
em comum pelos cidados de um Estado, a qual valorizada como
fim em si mesma. Numa viso republicana, a autolegislao democr-
tica funda solidariedade, que abstrata, uma vez que mediada pelo
direito, a qual permite, mesmo assim, que um indivduo cidado possa
engajar-se pelo outro (mesmo estando com uma arma na mo). Na
formao democrtica da vontade do povo soberano reproduz-se e se
renova o etos poltico da coletividade. Em contrapartida, direitos iguais
garantem a liberdade tica, porm, agora no mais, em primeira linha,
a liberdade subjetiva de um cidado da sociedade, mas a liberdade en-
tendida como soberania de uma nao de cidados de um Estado,
solidrios. Tal soberania ramifica-se, internamente, na liberdade pol-
tica - entendida de maneira comunitarista - dos membros de uma co-
munidade nacional; e externamente, na liberdade de uma nao - en-
tendida de maneira coletivista - que defende sua existncia contra
outras naes.
No obstante isso, tal republicanismo tico conta com uma
limitao do universalismo igualitrio, que o preo a ser pago por
uma solidariedade dos cidados de um Estado. bem verdade que
cada cidado goza de iguais direitos, porm, isso tem de ser entendido
nos limites de um etos particular que se presume ser partilhado por
todos os membros da comunidade poltica. A fuso entre cidadania
do Estado e cultura nacional gera uma interpretao dos direitos dos
303
cidados que "de uma cor s" e insensvel a diferenas culturais. No
mbito de sociedades pluralistas, quando se atribui precedncia poltica
a um bem comum impregnado eticamente em detrimento da garantia
efetiva de liberdades ticas iguais, gera-se discriminao de modos
de vida divergentes e, em escala internacional, impotncia perante a
"guerra de culturas".
Num nvel fundamental, tais problemas no encontram soluo
a no ser no quadro de uma concepo que desconfina a mobilizao
da solidariedade entre cidados de um Estado lanando mo de pontos
de vista de um universalismo igualitrio radicalizado em termos de
uma solidariedade entre "outros". Alm do mais, proporo que a
formao soberana da vontade de cidados de um Estado, democrti-
cos, se liga a princpios constitucionais universalistas e a direitos "dos
homens", ela apenas estsendo coerente com os pressupostos que
exigem uma institucionalizao da prpria prxis, juridicamente
legtima.
1
O entrelaamento da idia republicana da soberania do povo
com a idia de um poder da lei, soletrada em direitos fundamentais,
pode transformar, no destruir, as formas histricas da solidariedade.
De acordo com essa terceira interpretao, que prope uma mediao
entre liberalismo e republicanismo, os cidados do Estado entendem
o etos poltico que os mantm coesos como nao, como sendo o
resultado voluntarista da formao democrtica da vontade de uma
populao acostumada liberdade poltica. E no futuro ter-se-
depositado, no orgulho nacional de uma conscincia da liberdade,
adquirida e compartilhada intersubjetivamente, a experincia histrica
de que o nexo interno entre a autonomia privada do cidado indi-
vidual da sociedade subsiste em harmonia cumulativa com a
autonomia poltica do cidado de um Estado, exercitada em comum.
' HABERMAS, J. |s|,s ++1 0.|++ Fr ankfur t/M., 1992,cap. III; id.,"ber
deninter nenZusammenhang vonRechtsstaat und Demokr atie" , in: id. b.
|+|.,.|++ 1.s 1+1..+ Fr ankfur t /M., 1996, 293- 305; id. " Der
demokr at ische Rechsstaat - eine par adoxe Ver bindung widersprchlicher
Pr inzipien?" , in: id. /.1. |.u+. Fr ankfur t/M., 2001, 133-154. Para
as consider aes que seguem devo gr atido aos par ticipantes de um seminrio
r ealizado no ver o de 2002 na Nor thwester nUnivesit y.
304
O uso adequado dos direitos polticos por parte dos cidados do
Estado requer a configurao de uma vida autnoma e privada,
assegurada eqitativamente, o que s possvel quando eles se
encontram em condies de agir e julgar de modo independente. De
outro lado, os cidados da sociedade schegam ao gozo simtrico de
sua autonomia privada plena se eles, enquanto cidados de um Estado,
fizerem um uso adequado de seus direitos polticos, isto , se no
agirem apenas de modo auto-interessado, mas tambm orientados pelo
bem comum. A idia, introduzida por Rousseau e interpretada em
termos universalistas por Kant, segundo a qual, os destinatrios do
direito tm de poder entender-se, ao mesmo tempo, como seus autores,
no coloca nas mos dos cidados unidos de uma coletividade
democrtica nenhum tipo de carta de alforria para decises arbitrrias.
Eles devem decidir somente sobre aquelas leis que extraem sua
legitimidade do fato de poderem ser desejadas por todos. A liberdade
subjetiva que permite fazer e deixar de fazer, no mbito das leis,
qualquer coisa que se deseje, constitui o ncleo da autonomia privada,
no da autonomia de cidados de um Estado. Ao invs disso, aos
cidados do Estado, democrticos, imputa-se, tomando como base
uma liberdade de arbtrio garantida juridicamente, autonomia no
sentido mais pretensioso de uma formao racional e solidria da
vontade - mesmo nos casos em que essa ltima pode apenas ser
sugerida e no exigida legalmente. Um dever jurdico exigindo
solidariedade seria algo to absurdo como, por exemplo, um "ferro de
madeira".
A configurao democrtica de um sistema dos direitos que a
prpria democracia tem de pressupor, a fim de poder operar em formas
juridicamente institucionalizadas, liberta o liberalismo clssico da
obstinada abstrao de leis gerais fundadas no direito natural, as quais
so tidas como imprescindveis para que se tenha liberdades subjetivas
igualmente distribudas. De outro lado, permanece intacta a lgica,
segundo a qual, o universalismo igualitrio do Estado de direito cria
condies de possibilidade para o individualismo tico dos cidados.
Sem sombra de dvida, tal lgica no transparece mais objetivamente
no poder annimo das leis, passando, por assim dizer, por sobre as
305
cabeas dos cidados; j que, enquanto lgica internalizada pelos
prprios cidados, ela se incorpora no procedimento democrtico de
formao da sua vontade poltica. A idia de iguais liberdades para
cada um, uma vez liberta de suas petrificaes jusnaturalistas, as-
sume uma figura reflexiva no processo da autolegislao. Ela obriga
os part i ci pant es do processo democrtico a se conceder em
mutuamente, pelo caminho de uma assuno recproca de perspectivas
e da generalizao comum de interesses, os direitos exigidos pelo
projeto de uma associao voluntria e autnoma de parceiros do
direito, livres e iguais, luz de circunstncias histricas especficas.
A solidariedade de cidados do Estado, a qual se produz, atualiza-
se e se aprofunda mediante um processo democrtico, faz com que a
viabilizao igualitria de iguais liberdades ticas assuma forma
procedimental. Em casos favorveis, tal dinmica pode colocar em
andamento processos de aprendizagem cumulativos e iniciar reformas
duradouras. Uma democracia enraizada na sociedade civil consegue
criar, na esfera pblica poltica, uma caixa de ressonncia para o
protesto, modulado em muitas vozes, daqueles que so tratados de
modo desigual, dos subprivilegiados, dos desprezados. Tal protesto
contra o sofrimento provocado por injustias e discriminaes pode
transformar-se num aguilho de autocorrees, as quais conseguem
extrair, partcula por partcula, o contedo universalista inerente ao
princpio da igualdade de cidados de um Estado utilizando como
meio de troca a moeda das iguais liberdades ticas.
Em que pese isso, tal interpretao democrtica do liberalismo
poltico tambm estsujeita a crticas, que ainda encontram eco. E
nesse ponto, gostaria de salientar trs tipos de objees: as que so
oriundas das cincias sociais, da teoria da sociedade e de uma crtica
da razo. As reservas crticas da sociologia contra o normativismo
esclarecido - e contra o idealismo dissimulado - de uma teoria poltica
cuja metodologia consiste numa anlise conceituai oferece, bem
verdade, correes salutares. No obstante isso, tais reservas no se
condensam, por via de regra, numa objeo de princpio, segundo a
qual, as teorias normativas fracassam, em geral, ante a complexidade
social, mesmo quando as entendemos num sentido "meliorista". Isso
306
somente pode acontecer a partir do momento em que se rejeita pura e
simplesmente a premissa, segundo a qual as prprias sociedades
complexas so capazes, pelo mdium do direito e da poltica, de influir
sobre si mesmas, porquanto nesse momento se "tira a terra debaixo
dos ps" das consideraes essencialmente normativas.
Desde Hegel, passando por Marx e chegando at Foucault, a
grande crtica "impotncia do dever ser", confeccionada em termos
de teoria da sociedade, agudizou-se. Nesta linha de viso, os projetos
normativos fracassam ante o desmentido gritante de uma realidade
que se contrape, jpelo simples fato de que eles mesmos ainda fazem
parte integrante da totalidade dominadora de uma forma de vida
denunciada como "alienada" ou "esmigalhada". Tais diagnsticos
crticos, contudo, que atingem mais fundo, atribuem a lamentada fora
niveladora e, ao mesmo tempo, isoladora do "geral abstrato"
facticidade de estruturas sociais, no ao poder dos conceitos de uma
normatividade fechada em si mesma. De sorte que a uniformizao
sincronizadora e o isolamento devem ser atribudos a mecanismos
penetrantes do mercado e do poder administrativo, por conseqncia,
a mecanismos da integrao social que se transformam em poder
reificador quando conseguem atingir o corao do mundo da vida,
que estruturado de modo comunicativo. Enquanto o esgotamento
dos recursos da solidariedade social se apresenta como efeito da invaso
de relaes de troca e de regulamentaes burocrticas na rea nuclear
das esferas pblicas e privadas do mundo da vida, estruturadas de
modo comunicativo, porm, desfiguradas patologicamente, a crtica
ainda no se dirige a contradies aninhadas conceitualmente nas
prprias normas.
2
A obra de Adorno constitui a passagem para o terceiro
degrau de uma crtica ainda mais aguda, j que ele interpreta a troca
de equivalentes e o poder de organizao - que so os dois mecanismos
sistmicos da integrao social - luz de uma crtica da razo. Eles
so, aos seus olhos, expresso de uma racionalidade instrumental que
contradiz a forma espontaneamente individuadora de relaes
2
HABERMAS. J. " Konzeplionen der Moder ne" . in id. Die Postnationale
Konstellation. Fr ankfur t/M., 1998, 195-231.
307
solidrias. Ao passo que Derrida dissolve os laos que - na tradio
das teorias da racionalizao weberianas que remontam a Lukcs -
ainda uniam a crtica da razo teoria da sociedade
1
e se limita a uma
desconstruo dos conceitos fundamentais da teoria poltica. Ele se
interessa especialmente pela heterogeneidade interna do conceito de
um direito unido indissoluveltnente a um poder soberano.
4
Em que
pese isso, a desconstruo da justia, projetada por Derrida, aproxima-
se muito da perspectiva de uma esperana messinica indeterminada,
nos termos delineados por Adorno. O discurso instante sobre um
"evento" esperado com hesitao
5
faz supor que Derrida "critica uma
compreenso da igualdade liberal existente, que excludente e
opressiva, na perspectiva de uma compreenso da igualdade liberal
aturadora, ampliada e isenta de dominao".
6
Parece que a recordao das promessas da tradio da radical
democracia continua inspirando Derrida; j que ela continua sendo,
para ele, uma fonte de esperana - contida, verdade - numa
sol i dari edade universal, capaz de permear todas as relaes.
Contrapondo-se a isso, Christoph Menke imprime ao negcio da
desconst r uo da justia uma gui nada anti-utpica. E nesse
empreendimento, ele desenvolve uma interpretao do liberalismo,
interessante, autnoma e ps-moderna. Ele partilha com a verso
clssica a opinio, segundo a qual, o papel desempenhado pelo
procedimento democrtico e pela participao poltica dos cidados
no essencial para a determinao da idia liberal fundamental de
iguais liberdades ticas. Neste caso, a tentativa visando comprovar
que a concepo de iguais liberdades cai em autocontradio constitui
' Tal ligao cont inua sendo feita na ' Teor ia do agir comunicat ivo" ; sobr e o
cor r espondent e pr ocediment o " r econstr utivo" cf. PETERS B. b. |+.s
+ -1.+. 0.s.||s:|s/.+ Fr ankfur t/M., 1993. 371 ss.
4
DERRI DA, J. 0.s.,.s|s/ Fr ankfur t/M., 1991; id. ||| 1. |.++1s:|s/
Fr ankfur t/M., 2000. Sobr e o nexo constitutivo entr e dir eito e poder cf tambm
HABERMAS, J. (1992), 167-186.
' Cf., por exemplo, DERRI DA, J. b. ++|.1+. +..s Fr ankfur t/M
2001.
6
MENKE, Ch. ..|++.+ 1. 0|.:||.| Ber lim, 2000. IX.
308
uma crtica da razo. Um tratamento igual, por mais refletido que
seja, no seria justo quando se tem em vista os interesses da pessoa
singular, "porque a realizao da igualdade pode (sempre) entrarem
conflito com as obrigaes resultantes do enfoque individual da
justia".
7
A revoluo, a graa e a ironia so "trs formas do trato
soberano" da "r el ao" indissoluvelmente "paradoxal " entre
tratamento igual e modo de ser justo individualmente.
O lado anti-utpico de tal concepo transparece no quietismo
de uma reflexo que teima em focalizar os limites da liberdade. E
bem verdade que os atos de tratamento igual no conseguem jamais
atingir seu alvo, porm, tal viso desconstrutiva, que nos mantm na
conscincia do fracasso, no deve impedir que nossas tentativas
individuais visando maior justia sejam ainda mais determinadas.
8
Na opinio de Menke, a desconstruo nada mais do que uma
preparao para a conscincia da finitude, j que ela franqueia
filosofia a natureza oculta e paradoxal de sua prpria ao.
9
A anlise
conceituai desse "mundo" inconsciente tem por finalidade processar
a "contradio performativa [...] entre dizer e fazer".
10
Isso implica
naturalmente um entendimento do modo como "a" filosofia interpreta
o seu prprio fazer.
No entender de Menke, a filosofia tem a ver, desde o incio, com
aquilo "em que consiste o sucesso de nossa prxis" e ela entende tal
conhecimento transcendental como "compreenso do que bom". E
com isso, ela pretende dar uma contribuio prtica para a promoo
do bem. " E caso a filosofia no possusse tal autocompreenso
metafsica, faltar-lhe-ia um critrio de interpretao capaz de atribuir
7
MENKE, Ch. (2000), 41.
" Ibid., 33.
9
No est ou convencido de que a inter pr etao t ecida por Menke sobr e do
pr ocediment o da assim chamada " desconst r uo" coincida com a prtica de
J acques Der r ida ou com a sua autocompr eenso. Tambm no pr etendo tomar
posio quanto a isso.
,0
Cf. a intr oduo a KERN, A. e MENKE, Ch. ||1s|.1. b.|+ss|+
Fr ankfur t/M., 2002 a, aqui, 9.
11
MENKE, Ch." Knnenund Glauben" . in: MENKE, KERN (2002 a), 243 ss.
309
desconstruo um significado prprio. E nesse contexto, a prova de
que "as condies de possibilidade" de uma prtica bem-sucedida
so, ao mesmo tempo, "condies da impossibilidade de ela ser bem-
sucedida" continua a movimentar-se no universo conceituai de um
pensamento metafsico que lana mo do conceito de totalidade. Por
i sso, o ver dadei r o rival de uma crtica da metafsica a
autocompreenso ps-metafsica da modernidade, a qual toma como
ponto de partida a pressuposio da autonomia de sujeitos que agem
de modo responsvel e autoconsciente: "A desconstruo dirige-se
pressuposio filosfica, segundo a qual, apenas nosso 'ser capaz de'
(Knnen) toma possvel o sucesso da prxis."
12
Nos termos de tal
interpretao, a desconstruo tem por alvo inquietar uma modernidade
desencant ada afugent ando-a da i nquest i onabi l i dade de suas
pressuposies mentais.
No obstante isso, as teorias da moral e da justia, cujas
referncias encontram-se no universalismo igualitrio kantiano e na
sua concepo de autonomia, devem constituir um grande desafio
para tal tipo de projeto. E esse precisamente o pano de fundo para a
controvrsia com JohnRawls,
11
que Cristoph Menke retomou na
Deutsche Zeitschriftfur Philosophie.
14
A excelente anlise merece ser
destacada, no somente por sua argumentao clara, mas tambm por
seu objeto. Menke desenvolve sua crtica idia de igualdade tomando
como exemplo o liberalismo poltico, ou seja, mais precisamente,
tomando o exemplo de uma interpretao da igualdade juridicamente
institudionalizada de cidados de uma coletividade poltica. Ele
pretende chamar a ateno - no mbito das relaes entre pessoas de
direito - para o sofrimento que a abstrao violenta de leis gerais
inflige s pretenses individuais das pessoas atingidas. Tal concen-
trao no direito e na poltica importante proporo que os
12
Ibid., 247.
13
MENKE, Ch. " Liber alismus im Konllikt" , in: id. (2000), 109-131.
14
MENKE, Ch. " Gr enzen der Gleichheit " . in: b.+s:|. /.s:|/ /
|||s|. 50, (2002), 897-906. As pginas citadas no t exlo r eler em-se a
esse ar tigo.
310
argumentos em prol de uma "outra" justia ou de uma "cuidadosa"
justia apontam para uma dimenso situada alm do direito. Um
emprego moralmente obrigatrio, inferido dos encontros pessoais e
cont ext os comuni cat i vos de biografias individuais enlaadas
solidariainente, transforma-se numa medida pretensiosa da crtica do
direito, porm, inadequada.
O direito obtm, naturalmente, sua legitimidade de contedos
morais; todavia, ordens jurdicas construdas complementam as
orientaes morais da ao, adquiridas mediante socializao, inclu-
si ve com o obj et i vo de aliviar, em condi es compl exas e
intransparentes, os cidados do peso das exigncias cognitivas e
motivacionais de uma moral pretensiosa. Isso explica diferenas de
forma entre a moral e o direito, que tm de ser levadas na devida
conta quando se fala de "justia" em sentido moral ou jurdico. O fato
de o direito no poder contradizer a moral no significa, no entanto,
que ele esteja situado no mesmo plano que ela. As diferenas aparecem,
com inteira nitidez, nas pretenses a ns dirigidas por deveres positivos
direcionados ao "prximo". E precisamente as ticas ps-modernas
giram "no menos do que a teoria moral de Adomo - a qual nunca foi
escrita - em tomo da idia de que a pretenso da justia humana s
pode ser satisfeita plenamente no trato correto do no-idntico".
15
Numa comparao entre tais princpios, Axel Honneth j chamara
a ateno para o perigo de uma supergeneralizao. O "cuidado sem
limites para com um indivduo singular e insubstituvel", sublinhado
pela fenomenologia de Levinas, inferido de relaes face-to-face
em situaes existenciais agudizadas, as quais lanam luz sobre o
impulso moral fundamental e freqentemente fundamentam deveres
positivos de virtude; mas no tpico de deveres do direito. E bem
verdade que a prpria funo da jurisdio consiste em aplicar as leis
de tal forma que, no caso singular, elas sejam justas tendo em vista as
"circunstncias especiais". De uma jurisdio eqitativa ns temos
de esperar, inclusive, um extraordinrio senso hermenutico para
15
HONNETH, A. bss1+1.. 1. 0..:||. Fr ankfur t/M., 2000, 133-170,
aqui 134.
311
circunstncias cuja relevncia distinta, dependendo das perspectivas
biogrficas individuais dos envolvidos no caso. Caso contrrio, no
seria possvel encontrar nem aplicar de modo suficientemente
"flexvel" a nica norma "adequada".
16
Mesmo assim, as pretenses
individuais de pessoas de direito so, de certa forma, cunhadas
previamente pelos predicados da norma do direito; elas restringem-se
basicamente quilo que pessoas de direito podem esperar umas das
outras: um comportamento sob as determinaes de uma forma do
direito, que, em ltima instncia pode ser imposto. Normas do direito
regulam relaes interpessoais entre atores que se reconhecem
reciprocamente como membros de uma comunidade abstrata criada
apenas mediante normas do direito.
17
Meu interesse pela tentativa sagaz de Menke, que procura
desconstruir o princpio da igualdade de cidados de um Estado,
garantidor da igualdade, lanando mo do exemplo do liberalismo
poltico de Rawls, resulta do fato de que ele se limita idia liberal de
igualdade na sua forma clssica. Ou seja, ele desconsidera a
generalizao preliminar de interesses, a ser propiciada mediante
legislao democrtica, ou melhor, por meio de uma justificao,
deliberada e aceita em comum, das determinaes legais de iguais
liberdades subjetivas (II). Mesmo sob premissas de uma interpretao
que leva tal aspecto em considerao, no estexcluda totalmente a
crtica quando pensamos nos efeitos ambivalentes de direitos de grupos
fundamentados de modo tnulticulturalista. Tais direitos, que tm por
funo reforar capaci dades de aut o- afi r mao de gr upos
discriminados, parecem, apesar de seu surgimento democrtico exem-
plar, falar a favor de uma transformao dialtica da igualdade em
represso (III). E como concluso, eu gostaria de submeter novamente
prova, numa perspectiva histrica, a consistncia conceituai do
cruzamento entre igualdade e liberdade em casos de tratamento cul-
tural igual, ou seja, mais precisamente na perspectiva da imputabilidade
l6
GNTHER, K. b. ++ /u 1+.-.ss.+|. Fr ankfur t/M., 1988, 261 ss. E
135 ss.; cf. tambm HABERMAS (1992), 272 ss.
17
Sobr e as det er minaes da for ma do dir eito, cf. HABERMAS, (1992), 143 ss.
312
dos custos a serem assumidos pelas comunidades religiosas para a
adaptao cognitiva a exigncias da modernizao cultural e social
(IV).
I I
Mencke pretende mostrar que a idia das liberdades ticas iguais
para todos cai em contradio consigo mesma no decorrer da execuo
do programa liberal. Apesar de ele no se interessar pela proposta
especfica que o Rawls tardio apresenta como soluo para o fato do
pluralismo das vises de mundo, isto , a concepo de um mdulo
de consenso que se sobrepe,
18
a teoria de Rawls indicada para tal
desconstruo, j que ela configura, explicitamente, uma concepo
"poltica" da justia por conseguinte, neutra e igualmente aceitvel
por todos os cidados. Uma constituio liberal garante a todos os
cidados a igual liberdade de configurar sua vida seguindo os ditames
de suas prprias "concepes do bom". Caso fosse possvel demonstrar
que a prpria garantia simnca de liberdades ticas apenas expresso
de uma determinada compreenso substancial do que deve ser uma
vida "correta", os cidados que no compartilhassem tal viso liberal
do mundo, agora predominante, teriam de sentir-se tolhidos no trabalho
espontneo da configurao de sua vida. Suponhamos, por um s
momento, que determinada compreenso antropocntrica - por
exemplo, o contexto da fnos ideais do iluminismo francs do sculo
XVIII - fosse o nico caminho vivel para a explicao do princpio
das iguais liberdades ticas. Neste caso, o pluralismo das vises de
mundo, institucionalizado no Estado liberal, teria de marginalizar, no
longo prazo, todas as doutrinas religiosas.
Rawls precisa evitar tal liberalismo tico, o qual, em nome da
igualdade de direitos, iria confinar eo ipso o igual direito de seguidores
de doutrinas que se digladiam entre si. Menke concorda com ele, no
" FORST R. |+.s. 1. 0..:||. Fr ankfur t /M., 1994, 152-160;
HABERMAS, J. "'Vernnflig' ver sus ' wahr ' oder die Mor al der Weltbilder " ,
in: id. b. |+|.,.|++ 1.s 1+1..+ Fr ankfur t/M., 1996, 95-127.
313
no que tange soluo do problema, mas na sua formulao. No seu
entender, qualquer tentativa, mesmo a mais refletida, visando garantir
a todos os cidados liberdades ticas iguais sobre a base de um conceito
de justia neutro do ponto de vista das cosmovises, estdestinada ao
fracasso, por razes conceituais. Com isso, porm, Menke no pretende
afastar-nos da tentativa continuada que busca justia sobre a base do
tratamento igual de todos. Mas sugere que abandonemos a presuno
de produzir a justia por ns mesmos.
Na conscincia trgica de um conflito aparentemente insolvel
entre aquilo que justo para todos e aquilo que bom para um
indivduo, a realizao da igualdade poltica deve continuar sendo
"um objeto da esperana e do desejo" - porm, no no sentido trivial
de que existe, sempre, uma diferena de nvel entre norma e realidade,
mas num sentido metafsico mais profundo que nos leva a reconhecer
a "impossibilidade de realizaes garantidoras de sucesso". Na prpria
teoria de Rawls deveria ser possvel pensar o "estar-por-chegar da
justia", por conseguinte, a idia de que "o mbito da justia torna-
se algo independente face realizao subjetiva da justia".
19
Ou
seja, utilizando os termos da gramtica hegeliana: a causalidade
do destino mantm a supremacia frente justia abstrata - agora,
nat ur al ment e, no mai s em nome de uma razo obj et i va,
sobrepujadora ou absoluta.
Mesmo quando os correspondentes princpios constitucionais
assumem a forma de procedimentos da legtima determinao ou
aplicao do direito, uma concepo de justia poltica no pode
ser neutra no sentido de que lhe falta qualquer tipo de contedo
normativo.
20
Rawls exige, para uma ordem poltica justa, a neutra-
lidade do fim que se contrape s formas de vida e cosmovises
difundidas nas sociedades civis (1), mas no a neutralidade dos
efeitos que certas normas e medidas exercem sobre diferentes
' " MENKE (2002 a), 250.
2u
Cf. a crtica de Rawls a minha compr eenso pr ocedimentalista, in: " Reply to
Haber mas" , in: I|. |++s| / |||s|; XCII, 1995, 170 ss, bem como
minha rplica in: HABERMAS (1996), 124ss.
314
grupos culturais (2).
21
Menke julga poder mostrar, sob ambos os
aspectos, que as condies que viabilizam uma ordem constitucional
universalista e igualitria revelam-se, no final das contas, aporticas,
isto , aparecem como condies da impossibilidade de sua realizao.
(1) A neutralidade da meta de uma concepo de igualdade de
cidados do Estado se mede pela incluso completa e simtrica dos
cidados. Todos eles devem ser includos si met ri cament e na
comunidade poltica, isto , sem nenhuma discriminao de seu modo
de viver ou de sua autocompreenso ou da compreenso que eles tm
do mundo. Tal meta exige, evidentemente, uma demarcao
(Abgrenzung) de doutrinas (tal como as sexistas, racistas ou
fundamentalistas) inconciliveis com o princpio da igualdade de
cidados do Estado, bem como uma limitao (Begrenzung) de direitos
e deveres para com pessoas (tal como, por exemplo, crianas menores
de idade ou pacientes no imputveis no sentido do direito) que ainda
no tm - ou que provisoriamente no tm - condies de preencher
os papis de cidados ou de pessoas privadas capazes de negociar. O
problema especial da demarcao, que se coloca no contexto de
cosmovises fundamentalistas e de membros dos assim chamados
grupos "iliberais", pode ser ignorado aqui.
22
Menke fundamenta a tese, segundo a qual a neutralidade da meta
inatingvel quando se trata de grupos ou doutrinas que aceitam
premissas igualitrias, lanando mo do seguinte argumento: A histria
das constituies europia e americana oferece exemplos drsticos da
excluso de mulheres, de desclassificados, de negros, et c, a qual fere,
evidentemente, o princpio do tratamento igual: "Por isso, qualquer
concepo liberal da igualdade no se encontra apenas em oposio
com representaes de ordem e de justia no-igualitrias, mas
constitui, alm disso, a tentativa de ultrapassar as determinaes
passadas da idia de igualdade liberal e de superar a opresso que
ainda inerente a elas." (901) Entretanto, a compreenso retrospectiva
21
FORST (1994), 82 s.
22
Cf. abaixo, seco III.
315
das inconseqncias de uma implantao seletiva e penosa de
direitos fundamentais, no leva, como seria de se esperar, Menke
a concluir que houve progressos de um processo de aprendizagem
autocorretivo se corrige. Ao invs de entender que as tentativas
passadas visando a concretizao da idia da incluso simtrica
de todos os cidados s foi bem-sucedida em parte havendo, in-
clusive, contradies idia, da igualdade, ele explica que isso
tudo foi conseqncia de uma inconsistncia da prpria idia da
igualdade de cidados de um Estado, subjacente: impossvel
"determinar", de modo neutro, a idia liberal de liberdades iguais
porque nem os descendentes tm certeza quanto validade de suas
tentativas visando corrigir os erros do passado.
E bem verdade que as geraes posteriores podem tentar "obter"
a neutralidade do alvo, mas no tm como "garanti-la". O grau de
falibilidade da razo prtica , inclusive, muito maior do que o da
terica.
21
Alm disso, no devemos excluir a possibilidade de que,
luz de uma projeo futura, nossas atuais reformas tambm podero
ser consideradas incompletas e necessitadas de correes. Todavia,
necessrio perguntar, serque elas tero sido falsas ou tero de ser
necessariamente tidas na conta de falsas? A conscincia falibiIista que
nos acompanha quando formulamos uma assero no significa, no
entanto, que com isso ns relativizamos ou, menos ainda, que
abandonamos a pretenso de verdade que exteriorizamos a favor dela.
A compreenso que obtemos mediante a retroviso de uma terceira
pessoa, segundo a qual, alguns de nossos esforos cognitivos sempre
fracassam, no nos fora, na perspectiva de um participante, a descrer
completamente de qualquer tipo de conhecimento.
Menke r ecusa uma inter pr etao falibilista de sua tese. Para isso ele no for nece,
no entanto, uma fundament ao plausvel. O fato de as conseqncias de
juzos prticos incor r etos ser em, em geral mais gr aves do que as conseqncias
de juzos tericos falsos no impede que juzos mor ais e decises jurdicas
sejam pr ivados do status de pr oposies que podem ser cor r eias ou falsas.
Cf. HABERMAS, J. " Richtigkeit ver sus Wahr heit. Zum Zinnder Sollgelt ung
mor alischer Ur teile und Nor men" , in: "s||. ++1 |.:|/.++ Fr ank-
fur t/M., 1999, 271-318.
316
No entanto, exatamente sobre isso que se apoia a objeo. E j
que a nossa situao epistmica no difere essencialmente, aqui e
agora, da situao epistmica das geraes anteriores, cujas tentativas
destinadas obteno de determinaes neutras da idia de igualdade
sempre fracassaram, no podemos lanar fora a idia "de que nossas
prprias propost as e det ermi naes, quando inseridas numa
considerao retrospectiva, so, por seu turno, criticadas por
aparecerem como no-neutras" - nessa passagem Menke no afirma:
"poderiam ser criticadas" (902). As geraes passadas tambm erraram
e em todas as direes. Como o exemplo americano de uma tradio
constitucional continuada de mais de duzentos anos revela, os
descendentes corrigiram erros dos predecessores e dos pais fundadores,
por exemplo, no perodo da reconstruo ou na poca do New Deal
ou ainda no movimento dos direitos dos cidados ocorrido no sculo
passado. E uma vez que a idia da igualdade de cidados do Estado
ultrapassa sua respectiva institucionalizao, possvel eliminar
excl uses reconheci das como injustificadas luz de out ras
circunstncias histricas. Como no caso de domnios tericos, aqui
tambm a relativizao de compreenses antigas pode levar
ampliao, no liquidao de conquistas passadas.
Eu no consigo entender como seja possvel explicar as cegueiras
notrias que desvendamos hoje em dia obnubilando interpretaes
passadas da igualdade cidad e como seja possvel concluir que as
prticas de excluso e discriminao - que decorrem daquelas
interpretaes - so conseqncia de "condies de impossibilidade"
conceituais embutidas na prpria idia (da igualdade cidad, n.t.). As
interpretaes seletivas de normas que so, de acordo com sua forma
gramatical, frases universais, mas que, no plano semntico no so,
de forma alguma, imunes interpretao particularista dos "conceitos
fundamentais" nelas empregados, tal como "pessoa" ou "homem",
exigem uma explicao emprica. E esta tem de englobar a semntica
do pano de fundo metafsico e religioso, o qual impregna previamente
as interpretaes de normas de igualdade que representam valores.
Thomas A. McCarthy segue tal mtodo em sua anlise dos
pr econcei t os raci ai s detectveis na ant r opol ogi a de Kant :
317
"Cosmovises substanciais - religies, cosmologias, metafsica,
histria da natureza, etc. - tm, para normas gramaticalmente
universais, o efeito de um mecanismo de retrao {...}. A significao
dos conceitos-chave utilizados para a formulao de normas universais
foi, curiosamente, modificada, a fim de tomar visveis diferenas de
sexo, de raa, de etnia, de classe, de status ou de outras formas de
pertena a grupos e de adscrio de identidade, de tal modo que aqueles
que entendiam a questionabilidade da linguagem podiam distinguir
as diferenas da esfera de validade das normas, intencionada."
24
Interpretaes seletivas de princpios fundamentais universalistas
constituem sintomas de uma diferenciao incompleta entre o "justo"
e o "bom". Todavia, a experincia histrica, segundo a qual ns,
felizmente, tambm podemos aprender algo a esse respeito no
confirma eo s a natureza paradoxal do projeto que se prope garantir
liberdades ticas para todos em geral.
( 2 ) Rawls pretende neutralidade para sua concepo de justia
tomada como um todo, no para os efeitos das normas singulares que
asseguram igualdade. As repercusses dessas (normas) sobre a
autocompreenso tica e o modo de vida de cada um dos destinatrios
no so necessariamente as mesmas. Aparentemente, Menke de
opinio que essa tese tem de ser considerada como uma quase-
concesso desconstruo. Consideremos, no entanto, os fenmenos
que constituem alvo de tal reserva. O primado conceituai do justo
sobre o bom significa que, em certos casos, uma norma que do
interesse simtrico de todos impe no somente limitaes em geral
(Einschrnkungen), mas tambm, de acordo com o crculo de
destinatrios, sobrecargas no-simtricas que acarretaro restries,
as quais penalizaro um grupo mais do que outros na configurao de
sua forma de vida, que oneraro algumas pessoas mais do que outras
na persecuo de metas individuais de vida. Uma regulamentao
24
M ACCARTHY, Th. " Die polit ische Philosophie und das Pr oblem der Rasse" ,
in: WINGERT, L. e GNTHER, K. (or gs.) b. c//.+||:||. 1. '.+++/
++1 1. '.+++/ 1. //.+||:||. Fr ankfur l/M.. 2001, 627-654, aqui. 633.
318
liberal do aborto, por exemplo, imputa aos crentes catlicos e a todos
os que se posicionam a favor da vida (Pro-Life) - fundamentados na
religio ou em vises de mundo - um peso maior do que ao cidado
secular, o qual, mesmo quando no compartilha a posio a favor da
escolha (Pro-Choice), capaz de enfrentar com menor sofrimento o
pensamento de que o direito vida do embrio humano pode, em
det er mi nadas circunstncias, ser supl ant ado pelo direito de
autodeterminao da me.
De outro lado, Menke pretende limitar sua anlise a perdas em
formas de vida e cosmovises que so no-anti-igualitrias por
natureza. Nesse caso, porem, ele no deveria referir a no-neutralidade
dos efeitos a grupos dotados de identidade que no sobrevivero du-
rante muito tempo na sociedade bem ordenada do liberalismo poltico."
Porquanto, nesse caso, Rawls fala em grupos "iliberais" cuja
sobrevivncia depende, por exemplo, da condio de que seus
membros "controlem o aparelho do Estado e tenham condies exercer
efetivamente intolerncia".
25
Poderamos encontrar um exemplo disso
na interpretao xiita do Coro tal como concebida atualmente pelos
mullahs que detm o poder no Ir; no entanto, ela no poderia ser
classificada como uma "concepo do bom que no , em princpio,
anti-igualitria". Muito mais do isso, a questo gira em torno do
seguinte ponto: serpossvel constatar, - a partir das sobrecargas
diferenciais que as normas imputam, s vezes, aos seus destinatrios
mesmo quando justificadas sob o ponto de vista da considerao
simtrica dos respectivos interesses de cada um - uma aporia que
habita no mago da prpria idia de igualdade?
Menke toma como guia de seu pensamento uma intuio,
segundo a qual, qualquer determinao mais particularizada da idia
do tratamento igual constitui um geral abstrato, o qual necessariamente
levado a forar a vida individual de pessoas singulares. Neste ponto,
importante evitar uma falsa colocao de diretrizes. Do ponto de
vista cognitivo, ns sempre temos disposio a alternativa de julgar
estados de coisas na perspectiva participante de cidados que
" RAWLS, J. |s:|. ||.s|s-s Fr ankfur t/M., 1998. 294.
319
colaboram, por intermdio de metas coletivas e normas obrigatrias,
na formao poltica da opinio e da vontade, ou na perspectiva de
uma primeira pessoa que, na qualidade de indivduo inconfundvel,
toma a deciso de refletir sobre o seu prprio modo de vida. Tal
possibilidade de mudana de perspectivas, que existe no plano
cognitivo, no encontra, no entanto, uma correspondncia simtrica
no plano normativo. Aqui, os "direitos" da perspectiva imparcial da
justia no coincidem exatamente com os de uma avaliao tica da
prpria vida, jque a prioridade da justia no pode ser arbitrariamente
invertida, a qualquer momento, a favor de uma precedncia tica de
metas de vida prprias: isso eqivaleria a um nivelamento da prioridade
da imparcialidade, da qual no podemos desvencilhar-nos.
Certamente, os atingidos podem submeter a uma avaliao
pessoal, luz de uma perspectiva subjetiva, os efeitos que normas
justificadas intersubjetivamente tm sobre sua vida. Tal opo, no
entanto, da qual os participantes lanam mo exante - durante o
processo de justificao - no implica, na seqncia dos passos da
reflexo e durante a assuno da respectiva perspectiva, numa
valorizao capaz de conferir, normativamente, a derradeira palavra
ao auto-entendimento tico.
No final das contas, a fuso simbitica destas duas perspectivas
tenta preparai
-
o caminho para a concepo de uma justia supostamente
"superior" capaz de garantir uma coincidncia feliz entre o justo e o
bom
26
individual: "E neste caso, a prioridade da justia liberal poderia
ser tida como uma prioridade poltica e tica, no apenas para as
instituies, mas tambm para ns, na qualidade de indivduos que
participam de instituies."
27
No entanto, a natureza paradoxal de tal
standard, introduzido subrepticiamente, explica por que qualquer tipo
de "justia poltica" distribuda mediante a utilizao da moeda de
liberdades ticas iguais, aparece, luz de tal standard, como no-
36
MENKE (2000, 7) pr etende colocar a idia da igualdade numa r elao tal
com " as obr igaes der ivadas da individualidade" que ela no esteja decidida
desde o incio a avor da pr ior idade da igualdade.
" MENKE (2000), 122.
320
realizvel. Por boas razes, a justia poltica no tem, nos contextos
da maioria das biografias dos indivduos, prioridade sobre outras
orientaes valorativas individuais, tidas como mais importantes.
A falha inerente a tal considerao pode ser descoberta facilmente,
j que as perspectivas da justia e da "vida boa", opostas, no se
integram completamente, a ponto de formar uma verdadeira simbiose,
mas permanecem, por boas razes normativas, entrelaadas entre si
de modo assimtrico. No longo prazo, o auto-entendimento levado a
cabo na viso da primeira pessoa s pode ser bem-sucedido com a
ressalva de que a persecuo de metas da vida individual no ultrapasse
as fronteiras da considerao moral por outros.
28
De outro lado, os
cidados - no seu papel de co-legisladores democrticos - dependem
de procedimentos da assuno recproca de perspectivas, a fim de
que as perspectivas dos atingidos, que no pretendem deixar que suas
met as de vida i ndi vi duai s sejam confi nadas de uma forma
existencialmente insuportvel, encontrem acesso perspectiva da
justia.
A aplicao adequada de uma norma depende de tal justificao
democrtica. Pode ser considerada "adequada" a um caso individual
a norma em cuja luz todas as caractersticas relevantes do conflito e
das pessoas envolvidas no conflito puderem ser consideradas "de modo
inteiramente satisfatrio".
29
Quem se satisfaz apenas com as
caractersticas semnticas de uma norma geral e afirma que ela no
pode fazer jus s especificidades de um caso e do contexto histrico
individual, passa por alto o sentido pragmtico da "generalidade" de
normas justificadas democraticamente. Tal espcie de normas foi
encontrada e estatuda aps um procedimento de deliberao e de
deci so que cria bases para uma suposi o capaz de fundar
aceitabilidade racional e, neste sentido, geral. No se pode dizer, de
forma alguma, que o Estado de direito, democrtico, ignora "o
SEEL, M. '.s+:| u|. 1. |- 1.s 0|u:|s Fr ankfur t/M., 1999, 191 ss.
GNTHER, K. " Einnor mativer Begr iff der Kohar enz" , in: |.:|s|.. 20
(1980), 163-190; id. "Warum es Anwendungsdiskur segibt " , +|s||+:| /u
|.:| ++1 ||| vol. 1, (1993) 379-389.
321
problema da possvel demarcao do bem individual por meio da
igualdade poltica" (905). Nos cenrios hipotticos de uma esfera
pblica militante e nas controvrsias polticas do legislador democr-
tico, os efeitos no-neutros constituem exante o tema propriamente
dito, portanto, no apenas nos discursos de aplicao da jurisdio.
Uma vez que o procedimento democrtico faz a legitimidade
das decises depender das formas discursivas de uma formao
inclusiva da opinio e da vontade, as normas destinadas a garantir
iguais direitos spodem surgir quando se tem conhecimento dos fardos
diferenciados que elas implicam e aps a avaliao de tais fardos.
Menke declara que os efeitos no-neutros das normas de igualdade
so "efeitos no visados" da "efetivao da igualdade" (903). Isso trai
uma fixao na posio observadora de um terico; ele se recusa a
assumir a perspectiva de cidados que se entendem, ao mesmo tempo,
como autores da lei e do direito. O liberalismo ps-moderno, ao seguir
de perto o clssico, desfocaliza o componente democrtico presente
na legislao e na idia diretriz das iguais liberdades, alm de no
prestar mais ateno ao nexo dialtico que une a autonomia privada
de cidados de um Estado.
Desta maneira, o processo de "determinao" da igualdade
realiza-se apenas na cabea do observador filsofo. Falta um lugar
para a prtica comunicativa dos cidados participantes. Somente neste
espao pode realizar-se como "autodeterminao" - na figura de uma
formao democrtica da opinio e da vontade - o processo de
determinao daquilo que deverculminar numa aplicao eqitati va,
assumindo a forma de uma norma geral. Tendo participado do processo
de diferenciao do j ust o e do bom, tanto na perspectiva da
compreenso de si mesmos e do mundo como sob a condio da
recproca assuno de perspectivas, os atingidos vem as normas gerais
que encontraram assentimento geral, aps a considerao discursiva
da excluso antecipada e do confinamento, no mais - e, especialmente,
no mais devido sua generalidade garantidora de igualdade - como
um poder estranho que mutila sua vida individual.
No necessria uma desconstruo da idia de igualdade para
se chegar ao ponto ao qual tende naturalmente o procedimento
322
democrtico. J que o discurso poltico, proporo que direciona o
olharem direo quilo que igualmente bom para todos, permanece
naturalmente referido aos juzos ticos "que os indivduos emitem
tendo em vista o que importante e bom para a sua vida" (898). E
quando tal sobrecarga puder ser imputada tendo em vista a eliminao
de uma discriminao, os participantes podem aceitar como justa at
mesmo uma norma (por exemplo, uma regulamentao liberal do
aborto) cujos efeitos oneraro - na sua viso pessoal - mais a eles
prprios do que aos outros cidados. Dado que a norma tem de ser
legitimada pelo caminho democrtico, isto , com o conhecimento e a
considerao de seus efeitos no-neutros pela totalidade daqueles que
tm de suportar seus efeitos, as restries assimtricas aceitas por
razes normativas so expresso do princpio da igualdade cidad (de
cidados de um Estado), no menos do que a prpria norma - e no
simples sinais de sua "heterogeneidade interna".
Por conseguinte, nem as delimitaes impostas pela "neutralidade
da meta" (1), nem os "efeitos no-neutros" de direitos distribudos de
maneira efetivamente igual (2) proporcionam argumentos para uma
"fronteira da igualdade" inerente idia da igualdade de cidados do
Estado. O inevitvel "sofrimento dos indivduos, provocado por toda
ordem da igualdade e que resulta de seus efeitos de delimitao"
(Begrenzung) (906) no pode ser comprovado pelos meios de uma
anlise conceituai. Apenas o universalismo igualitrio que exige iguais
direitos, sem deixar de ser sensvel a diferenas, tem condies de
satisfazer exigncia individualista que consiste em garantir
eqitativamente a integridade vulnervel do indivduo que
insubstituvel e cuja biografia inconfundvel.
ffl
E bem verdade que tal assero atinge apenas as condies
conceituais visadas pela desconstruo, e no as condies de fato,
deformadas pela violncia. Naturalmente, at hoje, as "ordens da
igualdade", liberais, encobrem a injustia gritante da desigualdade
social. Nos quarteires miserveis de nossas cidades e nas terras
323
devastadas residem os "que se tomaram suprfluos" e foram expulsos,
para os quais os iguais direitos no tm o "mesmo valor". Eles sofrem,
sob a aparncia da igualdade, a misria da insegurana e do
desemprego, a humilhao da pobreza e da subalimentao, o
encapsulamento de uma vida margem da sociedade, o sentimento
repleto de mgoa de que se algo que no possui nenhuma utilidade,
o desespero pela perda de todos os meios que seriam necessrios para
uma mudana, a partir das prprias foras, da situao acabrunhadora.
Nesses fatos, porm, no se manifesta nenhum paradoxo oculto na
normatividade da prpria idia de igualdade. Antes, pelo contrrio, a
percepo da contradio que existe entre a pretenso normativa
levantada pelas condies de vida e a viso moralmente obscena que
elas realmente oferecem produz dissonncias cognitivas.
Desde os primeiros socialistas atos atuais opositores da
globalizao, o protesto poltico desencadeado por fatos que
desmentem a pretenso normativa de uma igualdade de direitos
entendida de forma conteudstica. Nasceu da a promessa do Estado
social, segundo a qual, a garantia de liberdades ticas iguais tem de
incluir tambm a chance de poder fazer uso ftico de direitos
distribudos de forma igual. Cidados em condies de vida
subprivilegiadas tm o direito a realizaes de compensao quando
lhes faltam os recursos e as chances de fazer uso de seus direitos
seguindo preferncias e orientaes axiolgicas prprias.
E bem verdade que a viso sobre as contradies que resultam
da contraposio entre facticidade e validade pode at transformar-se
numa mola poltica capaz de impulsionar uma autotransformao da
sociedade - mediante uma desconstruo que projeta a contradio
na normatividade enquanto tal - caso as dissonncias cognitivas no
venham a ser desarmadas por uma ontologizao porque, neste caso,
elas perderiam o seu aguilho. Entrementes, temos de averiguar se a
implantao de direitos culturais para os membros de grupos
discriminados e a introduo de direitos sociais acompanham um
desenvolvimento do direito regido pelo princpio da igualdade cidad
(de cidados do Estado)( 1). A justificao de direitos culturais explica
a concorrncia inquietante entre direitos de grupos e direitos de
324
indivduos (2), a qual ainda desperta, apesar de tudo, a aparncia
paradoxal de uma mudana dialtica: os direitos iguais transformam-
se em opresso (3).
w
( 1) Na jurisprudncia mais recente das naes ocidentais podemos
encontrar muitos exemplos de correes de leis gerais que tinham
efeitos assimtricos insuportveis: autorizam-se os sikhs a portar seu
turbante enquanto dirigem a motocicleta ou a portarem publicamente
seu punhal ritual; mulheres muulmanas e alunas tm a permisso de
manter, na escola ou no trabalho, o seu "vu"; os aougueiros judeus
podem abater animais e aves seguindo mtodos "puros", etc. E parece
que se trata, nesses casos, de excees de leis gerais (da segurana do
trnsito, da proteo dos animais, etc.) Todavia, a interpretao de
tais decises como regulamentaes de exceo sugere a idia,
enganadora, de uma dialtica inerente idia de igualdade. De fato,
nesses casos, a jurisprudncia apenas tira conseqncias do fato de
que sikhs, judeus e muulmanos gozam da mesma liberdade de religio
que a maioria da populao crist. No se trata, pois, de uma misteriosa
"virada do geral no particular", mas de um caso, trivial, onde se atribui
prioridade a um direito fundamental sobre simples leis ou prescries
de segurana. Como no caso da deciso de Karlsruhe sobre a
equiparao da comunidade das testemunhas de Jeov(que, mediante
o reconhecimento enquanto instituio de direito pblico, obteve o
gozo dos mesmos privilgios usufrudos pelas outras igrejas), aqui
tambm se ata da implantao do direito cultural igual pelo caminho
normal de uma materializao do direito.
Regulamentaes na parte organizacional da constituio (tal
como a transmisso de competncias da auto-administrao para
corporaes regionais ou a concesso de direitos especiais de
representao para minorias culturais) e polticas multiculturais para
a proteo e a promoo de grupos discriminados (tal como regulaes
de cotas no sistema de educao, no mercado de trabalho e na poltica;
Pelas consider aes que seguem devo agr adecer aos par ticipantes de um
seminrio r ealizado na Nor thwester nUniver sity no ver o do ano de 2002.
325
subvenes para programas de ensino da linguagem e currculos
escolares; a regulao de linguagens oficiais, feriados oficiais, smbolos
nacionais) so medidas destinadas a evitar a excluso de grupos com
forte identidade prpria. Um estudo de Charles W. Mills
11
revela que
tais tendncias continuam a difundir-se mesmo sob o umbral dos
direitos formais iguais. At na semntica da linguagem do corpo
operam mecanismos menos evidentes de excluso nas formas de trato
e nos padres de comunicao do intercmbio cotidiano. bem
verdade que uma "poltica do reconhecimento" se choca com os limites
estruturais do mdium do direito, pelo qual possvel obter, no melhor
dos casos, um comportamento conforme as normas, mas no uma
mudana de mentalidade. Entretanto, os limites factuais de atuao
de um mdium de controle, como o caso do direito, no podem ser
confundidos com barreiras conceituais numa idia da igualdade do
contedo do direito, aparentemente contraditria.
Designamos como liberal uma cultura que se caracteriza por
relaes simtricas de reconhecimento recproco - mesmo entre
membros de grupos de identidade diferentes. Tais condies de
reconhecimento, que sobrepujam limites subculturais, podem ser
criadas indiretamente com os meios da poltica e do direito, no
diretamente. Direitos culturais e polticas de reconhecimento podem
fortalecer a capacidade de auto-afirmao de minorias discriminadas,
inclusive sua visibilidade na esfera pblica; mesmo assim, no se pode
modificar, mediante a ameaa de sanes, o registro social de valores.
O reconhecimento recproco de membros com iguais direitos, o qual
constitui o alvo do multiculturalismo, pressupe relaes interpessoais
modificadas que se produzem pela via do agir comunicativo e do
discurso e se harmonizam na esfera pblica democrtica, em ltima
instncia, mediante controvrsias polticas sobre a identidade.
12
Todavia, esses mesmos processos desenrolam-se num espao que se
11
MILLS, Ch. W. I|. |s:s| (+|s: Ithaka (N. Y.), 1997.
,2
FRASER, N. " Str uggle over Needs" , in: id. ++|; |s::.s Minnesot a,
1989, 161-190; BENHABI B, S. I|. (|s-s / (+|+. Pr inceion. 2002,
114-122.
326
constitui mediante a participao poltica e os direitos de comunicao
dos cidados do Estado. Por conseguinte, a "auto-reflexo" que visa
"reconhecimento da diferena", para a qual Menke, com razo, chama
a ateno, no depende de uma outra poltica, inteiramente distinta, a
qual - por sobre os escombros da igualdade desconstruda - livrar-se-
ia das algemas do direito refugiando-se na esfera da virtude.-
1
-
1
A discusso sobre "multiculturalismo" obriga a uma diferencia-
o cuidadosa no conceito da igualdade cidad (de cidados do Estado).
Discriminao ou desprezo, ausncia nas arenas pblicas da sociedade
ou deficiente auto-respeito coletivo so indicadores de incluso
incompleta dos cidados, aos quais vedado o status pleno de membros
de uma comunidade poltica. O princpio da igualdade cidad ferido
na dimenso da pertena, no na da justia social. O grau de incluso
tem a ver com relaes horizontais entre membros da comunidade
poltica, ao passo que a extenso da ordem de status atinge as relaes
verticais entre cidados de uma sociedade estratificada.
Camadas sociais formam-se na dependncia de padres de
distribuio da riqueza social. Dependendo do status, os cidados
dispem de mais ou menos recursos e de mais ou menos oportunidades
diferentes para uma vida configurada de acordo com preferncias e
orientaes axiolgicas prprias. Entre cidados de um Estado dotados
de iguais direitos, toda ordem de status lana a questo acerca da
legitimidade de uma medida de desigualdade social a ser admitida.
Independentemente do modo como se encara a explorao econmica
e a marginalizao social (de acordo com os princpios da justia
distributiva aceitos na sociedade
14
), e para alm das interpretaes
urdidas para a privao (de meios necessrios para uma vida
autodeterminada), isso fere o princpio da igualdade cidad, porm,
" N o consigo ent ender bem o significado da seguint e tese: " que uma poltica
da igualdade tem de for mar .- s mesma a atitude ou vir tude de fazer j us s
exper incias de sofr iment o e queixas dos indivduos" (905), se a essa poltica
deve ser per mitido " (ir ) al o ponlo ext r emo em que a igualdade se limit e a si
mesma tendo em vista tais limites" .
,J
PAUER-STUDER, H. 1++- |.|.+ Fr ankfur t/M., 2000.
327
no da mesma forma que uma incluso incompleta. J que a
desigualdade reside na dimenso da justia distributiva, no na de
uma incluso de membros.
Nancy Fraser reconheceu a importncia de uma separao
analtica das duas dimenses (quase sempre ligadas entre si no plano
emprico) da desigualdade cidad (de cidados de um Estado) e
delineou uma distino entre polticas da distribuio e polticas do
reconhecimento.
15
A luz desta diferenciao, torna-se claro por que o
sentido de direitos culturais falseado quando os integramos em uma
forma de Estado social ampliado.
16
Diferentemente dos direitos sociais,
os direitos culturais tm de ser justificados tendo em vista as
possibilidades da incluso simtrica de todos os cidados. Tal
considerao nos obriga, verdade, a uma ampliao do conceito
clssico de pessoa de direito, talhado conforme dois papis distintos:
o de cidado da economia e o de membro da comunidade; tal reviso,
no entanto, parece implicar, ao mesmo tempo, direitos de grupos, ambi-
valentes, os quais eventualmente podem em conflito com direitos
individuais.
M
FRASER, N. " Fr om Redist r ibulion to Recognit ion?" , in: WILLETT, E.
;I|.+ 4+|:+|+s|s- Oxfor d, 1998, 19-49; nas r evises que
ela fez at o moment o (in: FRASER, N. " Rethinking Recognit ion" , in: \.
|./ |... maio/junho, 2000, 107-120) no consigo descobr ir modificaes
do princpio or iginal. Cf. agor a tambm FRASER, N. e HONNETH, A.
-...|- 1. 1+.|.++++ Fr ankfur t/M., 2003.
16
Assim pr ocede BARRY ((+|+. s+1|+s|; Cambr idge [Mass.] 2001), que
der iva a pr etenso de gr upos discr iminados a r econhecimento de uma falta de
" meios e opes" , por que ele mede a igualdade cidad pela justia distr ibutiva,
por conseguint e, por " opor tunidades e r ecur sos" necessrios para que todo
cidado tenha as mesmas chances de fazer uso efet ivo de dir eitos distribudos
de fomia igual. Tal assimilao da falta de r econhecimento a uma mar ginalizao,
a ser compensada mater ialmente leva, a seguir, a uma equiparao conira-intuiti va
de convices de f, r eligiosas, a pr efer ncias: ' The positionr egar ding prelr-
ences and beliefs is similar ." (36) De acor do com isso, ser ia pennitido aos sikhs
conduzir uma motocicleta por tando um turbante por que, em caso contrrio, o
seu espao de opes quando da deciso por uma ou outra comunidade r eligiosa
estar ia submetido a limites injustificados.
328
(2) A garantia de liberdades ticas iguais para cada um constitui
o padro de justificao para direitos culturais.
17
Tais liberdades tm a
forma de direitos subjetivos que abrem um espao bem definido de
opes para decises orientadas por preferncias. A pessoa dotada de
direitos s consegue obter sua liberdade de deciso para fins de uma
conduta de vida tica quando dispuser de um espectro suficientemente
amplo de orientaes axiolgicas que lhe permitam escolher metas
de ao e fins. Ela s chega ao gozo real de iguais liberdades ticas
quando, ao escolher suas preferncias, puder confiar na fora
orientadora de valores culturais internalizados. Por isso, o valor de
uso de iguais liberdades ticas necessita das garantias de acesso a
recursos culturais, dos quais os valores exigidos podem ser extrados,
isto , adquiridos, reproduzidos e renovados.
Em que pese isso, tal justificao instrumental no atinge o
sentido propriamente dito de direitos culturais. J que o conceito de
uma pessoa que age de modo racional-teolgico e que realiza uma
escolha entre opes dadas seguindo preferncias que trazem marcas
culturais demasiadamente estreito para iluminar a significao
intrnseca da cultura para o modo de viver individual. Recm-nascidos,
por exemplo, vm ao mundo ainda incompletos do ponto de vista
orgnico e permanecem, durante um longo tempo, extremamente
dependentes dos cuidados de outras pessoas. As pessoas s podem
desenvolver-se enquanto membros sociais de comunidades culturais.
E para se desenvolverem como pessoas, elas tm de entrar no caminho
da socializao, introduzindo-se num universo de significaes e
prticas, compartilhado intersubjetivamente. Tal constituio cultural
do esprito humano expl i ca por que o indivduo depende,
ininterruptamente, de relaes interpessoais e de comunicaes, de
redes de reconhecimento recproco e de tradies. Isso explica tambm
por que os indivduos sconseguem desenvolver, revidar ou manter
sua autocompreenso, sua identidade e o projeto de uma vida prpria
em contextos desse tipo.
" RATZ, J. " Multicultur alism: A Liber al Per spect ive" , inid., ||:s + |. |+|
|: b-s+ Oxfor d, 1994, 155-176.
329
Entretanto, a partir do momento em que referimos a garantia de
iguais liberdades ticas a tal processo de formao, de reproduo e
de continuao, o qual entendido de modo intersubjeti vista, somos
obrigados a ampliar, de modo correspondente, o conceito da pessoa
de direito tida como portadora de direitos subjetivos.
18
Ante tal pano
de fundo, recomenda-se inferir os direitos culturais diretamente do
princpio da intocabilidade da dignidade humana (Artigo I
o
da Lei
Fundamental): A proteo eqitativa |.:|-ss; da integridade
da pessoa, qual todos os cidados tm pretenso, inclui a garantia do
igual acesso aos padres de comunicao, s relaes sociais, s
tradies e condies de reconhecimento, os quais so necessrios
14
ou desejveis
40
para o desenvolvimento, a reproduo e a renovao
de sua identidade pessoal.
Tal papel cultural dos direitos fornece razes que permitem
explicar por que eles podem exercer resistncia incluso incompleta
de membros de minorias raciais, tnicas, lingsticas ou religiosas
desprezadas (tambm de mulheres, de crianas, de velhos, et c,
marginalizados e oprimidos). O alvo da garantia do livre acesso ao
pano de fundo cultural, rede social e ao tecido de comunicaes de
"grupos de identidade" (com forte identidade prpria) tambm torna
compreensvel a introduo de direitos coletivos. Uma vez que tais
Uma viso ger al sobr e essa nova discusso pode ser encontr ada em KIRSTE,
St. " Dezent r ier ung, berforderung und dialekt ische Konst r ukt ion der
Recht sper son" , in: |.s|s:|/ / 1 h||.|s:| Ber lim, 2001, 319-362.
MARGALIT, A. e HALBERTAL, M. " Liber alism and the Righl to Cultur e" ,
in: :s| |.s.s:| Vol. 61, 1994, 491-519. GANS, Ch. (I|. |-|s /+s
+s|s- Cambr idge, 2003, 43 ss.) fala em " identity based ar gument" .
Lano mo dessa qualificao para pr evenir o estr eitamento de dir eitos cultur ais
que ter ia lugar se fossem ent endidos apenas como um acesso a cultur as de
or igem. No podemos r eificar ou tr ansfor mar em totalidade fechada a herana
cultur al, que sempr e o r esultado hbrido do entrelaamento de difer entes
tr adies; nem podemos concluir que a identidade de uma pessoa continua
dependente, dur ante todo o tempo de sua dur ao, de uma deter minada cultura
ou do enr aizament o na cultur a em que nasceu. Cf. WALDRON, J. " Minor ity
Cultur es and the CosmopolilanAlter native" , in: +..s; / 4:|s+ |+
+s| / |s |./- Vol. 25, 1992. 751-793.
330
direitos fortalecem as organizaes que se engajam na auto-afirmao
de culturas ameaadas. Direitos coletivos autorizam grupos culturais
a manter recursos e a disponibiliz-los para que seus membros possam
lanar mo deles a fim de formar e estabilizar sua prpria identidade
pessoal.
Direitos de auto-afirmao concedem s representaes de
"grupos de identidade" autorizaes de organizao ampliadas e
competncias de auto-administrao. Em nosso contexto, tais direitos
desempenham um papel especial porque, com eles, surge um tipo de
conflito que constitui um cotpo estranho no interior de ordens de
igualdade estruturadas de modo individualista. Conflitos jurdicos
tpicos nascem das relaes entre pessoas de direito individuais (quando
um deles fere os direitos do outro) ou entre cidados individuais e o
poder do Estado (quando este ultrapassa os limites das intervenes
legais). Com a introduo de direitos coletivos surgem conflitos de
outra espcie, ou seja, mais precisamente: (a) quando "grupos de
identidade" distintos contestam entre si seus direitos ou prerrogativas;
(b) quando um grupo exige tratamento igual tendo em vista o status
de outros grupos (como o caso normal de pretenses multiculturais);
(c) ou quando no-membros se sentem prejudicados em relao a
membros de grupos privilegiados (por exemplo, os brancos que se
sentem prejudicados pela regulamentao de cotas para negros).
Em nosso contexto, interessante salientar (d), isto , o caso de
uma opresso no interior do prprio grupo. Nesses casos, elites utilizam
suas competncias e direitos de organizao ampliados com a
finalidade de estabilizar a identidade coletiva do grupo ferindo direitos
individuais de membros do grupo que no concordam. Onde a vida
comunitria de grupos religiosos determinada por uma "lei" protegida
e interpretada pela ortodoxia, como o caso dos paises islmicos e de
Israel, e onde o direito religioso complementa ou at substitui o direito
civil, especialmente no mbito da famlia, as mulheres e crianas esto
expostas a represses por parte das prprias autoridades.
41
No caso
41
SCHACHAR, A., " OnCit izenship and Multicultur al Vulner ability" , in: |
||:s| I|.;' 28, fever eir o 2000, 64-89.
331
das "condies especiais de poder" da famlia, o prprio direito secu-
lar dos pais, o qual existe em paises ocidentais, pode levar a conflitos
semelhantes (assim, por exemplo, quando pais turcos afastam suas
filhas do ensino do esporte coeducati vo praticado em escolas pblicas).
Em que pese isso, os direitos coletivos no so suspeitos per se.
Por exemplo, os direitos que uma constituio democrtica concede a
comunas, governos estaduais ou instituies semi-oficiais so, por
via de regra, discretos, jque tais transmisses de competncias podem
ser justificadas a partir dos direitos fundamentais dos cidados no
podendo, por isso, entrar em conflito com eles. Todavia, nem todos os
grupos culturais, cuja posio fortalecida mediante direitos coletivos,
satisfazem, em sua estrutura interna, s medidas liberais. Eles tambm
no precisam obedecer a tais princpios de organizao como se fossem
partidos polticos. A Igreja catlica, por exemplo, goza do direito de
excluir as mulheres do ministrio sacerdotal, mesmo que a igualdade
de direitos entre homem e mulher seja constitucional e seja implantada
noutros setores da sociedade. A Igreja fundamenta tal poltica apelando
para a sua prpria doutrina, que o alvo de seu ministrio."'-
Na viso do Estado liberal, o princpio da igualdade no ser
ferido enquanto nenhum membro for impedido de manifestar seu
dissenso saindo da organizao ou mobilizando foras de oposio
no interior da prpria organizao. No obstante isso, convm
perguntar, como encarar a discriminao racial, fundada em motivos
religiosos, levada a cabo pela Bob Jones University, uma instituio
americana de cristos fundamentalistas, a qual, ante a ameaa da
autoridade competente de suspender os privilgios com o imposto de
renda, modificou uma de suas prticas de admisso restritivas aceitando
estudantes negros, mas que continuou, ao mesmo tempo, a proibir
relaes sexuais e o casamento entre estudantes brancos e negros?"
Qual a diferena entre os dois casos?
Quando o Estado liberal preenche condies que tornam possvel
a reproduo de uma minoria, a qual, de outra forma, estaria ameaada
42
Cf. a discusso de casos cor r espondenles inBARRY (2001), 169 ss.
J
Tbid., 165 s.
332
em sua sobrevivncia, e quando, no intuito de tal reproduo, ele as-
sume uma violao de direitos fundamentais de membros individuais,
parece que tem lugar a supracitada dialtica entre direitos iguais e
opresso, delineada por Menke. Neste sentido, a Supreme Court dos
Estados Unidos, numa deciso clebre, aceitou a queixa que uma
comunidade amish dirigiu contra a mais alta autoridade na rea da
educao do Estado de Wisconsingarantindo autora da queixa uma
exceo coletiva do dever geral de freqentar a escola durante dez
anos seguidos. Tal deciso permite aos pais da comunidade amish
impedir os filhos de freqentar a nona e a dcima classe do ensino
bsico sob a alegao de que nesses perodos eles iriam ser
confrontados com material de ensino considerado incompatvel com
a imagem de mundo, o modo de vida e a sobrevivncia da comunidade
religiosa. Parece que o direito proteo da forma e da prtica de vida
religiosas que, de acordo com o princpio da igualdade, deve valer,
no somente para a comunidade amish (que segue, alis, fielmente a
lei), mas tambm para outras comunidades religiosas, s pode ser
resgatado quando o Estado levar em conta uma violao do direito de
cidadania do jovem, o qual implica uma formao bsica em condies
satisfatrias para a necessidade de orientao em sociedades
complexas.
BrianBarry, em seu estudo sobre "igualdade e cultura", trata de
um grande nmero de casos que seguem tal padro clssico. E
apoiando-se nesses exemplos, Barry desenvolve uma polmica com
autores tal como William Galston, Charles Taylor e ris Young. Em
que pese isso, seria necessrio comprovar que existe, na virtual ameaa
de liberdades individuais fundamentais, decorrente de direitos coletivos
que garantem o tratamento igual de grupos culturais, uma reviravolta
paradoxal da liberdade em represso, o que abriria as portas a uma
contradio embutida na prpria idia da igualdade cidad (de cidados
do Estado).
(3) Para dissipar os indcios de tal paradoxo, Will Kymlicka
introduziu uma distino entre dois tipos de direitos de grupos - entre
direitos legtimos mediante os quais uma organizao pode proteger-
333
se contra as presses que vm de fora, do entorno social, e direitos
problemticos, com o auxlio dos quais ela pode impor-se internamente
a fim de evitar a desestabilizao da vida comunitria costumeira pela
ao de membros de grupos dissidentes.
44
No obstante isso, em casos
como os da comunidade amish, quando o mesmo direito coletivo serve,
simultaneamente, s duas funes, tal distino no ajuda muito. E
bem verdade que direitos coletivos autorizadores no colidem
necessariamente com direitos individuais;
45
mesmo assim, o
presumvel paradoxo s pode ser solucionado quando for possvel
demonstrai
-
que nenhum direito de grupos, legitimado sob o ponto de
vista da igualdade cidad (de cidados de um Estado), pode colidir
com os direitos fundamentais de membros individuais de grupos. De
acordo com a intuio liberal, os direitos de um grupo sso legtimos
quando puderem ser interpretados como direitos derivativos - ou seja,
deduzidos dos direitos culturais dos membros singulares de grupos.
Os adeptos de um multiculturalismo "forte" no se limitam a
tais condies, j que perseguem uma estratgia de fundamentao
que no exclui direitos coletivos que virtualmente restringem direitos
fundamentais. Se o direito igual liberdade tica obriga o Estado a
garantir, de modo simtrico, para cada cidad o acesso eqitativo a
recursos culturais de que necessita para manter e desenvolver sua
identidade pessoal, nesse caso, o Estado tambm tem de envidar
esforos para que tais recursos culturais estejam disponveis - e
continuem sempre disponveis. A expresso pretende chamar a ateno
para o passo lgico, quase invisvel, porm, decisivo, que diferencia a
disponibilidade desses recursos no presente e a possibilidade de dispor
deles no futuro. Se o multiculturalismo "forte" pretende justificar uma
"poltica da sobrevivncia", obrigado a dar esse passo.
Charles Taylor, por exemplo, defende a tese de que, do direito
inquestionvel que os cidados francfonos de Quebecpossuem de
dar continuidade s suas tradies nacionais de origem segue o dever
controverso do governo provincial de tomar todas as medidas
44
KYMLICKA, W. 4+|:+|+s| (,.+s| Oxfor d, 1995, 34-48.
4,
KYMLI CKA(1995), 38.
334
necessrias para garantir a sobrevivncia da lnguai francesa:
"Poderamos considerar a lngua francesa como fonte coletiva, da qual
os indivduos podem servir-se, e poderamos engajar-nos pela sua
manuteno, do mesmo modo que nos engajamos pela manuteno
do ar puro ou da sobrevivncia de superfcies verdes. Com isso no se
satisfaz, no entanto, o impulso de uma poltica orientada para a
sobrevivncia cultural. Porque aqui no se trata apenas de manter a
disponibilidade do idioma francs para aqueles que se decidem por
ele [...]. Jque a poltica da survivance pretende garantir, alm disso,
que continuem existindo, no futuro, grupos de pessoas que realmente
faam uso do francs. proporo que toma medidas para que
geraes futuras tambm possam identificar-se como francfonas, tal
poltica estcriando ativamente membros para esse grupo."
41
Com esse argumento se justifica, entre outras coisas, a interveno
do governo de Quebec nos direitos dos pais que fazem parte da
populao francfona. Porquanto esses cidados so obrigados a
mandar seus filhos para escolas francesas, desconsiderando possveis
preferncias por uma formao em instituies de fala inglesa. O
argumento estriba-se tacitamente na premissa, segundo a qual, os
recursos culturais tm, de certa forma, primazia ante os que delas se
alimentam, possuindo, em todo caso, um valor intrnseco que capaz
de fundamentar uma pretenso independente proteo. Tal opinio
pressupe uma tica de bens, fundamentada metafisicamente, que no
pode ser aprofundada aqui.
47
No trivial o fato de os direitos poderem
referir-se, diretamente, a recursos culturais. Porquanto, nesse caso,
necessrio justificar a dignidade de proteo desses bens coletivos
independentemente do interesse dos cidados pela manuteno de
sua identidade pessoal.
Direitos coletivos de um grupo que no esto a servio dos direitos
culturais de seus membros individuais, mas que, passando por cima
46
TAYLOR, Ch. 4+|:+|+s|s-+s ++1 1. ||| 1. 1+.|.++++ Fr ank-
fur t/M., 1993, 52.
47
Sobr e a teor ia dos |;.1s cf. TAYLOR, Ch. +.||.+ 1.s .||s Fr ank-
fur t/M., 1989, Par te I; cf. tambm HABERMAS, J. ||u+.++.+ ,+
bs|+s.|| Fr ankfur t/M., 1991, 176 ss.
335
deles, servem diretamente manuteno de um pano de fundo cul-
tural da coletividade, do guarida a um potencial de opresso no inte-
rior do grupo: "As culturas no so simplesmente um tipo de entidade
qual se pode atribuir direitos. As comunidades definidas por certas
caractersticas culturais compartilhadas (por exemplo, a lngua) podem
ter, sob certas circunstncias, pretenses vlidas, mas, nesse caso, as
pretenses surgem dos interesses legtimos dos membros do grupo."
4
"
A objeo de Barry, no entanto, sofre da mesma inverso dogmtica
que afirma a prioridade das reservas culturais sobre o seu beneficirio.
Como fundamentar a assero, segundo a qual, os direitos coletivos
que garantem a oferta de recursos culturais s podem ser justificados
por direitos culturais dos membros a um acesso a tais recursos?
A observao acidental de Barry, de que as culturas no
constituem "o tipo certo de objetos" que podem funcionar como
por t ador es de di r ei t os, jcont em uma i ndi cao. Mesmo
desconsiderando, por razes morais, a feio individualista de ordens
jurdicas modernas,
49
a estrutura ontolgica de objetos simblicos fala
contra o fato de as culturas se qualificarem como portadoras de direitos.
Uma cultura no pode, enquanto tal, ser considerada sujeito de direitos
porque ela no consegue preencher, por fora prpria, as condies
de sua reproduo, j que depende de uma apropriao construtiva
mediante intrpretes detentores de razes prprias, os quais so capazes
de dizer "sim" ou "no". Por isso, a sobrevivncia de "grupos de
identidade" e a continuidade de seu pano de fundo cultural no 1.-
ser garantidas mediante direitos coletivos. Uma tradio tem de estar
em condies de desenvolver seu potencial cognitivo de tal forma
que os destinatrios possam adquirir a convico de que compensa
dar continuidade a essa tradio em particular. E as condies
hermenuticas exigidas para o prosseguimento de tradies spodem
ser salvaguardadas por meio de direitos individuais.
Uma "cul t ura" pode ser entendida como um conjunto de
condies viabilizadoras para atividades destinadas soluo de
BARRY (2001), 67.
Cf. minha controvrsia com K.-O. Apel no pr esente volume, Cap. 3. 91 ss.
336
problemas. Ela dota os sujeitos que crescem nela, no somente de
capacidades elementares de linguagem, de ao e de conhecimento,
mas tambm de imagens de mundo pr-estruturadas gramaticalmente
e de reservas de saber acumuladas semanticamente. bem verdade
que uma cultura no pode ser mantida viva apenas por disciplina ou
por doutrinao robusta, apenas pelo uso implcito das geraes
posteriores que se exercitam nos correspondentes jogos de linguagem
e prticas. J que as tradies conservam sua vitalidade unicamente
na medida em que se introduzem nos canais difundidos e entrelaados
das biografias individuais, passando pelos umbrais crticos do juzo
autnomo de cada possvel beneficirio singular. Ora, a partir da,
revelar-se-o valor intrnseco de uma tradio, o que suceder, o mais
tardar, na fase da adolescncia. Os jovens tm de ser convencidos de
que eles, no horizonte da tradio da qual se apropriaram, podem
levar uma vida dotada de sentido, no-fracassada, ou uma vida
totalmente vazia. O teste para a vitalidade de uma tradio cultural
consiste, pois, em ltima instncia, em averiguar se, sua luz, os
desafios enfrentados pelos jovens se transformam em problemas
solucionveis.
bem verdade que esse teste tambm funciona em sociedades
fechadas; em que pese isso, sua relevncia tanto maior quanto maior
o nmero de alternativas que ele abre para o indivduo. Em sociedades
pluralistas, os grupos culturais s conseguem transmitir sua herana
de uma gerao para outra atravs do filtro hermenutico das tomadas
de posio por "sim" de seus membros que, luz de ofertas alternativas,
tambm esto em condio de dizer "no". Por esta razo emprica,
os direitos coletivos s podem fortalecer um grupo em sua auto-
afirmao cultural se eles garantirem, simultaneamente, aos membros
individuais o espao de que eles necessitam, numa viso realista, para
se decidirem criticamente entre trs alternativas possveis: apropriao
crtica, reviso ou recusa pura e simples.
30
E bem verdade que a prpria
GALSTON enumer a vrias condies " r ealistas" para sair de uma tr adio:
" condies de conheciment o - a conscincia de alter nativas para a vida que
algum estvivendo de fato; condies de capacidade - a habilidade de
337
liberdade de associao assegura uma pertena voluntria ao grupo.
Porm, tal aspecto voluntrio apenas o selo posto sobre um direito
realista que permite a sada (de uma tradio cultural, n.t.). Para a
sobrevivncia de grupos culturais decisiva a garantia do espao
interno necessrio para a apropriao de uma tradio sob condies
de um possvel dissenso. Uma cultura encapsulada dogmaticamente
no terjamais condies de se reproduzir, sobretudo num entorno
social repleto de alternativas.
IV
A crtica do multiculturalismo "forte" tende a adotar a idia de
que o princpio da igualdade cidad (de cidados de um Estado)
confronta todos os grupos culturais com a expectativa normativa geral
de que seus membr os no devem ser exer ci t ados apenas
maqui nal ment e em convi ces e prticas t ransmi t i das, mas
introduzidos em uma apropriao reflexiva e crtica da tradio. Quanto
mais pretensiosa a formulao das condies de sada, tanto mais elas
se nutrem da nova suspeita de que a idia de "direitos culturais iguais"
continua presa, no decorrer de sua implantao, ao pensamento
secularista e antropocntrico do humanismo e do iluminismo, sendo,
por isso, obrigada a desmentir, perante outras formas de vida e vises
de mundo, a pretensa "neutralidade da meta". Isso nos recoloca perante
a questo da equidade (Fairness) dos procedimentos de adaptao
avaliar essas alter nativas quando isso for desejvel; condies psicolgicas
- em par ticular , a liber dade das diver sas for mas de lavagem cer ebr al que do
or igem a esforos de despr ogr amao (de cor tar o cor ao) de pais a favor
de seus filhos e, de modo mais amplo, for mas de coer o no pur amente
fsicas que podem dar or igem inter fer ncia justificada do Estado em auxlio
de indivduos at ingidos; e, finalmente, condies de aptido - a habilidade
de indivduos (desej osos de obter xit o) de par ticipar efet ivament e de modos
de vida que so, em ltima instncia, difer entes daqueles que eles desej am
abandonar ." (GALSTON. " Two concept s of Liber alism" .. in: ||:s 105
(abr il de 1995), 516-534, aqui, 533 s.); cf. tambm, numa per spectiva feminista
MLLER OKIN, S. " Mistr ess of their ownDest iny: Gr oup Rights, Gender .
and Realist icRights to Exit" , in||:s 112 (janeir o 2002), 205-230.
338
que o Estado liberal exige das doutrinas e comunidades tradicionais,
cujas origens so muito mais antigas que as condies de vida
modernas.
Recomenda-se, aqui, tomar como ponto de partida duas
distines. Em primeiro lugar, no devemos confundir exigncias
normativas de uma ordem liberal com os imperativos funcionais de
uma moder ni zao social que foram o poder do Est ado
secularizao. Em segundo lugar, a adaptao estrutural de "grupos
de identidade" ou comunidades religiosas a condies de vida
modernas em geral, especialmente s expectativas cidads (de cidados
do Estado) de autonomia e s imputaes de tolerncia de uma
repblica liberal, no significa submisso a uma presso de reflexo
destinada a dissolver, no longo prazo, orientaes de vida e doutrinas
teocntricas ou cosmocntricas.
Existem naturalmente formas tribais de vida e de sociedade, bem
como prticas cultuais, que no se encaixam, de forma alguma, na
moldura poltica de ordens jurdicas igualitrias ou individualistas.
Isso pode ser observado nas tentativas exemplares dos Estados Unidos,
Canade Austrlia, que pretendem reparar a injustia histrica
cometida com os povos nativos conquistados, integrados fora e
discriminados durante sculos. Tais tribos utilizam a permisso de
uma autonomia mais ampla para desenvolver ou restaurar determinadas
formas de propriedade coletivistas e formas tradicionais de poder,
mesmo que essas, em muitos casos particulares, colidam com o
princpio igualitrio e com a referncia individualista dos iguais direitos
para cada um. A compreenso moderna do direito probe certamente
um "Estado dentro do Estado". Por isso, se no seio de um Estado
liberal um grupo, que (de acordo com sua prpria compreenso)
"iliberal", tiver a permisso de doar-se a si mesmo uma ordem jurdica
prpria, isso acarretar, certamente, como conseqncia, contradies
no-solucionveis.
Se, por motivos morais, determinadas comunidades tribais forem
agraciadas com direitos de autogesto amplos, como compensao
pela integrao forada de seus antepassados na ordem estatal dos
conquistadores, as obrigaes impostas a determinados membros da
339
tribo podero colidir com direitos que lhes cabem enquanto cidados
estatais de uma coletividade poltica mais ampla. Os direitos de
autogesto concedidos aos territrios dos indgenas nos Estados Unidos
e no Canadprovocam tais problemas, especialmente no que tange s
pretenses de propriedade e de direitos de famlia. E neste caso, so
novamente as mulheres as mais atingidas: "Quando um membro da
tribo indgena sente que os seus direitos foram violados por seu concilio
tribal, ela pode solicitar correo numa corte tribal; porm, ela no
pode (exceto em casos muito especiais) solicitar reparao da Su-
pretne Court [...]. Tais limites na apl i cao de decl araes
constitucionais de direitos cria a possibilidade de que indivduos ou
subgrupos - dentre os quais, comunidades indgenas - possam ser
oprimidas em nome da solidariedade do grupo ou da pureza cultural."'
11
No caso especial da reparao de injustia por parte do Estado, a
moral e o direito podem enredar-se em contradies, mesmo que ambos
sejam regidos pelo princpio do igual respeito por cada um, j que o
direito constitui um mdium fechado recursi vmente em si mesmo, o
qual s pode assumir atitude crtica em relao s suas prprias
decises passadas, mas insensvel a episdios que acontecem fora
da rea do passado jurdico.
52
Nesse ponto, o conflito reflete-se no
direito, porm, ele no surge do direito. O modo de vida de grupos
"iliberais" forma, no interior da ordem jurdica liberal, um cotpo
estranho. Por isso, as conseqncias contraditrias que resultam de
uma tolerncia jurdica, moralmente fundada, de estruturas estranhas,
no atingem o interior do prprio direito igualitrio. No caso dos grupos
religiosos, as coisas so diferentes, jque, ao pretenderem afirmar-se
no interior da estrutura diferenciada da modernidade, so obrigados a
adaptar suas formas de vida e doutrinas - que remontam a origens
pr-modernas - secularizao do Estado e da sociedade.
51
KYMLI CKA (1995), 38 s.
" S o difer ent es os modos como o dir eito e a mor al inter fer em em casos de
exigncias de r epar ao para descendent es de colet ividades ou de vtimas de
uma poltica cr iminosa de gover nos passados quando so r esponsabilizados
os seus sucessor es de dir eito.
340
Hoje em dia, o judasmo e o cristianismo, que no apenas
configuraram a cultura ocidental, mas que tambm tiveram um papel
importante na genealogia da idia de igualdade, no encontram mais
qualquer tipo de dificuldade de princpio na estrutura igualitria e no
feitio individualista de ordens liberais. Todavia, como todas as religies
mundiais, eles levantaram, no passado, pretenses de validade e de
configurao exclusivas que no se combinavam, de forma nenhuma,
com as pretenses de legitimidade de uma ordem de poder e de direito
seculares. Na companhia das sociedades modernas e dos poderes
seculares, a prpria conscincia religiosa foi motivada a seguir, por
assim dizer, na direo da "modernizao". Um exemplo disso pode
ser observado na re-orientao cognitiva da mediao da tradio que
passou para imputaes de reflexo e condies realistas de sada.
A questo que se levanta agora a seguinte: serque tais processos
de adaptao no dissimulam a submisso do etos religioso s
condies de uma neutralidade hipcrita, atrs da qual se entrincheira
simplesmente e defacto o poder de uma outra concepo do bom,
isto , o etos secular da igualdade? Serque uma comunidade religiosa
que renuncia coao da conscincia e garante espao para uma
apropriao autoconsciente de verdades de f no estse dobrando
simplesmente s normas impostas pelo Estado ou no estseguindo
tambm, com isso, motivos prprios? Na Europa, a Igreja teve de se
posicionai", de um lado, e j bem antes do surgimento do Estado neutro
em termos de vises de mundo, contra o pensamento antropocntrico
do humanismo e do pensamento secular da nova fsica, tambm con-
tra o turbilho secularizador da economia capitalista e da administrao
burocratizante; de outro lado, ela teve de enfrentar a crise profunda de
uma diviso interna das confisses de f. A neutralizao do Estado,
que se desligou das vises de mundo (religiosas e metafsicas, n.t.) foi
a resposta poltica encontrada para a implacabilidade das guerras
religiosas. E tal resposta no serviu apenas ao interesse do Estado em
manter o direito e a ordem, mas tambm s necessidades das prprias
comunidades religiosas, j que permitia, numa situao crtica da
conscincia, submeter sua autocompreenso tradicional a uma reviso.
A liberdade de religio do Estado liberal, ampliada na forma de
um direito de cidados (Brgerrecht) no somente impediu que a
341
coletividade pluralista se desintegrasse levada por conflitos metafsicos
e/ou religiosos. Muito mais do que isso, ela tambm ofereceu s
comunidades religiosas, desejosas de encontrar um lugar ao sol na
cpsula diferenciada da modernidade, uma moldura institucional para
a soluo de seus prprios problemas internos. A soluo poltica para
uma coexistncia, em iguais condies, dos poderes da f que se
digladiavam consistia numa concepo de tolerncia que levasse em
considerao o carter absoluto, por conseguinte, no-negocivel das
pretenses de validade de convices religiosas. Pois, tolerncia no
pode ser confundida com indiferena.
J que uma indiferena por convices e prticas estranhas ou
ata valorizao do outro em sua alteridade fariam com que a tolerncia
se tornasse suprflua. A tolerncia exigida daqueles que tm boas
razes subjetivas para recusar outras convices e prticas tendo
conscincia de que se trata de um dissenso que , realmente, cognitivo,
porm, insolvel no longo prazo. Jos preconceitos no contam como
argumentos legtimos para a rejeio; a tolerncia s necessria, e
possvel, quando os participantes apoiam sua rejeio sobre uma no-
concordncia que pode ser prosseguida de modo razovel. Porquanto
ns enfrentamos o racista ou o chauvinista, no mediante apelos para
mais tolerncia, mas exigindo que ele vena seus preconceitos." Tais
condies especficas vm, certamente, ao encontro das atitudes
dogmticas de comunidades de f. Em que pese isso, necessrio
perguntar: qual o preo a ser pago por tais condies? O que se
exige daqueles que aproveitam da tolerncia dos outros?
Mediante o direito fundamental liberdade de religio, o Estado
liberal pretende enfrentar o dissenso que perdura, ao nvel cognitivo,
entre crentes, no-crentes e crentes que seguem outras crenas, j que
tal direito permitiria desacoplar a dissidncia do nvel social, a tal
ponto que as interaes entre cidados da comunidade poltica no
seriam afetadas por ela. Para o Estado, o ponto mais importante nisso
tudo consiste em desarmar a destruti vidade social inerente a um conflito
Cf. FORST, R. " Toler anz, Ger echtigkeit, Ver nunft" , inid. (or g.) I|.s+,
Fr ankfur t/M., 2000, 119-143.
342
de vises de mundo lanando mo da neutralizao mais ampla
possvel das suas conseqncias para a ao. Para as comunidades
religiosas, ao contrrio, importante a circunstncia de que o Estado
reconhea a legitimidade do dissenso que perdura. Isso lhes assegura
a liberdade de movimento que lhes permite, a partir da perspectiva
interna de suas doutrinas - cuja substncia no foi tocada - colocar-se
numa relao cognitiva razovel, no somente com as diretrizes dos
credos de outras comunidades religiosas, mas tambm com as formas
de pensamento e de comunicao de seus entornos seculares. Por este
caminho, complementam-se as funes que a tolerncia garantida
juridicamente preenche tanto para um lado, como para o outro. Tal
tolerncia serve no somente auto-afirmao das comunidades
religiosas numa sociedade que se moderniza sem cessar, mas tambm
manuteno do estado poltico do Estado liberal. Em que pese isso,
convm perguntar, uma vez mais: Qual o preo a ser pago pelas
comuni dades rel i gi osas por esse espao que per mi t e uma
transformao de si mesmas? Serque as condies possibilitadoras
no so, ao mesmo tempo, outros tantos tipos de confinamento cujo
preo demasiadamente alto?
Cada religio , originalmente, "imagem de mundo" ou
"compreensive doctrin\ inclusive no sentido de que ela pretende
ser, ela mesma, uma autoridade capaz de estruturar uma forma de
vida em seu todo. Sob as condies da secularizao da sociedade e
do pluralismo de vises de mundo, a religio obrigada a lanar fora
tal pretenso a uma configurao abrangente da vida. Juntamente com
a diferenciao funcional de sistemas parciais da sociedade, a prpria
vida da comunidade religiosa se separa de seu entorno social. O papel
do membro de uma comunidade diferencia-se do de um cidado da
sociedade. E uma vez que o Estado liberal depende de uma integrao
poltica dos cidados, a qual ultrapassa o degrau de um simples modus
vivendi, tal diferenciao das pertenas no pode esgotar-se numa mera
adaptao, destituda de pretenses cognitivas, do etos religioso a leis
impostas pela sociedade secular. Para que a socializao religiosa possa
afinar-se com a socializao secular necessrio, no somente, que
as correspondentes formulaes ou frases contendo normas e valores
343
se diferenciem umas das outras numa viso interna, mas tambm que
uma frase proceda da outra de uma forma lgica e consistente. Para
tal "insero" do universalismo igualitrio da ordem jurdica no
respectivo etos de imagens de mundo religiosas JohnRawls escolheu
a imagem de um mdulo, o qual, mesmo que tenha sido construdo
com o auxlio de argumentos neutros do ponto de vista das vises de
mundo, deve encaixar-se nos respectivos contextos de fundamentao
ortodoxos.
54
Tal diferenciao cognitiva entre moral igualitria da sociedade
e etos da comunidade no apenas uma expectativa normativa com a
qual o Estado confronta as comunidades religiosas. J que ela vem ao
encontro do prprio interesse delas de se afirmar no interior da
sociedade moderna e de obter condies para exercer, atravs da esfera
pblica poltica, influncia na sociedade como um todo. Por meio da
participao nas controvrsias nacionais sobre questes morais e ticas,
as comunidades religiosas podem promover uma autocompreenso
ps-secular da sociedade em sua totalidade, a qual permite entrever
uma continuidade vital da religio at mesmo num entorno que se
encontra em franco processo de secularizao.
Em que pese isso, ainda no fornecemos uma resposta pergunta
sobre o preo a ser pago pelas comunidades religiosas: no serele
no-eqitativo sob o ponto de vista de uma igualdade cidad (de
cidados de um Estado)? A imputao de tolerncia revela dois
aspectos. E cada um deles pode realizar apenas o prprio etos nos
limites de iguais liberdades ticas. Por conseguinte, cada um deve,
dentro desses limites, respeitar o etos dos outros. Nenhum deles
obrigado a aceitar as opinies recusadas dos outros, jque as prprias
certezas e pretenses de verdade permanecem intocadas. A imputao
no resulta de uma relativizao de convices prprias, mas de um
"confinamento" (Einschrdnkung) de sua eficcia prtica, como
conseqncia do fato de que o prprio etos s pode ser vivido de
forma limitada e de que as conseqncias prticas do etos dos outros
tm de ser aceitas. Por conseguinte, tais fardos resultantes da tolerncia
no se distribuem de maneira simtrica entre crentes e incrdulos.
,4
RAWLS, J. (1998), 76 ss.
344
Na conscincia do cidado secularizado, cuja bagagem metafsica
extremamente reduzida, permitindo-lhe inserir-se com facilidade
numa fundamentao da democracia e dos direitos humanos - isenta
de moral -, a prioridade do justo sobre o bom substancial aparece
naturalmente. Sob tal premissa, o pluralismo de modos de vida nos
quais se refletem, respectivamente, diferentes imagens de mundo, no
provoca dissonncias cognitivas com convices ticas prprias.
Porquanto, luz de tal perspectiva, nos diferentes modos de vida
incorporam-se apenas diferentes orientaes axiolgicas. Ora, valores
diferentes no se excluem reciprocamente da mesma maneira que
verdades distintas. De sorte que no existe, para a prpria conscincia
secular, dificuldade alguma em reconhecer que um etos estranho tem
para o outro a mesma autenticidade e a mesma prioridade que o prprio
etos tem para mim mesmo.
As condies modificam-se no caso de um ciente que adquire
sua autocompreenso tica de verdades de fcuja pretenso de validade
universal. To logo a representao da vida correta se orienta por
conceitos metafsicos do bom ou por caminhos salvficos religiosos,
entra em cena uma perspectiva divina (ou uma viewfrom nowhere),
luz da qual (ou de onde) outros modos de vida aparecem no somente
como diferentes, mas tambm como fracassados. Quando o etos
estranho no apenas uma questo de valorizao relativizadora, mas
tambm de verdade ou inverdade, a exigncia de manifestar igual
respeito por cada cidado sem considerar sua autocompreenso tica
ou sua conduta de vida particular constitui um peso maior.
O fato de crentes e no-crentes serem afetados de maneira
diferente pelos efeitos da i mput ao de tolerncia no deve
suipreender-nos; mesmo assim, ele no constitui, per se, expresso
de uma injustia. Porque no se trata de um fardo unilateral. E que os
prprios cidados privados de "ouvido religioso" tm de pagar um
preo. Porquanto a interpretao da tolerncia nas sociedades liberais
dotadas de estrutura pluralista no imputa apenas aos crentes no seu
trato com crentes que acreditam de forma diferente a compreenso de
que eles devem conta-, de modo razovel, com um dissenso que no
pode ser eliminado totalmente. Essa mesma compreenso imputada
345
aos prprios no-crentes no seu trato com crentes. Para a conscincia
secular, isso implica a exigncia, que de forma alguma trivial, de
determinar de modo autocrtico a relao entre fe saber na perspectiva
de um saber de mundo. A expectativa de uma no-concordncia entre
saber de mundo e tradio religiosa spode ser tida como "racional"
quando conferimos s convices religiosas, na perspectiva de um
saber secular, um status epistmico que no , pura e simplesmente,
irracional.
A concesso de iguais liberdades ticas exige a secularizao do
poder do Est ado. No obstante isso, ela probe igualmente a
supergeneralizao poltica de uma viso de mundo secularista.
proporo que cidados (Brger) secularizados assumem o seu papel
de cidados de um Estado (Staatsbrger), no podem negar que as
imagens de mundo religiosas possuem, em princpio, um potencial
de verdade nem contestar o direito dos co-cidados religiosos de
apresentarem contribuies a discusses pblicas lanando mo da
linguagem religiosa. Uma cultura poltica liberal pode, inclusive,
esperar que os cidados secularizados participem de esforos visando
a traduo de contribuies religiosas relevantes para uma linguagem
acessvel publicamente.
55
Mesmo que essas duas expectativas no
conseguissem contrabalanar inteiramente a no-neutralidade dos
efeitos resultantes do princpio da tolerncia, esse resto de desequilbrio
no conseguiria colocar em xeque a justificao do prprio princpio.
Porquanto, luz da superao de uma injustia gritante por via da
eliminao uma discriminao religiosa, no seria razovel ou
proporcional s circunstncias o fato de os crentes, devido distribuio
assimtrica dos fardos, passarem a eliminar a prpria exigncia de
tolerncia.
Tal considerao abre caminho para uma compreenso dialtica
da secularizao cultural. Quando entendemos a modernizao da
conscincia pblica na Europa como um processo de aprendizagem
que envolve, simultaneamente, as mentalidades seculares e as
religiosas, modificando-as, medida que fora, tanto a tradio do
" HABERMAS, J. 0|s+|.+ ++1 "ss.+ Fr ankfur t/M., 2001.
346
iluminismo como a das doutrinas religiosas, reflexo sobre seus
respectivos limites, uma nova luz se espalha sobre a tenso, difundida
em escala internacional, entre as grandes culturas e religies mundiais.
A globalizao de mercados, meios e outros tipos de entrelaamentos
complexos fecha o caminho para uma sada da modernizao
capitalista: nenhuma nao consegue mais trilh-lo. As prprias
culturas no-ocidentais, como conseqncia de uma modernizao
insuficiente que elas mesmas impulsionam ativamente, no conseguem
fugir aos desafios provocados pela secularizao e pelo pluralismo
das vises de mundo. Elas s podero afirmar suas caractersticas
culturais prprias contra a cultura secular capitalista do Ocidente em
geral pelo caminho de uma "modernidade alternativa". Isso significa,
no entanto, que elas s podero enfrentar, com reservas culturais
prprias, o poder nivelador que vem de fora, se nesses paises a
conscincia religiosa se abrir a uma modernizao a partir de dentro.
56
Enquanto tais culturas, ao se defrontarem com desafios semelhantes,
encontrarem equivalentes para a inovao europia da separao en-
tre Igreja e Estado, a adaptao construtiva a imperativos da
modernizao social no poderser considerada uma submisso sob
normas estranhas cultura, assim como a mudana de mentalidade e
a destradicionalizao das comunidades de fno Ocidente no
constituiu uma simples submisso sob normas de igualdade, liberais.
' " TAYLOR, Ch. " TwoTheor ies of Moder nity" , in: |+||: (+|+. 11,1 (1999),
153-174.
347
//. Uma Constituio Poltica
para s Sociedade Mundial Pluralista?'
Aps a invaso do Iraque, e tendo em vista as violaes do direito
das gentes, que vieram na sua esteira, as chances de um projeto
destinado a promover um "estado de cidadania mundial", cosmopolita,
(weltbrgerlich) no so piores do que em 1945, aps a catstrofe da
Segunda Guerra Mundial, nem mais remotas do que em 1989/90,
quando teve fim a constelao formada por um poder bipolar. Isso
no significa, no entanto, que as atuais chances sejam boas; em que
pese isso, no deveramos perder de vista as propores. O prprio
projeto kantiano s conseguiu entrar numa agenda poltica duzentos
anos aps ser confeccionado, isto , no momento em que foi criada a
Liga das Naes; e a idia da criao de uma "ordem de cidadania
mundial" s assumiu forma institucional permanente quando da
fundao das Naes Unidas. Desde o incio dos anos 90, as Naes
Unidas adquiriram peso poltico tomando-se fator expressivo a ser
levado em conta nas controvrsias sobre poltica mundial. A prpria
superpotncia foi obrigada a uma confrontao com a organizao
mundial quando esta negou, apesar das ameaas sofridas, a legitimao
para uma interveno militar unilateral. E as Naes Unidas
conseguiram superar, com sucesso, as tentativas de marginalizao
que se seguiram, chegando mesmo a empreender uma auto-reforma,
h muito tempo necessria.
' Agradeo a Ar minvonBogdandy, um especialista em dir eito inter nacional, pelas
sugest es de cor r eo e comentrios.
348
Desde dezembro de 2004, esto concludas as propostas da
comisso de reformas, exigidas pelo secretrio-geral. E as reformas
propostas, conforme iremos ver, resultam de anlises perspicazes de
eixos. interessante notar que tal processo de aprendizagem tende,
inequivocamente, a dar continuidade ao projeto kantiano. Porquanto
nele no se expressa apenas e simplesmente a idia de um estado de
paz assegurado sem interrupo. O prprio Kant j havia ampliado o
conceito negativo de "ausncia de guerra" e de violncia militar
transformando-os no conceito de uma paz que implica liberdade em
termos do direito. Hoje em dia, o conceito mais abrangente de
segurana coletiva inclui tambm os recursos para as condies de
vida sob as quais cidados de todas as partes da terra podem chegar
faticamente ao gozo de liberdades garantidas por lei. E bem verdade
que podemos continuar tomando como orientao a idia kantiana de
uma constituio de cidadania mundial, mas para que isso acontea
necessrio guarnecer tal idia de contornos suficientemente abstratos.
Pretendo mostrar que a alternativa kantiana de uma repblica mundial
e de uma federao de povos incompleta (I) e esclarecer de que
modo o projeto kantiano pode ser entendido luz das circunstncias
atuais (II). A seguir, gostaria de explicar por que o sucesso desse projeto
envolve, nada mais, mas tambm nada menos, que uma substncia
democrtica de formas de socializao poltica, ainda hoje possveis
(III). E no final, pretendo abordar duas tendncias histricas que vm
ao encontro de tal projeto (IV e V).
I
Hobbes interpreta de modo funcionalista o nexo entre direito e
garantia da paz: os cidados submetidos ao direito barganham a garantia
de proteo do poder da ordem estatal oferecendo em troca sua
obedincia incondicional.
2
Para Kant, ao contrrio, a garantia da paz,
que funo do direito, enti ecruza-se conceitualmente com as funes
de uma situao constitucional, a qual constitui e assegura a liberdade,
2
Nas pginas que seguem apio-me sobre meu ensaio intitulado: "O projeto kantiano
e o Ocidente dividido" , in: HABERMAS, .1. b..ss|.+. ".s.+ Frankfurt/
M., 2(XM.
349
sendo reconhecida como legtima pelos cidados. Porquanto a validade
do direito no se apoia apenas taticamente sobre a ameaa de sanes
de um poder do Estado, mas tambm e intrinsecamente, sobre os
argumentos a favor da pretenso de reconhecimento, formulveis pelos
destinatrios. Kant no opera mais com um conceito emprico do
direito. Entretanto, ao lanar mo da idia de uma passagem do direito
das gentes (Vlkerrecht), centrado em Estados, para o direito de
cidados do mundo (Weltbrgerrecht), Kant tambm se distancia de
Rousseau.
Ele abandona a representao republicana, segundo a qual, a
soberania interna do povo reflete-se na soberania externa do Estado,
ou seja, a autodeterminao democrtica dos cidados reflete-se numa
auto-afirmao diplomtica e, em caso de necessidade, militar, da
prpria forma de vida. Para Kant, ao invs disso, o enraizamento
particularista da fora da vontade democrtica no etos de um povo, o
qual constitui o poder, no significa necessariamente um confinamento
da fora racionalizadora do poder de uma constituio democrtica a
um Estado nacional. Porquanto o sentido universalista dos princpios
da constituio de um Estado nacional aponta para alm das fronteiras
dos costumes nacionais que tambm se expressam, certamente, nas
instituies constitucionais locais.
Com essas duas operaes - a do cruzamento da idia de paz
com a do estado de liberdades garantidas juridicamente, e a do
desligamento da autodeterminao democrtica interna de uma auto-
afirmao belicista voltada para o exterior - abriu-se o caminho que
permitia tirar a "constituio cidad" (brgerliche Verfassung),
engendrada, poca de Kant, pelas Revolues Francesa e Ameri-
cana, do plano do Estado nacional e projet-la para um plano global.
Isso franqueou o espao para o conceito de uma constitucionalizao
do direito das gentes. A grandiosa inovao de tal conceituaiizao,
que ultrapassou, em muito, as condies existentes poca, reside
principalmente na reformulao do direito internacional tido como
um direito de Estados: ele passou a ser entendido como um "direito
de cidados do inundo" (Weltbiirgerrecht), isto , um direito dos
indivduos. Estes passam a gozar do status de sujeitos de direito, isto
, no so mais, apenas, "cidados" (Brger) de um Estado nacional.
350
mas tambm membros de uma sociedade mundial estruturada de forma
poltica.
Em que pese isso, Kant no consegue entender a constitucio-
nalizao do direito das naes a no ser como traslado de relaes
internacionais para relaes intra-estatais. At o ltimo instante, ele
mantm a idia de uma repblica mundial, mesmo quando ele, ao dar
o passo seguinte rumo a um tal Estado de povos, prope como
"sucedneo" uma federao de povos. Tal concepo fraca de uma
associao voluntria de Estados desejosos de paz, os quais continuam,
mesmo assim, soberanos, parecia recomendvel como estao interme-
diria no caminho que leva a uma repblica mundial. Ns, os psteros,
que possumos, sem mrito algum de nossa parte, um saber melhor
sobre o emaranhado poltico e jurdico de uma sociedade mundial
pluralista, altamente interdependente e, ao mesmo tempo, diferenada
em termos funcionais, podemos reconhecer com facilidade as barreiras
conceituais que impediram Kant de abandonar aquela alternativa
infecunda e de determinar a meta de uma constitucionalizao do
direito de povos, a qual consiste numa "situao de cidadania mundial"
(weltbrgeriicher Zustand) delineada de forma to abstrata, a ponto
de impedir que tal situao seja confundida com uma repblica mundial
ou que seja simplesmente rejeitada por ser considerada utpica.
A repblica francesa, centralizadora, que Kant tinha ante os olhos
como modelo para um Estado constitucional democrtico sugere a
idia de que a soberania de um povo indivisvel.
1
Em que pese isso,
num sistema de vrios planos, estruturado de modo federalista, a
vontade democrtica do povo, entendida como a totalidade de seus
cidados, ramifica-se, na prpria fonte, em diferentes canais de
legitimao, ligados paralelamente, das eleies para os parlamentos
da comunidade, dos Estados ou da federao. O modelo dos Estados
Unidos (e o debate conduzido nos Federalist Papers) constitui um
t est emunho bem antigo de tal concepo de uma "soberani a
KERST1NG, W. " Gl obal e Recht s or dnung oder wel l wei t e
Verteilungsgerechtigkeit?", in: id. |.:|+ 0..:||.| ++1 1.-|ss|.
I+.+1 Frankfurt/M.. 1997, 243-315, aqui 269.
compartilhada".'
1
A imagem de uma repblica mundial constituda de
modo federalista poderia ter poupado Kant do medo de que os povos,
sob as presses da normalizao e do "despotismo desalmado" de um
"Estado de povos", espalhado pelo mundo, faria com que eles
perdessem sua identidade e suas caractersticas culturais prprias. Esse
temor pode explicar porque Kant vai em busca de um "sucedneo",
mas no constitui a verdadeira razo que o levou a julgar necessrio
representar a situao de cidadania mundial em geral por meio da
figura institucional de um Estado.
A razo para isso deve ser procurada numa outra dificuldade
conceituai, que somente hoje em dia pode ser superada, ante o
entrelaamento complexo e cada vez mais denso das organizaes
internacionais. O republicanismo que impera na Frana explica a fora
racionalizadora de uma juridificao do poder poltico apoiando-se
na idia de uma vontade popular - doadora da constituio - a qual
constitui o poder poltico a partir da base, e de modo inteiramente
novo. O contrato social rousseauiano sugere a unidade do Estado e da
const i t ui o, j que ambos procedem, uno actu, isto , co-
originariamente, da vontade do povo. Situado em tal tradio, Kant
passa por alto uma tradio constitucional concorrente que desconhece
tal entrelaamento conceituai entre Estado e constituio, uma vez
que, na representao liberal, a constituio no pode ter nenhuma
funo de constituio da dominao (herrschaftskonstituierende),
uma vez que lhe cabe apenas uma funo de limitao do poder
(inachtbegrenzende). J nas primeiras assemblias dos estamentos dos
incios da modernidade, toma corpo a idia de uma limitao recproca
e do balanceamento dos "poderes dominantes" - da nobreza, do clero
e das cidades, os quais se opunham ao rei. O liberalismo desenvolve
tal idia no sentido da moderna diviso de poderes de um Estado de
direito.
4
Sobr e a teoria da sober ania no Estado constitucional c. KRIELE, M. |+/|++
+ 1. sss|.|. Opladen. 1994, 273 ss.; Erhard Denninger pensa que, tendo
em vista o atual Estado constitucional eur opeu, o conceit o da " sober ania
par tilhada" ger a confuses: DENNINGER, E. "Vom Ende nalionalstaallicher
Souver anilat inEuropa" , in: id. |.:|| + ||s|. ++|+++ Ber lim. 2005,
379-394.
352
A constituio poltica que visa, em primeira linha, uma limitao
do poder, estabelece um "poder das leis" capaz de reformular
normativamente condies de poder existentes e canalizar o uso do
poder poltico para condies juridicamente vinculantes. Uma
constituio desse tipo toma possvel - j que renuncia identificar os
dominadores com os dominados - uma distino conceituai entre os
seguintes elementos: constituio, poder do Estado e cidadania.
5
Aqui
no existe nenhuma barreira conceituai que se contraponha a uma
dissoluo dos elementos, que se encontram engrenados entre si, no
Estado democrtico. De fato, a juridificao da cooperao entre
Estados em redes multilaterais ou em sistemas de negociao
transnacionais gerou certas formas de constituio no seio de
organizaes internacionais, cujo carter no mais estatal, as quais
dispensam, inclusive, a base de legitimao oriunda da vontade de
uma cidadania organizada. Tais constituies regulam as relaes e o
jogo funcional que se estabelece entre os Estados nacionais; as prprias
redes inclusivas, tecidas em escala mundial, no possuem mais uma
"metacompetncia" tida como caracterstica prpria de Estados: a de
poderem determinar, e, eventualmente, ampliar, por prpria conta,
suas competncias.
De sorte que o tipo de constituio liberal, a qual limita o poder
do Estado, abre a perspectiva conceituai de uma "constitucionalizao"
no-estatal do direito das gentes na figura de uma sociedade mundial
sem governo mundial, estruturada politicamente. Com a passagem
do direito das gentes, centrado em Estados, para o "direito de cidados
do mundo" (Weltbrgerrecht), o espao de ao dos atores estatais
circunscrito, sem que sua caracterstica, enquanto "sujeitos de uma
ordem jurdica que abarca o mundo", seja marginalizada pelos "sujeitos
individuais do direito de cidados do mundo". Estados estruturados
de forma republicana podem continuar sendo, ao lado dos "cidados
do mundo" (Weltbrger), sujeitos de uma constituio mundial que,
5
Cf. FRANKENBERG G. " Die RUckkehr des Ver tr ages. berlegungenzur
Ver fassungder Eur opaischenUnion" , in: WINGERT, LeGNTHER, K. (or gs.)
b. //.+||:||. 1. '.+++/ ++1 1. '.+++/ 1. //.+||:||. Frankfurt/
M., 2001, 507-538.
353
por sua vez, no possui ncleo estatal. Todavia, o ensamblamento dos
tipos de constituio, formados at agora em tradies jurdicas
concorrentes, levanta o seguinte problema: como retroligar decises
polticas do plano organizacional supra-estatal aos caminhos de
legitimao estatais?
6
Esse tema serretomado mais abaixo.
Um segundo motivo poderia ter levado Kant a procurar um
sucedneo para a idia, efusiva, de uma repblica mundial. As duas
revolues constitucionais do sculo XVIII provocaram, entre os
contemporneos e os psteros, a idia de que as constituies polticas
so fruto de um ato de vontade repentino que irrompe num momento
histrico favorvel. A imagem dos acontecimentos em Paris sugere
um levante espontneo das massas entusiasmadas que se aproveitam
da janela temporal de um momento favorvel. A entronizao da
constituio republicana parecia estar ligada a um ato fundador, quase
mitolgico, e a uma situao de exceo. E se a irrupo do instante
revolucionrio num determinado lugar j tinha sido considerada
improvvel, uma coincidncia de tais improbabilidades em muitos
lugares teria de ser considerada, com muito mais razo, inimaginvel.
Suponho que tal intuio oculta-se atrs da assero, curiosa, de Kant,
de que os povos da terra "de acordo com sua idia de direito das
gentes", isto , de acordo com sua representao da autodeterminao
soberana, "no querem" unir-se formando um nico Estado de povos.
7
Ent r ement es , ns nos acos t umamos a i nt erpret ar a
institucionalizao do direito das gentes como um processo no longo
prazo, o qual no portado por massas revolucionrias, mas, em
primeira linha, por Estados nacionais e unies de Estados regionais.
De um lado, tal processo impulsionado intencionalmente, pelos meios
clssicos do contrato internacional e da fundao de organizaes
internacionais; de outro lado, e como reao aos impulsos sistmicos
liberados e aos efeitos colaterais indesejados, ele tambm se desenvolve
de modo i ncrement al i st a. Tal mistura de agir intencional e
6
Chr . Mller s analisa esse cont ext o lanando mo do exemplo da Unio Europia.
Cf. captulo introdutrio sobr e const it uio e const it ucionalizao, in:
BOGDANDY, A. v. (or g.) |+ss:|.s './sss++s.:| Ber lim, 2003, 1-56.
7
KANT, I. /+- ..+ |.1.+ BA 38 (cit. confor me a edio de W. Weischedel)
354
espontaneidade com aparncia de natureza, pode ser constatada no
exemplo da globalizao econmica (do comrcio, dos investimentos
e da produo), a qual fruto de vontade poltica, e na constante
construo e reconstruo dos ncleos institucionais de um regime
econmico global, o que configura uma reao necessidade de
regulao e de coordenao provocada pela globalizao.
O longo prazo de um tal processo, no qual o controle poltico se
liga ao crescimento sistmico, faz supor a necessidade de se falar em
degraus ou, at, em graus de constitucionalizao.
8
O melhor exemplo
fornecido pela Unio Europia, que continua evoluindo, mesmo
que as asseres normativas no tenham conseguido, at o presente
momento, responder seguinte questo da finalit: serque a Unio
Europia desenvolver-se-rumo a um Estado de nacionalidades,
estruturado maneira federalista, ou serque ela continuaramarrada
ao nvel de i nt egrao de uma or gani zao supr anaci onal ,
internacionalmente pactuada, sem assumir qualidades estatais? Um
papel i mpor t ant e desempenhado pel a "dependnci a do
caminhtfXPfadabhangigkeit), isto , a dependncia de um modo de
deciso que, dadas as conseqncias cumulativas de determinaes
passadas, restringe, cada vez mais, o espao de j ogo de futuras
alternativas, inclusive contra a vontade dos participantes.
At o presente momento, abordei trs pontos de vista, sob os
quais a idia kantiana que reformula o direito das gentes, centrado no
Estado, transformando-o num "direito de cidados do mundo"
(Weltbrgerrecht), pode ser dissociada de uma forma de concretizao
que assume a figura de uma repblica em formato de mundo, a qual
gera absurdos. Em primeiro lugar, fiz meno da figura de pensamento
federalista da soberania partilhada e do conceito geral de um sistema
em vrios degraus. Introduzi, a seguir, a distino entre dois tipos de
constituio que visam, respectivamente, a criao do poder e a sua
delimitao; na constituio poltica de uma sociedade mundial
desprovida de governo mundial, ambos os tipos de constituio
8
Esse ponto sublinhado por: COTIER,Th., HERTIG M. ' The Pr ospects of 21 st.
Centur y Constitutionalism" , in: 4ss ||s+:| I.s|| / +.1 \s+s |s
vol. 7, 2004.
355
poderiam contrair uma nova relao. E mencionei, finalmente, a
representao procedimental de uma constitucionalizao do direito
das gentes, que avana aos poucos, a qual iniciada e portada mais
por governos do que por cidados, antes de obter repercusso ampla
por mei o da gradativa internalizao de construes jurdicas
antecipadoras.
Com os olhos voltados para as estruturas atualmente existentes
possvel, sobre essa base, esboar uma alternativa conceituai para a
repblica mundial (e para suas variantes contemporneas).
1
' Mas para
atingir tal objetivo necessrio proceder, ainda, a trs mudanas no
estoque conceituai da teoria poltica, a saber:
(a) Adaptar o conceito de soberania do Estado s novas formas
de governar que se estendem para alm do Estado nacional.
(b) Rever o nexo conceituai que liga o monoplio estatal do
poder ao direito coercitivo levando em conta que um direito supra-
estatal tem o respaldo de potenciais de sano estatais.
(c) Nomear o mecanismo que explica de que modo as naes
podem modificar a compreenso que tm de si mesmas.
(a) Segundo a interpretao do nacionalismo liberal, possvel
compreender a soberania estatal, bem como a proibio de interveno,
inerente ao direito das gentes, como uma conseqncia do conceito
de soberania do povo. Na competncia de uma auto-afirmao no
exterior reflete-se a autodeterminao democrtica de cidados, a qual
determinante no interior.
10
O Estado deve possuir o direito e a
capacidade de conservar a identidade e a forma de vida da coletividade
poltica, desejada democraticamente, e, em caso de necessidade, de
proteg-la contra outras naes lanando mo do poder militar. A
" Sobr e a " democr acia cosmopolit a" cf.: ARCHIBUGI, D. e HELDD. (or gs.) (s
-|s+ b.-:s:; Cambr idge, 1995; HELD, D. b.-:s:; s+1 |. 0|
|s| 01. Cambr idge, 1995; sobr e a repblica mundial federal cf.: HFFE, O.
b.-|s. - /.s|. 1. 0||s|s.++ Munique. 1999.
lu
Cf. WALZER, M. |+s s+1 ++s "ss Nova Yor k, 1977; id. |||1. |.
|.s.||s++.+ Hambur go, 2003; cf. tambm as cont r ibuies in:
" Twent y Year s of Michael Walzer ' s Just and Unjust War s" , in: ||:s |+
.+s+s| 1//ss II (1997), 3-104.
356
autodeterminao no interior necessita da proteo contra uma
determinao por outros, oriunda do exterior. E bem verdade que tal
concepo vai de encontro a dificuldades to logo analisada luz
das condies de uma sociedade mundial, extremamente interde-
pendente. E quando at mesmo as superpotncias no conseguem
mais, apoiadas apenas em suas prprias foras, garantir a segurana e
o bem-estar da prpria populao, sendo obrigadas a entrar em
cooperao com outros Estados, o sentido clssico de "soberania"
passa por uma transmutao.
A proporo que a soberania estatal, no interior, no se esgota
mais na simples manuteno da tranqilidade e da ordem, j que
abrange tambm uma garantia eficaz dos direitos dos cidados, a
soberania no exterior exige, hoje em dia, no apenas capacidade para
a cooperao, mas tambm uma capacidade de se defender dos
inimigos exteriores. A assuno soberana dos encargos constitucionais
exige tambm a capacidade e a disposio do Estado em participar,
com iguais direitos, dos esforos coletivos visando processar problemas
que se colocam no plano global e regional e que s podem ser
sol uci onados no quadr o de organi zaes i nt er naci onai s ou
supranacionais." Isso pressupe no somente uma renncia ao jus
hei li, como tambm o reconhecimento do dever que tem a comunidade
internacional de proteger as populaes contra o poder de Estados
criminosos ou que se encontram em decomposio.
(b) E interessante notar que a comunidade internacional pode
transmitir a uma organizao mundial o direito de impor sanes sem
ser necessrio conferir a ela, ao mesmo tempo, um monoplio global
do poder. Contrariamente representao convencional da estrutura
do direito coativo, abre-se uma forte diferena entre as instncias su-
pra-estatais, que dispem de uma competncia de direito, e instncias
estatais, que tm na reserva meios de aplicao legtima da fora para
a implantao do direito estatudo a nvel supranacional. O monoplio
" Cf. a cor r espondente definio da " nova sober ania" in: CHAYES, A. e A. H. I|.
\. ...+; (-|s+:. | |+.+s+s| |.+|s; 1..-.+s Cam-
br idge (Mass.), 1995.
357
do poder continua nas mos dos diferentes Estados singulares
soberanos, mesmo que estes, na qualidade de membros das Naes
Unidas, tenham cedido formalmente ao Conselho de Segurana o
direito de decidir sobre a aplicao do poder militar (salvo em casos
muito especiais de autodefesa fundamentada). De acordo com padres
de comportamento estabelecidos em sistemas de segurana coletivos,
para as resolues de interveno do Conselho de Segurana serem
eficazes basta que um nmero suficientemente grande de membros
potentes coloquem disposio suas capacidades para a realizao
de uma misso decidida em comum. A Unio Europia oferece um
exemplo convincente para o efeito vinculante de normas jurdicas
prioritrias, as quais recebem, por esse caminho circular, o "apoio" de
Estados-membros formalmente subordinados. Os meios de coero
para sancionar o direito estatudo em Bruxelas ou em Strassbourg
esto "estacionados", agora como antes, nas casernas dos Estados
singulares que colocam esse direito em prtica.
(c) Tal exemplo tambm se presta ilustrao da "hiptese da
eficcia da norma",
12
a qual tem de ser admitida para que o projeto
kantiano de uma "situao de cidadania mundial" adquira alguma
plausibilidade emprica. As construes jurdicas introduzidas pelas
elites polticas em arenas supra-estatais so frmulas cuja eficcia se
assemelha de uma antecipao que tende a se realizar por si mesma
(seif-fulfilling prophecy). Tal tipo de colocao do direito antecipa a
modificao da conscincia que tem lugar apenas no decorrer de uma
implementao gradativa. No mdium dos discursos que a acompa-
nham realiza-se, passo a passo, uma internalizao de um teor de
prescries que inicialmente so reconhecidas apenas de modo decla-
matrio. Isso vale, em igual medida, para os Estados e para os cidados.
Num processo de aprendizagem desse tipo, circularmente auto-
referencial e desencadeado de modo construtivo, modifica-se, a nvel
nacional, a compreenso dos papis das partes contratantes. No
12
Sobr e a importncia do conceit o de apr endizagem social-conslr uiivisia para a
teor ia das r elaes inter nacionais cf. ZANGL, B. e ZRN, M. |.1.+ ++1
|. Fr ankfur t/M., 2003, 118-148.
358
decorrer do processo de exercitao de cooperaes que inicialmente
foram combinadas de modo soberano, a autocompreenso de atores
coletivos que decidem transforma-se na conscincia de membros de
uma organizao, os quais so detentores de direitos e esto submetidos
a deveres. Por esse caminho, os prprios Estados soberanos podem
aprender a subordinar interesses nacionais s obrigaes que eles
assumiram na qualidade de membros da comunidade internacional
ou como parceiros de redes transnacionais.
II
Sobre a base de tais explicaes preliminares possvel soletrar
a idia kantiana de uma situao de cidadania cosmopolita de uma
forma tal que antecipa, certamente, a realidade, mas que preserva,
mesmo assim, um contato com ela. Eu gostaria de descrever a
sociedade mundial politicamente constituda, que esbocei alhures,
11
como um sistema em vrios nveis, o qual poderia viabilizar, mesmo
na ausncia de um governo mundial, uma poltica interna mundial ,
especialmente nos campos da poltica econmica mundial e da poltica
do meio ambiente. A nova estrutura da "sociedade de cidados do
mundo" (Weltbrgergesellschat), constitucionalizada, passa a ser
caracterizada por trs arenas e por trs tipos distintos de atores
coletivos, fato que a distingue do sistema do direito das gentes, centrado
em Estados e que conhecia apenas uma nica espcie de jogadores,
isto , os Estados nacionais, e dois campos de jogo, a poltica interior
e a exterior, ou melhor, assuntos internos e relaes internacionais,
A arena supranacional ocupada por um nico ator. A
comunidade internacional vislumbra sua figura institucional numa
organizao mundial capaz de agir em campos polticos bem
circunscritos sem ter de assumir, ela mesma, carter estatal. As Naes
Unidas no tm competncia para determinar nem para ampliar, de
acordo com seu arbtrio, suas prprias competncias. Elas esto
autorizadas a preencher, de modo eficaz e, especialmente, no-seletivo,
duas funes, as quais consistem em preservar a segurana
" HABERMAS, (2004), I 33ss. e 174 ss.
359
internacional e implementar, de modo global, os direitos humanos;
elas ficam, pois, confinadas a essas duas funes fundamentais, bem
determinadas. A reforma das Naes Unidas, iminente, no deve, por
conseguinte, visar apenas o fortalecimento das instituies nucleares,
mas tambm um des-entrelaamento funcional do compl exo
emaranhado de organizaes especiais e colaterais (inclusive
organizaes que se ligam a outras organizaes internacionais) que
constituem os ramos da ONU.
14
A formao da opinio e da vontade da organizao mundial
deveria, certamente, ser retroligada aos fluxos de comunicao de
parlamentos nacionais, estar aberta participao de organizaes
no governamentais autorizadas a participar de discusses e ser
expostas observao de uma esfera pblica mundial mobilizada.
Entretanto, mesmo uma organizao mundial, corretamente reformada,
compe-se diretamente de Estados nacionais, no de "cidados do
mundo" (Weltbrger). E neste particular, ela se parece mais com uma
aliana de povos do que com o Estado de povos, kantiano. Porquanto,
sem repblica mundial, no possvel a existncia de qualquer tipo
de parlamento mundial, por mais despretensioso que ele seja. Os atores
coletivos no podem dissolver-se inteiramente, sem deixar resto, na
ordem que eles prprios tm de criar, mediante um contrato ci mentado
num direito internacional das gentes, o nico instrumento disponvel
no incio. Caso pretenda ser a coluna portadora de um pacifismo legal
protegido do poder, a organizao mundial tem de ser apoiada
continuamente por centros de poder organizados na forma de Estados.
15
Ao lado dos indivduos, os Estados continuam sendo sujeitos de um
"direito de povos" transmutado em "direito de cidados do mundo"
(Weltbrgerrecht), a fim de que a comunidade internacional possa
proporcionar, em caso de necessidade, proteo dos direitos
fundamentais, mesmo quando isso implica um posicionamento con-
tra seu prprio governo.
14
Uma viso ger al sobr e a "famlia da ONU" pode ser encontr ada in: HELD, D.
0||s| (..+s+ Cambr idge, 2004, 82 s.
" Sobr e a " indispensabilidade do Estado nacional" cf. GRANDE, E. " Vom
Nationalstaat zum tr ansnationalenPolitikr egime" , in: BECK, U. e LAU, Ch.
(or gs.) |+.+,++ ++1 |+s:|.1++ Fr ankfur t/M., 2005, 384-401.
360
Na qualidade de membros da comunidade internacional, os
Estados tambm devem manter um lugar privilegiado tendo em vista
as metas de longo alcance proclamadas pelas Naes Unidas sob o
ttulo de "metas de desenvolvimento do Milnio" (Millennium De-
velopment Goals). A proteo dos "cidados do mundo" (Weltbrger),
soletrada nos pactos dos direitos humanos, no se restringe mais,
apenas, a direitos fundamentais liberais e polticos: ela se estende,
muito mais do que isso, as condies de vida materiais "autorizadoras"
que colocam os sobrecarregados e sofredores desse inundo em
condies de fazer uso ttico de seus direitos garantidos formalmente.
1(1
Hoje em dia, no palco das redes e organizaes transnacionais, j se
condensam e se sobrepem mecanismos capazes de satisfazer a
crescente necessidade de coordenao de uma sociedade mundial cada
vez mais complexa.
17
Em que pese isso, a coordenao de atores
estatais e no-estatais constitui uma forma de regulao destinada a
uma nica categoria de problemas que ultrapassam fronteiras.
Para quest es tcnicas em sent i do ampl o (tal como a
padronizao de medidas, a regulamentao das telecomunicaes
ou a preveno de catstrofes, a conteno de epidemias ou o combate
do crime organizado) bastam procedimentos da troca de informaes,
da deliberao, do controle e do acordo. E jque o demnio se encontra
sempre no detalhe, tais problemas tambm exigem o ajuste de
interesses. Mesmo assim, eles se distinguem das questes de natureza
genuinamente "poltica", as quais, como o caso das questes da
poltica da energia e do meio ambiente, das finanas e da economia -
que so relevantes em termos de distribuio - interferem em interesses
de sociedades nacionais, profundamente arraigados, e de difcil
remoo. Com respeito a tais problemas de uma futura poltica interna
mundial, existe uma necessidade de regulamentao e de configurao.
l6
Com isso, imps-se, no prprio dir eito das gentes, a concepo da " democr acia
social" que der iva da ir adio da teoria do dir eito do Estado, de Her mannHeller .
Cf. sobr e tal ponto, MEYER, Th. I|.. 1.s,s|.+ b.-|s. Wiesbaden,
2005.
17
Uma list agem impr essionant e das or ganizaes int er nacionais pode ser
encontr ada em SLAUGHTER, A. -M. 1 \. "|1 01. Pr incetone Ox-
for d, 2004. XV-XVIII.
361
Porm, ainda no temos, nem o quadro institucional, nem os atores
que poderiam suprir tal necessidade. As redes polticas existentes so
especificadas de modo funcional e formam, no melhor dos casos,
or gani zaes compost as de modo i ncl usi vo que t rabal ham
mul t i l at eral ment e, nas quais os representantes do governo -
independentemente de quem mais seja admitido - carregam a
responsabilidade e tm o poder da palavra. Por via de regra, elas no
formam, em todo caso, um quadro institucional para competncias
legisladoras ou correspondentes processos de formao da vontade
poltica. No obstante, mesmo que tal quadro fosse estabelecido, ainda
no teramos os atores coletivos capazes de colocar tais decises em
prtica. Eu penso em regimes regionais que detm um mandato de
negociao suficientemente representativo para continentes inteiros,
dispondo tambm do necessrio poder de implementao.
A poltica soment e poderia satisfazer a necessidade de
regulamentao, surgida espontaneamente, de uma sociedade mundial
e de uma economia mundial integrada de modo sistmico, isto , de
uma forma que natural somente na aparncia, se a arena intermediria
fosse ocupada por um nmero no exagerado de "jogadores globais"
(global players). E estes deveriam ser suficientemente fortes a ponto
de poderem formar coalises no fixas e equilibrios do poder flexveis
- especialmente em questes da estruturao e do controle geral do
amplo sistema de funes econmicas e ecolgicas - e negociar
compromissos obrigatrios que tenham condies de implementao.
Por este caminho, as relaes internacionais no palco transnacional
tal qual as conhecemos hoje iriam continuar a existir, porm, numa
forma modificada - j pela simples razo de que, sob um efetivo re-
gime de segurana das Naes Unidas, nem mesmo o mais poderoso
entre os global players teria permisso para apelar guerra como
meio legtimo de soluo de conflitos. O problema derivado do fato
de que na arena do meio, que a arena transnacional, no haja, por
enquanto, com exceo dos Estados Unidos, atores com capacidade
de ao, chama a ateno para um terceiro nvel, que o dos Estados
nacionais.
Tal nvel s conseguiu atingir dimenses globais na era da
descolonizao. Somente durante a segunda metade do sculo XX,
362
surgiu uma comunidade inclusiva de Estados nacionais; nesse espao
de tempo, o nmero de Estados-membros das Naes Unidas passou
de 51 para 192. Tais Estados nacionais constituem, por conseguinte,
uma formao poltica relativamente jovem. Entretanto, mesmo que
os Estados nacionais continuem a aparecer, nas arenas internacionais,
como os atores "natos" e mais poderosos, como aqueles que, agora
como antes, tomam as iniciativas, eles se encontram, hoje em dia, sob
presso. As interdependncias crescentes da economia mundial e os
riscos da sociedade mundial, que no respeitam fronteiras nacionais,
colocam exigncias excessivas aos seus fluxos de legitimao e a
seus espaos de deciso que se encontram vinculados a certos espaos
t erri t ori ai s. H mui t o t empo, os ent r ecr uzament os gl obai s
desmascararam como absurda a suposio da teoria da democracia,
segundo a qual, existe uma congruncia entre aqueles que participam
responsavelmente das decises polticas e aqueles que so atingidos
por elas.
ls
Por isso, em todos os continentes, os Estados singulares vem-
se obrigados a assumir unies regionais, em todo caso, formas de
uma cooperao mais estreita (APEC, ASEAN, NAFTA, AU,
ECOWAS, OAS etc.)". Tais alianas regionais no passam, todavia,
de incios frgeis. Caso pretendam assumir, ao nvel transnacional, o
papel de portadores coletivos de uma "poltica interna mundial"
(Weltinnenpolitik), ou seja, caso pretendam adquirir a capacidade de
ao de global players e obter a legitimao democrtica para os
resultados dos acordos transnacionais, os Estados nacionais tm de se
aglutinar em formas de cooperao que ultrapassam as formas
intergovernamentais. Somente Estados nacionais da primeira gerao
ensaiaram um salto para uma figura poltica desse tipo, mais slida.
Devido aos excessos de um nacionalismo radical que a si mesmo se
dilacerou, surgiu na Europa um impulso para uma unio poltica.
' " HELD. D.. MCGREW, A., GOLDBLATT, D., PERRATON, J. 0||s| Is+s/
niaiion. Cambr idge, 1999.
' APEC (sia - PacificEconomicCooper at ion); ASEAN (Associalionof South
East AsianNalions); NAFTA (Nor th Amer icanFr ee Tr ade Agr eement ); AU
(Afr icanUnion); ECOWAS (EconomicCommunily of West Afr icanSlaales);
OAS (Or ganizationof Amer icanSt aies) (n.t.)
363
Hoje em clia, a Unio Europia atingiu, ao menos, o estgio no
qual pode pleitear capacidade de ao global. Seu peso poltico pode
equiparar-se a regimes continentais "autctones" tal como a China e a
Rssia. No entanto, diferentemente dessas potncias, que saram
relativamente tarde da formao de antigos reinos atravs de uma
fase de socialismo estatal intermediria, a Unio Europia poderia
assumir o papel de um modelo para outras regies porque ela consegue
harmonizarem um nvel de integrao superior os interesses de Estados
nacionais que jeram independentes anteriormente, gerando, por este
cami nho, um ator coletivo numa escala no conhecida antes.
Entretanto, a Unio Europia s poderservir de modelo para a
estruturao de capacidades de ao regionais caso ela consiga atingir
um grau de integrao poltica que permita Unio perseguir, seja
i nt ernament e, seja no exterior, polticas comuns legitimadas
democraticamente.
No fiz, at agora, meno do pluralismo cultural, o qual pode
produzir efeitos "de ferrolho" nos trs nveis. A politizao das grandes
religies mundiais, que pode ser observada atualmente em todos os
paises, eleva as tenses a nvel internacional. No quadro de uma
sociedade mundial, estruturada em termos constitucionais e polticos,
tal "choque de civilizaes" (clash of civilizations), do qual se tem
conscincia hoje em dia, poderia sobrecarregar, antes de tudo, os
sistemas de negociao transnacionais. Em que pese isso, no quadro
do estabelecimento de um sistema de' vrios nveis, esboado hpouco,
o processamento desses conflitos seria significativamente aliviado caso
os Estados nacionais tivessem passado por processos de aprendizagem
e tivessem modificado, no somente sua autocompreenso, mas
tambm sua atitude.
O primeiro processo de aprendizagem tem a ver com uma
internalizao de normas da organizao mundial e com a capacidade
de defender os prprios interesses inserindo-os, de modo sagaz, em
redes transnacionais. Numa sociedade mundial constituda politica-
mente, os Estados soberanos tm de entender-se, ao mesmo tempo, e
sem lanar fora formalmente seu monoplio do poder, como membros
pacificados da comunidade internacional e como parceiros potentes
364
na organizao internacional. O outro processo de aprendizagem tem
a ver com a superao de uma situao da conscincia, renitente e
ligada historicamente formao dos Estados nacionais. Durante o
processo regional de unio de Estados nacionais, da qual resultam
atores com capacidade de ao global, a conscincia nacional, isto ,
a base existente de uma solidariedade de cidados de um Estado, j
por demais abstrata, tem de se ampliar, mais uma vez. Uma
mobilizao de massas por motivos religiosos, tnicos ou nacionalistas
torna-se tanto mais improvvel, quanto mais as imputaes de
tolerncia de um etos de cidados de um Estado democrtico tiverem
sido implementadas no mbito de fronteiras nacionais.
Aqui se levanta a objeo da "impotncia do dever ser". No
pretendo abordar, no entanto, a pretensa superioridade do projeto .
kantiano frente a outras vises de uma nova ordem mundial.'
1
'Todavia,
por mais bem fundamentados que sejam, do ponto de vista normativo,
os projetos, eles permanecem sem efeito, caso a realidade no lhes
corresponda. Hegel levantou tal objeo contra Kant. Ao invs de se
limitar a opor a uma realidade incompreensvel a idia racional, ele
pretendia elevar a factualidade (Realitt) da histria realidade
(Wirklichkeit) da idia. Hegel e Marx, entretanto, que se apoiaram em
tal retaguarda filosfico-histrica, foram desmascarados. Antes de
abordar duas tendncias histricas que aceitam um projeto kantiano
revisado, eu gostaria de lembrar o que, de modo geral, estem jogo
nesse projeto: porque se trata de saber se temos de renunciar ao mundo
de representaes de uma coletividade democrtica estruturada de
modo poltico ou se esse mundo, o qual se desenrola num plano do
Estado nacional, pode ser trasladado para uma constelao ps-
nacional.
III
As concepes moder nas da const i t ui o r efer em- se,
explicitamente, relao dos cidados ao Estado. Implicitamente,
porm, elas esboam sempre, tambm, uma ordem jurdica global
" ' HABERMAS, J. (2004) 182-193.
365
capaz de abranger a totalidade da sociedade "burguesa" (no sentido
de Hegel e Marx),
2
" portanto, a totalidade do Estado de administrao,
da economia capitalista e da sociedade de cidados. A economia entra
em jogo pelo fato de que o Estado moderno, enquanto Estado fiscal,
depende das relaes de mercado organizadas pelo direito privado. E
a sociedade civil tematizada, nas teorias do contrato social, como a
rede de relaes entre cidados - seja como as relaes entre cidados
de uma sociedade que procuram maximizar seus lucros (como o
caso do conceito de constituio liberal), seja como as relaes entre
cidados solidrios (como o caso do modelo republicano).
bem verdade que a constituio jurdica de uma coletividade
de cidados livres e iguais o tema propriamente dito de uma
constituio. Os termos "segurana", "direito" e "liberdade" colocam
o acento, de um lado, sobre a auto-afirmao interna da coletividade
poltica; de outro lado, sobre a garantia dos direitos que pessoas livres
e iguais se concedem a si mesmas na qualidade de membros de uma
associao que se administra a si mesma. A constituio fixa o modo
como o poder (Gewalt) organizado no Estado pode ser transformado
em fora legtima (Macht). Com a soluo do problema envolvendo
"direito e liberdade" se decide tambm, implicitamente, sobre os papis
a serem desempenhados pela economia, enquanto sistema funcional
portador, e pela sociedade dos cidados, enquanto fundamento da
formao pblica da opinio e da vontade, na relao com o poder de
organizao do Estado.
Com a ampliao do catlogo das tarefas estatais, que no residem
mais, apenas, na clssica manuteno da ordem e na garantia da
liberdade, tal carter abrangente da ordem constitucional, inserido
implicitamente nela, vem claramente tona. Numa sociedade
capitalista, as injustias sociais tm de ser superadas; numa sociedade
de riscos ameaas coletivas tm de ser afastadas e numa sociedade
pluralista necessrio instaurar direitos iguais de formas de vida
Porquanto esses dois elementos so inicialmente difer enciados no conceito clssico
da sociedade civil ou r eduzidos " sociedade bur guesa" . Cf. o prefcio nova
edio de HABERMAS, J. +||+s+1. 1. //.+||:||. Frankfurt/M
1990, 45 ss.
366
culturais. Nas diferenas de status, geradas de modo capitalista, nos
riscos provocados pela cincia e pela tcnica e nas tenses do
pluralismo cultural e das vises de mundo, o Estado enfrenta desafios
que no se adaptam, sem mais nem menos, aos meios da poltica e do
direito. Ele no pode, no entanto, fugir sua responsabilidade poltica
pelo todo porque ele mesmo depende, no somente das realizaes
sistemicamente integradoras dos sistemas funcionais privados, por
conseguinte, em primeira linha, da economia, mas tambm das
realizaes socialmente integradoras da sociedade dos cidados. O
Estado que prove e previne a existncia tem de familiarizar-se,
moderadamente, com o sentido prprio dos sistemas funcionais e com
a dinmica prpria da sociedade dos cidados.
21
Expresso desse novo
estilo so os sistemas de negociao corporativistas, no interior dos
quais, no entanto, o Estado tem de continuar se orientando, agora
como antes, pela constituio - ou por uma interpretao da
constituio adaptada s circunstncias do tempo.
A referncia da constituio trade constituda pelo Estado,
pela economi a e pela soci edade ci vi l , pode ser expl i cada
sociologicamente quando se considera que todas sociedades modernas
so integradas precisamente por trs meios - podemos caracteriz-los
como "poder", "di nhei ro" e "ent endi ment o". Em sociedades
diferenadas de modo funcional, estabelecem-se relaes por meio
da organizao, do mercado e da formao de um consenso (isto ,
por meio da comunicao lingstica, por meio de valores e por
normas). Tipos correspondentes da socializao condensam-se no
21
Cf. o cader no de temas para a tr ansfor mao do Estado, editado por: LEIBFRIED,
St. e ZRN, M.: |+.s+ |... 13, suplemento I (maio de 2005), bem
como a listagem ilustr ativa das tar efas do Estado na intr oduo dos editor es: "A
new per spective onthe State" , 2: " O Estado r egula o mer cado de tr abalho,
dir ige a economia, per segue o cr ime e pr ove difer entes for mas de educao; ele
r egula o trfego, pr ove uma estrutura para a democr acia, negcios prprios,
entra em guerra e r edige tratados de paz, cria uma estrutura legal confivel, d
supor te ao bem-estar social, constri ruas, pr ove a gua, impe o servio militar ,
mantm o sistema de penses, r ecolhe taxas e dispe de 40% do produto nacional
br uto, r epr esenta os inter esses nacionais e ger almente r egula a vida cotidiana,
descendo at os mnimos detalhes."
367
Estado burocrtico, na economia capitalista e na sociedade civil. A
constituio poltica tem como meta colocar tais sistemas em forma
com o auxlio do mdium do direito e correlacion-los entre si, de tal
sorte que eles possam preencher suas funes de acordo com a medida
de um suposto "bem comum". E a fim de fornecer uma contribuio
para a maximizao do bem comum, a constituio deve prevenir,
lanando mo da capacidade estruturadora de uma ordem jurdica
global, desenvolvimentos falhos de sistemas especficos.
Nesta linha, o poder organizacional do Estado deve garantir
direito e liberdade, sem descarrilar para os lados do poder repressivo,
da tutela paternalista ou da coero normalizadora. A economia deve
promover produtividade e bem-estar sem ferir os padres da justia
distributiva (ela deve promover o maior nmero possvel, mas sem
prejudicar ningum); e a sociedade civil deve engajar-se pela
solidariedade de cidados independentes, sem descambar para o
coleti vismo ou para a integrao coagida e sem provocar fragmentao
ou polarizao das vises de mundo. O bem comum, postulado, no
estameaado apenas pelos "fracassos do Estado" (insegurana do
direito e opresso), mas tambm por "fracassos do mercado" e pela
evaporao da solidariedade. O carter indeterminado do bem comum,
que questionado em sua natureza," fruto da falta de equilbrio
entre essas duas grandezas independentes, o qual precisa ser
estabelecido.
Mesmo quando o Estado preenche suas tarefas genunas de
manuteno da ordem e de garantia da liberdade, ele no consegue
manter ininterruptamente o requerido nvel de legitimao caso uma
economia bem-sucedida no consiga gerar as condies para uma
distribuio dos ressarcimentos sociais, que seja aceita, e caso uma
sociedade de cidados no consiga produzir motivos para uma medida
razovel de orientaes pelo bem comum.
21
0 mesmo vale vice-versa.
22
OFFE, C. " WessenWohl ist das Gemeinwohl?" in: WINGERT/GNTHER,
(2001)459-488.
21
HOFMANN, H. " Ver fassunsr echt liche Annaher ung anden Begr iff des
Gemeinwohls" , in: MNKLER, H. e FISCHER, K. (or gs). 0.-.+||
++1 0.-+s++ - |.:|| Ber lim, 2002, 25-42.
368
Por isso, a constituio coloca nos ombros do Estado democrtico
uma responsabilidade paradoxal pelos pressupostos da existncia
econmica e cultural da coletividade poltica, a qual ele pode, verdade,
influenciar e promover com os meios da presso poltica e da coao
jurdica, os quais esto sua disposio. Ele pode, com isso, "torn-
los controlveis" politicamente; mesmo assim, ele no pode garantir
juridicamente o sucesso. O desemprego e a segmentao social, do
mesmo modo que a falta de solidariedade, no so expulsos do mundo
por meio de proibies ou de medidas administrativas.
Existe uma assimetria entre a imagem da sociedade, inscrita na
constituio, e o alcance limitado dos meios de configurao poltica,
dos quais o Estado dispe. Tal assimetria no foi prejudicial enquanto
a economia poltica se encaixava na moldura do Estado nacional e
enquanto e solidariedade se alimentava da conscincia nacional de
uma populao mais ou menos homognea. Enquanto o sistema do
livre comrcio do Hemisfrio Ocidental, estabelecido aps o ano de
1945, mantinha um cmbio fixo, as fronteiras para o comrcio
internacional estavam abertas, porm, os sistemas da economia, que
continuavam inseridos em contextos sociais nacionais, eram sensveis
a intervenes do Estado. E uma vez que, nessas circunstncias, os
governos nacionais mantinham um grande espao para os seus prprios
territrios - o qual tambm era aceito como suficientemente grande -
era possvel tomar como ponto de partida uma controlabilidade poltica
dos processos sociais detentores de relevncia pblica.
Acompanha a suposio da "controlabilidade poltica" a
construo jurdico-constitucional de uma sociedade que, por meio
de agncias estatais, age sobre si mesma conforme a vontade de seus
cidados. A substncia democrtica de uma constituio, a qual faz
dos cidados autores das leis s quais eles mesmos, enquanto
destinatrios, esto submetidos, depende da possibilidade de um tal
auto-influenciamento. Somente proporo que uma sociedade estiver
em condies de influenciar a si mesma por meios polticos, a
autonomia poltica dos cidados pode adquirir contedo. E em nosso
contexto, tal ponto decisivo. Entretanto, os canais de legitimao do
Estado nacional jforam sobrecarregados, ato limite do que
suportvel normativamente, com a ampliao dos domnios de
369
responsabilidade poltica e da instaurao de sistemas de negociao
corporativistas.
24
No obstante isso, a partir do momento em que se
passou para um regime econmico neoliberal, tal limite foi ultrapassado
definitivamente.
Hoje em dia, assistimos a uma privatizao cada vez mais ampla
de realizaes que at agora, por boas razes, eram reservadas ao
Estado nacional. Com a transmisso para empreendedores privados,
afrouxam-se os laos que prendiam tais servios e produes ao texto
de uma constituio. Isso tanto mais arriscado quanto mais a
privatizao atingir esferas nucleares do poder de soberania - segurana
pblica, foras armadas, sistema penal ou a gerao de energia. O
legislador democrtico, no entanto, ainda submetido, alm disso, a
um outro tipo de despotencializao, a partir do momento em que a
gl obal i zao da economi a, desejada politicamente, passou a
desenvolver uma dinmica prpria. Porquanto agora, os processos
sociais que so relevantes para a garantia da liberdade e da segurana
do direito, para a justia distributiva e para a convivncia com igualdade
de direitos subtraem-se ao controle poltico, numa proporo cada
vez maior. Agudi za- se, em todo caso, a assi met ri a ent re a
responsabilidade atribuda ao Estado democrtico e o espao real de
sua influncia.
25
Com a desregulamentao e o desconfinamento dos fluxos de
informao e de comrcio internacionais em muitas outras dimenses
surge uma necessidade de regulamentao, a qual captada e
processada por redes e organizaes transnacionais. Mesmo quando
h a colaborao dos funcionrios dos governos nacionais, as decises
dessas redes polticas interferem profundamente na vida pblica dos
Estados nacionais, mesmo sem estarem conectadas aos fluxos de
legitimao destes ltimos. Michael Zrndescreve as conseqncias
de tal desenvol vi ment o da seguinte maneira: "Os processos
democrticos que preparam as decises nos Estados nacionais esto.
" GRI MM, D. b. /+|++/ 1. './sss++ Fr ankfur t/M., 1991, 372-396; id.
" Bedingungen demokr atischer Rechlsset/.ung" , in: WINGERT/GNTHER
(2001), 489-506, aqui, 500 ss.
25
HELD, D. e MCGREW. A. (or gs.). I|. 0||s| Is+s/-s|+s |.s1. Cam-
br idge, 2000.
370
por conseguinte, perdendo sua ancoragem. Eles so suplantados por
organizaes e atores que realmente so, de modo geral, responsveis,
de uma forma ou de outra, por seus governos nacionais, mas que so,
ao mesmo tempo, mais remotos e inacessveis aos que se envolvem
nacionalmente nas regulaes em questo. Dado o fato da extenso
da intromisso dessas novas instituies internacionais nos negcios
das sociedades nacionais, a noo de autoridade 'delegada e por isso
controlada' no se mantm mais no sentido principal e agente."
26
Caso tal descrio esteja correta, a constelao ps-nacional nos
coloca perante uma alternativa desconfortvel: Ou abandonamos a
idia, pretensiosa, de uma constituio tida como associao de cida-
dos livres e iguais que se administra a si mesma, dando-nos por satis-
feitos com uma interpretao sociologicamente desenganada de demo-
cracias e Estados de direito, dos quais permanecem apenas as fachadas.
Ou ns temos de tomar a idia remanescente da constituio e dissoci-
la do substrato do Estado nacional, revivificando-a, a seguir, na figura
ps-nacional de uma sociedade mundial constituda politicamente.
Naturalmente no suficiente mostrar, luz de um experimento men-
tal filosfico, como o contedo normativo da idia pode ser
suprassumido conceituai mente em uma "sociedade de cidados do
mundo" (Weltbiirgergesellschaft) desprovida de governo mundial. A
idia deve poder contar com um correlato emprico situado no prprio
inundo.
H muito tempo j, os Estados nacionais enredaram-se em depen-
dncias de uma sociedade mundial altamente interdependente. Por
meio dos fluxos cada vez mais acelerados da informao e da
comunicao, por meio de movimentos de capital, em escala mundial,
fluxos de comrcio, cadeias de produo e transferncias de
tecnologias, por meio do turismo em massa, da migrao do trabalho,
da comunicao cientfica, et c, os sistemas parciais de tal sociedade
mundial perpassam, sem a menor dificuldade, as fronteiras nacionais.
Tal sociedade global, do mesmo modo que as sociedades nacionais,
serintegrada pelos mesmos meios que so o poder, o dinheiro e o
:,
'ZRN. M. " Global Gover nance and Legilimacy Pr oblems" , in: 0..+-.+
s+1 0s+ 39. 2 (2004), 260-287, aqui, 273 s.
371
entendimento. Por que deveria uma constituio, que ao nvel nacional
enfrentou com sucesso tais mecanismos de integrao lanando mo
dos meios da poltica e do direito, fracassar no nvel transnacional ou
supranacional? Eu no encontro nenhum argumento de cunho social
ou ontolgico que obrigue a aceitar a idia de que a solidariedade de
cidados de um Estado e a capacidade de conduo da constituio
poltica deva ser confinada em limites nacionais. No entanto, como j
foi dito, o experimento mental filosfico que permite mostrar o modo
como o contedo normativo da idia da constituio pode ser
suprassumido conceitualmente em uma sociedade de cidados do
mundo desprovida de governo mundial, no suficiente.
Num sistema global de vrios nveis, a clssica funo de ordem,
que atribuda ao Estado, isto , a garantia de segurana, de direito e
de liberdade seria transferida para uma organizao mundial
supranacional, especializada nas funes da garantia da paz e da
i mpl ement ao global dos direitos humanos. No entanto, tal
organizao seria desonerada das tarefas imensas de uma poltica
interna mundial, as quais consistem no somente em superar o extremo
desnvel do bem-estar da sociedade mundial estratificada, em
redirecionar fardos ecolgicos desiguais e em afastar ameaas
coletivas, mas tambm em implementar um entendimento intercul-
tural com o objetivo de conseguir efetivamente direitos no dilogo
das civilizaes mundiais. Tais problemas exigem um outro modo de
elaborao no quadro de sistemas de negociao transnacionais. Eles
no podem ser solucionados por um caminho direto, no qual se lana
mo do poder e do direito contra Estados nacionais incapazes ou
recalcitrantes. Eles atingem a prpria lgica dos sistemas de funes
que ultrapassam fronteiras e o sentido prprio das culturas e religies
mundiais com as quais a poltica tem de se acertar pelo caminho de
um controle e de um equilbrio inteligente de interesses, bem como
atravs de uma abertura hermenutica.
Na busca por tendncias que, na prpria sociedade mundial,
faam jus idia de uma constituio de cidados do mundo, a
distino entre um plano transnacional e outro supranacional permite
dirigir o olhar, de um lado, para a iminente reforma das Naes Unidas
(IV), e, de outro lado, para a dinmica que resulta do dficit de
372
legitimao das formas existentes de governo global {global gover-
nante), que so sentidas de modo cada vez mais ntido (V).
IV
Na reflexo sobre o abismo que se abre entre "ser" (Sein) e "dever
ser" (Sollen), JohnRawls tinha feito uma distino entoe "teoria real"
e "teoria ideal". Em que pese isso, tal distino metdica ainda no
suficiente para uma destranscendentalizao eficaz da distino
kantiana entre o inundo dos noumena e o inundo dos fenmenos.
Idias tm acesso realidade social por meio de pressuposies
inevitavelmente idealizadoras de nossas prticas cotidianas e obtm,
por esse caminho imperceptvel, a fora de resistncia tpica de fatos
sociais. Cidados, por exemplo, participam de eleies polticas porque
eles pensam, na sua perspectiva participante, que seu voto conta
independentemente daquilo que os politlogos, na perspectiva no-
efusiva de um observador, informam sobre a geografia e os
procedimentos das eleies. E clientes continuam a apelar para os
tribunais na expectativa de que o seu caso seja avaliado de modo
imparcial e decidido corretamente, independentemente daquilo que
professores de direito e juizes proferem sobre a indeterminidade de
normas e procedimentos. As idias, no entanto, s desenvolvem sua
eficcia por meio de pressuposies idealizadoras de prticas j
estabelecidas ou exercitadas. Somente depois que as prticas
encontraram apoio, por exemplo, em instituies constitudas
juridicamente, necessrio levar a srio tambm, na qualidade de
fatos, as fices ou suposies com as quais operam.
As Naes Unidas constituem uma instituio desse tipo. No
quadro de tal instituio do direito internacional das gentes formaram-
se, ao longo de dcadas, novas prticas e procedimentos com forte
carga normativa. Pretendo examinar o contedo de realidade do projeto
kantiano tomando como fio condutor uma reforma desta organizao
mundial, a qual se encontra em andamento. Com isso, abandonamos
o solo de uma teoria desenvolvida, em primeira linha, com argumentos
normativos, e passamos para uma interpretao construtiva de um
mbito do direito positivo que se encontra em rpido desenvolvimento.
373
Entrementes, o direito das gentes adaptou-se ao modo de validade do
direito estatal modificando, destarte, seu status. No plano transnacional
"trata-se de uma nova mistura de direito estatal e supra-estatal, de
contratos privados e de direito pblico"; no plano supranacional
"forma-se, alm disso, um direito constitucional".-
7
Com isso, perdeu
sentido, no entanto, a controvrsia que se desenrolava entre uma
compreenso dualista da relao entre direito estatal e direito das gen-
tes (Vlkerrecht), e a doutrina monista que prope uma dissoluo de
ambos os direitos, o estatal e o das gentes, internacional, num sistema
jurdico global.
28
De qualquer modo, hoje em dia, para muitos especialistas, o
desenvolvimento acelerado do direito das gentes apresenta-se como
uma "const i t uci onal i zao" i mpul si onada pela comuni dade
internacional dos Estados com a finalidade de fortalecer a posio
jurdica de pessoas de direito, individuais, as quais foram revalorizadas
em termos de cidados do mundo e de sujeitos de um direito
internacional (das gentes).
29
A prpria comisso designada por Kofi
Annantoma como um ponto de partida evidente a idia de que a
reforma necessria da organizao mundial se desenrola na mesma
direo estabelecida pela Carta da ONU, a qual englobava quatro
inovaes de grande envergadura. Porquanto ela tinha,
27
PETERS, A. " Wie unktionierl das Vlkerrecht?", in: |ss|. |+s|s1
4.|++.+ Fever eir o 2004, 24; ZANGL, B. "Is there anemer ging inlerna-
tional r uleof law?" , in: |+.s+ |... 13, Suplemento I (maio 2005) 73-
91.
2K
KELSEN, H. " Sover eignt y" , in: PAULSON, St. e LI TSCHEWSKI , B-
PAULSON (or gs.). \-s|.; s+1\-s Oxbrd, 1998, 525-536
2
" TOMUSCHAT,C.
1
O painel de alto nvel sobr e "Ameaas, desafios e mudanas" I|.ss (||
|.+.s s+1 (|s+.; (cit ado aqui como " TCC" ) apr esentou, em 01 /12/2004.
um relatrio de cuj o contedo Kofi Annanlanou mo em seu discur so sobr e
a r efor ma da ONU, pr onunciado em 31/05/2005 e publicado in: |s. |..
1- Is1s b...|-.+ .:+; s+1 |..1- / s| (LF). Cf. o
pr imeir o posicionament o de FASSBENDER, B. " UN-Refor m und kolleklive
Sicher heit " , in: HEINRICH BLL SI TUFTUNG (ed.) 0||s| |ss+. |s.s
n 17, abr il 2005.
374
(a) (seguindo as pegadas de Kant), entrelaado explicitamente a
meta da garantia da paz com uma poltica da implementao, a nvel
mundial, de direitos humanos;
(b) reforado a proibio da violncia apoiando-a na ameaa de
sanes e de intervenes capazes de forar a paz (e aberto, com isso,
a perspectiva de uma penalizao da guerra quando utilizada como
um mecanismo de soluo de conflitos entre os Estados);
(c) relativizado a soberania dos Estados em particular luz do
objetivo do paz mundial e da segurana coletiva;
(d) e estabelecido, mediante a incluso da totalidade dos Estados
numa organizao mundial inclusiva, um pressuposto importante para
a prioridade e a fora vinculante e universal do direito da ONU.
(a) Ao contrrio da Liga das Naes, a carta da Organizao das
Naes Unidas (ONU) une (no Artigo 1, n 1 e 3) o objetivo da paz
mundial ao "respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades
fundamentais de todos sem considerao de raa, sexo, lngua ou
religio". Tal obrigao de implementar no mundo princpios
constitucionais que at agora eram garantidos apenas no interior de
Estados nacionais determinou, de modo cada vez mais freqente, a
agenda do Conselho de Segurana, levando, durante as ltimas
dcadas, a uma interpretao cada vez mais extensiva dos casos de
ruptura da paz, da agresso e da ameaa da segurana internacional.
Como conseqncia de tais desenvolvimentos, a Comisso de Reforma
ampliou o "novo consenso de segurana" estendendo-o trade
indivisvel composta de: rechao dos perigos, garantia de direitos
individuais de liberdade e de participao e emancipao de condies
de vida indignas do homem. Ela no somente amplia as fontes clssicas
de perigos, que resultavam apenas de conflitos entre Estados singulares,
mas passa a incluir, tambm, a guerra civil e a violncia no interior do
prprio Estado, o terrorismo internacional, a posse de armas de des-
truio em massa e o crime organizado a nvel transnacional; ela alarga
tal catlogo das fontes de perigos com o olhar fixo nos paises em
desenvolvimento, onde h uma deprivao macia da populao pela
pobreza e a doena, marginalizao social e destruio do meio
ambiente.
375
Deste modo, a manuteno da segurana internacional diluda
conceitualmente pelo postulado da observncia dos pactos (votado
na Assemblia Geral de 1966) tendo em vista os direitos cidados e
polticos, econmicos, sociais e culturais. Nesse ponto, a Comisso
promove conscientemente uma desmilitarizao do conceito de
segurana quando alerta, por exemplo, para o fato de que a epidemia
internacional de gripe de 1919 provocou, segundo estimativas, mais
de cem milhes de mortos no espao de um ano,
11
ou seja, exigiu
mais vtimas do que as lutas militares sangrentas durante toda a I
Guerra Mundial: "Qualquer evento ou processo que leva morte em
larga escala ou que diminui as chances de vida e solapa O Estado
como a unidade bsica do sistema internacional algo que tem a ver
com a segurana internacional." (TCC, 12)
(b) O ncleo da Carta das Naes Unidas formado pela
proibio geral da violncia e pela autorizao, conferida ao Conselho
de Segurana, de empregar sanes adequadas nos casos em que tal
proibio violada. Prescindindo das medidas de coao, que a prpria
ONU toma, a proibio geral da violncia restringida apenas por
meio de um direito, bem circunscrito, autodefesa no caso de um
ataque claramente identificvel e iminente. A Comisso fortalece, de
um lado, a prerrogativa de deciso do Conselho de Segurana,
colocando-a acima das superpotncias que pretendem ter um direito a
ataques preventivos.
12
De outro lado, ela insiste no direito do Conselho
de Segurana, o qual pode ordenar uma interveno militar: "O uso
da fora, autorizado coletivamente, pode no ser a regra hoje em dia,
mas no constitui mais uma exceo" (TCC, 81). Ela tambm acentua
isso tendo em vista a prtica, entrementes exercitada, de intervir em
conflitos intra-estatais: "Ns endossamos a norma emergente de que
constitui responsabilidade coletiva internacional proteger, no caso de
" Os histor iador es contestam o nde 100 milhes, for necido em TCC, 19. Isso no
modifica, no entanto, o tamanho da tragdia.
" TCC, 189 s.: " E pouco evident e que a aceit ao inter nacional da idia de
segurana seja melhor pr eser vada por um equilbrio do poder do que por
uma super potncia em par ticular .
376
genocdio e de outras formas de assassinato em larga escala, de
"limpezas" tnicas ou de violaes srias do direito humanitrio
internacional que governos soberanos no podem ou no querem
prevenir." (TCC, 203)
Sobre a base de uma anlise das falhas e dos erros at agora
cometidos, desenvolve-se uma crtica inacreditvel seletividade da
percepo e ao escandaloso tratamento desigual de casos similarmente
relevantes (TCC, 86-88,201).-" O relatrio tambm formula sugestes:
- para uma especificao mais precisa das possveis sanes e
para sua fiscalizao;
- para uma diferenciao mais adequada entre as misses
destinadas a manter a paz .s:.|..+; e as destinadas a promov-
la de modo mais intenso {j..s:.~.+//(|+;
- para a avaliao correta das tarefas construtivas de uma
configurao ps-conflictual da paz (post-conflict peace-building),
das quais a ONU no pode eximir-se aps uma interveno militar,
- e para condies extremas que exigem o emprego legtimo da
fora {seriousness ofthreat, properpurpose, last resort, proportional
means, balance ofconsequences).
Em que pese isso, a Comisso no se manifesta sobre a questo
das conseqncias do uso da fora quando este no mais atribuio
das foras armadas, mas de uma polcia mundial para o humanitrio
direito das gentes: Quando foras armadas executam uma misso
decidida pelo Conselho de Segurana, no se trata mais de uma
delimitao civilizadora de um poder de guerra, mas da obrigao de
um uso da fora policial para proteger direitos fundamentais de
cidados do mundo, contra seus prprios governos nacionais, ou con-
tra um ouo poder intra-estatal saqueador.
" TCC, 41: " Com demasiada freqncia, as Naes Unidas e seus Esiados-membr os
abordaram de modo discriminatrio assuntos da segurana inter nacional. Basta
contr astar a pr esteza com a qual as Naes Unidas r esponder am aos ataques do
11 de setembr o de 2001 com suas aes quando confr ontadas com um lato que
, de longe, muito mais mortal: de abril de 1994 at meados de j ulho do mesmo
ano, Ruanda foi vtima de algo equivalente a trs ataques do 11 de setembr o, a
cada dia, dur ante 100 dias. Isso em um pais cuja populao eqivalia apenas a
trinta e seis avos da populao dos Estados Unidos.
377
(c) Entretanto, quando nos apoiamos apenas no teor literal da
Carta, topamos como uma tenso entre o Artigo 2, n 7 - que parece
confirmar a proibio de interveno do clssico direito internacional
das gentes - e o Captulo VII, o qual concede ao Conselho de Segurana
direitos de interveno. Na prtica, tal inconsistncia criou inmeros
obstculos ao trabalho do Conselho de Segurana, especialmente
quando se tratava de enfrentar catstrofes humanitrias que aconteciam
sob a capa da soberania de um regime criminoso ou cmplice de
crimes.
14
A comunidade internacional viola sua obrigao de garantir,
em escala mundial, proteo aos direitos do homem, quando se limita
a assistir impvida, sem intervir, a assassinatos em massa, a
violentaes em massa, a limpezas tnicas e expulses ou a uma
poltica de propagao de epidemias e da fome (TCC, 200-203). A
Comisso lembra que as Naes Unidas no so apenas fruto de um
projeto utpico. Ao invs disso, a construo do Conselho de Segurana
deveria fazer com que "princpios" fossem revestidos de suficiente
"poder poltico" a fim de submeter relaes internacionais a um direito
coativo (TCC, 13 s.).
Com a crescente descentralizao dos monoplios do poder, isso
s pode funcionar se ao Conselho de Segurana for atribuda tanta
autoridade que ele possa colher, em 1s os casos, junto a membros
cooperativos, potenciais de sano para a implementao do direito
das Naes Unidas, que prioritrio. As propostas para a reforma do
Consel ho de Segurana - tendo em vista a composi o, os
procedi ment os de escolha e o equi pament o - servem para o
fortalecimento da disposio de cooperar de membros potentes e para
TCC, 199: "A Carta das Naes Unidas no to clara como poder ia ser quando
se trata de salvar vidas em paises em situao de atr ocidade de massa. Ela
' reafirma a nos dir eitos humanos fundamentais' mas no pode lazer muito
para pr ot eg-los, e o Ar tigo 2.7 probe a inter veno ' em assuntos que se
encontr am essencialmente dentro da jur isdio de cada Estado' . Como r esultado,
houve uma longa ar gumentao na comunidade inter nacional entre aqueles que
insistem sobre um ' direito de inter veno' em catstrofes pr ovocadas pelo homem
e aqueles que ar gumentam que o Conselho de Segurana [...] no pode autorizar
nenhum tipo de ao coer citiva contra Estados sober anos em nenhum tipo de
event o que ocor r a dentr o de suas fr onteir as."
378
o "enfaixamento" de uma superpotncia para a qual o processo de
modificao da autocompreenso, o qual implica uma passagem da
idia de jogador autnomo para a de um jogador participante, muito
mais difcil - por razes bvias.
Em certos casos, a proibio da fora e os direitos humanos
fundamentais tm de ser implementados, contra Estados nacionais
singulares incapazes ou recalcitrantes, com o auxlio das capacidades
dos outros Estados-membros, unidas num feixe, cada um dos quais
continua monopolizando, agora como antes, os meios do uso legtimo
da fora. O exemplo da Unio Europia revela que isso no constitui
apenas uma premissa irrealista; porm, ela ainda no foi solucionada
no plano supranacional da organizao mundial. Deve ser colocada
nesse contexto a recomendao de que o Conselho de Segurana
precisa cooperar de maneira mais estreita com as alianas regionais.
Porquant o t udo indica que as foras ar madas, si t uadas nas
proximidades dos locais em que se encontram as misses das Naes
Unidas, tm especial responsabilidade por suas prprias regies.
Sob a premissa da utilizao dos monoplios estatais do poder
para a implementao de um direito de status superior, possvel
solucionar, de maneira elegante, a questo dogmtica que tem a ver
com compreenso da "igualdade soberana" dos Estados: "Ao assinar
a Carta das Naes Unidas, os Estados no somente se beneficiam
dos privilgios da soberani a, mas tambm acei t am suas
responsabilidades. No importa o tipo de percepes que tenham
prevalecido quando o sistema westfaliano deu origem noo de
Estado soberano: hoje em dia, ele carrega consigo a obrigao de um
Estado que deve proteger o bem-estar de seus prprios povos e arcar
com suas obrigaes para com a comunidade internacional mais
ampla." (TCC, 29). O Estado nacional continua equipado, agora como
antes, com competncias fortes, porm, agora, ele opera como um
agente falvel da comunidade mundial. O Estado soberano tem por
tarefa garantir, no mbito das fronteiras nacionais, os direitos humanos
positivados na forma de direitos fundamentais; o Estado constitucional
preenche tal funo em nome de seus cidados unidos democra-
ticamente. Todavia, na qualidade de sujeitos do direito das gentes -
isto , enquanto "cidados do mundo" ".||u.; tais "cidados
379
do Estado" (Staatshiirger) tambm transferiram, ao mesmo tempo,
organizao mundial uma espcie de "garantia por perdas e danos", a
qual permite que o Conselho de Segurana assuma uma funo da
garantia de direitos fundamentais nos casos em que o governo de uma
nao no for mais capaz disso ou no tenha vontade de promover
isso.
(d) A "Liga das Naes" pretendia contigurar-se apenas como
uma espcie de vanguarda de Estados liberais; ao passo que a
"Organizao das Naes Unidas" (ONU) estabeleceu, desde o incio,
a incluso de todos os Estados. Hoje em dia, elas abrangem tambm,
ao lado de Estados constitudos de modo liberal, regimes autoritrios,
s vezes despticos ou criminosos, os quais ferem, em sua prtica, o
teor da Catta - que eles reconhecem formalmente - ou as resolues
das Naes Unidas - que eles mesmos sustentam. De sorte que^ no
prprio instante em que preenchida uma condio necessria para a
val i dade uni versal de um "di rei t o const i t uci onal mundi al "
(Weltverfassungsrecht), sua fora vinculante desmentida. Essa tenso
entre facticidade e validade, com a qual se conta, conscientemente,
aparece de modo drstico no caso das violaes dos direitos humanos,
as quais so cometidas pelas grandes potncias que tm poder de veto,
podendo bloquear todas as medidas do Conselho de Segurana
dirigidas contra elas. Por razes semelhantes, a credibilidade de outras
instituies e procedimentos foi corrompida pelo emprego de dois
tipos de medidas. Isso valespecialmente para a prtica da comisso
dos direitos humanos, que deve ser inteiramente reformulada: "O
estabelecimento de padres para reforar os direitos humanos no
pode ser realizado por Estados que no demonstram compromisso
com sua promoo e proteo." (TCC, 283)^
De outro lado, a diferena de nvel entre norma e realidade
tambm exerce uma presso de adaptao em sentido contrrio sobre
Estados-membros autoritrios. A percepo internacional modificada
e a discriminao pblica de Estados que rompem os padres de
segurana e de direitos humanos, estabelecidos, levaram a uma
"Sobrea pr oposta institucional apr esentada por Kofi Annanpara a for mao de
um novo conselho para os dir eitos humanos, cf. Label France (LF), 181-183.
380
materializao da prtica de reconhecimento do direito das naes. O
princpio da efetividade, segundo o qual, para se ter o reconhecimento
da soberania de um Estado suficiente a manuteno do direito e da
ordem sobre o prprio territrio, j foi superado amplamente e
substitudo pelo princpio da legitimidade.
16
Os relatrios que
regularmente so publicados sobre organizaes que operam em todo
o mundo tal como Human Rights Watch ou Amnesty International
contribuem essencialmente para que os Estados injustos percam sua
legitimidade.
Nesse contexto, o desejado reconhecimento do Tribunal Penal
Internacional assume uma importncia especial. J que a prtica de
deciso de um tribunal, o qual especificasse os latos apenveis luz
de um direito internacional, poderia influenciar decises futuras do
Conselho de Segurana, o que conferiria maior fora a um direito
supranacional e o protegeria contra as pretenses de soberania de
Estados com reputao duvidosa, e reforaria, em geral, a autonomia
das Naes Unidas contra os "monopolistas" do poder do Estado.
Isso tambm robusteceria e conferiria autoridade voz de uma "esfera
pblica mundial" (Weltffentlichkeit), difusa, a qual se comove com
os crimes polticos em massa e com regimes injustos.
V
Atingimos, com isso, a questo referente necessidade de
legitimao e capacidade de legitimao de decises polticas em
organizaes internacionais. Elas subsistem sobre a base de acordos
multilaterais entre Estados soberanos. Quando tais organizaes so
sobrecarregadas com as tarefas de "governar alm das fronteiras do
Estado nacional", acrescente necessidade de legitimao ultrapassa o
modo e a medida da legitimao de que gozam os contratos celebrados
no mbito do direito das gentes, em caso ideal, luz da constituio
democrtica das partes que celebram o contrato. Nas prprias Naes
" FROWEIN, .1. A. " Konslitutionalisier ung des Volker r echts" , in: '||..:|| ++1
+|.-s|+s|.s |.:|| + /+.- s:| ||s|s..+1.+ +.+s+s|.+ ;s.-
|.:|+ 1. b.+s:|.+ 0.s.||s:|/ '||..:|| Vol. 39, Heidelber g, 2000.
427-447, aqui 444429 ss.
381
Unidas, que devem vigiar a segurana internacional e a manuteno
de padres de direitos humanos, parece que existe tal desproporo.
A comisso encarregada da reforma recomenda a incluso, nas
del i ber aes da Assemblia Ger al , de or gani zaes no
governamentais (TCC,24), o que permitiria aumentar, ao menos, a
aceitabilidade das decises da organizao mundial na esfera pblica
mundial. Ligaes transversais com os parlamentos nacionais dos
Estados-membros talvez forneam novos subsdios." A conveno,
segundo a qual. os "assuntos externos" competem aos arcanos dos
executivos, torna-se obsoleta, proporo que a soberania estatal que
estava construda sobre competncias de deciso de um sindivduo,
trasladada para competncias de co-deciso. No nos iludamos,
todavia: porque tais reformas, mesmo desejveis, no so suficientes
para se criar uma ligao adequada entre as decises supranacionais e
os caminhos de legitimao, os quais funcionam democraticamente
no interior de um Estado. O abismo existente no subrepujado.
De outro lado, necessrio enfrentar a seguinte questo: ser
que a forma de legitimao resultante de uma colaborao entre um
Conselho de Segurana reformado e um tribunal penal reconhecido
universalmente "IntemaHomlerStmfgerichtshof'^
a exigir uma ponte para sobrepujar tal abismo? luz de uma
observao mais atenta, descobre-se que a questo da legitimao
tem de ser colocada, e respondida, em dois planos distintos, a saber, o
supranacional e o transnacional. proporo que o direito internacional
das gentes segue a peculiar trilha lgica do desenvolvimento e da
explicao de direitos humanos, e proporo que a poltica
internacional se orienta por tal desenvolvimento, o plano supranacional
reserva tarefas que so mais de cunho jurdico do que poltico. E numa
sociedade mundial constituda politicamente as coisas ocorreriam dessa
forma. Duas razes favorecem a suposio de que a insero de uma
organizao mundial reformada em uma esfera pblica poltica
suficiente para conferir s decises de duas de suas instituies centrais,
as quais no so, mesmo assim, majoritrias, uma legitimao
suficiente.
BUMMEL, A. |+.-s|+s|: b.-|+|. .+:|.|+ Sluttgarl, 2005.
382
Suponhamos que o Conselho de Segurana se ocupe de questes
da garantia da paz e da proteo dos direitos humanos, submetidas a
deciso judicial (Justiziable) seguindo regras eqitativas, no-seletivas,
imparciais. E suponhamos, alm disso, que o ISTGH tenha decomposto
e determinado os fatos principais (provisoriamente caracterizados
como genocdio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e de
agresso) de modo dogmtico. Uma vez caracterizados dessa forma,
a organizao mundial poderia contar, como pano de fundo, com um
amplo consenso, em trs sentidos: concordncia quanto aos objetivos
polticos da concepo de segurana materialmente ampliada;
concordncia quant o base legal das convenes do direito
internacional das gentes e dos pactos sobre direitos humanos votados
pela Assemblia Geral e jratificados por mui t os Est ados
(concordncia quanto ao ncleo do jus cogens do direito das gentes);
e concordncia quanto ao modo pelo qual uma organizao mundial
reformada processa suas tarefas. Tal prtica pode obter reconhecimento
caso ela, conforme esperamos, se ativer a princpios e procedimentos
que reflitam o resultado de processos de aprendizagem democrticos
no longo prazo. A confiana na fora normativa do atual procedi mento
conforme a justia pode alimentar-se de uma ant eci pao de
legitimao que as histrias exemplares de democracias comprovadas
colocam, de certa forma, disposio da memria da humanidade.
Tais suposies de consenso no explicam ainda, verdade, qual
a razo que nos leva a atribuir uma funo crtica esfera pblica
mundial. O prprio Kant, no entanto, era otimista quanto a isso, porque
"a transgresso do direito em algum lugar determinado da tetra sentida
por todos".
11
* As decises sobre a guerra e a paz, sobre direito e no-
direito, que so tomadas num plano supranacional, encontram de fato,
hoje em dia, ressonncia crtica e chamam a ateno do mundo -
podemos tomar como exemplos as intervenes no Vietnam, em
Kosovo e no Iraque ou nos casos Pinochet, Milosevice Saddam. A
"sociedade de cidados do mundo" (Weltbrgergesellschdft),
difundida, integra-se, caso a caso, por meio das reaes espontneas a
decises dessa envergadura. A partir do acordo unssono entre
KANT. ZIIIII |/..+ |.1.+ BA. 46.
383
indignao moral sobre violaes macias de direitos humanos e
infraes da proibio da violncia e a partir do sentimento em comum
com as vtimas de catstrofes humanas e naturais surge paulatinamente
um sopro de solidariedade de cidados do mundo.
Os deveres negativos de uma moral da justia, universulisla -
especialmente o dever de evitar crimes contra a humanidade e guerras
de agresso - esto ancorados em todas as culturas e correspondem,
felizmente, s medidas jurdicas de que lanam mo as prprias
instituies da organizao mundial quando justificam suas decises.
No ent ant o, para deci ses regulativas negoci adas no pl ano
transnacional, as quais transcendem o clssico catlogo de tarefas
visando a segurana, o direito e a liberdade, essa base por demais
estreita. Nas questes relevantes para a distribuio, emerge uma
carncia de legitimao do tipo da que encontrada no interior do
Estado nacional e que spode ser satisfeita pelo caminho democrtico
(mesmo que de forma no to justa). Tal caminho, todavia, estfechado
no plano transnacional, a partir do momento em que renunciamos ao
sonho de uma repblica mundial. De sorte que se coloca aqui um
dficit de legitimao que passa a ser percebido, cada vez mais, como
um verdadeiro problema.Gostaria de caracterizar, no final, trs
reaes tpicas a esse desafio.
As Naes Unidas descrevem corretamente o problema da
legitimao que se coloca com as novas formas de governar, as quais
ultrapassam as dimenses de um Estado nacional, (a) Sua forma de
enfrent-lo, no entanto, resume-se a um apelo desamparado, (b) Na
perspectiva do neoliberalismo e do pluralismo em direito, o problema
no constitui ameaa ao status quo, j que a concepo de uma
KUMM, M. ' The Legitimacy of International Law: A Constitutionulist Fr ame-
wor k of Analysis" , in: I|. |+.++ |++s| / |+.+s+s| |s 15,5 (2(X)4),
907-931. Tal sugest o tem a ver com princpios jurdicos legilimador es e
desconsider a o plano institucional. O exemplo contraftico de uma r egulao
da pr oteo do clima, emitida pelo Conselho de Segurana, com a finalidade de
limitar a emisso de dixido de car bono (ibid., 992 ss.) r evela que Kumm no
leva em consider ao a natur eza genuinamente poltica de questes r elevantes
no mbito da distr ibuio nem os lipos de car ncia de legitimao por elas
pr ovocados.
384
sociedade de direito privado, com dimenses mundiais, desinflaciona
as exigncias legitimadoras. Em que pese isso, o alcance do apelo
fora de legitimao de instituies no-majoritrias demasiadamente
restrito, (c) Entretanto, mesmo quando supomos a correo da teoria
econmica inserida na base neoliberal do desinflacionamento do
problema da legitimao, a inverso de polaridade que ocorre ao nvel
de esferas da vida reguladas politicamente e funes de controle do
mercado, desencadeia uma questo extremamente inquietante que pode
ser formul ada da segui nt e manei ra: serque podemos nos
responsabilizar pelo autocontinamento poltico, em escala mundial,
de espaos de ao polticos?
(a) A ampliao do conceito de segurana internacional impede
que a comunidade internacional se limite s tarefas centrais da poltica
da paz e dos direitos humanos. Originariamente, o conselho social e
econmico tinha por tarefa fazer um cruzamento com tarefas da poltica
de desenvolvimento global. Nessa rea, porm, as Naes Unidas
logo atingiram os seus limites. Uma vez que a construo do regime
econmico internacional se deu fora de seus quadros, sob a hegemonia
dos Estados Unidos. Tal experincia reflete-se na seguinte constatao,
no-efusiva: "As tomadas de deciso em assuntos de economia
internacional, particularmente na rea das finanas e do comrcio,
deixaram, h muito tempo, o recinto das Naes Unidas, e nenhum
tipo de reforma institucional conseguirtraz-las de volta." (TCC,
274). Sob a pressuposio da igualdade soberana de seus membros,
as Naes Unidas esto talhadas mais para a formao de um consenso
regulado normativmente do que para um equilbrio de interesses a
ser conquistado politicamente. Numa palavra, no so talhadas para
tarefas de configurao poltica.
De outro lado, as Multilaterais Econmicas Globais (MEG) -
em primeira linha, a Organizao Mundial do Comrcio (OMC), o
Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetrio Internacional (FMI) -
esto muito longe de enfrentar as tarefas que se colocam na perspectiva
do novo consenso de segurana. nesse contexto que se coloca a
constatao de uma "fragmentao setorial" da colaborao de orga-
nizaes internacionais. Os crculos de comunicao entre ministros
385
de finanas e instituies monetrias internacionais, entre ministros
do desenvolvimento e programas de desenvolvimento internacionais,
entre ministros do meio ambiente e agncias internacionais do meio
ambiente, fechados de modo auto-refeiencial, impedem a percepo
correta dos problemas: "As instituies internacionais e os Estados
no se organizaram de forma a permitir um tratamento coerente e
integrado dos problemas relativos ao desenvolvimento. Por isso,
continuam a tratar a pobreza, as epidemias contagiosas e a degradao
do meio ambiente como ameaas isoladas. [...] Entretanto, para
enfrentar os problemas de um desenvolvimento sustentvel, os paises
tm de negociar com os mais variados setores envolvendo diferentes
questes tais como ajuda a estrangeiros, tecnologia, comrcio,
estabilidade financeira e poltica de desenvolvimento. Mesmo assim,
muito difcil negociar tal tipo de pacotes, os quais requerem dos
paises, onde os impactos econmicos so mais profundos, um elevado
nvel de ateno e de liderana." (TCC, 5 5 s.).
A exigncia de uma instituio-na qual se encontram, no apenas
funcionrios de um governo revestidos de competncias especiais
del egadas por secretarias de certas reparties, mas tambm
representantes de governos que possuem responsabilidade abrangente
e crculos de ministros, todos interessados em analisar os problemas
em seu respectivo contexto e em tomar decises de modo flexvel -
pode ser entendida como uma resposta implcita defesa de uma
"ordem mundial desagregada", luz de um pluralismo jurdico. Os
encontros descompromissados de governos tal como o "G 8" ou as
rodadas de negociao formadas ad hoc, tal como o "G 20" e o "G
77" no permitem desenvolver nenhuma perspectiva convincente para
a constituio de uma poltica interna mundial. Com exceo dos
Estados Unidos e da China (quida Rssia), os atuais Estados
nacionais no se adequam ao papel de parceiros de uma poltica
mundial, com capacidade de ao. Jque eles teriam de se agregar a
ordens continentais ou subcontinentais sem serem obrigados a pagar
por isso o preo de dficits democrticos.
(b) O projeto que se contrape a tal viso de uma poltica interna
mundial apresenta como vantagem o fato de poder ancorar-se na
386
estrutura das redes de poltica global {global policy networks). No
entender dos "juspluralistas", das necessidades funcionais da sociedade
mundial diferenada nascem redes transnacionais que condensam a
comunicao entre os sistemas de funes que ato momento se
constituam a nvel nacional, mas que agora ultrapassam tais fronteiras.
Os fluxos de informao, hoje em dia condensados em rede, propiciam
uma gerao espontnea de regras e servem coordenao e votao
de standards, ao estmulo e regulamentao da concorrncia, bem
como moderao e estimulao recproca de processos de
aprendizagem.
4
" Para alm do Estado nacional, as dependncias
verticais, baseadas no poder, ocultam-se atrs dos entrelaamentos
funcionais e das influncias horizontais. Anne Marie Slaughter
combina tal anlise com a tese de uma desagregao da soberania do
Estado.
41
Nesta perspectiva, a fora estruturadora das realizaes
funcionalmente especificadas e as relaes de troca se avantajam ao
poder organizado territorialmente a ponto de as redes transnacionais
retroagirem sobre os seus portadores essenciais, ou seja, os governos
nacionais que celebram contratos. As foras centrfugas estilhaam a
soberania do Estado em direes horizontais. E a soberania estatal
decompe-se na soma de poderes parciais funcionalmente autnomos.
O Est ado perde a compet nci a de det ermi nar suas prprias
competncias e de se posicionar - tanto no foro interno como no
externo - como ator dotado de uma svoz. Tal i magem da
desagregao da soberania do Estado ilumina, ao mesmo tempo, o
desengate crescente que ocorre entie decises regulatrias - as quais
intervm, a partir de cima ou a partir de fora, nas sociedades nacionais
- e a soberania popular organizada na forma de Estados nacionais: as
competncias e decises que passam para as Multilaterais Econmicas
Globais (MEG) continuam, bem verdade, vinculadas formalmente
responsabilidade poltica dos governos participantes; de fato, porm.
4
"Cf. sobr e o papel de ator es pr ivados: TEUBNER. G " Globale Zivilver fassungen:
Alt er nat iven zur staatszentr ier ien Ver fassunst heor ie" , in: /.s:|/ /u
s+s|s+1s:|.s //.+|:|.s |.:| ++1 '||..:| 63, I (2003), 1-28.
41
SLAUGHTER, . -M. (2004), 12 ss.
42
Cf. aqui tambm ZRN, M. (2004, 273 s.), cit mais acima, pg. 371.
387
so privadas da crtica pblica e dos posicionamentos dos cidados
democrticos em suas respectivas arenas nacionais.
4
-
1
De outro lado,
alm das fronteiras do Estado nacional no se vislumbra nenhum
substituto para os dficits de legitimao, cada vez maiores, que
despontam a nvel nacional.
11
Slaughter enfrenta tal questo de legitimao lanando mo de
uma proposta cujo mrito no consiste tanto na soluo apresentada
como no fato de ter enfocado o problema de modo correto: "Em
primeiro lugar, os membros dos sistemas governamentais [tm de)
[...] [...] responsabilizar-se pelas atividades transgovernamentais de
seus clientes domsticos na mesma medida em que so responsveis
por suas atividades domsticas. Em segundo lugar, enquanto
participantes de estruturas de um governo global, eles devem estar de
posse de um cdigo bsico de operao que faa jus aos direitos e
interesses de todos os povos."
44
Entretanto, convm perguntar, a quem
os funcionrios devem prestar contas quando negociam regras
obrigatrias em escala multilateral, as quais so rejeitadas pelos
eleitores nacionais? E quem deve determinar o que do interesse de
todas as naes atingidas, j que, nas organizaes internacionais, o
poder de negociao estdistribudo de modo assimtrico e, no mundo,
o poder militar e o peso econmico dos paises participantes se
distribuem de modo desigual?
45
A estratgia de defesa neoliberal, que tem na mira um desafogo
de pretenses de legitimao pretensamente exageradas, mais
promissora. A fora de legitimao de governos eleitos democratica-
mente, que enviam seus funcionrios para as organizaes interna-
cionais, deve bastar para negociaes internacionais, mesmo quando
os respectivos paises no conhecem um debate democrtico aberto.
4,
NANZ, P., STEFFECK, J. " Global Gover nance. Par ticipationand lhe Public
Spher e" , in0..+-.+ s+1 0s|+ 39. 3 (2004), 314-335.
44
SLAUGHTER, A. -M. " Disaggr egaied Sover eignt y: Towar ds lhe PublicAc-
countability ot Global Gover nment Networ ks" , in0..+-.+ s+1 s|+
39, 2( 2004) , 163.
45
J OERGES, Ch., GODT, Ch. " Fr eeTr ade: the er osionof national and the birth of
tr ansnacional gover nance" , in: |+-.s+ |... 13, Suplement o I (maio de
2005), 93-117.
388
De acordo com tal interpretao, a diviso desigual do poder no inte-
rior das Multilaterais Econmicas Globais (MEG) no constitui mais
um problema srio. J que corporaes representativas no poderiam
ser tomadas como modelo adequado. A falta de legitimao deve ser
compensada especi al ment e pela fora aut ol egi t i mador a da
racionalidade de especialistas, associada a uma transparncia maior
das negociaes, a uma informao melhor dos atingidos e, caso haja
necessidade, a uma pailicipao de ONGs. Aqui, o prottipo tem de
ser buscado num profissionalismo de organizaes no-majoritrias:
"As democracias contemporneas atriburam um papel amplo e
crescente a instituies no-majoritrias, tal como o judicirio [...1 e
os bancos cent rai s. [...] A responsabi l i dade de i nst i t ui es
internacionais, particularmente as globais, pode ser comparada das
instituies domsticas anlogas."
46
Em que pese isso, tais analogias desafogadoras confundem. A
i ndependnci a de bancos cent rai s deve ser expl i cada pela
pressuposio (alis, controversa) de que a estabilizao da moeda
exige decises especficas, a serem entregues a especialistas.
Contrariamente a isso, as decises das Multilaterais Econmicas
Globais intervm profundamente nos interesses politicamente
controversos de sociedades nacionais, eventualmente at na estrutura
de toda uma economia nacional. Por esse motivo, a Organizao
Mundial do Comrcio (OMC) adotou um procedimento de superao
de disputas (Dispute Settlement) e um corpo de apelao (Appelate
Body), cuja funo consiste em levar em conta interesses de terceiros.
De um lado, eles decidem, por exemplo, sobre conflitos de interesses
econmicos, e, de outro lado, sobre normas de proteo da sade e do
meio ambiente, da proteo de consumidores e assalariados. Em que
pese isso, a instituio de um tribunal arbitrai, cujos "relatrios" tm
a funo de "julgamentos" vinculantes, pe a descoberto, de modo
ntido, o dficit de legitimao da OMC. "
4
" KAHLER,M." DellningAccount abilily UP. lheGlobal EconomicMultilater ais" ,
in: 0..+-.+ s+1 0s|+ 39, 2 (2004), 133.
47
O ar gument o apr esent ado a seguir est r iba-se em I 30GDANDY. A. v.
" Ver fassungsr echt liche Dimensionen der Wellhandelsor ganisat ion" , in:
3X9
No quadro do Estado constitucional, a legitimidade da jurisdio
ampara-se essencialmente no fato de que os tribunais aplicam o diieito
de um legislador democrtico e de que as decises judiciais podem
ser corrigidas num processo poltico. Todavia, na OMC no h instncia
legislati va capaz de i ndicar ou de modificar normas na esfera do direito
econmico internacional. E uma vez que as negociaes multilaterais
- lentas e pesadas - no constituem substituto altura, os rgos
encarregados de solucionar os conflitos exercem, mediante relatrios
detalhados e fundamentados, uma espcie de desenvolvimento
implcito do direito preenchendo, destarte, funes legisladoras. E tais
obrigaes de direito das naes podem, mesmo sem legitimao
aparente, interferirem sistemas jurdicos nacionais, obrigando as partes
a adaptaes extremamente sensveis (a disputa sobre hormnios, que
se desenvolveu entre Estados Unidos e Unio Europia, constitui um
exemplo bastante conhecido).
1
*
(c) O argumento a favor de um desafogo de redes de poltica
governamental (governmental policy networks), as quais deveriam
ser liberadas de exigncias de legitimao exageradas, poderia ser
aceito desde que as Multilaterais Econmicas Globais operassem como
componentes de uma constituio liberal da economia mundial,
suposta como legtima, a fim de implementar, contra as intervenes
dos Estados nos mercado, uma desregulamentao mundial dos
mercados. Existe um parentesco entre o programa neoliberul da
produo de uma "sociedade de direito privado"'
1
' em escala mundial
e a estrutura organizacional das Multilaterais Econmicas Globais
existentes, controladas pelos governos e ocupadas burocraticamente.
A projetada diviso do trabalho entre uma integrao da sociedade
mundial por meio de mercados liberalizados e a descarga dos demais
|s:|. |+s, 34, 3 (2001). 264- 281' : 4. (2001). 425: id. "Law and Poli-
tics inthe WTO - Slraiegies to Cope with a Deliciem Relalionship", in: 4ss
||s+:| I.|| / +.1 \s+s |s vol. 5. Haia. 2001. 609-674.
Cf. a aula inaugural em Gltingen, de STOLL. P. -T. (||s|s.+ -+ /
-s+ (Manuscrito, 2003)
MESTMKER, E. J. "Der Kampfums Recht inderoffenenGesellschalt". in:
|.:|s|.. 20, 1989, 273-288.
390
encargos sociais e ecolgicos nos Estados nacionais tornaria suprfluo
qualquer tipo de "governo global" (global governance). Por este
ngulo, a viso de uma poltica interna mundial deve ser tida na ponta
de um delrio temerrio.
Entretanto, convm perguntar, onde reside propriamente o
perigo? A exportao - em escala global - do projeto de sociedade
que o presidente Bush empreendeu em novembro de 2(X)3, por ocasio
do vigsimo aniversrio de fundao do National Endowment for
Democracyno goza de assentimento geral. O assim chamado Wash-
ington Consensus tenta equilibrar-se sobre uma teoria lalvel e
altamente discutvel costurada com elementos extrados dos axiomas
da Chicago School e de determinadas variantes da teoria da
modernizao. O problema no consiste no fato de que tal teoria, como
qualquer outra, poderia ser falsa. O que preocupa realmente a
conseqncia resultante de uma re-estruturao neoliberal, no longo
prazo, da economia mundial. A poltica de mudana de plos, que
passa do plo das formas polticas de regulamentao para o plo dos
mecanismos de mercado, contribui para a perpetuao dela prpria
proporo que uma mudana poltica se torna tanto mais difcil quanto
menor for o espao reservado a intervenes polticas. A autolimitao
do espao de ao poltica a favor de foras de controle sistmicas,
desejada politicamente, privaria as geraes futuras dos meios
indispensveis para uma eventual correo da rota iniciada. Mesmo
quando cada nao se decide "de forma consciente e democrtica a
ser um ' Estado de concorrncia' mais do que um 'Estado de bem-
est ar' ", tal deciso democrtica teria de destruir seus prprios
fundamentos caso ela se encaminhasse para um tipo de organizao
de sociedade no qual se tornasse impossvel rever tal deciso e,
eventualmente anul-la por um caminho democrtico.
M
Tal avaliao das conseqncias recomendvel, no somente
no caso de um fracasso dos prognsticos neoliberais. Mesmo que as
assunes tericas se confirmassem grosso modo. a velha frmula
' " O Presi dent e Bush discute a liberdade no Iraque e no Ori ent e Mdio:
www.whiiehouse.gov/new/release/2003/ll/pnnt/2003 I l06-2.html
51
BOGDANDY, v. (2001). 429.
391
das "contradies culturais do capitalismo"
5
- poderia adquirir uma
nova significao. J no mbito do Ocidente, que colocou em
movimento a modernizao capitalista, e que continua sendo seu motor,
concorrem vrios modelos de sociedade. Nem todas as naes
ocidentais esto dispostas a assumir, para si mesmas e para o mundo,
os custos sociais e culturais inerentes falta de um equilbrio do bem-
estar que os neoliberais pretendem impor apoiados no argumento de
um crescimento acelerado do bem-estar.
5
' E por isso aumenta o inter-
esse na manuteno de um certo espao de ao poltica em outras
culturas que, ao terem acesso ao mercado mundial e ao darem seu
assentimento dinmica da modernizao social, revelam, bem
verdade, a disposio de adaptar e transformar as prprias formas de
vida, porm, no a ponto de renunciar a das substituindo-as por uma
forma de vida importada. As mltiplas e variadas faces da sociedade
mundial pluralista - ou melhor, as mltiplas modernidades (multiple
modernitiesf
4
- no suportam uma sociedade de mercado mundial
politicamente desarmada e totalmente desregulamentada. Porque em
uma sociedade desse tipo as culturas no-ocidentais que trazem o
cunho de outras religies mundiais ver-se-iam privadas do espao de
ao que permite a elas apropriarem-se das conquistas da modernidade
lanando mo de recursos prprios.
SBD / FFLCH / USP
Bib. Florestar, Fernandes Tombo: 325428
Aquisio: DOAO /
Proc. / PROF. RENATO JANINE
, R $ 40,00 16/1
N.F. '
" BELL, D. I|. (+|+s| (+s1:+s / (s|s|s- Nova York, 1976.
" HELD, D. (2004), desenvolve unia alter naliva social-democrlica ao "ss|
++ (+s.+s+s atualmente pr edominante.
M
TAYLOR, Ch."TwoTheoriesoModernity", in: |+||: (+|+. II I (1999)
153-174.
392
SOBRE OS CAPTULOS DESTE LIVRO
1. Discurso pronunciado por ocasio da recepo do Prmio-
Kyoto, no dia 11 de novembro de 2004. Publicado inicialmente no
jornal Neue Zrcher Zeitung, 11/12 de dezembro de 2004.
2. Publ i cado separadament e e sob o mesmo ttulo pela
Universalbibliothek, Stuttgarda, 2001. Com autorizao cordial
da Editora Reclam.
3. Publicado sob o mesmo ttulo in: BHLER, D., KETTNER,
M. e SKIRBEKK, G. (orgs.) Reflexion und Verantwortung. Frank-
furt/M.: Suhrkamp, 2003, 44-64.
4. Introduo a uma discusso com o Cardeal Joseph Ratzinger
no dia 19 de janeiro de 2004, publicado in: Information Philosophie.
outubro 2004, 7-15.
5. Indito.
6. Conferncia proferida por ocasio da recepo do Prmio-
Kyoto, no dia 12 de novembro de 2004, impresso in: Deutsche
Zeitschift fr Philosophie, Cad. 6 (2004), 871-890.
7. Publicado sob o ttulo ' "Eu mesmo sou um bocado de
natureza' - Adorno sobre o enlace da razo com a natureza.
Consideraes sobre a relao entre liberdade e indisponibilidade".
393
in: HONNETH, A. (org.) Dialetik der Freiheil. Frankfurter
Adorno-Konferenz 2003. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2005, 13-40.
8. Verso ampliada e corrigida de uma conferncia publicada
inicialmente in: NAGL-DOCEKAL, H. e LANGTHALER, R.
(orgs.), Reclit, Gechichte, Religion. Berlim: Akademie Verlag, 2004,
141-160.
9. Publicado sob o mesmo ttulo in: Archiv fiir Rechts- und
Sozialphilosople. Cad. Supl. N 93, Stutttiarda: Franz Steiner
Verlag, 2004, 23-36.
10. Publicado sob o mesmo ttulo in: Deutsche Zeitschrift fiir
Philosophie, Cad. 3 (2003), 367-394.
1 1. Indito.
394
REGISTRO DE NOMES
ADE NAUE R, K. - 26
ADORNO, TU. W. - 28, 203, 208,
210, 211, 212, 217, 220, 222,
223, 225, 228, 229, 261, 275,
308
ANNAN, K. - 380
APEL, K. -O. - 26, 42, 55, 81, 91,
9 2 , 9 3 , 9 5 , 9 7 , 9 8 , 104, 108, 1 10,
11 I, I 12, I 13, 114, 246, 247
AQ UI N0 , T - 18
ARATO, A. - 33
ARCHI BUGI , D. - 356
ARENS, E. - 149
ARISTTELES - 18, 19, 22
ARNASON, J. P. - 161
AUDI , R. - 140, 142, 143, 144,
151, 160
BARRY, B. - 300, 328, 332, 333,
336
BARTH, K. - 267
BAYLE, P. - 158, 280, 281
BECK, U. - 360
BECKER, W. - 153
BELL, D. - 392
BELLAH, R. - 141
BENJ AMI N, W. - 126, 211. 223,
261
BERGER, P. L. - 129
BERNSTEI N, R. F. 45
BI ER1, P. - 175, 176, 177, 214,
216. 220
B1RNBAUM, N. - 141
BLOCH, E. - 260
BLUMENBERG, 11. 166
BCKE NF ORDE , E. W. 115.
118, 120
BOGDANDY. A. V. 348, 354.
389. 39I
BIILER, D. 112. 247. 393
BLL, 11. 374
BRANDOM, R. 34, 69, 80, 87,
8 8 . 8 9 . 176
BRUGGER, W. - 2 8 5
BRUML1K, M. - 258
BRUNKHORST , H. - 118, 161,
219
BUBER, M. - 260
BUL T MANN, R. - 144, 267
BUMME L , A. 382
BURCKHART, II. - 9 8 , 112
BURUMA, 1. - 130
BUSH, G. W. 133, 391
BUTLER, .1. 229
395
CARNAP , R. - 8 0
CASSI RER, E. - 20
CHAYES, A. - 357
CHAYES, A. H. - 357
COHEN, H. - 257
COL P E , C. - 161
COOK, M. - 34
COTTI ER, TH. - 355
CRAMM, W.-J . - 188, 230
CUTREF ELLO, A. - 72
DARW1N, CH. - 14, 191. 204
DAVI DSON, D. - 34, 38, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80,
175, 178
DENNI NGER, E. - 352
DERRI DA, J . - 32, 308
DE SCOMBE S, V. - 188
DETEL, W. - 166
DEWEY, J. - 25, 33
D1LTHEY, W. - 32
DBERT, R. - 202
DUMMETT, M. - 34, 38, 66, 68,
69, 80, 83, 84, 85, 86, 189
DURKHEI M, E. - 4 9
EDER, K. - 126
EI SENSTADT. S. N. 161
ENGELS, E. M. - 186
F ASSBENDER, B. - 374
FENNEL, J. - 77
F EUERBACH, L. - 123, 260
FI SCHER, K. - 368
FORST, R. - 129, 133, 136, 138,
146, 149, 158, 280, 285, 313,
3 1 5 , 3 4 2
FOUCAULT, M. - 2 2 0 , 307
F RANKE NBE RG G. - 284, 353
FRASER, N. - 297, 326. 328
FREGE, G - 66, 67, 80. 82, 83, 84
FREUD. S. - 25, 260
F RI EDEBURG L. V. - 203
FROWEI N, J. A. - 3 8 1
FRHAUF, M. 166
FULTNER, B. 72
GADAMER. II.-G. 5 3 . 7 9
GALSTON, W. 333. 337
GANS. CH. 330
GAUS, G F. 146
GEI I LEN. A. - 27
GEYER, Cl 1. - 160, 169
GODT, Cl I. - 388
GOLDBLATT, D. - 363
GOODSTEI N, L. - 133
GRANDE , E. - 3 6 0
GR1MM, D. - 294, 370
GNTHER, K. - I I I . 190, 230,
312, 318, 321, 353, 368. 370
HABE RMAS, J. 7, 12, 14, 26,
33. 34, 36. 41, 43. 44, 48. 53.
55, 61, 64. 65. 78. 87. 93, 94.
98, 100. 101. 102. 103. 108. I 10.
116, 117. 128. 131. 137. 150,
151. 187. 190. 191. 192, 202.
203. 220. 226. 229. 233. 247.
257, 265, 267. 268, 271, 273.
274, 284, 288, 295, 304, 307,
308. 312. 313. 316. 335. 346.
349, 359, 365, 366
HABE RMAS, T. - 169
HAHN, L. E. - 72, 73, 178
HALBERTAL, M. - 330
HARNACKS, A. V. - 263. 264
396
HAVERKATE, G. - 285
HEGEL, G W. F. 31, 123, 124,
125, 161, 257, 258, 259, 261,
268, 269, 270, 272, 276, 307,
366
HEI DEGGER, M. - 26, 27, 31, 32,
3 3 , 4 4 , 122, 161, 278
HELD, D. - 356, 360, 363, 370,
392
HERDTLE, C. - 280, 281
HERTI G, M. - 355
HESSE, H. - 25
HESSE, K. - 284
HFFE, O. - 356
HOF MANN, H. - 368
HONNEF ELDER, L. - 161
HONNETH, A. - 223, 297. 311,
3 2 8 , 3 9 4
HORKHE1MER, M. - 222
HOY, D. C. - 32
HUMBOLDT, W. V.
HUME, D. - 33, 34
H US S E I N. S . - 3 8 3
HUSSERL, E . - 6 6 , 113
I NGLEHART, R. - 131, 132
J ASPERS, K. - 25, 267, 276, 277
J ELLI NEK, G. - 118, 282
J OERGES, CH. - 388
J UNG, M. - 156, 235
JNGER, E. - 27
KAF KA, F. - 25
KAHLER, M. - 389
KANT, 1. - 14, 18, 32. 34, 35, 36,
38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
50, 59, 65, 81, 118, 124, 156,
159, 161, 171, 191, 204, 205,
208, 210. 214. 220. 221. 236.
237, 238, 239. 240. 241, 242.
243. 244, 245, 246, 247, 248.
249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 260, 261,
265, 269, 270, 272, 273, 274,
277, 278, 281, 301, 305. 317,
349, 350, 351, 352, 354, 375,
383
KEI L, G. - 231
KELSEN, H. - 118, 374
KERN, A. - 309
KERSTI NG, W. - 351
KETTNER, M. 247, 393
KI E RKE GAARD, S. - 26, 123,
161, 258, 261, 264, 265. 266.
267, 272
KI NG. M. L. - 140, 141
KRI ELE, M. - 352
KRUG, W. T. - 279
KRGER, H. P. - 194
KUHL MANN, W. - 114
KUMM, M. - 384
KYMLI CKA, W. - 298, 300, 333,
3 3 4 , 3 4 0
L ABAND, P. - 118
LAFONT, C. - 43
LANGTHALER, R. - 235, 394
LEEB, TH. - 280, 281
LEI BFR1ED, S. 367
LESS1NG, G E . - 287
LI BET, B. - 169, 172, 173, 175
LI TSCHEWSKI - P AULSON, B.
374
LOCKE. J . - 2 8 0
LOEWENSTEI N, K. 283
397
LSER, W. - 166
LWI TH, K . - 2 5 9
L UHMANN, N. - 118
LUKCS, G. - 223, 308
L UT Z - BAC HMANN, M. - 156,
161, 235, 275
MADSE N, R. - 141
MANN. T H. 25
MARGALI T, A. - 130, 300, 330
MARX , K. - 25, 31, 123, 260, 261,
2 7 2 , 3 0 3 , 307, 366
MAUERSBERG, B. - 2 0 2
MCCARTHY, TH. - 3 1 , 32, 33, 34,
3 5 , 3 1 7 , 3 1 8
MCGUI NNE SS, B. - 4 4
ME AD, G. 1 1 . - 2 0 , 5 9 , 78, 88, 192
ME NKE , CH. - 308, 309, 310,
312, 314, 316, 318, 319, 320,
3 2 7 , 3 3 3
MESTMKER, E. J. - 390
METZ, J. B . - 2 6 1
MEYER, TH. - 361
MI LBANK, J. - 166
MI LLS, CH. W. - 298, 326
MI LOSEVI C, S. - 383
M L L E R O K I N. S . - 3 3 8
MLLERS, CH. - 354
MOLTMANN, JRGEN - 261
MOX TER, M. - 156, 235
MUELLER, A. - 40
MNKLER, H. - 368
NAGEL, TH. - 179
NANZ, P. - 388
NEUNER, P. - 123, 261, 264
NI ETZSCHE, F. - 31, 277
NI QUET, M. - 4 0
NORR1S, P. - 131, 132
NUNNER- W1NKLER, G - 202
FFE, C. - 368
PAUEN, M. - 160
PAUER- STUDER. II. 327
PAULSON, ST. 374
PI ERCE, CH. S. - 20, 33. 41. 88.
159
P ERELMAN, CH. - 5 5
PERRATON, J. 363
PETERS, A. - 374
PETERS, B. - 308
PEUKERT, H. 271, 275
PFLEI DERER, G - 267
P1CARDI , E. - 7 2
P I CKSTOCK, C. - 166
P1NOCHET, A. - 383
PLATO - 22
PLESSNER. II. - 210
POPPER. K. R. - 169
P UTNAM. H. - 55, 67
QUI NE. W. V. O. 80, 169
RAWLS. J. 115. 127. 134. 136.
137, 138, 139. 140, 142. 152,
165, 166, 289, 290, 313, 314,
3 1 8 , 3 1 9 , 3 4 4 , 373
RATZ, J. - 3 0 0 , 329
REHG W. - 60
RENDTORFF, T. V. - 264
RI CKEN, F. - 275
R1COEUR, P. - 169
RORTY, R. - 72, 73, 186
ROSENFELD, M. - 33
ROTH, G. - 170, 172, 174, 178,
184, 185
398
ROTTLEUTHNER, H. - 160
ROUSSE AU, J.-J. - 305
ROYCE, J . - 8 8
SARTRE, J .-P. - 2 5
SCANL ON, T. M. - 180
SCHACHAR, A. - 3 3 1
SCHLAGETER, A. L. - 26
SCHLEI ERMACHER, F. D. E. -
123, 156, 258, 261, 262, 263,
264, 266, 272
SCHMI DNOERR, G. - 222
SCHMI DT, TH. M. - 129, 146,
156, 166, 235, 258
S C H Ml T T , C . - 2 7 , 118, 122, 166,
274
SCHNDF. I . BACH, H. - 214, 231
SCHULTE, . 1 . - 7 2
SEARLE, J. - 179, 184
SEEL, M. - 180, 213, 321
SELLARS, W. - 58, 78, 87, 190
SI MMEL, G. - 223
SI NGER, W. - 128, 181, 184, 193,
1 9 4 , 1 9 6 , 1 9 7 , 2 2 6
SKI RBEKK, G. - 247, 393
SLAUGHTER, A. - M. - 361, 387,
388
SOKRATES - 265
SPI NOZA, B. DE - 2 4 9 , 280
STEFFEK, J. - 388
STOLL, P.-TH. - 390
ST RAUSS, L. - 122, 274
SULLI VAN, W. M. - 141
SWI DLER, A. - 141
TARSKI , A. - 6 9
TAYLOR, CH. - 299, 333, 334,
3 3 5 , 3 4 7 , 3 9 2
TEUBNER, G. - 387
THEUN1SSEN, M. - 260, 266
TI PTON, S. M. 141
TOMUSCHAT, CH. - 374
TOMASELLO, M. - 192
TROELTSCH, E. - 264
TUGENDHAT, E. - 66, 174, 201,
208
VOGEL, M. - 190, 231
WALDRON, J. 330
WALZER, M. - 356
WARD, G. - 166
WEBER, M. - 131, 232, 264
WE I T HMAN, P. J. - 141, 142,
143, 145, 150, 151
WELLMER, A. - 43, 55, 189
WENZ, G. - 123, 261, 264
W1LLETT, C. - 297, 328
WI LLS, G. - 133
WI MMER, R. - 245
WI NGERT, L . - 169, 190, 191, 195,
2 3 1 , 2 3 3 , 3 1 8 , 3 5 3 , 3 6 8 , 3 7 0
WI TTGENSTEI N, L. - 20, 33, 35,
38, 44, 68, 77, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 201
WI TROCK, B. - 161
WOLTERSTORFF, N. - 140, 142,
144, 150, 151, 152, 153, 160
WR1GHT, G. H. V. - 189
YATES, M. - 129
ZANGL, B. - 358, 374
ZRN, M. - 358, 367, 371, 387
399
Você também pode gostar
- Discurso religioso como projeto político: Respeito ou afronta ao Estado laico?No EverandDiscurso religioso como projeto político: Respeito ou afronta ao Estado laico?Ainda não há avaliações
- HABERMAS Jurgen Entre Naturalismo e Religiao PDFDocumento59 páginasHABERMAS Jurgen Entre Naturalismo e Religiao PDFal_cfAinda não há avaliações
- Vidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)No EverandVidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)Ainda não há avaliações
- Reconstrução e emancipação: Método e política em Jürgen HabermasNo EverandReconstrução e emancipação: Método e política em Jürgen HabermasAinda não há avaliações
- Thomas Hobbes - Do CidadãoDocumento223 páginasThomas Hobbes - Do CidadãoAliba Oliver100% (9)
- Pensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilNo EverandPensamento alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no BrasilAinda não há avaliações
- HABERMAS Consciência Moral e Agir ComunicativoDocumento118 páginasHABERMAS Consciência Moral e Agir ComunicativoDidz00100% (4)
- Charles Taylor Identidade - Juliano OliveiraDocumento125 páginasCharles Taylor Identidade - Juliano OliveiraWalin Jose de Paula100% (1)
- Teoria da Ação Comunicativa de HabermasDocumento56 páginasTeoria da Ação Comunicativa de HabermasSara Santos100% (4)
- HABERMAS. A Inclusão Do Outro - Estudos de Teoria PolíticaDocumento384 páginasHABERMAS. A Inclusão Do Outro - Estudos de Teoria PolíticaBolaxa KausRádio100% (16)
- Teoria Da Ação Comunicativa de Habermas e Uma Nova PropostaDocumento8 páginasTeoria Da Ação Comunicativa de Habermas e Uma Nova PropostapaolatheoAinda não há avaliações
- Os Pensadores - Federalistas PDFDocumento392 páginasOs Pensadores - Federalistas PDFVeridianoNunesMuradoMuradoAinda não há avaliações
- CASTORIADIS - Figuras Do Pensável0001Documento41 páginasCASTORIADIS - Figuras Do Pensável0001Luciana Pedrogam100% (2)
- HONNETH, Axel. Luta Por ReconhecimentoDocumento147 páginasHONNETH, Axel. Luta Por Reconhecimentocalendargirl86% (7)
- WEBER, Max. Economia e A Sociedade, Vol. 1. Cap. 1Documento17 páginasWEBER, Max. Economia e A Sociedade, Vol. 1. Cap. 1Jônatas Roque100% (1)
- História da "Consciência Histórica" Ocidental Contemporânea - Hegel, Nietzsche, RicoeurNo EverandHistória da "Consciência Histórica" Ocidental Contemporânea - Hegel, Nietzsche, RicoeurAinda não há avaliações
- Hegemonia e Estratégia Socialista - PortuguêsDocumento144 páginasHegemonia e Estratégia Socialista - PortuguêsMarcio Carvalho100% (3)
- Jurgen Habermas - O Discurso Filosófico Da Modernidade PDFDocumento339 páginasJurgen Habermas - O Discurso Filosófico Da Modernidade PDFChristian Chagas100% (2)
- WEBER, M. Rejeições Religiosas Do Mundo e Suas Direções PDFDocumento22 páginasWEBER, M. Rejeições Religiosas Do Mundo e Suas Direções PDFElisa CortezAinda não há avaliações
- Resumo - Crítica Da Modernidade - Touraine PDFDocumento34 páginasResumo - Crítica Da Modernidade - Touraine PDFAbraão Pustrelo Damião67% (3)
- Da pizza ao impeachment: uma sociologia dos escândalos no Brasil contemporâneoNo EverandDa pizza ao impeachment: uma sociologia dos escândalos no Brasil contemporâneoAinda não há avaliações
- Linguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-americano (1750-1890)No EverandLinguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-americano (1750-1890)Ainda não há avaliações
- O método cético de oposição na Filosofia ModernaNo EverandO método cético de oposição na Filosofia ModernaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Wilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisNo EverandWilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisAinda não há avaliações
- Reconhecimento e redistribuição na justiça socialDocumento41 páginasReconhecimento e redistribuição na justiça socialAnabelle LagesAinda não há avaliações
- Argumentos Retóricos na Construção Discursiva das Epístolas de Paulo e SênecaNo EverandArgumentos Retóricos na Construção Discursiva das Epístolas de Paulo e SênecaAinda não há avaliações
- Poulantzas, N. (2000) - O Estado, o Poder, o Socialismo PDFDocumento119 páginasPoulantzas, N. (2000) - O Estado, o Poder, o Socialismo PDFDiego Mansano Fernandes100% (2)
- Locke2 PDFDocumento198 páginasLocke2 PDFNara Peruzzo100% (1)
- Sobre A Democracia - R. DahlDocumento116 páginasSobre A Democracia - R. Dahllianevba1Ainda não há avaliações
- RAYMOND, Boudon. A Ideologia.Documento4 páginasRAYMOND, Boudon. A Ideologia.Cristian D. ValdiviesoAinda não há avaliações
- Da Certeza - WittgensteinDocumento93 páginasDa Certeza - WittgensteinMarcos Fernandes Otsuka75% (4)
- Justificação e crítica: Perspectivas de uma teoria crítica da políticaNo EverandJustificação e crítica: Perspectivas de uma teoria crítica da políticaAinda não há avaliações
- A escrita da História: A natureza da representação históricaNo EverandA escrita da História: A natureza da representação históricaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Renaut (Ed) His - Filos.politica 1 2 Pesq DigDocumento321 páginasRenaut (Ed) His - Filos.politica 1 2 Pesq Digamartins124Ainda não há avaliações
- Brasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoNo EverandBrasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoAinda não há avaliações
- Origens Da Dialética Do Trabalho - José Arthur GiannottiDocumento350 páginasOrigens Da Dialética Do Trabalho - José Arthur GiannottiVirgínia Felipe ManoelAinda não há avaliações
- Democracia e oposição públicaDocumento8 páginasDemocracia e oposição públicaAline Alves Lins AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Individualismo holista: Uma articulação crítica do pensamento político de Charles TaylorNo EverandIndividualismo holista: Uma articulação crítica do pensamento político de Charles TaylorAinda não há avaliações
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNo EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsAinda não há avaliações
- Aporias do conceito de vontade em Santo AgostinhoNo EverandAporias do conceito de vontade em Santo AgostinhoAinda não há avaliações
- A Teoria Da História de Karl Marx Uma Defesa by Gerald Allan Cohen, Jerry CohenDocumento508 páginasA Teoria Da História de Karl Marx Uma Defesa by Gerald Allan Cohen, Jerry CohenEriclys H. Pantaleão100% (1)
- A JUSTIFICAÇÃO DO FORMALISMO JURÍDICO - TEXTOS EM DEBATE - SÉRIE DIREITO EM DEBATE - DDJ - 1 Edição PDFDocumento94 páginasA JUSTIFICAÇÃO DO FORMALISMO JURÍDICO - TEXTOS EM DEBATE - SÉRIE DIREITO EM DEBATE - DDJ - 1 Edição PDFMarcos Mat100% (2)
- Reflexões sobre o Saber Histórico: Entrevistas com Pierre Villar, Michel Vovelle, Madeleine RebériouxNo EverandReflexões sobre o Saber Histórico: Entrevistas com Pierre Villar, Michel Vovelle, Madeleine RebériouxAinda não há avaliações
- A ideia de uma ciência social e sua relação com a filosofiaNo EverandA ideia de uma ciência social e sua relação com a filosofiaAinda não há avaliações
- A filosofia de Ernst Cassirer e o IluminismoDocumento238 páginasA filosofia de Ernst Cassirer e o IluminismoThemístocles Griffo100% (4)
- Teorias da Democracia AtualDocumento38 páginasTeorias da Democracia AtualMaurina NascimentoAinda não há avaliações
- DURKHEIM. A Ciência Social e A AcçãoDocumento301 páginasDURKHEIM. A Ciência Social e A AcçãoPauloAinda não há avaliações
- Livro Redistribuição, Reconhecimento e RepresentaçãoDocumento218 páginasLivro Redistribuição, Reconhecimento e RepresentaçãoMaria AbreuAinda não há avaliações
- (Paulo Sergio Peres) Comportamento Ou Instituições, A Evolução Histórica Do Neo-Institucionalismo Da Ciência Política PDFDocumento20 páginas(Paulo Sergio Peres) Comportamento Ou Instituições, A Evolução Histórica Do Neo-Institucionalismo Da Ciência Política PDFMário SampaioAinda não há avaliações
- 2 - ALEXANDER, Jeffrey - A Importância Dos Clássicos PDFDocumento31 páginas2 - ALEXANDER, Jeffrey - A Importância Dos Clássicos PDFLucas Rodrigues100% (1)
- CHÂTELET, François. Hegel PDFDocumento108 páginasCHÂTELET, François. Hegel PDFDanilo Lucena Mendes100% (1)
- DERRIDA, J. Adeus A Emmanuel Lévinas PDFDocumento71 páginasDERRIDA, J. Adeus A Emmanuel Lévinas PDFLélia Vilela100% (1)
- Artigo Casanova PDFDocumento29 páginasArtigo Casanova PDFsabrinaAinda não há avaliações
- BoltanskieThvenot AsociologiadacapacidadecrticaDocumento25 páginasBoltanskieThvenot AsociologiadacapacidadecrticaFábio PinheiroAinda não há avaliações
- O Problema Da Religião e As Ansiedades Da Democracia Secular Europeia - José Casanova PDFDocumento16 páginasO Problema Da Religião e As Ansiedades Da Democracia Secular Europeia - José Casanova PDFElmano MadailAinda não há avaliações
- Política Católica e MuçulmanaDocumento27 páginasPolítica Católica e Muçulmanaypuangarcia1079Ainda não há avaliações
- BOLTANSKI, Luc - U Ma Crítica para o Presente: Entrevista A Revista Plural PDFDocumento2 páginasBOLTANSKI, Luc - U Ma Crítica para o Presente: Entrevista A Revista Plural PDFMil TonAinda não há avaliações
- A ilusão da narrativa biográficaDocumento5 páginasA ilusão da narrativa biográficaAlan MonteiroAinda não há avaliações
- Candido, Joel ValentinoDocumento175 páginasCandido, Joel ValentinoMil TonAinda não há avaliações
- Carlos - Gutierrez - Paper - Coloquio UNB 08.16Documento22 páginasCarlos - Gutierrez - Paper - Coloquio UNB 08.16Mil TonAinda não há avaliações
- Carlessi, Pedro - Jeitos, Sujeitos e AfetosDocumento14 páginasCarlessi, Pedro - Jeitos, Sujeitos e AfetosMil TonAinda não há avaliações
- Cefai - Arena Publica (Tradução - Só PT)Documento21 páginasCefai - Arena Publica (Tradução - Só PT)Mil TonAinda não há avaliações
- Bourdieu, Pierre - Os Usos Sociais Da CiênciaDocumento43 páginasBourdieu, Pierre - Os Usos Sociais Da CiênciaMil TonAinda não há avaliações
- O Campo Científico (Pierre Bourdieu)Documento34 páginasO Campo Científico (Pierre Bourdieu)muradias100% (4)
- Brum, Asher - Reflexividade em GiddensDocumento173 páginasBrum, Asher - Reflexividade em GiddensMil TonAinda não há avaliações
- O Campo Científico (Pierre Bourdieu)Documento34 páginasO Campo Científico (Pierre Bourdieu)muradias100% (4)
- Bourdieu, Pierre - Trabalhos e ProjetosDocumento8 páginasBourdieu, Pierre - Trabalhos e ProjetosMil TonAinda não há avaliações
- A Economia Das Trocas Lingsitcas - PierreBourdieu PDFDocumento28 páginasA Economia Das Trocas Lingsitcas - PierreBourdieu PDFmakfrahZAinda não há avaliações
- Entreviswta Moralidade BotanskiDocumento14 páginasEntreviswta Moralidade BotanskiAnonymous kgl2IocAinda não há avaliações
- Entreviswta Moralidade BotanskiDocumento14 páginasEntreviswta Moralidade BotanskiAnonymous kgl2IocAinda não há avaliações
- WOORTMANN, K. Religião e Ciência No RenascimentoDocumento86 páginasWOORTMANN, K. Religião e Ciência No RenascimentoDavid DamascenoAinda não há avaliações
- BOLTANSKI, Luc - U Ma Crítica para o Presente: Entrevista A Revista Plural PDFDocumento2 páginasBOLTANSKI, Luc - U Ma Crítica para o Presente: Entrevista A Revista Plural PDFMil TonAinda não há avaliações
- A Economia Das Trocas Lingsitcas - PierreBourdieu PDFDocumento28 páginasA Economia Das Trocas Lingsitcas - PierreBourdieu PDFmakfrahZAinda não há avaliações
- A ilusão da narrativa biográficaDocumento5 páginasA ilusão da narrativa biográficaAlan MonteiroAinda não há avaliações
- BoltanskieThvenot AsociologiadacapacidadecrticaDocumento25 páginasBoltanskieThvenot AsociologiadacapacidadecrticaFábio PinheiroAinda não há avaliações
- BRITO, Angela. Rei Morto, Rei Posto - As Lutas Pela Sucessão de Pierre Bourdieu No Campo Acadêmico Francês PDFDocumento15 páginasBRITO, Angela. Rei Morto, Rei Posto - As Lutas Pela Sucessão de Pierre Bourdieu No Campo Acadêmico Francês PDFBrenoVilelaAinda não há avaliações
- Loic Wacquant Corpo e Alma Notas Etnograficas de Um Aprendiz de BoxeDocumento149 páginasLoic Wacquant Corpo e Alma Notas Etnograficas de Um Aprendiz de BoxetiagovaldiviesoAinda não há avaliações
- Weber - Parlamento e Governo Na Alemanha Reordenada (Prefácio, 1,2,3,5)Documento192 páginasWeber - Parlamento e Governo Na Alemanha Reordenada (Prefácio, 1,2,3,5)Aline Sales100% (1)
- Wacquant Louies Durkheim e BourdieuDocumento10 páginasWacquant Louies Durkheim e BourdieuDil FonsecaAinda não há avaliações
- O Legado Sociológico de Pierre Bourdieu (Loïq Wacquant)Documento19 páginasO Legado Sociológico de Pierre Bourdieu (Loïq Wacquant)Victor Simões100% (1)
- Wacquant - Seguindo Bourdieu No Campo PDFDocumento19 páginasWacquant - Seguindo Bourdieu No Campo PDFfilipevdAinda não há avaliações
- Candomblé em rosa, verde e preto na esfera públicaDocumento42 páginasCandomblé em rosa, verde e preto na esfera públicaMil TonAinda não há avaliações
- CRAS e sofrimento psíquicoDocumento13 páginasCRAS e sofrimento psíquicoLarissa RomanoAinda não há avaliações
- COF Formula PizzariaDocumento9 páginasCOF Formula PizzariaLuiz Julio Dias Melo100% (1)
- Calendário de feriados 2023 unidades Sabará, BH e Montes ClarosDocumento3 páginasCalendário de feriados 2023 unidades Sabará, BH e Montes ClarosJosué MonteiroAinda não há avaliações
- Tabela de Redução de Dias de Férias PDFDocumento3 páginasTabela de Redução de Dias de Férias PDFAlcidônio Fornazieri de OliveiraAinda não há avaliações
- Casamento ritual reinventado em performance autobiográficaDocumento4 páginasCasamento ritual reinventado em performance autobiográficaGabi CabralAinda não há avaliações
- Boa Obra (GB)Documento5 páginasBoa Obra (GB)Daniel AngeloAinda não há avaliações
- A.2 - Teste Diagnóstico - Contributo Das Primeiras CivilizaçõesDocumento5 páginasA.2 - Teste Diagnóstico - Contributo Das Primeiras CivilizaçõesCarina BotequilhaAinda não há avaliações
- Another - Monster - 70-135 - TraduzidoDocumento66 páginasAnother - Monster - 70-135 - TraduzidoIuri BarreiraAinda não há avaliações
- Sobre o Ponto de Contato Cornelius Van TDocumento170 páginasSobre o Ponto de Contato Cornelius Van TRodrigo AbuAinda não há avaliações
- A Teoria Do Espaço VitalDocumento4 páginasA Teoria Do Espaço VitalArley Santana100% (1)
- 1 Aula - Didática GeralDocumento37 páginas1 Aula - Didática GeralEleonilton Leonardo100% (3)
- Trabalho de Iniciação A Pesquisa - Projeto Lucas2Documento6 páginasTrabalho de Iniciação A Pesquisa - Projeto Lucas2Flor DebarboraAinda não há avaliações
- Literaturas de Lingua InglesaDocumento256 páginasLiteraturas de Lingua InglesaSergio Eron CamargoAinda não há avaliações
- Pacotes Tomorrowland Winter 2022Documento6 páginasPacotes Tomorrowland Winter 2022Ramon TallesAinda não há avaliações
- Lingua PortuguesaDocumento104 páginasLingua PortuguesaJordeilson Amaral100% (1)
- E-Book III Congresso SPESM - Informação e Saúde MentalDocumento234 páginasE-Book III Congresso SPESM - Informação e Saúde MentalFrancisco Sampaio100% (1)
- Modais de TransporteDocumento12 páginasModais de TransporteRosevan PassosAinda não há avaliações
- Livro Uniasselvi Principio de Lideranca e Gestao de Equipes 2009Documento91 páginasLivro Uniasselvi Principio de Lideranca e Gestao de Equipes 2009lais.sh.designerAinda não há avaliações
- Empreendedorismo 9 ClasseDocumento134 páginasEmpreendedorismo 9 ClasseMutondo Maneja90% (21)
- PowerPoint Aula 3Documento47 páginasPowerPoint Aula 3aline2586Ainda não há avaliações
- O Avivamento Pentecostal No BrasilDocumento24 páginasO Avivamento Pentecostal No BrasilMinistério Deus da ProvidênciaAinda não há avaliações
- Tipos Turismo DescritosDocumento2 páginasTipos Turismo DescritosOlga Santos100% (1)
- Resenha Sobre Gestão e Financiamento Da EducaçãoDocumento4 páginasResenha Sobre Gestão e Financiamento Da EducaçãoJady LinsAinda não há avaliações
- 2826 11054 1 PBDocumento10 páginas2826 11054 1 PBDIEGO SOARES GAMAAinda não há avaliações
- Os Maias - Crítica SocialDocumento26 páginasOs Maias - Crítica Socialgviais499297% (32)
- O sintoma entre Marx e LacanDocumento355 páginasO sintoma entre Marx e LacanFramm ScalconAinda não há avaliações
- A fé como desafio na cosmovisão científicaDocumento17 páginasA fé como desafio na cosmovisão científicaDalilo ReinoAinda não há avaliações
- CASO PRÁTICO 1 - EMPRESA VOU PASSAR (Aluno)Documento4 páginasCASO PRÁTICO 1 - EMPRESA VOU PASSAR (Aluno)Anderson LimaAinda não há avaliações
- Cartilha segurança construçãoDocumento3 páginasCartilha segurança construçãoGabriel CunhaAinda não há avaliações
- Aula 1Documento4 páginasAula 1Faustino FelisbertoAinda não há avaliações