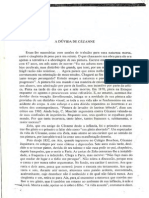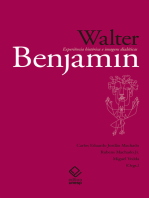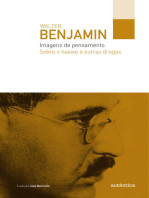Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DIDI-HUBERMAN, Georges - o Que Vemos e Quem Nos Olha
Enviado por
rosanazarethTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DIDI-HUBERMAN, Georges - o Que Vemos e Quem Nos Olha
Enviado por
rosanazarethDireitos autorais:
Formatos disponíveis
TRANS
Georges Didi-Huberman
0 QUEVEMOS,
0 QUE NOS OLHA
Traduo
Paulo
EDITORA34
Editora 34 Ltda.
Rua Hungria, 592 Jardim Europa CEP 01455.()()() .
S3o Paulo. SP Brasil TeVFax (11) 3816-6777 www.echtora34.com.br
Copyright C Editora 34 Ltda. brasileira), 1998 .
Q que noau vo,oras, a qui noau Q L.es de Minuit, Pans, 1992
A f'OT()()OnA D QUAJ.Q4.0 FOUfA DSn UVltO t tl.CAL, CONFIGUM UMA
INDMDA DOS DtUJTOS tN1UCTUAlS PATRIMONIAts DO AUTO!l.
Titulo original:
Q que nous vo,ons. a qui nous regarde
Capa. projeto gdfico e elcrronia:
Bracher 6' Malt4 Produo Gr4fica
Revisio:
RWJrdo Nascimento Fabbrini
t -1998 (1" Reimpressio 2005)
na Foote do Departamento Nacional do Livro
Biblioteea Nacional, RJ, Brasil)
0 qac-. o qac nos olha I Ceorsts Dicfi.
,.. 1n1o: u 34, t"s
U4 p. (Cah;lo TUNS)
ISIN I.S.73U.I1J.7
de: Q qac- YOJOftl, cc qulnout rtptcle
1. Cridcl cle 1rtc Hitc6ria Sk. XX.
L n1111o. n. S&lc.
CDD-70111
0 QUE VEMOS, 0 QUE NOS OLHA
Prefacio a brasileira:
Passos e caminhos de uma Teoria da arte
por Stiphane Huchttt ............................... .
...... ...............
A inelut:ivel cisao do ver
Por que o que vemos dilmtc: nos olha dc:ntro? 0 que: Stephen
Dcdalus via: a cor do mar glauco, os olhos da m!c: moru.
Quando ver E perdc:t.
0 evitamento do vazio: ou tautologia ...................... .
Diante do tt1mulo. ridmcia, esvuiamc:nto. A prop6slto de:
duas formas de evit2mentos: a tautologia (o que vemos nlo
nos olha) e a (o que nos olha sc: rc:solveri mals tarde).
lmagens da rumulos vazlos ou tormentas dantescos.
0 mais simples objeto a ver ................................................ .
lmagens da tautologia: paralc:leppc:dos da ane minimallsta.
da iludo, do detalhe, do tempo c: do
anttopomor6smo. Ideals da espc:dficidadc, da toralidadc,
da coisa mesma e da "What you sec: is
what you see."
0 d'( d . f . l . d 'd. .
1 ema o VJS ve , ou o Jogo as ev1 enctas ..................... .
Co.mo uma forma pode ser "espedfia" e "presente" ao
mesmo tempo? A quercb de Donald Judd e Mkhac:l Fried:
dilemas, pequenas dudos sim&ricos em romo ch
t2utologia. Do dilema a di.al&:lca: o intervalo e a escansio
rianior.
A dia.lmca do visual, ou o jogo do esvaziamento ........... ._
Quando o jogo in&ntil ritma a perch com o resto. Carmel,
boneca, leD90l de canu, cubo. A dtal&ica do cubo em Tony
Smith. 0 jogo eo lupr. Dial&ica visual ch noire. Volumes c:
nzios: aixas, bloc:os de lat&lcias, objetos-quesr6es. Dtalttlca
e anacronismo da imagem: a mc:m6ria critica e
tar. prcscntmlc:nte, que esu perdido ...
.Anuo.,amorfismo e ..................................... .
Uma diaiEtica scm Antropomorfismo c
geornetria em Tony Smith e Robert Moms. A dupla e6dcla
do volume: est2r A disdncia e invadir. 0 que l uma forma
com "? A inquic:tadl, geomettia
igualmc:nte inquietada. Anac:ronismo e dupla distincia.
7
29
37
49
61
79
117
d I dl
""' . . ...................
A up 3 stanet::t -
Ad pia d
1
stincia como aura. Rclcndo Walter Benjamin.
do do olhar, da mem6ria e do desejo.
0 que a p3lavra cuho" nem snnpre quer dizer. a
aura. A disdncia como im:anencia senso.nal:. Straus e
MerleauPonty. Profundidade e "volummoSJdade na
escu ltu r:a.
A ima.gem critica ....................... : -
A
de imagem dialmca. o_smtoma.
Be1eza e sublime viol&lcia do verdadelro Dialmca cia.
mem6ria. Jmagern e conhecimento. A como crlnca e
1
crftica como trabalho da imagem. 0 p:arad1gma do
desperur. A hist6ria como Trasmuktd'Jlrtg. Nem nem
uatologia:
0
exemplo de Ad Reinhardt.
Forma e inte:nSidade ............................................................. .
Retorno l quesdo: o uma forma com
Critica da real e da forma fechada. A forma como
e a do formallsmo". A como.
e
1
&eud.ana. Para uma antropologa da
forma: Carl Einstein. Para uma meupsicologia da forma
1ntmsa: aurae inquicunte esttanbez.a.
0 interm..in.avel Jimiar do olhar ............................................ .
Diante da porta. A e Uma
paribola kafkinu. lntcessi'bilidade e unanenaa. A unagem
csuuturada como um limiar. A gcomctria cnc:amada. Jogar
com
0
fim: dar forma, Yisualmcnte, l pcrda e ao resto.
Quando olhar c romar-se imagcm.
Nota bibliogr-a.fica. --
fndice dos nomes pr6prios .................................................. .
147
169
201
231
256
257
'
Prefdcio a edif(io brasileira
PASSOS E CAMINHOS DE UMA TEORJA DA ARTE
A do livro de Georges Didi-Huberman u que nou.s
voyons, a qut nous regarde e uma excelente ocasiao de entrar em
contato com a mais recente Teoria francesa da Ane. Esta e quase des
conhecida no Brasil, apesar de o publico ter tido recentemente a pos
sibilidade de freqUentar melhor as linhas gerais da estrita
mente filos?fica da Ja esporadicamente traduzidas, cen:as obras
de Gilles Deleuze ou de Jacques Derrida, por exemplo, encontram urn
eco as vezes mais estetico do que propriamente 6Jos6fico, porque pro-
porcionam aos te6ricos, aos crfticos e aos artistas uma expressao que
deve tanto a urn conhecimento aprofundado da Hist6ria das artes e
da literatura quanto uma visiio e a uma dos interstfcios
plasticos do pensar. Esses fundamentos esteticos provam a
inerente a filosofia francesa, de que a anfstica colabora, de
maneira privilegiada, com a da questio do Ser e com a
expressao do Sentido do Mundo
1
Assim, Georges Didi-Hube.rman,
que C tantO urn historiador quanto urn fiJ6sof0 da arte, herdou OS Jia
mes ontol6gicos que a fenomenologia merleau-pontyana ou a psica
nalise lacaniana sempre estabeleceram com a ane.
0 perfil epistemol6gico da obra de Didi-Huberman pode susci-
tar efeitos de estranheza. Em alguns centros .brasildros de ensino das
anes plasticas, a semi6tica de origem pierceana representa o referen-
dal conceitual mais hegemonico. Eta setve para padronizar uma abor
dagem pretendida cientifica" da obra de arte. ao contra
rio, nurna e numa sensibilidade totalmente diferentes da tra-
e da sensibilidade anglo-saxis, a teoria fr.ancesa das artes plas-
ticas (na teoria liteclria, as coisas sio diferentes) nunca quis nem se-
quer romper com o coeficiente de presenfO viva na obra de arte e nas
imagens. Longe de ser, como o e a semi6tica, uma epistemologia que
I A ane como deisdnci2 do Ser. Maurice. MctleauPonty, 0 olho eo es
pfrito, S!o Paulo, Os Pensadores. 1984, p. 109.
0 Que Vemos, 0 Que Nos
7
-
reduz o senslvtl eo visual ao funcionamemo informacional de signos
conforme caregorias operacionais muitas vezes esrreitas, a Teoria fran-
cesa da Arte sempre buscou outro caminho.
Para conrextualizar esse caminho, definamos logo uma das suas
especificidades. Desde o fim dos anos sessenta, o dos mais
importlntes te6ricos franceses da ane era o de procurar romper tanto
com a cririca de cunho literario quanto com a filosofia da arte desem-
penhacb pela fenomenologia, porque, ao buscar o sentido ontol6gico
da pintura ou da escultura, a fenomenologia acabava sempre prarican-
do wn Canto da Tura ou da subscincia artlstica. Alias, se essa feno-
menologia rinha na sua essencia tao literarios, tanto em Jean-
Paul Same quanto em Merleau-Ponty, e porque ela julgava necessario
frisar o Ser do Belo eo Serda Ane num esrilo sofisticado ja desempe-
nhado por ilusttes predecessores como Diderot, Baudelaire, Apollinaire,
OU OS poetaS surrealistas, isto e, pe}a do pensamentO crfrico
frances. Essa mandra reinou are os anos cinquenta. A historiografia
da arte nio escapou a esse carater estetico da escritura. Basta reler Elie
Faure, do irucio do s&:ulo, cujo estilismo afastava sua Hist6ria da Arte
de qualquer carater cientlfico. fulpreciso esperar o fim dos anos cin-
para que a historiografia da arte manifestasse uma preoeupa-
sistematica no empreendimento de uma leitura que, no seu deno-
minador mais comurn, nao fosse apenas ou uma mistura de biogra-
fia, de bibliografia e de cacllogo, ou uma mera iconologia.
f!_.coube a Francastel Vmdo de uma pratica sociol6gica, ele trolt-
xe uma exigencia epistemol6gica que abriu as portas as de
da historiografia da ane.
AtraSada tanto com ao que tinha acontecido de similar
nos palses germinicos desde o fun do seculo dezenove, como a teoria
iconol6gica de Elwin Panofsky nos anos trinta, quanto em a
virada epistemol6gica que, nos mesmos anos trinta, a histo-
riogri.fica francesa tinha vivido (com Marc Bloch, Lucien Febvre e a
&ole des Annales), a historiografia francesa da arte dos anos sessenta
entrou em diilogo com as ciencias humanas, a lingiifstica, a semiologia
e a psicanilise. Sua exigencia 5\lbita de epistemol6gicas,
talvez mais rigorosas que aquelas oferecidas ate aquela epoca pela
iloso6a da arte de ambo fenomenol6gico, permitiu-lhe forjar uma
pratica original. Na busca de modelos formais de questlonamento, de
analise e de do saber sobre a arte, a historiografia da arte
a encontrar seu perfil cientffico pr6prio. Tais modelos eram
8 Georges DldlHuberl!l4n
encontrados pelos autores dentro de diS ' c' I'
P mas cu1as fer
ceatuaas e constituintes l6gicos provoc . ramenru cor.-
fi d a ram uma anseryao da hisrori -
$!! _ a arte no campo de repercussao do cstrut
1
M
0
mot . ura asmo. as ao mes
empo, essa ao estruturalasmo acabou desfaund
razoes bern ressaltadas por jean-Fran,.ois Lyotard 19.71 o-se
- pod , em o sens1vel
nao e acabar afogado pela matemarizayao do r
pelo estruturalismo.2 Atraves dessa varada
da arte a conter te6ncos fortes que a
naram rapidamente uma Teoria da Arte epistemol6gaca e metodologi-
Urn duplo fenomeno apresentou-se: seu risco
d.e na.s _oencaas humanas e seu enriquecimemo epistemol6gico
o famoso titulo do livro de Pierre Francastd pu-
1967 a a.rte e a do Quattrocento, po-
dtzet que a h1stonografia francesa da arte enconrrou a multi
pliodade de sua Figura e as novas configura'"Oes te6ricas de ..,. Lu
A d , ...... gar ...
pam: e 1968, Louis Marin integrou a lingU(stica de Saussure
e.de para propor uma semiologia concebida como a cien-
cJa da sobre os agenciamentos "linguagetkos" dos siste
mas d_e classicos. Por "linguagetico", entende-se a arti
dos SJgnos em significantes visuais e significances verbais c
impllcitos que, em ultima instancia, constituem 0 sentido
da unagem. Autor de vinte livros que sao tanto tesouros analticos
desde tudes shniologiques, em 1971, a Pouvoirs de /'image, em 1992:
passando pelo deslumbranre Delruire Ia peinture, em 19773, Loujs
1
Numa sinenuticicbde cririca icomparivel, lyourd pre
figurou em DisJJIn.fipr# (Paris, Ed. Khncksiedc, 1971) muitos dos nUcleos de
trabalho investidos pelas pr6prias Hist6ria e Teoria da Arte de Georges Didt
Huberman e de seu mestre Hubert Damlsch.
Do bdo do formalismo e da extmru, o emblcnu da
da Hist6ria da Arte 1 maneira es1n1ruralisu foi realiudo por Jean-Louis Schefer
em Sdnographie d'un tabluu (Paris, Ed. du Scuil, 1969). Uma e terri vel
rede forma.J.lingiifstica tomou o JiYrO uma tlcgivel obraprima de m4lberu semio-
16gica. Seu postulado, eontudo, de peso: uma 1onomia siplificante da ima
gem desfaz fio a fio e inte!ramcnte a hist6na da arttlhist6ria das &ndu". ("A
Imagem: o Senrido 'lnvestido' .. ,;, (Vllrios autorcs), A an4/lse d4s im4gtffs, Pe-
tr6polis, Ed. Vozes, 1973, p. lJS).
3
Louis Marin, budes slmiologiques, Paris, Ed. KIIncbicck, J 971; P()UIIO/n
de Paris, Ed. du Scuil, 1992; Ditruire Ia Paris, Ed. Galilee, 1977,
(E.studos semfol6gicos; Poderts da imagtm; Dtstruir a fJirthlra}.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 9
I
I
I
-
Marin prettndia tomar a imagem falante, desvendar as analogias entre
as narrativas da pintura eo discurso sabio e ret6rico con-
temporineo da imagem analisada, e produzir o saber dessas articula-
finssimas. contudo, a
inicial de sua obra nao parecla romper totalmente com a pratica ico-
nol6gica, e apenas porque a documentaria proporcio-
nava 0 material necessario a dos c:onteudos de ver-
dade resultados nas estruturas semio16gic:as e formais analisadas. Louis
Marin sabia que o formalismo de uma Hist6ria da Ane nova nio po-
dia prescindir da pratica do campo fac:tual inerente A disciplina.' 0 his
toriador da arte nunc:a e apenas o te6ric:o de sua-f.ratica. Senlo ele se
toma fil6sofo no sentido esttito e deixa de a pouco, sua
metodologia lingiiCstic:a viu-se substitufda por uma dos
dispositivos-ardis desenvolvidos na A e
repleta de dobras paradoxais pelas quais, atraves de\un extraordin4rio
parentesc:o com paradigmu teol6gic:os perpassando os fundamentos
e a prftic:a do poder imagetic:o, ela se revela ser a sutil e
sofisticada de uma rroca de rec:iprocidades entre e ausencia
do prec:isaria da fenomenol6gica
da a o e do desaparecimento, de reenvios cruzados e de interclm-
bios entre os retos e os versos das instanc:ias semiol6gicas para funcio-
nar e assim ver seus c:odicienres expressivos e sensveis cumprirem sua
tare& simb6lic:a, religiosa e poUtica. Didi-Huberrnan, que nunc:a se
refere a ele, Dio pOde ignorar quanto Louis Marin frisou essa tarefa
amropol6gica da e a da nova filosofia da expressio
imagetic:a que ele trouxe a Teo ria franc:esa da Ane. Uma f6nnula pode
resumir a extraordiniria c:ritica de Louis Marin: demonstrar
que a imagem de ane e wna economia paradoxa! do Sentido. Uma
economia simb61ic:a, semiol6gic:a e discursiva.
Hubert Damisch foi o mestre de Didi-Hubennan. Saindo, urn
pouc:o como Franc:astel e Marin, de uma epoca (anos c:inqilenta) de
abordagem da arte dernasiadamente Utica e literfria, Hubert Damisc:h
prolonga a pdtic:a umb&n desempenhada por Marin de fundamentar
a historiogrific:a em instrumentos de origem filos6fica.
Em 1972, nama sistematicidade bastante pondensada e eficaz, Thlorie
du nuagtf,estudou os dispositivos pic:t6ricos c:Ussicos (as nuvens renas-
4
Habert l)amircb, 771/orU tlu 'POflr 11M blstolr6 tk Ia peiniJITe. Pa
ris, Ed. da Seail, tm (Ttoria u rruwm. Pma"""' bist6rill u plmura).
10 DidiHubmnan
centistas e barrocas) suscetiveis de penu b
lidade cumprida pela ""fSN"Niva A .r
1
. ar da
ana 1se r1gorosa dess.a
coloc:ava-se a da paradoxa! d
Frisar os dispositavos re
Slgmficava encontrar os significames picro r"lco b P d
ll h "d d s pertur an o uma
a sa omogenea a e cultural. lsso prefigurou a busca d d' h L.
d . 1 1-
naana e mstrumentos de escapando .
I' . . . a leo-
no ogacas, as tentattvas de de rodos os signos rem L .
I d , as e Slmuu-
os .urn .mesmo enonunador comum cultural e contextual. A nuvem
damasc:hiana, portanto, desempenhou um papel de abalamenro das
certezas da pratica iconol6gica.s
Sem duvida, muitos anos depois de Theorit du nuage, Didi-Hu-
bennan niio se esquecera da imensa desse Jivro
30
esco-
lher o conceito "sintoma ".A dos poderes de urn sin-
toma, paJavra r' empregada por Damisc:h para definir a capacidade
da nuvem em subverter semiologicamente a hegemonia da represe.n-
e a do sentido das imageos, constituiu urn pre-
cedente epmemol6gico para os futuros livros de Didi-Huberman. Her-
dando de seu mestre o exemplo, o ensino e os encamlnhamenros epis-
que frisamos, Didi-Huberman a partir de 1985 a
mtrodUZU' com fof9l seus conceitos<haves: o mcamat, o pan, o sintoma
etc., dando assim um folego novo is propostas te6ricas de Damisch.
AJi4s, simultaneidade entre as pesquisas do mestre e as do disdpuJo
e bern ilustrada na similaridade entre o primeiro livro de peso de Didi
Huberman, La pdnture (1985), eo livro de Damisch, Fenhrt
;aune cadmium ou les dessous de Ia peinture
1
Nde, Damisch baseia
se no Chef-d'oeuvre incottnu, de Honore de Balzac, conro de 18308,
s Em A origem u penpeawa (1987), Hubert Damlsch reatou com aa!Uli
se dos intersd'clos eplstemol6gicos da am e da muscendms c disslas,
com uma armadura cridca e 61os6fia potentc,
'Georges Didi-Huberman, La pdtrttlre inelmtlt, suiYi de Lt Ch4 t!'Wre
irra>runt, par Honori de Baluc:, Paris, Ed. de Minuit. coL Critique, 1985 (A
pitrtura
7
Hubert Damiscb, Flndrt cadmium oults dnsOfU tk 14 pdnhtre.
Paris, Ed. du Seuil, 198<4 (jlllrt/4 cadmhmr 011 01 dtbaix01 tl4 pitrblra).
1
Honori de Baluc:, A obN prima ignoratla (vol. 1 S das Obru Compktas),
Pono Alegre, Ed. Globo. 1954.
0 Que Vemos. 0 Que Nos Olha 11
j
pana aludir ao p3radigma freudiano do trabalbo do sonho na consti
das imagens pict6ricas. Mas o acrescimo cientffico proporcio-
nado por Didi-Huberman ao encaminhamento das questoes comple-
xfssimas Jevantadas pdo conto de Balzac e incomparavel.
Prolongando a releirur.a do conto emprecndida por Damisch (lem
brando tnmb6n a leitura desse pelo fil6sofo Michel Serres em Genese9),
Didi-Huberman consagra urn estudo deslumbrante as fantasias ifan-
tasmes, em frances) da pintura (e da escultura no caso de Pygmalion).
Para aiar, desenhar e ordenar o que constituiria o paradigma fantas
matico e carnal da pintura, da Antiguidade are nossos dias, La pelnture
incamie mergulha o leitor (e a Hist6ria da Arte) no tecido mais re-
quintado da psic:anilise de cunho lac:aniano, e a com inumeros
momenros da Hist6ria e da Teoria dassica da Arte. Quale esse para-
digma completo? 0 livro assim: "A pintura pensa. Como?
wna questio infernal. Talvez inaproxinUvel para o pensamento"
formular a topologia a sua filosofia do Senrido, Dida-Hu-
berman prop()e o de tres paradigmas: os do semi6tico
(o Sentido-sema), do estetico (Sentido-aislht.si.s), e do patCtico (Senti-
do-pathos). Ele aaescenta: "Esse poderia ressair a uma
estrutura de pete .to A Hist6ria inteira da pintura revelaria aquilo que
ele de &nwma de sangue reticular percorrendo toda a His-
t6ria da pintura ocidental desde suas origens gregas. "u a a
hip6tese de que a que a de um sangue ted dado
a Pintura sua mais louca exigencia.ll A imagem de arte12- aqui
sendo a pintura paradigmatica descrita por Balzac um mero turbilhio
de manchas apresentadas pelo pr6prio pintor Frenhofer como recria-
de uma mulher ideal-e analisada por Didi-Huberman como um
corpo e um signo indissociavelmente envolvidos na sugestio do in-
C4T1Uit pia6rico. Na tela-DWlcha vermelha do Chef d'oeuvre inconnu,
trata-se da da came (du don de Ia chair, em frances). is a
exigencia e eis o limite.13
'Michel Serres, Gbseu, Paris. Ed.. Grassct, 1982.
10 lbUkm, p. '
11
1bid .. p. 12.
u Georges Dicli-Huberman esaevc "image d'art (imagcm dt anc), e nJo
.ima&em de l'art" (imagem tl4 anc).
lJ Ibid.. p. 20.
Georges Didi-Hubcnnan
Toda psicanalfnca do de l d
1
.
I
- , o, tl a d
pu sao, esta ass1m convocada par<t demonstra
1
' a
h 6' d B l r como a te a louc.t do
er I e a z.ac abre uma "tripla questao a med'd d
d b d 6 . . . . I a os toques, c.olo-
ca a so o esa o da de acabamento da tela I
lh
. . , aqu1 o que
remos o o arJorro do pmtor; a inJ' u
0
r;
0
enfi d
6 " 14 , rr., e urn sangue na
pr pna . Oat o conceito de pano (pan, em frances) defini-
do como efetto de urn "de!Irio da n.oJe na ord ... d ' d 6
,.15 . . r 0 senn o p1ct n
c? , m_tegra-se_naturalmente a psicanalftica desenvol-
no livro. 0 enfi m, resulta de urn derrame pulsion a I que
sub1az em cada pmtura. Didi-Huberman o define da maneira .
te: "0 incarnat o colorido infernal por excelencia, pel a razao q:e
ele e col.orido de tal substancia localizada do que
o fenomeno-mdtce do movtmento do desejo sobre a superflcie tegu
mentar do corpo. ( ... ) 0 incarnat nao seria nada alem do dever-ser do
colorido: ele seria como o colorldo-Euri'dice a buscar nos debaixos. ( ... )
e a trazer de volta ate as superficies visfveis do quadro. 0 inC4rnat
procede do vermelho, isto e, do sangue, materia por excelencia-mas
do ( ... ) meio do desejo".t6 0 olhar-objeto de inves-
tradtcaonal da filosofia, da Hist6ria e da Teoria da Ane fran-
cesas desde Descartes ate Lacan, na medida em que dos abismos do
olhar se passa sempre ao ser do oorpo - chega a desempenhar urn papel
qual o paradigma da pintura encont.ra sua "0 sen-
tido tatiJ, conforme Arist6teles, e ao mesmo tempo aquilo sem o que
a visao nao pode acontecer e aquilo que constirui o eschaton da vt
sao, seu limite- mas tam bern, por essa mesma razao, fa ntasticamente,
seu telos: tocar seria como a visee (obsessao ou fobia) da visio". l7
Essas passagens complexas mostram como Didi-Huberman pro
cura desvendar os paradigmas nos quais a pi.nrura trabalharia desde
suas origens. Sao meros interstfcios topol6gicos, corp6reos e fantas-
maticos apresentados com uma ciencia rigorosa tedd!! fio a fio a partir
de uma instrumentalicbde conceitual riqufssima e genialmente integra
da. A do livro e grande, eo con junto das propostas deslum
14
Ibid., p. 13.
IS Ibid., p. 4f9.
1
' Ibid., p. 69.
17
Ibid., p. S6.
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olha 13
brante. Nao e preciso insisrir sobre o fato de esse livro representar um
ripo de na Hist6ria e na Teoria francesa da Ane.
No que diz respeito a da psicanalise na paisagem francesa da
africa da am (lembremos a revista Tel Que/ nos anos o .uaba
lho de escritom e intelectuais como Philippe Sollers, Juha
Marc-din Pleynet), e importante sublinhar que a de pada:Hu
berman, em meados dos a nos oitenta, rompeu com a adeo-
16gica e politiO, ou mesmo aftica em D_tsa>urS
figure. des dispositi{s pulsiomrtls). Na sua feirura, lA pemture
realiza um gesto epistemol6gico novo, fora de moda, verdadearamen
te sem precedentes e sem descendencia. com
0
priru:ipis individuationis que regia uma
arte encarregada de liberar o e do su)ea
to. 0 fantMme nio e a fantaSia de um mdividuo sub1envo, mas aque-
la da obra eoquanto corpo, da obra enquanto corpo do
Se IA pemture incamk parece afastar-se da da arte,
no entanto, ela situa-se num nucleo de que uma para
Hist6ria da Arte complewnente porque e radiogclfic::'
versal, e nio deixa de contribuir para uma da
Sea proposta didi-hubennaniana parece colocar o paradigma
da nalise-ainda nio legitimado aanscendentalmente ou a pnon
- de uma ontologia peculiar da obra arte (seu Ser fan
tasmfbc:o),
05
fundamentoS te6ricos propostoS fazem tambem
dele uma forte a ciencla e ao conbecunento da arte, _das
imagens, e do sensfvel. Aqui reside uma boa parte de seu peso
tffico. Ao mesmo tempo, a luta inconfessada conua a e
6bvia, mas a falta de da te6rica envolvada
em que medida Didi-Huberman cbegou a compensar essa
anos depois em Deuant l'inuJge. Questions poues aux fins d une hiS
toire de l'art11 (Ditmte d4 inuJgem. Questou feitas aos fins de uma
Hist6rla d4 Arte).
Devant l'inuJge resulta de uma pesquisa realizada durante sua
tonga esudia na Villa Medicis, ou Academia da em Roma.
Tnidado na descoberta, em Fra Angelico, do poder de
mfstico inerente l de zonas pict6ricas meramente matenais
11 Gtocp:s Didi-Hubcrman. Dllltllll posies 1111X fins d'UtU
bisfoite u I' art. PariJ, Ed. de Minuit, col "Critique", 1990.
14
Georges Didl-Hubennan
'
ou pigmentadas, isto e, nao-representativas, 0 livro elabora uma CfiM
rica implacavel da pretensao da histonografia tradicional de dar con
ta da do das Para investigar os impensa-
dos que constatuem a prataca convenclonal da Historiografia, Did
1
-
Huberman regride passo a passo ate os momentos de da
visio panofskyana da Hist6ria da Ane e os meandros complexos que
precedem sua da Jconologia. Forjada pouco a pouco pelo
mestre aJemio a partir de uma linha mtelectuaJ neo-kantiana e devendo
muito ao ensino do fil6sofo Ernst Cassirer (neo-lc.antismo fundado
sobre a primeira aftica de Kant, isto e, sobre a das condi-
uanscendentais do conhecimento objetivo), a Jconologia acaba
sendo vista por Didi-Huberman como o estabelecimento de uma ca-
misa de cognitiva sobre as obras de arie cu)a interprera\<io nao
deveria dei.Xar nada fora oe seu alcance totalizante, verbalizado"r e
lamenta o que ele chama de
dutibilidade das imagens"
19
: segundo ele, eta refletiria a "autosufi-
cieocia,. da Hist6ria da Ane torn2da leitora. Num anseio de ve-la rom-
per com a do visfvel ao legfvel, fenomeno bastante meraffs
co, e iovestir no paradigma do visiUll, ele denuocia o fechamento es
pontineo e irrefletido que ela realiza dlante das &porias que o mun-
do das imagens prop& ao mundo do
Dldi-Huberman a pro
veita esse momento de luta c.ontra o "tom Cfe certeza" que caracteriu
a bistoriografia da arte de cunho panofskyano para lhe contrapor a
escolha de Freud, crftico do conhecimento", e lhe truer um novo "pa-
radigma aftico". Ele reata com conceitos que Hubert Damisch tinba
introduzido, o sintoma, o sonho e sobrerudo o poder da figurabilidade
((igurabilhe em frances; Darstellbarkett em alemio) na esuutura viva
das imagens. Estes ja tinham sido inregrados por Lyotard
na sua grande aftica filos6fica dos sedimentos p6s-hegelianos da fi.
losofia da ane e do sensivel, caraaerlstica da linguagmca
da am pelo Logos ocidental. As questOes colocadas por Lyotard em
Discours-figure prefiguraram as redes de Damisch e Didi-Huberman.
A 'Veduta' sobre urn fragmento da hist6ria do desejo" ja trarara in-
tegralmente dos objeros de Didi-Hubennan, sob o aspecto, por exem-
plo, da texto-figura em estado de mutu2, da des
" Ibidem, p. 11.
.20Jbld., p. 14.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
15
-
I
I
I
l
e dos pacimetros esteticos da Idade Media (dois concei-
tos centrais no trabalho de Didi-Huberman), da passagem pela liber-
ta9ao do imagin:lrio (com Masaccio), da geometrica na 6ti-
ca perspectivlsta do saber retomada por Damisch nos mesmos
a nos). As questOes da figurabilidade, do deslocamento, do procedimen-
to imagerico do sonho, do figural como opacidade, verdade e evento
foram tambem analisados com episternol6gica por Lyotard.
Para a Teoria da Arte, realizou, portanto, uma vira-
da na do corpus freudiano, mas num niveJ transcendental e
nio unilateralmente ideo16gico como o fizeram os membros de Tel
Que!. Varios micleos da doutrina fuudiana fomeceram a Lyotard urn
material de daquilo que ele chamava de outro
urn espa9Q arriculado com as conquistaS p6s-dzannianas das vangu.ar
das tanto plasricas quanto discursivas. Ele conseguiu arrancar este
espa90 setvagem" da de tipo hegeliana, ap6s cern pagi-
nas de critica requintada dos modelos de do sensivel na reso-
discursiva e aniquilamento linguagetico do visual. Vmte anos
depois, Didi-Huberman redobra o gesto lyotardiano dentro da disci-
pUna mais especifica da Teoria da Arte.
( Ele empreende uma regressio alem dos da historiografia
da arte tradicional. que pensa apenas em termos de visfvel, de legivel
e de invisivel. para encontrar as do olhar, da "presencia-
bilidade (prlsmtabiliti) e da figurabilidade que estruturam as ima-
gens. A figurabilidade remete ao poder figurativo do sonho, a um es-
pa9o quase vegetal e selvagem na produ9io das imagens1Ao ser tanto
uma pritica que nunca rompeu com os postulados ideahstas, huma-
nisticos, est&icos e liberais ja presentes na concep9io da Hist6ria da
Arte de Giorgio Vasari no secwo dezesseis, quanto uma pratica que
carece da coragem em arriscar-se a repensar seus postulados sedimen-
tados, a historiografia da arte tende a tomar as imagens o mero pre-
tecto para padronizar uma da cultural e
cognitiva de tal epoca. Uma configura9io que ala e que nio deixa
escapar nada a discursiva dos ruveis de e de
cultural e simb61ica das obras.
A propost_a didi-hubermaniaoa adquire seu sentido ao querer ser
contra a caprura da imagem e da graphia pelo logos, contra o devir
- documento do monumento, a de uma de
A historiografia da arte deve reformular constantemen-
te sua extensio epistemol6gica para melhor aproximar-se da econo-
16 Georges Dldi-Hubennan
I
. d b' !" 2t
mta oo Jeto vtsua . Nessa reorientarao dr3 .. n- D' d" H L .
d .. , I - Uu<t:t man
expnme um novo esafio. Opondo-se a uma "gnos
1
d ..
I
' fi L 10 og1:1 a arte na
qua ver stgnt tea Sau<t:r, Dtdi-Huberman per(>unta "Se . d d .
, , o na ver a eua-
razoavel (deratSonnable) imagmar uma Hist6ria da Arte
CUJO ObJeto fosse a esfera de todos OS MOSentidos con.:do j
>"22 N" .t. " s na ma-
... . ao c tratar aqut da nqueut das c.onsequcncias
tnterpretattvas renradas dos paradtgmas freudtanos escolh' d
D I
O . I OS em
evant zmage. mats tmponante e o sintoma da fam0
1
'
3
do p
, . 'd , a11,
act ente soberano, dilaceramento. Ele e a via promo-
VIda pelas tmagens para revelarem a leur corps dlfmdJJnt sua estrutu-
ra e suas latencias incontrol:iveis. Ele toma a imagem um
c?rpo atravessado de porencialidades expressivas e pato
16gtcas que sao configuradas num tecido feito de rastros sedimentados
e fixados. Ao presentificar-se na inelutabilidade de sua abertura soma-
rica e critica, o sintoma da a seus fundamentos fugidios e abissais.
"Eie comporta em si as tres fundamentais de uma dobra
(repli), de sua volta presenciada, e de um equfvoco ttnso entre a do-
brae sua presentifica9io: tal seria seu ritmo elementar. ( ... 0) nao-sa-
ber do sintoma ( ... ) abre e propulsiona sua simbolicidade num jorro
(rejaillissement) exponencial de todas as de sentido atuan-
do na linguagem. ,23
Mas aqui, podemos apontar apenas para uma duvida, Se, de um
lado, a matriz te6rica do livro acaba amea93ndo a pr6pria historiograJia
da arte, de outro lado a busca de empfricas para as teses
epistemol6gicas (em algumas imagens de arte da !dade Media) acaba
hipotecando a solidez real da proposta. Na !dade Media, muitas ima-
gens por exemplo) tinham uma certa de produ
sintomas, de de uma sinromatica do
crente no poder "enc:amacional" (inacarnationnel) dessas imagens.
Didi-Huberman utiliza esse material hist6rico de tal maneira que a
do yisual procurada por ele encontra-se levada a esco-
lher referencias pontuais trazidas num gesto basicamente iconol6gico:
ode basear o desvelamento da das imagens a partir de documen
tos que lhes sao contemporaneos. A busca de sintomas medJevais (por
11
Ibid., p . ... 6.
12
1bid., p. 149.
13
Ibid., p. 2 HS.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
17
I
exemplo, tal corpo de Cristo constitufdo do derrame de uma mancha
que impede a da anatomia de um corpo supliciado) visa
rea tar com da da imagem de arte longfnquas das
nossas, cujo anacronismo abre as possibilidades produtivas inerentes
a e ao ressurgimento de um p:aradigma intempestivo.
Mas a de uma serie de argumentos suscetfveis a generali-
em um nfvel mais universal parece toma-los as alegorias de uma
visao criria que, nisso, perde seu impacto transcendental. A exem-
n3o pode sustentar a de um a priori. Aqui, o par-
ticular induz o geral e a Hist6ria da Arte acaba enfraquecendo em-
piricamente o molde formal
Isso parcce apontar para o cerco das possfveis entre His
t6ri.a da Arte e filosofia. Seu encontro nomeia-se Teo ria da Arte, e seus
limites residem no &to de a 6Jos66a nunca poder man
ter-se n2 pura intencionalidade abstrat:a, desde que ela convoque corre-
empfricas para que se cumpra a tare& historiogrifica que ela
propria estrutu.ra (formata) transcendentalmente. A tarefa de uma
Teoria da Arte consiste em afetar mutuamente os coeficientes trans-
cendentais da dbnarche pr6pria a Estetica filos6fica e os coeficientes
empfricos da Hist6ria, enquanto correlatos ao famoso du-
plo empfrico-transcendental" apontado por Michel Foucault dentro
das ciencias humanas modemas, nas quais a pr6pria filosofia ter-se
ia WD pouco dilufdo. A Teoria da Arte e este duplo empfrico-transcen
cfentat, no qual reside sua rique:za libil e flutuante. No seu 1ivro do mesmo
ano (1990), Fra Angelico2
4
, Didi-Huberman revela o sintoma de wn
historiador que, diante do risco de da historiografia da arte,
nio pode prescindir das que a constituem na sua
tradiciooal. Ao querer ressaltar os conceitos de desseme/hanf(l e de des
figurao, concdtos da patrlsrica crista, Didi-Huberman baseia sua de-
sobre os insuumentos epistemicos adequados a
do seado quinu. Isso retoma a metodologia iconol6gica, mesmo que
se trate de resgatar o poder sintorruitico da pintura: esvaziar-se atraves
do funci0n2mento de signi6cantes repletos de virtualidade mfstica.
Uma vez que Devant I' image revelava urn c:erto descompasso entre
epistemologia e exemplos hist6ricos, o perfil crlrico de 0 que vemos,
24
Georges DidiHubemun, Fra Angelico. Disstmbfanu n figuration. Pa
ris, Ed. Fbmmarion, lffi>.
18 Georges DidiHubennan
o que nos olha roma-se mais claro Ele t
paz de sustentar com mais fo;93 a nco ca-
entre a proposta ep1Stemol6gica fe. ta D 93 .proporclonalld:tde
d . . I em ltmage e o mat , I
hlst6rico suscetfvel de manifestar sua fecun ena
Para sso, ele da Hist6ria longfnqua, medieval e
e e ontase o movJmento minimaltsta norte-amencano dos a
e a crJttca ane que lhe era 0 sal to do his-
torJador recente da ane representa uma entrada na con
e numa artc que e muito analisada na Co
locando-se dtante dos volumes aparentemente menos carnal's e
h ' d 1 .. memos
umanos os pe specific objects" minimalistas, Didi-Hu-
afasta-se da q_ue a escolha do regime
figuratlvo da para 1dennficar os sintomas. 0 que vemos,
o que nos olha sugere os caminhos de "uma da forma
uma da imagem" originada no desafio
pelas formas maiS fechadas de um abstracionismo desprovido de
humanos. Para a tese resumida oa f6rmula segulnte: "Aqui-
lo que vale- v1ve- apenas por aquilo que nos olha. ( ... ) E
0
que este hvro tenta desenvolver, tecido como Uma fabula filos6fica da
. . . 1"26 D' d' H be
expenencta Vtsua , t J u rman convoca uma bateria de fon
tes teQricas e crfricas que desembocam sobre uma inversao dos valo
res reivindicados na estetica minimalista, inversao dos signos que quer
apresentarse como urn resgate. Ao discutir veementemente tanto as
de Donald Judd e Robert Morris quanto os pressupostos moder
rustas das anri-minimalistas de Michael Fried no famoso cn-
saio de 1967 "Art and Objecthood", Didi-Huberman nao encontra
muita dificuldade em desvendar os alicerces te.Oricos que fundamen-
tam as crfticas do minimalismo, cujo lema teria s1do prE-for
mulado pelo pintor Frank Stella. Num misto de pragmatismo e de
esterica desinteressada, Stella respondia a quem lhe perguntava como
enxergar seus chassis tridimensionais sistemaricos: "What you see is
11
NCManOS que Hubert D:amisch emprttndcu dcsde o fun dos anos cinqilenm
uma crltica com a nuis rteente pmtur.a norte-ame.naJU, a do Ex-
presslonismo Abstrato, tentando lhe provi.denciar pos1Ivcis prolonga.mmtos tr6ri
cos e arra.ncl-la i lfnca da crii:IC2 que o inrqnva unil:atcralmmte ao
lcgado e a seu ennqucclmenro d2 expcrienaa poCtica.
2
6
Qu:arta capa da francesa.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 19
-
what you su". Nao e possivel aproximar-se da obra de arte satisfa
zendo apenas a ideia pierceana de que o real e aquilo a que as infor-
chegarao num certo momento para tornar-se sua configura
clara. Essa tautol6glca e criticada por Didi-Huber
man a fun de reintegrar a pr:iric:a minimalist:a e proto-minimalista (fony
Smith e as c3madas de experiencias idiosslncraticas originando suas
obras) numa dos poderes antropom6rficos, corp6reos, in
elusive u::igicos, presentes na geometria minimalista. Se o livro inau
gura-se com uma organica e melanc6lica sobre os poderes
do visual, e para salientar a dimensao pato-16gica, enigmatica e "des
semelhante" com que os volumes unitarios ou espedficos desses ar-
tistas se apresentam a nossos olhos, apesar das frias iniciais
deles. A analise da antropom6rfica e.ntre n6s e os volumes,
a an2lise da dupla dimensao presente neles- a de uma
semiol6gica entre nossos tamanhos e os tamanhos dos volumes e a de
uma dessemelhanf4 figurativa inerente a geometria -, inscreve-se
tambem na tentativa de de uma do visual
complen mas tramada em aspectos obviamente europeUSl!. insistencia
de Georges Didi-Huberrnan na do relacionamento com a
obra de arte sugere que de procura situar sua visao hist6rica face ao
legado de um pensamento pelos paradigmas da noite, da
morte, do negativo, da origem Essa muitas vezes, salientou
uma forma de nostalgia do r "gioso ou do sagrado. Pensemos por
exemplo nas deslwnbrantes visOes noturnas da arte de Emmanuel U-
vinas e Maurice Blanchet, na verdadeira antropologia e teologia da
visio providenciada por Jacques Derrida na sua de 1991
intitulada Mbnoires d'aveugle no Museu do Louvre, ou no ultimo li-
vro de um e:xcelente autor menos conhecido, Daniel Payot, Effigies'-
7
,
que desemboc::a no limiar de uma teologia da obra de arte e dover (voir).
Didi-Hubennan busca medir os raios insondaveis que varrem nosso
relacionamento perceptive, sensfvel e te6rico com a pura virtualidade
contida nos fcones e fndices ptasticos de nossa Mas nao se
ria illcito sentit nesses embora eles sejam subtrafdos a qualquer
tipo de humanista, personallsta ou religiosa, uma atmosfera
levemente amblgua.
27 Daniel Payot, Effigies. lA notion d'art et ks foo dt Ia rtsstmblanu, Pa
ris, Ed. GaliUe, 1997 (E{lgits. A noo da ttrk e 01 fim da
20
Georges DldiHubemun
Se situarmos a proposta didi-hubcrmanian., d d .
1
1
. .. emro e u.m da
ogo po enuco entre Teona da Ane norte-americana e Teo . d A
( 1 tl a a ne
rancesa, e egmmo v_er em 0 que vemos, o que rros olha um modelo
de 0 desvelamento do antropomod'lsmo "des-
semelhante proporc1onado pelos volumes de Smith Judd e sob
d be
, , retu
o Ro rt Moms (um artista que explorou urn amplo d
, . , . ...--oe
praocas amst1ca.s perpassando toda a complex
1
dade da :me comem-
desde o inlcio dos a nos sessenta, Performance, Minimallsmo,
AnttForm ou Process Art, Land Art, In Situ, Pintura ere.)
atem-se a uma tentativa de de re-encama-
de da obra abstrata e geometrica contra a se-
mi6tica e o pragmatismo anglo-saxao. A da publica-
no mesmo a no de 1992, de um livro de metapsicol6
gica sobre o Cube (1934) de Giacometti, um Cuba que seria uma "ico-
nografia- inclusive (uma) economia psfquica- da melanc-olia .. 28,
pertence ainda ao ambito da fenomenologia da visao, do olhar e do
corpo.
0 que vemos, o que nos olha prop& um caleidosc6pio episre-
mol6gico suscetivel de trazer uma multi pia a Hist6rla da
Arte recente, as vezes submetida aos ditados da critica que :tcompa
nhou o surgimento dos movimentos. A volta de Merleau-Ponty, o
enraizamento ainda freudolacaniano completa-se, de manelra talvez
um pouco eclCtica, por uma analise da metapsicologia da arte elabo-
rada nos anos vinte e trinta peJo escriror e critico litera rio alemao Corl
Einstein, autor bern pouco conhecido, e que se romara fundament:tl
na leitura que Didi-Huberman empreendera da questio para-surrealista
do Informe e de Georges Bataille num livro de 1995 chama do Law-
semblana informe'-9. Mas o Jugar talvez mais importante do livro
encontra-se na de duas redes conc:eituais benjaminianas que,
desde alguns anos, dinamizam a filosofl3, a da aura e a da imagtm
diallticaTA aurae um conceito (secularizado por Didi-Huberman) que
procura aar conta da '"dupla eficacia do volume: set a distanda e in
vadir enquanto forma presente", forma cujo impacto sustentase de
lat&lcias que ela exprime. Entre aquele que olha e aquilo que e olba-
21 Georges DidlHubc:rman, LA cube n /e viuge. Autour d'une
d'Aibmo GiiJeomtttJ, Paris, Ed. Macula, 1992.
2t (A umelhim(4 informe), Paris, Ed. Macula, 1995.
0 Que Vemos, 0 Que Nos O!ha
21
,
do a discincia aur.itica permate cnar o inerente ao seu
t pred so um vuio que seja o n1io-lugar de des
sas duas mscincias envolvidas na e no encontro entre olhan
re e .. olhado" olhante e olhado que pertencem tanto ao ambito da
obra e da imag;, quanto ao do antropos. Articular o sentido sobre o
vnio sobre
0
espa\3mento, sobre o big/bang topol6gico e senslvel
a aura acaba desembocando sobre a da lmagem
dialetia e da Imagem crltica benjaminianas. Essas lmagens dialeticas,
proporcionadas pelas obras de arte, permitem uma nova fiiC:
sofia da Hist6ria suscedvel de modelar uma e urna escra
tura da Hist6ria completamente afastada do modelo iconol6gico. Mas,
na filosofia da Hist6ria de Walter Benjamin, Didi-Huberman encon
uou um novo paradigma critico a paz de funda.mentar uma
gem epistemol6gia das imagens de arte de quase
enriquec:e a ideia de que o con junto e dos
contidos nas imagens artlsticas podena consatutr a substancta uma
nova Hist6ria da isso, Didi-Huberm.an pOe essa ulnma no
limiar de uma prati ialetia que procura frisar os nos
quais uma voz cultural e hist6rica recalada, suspensa, e
deixada subternneamente a espera de seu momento de ressurgunen
to prop(cio (e de seu tempo de e de rea
pa..receria para cumprir sua tarefa bist6rica. Ass1114 ela saasfana as
exigt:ncias que sua carga ut6pica continha tempo em eta
nio podia ser entendida. Eis uma Hist6ria seve con
vocada a promover o poder incendiirio e a descober
toS durante verdadeiras arqueol6gicas feitas nas camadas
do tempo. 0 ouuora enconua o .. Agora" de seu As
prornessas antropol6gicas e politicas BenJarruD;), con
tidas no poder imagetico espalhado nas do_ tor
pottanto, resgatadas, quase redimidas. A matnz dtaletica das
Imagens criticas enconua-se nos sintornas tramando tem
poralidade fragmentada e ut6pia inerente ao carrunho do Senado. 0
bistoriador benjaminiano escolhera enconttar e ?s lugares
c:mergCncia eventual de uma mem6ria cultural e hist6nca anvoluntaria,
tugares ressaltados pelo se ele
fosse 0 artista e 0 escritor sabio das VJrtuatS do tempo.
Os restos en dlsherlna da Hist6ria fazem ou cristalizam-se em ima
gens que manifestam seu potencial ut6pico nas suas
gem do sentido das irnagens nao e rnais sihtada a parnr das
21
,Ccorges Dldi-Huberman
herdadas da tradi9ao historiografica, mas encontrad" nos r
.. antctsr eros
e nas dobras de seu surgamento nao-prescntlvel imponderL 1
. -. _,. . , ave , ver
dadearo e c. mutil parafrasear o que o lavro oferecc de ma-
neira longamente elaborada. Mas tornase daro que a rarcfa da H
5
t6ria da Arte, ao enriquecerse num molde episremol6gico aproxima
1
0
do o trabalho do historiador e do fil6sofo do trabalho do arrisra, sub-
mete a Hist6ria a uma implosao fascinante. Eis, de certa maneira, uma
' economia da imagem virtual iousitada e inaudita. Nessa economia a
Hist6ria acorda de seu sono racional, plena de vktualidades. Al lis, :m
ultima instancia, o empreendimento didi-hubermaniano e polt.ico. Ele
mulriplica entre si os coeficientes seguintes: de urn !ado, sua argumen-
arranca o monop6lio do virtual aos adeptos ingenuos ou dna
cos da virtualidade crfptica proporcionada pelas novas tecnologias e
a gestao midiatica do simulacro (num volume de Tony Smath, nao
temos menos virtualidade, talvez ate mais, do que noma imagem vir
btal atual, porque a expressao e a cria9ao da virtualidade siio uma
essencia do homem desde suas origens e sem duvida urn dos existen
ciais necessanos para 0 definir); de OUtrO )ado, ele desocupa 0 terreno
ocupado pela racionalidade eo positivismo de urna historiografia da
arte tradicional que peca ern os perfis do passado a partir de
postulados nao-dialeticos e pouco suscetCveis de folhe:i-lo na sua ri
queza heterogenea, multipla e nomadeftis 0 poder ut6pico de uma
Hist6ria da Arte que se toma uma filosofia das imagenSl
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olh3
--'
Huchet
Bdo Horizonte, agosro de 1998
23
'
0 QUE VEMOS,
0 QUE NOS OLHA
..
,
I,
Luz. Sua fraquetA. Seu amarelo. Sua co
mo se os aproximadamente ottenta mil centfmetros quadra
dos de superffcie total emitissem cada um seu brilho. 0 ar
quqo que a agita. Ele se de tim a intervalos regulares como
um folego em seu fim. Todos se contramr entiio. Sua per
manmcia parea acabar. Ao cabo de alguns segundos tudo
recomef4. Consequencias para o olho que, niio mals bus
cando, frxa o chao ou se ergue em direo ao teto distante
onde niio pode haver ninguem. ( ... ) Nada t'mpede de afir
mar que o olho acaba por se habituar a essas e
por se adaptor a elas, se niio i o contr4rio que se produz
sob forma de uma lenta degradao da vJ'siio arruinada com
o passar do tempo por e.sse avcrmelhamento fuliginoso e
vadlante e pelo continuo semprc {rustrado, smr (alar
do abatimento moral que se rc{lete no 6rgiio. E se fossc
possfvel seguir de perto durante bastante tmrpo dois o/hos
dados, de preferencia azuis enquanto mals peredvcis, os
veriamos cada vez mais e.sbugalhados e injctados de sangue
e as pupilas progressivamentc dtlatadas ati devorarem a
a5rnea inteira. Tudo isto evidentemente num movimento tao
Iento e tao pouco sensfvel que os pr6prios /ntere.ssados niio
se diio conta se essa moo e mantida. E para o ser pensan
te que vem se indinar friamente sobre todos esses dados e
evidincias stria rea/mente di(fcil ao cabo de sua niio
julgar scm raziio que, em vez de empregar o termo vend
dos que tem de fa to um pequeno patetico desagrad4
vel, o melhor seria (alar de cegos simplcsmente."
S. Beckett, u depeupleur,
Paris, Mmuit, 1970, pp. 7-8 e 34-35.
A INELUTAVEL CISAO DOVER
0 que vemos s6 vale - s6 vive -em nossos olhos pelo que nos
olha. porem e a cisao que separa dentro de n6s 0 que ve-
mos daqutlo que nos olha. Seria precise assim partir de novo desse
paradoxo em que o ato de ver s6 se manifesta ao abrirse em dois.
lneluclvel paradoxo - Joyce disse bern: .. ineluclvel modaltdade do vt
sfvel", num famoso paragrafo do capitulo em que se abre a trama g1
gantesca de Ulisses:
"lnelut4uel modalidade do uisfucl (ineluctable modali
ty of the visible): pelo menos isso se tuio mais, pensado atra
ves dos meus olhos. Assillaturas de todas as coisas est ott aqm
para ler, marissemen e maribodelha, a mare montante, e.s
tas bolinas carcomidas. Verdemuco, azulargbtteo, carcoma:
signos coloridos. Limites do dUifano. Mas ele acre.scenta: nos
corpos. Entao ele se compenetrava deles corpos antes dele.s
coloridos. Como? Batendo com sua cachola contra eles, com
os dU1bos. Deuagar. Caluo ele era e miliondrio, maestro di
color cbe sanno. Limite do ditifano em. Por que em? Did
fano, aditifano. Sc se pode p6r OS cinco dedos atraves, e por
que e uma grade, se niio llnta porta. Fecha OS olhos c v2. "
1
Eis portanto proferido, trabalhado na lingua, o que imporia a
nossos olhares a ineluclvel modalidade do vislvel: inelut3vel e para
doxal, paradoxa) porque inelutavel.joyce nos fomece o pensarnento,
mas o que e pensado a so surgini como urna travessia sica, algo que
passa atraves dos olhos (thought through my eye.s) como uma mao
passaria atraves de uma grade. Joyce nos fomece signos a ler (signature.s
of all things I am here to read ... colored signs), mas tambem, e no
1 J. Joyce.. U/y$us (1922), cf. rrad. de Antomo Houaiss, Rio de Janeiro, Ci
Brasilelra, 1966, pp. 412.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
29
mesmo movimento, mntirias s6rdidas lig:tdas 3 procria9io anjmaJ (ovas
de peixe, seaspawn), a ruina e aos dejetos marinhos (o sea
wrack). Ha rambem, sob a autoridade quase infernal de Arist6teles2,
a filos6fica do diafano, mas, imediatamente, de seus lim ires
(limits of the diaphane)
3
- e, para terminar, de sua pr6pria
adi'aphane).
a visio se choca sempre como inelut3vel volume dos cor
pos humanos. In escreve Joyce, sugerindo j6. que os corpos, esses
objetos primeiros de todo conhecimento e de toda visibilidade, sao
coisas a toear, a acaridar, obsticulos contra os quais "bate.r sua ca-
chota (by knocking his sconce against them); mas tambem coisas de
oode sair e onde reentrar, volumes dotados de vazios, de cavidades ou
de reccpticulos organicos, bocas, sexos, talvez o pr6prio olho. E eis
que surge a obsedante quest3o: quando vemos o que esti diante de n6s,
por que uma outta coisa sempre nos olha, impondo urn em, urn den-
tro? for que em?" pergunra-se Joyce. Algumas linhas adiante, a ques-
tio sera contempla.r {ga.tt) urn ventre matemo originario, .. Ventre sem
bojando-se ancho, broquel de velino reteso, nio, alvictimulo tri-
tico, oriente e imortal, elevando-se de peretemidade em pereternidade.
Matriz do pecado"\ infernal cadinho. E compreendemos entio que
os corpos, especialmente os corpos femininos e matemos, impaem o
inelutivel modo de sua visibilidade como outtas tanta.s coi.sas onde
passar- ou nao poder passar- seus cinco dedos", tal como faz.e-
mos todo dia ao passar pelas grades ou pelas portas de nossas casas.
fechemos OS olhos para ver" (shut your eyes and see) - esta sera
portanto a conclusao da &mosa passagem.
Que significa ela? Duas coisas, pelo menos. Primeiro nos ensi-
na, ao reapresentar e inverter ironicamente velhfssimas proposies me-
1
primdro dtculo do Inferno (o Limbo) que Dante - textualmente
c:itado na passagem de Joyce- ergue os olhos para perceber Arist6telcs, "o mes
tre dos que sabem (Poi ch'inrralui 1m poeo piN le dglla, I vldi 'I maestro di aJlor
che samso-). Dante, DNiNI Comltlia. Inferno, IV, 130-131.
J Ou seja, pan Arist6tdes, o Iugar mcsmo da core do vis vel. Cf. Arist6te-
lcs.Dulma,D, 7,418a, trad. J. Tricot, Paris, Vrln, 1972,pp. 10S106. Ickm,Do
e tlos Uf'ISivds, ID, 439a, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1951, p. 14. Idem,
De coloribus, m.JV,792ab, trad. W .S. Hen. Londres/Cambridge, Loeb Oassical
Library, 1936, p. 821.
4
J. Jayc:e, op. cit., p. 43.
30
Georges Dldi-Hubemun
tafisicas ou mesmo que verso
t . . ' se pensa e s6 se ex-rim
em u nma mstanc1a numa experiencia do toea J _ ent.a
- - d r. oyce nao uta aq
senao por antectpa amente o dedo no que consritu' (u d ut
d od
L rano n oo testa-
meoto e t a ""'rcei'V';
0
f p . .
,. ... ........ rec1samos nos hab
1
tu. ar , escreve Merleau-Ponry, .. a pensar que todo v , lh d
1 od . . ISive a ono
rang.IVe , t o ser tao I prometido de cerro modo a' vt's' b' l' d d
ha - . a e, e que
mvasao, encavalgamento, nao apenas entre o toea doe quem toea,
mas tambem entre o tang{vel e o visfvel que esta incrustado n 1 .. s-
Como se o ato de _ver a.cabasse sempre pela experimenta-;ao ie-
um erguado dtante de nos, obstaculo talvez perfurado, Eel to
V3ZIOS. Se passar OS cinco dedos atraves, e uma grade, se
nao, uma porta ... Mas esse texto admiravel prop& um outro ens
namento: devemos fechar os olhos para ver quando
0
a to de ver nos
remete, nos abre a urn vazio que nos olha, nos conceme e, em cerro
sentido, nos constitui.
. especie de vazio? A de Ulisses, nesse ponto da narra
t1va, Ja sua exata Stephen Dedalus, que leu
Dante e Arist6teles, que produziu no Jabirinto do texto joyceano a
passagem em primeira pessoa (my eyes) sobre a "ineluravel modall-
dade do visfvel" - Stephen Dedalus acaba de ver com seus olhos os
olhos de sua mae moribunda erguerem-se para ele, implora
rem alguma co1S3, uma genuflexao ou uma prece, algo, em todo caso,
ao qual ele tern se recusado, como que petrificado no Iugar:
assaltam-lhe o chebro med1tabundo.
Seu corpo de/a com a agua da bica da covnha, para de-
pais houvera comungado. ( ... ) Seus olhos perscruta
dores, ftxando-se-me da morte, para sacudir e dobrar mi
nha alma. Em mim somente. 0 cfri'o dos mortos a a/umiar
sua agonia. Lume agonizante sobre face torturada. Seu
aspero respi'rar ruidoso estertorando-se de ho"or, enquan
J E ele conclufa: "Toda vislo algures no dtil". M. Mcrluu
Ponty, I.e visiblut l'brvisible, Paris, GaUinurd. 1964, p. 1n. a .. I esse respeito,
o rccente esrudo deL Riclur, "La rc!versibilitc! chez MerluuPonty", LA P11rt dt
I'CEll, n7, 1991, pp. 4155.
'Algumas p;iginas acLa.nte, Joyce volta ao mesmo tema: "Chio vc10,
mtJo em distinda, perto,longe, chio veJO. ( ... ) Toc:ame. Olhos doces. Mio docc
doce doce. ( ... )Toea, toea-me." J. Joyce, op. cit. , p. 55.
0 Que Vemos. 0 Que Nos Olha 31
I
I
!
to todos rer.avam a seus pis. Seus olhos sobrc mim para
redobrar-me. "
1
Dtpots, Stephen ter.i visto esses olhos se fecharem definitivamente.
Desde entio o corpo matemo inteiro aparece-lhe em sonho, "devas-
udo, flurante .. , nao mais cessando, doravante, de fzxa-lo
8
Como se
tivesse sido preciso fechar os olhos de sua mae para que sua mae co-
a olh3-lo verdadeiramente. A "inelutavel modalidade do vi-
slvel" adquire entao para Dedalus a forma de uma ontol6gi-
ca, medusante, em que tudo 0 que se apresenta a ver e olhado pela perda
de sua mat, a modalidade insistente e soberana dessa perda que Joyce
nomeia, numa ponta de frase, simplesmente como: "as feridas aber-
tas em seu Uma ferida tao aberta quanto
as palpebras de sua mie esrao definitivamente fechadas. Entao os es-
pelhos se racham e cindem a imagem que Stephen quer ainda buscar
neles: "Quem escolheu esta cara para mim?" pergunta-se diante da fen-
da10_ E, e claro, a mae o olha aqui desde seu imago de e
de cisao misturadas - seu imago de parto e de perda misturados.
Mas, a partir daf, e todo o especlculo do mundo em geral vai
mudar de cor e de citmo. Por que, em nossa passagem sobre o vts(vel
em geral, essa insistencia tao singular dirigida ao semen marinho e ao
que a onda traz"? Por que "a mare que sobe", e essa estra-
nha denominada "verde-muco" (snotgreen)? Porque Stephen,
em seus sonhos, via o mar esverde3do "como urna grandee doce mie"
que ele precisava encontrar e olhar (the snotgrun sea . She is our great
sweet mother. Come and look). Porque "a curva da bafa e do horizon-
te cercava uma rnassa lfquida de um verde fosco". Porque, na
de, "um vaso de porcelana branca ficara ao lado do seu leito de morte
com a verde bile viscosa que e1a devol vera do figado puttefeito nos seus
barulhentos acessos estertorados de vomito "
11
. Porque antes de cerrar
os olhos, sua mae l)avia abeno a boca num acesso de humores verdes
32
7
I d., ibid., pp. 11-12..
ld . ibid., pp. 6-7.
'Id., ibid., p. 10.
1 ld . ibid., p. 7.
11
ltl.. ibid., p. 6.
Georges Didi-Hubcrrmn
(pituitas). Asslm Stephen nao via mats os olhos em gernl senao como
manchas de mar glauco, eo proprio mar como uma "um vaso d
,. . , h e .. guas
a margas que tame vm am, "mare sombrta" batendo no e, en
fim, "batendo em seus olhos, turvando sua visao",12
Entdo a compreender que cada coisa a ver, por mais
exposta, por mais neutra de aparencia que seja, toma-se inelutduel
quando uma perda a suporta - ainda que pelo vies de uma simples
de ideias, mas constrangedorn, ou de um jogo de lingua gem
-, e desse ponto nos olha, nos concerne, nos persegue. Quando Ste
phen Dedalus contempla o mar parado a sua frente, o mar nao e sim
plesmente o objeto privilegiado de uma plenitude visual isolada, perfei-
to e "separado"; ndo se mostra a ele nem uniforme, nem abstrato, nem
"puro" em sua opticidade
13
0 mar, para Dedalus, toma-se uma rigela
de humores e de mortes pressentidas, um muro horizontal
e sorrateiro, uma superficie que s6 e plana para dissimular e ao mesmo
tempo indicar a profundeza que a habita, que a move, qual esse ventre
matemo oferecido a sua como urn "broquel de velino es-
ticado", carregado de todas as gravidezes e de todas as mones por vir.
0 que e ent3o que indica no mar familiar, exposto a nos
sa frente, esse poder inquietante do fun do-senao o jogo ritmico "que
a onda traz" e a "marc que sobe"? A passagem joyceana sobre a inelu
t3vel modalidade do visfvel tera portando oferecido, em sua prec.isao,
todos os componentes te6ricos que fazem de um simples plano 6t:ico,
quevemos, uma potencia visual que nos olha na medida mesmo em que
pOe em o jogo anadiomeno
14
, rltmico, da superficie e do fundo,
do fluxo e do refluxo, do avanfio e do recuo, do aparecimento e do
desaparecimento IS. No movimento perperuo, perpetuamente acanaante
u ld., ibid., p. 11. Cf. rambem pp. 7, 20, 41,43 etc
13 0 que Rosalind Krauss sugere.<fe Ruslon, de Monet e do modemismo
em gera.l. Cf. R. Krauss, "Note sur l'inconsdent oprique", Cahitrs du Muslt Nil-
tiona/ d'Art Moderne, n 37, 1991, pp. 6162.
14 Conforme o atributo dado a Venus 11rr11d16mena, que significa
iguas". (N. doT.)
U Sobre esses dois motivos do pano e da ritmicidade 4NUJ,6mena
do visual, permito-me remeter o leitor a dois mals anrigos: lA ptmturt
inarmit, Paris, Minult, 1985, e "La couleur d'ecume, oule puadoxe d'ApdJe,
Critiqut, n469-470, 1986, pp. 606-629
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
JJ
'\ Ot
J ""' c.);
J
() ? ,.1 " 'llcJ
c\\, c.... '
e da onda, da que sobe", hade fa to esse arquejo ma
temo no qual se indicae se murmura, contra a tempora de Stephen-
ou seja, exatamente entre seu olho e sua orelha- que uma mona para
smtpre o olha. Nas OV3S de peixe e no que o mar arquejante
expele, diante Stephen, h3 portanto toda a dor vomitada, esverdeada,
de alguem de onde ele vem, que diante dele trabalhou- como se
do trabaJho de parto- seu pr6prio desaparecimento. E este, por sua
vez, vern pulsar nn Stephen, entre seu olho e sua orelha, rurvando sua
lfngua materru e turvando sua visao.
T aJ seria portanto a modalidade do visivel quando sua instincia
se fiu inelutavel: urn tr3balho do Sintoma no qual 0 que Vemos C SU
portado por (e remetido a) uma obra de perda. Um trabalho do sinto-
ma que atinge o visivel em geral e nosso pr6prio corpo vidente em
particular. Inelutivel como uma Inelutlivel como um fecha
mento definitivo de nossas palpebras{Mas a conclusao da passagem
joyceana - fecbemos os olhos para ver" - pode igualmente, e sem
ser traida. penso, ser revirada como uma luva a fim de dar forma ao
trabalho visual que deveria ser o nosso quando pousamos os olhos
sobre o mar, sobre alguem que morre ou sobre uma obra de arte. A bra
mos os olhos para exptrimentar o que nao vnnos, o que nao mais
veremos- ou melhor, para experimentar que o que nao vemos com
toda a evidencia (a evidencia visivd) nao obstante nos olha como uma
obra (uma obra visual) de perda. Sem duvida, a experiencia familiar
do que vemos pa.rece na maioria das vezes dar ensejo a um ter: ao ver
alguma coisa, temos em geral a impressao de ga.nhar alguma coisa. Mas
a modalidade do visivd toma-se indutlivel- ou seja, votada a uma
questio de SeT - quando ver e sentir que algo inelutavelmente nos
escapa, isto e: quando ver e perder. Tudo estli af.
Esta claro, ali2s, que essa modalidade nao e ne.m particularmente
arcaica, nem particularmente modema, ou modernista, ou seja li o
que for. Essa modalidade atravessa simplesmente a longa hist6ria das
tentativas praticas e te6ricas para dar forma ao paradoxo que a cons
titui (ou seja, essa modalidade tern uma hist6ria, mas uma hist6ria
sempre anaa6nica, sempre a contrapdo", para falar com Walter
se tratava disso na Idade Media, por exemplo, quan
1
' W. Beftjamin, -nacs sur Ia philosophie de l'histolre" (1940), a-ad. M. de
CandilJac, L'bonmte,lt 14ngage,14 Paris, Denoel/Gonthier, 1971, p. 188.
Georges Didi-Hubennan
do os te6logos semiram a necessidade de disrin I d .
(' ) d gu r o conc.e1t0 de
amagem tmago o e vestlgtum: 0 vesciglo
0
traro
3
.EI
I
. .,. rutna. es ten-
tavam asstm exp acar que o que e vtsivel daanre d
e nos, em torno de
n6s- a natureza, os corpos- so devena ser visto como portando
0
de uma semelhanfa perdido, arruinada,
3
semelhan a Deu
perdada no pecadol7. s
"' . a quesuo - embora num contexto e tendo em
, proposatos evtdentemente distintos - quando um dos grandes
j da americana, nos a nos 50, podia reivindicar pro
duztr um objeto que falasse da perda da destrui,.ao do desapa....,.
I d b' .. 18 I ,... , ...... .
to os o Jetos ... E talvez nvesse stdo melhor dizer: um objeto
vuual que mostrasse a perda, a o desaparecimento dos
, objetos ou ?os
Ou cot.sas a de Ionge e a tocar de perto, coisas que se
quer ou nao se pode acanctar. Obsclculos, mas coisas de onde
sair e onde reentrar. Ou seja, volumes dotados de vazios. Precisemos
ainda a questlio: o que seria portamo um volume- um volume urn
,
corpo Jil- que mostrasse, no sentido quase wittgensteiniano do ter-
mo19, a perda de um corpo? 0 que e um volume portador mosrra-
dor de vazio? Como mostrar urn vazio? E como fazer desse' a to uma
forma- uma forma que nos olha?
17
CL por exemplo R. Javtlet, Imaged usstmbkma au XII' sijcJe Je saint
Anstlme 4 Al4in de Lille, Paris, Letouz.ey et Ane, 1967, I, pp. 22+236. Quanto
ao skulo xm, Boavenrun. Itinerarillm mcrlis in DtJmt,l-11, ou To!Ns c:k Aquino,
Summa tbeofogille, Ia, 93, 6. Quanto a uma ch problemJtka do ws
tigium no campo da pinrura, cf. DidiHuberman. Fra Angelico- Disscnblance
d figuration, Paris, Flamnurion, 1990, pp. 51-SS.
11
An object that tells of the loss, dc:sttvction. disappearance of
J. Johns, citado e comentado por J. Cage, jasper Johns! Scories and Jdea$ ,f. Jolms.
and Sculpture, 19541964, Londrts, WhitcehQpel Gallery,
1964, p. 27.
Jt "IU segunamcnte o inexprimfvcl. Este se mosrra_ L Wittgensrein, Trac
tatus logico-pbilosophiCJIS, S 6.522, trad. P. Klossowslo, PMU. G:allinurd, 1961
(ed. 1972), p. 17S.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha JS
I
1. Lousa lunenria do ab&de Isam. segunda meude do lku.Jo XI. Mirmore,
178 x 60 an. Cripus da abadia Saint VICtor, MantlhL D.R.
0 EVIT AMENTO DO V AZIO:
CREN<;A OU TAtrrOLOGlA
Talvez seja preciso, para nao eofraquecer a exigencia abcna pelo
texto Joyceano- como serfamos tentados a faze-to asstm que dehu
mos o territ6rio transtomado e arruinado de oossas miies monas para
abordar aquele, cultivado, pretensamente ajuizado, das obras de arte
-, tornar a partir de uma exemplar (direi; fatal) em que
3
questao do volume e do vazio se coloca ineluuvelmente a nosso olhar.
E a de quem se acba face a face com urn tumulo, diante dele,
pondo sobre ele os olhos (fig. 1, p. 36).
exemplar porque abre nossa experiencia em duas, por
que imp()e tangivelmente a nossos olhos aquela cisao evocada de inf
cio. Por um !ado, ha aquilo que vejo do tumulo, ou seja, a
de um volume, em geral uma massa de pedra, mais ou menos geome
trica, mais ou menos figurativa, mais ou menos cobena de
uma massa de pedra trabalhada seja como for, tirando de sua face o
mundo dos objetos talhados ou modelados, o mundo da ane e do
artefato em geral. Por outro !ado, aquilo, direi novamente, que me
olha: eo que Die olha em tal nao tern rna is nada de evidente,
uma vez que se trata ao contrario de uma espide de Urn
esvaziamento que de modo nenhum concerne mais ao mundo do at
tefato ou do simulacro, um esvazlamento que a, diante de mlm, diz
respeito ao inevitavel por excelencia, a saber: o destino do corpo se-
melhante ao meu, esvaziado de sua vida, de sua fala, de seus movimen
tos, esvaziado de seu poder de Jevantar os olhos para mim. E que no
entanto me olha num certo sentido - o sentido indutivel da perda
posto aqui a trabalhar.
Havia ainda, no exemplo de Stephen Dedalus atormentado por
sua mae e contemplando o mar, algo de livre e mesmo de excesstvo na
imaginativa. Alguma outra coisa que permitia a ele, Stephen,
nao sentir nem o !undo marinho, nem as ovas de peixe, nem o
nauseabundos, portadores de mone-e contemplar o our como olhar
idealista de urn puro esteta amador de pianos azu1s; ou, mais simples
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olba
J7
I mente ainda, com o olhar pragmatico de urn apreciador de de
banho. Mas, diante de urn rumulo, a experienda tomase mais mono-
Utica, e nossas imagens sao mais diretamente coagidas ao que o tumu-
lo quer dizer, isto e, ao que 0 rumulo encerra. Eis por que 0 rumulo,
quando o vejo, me olha ate o imago - e nesse ponto, alias, ele vern
perturbar minha c.apacidade de ve.lo simplesmente, serenamente- na
medida mesmo em que me mostra que perdi esse corpo que ele recolhe
em seu fundo. Ele me olha tam bern, e claro, porque imp()e em mim a
imagtm imposs{vel de ver daquilo que me fara o igual e o semelhante
desse corpo em meu proprio destino futuro de corpo que em breve se
esvaziari, jauri e desaparecera num volume mais ou menos parecido.
Assim, diante da tumba, eu mesmo tombo, c.aio na angtlstia -a saber,
esse modo fundamental do sentimento de toda essa "reve-
privilegiada do ser-at", de que falava Heidegger
1
... t a angUsria
de olhar o fundo -o Iugar- do que me olha, a angtlstia de ser
do a quest3o de saber (na verdade, denio saber) o que vema ser meu
proprio corpo, entre sua capacidade de fazer volume e sua c.apacidade
de se oferecer ao vazio, de se abrir.
Que fazer diante disso? Que fazer nessa cisio? Poderemos
brar, eu di.ria, na lucidez, supondo que a atitude Iucida, no caso, se
chame melancolia. Poderemos, ao contnirio, tentar tapar os buracos,
suturar a angUstia que se abre em n6s diante do rumulo, e por isso
mesmo nos abre em dois. Ora, suturar a angtlstia nio consiste senio
em rec:alcar, ou seja, aaeditar preencher o vazio pondo c.ada termo
da cisao num fechado, limpo e bem guardado pela razao-wna
razao miseravel, convem dizer. Dois c.asos de figuras se apresentam em
nossa fibula. 0 primeiro seria permanecer aqubn da cisao aberta pelo
que nos olha no que vemos. Atitude equivalente a pretender aterse
ao que e visto. t aaeditar- digo bem: aaeditar- que todo o resto
nio mais nos olharia. t decidir, diante de um tU.mulo, permanecer em
seu volume enquanto tal, o volume visfvel, e postular o resto como
inexistente, rejeitar o resto ao domfnio de uma invisibilidade sem nome.
Notar-se-i que hi nessa atitude uma especie de horror ou de
do chtio, isto C, do fato de este volume, diante de n6s, es
tar cheio de um ser semelhante a n6s, mas morto, e deste modo cheio
de uma angUstia que nos segreda nosso pr6prio destino. Mas hi tam
t a.M. Hcic!cgrr, L'bnd 1e temps (1927), ttad. IL Boehme A. de Waelhens,
Paris, Gallimard, 1964, pp. 226-233.
38 Georges Didi-Hubcnnan
bern nessa atitude um verdadeiro horror e uma d
,... o vauo:
uma vontade de permanecer nas aresras discemiveis do vol
L l"d d ume, em
sua 10rma 1 a e convexa e simples. Uma vonr:tde de permanecer a todo
c.usto no que vemos, para ignorar que tal volume nao e indiferentc e
Sl mplesmente posto que oco, csvaziado, posto que faz recep-
taculo (e concavtdade) a urn corpo ele pr6prio oco, esvazi:tdo de rod a
a sua substancia. Essa atitude- essa dupla recusa - constste como
terao compreendido, em faur da experiencia do ver um txndcio diJ
uma verdade rasa ("essa rumba que vejo nao e scnao o que
veJO nela: urn paralelepfpedo de cerca de um metro e oitenta de com-
primento ... ") como anteparo a uma verdade mais subterra-
nea e bern mais temfvel ("a que esta al a baixo ... "). 0 anteparo da
tautologia: uma esquiva em forma de mau trufsmo ou de evidencia tola.
Uma vit6ria manfaca e miseravel da lingua gem sobre o olhar, na a fir
fechada, congelada, de que ai nao ha nada mais que um volu
me, e que esse volume nao e senao ele mesmo, por exemplo um para
lelepfpedo de cerca de urn metro e oitenta de comprimento ...
0 homem da tautologia - como nossa
autoriza a chama-lo doravante- teni portanto fundado seu exerd
cio da visao sobre uma serie de embargos em forma de (falsas) vit6
-rias sobre os poderes inquietantes da cisao. Tera feito tudo, esse ho-
mem da tautologia, para recusar as latencias do objeto ao afirmar
como um triunfo a identidade manifesta -minimal, tautol6gica -
desse objeto mesmo: "Esse objeto que vejo e aquilo que vejo, um pon
to, nada mais". Tera assim feito tudo para recusar a temporalidade
do objeto, o trabalho do tempo ou da metamorfose no objeto, o tra
balho da mem6ria - ou da obsessao - no olhar. Logo, tera feito
tudo para recusar a aura do objeto, ao ostentar um modo de indife-
quanto ao que est! justamente por baixo, escondido, presenre,
jacente. E essa propria se confere o estatuto de urn modo
de diante do que e evidente, evidentemeote visfvel: "0 que
vejo e 0 que vejo, e me COntento COm isso"
2
... 0 resuJtadO uJtimo
l 0 que definiria a arirude nlo-frcudiana por excelenda. cvcnrualmentt
produz, diante das imagens, taurologi.as: por exemplo quando, dante das fc
mininasdc Leonardo da Vand,esiiCOillla apenas o adjctivo lcooudesoo
las (S. Freud, Un IOUW1fir d'mfana tk Uon4Td de Villd (1910}, ttad. Pans,
Galllmard, 1987, p. 132), ou mtio quando, na rebate as unascns de
sonhos ("o sonho pensa sobmudo poe irnagens visuais") sobre eJcmenros queseCOII)o
0 Que Vemos. 0 Que Nos Olba
J 9
-
dessa desse em fonna de fara da
cautologia uma especie de cinismo: "0 que vejo e o que vejo, eo res-
.
to me amporta.
Frente a tautologia, na outra extremidade da paisagem, aparece
urn segundo meio para suturar a angustia diante da tumba. Ele consiste
em querer ultrapassar a questao, em querer dlrigir-se para albn da ci-
sao aberta pelo que nos olha no que vemos. Consiste em querer superar
- imaginariamente - tanto o que vemos quanto o que nos olha. 0
volume perde entiio sua evidencia de granito, e o vazio perde igual-
mente seu poder inquietante de morte presente (morte do outto ou
nossa propria morte, esvaziamento do outro ou nosso proprio esvazia-
mento). 0 segundo caso de figura equivale portanto a produzir urn
modelo fiaicio no qual tudo- volume e vazio, corpo e morte-
deria se reorganizar, subsistir, continuar a viver no interior de urn
grande sonho acordado.
Como a preccdente, essa atitude supOc: urn horror e uma dene-
do cheio: como se bouvesse a, nessa rumba, apenas um volu-
me vazio e desencamado, como se a vida- chamada entao de alma
- ji tivesse abandonado esse Iugar decididamente concreto demais,
material dema.is, demasiado pr6ximo de n6s, demasiado inquietante
em significar algo de induclvel e de definitivo. Nada, nessa hip6tese,
secl definitivo: a vida nao estar3 mais al, mas noutra parte, onde o
corpo sonbado como permanecendo belo e bern feito, cheio de
substincia e cheio de vida-e compreende-se a qui o horror do vazio
que gera uma -. simplesmente sera sonbado, agora ou bern
porwnc:omoimagms" (S. Fmxl, L'Drlcpritation tks rives [1900], trad. L Meyerson
1uia por D. Saga, Paris, PUF,Im, p. S2, pa.ssagan que me foi auinalada por P.
ou leja, o COIItlfrio do que apontamos aqui. Quando Freud produz uma taurologia
diante de am quadro, talvez .Uo senio reproduzir um sintoma que de proprio
' mnbece bem-a saber, a atitudede Dora que passa "duas horas em re-
colhida e sonhadora" dWue da MiulOM Si%tina de !Wad, eque responde a pequn
ta do que tantO !he havia agradado nesse quadro" com apenas duas palavras (l:lu
tolcSzjcumasdesejantes): A Madona ". Cf. S. Freud, "Fragrnentd'une analned'hys
(Dora) (1905), trad. M. Bonaparte e R.M. Loewenstein, Cinq psychanalyses,
n.t...."'- PUF, 1954, (ed. 1 979). p. 71. Comentei essa ultrapassagem freud lana da "tau
icloldado'risfvd"cm-tJneravissanteblancbeur",UifsikkcleruherchesfreuJJermes
. mm"- Toulouse, &es, 1986, pp. 7183.
Georges DidlHuberman
rna is tarde, alhurcs. o ser-ai e a tumba como
1
_
d I
. . ugar que sao aqut re-
cu.sa os pe o que sao verdadetramente, materialmente.
Essa segunda atitude consiste portanto em fa .. er da e ..
d
r . " xpenencaa
o ver um exerc,czo da crenrA uma verdade que - '
,.... nao e nem rasa nem
profunda, mas da enquanto verdade superlativa e invocame
eterea mas autontana. uma vit6ria obs .....
51
"onal 1 .'
. . - 1gua mente ms
sera vel, de forma mats desvtada- da linguagem sobre 0 olhar;
t 3 COndensada em dogma, de que af nao ha oem urn VO
lume apenas, nem um puro processo de esvaziamento mas "algo de
que faz .reviver tudo isso e lhe da um sentid;, teleol6gico e
metaflstco. Aqu1, o (o .triste volume) sed edipsado,
011
melhor, relevado pela mstanoa legiferante de urn invisfvel a prever; e
o que nos olha se ultrapassara num enunciado grandioso de verda-
des do alem, de Alhures hierarquizados, de futuros paradisfacos e de
... Outra recusa, outro modo de
reavmdtcada dtante do que, no en tanto, continua a nos olhar como a
face do pior. uma simetrica da precedente, excitica e nao
mais clnica. urn outro recalque, que nao diz respeito a
como tal da cisao, mas ao estatuto de sua 16gica e onto
16gica
3
Eta nao e porem senao a outra da mesma moeda, a moe
dade quem tenta escapa.r a essa cisao aberta em n6s pelo que nos olha
no que vemos.
A atividade de produzir imagens tern com freqiienda a ver
com esse tipo de escapes. Por exemplo, o universo da crista
revelou-se, na tonga. a tal exuberancia dessas ima-
gens que uma hist6ria espedfica dela tera resultado - a
hist6ria que denominamos hoje com 0 vocabulo insatisfat6rio de his-
t6ria da arte. A "arte" crista ter.i assim produzido as imagens inume-
raveis de nimulos fantasmaticamente de seus corpos - e
portanto, num certo senrido, esvaziados de sua pr6pria capaddade
esvazt'ante ou angustiante. 0 modelo continua sendo, e daro, o do
pr6prio Cristo que, pdo simples fato (sese pode dizer) de abandonar
seu rumulo, suscita e conduz em sua totalidade o processo mesmo da
J Haveria portanto duas formas de ttcalque: o rccalque nJo mn6ia (for
rna eo reealque que rrabalha com meios 16gjcos. squndo wna cxp.rc:s
do de Freud (forma obsessiva). Cl. P. Lacoste. La sordJ:re d le trlliiS{m. SMr Ia
mlt4psychologie des rrJvroses, Paris, Ramsay, 1987. p. 63100
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olba
4 1
-
0 Evangelho de Sao joao nos fomece uma intei
ramente cristalina dtsso. E quando o disclpulo- prccedido por Simao
Pedro e seguido por Maria, depois por Maria Madalena- chega diante
do nimulo, constata a pedra deslocada e olha o interior ... "e viu e creu"
(tt vidtt, et atdtdit), observa lapidarmente Sao Joao
4
: acreditou por-
que viu, como outros mais tarde acreditarao por rer tocado, e outros
ainda scm rer visto nem tocado. Mas ele, que e que ele viu? Nada,
justamente. E e esse nada - ou esse tres veus nada: alguns panos
brancos na penumbra de uma cavidade de pedra -, e esse vazio de
corpo que rera desencadeado para sempre toda a dialetica da
Uma de Mda, uma minima: alguns indlcios de urn
desaparecimento. Nada ver, em tudo (jig. 2, p. 44).
A partir dai, sabcmos, a iconogra6a crista teri inventado todos
os procedimentos imaginiveis para fazer imaginar, justamente, a ma-
neira como um corpo poderia se fazer capaz de esvaziar os lugares
- quero dizer esvaz.iar o Iugar real, rerrestre, de sua ultima morada.
Vemos entio por toda parte os corpos tentando escapar, em imagens,
evidentemente, aos volumes reais de sua inclusao fsica, a saber, as
rumbas: essas tumbas que niio mais cessarao de reproduzir a sinistra,
a s6rdida dos cadaveres, em elaboradas que
declinam todas as hierarquias ou entiio todas as fases supostas do
grande proa:sso de Aufhebung gloriosa, de
sonhadas. Com muita freqiiencia, com efeito, a escultura dos nimu
los tende a afastar -Jareralmente, em vies ou em altura - as repre-
do corpo em ao Iugar real que contem o cadaver.
Com muita freqiiencia, as efigies fUnebres duplicam-se de outras ima-
gens que evocam o momento futuro do Jufzo final, que define urn tern
po em que todos os corpos se erguem de novo, saem de suas rumbas
e se apresentam fae% a face a seu juiz supremo, no domfnio sem fim
de um olhar superlativo. Da Idade Media aos tempos modemos, ve-
mos assim, junto as paredes das igrejas, incondveis nimulos que
XX. 8. Cl. em gmJ oc:omentirio semi6dco dcs1e rdato por L. Marin,
Les femmes au tom beau. Easai d'analyse structurale d'un texte Evangelique,
lAngagn, VI, n22, 1971, pp. 39-SO.
s Sobre a iconografia aisti dos rumulos. ver, entre a abundante literatura, E.
Pano&Jcy, Tomb SaJptJirt.lts Chtmging Aspect$ (ron Andmt Egypt to Beminl, Nova
Y ode, Abrams, 1964. E, mais rccentemente, L Herlclou, &putcra Monummt4
tltl Mu/1110. Studl suii'IITt6 in lt41ia, Roma. Rari Nantes, 1985.
Georges DidiHubennan
trans6guram os corpos singulares encermdos em suas ""ixs
_ d ..... .. , entre as
o modelo cdstico - a Co/oca,.;;
0
no tumulo
1 P
. . ou a
mago tetatts - e mais glonosas que faum
0
retra-
to do morto evadir-se em a urn alhures de beleu pura, mine-
ral e celeste (fig. 3, p. 44) ... Enquanto seu rosto real continua este a
esvaziar-se fisicamente. ' '
Tale portanto a grande imagem que a quer imporse ver
e imp()e a todos sentir-se nela tragados: urn tumulo, em primeiro pla-
no-objeto de ang6stia -, mas um rumulo vazio, o do deus mono e
ressuscitado. E.xposto vazio como urn modelo, uma para
todos os outros cujas lajes jazem dtsseminadas, enquanto suas entra
nhas geomemcas se tomam puras cai.xas de ressonancia para uma
maravilhosa-ou temfvel- sinfonia de trompas celestes. Eis portanto
seus volumes ostensivamente esvaziados de seus conteudos, enquan
to seus conte6dos- os corpos ressuscitados- se precipitam em mul-
tidao para as portas dos lugares que lhes cabem: ParaCso ou Infemo6
(fig. 4, p. 45). As tumbas crist3s deviam assim esvaziar-se de seus cor-
pos para se encher de aJgo que nao e somente uma promessa -a da
-,mas tambem uma dialetica muito ambrgua de asnkias
e de dadas e brandidas. Pois a toda ima-
gem mftica e preciso uma contra-imagem investida dos poderes da con-
vertibilidade7. Assim, toda essa estrutura de s6 valera na ver-
dade pelo jogo estrategico de suas polaridades e de suas
sobrcdeterminadas.
Era logicamente preciso, portanto, uma contraversao infernal ao
modelo glorioso da cristica, e e Dante, sem duvida, que
ter:i dado sua mais circunstanciada, rna is abundante. Lem-
bremo-nos simplesmente dos cantos IX eX do Inferno, circulo de onde
irrompem chamas e gritos pelos Hereticos que sofrem seu
castigo. ali que Virgilio diz a Dante:
'Desaevo aqui muito sumariamtnte, a pute central do dlebre JuW, {iMI
de Fra Angelico em (Museu de San Marco), por volta de
Sobre a lconografia medieval do jufro, cf. a obra colenvt Homo, "'<:"'mto F!rriS.
1M tconographyoflustjudgnnmJ ;, Medieval Art and Drama, Me<lcval lnstirute
Publications, Kalamazoo, Western Michigan University Press, 1985.
7 Cf. por exemplo C. Uvi..Sr:rauss,lA pmslt S411Vt1gt, Paris, Pion, 1962, P.P
48-143.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
f
I
....... ... -
2. Fra Angelico. Mulberes junto ao nlmulo, det21he da Ressstrrdo, c:erca de
1438-1-450. Mreseo. Convento de San Marco, Foto Scala.
3. M.aso di Banco, Tumulo Bardl di Vemlo com umf.,ko ftMI, sulo XIV.
A/resl:o. lgreja Santa Croce, Foto N. Orsi Battaglini.
4. Fra Angelico,Juf:o {iMI, detalhe. de 1433. Tempera sobre nuddra.
Museu de Marco, Foto Sc2la.
-
E quelli a me: "Qui son li eresiarche
Con lor seguaci, d'ogne setta, e molto
Pili che non credi son le tom be carche.
Simile qui con simile e sepolto,
E i monumenri son pili e men caldi."
E poi ch'a Ia man destra si fu volto,
passarnmo tr3 i m:min e Li altri spaldi.
vos hereges', tornou-me, 'a/mas danadas,
com sequazes de toda seita e culto;
e as tum bas siio, mais do que cres, pejadas
Sfmil aqui com e sepulto,
diverso o grau dos fbetros candentes.
E eis que a direita se moveu seu vulto
e fomos, da amurada ao pi, silentes. 8
nesse Iugar que, por um processo exatamente inverso ao dos
Eleitos, todas as tam pas dos rumulos permanececao Jevantadas ate 0
juizo final ... para se fecharem para sempre sobre a cabet;a de seus
ocupantes no di.a em que os Bem-aventurados, por sua vez, deixarem
suas tumbas finalmente abertas (fig. 5, p. 47). E poderiamos citar mui-
tos ouuos e:xemplos dessas invers0e5 estruturais, desses sistemas de ima-
gens que nio cessam de se instalar, positiva ou negativamente, em torno
- ou seja, a distinci2, mas na perspectiva-da cisao aberta pelo que
nos olha no que vemos. o caso dos Simonfacos do canto XIX que se
encontram em invertida, com a para baixo em seus
sepulcros; ou ainda dos Aduladores do canto XVDI, que se banham
num mar de fezes" (e quindo giu nel fosso I vidi gente attuffata in
uno stereo) ... E os artistas nio se privam, em suas iluminuras, de apre-
sentar algumas inver50es explfcitas a iconografia ttadicional da Res-
surreit;ao crlsrica ou do nimulo virginal cheio de flores9.
1
Dante, DiWuJ Comldia, Inferno, canto IX.127-133, trad. Cristiano Mar
tins, Bdo Horizonte, ltatiaia, 1976, p. 139.
'ld., ibid., XVID-XX. Sobre a iconograia da Dlvirra ComUia, o livro prin
cipal continua sendo ode H. Brieger, M. Meiss e C.S. SinsJeton, 11/umirrattd Ma-
muaipts of the Divine Cctrudy, Princeton, Princeton Unlversity Press, 1969,2 vol.
(Bollingm SUies", 91).
Georges Didi-Huberman
I
I
I
. "
S. Anllnimo Italiano, Darrtt, Virgilio t Farinata, skulo XV.
lluminura para a Divma Comtdia,In(emo, anro X. Bibliotea
Vc:neu (cod. it. IX, 276). D.R.
-
-
Sera como for, o homem da vera sempre a/guma outra
coisa a/em do que ve, quando se encomra face a face com uma tum-
ba. Uma grande fantasmarica e consoladora faz abrir seu
olha.r, como se abriria a cauda de urn paviio, para liberar o leque de
um mundo estetico {sublime ou tern{ vel) e tam bern temporal (de espe-
ou de temor). 0 que e visto, aqui, sempre se preve; e o que se
peeve sempre esci associado a urn fun dos tempos: urn dia - urn dia
em que a de dia, como a de noite, tera caducado -, seremos
salvos do encerrarnento desesperador que o volume dos romulos su-
gere. Um dia chegacl para que chegue rudo o que esperamos se acre-
ditamos nesse dia, e tudo o que tememos se ruio acreditamos nele. Posto
de lado o caciter alienante dessa especie de double bind totalitario,
cumpre reter na atirude da esse movimento pelo qual, de for-
ma insistente, obsessiva, se reelabora urna do tempo. Prefigu-
rerorno, julgamento, teleologia: urn tempo reinventa-se a, diante
da rumba, na medida mesmo em que eo Iugar real que e rejeitado com
pavor- a materialidade do jazigo e sua de caixa que encerra,
que opera a perda de um ser, de urn corpo doravante ocupado em se
de:sfazer. 0 bomem da prefere esvaziar os t1Jmulos de suas carnes
putreseentes, desesperadamente informes, para encbC-Ios de imagens
corporais sublimes, depuradas, feitas para confortar e informar- ou
seja, {IXtlr- nossas mem6rias, nossos temores e nossos desejos.
)
-48 Georges Didi-Huberman
I
I
'
0 MAIS SIMPLES OBJETO A VER
Aparentemente, o homem da tautologia inverte ao extremo esse
processo fantasrnatico. Ele pretendera eli.minar toda tem-
poral ficticia, que cera permanecer no tempo presence de sua
cia do visfvel. Pretendera eli.minar toda imagem, mesmo pura", que-
cera permanecer no que ve, absolutamente, especificameote. Preten
dera diante da rumba nao rejdtar a materialidade do real que
se oferece a sua visao: querera nao ver outra colsa alhn do que ue
prese.ntemente.
Mas onde encontrar uma figura para essa segunda atltude? On de
achar um exemplo de emprego efet.ivo de tal programa, de tal radica-
lidade? Talvez .no rigor ostentado por certos artistas americanos que,
por volta dos anos 60, levaram ao extremo, parece, o processo destrutivo
invocado por Jasper Johns e antes dele por Marcel Duchamp. Essa visao
da hist6ria- boje comum, isto t, multo partilhada, mas tam bern trivial
- foi clararnente enunciada pelo fi16sofo Richard Wollheim, que quis
diagnosticar, dos primeiros ready made as telas pretas de Ad Reinhardr,
urn processo geral de (work of destruction) que culmiruria
numa a.rte que ele acaba por nomear - para nomear o quase-nada
resultante dessa de arte minimalista: uma arte dotada,
como ele dizia, de urn "mfnimo de conteudo de art.e" (a minimal art-
content)1.
0 exemplo parece convir tanto melhor a minha pequena fabula
filos6fica quanto os artistas assim nomeados produziram, na maioria
das vezes, puros e simples volumes, em particular paralelepfpedos pri-
vados de qualquer imagerie, de qualquer demento de volun-
tariamente reduzidos a essa especie de aridez geometrica que eles da-
t R. Wollheirn, Minimal Arr (1965), On Arl and the Mind, Londres/Cam-
bridge,HarvardUniversityPress,I974, p. IOI
nao esquecer, na Jeirura dessa express.io, 4 poliuemia da pal.nra conunt, que sg-
nifica igu2lmenre o teor, a capadcade, o volume.-
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
49
vam a ver. Uma aridez sem apelo, sem conteudo. Volumes- parale-
Jepfpedos, por exemplo - e nada rna is (fig. 6, p. 51). Volumes que
decididamente nio indicavam outra coisa seniio eles mesmos. Que de-
ddidamente renunciavam a toda de urn tempo que os modifi-
caria, os abriria ou os preencheria, ou seja Ia o que for.
Volumes sem sintomas e sem latencias, portanto: objetos tau-
tol6gi<:os. Se fosse prtciso resumir brevemente os aspectos fundamentais
reivindicados pelos artistas desse movimento-sen do que varios desses
arristas, sobretudo Donald judd e Robert Morris, escreveram alguns
textos te6ri<:os famososl-, teriamos que por deduzir o jogo
do que des propunham a partir de tudo o que proscreviam ou proibiam.
Tr.atava-se em prlmeiro Iugar de toda ilusao para impor ob-
jetOS ditos espedficos, objetos que nao pedissem outra coisa seniio
serem vistos por aquilo que sao. 0 prop6sito, simples em tese, se re-
velara excessivamente delicado na realidade de sua pnitica. Pois a ilu-
sao se contenta com pouco, tamanha e sua avidez: a menor represen-
rapidamente ted fomecido algum alimento-ainda que discreto,
ainda que um simples detalhe - ao homem da
Como fabricar urn objeto visual despido de todo ilusionismo
espacial? Como fabricar um artefato que nao minta sobre seu volu-
me? Tal foi a questio inicialmente colocada por Morris e por judd.
0 prlmeiro partia de uma sentida diante da maneira como
wn disauso de tipo iconografico ou iconologico- ou seja, urn dis-
curso oriundo em Ultima analise das mais academicas pic-
t6ricas- investe regularmente a arte da escultura, e a investe para trait
regularmente seus padmeuos reais, seus parimetros especfficos3. 0
segundo tentou pensar a essencia mesma - geral e portanto radical
- do que se devia entender por ilusao. Assim a desta veio se
aplicar nio apenas aos modos tradicionais do .. conteudo"- cooteu-
do figurativo ou iconogdfico, por exemplo- mas tam hem aos mo-
dos de opticidade que a grande pintura abstrata dos anos SO, a de
2
CE. sobrecudo D.Jadd, Spcri&c objects (1965), Complete Writings 1975
1985, Eindhovm, Van Abbemuseum, 1987, I. pp. 115-124, ttad. C. Gintz, Regards
""l'art illfllrle4m tin tmnies sohumte, Paris, Territoircs, pp. 6Sn,. E R. Morris,
"Noltt on Sculpture" (1966), ed. G. Battcoclc, Minimal Arte. A CrltiCJJl Anthology,
Non Y orlc, Dutton. 1968, pp. 22.P23S. ttad. C. Gintz, Regards sur l'art amlriCJJin,
op. eit., pp. 84-92.
l R. Morris, Notes on Sculpture". art. cit., p. 84.
so Georges Didi-Hubennan
6. D. judd, Sen tibllo, 1974. Compensado, 91.4 x 152,4 x 152,4 em.
Corpus Ouisti. Art Museum of South Texas. D.R.
Rothko, de Pollock ou de Newman, havia empregado. Para Donald
Judd, duas cores postas em cram suficientes para que uma
e a outra .. recuasse", desencadeando ja todo o jogo do
insuportavel ilusionismo espacial:
52
rudo o que estti sobre uma superficie tern um espa
fO atras de si. Duas cores sobre a mesma super(fcie se en
contram quase sempre em profundidades diferentes (lie on
different depths}. Uma cor regular, especialmente se obti
da com pintura a oleo que cobre a totalidade ou a maior
parte dt uma pintura. e ao mesmo tempo plana t infinita
mente espacial (both flat and infinitely spatial}. 0 espafO I
pouco profunda em todas as obras nas quais o acento I
posto sobre o plano retangular. 0 espafO de Rothko I pouco
profunda e seus retangulos suaves sao paralelos ao plano,
mas o espafO I quase tradidonalmentt ilusionista (almost
traditionally illusionistic). Nas pinturas de Reinhardt, logo
atras do plano da tela, htf um plano liso t este, em troca,
parece indefinidamente profunda.
A pintura de Pollock estti mani{estamente sobre a tela t
o espafO I essencialmente aquele criado pelas marcas qut fi
guram sobre uma super(icit, de modo que nao I nem muito
dtscritivo nem muito ilusionista. As faixtu condntricas de
Noland nao sao t4o especificamente pintura sobre uma su
perf{t:it quatrto a pintura de Pollock, mas as faixas aplainam
mais o tsfHJfO literal (literal space}. Por mais planas t nao-ilu
sionistas que sejam as pinturas de Noland, suas faixas avan-
f41" t recuam. Mesmo um Unico ciraJo ir4 puxar a superfl-
cit, deixando um espafO atTas de si. Exctto no caso de um
t47fiPO total e uniformementt coberto de cor ou de marcas,
qualquer coisa colocada em um retangulo e sobre um plano
sugere a/go que est4 em e sobre alguma outra coisa (something
in and on something else), algo em sua contigQidade, o que
sugere uma figura ou um objeto em seu espafO, no qual essa
figura ou esse objeto sao exemplos de um mundo similar [ilu
sionista}: eo objttivo essencial da pintura. As recentes pintu
ras nao sao complttamente simples (single}''.
4
4
D. Judd. speciBc ObjectS". art. eil., pp. 67-68.
Georges Dldi-Huberman
' " ao lee esse texto de Judd, a impressao estranha de um
deravu que tena sc voltado contra cle mesmo umn fam' l' ' d. d
b I
, . 1 tan a e tTa
a hando em sua propna oegarao Esse com ete
1
ro '
..- , r, , c o argumemo
o da especificldade-alegada em pinrura
oa renuncta a tlusao da tercdra dimensaoS -,que retoma aqui para
condeoar a mone mesma enquanro pratica destinada, seja
esta qual for, a urn tlustomsmo que defi ne sua essencia e sua hist6ria
passada. Donald Judd radicalizava assim a exigencia de especificida-
de-ou "literati dade do como ele diz (literal space) -a ponro
de ver nos quadros de Rothko urn ilusionismo espacial "quase trad
1
-
cional". Compreende-sc en tao que, a questiio de como sc fabrica urn
objeto visual despido de qualquer ilusionismo espacial, Donald Judd
respondesse: e preciso fabricar urn objeto espaci41, urn objero em tres
dimensOes, produtor de sua pr6pria espacialidade "esped fica". Urn
objeto suscetfveJ deste modo a ultrapassar tanto o iconografismo da
escultura tradicional quanto o iluslonismo inveterado da pr6pria pin
tura modemist:a
6
Seria preclso, segundo Judd, fabricar urn objero que
se apresentasse (e se representa.sse) apenas por sua mera volumetrb
de objeto- urn paralelepfpedo, por exemplo -,urn objero que nao
inventasse nem tempo nem dele mesmo.
impressionante constatar, no argumento das duas cores pos-
tas em num quadro, que o obsclculo a essa especificidade
ideal, ou o que poderfamos cbamar o crime elementar de Jesa-especi
ficidade, resida no simples colocar em relao panes mesmo abstra-
tas. Pois todo colocar em por mais simples que scja, ja sera
duplo e duplice, coostituindo por isso mesmo urn atcntado aquela sim-
plicidade da obra (singleness, palavra que significa tambem probida
de} invocada por Judd. Tocamos aqui a segunda exigencia fundamentaJ
reivindicada, ao que parece, pelos artistas minjmaJistas: elimt'nar todo
detalhe para impor objetos compreendidos como totalidades indivi-
sfveis, indecomponfveis. "Todos scm panes", objetos qualificados por
essa razao de "oio relacionais". Roben Morris insisria sobre o faro
de que uma obra deveria sc aprescntar como uma Gestalt, umn for
rna autonoroa, especffica, imediatamente percepdvel; ele reformulava
S Cr. C. Greenberg, Art et E.ssals critiqun (1961), trad. A Hindry,
Paris. Macula, 1988, p. 154 (e, em geral, pp. HS-18-4).
'cr. Donald Judd, specific: Objects"', art. cit., p. 65.
0 Que Vemos, 0 Que Nos OJ.ha
assim seu elogio dos "volumes simples que criam poderosas
de Gestalt": "Suas partes sao tao unificadas que oferecem urn maxi
mode resistencia a toda separada ".7
Quanta a Donald Judd, reiterando forttmente sua crftica de toda
pintura inclusive modemista- "urn quadro de Newman niio e afinal
rnais simples que urn quadro de C&anne" -, ele apelava a "uma coi
sa tomada como um todo" dotada de uma "qualidade [ela pr6pria)
tomada como urn todo" (the thing as a whole, its quality as a whole,
is what is interesting), para conduir que "as coisas essendais sao iso
Iadas (alone) e mais intensas, mais claras e mais fortes" que todas as
outtas8. Uma obra forte, para Judd, nao devia portanto comportar
nem zonas ou partes neutras ou moderadas, nem conex<>es ou zonas
de uma obra forte nao devia ser composta; colocar algo
num canto do quadro ou da escultura e "equilibra-lo" com alguma
outra coisa num outro canto, eis o que significava para Judd a inca
pacidade mesma de produzir um objeto especffico; o grande proble-
ma, dizia, e preservar 0 sentido do todo")il
0 resultado dessa do detalhe - e mesmo de toda
parte" composiclonal ou relacional - tera sido portanto propor
objetos de formas excessivamente simples, geralmente sim&ricos, ob
jetos reduzidos a forma "minimal" de uma Gestalt instantinea e per
feitamente reconheclveL Objetos reduzidos a simples formalidade de
sua forma, a simples visibilidade de sua visfvel, ofereci
da sem mist&io, entre linha e plano, superffcle e volume 10. Estaremos
na regiao absolutamente novae radical de uma estetica da tautologia?
Parece que sim, a julgar pela celebre resposta dada por Frank Stella
- pintor que teria produzido os Unicos quadros "especfficos" daque-
7
R. Morris, Notes on Sculprure, art. cit., p. 87 (e, em geral, pp. 87-90).
D. Judd, spccilic ObjectS. art. cit., p. 70.
'ltl. p. 70, e B. Glaser, Questions 1 Stdla ct Judd (1964), trad. C.
Gintz. Rqartls sw /'art 111ftbk4m, op. cit., p. ss.
1.0 A melhor l ane minimalisu em lrngua lrancesa - d2
colct:inc:a de textos Rtgartls IJIT /'art amlriGain des trnnln 10ixtrnte, 14 citada, que
moma alguns artigos d2 antologla fundAmental de Gregory Battcock- continua
laldo o duplo cad.Joso ediudo aob 1 raponsabilldade de J.L Froment, M. Bourel
e S. Coudert; Art ll'fitrim4ll. Dt la UgM 1111 Bordeaux, CAPC, 1985,
e Art mitrim4111. Dt la lflr(au 1111 plan, Bordeaux, CAPC, 1987 (com uma boa
GeorgesDidi-Huberman
I
les anos, a a famosa serie de fa ixas pintadas entre 1958 e 196511
-a uma questao que the colocava o crftico Bruce Glasel'!
"GLASER- Voce sugere que nao ha mais
a encontrar, ou problemas a resolver plntura? ( .. )
STELLA - Minha pintura se baseta no {ato de que
nela se enccntra apenas o que nela pode ser visro. real
mente um obfeto. Toda pintura i um objeto, e todo aque/e
que nela se envolve su{icientemente acaba por se ccnfron
tar a natureza de ob;eto do que e/e faz, nao importa 0 que
fafll. Ele faz uma ccisa. Tudo isto deveria ser 6bvio. Se a
pintura fosse suficientemente incisiva, precisa, exata, bas
taria simplesmente voce o/ha-la. A unica coisa que desejo
que obtenham de minhas pinttlras e que de minha parte
obtenho t que se possa ver o todo sem con{llSao. Tudo que
t dado a ver t 0 que voce ve (what you see is what you
see)".12
Vit6ria da tautologja, portanto. 0 artista n3o nos fala se
nao "do que e 6bvio". 0 que ele faz quando faz urn quadro? "Faz uma
coisa". Que faz voce quando olha o quadro dele? "Voce precisa ape
oas ver". Eo que voce ve exatamente? Voce ve o que ve, ele responde
em ultima instancia. Tal seria a singleness da obra, sua simplicidade,
blbliografia e uma cronologia das mininullsus). Cabe igualm(nt( as
sinalar o nilmcro especial d2 revlsta Artstutlio, n 6, 1987, ou, nuis reccntem(nt(,
o livro c:onsagrado l L'trrt des annies so&ante tt soisante.tJix.lA collraion Panza,
Mllio,jaca Book/Lyon, Musee d'An Cont(mporain I S:ainttd(nne, Mus d'Art
Modeme, 1989. A bibliografia americana, curios.amente, nio muito imponan
Podetse-io consul tar, entre outros cat:ilogos, W.C. Seltz, Resporrsitt
Non York, Museum of Modem Art. 1965; Amt:ricmr S<:Miphn"t of tht 60',l.os
Angeles County Museum, 1967; Contemporary Amt:ricmr S<:Miphlre, Nova York.
Whitney Museum, 1971; Minima/ism x 4. An E:chibiton of S<:Mipture from the
1960s, Nova York, Whitn.ey Museum. 1982.
II Cf. L. Rubin, Frank Sui/a. Paintings 1958 to 1965, Nova York, Stewart,
Tabori &: Chang, 1986. A. Pacquement, Frank Sui/a, Paris, fla=rion, 1988,
pp. 10-59.
12 B. G12ser, Questions 1 Stella ct Judd, art. cit., p. 58.
0 Que Ven1os, 0 Que Nos Ollu
55
l
I
I
sua probidade no assunto. Sua maneiro, no fundo, de se apresentar
como irrefuravel. Diante do volume de Donald Judd, voce nao tera
outra coisa aver senao sua propria volumetria, sua natureza de para-
ldepipedo que nada mais representa senao ele mesmo atraves da per-
imediata, e irrefuravel, de sua natureza de paralelepfpedo.
Sua propria simetria - ou seja, a possibilidade virtual de reba-
ter uma parte sobre uma outra junto a ela - e uma forma de tau-
tologiat3. Sempre diante dessa obra voce ve 0 que va, sempre diante
dessa obra voce vera o que viu: a coisa. Nem mais, nem me-
nos. Isto chama-se um "objeto especlfico". Poderia cbamar-se um ob-
jeto visual tautol6gico. Ou o sonho visual da coisa mtsma.
Aqui se esbo9& um terceiro prop6sito, intimamente ligado aos do is
primeiros, e que se revela como uma tentativa de tliminar toda tmt-
poralidadt nesses objetos, de modo a impO-Ios como objetos a ver
sempre imediatamente, sempre exatamente como sao. E esses objetos
s6 sao tio exatamente porque sao tst4vtis, alem de serem precisos.
Sua estabilidade, alias- e esse e um prop6sito nao ocasional, mas
realmente central em toda essa -, os protege contra as
do sentido, diriamos as de bumores, as
e as irisaes produtoras de aura, as inquietantes estranbezas de tudo
que e suscetivel de se metamorfosear ou simplesmente de indicar uma
do tempo. sao esclvds, esses objetos, porque se dao como insen-
siveis as m.arcas do tempo, geralmente fabricados, alias, em materiais
industriais: ou seja, materiais do tempo presente (maneira de criticar
os m2teriais tradicionais e nobres" da estaruaria clissica), mas tam-
bern materiais precisamente fdtos para resistir ao tempo. Nao e por
acaso entio que as obras de Judd utilizem todo tipo de metais- co-
bre, aluminio, inoxidavel ou ferro- anodizados ou galvanizados;
que as obras de Robert Morris uriliwn a de metais, a resina
poliester, oo que as obras de Cad Andre utiliz.em o chumbo ou o tijo-
lo refratirio.
14
Mas esses objetos reivindicam a estabilidade num outro nivel
ainda. t que 0 Unico mdice de sua refiro-me 1 tempora-
u Cf. D. Judd, s)'Jluneby (1985), Compkte Writings, op. cit., I, pp. 92-95.
14 Apresenro aqui uma um pouco dlferaue da de R.. Krauss,
que ore, nessa emprepr elememos extrafdos de materiais comerciais,
uma esp6:ie de rudy m4lle cultural. Cf. R.. Krauss, PtW4ges in Sculpture
(1977}, Cambridge-Loadrcs. The Mrr Press, 1981, pp. 249-253.
56 Georges Didi-Hubennan
lidade de sua a organicidade de sua mam"'esta -
1 c;:ao - pare
ce reduztrse a um processo exarameqre repeuti
110
ou serial (/i. 7
58): Judd, Morris, Cad Andre, Dan Flavm ou Sol LeWitt,
amstas grosso modo de minimalisr:ts, apaientemente Ji-
mitaram ou abreviaram a de uma do tempo em suas
obras fazendo jogar o mesmo como mesmo, reduzindo a
sua exuberancia potencial, sua C3pacidade de romper as regras do jogo
que ela.se impOc:- ao domfnio de uma simples variavd 16gica, ou rau-
tol6gica, aquela em que o mesmo repete invariavdmenre o mesmo.lS
Foi certamente por tomar essa estabilidade ao pe da letra -
3
pura dos volumes de Judd conslde.rada como uma especie
de elogio tautol6gico do volume por ele mesmo- que um artista como
Joseph Kosuth acreditou devenedobrar na lingua gem o circuiro auto
referencial do volume "minimal": cinco caixas c:Ubicas, vazias, trans-
parentes, feitas de vidro, redobram sua mesmidade de objetos com um:a
ou inscrita diretamente nos objetos: Box-
Cube- Empty- Clear- Glass
1
6 (fig. 8, p. 58). Assim, a obra nao
se contenta mais em mostrar que 0 que voce ve e apenas 0 que ve, a
saber, cubos vazios em vidro transparente, ela o diz em acrescimo,
numa especie de redobramento taurol6gico da lingua gem sobre o ob-
jeto reconhecido.
0 resultado de tudo isto - e o de um quarto prop6siro
- seria portanto promover esses objetos "esped6cos" como objetos
u Antec:ipo 0 desenvolvunento !b analise precisa.ndo de sa fda que essa
te6ric:a-a que se pode inferir do texto de Judd, por exemplo- muito freqiiente-
mentecootradita pelu pr6priasobras. OcasodeSol I.e Witte seu uso tio puticubr
da demonstra-se_ sob esse aspeao, absolutamente singular e mcsmo sccre-
tamentc antit&lco com seus prindpios" do minlmalismo. a.M. Bochner, Art
s&id, systbnes, sollpsisme" (1967), trad. C. Gina., Regards sur l'art amlriazin,
op. t:it., pp. 93-96. R.. Pincus Witten, Sol LeWin: moc-obfet, trad. C. Gina., ibid.,
pp. 97102. R. Krauss, "I.e Witt in Progress" (]978), The Origilllllityoftht Avant
Garth and OthtT Modemist Myths, Cambridge-Londres, The MIT Press, 1985,
pp. 245-258.
" Sobre J. Kosuth, ver sobretudo Jostph Kosuth: Art Investigations and
"'Problematics smu 1965, LucerM, Kunstmuseum, 1973, S vol. evidente que
esse redobramento da tautologla numa /inguagdra aplicada sobrc o vo-
lume afasaaa obra de toda problcmiri<:a minimalista em smtido esrrito. Como se,
enunciada contempotanamente a seu a to volum&rico, a tautologla ulmpawssc
de algum modo :as forma.is de seu excrdclo.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
57
-
-
1. D. Judd. Stm tltJIIO. 1985. inoxidi.el c plexiglas, 4 elementos,
86,4 x 86,4 x 86,4 em cada wn. Saatchi, Londrcs. D.R.
8. J. Kosutb. Box, Cube, Empty, CleM, GLus- A Description, 1965, detalhe.
S cubos de Yidro. 100 x 100 x 100 em cada urn.
Panza di Biumo, Varcsc. D.R
sem jogos srgnificafoes, ponamo sem equivocos. Ob-
Jetos de certeza tanto VISual quanco conceitual ou semi6tica ("I
1
urn paraleleplpedo de inoxid3vel..." Banida a "similitude
de que fa lava Foucault em lsto nao 1 um
Dante deles, nada havera a crer ou a amaginar, uma vez que niio men-
nlio escondem nada, nem mesmo o faro de poderem ser vazios.
PoJS, de urn modo ou de outro- concreto ou te6rico -, eles sao trans-
A vislio desses objeros, a leitura dos manifestos te6ricos que
os acompanharam, tudo parece advogar em favor de uma arte esvazia-
da de toda talvez are "esvaziada de toda (an art
without feeling)
18
Em todo caso, de uma ane que se desenvolve for-
temente como um anri-expressionismo, um antipsicologismo, uma
critica da interioridade a maneira de urn Wingenstein - se nos lem-
brarmos de como este reduzia ao absurdo a existe.ncia da linguagem
privada, opunha sua filosofia do conceito a toda filosofia da cons-
ciencia, ou reduzia a migalhas as ilusoes do conhecimento de si19.
Nenhwna interioridade, ponamo. Nenhumalatencia. Nada rna is
daquele "recuo" ou daquela "reserva .. de que fa lou Heidegger ao ques-
tionar o sentido da obra de ane20. Nenhum tempo, portanto nenhum
sec- somente urn objeto, urn "espedfico" objeto. Nenhum recuo,
portanto nenhum misterio. Nenhuma aura. Nada a qui "se exprime",
posto que nada sai de nada, posto que nao ha Iugar ou latencia - uma
hipotetica jazida de sentido - em que algo poderia se ocultar pa.r3
tornar a sair, para ressurgir em algum momento. preciso ler ainda
Donald Judd a fim de poder formular definitivamente o que seria o
tal prop6sito dessa problematica: eliminar todo antropomorfmno para
reencontrat e impor essa obsedante, essa imperativa especi{tcidade do
17M. Foucault, Cui n'est pas 1111e pipe, Monrpcllier, Fau Morg2na. 1973,
p. 79, etc.
todo caso, a exprcssio de: B. Glaser, Questions i Stdla et
art. cit . p. 60-a que Do112ld Judd responde: de nunc:ira bc:tn nuis
"Ci. R. Krauss, Passages;, Modern Scufptwre (1977), Cambridge-Londres,
The MIT Press, 1981, pp. 258-262. Sobre Wittgcnsttin, cf. o estudo de: J. Bou-
veresse. I.e mythe de l'inrbioritl. signl(iC4Jion et langage chn W.'t
tgmstein, Paris, Minuir, 1976 (ed. 1987).
lOCf.M.Heidegger, l'originede l'oc:um:d'an (1936), trad. W. Brola:ndtt,
Chemins qui ne nulle part, Paris, G:lllimard, 1980 (nova ed.), PP 57-60.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
59
-
I
' 1
objeto que os arristas da minimal art tomaram, sem a menor duvida,
como seu manifesto2l. Eliminar toda forma de antropomorfismo era
devolver as formas - aos volumes como tais- sua potencia intrfn-
seca. Era inventar formas que soubessem renunciar as imagens e, de
urn modo perfeitamente claro, que fossem urn obsraculo a todo pro-
cesso de diante do objeto.
Assim poderemos dizer que o puro e simples volume de Donald
Judd-seu paralelepipedo em madeira compensada- nao reprtsm-
ta nada di2nte de n6s como imagem. Ele esti a, diante de nos, sim-
plesmente, simples volume fntegro e integralmente dado (single, spe-
cific): simples volume a ver e a ver muito claramente. Sua aridez for-
malo separa, aparentemente, de todo processo iJusionista" ou antro-
pom6rfico em geral S6 o vemos tao "especificamente" e tao claramente
na medida em que ele nao nos olha.
21 Cf. D. judd, "Specific Objects", art. cit., pp. 71-72. B. Glaser, "Questions
l Stella ct judd", 11rt. cit., p. 57, etc.
60 Georges DldiHuberman
0 DlLEMA DO VISfVEL.,
OU 0 JOGO DAS EVJDNClAS
E, no entanto, as coisas nao sao tao simples. Reflitamos urn ins-
tante: o paralelepfpedo de Donald Judd niio nada, eu dis-
se, nao representa nada como imagem de outra coisa. Ele se oferece
como o simulacro de nada. Mais precisamente, teremos de con vir que
ele nio representa nada na medida mesmo em que nao joga com al-
guma presm(a suposta alhures - aquilo a que toda obra de arte fi.
gurativa ou simb61ica se em maior ou menor grau, e toda obra
de arte ligada em maior ou menor grau ao mundo da 0 volu-
me de Judd nao representa oada, nao joga com alguma por-
que ele e dado af, diante de n6s, como espedfico tm sua propria pre-
sm(a, sua "espedfica" de objeto de arte. Mas o que isso quer
dizer, uma especifica"? Eo que e que isso implica no jogo
hipotetico do que vemos face ao que nos olha?
preciso reler mais uma vez as declaraQOes de Judd, de Stella e de
Robert Morris- nos anos 1964-1966- para perceber de que modo
os enunciados tautol6gicos referentes ao a to de ver nao conseguem se
manter ate 0 fun, e de que modo 0 que nos olha, constantemente, ine-
lutavelmente, acaba retomando no que aaeditamos apenas ver. "A ane
e algo que seve" (art is something you look at), afuma inicialmente Judd
em ao tipo de radicalidade que determinado gesto de Yves Klein,
por exemplo, pOde encamarl. A ane e algo que se ve, se da simples-
mente aver, e, por isso mesmo, imp()e sua "especifica Quando
Bruce Glaser pergunta a Stella o que presen(a quer diur, o artista the
responde de infcio, um pouco apressadamente: justamente urn
tro modo de falar"2. Mas a palavra soltouse. A ponto de nao ma1s
abandonar, doravante, o universo te6rico da arte minimalista. E(e.co-
por fomecer uma de adjetivos que ou re
I B. Glaser, Questions a Steib Ct Judd-. art. cit., p. 62 minhs).
1
Id., ibid., p. 61.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
61
-
-
a simplicldade visulll do objeto, votando esta ao mundo da qua
lidade. Assim, quando judd quiser defender a simplicidade do objeto
minimalista, afirmani: "As formas, a unidade, ( .. )a ordem e a cor sao
especifica.s, agressivas e fones" (specific, aggressive and power{u1)
3
E.specificas .. agressivas e fones. Ha nessa sequencia de adjetivos
uma ressonancla bastante estranha. E nao obstante muito com preen
sivel. A primdra palavra define um prop6sito de transparencia solita-
ria, sese pode dizer, um prop6sito de autonomia e de inex-
pressivas. As duas outras evocam um universo da experiencia inter-
subjetiva, portanto um prop6sito relaclonal. Mas a era
apenas aparente na 6tica de judd e de Stella: pois tratava-se de fome-
cer algo como uma forfll a tautologia do what you see is what you see.
Tratava-se de dizer que esse what ou esse that do objeto minimalista
existe (is) como objeto tio evidentemente, tio abruptamente, tio for-
temente e especificamente quanro voce como sujeito.
Esse apelo a qualidade de ser, a a eficlcla de urn objeto,
constitui no entanto claramente uma deriva l6gica - na realidade,
fenomenol6gica- em a iniclal de especlficlda-
de fonnal. Poise ao mundo fenomenol6gico da experi2ncia que a qua-
lidade e a dos objetos minimalistas serao finalmente referidas.
Quando Bruce Glaser, no final de sua entrevista com judd eStella,
evoca a dos espectadores "ainda atordoados e desconcertados
por essa simplicidade", Stella da uma resposta conclusiva que perma-
neced celebre:
"Talvez seja por azusa dessa simpliddade. Quando
Mmrtk latlfll a bola com tanta forfll que ela sai dos limite.s
do azmpo, todos fiazm atordoados durante um minuto por
ser muito simples. Ek lanfll ;ustamente para fora dos limi-
tes do campo e em geral isso basta-4.
Talvez nao se tenha dado a devida importincia ao fa to de que a
metafora utilizada por Stella fazia derivar a do objeto (ou do
'D. Judd, specific objects, art. ca., p. 69.
4
B. Glaser, Questions l Srella et Judd, art. cit., p. 61. Desse modelo 6tico
de didda (ou melhor, de uma de suas variantes), R. Krauss fez. uma crlrica cir
CUftiWICiada num artigo inritulado u pulsion de voir, Cthlm du Musit Na
tiontzl d'Art Mo&me, n 29, 1989, pp. 36-37.
62 Georges Dldi-Huberm:tn
jogo entre objetos: um taco, uma bola) para o sujeito (ou
0 10
.
, . d l d go entre
os SUJettos: e urn a o, Mantle, o grande jogador de beisebol d
' bt ) . d , e ou
pu !CO por metO e Uma enfase dada a quase
mstantanea de um Iugar normalmente destmado tanto a um como
3
a superficie de face as arqulbancadas). 0 que e
que Antes de tudo, que a
do obJeto mtrumaltsta fot pensada em termos fatal mente intersubjerivos.
Em suma, que o objeto foi aqui pen sa do como "espedfico", abrupto,
forte, incontrolavel e desconcenante- na medida mesmo em que se
tomava insensivelmente, face a seu espectador, uma especie de sufeito.
Antes de nos perguntarmos que tipo de "sujeito" seria este, assin:t
Iemos ja a lucldezcom que um anista como Robert Morris pOde assumir
o caniter fenomenol6gico- o caclter de experiencia subjettva- que
suas pr6prias esculturas engendravam, por mais "espedficas" que Cos
sem. Enquanto Donald judd postulava a "especificidade" do objeto como
praticamente independente de todas as S\125 exteriores, sua
por exemplo
5
, Roben Morris reconhecia de born grado que
"a simplicidade da forma nao se traduz necessariamente poe uma igual
simplicidade na experiencia ". E acrescentava: "As formas unit:irias niio
reduzem as Etas as ordenam "6. Eate mesmo as complicam ao
ordena-las. tum pouco o que se passa nas em que Morris p3e em
jogo do is ou Vlirios elementos fonnalmente identicos, mas diferentemente
"postos" ou dispostos em ao espectador (fig. 9 e 10, pp. 64-65).
Dessa dial&ica conceitualmente estranha, ma.s visualmente soberana,
Rosalind Krauss fomoceu, ja hi algum tempo, uma clarividente
"Pouco importa, com efeito, comprundermos per(er
tamente que os tr2.s L sao identicos; e imposs(ve/ percebe-
/os - o primeiro erguido, o segundo deitado de !ado e o
terceiro repousando sobre suas duas extremidades- como
sendo rea/mente scmelhantes. A experiencia difercnte que
e feita de azda forma depcnde, sem duvida, da orientao
dos L no espa,o que ties partilham com nosso pr6prlo cor
sCi. D. Judd, Statement (1977), Ccmp/eu Writings, op. tit., l, P 8 ( The
qualiry of a work can nor be changed by the condtrions of in exhibinon or by the
number of people seeing ir).
' R. Morris, Nota o" SGUipture , art. tit., P 88.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olh2
63
9. R. Morris, Columns, 1961 1973. Alumfnio pintado, dols elementos, 2+4 x
61 x 61 ern cada um. Cornsia Aee Gallery, Los Angeles.
-lb-.,.
~ ! : .
10. R. Morris, Sem titulo, 1965. CompenS3dO psntldo, 3 elementos, 2H x 244
x 61 ern cada um. Cortesia CAPC, Mus d'Art contemporain, Bordeaux.
-
po; asslm, o tamanho dos L muda em funo da relao
esptd{rca (specific relation) do objdo com o chao, ao mcs-
mo tempo em temtos de dimensoes globat's e em termos de
comparao interna entre os dois de 11m L dado"
7
Ha portanto urn a experiencia. A deveria ser 6bvia,
mas mecece ser sublinhada e problematizada na medida em que as
express0e5 tautol6gicas da "especificidade" tendiam antes a oblitera-
la. Hi uma experiencia, logo ba experiencias, ou seja, Ha
portanto tempos, atuando em ou diante desses objetos su-
postOS instantaneamente reconbeciveis. Hi que envolvem pre-
M sujeitos que sao os tinicos a conferir aos objetos mini-
malistas uma guantia de existencia e de eficicia. Notar-se-a que, na
de Rosalind o vocabutario da especificidade de cer-
to modo se deslocou do objeto para a (specifu: relation): tra-
tase aqui da entre o objeto e seu Iugar, mas, como o Iugar
abriga o encontro de objetos e de sujeiros, essa pode igualmente
caracterizar uma diaiCtica intersubjetiva. Nao ha somente tacos e bo-
las no jogo de beisebol, M tambem urn lugar onde jogadores se aque-
cem para que espectadores os olhem. Mas Robert Morris nao preci-
sou dessa mctafora esportiva, acima de tudo ambfgua, para compreen-
der e a6rmar que o objeto minimalista existia, nao como um termo
(no sentido de urn ponto de nao-retomo) especlfico, mas como um
termo (no sentido de urn demento diferencial) numa
A experiinda da obra se faz neassariamente no tem-
po. ( ... ) Algumas dessas obras novas ampUaram os limites
da escultura ao acentuarem ainda mais as condlf&s em que
cert4s espicies tk objetos sao vistas. 0 proprio objeto e
cuidadosamente colocado nessas novas condiu, para nao
ser mais qtU um dos termos da relao. ( ) 0 que importa
no momento e um controk maior da situao intei-
ra (entire situation) tlou uma melhor coortknao. Esse con-
trok e nec.essJrio, se quisermos que as vari4veis (variables)
7 R. Ktauss, Sens et rensibilir!. Rffiexlo .. sur Ia sculpture de Ia fin des
soixanre (1973), aad. C. Gina, Regtmls SJtT I'm op. dt., p. 117. Uma
1nilise temelhante i retomada por R. Ktauss em PIJSSQges in Modems Sculpture,
op. dt., pp. 238-239 e 266-267.
Georges DldiHubenrum
- objeto, luz, espa,o e corpo humano - possam {undo-
nar. 0 objeto propriamente dito niio se tornou menos im
portante. Apenas, ele niio e su(iciente por si s6. lntervindo
como um elemento entre outros, o objeto niio se reduz: a uma
forma triste, neutra, comum ou apagada. ( .. ) 0 fato de dar
as {ormas uma que e necessarta, e que esta
domine ou seja comprimida, apresenta muitos outros aspec
tos positivos que ainda resta fonnular"8.
Esses "outros aspectos positJvos" certamente tern, no pensamento
de Robert Morris, o valor de consequencias, ainda despercebidas, dos
princfpios que ele acaba de enunciar nessc momento. E, em primeiro
Iugar, daquele que, doravante, faz do objeto uma variavel numa sit11a
o: uma variavel, transit6ria ou mesmo lnigil, e n3o urn termo ulri
mo, dominador, espedfico, excludo em sua visibllidade tautol6g1ca.
Uma variavel numa ou seja, um protocolo de expenenda
sobre o tempo, num Iugar. 0 exemplo dos dois ou tres elementos-
colunas ou volumes em formas de L - diferentemente dispostos no
Iugar de sua procedia ja de tal protocolo. Robert Morris ini
mais Ionge, sabcmos, submetendo seus objetos geometricos aos pro
tocolos explicitamente teatrais da "performance":
A cortina se abre. No centro da una ha uma col u-
na, nguida, de oito ph de altura, dois de largura, em com-
ptn$1ZdO, pintada de dnza. Nao ha nada mais em cena. Du
ran'te tres minutos e meio, nada se passa; ninguhn entra ou
sai. Subito, a coluna tomba. Tres minutos e meio se passam.
A cortina volta a se fechar"
9
Terao comprecndido: o modo como o objeto se to rna uma
vel na nao e senao um modo de se colocar como quasesuJet
to - o que podcria ser uma do :nor do duplo.
Que esp6cie de quase-sujeito? Aquela que, d1ante de n6s, sunplesmente
I R. Morris. Notes on Sculpture", art. cit., p. 90.
'R. Ktauss, Passages in Modern Sculpture, op. cit., p. 201. Sublinhemos que
1 obra- ou
1
se quiserem- data de 1961. Sobre escu.lrura de
Roben Morris como being an actor", d. ibid., PP 236238.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
61
..
h
tomba. A que Robert Morris p0e em cena tera se reduzido,
aqui, a ritmicidade elementar- ela tambem minima, praricamente
reduzida a um mero contraste fenomenol6gico- de um objeto capaz
de se manter de pe para, subita e como que inelutavelmente, cair: para
tom.ar-se um ser jaunte por tres minutos e meio, antes que a pr6pria
conina caia e nao haja absolutamente mais nada a ver.
Convem notar o valor ja surpreendente- em todo caso penur-
bador- que tal problematica submete ao discurso da "especificida-
de, ao discurso da tautologia visivel. 0 consenrimento dado ao va-
lor de experiencia primeiro ira reintroduzir o jogo de equivocos e de
que se quisera no en tanto diminar: pois a coluna ergui-
da se encontra irremediavelmente em face da coluna deitada (fig. 9,
p. 64) como um ser viro estaria em face de um ser jacente- ou de
uma tumba. E isto s6 e possivel ao trabalho temporal a que o
objeto doravante e submetido, sendo ponanto desestabilizado em sua
evidencia visfvd de objeto geometrico. Quisera-se eliminar todo de-
talhe, toda e toda vemo-nos agora em face de
obras feitas de elementos que agem uns sobre os outros e sobre o pr6-
prio espeaador, tecendo assim toda uma cede de Quisera-se
eliminar toda ilusao, mas agora somos a considerar esses ob-
jetos na facticidade e na teatralidade de suas diferenciais.
Enfim e sobrctudo, quisera-se eliminar todo antropomorfismo: um pa-
ralelepfpedo devia ser visto, espccificamente, por aquilo que dava a ver.
Nem de pe, nem deitado - mas paralelepfpedo simplesmente. Ora,
vimos que as Colunas de Roben Morris- mesmo sendo paralelepl-
pedos muito exatos e muito especfficos- eram subitamente capazes
de uma potencia relacional que nos fazia olha-/as de pe, tombando ou
deitadas, ou mesmo mortas.
Mas como julgar uma tal uma tal passagem a qua-
lidade ou potencia, ou seja, uma tal passagem a interioridade? Como
qualificar o fato de que um volume de evidbrcia- um volume sem
hist6ria, sese pode dizer, um simples paralelep{pedo de oito pes de
altura e dois de largura - de repente se tome o "sujeito" de uma
l4tbtda, e que um sintotna o agite (nao percebemos de onde; seria do
interior? veremos mais adiante} a ponto de faU-Io tombar ou mesmo
"morrer, em suma, de lhe dar um destino?
Seria uma ultrapassagem introduzida em 1966- ou a partir de
1961, como por Robert Morris na problematica de seus
companheirOS'minimalistas? Ou basta dizer que Roben Morris pro-
Georges DidiHubmnan
duziu uma obra antagonica das de Stdla e de judd? Nada dlsro e sa-
tisfat6rio. Primeiro porque nos falta urna hist6rla seria, circunstancia-
da e problematica, desse perfodo artfstico
1
0. Depois porque llnhas de
panilha se rcvelam, desde a primeira bern mais complexas
e inevidentes: Stella e judd talvez falem com uma s6 voz - e ainda
asslm rerfamos que ouvir de peno para reconhe<cer algumas fatais dis-
sonancias- na cntrevista de 1964 com Bruce Glaser; mas, no fundo,
suas obras tern pouco em comum, ao passo que muitos aspectos apro-
ximam decisivamente as de judd e de Morris naqueles anos;
ambos, com efeito, voltavam as costas a pintura, ambos fabricavam
nos mesmos tipos de materiais objetos em tres dimens<>es, geomeui-
cos, simples e "isolados"; objetos radicais, nao expres.sionistas e, para
dizer tudo, objetos autenticamente minima is.
Cabe en tao reconhecer uma interna ao mini.malismo
em geral? Mas em qual modo pensar uma tal Como urn
limite relativo ao estatuto dos pr6prios objetos? Ou como uma inca
pacidade do discurso - mesmo o dos art.istas como pessoas, mesmo
inteligente como costumava ser -, incapacidade de um discurso de dar
conta do mundo visual sobre o qual ele projeta um mundo fatalmeme
diferente de ideais? Essas questOes valem a pena ser coloca-
das, e distinguidas, na medida em que o amalgama dos discursos e das
obras representa com muita frequencia uma tao erronea quanto
tentadora para 0 crltico de arte. 0 artista geralmente nao ve a diferen-
entre o que ele diz (o que ele diz que deve ser visto: what you see is
what you see} eo que ele faz. Mas pouco importa, afinal de comas, se
0 cdtico e capaz de ver 0 que e feito, portanto de assinalar a
- sempre interessante e significativa, com freqiienda '?esmo
-que trabalha nesse intervalo dos discursos e dos Assmalar
o trabalho das e com freqiiencia revelar o pr6pno trabaJbo
- e a beleza - das obras. Isto faz parte, em todo caso, das belezas
pr6prias ao trabalho crfrico. Ora, muitas vezes o critico de arte nao quer
veristo: isto que definiria o Iugar de uma abertura, de que
se abre em seus passos; isto que o obrigaria a sempre dialenz.ar- poe-
tanto cindir, portanto i.nquietar - seu pr6prio discurso. Ao se dar a
10 0 auiret de "fibula filos66a" que dou a esse texto nlo me orienta, em
todo caso, para 0 projero de c:olocar ou historicam:"tt o
que seguramenre seria para quem qwsesse a enti e
"mlnlmalismo" enquanto ral- supondo que ela realmenre CXJSU.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
r
l-
1-
ou o turvo prazer, de rapidamente julgar, o crftico de arte
prefere assim cortar em vez de abismar seu olhar na espessura do cor-
te. Prefere entno o dilema a dialetica: exp()e uma contrariedade de evi-
dencias (visfveis ou ffiSricas), masse afasra do jogo contradit6rio (o fato
de jogar com acionado por parnmetros mais transversa is,
rna is latentes- menos manifestos- do ttabalho artfstico.
Um exemplo, nesse contexto, vern imediatamente ao espirito. Tra-
ta-se de urn texto crltico que ficar.i famoso - pela radicalidade sem
de seu prop6sito, pelas reaes que suscitou -,no qual Michael
Fried escolheu justamente iulgar de uma vez por todas o minimalismo
com base num dilema sobre o visfvd em geral e sobre a "especificida-
de" das obras de arte modernas em particular
1
1, Michael Fried nao con-
servava a de minimal art proposta em 1965 por Richard
Wollheim; preferia alar de urna "arte literalista" (littralist art) -o
alem de se refcrir ao littral space reivindicado por Donald Judd
1
2, evoca
de imediaro a palavra ao pe da letta, e mesmo a letta que mata enquanto
o esplriro vivi.fica .. E, de fa to, Michael Fried seu texto colo-
cando como dado de principia que o "empreendimento" minimalista
era de nat:uteu fundamentalmente jcfeol6gica"-ou seja, antes de tudo,
smra qsustao th palavras
13
Maneira de projetar os discursos, sempre
discutfveis quanto a seu valor de verdade, sob!=C obras por natureza
resistentes i 16gica. Maneira de bater-se com judd de discur-
so a discurso, se posso dizer, e de manifestar na linguagem a questio,
que percebemos vital para Michael Fried, de saber o que e e o que niio
e aru naquele momento da "cena" americana.
11
M. Fried, Art and Objcctbood (1967), ed. G. Battc:ock, Minimal Art,
op. cit., pp. 116-147, uad. Brunet e C. Ferbos, Artstudio, n6, 1987, pp. 12-27.
u Cf. D. Judd, specific Objects, art. ch., p. 67, cltado aqul mesmo, Stl
pra, p. 27.
u M. Fried, Art and Objeabood, art. cit., p. 11: o empreendimento co-
nbecido rob as djnnas de Arte Minimal, ABC Arte, Estruturas
Primiriu e Objetos espedficOs em grande parte ideol6glco. Visa a enunclar e a
oc:upu uma que posu ser formulada com palavru, eo foi de &to por alguns
de seus principais pradantes. Sobre a com alinguagem que esse dpo de
aborda&em d. R. Krauss, using Language to do Business as Usual", Vi
SI4IJ1 Tbeory. Paintilfg tmdlmerprmnion, ed .N. Bryson, M.A. Holly e K. Moxey,
NOYa Yorlc, Harper CoUins, 1991, pp. 81-93.
70
Georges Dldi-Huberman
Uma querela de palavras, de certo modo B1stante -
d M .. va num certo
sentJ o. as cometer(amos um erro primeiro em na"o d
1 ' ar tmportan-
cta a e a-como se nao devcssemos dar importancia aos deb
d
A d ,
1
XVII ates aca-
emlcos osecu o ,porexemplo-,segundo, em acreditala muda
sobre estatuto mesmo dos objetos. Na realidade, Michael Fried nao
fez senao na brecha te6rica ja ex:plkitameme aberta em Robe
Morris, a saber: a entre "especificidade" e "presenra" rt
d
. - ., a
a transparencia semi6tica de uma tau
da Vlsao (what you see is what you see) e a opacidade fatal de
uma ou. suscitada pela exposir;3o mes-
ma dos obJetos mtnlmahstas. Mtchael Fried numa brecha
te6rica eo fez magisttalmente, levando a contradir;3o ate a incandes-
c!ncia, pondo os pr6prios objetos sob uma luz tao crua que ela ted se
tornado literalmente cegante, tomando esses objetos finalmente invisl-
veis. Era com efeito a melhor maneira de aniquihi-los, de assassina-los.
Mas, de infcio, Michael Fried por ver sob a luz crua, e
portanto por vee bern. 0 que ele ve tao bern- seu texto adquirindo,
quanto a isso, algo como urn valor definitivo, um valor de referend a
- e 0 paradoxo mesmo dos objetos minimalistas: um patadoxo que
nao e apenas te6rico, mas quase instantaneamente, e visualmente, per
ceptfveL De urn lado, portanto, sua pretensao ou sua tensao dirigida
a especificidade fonnal, a "literalidade" geometrica de volumes sent
equlvocos; de outto, sua irresistfvd a uma obtida por
urn jogo- fatalmente equ{voco - sobre as dimens3es do objeto ou
seu porse em face ao espectador
14
Assim Michael Fried
analisara as mais paradoxai.s (as mais arriscadas, sem du-
vida) do minimalismo, sobretudo as obras de Robert Morris e de Tony
Smith
1
S. Acabani poe diagnosticar nelas o que a por Rosalind
Krauss das esculturas de Robert Morris manifestava jof daramente, no
texto citado mais acima, quando ela falava do "wnanho'" dos obje-
tos em fonna deL, de seus de sua "de pe" ou "dei
tada de lado": a saber, a natureza fundamentalmente antropom6r{tca
de todos esses objetos. Cabera entio a Michael Fried conjugar os re-
mas da e do anttopomorfismo sob a autoridade da palavra
H M. Fried, Art a.nd Objccthood", art. cit., p. 13, que sup61a desdc o i.nfcio
- e implicitamente se apoiari are o final -em C. Greenberg, Recentness of
Sculpture" (1967), Mirrima/ Art. A Critical Arrthology, op. cit., pp. 180-186.
u M. Fried, Art a.nd Objccthood", art. cit., pp. 14-17 e 1821.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
71
-
i
'
I
I
I
teatro- palavra pouco clara enquanto conceito (mais imposta do que
postn no texto), mas excessivamente clara, quando nao excessivamente
violenta, enquanto depreciativa:
A que eu gostaria de propor e a seguinte: a
literalista a objctidade na verdade nao e seniio um
pretexto para um novo genero de teatro, e o teatro l agora
a negao da arte (theatre is now the negation of art). ( )
0 suusso mumo ou a sobrevivinda das expressoes ar-
tisticas depende cada vez mais de sua capaddade de por em
xtque o ttatro. ( ... ) As exprtssoes artfsticas degeneram a
medida tomam ttatro {art degenerates as it approaches
the condition of theatre)
16
E ele tenninava assim, com uma nota de pavor diante da univer-
salidade dos poderes infemais da perversiio feita teatro:
Gostaria porhn, ne.stas ultimas linhas, de chamar a
attno para a dominao absoluta (the utter pervasiveness)
-a universalidade virtual- da sensibilidade ou do modo
de existbtcia que qualifiquei de co"ompido ou pervertido
pelo ttatro (as corrupted or perverted by theatre). Somos
todos, toda a nossa vida ou quase,literalistas"
17
IU nessas passagens algo como uma reminiscencia involuntaria
dos grandes moralismos antigos, violentos e excessivos, aqueles mo-
ralismos de anatemas essencialmente religiosos e assombrosos, der-
rubadores de ldolos mas tambem vltimas de seu pr6prio sistema de
violencia, e nesse ponto sempre derrubadospor eles pr6prios, contra-
dit6rios e paradoxais- no estilo de um Tertuliano, por exemplo
18
u Id., ibid .. pp. 14, 22, 24.
17 I d., ibid., p. 27. E elt eonclub com uma &-ase de tonalldade do
que os rradatorcs Dlo ousanm passib para o frands: Presentness is Grace -
11PensoeviclenttmentenomtadodeTenulianoconttaoteatto,Despeaacufis,
ed. e rrad. M. Turcan, Pads, Cerf, 1986 (Sources chrttlennes, n 332). Permiro-
me 1aoctet sobre o par.tdoxo intemO !Jgado a esse 6dio secular ao teatto, a um estudo
intitulado !lA couleut de chair, ou It paradoxe de Tertulllen ,Nouvelle Revue tle
Psyehart4/yse, XXXV, 1987, pp. 9-49
72
Georges DidiHuberman
0 Michael derruba em primeiJo Iugar, como urn asceta que-
brana um fdolo, e nada menos que toda a te6rica de Donald
Judd. U onde Judd propunha urn recurso a ideologia modemtsta Fried
den uncia no minimalismo a ideologia por excelencia (a mes-
ma de todos). U on de Judd reivindicava uma especificidade dos ob-
jetos minimalistas, Fried denuncia uma naoe-Specificidade operando
nesses objetos que nao querem ser - exatamente enquanto "obje-
tidades" - nem pinturas, nem esculturas, mas um meio-termo defi
nido por Fried como "a ilusao de que as barreiras entre as diferentes
express<>es artfsticas estlio em via de desmoronar"19, U on de judd de
nunciava o ilusionismo operando em toda pintura modernista que
compreendesse duas cores pelo menos, Fried sobredenunciara o ilu
sionismo teatral operando em todos os objetos minimalistas que im-
paem aos espectadores sua insuportavel U onde judd
reivindicava uma arte nlio-relacional porque nao-expressonista, Fried
nlo vera senao uma pura e simples relao posta em cena entre obje
tos e olhares. U onde Judd afumava a estabilidade e a imediatidade
temporal de seus "objetos espedficos", Fried nao vera mais que urn a
temporalirtZo complexa e infmlta, incomoda e contradit6ria, drama
tizada e impura
20
Compreende-se, para terminar, que a forma deane reivindicada
por Donald Judd com o objetivo de derrubar o antropomorflsmo in
corriglvel da pintura tradicional- tradkional incluindo sua pr6pria
modernista -sera ela pr6pria invertida por Michael Fried, que
a julga como uma forma por excelencia de naoarte em ratio do fa to
-do pecado capital-de que e.la se revelava inteira e unilateralmente
como um antropomorfiSmo cronico, perverso e "teatraJ". A inversao
era portanto total. Ela resultava na explfcita de urn dilema, uma
alternativa compreendendo duas vias antiteticas entre as quais ada urn
- artista ou critico, o leitor em geral-era intima do a escolher: .. Uma
guerra se trava entre o teatro e a pintura modemista, entre o teatral e
o pict6rico21, -e nessa guerra voce ted que escolher seu lado, a nao
arte ou a arte, a insignificante dos objetos minimalistas ou
a modemista dos quadros de Olitski...
19M. Fried, "Art and Objtcmood, art, cit., p. 2-4.
1o Id., ibid., p. 26.
11 ltl., ibid., p. 21.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
73
Que faur diante do dilema? Escolher seu lado?22 Assumir a nao-
especificidade do minimalismo e reivindicar sobranceiramente sua vo-
te.ural?
2
3 Ou constatar simplesmente que o dilema nao era, em
seu ponto de panida, senao um {also dilema-e que no limite e a forma
mesma da altemariva que tera representado, no caso, a atitude .. per-
versa,. (ou melhor, aqui, uma atitude paran6ica)? Para n6s, que hoje
podemos olhar um quadro de Barnett Newman ao !ado de uma escul-
tlita de Tony Smith sem sentir o dilema de urn abismo visual intrans-
ponivel, o debate em questao parece antes o da bern denominada pe-
quma difernzfll. E impressionante ver como os pares de oposiyC>es,
nesse dilema, tern a capacidade vertiginosa de se invener como se re-
vira uma luva, ou seja, praricamente de se equivaler, ou, mais exata-
mcnte, de produzir wna forma espelhada da forma mvertida". Quan-
do voce vi.ra pelo avesso uma luva da mio direita, voce obtem uma
luva da mio esquerda, certamente, mas esta continua sendo uma luva,
continua servindo a mesma coisa, nio altera o sistema que ela contri-
bui antes para rematar, estabilizar. 0 que manifesta portanto o dile-
ma da presenf4 minimalista e da presnztne.ss modemista -como o
prop()e Michael Fried -, senio urna estrutura global que prende os
termos numa relayao de captayao dual e agressiva, em suma, na es-
trutura imaginim de urn fato de De que se trata, senao de urn
par estrutural em que cada imagem convoca e repudia sua contra-
imagem proxima, como os c:Umulos dos Eleitos convocam e detestam
os dos Hereticos na organizayao da Divina Comldia?
Assim, o dilema que op& Donald Judd e Michael Fried em seus
respectivos textos assemelha-se mais a urn drculo vicioso, ou a uma
comedia- bern pouco divina -da vanguarda reivindicada como uma
economia de exclu.sOes. E urn dilema que p0e face a face dois tipos de
evidincias- a evidencia 6tica ",de urn !ado, a evidencia da "presen-
:u CL por cxemplo R. Smithson nas Letters de Artforunr, VJ, n 2, 1967,
p. 4. L l.aDg ( Art and Objeahood: Nous de prisentarion , Artstudio, n 6, 1987,
p. 9, DOCa 6) tradazlu essa passagem: eomo bom puritano fanitico, Fried pro-
daz para o mundo dl atte (- ) uma espkie de par6dia j consurnada da guerra
entre o classicismo da (a modemidade) eo anri-classiclsmo manelris
ra (o teatto)-.".
n Cl. T. de DuYe, Pcrforrnanc:e ici ct rnalntenant: l'art minimal, un pbidoyer
poor an aocncaa tbatre" (1981), E.ssDis dmh,l. 1974-1986, Paris, La Diff&e:nce,
1987, pp. 159-205.
74 Georges DldiHuberman
)
... de outro: evidendas que, pelo proprio 'logo d o
S d d
d' e seu con 1to e por
erem a as, retvm tcadas como evidencias f d '
d d
. , , arao per era cada rer-
mo sua ver a etra conststenc1a conceitual Ass
1 fi ' d d " - . . 1m, a pa avra .. especi-
a a e nao quer dJur mats nada ,a que muda fac' l d
d d . ' 1 mente e senu-
o quan o da anahse.- inteligente, mas surda -de Donald
a - Jgualmente Jntefigente, e igualmente surda - de
Mtchael Frted. As palavras .. teatro" "ob
1
'etidade" .. "
" " ' , ou
. estar-presente sgruficam mais grande coisa, posta.s ou
tmpostas - ser elaboradas, isto e, desconstrurdas
fifosoficamente, lstO e, tenstonadas e abertas diaJ..h-.da -
'd d s nao no sen
t1 o a sntese transcendental, mas da dada as woo em bra24
hi cisao num dilema, salvo quando ele rensiona
um umco e mesmo corpo, urn unico e mesmo ato 0 dil-ma d
' fi ' dad " " a
espect CJ e representa, ao contr:irio, tal como foi posto urn di-
de que deviam separar-se absolutamente
namente, agressJVamente) para conservar cada qual sua identidade
fechada e nio cindida: a nao-ane da ane, os objeros espaciais da pin-
tura, o antropomorfismo do formalismo 6tico, etc.
Era portanto um debate de generos que s6 foram teoriz.ados para
mdhor se exclurem- masse exclufrem "em espelho", por assim dj.
zer: fecluulos urn face ao outro. Era portanto um debate academico. Uma
questio de palavras. Uma controversia maniquefsta. Era responder a
exclusao pelo anatema, e ao anatema pela exclusao. Era encerrar 0 yj.
sual num jogo de evidencias vislve1s e te6ricas pastas umas contra as ourras
de maneira sempre binciria, de maneira muito precisamente dual. Era
produzir urn sintoma reativo contra um outro, sem perceber a
16gica e fantasrmtica do sistema inteiro- do sistema totaliclrio-pro-
ducor dos dois sintomas. Ao abordar as coisas visuais pelo prislll2 do
dilema, acreditamos poder escolher um Ia do, isto e, obter finalmente tmU
posiyao estivel; mas na realidade encerramo-nos na imobilidade sem
recurso das id6as fins, das entrincheiradas. Enos condenamos
a uma guerra im6vel: um conflito transfocrnado em estatua, medusado.
14
Leo Steinberg ji havia mostrado a lraqueza da anritCI
traJ de Oement Greenberg a prop6sito de um quadro de Picasso (L. Stdnberg,
Other Criteria" (1972), trad. C. Gintz, Regards sur /'art ammcain, op. d t., p. 38),
e Rosalind Krauss assinalou no vocabulirio da t.eatralidade um renno-gw.rda
cbDVI (thNtriaJiity is tm tnm) (R. Krauss. PIISSIIgtS in Modem SaJpbiTe,
op. dt., p. 204.)
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
75
I
I
I
I
Mas o que e, nesse dilema, que funciona como me
dusante? Que e que obriga 0 conflito a se fi.X3r deste modo? Sem du-
vida e paradoxalmente, 0 ponto imaginario de nao-conflito, 0 ponto
0
qual cada urn est3 de acordo ... para tentar, sempre ineficaz-
mente, arrancl-lo do outro. a tautologia. Especie de superffcie lisa
onde o espelho pOe uma contra a outra a evidencia da "especificida-
de" modemista e a evidenci3 da "especificidade" minimalista. Sob esse
aspecto e altamente significativo que Frank Stella tenha sido reivindi-
cado como "alia do" pelas duas panes em conflito. Por que Judd subs-
crevia com ele tomadas de te6ricas, e por que Michael Fried
quem opO-lo a Judd? Porque de representava- pelo menos em suas
e nessa epoc:a precisa2S- o ponto co mum tauto16gico que
devia servir tanto a "especificidade" modemista quanto a "especifici-
dade" minimalista. What you see is what you see - eis a[ a forma
tautol6gica que serve de interface a todo esse dilema. Eis o ponto de
ancoragem de todo esse sistema de binarias, com sua
de postulados que reivindicam estabilidades 16gicas .o.u ontol6gtc:as
expressas em termos de identidades redobradas: estab1hdade do ob)e-
to visual (what is what), estabilidade do sujeito que ve (you are you),
estabilidade e instantaneidade sem falha do tempo para ver (you see,
you see). Quanto ao dilema, se se revela tao vazio e fechado, e apenas
porque a tautologia constitui de fato, sobre a questao do visual, o fe-
chamento e a vacuidade por excelencia: a 6rmula magica por exce-
lencia, forma ela pr6pria invertida - equivalente, como uma luva
virada ao avesso ou uma imagem no espelho- da atitude da
Pois a tautologia, como a ftxa termos ao produzir um engodo
de ela fJXa o objeto do ver, fuca o a to - o tempo - e o
sujeito dover.
Ora, o objeto, o sujeito e o a to de ver jam.ais se detem no que e
visivel, tal como o fw um termo discem{vel e adequadamente no-
meavd (suscetivel de uma tautol6gica do genero: "A
Rendeira de Vermeer e uma rendeira, nada mais, nada menos"- ou
do genero: "A Rendeira nao e mais que uma superffcie plana coberta
1S t eridente que tal ani lise se limita aqui b dos artistes, e nio
1s suas obras. Ji sugeri que as obras traem com os discursos (sem con
tar os casos em que os pr6prios discursos se traem). A vale, claro,
para Donald Judd, cuja obra muito mais complexa e hu/"let4 - e nesse ponto
apaixonante- que o que a Jeirura de specifiC Objects" farla supor.
16
Georges Didi-Huberman
.,
de cores dispostas numa ccrta ordcmft) 0 d
, . ato e vcr nao e
0 1
d
uma maquma de perceber o cnquanto composto d .d:
0
e
t t I
, Q d d C CVl COCiliS
au o ogJcas. ato e ar aver nao eo a to d d ' d . .
d Jh " 3C CVI COCI:lS VISrveiS
a pares e o os que se apoderam unilateralmentc do "do . I"
. f 'J rn VISU3
para se satJS azer um ateralmente com elc
3
,
.. ver c scm pre mqute
ver, em seu ato, em sujeit?. v.er e sempre uma de
SUJeJto, portan.to uma fendda, mquieta, agitada, aberta. T odo
olho traz cons1go sua nevoa, alem das inform
3
,..;.... d qu pod
. .. e ena num
certo moment? julgarse o detentor. Essa cisiio,
3
quer ignor3
Ia, se mventa o mito de urn olho perfeito (perfeito na rrans
cendenc1a e no teleol6gico); a tautologia
3
ignora
que mventa urn mito equivalence de (uma
mversa, tmanente e imediata em seu fechamento) . Donald
Judd e Fried sonharam ambos com urn olho puro, urn olho
sem SUJeJto, sem ovas de peixe e sem (isto e, scm ritmo e sem
restos): contra-vers5es, ingenuas em sua radicalidade, da ingenuida
de surrealista ao sonhar com um olbo em est<tdo selvagem.
. Qs pensamentos bi?arios, OS pensamentos do dilema sao portanto
mcapazes de perceber seJa o que for da economia visual como tal. Niio
hi que escolher entre o que vemos (com sua conseqiiencia exclusiva
num discurso que o fiX3, a saber: a tautologia) eo que nos olha (com
seu embargo exclusivo no discurso que o flXa, a saber: a Ha
apenas que se inquietar como enJre. Ha apenas que tentar dialerizar,
ou seja, tentar pensar a contradit6ria em seu movimento de
diastole e de sfstole (a e a do que bate, o
fluxo eo refluxo do mar que bate) a partir de seu ponto central, que
e seu ponto de inquietude, de suspensao, de entremeio. E preciso ten
tar voltar ao ponto de inversiio e de convertibj)jdade, ao motor diale
tico de todas as o momento em que o que vemos justa
mente a ser atingido pelo que nos olha - urn momento que
nao impOc: nem o excesso de sentido (que a glorifica), nem a
ausencia cfnica de sentido {que a tautologia glorifica). Eo momento
em que se abre o antro escavado pelo que nos olha no que vemos.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
n
..
l
L
A DIALETICA DO VISUAL,
OU 0 JOGO DO ESV AZIAMENTO
Quando urna pequena, deJ.Xada sozinha, considera dtan-
te dela os poucos objetos que povoam sua soltdao - por exemplo
uma boneca, um urn cubo ou simplesmente o de sua
cama -, o que ela ve exaramente, ou melhor, como ela ve? 0 que
ela faz? Imagino-a primeiramente ou batendo suave-
mente a contra a parede. lmagino-a ouvindo seu pr6prio co-
batendo contra sua tempora, entre seu olho e SU3 orelha. Ima-
gino-a vendo a seu redor, ainda muito d1stante de toda certeza e de
todo cinismo, ainda muito distante de acreditar no que q uer que seja.
Imaginoa na expectativa: eta ve no estupor da espera, sobre o fundo
da ausencia materna. Ate 0 momento em que 0 que ela ve de repente
se abrua, atingido por algo que, no fundo- ou do {undo, isto e, desse
mesmo fundo de ausencia -, racha a ao meio e a olha. Algo,
enfun, com o qual ela ira fazer uma tmagem. A mais simples imagem,
por ceno: puro ataque, pura ferida visual. Pura ou desloca-
mento imaginario. Mas tambem urn objeto concreto - carretel ou
boneca, cubo ou da cama - exatamente exposto a seu olhar,
exatamenre transformado. Um objeto agido, em todo caso, ritmica-
mente agido.
Assim como carretd: a o vC, toma-o ms maos e, ao toci
lo, nao quer mais veolo. Atira-o Ionge: o carretel desaparece atras da
cortina. Quando reroma, puxado pdo fio como u.m peixe surgjria do
mar puxado pelo anzol, de a olha. Abre na algo como wna
cisio rianicamente repetida. Tornase por isso mesmo o necessario ins-
trumento de sua capacidade de existir, entre a ausencia e a presa, en
tre o impulso e a surpresa. Cenamente terio reconhecido nessa situa-
a cena paradigmatica descrita por Freud em Albn do prindpio de
praur. seu pr6prio netinho, com dezoito meses de vida, discretameo
te observado enquanto acompanhava vocalmente o desaparecimento
de seu carretd com urn invariavd o-o-o-o prolongado, depois saudando
seu reaparecimento, escreve Freud, .. por urn alegre Dal" (Ahl AI
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 79
I
I
l
I_
estal") t. alusao a isso apenas para sublinhar de novo o quadro
geral em que nosso problema se coloca: quando o que vemos e supor-
tado por uma obra de perda, e quando disto alguma coisa resta.
No texto de Freud, como se lembram, o jogo da e apre-
senmdo ao lea tor sobre urn fundo de essencial cruddade: a guerra mun-
daal, "a guerra terri vel que acaba de terminar", com seu cortejo de
perdas definitivas, de insistentes e operantes, com a ques-
tio colocada de saida ao conceito de susto com a introdu-
mempsicol6gica da "neurose traunutaca .. cujo enunciado Freud
subitamente abandona .. para oferecer, sem o famoso pa-
r.ldigma infantil, que percebemos com clareza nada ter de inocente2.
0 jogo risonho talvez se mosue aqui como um alem do pavor, mas
nao pode deixar de ser lido, ao mesmo tempo, c ern sua
mesma, como urn repor em jogo o pior. Ora, esse repor em jogo, sa-
bemos, e apresentado por Freud como constituinte do sujeito enquanto
tal. Seja qual for o ponto escolhldo no quadro sutil, na ampla trama
interprmtiva proposca por Freud - na qual a rcnuncia volta a cru-
zar o jubilo, na qual a passividadc reprodu%ida se toma ato de con-
ttole, na qual a convoca uma estetica, etc.
3
-, e a identida-
de imaginaria da com efeito, que vemos aqui se instaurar. Mas,
suportada pela fonematica e significante do Fort-Da ("Lon-
ge, ausente" - "Ai, presence .. ), essa imaginiria revela
ao mesmo tempo um a to de primordial que os comen-
Wios mais profundos da pequena fabula freudiana- em bora sob in-
flcxc5es dlferentes e mesmo divergences- trazem a luz: estadamos li-
dando aqui, por com a descoberta mesma dos poderes
da fala
4
I S. freud. "Aula du principe du plaiSir" (1920}, ttad. S.
E.ss4il tU Pans, Payor. 1951 (ed. 1968), p. 16.
ltd., ibui, pp. 13-15.
J !d., ibul., pp. 17-20.
4
t a exprcssao de N. Abraham, L'lroru et le noyau, Paris, Flammarlon,
1978 (ed. 1987), p. -413, que (ala tambem do FortDa como o tlpo mesmo da
primeua hng112gem 'unb6lica (p. 417}. AnteS dele, Jacques Lacan exprimla u
limo "destino de ling112gern" contido oo objeto do jogo: "ElK objeao,lncorpo
imediatamenre no par simb61ico de duas elemcntarcs, anun
cia oo sujeito a d&acr6nica da dicotomia dOJ fonemu, da qual a Ungua
gem existenre oferece a cstrutura sincr6nica para Sll2 aulm a
80
Georges Didi-Huberman
Mas a toda fala poderosa - ai nda que uma .. Jac 1 1
" d' La , u emen-
tar , como IZta can-e precaso urn obJeto ade"uado ou . fi
d 1 . -s , seJa,e .
am a que e e pr6pno excessavamente simples e indeterminad
amda que trivial e insignifkantes. Urn carretel, por
cle cabe na mao de uma
3
seu fio ele
030 parte defi.nltivamente; C Uffi3 massa e e Uffi fio - Uffi VIVO
-, nessa qualidade oferece uma smgularidade visual que o toma ev
1
-
denteme_nr: pane depressa, retorna depressa, e ao mesmo
raptdo e merte, animal e manipulivd. Traz portanto em S1, como
Ob)eto concreto, aquele poder de alteridade tao nec.essario ao proces-
so mesmo da imagmaria6. Certamente deveriamos acres-
centar que lhe e preciso um poder de alterao, e inclusive de auto-
o carrctel joga porque pode se desenrolar, desaparecer, passar
debaixo de urn m6vd inatinglvel, porque seu fio pode se romper ou
resistir, porque pode de repente perdu toda a sua aura para a
e passar assim a inexistencia total. Ele e fnigil, dee quase. Num certo
sentido, e sublime. Sua cnergetica e formida vel, mas esra ligada a muito
pouco, pois pode morrer a qualquer momenta, ele que vai e vern como
bate um ou como reflui a onda.
Ora, e num tal poder de que se abre justamente o an
tro do que olha a pequena - a obra da ausencia, a obra da
perda- no mesmo desse objeto que dave aparecer e desa-
parecer. Este a ser pensado ao mesmo tempo como seu
interior sempre problematico- 0 que e 0 interior de urn carretel? -
a se envolver oo slsrema do da5cutso concreto do ambience. rtprodiWildo
mais ou menos em Fort! e em Da/ os vodbulos que dele
recebe". J. Lacan, "FOJICticm et champ de 1a parole et du langage eo psycbanalyse"
(1953), Eaits, Paris, Seuil, 1966, p. 319. Cabe assinJar ainda a de
Pierre FCdida. que oo c:uo joga poctJcamcule com a palavra objell
(tomada de francis Ponge): ob,eu e aeontcCU de palavra oum ptplhar de
t jUbilo de cncontro, ex:awncnre entre cojg e palavra. P. fbJida. L Paris,
Gallimard. 1978, p. 97 (e, em geral, pp. 97-1951; as pauagens cspecificamenre
cWicadauoFort-Da nu pp. 132-133,139-151,159-168,181195).
s Caw extremo: a cucarisria. A fala s6 eficaz aqw - wo sac:rameoro, ou
uma radical de 'ordem de re.alidade - porque um pequenssimo
objao, humllde e familiar, mas que coma a pr6pria csuanhez.a, vem eoama-b
visualmenre, tatilmane, gustativamcoce: pequcna super(lde de pJo branco. pcqua!o
fundo de vinho oum cllacc.
' Cf. por exemplo N. Abraham, L 'l eoru le noyiiJI, op. cit., P 38.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
81
e como sua essenc1al de ntmo anadiomeno, de que
flui e reflu1. Eis por que o objeto eleito pela s6 "vive" ou so
"vale" sobre urn fundo de rufna: esse objeto foi inerte e indiferente, e
tomani a se-lo fatalmente, fora do jogo, num momento ou noutro. Esse
objeto C$teve mono, e o C$tar:i: toda a sua eficada pulsativa, pulsio-
nal, prende-se ao intervalo rftmico que ele mantem ainda sob o olhar
da Ass1m, nio nos surpreenderemos de encontrar, na estru-
tura mesma do texto freudiano, esse caniter momentaneo, frigil, do
jogo in!antil preso a tiracolo entre dois pavores e entre duas mortes.
Allm do principro de prazer, sabemos, descreve urn movimento em que
a morte acaba por se defmir estruturalmente como o quadro e como
a ruao intnna dos pr6prios processos energencos
7
Entio compreendemos melhor de que modo tambem o pequeno
objeto, o carretd, tende a sustentar-se nama imagem visual-pois visual
e o acontecimento de sua partida; visual ainda, seu pr6prio desapare-
cimento, como um relimpago de cordao; vis113;1, sem duvida, seu rea-
parecimento, como urn sempre fragil resto-, e de que modo esse reapa-
recimento pode suportar, no exemplo freudiano, algo como uma arqueo-
7
Se adnutirmos, como um &to experimental nJo sujeito a qualquer exce-
que rudo o que vive retorna ao esudo inorginico, morre por ruiSes internas,
podcmos dizer: o fim para o qual tmde toda viM Ia morte; e, inversamente: o
1141o-&/i&lo I anurior ao Jlillo. S. Freud, "Au-ddl du principe du plaisit, art. cit.,
p. 48. Esse desenvolvimento culmina DOS dois wtimos apftulos sobre 0 "Dualismo
du pulsio de vida e pulsio de mone (pp. SS.Sl). Em seu admidvel co-
mcntirio, Lacan reprodU% exatamcnte essa 5eqUCncia em que o fogo se cnquadra
naiDOrfe pan inclui..Ja,nde,c.omo nasrimmtodocmbolo": "...oinsdnto demone
exprime essenrialmeme o Limite da hist6rica do JUjeito. Esse limlte c a morte,
do como praz.o eventual da vida do indlviduo, nem como ceneu empfric:a do
JUjeito, mas segundo a f6nnula dada por Heidqger, como powbilldade absolu-
amcnte pr6pria, incondirionaJ, insuperivd, certa e como tal indeterminada do
sujeito' (.-). Com isso, nio hi rnais nccessidade de rec:orrer l caduca de
primordial para compreender a razJo dos jogos repetitivos em que a
sub,aivjdade fomc:nta ao mesmo tempo o dom!nio de wa eo nascimenro
do simbolo. Esses iosos do jogos de ocultamento que Freud, numa genial,
prodll%ia. a DOSSO ver, pan que Deles reconhec&semos que o momenro no qual o
desejo se humaruu i wnb&n aquele no qual a nasce para a linguagem.
(-) Assim, o sfrnbolo se manlfesca primeiro como assassinato da coisa, e essa mone
coa.sOtui no JUjeito a de seu desejo. 0 primeiro sfmbolo DO qual reco-
nhecemos a humanidade em seus vest(ajos i a sepultwa, e a da morte
se reconhece em toda na qual o bomem chesa l vida de sua hist6ria". J.
Lacan, fonaion et dwnp ",art. ciJ., pp. 318-319.
82 Georges DidiHuberman
logia do sfmbolo . .E que o carmel s6 e .. vivo'" e dan"""' fi
, ... ,. . . r- e ao gurar a
e so )Oga ao eterrutar o desejo, como urn mar demasiado
v1vo devora o corpo do afogado, como uma sepultura eternita
. T
1
, h . . . a morte
para os vtvos. a vez so aJa tmagem a pensar _
1 ., mera
ps1co para alem do prindpio de prazer: Freud, como se
lembram, passagem com uma alusao ao "jogo do luto ..
(Tra_uersprel, a traged1a) e apelava a "uma estetica guiada pelo ponto
?e VISta (eine okonomrsch gertcktete Asthetik)B. Ora, niio
tmporta a.tdeta que fiZCSSe en tao da atividade artfstica em ge.ral,
devemos tgualmente sublinhar a critica da rmitao que acompanhava
toda a sua reflexao: "Explicar o jogo por urn instinto de e for-
mulae uma hip6tese inutil"
9
Talvez s6 haja imagem a pensar radical
mente pa.ra alem do principia de E talvez no momenta mes-
VJStvel, que o carretel se toma uma imagem visual. 0 simbolo, certa-
mente, o "substituir.i", o assassi.nara-segundo a ideia de que "o sfm-
bolo se manifesta primeiro como assassinato da coisa 10 -,mas de
subsistira num canto, esse carretd: num c:anto da alma ou num c:anto
da casa. Subsistira como resto assassinado do desejo da
Entao a se voltari talvez para sua boneca. A boneca imim,
dizem. E de fa to a imagem em miniatura de um corpo hwnano - o
antropomorfismo por excelencia. No entanto, a boneca nao e menos
capaz, nas maos e sob o olhar da de se tambem, de se
abrir cruelmente, de ser assassinada e com isso ter acesso ao estatuto
de uma imagem bem mais e.ficaz, bern mais essenc::W-sua visualida-
de tomando-se de repente o de seu aspec;to visfvel, seu
dilaceramento agressivo, sua corporal. Imagino, com
efeito, que num momento ou noutro a nao pode mais ver sua
boneca, como se diz, e que a maltrata ate arrancar-lhe os olhos, abri-
la e esvuia-la . attaves do que passara a olha-la realmente desde seu
imago informe. E o que Baudelaire chamou a .. moralldade do brin-
quedo, estritamente compreendida como um acting out do olhar e
ao mesmo tempo como .. wna primeira tendencia metafislca bastan-
te paradoxa)- mas bastante inelutivel, parece:
S. Freud, du ptincipe du pia !sir", art. dl., pp. 1920.
'Ibid., p. 19.
IO J. Lacan, "Fonction et art. cit.. p. 319
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
S3
.. A motor parte dos garoti11hos quer sobretudo ver a
alma, uns ao cabo de a/gum tempo de exercfcio, outros de
imediaro. a invasao mais ou menos rapida dessc desejo
que faz mai'or ou menor a lo11gevzdade dos brirzqztcdos. Nao
me sinto com coragem de reprovar essa mania infantzl: e
uma primeira tendencia metafisica. Quando esse desejo se
fixou no mzolo cerebral da crianfll, ele confere a seus de-
dos e a suas unhas uma agilidade e uma forfll singulares. A
criiJnfll gira, revira seu brinquedo, a"anha-o, bate-o C07t
tra as paretks, atira-o no chao. De tempo em tempo, faz que
ele recomece seus movimentos mecanicos, as veus em sen-
tz"do inverso. A vida maravilhosa se detem. A cria11fll, como
o povo em assidio as Tulherias, faz um supremo esforfO;
enfim consegue enJreabri-lo, ela e mais forte. Mas onde esta
a alma? A qui comefll o estupor e a tristeza. Ha outras que
quebram em seguida o brinquedo mal depositado em suas
maos, mal examiMdo; quanto a estas, confesso ignorar o
sentimento misterioso que as faz agir. Serao tomadas de uma
calera supersticiosa contra esses miUdos objetos que imitam
a humanidade, ou sera que os submetem a uma esplck de
prova manica antes de introduzilos 1t4 vida infantil? -
Pnnling questioo!"ll.
Pode aconrecer tambem que a se contente com um sim-
ples de c:ama, a saber, algo que, por oio sec uma "imagem"' no
seotido usual - e poderia a rigor se tomar o subjetil de uma repre-
-,logo se transformara naquele "resto assassinado" e ope-
rat6rio de uma cerimonia perturbadora na qual a imagino,
oio mais quereni se ver ou ser vista pelo que a c:erc:a. Entao ela se
cobriri como grande branco, mas quando este a toea inteira-
mente e a isola no dominio sutil de suas dobras, eila ainda a seotirse
olhada pela perda, num "jogo do luto" que arquejar ritmicamente
as J.agrimas do medo com as do riso:
Alguns dias ap6s o falecimento de sua mae, Laura-
de quatro anos - brinca de estar morta. Com sua irma-
11 C. Baudelaace, Morale du joujou (1853), CEuvreJ ed. C.
Pichois, Paris, Gallimacd, 1975, J, p. 587.
Georses OidiHuberman
dois anos mais velha- pega urn lenfol de cama com
0
qual
pede para ser coberta, enquanto expltca o rztual que deve-
ra ser escrupu/osamente cumprido para que possa des4pa-
recer. A irma cola bora ate o momenta em que, Laura nao
mais se mexendo, comefa a gritar. Laura reaparece e, para
acalmar a irma, lhe pede, por sua vez, para fingir-se de mor-
Ia: ela exige que o lenfOI que a cobre permanefa impassl
vel. Mas nao consegue arrumd-lo, pois os solufOs de choro
se transformara'!f, de repente, em rtSos que agitam o lenfOI
de alegres sobressaltos. E o lenfo/- que era um sudario
- vira vest/do, casa, bandeira ifQda no alto de uma 4rvo-
re ... antes de acabar por $e rasgar em risos de fariindola
desen{reada, 1t4 qual e morto um velho coelho de pelUcia
cujo ventre e a"ebentado por Laurat12,
}
I t
0 que nos ensina essa comovente dramaturgia? Primeiro, o que
dela nos diz Pierre Fedida, que observou a cena-a saber, que "Q lutQ
pOe o mundo em movimento'"
13
Nessa estranha festa, com efeito, as
duas menininhas troc:am entie si-com uma rapidez e um desemba
dtmico que confundem -a capacidade de ser monas e a capa-
cidade de velar um corpo mono:Com os objetos que as c:erc:am, teo-
cam tambem- e com a mesma vivacidade- a capacidade de matar
e a de se tomar inertes como objetos mortos. "Q jogo esclarece o Juto",
esc:reve Pierre Fedida, que lembra a referencia freudiana ao Trauerspicl
e evoc:a o sentimento de um paciente diante de sua pr6pria vida como
diante da imagem sempre malograda de urn trabalho da motU: En
quanto nio se est3 mono, se finge sempre moner. E tio pouco verda-
deiro quanto uma amorosa "
14
Entiio, o jogo da - o
jogo em geral- se transforma aos nossos olhos, se colore estranha-
mente, se c:humba:
11 P. Fedida, L'absena, op. cit., p. 138.
U Id., ibid., ondc e inclusive assmal2do que "o apacecimento de dnestesiu
no Rosc:hach de pequenas no momento de wn luto confirma usa
de ch mone poe u.aa do mundo.
14
Id., ibid., pp. 138, 184, 186.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
85
"Par seu JOgo, a tJJnto morre quanto ri. Tal-
vez em sua vida, quando riem, os huma11os deixem trans-
parecc de que seriio mortos"lS.
Assim, quando "'sufocamos" ou "arrebentamos" de rir, quando
rimos "ate nao poder ma1s" ou "como doidos", quando rimos a ban-
deiras despregadas ou nos torcemos de tanto rir, fazemos pelos
din5micos de urn riso insensato o que a produz tam bern em seu
jogo: liberamos imagens. Etas escapam de n6s como fogos de artiflcio,
tentamos fazer malabarismos com elas, manipula-las. Mas elas noses
cap3Ill sempre, retomam, deixam-se porum instante dominar e se vio
de novo, e sempre tornam a cair. Como o carretel do Fort-Da teve de
faze-lo num momento ou noutro. preci.so entio tentar pensar esse
paradoxo: que a escans3o pulsativa coloca como seu quadro e inclui
como seu cerne um momento de imobilldade mortal Momento central
da entre diistole e sstole-o antro inerte aberto subitamente
no espeLiculo '"vivo", e mesmo maniaco, de um c:aaetel
do para Ionge de si e trazido de volta a si. Momento de unobt
licbde, suspensiva ou definitiva- urna sempre ofereada como mem6-
ria da outra -,em que somas o/hados pela perda, ou seja,
de perder tudo e de perder a n6s mesmos. Talvez esteja ai o
que hi de mortal na Stephen Dedalus olhando o mar
e movente no imago de uma mae morta que o olha eo afoga na angus
tia; a do c:aaetel olhando seu jogo como se sofre a ausencia
tcpetida -e c:edo ou tarde fixada, inelutavd, definitiva-de uma mie
16
Quando uma brinca de ddxar cairos objetOS, nao estar:i fazendo
a experiCncia de um abandono em que se projetam, nao apenas a au-
seocia que ela teme e cb qual ela mesma podc simetricamente ser o objeto,
"abandonada" pdosque a cercam
17
, mas tambem,ecorrdativamen
te, a in&cia em que lhe e indicado que todo objeto cafdo se toma urn
"resto assassinado", uma imagem mortlfera?
0 segundo paradoxo produzido portal e que a pr6pria
imagem joga, brinca com a ela s6 a utiliza para subvertcla,
U Id., ibid., p. 186.
u Id., ibid., pp. 189195 (sobre a "mie como e a
17 Id., ibid., pp. 98 e 187188.
Georges DldiHubernun
so a convoca para fora de sua visao. E o que faum as d
h d I I uas
menmm as e uto como este lhes serve a principia de imit:a-
perfeita, ja que 0 sudario cuja imagem 0 oferece nao e se-
nao, em suma, uma especie de branco. Mas, quando
0
se toma bandeira, ele abre de vez a aos poderes da figura
billdade! ao mesmo tempo jogo de palavras18 e jogo de imagens, en
tre outras ada bandeira branca que assinala, como e bern conhecido,
que perdemos, que nos rendemos. E, quando de se tor-
na vestido ou entao casa, a transparencia representativa-a equao
do e do sudirio - se abre inteiramente, quero dizer que voa
pelos ares ao mesmo tempo que passa para urn registco semi6tico bern
mais amplo e mais essencial, que a sup()e e a inclui: dialeticamente da
se realiza, na medida mesmo em que se abre aos deslocamentos de sen
tido pelos quais a superffcie branca indeterminada sera capaz de re-
colher urn feixe, imposslvel de cooter, de E isto,
sublinhemos, sem nada perder de sua essencial simplicidade material
Por outro lado, esse emprego do figunivel abre concrctamcnte a
espacialidade ideal do uma simples superffcie- para a ca-
pacidade difercntemente fundamental de produzir um Iugar, um re-
ceptaculo para os corpos, uma volumetria de estojo. 0 que ja o suda-
rio realizava de urn modo que nao pode ser mais clara. Mas, ao pro-
por em acrescimo a sequencia vertiginosa do vestido e da casa - se-
gundo uma de escala digna de Lewis CarroU -, a pr6pria
superde se torce de rir, e e deste modo que ela indica as duas pcque-
nas 6nas a essencial de toda superficie que nos olha, isto e,
de toda superffde que nos conceme para alem de sua visibilicbde evi
dente, sua opticidade ideal e sem Quando se toma capaz de
abrir a cisao do que nos olha no que vemos, a superficie visual vira
um pano, um pano de vesrido ou entio a parede de um quano que se
fecha sobre n6s, nos cerca, nos toea, nos devora. Talvez s6 haja ima
gem a pensar radicalmcnte para alem do prindpio de supcrffde. A
espessura, a profundidade, a brecha, o limiar eo habiclculo- tudo
isto obsidia a imagem, tudo isto exige que olhemos a questio do vo-
lume como uma questio essencial. Sabemos que as gostam
de incluir sem fim bonecas em outtas bonecas - aincb que para as
. ver desaparecer sem fim, como que inelut:avelmcnte- ou entio brio
car com cubos.
II Em francis, entre Jrap e drapuM (bandrica). (N. doT.)
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olba
87
0 que e urn cubo? Urn objeto quase magico, com efeito. Urn
ob)eto a fornectr imagens, da maneira mais inesperada e mais rigor<r
sa que existe. Certamente em ratio de nada imitar antes dele, de sec
para si mesmo sua propria ro:cio figurol. Ele e portanto urn instrumento
eminence de figurabtlidade. Evidence num certo sentido, porque scm-
pre dado como rol, imediatamente reconhecivel e formalmente esta-
vel. Inevidente por outro Ia do, na medida em que sua extrema capa-
cidade de o destina a todos os jogos, portanto a todos
os paradoxes.
0 cubo se toma, nas maos da wn objeto a tao
fadlmente quanto urn carretel: ele rapidamente semeia em seu quarto
uma desordem disseminada - e nio obstante constr6i. Po is, tao logo
o cubo se fuca e se imobiliza em sua calma estatura de m<r
nwnento. Num cerro sentido ele esci sempre caldo, mas poderemos
dizer igualmente que esci sempre erigido. E wna figura de
mas se presta intenninavelmente aos jogos da sempre
propcio, por acoplamento, a reconstruir algwna outra coisa. Portan-
to a metamorfosear. Sua esautural e onipresente, vinua4 mas
igualmente virtual e sua de espalhamento para outras assoda
c;Oes, outros arranjos modulares - que faz.em parte de sua
estrurural mesma. 0 cubo e por outro !ado uma figura perfeita da
convexidade, mas que indui wn vazio sempre potencial, ja que seguj-
damente serve de caixa; mas o empilhamento dos vazios tambem pr<r
du.z a compacidade e a aparencia plena dos blocos, das paredes, dos
monumentos, das casas19.
0 cubo ter.i portanto revelado sua complexidade no momento
mesmo em que chegamos a seu car.iter de elemento simples. Porque
ele e resultado e processo ao mesmo tempo; porque fu parte tanto do
universo infantil quanto dos pensamentos mais elaborados, por exem
plo, as radicais e:xigencias a que a arte contemporinea destinou o mun
do das 6guras, desde Malevitch, Mondrian ou El Lissitsky. Assim ele
fu malograr de antemao todo modelo genenco ou teleol6gico a plica-
do as imagens, em particular as imagens da arte: pois nao e mais ar
caico do que seria o simples resultado de wn processo ideal da "abs
1
' Problema de ti}olos, de modo. Antes de pensar na obra do escuhor
Carl Andte, podcremos nos referir aos estudos admldveis de C. Malamoud 10bre
o tijolo furado e "Tijolos e palavru", em CMir1 /1 month. Riu et pensl1 d4ns
/'Jntk tntderrM, Paris, La Dbuvene, 1989, pp. 71-91 e 253-273.
Georscs Dldl-Huberman
formal. A maneira como a ane minimalisra20 - .
virtualidade do cubo continua sen do sob esse aspe;:oe em )ogol es . s;
b d
. ... o, exemp ar. c
com a o. ra e Tony Smnh que convem cenamenre ou reco-
a esse colocar em jogo, nao apenas pelo valor inaugu-
ral que as pruneJras esculturas de Tony Smith puderam adqu'
. . . lis mr para
outros arttstas mtruma tas, mas tambem pelo vnlor de par' bol ;;.
. . his
6
. a a teu-
"'; que a propna t na de sua transmire. Dtgo "parabo-
la que essa hisr6ria nao e uma simples anedota associa-
da a extstencta de uma obra de ane, mas o relato de scu processo
mesmo, o relato de sua poitica.
E isto, efetivamente, assemelha-sc a uma fabula: era uma vez urn
homem qu: p_assara dezenas de anos, a conceber volumes, a es
tudar suas mwneras e andas de possibilidades, scm jamais
realizar wn unico com suas maos. Ele desenhava, ensinava estudava
21
a arqwtetura , unagmava casas tmpossfveis ou demasiado simples.
em algumas escolas de arte os problemas de
Nao obstante, era amigo dos artistas mais devastadores e menos "cons-
trutivistas" de sua epoca
22
Praticava a pintura, scm asslduidade scm
sistematismo algum: grandes superficies de uma mesma cor, ou :ntio
pontilhados vaporosos. Quando pintava urn hexagono, acontecia-lhe
compreender de repente que havia pintado um cubo em perspecriva23.
Mas eis aqui a hist6ria em questio. Hist6ria modesta, em ver
dade, sem herofsmo, sem pretensao ao sistema: urn acontecimento
fortuito, mais do que uma historicidade imperiosa. Era noite, e Tony
Smith conversava com seu amigo e critico de arte E.C. Goossen, no
escrit6rio deste. Falavam, claro, de esculturo, mais particularmente a
de alguem cuja obra ja era celebre, e cujo nome nao era indiferente,
20
E nao cubista, se quisumos comprecndcr bem o julgamenro de Roben
Morris, que separava danmen[C a problm!!tica minimalist2 da cubisu: A i.o
(da escu.ltura minimlista) e dJamctnJmen[C oposta i do cubismo, que se
preocupa em apresenw viscks simulrineas num Unlco plano . R. Morris, NoteS
on Sculpture, art. cit., p. 90.
ll Em particular na equipe de Frank Uoyd Wrighr. com quem trabalhou em
alguns pddios utiliundo sistemas modulares.
u Principalmeme Jackson Polock e Mark Rothko.
1J Quadro de 1933. Cf. L.R. Llppard, Totty Smith, Londrcs, Tlwnes and
Hudson, 1972, p. 14.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 89
i
I
I
I
I
!
1
I
pois se tr:nava de David Smith. ja falavam portanto, seja for,
da escultura Smith, da que existia solidamenre e da que amda s6
existia como jogo de nomes. Evocavam tambem e criticavam o
'"pictorialismo" dessa escultura existente, lamentando ela nao
encontrasse sua real, sua espedfica dimcnsiio: fizeram a cer
tamente i.ronica- e multo carroUiana, associando um jogo de hngua
gem com urn abismo onto16gico -de uma volumetria que
alem de imagens "em duas dimensOes e meia, em vez de aungLr a
plenirude simples- infantil, dirfamos- de suas tres dimensOe:s. En
quanto &lava e escutava, Tony Smith, como fazia com freqiiencia,
associava formas num bloco de papel
24
Subito, p&-se a olhar fixamente (staring), literalmente siderado,
para a cscrivaninha de seu amigo
25
Ali nao havia, nenhuma
estrda, nenhum astro brilhante a olhar-apenas uma preta, um
velho fichario em madeira pintada que devia estar ali desde sempre.
no logo"" fora visto, portanto, esse objeto simples como
urn cubo de mas negro como um relicano pnvado, pusera-se
a olhi-lo Desde onde? Nao nos sera dado saber, pouco importa afi
naL Sabemos apenas que, de volta para casa tarde da noite, por
das ues ou quatto da madrugada, Tony Smith perdera o sono. Nao
conseguia mais dormir. Continuava aver a caixa (I
sleep. I kept seeing the black boxl6)- como .sea .no1te, dian
te de seus olhos abertos, tivesse tomado as dunmsoes fnnmas do ob-
jeto visto na casa de seu amigo. Como se a insOnia consistisse em querer
abarcar a noite segundo as dimens0e5 de um volume negro desconcer
tante, problemitico, demasiado pequeno ou grande, mas
perfeito por isto (ou seja, perfeito por abrir o anuo daquilo que o
no que de vira). Tony Smith acaba assim telefonar a
que, estupefato, e instado a fomecer as medidas exatas da sem
outra forma de Alguns dias mais tarde, Tony Smith UlSta
:U.C.Goossen, "Tony Smith, 19121980",Art/nAmnka,LXJX,4,p.ll.
1S ltL, ibid.
u T. Smith, comcnWio a The BltuJc Box, em Tony Smith. Two Exhl.bitlons
of SoJpture Harford, Wadswonh Athencum/Uo.ivenir;y of Pennsylvarua, The
Institute of Contemporary An, 1966-1967, nlo paginado. Cumpre subl.inhar o
adt.er purament.e (atu41- e muito breve-deue rdato rcdigido por Tony Smith:
oeahwna ret6rica do fantasma ou mistirio neue texto.
George5 DidiHubennan
num Iugar isolado, nos fundos de sua casa, uma replica cinco vcus
ma1or- mas sempre em preta- do fichario em questio. Sua
pequena, para quem a 1mporcanda da coisa nao passara des per
ceb1da, perguntou-lhe o que ele tanto queria esconder la dentrol7
foi. fevereiro de 1962. Tony Smith ja nao era muito jo-
vem, a nos. no en tanto de realizar
0
que ele
pr6pno cons1derou como sua pnmetra obra, intitulada descritivamente
e ate tautologicamente- pelo menos e o que parece -, The Black
BoxU (fig. 11, p. 92). Mas a hist6ria nao temiinou. ao contri.rio, esti.
apenas ela Pois esse rito de pas.sagem ao &10/Jt
me reali'zado realiz.ase ele pr6prio, como em quase todos os relatos
de conversao, em do is tempos. 0 segundo, algumas semanas mais tarde
no mesmo anode 1962, poderia ser assim reconstituido: primeiro, Tony
Smith joga com as palavras. Ele reflete sobre a expressao seis palmos.
0 que lhe <liz essa expressao? Trata-se de uma medida, de um puro e
simples enunciado de dimensaes: praticamente um metro e oitenta e
tres centimetros. 0 tamanho de um homem. Ma.s igualmente, e por
isso mesmo, "seis palmos sugere que se esta mono. Uma caix.a de 5eis
palmos. Seis palmos sob a terra,
2
9 ... Tao logo convocada, a dimen
sao se encarnara, por assim dizer, na escala humana, e a humanidade
sera bruscamente vertida na faculdade demasiado humana de morrer,
de desaparecer seis palmos sob a terra no encerramento de um volu
me de c::erca de um metro e oitenta de comprimento, o volume de uma
caixa denominada ataude.
Compreende-se encao que no vaivem ritmico, na escansao inter
na ao pr6prio jogo de palavras- a dimensao, o homem, o desapare-
cimento, o homem, a dimensao novamente- tera se projetado a exis
l7 E.C. Goossen, "Tony Smitb,art. dt .. p. 11.
:u Ainda que saibamos que cJe rea1iz.ou, pot ocaslio de wna viagcm 1 Alema
nh4, em l9S3-19SS, uma ou duas assemblages de madeira. Ci.l..R. Uppard, Torry
Smith, op. dt., pp. 7-8. De m.aneita geral, a obra de Tony Smith roloca problenus
paniallarcs de para o hlstoriador da ane. que deve levu em cocua
fciros num memento, modelos em a.rtolina ou em gcsso reallzados ooutrO momen
to, obras originajs e ainda lira$ens em sCrie realiudas (o c:uo vale,
porexcmplo, para a obca intitulada Cigtrrate). Mas DOG& hJst6ria aqul
apcrw a scu valor de par.tbola 61os66ca dc:ixamDo5 pcxuntode ladoesscs problem
2J Six feet bas a suggestion of being cooked. Six fooc box. Six fooc under.
T. Smith, comentirio a Die, em Torry Smith. Two E.xbibiliolls. op. cit.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
91
r
I
I
11. T. Smith. The B/4a B01t, 1961. Madeira plnuda, 57 x 84 X 84 em.
Norman Ives, New Haven. D.R.
tencia de um objeto virtual: urn objeto ele proprio capaz de uma .
e _de uma latenc!a as quais de devia no a
tenca; urn ob1eto complexo , como dir:i mais tarde Tony Smithlo.
Um objeto no entanto excessivamente simples e .. minimal" de uma
simplicidade de certo modo exig.ida pel a das palavras: volu-
me de seis palmos de lado- urn cubo. Tony Smith iosistiu sobre o
fa to de que, 0 objeto se impondo por si, de nao precisava sequer ser
desenhado: "Apenas peguei o telefone e passei uma ordem"ll , Urn cubo
inventado na faJa, portanto, urn cubo que repete ou salmodia seis
palmos por seis paJmos por seis palmos ... Mas concreto, pre-
to como o fichario, ou como a noite, ou como o ato de fechar os olhos
para ver. e de talvez para resistir ao tempo. 0 objeto, em
todo caso, nio era mais virtual; havia se tornado uma concredssima
imagem da arte (fig. 12, p. 94)
0 processo se encerra numa terceira que retorna, uma
vez mais, ao jogo das palavras. T ratase do tfruJo dado por Tony Smith
a sua obra. Os "seis palmos" desaparecem enquanto enunciado, c::e.r-
tamente porque aparecem doravante na estatura na escala mes
ma do objeto. Tony Smith resolve entao intiruJala com a palavra Die,
que em ingles faz consonancia tanto com o pronome pessoal .. eu"
quanto com o nome "olho't, e que e o infinitivo- mas tambem o
imperativo - do verbo .. morrer". AJem disso, e 0 singular de diu,
"dados de jogar", e nessa qualidade fomece uma nominal
elementar, sem eqwvoco, do objeto: urn grande dado preto, simples
mas poderosamente mortiferol2. Pois a palavra Die condensa aqui-
em exata com o objeto - uma especie de fria neutralidade
minima, poder1amos dizer .. desafetada", com algo como um valor
equivoco de auto-reuato: auto-retrato sublime, paradoxaJ, melanc6-
lico, nio-ioonico. Pensemos no .. misterio precipitado" do Coup de dis
[Lance de dados] mallarmeano, que produzia a pura abertura de um
Iugar- "nada ter:i tido Iugar senio o Iugar-ao mesmo tempo que
JO ld., ibid.: This is a complicated piece. It bas roo IIWIY rcfetcnccs to be
coped with coherently.
llid., ibid.: 1 didn't make a drawing; I just plckcd up the phone and ordered
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
,
12. T. Smith, Dk, 1962. Alp, 183 x 183 x 183 an.
Corusia Paula Cooper Gallery, Nova York.
produzia, inclusive na temporalidade subjuntiva de seus ve bo _
" f .$
extsnsse, e cessasse, ctfrasse, iluminasse ... " -,a aberrura
de um iogo, mortal ou mortificado, que Mallarme, como se lembram
chamou urn "rlonico suspense do sinistro"33. '
En tao que a. mais imagem
pies, nem sossegada como diZemos da_1.imagens. A mais I
sun pies imagem, contanto venba a luz como veio a luz o cubo de Tony
Smith, nao da a perceber algo que se esgotaria no que e vlsto, e mesmo
no que diria o que e visto. T!,lvez s6 haja imagem a pensar
te para alem da canonica do visvd_e do A imagem de
1 ony Smith, seja como for, escapade sa fda, apesar de sua simplicida-
de, de sua "especificidade .. a expressao segura \
de si mesma ate o cinismo-do 0 que vemos eo que vemos. Por mais
minimal que seja, e uma imagem dialitlca: portadora de uma
uma energetici. SOb esse aspeao, Cia extge Cle n6Sque dialerizemos
1
ilossa pr6pria postura diante dela, que dialerizemos o que vemos neb \
como que pode, de repente-de urn pano -,nos olhar nela. Ou seja,
exige que pensemos o que agarramos dela face ao que nela nos "agar-
ra" -face ao que nela nos deixa, em realidade, despojados. 0 cubo
de Tony Smith, apesar de seu fonnalismo extremo- ou melhor, por
causa da maneira como seu formalismo se da aver, se apresenta - , frus-
tra de antemio uma analise formalista que se considerasse como pura
das "especificidades" do objeto. Mas frustra igualmenre uma
aruilise iconografica que qnisesse consideri-la a todo custo como "sfm-
bolo" ou alegoria no sentido trivial desses termos (ou seja, no sentido
dos manuais de iconografia}. _L
Diante dele, nosso ver e inquiecado. Mas de que maneira urn sim-
ples cubo pode chegar a inquietar nosso ver? A resposta talvez emja,
mais uma vez, na de jogo, quando o jogo supOc ou engendra
um poder pr6prio do A como carretel h.avia de faro
S. uo coup de d&, CF.uvres CQmpUtes, eel. H. Mondor e G.
JeanAubry, Paris, Gammard, 1945, pp. 413-415.
34 Lembrcmos que o paradigma do JCIUirt:, proposto por Hubert DamUch
pua abordar a questio do quadro, alude evidentCIIlCIUC a uma w Cf.
H. Damlsch u cWense Duchamp, Mmal Dudusmp: tra.diti011 u Ill f"'IPIJITe
ou rupture Jelll tra.dilionf, ed. J. Oau, Paris, UG, 1919, pp. 6599; ww llhd
chtslos. I.e faire er le croire, b ruse, b cMorie, NOIIVllJe RtvJU lk psychQM/yu,
at8, 1978, pp. 55-13; er b forme tableau, World M . of
Que Vemos, 0 Que Ne Olha
95
inventando, por seu jogo ritmico-dementarmente temporali.wdo e
mesmo temporizador -, um Iugar para inquietar sua vlsao, e portan
to para operar todas as expectativas, todas as previsoes a que seu de-
sejo a levava. Na verd:.tde, essa inquietude era como a obra de seu jogo,
enquanto o carretel ia e vinha, transpondo o limiar do Iugar para de-
saparecer, voltando a transpor o limiar do Iugar para aparecer . Eo
que jogava verdadeiramente transpondo esses lugares, criando esses
lugares, era o a to do /anfamento- o a to simples e complexo do lan
. fundad d , . 35
to compreend1do como or o propno suJetto .
Ora, nesse que vai e volm, no qual urn Iugar se ms
taura, no qual todavia .. a ausencia da conteudo ao objeto ao mes
mo tempo que constitui o proprio sujeito3
6
, o visfvel se acha de par
te a parte inquietado: pois o que estli ai presente se arrisca sempre a
desaparecer ao menor gesto compulsivo; mas o que desaparcce atras
da oortina nio e inteiramente invisfvel, ainda tatilmente retido pela
ponta do fio, ja presente na imagem repetida de seu retorno; e o que
reaparece de repente, o carreteJ que surge, tampouco e vis[vel oom
toda evidencia e estabilidade, pois di viravoltas e rola sem oessar,
capaz a todo instante de desaparecer de novo. 0 ve, urn
jogo do pr6ximo e do distante, urna aura de objeto viS{ vel, nao cessa
aqui de oscilar, e constantemente inquieta a estabilidade de sua pr6-
pria existencia: o objeto se arrisca constantemente a se
hem o sujeito que dele ri. A diatetica visual do jogo - a dialet1ca do
jogo visual - e assim tambem urna dialetica de como a
Unity in Dlwnjty (Acts of the XXVlth International Congress of the History of
An) ed. L Lavin, Uoivemty Parlc-Londres, The Pennsylvania Sute Univcnity Press,
198;, l, pp. 187-191. Mas seria peeciso difermciar o alto prestfsjo simb6lico, U
sociado ao jogo de xadtcz, do balbucio rirmico c solitirio o
canctd opera sua imaginirU. Sed que: cssa colllCidiria tco-
nc:amcnte com a enue o qU4dro (como que: a palavra sup6c de orpnl
formal, wna s&ie de series, como dWa Mkhel Foucault) e a (com
o que: a palavra supOc: de estatura e porunto de anttopomorfismo, de
dual)? A resposta ecrwnentc nio e simples de dar.
lS Cf. P. Fedida, L'absena, op. cit., pp. 97, 109 ( ... ceeonheecr l subjttivi
dade cssa dupla d1mens1o eorrelariva do projeto c da de modo que lhe
seja incrente e c;onstiturivo 0 euo do (/etn). ( .. ) SubfetiiiO deslgna ponan
to
10
mesmo tempo a fenda eo sal to, o obsuculo co Uet)M. ) e 112.
u ld., ibid., p. 7.
96
Georses Didl-Hubcrman
imagem de uma do suje1to a desaparecer ele pr6
ziar os lugares37. pno, a esva-
Mas? sera a segumte: as imagens da an.e
-:- Simples e. rnmma1s" que &eJam -sa hem aprtstntllr
3
VISual no qual soubemos (mas esquecemos de)
mqwetar nossa vtsao e mventar lugares para essa inquietude. As ima-
gens da arte sabem produzir uma poetica da "representabilidade" ou
da "figurabilidade" (a Darstellbarkeit freudiana) c:apaz de substituir
o aspeao regressivo notado por Freud a prop6stto do sooh
0
38 e de
constituir essa em uma verdadelra exubecincia
do As imagens da sa bern de oeno modo ccmpadfu.ar
esse JOgo da que se manunha apenas por urn fio, e com isso
lhe dar urn esta.ruto de monumenro, algo que resta, que se tra.ns-
mJte, que se comparnlha (mesmo no malentendido). Assim os cubos
de Tony Smith sabem dar uma massa ao que, alhures ou outrora, cum-
priria a de objeto perdido; e o fazem ao trabalhar o vavo em
37
Cf. j. Lac:an, Le Shninaire, XI. Les quatres conupt.s (ondamenl4ux de liJ
psydumalyu [1964], Paris, Seuil, 1973, p. 216. Estario lembrados de que o pr6-
prio Freud di uma versio do FortDa em que o peotinho brineava de fazer deu
parccer a si mesmo._ num espelho: urn dia, voltando a mie para casa ap6s uma
ausencia de virias horu, foi saudada pela 'BebC o-o-o-o' que a prin
dpio pareceu ininteligfveL Mas nao tudou-se a descobrir que durante essa long.a
ausenda damie haria encontndoo mclode faurdesapareeeea sl mcs
ma. Tendo pereebido sua lmagem num grande espelho que cheg.ava quase ao chio,
e1a havia se apehado, o que fiur.a desaparecu a lmagem. S. Freud, Au..<fell du
principe du plaisir, art. cit., p. 17.
Ja Ci. S. Freud, L'inlnprhaJion des rives (1900}, ttad. L Meyerson rcvista
poe D. Berger, Paris, PUF, 1967, pp. 465--466. t evidente que o emprcgo dessa
(AufhebUJl.8) nio visa nenhum rnodelo genetico: o jogo fundona
aqui apenas como hip6teSC metapsicol6gica, iSto C, como elemmto de wna fibula
tc6ric:a. Poe outto bdo, para muitos a questio eontinuari sendo saber como poda
falar das lmagens da ane (que sao obJetOS) em tal proxitoidade com as imagens
da alma (refiro.me b imagens psfqWc:as). A qucstio j4 se coloea ao psic:aoalista a
prop6sito da mesma de objeto. Cl., sobre o assunto, P. Fedida, L 'iWunu,
op. cit., pp. 98-99, que justifiea o riseo dessa proximidade. Cf. igu4lmcnte G. Didi
Huberman, Dtlkllft l'imagt. Question posie aus fins d'une hisloirt de I'm, Paris,
Mlnult. 1990, pp. 175-195. Cerounente Lac:an J4 havia abordado o problema ao
afinnar, poe exemplo, que, "se ser e ree se exclucm em prindpio, eles se eonfun.
dem, ao menos quanro ao ccsulrado, quando se ttata de uma &Ita . J. Laan, E.crits,
op. cit., p. 565.
0 Que Vcmos, 0 Que Nos
97
..
I
,
I
I
-
seu volume. Assim os cubos de Tony Smith sabem dar Ulll41 estarura
ao que, alhures, fa ria o SUJeito esvair-se: ao cha1114r um olhar queabre
o antro de uma inquietude em tudo o que vemos.
Voltemo-nos portanto novamente para esses dois volumes de
madeira ou de negros. Em que consiste o elemento e ime-
diato de sua visualidade? Consiste em seu simples negrume. Antes
mesmo de reconhece-los como volumetrias de paraleleplpedo ou de
cubo, os percebemos primeiramente- ou de Ionge- como !ll4lnchas
negras no E esse negrume nao e acidental ou circunstancial as
duas primeiras obras de Tony Smith: parece realmente necessario,
soberano a ponto de afetar, doravante, todas as esculruras de Tony
Smith. Como se as imagens devessem incorporar a pr6pria cor do de-
men to que lhes bavia dado a existencia: a noite. A noite que nio traz
conselho quando se vive na insOnia, ou mesmo no devaneio sonolen-
to, mas a noite que traz fadigas e imagensl
9
E essa experiencia, sabe-
mos, que ted presidido a da primeira Caixa preta; mas Tony
Smith ja havia feito, dez anos antes, a prova analoga -a prova as-
sombrosa- da noite como o que abre nosso olhar a questao da per-
da. Foi em 1951 ou 1952, quando oartista, ainda desocupadode suas
esculruras, flanava por uma auto-estrada inacabada de Nova Jersey
(uma auto-estrada em que por isso mesmo, como iremos
compreender, se tomou "infmita"):
Era u1114 noite escura, e nao havia iluminao nem
sinali:ao nas laurais da pista, nem linhas brancas nem
resguardos, nada a nao ser o asfalto que atravessava uma
paisagem de planfcies cercadas de colinas ao Ionge, m4S
pontuada por chamines de fabricas, to"es de rede elltrica,
fumafaS e luu.s coloridas. Esse percurso foi uma experiin-
cia reveladora. A estrada e a maior parte da paisagem eram
l' Penso em Freud citando as experiincias de H. SUbercr a 6m de "surprcen
der o cabalbo do sooho, poe assim diz.er, em flapante delito de dos
penurnentoS abstratos em lmagens -risuais. Quando, em estados de fadiga e de
inveodnl vontade de donnit, de queria a um uabalho intelcaual, o
pensarnenro lhe cscapava com &equmcia e em seu lupr aparecia uma visio que
era manifesumente seu substiruto. S. Freud, Rtvwon de Ia thiorie du m-e,
Nouwlles d'intToduaion a 14 psychtiMlyu (1933), uad. R.M. Zeitlin,
Puis, Gallimard, 1984, p. 35.
Georges DidiHubcrman
artificiais, e no entanto two se pod
1
a cha 1
b d
mar aqut o uma
o e arte. Por o_utro Ia do, eu sentiQ a/go que a arte /a
111415 me sent1r. A prmcfp10 niio soube
0
que era
., 'l'b da
aquiiO me I erou_ mator de minhas opimoes acer-
ca da arte. Pareaa haver a/1 uma realidade que niio tinh
h
- a
n_en. U1114 expressao na arte. A experiincia da estrada cons-
trtuuz claramente a/go de defittido, mas isso niio era social-
melfle reconhecido. Eu pensava comigo mesmo: e claro que
e 0 fim da arte40.
Dessa que mereceria por si s6 urn coment<irio extenso
ja reter_ que ela fomece algo como uma experiencia em
a (do VISfvel) desencadeia, de maneira inteir.unente inespe-
rada (como um sintoma), a abertura de uma diaJ&ica (visual) que a
a que a implica
1
quando fazemos a expe-
nenoa da no1te sem limite que a noite se toma o Iugar por excelencia
em pleno meio do qual somos absolutamente, em qualquer ponto
onde nos encontremos. quando fazemos a experien.cia da
noite, na qual todos os objetos se retiram e perdem sua estabilldade
visfvel, que a noite revela para n6s a importancia dos obietos e a es
sencial fragilidade deles, ou seja, sua a se perderem para n6s
exatamente quando nos sao mais pr6ximos. A esse respeito, Merle2u
Ponty continuara sendo nosso guia mais precioso:
"Quando, por exemplo, o mundo dos obietos claros
e articulados se acha abolido, nosso ser perceptivo ampu-
tado de seu mundo desenha U1114 espacialidade sem coisas .
E o que acontece na noite. EJa nao e um obfeto diante de
40
Cito a de J.P. Criqui, Tricrac: pour Tony Sm!th,11rt. dl., pp.
44-46, que fala de uma forma modema e industrial do sublime e contesta a in
do mesmo epis6dio pot Mkha.d Fried, An and Objeabood ,llrl. dl.,
pp. 18-20.
41
t j.i o que diz Merleau-Poruy de toda feoomenol6gjca; i PftCiso
uma ou uma para que eb se revde. "Seja, porexemplo.
oossa expcriCncia do 'alto' e do ' baixo'. Nio saberlamos peroebe-la oo comum da
vida, pois E mtio dissimulada por suas pr6prias Prccisamos oos din
Sir a um caso exc:epcional em que ela se e se sob n0$50S olhot. M.
MerleauPonty, Pbinomenologk tk Ill ptruption, Paris. Gallimard, 19-45, p. 282.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
99
mim, ela me envolve, penetra por todos os meus sentidos,
sufoca minhas apaga quase minha identidade
pessoal. Nao estou mais entrincheirado em meu posto per-
ceptivo para dali ver desfilar it distimcia os per{ts dos obje
tos. A noite niio tem per{u, ela mesma me toea e sua unidade
I a umdade rnfstica do mana. Mesrno gritos ou urn clarao
longinquo nao a povoarn seniio vagamente, e por inteiro que
ela se anima, ela e uma profundidade pura sern pianos, sem
sem dutancia de/a a rnirn. Todo espafO para a
re{lexao e sustnJtado porum pensarnento que liga suas par-
tes, mas esse pensarnento niio se faz de parte alguma. Ao
contrario, e do meio do espafO noturno que me uno a ek.
A ang-Ustia dos neuropatas na noite vern de que ela nos faz
sentir nossa contingencia, o movimento gratuito e radical
pelo qual buscamos nos anccrar e nos transcender nas cci-
sas, sem nenhuma garantia de sempre--4
2
Mas alem dessa visao a experiencia particular de Tony
Smith nos ensina algo mais. E que, mesmo na noite escura, como ele
pr6prio diz, uma visibilidade lhe era ainda acessfvel, sem duvida par
cialmente e a titulo de (como ele diz tambem): colinas,
cbamines de fabricas, torres de rede eletrica, ou hues colori-
das- tudo isso sendo nomeado "paisagem", como p9r um apelo ul
timo as categorias esteticas da 0 paradoxo- e 0 momento
de cisao- esti no fa to de que a estrada ela mesrna estava absoluta
mente privada dessas "pontuaes", dessas referencias, desses Ultimos
sinais: nenhuma nenhuma nenhuma linba
branca, nenhum acostamento, "nada a nao ser o asfalto", que se com-
preende ter sido mais negro que a pr6pria noite. Esse paradoxo abre
uma cisao na medida em que o distante era ainda visfvel e identificavel,
ainda dimensionado, ao passo que o pr6:ximo, o Iugar mesmo onde
Tony Smith esuva, caminhava, lhe era praticamente invisfvel, sem
referCncias e sem limites. "Ali onde estou, all de onde olbo, nio vejo
nada": eis portanto o paradoxodoqual a talvezsua for
abalo.
Cabe imaginar, nessa hist6ria, 0$ objetos fazendo sinal pela ulti-
ma vez a Tony Smith. Mas uo tenuemente visfveis e tio distantes que
41Id., ibid., p. 328.
100 DidiHuberman
na? senao negro onde ele pr6prio esrava. 0s
obJetos, s1gnos SOCials da atJVJdade humana e do artefato d
h
d'd , e repeme
av1am se eva 1 o e se tsolado em algo que nao era mais co 1
d" " 1 h . , . , mo e e
lZ, socta mente recon ec1do . ImagJDo que a noite tass .
.,. S "th , . d n e a
'ony rru seu propno esobramento de entao"l. M3s
3
experienda
s6 "reveladora" pot sec dialetica, ultrapassando sua pr6pria ne-
em seu poder de abnr e ser constituinte, mostrando
0
ob-
JetO como perda, mas uJtrapassando tambem a em diaJetica
do desejo. Quando Tony Smith pensou: t claro o nm da ane"
- cumpre tambem pensar (ele mesmo o indica ao contar posterior-
mente a hist6ria, desde sua de escultor) que seu prs)prio deso-
bramento ainda obscuramente, a chegar ao fun. E imagi-
no que a frase significasse igualmente para ele: "t obscuro o co-
de minha ane" ...
0 jogo noturno do pr6ximo e do distante, o jogo do aparecimento
e do desaparecimenco surgem ponanto aqui em seu valor litera !men
te constituinte. Ao nivel da a noite se revela para ser cons
tituinte da "voluminosidade" do Iugar, precisamente porque ela nos
priva dele porum tempo
44
Ao nfvel da o carater abso
lutamente neutro do objeto - cubo ou ch4mine de fabrica
- produz o rito de passagem de uma crucial na qual o send do
se constitui sobre um fundo de ausencia, e mesmo como obra da ausin-
aa45. Mas de tudo isto alguma coisa azi, e por exemplo a i.nugem
reinventada de um cubo negro que, literalmente, cera precipitado o
43
l.cmbremo-nos do que Maurice BWlchot esaevia cia noire: wna
cia auseuda scm fim prova porexcdenda dotksobTIIIM1IUI-a am s6
COitUfii1Uio c:om um salto oessa prova nv:tiN CL M. Blancboc. L'espDU
Paris, Gallim!ll'd. l9SS (od. 1968), pp. 2272-H (Le rqard d'Orpb6e).
44
Sobre essa de volwninosidade, d . M. MedcauPonty, Phmo-
menologie de /Q perception, op. cit., pp. 307-308, e infra, pp. 119120.
4.S A prop6sito do FortDa, Lacan insisria 10bre "o valor de objcto enquan
to insigni6c:ante, e pot isso mc:smo (ol'llCICaldo ao sujeito o "ponro de
de wna otdem simb61ica". J. Lacan, La direction de Ia cure ct les principes de
son pouvoit" (1958), L:rits, op. cit., p. 594. Para Pierre FCdida. o jogo do ca.rretel
prod II% wna Mgatividade da E nessa que brinc:u de
Ca:u desaparecu e de fazer reaparecu criador de (- ) A quesdo anres
a descobena do Kntido como ausencia, eo jogo descobre ICII pockr na do
deito de sentldo da ausenda". P. Fedlda, L'absmu, op. cit., p. 192.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 101
desdobramemo de urn homem de cinqiiema a nos, multo preocupado
como que arte queria dlzer, em algo que doravante sera preciso cha
nur uma obra no sentido forte do termo. Assim, Tony Smith nao nuis
&r:i cessar, a partir de 1962, de construir sua obra a p3rrir da enigma-
rica Caixa preta, como uma engenhosa a reconstruir em volu-
mes a casufstica scm fim - ou a beurfstica -de uma unica noite.
Pois todas as suas esculturas, pelo menos ate 1967, aparecem
cbramente a nosso olhar como blocos de noite com "voluminosidades"
poderosas e tltulos freqilentemente evocadores: We Lost, por exem
plo, que oferece uma monumental mas esvaziada dos cubos
origin:Us (fig. 13, p. 103). Ou entao Night, cujo havia deixa-
do Tony Smith inicialmente insatisfeito, sendo depois, a visao de urn
anoitccer, retomado c escurecido para encontrar sua justa dimensao
46
Mas a cooivcncia dessa obra com o jogo notumo do visual nao se li-
mita, muito pelo contrano, a uma questiio de titulos ou mesmo de oca-
siOes. Observa-se, com cfeito, uma constance. quase uma teimosia, nesse
artista cujos amigos diziam que "nao queria apareccr'""
7
- uma tei-
mosia em cxpor suas obras no movimento mesmo de retira-las, de
coloca-las em recuo. Ele bavia por colocar sua Caixa preta
isolada nos fundos de sua casa, e dizia prcferir que a vissem numa luz
dedinante; mas fez a mesma exigencia para suas outras obras, inclu-
sive as mais monumentais48.
Na verdade, o paradigma notumo -com a inquietude visual que
sup()e - ira dominae o estatuto dessas imagens ncgras ate aut de-
las, na ideia mesma de Tony Smith, volumes "dormentes ou entao
hostis, como a propria noite pode alternadamente. Maneira,
46
At first it bad a more lineal quality. I had made only a and it
SC mchoo dccoratiYC to bother with. Then, dwin3 tbe snmmer ofl962, hat alone
for aloag time in a quiet place, aod I saw night come up just like that. I changed
the proportions._ T. Smith, CC>IIIeldrio a Night, em Tony Smith. Two Exhibitions,
op. dt
.., "Smith did nor seek to (lppur ... E. C. Goossen, -Tony Smith, (lrt. at.,
p. ll.
41
"I think my pieces look best witb very Uttle Ugbt. .. T. Smith, c:itado poe
G. Baro, "Tony Smith: Toward Speculation in Pure Form, Art lntmuJiioMI, XI,
6, 1967, p. 29. E.C. Goossen, "Tony Smith, Qrt, cit., p. 11, evoca a aculruta do
Uncoln Center que Tony Smith rccusou dupor na preferindo um local mais
tetirado e nws obscuro.
102
Georset Didi-Huberman
13. T. Smith, W1 Lost, 1962 (consauido em 1966). 325 x 325 x 325 em.
Cortesi& Paula Cooper Gallery, Nova York.
I
I
uma vez mais, de dtzer scu equ1librio fr:igil- ou perigoso -,em todo
caso sua incapacidade de funcionar como outros objetos "soci:1is", mes-
mo objetos de arte:
"Estas obras parecem inertes Oil domze11tes por essen-
cia- e e por isso que gosto de/as; mas elas podem se mos-
trar agressivas, ou em territ6rio host/1, quando vistas entre
outros objetos fabriCIJdos. Elas nao se acomodam facilmmte
a ambientes comuns e, para aceita-las, esses ambiemes pre-
cisam de cutas adaptafl>es. Se nao forem suficientemente
fortes, elas desapareceriio pura e simplesmente; em sentido
inverso, elas destruir tudo que est4 ao redor de-
las, ou obn"gar o que est4 ao redor a se conformar a suas
exigencias. Elas siio negras e provavelmente maU{icas. 0
organismo social nao pode assimUa-las seniio em lug ares que
ele pr6prio abandonou, lugares abandonados"49.
Compreende-se entio que esses grandes objetos negros nio eram,
na visao que o pr6prio Tony Smith tinha deles, nem "espec:fficos" nem
"teatrais". E alias poderlamos, sob muitos aspectos, consider.i-los como
"monumentos de e de pura solidao melanc61icaso. E signi-
ficativo em todo caso que muitas esculturas de Tony Smith tenham sido
inventadas fora de uma clara previa - ideal,
ca, desenhada -,procedendo antes por aju.stamentos modul.ares ex-
perimentaisS
1
E e significativo sobretudo o &to de geralmente estarmos
diante dessas esculturas como diante de objetos diffceis de situar no
da profundidade, e mesmo, com frequencia, diffceis de a preen-
4
' T. Smith, prcido a Tony Smith. Two E.xbibitons, op. cit.
so Isco pan rttomar uma vez mais as utiliudas por Michael Fried,
c para sugcrir que elu slo, no aso, inopcranrcs. Cf. M. Fried, An and Object
hood, art. cit., pp. 18-21, e, mais reccrucmcntc, Absorption and 111eatrlcality.
Painting and Beholder in the Age of Diderot, Cbiago-Loncfm. The University of
Oueago Press, 1980, publicado em rands c:om o titulo lA piau du spte14teur.
E.sthltiqwdorigines tk Ia pdnlllremodeme, uad. C. Brunet. Pans, Q.llimard, 1990.
QIWilo a Tony Smith, elc rcfutava qualqucr de fua obra com a tcatralldadc.
Jl J can't visualiz.c in advanec. I would never have been able to muaUze
AmaryliU- T. Smith, citado por LR. Uppard. "Tony Smith: Talk about Sculp-
nue, Art News, LXX, 2, 1971, p. 49.
104 Georges Dldi-Hubcrman
de.r, de descrever segundo scu simples aspecto formal. Seu esscncial
negrume, com cfeito, e urn obsraculo ao claro reconhecimento de suas
como :1 noite, elas sao sem perfis internos. Como na
nolte, nao podemos diante facilmente o jogo dos pia
dos COrtese das superffc1es (por lSSO eJas sao extremamente diff-
ceas fotografar). Sua massa se imp<)e diante de n6s segundo a volu-
metna paradoxa) de uma experiencia tipicaniente notuma: obnubi
lando .a clareza dos intensa e quasc ratil-exigindo sempre
aproXJmar-se ou sempre gmu ao red or-, demasiado vaz.ia e demasia-
do cheia ao mesmo tempo, corpo de sombra e niio sombra de um cor
po, sem limite e no entanto poderosa como um pano de muro, agu-
ao exttemo o problema de nossas pr6prias dimens6es face a eLl
ao p:ivar parcialmente das refercncias de em que podena-
mos satua-la.
Tale ponanto a estranha visualidade dessas grandes massas ne-
gras geometticas. Ela nos imp<)e talvez reconhcc:er que s6 baja ima-
ge.m a pensar radicalmente para alem do prindpio de visibiJidade, ou
seja, para alem da canonica- espontanea, impensada- do
vislvel e do invisfvel. Esse mais alem, sera preciso ainda chama-to vi-
sual, como o que estaria sempre faltando a do sujeito que
ve para resrabelecer a continuidade de seu roconhecimento descritivo
ou de sua ceneza quanto ao que ve.. S6 podemos dizer tautologicamente
Vejo o que vejo se recusarmos a imagem o poder de impor sua visua-
lidade como uma abertura, uma perda - ainda que momenrinea -
praticada no de nossa certeza visivel a seu respeito. E e exara-
mente da( que a imagem se toma capaz de nos olhar.
lsto impUca entre outtas coisas que s6 ha imagem a pensar radi-
calmente para alem do princlpio mesmo do extenso, exrensi-
vo, a saber, a idCia medida do grandee do pequeno, do pr6ximo e do
distante, do fora e do dentro etc. As esculturas de Tony Smith inqwe-
tam sua pr6pria clareza fornul- sua natureza essencialmente geo-
metrica e nio-expressionisra - pela insistcncia em se aprescntarem
obscuras. Elas sao visualmente compactas e intensivas, mesmo quan-
do articuladas. Sao pinradas de preto, isto e, sao pinradas no atm'or
a imagem do que sao no interior. Elas nos fazem a.ssim hesitar cons
t4Dtemente entre o ato de ver sua demasiado escura fornu exterior e
o ato de sempre peever sua especie de interioridade desdobrada, va-
zia, in vis( vel em si. Por mais que representem uma ordem de eviden-
cia vislvel, a saber; uma certa clarez.a geometrica, eJas rapidamente se
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha lOS
l
torD3m objetos de inevidencia, objetos capazes de apreutltar sua con
vexidade como a suspetta de um vazio e de uma concavidade em obra.
Pois essas esculruras, pensando hem, nao sao senao caixas: seus
volumes visivds talvez s6 valham pelos vazios que nos deix.am su.speitar.
Ebs acabarao assim por nos aparecer como b/ocos de lat2ncia: algo,
ndas, jaz ou se cobre de terra, invisivelmente. Uma negra interiorida-
de que, apreuntada visualmente, arruina para sempre a ma-
niaca do What you see is what you see. E estaremos sempre diante delas
como a filhinha de Tony Smith diante da primeira Caixa preta: nos
pergunouemos sem fim- e sem resposta possivel nem desejada - o
que clc tecl tanto qucrido escondcr hi dcntro. E clc pr6prio, all3s, devia
se colocar a mesena questao. Como sea de uma imagem, por
mais simples que seja, correspondesse primeiro ao a to de construir, de
fixar mentalmente urn objeto-questao, se posso dizer. Algo como aque-
les cofrezinhos de churnbo, de ouro ou de prata que, nas fabulas de
nossa infinci3 ou de nossa literatura, encerram os destinos ou os de
sejos inconscientes de seus her6js5
2
Pintadas de preto-cor de bura-
co, cor dos interiores de pirimides -,as esculturas de Tony Smith
colocam e recolocam diante de n6s a questao de urn dentro obscuro.
E alias 5ignificativo que o pr6prio artista tenba visto em seu trabalho
urn processo segundo o qual "os vazios sao modelados com os mes-
mos elementos que as massas". E ele acrescentava: "Se pensarmos o
como urn s6lido, minhas esculturas sao etas pr6prias como que
vazios praticados nesse
Pintadas de preto-cor de feridas visuais praticadas na exten-
sao co lorida das coisas visiveis -,as esculturas de Tony Smith a pare-
cern portanto como os monumentos de uma lucidez muito escura na
qual constantemente o volume coloca a questiio- e constr6i a diale-
tica - de sua propria ao vazio. Mas essa negra lucidez,
esse Trauerspiel escultural, adquire tambem, nio a for-
ma de um jogo intempestivo. Urn jogo fixado ou cristalizado, que s6
dispOe uma frontalidade para remetela a uma cavidadc, que s6 dis-
n Cf. por exemplo S. Freud, I.e motiv du cholx des cof&m (1913), trad.
B. FUon, L'bupli&nte hrangdl d alltru usals, Paris, Gallimard, 198S, p. 61-81.
n voids are made of the same componeniS as the masses.( ... ) U you think
of space as solid, they are voids in that space." Citado por G. Baro, "Tony Smith",
llTt cit., p. 29.
106
Georges DldiHuberman
pOe: cavidade para remere-Ia a um outro plano . um pe:rperuo
tr e v1r de conseqiiencias fenomenol6gicas e semi6ticas comradir6ri3s
suscitadas pelas mesmas formas simples, e urn jogo intimamente rft
mico no qual coisas aparentemcnte semelhanres, ou estaveis se agi-
tam em realidade segundo uma escansao dialetica que cvoca' o Port-
Do: da vontade de jogar de novo com as palavras, como Tony Smith
havia feito com Die, por exemplo as palavras Vtde! (em latim, e a
mcsma do vis{ vel: "Vel") e Vide! (em frances, "vazio": "0
que ves e vazio, nao evidentc, mas vazadol") ... Ou entao as pal.avras
francesas For (o "foro" interior) e Fors (o fora., o excetuado, o vaza
do)
54
Uma escultura de Tony Smith -e em primeiro Iugar seucubo
- poderia ser assim considerada como urn grande brinquedo (Spiel)
que permite operar dialeticamente, visualmeme, a tragedia do visivel
e do invis1vel, do abeno e do fechado, da massa e da
exatamente o que se passa com We Lost (fig. 13), que s6 afirma sua
rnassa - um cubo monumental - atraves do jogo imbricado dos
vazios expostos, aqueles nos quais podemos nos introduzir, passar, e
vazios supostos no corpo da escultura.
0 jogo do Fort-Da, em seu pr6prio ritmo, era criador de uma
espacialidade originaria ja dialetica: a nele vigiava o pasmo
abertoS
5
, a especie de antro de onde a mae se havia ausentado, e desse
Iugar o carretel a impossivel geometria. 0 jogo inventava urn
Iugar para a ausencia, precisamente para .. permitir que a ausencia ti
vesse lugar"
5
6. Mas, enquanto eo pr6prio agir que engendra esponta
neamente o Iugar no movimento de ida e volta do carreteJS7, devemos
reconhecer nas figuras da arte uma capacidade diferentemente complexa
S4 Sobre essa palavra, ver o texto de J. Derrida, "Fors, em prefacio aN.
Abraham eM. Torok, Cryptorrymie, I.e verbin de l'homnu 11ux lo11ps, Paris,
Aubierflammarion, 1976, pp. 773.
ss Cf. J. Lacan, Le SlmiMire, XI, op. cit., p. 60.
uP. L'11bsmu, op. cit., p. 121.
n I d., ibid., p. 182: o jogo possui assim, do mesmo modo que o soobo,
a que e.ngmdra o e o uanslorma, e nio o invcrso. Isso quu
diut que o do jogo insuntaneamente qido e que suas
do as do agir. Cf. igualmente pp. 110-111 (sobre o distanciamroto cia mie), pp.
116117 (o jogo cercado de vazios), pp. 149153 (sobre a dinxnsJo wc:nical)
e p. 175 (sobre o denrro eo fora).
0 Que Vc:mos, 0 Que Nos Olha
107
de desvlo (esse movimemo tao dificil de pensar geneticamente, e que
Freud apreend1a, t:1te3ndo, atraves da palavra sublimao) e de volta.
Com efeito, e a pamr de urn ponto de extrema em Tony
Smith, a reflexao mcessantemente refinada sobre "a incrustabilidade
da coisa 58, reflexiio incessantemente torneada e remanejada na lingua
-que uma escultura se tornaci capaz:, sem uma palavra, de repor em
jogo dialeticamente a conivenda fundamental dover e do perder.
Basta-nos olhar longamente uma escultura de Tony Smith, inti
tulada Die ou en tao We Lost, para pegar no ar a dialetica mesma desse
despojamento. Basta-nos agarrar esses objetos publicos, esses objetos
que hoje se mostram nos museus, para compreender a insistencia dos
vazios neles, para compreendu a experiencia privada que eles pOem ou,
mais exatamente, rep()em em jogo. Felizmente, essas obras nada tem
de introspectivo: nao representam nem o relato autobiografico, nem a
iconografia de seus pr6prios esvaziamentos. Eo que lhes confere a capa
cidade de insistencia diame de n6s em colocar o vazio enquanto questao
visual. Uma questao silenciosa como uma boca fechada (ou seja, oca).
E verdade que Tony Smith fomeceu algumas raras figuras, alguns
trechos de mem6ria dos quais poderfamos sec tentados a tirar um fio
interpretativo. Por exemplo, contou que ern acometido de tu
berculose, vi via numa minUscula cabine pre.fabricada-um cubo, pra
tkamence59-que haviam instalado nos fundos da casa familiar." Ali,
diz de, tudo era o mais despojado possivel. Meus medicamentos chega
vam em cajxinbas Com elas eu gostava de c:onsuuir aldeias de ndios"
60
Mas sabemos tambem o duplo sentido da palavra pharmakon: o reme-
dio, o veneno (e tambem a tintura, a cor). Tony Smith, lembramos,
evocava suas pr6prias esculturas como objetos "negros e provavelmente
malignos" (black and probably malignant): pensava nelasc:omo "semen
tes ou games capazes de espalhar um crescimento ou uma "
61
Growth, o crescimento, a faculdade de aumentar e de proliferar, possui
ji, na rase de Tony Smith, aquela duplicidade que nos obriga a pensar
.A rm in retested an the lnsautability and myst.eriousnea of the thing, ci-
rado-c aiticado- poeM. Fried, An and Objctthood, cit., p. lS.
SJ Pclo mmos assim imagino. Em todo aso, um pacalclcpCpcdo.
.o Citado poe L.R. Uppard, Tony Smith, op. eit., p. 8.
" J thlnlc of tbcm as seeds or genns that could spread growth or disease.
T. Smith, prct.icio a Tony Smith. Two E.xhJbitJon.s, op. cit.
108
Georges DidiHubumaD
o tumor (malignant growth) como processo mortal no momento mes-
mo em que da semente como processo de desenvolvimento vital.
Havena ponamo-e para alem mesmo da pelo anis-
ta. suas de infancia - uma especie de heuristiCIJ imag
1
-
a assmalar no trabalho de Tony Smith: uma heuristica da vida e
da mone, uma heurfstica do inene e da portadora de
ou entao ponadora de Uma heurfstica talvez a assinalar em
todo sistema conseqiiente de imagens encadeadas. Constatamos em
todo caso, na obra do escultor americano, urn movimento progressi-
vo de extensao em que as caixas pretas, as simples caixas solitarias e
lnmes em sua estatura geometrica simples, a produzir um
efeito de modular e .. germinativa ". Sobretudo a partir
de uma obra eloqiientemente intitulada Generation-e datada dos
anos 1965-1966-, o trabalho formal de Tony Smith se orientaci assim
para problemas de morfogenese, de cristalografia, e ate mesmo de
embriologia, pr6ximos daqueles tratados por D'Arcy Thompson em
seu famoso livro On Growth and Form62. Mas o efeito organico de
e de cresdmento - no sentido quase aristotclico do ter-
mo-se defronta sempre com a prova de sua negatividade (esse con-
fronto e seu ritmo mesmo), como seas esculturas de Tony Smith s6
fossem crescentu ao tenderem para sua pr6pria seu pr6prio
abandono a mone. Como se s6 houvesse imagem a pensar radicalmente
para alCm do prindpio de identidade biol6gica, sese pode dizer, c:om
a espontinea que ela sup()e do vivo e do mono.
Pois nao ha sentido em colocar-se a quesrio de saber se uma
imagem e mona OU viva: tantO uma como OUtra resposta serao sempre
insuficientes, ainda que a imagem seja eficaz. Tony Smith acaba por
conceber conjwuos de esculturas dispostasc:omo personagens em sinJ.a.
muda, deslooiveis a cada dia em urn novo arran
jo (fig. 14, p. 110); ele parecia levar muito Ionge a mc:Ufora da vida e
o para &zer da imagem-objeto uma especie de qUilSe-sujeito:
"Eu pensava em cada elemento como tendo sua pr6pria idenddade,
mas e1e uia parte igualmente do grupo63. 0 conjunto evocava assim
Q Id., ibid., que cita D'Arcy Thompson num te:xto intitulado "Ranarla on
Modules". a. igualmcnte L.R. Uppard, Tony Smith, op. ciL, pp. 10.17
fJ T. Smith, citado por L.R. Uppard. The New Work: Men Poilltl oa the
l.attice. Anlntetviewwith Tooy Smith", Tony Smith: Non York,
Knoedler, p. 13.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 109
I
I
14. T. Smith, Ten Ekmcnts, 1915-1919. Madeira pintada, dimcns6cs varlivcis
(ccrca de 122 an de alrura). Conesia Paula Cooper GaUcry, Nova York.
lS. Megalitos de Swinsidc (lngbterra). Pcriodo ncoiitico. Foto A. RafCcny.
16. T. Smith, For V.T., 1969. Madeira pintada, 142 x 142 x 71 an.
Cortesia Paul:.a Cooper Gallery, Nova York.
algo como um grande orgamsmo vivo que niio teria tenninado seu prO-
prio crescimento, ou emiio um dt:ilogo de organismos feitos para se
influenciarem rectproc.unente6
4
Alias, o proprio Tony Smith deu a ex-
pressao mais radtcal dessa protensiio atuante ou "viva" de suas ima-
gens: "Eu nao pensava nelas como escultura, mas em algo como pre-
(I didn't thrnk of them as sculpture but as presettus of a sort)
65
Mas, ao mesmo tempo, ele as nomeava Wandering Rocks: pedras
que vagam no abandono, pedras ponadoras de vazios, portadoras de
ausincia#. "Pedras", no entanto, fabricadas em madeira, como a pri-
meira Caixa preta, e exibindo cada uma, mais que outras obras, sua
03tureza de caixas, atra\es do I eve despregamento das aibuas, bern visfvel
nas arestas (fig. 16, p. 111 ). Em sentido de que esse aspecto acena para
n6s? Em sentido de algo que se abre e nao cessa de cindir-se em duas
direes. Primeiro, no senti do da imagem impossivel de ver do que signi-
ficaria para cada um o futuro absoluto, ou seja, a mone. Como se o
aspecto essencialmente ludico desses objetos m6vels, "vivos, fosse a
area de um grande jogo de xadrez DO qual 0 desaparecimentO estivesse
em jogo. Mas ele tam bern acena no sentido da imagem mesma-ainda
visivel por rufnas e por vestfgios-do passado mais antigo. Tony Smith
evocava, a prop6sito de seu grupo de esculruras, os velhos jardins zen,
ou entao, reafirmando a importincia das hues declinantes sobre suas
obras, via seu pr6pno atelie como um sf rio megalftico67 (fig. 15, p.11 0).
Sio de fato numerosas, em Tony Smith, as referencias a arte mais
antiga e as imagens "anttopologicamente simples"' se podemos diz.er:
ele gostava das arquiteruras do Oriente antigo, com seus muros de
tijolos e suas fonnas compactas; gostava dos objetos talhados na massa,
Ci. M. Dadwnps, "Tony Smith et/ou l'art minimal", Art Press. n 40,
1980, p. 21. E J.-P. Criqui. "Trictrac pour Tony Smith", art. dt., p. 49: "Cada
elemento- em distenSlo. como l beira da quccla - pux.a em sua os
oucros, eo que os separa se vc de cuto modo adensado em proveito de um
efeito de c:onjunto curiosamcnte uniWio",
u T. Smith, ciudo por S. Wagstaff Jr., em Tony Smith. Two E.:chibltlons,
op. dt.
" t urn dos sentidos - psCquico - do verbo IIHirulm ausentarse, fiC&r
disuaCdo.
""In my ,tudio they remind me of Stonehenge. If the Ught ls subdued a Uttle.
it baa more of the archaic or pretustoric look that 1 prefer ... " T. Smith, ciudo por
UL Uppard. Tony Smith, op. dt., p. 19 (cf.lgualmcote p. 21). ,
112
Georges Didi-Hubennao
..
os objetos eficazes e poderosos (powerful); gostava em geral dos mo-
numentos "simples, imponentes e resistentes"68, Para falar de Die d e
evocou mais preciS3mente a fabulosa capela do te.mplo egipcio de L:ro
da qual Her6doto nos coma que consistia num monolito c:Ubico
dimens0e5 enormes
69
E poderfamos muJtiplicar as associay&s, eve-
car 0 grego ou, ainda, 0 bloco de pedra cubico que
as Heracldes, segundo Pausamas, ergueram num bosque para insti-
tuir o hhoon (o templo) de Alcmene
70
- ou mesmo a Ka'ba de Meca
que abriga sua famosa pedra negra.
Masse quisessemos tirar de todas essas referenetas um "primt
tivismo" ou urn "arcaismo" das esculturas de Tony Smith, cometetiamos
urn grave engano sobre seu estatuto efetivo71. Uma vez mais, e diakt
1
-
camente que devemos considera-las. no sentido mesmo em que Walter
Benjamin- pr6ximo nesse ponto de Aby Warburg- pOde falar de
"imagem dialetica ",quando tentava, no Uvro das passagens, pensar a
existencla simultinea da modemidade e do mito: tratava-se para ele de
refutar tanto a razio "modema .. (a saber, a razao estteita, a razao ci-
nica do capitalismo, que vemos hoje se rearualizar na ideologia do p6s-
modernismo) quanto 0 irracionaUsmo "arcaico". sempre nosalgico das
origens mfticas (a saber, a poesla estreita dos arquetipos, essa forma de
""llilce shapes of this lcind; they remind me of the plans of ancient buildings
made with mud brick waU. ." T. Smith, comentirio a P/aygrosmd, em Tony Smilh,
Two E.:chibitk>ns, op. cit. "llilcethe power of Mrian sculprura carved from s.inglcd
blocks. Thcyaresutemcntsinawsand volume. There is linlethatis in them.
There is nothing impressionistic :about the surfaces. Every pan. as wdl as the pie
as a whole. seems to have its own center of gravity. The puts act a.s masses. weights,
hunlc.s. T. Smith,citado por LR.Lippard, Tony Smith, op. cit.,p. 8. r b.avealways
admired very simple, very authoritative, very endurin& things." T. Smith. citado por
UL Uppard, "Tony Smith: Talk about Sc:ulprure", art. cit-. p. 48.
"T. Smith, comenrario a Dk, em Tony Smith. Two Exhibitions, op. c#. 0
texto de Her6doto se encontra em Histoires, n, lSS, trad. A. Barguet, Puis, Galli
mud, 1964, p. 207.
70 A como colossos feita por J.-P. Criqui, Tnctrac pour Tony
Smith", art. dl., p. SO. Sobre esse assunto, ver o texto dlebre de J.-P. Vemant em
Myth1 d pmsie cbu les Grea, Paris, Maspero, 1965, U, pp. 65-78, e, m.aU re
ccntemente, Figures, /doles, masques, Paris, julliard, 1990, pp. 17-82. em que o
hlr6on de Alcmene evoc:ado, p. 73.
71 0 que parece fazu M. Desclwnps, Tony Smith, an. cit., p. 21.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olh.a 113
cuja pela ideologia nazista BenJamin conhecia bern).
Na verdade, a 1magem dava a Benjamm o conceito de uma
imagem paz de se lembrar sem 1mitar, de repor em jogo e de
o que ela fora paz de repor em jogo. Sua for._a e sua beleza
estavam no paradoxo de oferecer uma figura nova, e mesmo inedita,
uma figura real mente inventada da mem6ria.
Nao be diur que o paS$tldO 1fumlna o pre$ente ou
que o presente ilumma o passado. Uma imagem, ao am
trtirio, e aquila no qual o Pretbito encontra o Agora num
re/ampago para formar uma constelao. Em outros temzos,
a imagem e a dialitica em suspensao. Pois, enquanto a re-
lao do presente com 0 passado e puramente temporal.
continua, a relao do Preterito com o Agora pre$ente e
dialitica: nao e a/go que se desenrola, mas uma imagem
fragmmtada. Somente as imagens dialiticas sao imagens au-
tinticas (isto e, nao arcaicas); e a lingua e o Iugar onde e
passive/ aproximar-se de/as .. 72
Neste senrido poderse-:i dizer que os cubos negros de Tony Smith
se oferecem a n6s como imagem dial&icas: sua simplicidade visual nao
cessa de dialogar com urn trabalho extrema.mente elaborado da lfu-
gua e do pensamento. Sua de reminiscCncia serve a uma crl-
rica do presente, enquanto sua mesma (seu aspecto geo-
metrico "minimal", seus materiais, seu modo de cririca si
metricamente toda nostalgia (anCstica, metafisica ou religiosa) desde
o Iugar de uma relexio constantemente aguc;ada sobre as
presentes da arividade artistica. De urn lado, com efeito, as esculturas
de Tony Smith tem a ver com uma arte da mem6ria, no sentido mais
forte do termo. 0 que e a Caixa preta senio a imagem de mem6ria,
cinco vezes aumentada, de urn objeto dado ele pr6prio como um Iu-
gar de mem6ria, a saber, urn fichario capaz de conter as mile uma
noites do pensamento de um homem? Mas essa imagem de mem6ria
foi posta em jogo de modo a produzir urn volume a-icoruco, uma es
cultura pintada de preto, como se o preto fomecesse a cor de uma
71
W. Benjamin, P11ris, capitate du XIX sUdt. Le livrt des PlW4gts, ed. R.
Tacdcmann, tnd. J. lac05lc: (ligeiramc:ntc: modifJCada), Paris, Cerf, 1989, pp. 478
419.
114 Georges Dldi-Huberman
mem6ria que jamais conta sua hist6ria, nao difuode nenhuma nostal
gia e se contenta sobriamente em apresentar seu mistbio como volu-
":'e e como visualidade. Os contemporaneos de Tony Smith se impres-
Slonavam todos como car:iter "aterrorizante", quase monstruoso, de
sua mem6ria
73
Mas ele pr6prio sentia sua obra como "o produto de
processos que nao SaO regidos por ObJetlVOS conscientes"
7
<1. Assim, 0
cubo negro de Tony Smith funciona como urn Iugar onde o passado
sabe anacromco, enquanto o presente mesmo se apresenta
'
..... . . t 75 N . I ' I . .
.. ,.,mscen e em por 1SSO e e e menos - vJSua e ps1qu1camente
-"simples, imponente e perseverante". Perseverante como a mem6
ria, perseverame como urn destino em obra. Obrigando-nos a admi-
tir que a imagem s6 poderia ser pensada radicalmente para alem do
principio usual de historicidade.
Pois o anacronismo essencial implicado por essa dialetica faz da
, - 0 .. .. ,
memona, nao urna m.stanaa que retem - que sabe o que acumula
-, mas uma instancia que perde: ela joga porque sabe, em primwo
Iugar, que jamais sabeni por inteiro o que acumula. Por isso ela se
torna a mesma de urn de$ejo, isto e, urn repor em jogo per-
petuo, "vivo" (quero dizer inquieto), da perda. Urn jogo com a per-
da, como o Fort-Da pcxlia oferecer a ritmica de urn "ponto
zero do desejo", e podia de ceno modo fuc.ar o infucivel: ou seja, urn
de abandono que se torna jogo, que se torna uma de eba-
no- que se to rna urna obra
7
6. Em outras palavras, urn monumento
?J "He had a memory Wt was terrifying in ats accuracy. ( . ) Events foe him
were super-real and history was a series of sharp reallues." E. C. Goossen, "Tony
Smith , art. cit., p. 11.
T. Smith. c:irado por J.-P. Criqui. "Tricuae pour Tony Smith",llrt. at.,
p. 39.
7S Cf. P. Fedida, pas,se anachronique et present reminisc:mt", L'tait Ju
temps, nto, 1986, pp. 23-<15. Poder-se-i.a aqui cogitar sabre o tema da C11iX11 pre
Ia como caixa de mem6ria moderna. Cf. respeito M. $are$, Sl4Juu, Paris,
F. Boutin, 1987, pp. 280281.
"Sobre o FortDa eo ponto xcro do desejo", d . j . Lacan, "SCminairc sur
Ia lettre volee", Eaits, op. cit., p. 46. Sobre o de abandono, d. P. Rdi<b,
L'absmu, op. cit., p. 144. slgnifiearivo que ambos se rd'inm aqui, em wtinu
instJocia, A mie como pmlid4. Cf. J. I.aan, I.e Slminairt, VIL L'lthiqtu uta
psy<hanalyu (1959-1960), Pans, SeuU, 1986, p. 85, c P. F&lida. ibid., pp. 193-
195 (que fala da m4t afastad4).
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olha
us
\
para compacificar o fato de que a perda sempre volta, nos traz de
volta.
Compreende-se entiio que a "presen93" de que fa lava Tony Smith
designava em realidade a dialettca- a dupla distancia- do Iugar para
dizer i af e do Iugar para dizer que se perdeu. Os elementos de seus
grupos de estituas sio denominados as ve:zes For]. W. ou For V ._T. (fig.
16, p. 111 ): eles designam pessoas mortas ou a morrer
77
Que sao eles,
portanto, seo3o modernos tumulos, no sentido poetico do termo, os
restos assassinados e mudos- mas pr6ximos, ai, diante de n6s-de
uma perda que diStancia e que faz do ato de ver um ato para coCISide-
r.lC a ausencia? Est3o ai, mas o que os comp()e visualmente, diante de
n6s vern de Ionge. Neles a perda vai e vem. EJes nos obrigam a pen-
imagem- sua compacidade mesma- como o processo, dif{cil
de ver, daquilo que cai: a peCISar, radicalmente, .. calmo bloco
cai'do de um desastre obscuro"
78
E que daf nos olha.
T7 Cl., sobrc cua .Uic, j ,-P. Criqui, "ForT .S.", Tony Smith, Madri, Torte
Picuso,.1992, oio pagmado.
71 S. "I.e rombeau d'Edg.ar Poe" (1876), CEuvw eomplitts, op.
116
Georges Didi-Hubwn&A
ANfROPOMORFISMO E DESSEMELHAN<;A
A .. dialet.ica" de que falo nao e feita, como teriio comprecndido,
nem para resolver as nem para entregar o mundo vis-
vel aos meios de uma ret6rica. EJa uluapassa a do visivel e
do legfvel num trabalho- no fogo- da figurabiUd:tde'. E nesse jogo
ela joga com, ela faz jogar, constantemente, a A todo ins-
tante a exp<>e, a faz viver e vibrar, a dramati.za. Ela nao justifica urn
conceito que sintetizaria,. apaziguando, os aspeaos mais ou menos con-
tradit6rios de uma obra de arte. Procura apenas - mas e uma mo-
destia muito mais ambiciosa- justificar um:t dimensao "verbal",
quero dizer atuante, dinamica, que abre uma imagem, que nela cris-
tali.za aquilo mesmo que a inquieta sem repouso. Aqul nao h3 porunto
.. sfntese" a nio sec inquietada em seu exerdcio mesmo de sfntese (de
crista!): inquietada por algo de essencialmente movente que a auavess:t,
inquietada e tremula, incessanremente transformada no olhar que ela
impae. "Fmdo o s61ido. Fmdo o continuo e o calmo. Uma certa dan-
esta em toda parte"2. Em toda parte, portanto, esse batimentoana-
diomeno que faz prosseguir o flwco e o refluxo; em toda pane, o mer-
gulho nas profundezas e o na.scimento que sai das profundeus. Uma
certa est:\ em toda parte- mesmo num cubo de prero ou
num paralelepfpedo de cerca de um metro e oitent2 de comprimento3.
l Tentei reswnir alguns dos efeitos principals disso, em am crista
do Oddente, num anigo intirulado Puissances de Ia figure. cc vUualite
dans l'ut chrWen , Enqdopaedia Univerulis- Symposiwn, Paris, E.U., 1990,
pp. 696-609. Cf. igualmente DewnJ op. dL, pp. 175195.
1 H. Michaux. CcnMissMraparlesgouffru, Paris, Gallimatd.1967 (nova
eCi. rcvisada), p. 187.
l Por isso, dcpois dessa ampla de uma dialeaca visual. oio h.avetb
mais ruio de opor a todo cuno uma artc modcmlsta imobillz.ada em sua pura
opticidade e uma arte surreallsra ou duchamplana da pul.s1o de vcr. Uma obra
de Mondrian e c:ettamentc tio rfanica quanro um R.otorelk{ em movimcDto de
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olha
117
-
-
-
-
-
-:::\
A obra e urn crista I, mas todo crista! se move sob o olhar que ele sus
clt:a. Ora, esse movimemo nao e ourro senao o de uma dsao sempre
reconduzida, a do crista I em que cnda faceta, ineluravelmente,
contrasta com a outra.
Dessa dialetica, dessa intima, a obra de Tony Smith se
mostra- paradoxalmente- exemplar. Exemplar e, acima de tudo,
facilmente acessfvd a quem aceita permanecer pouco mais que alguns
segundos diame das esculturas muico "evidences", mas que rapidamen
te se transformam em crista is de inevidencia. Acessivel, rom bern, por
que o proprio Tony Smith niio cessou, acraves de suas comadas de
suas associa\Oes de ideias, de apontar o dedo e de oriemar
nosso olhar para a inevidencia dialerica de suas obras. Tomase en
tiio dificil ao crftico de ane ou ao historiador enquadra-Jo na vitrine
do minimalismo" como qual, no entanto, tern muito a vet". Tony
Smith fabricava objetos "especfficos" eliminando coda ilusao repre-
sem:ativa de urn espa\O que nao fosse aquele mesmo que seus volumes
aridamente aprcsentam; e, no entanto, em codo exterior sobreimpunha
se de modo estranho a suspeita de urn interior, e a espacialidade men
sura vel vertiase entiio numa de Iugar apreendido como dia-
Jetica de inclusi>es e de equivocidades. Esses objetos geometricos ma-
nifestavam, por outro lado, uma de rigor, de decisao
formais extremamente radicais, e no entanto Tony Smith pretendia
jamais ter tido "alguma programatica da forma S.
Pode-s... im.aginar urn objeto mais "especffico" e mais "simples"
(single. no de Donald judd) que urn simples cubo de pre-
to? Pode-se im.aginar urn objeto mais "total", estavel e desprovido de
detalhes? No entanto, seri preciso admitir diante dessa forma perfei-
tamente {hada, e auto-referencial, que alguma outra coisa poderia de
fato nela estar encerrada A inquietude retira entiio do objeto toda a
sua e coda a sua plenitude. A suspeita de algo que {alta ser
Marcel Ducbamp- s6 que se trata de wn ouuo tipo de riano. Cf. R. Krauss, "La
pulsioo de voir", C4hien Ju Musle NatioMl d'Art MOdeme, a 29, 1989, PP 35-
-48, e "Note sur l"UlCOnscieat optiquc", art. dt.
4 Cf. M. Deschamps, "Tony Smith et/ou l'art minimal" art. eit., pp. 2Q-21.
s "I have never bad any programmatic notion of form. It Is a matter of how
much I can tolerate. T. Smith, citado por LR. Uppard, "The New Work", art.
eit., p. 17. Lembremos tambbn sua frase, cltada mals acima: "Mlnha obra o
reaultado de proccssos que nio sao regidos por objttivos
118
Georges Dldi-Huberman
doravame_ no exercicio de nosso olhar agora atento a
dtmensao prsvada, portamo obscura, esvaziada, do obje-
to. E a de uma larencia, que contradiz mais uma vez a segu-
rautol6gtca do What tou see is what you see, que conrradiz a se-
de se achar diante de uma "coisa mesma" da qual poderiamos
refaur em pensamento a "mesma coisa". En tao, a estabilidade temporal
do cubo-correlativa de sua idealidade geometrica- tambem se abis-
ma, po!que votada a uma ane da memoria cujo conreudo
como .para_ o artista) permaneceni sempre defcituoso,
JamalS totalizado. A em obra nao sig-
rufica mats exatamente o conttole mas a inquietude heurlstica
- ou o heuristico inquieto -em tomo de uma perda. 0 inexpressivo
cubo, com sua consequence de todo "expressionismo" esteti-
co, chum bar-se-a finalmente com algo que chama uma jazida de senti-
do, jogos de linguagem, fogos de imagens, afetos, intensidades, quase
corpos, quase rostos. Em suma, urn antropomorfwno em obra .
. E exatamente, lembremos, o que Michael Fried ja havia assina-
lado nos cubos de Tony Smith. Mas e precisamente o que nao supor-
tava neles, experimentando em sua a pc:nosa e con
tradit6ria de ser distanciado e invadido ao mesmo tempo:
rambbn ai, a experiencia de ser dlstanciado pela obra
(the experience ob being distanced by the work in question}
parece capital: o espectador sabe que se acha numa relao
indeterminada, aberta (mdeterminate, open-ended)-e nao
obrigat6ria- de sujeiro com o objeto inerte na parede ou
no chao. Na verdade, ser distanciado de tais obietos nao e,
penso, uma experiencia radical mente diferente da que con
siste em ser distanciado ou invadido pela presettf4 siknciosa
de uma outra pessoa (being distanced, or crowded, by the
silent presence of another person}. 0 fato de topar de
improviso com objetos literalistas em pefaS um tanto es
curas pode se revelar igualmente perturbador, ainda que
momentaneamente6.
Fica cla.ro que essa nos vem de um homem atbtgido por
objetos que ele nao obstante detesta- objetos que ele detesta preci-
'M. Fried, Art and Objecthood", art. cit., p. 17.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 119
I
samente por sua capacidade de atingi-lo desse modo. Michael Fried
assinalou aqui, ou sentiu, melhor que ninguem, a eficacia dos volu
mes minitrullistas (trorava-se da primeira vez que escrevia sobre as obras
de Tony Smith e de Robert Morris). Ele se viu
tado a uma fumiliaridade ternvelmente inquietante, unhezmlzche, diante
dessas esculturas por demais "especfficas"- valor ideal segundo ele
- par.1 serem honesumente "modernistas", por demais geometricas
para nao ocultarem algo como entranhas humanas. E essas
zero-no literalmente arrepiar-se, como um colossos ou um dolo acla
dico fu.riam um iconodasta arrepiar-se: pois elas transmitem uma efi
cicia funstasmatica, que ele abomina, pelos pr6prios meios que ele
adora, a saber, os meios a-iconicos da "especificidade" formal, da pura
geometri2. ..
Eis ponanto o que era insuporcivel de pensar para um moder-
nista" ortodoxo: que aquilo que ele defendia pudesse, num certo
mento, servir aquilo mesmo que ele refutava. Como se bastasse
inteiramente minimo em meios identicos para engendrar fins mtetra-
mente contradit6rios e inesperados; mas exatamente isto constitui a
eficicia das causais, a que comanda, por exem
plo, o trajeto eo aspecto das nuvens
7
e, num de complexidade
e de bern diferente, abre a obscura liberdade das obras
ane face as suas pr6prias premissas te6ricas. Michael Fried tocava, seJa
como for, no ponto crucial da fenomenologia suscitada pe!as obras d.e
Tony Smith ou de Robert Morris: ora, essa fenomenolopa contradi-
zia cada elemento ou cada momento de visio por um momento ad-
venticio que arrwnava sua estabilidade. Tudo o que Michael Fried
observa diante dos cubos de Tony Smith- uma cumplicidade como
objeto que sabe se transformar em um que
sa be se transfonnar em um senwnento de vauo que sabe
se uansformar em "atravancamento (crowding), uma inercia de ob-
jeto que sa be se transformar em de quase-sujeito -, tudo
isto nao faz senao enunciar o equilrbrio paradoxa! das esculturas de
Tony Smith: seu estatuto incerto, mas tambem a dicacia de
tal incerteza. E portanto seu interesse maior, sua beleza essencial, sua
dialetica em obra.
7 t uma das da r.eona modcma do caos, d. D. Ruelle, IUuilrd et chaos,
Paris, 0. Jacob, 1991.
120
Gcoqes DidiHubcnnaP
..
..
tudo isto, porque nao podia denomina-lo - pois a
e uma forma de certeza -,Michael Fried o denominava, pejo-
rativamente, um teatTo. Teatro significando, no caso, a
"impura" de um objeto factfcio- fatalmente inerte- com uma fe-
nomenologia inttiromente voltada para a presertf4, fatalmenre
voltacb para uma problema rica do vivo (pelo menos voltada para
questao colocada ao vivo). Eis-nos assim reconduzidos ao problema
essencial, o problema que permanece problematico: a saber, o problema
de compreender no fundo o que pode exatamenre significar a expres-
sao segundo a qual urn objeto seria "especifico em sua pr6pria pre-
Judd, a seu modo, colocava o problema- mas sem expe-
rimencl-lo nem explor.i-lo como problemaS. Robert Morris, ao ClOD
trario, admitia toda a sua acuidade te6rica, enquanto Tony Smith
apresentava frontalmente- num gesto que certameme nao se deve-
ria to mar por ingenuidade- a cisao dial&ica da "forma" e da "pre
conjugadas: "Espero-ele dizia ao falar de seus objetos-que
eles tenham forma e
Mas 0 que isto quer dizer, forma "e" 0 que e uma
forma com prese"f'l? Com efeito, a questio se recoloca- abre-se de
novo e, imagino, esti Ionge de se fechar definltivamenre- de saber,
ou melhor, de compreender o que pode exatamente significar a "pre-
de um objeto figural. Antes de interrogar a palavra pela qual
Michael Fried conclui virtualmente seu requisit6rio- a palavra an:ro-
pomorfismo -, devemos prestar ainda ao que constitui tan
givelmente para ele a experiencia de uma Enesse ponto
devemos confiar nele, n.a .medida mesmo em que o desprazu violento
que sentia s6 tera tornado sua visao mais Essa experiCncia
consiste, direi, no jogo de dois sil2ncios.lt pri.meiramente a boca fe-
chada dessa pessoa inquietante imaginada por Michael Fried, e dian-
te da qual se sente profundamente incomodado, num desconforro que
a allglistia - ao .mesmo tempo distanciado, como se um vazio
se interpusesse de pessoa a pessoa, e invadido por ela, como se o pr6-
' Quero diur: em seus textos. Pois suu obras manifestam amplamente tan
too problema quanto a experi&lcia e a
'1 hope they have (onn and presmce.- T. Smith. prdicio a Tony Smith.
Two ExbibitioM, op. cit.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
121
-
-
-
-
prio vazio vi esse enchelo, isto e, abandona-lo a si pr6prio. E o silen
cio humano, a suspensao do discurso, instauradora da angustia e da
quela "solidiio parceira .. que os moribundos ou en tao os loucos im-
pOem as vezes com sua a seguir a caixa fechada, "muda
como urn tumulo .. l O, que impOe por seu volume mesmo o distanciar
do esvaziamento que da contem, e que no en tanto ela reabre na cavi-
dade mesma de nosso olhar: rnaneira, por certo, de invadi-lo tambem.
Ela o invade e o angustia, talvez porque suspenda, por outros meios,
o discurso - ideal, metaflsico - da forma bem formada, plena; e
porque nessa suspensao nos deixa s6s e como que abertos diante dela.
Esses dois silencios, o escultor os p0e em obra atraves dos para-
digmas complementares - portadores no entanto de uma essencial
ou cisao - da tstatura e do IUmulo. A estatura, cariter
essencial das estiruas, e o estado de manter-se de pe (stare), e algo
que se diz primeiramente dos homens vivos, para distingui-los do res-
to da - animais, coisas- que se move, que rasteja ou sim-
plesmente e c:olocado diame de n6s. A estatura se diz dos homens vi
vos, aprumados, e designa, ja em larim, seu tamanho de homens: ela
se re.fere portanto, fundamentalmente, a escala ou a dimensao huma-
M. Cabe aqui lembrar que urn aspecto essenclal na de Die
foi a do objeto, num momento dado, sobre a dimensao pred
samente hwnana dos famosos "seis pes"; mas antes mesmo do epis6-
dio do jogo de palavras, Tony Smith nos conta que havia desenhado,
alguns anos antes, o volume de um atelie imaginado, um habitaculo
c:Ubico de quarenta pes de lado. A definitiva sobre os .. seis pes
equivalia assim a reduzir um volume inicial as dimensOes exatamente
humanas de algo que Tony Smith evocava segundo a dupla imagem
do homem vitruviano desenhado por Leonardo da Vinci e do ataude
chamado pe1a expressao six foot boxll.
Essa questio de escala e evidentemente fundamental. Reduzidas,
as esc:ulturas de Tony Smith nao seriam a6nal senao inofensivos bibelOs
design a colocar sobre wna mesinha de centro. Aumentadas, puxariam
toda a obra para o lado do colossal, ou seja, o lado de uma fenome-
nologia da que encontramos com nas arquite-
10 a expressio que vcm imcdiatamente- e pcrtincntcmcnte- ao espfrl
J.P. Criqui, "Triettac pour Tony Smith, arl. dt., p. 39.
u Cf. T. Smith, eomenWio a Die, em Tolf'Y Smith. Two Exhiblllons, op. cil.
121
Georges Dldi-Hubermall
ou militares. Era preciso de fa to, nesses primeiros ob--
Jetos mtmmahstas, con(rontar o homem com o problema - e nao
3
figurariva- de sua pr6pria estatura. Eis por que, a1em
do pr6pno Tony Smith, os princ1pais artistas do minimalismo ameri-
cana construiram efetivamente, num momento ou noutro obJ"etos que
. .. b , ,
por matS a stratos" que fossem, buscavam como que a proximida-
de, a insistence da CSC21a humana .. Mesmo que o movi-
mento vtesse a ultrapassar esse momento dialetico para se Ian-
por e por referencia, rumo a outras dimensionaJidades.
Fo1 exatamente o que fez Robert Morris, a partir de 1961, quando deu
a seu: Grey Po_lyedrons- as famosas "colunas" (fig. 9, p. 64)-di-
mensoes que guavam em tomo da escala humana, se posso dizer di
mensOe:s que hesitavam entre seis e oito pes de altura 12. E umbem
tamente o que ele dizia, com born senso, quando referia toda percep-
dimensional a escala "antropom6rfica:
"Quando percebemos uma certa dimtnsao, o corpo
humano entra no continuum das dimensots e se situa como
uma constante M escala. Sabemos imediatamente 0 qu4 e
menor e o que i mator que n6s mesmos. Embora isso seja
evidente, e importante no tar que as coisas mettores que n6s
sao vistas diferentemente que as coisas maiores. 0 carater
familiar (ou fntimo) atribuldo a um objeto aumenta quase
na mesma proporo que suas dimens&s diminuem em re-
lao a n6s. 0 carater publico atribuldo a um objeto au
menta na mesma proporo que suas dimens&s aumentam
em relao a nOs. Isto e verdade durante o tempo que se olha
o conjunto de uma coisa grandee nao uma pequenall.
Qual C, pois, o estatuto de tal "antropomorfismo"? Compreen-
de-se que de s6 chega a dimensao bumana como questao colocada pela
forma ao espectador que a olha, e que alias pode muito bem nio ve-
to ou reconhece-lo pelo que e realmente, isto e, ao mesmo tempo a pre-
11
Cf. M. Comptone D. Sylvester, Robm Morris, Londres, The TateGallcry,
1971, p. 23. Cf. igualmcntc p. 43 1966).
u R. Morris, Notes on ScuJpcurc, art. cit., p. 88, retomado rcsumi<bmmtc
em "A Duologue D. Sylvester, Robm Morris, op. cit, p. 13.
Que Vemos, 0 Que Nos Olha 113
-
senrado e latente, porque indiCia/mente presente. Esse "anuopomor
fismo e portanto subliminar, ou ele se prende apenas por urn
fio - urn fio tao tenue quanto o I virtualmente contido no Die abs-
trato e morrifero de Tony Smith. Tam bern Robert Morris, exatamente
na mesma epoca, jogou com as equlvocas de uma c:ai.xa fechada
e do pronome pessoal "eu": uma obra de 1962, intirulada,I-Box,
apresentava-se como uma pequena caixa pendurada 3 parede e cuja
"port3,. tinha os comomos da !etta I; quando aberta, descobria-se uma
fotografia que representava o proprio Robert Morris, de pe, sorridente,
nu como Ad3oH. Essa obra vern ao enconuo de nosso problema em
seu valor mesmo de (ou seja, em sua concessao feira- mas a
maneira duchampi3na- 3 expllclta do sujeito): pois ela
necessitava uma figurativa na medida mesmo em que
se apresentava sob uma dirnensao reduzida. Robert Morris -como
mais tarde Bruce Nauman - nao cessou de impUcar o corpo huma
no, o seu proprio em particular, em muiw de suas obras; mas acaba-
ri por faze-lo, em 1964, segundo o aspecto diversamente interessan
te, e ainda duchampiano, da marca que restitui a exatidio absoluta
da dimensao mas obnubila por sua "negatividade" - a cavidade, o
vazio que ela produz e ex.pOe- qualquer reconheclmento iconico1
5
Assim, o anttopomorfismo de todas essas obras deve ser compreendi-
do como uma indicia/ posta em jogo: ainda que tivesse o va
lor de um auto-retrato, nenhuma concessio tera sido feita a imagem
imitativa entendida no sentido corrente
16
E fascinante constatar a que ponto a dimensao do corpo humano
pOde se achar implicada- e cada vez mais sutilmente- na
dos artistas americanos desse movimento nio obstante expUcitamente
14 Cf. M. Compton e D. Sylvester, Robert Morris, op. dt., p. 54, e sobretu
do M. Berget, Labyrinths. Robert Morris, MbUmalism tmJ th1 1960s, Nova York,
Harper and Row, 1989, pp. 36-37 (e, em geral, pp. 19-46 e 129-166).
u CE. M. Compton e D. Sylvester, Robert Morris, op. ell., pp. 62-64.
u A questio da indicialidade deveria pcrmitir repenur em Robert Morris a
dirncnsJo reauaJ-enfarizada por M. Fried, de um !ado, e por M. Berger, de outr0
-de sua obra. Sobre esse artista, poderio ser consultados ta.mban A. Michelson,
Robert Morris: An Aestbeacs ofT rangression , Robm Morris, Washlnatoo, Cor
coanCallelyofAn, 1969,pp. 179;M. Tucker,R.obmMorrls,Nova York, Whimey
Museum of American An, 1910; e R. Krauss, PIUSilges in Modnn op.
cit., pp. 236-239, 264-270 etC.
124
Georges DldlHubernwl
"geometrico". Sol LeWin, na epoca mesmo em que desenvolvia suas
"estrururas modulares", produztu a significativa de uma obra
- tambem de pequeno porte, v!nte e sete centimetros de altura-que
expunha dez fotografias sucesstvas de uma mulher vista fromalmeme
de pe, caminhando, impassfvel, nua como Eva: ela acabava por ofere-
cer ao olhar apenas o "broquel de velino esticado" de seu ventre bran-
co17. para alem desse hapax em forma de iconica Sol
LeWin nao cessara de imp/icar a dimensao humana, entre um me:ro e
sessenta e dois metros, em urn numero bastante consideravel de suas
obras mals "matematicas" ou modu1ares18 (fig. 17, p. 126). 0 tama-
nho decididamente pregnante dos "seis pes" -urn metro e oitenta e
ttes cendmetros aproximadamente reaparecera tam bern na obra de
Carl Andre (fig. 18, p. 126), certamente em muitos outros exemplos.
Talvez coubesse buscar o de uma arqueologia desse pro-
blema no prop6sito esttanhamente neuttalizante de Ad Reinhardt,
quando projetava o quadro de seus sonhos - negro, evidentemente
-como "urn quadrado (neutro, sem fonna) de tela, com cinco pes
delargura, cinco pes de altura, alto como urn homem,largo como os
abertos de um homem (nem grande, nem pequeno, sem tama
nho) ... "
19
Compreende-se na verdade que o "sem-tamanho" de Ad
Reinhardt, que e nosso tamanho, funciona a1 como urn operador du-
plice de fonnalidade "especffica ", geometrica, e de corpo-
ral, subjetiva. E1e permite a estatura do objeto par-se diante de n6s com
a visual de uma dimms4o nos olha -nos conceme e, in-
dicialmente, assemelha-se a n6s -, ainda que o objeto nada de a ver
alem de si, alem de sua fonna, sua cor, sua materialidade pr6prias. 0
homem, o anthropos, esti de fato af na simples da obra,
no face a face que eJa nos impOe; mas nao tern, ele, sua forma preS-
17
A obra, de 196-4, indtulase Mll'jbridge I. Cf. A l..qg (ed.), Sol UWitt,
Nova York. The Museum of Modem An, 1978, pp. 76-77.
11
No catilogo de sua no MOMA de Nova York, em 1978, po-
dem-se contar umas vinte obras que correspondem a C$$U a. A. Lqg,
Sol uWitt, op. cil., n19, 2S, 44, 45, 47, SO, SS a S9, 69, 119 a 122, 124, 136,
139, 156 ...
" A square ( neutra I, sha pelcss) canvas, live feet wide, live feet high, as hl&h
ua mao, as wide as a man's outstretched arms (not large, nocsmaU,dzdcss)- A.
Reinhardt, Autocritique" (l9SS), ArtMArt. 17JtSekaed Writings of A.
eel B. Rose, Nova York, The Vtkina Press, J97S, p. 82.
. 0 Que Vemos. 0 Que Nos Olba 125
-
-
-
-
-
-
17. Sol LeWin. Floor StructJire, Blade, 1965. Madeira pintada, SS,8 x 55,8 x
183 em. partiallar. D.R.
18. c. Andre, Plain, 1969. Zinco e chumbo, 183 x 183 em. Cortes!A
Paula Cooper GaUery, Nova York.
pria, nao tern a morphe de sua Est3 imeiramente vota
do a dessemelhan\3 de uma escolha geometric-a.
Se essa urn simples quadrado, ou urn simples
cubo- nos olha, e porque ela agita algo que gostariarnos de chama.r,
com Mallarme, uma a"iere-ressemblance de fundo] : urn
debate essencl.al, de natureza antropol6gica e nao mais antropom6rfica,
que confronta a com a ausencia. Urn debate em que o aspec-
to mimetico dos seres humanos, na de uma imagem, se apa
gani de ceno modo diante do poder abissal, e nao obstante tao sim
ples, da humana estatura. Ora, e exatamente no oco mesmo desse de-
bate que Tony Smith se situava, quando confessava, a prop6sito de
Die, justamente nio tee podido nern querido realiz.ar nem urn objeto
no sentido usual do termo, nem um monumento2 ... mas algo como
urn Iugar onde a estatura humana devesse constantemente se experi-
mentar, nos olhar, nos inquietar.
Pois ela nio nos inquieta apenas atraves da obscuridade de sua mas-
sa. Inquieta-nos tambem atraves da indecisao que nela se manifesta per-
petuamente entre uma verticalidade e uma horizontalidade. Esta e ain-
da a enervante e demasiado simples magia do cubo: o cubo diante de n6s
esta de pC, com a mesma altura que n6s, com seis pes de altura, mas esta
igualmente deitado; sob esse aspecto, constitui urn Iugar dialetiro em que
seremos talvez obrigados, a de olhar, a imaginar-nos jazendo llCSS3
grande caixa preta. 0 cubo de Tony Smith e antropomorfo na medjcfa
em que tern a capacidade, por sua pr6pria de nos impor
um encadeamento de imagens que nos facio passar da caix.a a casa, da
casa a porta, da porta ao leito e do leito ao ataude, porexemplo2
1
Mas
denio pode mais ser pen sa do como "anttopomorfo"-se visamos nesse
termo uma teatralidade dos aspectos, isto e, uma iconogram ou mes
mo uma teatralidade das a partir do momento em que nos
10 Por que voce n.io o fez maior, de modo que de dominasse o C$pecrador?
- Nio quis faz.er um mou.umento.- Entio, por que nio o fez mcnor, para que o
C$pectador pudesse ver por cima? - Nio quis Wc.r um objeto. T. Smith, citado
e comentado por R. Morris, Note$ on Sculpture", art. cit., p. 88.
11 0 pr6prio Tony Smith, a prop6sito da dimensao de tk>is mdros, pa$$aVII
de uma imagem vertical (a porta) a wna imagem horizontal (o ldto): "Two metcn
, are jUt about the height of an ordinary house door and about the length of an
average bed. T. Smith, citado e comentado por L.R. Lippard, "l'be New Work,
cit., p. 9.
Que Vemos, 0 Que Nos Olha
127
f
-
da dessemelhallf(l que, num unico objeto, 0 proprio
deamento, a passagem, o desloCtJmento perpetuo de imagens em ima
gens controdit6rias sup&. Se fosse preciso conservar a todo custo a pa
Javra "anrropomorfismo", caberia en tao-antes mesmo de estabele
cer a necessaria critica da de forma -lembrar a maneira como
Pbtio empregava a palavro morphe, na RepUblica, evocando o deus capaz
de mudar continuamente de aspecto (eidos) ao poder multiplo de
suas fomus sempre vinuais (pol/as morphas)22. Ou encao caberia con
vocar Morfeu, o filho do Sono, que foi assim nomeado em considera
ao trabalho da figurobiltdade que ele sem Limites nos so-
nhos dos bumanos2
3
0 silencio da estatura, seja como for, esui repleto de victualida
des figurais exuberances. Ele Iibera e retem ritmicamente- como no
jogo do carretd - verticalidades e borirontalidades, imagens de vida
e imagens de morte. jamais se fuca numa delas, sempre desloca, como
que para frustrar seu iconografismo. Por isso nio se deveni supor que
a arte minimalista, em seu "silencio de nlmuto, poderia se reduzir a
uma pura e 5Unples iconografia da morre2
4
Quando Roben Morris
fabrica uma especie de ataude de madeira de seis pahnos de comprimento
CJCltamente, e para colocl-lo erguido diante de n6s, como um armirio
embutido a humanos ausentes, ou como uma absurda hist6ria a dor
mit de pe (fig. 19, p. 130). Quando Joel Shapiro aproxima seus volu
mes geomeuicos ("sem titulos como tais em nome de uma iconogra
fia) a uma imagem de ataude (Coffin, que fornece entio o "subt!tulo
de sua obra untitled), e para contradizer a evidencia representativa pelo
material- ferro fundido -, e sobretudo pela dimensao, que resulta
minUsc:ula no de sua onde a escultura e colocada (fig.
20, p. 131 ). No fim de contas, sed preciso convir que para aiem da morte
como figura iconog:cifica, e de &to a ausinda que rege esse bale des
u C. Plauo, A Republica, u, 380 d.
ll Cf. Ovrdio, As XI, v. 635-639.
%4 Como o sugae mais ou menos S. Coellier. oe l'att minlmat.IA mort
en sa miroin. ed. M. Coosuntiru, Paris, Mmdiens Kllndc.dcck, pp. 75-86. A pro-
p6sito do i.ncorrigl'vel iconografismo da hist6ria da ane- mcsmo da hlst6ria.da
am c:ootanporioea -, lciam-se as eriticu muito justu de R. Krauss, Readina
Pol lode, AbsuactJy, Tb1 Origm4lity of Awmt-Gartk 11nd Modmrist Myths,
Cambrid&eLondres, The MIT Press. 198S. pp. 2.21-2>42.
128
Georges DidiHubcrman
conceromte de imagens sempre contraditaS. A ausencia. considerada aqw
como o motor dialetico tanto do dese;o- da propria vida, ousarlamos
dizer, a vida da visao- quanto do luto- que nao e "a morte mesma ..
(isso nao teria sentido), mas o trabalho psiquico do que se confronta
com a mocte e move o olha.r com esse confronto.
Assim. o "anrropomorfismo" das esculturas minimalistas acaba
por revdar sua capacidade de ou de
acaba podendo ser considerado, ao menos em a algumas de
suas obras mais perturbadoras, como a subversao mesma do que ne
las via Michael Fried- a saber. uma estrategia relacional, um tea
tralismo psicol6gico -, para o registto be.m mais sutil, que
ro dizer metapsicologjco. de uma dialetica do dome da perda, da perda
e do desejo, do desejo e do luto. As especies de colossoi' privados que
Tony Smith construfa dediCtJndo a propria deles (fig. 16, p.
111) aparecem assim sob a luz altemada do oferecido e do perdido:
eles sao como objetos dados para sujeitos perdidos, verdadeiros nlmu
los "para" (for), e nio simulacros dos tllmulos "de" ... Pois sao sufi
cientemente eqwvocos- frageis ate a incongruencia- em suas for
mas para representar um tllmulo qualquer. Eles evacuam o mais radi
calmente poss{vel a das caras, por exemplo, mas colo-
cam todos a questio do encaramentc. No limite, talvez devam ser vistos
como quase-retratos votivos, assim como Die podia ser visto. por sua
virtude figural total- incluindo os jogos de linguagem -.como urn
quase-auto-rettato.
Paradoxahnente, portanto, certas obras minimalistas terio leva do
o "antropomorfismo .. a confinar com o retrato- mas esre so ter:i
existido no jogo de um radical deslocamento, que e des
N"mguem melhor que Robert Morris,
parece-me, jogou com essa dial&ica do retratar e do retrair. e em pri
meiro Iugar na sua famosa em que urn paralelepipedo
de dois metros de altura tombava, simplesmente, ao de alguns
minutos25. Pois era exatamente um problema de estatura, ou mesmo
de corpo proprio, que se colocava nessa simples queda: Robert Morris,
com efeito, havia conc:ebido sua "coluna para ele proprio encerrar
se nela. era de fato o sujeito que, por denrro. produzia a queda. com
ZJ Cf. antes pp. 41-42. Cf. igualmenrea fig. 9.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
129
-- [
-
19. R. Morris, Sem tltulo,1961. Madeira. 188 x 63,S x 26,S em.
Conesia Leo Castelli Gallery, Nova York.
-
-
~ -
- -
. --
20. ]. Shapiro, Sem tltldo (Caix4o), 19711973. Ferro fundido, 6,S x 29,4 x
12.S an. Conesia Paula Coopu Gallery, Nova York.
' -
21. R. Morris, Box with the Sound of its Oum M4lcing, 1961. Madeira, 22,8 x
22.8 x 22,8 an. Concsia U<l Castelli Gallery, Nova York.
-
o risco de perder urn pouco de seusanguel6. Tombado, o objeto apre-
sentava assim literalmente - sem represent3-lo - o hie facet do ar-
tista que ali jazia, mas "presente" na unica exigencia de estar ausen
tado, de nao ser visfvel. E portanto jogando a queda, a "antropo
m6rfica" queda, fora de todo subjerivismo da A persona do
ator nao era senao o proprio volume, o volume "especlfico" de urn
simples objeto, urn paralelepipedo oco de dois metros de altura.
t porta.nto esse "antropomorfismo"' silencioso, sao silencios e
vazios que as caixas minimalistas oferecem com tanta fteqiiencia. t
verdade que Robert Morris chegou a conceber um cubo de madeira
de onde escapavam as tris horas do regi.stro sonoro de sua
(fig. 21, p. 131 ). Mas encher urn cubo de sons era significar ser ele vazio
de qualquer outra coisa alem dde mesmo, se se pode dizer, c:le mes-
mo incluindo seu processo de engendramento material. sua
De certa maneira, a implicafiio dos vazios nos cubos ou nos pa
raldepipedos minimalistas desempenhou o mesmo papel-e bem mais
freqiientemente- que essa mfase dada a material (seus
rumores, seus choques) do volume geomemco: e esse papel consistia
precisamente em inquietaT o volume e a pr6pria geometria, a geome
tria concebida idealmente- mas ttivialmente tambem - como do-
mlnio de formas supostas perfeitas e determinadas sobre materiais
supostos imperfeitos e indetenninados. Assim, o pr6prio Robert Morris
produziu seus famosos volumes esva.z.iados em rede de arame ou fi.
bra de vidro que transformavam a compacidade, a firmeza dos volu
mes, a.brindo-os literalmente aos poderes da luminosa (fig.
22-23. p. 133).
Tais procedimentos reaparecem em numerosos artistas america
nos. Hi, por exemplo, a ad.miravel House of Cards de Richard Serra
(fig. 24, p. 134), que pode ser vista como uma sintese de todos esses
problemas de volumes e de vazios, de verticalidades erguidas e de desa-
bamentos potenciais, de pianos frageis e de pesadas mass as conjugados.
ru a beutfsrica sem fim de Sol LeWin sobre as mile uma maneiras de
2' 0 que aconrcceu de faro numa da "pct(ormance. Cf. M. Berger,
UJbyrinths, op. cit., pp. a Rosalind Ktauu por tu me dado al
&WI$ esdarccimmros sobre esse aspcao du ColumM de Robert Morris.
l7 Cf. M. Compton e D. Sylvester, Robm Morris, op. cit., pp. 1011 e 29.
0 prindpio desse foi retomado por Morril em 1974 com os paralelcplpedos
de Voice. Cl. M. Berger,IA/ryrinths, op. cil., p. 153.
132 Georges DldiHubcnnaP
22. R. Morris, Sem tfbJo, 1966. Fibra de vidto, 91,-f x 228,2 x 121,9 an.
Whitney Museum of American Art. Nova York. O.R.
23. R. Morris, Sem tftulo, 1967. Fibra de vidto, 9 elementos, 121,9 x 60,9 x
60,9 an ada um. Corrcsia Leo Casttlli Callay. Nova Y ode.
-
24. R. Sura, One Ton Prop (Houu of Cards}, 1969.
X 125 X 125 an. Conesia GaJeria M. Bochum.
1
::1
::3
t. .. , ... -. -. - ... -.: .............................. .,._ ...
-- - - - - .. .._
__ ..
25. S. LeWirt, All Three-Pilrt Varilrtions 011 the Three Diffnem J(jnJs of CM/1es,
1969. Tinra sobre papel, 75,5 x 59,4 an. Cortesiajohn Weber Gallery, NoVI York.
,.l.
L-. ......J
w
~ ~ "'>
~
<>
~
J
~ ~
1(-J
~
LJJ
r>
Q,
(l.J
tJ'l
0 0
<k tb. ~ ~ ~ ~ ~
tJ)
C>. ca
OJ Q)
LD. ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0
IJ
~
cAl
r'9 ~ ~ L-9 t1>. lJ9 ~ ~ ~ '<h ~
~ ~ ~ Gl Q 0:;,
<b. tk ~ LD.
L-{).
~
(f! (!).
* *
Cfl. ~
~
(9.
~ ~ ~ ~ ~
$.
cp,
CR SP. 0. CD.
~ ~ ~ ~ ~ ~
t1q
ldl 6H ~ t:r.
~ G
ClQ t:f).
~
Q>
~ ~ ~ ~ ~ t?! ~
~ ~ ~ ~
@
~
26. S. LeWitt, Variatons of lruompku CMbes, 1974. Tinra 50bre papel,
40,6 x 40,6 an. Concsia John Weber Gallery, Nova York.
~
..
"
.
27. D. Judd, Sem tftulo, 1991. A,.o cor-ten e esmalte colorido. Qu:.nro demen-
tos, 100 x 100 x SO em cada um. Cortesla GaJem Lelon&o PaN .
'
I
!
es\r:lziar um cubo, de .. abn-lo .. ou de vota-lo a incompleteness, como
ele pr6prio diz28 (fig. 25-26, pp. 135-6). Haem geral as caixas
aberus e coloridas de Donald judd (fig. 27, p. 137), CUJO ctedo de es-
pecifiddade (the thmg as a whole) equivale praticamente, no de
conus, a uma talvez angusriada, de que o todo da cotsa po
deria estar associado a seu pr6prio valor, concreto ou te6rico, de bu-
racc. A thing is a hole in a thing, dizia tambem Carl Andre, it is noiJ-
9
Poderemos pensar ainda na obra fascinante de Robert Smithson, em
seus Nonsites de 1968, por exemplo, nos quais a de vazio cha
mava dialecicamente a de terraplanagem ou de desentulho pedtego-
5030 (fig. 28, p. 140). Poderemos enfun pensar nas arquiteturas desti-
nadas por Gordon Matu-Cla.dc ao recorte, a cisao, a um esvaziamen
to que se torna fanclstico por sua monwnentalidade mesma
31
Implicar o vazio como proasso, ou seja, como esvaziamento, F,
inquietar 0 volume: essa mais uma vez, e de natureZa
tica. Ela con juga e dinamiz.a adquite um valor essenaal-
mente criticc - em todos os sentido da palavra, inclusive o de crise
- e, prosseguindo a reflexao de Walter Benjamin sobre esse assunto,
nao se reduz nero a um esquecimento puramente negador, niilista ou
cinico, nem a uma efusao arca.iz.ante ou mftica relariva aos poderes da
interioridade. Todos os julgamentos nao dialeticos cometem nesse
ponto um erro, parece-me, e perdem algo do proc:esso em obra: o de
Michael por um lado, que censurava as obras minimalistaS
.. terem um interior .. tipicamcnte biom6rfico ou antropom6riico
32
-
quando esse interior e sempreapresentado sob a especie do vazio, ou
mesmo da abettura frontal, em todo caso da ausencia-de-ver (ainda
que frontalmente exposto); ode Donald Judd e de Rosalind Krauss,
11 CL A. Legg, Sol LA Witt, op. cit., passim.
l' C. Andre. citado por LR. Uppard, Six Years: The of
the A.rt Objta from 1966 to 1972, Londre5, Studio Vista, 1973, p. 40. A Erase de
D. Judd citada logo acima de Specific Objccu, tlrt. dt., p. 70 (vet aqui mes-
mo, IIIPTtJ. p. 27).
lO C.1L Hobbs et a1., Robm Smithson: Sculpture, Jthac:aLondles, Cornell
University Press, 1981, pp. 104-129.
ll C. M.J. Jacobs et al ., Gordon Mtztta-Cltlrlr. A Rttro1peaiw, Chicago,
Museum of Contemoracy Art, 1985, passim.
ll M. Fried, Art and Objccthood, tlrl. cit., p. 18.
138
Georges DldiHubetm&ll
.
por outro lado, que em seus escritos "inflexibllizavarn o rninmul'IS
. I d mo
numa recusa pura e sunp es e toda inrerioridade-33 -quando esta
sendo aberta as vezes, nem por isso e menos eficaz como
colocada as misteriosas do fora e do denrro.
. de fato urna problematica da interioridade na escultura mi
nunahsta, e s?b esse_aspeao e legltimo falar de um "antropomorfismo ".
Mas a questao, tnaiS urna vez, e saber a que anrropomorfLSmo se faz
alusao
34
, ou melhor, saber de que modo a propria de antro-
pomorfismo foi "trabalhada no se posso dizer, e portanto
desloc;zda pelas produes mais interessantes de Tony Smith, de Robert
Moms ou de Carl Andre. Ora, eta foi deslocada - ou recolocada -
na mesrn:a cisao que faz a panilha da e da
reJeltada triunfalmente pela tautologia, nem relvin-
dlcada obsess.lvamente pela como um Iugar privilegiado, ou
mesmo exdustvo, do ccltUUdo de e de origem mfticas para
a obra de arte: tera sirnplesmente sido implicada num pro-
asso, numa dialetiCa VIsual que, num certo sentido, nao e menos abis-
sal, mas que por outro !ado nao pretende mais nenhuma arche, nenhu
rna origem ou autoridade ideal do sentido, nem algum "conteudo"
hierarquicamente decreta do como o rna is "profundo".
A questio da interioridade ten sido portanto deslocada. Isto quer
dizer que ela escl ai, mas a como o carreteJ ou como a coisa insigni-
ficante que se pode e reter altemadamente. A interioridade escl
efetivamente ai, mas fragilizada. Esti ai, depois afastada, depois no-
vamente ai, na dobra de constante dialetica visual, na sfncope de
um riano. Portanto ela s6 pode ser compreendida na dinamica de um
Iugar constantemente inquieto, operador de urna constante inquietu
JJ C. D. judd, "Specific Objects", llrt. cit., p. 65 (e noca 1, p. 72), que ai
ticava toda pintura .POt sua ao rontnldo, pdo W!Jples faro de seu campo
cstar num quadro. Cf. 1gualmcnte IL Krauss, PassJga in Mod#rn
Sculptur1, op. cit., pp. 250-254, que pensava o minjmaljsmo como o ato ddinio
vo de nepr a intetioridade (tlmy the irruriorily of the saJpled form) e
ieitar o interior das focmas como wna fonte de sua the
interior of forms as tl source of their sipi{kmra). A scgunda coocet
oe mais do que a primeira, como veremos, ao estatuto real da interioridade do
met11/{sk4 do$ objetos mioimalistas.
34
Como assinalava justamente T. de Ouve, ici et maintenallt",
llrt. dt., p. 190.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 139
1-
28. 1L Smithson. Nonsiu (Slau from &ngor), 1968. Madeira e ard6sia,
15,2 x 101,6 x 81,2 an. Cotte:Sia John Weber Gallery, Nova York.
29. D. Jadd, Snn titulo, 1965. Plexiglas dnpdo .e X 122 X 86,2 an.
Centro Pompidoa, Paris. Foco MilKe Nauooal d An Modeme.
de visual: um Iugar feito para colocar o olhar numa dup/a disranda
nunca apuiguada. Assim, o trabalho da intenoridade "aberta" e das
superficies nao obstante impeclveis das esculturas mmimalistas faz
sistema com o trabalbo dialeuco, alias discemivel, de urn jogo sobrt
os do objeto: muitos paralelepipedos minimalistas- os de judd,
de Morris e de Larry Bell, em particular- inquietam suas pr6prias e
tao bern definidas artstas por uma escolba dos materiais (o espelho, o
plexiglas ou o esmalte) que tendem a produzir visualmente o efeito de
uma ilimitao do objeto, quando este capta e recolhe ntlt as imagens
de urn e mesmo corpos espeaadores, que se acham em torno
dtfeJS (fig. 29-31, pp. 140, 142-3).
Essa de uma dupla distancia e essencial Ela determina a
estrutura paradoxa! de urn Iugar oferecido em seu grau "minimal, mas
tambem em seu grau mais puro de eficacia: e at, mas e al vazio. ar
onde se mostra uma ausencia em obra. E ai que o "conteudo" se abre,
para apresentar que aquila em que ele consistc niio e senao urn objeto
de perda-ou seja, o objeto mesmo, nd sentido radical, metapsicol6
gico do termo. Reencontramos aqui a especie de double bind, ja evo
cado, da expressao "Vicki,. [VC/Vazjo]. Ora, essa dupla do
ver- ver, quando ver e perder- detennina, com a dupla distincia
que ela imp()e, o estatuto correlato de uma dupla temporalidade. Por
urn lado, com efeito, os objetos de Tony Smith ou de Robert Morns
sao postos diante de n6s nas galerias, nos museus, como outros arte
fatos a serem vendidos ou esti.mados inestimaveis, objetos de uma arte
imediatamente reconhecivel- pela escolba de seus materials e por seu
rigor geometrico- como nossa arte contemporanea. Mas, por outro
lado, suas dimensOes particulares com freqiiencia os erige: eles se tor
nam antes estaturas que objetos, se tomam esutuas. Com isso accnam
para uma mem6ria em obra, que e pelo menos a mem6ria de todas
aquelas obras esculpidas e erigidas que foram desde sempre chama
das est.ltuas. Nesse fazer-se estatura, adquirem urna espCcle de espes
sura antropol6gica que sera urn incomodo para sua "crfuca (deane)
ou sua em "hist6ria" (da arte); porque essa espessura im
punha a todos os olbares postos sabre t2is objetos a sobera
na de urn anacronismo em obra.
Uma dupla distincia temporal votava portanto esse metamoder
nismo a urna espede de infra-antropomorfismo. Mas a "regressio",
u Cf.Id., Ibid., p. 191.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
HI
'
I
I
t
I
30. R. Morris, Snn litulo, 1965. Plexigla.s-espelho sobrc madeira,
71,1 x 71,1 x 71,1 na Green Gallery, obra destrulda.
Conesia Leo Castelli Gallery, Nova York.
31. L. Two Glass W4lls, 19711972. Dois espclhos, 183 x 183 an
cada urn. Panza di Blumo, Varcse. D.R.
I
como vimos, nao era uma regressao: era apenas rarefa..ao, reminiscen
cia vol untariamente rarefeira. A humanidade estava de faro af, na esta-
tura do grande cubo negro, mas nao era senao uma humanidade sem
humanismo, uma humanidade por ausb1cia- ausencia de seres huma
nos que nao atendiam a chamada, ausencia de rostos e decorpos per didos
de vista, ausencia de suas tomadas mais que imposs-
veis: viis. Oro, esse valor da ausencia constitui ao mesmo tempo a ope-
formal da arte contemporanea mais interessante, mais inovado-
ra36, e a litCC3lmente anacronica de todo desejo e de todo luto
humanos. Por seu esseocial silencio- que nao imobilidade ou iner-
cia- e por sua virtude de o "antropomorftSmo" mi-
nimalista dava em realidade a mais bela resposta possfvel a contradi-
te6rica da e da "especificidade". Fazia com que essas
duas palavras nada nuis tivessem a significar daquilo que se esperova
delas, tomadas cada uma isoladamenre. Eo que judd ou Morris pro-
dnziamcomoconttadiesemseusdiscursos,elesohaviamanterionnen-
te produzido, em suas esculturas, como uma dessas contra-
dies mesmas. A arte minimalista fomecia-se assim os meios de esca-
par, por sua dialetica, ao dilema da e da tautologia37.
Que a humanidade seja indicada - indicada por fndices, por
vestigios e por - no pr6prio Iugar de sua ausencia,
de seu desaparecimento, eis portanto a de Aufhebung ten-
tada por algumas obra.s de Tony Smith, de Robert Morris e de alguns
outros. Nessa o modernismo- o modemismo como dou-
trina estttica- era de fa to subvertido e, nwn certo sentido, ultrapas-
sado (nao digo: caduado). Ele dava Iugar, paradoxalmente mas com-
preensivelmente, a WJl3 dialetica do anacronismo (que nada tern a ver,
convem precisar de novo, como p6s-mode.rnismo), em que o empre-
go corten suscitava reminlsdncias de estelas votivas ou de tern
plos egipcios. Mas a repetimos, nlo se devia a wn primi
tivismo nem a urn arcaismo. Talvez se devesse simplesmente aquela
34
C. por exemplo a pinnua defectiva de Roben Ryman analisada por J.
Oay, ta peinnue en dwpie, Macula, n 3-4, 1978, pp. 167-185.
37
Dilema ideol6gjco que corresponde exaramente, nos dlas de hoje, 1 m5
escolha enue um "cinlsmo e um "miJenarismo, d. a critka rccente de Y.-A. Bois,
OwJcement de decor, ExtrD Muros. llrt suiss1 contmrporDin, ed. E. Char due,
C. Quiloz, D. Schwarz, Lausanne, Mush antonal des Beaux-Aru, 1991, pp. S7
69.
144 Georges DldiHuberman
-
32. A. Glacometti, 0 1934. Bronze, 9-4 x 54 x 59 em.
Kunsthaus, Zurique. Foto D. Bernard.
J
l-
1
arte da mem6ria que toda obra forte requer para transfom1ar o pas-
sado em futuro. Rosalind Krauss teve toda a razao de os
nomes de Rodtn e de Brancusi no centro de suas sobre a
esculrura minim:lhsra38. Certameme caberia acrescentar certas obras
de Giacometti, autor, em 1934, de urn extraordin3rio Cttbo- na
verdade, urn pohedro complexo (fig. 32, p. 145)- cujo formalismo
extremo dava Iugar 3 questao mesma do rettato, colocado a partir de
uma falta, de uma humanidade poe ausencia39.
Eis, em todo caso, o que permanece dificil de pensar: que urn
volUme geomettico possa inquietar nosso vee e nos olhar desde seu
fundo de humanidade fugaz, desde sua estatura e desde sua desse-
visual que opera uma perda e faz o vtsvel voar em peda-
Eisa dupla distancia que devemos tentar compreender.
CI. R. Krauu, Passages In Modem op. cit., p. 279.
l9Cf. G. DidiHubennan. Lecubeet k llisage.l&ut011rd'unesculptured'Aibmo
Giaeometti, Paris, M2c:ub, 1992.
146 Georges DldiHubcrlll4R
A DUPLA DISTANCIA
E, primeirameme, que nome lbe dar? Pensemos nesra palavt3,
empregada com freqiiencia, raramente exphcttada, CUJO espinhoso e
polimorfo valor de uso Walter Benjamin nos legou: a aura. "Uma muna
singular de espayo e de tempo" (tin sonderbares Gtspinst von Rawn
und Zeft)
1
, seja, propriamerate falando, urn espafamtnto tramado
- e mesmo ttabalbado, poderiamos dizerl, tramado em todos os sen-
tidos do termo, como urn sutiJ tecido ou entio como urn acomecimento
unico, estranho (sondtrbar), que nos cercaria, nos pegaria, nos peen
deria em sua cede. E acabaria poe dar origem, nessa "coisa trabalha-
da" ou nesse ataque da visibilidade, a algo como uma metamorfose
visual especffica que emerge desse tecido mesmo, desse casulo- ou-
tro sentido da palavra Gespinst- de e de tempo. A aura seria
portanto como urn tramado do olhame e do olhado, do
olbante pelo olhado. Urn para<ligma visual que Benjamin apresenta
va antes de rudo como urn poder da dist4naa: "Unica de Wil2
coisa longinqua, por mais pr6xima que possa estar" (tinmalzgt &schei-
nung tiner so nah sit stin mag)3.
1
W. Benjamin, "Petite hiscoirede b phocogr.aplue" (1931), crad. M.deGm
clillac, L'homme, /e ltrngage et ltr cultJne, Paris, DcnoeJ, 1971 (cd. 1974), p. 70.
2
Cf. a c:orrespondenda de T.W. Adorno e W. Benjamin sobrc a quemo da
aura como do ttabalho csquecldo na c:oisa : W. Benjamin, Cor
respondana, ed. G. Scholcm e T. W. Adorno, trad. G. Pericdern.ange, Paris, Au bier
Montaigne, 1979, D, p. 326.
3
W. Benjamin, "L'<Euvre d'art a l'ere reprodua:ivne ccdullquc" (1936),
ttad. M. de GandJ1lac, L'homme, k ltrngage etla op. cit., p. 145. Convan
nocar que a forma dcssa rase em alcmao conserva a ambigilidade de sea prcr
ximidade em questio se referc 1 ou ao pr6pno longfnquo. A expreulo tea
puecc no texto acado mais ac:ima da "Pctire hi5toiJ'C deb photographic, art. oi.,
p. 70. Mas cambemem "Sur quelques themes lnudebuiens" (1939), trad.J. l..acofle,
01arles Baudelaire. Un (XXte lyrlque Q /'apogie du capit4/imu, Paris, Payoc, 1982,
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
l-
h
l
t-
1-
0 que nos da:z esrn f6rmula celebre, seniio que a distancia apare-
ce, no acontecimento da aura, como uma distancia ja desdobrada? Se
alonjura nos aparece, essa nao e ja urn modo de aproximnr-
se ao dar-se 3 nossa vista? Mas esse dom de visibilidade, Benjamin
insisre, permanecera sob a auroridade da lonjura, que so se mosrra af
p:ua se mostrar disrante, ainda e sempre, por mais pr6xima que seja
sua
Proximo e dasranre ao mesmo tempo, mas disrante em
sua proximidade mesma: o objeto aucitico sup0e assim uma forma de
varredura ou de ir e vir incessante, uma forma de heurfstica na qual
as distincias - as distancias cQntradit6rias - se experimentariam-
umas as outras, dialeticamente. 0 pr6prio objeto tornando-se, nessa
o Iodice de uma perda que ele sustenta, que ele opera visual-
mente: apresenundo-se, aproximando-se, mas produzindo essa apro-
como o momento experimentado "unico" (einmalig) e total
mente "estranho" (sonderbar) de urn soberano distanciamento, de uma
soberana estranheza ou de uma extravagancia. Uma obra da ausen-
cia que vai e vem, sob nossos olhos e fora de nossa visao, uma obra
anDdiomena da ausencia.
Sob nossos olhos, fora de nossa visao: algo aqui nos fala tanto
do asseruo como do que nos acudiria de Ionge, DOS concemiria, nos
olharia e DOS escaparia ao mesmo tempo. 'E a partir de tal paradoxo
que devemos certamente compreender o segundo aspecto da aura, que
e o de urn poder do olhar atribufdo ao prcSprio olhado pelo olhante:
"isto me olha'". Tocamos aqui o car:iter evidentemente fantasmatico
dessa experiencia, mas, antes de buscar avaliar seu teor simplesmen-
te ilus6rio ou, ao contcirio, seu eventual teor de verdade, retenhamos
a formula pela qual Benjamin explicava essa experiencia: "Sentir a
aura de uma coisa e conferir-lhe o poder de levantar os olhos" - e
p. 200. Eenfim em Pans, capitlllt du XIX' Sltcle. u livre des Ptusages, cd. R. Tie
demann, trad. J. Lacoste. Pans. Ccrf, 1989, p. 464 ("A auraE a de urna
lonjura, por maiS pr6ximo que possa estar o que a evoca ),
4
t nisto que Benjamin opunha a 11ura ao trafO compreendido como "a apa
de uma proximidade, por mais Ionge que possa estar o que a delxou. W.
Benjamin, Paris, capiulle du XIX s1ede, op. at., p. 464. Sobre eua pro
blematica, d. H.R. Jauss. "Traccia ed aura. Osservazloni su.i di W. Ben
jamin, trad. arallana M. Upparini, lntmeuonl, VII, 1987, pp. 483-504 (proble
marico, com efeito, se dermos ao conceito de tra,o uma extensao que ele nio tem
em Benjamin: cf. ln{r4, pp. 127 e 1S4-1SS).
148 Georges OldlHuberman
ele acrescentava em seguida: "Esra e uma das fontes mesmas da poe
sia. "
5
Compreenderse-a aos poucos que, para Benjamin, a aura nao
poderia se redu:zir a uma pura e simples fenomenologia da fascina
alienada que tende para a E antes de urn olhar tra
balhado pelo tempo que se trataria aqui, urn olhar que deixam 3
o tempo de se desdobrar como pensamento, ou SCJa, que
deixaria ao o tempo de se retramar de outro modo, de se
reconverter em tempo.
Pois, nessa distancia jamais anteiramente franqueada, nessa dis-
t3ncia que nos olha e nos toea, Benjamin reconhecia ainda - e de
maneira indissociavel a tudo o que precede- urn poder da mem6ria
que se apresenta, em seu t.exto sobre os motivos bauddairianos, sob a
especie da "mem6ria involumaria": "Entende-se por aura de urn ob
jeto oferecido a o conjunto das imagens que, surgidas dame-
moire involontaire [em frances no texto ], tend em a se agrupar em tomo
dele"
7
Aura'tico, em conseqiiencia, seria o objeto cuja des
dobra, para alem de sua propria visibilidade, o que devemos denoma
nar suas imagens, suas imagens em ou em nuvens, que
se imp3em a nos como outras tantas figuras associadas, que surgem,
se aproximam e se afastam para poetizar, trabalhar, abrir tanto seu
aspecto quanto sua para fazer ddas uma obra do incons
ciente. E essa mem6ria, e claro, esci para o tempo linear assim como
a visualidade auratica para a visibilidade "objeriva ": ou seja, todos os
tempos nela seriio feitos e desfeitos, contraditos e superdi-
mensionados. Como surpreender-se que a aqul o paradigma do
sonho, que Benjamin ap6ia - alem de Baudelaire- nas figuras de
Marcel Proust e de Paul Valery?
f. preciso sublinhar a que poneo o problema era fa
miliar a Proust? Notar-se-a, no entanto, que ele o formula
as veus em termos que contem sua teoria: 'Cctos espfri
tos que amam o misterio, escreve, querem crer que os obje-
s W. Be.nj:aman, "Sur quelques themes baudelairu:ns", art. cit., p. 200.
'Cf. C. Perret, Walter Benjamin wns tkstin, ParU. La Difference, 1992, pp.
101103, que anahsa o uso do vcrbo bdrachten na pa.uagem dlebK da "Pcquc
na htst6ria da (otografia .
7 W. Ben(amm, "Sur quelques themes art, cit., p. 196.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
149
tos cons""am a/go dos olhos que os o/haram ... (Sirn, cer
ramente, a c:tpacidade de corresponder-lhe!) ... que os mo-
numentos e os quadros so nos aparecem sob o veu sensivel
que Illes teceram o amor e a contemplao de tatttos ado
radores durante seculos'. Quando define a aura da perup-
o do sonho, Valiry propoe uma ideia and/oga, mas que
vai mais Ionge, porque sua orientao e objetiva: 'Quando
digo: VeJO tal coisa, nao e lima equao qlle noto etttre mim
e a coisa. ( . )Mas, no ha equao. As coisas que vejo
me viem tatrto quanto as vejo'. Por sua natureza mesma, a
percepo onirica se assemelha aqueles templos, dos quais
0 poeta escreve: 'L'homme y passe a travers des forets de
symboles, I Qui l'obstrvent avec des regards familiers' /0
bomem passa atraves de florestas de sfmbolos, I o ob-
servam com olhares familiares]
8
E assim que se na aura, a onipotencia do olhar e a
de uma memoria que se percorre como quem se perde numa "floresta
de sirnbolos". Como negar, com efeito, que e todo o tesouro do sirn
b6lico - sua arborescencia estrutural, sua historicidade complexa
sempre relembrada, sempre transformada -que nos olha em cada
forma visivel invesnda desse poder de "levantar os olhos"? Quando
o trabalho do simb6lico consegue tecer essa trama de repente "singu
lar" a partir de urn objeto por um lado ele o faz literalmente
"aparecer" como urn acomecirnento visual unico, por outro o trans
forma literalmente: pois ele inquieta a estabilidade mesrna de seu as
peao, na medida em que se toma capaz de chamar uma lonjura na
forma proxima ou supostamente passvel de posse. E assim a desapossa
como objeto de um ter (a palavra aura nao ressoa em frances como o
verbo por excelencia do que nao temos ainda, urn verbo conjugado
no futuro e como que pettificado em sua espera, em sua protensao?),
e !he confere por uma qualidade de quase-sujeito, de quase
ser- "levantar os olhos", aparecer, aproximar-se, afastar-se ...
Nesse momento, portanto, tudo pa.rece desfigurar-se, ou trans
figurar-se: a forma pr6xima se abisma ou se a profunda, a forma pla
na se abre ou se escava, o volume se esvazia, o esvaziamento se toma
obsciculo. Nesse momento, o trabalho da mem6ria orienta e dinami
1
I d., ibid., pp. 200201.
150
Georges DldiHUbert112n
za o passado em desrino, em futuro, em desejo; e nao por acaso
0
pr6-
pno Walter Benjamin articula o motivo dos templos :tntigos em Bau
ddaire ao motivo de uma (orftJ do desejo, que explica em termos d.e
aura a experienaa er6rica - na qual a distancia rima tio bem com o
apelo fascinado
9
-, mas tambem a pr6pria experiencia estetic:a no
semido, por exemplo, em que "o que uma pintura oferece ao olhar :erla
uma realidade da qual nenhum olho se farta" to. Nesse momento, poe-
tanto, o passado se dialetiza na protensao de urn futuro, e dessa dia
Ietica, desse conflito, justamente surge o presente emergente- e ana.
cronico- da experiencJa auratica, esse "choque" da mem6ria invo
luntaria que Benjamin prop()e seja visto em geral, e em toda a exten-
sao problematica da palavra, segundo seu valor de sintoma: "Esse
processo, diz ele ao falar da aura, tem valor de sintoma (der Vorgang
ist symtomatisch); sua ultrapassa o dominio da anell.
Eo ultrapassa em que A resposta parecer:i simples, mas,
como veremos, nao o e tanto quanto parece. A resposta, segundo se le
em Benjamin, estaria inteiramente numa expressio que nos projeta de
vez para 0 lado da esfera religiosa: e 0 valor de .. culto" que dana a aura
seu verdadeiro poder de experiencia. Comentando sua pr6pria defiruo
do fenomeno auratico enquanto "\inica de uma realidade lon
gin qua", Benjamin escreve: "Essa tem o merito de esdarecer
o ca.r:iter cultual da aura (den kultischen Charakter des Phiinomens). 0
longinquo pot essencia e in:lcessfvel; e essencial, com e!eito, que a ima-
gem que serve ao culto nao se possa ter acesso"ll. Como nao repensar
aqui no paradigma origin:irio da imagem crista que a Veronica, a vera
icona de Sao Pedro de Roma, cristaliza no Ocidente? Tudo nela parece
de fato corresponder aos caracteres reconhecidos ate a qui na visiUllida-
de auratica. A Veronica, para o cristao de Roma., e exatamente aquela
9 Id., ibid., pp. 202-203.
10 Id ibid., p. 198.
llftJ., L'ocuvre d'an U'ere c:ksa reproduaivirercchnique,m. a"J., p. 1-43.
swpreendente que Waltct Benjamin, que sou be tlo bern atraves:saca exzensa itea
dos campos discucsivos do seculo XIX mnds, nio tenha rccomdo ao coocciro
mcd.Jto de aura do qual Olarcot-principalmente- fez um uso Sllltomato16gico
exemplar. Cf. G. Did.JHubennan, lnvmtion l'bystnir. Cht:ra>t n fkonogrtJphlt
photogrtJphique de liJ Paris, Macu.la, 1982. pp. 8-4-112.
u W. Benjamin, sur quelques themes 11rt. cit., p. 200.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
151
I
I
"trama singular de e de tempo" que se oferece a ele num
tramado, num poder da diStdfiCia: pois lhe e habitualmente lnVl
slvd rerirada, como sabemos, num dos quatro pilares monumentais da
basruca; e"' quando se procede a uma de suas raras solenes,
3
Veronica ainda se furta aos olhos do creme, apresentada de Ionge, quase
in vis( vel-e port:tnto sempre recu:tda, sempre mais longfnqua
0
dispositivo aparatoso, quase ofuscante, de suas molduras prectosas.
M:ts essa do longinquo ainda assim constitui um fan
cistico poder do olhar que o crente atribui ao objeto, pois, no pouco
que ve, chegara quase a ver seu pr6prio deus -jesus Cristo seu
mi.raculoso retrato -levantar os olhos para ele; entao, quando a una
gem Jiteralmente se indina para OS fieis, tudo 0 que esteS tern a fazer e
ajoelhar-se em massa e baixar os olhos, como que tocados por olhar
insustencivel. Mas, nessa dialetica dos olhares - o crente nao ousa
ver porque se ere olhado -. nao e senao urn poder da mem?ria que
investe ainda a visuahdade da atraves de todas as unagens
virtuais ligadas ao cariter de reliquia atribudo ao objeto, seu carater
de memorial da Paixao. Enfim, e de fato uma forfil do desejo que
consegue fomentar a paradoxa! desse objeto: pois a frus-
de visibilidade- expressa por Dante em versos celebres sobre
a antiga fome insaciada de ver o deus face a face
13
-, essa &ustra
mesma se .. subsrirui" num desejo visual poe excelencia, nao a sim
pies curiosidade, mas o deseJO hiperb6lico de ver albn, o desejo esca-
rol6gico de uma visualidade que ultrapassa o eo tempo mun
danos ... Assim, o creme diante da Veronica nada teri a .. ter, s6 teni
lt ver, vera aura, JUStamente
14
.
Se nos fixarmos nesse exemplo demasiado pedeito- verdadei-
ramente paradigmatico tanto do ponto de vista da hist6ria quanto do
da teoria -, se pensarmos nesse cxemplo com a perspectiva concei
u Dante, Dunna Comid1a, Paraiso, 103-105: colui che forse d1
1 mde a veder Ia Veronica nosua,/ che per l'antica fame non ser1 sazia ...
14 Pan uma hist6ria extenSiva desses objeros, remeto ao Uvro monumental
de H. Belting. Bild IUid Kult. Gesehicht.e tks Biltks vor den Zeit4lt.er des Kunst,
Muruque, Beck, 1990. Bcnjamm, curiosamente, nlo citado, embo
1
. ra de me pa
guiar implicawnenre a hip6tese gcral do trabalho de Hans Be ung- em par
ticular seu trabalho em andamento sobre a obra-prima considerada de algum modo
como a imagcm de culto na epoca da ane: esta tese mesma do texto deW.
BenJamin, sur quelques thbnes baudelairieM, art. cit., pp. 193-205.
152
Georges Didi-Huberman
tual aberta poe Walter Benjamin, seremos tentados a redu:dr a :auro,
como e feito geralmente, a esfera da ilusao pura e simples, essa ilusao,
esse sonho do qual Karl Marx ex.sgia que o mundo fosse despertado
de uma vez por todas
1
S ... "A ausencia de ilus6es eo decUnio da aura
(der Verfa/1 der Aura) sao fenomenos identicos", escrc:via Benjamin em
Zentralpark
1
6. E e prc:dsamente em termos de declfnio da aura que: a
modernidade ira receber aqui sua mais not6ri:t, a que pro-
pOe 0 "poder da proximidade" consecutivo a reprodutibilidade e a
possibilidade, extraordinariamente ampUada desde a da fo-
tografia, de manipular as imagens- mas as imagens enquanto repro-
enquanto esquecidas daquela .. unica
que fazia a caracteristica do objeto visual "tradidonaJ"17,
Mas e nesse momento preciso, uma vez ditas todas essas genera-
lidades- estimulantes e preciosas enquanto tais, mas muito f.reqiien
temente discutiveis em sua aplicabilidade hist6rica 18 -, que se colo-
ca o problema de nossa posio (estetica, etica) em ao fen()..
meno aucitico definido por Benjamin. E, em primeiro Iugar, qual foi
exatamente a do pr6prio Benjamin? A resposta nao e simples
de dar. Poe um lado, a aura como valor culrual propriamente dito, a
aura como vetor de ilusao e como fc:nomeno de era atacada por
IS K. Marx, carta a Ruge, setembro de 1843, citada em exergo nas refiexc)es
te6rieas sobre o conhecimento deW. Benjamin, Paris, eapit4le dll XIX'
siede, op. cit., p. 473.
"W. Benjamin, "Zenttalpark. Fragments sur B3udelaire" (1938-1939), trad.
J. Lacoste, Charla op. dt., p. 237.
17 Jd., "L'oeuvrc d'art i l'cre de sa reproducavitt teduuque", art. cit., PP
14-4-153. Essa tese benjaminiana E particulumente discurich por R. litdmuM,
Etutks Sllrla philosoph it tk Walln Bmjamin (1973), trad. R. RoehL a, Aries, 1\J:tt$
Sud, 1987, pp. 109-113; P. BUrger, "Walter Benjamin: conuibution a une theoric
de Ia culture contemporaine", trad. M.Jimenez, R.evkd'mhitlqut, N.S., n 1,1981,
pp. 2526; e R. Rochua, "Walter Ben1anun: uoe dialectique de l'image", Criliq'",
. XXXIX, n431, 1983, pp. 300-301 e 317-319.
II Um unico caso, dlebrc entre todos, e que adcrnais esubdece uma Jlga-
explfciua como paradigma ch Veronica: eo Sanro Sudario, cujo 11alor adtu
ral readquiriu toda a sua a panir do dia em que sua
por Secundo Pia, em 1898, permitiu inverter seus valores vtsuaiS.- 0 . G. Dtda-
Huberman, L'indiee de Ia pbie a bene. Monograplue d'une rachc", Trawrses, n
30-31, 1984, pp. 151-163.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
1S3
r
-
!
I
I
l
1-
l-
1-
1- "
I.
" 1-
I
1--:.
(
._ ...
uma cricica vi go rosa que I he opunha um modernismo militance. Mas,
por outro lado, Benjamin criticou tambem, como sabemos, a propria
modemidade em sua incapacidade de refigurar as coisas, em sua "atro-
fia da experiencia" ligada ao mundo mecanizado (o mundo da repro-
generali'zada, justa mente, aquele mesmo cujo interminavel
roxismo vivemos hoje). 0 modernismo militante parece entao substa-
tuido por uma especie de mekmcolia crftica que ve o dedlnio da aura
sob o ingulo de uma perda, de uma negatividade esquecedora na qual
desaparece a beleza
19
Significa isto que Benjamin acaba por secontradizer sobre a mo-
demidade, ou que sua de aura, que serve negativamente para
e.xplicar CSS3 modemidade, seria ela mesrna contradit6ria? Em abso-
luto20. Nesse dominio como em outros, a questao verdadeira nao e
opc::tr por uma num dilema, mas consuuir uma capaz
de uluapassar o dilema, ou seja, de reconhecer na propria aura uma
instincia dialitica: "'A aura, escre.ve justamente Catherine Perret, nao
e urn coned to amb(guo, e urn conceito dialetico a propriado a experien-
cia dialetica cuja estrutura ele tenta pensar. "
21
Toda a questao sendo
doravante saber como desenhar essa esuutura, como pensar o tempo
dCSS3 dialetica da qual Benjamin nos deu figuras tao "contraditorias".
tal estrutura, esclarecer tal dialetica talvez implique uma
escolha teorica decisiva - na qual Walter Benjamin, parece-me, ja-
rnais se engajou exatamente- quanto a que pode assu-
19 Em qualquer medid:l que a arte vise o belo e por mais simplesmente que
o 'exprima', e do fundo mesmo dos tempos (como F.austo evocando Helena) que
o faz surgir. Nada disso acontcce tecnica.s (o belo nio enc:ontra
nebs nenhum Iugar)." W. Benjamin. "Sur quelques themes baudelairicns, art. cit
p. 199.
20 Apesac do que sugercm R. Tiedemann, Etudes sur Ia philosophie de Walter
Benjamin, op. cit., p. 109, e R. Rochlitz, "W.altcr Benjamin: une di<llcctique de
l'im<lge", art. cit., p. 289. Em scu estudo recente, Catherine Perret insiste c:om ra
zlo no fa to de que, se ha uma questio da aura em Benjamin, esta nio consiste de
modo nenhum em saber sese deve conscrvac ou Uquidac a aura C. Perret, WDIUr
Benjamin SDn destin, op. cit., p. 1 OS. Ncm poe isso deixa de haver urn conflito em
Benjamin, que cncontra seus acentos extremos na tematlc:a messiinica e no uso que
de faz da palavra ", por excmplo. Podcse Icc a esse ccspeito a biografia
de G. Scholem, Walter Benjamin. Hl'stoire d'une amitU (1975), trad, P. Kessler,
Paris, Calmann-Uvy, 1981.
11 Cf. C. Perret, op. cit., p. 99.
154
Georges Didl-Hubcrman
l
,(
.I
mir a rzatureza cu/tua/ do fenomeno auratico. E essa escolha te6
d d" . nca,
preen e-se, IZ respe1to exatamente ao fundo da quest3o aqui de-
batJda, entre ver, crer e olhar. 0 que e portanro urn culto? Somos es-
orientados, ao pronunciar essa palavra, para o mun
do prec1.so dos atos da ou da e digo bern que se
trata de urn mundo "preciso" porque o temos sob os olhos, esse mun-
do, em todas as imagens, em todas as nas quais incontes
prima por tomar poder. Sao Tomas de Aquino enun-
aava, por exemplo, com urna precisao e uma cadicalidade aparente
mente sem contestafiao posslvel, que o culto enquanto tal, o que os
gregos chamavam eusebia - a qualidade de ser irrepreenslvel, ino-
cente, logo "piedoso" -,so devia ser dirigido a Deus, s6 era devido
a Deusll.
Mas isto se assemelha demais ao double bind, a de pen-
samento de que eu falava mais acima
2
3, para nao nos (azer perceber
a subjacente a essa radicalidade: s6 sereis inocemes pobres
o.velhinhas, submetend<rvos as leis que vos garanto- enqu:mo de-
ngo- que etas vern do Altfssimo; so sereis inocentes fazendo VOtO de
obediencia, de submissao ao Papa, porque vos digo ( .. em verdade, em
verdade vos digo") que as leis vos dizem que nascestes culpados., etc ...
Assim, em mil e urn rodeios e floreios, se fechara o cfrculo que quer
nos fazer identificar o simples cuidado ( ctlltus) dirigido a outrem com
o culto dirigido ao Outro sob seu muito preciso Nome de Deus24. BaSta
alias sobre a historia da palavra mesrna para compreen-
der 0 carater derivado, desviado, desse sentido religioso e transcendence
do culto. Cultus- o verbo Iatino co/ere- designou a principia sim-
plesmenre o ato de habitar urn Iugar e de ocupar-se dele, cuJtiva-lo. E
urn ato relativo ao Iugar e a sua gest3o material, simb6lica ou imagl-
n3ria: e urn a to que simplesmente nos !ala de urn Iugar traba/hado. Uma
terra ou urna morada, uma morada ou uma obra de arte. Por isso o
2l Tomas de Aquino, Sum""' theologlise, lla-IL1c, 81, 1.
1J Cf. supra, pp. 1924.
2 Podese dizer desse ponto de vista q uc a religiosa dcmonstt2 -
ora ternamcnte, ora auclmente-sua pr6pria di;aletica ao impor porum bdo
lei moral de humanidade, por outro urn imperativo e Uteralmente
diante do qual os sujeiros se tonum capues de dar ao deus- porque
cle nio esta ar- tudo o que recusam aos outros bomens-
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olha ISS
I
'
l
I
adjetivo cult us esd hgado tao explicitamente ao mundo do orttalus e
da "culrura" no sentido esteuco do termo25.
Nao busquemos urn senti do "origmal". 0 mundo da ter3
seguramente, e desde o se podemos diur, infletido de vez esse
sentido da palavra cultus. Assim, a morada "trabalhada" sera por
excelencia a morada do deus, na qual a rela,..ao profana - "habitar
com", "habttar em" - se abre a uma reciprocidade confortadora,
protetora, S3craliz.ada: "Como o deus que habttava urn Iugar devia ser
seu protetor natural, co/ere, ao falar dos deuses, adquiriu o senrido de
'compraur-se, habitar em, com', e depois 'proceger, acarinhar' ( . ) e
colo designou, reciprocamente, o culto e as honras que os homens
prestam aos deuses, e significou 'honrar, presmr um culto a' .. .''
26
Pode
parecer dora vance imposslvel- filol6gica e historicamente falando-
evocar um .. valor de culto" associado a aura de um objeto visual sem
fazer uma referenda expllcita ao mundo da e das religiOes cons-
tituidas. E no entanto, parece daramente necessario secularizar, re-
secularizar essa de aura-como o proprio Benjamin podia dizer
que "a e a reliquia secularizada" no campo poetico2
7
-a fun de compreender algo da eficlcia "estranha" (sonderbar) e "Uni-
ca (einmalzg) de tantas obras modernas que, ao inventarem novas
formas, tiveram precisamente o efeito de "desconstituir" ou de des-
construir as os val ores culruais, as "culturas" ja informadas
28
Acaso nao assinalamos em Tony Smith, por exemplo, cada urn dos
criterios que fazem a fenomenologia tfpica da aura-os poderes con-
jugados da distincia, do olhar, da mem6ria, do futuro implicado -,
salvo esse carater de .. culto" entendido no sentido estreito, no senti-
do devoto do termo?
$eria preciso, portanto, secularizar a de aura, e faur do
.. culto" assim entendido a especie- historicamente, anttopologica-
1S C. A. Emout c A. Mallet, Dtctionntme ltymologtque de Ia IDngu latine,
Pans, Klin<:kucck, 1959 (4' e<l.), pp. 132-133.
u I d., ibid., p. 132.
l1 W. Bc:nJamm, "Zcnualpark", Drt. cit., p. 239.
z.a 0 que nio qucr daer que clas permanecem c permanecerio impermd
veas a esse len6meoo constanrc, voraz. sempre capu de rcromos que o ulvcm, que
i a Por IS50 continua scndo urgentc a neccssidade de uma critica social do
pr6prio mundo artlstico.
156
G<orgcs Dlda-Hubcrman
mente determinada- da qual a aura mesma, ou o "valor culrual" no
senti do etimol6gico, seria o genero. Benjamin fa lava do silencio como
de uma potencia de aura
29
; mas por que se teria que anexar o silencio
- essa experiencia ontologicamente .. estranha" (sonderbar) essa ex-
periencia sempre "unica" (einmalig) - ao mundo da mlstica
ou da teologia, ainda que negativa? Nada obriga a isso, nada autori-
za essa violencla religiosa
30
, mesmo se os primeiros monumetztos dessa
experiencia pertencem, e era fatal, ao mundo propriamente religioso.
Benjamin falava ainda, em termos implicitamente auraticos, da
.. llngua incomparavel da caveira" quando nos aparece, quando nos
olha: "Ela une a ausencia total de expressao (o negro das 6rbitas) 3
expressao mais selvagem (o esgar da dentadura)"31. 0 que vema ser
isto, senao o enunciado mesmo de uma dupla distancia que o objeco
visual nos imp()e cruelmente, e mesmo melancolicamente? Mas poe que
se teria ainda que fazer de todas as caveiras objetos para a religiio,
como sea caveira nao fosse a de todos- creme ou nlo, ada
urn portando-a diremmente no rosto, que eta inquieta ou inquiet:ara
de qualquer modo-, e como se seu uso hiperb6lico pela iconografia
religiosa (pensemos nas catacumbas "ornadas" dos capuchinhos de
Roma ou de Palermo) impedisse incluir a caveira num catilogo de
objetos seculares? ... Ou ate mesmo, como fazia o pr6prio Benjamin
- e nurn tom bastante bat:ai!Jeano -, num catalogo de "arrigos de
fantasias"?
preciso secularizar a aura, e preciso assim refutar a
abusiva da ao mundo religioso da epifania. A Erscheinung
benjaminiana diz certamente a epifania - e sua memoria hut6rica,
sua -, mas diz igualmente, e literalmente, o sintollU: eta indica
portanto o valor de epifania que pode ter o menor sintoma (e nesse
ponto, como alhures em Benjamin, Proust nao est3 distante), ou o valor
de sintoma que fatalmente tera toda epifania. Em ambos os casos, ela
faz da um conceito da imanencia visual e fantasmatica dos
fenomenos ou dos objetos, nao um signo enviado desde sua fictfcia
1t W. Bcnjamm, "Zcnttalpark", Drt. cit., p. 232.
3
Cf. a eue rcspeito J. Derrida, "Comment ne p.u parlcr. DCntptiOll$
(1986), Psychi. lnwntions de I'Dutre, Paris, 1987, pp. 535-595.
ll W. Benjamin, Sens unique. En(D11a IHT/inoise. P;zySDgeS urbi:ms, uad. ] .
Lacoste, Pa.ris, Lcs Lettres Nouvelles, 1978, p. 190.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 157
regiao de transcendencia. Entre bonecas e carreteis, entre cubos e len
y6is de cama, as niio cessam de tee .. isto signiftca
que clas sejam devotos? Por certo que nao, se elas jogam com isso, se
mane jam livrcmente todas as nas quais a linguagem, aos
poucos descoberta em suas fonematicas e significantes, lhes
abre os olhos, chumbando de angustia sua alegria "infuntil" ou faz.endo
rebentar de ric sua angustia diante da ausencia32 ...
A nao e portanto o apanagio da e poe acre-
ditar nisso que o homem do visi'vel se encerra na tautologia. A dis-
tiincia nio eo apanigio do divino, como sc ouve com muita freqi:ien
cia: nao e scnao urn predicado hist6rico e antropol6gico dele, mes
mo que parte da hist6rica e antropol6gica do divino
qucrcr impor-se como o sujeito poe excelencia. Em Petrarca, a aura
nao e scn3o urn jogo de palavras com Laura, a mulher scmpre dis-
tante- scmpre "esttanha", scm pre "Unica"- que faz desfiar em scu
texto toda uma rede significante do desejo e da arte poetica, ora seu
Ioureiro ou scu ouro (Iauro. oro), ora sua aurora convocada, etc.
33
Aura oao e credo: scu silcncio esta Ionge de ter apenas o discurso da
como resposta adequada. Assim nio sao somente os anjos que
aparecem a nos: o ventre matemo, "broquel de velino esticado", nos
aparece claramente em sonhos, o mar aparece claramente a Stephen
Dedalus numa dupla distincia que o faz ver tamblm uma tijela de
humores glaucos e, com eles, uma perda sem reCUl'So, sem religiio
alguma. Die nos aparece claramente no tempo dialetico de sua visao
prolongada, entre sua extensao geomCtrica pr6pria e a intensidade de
scu aomatismo obscuro, entre o valor nominal de seu tftulo e seu an-
gustiante valor verbal.
ll Assim, nio ba senndo em imaginar um in{tlllS acomeddo de neurose ob
scssiva. De um ponto de vista freudiano, esta requer a ji
da ordem de linguagem e a edipiana do complexo de Os
pr6prios nruais infantis do cluuamente mal iruerprmdos quando levados para
o bdo da neurose obsessiva. a Patrick Lacoste por me ter confurnado
nessa e s6 posso rcmeter a seu uabalho rnais rccente sobre a
obsessiva em geral: ContrainUS de pensle, contraintd magfe letrte, Pans,
PUF.1992.
lJ Cf. a esse respeito o estudo de G. Contini, de l'aura de Pc
uarque (1957). Variant1 e altra linguistial. Una raeco/14 di saggl (l93B-196B),
Turim. Einaudi, 1970, pp. 193199.
158
Georses DldJ-Hubcrrnan
t
Enfim, quando Walter Benjamin evoca a imagem aura rica diz.endo
que, ao nos olhar, .. e ela que se torna dona de nos", ele nos fa La amda
do da distancia como tal, e nao de um poder vagamente divi-
no, amda que oculto, amda que ele mesmo distanteH. A ausencta ou
a distancia nao Sao figuras do divino- sao OS deuses que busc3rn, na
!ala dos humanos, dar-sc como as unicas figuras posslveis e verossi
meis (signo de seu car:iter ficcional) de uma obr3 sem recurso da au-
da distancia
35
Repitamos com Benjamin que a rellgiao cons-
tltut evtdentemente o paradigma hist6rico e a forma antropol6gica
aura - e por isso niio devemos cessar de intecrogar os
mnos e os mos em que toda a nossa hist6cia da arte se origina: "Na
origem, o culto exprime a da obra de arte num conjun-
to de tradidonais. Sabemos que as mais antigas obras de arte
nasceram a de urn ritual... "
36
Isso nao impede que entre Dame
e James Joyce, entre Fra Angelico e Tony Smith a modemidade tenha
precisamente nos permitido romper esse vinculo, abrir essa
fechada. Ela re-simbolizou inteiramente, agitou em todo.s os scntidos,
deslocou, perturbou essa Ora, fazendo isso, nos deu acesso a
algo como sua fenomenologia fundamental .
E ainda a disranda - a distoncla como choque. A distancia
como capacidade de nos atingir, de nos tocar-37, a distanci a 6rica ca
paz de produzir sua pr6pria conversio haptica ou utiJ. De urn bdo,
portanto, a aura tera sido como que resimbolizada, dando origem,
entre outras coisas, a uma nova dimensao do sublime, na medida
mesmo em que se tomava ai .. a lonna pura do que surge"38, Pensa-
>4 W. Benjamin. Paris, capi14/e du XIX s1ide, op. cit., p. 464.
JJ Ha nccessidade de prccisar que este esclarccimrnto teria SJdo superfluo
hi dez ou vinte a nos? Mas penso que a crise do tempo- Cf'Cll9lS, taurologias-
requer esclarecer de novo essa
36 W. Benjamin, "L'oeuvre d'art a l'erc de sa reproductivite rechn.iquc,tJrt,
cit., p. 147.
17
ld., "Sur quelques themes bauddamens, tJrt. cit. , pp. lS2-lS3,onck sJo
convocados, de Baudelaire, Bergson (MtltiCre et mjmoirt), Ptoust e Freud (e
deste, nio poe acaso, Alim do princip1o de pra:n).
3
C. Perter, Walter Btnjamm StJn destin, op. cit., p. 104 (evocando o subli
me, p. 106). Assinalcmos, sobrc a questio do sublime, a bcb cokdnea cokti'-a
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olha 1.59
mos em Newman, em Reinhardt, em Ryman; pensamos rambem em
Tony Smith. De outro lado- ou conjuntameme -,a nura rera como
que voltado as formais elementares de sua uma
dupla discincia, urn duplo olhar (em que o olhado olha o olhame),
urn trllbalho da mem6ria, uma prorensao. Falo de fenomenologia,
porque essa imanencia vislla/ da aura havia encontrado, contem-
poraneamente a Benjamin- em 1935, para sec exato -, uma expres-
siio fenomenol6gic:a precisa e admir:ivel. Trau-se do famoso livro de
Erwin Straus, Vom Sinn der Sinne ( .. Do sentido dos sentidos"), que
se confrontava em profundidade com toda a psicologia de
c:artesiana, pr6x1mo nisto, e muito expliciramente, do trabalho reali-
zado antes dele por HusserJ39.
Ora, esse volumoso trarado acaba precisamente seu percurso
deixando resso3t' uma reflexiio sobre as "fonnas espaciais e temporais
do sentir"-e niio e outra coisa seniio uma reflexiio sobre a distincia
mesma
4
0. Esta e ddinida como uma "fonna uma
"ttama singular de e de tempo", poderlamos dizer -, uma
forma fundamental do sentir que possui o privilegio ontol6gico de
fomecer "sua dimensio comum a todas as diversas modalidades sen-
soriais"41. A distancia consritui obviamente o elemento essencial da
(assinada por J.-F. CollrtUie, M. Deguy, E. Escoubas, P. LacoueLabarthe, J.-F.
Lyoard, L. Marin. J.-L. Nancy e J. Rogozinski) Du Sublime, Paris, Belin, 1988,
inaugunndo uma signific:ativamc:nte intitulada "L'exuemc contemporain".
A figura de Benjamin e v1sta como fundadora no esrudo de P. Lacoue-Labarthe
("La vente sublime'", 1bul., p. 146-147), a de Bataille no texto de J.-L. Nanc:y
("L'offrande sublime", ibid., p. 74). Cum pre assinalar ainda a importincia dessa
-Jipda ao "fundamentalmcnte aberto, como imensidade do futuro e do
passado'" -no trabalho sobre o enema de G .Deleuze, Unima 1. L'image-mou
wment, Paris, Mmuit, 1983, pp. 69-76. Na esfera aqui explorada, deve 5er citado
pnncipalmenr.e o c:&hre texto de B. Newman, "The Subllme Is Now (1948), Selecud
Writings and lntmllal!S, ed.J.P. O'Neill, Nova York, Knopf, 1990, pp. 170.173.
n E. Straus, Du sens des sens. Contribution .il'itud1 des fondmrents de Ia
psychologic (1935), trad. G. Thmes e J.P. Legrand, Grenoble, Millon, 1989, pp.
2$-60 As Meditaf&s CArtesumas de Husser! sao citadas na p. 30, e
os tradutores (ibid., p. 14) com razlo comparar o t.rabalho de Erwin
Strauss as IJes dadas por Husser! sobre OS conccitos de coisa e de Cf. E.
Husserf, Ding und Raum, ed. U. Claesges, Haia, Nijhoff, 1973.
160
40 E. Strauss, Du sens des sens, op. cit., pp. 609632.
4
1 ld., ibid., p. 615.
Georges DldiHuberman
visao, mas a pr6pria urilidade nao pode nao ser pensada co
d. 1 mo uma
expenenc1a 13 ettca da d1stancia e da proximidade:
"0 movin:ento tat!/ se faz, por uma aproximao que
comefa no vauo e tennma quando atinge de novo
0
Qwndo toco o objeto com mmucia ou esbarro ne/e por
acas? e de forma irref/etida, em ambos os casos o a bordo a
partir do vazio. A resistincia encontrada interrompe
0
mo
vimemo tdtil que tem1ina no vazio. Quer o objeto seja pe
queno a ponto de eu poder segura-lo na mao, quer eu deva
explora-lo acompanhando suas superficies e arestas, s6 pos-
so ter impressiio na medlda em que o separo do
vazio ad,acente. Todavuz, enquanto minha mao entra em
contato como objeto deslizando sobre sua superfick, man-
que se caractciza por uma apro-
XItnafOO a partsr do vauo e um retorno a este; na ausencia
oscilaes ftisicas do movimento tatil, eu permanue-
na tm6vel num ponto invarldvel. Seriamos tentados a com-
parar essa oscilao com ada contrao muscular normal
em cada impressao tatil, o outto, ou seja, a
cuz como vazio, se produz concomitantemente ao objeto que
se destaca deste-42.
TaJvez nao outra coisa, quando vemos algo e de repen
te somos tocados pot ele, senao abrir-nos a uma dimensiio essencial
do olhar, segundo a qual olhar seria o jogo assint6tico do pr6ximo (ate
o contato, real ou fantasmado) e do longfnquo (are o desaparecimen
to e a perda, reais ou fantasmados). lsto significa em todo caso, se-
gundo Erwin Sua us, que a dist:incia na experiencia sensorial nao e nem
objetivavd- mesmo enquanto objeto percebido: "A disr2nc.ia nao e
sentida, e antes o senrit que revela a distancia", ele escreve -,nero
suscenvel de uma conceitual, pois .. ela s6 existe pana um ser
que e orientado para o mundo pelo senrit"
4
J. Isto significa ainda que
a distincia e sempre dupla e sempre virtual, ja que "o deve
sempre ser conquistado de novo e a fronreira que separa o
42
I d., ibid., p. 614.
J I d., ibi'd., p. 616.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
- '711
-.
I
pr6ximo do afastado e um limite variavel"
44
A distancia e
sempre dupla- isto quer dizer, enfim, que a dup/a distancia e a dis-
tancia mesma, na unidade dialetica de seu batimento ritmico, temporal.
"A disrancia (die Ferne) c a forma espayo-temporal do
sentir. Nessa proposi(iio, a palavra 'distancta' deve ser com-
preendida como designando a polaridade do 'proximo' e do
'afastado' da mesma maneira qzte a palavra 'um dia' com-
preende o dia e a noite. ( . ) Com efeito, e impossfvel (alar
da distancia e do futuro sem se referir slmu/taneamente a
proximidade e ao presente. ( .. ) A distancia e assim clara-
mente a forma do sentir. Na expericncia
sensorial, o tempo e o nao estao ainda separados em
duas formas distintas de apreensao fenomcnica. Assim, a
distancia nao e simplesmente a forma do
sentir, e igualmente a forma do movimento
vivo . .E somente por estar orientado para o mundo e por ten
der no desejo para o que nao possuo, e a/em disso por mo-
difu:ar a mim mesmo ao desejar o outro, que o proximo e
o afastado existem para mim. E por poder me aproxintar
de alguma coisa que nao posso fazer a experiencia da pro
ximidade e do a{astamento. A terceira dimensao, a profun
didade espacial, nao e portanto urn puro fenomeno 6tico.
0 sujeito que vee um ser dotado de movimento, e e somente
a um tal sujeito que o se reve/a na articu/ao de re-
giaes de distanciedade (Abstaendigkeit). ""
5
Essas fundamencais serao, uns dez anos mais tarde,
rearticuladas por MerleauPonty em algumas paginas celebres da Fe-
nomenologia da percepo, onde a questao do sera doravante
referida ao paradigma da profundidade. E, tambem a{,
que ao refletir sobre essa distancia que se abre diante de nos, vern a
luz- e se obscurece ao mesmo tempo, poderfamos dizer- wna es
truru.ra dial&ica, desdobrada, paradoxa!. Pode-se dizer, com efeito, que
+4 I d., ibid., p. 618 (E. Strauss aprescnta aqui exemplos pato16gicos que IJl2is
urde serio retomados por Merleau-Ponty).
4
J I d., ibid., pp. 612 e 617.
162
Georges Dldi-Hubcrman
o objeto visual, na experiencia da profundidade, se da a distancia; mas
nao se pode dizer que essa distancia eb mesma seja daramente dada.
Na profundidade, o se da- mas se da distante, se da como
distancia, ou seja, ele se retira e num certo senti dose dissimula, sempre
ii parte, sempre produtor de um afastamento ou de um
0 que vern a ser portanto essa distancia frontalluda, se posso
dizer, essa discinda apresentada diante de n6s e retirada ao mesmo
tempo, que chamamos profundidade? Merleau-Ponty recusava primei-
ramente as triviais e chissicas, segundo as quais a profun-
didade seria objetivavel contanto fosse recolocada num contexto de
definidas, tais como a convergencia dos olhos, a grandeza
aparente da imagem 6tica ou a de urn ponto de vist3 pers-
pectivo. Todas essas que equivalem a conceber a profun-
didade como uma "largura considerada de perfil", supOe.m um mun-
do estavel, regulares, "objetos indeformiveis.,..
7
Mas o mundo
estetico - no sentido da aisthesis, isto e, da sensorialidade em geral
- nada tern de estavel para o fenomen6logo; a fortiori o da esterica
-no sentido do mundo trabalhado das anes visuais -,que nao faz
senao modificar as relaes e deformar os objetos, os aspectos. Neste
sentido, portanto, a profundidade de modo nenhum se reduz a um
parimetro, a uma coordenada espacial. MerleauPonty via nela antes
o paradigma mesmo em que se corzstitui o em geral - sua
"dimensionalidade" fundamental, seu desdobramento essencial:
.. [E preciso] compreender que o nao tem tres
dimensoes, nem mais nem menos, como um animal tem
quatro ou duas patas, que as dimensoes sao antecipadas
pelas diversas metricas sobre uma dimensionalidade, um ser
polimorfo, que as justifica todas sem ser
expresso por nenhuma-4
8
'"M. Merleau-Ponty, Phbwmenologie dd11 perception, op. cit.. pp. 29+309.
Cf. o comentirio de R. Barbans, De Ntre du phbrcmb!L Sur I' ontologie lk
Ponty, Grenoble, Millon, 1991, pp. 235-261.
47 M. Merleau-Ponty, Phb:omerrologie de Ia perception, op. cit., PP 295-
297.
I d., L'Oeil et /'esprit, Paris, Gallimard, 196-4, p ... s.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
Por isso o espac;o - no sentido radical que essa palavra agora
adquire- nao se da deixando-se medir, objetivando-se. 0 espac;o e
o espac;o e profundo. Permanece inacessfvel- por excesso
ou por falra -quando esd sempre af, ao redor e diante de n6s. En-
tao, nossa experiencia sera de fa to experimentar sua aura,
ou seja, a aparic;ao de sua distancia eo poder desta sobre nosso olhar,
sobre nossa capac1dade de nos sentir olhados. 0 espac;o sempre e mais
albn, mas isso nao quer dizer que seja alhures ou abstrato, uma vez
que ele esui, que ele permanece a{. Quer dizer simplesmente que ele e
uma "trama singular de espac;o e de tempo" (quer dizer exatamente
que o espac;o assim entendido nao e senio "urn certo espac;o"). Por
isso ele ja nos e em si mesmo urn elemento de desejo, de protensao-
o que Merleau-Ponty percebia bern quando falava de uma profundi-
dade IUscente sob o olhar que "busca ",segundo urn corpo absorvido
em suas "tarefas" e suscetivel de urn "movimento'', ainda que abstra-
to49. Significativamente, essas mesmas paginas fala vam tam bern de uma
dialeaca em que a distincia podia ser deduzida de uma
do desejo com a mtm6ria- como duas modalidades conjun-
tas de urn poder da ausencia e da perdaso.
Eofim, sea profundidade distante e assim elevada a categoria de
uma dimensionalidade fundamental, nao deveremos imaginar que ela
ultra passe os problemas de massa, os problemas de escultura que en-
conttamos em judd, Morris ou Tony Smith. A profundidade nio eo
que escaparia "por tr.is" de urn cubo ou de urn paraldeplpedo mini-
malista; ao contrario, ela s6 deveria receber sua mais radi-
cal se estiver neles implicada, se a visual desses volumes
geometricos- cromatismos, fluoresdncias, reflexe>es, diafaneidades
ou tensOes dos materiais- for capaz de produzir uma voluminosidade
"estranha" e "unica", uma voluminosidade "mal qualificavel que
Merleau-Ponty acabou concebendo segundo uma dialerica da espes-
sura e da profundidade:
4
' Id., Phlnomenologk de Ia peraptlon, op. cit., pp. 117, 129, 304.
50
I d., ibid., pp. 306-307, ao que poderio scr aproximadas, desiOQIJldo o ponto
de vista (que substituiria a tllrefa de que fala a fenomenologia pelo destjo de que
fala opsicana!im),estas palavras de Pierre F6dida: "A diconte\1do aoobjeto
e assegura o distancwnento a um pensamento. Literalmcnte: cia nio se resolve oo
passado. Emio o dastante o que a proxima eo ausente- nJo a ausincia- wna
figura do momo, tal dito do recalado. P. Fidida, L'absenu, op. cit., p. 7.
164 Georges DidiHubennao
"
"E preciso redescobrir sob a pro{undidade como re-
lao entre coisas ou mesmo entre pianos, que e a profun-
didade objetivada, destacada da experiencia e trans(orma-
da em largura, uma profundidade primordial que dti seu
sentido a esta e que e a espessura de um meio um c{)isa.
Quando nos deixamos ser no mundo sem assumi-lo ativa-
mente, ou em doenfOS que favoreum essa atitude, os pia-
nos niio mais se distinguem uns dos outros, as cores niio mais
se condensam em cores superfici'ais, elas se di(undem tm
tomo dos objetos e se tomam cores atmos{iriCils; o doente
que escreve numa folha de pape/, por exemplo, deve atra-
vessar com sua caneta uma certa espessura de bronco antes
de chegar ao papel. Essa vo/uminosidade varia com a cor
considerada, e ela e como a expressao de sua essencia qua-
litaliva. Ha portanto uma profundidade que alnda niio tern
Iugar entre objetos, que, com mais forte rat:iio, niio avalla
ainda a distancia de um a outro, e que e a simples abertura
da perapo a um fantasma de coisa mal qua/ificado St.
Esse "fantasma de coisa mal qualificado", essa pura "volumi-
nosidade"- palavra admiravel que con juga dois estados normalmenre
conttadit6rios da visio, o volume tatil ou construldo, e a luminosidade
6tica incircun.scritivel-, tudo isso nio nos reconduz as condies nas
quais uma obra como a de Tony Smith pOde surgir, para alem mesmo
ou ao lado de seu aspecto consttutivo, geometrico? Vimos, com efe
to, que o artista se ocupava de problemas construtivos- problemas
de arquitetura, de sem jamais ter podido produzir omen or
volume que lhe parecesse con vir ao que ele esperava da esaJtura. 0
que ele nos conta de sua experiencia no tum a n.a estrada de Nova jersey
nos ensina- ainda que a titulo de parabola re6rica- que de espera
vade certo modo a possibilidade .. estranha e "t1nica de urn suple
mento fenomenol6gico a toda trivial do espac;o (a de urn cubo,
por exemplo). E esse suplemento visa tam bern a aura, aquele "longin-
quo pontuado da paisagem notuma que ele contemplou nessa estr:l
da, aquele "pr6ximo aprofundado e distanciado que experimenta
mos hoje diante de suas grandes esculturas.
Jl M. MerleauPonty, Phhlomenologie de la op. cil., pp. 307-JOS.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
165
Pois diante dos volumes negros de Tony Smith nos vemos um
pouco como ele proprio se viu diame ou dentro da noite; isto e, so
mos entregues 3 "voluminosidade" mais simples como se estivessemos
perdidos numa floresta: ela esta af, ela c proxima e mesmo tangivel
sob nossos p:assos, ao nosso redor, mas sua simples obscuridade in-
troduz o elememo nao mensuravel de um afastamento reciproco, de
urn de uma solidiio. Alem disso, a obra nos coloca -
como a noire o fuera com Tony Smith- na "floresra de sirnbolos"
de uma mem6ria estetica, quase arqueol6gica, que faz de suas escul-
turaS tanto monumentos para a mem6ria quanto lugares para seu a ban-
dono. A dup/a distancia esta portanto em obra, e em muitos niveis,
nesses volumes virrualmente esvawdos, nesses vazios visualmente
compacificados ...
E ela nao esta apenas em Tony Smith, e daro. Aparece tambem
de forma admiravel em Robert Morris, por exemplo, que sistemati-
camente se empenbou em inquinar as circunscrif{>es de objetos nao
obstante tao evidentes quanto cubos ou paralelepipedos: o som que
escapava do volume de 1961, o revestimento reverberante adotado em
1965, a fibra de video opalescente dos nove elementos de 1967 (fig.
21, 23 e 30, pp. 131, 133, 142),- tudo isso tendia a auratizar a
geometria, se posso dizer, a apresentli-la distante, equfvo-
ca. Uma obra de 1968-1969 radicalizava inclusive, de maneira expli-
cita, essa heuristica da impossivel distincia: obra sem perto nem Ion-
ge, obra perleitamente intangivel e que no entanto acariciava todo
corpo e seu espectador, obra sem ponto de vista definido, sem perto
nem Ionge, repito, portant.o sem detalhe e sem moldura - era uma
simples de vapor (fig. 33, p. 167). Robert Morris acabava
ali de &bricar aura" no sentido mais literal do termo, posto que aura,
em grego e em latim, designa apenas uma sensivel - poe-
tanto material, antes de se destacar seu sentido "psfquico" ou "espi-
ritual", raro em grego e quase inexistence em latimS2,
Cabera portanto denominar aura essa coisa sem contornos que
Michael Fried chamava urn "teatro" e reconhecia tao justamente na
arte minimalista, mas para experimenti-la como o elemento insupor-
uvel e anti-modernista desse genero de obras. Era de fa to insuporcl-
vel- notadamente em a uma leitura demasiado can6nica de
n CJ. A. Ernout c A. MdUct, DiaiotWJire ltymologique de Ia langue Ia tine,
op. cil., p. 59.
166 Georges Didi-Hubcrma.n
33. R. Morris, Sen titulo, 1968 1969. Vapor.
Co(tC$ja University of Washington at Bcllinglwn.
Walter Benjamin - que obras modernas pudessem nao se caracteri-
z.ar por urn dedfnio da aura, e que fomentassem antes algo como uma
nova forma auratica. Era exatameme a distthzcia crftica que Michael
Fried nao suportava nessas obras, quando ele evocava ao mesmo tempo
sua .. temporalidade de tempo passado e por vir, aproximando-se e
a{astando-se shnu/taneamente" e seu coroli rio fenomenol6gico, que
ele comparava a experiencia .. de ser disunciado ou invadido pela pre-
silendosa de uma outra pessoa"
53
E.xperiencia efetivamente invasora, esta de ser mantido a distaD
cia por UJD3 obra de arte- ou seja, mantido em respeito. Certamen-
te Michael Fried teve medo de lidar com novos objetos de culto (e esse
medo e compreensfvel). Ele admhia claramente no entanto- ia que
fa lava de teatro - que a presenfll em jogo niio era senao justamente
urn jogo, uma fabula, uma faclicidade como tal reivindicada. E que
essa temporalidade, essa memoria, nao cram arcaicas ou nostalgicas,
isto e, desenvolviam-se de maneira critica
54
Mas e necessatio com-
preender a de todos esses termos. 0 que e uma imagem
crltica? 0 que e uma nao-rcal?
Jl M. Fried, "Art and Objccthood", art. cit., pp. 17 e 26.
S4 R.cpetimos que nada disto constitui unu prerTogativa especifJCa do mi-
n.unalismo: dec apenas uma forma exemplar. A dupla distincia vuifica-se tanto
nos mais sutis descnbos murau de Soll..cWitt quanto nas esculwras de Richard
Serra; esti presente ern Judd, em Stella (nos quais a de disclnca foi
evocada por G. Inboden, "l..c !Umontage de !'image ou le regard seducteur des signes
vidcs. A propos de Frank Stella", CAbins du Musie National d'Art Moderne,
32, 1990, p. 33); esti presence em Smithson e em muitos outros. Eu mcsmo tentel
interToga-la a prop6sito de algumas obras mais recentes que nio estio fatalmente
ligadas 1 esfera minimallsta como tal: por exe.mplo no pin tor Christian BoMefol
du dJaphane", Artistes, n 24, 1984, pp. 106-111), numa obra de James
Turrdl (L'bomme qw marchalt dans Ia c:ouJeur, Artstudlo, n 16, prima vera 1990,
pp. 6-17} e em Pascal Convert (La demeure- Apparentement de !'artiste, I
Corrwrt.. (E.u
111
esde 1986 a 1992, Bordeaux, CAPC-Museed'Artc:ontemporam,
1992, pp. 12-J7).
168
Georges Didi-Huberman
A IMAGEM CRtnCA
0 que e uma imagem cririca? Ao reimroduzir, por certo
riamente, a fenomenologia da aura inclusive numa reputa-
da "tautol6gica" ou "especifica" da escultura contemporiinea, temei
propor a hip6tese mais geral de uma da experiencia aur3tica
em a qual a questao da enquanto rdacionada a um
credo, a uma ordem do di.scurso - nem sequer se colocaria, ja que
essa de experiencia nao faria senao revelar uma form2 ori-
giruiria da seosorialidade. Neste sentido, podemos dizer que o cubo
negro de Tony Smith, assim como a expansao vaporosa de Robert
Morris, desde urn Iugar suscetlvel de levar nosso "vet"
a urn sua pr6pria fenoiil'enologia:
Nesse sentido tambem, podemos dizer que uma tal experienda
- por rata que seja- consegue ulrrapassar o dilema da e da
tautologia: ultrapassar por baixo, de certo mOdo. -
Mas nao fizemos senao a metade do caminllo. Pois o movime.n
to, como iremos constatar, se completa tam hem "por cima". Ao apre-
sentar as obtas de Tony Smith e de Robert Morris como imagens dia-
/eticas, indiquei anrecipadamente que elas mesmas niio eram "fonnas
' elementarcs", por mais "simples" que fossem na aparencia, mas for-
mas complexas que faziam algo bern diferente que fomecer as condi-
de puras experienci.as sensoriais. Falat de imagcns dialetica.s e no
mfuimo uma ponte entre a dupla distincia do.s smtidos (os sen-
tidos sensoriais, o 6tico e o tatiJ, no caso) e a dos senttdos ( os sentidos
semi6ticos, com seus equCvocos, seus pr6prios). Ora, essa
ponte, ou essa nao e na imagem nem logicamente derivada,
nem ontologicamente secundiria, nem cronologicamente posterior: eb
e originiria, muito simplesmente - ela tam hem. Nao e depois, mas
desde o in!cio, seguramente, que o cubo de Tony Smith articulava sua
dupla distincia e sua obscuridade sensoriais com sua dupla distincia
e sua obscuridade significames: desde o infcio tinha Iugar o dcpois,
desde o inlcio a "noite" visual se produzia no elemento mcmorativo
0 Que Ventos., 0 Que Nos Olha 169
de uma "floresta de slm bolos". E a relac;ao dessas duas distincias ja
desdobrodas, a relac;ao dessas duas obscuridades constitui na imagem
-que nio e pura sensorialidade nem pura memorac;ao- exatamen
reo que devemos chamar sua aura.
Teriamos vontade de dizer, portanto, que a dupla distancia e aqui
originaria, e que a imagem e ortgi,umamente dialetica, critica. Mas e
preclso precaver-se de toda trivial quanto a essa "origem": s6
a nomeio assim porque ela e ja desdobrada, justamente, ou differante
1
56 a nomeio assim porque ela iotervem em Walter Benjamin a titulo de
cooceito ele proprio dialetico e critico.
.. A orzgem, em bora sendo uma categoria inteiramen
te hist6rica, nada tern a ver porbn com a genese das coisas.
A origem niio desz"gna o devir do que nasceu, mas sim o que
esta em via de nasur no devir e no dedfnio. A origem e um
turbilhao no rio do devir, e ela arrasta em seu ritmo a ma-
teria do que estd em via de apareur. A origem jamais se M
a conhecer na existencza nua, evidente, do fatual, e sua rit
mica niio pode ser percebida seniio numa dupla 6tica. Ela
pede para ser reconhecida, de um Ia do, como uma restau
rao, uma restituio, de outro lado como a/go que por isso
mesmo i rnacabado, sempre aberto. ( ... ) Em consequencia,
a origem niio emerge dos fatos constatados, mas diz respeito
a sua pri e p6s-hist6ria. 2
Desse texto, que mereceria por si so urn comentario extenso, po
demos reter aqui tres coisas pelo menos. Primeiramente, a origem niio
e um conuito, discursivo ou sintetico, a maneira como o considerava
urn 616sofo neokantiano como Hermann Cohen, por exemplo. Ela oao
e wna esuita categoria 16gica porque t um paradigma hist6rico, "in
teiramente hist6rico", insiste Benjamin, que parece ar tambbn sepa
s A difflrana e a 'origem' nio-plena, nio-simples, a origem esuuturada e
dlfflranre das Ponanto o nome 'origem' nio lhe convem rna is. J.
Denida, ta diff&ana:" (1968), Marga- De Ia pbilosoph/4, Patl.s. Minuit, 1972,
p. 12.
1 W. Benjamin, Origine du drame baroque alknuJnd (1928), trad. S. Mullet,
PariS, Flammarion, 1985, pp. 43-44.
170
George.a DldiHuberroan
de Heidegger3. Em segundo Iugar, a origem tzao e a cbs
cotsas, o que nos afasta tanto das filosofias arquetipais quamo de um.a
noc;iio positivista da historictdade; a origem niio e uma "fonteft, nao
tem poe tarefa nos contar "a genese das coisas" - o que alias seria
muico dificil -, nem suas condic;Oes eideticas supremas, embora eta
fora de toda evidente (sena absurdo, por exemplo,
afirmar que a expenencta nocurna de Tony Smath constitua como tal
a "origem" de sua escultura).
A entender clarameote Benjamin, compreendemos c:ntao que a
origem nao e nem uma ideia da razao abstrata, nem uma "foote da
r<1zao arquetipal. Nem ideia nem "foote"- mas "um no rio".
Longe da foote, bern mais proxima de n6s que unaginamos, na unanencia
do pr6prio devir-e por isso ela e dita pertencc:r a hist6ria, e nao mais
a metafisica -,a origem surge diante de nos como um sintoma. Ou seja,
uma especie de crltica que, por urn lado, perturba o curso
normal do rio (eis a{ seu aspecto de catistrofe, no sentido morfol6gico
do termo) e, por oucro lado, faz ressurgir corpos esquecidos pelo rio
ou pela geleira mais acima, corpos que ela "restitui", faz aparecer, to rna
visfveis de repente, mas momentaneamente: eis af seu aspecto de cho-
que e de formao, seu poder de morfogenese e de "novidade" sempre
inacabada, sempre aberta, como diz tao bern Walter Benjamin. E nesse
con junto de imagens "em via de nascer", Benjamin nao ve ainda seoao
ritmos e conflitos: ou seja, uma verdadeira dialetica em obra.
Assim devemos retomar ao motivo da imagem dialetica e a pro-
fundae aquilo sobre o qual a anaUse de Die nos havia deixado mais
acima
4
Precisamos doravante reconhecer esse movimento dialetico em
toda a sua dimensao "crftica ", isto e, ao mesmo tempo em sua dimen
sao de crise e de sintoma- como o rurbilhao que agita o curso do rio
- e em sua dimensao de anaUse critica, de reflexividade negativa, de
-como o turbilh3o que revela e acusa a estrutura, o leito
mesmo do rio. Assim teremos talvez uma chance de compreender me-
thoro que Benjamin queria dizer ao escrever que .. somente as imagens
dialeticas sao imagens autenticas", e por que, nesse senti do, uma ima-
gem autentica d:veria se apresentar como imagem crltica: uma ima
l Cf. R. Tiedemann, Etudes sur Ia philosopbie de Walur Bmiamin, op. c# ..,
pp. 7992.
4
Cf. supra, pp. 6_.-82.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 171
i
\
I
l
I
gem em crise, uma imagem que critiC:t a imagem- capaz portanto
de urn efeito, de uma eficacia te6ricos -, e por isso uma imagem que
cririca nossas maneiras de ve-la, na medida em que, ao nos olhar, eta
nos obriga a olhi-b verdadeiramente. E nos obriga a escrever esse
olhar, para "transcreve-lo", mas para constituilos.
Tentemos inicialmente precisar, por pouco que seja, a exigencia
dessa primeira imagem da origem dada ao mesmo tempo como ima-
gem da dialetica e como dialetica da imagem. 0 turbllhao no rio fun
ciona aqui como a alegoria de urn processo que faz simultaneamente
apn:ender uma estrurura e sua entrada em "esmdo de choque", se posso
dizer. Pensemos numa outra imagem produzida em Origem do dra-
ma barroro, a imagem de uma face aos corpos celestes que
e1a org:miz.a - mas sem sujeitalos, justamente, a urn conceito ou a
uma lei6- e que irnaginamos sofrer tambem, de tempo em tempo, as
catastrofes vulcinicas, as excepcionais, os choques me-
re6ricos, os big bangs nos quais a origem a cada vez se renova. A no-
de dialerica e assim dommada em Benjamin por uma ja
mais apaziguada do negati110- e pensamos na maneira como Georges
Bataille, na mesma epoca, "negarivizava .. igualmente sua leitura de
Hegel
7
Reconvoci-la, boje, exige que pensemos a estrutura com a
sintomal de seu processo legirimo; ou seja, que conserve-
mos preciosamente as do estruturalismo, criticando tudo
o que nele p&le terse prestado a uma idealista-geral-
mente neokanriana- da propria estruturas.
'lstopara lembruo arremateessencid,sobreoqual voltareia falar,dotexto
de Bcnjamm citado mais acima: E a linglu o Iugar onde poss{vel a proxima-las
(as iinagens di.aletica.s)- ". W. Benjamin, Paris, du XIX siede, op. cit., p. 479.
'/tL, op. cit.,p. 31: "Asidelasest:io para ascoisas
assimcomoasconstelacsparaosplancus. lstoquerdizuprimciramenteoseguinte:
elas nlo $lo nem scu coned to nem SU2 lei". Sobre a paw gem, em Benjamin, da
"ideia a origem e a cl. em particular R. 1iedcmann, tudes sur Ia
philosophie de Walter Bmjam{n, op. cit., pp. 7394, e sobrctudo B. Menke, Sprach
figuren. Allegorie, Bild nach Bmjamin, Muniquc, Ftnk, 1991, pp. 239393.
1
Sobre a dialctica bc:njammiana como "dia!Etica n.egativa, cf. S. Buck
Morss, The Orign of NegaJfve Dialetics: T. W. lldomo, W. Bmjamln and the Frank
{urt Jn.stituu, Hassocks (G.B.), The Harvester Press, 1977.
Para uma critica dessa idealista da forma e da esuututa no
campo da hlst6ria da arte, cl. Devant l'image. op. eit., pp. 153168 e 195-218.
172 Georges DidlHubc:nnan
H:i de fato uma estrutura em obra nas imagens dialerkas mas
ela nao produz formas bern formadas, est:i veis ou regulares! p;oduz
formas em transformac;Oc:s, ponamo efe1tos de perperuas
defonnafoes. No nlvel do sentido, eta produz ambigiiidade- "a am
e.a imagem visfvel da dJaletica.,. esc.revia Benjamin9 -, aqui
nao conceb1da como urn estado simplesmente mal determinado, mas
como uma verdadeira ritmicidade do choque. Uma fulgu
rante" que faz a beleza mesma da imagem e que the confere tambem
seu valor crftico, entendido doravante como valor de verdade que
Benjamin quer apreender nas obras de ane atraves de uma
surpreendente do motivo platonico, classico, do bdo como revelac;ao
do verdadeiro: certo, diz ele, "a verda dee urn conteudo do bdo. Mas
este nao aparece no desvelamento - e sim num processo que se po-
deria designar analogicameme como a incandescencia do inv6lucro ( ... ),
urn incendio da obra, no qual a forma aringe seu mais elevado grau
de luz"
10
E, nesse momento critico por excelencia-nucleo da du-
Jetica -, o choque aparececi primeiro como urn lapso ou como o
"inexprimivel" que ele nem sempre sera, mas que, no espac;o de um
instante, a ordem do discurso ao silencio da aura.
o inexprimfvel i aquela potencia crftica que pode,
nao certamente separar, no seio da arte, a fa/sa aparincia
do essencial, mas impedir pelo menos que se ronfundam.
Seek i dotado de tal poder, i por ser expressao de ordem
moraL Ele mani{esta a sublime vi'olencia do verdadeiro (die
erhabne Gewalt des Wahren). tal como a define, segundo
as leis do mundo moral, a /mguagem do mundo real. E ele
que quebra em toda bela aparencia o que ne/a sobrevive
como heranf4 do caos: a fa/sa totalidade, a enganadora-
'Otado e comentado por R. Tiedemann, t.rmies sur lD pbilosophk de WmUr
op. cit., pp. 124 125, assim como por C. Perret, Walter Bmjamin UI.U
destin, op. ciJ., pp. JJ2-117.
IO W. Benjamin, Origine du op. cit., p. 28. atravts dCSS3
que Benjamin definlri mais tude o "choquc enquanto principio poe.
tico da modemidade (sc:u valor de aura, deverfamos dizer) e julgari, por cxemplo,
uma arrlstka como a do surrealismo, em sc:u texto Lc: surtealismc, dern.ier
de !'intelligence euroJXelle (1929), trad. M. de Gandillac, CEMvrn, I.
Mythe d violenu, Paris, Dcnoa, 1971, pp. 297-JH).
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 173
a absoluta. S6 completa a obra o que primeiramettte a que-
bra, para fazer de/a uma obra em peda,os, '1m fragmento
do verdadelro mundo, o destrOfO de um simbolo (forso
eines Symbols) ... , ,
0 .. o torso, o corpo o fragmento cor-
poral - de urn sfmbolo sob o fogo da .. sublime violencia do verdadei-
ro": ba nessa figuro essencialmente .. critica" toda urn a filosofia do
do vestigio. Lembremo-nos da .. floresta de simbolos" que olhavam, de
modo estranho em bora famt1iar, o her6i baudelairiano citado mais acima
por Benjamin. Este ultimo desenvolvimento nos leva a modificar ou a
precisar a cerua: imaginamos doravante essa floresta com todos os ves-
tfgios de sua hist6ria, suas :irvores partidas, vestfgios de tempestades,
suas arvores moms invadidas por outraS que crescem ao
redor, suas :irvores calcinadas, vestigios de todos os raios e de todos os
incendios da bist6ria. Entao, a imagem dialetica torna-se a imagem
condensada- que nos p0e diante dela como diante de uma dupla dis-
clncia - de todas essas edosc>es e de todas essas desttuies.
Nao ha pomnto imagem dialetica sem urn trabalho critico da
memoria, confrontada a tudo o que resta como ao indicio de tudo o
que foi perdido12. Walter Benjamin compreendia a memoria nao como
a posse do rememorado- um ter, uma de coisas passadas -,
mas como uma sempre dialetica da das coisas
passadas a seu Iugar, ou seja, como a mesma de seu ter-
lugar. Decompondo a palavra alema da Erinnerung,
Benjamin dialetizava en tao a particula er- marca de um estado nas-
cente ou de uma chegada ao objerivo-com a ideia do inner, is toe, do
interior, do dentro profundo. Deduzia disso (demaneira mwto freudiana,
por sinal) uma da mem6ria como atividade de ar-
queol6gica, em que o Iugar dos objetos desc:obertos nos fala tanto quanto
os pr6prios objetos, e como a de exumar (ausgraben) alguma
coisa ou alguem ha muito enterrado na terra, posto em tumulo (Grab):
II Jd., Les 'Affinites electives' de Goethe" ( 1922-1925 ), trad. M. de Gandillac,
CE"Mvres,l, op. at., p. 234. Como se observa, a nlo E aqui muito predsa:
cia exprime a icl&a, nio a imagem produzida por Walter Benjamin - a do torso
antigo que emerge do campo de rulnas.
u E por isso, no Q)(U entender, a de aura nlo se op6e tio nitidamen
te quanto parece a de
174
Georges Didi-Huberman
"Ausgraben e Erinnern.- A lingua explicita este {a to:
que a mem6ria nao i um instrumento que serviria ao reco-
niJedmento do passado, mas que e antes o melo deste. Ela
e o meio do vivido, assmt como o solo i o meio no qual as
cidades antigas fazem sepu/tadas. Aquele que busca apro
ximar-se de seu pr6prio passado sepultado deve se compor
tar como um IJomem que faz escava,oes. Antes de tudo, que
ele nao se assuste de voltar sempre ao mesmo e tlmco teor
de coisa - que o espalhe como se espa/IJa a terra, que o
revire como se revira a te"a. Pois os teores de coisa sao stm
pies estratos que s6 revelam o prop6sito mesmo da escava
o ao prefO da pesquisa mais minuciosa. Jmagens que se
levantam, separadas de todos os /afOs anti'gos, como jow
nas camaras despojadas de nossa inteligincia tardia, como
torsos na galeria do colecionador. Durante as escavaes,
certamente e uti/ prouder segundo pianos; mas a pa pru
dente e tateante tambim e indispensavel no solo escuro. E
se engana completamente quem se contenta com o mve11
tario de suas descobertas sem ser capaz de indicar, no solo
atual, o Iugar e a posio onde esta conservado o antigo.
Pois as verdadeiras lembranfOS nao devem tanto explicar
o passado quanto descrever precisamente o Iugar onde opes
quisador tomou posse dele"
13
Nao e a pr6pria tarefa do historiador - o historiador da arte,
em particular-que essa pagirua parece alegorizar? Nao eo bistoria
dor, com efeito, aquele que exuma coisas passadas, obras mortas,
mundos desaparecidos? Mas ele nao az s6 isso, claro- ou melhor,
nao o fa2: "desse jeito" ... Pois o ato de desenterrar um torso modifica
a pr6pria terra, o solo sedimentado - nao neutro, tra:z.cndo em si a
bist6ria de sua pr6pria onde jaziam todos os vestigios.
0 ato memorativo em gerol, o ato hist6rico em particular, colocam
assim fundamentalmente uma questao critica, a quest3o da
entre o memorizado e seu Iugar de emergencia - o que nos obriga,
no exerdcio dessa mem6ria, a dialetizar ainda, a nos manter ainda no
.
13 I d., "Denkbilder", Schri{ten, ed. R. Tiedemann e tl Schwe-
ppenhjuscr, IV-1, Franldun. Suhrlcamp, 1972, pp. 4()().401, traduzido e comm
tado por C. Perret, Waltn- sans dntin, op. at.. PP 76-80.
0 Que Vcmos, 0 Que Nos OIM
175
elemento de uma dupla distancia. Porum lado, o objeto memorizado
se aproximou de n6s: pensamos ce-Jo "reencontrado", e podemos ma-
nipula-lo, fuze-to entrar numa de certo modo temo-lo na
mao. Por outro I ado, e claro que fomos obrigados, para "ter" o obje-
to, a virar pelo avesso o solo originario desse objeto, seu Iugar agora
aberto, vislvel, mas desfigurado pelo fato mesmo de p6r-se a desco-
berto: temos de fa to o objeto, o documento- mas seu contexto, seu
Iugar de existencia e de possibilidade, nao o temos como tal. Jamais o
tivemos, jamais 0 teremos. Somos portanto condenados as recorda-
encobridoras, ou entio a manter um olhar critico sobre nossas
pr6pri3s descobertas memorativas, nossos pr6prios objets trouves. E
a dirigir urn olhar talvez meJanc6lico sobre a espessura do solo- do
"meio- no qual esses objetos outrora existiram.
Isto nao quer dizer que a hist6ria seja imposslvel. Quer simples-
mente dizer que ela e anacronica. E a imagem dia/ltica seria a ima-
gem de memoria positivamente produzida a partir dessa ana
cronica, seria como que sua figura de presente reminiscente
14
Criti-
cando o que ela tern (o objeto memorizado como aces-
sivel), visando o processo mesmo da perda que produziu o que ela nao
tem (a hist6rica do proprio objeto), o pensamento dia-
letico apreendeci doravante o conflito mesmo do solo aberto e do
objeto exumado. Nem positivista ao objeto, nem nostalgia
metafisica do solo imemorial, o pensamento dialetico nao mais bus-
caci reproduzir o passado, represencl-lo: own Unico lance, o produ-
zira, emjtindo uma imagem como se emite um lance de dados. Uma
queda, um choque, uma arriscada, uma re
sulunte; uma "sfntese nao uutol6gica , como diz muito bem Rolf
TtedemannlS. Nao tautol6gica nem teleol6gica, vale acrescentar
16
1
4
Scg)lndo a cxpressio de P. Fcdida, "Passado anatronico e presentc re
miniscentc, .art. cit.
IS R. tudes s11r /.a phi/osophitdt W.alttr Benjamin, op. cit., p.
157.
I' lsto para evocar a ultrapusagem bt:njaminlana dos conteitos tanto de
"progresso como de "dedlmo. Cf. W. Benjamin, Paris, azpililft Ju XIX' sitdt,
op. ciL, pp. <476-4n, eM. LOwy, waller Benjamin critique dJl progrb: lla re-
cherche de I' experience perdue, W.alttr Btnj.amin et P.arls, ed. H. Wwnann, Pa
ris, Le Cerf, 1986, pp. 629-639.
176
Didl-Hubcnnan
Entao compreendemos que a tmagem dialetica- como concre-
nova, "crlnca" do passado e do presente, sinro-
ma da memoria- e exatamente aqutlo que produz a hlstoria. De uma
so vez, portanto, e/a se toma a origem:" A imagem dialetica e aquela
forma do objeto hist6rico que satisfa:z;, as exigencias de Goethe relacj.
vas ao objeto de uma analise: revelar uma slntese autentica. Esse e o
fenomeno originario da hist6ria"
17
Repitamos uma vez mais que essa
sfntese visa em nada a hegeliana do Espfrito. Po1s
a imagem dialetica s6 e sfntese na de imag:inar esta como um
CTistal- fragmento separado da rocba, mas absoluumenre
puro em sua estrutura- no qual brilha a "sublime violencia dover-
dadeiro". E por isso a imagem dialetica, aos olbos de Benjamin, s6
podia ser concebida como uma "imagem fulgurante"l8.
Mas de que exatamente procede tal imagem? Em que nlvel ela
opera? A ambigUidade, nesse ponto, parece pairar no texto de Benja-
min. Designa essa "imagem" um momento da historia (como proces-
so), ou uma categoria interpretativa da historia (como discurso)? Se
falarmos de hist6ria da arte, trabalha a imagem dialerica no elemento
do genitivo subjetivo ou no do genitivo objetivo marcado com a pre
"de"? A imagem dialetica sera a obra de Baudelaire, que cria
no seculo XIX um novo crista! poetico na beleza do qual- beleza
"estranha" e beleza "singular"- brilha a "sublime violencia do ver-
dadeiro "? Ou seci a hist6rica que deJa oferece Benjamin
no duplo feixe de sobre a cultura antes de Baudelaire e
sobre a modernidade inventada por ele? Assim como em a aura,
foi as vaes evocada uma do conceito, ou pelo menos sua
notavel no pensamento de Benjaminl9. Embora de fato a
17 W. Benjamin, P.aris, azpilillt Ju XIX' sit dt, op. cit., p. 491.
11
IJ., ibid., e ele continua; portanto como imagem ful)1faote no Agon
d.1 rccognoscibllidade pcedso reter o PrcrCrito. C. igualmentc pp. <487-488
(sobre o tdescopado pclo prescnt.e").
"Cf. R. Roclilia, "Walter Benjamin: unc duleaique de l 'imagc:, art. at.,
pp. 295296: "Encootram'sc em Benjamin pelo menos duas d.1 im2gem
diall!tica: uma, mais an riga, que a definecomoimagem dedesqoou de sonho, eoutna
que (az dela o prindpio heur!stico de wna nova manc:in de cscrever a hlst6ria, de
constiruir sua tcoria (".). A primc:ira sinu a tensio no pauado
findo: a pr6pria imagem aprcsenta uma do antiso e do novo, do
arcaico e do moderno; a modcrnidade de ada tpota animada de aonbos a.rca
.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 1n
de seu pensamento niio deva ser negligenciada numa
anilise extensivn de todas as ocorrencias em que intervem a expres-
siio "imagem dialeuca ",cum pre niio perder de VISta o elernento cons-
tante e obstinado desse pensamento- a saber, a inedita das
obras de arte com sua compreensao, tal como Benjamin nao cessou
de querer inventa-la ou reinventa-la.
A imagem dialetica, com sua essencial crltica, se toma-
ria entiio o ponto, o bern comum do artista e do historiador: Baude
laire inventa uma forma poerica que, exatamente enquanto imagem
dialetica - imagem de memoria e de critica ao mesmo tempo, ima-
gem de urna novidade radical que reinventa o originario- rransfor-
ma e inquieta duravelmente os campos discursivos circundantes; en-
quanto tal, essa forma parricipa da "sublime violencia do verdadei-
ro ", is toe, ttaz consigo efeitos te6ricos agudos, efeitos de conhecimefl-
ro20_ Reciprocamente, o conhecimento hist6rico sonhado ou pratica-
do por Benjamin (e como nao segui-lo? como n1io fazer nosso esse de-
sejo?) produz.ira tambem uma imagem dialenca na decisao fulguran-
te de "telescopar", como ele dizia, urn elemento do passado com urn
elemento do presente, a 6m de compreender a origem e o desrino das
formas inventadas por Baudelaire, com seus consecutivos efeitos de
conhecimento. Atraves do que o proprio historiador ten1 produzido
uma nova do discurso com a obra, uma nova forma de dis-
curso, tambem ela capaz de transformar e de inquietar duravelmente
os campos discwsivos circundantes.
As obras inventam formas novas; para responder a elas- e se a
quer de fato se mover no elemento do responso, da per
gunta devolvida, e nao no da tomada de posse, isto e, do poder -,
que ba de mais elegante, que ba de mais rigoroso que o discurso in
terpretativo inventar por sua vez novas formas, ou seja, a cada vez mo
cos. A scguncb, nuis inovadora, situa a tensao no prcsente do histotiador; a ima-
gem dial&aca e aquela imagem do passado que aura ouma fulgurante e
IIIStantinea como presente, de tal modo que esse passado s6 pode scr eompreendi-
do ocsse preseme preciso, nem antes nem depois; trata-se assim de uma possibllidade
hist6ricadoconhccimento". RalnerRochlitzanunciawnprolonpmen:rodess.uldeias
num ensaio a set publicado, Le dlsmchtmtmrtnt tkl'art. La philosophit tk Walter
Benjamin. Paris, Gallimard, 1992. De minha pane, voltarel adiante ao tema do sonho
(e do despenar) cvocado por essa primeira da imagem dlal&ica.
10 No scntido, eu diria, cb &Jcenntnls, nio da Wiss1ncha{t.
171 Georges Didi-Hubennan
di{iaJr as regras de sua propria de sua propria ordem discu.r-
siva? for, Benjamin nos deu o compreender a de ima-
gem dJaletJca como forma e de urn Ia do, como conhe-
cimento e crftica do conhecamento, de out.ro. Eta e portant.o comum
- segundo urn motivo um tonto nienscheano- ao artista e ao fil6-
sofo. Nao e mais uma coisa somente "menral", assim como nao de-
veria ser considerada como uma imagem simplesmente "reificada" num
poema ou num quadro. Ela mostra justameme o motor dialetico da
como conhecimento e do conhecimento como A
primeira sem o segundo correndo o risco de permanecer no nivel do
mito, eo segundo sem a primeira, de permanecer no nivel do discurso
sobre a coisa (positivista, por exemplo).
A imagem dialerica oferece assim, de maneira muito exata a
de uma possivel superao do dilema da e da
tologia. Voltamos aqui ao tema central que, a prop6sito do cubo de
Tony Smith, havia exigido introduzir a be.njaminiarua: a saber,
o reconhecimento do fato de que mito e modemidade (notadamente
a modernidade tecnica) consrituem nosso mundo, do seculo XlX aos
dJas de hoje, como as duas faces da mesma moeda. "Somente um ob-
servador superficial pode negar que haj a correspondencias entre o
mundo da tecnica eo mundo arcaico dos sfmbolos da
Ultrapassar essa alienante- que nao deixa de ter
hoje mais que nunca, com o "fetichismo da mercadoria" ha muito de-
nunciado por Karl Marx2l-e inventar novas configuraes di.aliticas
capazes, nao apenas de urn poder da dupla distancia, mas tambem de
uma eficacia da dupla crftiaJ dirigida a cada face da moeda em ques-
tiio {que, diga-se de passagem, se reduz seguidamente a questOes de
moeda em sentido estrito ... ).
A imagem diatetica seria assim uma figura da Aufhebung- ne-
1
1 Sobre a imagem du.Utica dialetia do conhecttne11to, cL R. Tie-
demann, 'tbttks SliT Ia pbi/OS()phit tk Walter Benjamin, op. cit., pp. JS6-1S7.
11
W. Benjamin, Paris, azpitale du XIX siedt, op. cit., p. 478.
13
C. K. Marx, Le Capital (1867), tra.d.. J. Roy revista porK. Mux. Pans.
&litions sociales, 19SJ, I, pp. 83-94. Cf. igu.almcnte o capftulo ded.icado a
em L Althusser e E. Bali bar, Ure k Capital, Paris, Maspero, 1968. D, pp.
1S2-177.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 119
f
I
gayio e superayiio ao mesmo tempo24. Mas uma figura nio teleol6gi-
ca da Au{hebu11g, uma figura simplesmente {ulgurante e a11acrcmica
da see verdade que niio hii um "sistema" fmalizado
d:1 novidade tal como Benjamin o entendia. Uma "sintese niio tau-
tol6giCl ",que niio to rna a se fechar em nenhuma auto-legitimayio ou
certeza de si, sec verda de que a imagem dialetica pennanece, aos olhos
de Benjamin tam bern, a berra e mquieta. Ou seja, sempre em movimen-
to, sempre tendendo para o in-finito, aquele "sem fim" (unt nd/iche)
do qual Freud, em 1937, faria a assint6tica de toda anilise
e de todo conhecimento metapsicol6gico entcndidos radicalmcntelS.
Conside.remos alegoriClmcnte que o jogo infantil poderia ja ofe-
recer uma figura d:1 dialetica na espantada, ritmi-
ca, de uma configuracional que se experimenta no prO-
prio vazio de uma descoberta dos meios da palavra, quando a crianya
:linda nao predsa cru em seja Ia o que for (o que nao impede seu jogo
de ser inquieto pela ausencia materna, no exemplo evocado rna is aci-
ma )26. Consideremos igualmente a fonna artistica como essa imagem
dialetica por excelencia, quando eta constr6i sua novidade configu-
racional na ulrrapassagcm- inquieta, a berra, ultrapassagem que vol-
tarei a abordar num instance- da crenya e da tautologla. Considere-
mos enfim o desrino texrual da imagem dialetica em algo que, tendo
Benjamin (mas tambem seus contemporaneos Bataille, Leiris ou Carl
Einstein), eu gostaria de chamar uma gaia ciincia, quando ele constr6i
sua pr6pria novidade configuracional numa pratica - por
aberta e inquieta com seus fundamentos- em que o escrever abre uma
passagem para superar tanto o fechamento do ver quanto o do crer.
14 C. M. Pezzella, "lm2ge mythique et image dialectique, Walur Ben/ll
mm n P11ris, op. cit., pp. 517-538 (em patticular p. 519: "Um logos pobre. que
nio sai da de sua.s catcgorias e da identidade consigo mesmo - e o u
ca1smo nosUJgico das origens mitias: sao os dois exuemos de unu polaridade des
uutiva. A imagem dial&ica gostaria de escapar a essa altemaciva").
lS S. Freud, "L'analyse avec fm et l'analY.se sans fin" (1937), trad. coletiva,
Rhultilts, idles, problbnes, II, 1921-1938, Pari$, PUF, 1985, pp. 231-268.
u t evidence que essa dada como "ales6rica", nio aprescnta
nenhum de metapsicol6glca no sentido Qlrho. Para um.esbo-
dessa remeto is bebs paginas de J .-B. Ponca Us, "Sc fier A". sans crolre
en ... (1978), Perdre de IIUe, Pari$, Gallimard, 1988, pp. 109-1:21 (e, de manc:ira
mals geral, pp. 107 189).
180
Georges DldiHuberman
\
..
Compreende-se melhor, entiio, por que o historiador da arte pode
ainda seguir Benjamin quando este afirmava que "a lfngua eo Iugar
onde c possivel encontrar" as 1magens o que tambem quc:r
dizer: explici-las, produzir novas. A questiio, aqui, nao e mais a de um
primado da linguagem sobre a imagem - questao sempitema e mal
colocada, da qual Aby Warburg hii muito enunciou a insuficiencia
te6rica e a ultrapassagem nurna "iconologia" bern compreendida, isto
e, antropologicamente compreendida
27
A questao e ada historicida-
de mesma, ou seja, de sua apesar de e com seu anaao-
nismo fundamental. Assim, a fulgurancia do jogo infantil entra na his-
t6ria do sujeito porque se afigura por a11tecipao num jogo de lin-
guagem, mesmo que a nao domine ainda sua J(ogua materna;
assim, a fulgurancia da forma artfstica entra na hist6ria porque se
afigura em retardamento na compreensao Linguageira do fi16sofo. "Nos
dominios que nos ocupam, escrcvia Benjamin, nao hi conhecimento
a nao ser fulgurante. 0 texto eo trovao que fuz ouvir scu bmmido Iongo
tempo depois"28. Numa outra passagem que rcformula a definiyio da
imagem dialetica, Benjamin prccisa esse entrelayamento da forma pro-
duzida eda forrna compreendida, ou seja, "lida" (nio decifrada como
tal, mas retrabalhada na escrita), uma forma compreendida numa es-
crita cla mesma "imag&ica" (bildlich) - portadora c produtora de
imagens, portadora e produtora de hist6ria:
"'A marca historica das imagens (der historische Index
der Bilder) nao indica apenas que elas pertencem a uma
epoca determinada, indica sobretudo que tlas s6 chegam a
legibilidade (Le:sbarkeit) numa epoca detenninada. E o fato
de chegar a legibilidade' representa certamente um ponto
27 C. por exemplo esra passagem do anigo famoso de A. Warburg. "L'att
du poruaic et b bourgeoisie florentine" (1902), trad. S. Muller, Essllis flortlllins.,
Pari$, Kliocksieclc, 1990, p. 106: nio nos deixou apen.as os retntos de
personagc:ns monos hi muito tempo, em quantidade illig\Wada e com uma vida
imprcssionante; as vous dos defuntos ressoam ainda em cencc:nas de
de arquivos dccifrados, e em nulhares de outros que ainda nio o foram; a
do historiadorpode rcstiruiro ombrcdessas vous w udtvc:is,se de niorccuardiance
(die fltltilrliche ZusmnmengtbOriglr.tit von Wort und Bild) modifiada).
ll W. Benjamin, P11ris, CllPittlle du XIX sitdt, op. cit., p. 473.
0 Que Vc:mos, 0 Que Nos Olha
181
critico deurminado (em bestimmter kmischer Punkt) 110
movimento que as anima. Cada presentee determinado pe-
las imagens que sao slncronas com ele; cada Agora I o Agora
de uma recognoscibilidade (Erkennbarkeit) detemzinada.
Com e/e, a verdade i carregada de tempo ate explodir. (Essa
explosao, e nada mais, e a morte da intentio, que coincide
como nascimento do verdadeiro tempo hist6rlco, do tempo
da verdade.) Nao cabe dizer que o passado ilumina o presm
te ou o presente ilumina o passado. Uma imagem, ao contra
rio, i aquilo no qual o Pretbito en contra o Agora num re
tampa go para formar uma constelao. Em outras palavras:
a imagem i a dialitica em suspensiJo (Bild ist die Dialektik
im Stillstand). Pois, enquanto a relao do presente com o
passado e puramente temporal, a relao do Pretlrito com
o Agora e dialitica: nao i de natureza temporal, mas de
natureza imagitica (bildlich). Somente as imagens dialiticas
sao imagens autenticamente hist6ricas, isto i, niio arcaicas.
A imagem que i /ida- quero dizer, a imagem no Agora da
recognoscibilidade - traz no mais alto grau a marca do
momento critico, perigoso (den Stempel des kritischen, ge-
fahrlichcn Moments), que subjaz a toda leitura
29
E evidente que essa de "legibilidade'" (Lesbarkeit), extre-
mamente original, opOe-se de antem.ao a toda compreensao vulgar ou
neopositivista do "legiveJ que se pretendesse capaz de reduzir a ima
gem a seus "temas", a seus .. conceitos" ou a seus "esquemas'". A legi
bilidade benjaminiana deve ser compreendida como wn momento es
sencial da imagem mesma - que da nao reduz, posto que dela pro
cede-, e nao como sua explica'jio, por exemplo sua ico-
nol6gica entendida no sentido de Panofsky3. Nao que
wid., PP 479-480.
30 Para w:na cririca d.a Jegibilidade pano&kiana, pcnnlto-me de novo re-
meter a Dewntl'image, op. dL, pp. 145-168. Um rccente estudo, alnda sobre
as rela'fOes- anugonicas-de Benjamin e de Panofsky, centra do em suas respcc-
tivas abordagens da Mtlmuolia de DU.rer, esclarece muito bem essa questio diver-
gcnte de Jcsibilidade diante d.a imagem. Cl. C. Coquio, Benjamin ct Panofsky
devaot l'image, a set publiado. A qucstlo j havia sldo abordada por C.lmbert,
Le pmcnt ct l'histoire, V111lter Ben/lllnin et P11ris, op. cit., pp. 761768.
182
Georges Didi-Hubennan
toda essa e desc.rita por Benjamin com a palavra diaUtica, que
nos fala de dilaceramemo, de distancia, mas tambem de passagem ou
de processao (eis af ues essenciais da particula grega duz),
assim como com a palavra crftica, que por sua vez ins1ste na
de toda com um processo de abertura, de
(como exprime o verbo grego krineln).
Mas tememos aqui ser urn pouco mais precisos. Que a Jegibilidade
da imagem dialetica seja considerada como wn momento da dialeuca
da imagem, isto signjfica pelo menos duas coisas. De urn !ado, a imagem
dialetica produz ela mesma uma leitura critica de seu proprio presence,
na que ela produz com seu Preterito (que nao e portanto
simplesmcnte sua "fonte" temporal, sua esfera de .. influencia h.ist6rica).
, Produz uma leitura critica, portanto um efeito de "recognoscibilidade"
(Erkennbarkeit), em seu movimento de choque, no qual Benjamin via
"a verdade carregada de tempo ate explodir". Mas essa leitura, por
que explosiva, portanto fa.scinante, permanoce ela mesma ilcgfvd e "inex-
primivel" enquanto nao se confrontar com seu pr6prio destino, sob a
figura de wna outra modalidade hist6rica que a colocar:i como difertnfll.
Assim, a fenomenologia dos volumes negros de Tony Smith ter:i
produzido wn efeito critico na hist6ria modema da esculrura ameri-
cana31. Mas, por "especifica" que fosse enquanto objeto de visuali-
dade, tera assumido como que previamente, alusivamente, os e!eitos
de llnguagem e de "recognoscibilidade" que sua critica devia supor pos-
terionnente: os raros escritos de Tony Smith nao sao de manelra al-
gwna tentativas de uma legitimaljio hist6rica ou uma lei tum
iconol6gica das esculturas mesmas; suas processuais mul-
to simples, seus marcados apelos ao Preterito- os megalitos, os tem-
plos egipcios, Her6doto - nao estio af para clarificar "influencias"
ou "fontes" estillsticas, mas para indicar, sem explicica-la como caJ, a
conflagrao temporal em obra, ainda iJegivel. Assim 0 artista se con-
tentava em antecipar sutilmente, modestamente, o possfvel "olh3r
critico" de seu proprio gesto critico. Assim- sutilmente, modesumen-
te- fazia entrar a lingua no tempo da imagem3
2
Jl Ainda que uma bistoria prccisa desse efdto critico nio tcnha 5ido, pclo
mcnos em meu conhecimento, levada a cabo.
l1 Situa'jio cstranha e fafg; os anistas com fmtUCnci.a sio criticados poe scus
contemporineos por escrevemn acerca de sua obra , e isto em oome de uma ick.ll
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
t SJ
Por outro Ia do, a critica da imagem produz aimla uma imagem
dialitica-em todo caso seria esta sua tarefa rna is justa. 0 crftico de
arte, com efeito, se adu diante de seu pr6prio vOC3bulario como diame
de urn problema de faiscas a produzir de palavra a palavra, friccio-
nando, por assLm dizer, palavras com palavras. Como encontrar, como
produzir com palavras a que, na imagem, nos olha? Esse
e exatamente o problema- que Benjamin figurava praticamente como
urn problema de escultura, de baixorelevo ou de gravura, como urn
problema de suporte martelado: "Enconrrar palavras para o que se tem
&ante dos olhos, como isso pode ser djffciJ. Mas, quando vern, elas
batem o real com pequenas marteladas ate que nele tenham gravado
a imagem como numa chapa de cobre"JJ.
Nem nem vontade de fechar urn sistema conceitual-
mas seu constante desenvolvimento, seu constante dilaceramento pelo
friccionar aporerico, fulgurante, de palavras capaz.es de prolongar de
certo modo a dialerica (a crise, a crftica) em obra na imagem. Tal se
ria a tarefa do historiador-fi16sofo, tal seria sua maneira de articular
o presence e a hist6ria "numa mem6ria e numa advertencia sempre re
Tal seria, tambem, seu trabalho sempre
com as palavras e seu poder de originalidade- no senti do radical que
deve ter aqui esse termo, que diz tanto a origem como a novidade, a
origem como novidadelS. Isso exige, muito explicitamente em Benja
min, afastar e ulrrapassar a forma religiosa da que e a
exegese no sentido rraclicional; exige tambem afastar e ulrrapassar a
sufiococla do esulo que legit:imaria em silenclo a obra em questlo; por ouuo lado,
os escritos de artistas se tomam progressivamente o objeto de tao 53
craliz.adas quanto esquecldas das formais da pr6pria obra (E o caso de
CEunne, por exemplo). Num caso, re)eitamse as palavtas quando sao portado-
ras de incontesclveJs efeitoS de recognoscibilidade; no outto, apela-se b pala
vras para que subjuguem todo efeito de Jegibilidade. esquecer, em ambos os
casos, que a das palavras com as imagens E sempre dlalttica, sempre in
quieta, sempre aberta, em suma: sem so/uo.
ll W. Benjamin, unique, op. dl., p. 317.
:H C. lmbert, "Le pr&cnt et l'hlstoire, art. cit., p. 792.
JS Cf. G. Agamben, Langue et histoire. CatEgories hlstoriques et catEgories
linguistiques dans Ia pens de Benjamin", Wolter Benjomm et Paris, op. cit. , pp.
793807.
184 Georges DidiHuberman
,
forma filos6fica canonica na qual a atividade cr{tica pOde facilmeme
se identific.ar, a saber, a forma neokantiana da
Sabemos que a forma por excelencia na qual Benjaman via a pos-
sibilidade de produzir imagens dialeticas como instrumentos de conhe-
cimento sera a forma alegorica, particularmeme considerada sob o
angulo de seu valor crftico (por com o simbolo) e .. desfi-
gurativo" (por com a representac;.ao mimerica)37. Sabemos
tambem a dupla dimensao de pathos em que a alegoria era constance-
mente mamida por Benjamin: de urn lado, uma especie de melllncolia
que correspondia, segundo suas pr6prias palavras, a fatal
de um elemento de perda no exercicio do olhar; a alegoria tornavase
entao um signo de luto, urn signo do luto dos signos, wn luto feiro signo
ou monumento. De outro lado, uma esp&ie de ironia vinha "subsri-
tuir", realizar e ultrapassar ao mesmo tempo- como em Kafk.a -,
esse sentimento da perda: .. A da forma da e
de certo modo a tempestade que levanta (aufheben) a cortina diante
da ordem transcendental da ane, desvelandoa ao mesmo tempo que
desvela a obra que permanece imediatamente nela como misterio"38.
Em surna, a ironia crftica tambem ai se op()e, ponto por ponto,
a atitude metafisica ou religiosa que pretenderia 0 desvelamento puro
e simples, ou emao a defmiriva. Aqui, a cortina se levanta,
como agitada por urn vento violento, para torna.r a cair em seguida
na do misterio em obra, da obra como misterio. E quando
Benjamin nos diz alhures que "a corrina se inflama", ele nio nos diz,
seguramente, que se possa ver algo atem da violencia das chamas que
36 Por toda parte Benjamin se confronta com Kant, cuja leitura- em pani
cular sobre a 61osofia da hist6ria-nao cessa de decepclonalo". Ci. sobrerudo
seu Programme de 14 philosophic qui vlcnt" (1918), uad. de M. de Gandlllac,
CEuvres, I, op. cit. , pp. 99 J 14 ).
l7 Para Benjamin, com e "a du cois4s que as tra.nsfor
rna em algo de aleg6rico ... W. Benjamin, "Zentralpark, art. ciJ., p. 2:1.7. Sobrc:
essa imensa questio da alegoria, rcmcto a5 passagcns cilebres da OrigiM dM tiTQiftC
baroque, op. ciJ., pp. 171-124, bem como aos euudos de M.C. DufourEl M.alc:b,
Angelus Novus. Essoi sur l'auvre tie Wolter Benjams"n, Brwcdu, Ousia, 1989, pp.
207-230, e sobrctudo de B. Mcnclce, Sprochfigurm, op. cit., pp. 161238.
.u W. Benjamin, u concept de critique estbitique dans It 11lle
manti (1920), uad. P. Lac:oue-Labarthe c A.M. Lang, Paris, Flammarion, 1986,
p. 133.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
1
l
'
antepondo-se a "coisa mesma " ... A ironia ira se opor tam
bern a atitude dnica ou tautologica - "nao ha misterio ou, se hou
ver, nao me interessa" -, ja que nos deixa face ao misterio como face
3 interminavel questio, a interminavel coisa perdida da qual nos res-
ta rir como riso escritor, aquele que sabe jogar e perder, ganhando
apenas- modestamente- algumas constela.;oes de palavras ... "Sao
dnzas, rimo-nos delas", dizia Benjamin3
9
Mas essas cinzas sao a in
da alguma coisa, sao formas, poemas, hisr6rias. Elas se lembram ain-
da das chamas de onde nasceram, das quais restam .. Nessas cinzas ha
portanto aquele teor de verdade do qual Benjamin, num texto celebre,
fazia 0 prop6sito- epistemico, estetico, etico-de toda critica con-
tciria ao simples comentario do "teor de coisa ":
Numa obra de arte, o critico busca o teor de verdade
(W ahrheicsgehalt), o com entad oro teor de coisa (Sachgehalt).
0 que determina a refao entre OS dois e esta lei fundamental
de toda escrita: a medida que o teor de verdade de uma obra
ad.quire mais significao, sua ligao com o teor de coisa se
to rna menos aparente e mais interior. ( ) Entao, somente ele
[o historiador, o fil6sofo) pode colocar a questao crltica fun
damental: a aparenda do teor de verdade se prende ao teor
de coisa, ou a vida do teor de coisa se prende ao teor de ver
dade? Pois, ao se dissociarem na obra, eles decidem sobre sua
imortalidade. Neste sentido, a Mst6ria das obras prepara sua
critka e aumenta assim a distanda hist6rica de seu poder. Se
compararmos a obra a fogueira, 0 comentador esta diante
de/a como o qufmico, o crltico como o alquimista. Enquan-
to para aquele madeira e cinzas sao os unicos objetos de sua
analise, para este apenas a chama e um enigma, 0 enigma do
vivo. Assim o critico se interroga sobre a verdade, cuja cha-
ma viva continua a arder por cima das pesadas lenhas do
passado e da cinza ligeira do vivido-40.
Compreende-se ent3o que ironia e melancolla, nesse projeto .. epis-
temo-critico, designam urn prop6sito muito ambicioso, mesmo que
186
l' Id., Carta a H. Belmore (1916), Correspond4nu, op. cit., I, p. 122.
40 Id., Les 'Afinites electives' de Goethe, art. cit., pp. 161-162.
Georges DidiHuberman
inclua um semido agudo da perda, isro e, de seu proprro limite. Eo
prop6sito outrora expresso por Goethe e predsamente citado por fkra-
jamin em exergo de seu "prefacio epistemo-crftico", na Origem do
drama ba"oco: "Devemos necessariamente pensar a ciencia como uma
ane, se quisermos poder contar com uma maneira qualquer de totali-
dade. E nao e no universal, no excesso, que devemos busci-la; ji que
a ane se exprime sempre por inteiro em cada obra singular, tambem
a ciencia deveria se mostrar por inteiro em cada um de seus objetos
panic4lares"
41
Tentemos pensar essa palavra de ordem- "a cien-
cia como uma ane.,- com toda a riqueza e arnbigiiidade, isto e, com
toda a dialetica da conjun.;iio como, tal como nos descre
vern os dicionarios: como exprime a compara.;iio, mas tambem a adi
e a complementaridade; como exprime a maneira, mas tambem a
qualidade propria. Como, nessa expressiio, nos dira um modo de mi-
metismo- ela exige portanto que a obra criticada exer.;a ela mesma
a de critica, e que o crftico da obra fa.;a ele mesmo obra -,
nos dira tambem urn modo de transformao: pois hi onde a obra se
transforma em outras, tambem a critica devera se transformar em
outras (outras crfticas, e mesmo outras obras).
Benjamin pedia portanto a hist6ria (po.r exemplo a hist6ria da ane
no sentido do genitivo objetivo: o discurso hist6rico sobre os objetos
deane) para transformar a hist6ria (notadameme a hist6ria da ane no
sentido do genitivo subjetivo: a dos pr6prios objeto.s de acre),
como num verdadeiro dialogo critico entre uma e outra, e niio num
rebatimento totalitario de urna sobre a outra (rebatimemo que define
a acadernica como tal). Urn dialogo critico em que cada pane
seria capaz de p0r em questao e de modificar a outra, modificando a si
mesma. Existe ai uma epistemica concedida as imagens, tanto
quanto uma confian.;a formal e criadora concedida as palavras. Note-
mos de passagem que esse poder singular concedido as palavras da his:-
t6ria- embora melanc6lica e ironicamente, isto e, autoironicunente
manifestado, repito -, esse poder funciona aqui como uma
profana, como a versao desviada de urn morivo fundamental do i udafs-
mo, ao qual Benjamin se mostrava tao atento. Pe.nso, para ilustra-lo,
naquela lenda hassfdica que nos apresenta Baal Shem-Tov parrindo pa.r.l
41 J.W. von Goethe, "Noce pour l'hi$tolre de b. theroie des cita
do por W. Benjamin, du drame baroque, op. cit., p. 23.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
l S7
J _ _.
uma certa floresta quando uma amea,a pairava sobre os seus. Ele ca
miohava nessa floresra ate uma certa arvore, acendia um fogo dianre
dela e pronunciava urn a certa Urn a rna is tarde, o Maguid
de Mezeritch, confrontado as mesmas ia tambem a floresta
-mas nao sabia para qual arvore se dirigir. Entao acendia urn fogo
ao acaso, pronundando a prece, "eo milagre se produzia ",como diz
a Ieoda. Uma gera(JaO mais tarde, Moshe-Leib de Sassov teve que cum-
p.rir essa mesma tarefa. Mas os cossacos haviam queimado a floresta;
entio ele permanecia em casa, acendia uma vela, pronundava a prece.
Eo milagre se produzia. Bern mais tarde, um fil6sofo ironico e melan
c6lico-imaginamos o proprio Benjamin-nao acendia mais uma vela
nem pronunclava mais a prece, e daro, consciente de que a prece s6 se
dirige a ausencia e de que o milagre nao ia acontecer. Entao ele conta-
va a hist6ria. Unico signo, daqu.i por diame, de uma transforma(Jao
posslvel dessa bist6ria mesma: seu relato crftico e dialetico
42
Uma Ultima maneira de qualificar a imagem critica em Benjamin
tera sido 0 recurso a alegoria do despertar. Com e.feito, e a palavra
"despertar" {Erwachen), isolada, que encerra laconicamente a deini-
(J3o da imagem dialenca dtada mais acima
4
3. Por que essa alegoria e
tao importante, quase obsessiva, em todas as paginas te6ricas e meto-
dol6gicas do Uvro das passagens? Porque ela mesma se da como uma
imagem dialetica, tomando-se de certo modo "a imagem dialetica da
imagem dialetica " ... Por urn !ado - e esta seria a tese -, a no(J3o de
despenar evoca o chama do da razao, que Benjamin tomava diretamen-
te do materialismo bist6rico e da formula(J3o de Karl Marx: "A reforma
da consdencia consiste apenas em despertar (aufweckt) o mundo ... do
sonbo que ele faz consigo mesmo"44. lsto significa exatamente, nos
.
4l Improvisei cssa versao de uma Ieoda relatada no Uvro de E. Wiesel, Cl
Ubration hassidiqru, Paris, Seuil, 1972. p. 173. E1e a comenta assim: "Nlo mais
$Uficiente contar a bist6ria. A prova: a nao foi afastada. Talvez nio saib3
mos mais conw a bist6ria? Serbmos todos Mesmo os sobreviventes? Os
sobr.eviventes sobretudo?" _ Uma outra lenda- ii que o destino delas decli
nadas em ven3es que as modifiqucm cltada no belo filme de Chantal Ackc:nnan,
Histo1res d'Amirique, filme essencialmenre produtor de "imagem
4J W. Benjamin, Paris, capitate du XIX' op. cit., p. 479 (d. supra, P
80).
44 K. Marx, Carta a Ruge, 1843, citado por W. Benjamin, ibid., P 473.
188
Georges DldlHubennan
termos de Benjamin, que a dimensao da hlst6ria deve ser aquilo ntes
mo que pode dissolver nossas mitologias
4
S. Dessas mitologias, desses
ela fomecera portanto a critica, dissodando-se asslm de todo
elemento de noS'talgta .. ' dOs 3rquetipos.
- - Ntas-essa tese e acompanhada da antitese que 3 inquieta e a fun-
damenta num ce.rto senrido. Pois nao ba despertar sem o sonho do qual
despertamos. 0 sonho no momento do despertar toma-se entao como
o "refugo" da atividade conscience, esse refugo insistente do qual Ben
jamin nao ignorava que fora convertido por Freud no elemento cen-
tral de sua Traumdeutung. Tanto para Benjamin como para Freud, o
despertar enquanto esquecimemo do sonho nao deve ser concebido
como pura negatividade ou priva,ao: tan\O e verdade que o pr6prio
esquecimento deixa seus tra(JOS, como "restos notumos" que conrinua-
rao trabalhando- infletindo, transformando, "figurando .. -a pr6
pria vida conscieme.
Enrao, a nO(Jao de despenar [reveiij sintetiza, de maneira fnigil
mas fulgurante, o chamado [eveiij eo sonho [reve): urn "dissolvendo"
o outro, o segundo insistindo como "refugo" na evidencia do primei-
ro. Tal e portanto a fun(J3o da imagem dialetica, a de manter uma
ambigiiidade- forma da "dialetica em suspensao"- que inquieta-
ra 0 chamado e exigira da razao 0 de uma auto-ultrapassagem,
de uma auto-ironia. Maneira de apelar, na pr6pria raz.iio, a uma me-
moria de seus "monstros", sese pode dizer. Para alem da
marxiana - que de modo nenhum se trara de inverter, mas sim de
ultrapassar, portanto de manter em sua exigenda crftica -,a imagem
dialetica como "despenar" nos propoe urn prop6sito de conhecimen-
segundo o qual a hist6ria deve ser a.qui/o mesmo que p_ode pen-
4
S E nisto, que Benjamin se d.issociava explicitamcnte do "metodo"
da tendenci.a deste trabalho em a Aragon: enqiWl
to Aragon persiste em pennanecer no domfnio do sonho, importa a qui enconrru
a do despe.rtar. Enquanto um elcmento impresslonlsta - a
gia'- permanece em Aragon, e esse impressionlsmo deve ser considerado como
responsavel por numerosos filosofcmas informes do livro, trara-se aqu.i de
vera 'mitologia' no da hist6ria lgeht es bier wn Au{loSWJg der 'M:ythologit'
in dm Geschichtsrasm1). E verda de que isso s6 pode ser felto pdo desperra.r de um
saber ruio ainda conscienre do passado". /d., ibid., p. 474.
"'"0 Agora da recognoscibiUdade e 0 inscantc: do despemr.- " /d.., ibid., p.
sos.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
189
,(
--
sar toda mitologia. Pensar nossas mitologias, pensar nossos arcafsmos,
ou seja, niio mais temer convoc:i-los, trabalhando de maneira crftica
e .. imagerica" (btldlich) sobre os signos de seu esquecimento, de seu
dectrnio, de su:ts ressurgencias. Maneira estritamente memorativa,
portanto, de trabalhar sobre vestfgios, sobre signos de A
imagem dialerica se oferece assim, paradoxalmente, como a memoria
de um esquecimento reivindicado, e permite a Benjamin concluir pela
atl3logia de toda disciplina autenticamente hist6rica com uma Traum-
deutung, uma de ripo freudiano: tanto e verdade que a
psicaruilise eocontraci, nao nos sonhos propri3mente, mas na voca-
destes ao esquecimento (e sua em narrativa), toda a
sua .. a interpretar"47.
A ap/orao dos elementos no momento do
despertar i o paradigma do dialitica. E/a i um exemp/o para
o pensador e uma necessidade para o historiador. ( ... ) Assim
como Proust comefO a bistoria de sua vida pelo despertar,
cado apresentao do hist6ria deve comefOr pelo despertar,
nao deve mesmo tratar de nenhuma outra coisa. ( ... ) Seria o
despertar a sfntese do consciencia do sonho e do antftese da
consciencia desperta? 0 momenta do despertar seria identi
co ao Agora do recognoscibilidade no qual as coisas adqui-
rem seu verdodeiro rosto, seu rosto surrealista. Assim Proust
d4 uma import4ncia particular ao engajamento do vida in-
teira ao ponto de ruptura, no mais alto grau dialetico, da vida,
ou se;a, ao despertar. Proust comefO por uma apresentao
do proprio aquele que desperta. ( .. ) Na imagem dia-
litica, o Prethito de uma ipoca e a cada vez,
ao mesmo tmrpo, o Pretirito de sempre. Mas ele s6 potk
47
Usc e wn dos temas COOSQllteS do pensamemo metapsicol6gico de Pierre
Fedula, especialmente em "L.t sollicitation 1 interpr&er, L'tait du temps, n 4,
1983, pp. S-19. Cf. JgUalmente, do mesmo, o livro rccente Criu It COIIll'#-transfert,
Paris, PUF, 1992, pp. 37-66 ("0 sonho nao fala, ele afbleo, e no entanto ele
que a bee a fala na linguagem e que oiiVir recebe poder de lnterprew ou de
nomear, p. 37) c 111144. E foi dialogando com esse pcnsamcnto que eu havia
tcntado inuoduzir, para a das imagens ch ane, o paradigma do despcnar
e do esquecimcnto do 50nho - doravantc rccncontrado nas magnifica p'ginas
de Benjamin. Cf. De11ant /'Image, op. cit., pp. 115195.
190 Georges DldiHuberman
se reve/ar como tal numa ipoca bem aquela em
que a humanidade, esfregando os olhos, percebe precisamente
como tal essa tmagem de sonho. E nesse mstante que o his
toriador assume, para essa tmagem, a tarefa do interpreta
o dos sonhos (dir Aufgane der Traumdeutung) -48.
Foi preciso portanto que Benjamm recorresse a rres grandes fi-
guras da modernidade para essa dialetica do despcmr: a fi-
gura de Marx, para dissolver o arca[smo das imagens de sonho e im
por a .etas um chamado da razio; a figura de Proust, para recotrvocar
essas 1magens, supcrando-as no que haveria de se tomar uma nova for
rna, uma forma nao arcaica da linguagem poetica; enfim a figura de
Freud, para interpretar, para pensar a eficacia e a estrutura dessas
imagens, ultrapassando-as no que haveria de se tomar W1l2 nova for
rna de saber sobre o homem. Alias, nos e precioso constatar que foi
sobre urn fator de visualidade- ou de "visibilidade acrescida ",como
ele diz- que Benjamin nessas mesmas p:iginas a a.nicular
sua hip6tese de uma ultrapassagem do materialismo hist6rlco em sua
forma canonica. E isto em nome do "refugo" que ele buscava iotegrar
ao processo dialetico: "Urn problema central do materialismo hist6
rico que deveria enfim ser percebido: a compreensiio marxista da his-
t6ria deve necessaria mente ser adquirida em detrimenro da visibilida-
de da pr6pria hist6ria? Ou aioda: por qual caminho c possfvel associar
uma visibilidade (Asncbaulicbkeit) acresdda com a do me-
todo maocista? A primeira etapa nesse caminho consistici em retomar
na hist6ria o principio da montagem (das Prinzip der Montage)
4
9. Ou
seja, em edificar as grandes a partir de pequenissimos ele-
mentos elaborados com precisao e clareza. Consistir.i inclusive em
descobrir na analise do pequeno momento singular (in der Analyse des
4
* W.Benjanun, Ptzris, a pitale du XIX' op. ciL, pp . .. 80-481. CLem
geral o estudo deS. Kleiner, "L'eval comme categoric centrale de l'expCticnce
historique chnsle Passage-Wer.k de iknJamm, Wtzlter Bm,amin n Ptzris, op. cit,
pp. 497-SlS.
49
Exe.mplo tipico daquele intcrcimbio enue forma c conhuimmto ck que
falavamos rna is acima: o procedimento por excelencta do cinema dsensrcinbno,
talve% mesmo a idcHa cubista de colagem, que sustcntam aqui wna hlp6resc de ul
uapassagem epistem<Krltica . t tambbn a pr6pria forma da escrim beDjamjnhn"
em todo o UIITO tiM passagms.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
19'1
Einzelmoments) o crista I do acomecimento total. Portanto em
romper com o naturalismo vulgar em hist6ria. Ern captar enquanto
cal a constru o da h1st6ria. ( ... ) Refugo da h1st6ria"so.
0 que se tratava enfim de ultmpassar, senao, mais uma vez, o
en unci ado de urn mau dilema? A de Benjamin e aqui dialetica
por recus.ar o dilema da .. simples ratio" e do .. simples devaneio": ela
recus.a o simples chamado na base do qual Marx queria manter uma
especie de cerreza tautol6gica da ratio ( .. estou desperto, portanto estou
conscience e livre de toda ilusiio"); recusa, com mais veemencia ain-
da, o simples sonho na base do qual se lunda toda uma filosofia da
nostalgi3 e da nos arquetipos. E a qui e jung que e explicitamentc:
visado por Benjamin -Jung que, a seu ver, "quer manter o despertar
Ionge do sonho" para melhor substantivar esre5
1
E compreende-se bern
por que fazia parte da da imagem dialetica como "imagem
aurentica" niio ser uma imagem arcaica: ser arcaica, para uma ima-
gem da arte (ou para uma imagem produzida num discurso de conhe-
cimento) e assumir uma claramente regressiva", e buscar "uma
patria" no tempo passado5
2
E portanto faltar a seu prop6sito de ori-
e deixar de produzir, nao apenas a fulguriincia do novo,
mas tambem a do proprio originirio.
Tudo isso define nada menos que wna exigencia simultaneamente
cogn.ltiva, enca e estetica. 0 que eta pede? Pede para nada sacrificar
as falsas CertezaS do presentee nada sacrifica.r as duvidosas nostafgias
do passado; nada sacrifica.r as falsas cenezas do chama doe nada sa-
crifjcar as duvidosas nostalgias de um sonho substantivado. 0 que
equivale a cliur: nada sacrificar a tautologia do visivel, nada sacrifi-
car a wna que encontra seu recurso na invisivel tran.scenden-
cia. 0 que significa situar a imagem dialetica como Iugar por excelen-
cia onde se poderia considerar o que nos olha verdadeiramente no que
vemos. Baudelaire, Proust, Kafka ou joyce nao tiveram medo- con-
tra as certczas de seus respectivos presentes-de reconvoca.r livremente
rnitos ou paradigmas religiosos; mas nao para restaura-los, e sim para
$0 W. Benjamin, Paris, capitak du XIX' sitdt, op. eft., p. 477.
Sl Id., ibrd., p. SOS.
SlJd., ibrd., pp. 489 e 494. t tambem Heideggcr que Benjamin visa nessas
aqui implcuamente, em outros momcnros (por exemplo 1111 p. 479)
explicitamente.
192 Georges Old1Huberman
u_ltrapassa-los em formas absolutamente onginais e de novo origjna-
nas. Picasso e Bra que nao tiveram medo de reconvocar o que era vis-
to ate entao como o arcafsmo formal por excelencia - as anes afri-
canas ou australianas -, mas essa mem6ria nada tinha a ver com urn
"retorno as fomes", como foi dito com muita frequencia; era
antes para supemr dialericamente tanto a plasticidade ocidental quanto
aquela mesma sobre a qual punham um olhar absoluu mente novo
,
nao "selvagem", nao noscilgico: um olhar transformadorH.
A grande de Benjamin, atraves de sua de imagem
dialetica, tera sido nos prevenir de que a dimensao pr6pria de uma obr:1
de arte modema nao se deve nem a sua novidade absoluta (como se
pudessemos esquecer tudo), nem a sua pretensiio de retorno as fontes
(como se pudessemos reproduzir tudo). guando uma obra consegue
reconhecer o elemento mitico e memorativo do qual procede
ultrapassa-lo,. quanCIOCOiiSegue reconnecer o etememo presence do_quaT
participa para ultrapassa-lo, entiio ela se torna uma 1magem auten
fiea ..... no sentsdo OeBenjamin. Tony Smith niio faz ourra coisa quan-
do reconvoca os templos eg.lpcios ao mesmo tempo que produz um
objeto de negro (e nao de calcario esculpido, por exemplo), quando
produz urn objeto em material contemporaneo ao mesmo tempo que
rele Her6doto. Sua obra nao e "moderna", se quise.rem entender poe
essa palavra urn projeto de chamado que exclui toda mem6ria; nao e
"arcaica", se quiserem entender por essa palavra wna nostalgU do
sonho passado, do sonho de origem. Ela e dialetica, porque procede
como um momento de despertar, porque fulgura o chamado na me
moria do sonho, e dissolve 0 sonho num projeto da razao plastica.
As obras desse genero nao admitem portanto nero uma leitum
aente-atraves de uma iconografia da morte, por exemplo, ou, au is
predsamentc: ainda, atraves da de um conn:udo mfsticoS4
SJ C. a esse res pel toW. Rubin (org.), I.e pnmiiMSme dans l'11rt du XX' siide
(198-4), uad. sob a dU'. de J.L Paudtat, Paru, Flamma.non, 1987 - obn noclvd
mas que se indina com demasiada frequen.eta a pelas wconta, ou
seja, a uma pouco d1aiCtiea. Allis, o nome mesmo de Benjamin nem
chcga a ser
54
Como (oi (cito recenrcmenre em a Mark Rothko, por cxeropl.o (cf.
A. Mark Rothl:o. Subjects inAbstraetion, New IUven-Londres, Yale Univa-
sity Press, 1989), ou como ji (on (elto em a Bamttt Newman (cL T .B. Hess,
Barnett Newman, Nova York, The MU$CUm o( Modem Art, 1971, pp. 87147).
0 Que Vcmos, 0 Que Nos 193
r
- nem uma lettura tauto/6gzca, fechada ou cspedfica, "mo
demista" ou "formalista" no semido estnto dessas duas palavrasss.
A esse respeito, o caso de Ad Reinhardt me parecc exemplar, bern mais
explicito aqui que ode Tony Smith. Com cfeito, Ad Reinhardt produ
ztu, porum lado, rod a uma serie de signos interpretaveis como tauto
logias, por exemplo o aspecto repentivo e aparentemente fechado de
seus quadros monocromos, quadrados divididos em quadrados - e
pens:unos sobrerudo no con junto famoso de suas Black Paintings reali-
zadas a panir de 1956 (fig. 34, p. 195); seus proprios escritos pare
cern trazer a marca de urn fechamento tautol6gico, por exemplo quan-
do e afirmada uma serie de do genero: "$6 ha uma coisa
a diz.er acerca da ane, e que ela e uma coisa. A ane e a ane-como-ane
(art-as-art), e o resto eo resto. A ane-como-ane e apenas ane. A ane
nio eo que nio e anettS6.
Pot outro udo - e mais ainda -, Ad Reinhardt deu ensejo a
tcxb uma sene de mais ou menos "misticas", que se
deviam muito ao caciter evidentemente fuscinante, misterioso, de sua
"asccse pict6rica. A leota e soberana metamorfose visual desses pa-
nos de pinrura negra nos quais nao ha "nada aver" e, pouco a pouco,
muito a olhar- no elemento mesmo de uma dupla distancia, de uma
"profundidade rasa"S7, em que o aomatismo do Obscurso trabalha
entre um signo de profundidade e uma diferencial de zonas
pintadas, scm pre refenda a superficie -, essa dialetica visual manifesta
claramentc seu poder de aura, e por isso se presta a tcxb uma temati
ca da religiosamente ou existencialmente considerada.
Os cscritos do arrista, por sua vez, contem os evidentes, e
miiltiplos, de uma memoria do religioso. Sob que formas esta e con
vocada? Por exemplo na expressao "icones scm imagens" (imageless
kons), que faz uma referenda direta aos quadros do culto biz.antino,
mas tambem a mosaica da figuradass. Aqui e
ss Sobre as qua1s voltare1 a falar mais adiantc.
U A. Reinhardt, Art as Art, op. cit., p. 53.
S
7
Tomo cssa exprcuio, descontcxtualiundo-a um pouco, de J. aay, "Pol
loclc. Mondrian, SeuraL Ia profondeur plate", L '11Uikr jackson Poll ode, Paris,
Macula, 1978 (ed. 1982), !do paginado.
S1 A. Reinhudc, Art as Art, op. cit., pp. 108-109 (cexto que termina ahb
com uma implklfa do P5CudoDionfsio o Areopasita).
194
Georges DidiHuberman
1:
34. A. Reinhardt, Ultimate Pa1'nting, n 6, 1960. ()teo 50btc t(la, 153 x 153 em.
Centro Pompidou, Pari$. Foto Musee National d'An Modeme.
'
alt, surgem express6es para sigmficar o "alem" e, conseqiientemente,
algo como uma rranscendencil valorizada, quando nao divlnizada: a
pintura, por exemplo, e qualificada como "alem e a parte" (beyond and
apart), a imagem da .. abertura" e exphcitamente convocada como "pos-
sibilidade de transcendencia" (image of opening, possibility of traus-
cmdenct)S9. Enfim e sobretudo, o elogio da cor negra- em sua mo-
dalid3de essencial" denomuuda aqui o Obscuro (the Da.rk)-encontra
seu correspondente liter3rio numa permanente da teologia
negativa, n.a qual surgem regularmente os nomes do Pseudo-Dionisio
o Areopagira, de Mestre Eckhart, de Nicolau de Cusa ou de Sao joao
d3 Cruz, misrurados com blblicas sobre a do
divino ou referencias is mfsticas isla micas e extremo-orientais6.
Mas qual e 0 verdade1r0 estatutO de todas CSS3S que
c1tam ou imitam enunciados de teologia negativa? Yve-Aiain Bois to-
cou a resposta como dedo ao assinalar, em toda a pcltica de Reinhardt,
uma estrutura do "quase capaz de estabelecer sempre am-
biguas - pr6ximas e longfnquas ao mesmo tempo - em a
modelos que afinal jamais operavam de outra forma a nao ser uma
forma ficticia, relativa, sua forma de quase-operatividade6
1
Mas )em-
bremo-nos do que disse Benjamin: a ambigiiidade nao e senao a ima-
gem d3 dialerica em suspensao. 0 que nos leva portanto a ver nas obras
de Ad Reinhardt, ass1m como nos efeitos de "recognoscibilidade" pro-
duzidos por seus textos, verdadeiras imagens dialeticas.
E isso mostra a simetrica nulidade das leituras "tautol6gica" e
"mistica" aplicadas sucessivamente as obras ou aos textos do artista.
Por urn !ado, a expressao art-as-art, se reflerirmos bern, nao enuncia
nenhuma especie de fechamento tautol6gico, se e verdade que a pala-
vra as, em ingles, apresenra uma semanrica tio aberta pelo
n Id.. ibid., pp. 191 e 193 (bem como p. 108: "What is not there is more
unponant than what 1s there").
60
I d., ibid., pp. 10 (Nicolau de Cusa), 64 (aluslo 1 dour.a ignorlncla), 69
("the rebanishmenr of the image, the re-byz.antinizarion ... "), 93 b!blia,
"absolute inapproachabiliry", "theology of ncptioo"), 98 ( .. Dark night of the soul
of St. John of the Cross", "The divine Dark of Eclchart" ), 109 (Pseudo-Dionisio o
Ateopagir.a), ere..
'
1
Cf. Y ..-A. Boss, "The Lurut of Almost", Ad Reinhardt, Los Angeles-Nova
York, The Museum of Contemporary Art-The Museum of Modem Art, 1991, pp.
11-33.
Georges DldiHubcrman
,
35. A. Reinhardt, Joke-a Portend of the Artist as 11 Yl1ung Mandala, 1955
(detalhe). Colagem e tinta sobre papel. Publica do em Art News., maso de 1956.
'
I
mcnos qu::mto a palavra como. Dizer as nao e dizer a certeu da coisa
mcsma, e dizer a solldao e 0 carater fictlcao- chegando a ironia, ao
contra-senso carrollaano- de uma fala que se sa be sempre em falta.
Dazer art-as-art nio e dazer art IS art, nio e dizer what )1011 see IS what
you see. Ad Reanhardt. alaiis, em muitas refutou implicitamente
o enunciado de Frank Stella, por exemplo ao dizer que .. a visio em
arte nao e 3 vis5o .. , mesmo se tudo que e dado a ver nurn quadro deve
permanecer ao alcance do olhar62.
Por ourro !ado, o elogio da dist:incia. constante em Ad Reinhardt,
nio buSC3 no teol6gico- no apelo ao Nome divino- algo como seu
sujeito. Antes como seu predicado hist6rico, que e desconstrufdo tao
logo proposto. Poas e a dupla distancta pict6rica que comanda rodo
esse 1ogo, e com ela a estrurura singular de de aura, material-
mente e visualmenre - portanto nem cspiritualmente, nem invisivel-
mente- rrabalhada em cada quadro. Reinhardt nao ignorava o fun-
do religioso que roda anrropologia da arre deve explicar historicamen-
re63, Mas ele o criticava ao convoca-Io, opondo seu proprio trabalho
do "vazio" (void} ao de um .. mito", e exigindo de roda memoria que
apelasse ao mundo religiose uma de
(demythologizmg)
64
Poe isso pode-se falar aqui de uma desconstru
dialetica em vez de uma .. como o pensava Richard
Wollheim ao falar de Ad Reinhardt e do minimalismo em geral6
5
Ad
Remhardt por certo evocava, e inclusive estudava, as mandalas do
Exrremo Oriente; sem duvida lembrava-se delas gravemente- e ate
melancolicameme- em seus quadros "asceticos" interminavelmen-
re mas tambem as afastava, chegando ate a uriliz.a-las
42 "VISion in art is not vision. The visible in an is vtsable. The mvisable 10
art IS ltiVISible.. The visibtlity of art ts visible. The mvisibiltty of art IS visable. A.
Retnhatdt, Art as Art, op. at., p. 67. Notemos que isso foi escrlto em 1966, dois
a nos ap6s a da enrreviSta de Bruce Glaser com Stella e Judd. Cf. igual
mente ibul., pp. 108 e 191. sene de que exigi ria um coment4rio
mats extenso, nos mostra em todo caso que a especifia'dildt no senndo de Judd e
ao mcsmo tempo assumida e uluapusada dialeticarmnte.
o I d., ibid., pp. 185-193, onde ele evoca o valor de culto na ane do passa
doe se anclina, em parricular, para a forma da mandala do ExrremoOrlente.
f.4 /d., ibld., p. 98.
's Cf. R. Wollheim, "Minim:al Arrw, art, cit., p. 101.
198 Georges DidiHubermlln
..
em contextos de JOkes e de 1ronia mordaz sobre o mundo da an e66
(fig. 35, p. 197).
0 que nao o impedaa- a exemplo de Tony Sm1th- de produ-
zir obras que nao eram nem .. espedficas" a qualqucr nem "mis
ticas" d uma maneira qualquer, mas que se davam s1mplesmente, se
podemos dizer, como {ormas dotadas de mteTI$tdades.
"Sobrc a .atividadc crinca, aromca c aconoclaslll de Ad Reinhardt, d. J.-P.
Criqul, "Dt visu {le regard du cnlique)w, Cahltrt du Musie NatioMI d'Art Mo-
deme, n 37, 1991, pp. 8991.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
1951
FORMA E INTENSIDADE
A partir de agora nos e possivel- aos desvios pcla
de imagem dialerica e por aquela, revisirada, de aura - enfremar de
novo a questao essendal, a questao deixada em suspenso diante do
grande cubo negro de Tony Smith. Tony Smith produzia fonnas excess
vamente rigorosas e abstraras em sua no entanto, afinnava,
como ja indiquei, jamais ter rido "alguma prograrnatJca da for-
ma "1. Fle prodtWa objetos per{eiwnente despidos de pieguice, de nostal-
gia ou de por imagem; no en tanto, dizia esperar ter produ-
zido, a cada vez, formas dotadas de pre.senftJ, "fomus com present;a "2.
Recoloquemo-nos portanto a desconforclvel questao: o que e wna
fonna com presenfO? 0 que e uma "forma com no contex
to depurado dessa arte tao bern chamada "minimalista" e no conteX
tO enrico dessa modemidade que nao hesitava ern empreg:Jr OS mate
riais menos "autenticos", menos susceriveis de sugenr essa coisa mais
ou menos sagrada que seria "a present;a"? Que a Veroruca de Roma
possa se dar como uma "forma com ", e algo facil de conce-
ber, certamente; mas o contexto no qual recolocamos a quest3o- no
qual o proprio Tony Smith recolocava a questiio -,esse contexro exa.s
pera, poe assim dizer, a forma te6rica da questiio, da a eta o v:1lor, seja
de um contra-exemplo nota vel, seja, ao comrario, de wn parlldigmll
depurado ou transfigurado. talaltemativa, parece, que somos do-
ravante confrontados. A questao, porem, oferece nao apenas uma pos
sibilidade de despertar essas palavras- "forma", de
seu sonho metaffsico e religioso, mas rambCm de inqu1etar essas mes-
ffillS palavras em seu fechamento rautol6gJco ou na eVIdencia de seu
emprego fatual. Precisamos portanto, como em a aura, tentar
produzir uma "cnse de palavras- uma cnse pomdora, se
de efeitos "crfricos" e construtivos.
IT. Smirh, citado por LR. I..Jppard, "The New Work", 1111. cit., p. 17.
l I d., prefkio a Tony Smith. Two Exhibitions, op. cit.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
21.H
Sera preciso amda falar da Niio tentemos reabrir ex-
tenstvamente o dosste ftlos6fico dessa esmagadora quesriio, o que ex-
cedena em muito nossa coragem e nossa competencta. Contentemo-
nos em assmalar dots de seus empregos, exemplares e stmetricos, no
campo das fettas sobre a arte contemporinea. Reencon-
tromos en tao Mtchael Fried, que rejeita a mas, como vt-
mos, por mas razoes, sem conhectmento de causa, e para substttui-la
pela mstantanetdade tdeal, idealista, de uma presentness suposta es-
pecifica a obra de 3rte3. Na outra exuemidade dess:1 paisagem te6n-
C3 encontramos uma visao como a de George Steiner, que reivmdica
a .. -mas nao, como veremos bern depressa, por melhores
raz6es e melhor conhecunento de causa.
Para Steiner, com efeito, a intervem num contexto em
que uansparece simplesmente o ressentimento e a exaspera-
da, irracional, da vanguarda anist.ica, em particular a dos anos cin-
quenta e sessenta. A seus olhos, sem duvida, o minimalismo sera vis-
to como o contclrio eo equivalente do que era visto por Michael Fried:
sera VJSto como a "perda da (eis o contra rio) e como a "des-
por excelencta da a.rte (ets o equivalente).
palavra regularmente e com toda a rna fe jogada sobre a palavra "des-
- , ou seja, o reino do contra-senso generalizado. A nos-
talgia filos6fica junta-se aqui com a trivial segundo a qual o
a to de prodUZJr wn ssmples cubo de negro enquanto obra de arte
procederia do puro e simples "vale rudo"
4
0 que nao e vale rudo, 0
que e tudo a seus olhos e exatamente a "gravidade" e a "constancia,,
3
Cf. M. Fncd, "Art and Objccthood", art. at., p. 27.
4
Ci. G. Steiner, Reeles priunus. Us arts du sens (1989), uad. M.R. De
Paw, Pans, Gallumrd, 1991, que abre seu capfrulo intitulado "0 contrato rompt
do como tema do vale rudo" (p. 77), fusogando indiscrunin.adameote, junto
com toda Jdeia de as obras de Mondrian. de Barnett Newl!l4n
ou de john Cage (pp. 157, 264 etc.). rtamente Ulll4 obra de Carl Andre que e
vuada oulll4 (rase como csta: "Assim como existem Ulll4 literarura e Ulll4 musica
e oportunisw, existem formas de arte que se contenram
em lurar com sombras, que nao fazem sen:io stmular, com lll4ior ou menor brio
tkruco, um combate autentJco como vaz.io. Hi tijolos amontoados no chao dos
museus. .. " (p. 264). Encontram-se formas ainda mais exasperadas, e beirando o
grotesco, dcssa e dem da arte contempor8nea, num dossie
da revisra Esprit, n173, Julho-agosto de 1991, pp. 71122 (assin.ado por J. Molino
e J.P. Domec(j), seguldo de um segundo no n179, fevereiro de 1992.
202 Georges Dldi-Huberman
como ele diz, de uma superlanva, a pres real do scntido
expresso na obra tradsctonal. E Stetner oao esconde querec
aqus restaurar urn transcendeotaltsmo que se exprime em re&vindrca
c;oes "em ulnma analise rehg&osas"s. Nao nos surpreenderemos por
tanto de que seu paradsgma possa ser o do leone do culto bizannno e
mass explicitamente ainda, o do pr6pno nto eucarfstico6.
rfstico que o homem da aqut, acabe por opor o alem de roda
a uma atirude da modermdade )Uigada como globalmen-
te tautol6gica ou, mais exacamente, "sol&ps&sta"7. Assim nao teremos
feito senao recair muito depressa no mau dilema da reivindicada
e da tautologia como objeto de
Cum pre observar o quanto essa no enunciado peremp-
t6rio de sua "real&dade", nao oferece decid&damente nenhum cadter
da abertura que ela nao obstante pretende. Musto pelo contra rio, em
sua forma mesmo de credo ela se concilia como (echamento meraffsi
co por excelencia, contra o qual jacques Derrida roo justa mente diri
giu a cririca e a muiro famosa- e muito m::tl compreendida- "des
Conhecemos a matricial desse deslocamento
filos6fico exemplar: ela consisria jusramente em praticar uma nova aber
tura do ponto de vista, capaz de dar a uma expressao secular como a
de real" seu estatuto de verdade&ro fantasma obsesstvo-seu
estatuto de em toda a filos6fica8. A pr6pria aber-
tura se abrindo na de que a 1amais sc da enquan
to tal, jamais se da como aquele ultimo ponto de transcendencia que 0
fi16sofo poderia pegar em pleno voo no "eter da metafisica ". E ssmples-
mente porque, nio scndo uma coisa a vee- mesmo com OS olhos da
alma -, ela permanece o efeito de urn processo que sempre a difere e
a p6e em conflito com wna alteridade sem
s G. Sreiner, Rielfes presences, op. at. , p. 267.
' I d., Le sens du sens. Pr/Mnces ritllts, trad. M. Ph1loncnko, Pans, Vrin,
1988, pp. 62-63.
7
I d., ibid., pp. 65-66.
1
No<emosque,jiem 1961,Lacan "dcsconstrub" a
-em seu conrexto ulnmo, ou seja, em seu contexto eucarlsnco.-nos termos, " 111-
teiramente superficiais da fenomenologla do obSC$Sivo", da "instincia do falo" c
dos "intcrvalos do que cobre o significante", Cf. ], Lacan,!A Sbnlnaire, VIII. Lc
Trans(ert(19601961), Paris, l..e Seuil, 1991, pp. 302307.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha ZOJ
Atrevono-nos portanto a colocar a presem;a- e si11
gularmente a consciencia, o ser ;unto de si da consciencia
- niio mais como a forma matrscial absoluta do ser, mas
como uma 'detnminao' e como um 'efeito'. Determmao
ou efeito no mterior de um sisuma que niio e mais o da
mas o da differance. e que nao to/era mas's a oposi
o da atividade e da passrvtdade. como tampouco a da causa
e do ou da indetermmao e da determinao, etc. .. 9
Do 00$$0 ponto de vista, a diffirance sera portanto a expressao
dial&ica exemplar capaz de "substituir" a falsa da
e da ausencia (como a de visua/idade, para OS objetOS que nos
ocupam, deveria ser capaz de substituir a falsa do visfvel e
do invisfveJ)- destronando com isso a de seu te6-
rico. Sabemos que, para Derrida, a de differance- tan
to temporal quanto estrutural- abrange ao mesmo tempo a demora
de uma sempre diferida" e a especie de Iugar de origem, a
especie de ch6ra
1
0 onde se esttuturam as que operam em
cada "presence" considerado
1 1
Quando dizfamos, a prop6sito da aura,
que ela nio e o fndice de uma - mesmo afastada -, mas o
ind.ice do pr6prio afastamento, sua eficicia e seu signo ao mesmo tem
po, nao faz!amos senao antedparo que Derrida denomina, nesse con
texto mesmo, urn tTafo; e nao por acaso a
04
trama singular de
e de tempo" de que falava Benjamin acaba por receber, a titulo de uma
filosofia da "diffbance .. , seu eco prolongado - rna is: sua expressao
radical numa renovada do
o mormnmto da significao s6 e possivel se cada
elemento dito 'presmre. que aparece na cena da presmf11,
'J. Detrida, La diff&ancc, art. cit., p. 17.
10
Ch6r11: run. ilea. (cf. F. E. Peters, Termos filos6fieos 11m
lhcko hist6rie.o. Calouste Gulbenlcian, 1 sld.). (Nota da revi-
dotknica).
11
1d., ibid.., p. 12 1 A di{ftranee e a 'origem' nao-plcna, n!o-simples, a orl
gem esttuturada e dilfbante das Portanto o nome 'origem' nio lhe
coom mais). Serla ccnamenre proveitoso comparar essas com a
benjaminlana de origem, evocada mais acima.
Georges Dldi-Huberman
se reladona a outra coisa que tu1o ele mesmo, conservando
nele a marca do e/emento passado e detxandose 1d escavar
pela marca de sua relao com o elemento futuro, o
niio sc reladonando menos como que chamamos futuro que
com o que chamamos passado, e constttuindo o que cha-
mamos presente por essa relao me.sma com o que nao e
efe: absofutamente nao eft, IS tO e, nem mesmo um pas.sado
ou um futuro como presentes modt{icados. preaso que
11m inkroalo o separe do que nao e ele para que ele se;a ele
mesmo, mas esse mtervalo que o constitttt como presettte
deve tambem no mesmo movimento dividir o presente nele
mesmo, partilhando asstm, como presmte, tudo que se pode
pensar a partir dele, isto i, tudo que i, em nossa lfngua
metafisica, singu/armente a srtbstancia ou o sujeito. Esse
interva/o queSt constittti, que Se divide dinamicamente, e
o que se pode chamar devir-espa,o do tem
po ou devirtempo do espafo ( ... ) Nao sendo
o uma presenf11 mas o simulacro de uma que
se separa, se desloca, se remete, niio tem propriamente lu
gar, 0 apagamento pertenu a sua eslrutura"12,
Eis portanto a entregue no trabalbo do apagamento-
que nao e sua pura e simples, mas sim 0 momento diferendal
ou "differant'" que a constitu1 e a substitui: seu sua rem-
Compreender-se-a, nessas que nao se possa em
pregar a palavra presmfll scm precisar seu duplo carater de nao ser
real: ela nao e real no sentido de Steiner porque nao e um ponto de
cumprimento e de ttanscendencia do se.r; tampouco e real porque s6
advem trabalhada, temporizada, posta em ou em
vestigios- e acabamos de ve.r como Derrida chega a qualificar esses
em termos de "simulacro"- que nos indicam o quanto ela nao
e uma vit6ria qualquer sobre a ausencia, mas urn momento rionico que
chama sua negatividade no batimento estrutural que a subsume, o
batimento do processo de tra,o.
Mas, sea palavra passa agoro ao pnmeiro pbno, sed
ainda, nessas falar de forma? E de supor que oao.
11 ld., ibid., pp. 13 14 e 25. C(. OUJi4 ct gramme. Note sur
une note deSein und Ztlt" (1968), ib1d., pp. 76-78.
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olh11
205
f
Hi muito esquecemos que a "forma" designava antes de tudo urn
objeto ele proprio sem forma imediatamente reconhedvel, urn objeto
que no entanto clava forma a outros objetos, segundo um duplo pro
cesso de inclusao e de impressao- de negativo: era o molde,
objeto de "legibilidade" sempre complexa, com aspecto scm pre estra
nho, mas cujo poder reside predsamente no ato de dar a outros seu
aspecto familiar e sua legfvel por todos. 0 vocabulario dos
gregos rapidamente complex.ificou e ulrrapassou essa semi6-
tica de tipo indicia I, entre o eidos e a idea, entre amorphi eo schema,
sem con tar o rythmos 13. E o uso 6Jos6fico de todas essas palavras nao
ter3 feito seniio multiplicar os generos oposicionais, os dilemas, as
aporias. Pois de modo nenhum e a mesma coisa pensar a forma em
sua ao .. fundo", ou entiio em sua ao "conteudo",
ou ainda em sua a .. materia" e a "aparencia".
No entanto, e uma verdadeira preeminencia ontol6gica que a
de forma acabar:i por reivindicar, desde as neo-aris-
totelicas da escolastica - segundo as quais a forma se define como
invariavel, como o ato do qual a materia seria apenas a potencia ad-
dental, como a causa da qual determinada aparencia seria apenas o
efeito materiatl4-ace as recentes logicistas segundo as quais
a forma caracteriza o estatuto dos objetos da l6gica, ou seja, o estatu-
to dos raciocfrUos corretos
15
Essa preemioencia, essa independencia
hierarquica da forma (sobre a materia, em particular) constituem se-
guramente urn elemento dominante de nossa mem6ria filos6fica, o pr6-
prio Hegel nao tendo dado senao um ti'mido passo dialet.ico ao fazer
num cerro momento estremecer, mas nao cair, esse ediffcio explicita-
mente metaffsico:
u C. C. Sandoz, LD noms grecs de Ia forme. &ude llnguistiq11e, tese da unl
versidade de Neucbarel (faculdade de Letras), 1971. Sobre a questioespedfica da
palavn rythmos como palavra da forma, cf. E. Benveniste, "La notion de 'rythme'
dans son expression linguisrique" (1951), Problemts de linguist/que gmbale, Pa
ris, Gallimard, 1966, pp. 327-335.
14 C. por exemplo Tomas de Aquino, Summa theologiae, Ia, 9, 2; Ia, 47, 2;
Ia, 66, 2; la, 76, 1 etc.
ts Cl. J. "Forme", E.ncyclopidie philosophique universe/It, 11. Les
notions philosoph/que$- Dictionnaire, Paris, PUF, p. 1027.
206
Georges Dldi-Huberman
"A da materia em relao a formas deter
minadas se verifica scguramente em coisas finitas; a.s.sim, por
exemp/o, e indiferente a um bloco de marmore receber a
forma desta ou daquela esllitua ou ainda de uma co/una.
Quanto a isso, niio se deve porem negligenciar o fa to de que
uma materia como 11m bloco de nuirmore e s6 rdativamente
(em relao ao eswltor) indiferente quanto a forma, mas de
maneira nenhuma e em geral sem forma. Assim, o min era
logista considera o marmore, de.sprovido de fomw apenas
de uma mancira relativa, como 11ma Utica deter
minada, em sua com outras fonnat;oes igualmente
determinadas, como por exemplo ogres, o p6rfiro etc. Par-
tanto e somente o entendimento ref/exivo que fixa a tnJJte
ria em seu isolamento e como que em si desprovida de for
ma, quando em realidade o pensamento da materia ittclui
absolutamente nela mesma o prmcipio da fomta ... "1
6
Cenamente teremos que seguir de novo Derrida quando ele con
sidera a dos nomes gregos da forma- e seu destino
s6fico- como "remetendo todos a conceitos fundadores da metaff-
sica"17. A forma, nesse sentido, seria apenas um corohirio do fecha-
mento ja operado pe.la palavra
"Somente uma forma e evidente, somente uma fomta
tem ou e uma essencia, somente lima forma se apresenta
como tal. Eis a{ um pomo de certeza que nenhuma inJer-
pretao da conceitualidade platfmica ou aristotilica e ca-
paz de remover. Todos os conceitos pelos quais se pode tra-
duzir e determinar eidos ou morphe remetem ao tema da
em geral. A forma i a mesma. A fomuJ
Jidade e aquilo que da coisa em geraJ se deixa ver, se da a
pensar. Que o pcnsamento metafisico - e em conseqiien
cia a fenomenologia- sci a pensamento do ser como fomuJ,
16 G. w. F. Hegel, Encydopedle des sdenas philosophiqtm, I. La scimce
de Ia (1817-1830), rrad. B. Bourgeois, Paris. Vrin. l970, PP 562-563.
17 J. Derrida, "La forme ct I.e vouloir-dlre. Note sur Ia pbcnomenologic: du
Jangage" (1967), Margl'.s, op. dt., p. 187.
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olba
207
rula o pensamento se como pmsammto d4 forma,
e da formali'dade cia forma, nao e porttJttto smao a/go neces-
sarto, e perceberiamos um ultimo siMI disto no fa to de Hus-
ser/ determinar o presmte vivo (lebendige Gegenwart) como
a 'formtJ' ultima, universal, absoluta da experiencia trans-
cendental em geral'l8.
"0 senndo do ser foi limitado pela da forma", con-
clufa Derrida
19
Mas podemos nos satisfazer aqui com tal radicalida-
de? Nio exatamente. Pois o contexto em que Derrida a desenvolve se
idenrifica a urn vocabulario extrafdo apenas da hist6ria da filosofia e,
ademais, concerne em sua anilise apenas ao problema de uma "feno-
menologia da linguagem". Nosso problema aqui nao e exatamente o
do sentido do ser, nem o do estatuto da linguagern em geral; ele diz
respejto, bern mais modestamente, ao estatuto de urn simples cubo
negro, de uma escultura em geral. De uma {ormtJ, em suma. 0 que se
passa entao quando a palavra "forma" designa tambbn a aparencia
de um objeto sens1vel, visfvel, sua materia mesma, e certamente seu
conteudo, seu fundo singulares? 0 que se passa quando a palavra "for-
ma" designa tiJmbbn tudo 0 que 0 vocabuhirio filos6fico opos a pa-
lavra forma"? 0 problema e mais modesto, mas nao e menos temr-
vel se aceitamos ver que as ordens discursivas - e e toda a de
Michel Foucault - nao sao especfficas nem estanques, e que a ques-
tio 6los66ca da forma jamais cessou de "se perrnutar" com sua questio
pl2stica ou artistica, tal como a declina toda a nossa Kunstliteratur
ocidental
20
Quando um artista como Ad Reinhardt, consciente de
todas essas estratificaes, considera por sua vez a palavra formtJ, o
que ele faz? Ele coloca, se coloca, recoloca quest<>es sem fim, num gesto
ao mesmo tempo ironico e critico; num gesto que, se o considerarmos
em dos pr6prios quadros, talvez nao seja isento daquela "me-
lancolia" de que falou Benjamin.
II ltl., ibid. , p. 188.
" Itl., ibid., p. 206.
lO 0 nascimcnto mesmo de unu hist6ria da ane academicamente constitul
d.a- a de Vasari, no skulo XVI- teri sido detenninado portal permuta, espe
dalmcnte em tomo de palavras-toteos como imitato,e, idta ou disepo. Cf. a
cue respelto Devant l'image, op. cit., pp. 89103.
208 Georges DidiHuberman
.s
"'Forma? Espfrito, espfrito das formas, formas das for-
mas? Forma das formas, formalismo, tmiformidade? Uma
forma? Ciclos de estilos, arC/lrco, classico, formas tardias?
Formas rompidas, impressiomsmo, formas var.ias? Mti for-
ma, boa forma, forma co"eta, mco"ettJ? Segue a fomta a
imuncla funo-lucro? Forma sem sttbstanciaf Sem (im? Sem
o tempo?''
21
Nao busquemos dar uma resposta a cada uma dessas questoes.
Retenhamos antes sua pr6pria maneira questionadora, para nela re-
a exigencia crftica de uma abertura dialetica, conccatual e
prarica ao mesmo tempo. Neste ponto de nosso percurso, somos in
capazes de dar "nossa" ou de construir "nossa" defini'<ao da
palavra forma. Podemos aqui no maximo sugerir.lndicar. Dirigir nosso
desejo de compreender a expressao forma com para dois
caminhos que abririam conjuntamente, romperiam e abandonariam
tanto o fechamento essencialista da palavra "forma" quanto o fecha
mento substancialista da palavra "presen'<a". E seria preciso, a cada
vez, abrir duplamente: saindo do drculo da tautologia, rompendo a
esfera da
Abrir, neste senti do, equivale a falar em termos de processo e niio
em termos de coisas fiXas. E recolocar a relao em sua prioridade nos
objetos mesmos. E devolver as palavras, aos conceitos, sua dtmensao
incoariva e morfogenetica. E, quando menos, pensar os substantives
em sua dimensao verbal, que lhes confere dinimica e iotens1dade. 0
gesto mfnimo, o gesto "minimalista" consistira assim e.m falar antes
de (ormtJo que de forma fechada ou tautol6gica; consistira em falar
antes de apresmtao que de real ou metaflsica.
Pensar a forma em termos de e um exercicio tao
fecundo quanto diffcil. Alias, numerosos sao os pensadores e os hls-
toriadores, preocupados com artes visuais, que se a t3l tare-
11 form? Spirit, spirit of forms, forms of forms? Form of forms, fomuJiw,
uniform? One form? Style-cycles, arch111C, clusic, late forms? Broken-fomu, .m
pressionism, forms? B.td forms, good form, right, wrong form?
functionfilthy lucre? Form without subsroncd Without end? Without t1me. A.
Shape? Imagination? Ught? Form? Object? Color? World?,rexto ce-
produz.ido em Ad Rtinhardt, op. dt., p. 124.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
209
\
fa. E nio por acaso um bom numero dessas tentativas surgiu no am-
bito do grande movimento de pensamemo vienense e alemao que, dos
romanticos a Warburg e a Benjamin, niio temia interrogar as formas
da arte e sua hist6ria num dialogo permanente com a
filos6fica mais fundamental. Caberia falar a qui de Adolf Hildebrand,
que tentou inferir uma problem:itica espedfica das formas artfsticas
- entre plano e profundidade, entre relevo e volumetria - a partir
de uma fenomenologia da visao e mesmo do que ele chamava "repre-
clnestesicas Caberia falar de
Alois Riegl, cuja Gratmitica hist6rica das artes plasticas abordava as
"leis formais (Formgesetun) attaves de uma especie de engendra-
mento dioimico de elementOS clteis e de elementos 6ticos que organi-
z.am a da "forma" como tal (que, segundo ele, somente a
escultura em alto-relevo realizava), da "semi-forma" (o baixo eo alto-
relevo) e do "puno" (o quadro, o desenho)2l.
Mais familiar ao historiador da arte de hoje, a obra celebre de
Heinrich Wolfflin sobre os Principios fundamentais da hist6ria da arte
propunha, como est3o lembrados, cinco "pares" de categorias cujo jogo
dialetico permitia, a seu ver, explicar as formas artisticas, os estilos,
em termos de sincronicas e de diacronicas:
o "linear" como "pict6rico", o "puno" com a "profundidade", a "for-
ma fechada" com a "forma aberta" etc.2
4
0 projeto, ai, era encon-
trar um principio quase estrutural capaz de subsumir cada "sentimento
da forma", do detalhe de um quadro ate o quadro ele mesmo, do qua
dro ate a obra do artista, e desta ate o estilo global, ate a epoca da qual
ela az.ia parte. Tudo se liga", gostava de dizer Wolfflin2S, que nao
az.ia mais da forma singular- tal escultura, tafmodo de representar
11
A. Hildebrand, Das Problem tkr Form in da bildtndm lVmst, Esttas
brugo, Heitz, 1893 (6" ed., 1908), p. 36.
ll A. Riegl, bistorique dn arts plastiqun. Volontl artistiqut tt
llisicm JM momk (1897-1899), trad. E. Kaufbolz, Paris, Klindcsieclc, 1978, pp. 3 e
12112.5. Sobte Riegle o problema da forma. d. H. Zemer, L'histo!re de l'art
d'Aiois Rlegl: un tactique, Critique, n 339-340, agosto-sctembro de
1915, pp. 94G-952.
1
4
H. W<llfflin. Prindpn fondtrmtntllux tk /'bistoirt de l"art (1915), ttad.
C. eM. Raymond, Pans, Gallim:ard, 1966, pp. 18-21.
lS I d., ibid., p. 13.
210 Georges Didi-Hubennan
um panejamento ou um movimento do corpo, tal uso do cromarismo
- o documento sensfvel de uma 1de1a da ratio, mas sim o supone arual
de uma formao, de uma "forma de v1s:io" caracterizada em uluma
instancia como "modo da enquanto tal (Darstellung als
solche) ( ... ), entendendose por isro a maneira segundo a qual os ob-
jetos tomam forma em vista da (in der Vorstellung d1r
Dinge gesta/ten)"26.
A imensa virtude te6rica dessa maneira de ver res1dia em panicular
na apreensao organica e pre-estrutural da fonna: a 'forma se auto-define,
se transforma, e ate se inverte e se rompe, no desdobramento de suas
pr6prias capacidades de Mas a aporia de t31 sistema, ou
mais simplesmenre seu Limite, res1dia por sua vez em sua natureza mesma
de sistema, fechado e teleol6gico: pois tomavase diffcil imaginar novas
forma is-como se fosse suficiente aplicar os cinco pa-
rametros propostos para explicar toda novidade formal; tomava-se
igualmente dificil escapar a uma especie de transundentalismo da visiio
- mesmo se Wolfflin tivesse tido o cuidado de distinguir suas "categorias
fundamentais" das categorias kantianas enquanto tais27, de modo que
o Renascimento inteiro podia ser apressadamente englobado sob o "con-
ceito fundamental da perfeita", testemunho de urn "ideal de
vida"28. Tomava-se diffcil ainda escapar a uma visao tcleo/6gica da
forma que se desenvolve, a exemplo de urn organismo vivo
29
, entre
progresso e declfnio, como se o sistema excluisse de antemao toda ful-
todo anacronismo e toda inedita.
2
' I d., ibid., pp. 17 e 273 modifiad:t).
27
I d., ibid., p. 258.
lJ I d., ibid., pp. 14 15.
U I d., ibid., pp. 2223. Caberia ainda, nc:sse paind aperw citar o
livro famoso de H. Focillon, des formes, Paris, PUF, 1943 (eci 1970), que ram
hem coniuga dcslumbranrcs - por excmplo sobre os renu.s do futo
e da fissura" du Comus (p. 4), da matena (p. 50) ou da impossibilid.tde e.m que
nos eneontramos de reduzir uma forma seja a uma imagem de sonho, seja a u.ma
idCia da ruio (pp. 6873) - a urn vitalismo um tanto a doco. Quanto ao fil6so
(o italiano Luigi Pareyson, ele dc:senvolveu mais urde uma boa parte: de: sua
tica segundo uma dlnamia e forma twa da fonna. Cf. L. Pareyson, Estttictt:
teoria della formativita, Mllao, Bompianl, 1988 (nova ed.), e franctu ce
suas Convcsations sur /'nthitiquc, mad. e prcf2cio por G. liberghic:n., b ris, Galli-
mard, 1992, espc:cialmenre pp. 8599 ( forme, organisme, absmaction ).
0 Que Vemos,.O Que Nos Olha
21L
Uma ultima dificuldade residia na incapacidade de tal sistema de
se desenvolver no plano semi6tico: em particular, o ponto de vista ico
nol6gico I he era perfeitamente alheio, de modo que o problema essen cia I,
a saber, a da forma e do smtido, permanecia fora do a lea nee
de tal sistenu. Om, e prcd samente a tal que Ernst Cassirer,
algum tempo depois, ira consagrar boa parte de sua das for
mas simbolicas. Aqui tam hem, podemos dizer que a forma "se abre" e
ultrapassa a aporia tradid onal que a opunba ao Mconteudo": "Longe
de concluir por um confhto entre o conuUdo da e a forma
(_.),ambos se misruram e se coofundem numa perleita unidade concre-
raJO. Estamos aqui num ourro plano do pensamento pri-esttutural,
que situava a forma em termos de e, para resumir, em
ttrmos de funo. Mas os pressuposros neokantianos do empreendimen-
to baveriam de Cassirer a um fecbamento de outrO tipo: o fecha
mento do conceito, o fechamento idealista. Pois a unidade da forma e
da materia, da forma e do conte6do, da forma e da todas essas
unidades s6 podiam ser pensadas sob a autoridade de um prindpio no
qual o proprio Cassirer via "a tese fundamental do idealismo plenamente
confirrnada "3
1
A forma tofll3vase ai um princfpio de legalidade, uma
energia unitiria do espirito"' que produz e consume, em ultima ana
lise, a classica de
E assim ela voltava a ser pri-
sioneira de uma idealidade conceirual face a qual todas as formas eram
clwnadas a "convergir pa.ra a simples forma l6gica". A forma nao era
mais "ideal em Cassirer, mas a funo que a substitu(a pertencia ain
da a esfera do idealismo filos66co: ela ignorava ainda 0 trabalho "es
tranho" e "singular" de que toda forma forte sa be ser capaz33.
30
J:. Cassiter, lA philosophie tks formes symboliques (192J.1929), trad.
0 . Hanseft.I.OYe, J. I..acostr e C. Frooty, Paris, Minuit, 1972, m, pp. 76-77. A opo-
da forma e da matiria igualmente atacada, contra Hussal, ibid., m, pp.
255-256. A natuteza do signo como da forma e da matl!ria I! discurida
em ibid., I, p. 53.
l l It!.. ibid., I, pp. 20-21.
ll It!... ibid., D, p. 275 ( -uma energia do espfrito, lsto uma for
m11 de apreensao coerente em si mesma e que se afmna na diversidade do material
objetivo da ., em, P 391.
u I d., ibid., I, p. 25. ji desenYolvi essa da segundo Cuslrer
e do trcrbalho no sentido freudiano em Dn.rant l'imagt, op. cit., pp. 153168 e 175
180.
212 Georges DldiHubermon
' \
Foi por se voltar primeirameme para formas ao mesmo tempo
"fortes" e fugazes, forma ores e deformantes mais do que formadns-
as do sonho, as do siotoma -, que Freud hav1a sido capn, vinte a nos
antes de Cassirer, de construir o conce1to autentscamente estrutural de
traba/ho? 0 fa to C que., por uma singular ICOOI:l epssternol6g1ca, e for3
do campo academico da hlst6ria da arte propraamente dita que o ua-
balho da forma como formao sera, nas tres primeiras decadas do
seculo XX, mais pertineotemente reconhecido e teorazado. Acabo de
dtar Freud, inventor do primeiro protocolo dfntco nao domsnJdo peh
primazia do vis{vel- ainda que ele soubesse, ou jusramente porque
sabia reconhecer tio bem a complexidade e a inrensidade visual$ das
formas sintomaticas em at;ao3
4
Mas caberia citar tambem um ou
tro contexto do saber nao academico sobre as formas, urn conrexto
no qual nao eram mais os sonhos e os sintomas, mas as obras de ane
e as poesias mesmas que vinham sendo feitas - as obras da vanguar
da -que podiam dar ensejo a uma "recognosclbilidade", a um co-
nhecimento renovado do rrabalho formal enquanto tal.
Tratase do formalismo russo, que reuniu, entre cerca de 1915 e
1934, jovens pesquisadores em tomo de urn chamado
cujas resistendas que suscitou- e ainda suscita-sao suficsentes para
dizer a novidade, a fulgurancia e, num certo sentido, a an alogia com a
novidade dos conceiros psicanalfticos. Em ambos os casos, a
dassica de sujeito era radicalmente atacada, em ambos os casos a no-
de formao adquiria uma consistencia te6rica notavelmente pre-
cisa e fecunda. A denominat;ao de "formalismo", como ocorre freqiien
temente em tal circunstancla, foi imposta pelos detmtores desse meta-
do ela conserva ainda hoje uma conotat;io geralmente depreciativa; e
no campo que at.ravessamos neste ensaio, um enrico de :me
34 E nio posso, a titulo de exemplo, scnio voltar a esta
tanto fulgurante quanto dualenca, sobre o ao tem_ro fonml e sg
nificante do siotoma histerico no auge de scu momento crloco: Num caso que
observei, a doente segura com das mios scu vesndo aperudo contra seu cor
po (enquanto mulher), e com a outta mao sc por arrancllo (enqwnto ho-
mem). Esu simultaneidade conrradit6ria condiaona em o que tem
de incompreensfvel uma nao obsunre figunda pl.utcamente no. ata
que esc presta portanto perfeJamente A do (antasma anconsoenre
que'esti atuando". S. Freud, J...es fanJasmes hysteriques et leur a Ia
sexualitl!" (1908), ttad. dir. J. Laplanche, Nlvrose, psycbose et Panh
PUF, 1973, p. tSS.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Ollua
213
>.
' '
. -
..
.. ,
. .
..
amleri,can:ocheg:a a empregar 0 tenno "fonnalismo", cenamente nao e
em refet&cia ao fonnalismo russo que de o fara espontaneamente3
5
Cumpre no ent:tnto reconhecer o car:iter exemplar de um saber
sobre as fomus construido, nao como efeito de alguma decislo de prin
dpio, nus como efeito de uma respost4 a um .. presente
no qual os movimentos da vanguarda cubtsta, abstrata e futunsta
prodi!Zi:Jm obras a tod? e "singulares"
cootemporineos36. Fot pnmetramente vttando as costas a est&ica sun
bolisu- arcaizante, crente- dos poetas russos tradicionais que os
fonn2listas rejeitaram a 6losofia "simb6lico-religiosa" que a
no campo do saber. t significativo por outro lado que Bons Eikhen-
b:tum, sobretudo com teo ria liteniria, tenha por
reconbecer o papel piloto das teorias visuais- a de Wolffim, a K.
FoU e de seu Ensaio de estudo comparativo dos quadros -, predsa
mente porque elas se engajavam numa te6rica sobre o
trabalho das formas enquanto raisl
7
Quanto a RomanJakobson, ele
nao tinha vinte anos quando enunciou, na revista tcheca Cnven, uma
especie de programa P:Jfa uma hist6ria da arte vindoura- programa
que se contra uma disciplina mundana, aburguesada, filoso-
ficamente conusa e portanto ina pta a considerar a mesma de
foml3:
1S a. por exemplo B. BucbJob, Form21isme et bistoricitE. de
scswoc:epcsdans rarteurop&netam&icaindepuis 1945" (1977), trad. C. Gsntz,
&uris bistoriqves. II. An conumporain, Villeurbanne. An &tition, 1992, PP 1
106. Noremos que, em sua coled.oea Art d culture. op. eiL, C. Greenberg jama.ss
etta OS formalisw IUSSOS.
uma
1
pr "e.;jQ gcral desse morimalto te6rico ede sua
o mo
1
ilu;nro ll1fstico oa litedrio, d. T. TodoroY, Pt&encation", Tblorie de Ia
linlrrmtre. Tcte:r des fomtlllistes nwes, mmidos e 1prescucados porT',. T
Paris,LeSeuil, 1965,pp.tS-27,eA.Hansenlme, t.eformallsmerusse ,Hls!orre
de Ia """- I.e XX' liMe. II. lA et Ia attrrks vlngt, dir. E.
aL., Paris, Fayard. 1988, pp. 618-656. A em ao for-
!IDiililaiKI ra.o foi por astim dizcr colocada emJeU Iugar por R. Jakobson, "Vers
[1iuc: a:ace de rart pol:dqoe", T711orie tle Ia op. dt., pp. 9-13. Record
qae a &cfal:nda aos fonnalisw russos pennitiu H. Damlsch rrJtlorle
. Le Seuil, 1972, pp. 42-47) cnundar uma. ma.neita nlo-humanista
pidJtrll poesis.
itchenbaam., La tbEorie de Ia nKthode fonncUe (1915), T11iorle de
op. dt., pp. 33-37.
Georges Didl-Huberman
Nao far. muito tempo ainda, a hist6ria da arte. em
particular a hist6ria da literatura, niio trauma cibtcia, mas
uma causerie [convma (em francis no on gina/)/. EJa seguia
todas as leis da causerie. Passava alegremente de um termz
a outro. e o fluxo /(rico de palavras sobre a elegiinda da
forma a/ternava-se com anedotas tiradas da VIda do artis
14; os trufsmos psico/6gicos reveuzvam-se com os problmuzs
relativos ao (undo filos6fico da obra c aos do meio social
em questiio. E um trabalho tiio foci/ c tiio remuntrador fa
far da vida, da lpoca. a partir das obras/ ( ... ) Quanto a
confusao sobre 0 termo 'forma', ela e alnda mais descs-
p t
38
tran e... .
De que maneira os fonnalistas russos tentaram v:Jrrer essa con
fusao? Se fosse preciso resumlr brevememe a progressao dialetica de
seu "metoda", poderiamos destacar tees momentos fones atraves dos
quais as de fonna e de fonnatividade adquiriram uma consis-
tencia cada vez mais precisa, cada vez matizada e aberra39.
0 primeiro momento, poderlamos situ3-lo como o reconheclrnemo
da forma em sua o ponto de vista do texto ou da tex
tura; ele enuncia a autonomia material e significante das fonnas. 0 que
isso significa? Signi6ca que uma fonna sera primeirament.e apreendida
em sua "fatura" (factura, que significa ao mesmo tempo textura e ma
terialidade), em suas "particularidades especfficas", na unidade singu
lar, que ela realiza a cada momento, do material e de seus caracteres
constru1dos ou significativos. antes de tudo de tornar con-
creta a de fonna, e de compreender o carater imanente dessa
unidade de uma materia, de uma a e de urn senti dona cons-
de cada fonna particular40,
R.jakobson, ou r&lisme attisrique (1921), ibitl., pp. 98-99.
JJ A mclhor desu continua scndo o ensaio de 8. E1-
ckhcnbaum, u de Ia .mthode fonneiJe, art. eit., pp. 31-75 (e que resu
me suas pr6prias conquistas, pp. 73-75)
40 Id ibid., pp. 31, 37-42.48, 60, 63-64. Notar-sc.a que essa an
tecipa direramcnte a de forma sigrri(i(4nte que Bcnvcnistt vcio a enuna.u
no campo l.ingii{stlco. Cl. E. Benveniste. ta fonneet le scnsdans le tanpge (1967),
ProblemC$ de unguistique gbrirale II, Paris, GaUl.ma.rd, 1974, pp. 215-221.
0 Que Vemos, 0 'Que Nos Olha 21$
: I
0 segundo momento te6rico dessa podemos resumi-
lo como o reconhecimento da forma em sua organlcidade. t o ponto
de vista do do desenvolvimento, que vern se articular aqui
com o da textura; ele enuncia doravante o caniter dinamico das for-
mAS enquanto tai.s. 0 que isso significa? Em primeiro Iugar, que toda
forma entendida rigorosamente reune num mesmo a to seu desenvol-
vimento e seu resultado: da e portanto uma funo, cujo carater di-
nimico eminentetnente complexo era reconhecido de born grado por
Tyn.i.anov, por exemplo
4
1. Em segundo Iugar, nlio serA mais suficien-
te descrever uma forma como uma coisa que tern este ou aquele as-
pecto, mas si.m como uma relao, urn processo dial&ico que pOe em
conflito e que atticula um certo nW:nero de coisas, um certo nW:nero
de aspeaos42. Em terceiro Iugar, o fa to de esse processo dialmco re-
vdu a todo memento seu cat.iter de "montagem", de conflitos enla-
de transfonnaes mwtiplas, esse fa to tern uma conseqiiencia
essencial: e que a coesio mesma de uma forma nao era reconhecida
senio como a soma - ou melhor, o engendramento dialmco -de
todas as defomtafOes das quais a forma se tomava, por assim dizer, o
cristal.
Conseqiiencia capital, com efeito. Ela sugere a mas nio
- como em Cassirer- a unidade ideal da Sugere a
estrutnra.l, ma.S nao o fecbamento ou o esquematismo de uma forma
alienada a algum tema" ou ideia da razio. Ela en uncia um trabalho,
om trabalho da fomuztividade que comporta, apesar da distancia ma-
nifesta das problematicas, certas analogias perturbadoras com o que
Freud teorizava, a prop6sito do sonho, como um trabalho da figura-
bilidade. Em ambos OS casos, com efeito, 0 ponto de vista economico
e dinamico se fundamenta na ideia de que uma forma sempre surge e
se coostr6i sobre uma ou uma crftica dos
A unidade da obra oao ama enddade l im&rica e fech.ada, mas uma
integridade dinimica que laD aeu pr6prio desenrolu; seus elementos nio c:atlo 11-
pdoa por am linaJ de igu.aldade ou de mas por utn sinal cfinlmko de cor-
e de A forma(-) dcYe portanto ser sendda como uma forma
dinlmn. j. Tynianov, citado por B. Eiclchenbaum, "La tMrie de Ia m&hode
formeDc:",IITI. dt., p. 64. Sobre a complexidade da construdva", cf. J .
.. TJII.IaDOY, De l'Evolutiom litt&aite" (1917), tle Ia littbatvre, op. cit., PP
l
41 Cf. V. Chklonlri, "L'an comme (1917), ibltl., pp. 76-78.
Georgc:a Dld.i-Huberman;
automatismos perceptivos: isso e evideme no nfvel dos sonhos,
0
cr.1
menos ao das obras de arte. Mas os formalistas enundavam co -
m Vlgor
- e sen;t apelar 3s categorus esttticas tradicionais, a do "belo ideal ..
e?' particular- que toda forma de arte, ainda que "semelhante", de-
vsa "como um meio de destruir o automaosmo per-
cepnvo . A_o tempo, acrescentavam, a forma artfsrica ten de
a pOr em evsdencta ocarater singular, fortemente reivindicado nas obras
de A "montagem" (monraz) sobrcpOe-se unu
economta do deslocamento" (sdvig) que nao deixa de lembmr e da-
ro,otrabalhopsfquicodo "deslocameoto" (Vmchkbung)
do sonho. Em ambos tam hem, o elemento de aberrura polissemica
0
elemeoto de serao o objeto de toda a
Em ambos, amda,a trabalho exigini pensara forma como
um processo de Je{onnao, ou a figura como um processo de desfi-
Freud, como sabemos, nao dizia outra coisa ao alirmar que o
trabalhodosonho "conteota-seem transfonnar" e, assim laz.endo util.iza
os meios figurais para tomar cada forma labil, orieotliveJ: rever-
etc.
44
Jakobson, Tynianov ou Chklovski tampouco di-
Zlam ?utra .coiSa quando enunciavam sua hip6tese da
orgaruzada - 0 que SUpOe que toda forma e {onnadora na medida
mesmo em que e capaz de defomrar organicamente, dialet1camente,
outras fonnas ja "formadast>-4
5
-, ou en tao quando infe.riam do "ca-
rater heterogeneo e polissemico do material" uma de trabalho
formal extremamente dialetica, feita de "deslocamentos orientados" e
que culmina no seguinte paradoxo (tam bern en uncia do por Freud quan-
do relacionava a plnsticidade do sintoma com a do fan-
tasma inconsciente, por exemplo): e que toda forrna autenticamente
construfda-pensemos de novo no cubo de Tony Smith- apresmta
- '
sua mesma como um "fenomeno de obscurecimento", um
J B. Eidchenh2um. "La thEorie de 12 methode forrndJe, m. cit-, p. 45.
44
S. Freud, L'murpr&tio" tks rilles (1900), trad. L Mcyenon revist2 par
D. Bcrga, Paris, PUF,l967 (eel. 1971), p. 432. e, emgcra.l, pp. 2.41-02. a. igual
menteitl., "REvision de Ia thEorie du reve (1933), trad. R.M. Zdtlin, Nowe.lks
amfbmca tl'lntro<luaion a Ia Paris, Gallimard, 1984, pp. 28-Jl.
41
A ttoria da organi.uda - expressJo de JaJcobson- !=-
sentada por B. Eickhenbaum, ta thEorie de Ia formdle, art. dt., pp.
61-63.
0 Que Vemos, 0 Que Nos 01114
217
l
. I . ....
. -
ritmo prosaico violado", uma visibilidade pen:eprual- a que espe-
ramos espontaneamente de urn cubo, por exemplo- "esttanhamen-
te" e "singularmente"
A do sujeito com a forma se vecl enfim, e sempre nos dois
quadros problem&ticos, perturbada de parte a parte. Perturbada por-
que violentamente deslocada: deslocada a questao do belo e do julga-
mento de gosro<47; deslocada a quest:ao do ideal e da artfsti-
ca. Sempre uma coero e.strutural tera sido dialetizada com o lance
de dados "estranho de cada singularidade sintomatica. E do choque
desses dois paradigmas nasce a forma ela mesma, a formal
que nos faz compreender-por ser uma dinimica que e a unica a poder
explica-los- que ela ttabalha numa ordem de intensidade tanto quan-
to de extemio t6pica. Toda a beleza da analise freudiana esta em nos
&zer tangfvel a intenSidade singular das imagens do sonho attaves da
disjrmo do afeto t da repre.stntao, que nos faz compreen-
der por que uma cena terrivel, a morte de urn ser querido, por exem-
plo, pode afigurar-se-nos absolutamente neutta" ou "desafetada"
num sonho48 - e por que, reciprocamente, um simples cubo negro
podera de repente mostrar-se de uma louca intenSidade. Sabemos, por
outro lado, que Roman Jakobson nio estava do distante desses pro-
blemas quando definia, dando aos psicanalistas um objeto eminente
de reflexio, seu conc:eito lingiifstico de "embreante" (shi{kr) como uma
especie de sintomitica, indicial, na qual se sobrep0en1 - no
de uma palavra minima, no de uma inten.Sidade ou de
uma do discurso- a global do c6digo e a inter-
local, subjetiva, da mensagem<49.
'" Sobre pol.isscmia do material e 0 proc:c:sso defonnante da forma, cf. J.
Tyuimoor, La nocion de coosttuCtion, ttTt. dt., pp. 11+115. Sobre a !onna
tistic:a como obscurecimento, cf. V. Olldovski, L'a.rt comme ,IITf. cit.,
pp.96-97.
47 Pan ama abordagem desse problema no quadto de uina lreudia
aa, cf. o teeeute Jmo de H. Dtmiscb, Le de P4rls.Icorrofogle
I, Paris, Flanmwioo, 1992, pp. 7-SO.
4t C1 S. Freud, L'brkrprl14tion Jn rives, op. dt., pp. 39z-.416.
. .., C1 R.jalcobson, t.es embrayeurs, lcs catEgories Yerbales et le verbe russe
(1957), trad. N. Ruwet, E'..u.m de ghrbak, I. Lts fondations du langage,
Paris, Minult, 1963, pp. 176-196.
218
Georges DldiHubelnnin,
Um terceiro momento estava portanto de anremao !nscrito nes-
sa te6rica do fonnalismo. Poderfamos resumi-lo como
0
reconhecimento da forma em sua contextua/idade. to ponto de vista
ampliado do paradigma; ele busca enunciar o caclter meupsicol6gi-
co, hist6rico e antropol6gico do trabalho formal enquanto tal, Ora,
ainda que esse programa tenha sido formulado por Tynianov desde
1923, ele representa o aspecto menos compreendido do formallsmo
na medida em que a palavra "formalismo", trivialmente empregada'
significa mais ou menos a recusa de compreender uma forma em
contexto. t que a visao trivial s6 sc prende aos dilemas e ignora a dia-
letica, e assim confu.nde autonomia ou especi{iddade com tautologia.
Os formalistas russos certamente afirmaram os caracteres autonomos
e especlficos de toda formal- mas jamais os enccmuam
numa tautol6gica da obra de arte. Alias, eles condenavam
a estetica da "arte pela arte". jakobson, na Russia, alternava as ela-
te6ricas, as reuni5es com os poetas ou os pintores de van-
guarda e as pesquisas de campo- a maneira do emolingiiista - p:ua
recolher seus documentos de poesia oral. Tynianov tentava dialetizar
a "integridade dinamica" da forma- fa tor puramente sincronico -
com sua dimensao diacronica, sua "imporcincia hlst6rica" a reconheccr
sempre, a reproblematiza.r em sua pr6pria dinamicaso. Quanto a Ei-
khenbaum, ele resumia todo o projeto diz.endo que "a teoria reclama
o direito de tomar-se hist6ria" e, mais ainda, reivindicar soberanamente
sua a uma antropologiaS1.
Se esse projeto magnifico nao foi reconhecido como e scm
duvida em parte porque a hist6ria - a rna, a belicosa, a totalitaria -
destruiu a coerencia e a vida pr6pria dessc movimento intelectual.
Como em a Benjamin, como em a Carl Einstein
52
A
sinistta violencia da hist6ria busca sempre destruir a "sublime violen-
JO J. Tynanov, La notion de construction''. art. dt., pp. 115119.
$1 B.. Eiclchenbaum. La de Ia formelte, m. cit., pp. 32-
33 (n0$$0 Unico objcmo c:onsdCncia te6ric2 e hist6ric.a dos &ros), 51, 65-
7<4 (para n6s, a teori2 e a hist6ri2 formam II:LM coisa s6). A mesnu
ciada por R.Jalcobson emseu anigosobre t.a domiJunte (1935), tnd. A.jany,
Q!ttstiotu Paris, Lc: Seuil, 1973, p. 150.
n Sendo que ambos se suidduam, no mesmo anode 1940, sob a
N.zista. Evoarei a personalidade de Carl Einsrein algunus paglnu adiAnre
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
219
. J
..
veidadeiro. Os textos dos fonnalistas russos s6 serao tradu:d
dose apresentados ao leitor frances, por Tz.vetao Todorov, em 1965.
Nesse meio tempo, o herdeiro mais direto e mais rigoroso desse
todo - refiro..me a Claude Levi-Strauss, obviamente - pOde come-
ttt urn de seus raros escritos que peca por e mesmo ma
U; oi quando, ao comeotar o livro amoso de Vladimir Propp s?bre
a Morfologia do conto, quis a todo custo opor a forma dos formalistas
i estrutura dos estruturalistas, recusando a primein rudo 0 que a se-
gunda ttali7.3va, segundo ele: a da e do coo:eudo; o
c:ariter nio-abstrato dos resultados mterpretanvos; a a rna
terialidade dos fenomenos; o ca.nlter auteoticamente sintitico dos pro-
cessos analisados; enfim, a abertura ao context<>, portanto a dim;n
sao bist6rica e antropol6gica53. Foi no entanto de maneira
mente exp!rcita que Jakobson evocou a direta do formahsmo
russo ao estruturalismo ocideotal
54
Nao evoco esses malenteodidos e nao me enttego ao exerclcio
sempre frustrante de evocar apenas, de resumir pan_?rama pen
samentos complexos, senao em de uma te6nca atual
na qual se agitam muiros pseudo-diJemas e pseudo-ultrapassagens a fim
S3 Cf. C. Uri-Scrauss, La structute ct Ia forme. Rnlexions sur un ouvragc
de Vladimir Propp (1j6{)), Anthropologie struaMTale dna, Paris, Pion, PP
13,_ 173. Apesu de mdo, ele recoohcce danmente (em panieul.u no post-unptum)
sua di-rida em ao formalismo. T. TodotOY, poe sua "fez, comentou recen
It iiW !!It a poltmia entre lbi..Stnuss e Propp (que lbe te:spondeu em 1966) nos
sqWou:s reuuos: o uWc:otc:odido que eovolve dois insuutivo sob
muitol aspeaee Foi prooc:ado, em pam, pe1a igDodDcia mutua na qual se en
wuttaftiD eeas tespcaivee tnba.lhos. Ibi-Sttauss, que s6 conhcce Morfolog/4,
Ptopp am paro fonoalisu. incapn de se inlltt E 11u pe1a hlst6na e pelo con
ccao emosdfico; Propp responde com que nlo fez outta colsa oio
tc:r isto em toda a sua 'rida (e ele tan rulo). Pdo mcsmo motivo, Uri..Strauss nio
comprealde que u pesquisas morfol6gicu' e u pesquisu 'hist6ricas' de Propp
do u dau fasts de am mesmo projeto que mnoota em l protoforma (a
coisa tantO mais pica ore pdo &to de o pr6prio J..tri.Scrauss reco rer l morfolo-
p de Goctbe e citar de bom gado A me1amor{ou tl4s plllntas). Por seu bdo, Propp
faz como It Uri-Strauss s6 tivesse escrito 'La struCture ct Ia forme' ( ... ) e o acusa
de Itt ampuro 'fi16sofo', rejeitada com tulo pot Uri..Strauss. T. To-
doroY,
ads d tllgels, dit. E. Etkind ct al, Paris, Fayard, 1990, P 576.
S4 Cf. R. jakobson, La dominanre ,llrl. dt., pp. 145-147.
l
'
de se inventarem passados triunfalmente ultrapassados, ddini-
tivameote iJegfveis- tornados tlegfveis, em realidade- Prtteritos
inapelavelmente extintos. Como se as quest5es colocadas artis-
tas ou pelos pensadores fossem extingufveis ou perecfveis. Como se o
para tornar legfvel o Preterito nao fosse a unica maneira, a ma-
neira dialetica de ioventar novas form:1s, novas artes de ler e de olhar.
A obra de Carl Einstein faz parte desses pens:1mentos tornados
praticamente ilegfveis hoje. Jean Laude e Liliane Meffre, que na Fran-
mais contribufram para dar-lhe alguma atualidade, anal isavam o
feixe convergeote das ra.zOes materiais e intelectuais de tal esquecimen
to: ha primeiro a dispersao de seus escritos, a sistematica
pelos oaz.istas das obras e das revistas vanguardistas das quais Einstein
havia participado; ha 0 carater inedito de um verdadeiro ccrpus ain-
da em dep6sito na Akademie der Kilnste de Bedim. Ha a dificuldade
iotrlnseca de sua escrita- com para vel, entre muitos outros, ao
caso de Walter Benjamin-, bern como a imensa cultura te6rica a qual
ele se refere, mas da qual os historiadores da arte em geral esquece-
ram hoje quase tudo (penso em particular em Georg Simmel, em Hil-
debrand ou em Konrad Fiedler). Ha ainda a violencia crftica de suas
analises, o tom resolutamente anti-academico de suas ha
enfim o carater radical de seu engajamento, seja artfstico (e foi seu
combate de primeira bora em favor do cubismo, seu papel :10 Ia do de
Georges Bataille na revista Documents) ou polftico (e foi seu comba
te de primeira bora na guerra da Espanha, ao lado dos anarc(Hindi
calistas intemacionais)ss.
Tudo isso, e claro, nao o perfil habitual de urn historia-
dor da arte habiJ na conversa". Tudo isso nao faz. senao as
linhas atormeotadas de uma fitosofia a rnartebdas". M2s essa vio-
lencia mesma estava de acordo com o iogo dialltico que Carl Einstein
bu.scava manter em su.a anil.ise do mundo das imagens. Ele devia a
Fiedler a de que nem a beleza nem o ideal constituem o jogo
fundamental das imagens, e de que em todos os pianos - estetico,
JJ Cf. J. Laude, un portrait, C:hics du Musle NatioMl d'Art Modunr,
nt, 1979, pp. 10.13; L. Meffre, Aspects de Ia tMoric de l'art de Carl Einstein",
ibid., pp. 14-17; id., C:rl EinsJtin et ID problbtuJtique tks tnlttntgiiTtks tlans ks
ttrls pwtiques, Bema/Frandurt, Lang. 1989. Podc hojc consult2r os Wcke de
C. Einstein, ed. R.P. Baacke, Berllm, Mcduu, 1980, 3 vol Um 4 volume
de ser publicado pcb.s Fannci und Wah, Berlim, com uma pure dos iOOlit'O$.
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olha 211
I
. ,
1
gnoseol6gico- era exatamente urm c:ritica em regra do neokantismo
que devia ser feita, Ionge das de Hermann Cohen e das
de Ernst Cassirer-56. Como nao pens:1r, ar, em Benjamin? E
como nio pensar nele tambem quando Iemos, logo no primeiro nu-
mero de Doamrmts, em 1929, tres paginas de" Aforismos met6dicos"
em que Carl Einstein enunciava urn projeto de hist6ria da ane (no
sentido do saber hist6rico a produzir sobre as obras deane) domina-
do, guiado pelo sentido agudo dos conflitos em obra em toda a hist6-
ria da arte (no sentido da das pr6prias obras)?
A hist6ria da arte e a luta de todas as experienclas 6ricas, dos
inventados e cbs do que se trata, nesse "aforis-
mo" que deixa aberta a do genitivo dena expressao "his-
t6rla da arte'", senio de algo que evocara sem dificuldade a
t!Whica benjaminiana? o quadro e uma uma suspensao
dos proc:essos psicol6gicos, uma defesa contra a fuga do tempo, e assim
uma defesa contra a mom. Poder-se-ia alar de uma dos
sonhos"S8: do que se trata, nessa reftexao que apela a uma metapsi-
cologia, senio de algo onde reaparecem a e a "dialetica em
suspensao de que falava Benjamin nos mesmos anos? Toda a conti-
do te:xto, que merecetia um coment:irio espedfico, acaba por
desenvolver uma verdadeira dialetica da imagem: sugere uma ampla
compreensio hist6rica na qual a arte religiosa -e seu "realismo meta-
ffsico, como diz Carl Einstein - sofreria o momento de antftese de
urn "c:eticismo" que dissocia "nao apenas as e as noc;Oes abstra-
tts, mas t:lmbem a visio e a visual" tradicionais; e eo Renasci-
mento que aqui e convocado como o emblema por excelencia dessa
Mas Carl Einstein en uncia as nas quais essa antftese
mesma deve ser ultrapassada, como devem ser ultrapassados os termos
ant:iteticos de todo di1ema. Aqui, ponanto, a imagem tecl per-
dido sua efic4cia cultual pr6pria, e a imagem artfstica ted ganho sua
U Cf. L Meffre, Aspects de Ia de l'art de Carl Einstein", tm. dt.,
pp. 14-l.S.
S1 C. Einstein. Aphorismes mithocfiques, Doamrmts, n 1, 1929, p. 32.
Auaclc90 a U1iane Meffre por meter assinalado que esse tecto Eoi escrito por Einstein
direumente em franc&. Pode-se hoje utilizar o da rcvista DoamrtntJ (1929
1930), prefac:iado por D. Hollier, J.-M. Place, Paris. >
.sa Itl., ibid., p. 32
222
especi{tddade, ou seja -segundo os termos de Carl Einstein- bs-
"d , a a
e seu estaruto. Mas sera preciso a arte do presente (o cubismo
no caso) reatar como que a especificidade perde, sem reatar com
0
;
mecanismos, definitivamenre ultrapassados, da Tanto e verda-
de que, para toda imagem autintica - portanto nao arcaica- e pre
ciso "espec_lficidade" com "eficicia ", ou seja, "forma" com ".
t assam daramente um problema de aura que Carl Einstein re
paginas, e sobrerudo na obra breve mas indsiva que
havaa dedicado Ja em 1915 a esculrura africana (Negerplastlk). Ora
esse problema enunciado nao como uma pura pesquisa de
do;-:- a arte africa?a submetendo-se, para a ana-
aomca ser constderada do ponto de vista do questionamento mo
de_mo, avtsado, do olhar cubista
60
-, mas como a vontade de resti
tutr nessa pesquisa uma autentica fulgucincia de imagem dial&ica. As
sim, a escultura era interrogada no cruzamento exato da "forma" como
e da como Por urn lado com efeito
Carl Einstein reivindicava olhar a ane africana com o nao
nogr4fico de alguem que "parte dos fatos e nao de um sucedaneo"
. d ,
ou SeJa, e alguem que olha as formas enquanto tais, e niio como sim
pies docwnentos para uma hist6ria social.
. Por outro lado, Carl nao tentava de modo algum sub-
tratr-se a levar em o elemento religioso que ele via de fato
co man dar toda a dinamica e a contextualidade dessas formas. Mas-
e est:l foi a a originalidade, a modemidade de sua analise-nii o
para buscar avidamente significados, "simbolismos''. uma iconogra
fia ou wn conteudo transcendente, e sim para relacionar imediatamente
a isso o modo de existencia material dos pr6prios objetos; sua forma
e sua apresentao ao mesmo tempo. Niio nos surpreenderemos, nes-
"Id., ibid., pp. 32-3<1.
"'ecnos problemas que sc oolocam il azte modcma provocaram uma abor-
dagem mais atenta que anteriormente d4 arte dos povos alria.nos. Como sempre.
a qui tam ban, um proc:esso ardstico atu.tl aiou sua hist6ria; em scu centro devou
sc a arte afric:ana. 0 que antes pued2 despro\ido de scntido enoontrou nos ID2is
recmres dos escultores sua que em QIWC nenhWllll
outr.a parte excero entre os negros sc haVJam colocado oom tanta pureu pcoblr-
aw prcdsos de I d., La sculpture negre (1915), trad. L Mefm, Qu'w-
a f/Jie Ia modemef, di.r. M. RoweU, Paris, Centro G. Pompidou, 1986,
p. J.JS
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
ill
I
I
c:ondies, de ttencontrar em Carl Einstein uma a aura dos
objeros a&icanos, expressa, como em Benjamin, nos termos
nol6gicos da dupla distancia, da obscuridade relativn e da vcsunhda-
de ptastica que dai decorre:
po5Sfvel faur uma analise formal que 5e ap6ie en:
certos elementos particu/ares da criao do e da lit-
sao que os mgloba. ( ... ) A arte do Negro antes de tudo
cktmninada ptla religiao. As obras esculpidas sao vmnadas
como o foram por todo povo da Antigaidade. 0 extcutante
da forma a sua obra como o {aria a divindadt que
a protege, isto e, qut desde 0 infcio tomou suas distinetas ml
a obra que e 0 deus ou $esl reaptJculo. Seu t;a?alho
i uma adorao a distancia, e assim a obra l a prton algo
independente, mais poderoso que o eucutank ( ... ), na
dida em que os fdolos sao com freqUencia adorados na obs-
curidade. A obra, fruto do trabalho do artista, pnmaneu
indepmtknte, transcendmte e livre de todo vinculo. A e5SQ
tranutndenda corresponck uma concepo do espafO que
exclui toda funfiio do espedador. preciso produzir e ga-
rantir um espafO cujos reamos for am todos esgotados, "'::
espOfO total e nao fragmenttirio. 0 espafO fech_ad? e
nomo nao significa aqui abstrao, mas sensaftiO unedtfZta.
Esse ftehamento s6 l gararrtido quando o volume estJ ple-
nammte exprwo, quando nada mais st pode acrescen_tar a
ek. (-J A orientao das partes e fixada nao em do
espedador, mas em funo de1as mesmas; tlas se derxam vn
a partir da massa compaaa, e nao com um recuo que as m-
fraquecerla. (-){A escultura africana] nao signi{ica nada, tla
nao e um sfmbolo; e 0 deus que conserva sua reaiUJ;zdt mltica
fechada, na qual indui o adorador, trans{orma-o
em sn mltico e abole sua existbu:ia lnnnana. 0 carattr finrto
e fechado da forma eo da religiao se do :f-
mo modo que o realismo formal eo realumo religioso
" ltL. ibid., pp. :w; e 3-48-349. SubUnhado por m1m. t aignific::atiYo
lji ....-... :..-r as mais rcc:cnteS doaanttop61ogos, po
<l O&OuvJ"'""' r-
exemplo as de M. u dieu objet, Paris, Flammarion, 1988.
i ,
. "
I 1,
Gtorges DidiHubennan
IUciodnio simples- mas dialetico- e prodigioso. EJe nao reme
levar em a autonomia formal das esculturas africanas
o fim, ou seja, ate o ponto em que podemos reconhecer que essa au-
tonomia nada tem de uma suficiencia tautol6gica. Ele nao teme levar
em o valor cultual das escuJruras afri01nas ate o fim, ou
seja, ate o ponto em que podemos reconhece.r que ela de maneira ne-
nhuma reduz a forma a uma realidade segunda, instrumental ou "sim-
b61ica ": ao contr:irio, a "transcendencia" (multo pouco ocidental, no
caso) e ai, por assim dizer, imanente a forma mesma sob a especie de
sua apresmtao- sua autonomia sua exposi9a0 na obscuri-
dade, em suma, tudo que faz dessa forma um trabalhar a dtstilncia
auratica. Por isso podemos ler nesse raciodnio que a escultura "olha"
o africano segundo uma que nada tern a ver com qualquer
conivencia espetacular ou psicol6gica, Carl Einstein opondo nesse
ponto o "realismo formal" das esculturas negras ao ilusionismo oci-
dental (o de Bernini, por exemplo) que ele acaba por qualificar de
"sucedaneo pict6rico" da escultura como taJ62.
t uma verdadeira antropologia da forma que se esb<><;a nessas
pliginas. Ela tMAli:rn a rualetica por excelencia de articular uma
serie de que pareceriam contradit6rias a primeira vista, e poe-
tanto de ultrapassar seus dilemas te6ricos correspondentes: assim ela
consegue pensar o fechamento da forma {a phistica",
como diz Carl Einstein) com a abertura de sua ou en-
tao a autonoma do volume com o trabalho de
constantemente efetuado sobre cada elemento representativo63. Ela
t:ambem acaba por nos convencer de que a secuJar do geo-
mltrico e do antropom6rfico pode ser ultrapassada: "Abstrato e or-
ginico sao criterios (seja conceituais, seja naturalistas) alheios a arte,
e por isso completamente exteriores a ela"6<4. Lembremo-nos, a pro-
p6sito, que esse (falso) dilema ocupava uma boa parte do problema
colocado a Michael Fried pela experiencia visual dos objetos criados
por Tony Smith e Robert Morris. l.embremo-nos tambem que, nas
41 C. Einstein, u sculpturt negre, art. cit., pp. 3-46-347.
0
Itl., ibid . pp. 349-351.
ltl., t'bid., p. 352. Sem Carl Einstein aqui cazgmr, m.u o faz ape-
nas para urn projcto te6rico que continua pertineore (urn projtto
do a aeu eng:ajament.o em 1 artc c:ublsta).
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
.."-'f- .
' I
, .
........
- tauto16gicas de Donald judd, essa fora precisa-
mente vista como insuperavel ou quase: "A principal qualidade das
formas geometricas, escrevia Judd, e nao ser organica, como 0 e toda
outra forma. deane. Seria uma grande descobena encontrar uma for-
ma que nao fosse nem geometrica nem orginica "65.
0 raciodruo de Carl Einstein contem ainda o inestimavel ensi-
namento de nos fazer buscar na forma mesma- ou seja, no jogo de
sua e de sua e nao em seu mero "simbolismo",
por exemplo- o prlndpio de sua ou de sua aura. Esta
nio nega o olhar do espectador, eta o inclui na estrategia da pr6pria
forma.. Que a forma nos olha desde sua dupla distancia preci$amente
por ser autOnoma na especie de "solidao" de sua e 0 que
Benjamin h.averia tambem de sugerir, ao dizer que a qualidade princi-
pal de uma i.magem auritica e ser inabordavel, portanto votada a se-
a auto-suficiencia, a itukpendincia tk sua (orma6
6
T erlamos
a.( wna primeira, uma elementar resposta a questio de.compreender
o que e verdadeira.mente uma forma intensa : e pelo menos uma coisa
a ver que, por mais pr6xima que esteja, se redobra na soberana soli-
ciao de sua fonn.a, e que portanto, por essa simples fenomenologia do
recuo, nos mant6:n a distincia, nos mantem em respeito diante deJa.
' entio que e1a nos olha, e entio que ficamos no limiar de dois movi-
mentos contradit6rios: entre ver e pertkr, entre petUber oticamente
a forma e sentir tatilmente- em sua mesma -que ela
nos escapa, que eta permanece votada a
- . ,
Se fosse preciso voltar uma vez mais ao texto- decididamente
fc:cundo e inspirador - de Michael Fried6
7
, poderiamos dizer neste
ponto que tudo o que ele bu.sca opor, a saber, a presen('l"teatral" de
um bdo, a presentness especffica" de outro, se constitui justamente
em forma intensa quando essa mesma e ultrapassada: ou seja,
quando a presenf4 fenomenol6gica nao escapa mais na area duvido-
sa de uma esperacular e psicol6gica, mas se da como a pre-
.
,.
sentness de uma ptastica" aut6noma; e quando a pre-
sentness da forma nao mais se encerra na area duvidosa de uma ime-
t
'I.S D. Judd, citado por 8. 8uchJob, Essais hlstoriques,ll, op. cit.; p. 188.
"Cf. W. :Benjamin, L'oruvrc d'art de sa thnlque",
cit., p. 147.
'
0
Cf. M. Fried, Azt and Objeethood", m. cit., pp. 26-27.
Georges Dldi-Hubemun
!
I
diatidade ou de uma instantaneidade idea is sempre ganbas masse d1
a presen('l de uma profundidade apreen-
d!da, porque apreendida entre luto e desejo68, 0 que se toma cl
, aro,
que ? de antropomorfismo perde aqui toda
tnv1al, mmetca e psicol6gica; ela visa antes urn nrvel
de inteligibilldade, aquele que nos aprox.ima do pa
radgma reudtano da {ormao - de sintoma, formar;<io
no sonbo, em todo caso do inconsciente69.
. ' de novo a metapsicologia fre!Jdiana que nos permiri-
na, em WOrna analise, precisar OS termos dessa diaJetica em que tenta-
mos a expressao "forma com " 0 trabalho do fi
guravelJa nos oferece de fato elementos para compreender a intensi-
dade "estranha" de expressas por Freud com
uma que d1z1a a mais que a
0
tra-
?o as unag.ens sao o Iugar necessaria mais que
3
sunb6Jica da qual senam apenas o supone acidental: e essa
palavra, Darstellbarkeit, nos obriga a pensar o figuravel como obra da
e sua intensidade como obra formal do signifi-
cante : Freud f?rneceu uma pista complementar que nos penni-
te prectsar atnda IDaJS OS termos da questao: C quando introduz urn
"do'?fnio da estetica", diz ele, que escapa as
elasscas da teona do belo". Ele estl situado a pane porque define um
Iugar paradoxal da estetica: e o Iugar do que "suscita a angt1stia em
geral"; eo Iugar onde o que vemos aponta para atem do prlncfpio de
praztr; eo Iugar onde ver e perder, eon de o objeto da perda sem recur-
so nos olha. o Iugar da inquietante estranbeza (das Unheimliche)71.
" Cabe aqui constatar que Michael Fried lntroduz aeu ns Jn(did.t
mesma em que rccusa pensar a divagem em obra: ou scja. a divagem do sufcito
do olhar.
"Sobre esse coned to, cf.J. La can, "l.es fomutions de l'inconsciern (rcsu
modos semin4riosde 1957-1958 por J.B. PontaUs), Bulktin th XII,
1958, nJSJ, pp. 182192 e n 54, pp. 250256.
'10 Permito-me retnctet novamenre a Dwant op. ciJ.. pp. 171-218,
bem como a urn esquema de desse no campo chs imagens ttU
giosu da ldade Puiwnces de Ia figure. er cbns l'art
chretien, art. cit., pp.
71
S. Fttud, l!rrangm (19 1 9), ttad. 8. Feron, L
ltrangdl d tnltres essais, Paris. Gallima.rd, 1985, pp. 213-214. Que a inquicunte
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 227
l
J
Por que reconvocar um texto tao conhecido? Porque a inquie-
tante estranheza freudiana me parece responder, melhor que outra
coisa, a rudo o que Benj:mun buscava apreender no carater "estranho"
(sonderbar) e .. singular" (einma/ig) da imagem auratica. Com a inquie-
tante esttanbeza terfamos assim uma nao apenas "seculari
zada", mas tambem metapsico/6gica da aura, como "trama singular
de e de tempo", como poder do olhar, do desejo e da mem6ria
simult2neamente, enfim, como poder da distincia. Recordemos bre-
vemente as fundamentais desse texto.
Que a Unheimliche freudiana seja uma trama singular de espa
e de tempo", e 0 que desde 0 inlcio se infere da dada por
Freud ao paradoxo da palavra mesma: unheimlich e, primeiro, uma
palavra do olbar (e o suspectus Iatino) e uma palavra do luga.r (e o
%/nos, o estrangeiro, em grego); mas e uma palavra cuja ambivalencia
acabari sendo analisada nos tetmos fortemente temporais do que .. re.
monta ao hi muito tempo conhecido, ao ha muito tempo familiar"
72
Segundo, a Unheimliche manifesta aquele poder do olhado sobre o
olhante que Benjamin reconhecia no valor cultual dos objetos auclticos,
e que Freud exprimiri aqui- de maneira mais aberta- nos tennos
de uma onipotencia dos pen.samentos" que associa o culto em geral
a uma cst:rutura obsessiva: o objeto unheimlich est3 diante de n6s como
se nos domina sse, e por isso nos mantem em respeito diante de sua lei
visual. Ele nos puxa para a obsessao. 0 Iatim diria que ele nos e
ou seja, que e presente, testemunha e dominante ao mesmo
tempo, que se di a n6s como se devesse fatalmente sobreviver a nosso
olbar e a n6s mesmos, nos ver morrer, de certo modo .. Nada de espan-
toso que a expressao tradicional de tal - beleza e ang\lstia
m.isturadas - possa concernir a imemorial superstio associada as
imagens auraticas
73
Terc:eiro, a inquietante estranheza se di enquanto poder conju-
gado de uma mem6ria e de uma proten.slo do desejo. Entre ambos se
situa talvez a repetio, analisada por Freud atraves dos motivos do
atranheza teja ambba um problema de {t:mrra (e nlo simplesmente um proble-
ma de e:xpu2Dcia Yi'rida), o que Freud mostta em tod2 a parte final de seu ani
co. pp. 252-263.
n ltl., ibid.. p. 215 (e, em geu.1, pp. 215-223).
7.1 ltl. ibid., pp. 242-2..45.
Georges DldiHubennan
espectro (a ideia fixa, o "retorno inquietanre" das imagens) e do du-
plo: 0 duplo, o originariamente inventado "contra o
rec1mento do eu , mas que acaba por s1gnificar esse desaparecimenro
mesmo- nossa morte- quan9o nos aparece enos "olha " 7
4
, 0 du
que nos "olha" sempre de maneira "singular" unica e
unpressionante, mas cuja singularidade se toma "estranba" (sonde bar )
pela virtualidade, mais inquietante ai nda, de urn poder de e
de urna "vida" do objeto independence da nossa.
Nao era um duplo que Michael Fried via mwto exatamente- c
muito pertinentemente- diame do grande a.ibo negro de Tony Smith?
E nao era muiro exatamcnte sua intensidade de Unheimliche que ele
apreendia com certo pavor nesse objeto "agressivo" e
demasiado pr6ximo e demasiado distante, de.masiado morto edema-
siado vivo, silencioso e invasor "como uma pessoa"?7S Freud havia
de fato tematizado o motivo do duplo segundo as mesmas ambiva-
lencias do vivo e do morto, do antropomorfismo e da 76,
Notemos a esse respeito que a do duplo define ao mesmo tem-
po algo que repete a humanidade - eis ar seu ca.rater de antropo-
morfismo - e algo que simultaneamente e ca. paz de repetir-se a si
mesmo, ou seja, de adquirir a especie de inumanidade de uma {omta
autonoma, "animada" de sua pr6pria vida de objeto puro, eficaz ate
o diab6lico, ou ate a capacidade de se auto-engendrar. Talvez haja na
pr6pria serialidade m.inimalista algo dessa apreendida como
ideia fuca - com a e claro, de interpreta-la segundo uma
vertente obsessiva na qual o objeto se tomaria ameafiZdor pela ratio
mesma de ser especlfico no auto-engendramenro de sua forma, de seu
numero, de SU:l materia.
Esse carater da experiencia visual encontra sua ex-
pressao radical na do objeto com toda wn.a
tematica da cegueira. Freud nao apenas indicou a da inquie
tante estranheza com a soliclao, o silencio e a obscuridade
77
- o que
7
4
Jd. ibid., pp. 235242.
7S M. Fried, "Att and Objecthood", art. cit., p. 17.
"S. Freud, "L'inquittante art. ciJ., pp. 224 e 249.
77
Id. ibid., p. 263, onde feitt refednciA as fonttS das angU.stias inlantis
como llpdad ausUlcia m:ttema. Ci. id., Trois ess4is wr 14 scoulk (1 90S },
trad. P. Koeppel, Pa.ris, GaUinu.rd, 1987, pp. 167-168.
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olha 229
I
I
logo irU fattr em a aura-, mas tambem nos m?s
tra como a experiencia da Vnheimliche equlvale a entra.r na experlen
aa visual de arriscar-se a nao ver mais .. E a analise famosa do conto
de E. T .A. Hoffmann, 0 homem da areia, que elucidara. esse motivo
da cegueira- por e.xemplo atraves da frase de.Coppelius.: "Por aqui
os olhos, por aqui os olhosl" -entendida como um subsntuto da an-
g\lstia de
Mas, para terminar, e de fato 0 poder de uma dtstaocta, de uma
dupla di.stinci.a, que atua ainda numa tal Freud
xima da benjaminiana da aura como "Unica de
uma lonjura, por mais pr6xima que csteja", quando Vn-
heimliche o carater, ja observado por Schelling, de uma
sentida como a cstraoha, Unica, de algo que devta perma
necer em segredo, na sombra, e que dela saiu"
79
Algo saiu da som-
bra, mas sua apario conservara intenS:l.lllente esse afa.sta-
mento ou de profundidade que a destina a uma perststenaa do tta-
balho da dis:simulao. Assim a experiencia do olhar que buscamos
cxplicitar conjuga aqui dois momentos
mente de um Jado, "ver perdendo , se podemos
de outro ver aparecer o que se dissimula". No nudeo dcssa dialeti-
' . . .
a, sabemos, Freud colocari a consotun':a- e cs-
trutural ao mcsmo tempo - do recalque. 0 que lSSO quer dizer, fi.
nalmente, senio que toda forma iorensa, toda forma auritica se da-
rla como esttanhamente inquietante" na medida mcsmo em que nos
coloca visualmente diante de atgo recalcado que retoma"?
80
Pode-
ria a intenSidade de uma forma chegar a de6nir-se metapsicologica-
mente como o retorno do recalcado na esfera do visual e, de maneira
mais geral ainda, na esfera da estetica?
,. rJ., L'InquUw\te ftransm, "" dt., pp.115134
" IJ..IbiJ., p. 222 (ciundo Schdlins)
"ltl,lhitl,, p. "" l'ttl, f'P n, p,tui..Uitll rnr ft na plll1f
alit, 1ft pJJm.t Hlfhmn/14 ,4priJ marca dq ,ecalcJIM)
DldlHubennan
,
\
'
0 INrRMINAVEL LIMIAR DO OLHAR
Freud propunha ainda urn Ultimo para-digma para explicar a in-
quietante cstranheza: e a desorientao, experienda na qual nao sa-
bemos mais exatamente o que escl diante de n6s e o que nao esta, ou
en tao se o Iugar para on de nos dirigimos ja nao e aquilo dentro do qual
seriamos desde sempre prisioneiros. "Propriamente falnndo, o estra-
nhamente inquietante seria sempre algo em que, por assim dizer, nos
vemos totalmente desorientados. Quanto mais urn homem se locallz.a
em seu ambiente, tanto menos cstara sujeito a receber coisas ou acon-
tecimentos que nele produzem uma imprcssao de inquietante cstranhe-
za" t. Ora, e em Ultimo limite diante do sexo feminino, nos diz Freud,
que os "homens neur6ticos"- ou seja, os homens em geral- mais
experimentam essa desorienta-rao da Vnheimliche: e quando se abre
diante delcs esse Iugar cstranho, tao estranho, em verdade, porque
impC>e aquele retorno a "casa" (das Heimische) perdida, ao lim1ar
passado de todo nascimento. A referenda metapsicol6gica a angl1stia
de castra4jiio completa-se portanto aqui com uma referenda ao "fan
tasma do ventre materno" (Mutterleibsphantasfe)2.
Mas as duas cstao ligadas, ontologicameote por assim dizer, na
experiencia da inquietante cstranheza. Pois nossa desorienta4jio do
olhar implica ao mesmo tempo ser dilacerados pelo outro e ser dila
c:cradot por n6t mcamoa, dentro de n61 meamo1. Em todo cuo per
demos algoa, em todo caso somos ameafQdos ptla aus2ncia. Ora, pa
radoxalmente, essa cisio aberta em n6s-cisao aberta no que vemos
pelo que nos olha a se manifcstar quando a desorienta4jio
nasce de um limite que se apaga ou vacila, por extmplo entre a reali-
dade material e a realidade psfquica
3
to que se passa no momento
'S. FrtUd, "L'Inqulttante art. at., p. 216.
J ftl. lhltl., J'J' H1 2 "
1
/11: lh/lf,, p,
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olba
231
I
.
"'
. .
em que Stephen Dedalus contempla o mar i sua frente: um limite se
apaga quando a onda traz consigo as ovas de peixe eo de uma
mem6ria enlutada. Mas, no mesmo momento, um limiar se abre tam-
bCm na visibilidade mesma da paisagem marinha; o horizonte, o diante
longnquo, se abre e se curva ate dcsenhar virtualmente o "broquel de
velino esticado do ventre matemo, mas tam hem a imagem extrema-
mente pr6xima da tigda de porcdana cheia dos humores da mae mo-
ribunda, verdes como o mar contemplado ao Ionge. Eo limia.r que se
abre ai, entre o que Stephen Dedalus ve (o mar que se afasta) eo que
o olha (a mae que morre), esse Umiat niio e seniio a abenura que ele
carrega dentro de si, a "ferida aberta de seu
Eis portanto reformulada a "ineluravel modalidade do vis(vel"
segundo James Joyce. Lembremo-nos ainda que no final da celebre
passagem, logo antes da de fecha.r os olhos para vee", era a
pabvr.a porta que aparecia aos nossos olhos, segundo os motivos as-
sociados de uma diafaneidade 6tica e de cinco dedos que buscavam
b c:egas sua apreensiio t:atilS. Seria a porta nossa Ultima imagem dia-
l&ica para conduit- ou deixar aberta- essa f.ibula do olhar? Em
todo caso, da o foi para os escultores e algumas de suas obras exem
plares aqui contempladas. 0 Uande cubo de Tony Smith certamente
nao se assemdha a uma porta; mas sua natureza profundamente dia-
l&ica, sua natureza de obstaculo e de aberrura visual ao mesmo tem-
po, condcnsa duas modalidades espaciais que terio sido, posteriormen-
te, dissociadas e especificadas. to muro que, na intitulada jus-
tamente The Wall, opae ao olhar wn anteparo de madeira ou
de negro; e hi tam hem aquda intitulada The Maze, o
labirinto, que abre ao espectador algo como a entrada de wn templo
ou de um Iugar temfvel- um Iugar aberto diante de n6s, mas para
nos mantrr a distanda enos dtsorientar ainda mais (fig. 36-37, p. 233).
Pois essa porta permanece diante de n6s para que nao atravesse-
mos seu Umiar, ou melhor, para que temamos atravessi-lo, para que
a decisiio de faze-to seja sempre diferida. E nessa diffbanu se man
ran-se suspende- todo 0 nosso olbar, entre 0 desejo de passar, de
atingir o alvo, e o luto interminavel, como que interminavelmente
antccipado, de jamais ter podido atingir o alvo. Permanecemos i orla,
.. J. Joyce, Ulysu. op. cit., p. 7-10.
s ltL. ibid., p. 36. Cl. mpra, pp. 9-11.
....
Georges DidiHubennan
I
'
- . . .
36. T. Smith, The Wall, 1966. Madeira pincad2, 2"" x 2"" x 61 em. Concsia
Paula Cooper Gallery, Nova York.
37. T. Smith, The Mm:e, 1967. Madeira pinuda, 203 x JOS x 76 on.
Paula Cooper GaUc.ry, Nova York.
diante desses tllmulos egipcios que, em canto de seuslabi-
rin1toS. figuram apenas portas, ainda que s6 ergam diante de n6s o
ot>Stllicullo concreto, calclrio, de sua imortalidade sonhada (fig. 38, p.
...... ,. Nessa situao, somos ao mesmo tempo a uma passa-
. gem que o labirinto decidiu por n6s, e desorientados diante de cada
poru, diante de cada signo da Estamos de fa to entre um
diante e um dentro. E essa desconfort:ivel postura define toda a nossa
e:xperiencla, quando se abre em n6s o que nos olha no que vemos.
0 motivo da porta e, por cetto, imemorial: arcaico,
rel.igioso. Perfeitamente ambivalente (como Iugar para passar alEm e
como Iugar para nio poder passar), utilizado assim em cada
cada recanto das miticas. Dante p0e uma porta na entra
cia do Inferno - Por mim se vai a sempitema dor ( ... ) Deixai toda
v6sque entrais"6 -masigualmeote na do Purgat6rio; e uma
feoda que corta urn muro" e onde vigia urn guardiio si1encioso; sua
espada, como a imagem mesma do limiar cortante, fascina o olhar, e
Dante, medusado, pennanecera diante da porta, inca paz de passar aim
antes que Vugt1io venha ajuda-lo
7
sao ainda portas que se abrem no
du aos vislonirios do Apocalipse8. &mpre juizes ou guardiaes se man-
teat diante deJa s; sempre elas se tomam estreitas nos ritos de passagem;
os pr6prios deuses se dizem portas onde entrar na mais infinita
E que a porta e uma figura da abertura- mas da abertura con-
dicional, ou capaz de tudo dar ou de tudo 'to-
mat de volta. Em suma, e sempre co111411dad4 por uma lei geralmente
. misteriosa. Sua propria batida e uma figura do double bind. Os livros
. po&icos ou sapienciais, os livros profeticos<Ja Bfblia hebraica, incan-
_ _savelmente comentados, nao cessam de tecer os motivos de portas fe-
cbadas ou entio abertas a de Iagrinw, de arrependimentos, de
!eridas ou de assombros diante dalei divinato. E a burna-
'Dante, DiuiNJ Comidi4,lnfemo, m, 110
7
!tL. ibiJ., Purpt6rio, IX, 73-8-4.
I
1
Apot:4lipu, IV, 1.
'a. DODcbmente !Mas, XDI, 2+, Mmnu, VII, 13-14;/oclo, X, 9 (EU sou '
pon:a. mtru por mim. sen salvo); Epls1ol4 tk Tillgo, V, 8-9, etc.
so a. D$da,.,... Lllrnmtttf&$, m, 8; Salmos, XVI, 11; XXXIX. 12, etc.
'oek:-teu um apanludo dos comendrios nbfnicos desses motivos em C. G. Mon
Georges Didi-Hubcnnan
..
' I
I ' '
I
38. Estcla em lalsa porta" de Nyboudidoufri. F.giro, IV" dinasti2, re:t de
26132498 a.C. <Aiclrio, 180 x 90 x 20 ern. Museu do Louvre, Paris. D.R .
I
-.
, na, a busca dcsesperada do "sentido dos sentidos" ou da
real", tudo isso teni com fteqiienda a figura de portas a passar, de
portas a abrir. Gershom Scholem faz remontar a escola rabfnica de
Ces3reia o motivo, referido poe Orfgenes, de urn "sentido dos sentJ-
dos"-ou de urn Tabernaculo- que nao segundo urn
modelo de percurso linear, mesmo ascensional, mas que imagina a
e:<tensao espacial infinita de portas a abrir quando as chaves foram
perdidas, misturadas:
"Orlgenes coment4rio dos Salmos, que
um s4bio 'hebraieo', certamente um membro da academia
rabfnica de Cesar&, /he disse que as Escrituras sagradas
se a uma grande casa com muitas, muitas
pefa5; ditmte de cada Ptfll se encontra uma chave, mas nao
e a arta. As chaves de todas as pefll$ foram misturadas, (
e preciso (tarefa ao mesmo umpo di{fdl) encon-
trar as chaves artas abrirao as pefa511.
Nessa alegoria da exegese sagrada, a abertura da porta-o acesso
do desejo a seu objeto, o acesso do olhar a "sua coisa enfim desvela-
da - permanecera virtual e, nurn certo sentido, interdita. Pois e pre-
ciso primeiro o tempo para recompor todas as correspondencias das
chaves as fecbaduras, e e facil imaginar 0 aspecto propriamente la-
birintico, infinito, de tal ttabalho. Essa imagem pennanece "arcaica ",
no sentido de Benjanlln, na medida em que as inter4itas- com
freqiiencia vazias, como o Taberruiculo, mas adquirindo tambem seu
valor com a de uma mulher ou mesmo de uma imagem-se
verificam como uma verdadeira constante antropol6gica em inume-
riveis ritos de a pelos casamentos, e em inurneni-
tdioreeH. Loewe, A RAbbinic Anthology, Non Yorlc,Schoclcen.1974,pp. 317-
318, 329, 403,544 etC.
n G.Scbolem,IA ICabbalutsa')'bolique, md.J. Boesse,Paris,Payot, 1966,
p. 20. 0 tato de Orf&cnes se enconm rw Seltct4 ;, Psalmos, ulmo 1, P.G., XII,
col. 1075-1080. Esse motivo aparcc.e lipdo, na cabaUstic:a, b comblna
das letru que "abrem o sentido, jummente cbamadas Porus da LUJ:: (tf
tulo de um ttatado do Rabi Joseph Giqatilla, do a&ulo XV). Cf. alnda G. Scholem, ,
La origines u IIIICIJbbak (1962), tnd. J. Loewmson, Paris, Aabier-MonuJgne,
1966, pp. 38-39, 302, 343-344.
Georges DldiHubetman
veis mitos ou contos
12
Assim, as lendas judaicas fomecemm ate As
sabedorias do hassidismo, suas pr6prias ou vers<>es ,da ale-
goria rabfnica relatada por Orfgenes 13. Kafka cnfim, a quem Gersh om
nao deixou de aproximar esse motivo ambivalente da porta,
nos deocou uma parabola celebre e singular, no pen ultimo capitulo do
Processo. Niio nos cansamos de recopiala, tal a sua beleza:
"Diante da lei se ergue o guardiao da porta. Um ho-
mem do campo se apresenta e pede para entrar na lei (bittet
urn Eintritt in das Gesetz). Mas o guardiao dit que no mo-
menta nao pode /he conceder a entrada. 0 hom em rt{leu,
depois pergunta se lhe sera permitido entrar mais tarde. 'E.
posslvel, diz o guardiao, mas nao agora'. 0 guardiao se afa.s-
ta da (rente da porta, que permanece aberta, eo hornem se
abaixa para espiar o interior (in das lnnere zu sehen). 0
guardiao percebe e ri. 'Se isso te atrai tanto, tenta entrar
apesar minha proibi o. Mas lembra o seguinte: sou po
deroso. E nao sou senao o ultimo dos guardiaes. Diante de
cada sala ha guardiaes cada vtt mais poderosos, e nao con-
sigo sequer suportar o a.speao do terceiro depois de mim'.
0 homem do campo nao contava com tais di{iculdades; a
lei nao deve ser acess{vel a todos e sempre? Mils, como e/e
olha agora mais de perto o guardiao com seu casaco de pele,
nariz pontudo, sua barba de ttirtaro comprida, rala e
eseura, acaba preferindo esperar, ate que concedam a
permissao de entrar. 0 guardiao /be da um banquinbo e o
faz StntaNe junto a porta, a uma ceria distAncia. Ali 0 ho-
mem do campo permanece Stnltldo dias, anos. Faz varias
tenltltivas para ser admitido ao interior, e cansa o guardiao
com seus pedidos. As vezes o guardiao o submete a peque
nos interrogat6rios, indaga-o sobre sua patria sobre mui
tas outras coisas, mas sao perguntas feilas com indiferen-
a maneira dos grandes senhores. E acaba por repetirlhe
11 Cf. V. Propp, Lts racinfi hittoriques du contt mnvdllncc (1946), Ind.
L GrueiApert, Paris, Galllmard,198J, pp. 181-188 cLa inrcrdite'"J.
U Uma delas se cnconm no livro de M. Buber, La llgmdt de &al-Shbn
(1970), md. de H. Hildenbrand, M6naco, ditions du Rocbet, 1984, p. 21.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 237
I
I
. .
'
que nao pode ainda faU-Io mtrar. 0 hommr, que havfa
equipado para a viagmr, mrprega todos os meios, por mais
custosos que para subomar o guardiao. Este aaita
tudo, I verdade, mas acrescenl4: 'Aaito apenas para que
estejas certo de que nao omltiste nada'. Durante anos e anos,
o hommr observa o guardiao quase im'nterruptammte. Es-
quece OS OUtTOS guardiaes. 0 primeiro fbe pare a ser 0 Uni
co obstdculo, Nos primeiros anos, ele maldiz sruz sorte mr
voz alta. Mais tarde, tendo envelheddo,limita-se a resmun-
gar entre OS dentes. Toma-se infanti/, e, a forftl de exami-
nar o guardiao durante anos, acaba por conbecer aU as
pulgas de seu ca.saco, implora as pulgas que o ajudmr a
mudar o humor do guardiao; mfim sua vista mfraquea e
ele nao sabe rea/mente se estd mais escuro ao redor ou se
seus olhos o mganam. Mils agora reconbece darammle na
obscuridatk uma gloriosa luz que emana etemammte da
porta da lei (wohl aber erkennc er jettt im Dunkel einem
Glanz, der unverlOschlich a us der Tiire des Gesetzes bricht}.
No mommto nao lbe resta muito tmrpo de vida. Antes de
sua motte, as experibu:ias de tantos anos, acumuladas mr
sua mente, levarao a uma pergunta que aU entao nao ha-
llia ainda feito ao guardiao. Faz-lhe um acmo, porque nao
pede tnais erper seu corpo emijeddo. 0 guardiao da por-
ta precisa indinar-se ate muito mrbaixo, pois a difermfll
de tamanho modificouse em inteira desvantagmr para o
homem do campo. 'Que queres saber aindaf pergunta o
guardiao. s insaci4vel'.- 'Se todos aspiram a lei, diz 0 ho-
mem, como se explka que durante todos esses anos ningubn
alhn de mim tenha pedido para mtrarl' 0 guardiao da
porta, perabendo chegar o fim do hommr, gritalhe ao ou-
vido para melhor atingir seu tfmpano quase inerte. 'Aqui,
ningubn a nao ser tu podia pmetrar, pois essa mtrada foi
feita apenas para tj. Agora riou embora e {echo a porta'. "
14
'
14
F. JW1ca. u Prods (191+1916). trad. A. Vaalatte eM. Robert, d. OE.sn!rts
COIIJfll&s. ed. C. Da-rid, Paris, Gallimard, 1976-1989,1, p. 45 3-455 (numa tradu
ao mcano umpo mais prccisa e malt insfpida).
Georges Dldi-Huberman
'
Sublime narrativa. Ou melhor: uma escrira muiro exara da inquie-
tante estranheza. Por urn lado, e evidente que a parabola kaflciana se
lembra de suas pr6prias "fontes" mfticas, de onde ela provhn. 0 ho-
do c:unpo ea. ngura tradicional do am ha harm, 0 iletrado, aquele
que )amats se ded1cou ao estudo talmudico; e o desenvolvimento
ral da parabola podeni de faro ser visto como a vers3o suplemenrar
de urn corpus exegerico e hassfdico ja constitufdo1S, Mas o que res-
soa "estranhamente" nessa narrativa, o que faz sua inrensldade abso-
lutamente singular, e em primeiro Iugar a ironia tr4gica pela Ionge
de concinuar uma tradic;ao, Kalka a rompe e a ex.aumenre
porque a revela, porque revela toda a sua coerc;ao. to que
mostra uma bel!sslma passagern consagrada a na.rrativa kafkiana por
Massimo Cacciari, em seu livro sobre os leones da lei: "Tragica e a
ironia que o reconhecimenro do naufragio suscita nesse Iugar jamais
alcanflldo; /Tonica e a dessa exegese desesperada que visa 0
desvelamento da
0 que isso quer d.iz.er? Que Kafka rom-
pe nessa narrativa os elementos do miro- como fez com frequenda,
porexemplo quando inventa o "silencio das Sereias"17 -, mesmo que
a hist6ria seja aqui contada porum a bade, no capftulo inticulado "Na
catedral"; mesmo que a porta permanefa aberta ate o fim, contraria
mente a todas as vers5es tradicionais -a berra ate que o homem do
campo morra em sua aura silendosa.
IS CF. M. Robctt, Seul. c.omme frllnk 1Vz{lc4, Paris. Ca.lma.nn-Uvy, 1979,
pp. 163-164; W. Hoffmann, "Ka!k:u Legende 'Vor dem Cesett"', Boletin de s-
tudios Gemt41UCM, VIII, 1970, pp. 107-119 (sobn: :u influ&lciu twsfdias cia n.ar-
rativa); S.B. Purdy, "A Talmudic: An:llogy to Kafb's Parable Vordmr Gesrt:"',
Pllfln$ em l..mtguage llnd UuriJMe, IV, 1968, pp. 420--427; E.R. Steinberg, "JUf.
lea's Befor the Law: A Religious Atc:hecype with Multiple Referents", Cithara,
XVID, 1978, pp. 27-45. A posi9}o de G. Scholem ao mesmo tempo rmis radaul
e mais interessante, wna vez que c:onfen: a blldana um esururo quase
"originirio na propria mfstic:a judaia: "E.ssa a bfkian.a
j4 redra da flllmtidlc:a em pleno desenvolvimento, scm que de rmneira ne-
nhuma perc:a seu va.lor, nos mOStra ali que ponto o mundo bflc.iano pettencx pro-
ftmdmentel da mfstic:a ju.d.aic:a". G. Scholem, La Ktzbbak d sa sym
bolitpte, op. cit., p. 20.
I'M. Cacc:Wi, lc6nes tk 111/oi (1985), tr.ad. M. R.Jjola, Paris, Bow-gois, 1990,
P 72.
17 F. Kafka, "l..e silence des ffitvrcs op. cit., II, pp. 5<42
543.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 2.39
J
I.
0 que quer dizcr ainda? Que Kafka radicaliza, portanto desm-
o questionamento presente em toda exegese rdigiosa. Que colo-
ca a em aporia critica e em origin<iria
18
Em suma,
que produz ar uma condusio de irnligiosidade e, num ato de rom pi-
mento, ur.u imagen diaUtica: uma imagem autentica de nossa mo-
demidade, uma imagem nao arcaica. Nao por acaso Walter Benjamin
opunha sutilmente ao mrai:ammto judaico - o incontestlivel en-
raizamento judaico de Kafka tal como Scholem podia compreende-lo,
ou seja, em termos de o desmraizammto dialetico produ-
zido por uma imagem da modemidade, cujo equivalente o autor de
Rua de mao unica enconttaria ate mesmo num ffsico:
Lnulo-se a seguinte pas.sagem de Eddington, acredita
u mtemler KAfka: 'Estou transpondo a porta com a idlia
de mtrar em meu quarto. Eis um empremdimmto compli-
cado. Prinu:iro devo lutar contra a atmosfera que pressio-
na sobre cada centlmetTo quadrado de meu corpo .com uma
forfll de 1 k.g. Devo em seguida tentar p6r o pl sobre uma
t4bua que voa ao redor do sol a uma velocidade de 30 km
por segundo; uma frao de segundo de atraso, e a t4bua
estara a milhas de dist4ncia. E e preciso reali:ar essa proe-
:a no momento em que estou suspenso a um planeta esfe
rico, com a cabefll voltada para fora. mergulhada no espa-
fO, e um vmto de her sopra nao se sabe a que velocidade
por todos OS poros de meu corpo. Ademais, a tabua nao e
de m.atbia forme. Apoiar-se nela significa p6r o pi sobre um
enxame de moscas. Nao irei atravesstf-lasf Nao, pois quando
arrisaJ e me apoio nelas, uma das moscas reage e me impe-
le para cima; torno a cair, utpa outra mosca me de
novo ptira cima, e assim avanfO. ( ) verdade, i ma&S fa-
cil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um
({sico passar pelo limiar de sua
II Cf. M. Cacciui,lc6nn de Ia lol, op. dt., pp. 62.-81.
"W. Benjamin, Carta a G. Scholem, 12. de junho de 1938,
op. dt., n, p. :M9. Cf. Iplmente fran% Kafb, ttad. M. de Gandilbc:, a!uvreJ,
n, op. dt., p. 73.
Georges DldiHubcrman
......,.
Assim o humor anglo-saxao vern juntarse por um instance a iro-
nia bfkiana iogando com um motivo secular de sua pr6pria mem6ria,
de seu pr6prio enraizamento- do mesmo modo que Marcel Duchamp
pOde ironizar sobre os morivos seculares, simb61icos e espaciais, da
poru ou da janela
20
0 que em nada diminul, muito pdo contra rio, ;1
gravidade de seu jogo, sua gravidade de imagem Que ha de
mais grave, com efeito, que hade mais inquietante que essa porta abena
diante da qual se esvai toda a de um homem? Ou talvez de dois,
se admitirmos que tambem o guardiao entia nessa esfera do culto da
lei? Nao terao os dois em algum momento- com o passar dos a nos
eo absurdo da tornando-se cada vez mais manifesto- de
xado de crer, mas sem deixar de sentir sua espera como necessaria dian
te da porta? Com demasiada freqiiencia se edulcorou essa dlmensao
irOnica e trigica compreendendo a fabula kafkiana como uma fibula
da ttanscendencia ou da divinas enquanto incomensuraveis21.
Sea porta da lei estivesse fechada, poderfamos dizer sem di6culdade
que a lei estli albn. Somente a porta fechada distingue verdadeiramente
o oculto do revelado. Mas a imagem e aqui dial&ica- e ambfgua -
na medida em que a porta aberta nos indica que a lei esta tanto af
quanto alem. Em suma, que eta e imanente em sua cisao mesma
22
A parabola de Kafka descreve assim uma de inacessi-
bilidade- uma de distancia, como sea palavra /e.i devesse
se completar com a palavra Ionge -,no en tanto produzida pelo sig-
no mesmo da acessibilidade: uma porta sempre aberta. A dist:incia,
10 Por exemplo em Fresh Widow (1920),1.A bagarre d'AMstalitz (1921),
Porta abcrta e fecbada da rua Larrey (1927), uma outra, transparenre e sombre-a
da, da galeria Gradhla (1937), ou, finalmcnre, a de lant donhh (Scndo
{1946-1966), scm conw o Grtmd Verre [0 grande VJdto), claro.
11 Cf. por exemplo J. DclesaUe, O,t &range Paris, DcsdCc de Brouwer,
1957, pp. 60-97; M. Bubcr, citado (e critiado) por H. Poliacr, Fran: K4{1c4. Parable
and Paradox, Ith2ca/Nova Tork, The Co.mcll University Press, 1962 (ed. I'CYista,
1966), p. 179; ou W. PJes, Trlll'ISUndm: als Terror. me religionsgnchlchtUche
Studle ilber Frllll% K4(ka, Heidelberg, Schneider, 1977
n Essa a da lcirura proposta por G. Dclcur.c e F. Guaruri, K4(ka.
Pour uMiittlratur mlnture, Paris, Mlnuir, 1975, pp. 1995 e 108 110. A
de lmagcm dial&iea esrj lmplidtamcntt prescntt nas passasens sobre as
k.afkianas on.de se leem o du como subsolo, o arc:alsmo rdigioso como
o apltallsmo etc. (ibid., pp. 135136).
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
241
- -
I
percebe-se, ja e desdobrada, dialetizada. Claro que poderlamos dizer
que e o guardiao, e somente ele, que profbe a entrada ao homem do
campo. Mas que outra coisa ele e, esse guardiao, com seu casacil.o e
sua barba raJa, seu nariz pontudo, suas falsas maneiras de grande se-
nhor, senao urn personagem comico, risfvel? E por outro lado Kafka
tern o cuidado de nos indicar que a do guardiao nao e me-
nos desesperante, anos ap6s anos, que a do pobre requerente; que ela
far. pane da global que o sistema imp()e a todos, como dian-
te do double bind da "Nao venhas a mim, ordeno-te nao
vires ainda ate mim. t af e nisto que sou a lei e que teras acesso a meu
pedido. Sem ter acesso a mim"23. Isso quer dizer que ha inacessi-
bilidade, e que esse ha est3 a, bern diante de n6s, perto de n6s e mes-
mo denuo de n6s. ao mesmo tempo c6mica - beirando o
budesco do qual parece ressoar a risada do guardiao- e indmamente
tragica, ja que conceme a nossa obsedante impossibilidade de tocar
o auscnre2
4
Por que essa parabola conceme a nosso problema? Porque com
o vet acontece o mesmo que com a lei: "todos aspiram a ela" -para
tetomar essa vetdade que acabara saindo dos labios fatigados do ho-
mem do campo. E diante da im2gem- se chamarmos imagem o ob-
jeto, aqui, do vet e do olhar- todos estao como diante de uma porta
aberta dentro da qual nio se pode passar, nao se pode entrar: o ho-
2l J. Derrida, Prejug&- Dcvantla loi ,lA facultl de iuger, Paris, Minuit,
1985, p. 121.
l4 0 pr6prio IUflca fomcceu uma figura pan esse auscnte que fa:z Jei. Na
&mow Cm4 110 ptli de 1919, ele diz a:r uma 6nica de sua primeira
infiMa e uma que seu pai o deixa de diante da poru de
ama sacada; tr& p4Jinu adiante, ele escrne: Sque-se que o mundo passou para
mim a ter dmcfido em tr& panes: ama, aquda em que eu viria como escravo,
submetido a Ids que s6 h.aviatn sido lnventad .. para mlm e As quais, ainda por
c:ima, eu jamais podia satis&ur inteiramentt. scm saber por que; outra, que me
era infinitamente mais distante, na qual tu vmu, oeupado em govemar, em dar
ordms e em te irriut porque etas nJo eram c:umpridas; ama rercelra. enfim, em
que o resto das pcssocas mia feliz, isenw de ordens e de obediblcia". Uma 4ltim.a
lWU&cm articulava a tlinJnda da escrita 1 auslnda de urn con taro com seu pal:
Em meus J.i'fTos, era de d que se tratava, eu nJo luia senJo bstimar-me daqullo
de que nJo podia bstimarme junto a teU peiro". F. Kafka, CEuvres op.
cit., pp. 837, 841 e 865.
2.42 Georges DidlHuberman
,
.
mem da quer ver nisto aJgo alem (e o bomem do campo em
seu ato de miseravel demanda); o homem da tautologi:a se no
outro sentido, de costas para a porta, e pretende niio haver nada
2
ali, pois ere represenra-Ja e conhece.Ja pda simples razao de ter-
se mstalado ao. lado dela (e o guardiao, em seu ato de miseravel po
der). Olhar sena compreender que a imagem e estruturada como urn
diante-dmtro: inacesslvel e impondo sua <listancia, por pr6xima que
seja--: pois e a distancia de um coma to suspenso, de uma impossfvel
de came a came. Isso quer dizer exatamente- e de uma ma-
neira que nao e a pen as aJeg6rica-que a imagem e estruturada como
um limiar. Urn quadro de porta aberta, por exemplo. Uma trama sin-
gular de aberto e fechado ao mesmo tempo. Uma brecha num
muro, ou uma rasgadura, mas trabalhada, construda, como se fosse
predso om arquiteto ou um escultor para dar forma a nossas feridas
mais fntimas. Para dar, a cisao do que nos olha no que vemos, uma
esp&:ie de geometria fundamental.
Pois a porta kafkiana nao e afinal senao urn puro enquadramen-
to espacial: urn suporte de geometria elementu, uma urn
"espe:clfico" cujas potencialidades os escultores minlmalistas-
a por Robert Morris - nao deixaram de utilizar (jig. 39-40,
pp. 244-5)
25
Mas a narrativa de Kafka nos faz compreender esse es-
em bora extremamente simples, como urn segmmto de labirinto,
que suporta virtualmente toda a complexidade e toda a inevidencia do
sistema do qual de s6 apresenta a "entr.lda", sese pode diur. A porta
e extremamente simples, mas ela ja dialetiza 0 jogo de afastamentos e
de contigiiidades no qual se organ.iza o kafkiano em geraJ26, E,
se falo de uma geometria fundamental, e porque 0 simples quadro de
porta parece justamente funcionar a qui- atraves de seu aspecto singu-
lar, "estranho" e "Unico" nanarrativa-comoosuportevisuaJde uma
2J AlbndeemRobett Morris,osmotivos emportas seYCriliamnn D rl
Andre, Sol Le'Wirt, Brua Naunun, James Turrell e muiros outros.
u CL G. Deleuz.e e F. GuafWi. Ka{M, op. cit., pp. 131-139. Sobre o espa\0
bfldmo em pode-se consultar espccialmente H. Pongs, frtl7f% IVt{JuJ, Didrt4r
tles lAbyrinths, Heidelberg. Rothe, 1.960; G. Frey, Der R.a1lm Jm4 fie Figwrtrr in
Kafltas Roman oer Pro:ns, Muburg. Elwen, 1965; B. Beutnrr, Dir
Biftlsptache FrtmJ: IVt{Ms, Munique, Fin.k, 1973, pp. 136-142; H. Blndr.r, Bau-
formen, Kll{ltaHtmdbuch, II. Das Werk tmd scM Wirkomg, Stuttgart, KrOner,
1979, pp. 4893.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha 243
' I
i
39. C. Andre. Hemfh, 1980. Madeira de cedro, 44 elementoS, UO,S X -469 X
90 an. Cenao Pompidou, Paris. Foto Musle National d'Att Modeme.
-40. R. Morris, PiM Portal, 1961. M:addra de p!nbo, cera de 245 x 129 x
32 em. Obr:a desttufd2. Cortesia Leo Castelli GaUery, Nova York.
I
I
I
I
'
I
instincla bern mais geral, a que Husser! denomlnava, ao interrogar a
origem da geometria, uma de sentido" (Sinnbildung) : "A
evidencia origiruiria (do gtOmetrico) nao pode ser inte.rcambiada com
a evidencia dos 'axiomas' (da geometria); pois os axiomais jli sao prin
cipalmente os resultados de uma de sentido originaria e tern
essa pr6pri:t por tcls deles"2
7
Assim, o homem do campo portava em seus om bros, na fadiga
do envelhecimento e no progressivo escurecimento de seus olhos, uma
especie de origem da geometria. Num certo senrido ele a encamava,
eb decidia sobre seu tempo passado diante da porta, decidia portan
to sobre sua carne. Com freqiiencia houve engano sobre o estatuto da
geomeuia quando se fez deJa- no Renascimento, por exemplo- um
simples "fundo ou uma especie de cenano teatral sobre os quais se
destacariam os corpos humanos e suas "hist6rias" mimeticamente re-
presentadas; de maneira simetrlca, houve engano :-no
por exemplo fez da geometia um sunples obJetO vtsual
"especlfico do qual toda carne estaria ausente (era aqui desconhecer
o sentido mesmo dos trabalhos de Robert Morris, e inclusive os de
Bruce Nauman),
Pois portamos o diretamente na came. que e
uma categoria ideal do entendimento, mas o elemento despercebtdo,
fundamental, de todas as nossas experiencias sensoriais ou fantas
maticas. E nio basta dizet que o c,onstitui nosso mundo: cum
pre dizer tambem que ele s6 se toma acessivel pela
do mundo ambiente28. E que assim ele s6 aparece na dimensao de
um encontro em que as distincias objetivas sucumbem, em que o af
se se separa do aqui, do detalhe, da proximidade visivel; mas
em que subitamente apresenta, e com ele o jogo paradoxal de uma
proximidade visual que advem numa distincia nio menos soberana,
rJ E. Hasserl. L'originede 14 glomettk (1936), meL e J. Derrida,
Paris,PUF, 1962 (2"ed.rnisada,1974),pp.192-193,quededuziadessedadoum
aututo da bist61Ur: podemos mdo dizer tamb6n: a hist6ria nlo a prindplo
tenlo o mowimalto mo da solidariedade e da m6tua (des MiUinlmdtr
.,J IlldNmdtr), da do senddo (Sinnbildrmg) e da do ten
ddo originirios" (ibid., p. 203). '
2.1 M. Heidegtr, L'ltred It tmrJ>$(1927), trad. R. Boehme A. de Waelhens,
Paris, Gallimard, 1964, p. 143 .
Georges DldiHuberman
uma distancia que "abre" e faz aparecer2
9
Els por que o Iugar da
imagem s6 pode ser apreendido atravts desse duplo sentido da pafa.
vra af, ou seja, atraves das experiencLas exemplares da aura
e da inquietante estranheza. As imagens - as coisas visuals-sao
sempre ja lugares: das s6 aparecem como paradoxos em a to nos quais
as coordenadas espaciais se rompem, se abrem a n6s e acabam por se
abrir em n6s, para nos abrir e com isso nos incorporar30.
assim que o homem do campo, diante de sua porta, ac.abara
sendo "comido" por ela, e mesmo tomando-se algo como uma mol-
dura exangue em tomo de um vazio. Como uma escultura minima-
lista, a porta aberta nao era apenas "evidente" e "espedfica": era dt-
masiado ao olhar do pobre homem. Permanecendo assim,
aberta por anos a fio, ela mostrava que nao era urn "limiar" no scn-
tido instrumental- um limiar a transpor, para entrar em algum Iu-
gar -,mas um limiar absolutamente, ou seja, um lim/4r intermini-
vel. "Sua evidencia nao responde a nada, nao a chave de nada, es-
creve Massimo Cacciari. impossfvel esperar uma respost.a de urn
signo dotado de tal evidencia. ( .. ) Tudo esta aberto, e nada resolvi-
do. ( ... ) Subsiste apenas o homem que busca"3t. Ou seja, o homem
que olha diante da porta aberta e a quem serao necessarios anos- e
urn corpo encolhido, progressivamente enrijecido, e uma visiio irre-
mediavelmente declinante- para "reconhecer na obscuridade a glo-
riosa luz que emana" ...
Kafka conhecia bern o poder dessa evidencia quando extenuan-
te, ela pr6pria extenuada, extremada: poder de esvaziamento, ou
de lvidance, poder-se-ia dizer (retomando o deslocame.nto e a tempo-
operados por Derrida sobre a palavra Kafka
sabia bem que trazemos em n6s a geometria de nossas cisOes, por cxem-
plo quando ele proprio sentiu-se transfonnar, num belo dia de 1912,
numa porta bastante estranha:
Cf. em Heldeggcr o jogo do "a-fast2mento" (Ent{trrnmg) e d4 abemJ-
ra" ibid., pp. 133-139.
30 Cf. id., L'art et (1962), meL F. Buufret, Qstt1tions,
IV. Paris, 1976, pp. 98-106, rcxto em que se &b coisu
como /Jigarts, da cscultura como jogo d4 abtrlllra e da ineorpora o, e enfim do
vuio como o g!meo da proprie<bde do Iugar".
lt M. Cacclari, lc6rres de Ia foi, op. cit., pp. 75-78.
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
247
"Serti di{fdl de abalar, e no entanto estou inquleto.
E.sta tarde, estando deitado e tendo alguem girado rap ida-
mente uma d1ave 110 {echadura, tive 110 de um ins-
tante fechaduras por todo o corpo, como num baile de fan-
tasias; u1110 fechadura, ora aqui, ora ali, era aberta ou fe-
chada a breves intervalos"32.
Poder-se-ia imaginar essa a .. breves intervalos" como
urn batimento de pilpebras do vigia Argus, ou, mais exatamente, como
urna abertura rftmica da pleura, uma ja reduzida. Nessa
epoca, Kafka j:i estava doente ha muito tempo (sua primeira tempo-
ra<b no sanat6rio data de 1905) e tornado por uma inquietude cons
tante acera do estado de seu corpo: .. Escrevo com toda a certeza,
confiava a seu diario ja em 1909, movido pelo desespero que me cau
sa meu corpo eo futuro desse corpo"33. Ser concernido por fechadu-
ras que se abrem e se fecham - e em bora tudo isso pudesse aparen-
tarse a urn simulacro, a urn baile de mascaras -, certamente nao era
senao urn modo de ser olhado pela chaga viva de seu is to
e, de seu pulmao, de seu pr6prio interior que ia se abrindo aos pou-
cos. 0 importante aqui nao e que Kafka pudesse "descrever" sua ou
suas mas que sua pr6pria escrita se tomou o estojo ou o tU-
mulo, a cripta ou o tesouro, em todo caso a porta - algo que abre
uma caixa, algo que enquadra e deixa ver no limiar- de urn mal que
dentro dele impunha sua Jej34.
Tal seria portanto a imagem, nessa economia: guardia de um
romulo (guardia do rccalque) e de sua abertura mesma (autorizando
n F. Kalk2, DUlrios, 30 de agosto de 1912, Cfuvres complltts, op. dt., m,
p. 288. Em outros momentos, do as luminosas que o perturbam: Ao
mcsmo tempo, vi a imagem do das ruas. com suas partes de sombra e
de luz esniwnente ddimitadas. No de um instante, smtime vestido de uma
(ibitl., p. 29). Ou alnda: Como a vido das esc:adarias me comove hoje.
J' esta manhi e ririas veus depois. smti prazer em olhar de minha janela o tri5n-
gulo recomdo na de pedra da escadaria ... " (ibid., p. 132).
ll ld. ibid., p. 4 (1909?), c(. lgualmente pp. 115, 122, 133, 166-167 etc.
J4 Sobre os temas conjugados do cript6(oro, da perda e da incorpo-
cf. N. Abraham eM. Torok, L'leora d It noyau, op. cit., pp. 227321.
148
Georges DidiHubertnan
t
t
. , .
' .- .,
.
!'
o retorno lumlnoso do recalcado)3S. e
mesmn
tempo. A porta esrana af como uma boca de G6rgona? como for,.
o hom em do campo, suspeoso entre a<.fuilo que v1a no quadro aberto
da porta (a luz deslumbrante) e aqu1lo que o olhava desde esse mes-
mo quadro (seus pr6prios olhos, sua propria vida a exti'nguirse), s6
teni podido assistir, em todos esses anos, a um unlco acontecmento!
ode sua propria morte. A princlpio sem o saber, ele se olhava morrer
sob o olhar dessa porta, e essa porta torn a va-se para ele como que a
mais temfvel psyche3
6
Seria a psfquica das imagens fazer nos
considerar- na compuls:io de nossas diferemes mortes?
Seria a originaria das imagens comefar pelo fim?
Poise de faro assim que o admiravel caminho de Ullssts,
esse interminavel Jjmiar em que o afastamento do mar- o honzon
te, a visao sem fun - bate ao ritmo de algo e de alguem que ia uve
ram fim. assim que e se desdobra a escritura kalkiana em
geral, que desfia suas imagens dialeticas como tramas singulares de
e de t.empos- esperas e fulgurancias sem fim -,como mter-
minaveis limiares que fazem suspender todo o seu sec. t igualmente
assim que em Benjamin, toda reflexao sobre a hist6ria, ren-
dida entre luto e desejo, entre uma memoria e uma txptctativa! lim1ar
interrninavel- .. porta estreita ", de pr6prio dizia - entre o que um
dia teve fim eo que urn dia tera fim3
7
N:io surpreende que Benjamm,
ao refletir sobre a aura, nos fale do .. olhar do moribundo" (das bre
chende e cite em seguida urn verso daquele magnifico
em que Baudelaire, .. meditando sobre a geometria ", observa nas "ve-
lhinhas" que atravessam a rua o parad1gma esticado de urn e
de urn ataude para onde cada uma "retoma docemente"w E Baude
laire termina seu poema precisando que esse olhar s6 era possfvel "para
aquele que o austero Infornlnio aleitou"38 .
31Id., ibid., p. 241 (onde a imagcm no scntldo meupslcol6glco c
como guardia do (e) eb pr6pri.1 urn dia o kvanWIKnto dc.otc"
34
Sobre o motivo da porta abem como ttmitica morrlfera, cf.
reG. Bachelard,i.A poitjtputk l'espaa, Puis, PUF,19S7, pp. 200..201,e M. Guto-
mar, Principes nthlt1que de Ia mort, Paris, Conti, 1988, pp. 451-459,
31 Cf. W. Benjamin, nrses sur Ia phtlosophie de l' hlsrorre ( 1940), trad.
M. de Gandillac, L'bomme. le langage et Ia culhtre, op. d t. , p. 196.
JSfd., Sur quelques th(mes baudelatriens", art. at., pp. 2n-27J (nou ck
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
249
Mas Kafka ted dado um passo a rna is: com efeiro, e sobre si mesmo
que ele a plica a geometrica" do hmiar interminavel, entre
a e a caixa-ataude. Assim resta meditar, olhar, esc rever no
limiar pr6prio fim. Obviamente, a gravtdade-ou a melancolia
-de seu pr6prio gesto jam a is lhe escapa, mas ele sa be tam bern que tudo
isso e uma geometria, ou seja, urn jogo da forma, um jogo de constru-
uma ironia construlda sobre o fim39. Entre pressentir gravemente
seu fim e jogar com ele, Kafka nos ensina portanto que toda forma
autenrica da arte, toda imagem dialetica conjugam- diame do Jimiar
-a suspensao fr:igil de uma inquietude com uma solidezaistalina, uma
especie de imortalidade a manter--se assim, interminavelmente, diante
do fim
40
isto jogar com o fim, e isto que o pr6prio Kafka se escreve
com uma lucidez e uma asrucia que nos confundem:
J. Lacom). C. Baudelaire. "Les Petites VieiUes" (1859), a;.u,es completes, I, ed.
C. Pidlois, Paris, Gallimard, 1975, pp. 89-90 (cf. a brasileira de Ivan
Junquein. As flores tlo mal, ed. Nova Fronteina):
(- .) "Ja nlo viste que o esquife onde donne uma velha
quase tio pequeno quanro o de um infante?
A Morte sabia ncsscs feretros espalha
0 s!mbolo de um gosto estranbo e cativante,
se mal entteVejo um &nusma fnuuino
Cortando o ebrio cenario de Paris ao meio,
Me ocorre muiu vez que este ser pequenino
Retoma ao onde veio;
Salvo se. medit2ndo sobre a geometria,
Pouco me importe, ante esscs membros disjunudos,
Quanw veus o altific.c a forma varia
Da c:aba an que ws corpos sio todos guardados.
E.ues olbos slo de infinitos pnntos,
Slo ais6is que um metal an seu gclo esmaltou ...
E.ues olhos secretos t!m &tais encantos
Pan aquele que o austero lnfomlnio aleitoul"
por isso certamente a "mclancoUa" de que se uata aqui nlo deve ser
entendida como uma clrnica- que suJX)e a psicose e. com o t.empo, a ina
do puro so&imento -,mas como um critico que o artista tloa sob
a espkic de uma forma, de um jogo, de uma "sob uma falsa
de presente- ".
-40 Cf. sobre esse tema M. Blanchot, "La et le droit A Ia mort", La
pm tlu (tw, Paris, Gallimard, 1949, pp. 291331.
250 Georges Didi-Huberman
I
I
"Sou de pedra, sou como minha pr6pna pedra tumu-
lar, niio existe af nenhuma fenda possf11el para a duvida ou
para a {e, para o amor ou para a repulsa, para a coragem
ou para a attgustta em partteular ou em geral, somente 11111e
uma 11aga esperanfO, mas como 11111em as inscries sobrc
os tumulos. Nenhuma, ou quase nenhuma pa/avra cscrita
por mim sc concilta com a outra, as consoantcs ratt-
gerem umas contras as outras com urn rufdo de ferragens e
as vogais cantarcm acompanhando-as como negros de Ex-
posio. Minhas duvidas formam cfrcu/o ao red or de cada
palavra, vejo-as antes da pala11ra .. ( ... ) Disse a Max que,
contanto meus sofnmentos noo sejam dernasiado grandes,
cstarei muito satisfeito em meu leito de mort e. Esqueci de
acrcscentar- co omiti de prop6sito posteriormente- que
o que cscrevi de melhor se de11e a essa capaddadc que te-
nho de morrer contente. Em todos esses truhos hem sua-
didos e fortemente convincente.s, trata-se sempre de a/gubn
que morre, que Julga mttlto ter que morrer, que 11e nfsso
uma ou um rigor exercido contra cle, de modo que
se torruJ algo comovente para o leltor, pelo menos a meu
ver. Mas para mim, que ju/go podcr estar satisfeito em meu
leito de morte, tais sao secretamentc 11m Jogo, pois
me comprazo de morrer na pessoa do moribundo, exp/oro
de maneira hem calculada a ateno do leltor concentrada
na morte, e sou bem mais Iucido que ele, que, supon!Jo, ira
gemer em seu leito de morte; de modo que minha queixa e
tiio perfeita quanta possfllel, ela tampouco e interromptda
bruscamente como podena se-lo uma queixa real, e/a segue
seu curso na harmonia e na pureza-41.
Tambem um escultor joga como fim, constr6i suas hip6teses de
fim meditando sobre a geometria". Quando Tony Srruth produz a
imagem dialetica de suas constru90es de negro convocando a lem-
de montagens ludicas, infanris, em que suas caix.as de medica-
mentos contra a tuberculose se tomavam pequenos labirintos - de
4
' F. Kafka, Diarlos, 15 de de1embro de_1910 e 13 de dezemebro de 1914.
OEu111es compfeus, op. cit., lll, pp. 11 e
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
2Sl
1
I
I
41. Ataude vertical "em anmrio" de urn rapaz. Abouslr eiMeleq
(Esfto ronw\o), secu.lo I d. C. Altura: cera de 170 em.
Obra parcialmenre destrufda. Berlim, Bodemuseum. D.R.
'
'l
c;;. I
..
,
'
.
I J.
,
..
42. S. l.eWitt, Burietl Cube Cont4tmng an Objt a of lmportana bkt Lirtlc
Value, 1968. ~ o , 25,4 x 25,4 x 25,4 em. Obra desapuedda D.R.
--.
joga com o fim (fig. 37, p. 233). Quando joel Shapiro produz a ima
gem diaiEtica de um ataude cuidadosamente imitado mas cuidadosa
mente desproporc1onado, pequeno como um soldado de chumbo -
ele joga como fim (fig. 20, p. 131 ). Quando Robert Morris produz a
1magem dialettca de um portico em madeira de pinho, ou seJa, em ma
deira de ataude, ele faz de toda porta a porta de um tumulo, e de toda
forma de tumba uma coisa que deve ser precisamente .. ergu1da", en
g1da, reverricahz.ada numa de face a face, de est:itua a dormir
etemamente em pe, como o fazem as mais intensas figuras da ideia fuca,
como o fazem algumas das mais belas sepulturas do Egito crepuscu-
l:tr (fig. 19 e 40-41, pp. 130, 246, 252). 0 que faz ele, nesse gesto, se
nio jogar como fim? Quando Carl Andre dispae no chao suas placas
de chumbo ou de zinco para produzir a horizontalidade mesma do solo
como a imagem dialenca ou o limiar de um subsolo (virtual) e de uma
estatu.ra (nao menos virtual), o que faz ele, senao jogar ainda com o
fim? (fig. 18, p. 126) E Sol LeWitt, nesse jogo, chegara a produzir a
imagem dialetica e ironica de um cubo no pseudo<oerimonial de uma
muito real (fig. 42, p. 253)'
42
Mas entertar uma imagem era ainda produzir uma imagem. Se
ria a irnagem aquilo que resta visualmente quando a imagem assume
o risco de seu fun, entra no processo de se alterar, de se destruir ou
amda de se afastar ate desaparecer enquanto objeto vislvel? E para tanto
nao sera suficiente elaborar a falta, dar forma ao resto, fazer do "res
to assassuudo" um autentico resto construido? Se isto de algum modo
e verdade e se e verdade que as duas esculturas de Robert Morris
' .
evocadas ha pouco (fig. 19 e 40, pp. 130, 246) se olham e se mterpre-
tam uma a outra entiio toda imagem poderia ser dita, nao apenas
estruturada como um limiar, mas tambem estruturada como uma cnpta
abena: cripta que abre seu fundo, mas retirando-o, retirando-se, e
atraindo-nos a ele. E nele fazendo juntar-se, no exerdcio do olhar, um
luto e um desejo. Ou seja, uma fantasmatica -como se diria uma heu-
ristica- do tempo: um tempo para olhar as coisas que se afastam ate
perder de vista (como o mar afastando-se diante de Stephen Dedalus,
4l Cf. A. Lcgg, Sol uWitt, op. cit., p. 164. 0 artista submete o cubo a um
demno ainda diferente - mas sempre ligado ao jogo do vlrwol - em seu llvro
A Cube Photographed by Carol Huebner Usrng Nine Light Sources, and
All thtir Combinations.-, Col6ma, Konig, 1990.
Georges Didi-Huberman
como a interminavel cor lummosa afasrando-se ntrns da porta ka flcla
na); Um tempo para sentlr perdtr 0 tempo, ate 0 tempo deter O:l".CJcl'}
(como Stephen Dedalus olhado por sua mae que se exnngue, como o
her6i kaf'kiano que acaba por expenmenrar d1anre de sua port.1 a ver
dadeira lei da expectanva); um tempo, enfim, para perder-u a sr mcs-
mo (como na "chaga viva" de Stephen Dedalus, como na exrenua.;iio
do her6i kaf'kiano d1ante de sua porta).
E tudo isso, para term mar, por sermos n6s mesmos apenas uma
1magem, uma rmago, essa effge geneal6g1ca e funeraria que os roma
nos dispunham nas paredes de seus em pequenos arm:inos al-
ternadamente abertos e fechados, ac1ma da porta.
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olh11
--..
e
I
NOT A BlBLlOGRAFICA
Este texto e 0 desenvolvimentO de duas conferenCHIS pronuOCI3
das em junho de 1991, uma no Museu de Arte Moderna de
ne (a convlte de Bernard Ceysson), a outra no Centro Georges Pompi-
dou, em Pans (a convite de Jean-Michel Foray). Tres fragmentos dele
foram publicados, o primeiro nos Cahiers du Musee Natrona/ d'Art
Moderne, n 37, outono de 1991, p. 33-59; o segundo na Nouvelle
Revue de Psychanalyse, no 44, outono de 1991, p. 75-100; o terceiro
em Thiatre/Public, n 104, de 1992, p. 18-23.
Devo assinalar que nesse meio tempo foi publicada em frances
uma dos textos de Donald Judd, Ecrits 1963-1990, trad. A.
Perez, Pans, Lelong, 1991, que doravante podeni ser consultada. Por
outro !ado, descubro num texto de Y.-A. Bois ("l'inflexion", em Do-
nald Judd, Paris, Galerie Lelong, 1991) urn eco bastante preciso do
comeotario feito (p. 48, nota) sobre a obra de Judd: com efeito, Bois
fala muito precisamente de de discurso" em fla-
grante com a "sensualidade das mat&ias" ou "o provocado pelo
jogo de vaz1os e cheios" na obra desse artista decididamenre suspen-
so entre uma questio de aura e uma questio de tautologta.
Resta-me agradecer a Jean-Pierre Criqui e a Fondauon de France,
a Michel Bourd do CAPC de Bordeaux, bern como a Rosalind Krauss,
a Margit Rowell, as galerias Leo Castelli e Paula Cooper, que contri-
bufram para a material da tconografia.
256 Georges
fNDICE DOS NOMES PROPRIO$
Abuham N., 80-1, 107, 248
Adcerman c .. 188
Adorno T.W., 147, 172
Agambcn C., 184
Alain de ulle, 35
Althusscr L, 179
Andre C., 56-1, 88, 1256, 1389,
202, 243-4, 254
Angelico (Fra), 14, 18, 35,43-5, 159
Ansc.lmo de Canruina 35
Apclle, 23
Aragon, 189
Arist6relcs, 13, 30-1
Auge,224
Baal Sbem-Tov, 187, 237
Bachelard C., 249
Balibar E., 179
Barbar:ts R., 163
Baro G., 102, 106
Bataille C., 21, 160, 172, 180,221
Battcock C., SO, 54, 70
Baudelaire C., 8, 83-4, 147, 149, 151,
153,159,177,201,208,223,238,
247,250
BcdcmS.,27
Belmore H., 186
Belting H., 152
Benjamin W,. 6, 22, 34, 113-4, 118,
1469,151-64,170-94, 196, 199,
201,203,208,212,214,223,225
7, 229,231-2,234, 240,246,249,
256
Benveniste E., 9, 206,215
Berger M., 40, 97, 124, 132,217
Bergson H., 159
Bernini, 42, 225
lkutner B., 243
0 Que Vemos, 0 Que Nos Olha
Blanchot M., 20, 101, 250
Boa ventura (uo), 35
Bochner M., 57
Bo1s Y.-A., 144, I 96, 256
Bonnefo1 C., 168
Bourel M., 54, 256
Bouveresse j., 59
Brancus1 C., 146
Braque C., 193
Bneger H., 46
Bubcr M., 237, 241
Buchloh B., 214, 226
BuckMorss S., 172
Burger P., 153
C:lcciari M., 239-40, 247
C:lge ],, 35, 202
C:lrroll L, 87
C:usirer E., 15, 2123, 216
C:lsrelt. L, 1301, t33, 142,245-6,
256
Ceysson B., 256
CCunne P., 54, 184
Chucor J.M., 151
Chave A., 193
Chklovsk1 V., 216-8
Clay J., 144, 194
Ccxllier S., 128
Cohen H., 170, 222
Compcon M., 123-4, 132
Con1101 C., 158
Convert P., 168
Coopcr P., 94,103,110 1, 126, 131,
233,256
Coqu10 C.. 182
Couderc S., 54
Courtme J F , 160
1.$7
Cnqui J.-P., 93, 99, 112-3, 1156,
Ill, 199, 256
H, 9-12,156, 19, 95, 214,
218
30-1, 43,46-7, 152, 159,234,
238
Deguy M, 160
Ddeulle J., 241
Deleuze G., 7, 160,241,243
J., 7, 20, 107, 157, 170,203-
5,207-8, 2<42, 246,247
Desar:tes R., 13
Desdwnps M., 112-3, 118
Dionisio o (pseudo), 194,
196
Domecqj.-P., 202
Duclwnp M., 49, 95, 118, 241
Dufour-EI Maleh M.C., 185
Diller A., 182
Duve T. de, 74, 139
(Mestre), 196
Eddington A.S., 240
Eikhenbaum B., 214,219
Emstein c., 6, 21, 180, 219, 221-6
Eisenstein S.M., 191
Emout A., 160
Escoubas E., 160
FedUU P., 81, 85,96-7, 101, 107,
115, 164, 176, 190
FICdler K.., 221
Flavin D., 57
Fillon H., 211
Foil K., 214
Foray J.-M., 256
Foucault M., 18, 59, 96, 208
Freud S., 15, 39-<41, 79, 82-3, 89, 91,
93, 97-8, 106, 108, 120, 159, 180,
189,202.210,212-3,217-8,227-
31, 23-4, 236, 248-51, 254
Frey G., 243
Fried M., S, 19, 70.1, 73-7,99, 104,
108, 119-21, 124, 129, 138, 166,
168, 178,202,212-3,226-7,229,
237,2<41
Froment J.-L, 5<4
Giacomer:t A., 21, 145-6
258
Giq:atiha J., 236
Glaser 8., 54-5, 59-62, 69, 198
Goethe J.W. von, I 74, In , I 86 7,
210,220
Goossen E.C., 89-91, 102, 1 IS
Greenberg C., 53, 71, 75, 2 I 4
Gu:an:ari F., 241, 243
Gu1omar M., 249
Hansen-LOve A., 212, 2 I 4
Hegel G.W.F., 206-7
Heldegger M., 38, 59, 82, t 92, 246-7
Herklott L. 42
Her6doto, 113, 183, 193
Hess T.B.. 193
Hildebrand A., 210, 221
Hobbs R., 138
Hoffrrunn E. T.A., 230
Hoffmann W., 239
Hollier D., 222
Huebner C., 254
Husser! E., 160, 208, 212, 246
lmbcr:t C., t 82, 184
lnboden G., 168
Jacobs M.J., 138
Jakobsen R., 214-5,217-20
Jauss H.R., 148
Javdet R., 35
Joao da Cruz (do), 196
joio o Evangehsr:a (sao), 42, 234
johns J., 35, 49
Joyce j., 29-32, 159, 196, 232, 237
Judd D., S, 19, 21, 5063, 69-70,73-
7, 119,121, 137-41, 146, 165,
168,198,226
Jung C.G., 192
Kafka F., 185, 192, 237-43, 247-8,
250.1
E., 15, 185
J<Jein y .. 61
J<Jeiner B., 191
Kosuth J., 57-8
Krauss R., 33, 56-7, 59, 62-3, 66-7,
70-1, 75, 118, 124, 128, 132, 138-
9,146,256
Lacan J., 13, 80-3, 97, 101, 107, 1 IS,
203,227
Georges Dldi-Huberman
Lacoste}., 114, 147-8, 153, 157,212,
250
Lacoste P., 40 1, 158
P., 160, ISS
udriere J., 206
L:mg L, 74, 185, 221
Laude J., 221
lcgg A., 125, 138, 254
Leins M., 180
leonardo da Vinci, 39, 122
Uvi-Strauss C., 43, 220
lcWitt S., 57, 1256, 132, 1356, 138,
168, 243,253-4
Uppard LR., 89, 91, 104, 108-9,
112-3, 118, 127, 138, 201
Ussirsky LR., 88
Loewe H., 236
Uiwy M., 176
Lucas (sao), 234
Lyor:ard J.-F., 9, 14-16, 160
de Mezerltch, 188
Mal:tmoud C., 88
Malevltch K., 88
S., 95, I 16, 127
M:tntle M., 62-3
L, 9-10, 42, 160
MarxK.., 153,179,188, 191-2
di B:tnco, 44
G., 138
Meffre L.,221, 222, 223
MeUiet A.,156, 166
Meiss M.,46
Menke 8.,172
MerleauPonty M., 6, 7, 8, 21, 31, 99,
101, 162, 163, 165, 169, 170, 171,
260
Michaux H., 117
Michelson A., 124
Molmoj., 202
Mondnan P., 88, 117, 194, 202
MooetC.,33
Montefiore C.G., 236
0 Que Vcmos, 0 Que Nos Olha
Morns R., 5, 19, 21 , SO, Sl, S4, 56
57, 61, 63, 64, 65, 66, 61, 69,
11, 72, 89, 120, 123, 12-4, 12.7,
130, 131, 132, 133, JJ9, 141, l4l,
144, 147, 148, l SI , 152, IH, l H.
156, 157, ISS, 167, 176, 178, li9.
180,238, 243, 24S
Moshel..eb de Sauov, I 88
J.L, 160
Nauman B., 124, 243,246
Newman B, Sl , 54, 74, 160, 193,
202
Nicolau de I 96
Noland K., 52
Olitsk J., 73
Origents, 236
Ovid1o, 128
Panofsky E., 8, 42, I 82
P:ueyson L., 211
1 13, 260
Pem:t C., 149, 154, 159, 173, 175
Petrarca, I 58
Pcu.ella M., 180
Pia S., I 53
Picasso P., 75, I 16, 193
Pincus-Wincn R , 57
Platio, 128
Poe E.A., 116
Polltter H., 241
Pollockj., 52, 128, 194
Ponge F., 81
Pongs H., 243
Ponahs J. B., 180, 227
Propp V., 220,237
ProusrM,,149,1S7, 159,190, 1.91,
192
Purdy S.B., 239
Rafael, 40
Rcmh.udt A., 6, 49, Sl, 125. 160,
194, 195, 196, 197, 198. 199,208,
209
R1chr L, 31
Riegl A, 210
Ries W.., 241
RolxnM.., 239
Rochlitz R-, 153, 154, 177, 178
-.
8
e
e
e
-e
...
....
Rodin A., 146
Rogozmskt 1 , 160
Roschach H , 85
Rothko M, 52, 53, 89, 193
Rowell 223, 256
Ruban L,5S
Ruban W., 193
Ruelle D., 120
Ruge A., 153, 188
Ruskin J., 33
Ryman R., 144, 160
S3ndoz C.. 206
ScheUang F.W.J. von, 230
Scholem G., 147, 154, 236, 237, 239,
240
Settz w.c.. ss
Sern R., 132, 134, 168
Serres M., 12, 115
Seurat G., 194
Shapiro j., 128, 131, 254
Stmmel G., 221
Singleton C.S., 46
Srruth D., 90
Smtth T., 71, 74, 89, 90, 91, 93, 95,
97, 98, 100, 101, 102, 104, lOS,
106, 107, 108, 109, 112, 113, 114,
115, 116, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 127, 128, 129, 141, 144,
156, 159, 160, 164, 165, 166, 169,
170, 171, 179, 188, 202,209,213,
229,240,256
Smathson R , 74, 138, 140, 168
Steinberg E.R., 239
Steinberg L, 75
Stetner G., 202, 203, 205
F., 19, 54, SS, 59, 60, 61, 62,
69, 76, 168, 198
Straus E., 6, 160, 1 61
Sylvester D., 123, 124, 132
Tenultano, 72
Thompson D'A.W., 109
Tiberghien G., 21 1
Tiedemann R., 114, 148, 153, 154,
171, 172, 173, 175, 176, 179
Tomis de Aquino (sio), 35, 155, 206
Todorov T., 214, 220
Torok M., 107, 248
Tucker M., 124
Turrell J., 168, 243
Tynunov J., 216,217,218,219
Valery P., 149, 150
Vasari G., 16, 208
Vermeer de Delft, 76
Vernant J.P., 113
V'ugllio, 43, 4 7, 234
Wagstaff S. Jr., 112
W:uburg A., 113, 181, 185, 243
Wiesel E., 188
Wingenstcin L, 35, 59
Wolfnm H., 210, 226, 229
Wollbetm R., 49, 70, 198, 199
Wrigth F.L., 89
Zemer H., 210
Georges DidaHuberrn3n
Você também pode gostar
- (TRANS) Georges Didi-Huberman - O Que Vemos, Que Nos Olha (2010, Editora 34) PDFDocumento262 páginas(TRANS) Georges Didi-Huberman - O Que Vemos, Que Nos Olha (2010, Editora 34) PDFYgor Gabriel100% (5)
- MITCHELL, W. - O Que As Imagens Realmente QueremDocumento30 páginasMITCHELL, W. - O Que As Imagens Realmente QueremMichel Platini100% (6)
- O artista brasileiro Helio Oiticica e a arte ambientalDocumento174 páginasO artista brasileiro Helio Oiticica e a arte ambientalNoara QuintanaAinda não há avaliações
- A grande feira: Uma reação ao vale-tudo na arte contemporâneaNo EverandA grande feira: Uma reação ao vale-tudo na arte contemporâneaAinda não há avaliações
- Jacques Rancière - Partilha Do Sensível (Entrevista)Documento7 páginasJacques Rancière - Partilha Do Sensível (Entrevista)Mariana LimaAinda não há avaliações
- Aby Warburg e a memória coletiva na formação do estilo do RenascimentoDocumento11 páginasAby Warburg e a memória coletiva na formação do estilo do RenascimentoThales Estefani100% (1)
- Experiência e Arte ContemporâneaDocumento100 páginasExperiência e Arte ContemporâneagregooneAinda não há avaliações
- Antagonismo e Estética Relacional no Palais de TokyoDocumento20 páginasAntagonismo e Estética Relacional no Palais de TokyoIvair Reinaldim67% (3)
- Merleau-Ponty - O Olho e o EspíritoDocumento45 páginasMerleau-Ponty - O Olho e o EspíritoLeandra Lambert100% (7)
- Arthur Danto - A Transfiguração Do Lugar-Comum - Reinventar AlternativasDocumento4 páginasArthur Danto - A Transfiguração Do Lugar-Comum - Reinventar AlternativasAdrianaFernandesAinda não há avaliações
- DUBOIS - Um Efeito Cinema Na Arte ContemporâneaDocumento21 páginasDUBOIS - Um Efeito Cinema Na Arte ContemporâneaTiago R. C. Lopes100% (1)
- Pixação: arte contemporânea na cidadeDocumento225 páginasPixação: arte contemporânea na cidadeArthur RibeiroAinda não há avaliações
- A Revolucao Estetica Jacques RanciereDocumento29 páginasA Revolucao Estetica Jacques RanciereArthur Bueno100% (1)
- O Ato de Criação: G. DeleuzeDocumento13 páginasO Ato de Criação: G. DeleuzeJosé Miguel Mascarenhas Monteiro100% (1)
- A comunidade estética e o jogo livreDocumento20 páginasA comunidade estética e o jogo livreze_n6574Ainda não há avaliações
- Os espaços discursivos da fotografia e sua legitimação como arteDocumento20 páginasOs espaços discursivos da fotografia e sua legitimação como arteRenata_Mosaner_137Ainda não há avaliações
- A dúvida de Cézanne: o gênio e sua obraDocumento14 páginasA dúvida de Cézanne: o gênio e sua obraJanayna Araujo100% (3)
- Ranciere A Partilha Do SensivelDocumento29 páginasRanciere A Partilha Do SensivelLeisi Fernanda Moya100% (3)
- Imagem, evento e duraçãoDocumento16 páginasImagem, evento e duraçãokatia maria100% (1)
- BACHELARD, Gaston. A Poética Do DevaneioDocumento209 páginasBACHELARD, Gaston. A Poética Do DevaneioCarlos Regis100% (10)
- A Pintura Como Modelo - Yve-Alain BoisDocumento58 páginasA Pintura Como Modelo - Yve-Alain BoisSarah CoeliAinda não há avaliações
- O Espectador EmancipadoDocumento7 páginasO Espectador EmancipadoRosyane Trotta100% (1)
- ADORNO Theodore W Museu Valery Proust PDFDocumento7 páginasADORNO Theodore W Museu Valery Proust PDFTiago MartinsAinda não há avaliações
- Ontologia Da Imagem Fotografica - Andre BazinDocumento9 páginasOntologia Da Imagem Fotografica - Andre BazinCandida M Monteiro100% (1)
- O enigma da imagem: a contribuição de WarburgDocumento6 páginasO enigma da imagem: a contribuição de WarburgmaynaquintanaAinda não há avaliações
- Arte Minimal e a ênfase na formaDocumento16 páginasArte Minimal e a ênfase na formaLuiza Cascon100% (2)
- Calabrase, Omar. Como Se Lê Uma Obra de ArteDocumento71 páginasCalabrase, Omar. Como Se Lê Uma Obra de ArteKarol Lira Martins100% (2)
- O Livro Como Objeto Da ArteDocumento53 páginasO Livro Como Objeto Da ArteFelipe TognoliAinda não há avaliações
- A Pintura Encarnada - Didi-HubermanDocumento25 páginasA Pintura Encarnada - Didi-HubermanTales FernandesAinda não há avaliações
- Ranciére o Insconsciente Estetico 2009Documento38 páginasRanciére o Insconsciente Estetico 2009susana scramimAinda não há avaliações
- Guattari e Rolnik - Micropolítica - (Citações Trechos PT BR)Documento37 páginasGuattari e Rolnik - Micropolítica - (Citações Trechos PT BR)david100% (3)
- Que melodias tocam as ranhuras de um crânioDocumento27 páginasQue melodias tocam as ranhuras de um crânioJorgeLuciodeCamposAinda não há avaliações
- PRISMAS - Crítica Cultural e SociedadeDocumento219 páginasPRISMAS - Crítica Cultural e SociedadeRodrigo Cavelagna100% (9)
- SALLES, Cecilia Almeida - Redes Da Criaà à o Construà à o Da Obra de ArteDocumento89 páginasSALLES, Cecilia Almeida - Redes Da Criaà à o Construà à o Da Obra de ArteCélia Barros100% (3)
- Seminário sobre Hélio Oiticica discute seu legado para além da arteDocumento167 páginasSeminário sobre Hélio Oiticica discute seu legado para além da arteAndré Fogliano0% (1)
- Entrevista Didi-Huberman - Revista Zum PDFDocumento18 páginasEntrevista Didi-Huberman - Revista Zum PDFGeovana SiqueiraAinda não há avaliações
- PEDROSA, Mario - Crise Ou Revolução Do ObjetoDocumento4 páginasPEDROSA, Mario - Crise Ou Revolução Do ObjetoMara LoboAinda não há avaliações
- Anne Cauquelin A Invencao Da Paisagem PDFDocumento69 páginasAnne Cauquelin A Invencao Da Paisagem PDFPaulaBraga68100% (1)
- O cine-pensamento de Deleuze e uma concepção estético-política da subjetividadeDocumento7 páginasO cine-pensamento de Deleuze e uma concepção estético-política da subjetividadeSuz Figs100% (1)
- A dobra e o vazio: Questões sobre o barroco e a arte contemporâneaNo EverandA dobra e o vazio: Questões sobre o barroco e a arte contemporâneaAinda não há avaliações
- O fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNo EverandO fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Walter Benjamin: Experiência histórica e imagens dialéticasNo EverandWalter Benjamin: Experiência histórica e imagens dialéticasAinda não há avaliações
- Cinemas em redes: Tecnologia, estética e política na era digitalNo EverandCinemas em redes: Tecnologia, estética e política na era digitalAinda não há avaliações
- Roland Barthes e a revelação profana da fotografiaNo EverandRoland Barthes e a revelação profana da fotografiaAinda não há avaliações
- Imagens de pensamento: Sobre o haxixe e outras drogasNo EverandImagens de pensamento: Sobre o haxixe e outras drogasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- Paisagem, entre literatura e filosofiaNo EverandPaisagem, entre literatura e filosofiaAinda não há avaliações
- Da imagem ao clichê, do clichê à imagem: Deleuze, cinema e pensamentoNo EverandDa imagem ao clichê, do clichê à imagem: Deleuze, cinema e pensamentoNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Desconstruir Duchamp: Arte na hora da revisãoNo EverandDesconstruir Duchamp: Arte na hora da revisãoAinda não há avaliações
- Potências Do Samba Clichês Do Samba - Linhas de Fuga e Capturas Na Cidade Do Rio de Janeiro - Rodrigo GueronDocumento13 páginasPotências Do Samba Clichês Do Samba - Linhas de Fuga e Capturas Na Cidade Do Rio de Janeiro - Rodrigo GueronAnaLuz08100% (1)
- P03Documento20 páginasP03AnaLuz08Ainda não há avaliações
- FERAL, Josette PDFDocumento14 páginasFERAL, Josette PDFVerônica MelloAinda não há avaliações
- Pânico de Palco - Modernismo, Antiteatralidade e Drama - Martin PuchnerDocumento34 páginasPânico de Palco - Modernismo, Antiteatralidade e Drama - Martin PuchnerAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Biopolitica e Teatro Contemporaneo - José Da CostaDocumento13 páginasBiopolitica e Teatro Contemporaneo - José Da CostaAnaLuz08100% (2)
- Italo Calvino As Cidades Invisiveis RevDocumento71 páginasItalo Calvino As Cidades Invisiveis Revzappata73Ainda não há avaliações
- Décio Pignatari - Informação Linguagem ComunicaçãoDocumento127 páginasDécio Pignatari - Informação Linguagem Comunicaçãojulio9063Ainda não há avaliações
- Manifesto SurrealistaDocumento24 páginasManifesto SurrealistaDé LudwigAinda não há avaliações
- "Performer" Richard Schechner.Documento33 páginas"Performer" Richard Schechner.OzkaxAinda não há avaliações
- Teatralidade e performatividade na cena contemporâneaDocumento13 páginasTeatralidade e performatividade na cena contemporâneaTav Neto100% (1)
- Artigo Revista de Arte e Cultura Popular - UERJDocumento24 páginasArtigo Revista de Arte e Cultura Popular - UERJAnaLuz08Ainda não há avaliações
- A Representação Emancipada - Bernard DortDocumento9 páginasA Representação Emancipada - Bernard DortAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Pós Produção - Como A Arte Reprograma o Mundo Contemporâneo - Nicolas BourriaudDocumento57 páginasPós Produção - Como A Arte Reprograma o Mundo Contemporâneo - Nicolas BourriaudAnaLuz08Ainda não há avaliações
- O Céu Do Teatro - Eugenio BarbaDocumento3 páginasO Céu Do Teatro - Eugenio BarbaAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Conceitos Operativos Nos Estudos Da Performance - Edélcio MostaçoDocumento11 páginasConceitos Operativos Nos Estudos Da Performance - Edélcio MostaçoAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Anais Do 2º Congresso Nacional Do Samba V1Documento382 páginasAnais Do 2º Congresso Nacional Do Samba V1AnaLuz080% (1)
- Recorte Jornal - Empreendorismo Das Escolas de SambaDocumento4 páginasRecorte Jornal - Empreendorismo Das Escolas de SambaAnaLuz08Ainda não há avaliações
- O Que Você Está Lendo - Jean Pierre SarrazacDocumento4 páginasO Que Você Está Lendo - Jean Pierre SarrazacAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Mito Da Caverna - PlatãoDocumento7 páginasMito Da Caverna - PlatãoAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Teatro Performativo e Pedagogia - Josette FéralDocumento13 páginasTeatro Performativo e Pedagogia - Josette FéralAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Gaia Ciência - Item 14 - NietzscheDocumento2 páginasGaia Ciência - Item 14 - NietzscheAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Gestos - Vilem FlusserDocumento9 páginasGestos - Vilem FlusserAnaLuz08Ainda não há avaliações
- O Corpo Paradoxal - José GilDocumento13 páginasO Corpo Paradoxal - José GilAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Melancolia - AristótelesDocumento15 páginasMelancolia - AristótelesAnaLuz08100% (1)
- Gilles Deleuze - O Ato de CriaçãoDocumento15 páginasGilles Deleuze - O Ato de Criaçãomostratudo100% (2)
- A relação entre teatro, arquitetura e cidade na Grécia AntigaDocumento37 páginasA relação entre teatro, arquitetura e cidade na Grécia AntigaAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Arte Poética - AristótelesDocumento53 páginasArte Poética - AristótelesJoão AmadoAinda não há avaliações
- A Fabricação Do Teatro - Questões e Paradoxos - Josette FeralDocumento16 páginasA Fabricação Do Teatro - Questões e Paradoxos - Josette FeralAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Os Dragoes Nao Conhecem o ParaisoDocumento123 páginasOs Dragoes Nao Conhecem o ParaisoCamilaTRussiAinda não há avaliações
- DIDI-HUBERMAN - DIANTE DO TEMPO História Da Arte e Anacronismo Das Imagens - Georges Didi-HubermanDocumento12 páginasDIDI-HUBERMAN - DIANTE DO TEMPO História Da Arte e Anacronismo Das Imagens - Georges Didi-HubermanValdir Olivo JúniorAinda não há avaliações