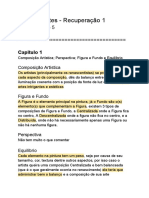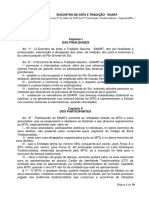Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
HPW - Mudança Linguística - TFC - 1998
Enviado por
Hans Peter WieserTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HPW - Mudança Linguística - TFC - 1998
Enviado por
Hans Peter WieserDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HANS PETER WIESER
MUDANA LINGSTICA
Fortaleza 1998
HANS PETER WIESER
MUDANA LINGSTICA
Trabalho de Graduao apresentado ao Curso de Letras, Centro de Humanidades (CH), Universidade Estadual Do Cear (UECE). Orientador: Prof. Dr. Antnio Luciano Pontes.
Fortaleza 1998
HANS PETER WIESER
MUDANA LINGSTICA
Monografia aprovada como requisito parcial para obteno da licenciatura plena para o magistrio de 1o e 2o graus, nos termos da Lei no 28370/50, de 12/07/50, DOU de 20/07/50, no Curso de Letras, Centro de Humanidades (CH), Universidade Estadual do Cear (UECE), pela Comisso formada pelos professores:
Orientador:
Prof. Dr. Antnio Luciano Pontes Depto de Lngua Portuguesa, UECE
Fortaleza, 18 de dezembro de 1998
SUMRIO
RESUMO ................................................................................................... iv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. INTRODUO ........................................................................................ 1 PORQUE AS LNGUAS MUDAM? ....................................................... 4 A LNGUA UM ORGANISMO OU UM MECANISMO ................. 8 MUDANA, ESSNCIA E GNESE .................................................... 11 NATUREZA VS. ARTE INSTINTO VS. RAZO ............................. 14 A LNGUA COMO UM FENMENO DE TERCEIRO TIPO ........... 19 O PAPEL DA LINGSTICA DIACRNICA ..................................... 24 A AUTO-ORGANIZAO DAS ORDENS ESPONTNEAS ............25 A EXPLICAO ATRAVS DA MO INVISVEL .......................... 30 EXPLICAES CAUSAIS, FINAIS E FUNCIONAIS ....................... 37 AS MXIMAS DO COMPORTAMENTO LINGSTICO ............... 46 ESTASE E DINMICA NAS LNGUAS NATURAIS ........................ 50 A LEI DE LDTKE ................................................................................. 57 A TEORIA DA NATURALIDADE .........................................................62 DIACRONIA OU SINCRONIA? ............................................................ 69 A LNGUA INTERNA DE CHOMSKY .................................................70 UM PROCESSO EVOLUCIONRIO.................................................... 76 OBSERVAES FINAIS.........................................................................84 ANEXO ...................................................................................................... 90 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................93
RESUMO
Este trabalho prope-se a mostrar as propores de uma teoria lingstica que ocupa-se das condies gerais que determinam a vida do seu objeto. Aspiramos a uma resposta concludente que explique como e porqu as lnguas naturais, como qualquer fenmeno socio-cultural, alteram-se atravs de um processo evolucionrio. Queremos mostrar uma imagem da lngua que interprete seu objeto como um fenmeno complexo, cujos elementos e estruturas histricos transformam-se permanentemente, contudo ultrapassamos o descritivismo tradicional e apresentamos um estudo hipottico-dedutivo que cumpre a exigncia principal para a realizao de uma histria de uma lngua, isto , a fora explicativa. A hiptese principal deste trabalho encontra-se na afirmao que a mudana lingstica representa uma conseqncia necessria da maneira como os falantes empregam a sua lngua na comunicao. As lnguas naturais representam, em primeiro lugar, um recurso dinmico para influenciar os outros. A complexidade e a dinmica do objeto conduzem a idia de analisar a mudana lingstica em analogia teoria do caos. O modelo da criao de uma ordem espontnea serve para a explicao de um aspecto importante da natureza das lnguas naturais: Interpretamos a lngua como um costume, um jogo de influncia que se formou atravs de um processo de mo invisvel. A lngua representa, conforme a teoria aqui apresentada, um fenmeno de terceiro tipo que se formou sem planejamento ou inteno, simplesmente, em conseqncia dos princpios gerais do comportamento humano. Assim conclumos que a explicao atravs da mo invisvel representa o nico modelo adequado para tornar este tipo de fenmenos compreensvel. O estudo ultrapassa, deste modo, a rea da mera anlise lingstica e mostra que a mudana da lngua um caso especial da mudana socio-cultural. Desenvolvemos nossa proposta com muitas referncias a histria da nossa disciplina, pois o conhecimento da histria de um problema uma condio prvia da sua compreenso. Partimos, por isso, dos problemas que a lingstica alem do fim do sculo XIX levantou. Ligamos a viso orgnica desta corrente a idias que a filosofia escocesa do sculo XVIII formulou a fim de correlacionar alguns dados histrico-descritivos com os tipos de aes lingsticas cujas conseqncias elas representam. Justificamos, desta maneira, as mudanas lingisticas como conseqncias involuntrias de aes individuais que foram realizadas sob certas condies ecolgicas e conforme certas mximas de ao.
iv
1. INTRODUO
Comea o mundo enfim pela ignorncia E tem qualquer dos bens por natureza A firmeza somente na inconstncia.
Gregrio de Matos
Este trabalho trata dos signos lingsticos e da sua dinmica. Queremos mostrar como os elementos lingsticos se formam, funcionam e se transformam durante a comunicao humana. Nosso objeto central a descrio da mudana lingstica e a explicao das suas causas pelo ponto de vista de uma teoria comunicativa que reflete a poli-funcionalidade da lngua. Conseqentemente, compreendemos a mudana lingstica, primeiramente, como mudana de normas sociais e no como mudana de sistema. Um antigo princpio escolstico diz: Onde h discrepncias, temos que fazer distines. Correspondendo a esta regra, pesquisamos as contradies de algumas correntes lingsticas a fim de estabelecer novos conceitos que vencem antigos impasses. Este texto produto de um processo de aprendizagem. Ele o resultado de um processo cumulativo, na medida em que estudantes e professores de vrias disciplinas lingsticas da UECE participaram na discusso do assunto. Todos eles sejam agradecidos por sua crtica construtiva e suas inestimveis dicas. A variao e seleo das suas idias, assim como a leitura crtica da respectiva literatura (clssica e moderna) formam a principal fonte do nosso conhecimento. O nosso interesse pelo assunto cresceu originalmente durante um estudo intensivo da histria da lngua portuguesa. Notamos logo que as gramticas histricas descrevem minuciosamente todas as transformaes que o Portugus sofreu durante o decorrer dos sculos. As leis fonticas, os metaplasmos, a analogia, a constituio do lxico, arcasmo, neologismo, estrangeirismo, as mudanas morfolgicas, tudo isto encontramos pormenorizado nas respectivas pginas. Ainda assim, faltou-nos, geralmente, uma explicao concludente que esclarea as razes destas mudanas. Enquanto a lingstica histrica esforou-se a reconstruir adequadamente os dados histricos, ela indicou, geralmente, mudanas gerais do mundo ou caractersticas formais do sistema lingstico como causas para as mudanas lingsticas. A lingstica histrica e o estruturalismo tm em comum que ambos se contentam, geralmente, com a indicao de fraquezas internas do sistema lingstico que a mudana tentasse a vencer a fim de adaptar a imagem lngua a seu original, o mundo. As duas correntes, por conseguinte, consideram a mudana como um inevitvel acontecimento exterior que provoca um distrbio inoportuno no sistema lingstico. Ambas enfatizam, nos seus modelos tericos, o aspecto mecanicista e os fenmenos inerentes ao sistema lingstico. Todavia eles se distinguem pela perspectiva diacrnica, respectivamente sincrnica das suas pesquisas. A teoria histrica, assim como o modelo estruturalista representam descries adequadas das mudanas lingsticas; contudo eles no contribuem muito para a realizao de um objetivo maior da lingstica terica, o de fornecer explicaes adequadas. Nas padres do conceito gerativista da lngua e da lingstica, a questo da mudana lingstica nem discute-se, porque a interpretao psicolgica que acredita encontrar o lugar da lngua exclusivamente da cabea do homem no capaz de
explicar a mudana lingstica como um fenmeno inerente ao seu modelo. Chomsky escreveu: A lngua finalmente no tem existncia prpria independente da sua representao mental (CHOMSKY 1968/1970: 155); e ele priva-se, deste modo, da possibilidade de compreender o estado da lngua historicamente. Nosso incmodo com as discrepncias tericas e o impasse na soluo da questo da mudana intensificou-se ainda mais, quando descobrimos, durante nossos estudos sociolingsticos, que esta disciplina que enfatiza o carter heterogneo das lnguas e a pesquisa das suas variaes sincrnicas tambm contribui menos do que se esperava para a soluo do nosso problema: por mais que conhecemos os fatores lingsticos e extra-lingsticos que influenciam o desenvolvimento da lngua, a sua mudana permanente continua realizar-se com uma necessidade misteriosa, pois nem as mudanas do mundo, nem as caractersticas estruturais de um sistema so necessrias ou suficientes para explicar as mudanas da lngua. A final das contas, tem milhares de alteraes no mundo ou desatinos na lngua que no provocam nenhuma mudana no sistema de uma lngua. As alteraes lingsticas, ento, no representam fenmenos previsveis, mas e isto uma das nossas hipteses centrais elas so as conseqncias (involuntrias) da maneira como os falantes individuais empregam a sua lngua. Quanto mais ocupamo-nos com as teorias citadas, descobrimos que a sua metfora dominante que interpreta a comunicao como um problema de transporte no acerta o mago do nosso objeto de pesquisa, pois, os signos lingsticos no caem do cu (platnico) para representar nossas idias (eternas). Eles tambm no so as condies prvias para nossos esforos comunicativos, mas as suas conseqncias (geralmente no intencionadas). Ao nosso ver, a comunicao tem nada a ver com a embalagem, o despacho e o desempacotamento de mensagens sgnicas, pelo contrrio, a comunicao representa um processo de inferncias. Comunicar significa influenciar os outros e tentar leva-los a tirar certas concluses. Conseqentemente, os signos lingsticos no tem o carter de um pacote, mas o de premissas para concluses interpretadores. Com base neste conceito geral, comeamos ver a lngua como um produto relativamente estvel, que, de vez em quando, sofre o infortnio da mudana. As teorias tradicionais, geralmente, ocupam-se com esta mudana apenas na medida em que ela se relaciona com a arquitetura dos signos lingsticos. Nosso estudo tentar caminhar em outra direo. Nossa ateno destina-se menos questo da arquitetura dos signos, mas busca dos princpios da sua formao e transformao. O ser humano capaz de interpretar as coisas como signos; ele consegue tirar concluses com base nos dados sensivelmente percebidos. justamente esta faculdade de que ele se aproveita quando ele quer comunicar-se. Como j foi dito, a comunicao constitui-se na produo de fenmenos percebveis, com a inteno de levar os outros a tirar suas concluses interpretadores. A comunicao um jogo de adivinhao. Para participar nele com xito, os participantes tem que conhecer as regras que definem o uso dos signos numa comunidade de fala. Chama-se competncia individual, a faculdade de dar aos receptores modelos de interpretao que lhes permitem adivinhar o objetivo da respectiva comunicao. Uma teoria da histria de uma lngua, conseqentemente, deve refletir as formas de vida da sua comunidade de fala; ela deve relacionar a descrio dos dados histricos de uma lngua com os tipos de aes lingsticas cujas conseqncias eles representam. Isto significa que ela deve interpretar a estrutura da lngua como conseqncia
involuntrio de aes individuais que foram realizadas sob certas condies ecolgicas e conforme certas mximas de comportamento. Uma vez aceitado este caminho metodolgico, restou pouca coisa do nosso projeto original de analisar as mudanas lingsticas detectadas num corpus de grias brasileiras a fim de indicar uma tipologia das alteraes formais e de sentido. Trabalhos deste tipo (com base em diferentes corpus) j existem e a maioria deles no ultrapassa o nvel da mera descrio. Contudo, os melhores deles reclamam que at hoje ningum chegou, por exemplo, a estruturar uma explicao (realce nosso) de porque o sentido muda (TRAVAGLIA 1993: 51). A obra citada, que representa o melhor estudo do assunto em Portugus, estabelece, com efeito, uma hiptese de explicao discursiva para os fatos lingsticos da mudana de significado e da formao de palavras em que o scio-histrico tem uma relao de interao com as formas lingsticas (loc. cit.). Mas mesmo Travaglia no consegue se livrar dos trilhos costumeiros ao afirmar: Embora a mudana possa ter uma instncia individual, ela s ocorrer, se ratificando pelo coletivo (realce nosso) (loc. cit.). Claro, que ns tambm no queremos reinstaurar a iluso do sujeito de ser a fonte do sentido, mas, como veremos mais adiante, cada processo de mudana lingstica tem que recorrer instncia do indivduo para ter efeito no sistema da lngua. Travaglia subestima este papel do falante individual ao reduzi-lo a um mero fator social. Por isso, ele afirma na mesma obra, numa nota de rodap: (...) O sentido resulta da ao de fatores histricos, sociais e ideolgicos em que o indivduo est imerso. Portanto quando o sujeito muda de atitude subjetiva, na verdade ele funciona como um lugar social e no como indivduo (relace nosso). (ibid.: 61). A excluso do indivduo intencional, a obscuridade do seu conceito de sistema lingstico e, especialmente, a primazia do sistema lingstico como objeto abstrato sobre a atividade lingstica do indivduo representam, ao nosso ver, os pontos crticos da obra citada, onde nosso trabalho comea buscar alternativas. Cabe ao leitor medir o vigor da nossa proposta. Vendo a necessidade de estabelecer uma teoria de mudana lingstica que tem fora explicativa antes de lanar-se a um trabalho emprico, ns resolvemos deslocar o foco do nosso estudo em direo a um trabalho terico e deixamos nosso projeto de levantar e analisar o corpus citado para outra oportunidade. Este futuro trabalho representar a pedra-de-toque para o modelo terico que ns colocaremos discusso. Nosso estudo modesto, por enquanto, se prope apenas a analisar um recorte muito delimitado do portugus sob o aspecto da criao de uma ordem espontnea. Em outras palavras, a hiptese central deste trabalho : O estado presente do portugus do Brasil o resultado involuntrio de aes facultativas dos falantes e dos seus antepassados. Em segundo lugar, vamos ocupar-nos com a tarefa de mostrar as conseqncias deste processo evolucionrio para a teoria das transformaes lingsticas. Partiremos, nesta tarefa, de uma viso da lngua que ope-se, por um lado, ao conceito estruturalista que os fenmenos lingsticos representam uma realidade autnoma, e, por outro lado, ao conceito gerativista que reduz a lngua a um fenmeno psicolgico. Estamos vendo a realidade lingstica como uma realidade primordialmente histrica que intimamente vinculada vida cultural e social dos seus falantes. Um mtodo adequado aos fatos reais deve, conseqentemente, integrar a histria interna e a histria externa, quer dizer, ele deve encaixar na sua anlise os dados estruturais e os aspetos sociais, mas, antes de tudo, ela deve mostrar quais mximas, sob quais condies provocam aquele comportamento dos falantes, cujas conseqncias involuntrias encontramos nas mudanas lingsticas.
Nisso, no queremos roer apenas os ossos velhos dos clssicos1, nem apresentar dados que no refletem a colocao do problema base de uma certa teoria. Tambm, no temos a inteno de dar uma exposio sumria das diversas teorias sobre as transformaes lingsticas - outros autores j cumpriram este papel, como, por exemplo, FARACO (1991), AITCHISON (1991), e LASS (1980) - nem queremos apresentar exaustivas pesquisas diacrnicas. Referncias ao nosso corpus servem apenas como ilustraes para a discusso hipottica-dedutiva de nossa teoria evolucionria. 2. PORQUE AS LNGUAS MUDAM ? J foi dito, que nenhuma regra imposta pela estrutura de uma lngua necessria ou suficiente para explicar os comportamentos lingsticos que servem uma sociedade ordenada e zelosa para estabelecer certas distines sociais ou morais. Basta lembrar, no contexto desta hiptese, dos exemplos que Michel BRAL (1897/1992: 37) conta no seu Ensaio: Os cambojanos no designam os membros do corpo nem as operaes cotidianas da vida pelos mesmos termos quando se trata de um rei ou de outra pessoa qualquer. Para exprimir que um homem come, servem-se da palavra si; falando de um chefe, dir-se- pisa; se se fala de um sacerdote ou de um rei, a palavra ser so. Falando a um inferior, moi se diz anh; a um superior, knom; a um sacerdote, chhan. Os seguidores de Zoroastro, que consideram o mundo dividido entre duas potncias contrrias, tm um duplo vocabulrio, conforme falam de um criatura de Ormuzd ou de uma criatura de Ahriman O aventureiro e ecologista alemo, Rdiger Nehbusch2, contou-nos em uma das suas palestras sobre sua vida com os ndios que h uma rgida conveno tica entre os ianommis proibindo cada membro do tribo chamar o outro por seu nome prprio. Nehbusch descreveu os problemas que este fenmeno sociolingstico lhe causou, cada vez que ele tentava referir-se a uma terceira pessoa que no momento da conversa estava ausente e fora do alcance de gestos demonstrativos. Deste modo, por exemplo, quando ele perguntava onde se encontrasse um ndio que no dia anterior ainda se chamava este que est sentado no fogo, os outros membros do tribo lhe indicaram qualquer homem que, no momento da conversa, estava, ao caso, sentado no fogo, enquanto aquele ndio que ainda trazia este nome no dia anterior, agora j se chamava este que pesca no rio. De fato, difcil para ns compreendermos estes comportamentos estranhos que impem certas restries ticas e convencionais aos falantes de uma comunidade de fala; restries que dificultam a referncia lingstica a uma terceira pessoa por causa de receios religiosos em respeito a uma obsesso iminente desta pessoa por espritos maus. Por outro lado, tambm no mais fcil para os ndios, cambojanos ou iranianos compreender por que um multido de adolescentes brasileiras se dedica entusiasticamente destruio dos seus ligamentos de joelhos depois da divulgao de uma nova moda a qual seus propagandistas deram o nome o Tchan.
1
Uma vez que impossvel, numa obra como esta, expor todas as idias que existem sobre cada aspecto da questo, procuramos, atravs de rodaps recomendar ao leitor estudos relacionados com o que se apresenta. 2 NEHBUSCH, Rdiger. Amazonas: Uma viagem origem do tempo. Palestra com projeo de slides na Universidade Tcnica de Berlim (TU Berlin) no dia 28 de junho de 1994.
Seja como for, todos estes exemplos esclarecem que a nossa lngua nos serve tambm para outros objetivos do que para a simples troca de pensamentos ou a divulgao de supostas verdades sobre o mundo. As lnguas se transformam continuamente. D. Dinis (1261 1325) e Paio Soares de Taveirs viveram h mais ou menos trinta geraes. Se ns pudssemos viajar pelo tnel do tempo para visita-los nos anos de 1200 ou de 1300, enfrentaramos grandes dificuldades para conversar com os ilustres trovadores.3 Foi MAUTHNER (1912/1982: 7), que chamou, j em 1912, a nossa ateno para o fato, que um contemporneo dos poetas medievais, contanto que ele ainda vivesse hoje com boa sade, no poderia mais compreender seus prprios companheiros de infncia. Com Luis de Cames, que viveu h mais ou menos 400 anos, nossas dificuldades no seriam to fundamentais como aqueles com D. Dinis ou Paio Soares de Taveirs, mas ns emperraramos a qualquer momento e precisaramos pergunt-lo o que significam, por exemplo, as expresses testo, chamalote, vasquinha ou de cote que ele emprega to engenhosamente numa pequena redondilha.4 Mesmo se ns voltssemos apenas cerca de 100 anos e lssemos os anncios de um jornal do fim do sculo passado, descobriramos facilmente palavras meio estranhas. Lemos no jornal A Provncia de So Paulo do dia 18 de dezembro de 1878: Excellente escravo Vende-se um creoulo de 22 annos, sem vicio e muita fiel: bom e aceado cozinheiro, copeiro, bolieiro. Faz todo o servio de arraujo de casa com presteza, e o melhor trabalhador de raa que se pde desejar; humilde, obediente e bonita figura. Para tratar: a ladeira de S. Francisco n. 4. 54 Apesar das diferenas ortogrficas, o que, particularmente chama a nossa ateno o emprego das expresses aeado cozinheiro, copeiro, bolieiro, servio de arraujo de casa e trabalhador de raa. Algumas destas palavras caram em desuso e soam antiquadas para nossos ouvidos. O fato que a condio da propriedade do negro, visto como um animal, reafirmado, neste anncio, com a maior naturalidade, causa, hoje em dias, at espanto ou indignao.5
3
Os fillogos discutem, por exemplo, at hoje sobre o significado exato de um texto de Paio Soares de Taveirs, o mais antigo escrito em lngua portuguesa, que data de 1189: No mundo non me sei parelha, mentre me for como me vay, ca j moiro por vos e ay! In: MOISES, Massaud. A literatura portuguesa atravs dos textos. So Paulo: Cultrix, 24a ed.,1995. Pg.16. 4 Leva na cabea o pote, O testo nas mos de prata, Cinta de fina escarlata, Sainho de chamalote; Traz a vasquinha de cote, Mais branca que a neve pura: Vai fermosa, e no segura. In: MOISES, Massaud. A literatura portuguesa atravs dos textos. So Paulo: Cultrix, 24a ed.,1995. Pg.67. 5 O que no quer dizer, que no haja ainda pessoas que, infelizmente, se lembram desta poca com uma certa saudade.
Decorridos apenas 40 ou 50 anos, a linguagem j se distingue nitidamente da atual. Para provar isto, basta conversar com pessoas que ainda tm boas lembranas dos anos 40 ou 50.6 Lembranas que, muitas vezes, do motivo a risadas; gaitadas que fuxicavam nas recordaes. Quem foi buscar certas palavras l nos cafund dos judas ou quem as arrancou do fundo do ba, vai logo se lembrar que naquele tempo do bumba, a noite tinha boca, a serra tinha p e at suvaco. Uma moa que sentava na janela ficava falada se perdia a virgindade era porque tinham feito mau a ela, mesmo que tivesse gostado! O que nenhuma delas queria era ficar no carit e ser chamada de vitalina, coquete, lambisgia ou balzaquiana. Os rapazes cheios de pabulagem, com corte de cabelo, modelo escovinha, s usavam no cabelo brilhantina ou creme rinse e calavam no p sapatos cavalo de ao ou fanabores que eram, naquela poca, dernier cri e nunca demod. Os jovens comiam quebra-queixo e doce de gelo e seus pais ainda se lembravam onde eles tinham comprado o seu primeiro gramofone, vitrola ou radiola. Quem no gostava de ser chamado de mufino ou lesado andava vestido com um palet clube um, com camisa ban lon ou slack e com pantacus no acoxados em cima das ceroulas. Tomando banho de mar, se dava tainha para impressionar as moinhas que gostavam do perfume Royal Bryar e do p Cachemere Bouquet. As moas vestiam melindrosa, espartilho, califon e angua e, as vezes, elas davam uma rabissaca num rabo de burro ou um tabefe num trubufu que andava puxando fogo e contando lorotas e potocas. Rapaz que dava bola, tirava linha ou arrastava a asa por uma donzela descada tinha que ter picardia, ser prafrentex ou vira-mundo para garantir o seu sucesso com a cambada nos bazares aos domingos. Em resumo, ns poderamos encontrar em qualquer revista que foi imprimida h 40 ou 50 anos, expresses que, hoje em dias, seriam inimaginveis no mesmo contexto. Claro, que esta afirmao, em algumas reas, vale mais, em outras, menos. Por que as lnguas esto mudando? A nossa lngua atual no est bem, como ela est? Ser que queremos criticar certas coisas que devem mudar? A resposta no; pois, geralmente, estamos dispostos a levantar mais cedo suspeitas sobre variaes dialetais ou mudanas em progresso do que sobre o estado antigo de uma forma lingstica. Lembramos, por exemplo, a eliminao da marca indicadora de plural, que viola a concordncia de nmero conforme a NGB. Como o uso redundante desta marca, de fato, logicamente desnecessria, no de admirar que a fala brasileira, mesmo na sua variao culta, usa-la freqentemente apenas no artigo definido. Quando no h artigo, ela vai para a primeira palavra do grupo a ser pluralizado, que pode ser um substantivo. (BAGNO 1997: 48) Esta regra de colocar a marca do plural apenas na primeira palavra, j foi indicada como uma variao estvel no portugus do Brasil (ibid./ loc. cit.). Em algumas regies (Minas Gerais) ou classes sociais, ela, provavelmente, chega a representar uma mudana em progresso (ibid./ loc. cit.). Mesmo assim, muitos falantes do vernculo no hesitam em menosprezar aqueles conterrneos que ousam empregar a forma estigmatizada.
6
Devemos os exemplos em seguida ao Sr. Antnio Luciano Fernandes e Sra. Maria Antonia Fernandes da Rocha Pitta, cujas informaes foram concedidas em entrevista gravada no dia 21 de setembro de 1998. Agradecemos especialmente Sr. Luciano que contribuiu a este captulo com um pequeno caderno publicado por seus amigos. Vide: TURMA DA MESA 14. Ba de Palavras. Expresses em desuso mas que guardam gostosas recordaes. Disseonrio [sic!]. s.r.b.
Tudo isso lembra a moda de roupa: no incio, as ltimas novidades parecem ser brbaras, mas quando elas esto em voga, rimos sobre a verso anterior. Provavelmente acabamos de descobrir, neste fenmeno, um jogo lingstico que universal e ilimitado. Ser que ns podemos imaginar uma lngua que no muda nunca? Ou ser que isto uma pergunta absurda? No mais adequado perguntar, se ns podemos imaginar um povo que no muda a sua lngua? Suponhamos que um lingista participe em uma expedio num pas desconhecido. Ele poderia contar com uma lngua que ficou invarivel durante todas as pocas? Com certeza no! Mas por qu? Uma lngua imutvel, sem dvida, teria certas vantagens: durante pocas, a comunicao seria isenta de quaisquer dificuldades desnecessrias; a tradio de costumes e saberes seria mais fcil; os velhos no poderiam culpar a lngua pelas dificuldades de comunicao que, por acaso, eles teriam com os jovens; e os tericos da decadncia iminente da lngua poderiam usar seu tempo para coisas mais teis. No obstante, logo apareceria tambm uma desvantagem: A lngua de um povo deve ficar na altura do desenvolvimento social. A representao lingstica de um mundo que se transforma sem parar exige um alargamento contnuo do vocabulrio de uma lngua (FLEISCHER 1971: 9). mesmo? Vamos continuar com nossa brincadeira intelectual. Suponhamos que exista um povo que viva num meio e numa cultura que nunca tenha mudado. Este fato implicaria na nossa expectativa de que a lngua deste povo tambm no teria mudado? De novo, a nossa resposta no, porque nem esta pressuposio radical justificaria a expectativa de uma lngua fictcia que nunca mudou e nem mudar. No prprio Portugus, ns podemos verificar esta afirmao. Quais foram, por exemplo, as supostas mudanas no meio que causaram a troca de lindo para bacana, de bobo para paca, de roubar para garfar, de revolver para turbina ou trintoito, de confuso para burburinho, chafurdo, bafaf, buruu, trelel e bolol, ou, finalmente, de corrupo para bolada, berer, rolo e treta? (SERRA E GURGEL s.r.c.). Quais so os processos extra-lingsticos que implicaram o emprego das formas gastado, pagado ou salvado em vez de gasto, pago ou salvo? Por que podemos tranqilamente continuar a empregar a antiga palavra avio, que Santos Dumont j usou para seu Bis, no contexto dos avies modernos, que transportam multides, as vezes, com velocidade supersnica. Por que a atividade de um fotgrafo que opera uma maquina de filmar ainda pode se chamar rodar um filme, mesmo que todo equipamento seja computadorizado e ningum mais roda uma alavanca qualquer. bvio, as novidades do mundo nem so necessrias, nem suficientes para explicar as mudanas lingsticas. Hipteses que querem desmentir este fato, geralmente, tem sua origem numa interpretao ideolgica da linguagem, que considera a descrio inequvoca do mundo como tarefa principal da lngua, e que define a comunicao como uma atividade humana que aspira, em primeiro lugar, a afirmaes verdadeiras sobre o mundo. Tais pensamentos representam apenas um aspecto da comunicao, pois o verbo comunicar significa, primeiramente, que um emissor quer influenciar algum atravs de um certa maneira (SEARLE 1983:15)7. O
7
Vide: SEARLE (1983): Conforme Searle, a intencionalidade representa a base do significado lingstico (trad. nossa): Intencionalidade aquele qualidade de muitos estados e acontecimentos racionais, que nos orienta para os objetos ou fatos do mundo e que trata deles (Pg.15) Quando eu explico a intencionalidade atravs da linguagem, eu no quero dizer, que a intencionalidade,
sucesso social um dos objetivos mais cobiado do homem; e influenciar os outros atravs do uso da linguagem um elemento essencial da explicao do sucesso social. Vale uma nota salientar, que sucesso social, igualmente como o termo biological fitness de Darwin, no podem ser definidos substancialmente. O termo biological fitness, em respeito a uma pulga, implica outros critrios para o sucesso biolgico, do que em respeito a uma baleia. Numa tribo de punks valem outras condies para o sucesso social do que numa congregao religiosa. Em resumo: A comunicao um jogo de influncia base de vrios motivos que aspira simultaneamente a objetivos diversos. Saber porque um fenmeno lingstico est mudando, significa conhecer a sua finalidade, e conhecer aquela funo do jogo comunicativo que provoca a modificao da respectiva escolha lingstica. A explicao da mudana lingstica, conseqentemente, deve ser funcionalista. Ela deve comear com os motivos individuais que provocam a escolha lingstica de um falante e ela calcula, em seguida, o respectivo fenmeno coletivo, que representa uma conseqncia, no nvel macroscpico, daquela escolha, feita no nvel microscpico da lngua. 3. A LNGUA UM ORGANISMO OU UM MECANISMO? J vimos que no muito simples colocar as perguntas certas em respeito mudana de lngua, mas para a formao de uma teoria concludente, necessrio evitar perguntas que conduzem ao engano. Our questions fix the limits of our answers. (STAM 1976: 1) As nossas dificuldades tem sua origem no fato que as percepes e os modelos tericos que baseiam-se no vocabulrio da lngua corrente no so adequados aos processos contnuos de mudana. Os lingistas, geralmente, nunca duvidaram do princpio universal que as lnguas naturais transformam-se continuamente. Se esta lei vale para todas as lnguas naturais, quer dizer, se todas elas mudam permanentemente, ento precisa-se apenas de um pequeno passo para levantar a hiptese que este fenmeno representa uma qualidade essencial das lnguas naturais: uma qualidade essencial da lngua, que ela est permanentemente mudando, escreveu PAUL (1880/1920: 369) em 1880. No entanto, at hoje s tem poucos argumentos concludentes que explicam esta observao emprica. A simples afirmao que as lnguas, em conseqncia da sua arbitrariedade ou convencionalidade, so mutveis no implica que uma dada lngua realmente se muda, nem que todas as lnguas mudam e, de maneira nenhuma, que estas mudanas se realizam necessariamente, pois a mera possibilidade da mudana nem justifica a pressuposio que esta mudana realmente acontecer, nem que ela represente um fenmeno universal e obrigatrio. No h discrepncia nenhuma entre a afirmao que uma coisa seja mutvel e a observao que ela no mudou. E tambm no uma contradio dizer, que as lnguas se transformam permanentemente, mas que elas fazem isto sem necessidade.8
essencial ou necessariamente representa um fenmeno ling stico. (Pg.20) A linguagem se deriva da intencionalidade e no o inverso. Do ponto de vista pedaggico eu explico a intencionalidade atravs da linguagem; mas em respeito anlise lgica, a linguagem se explica pela intencionalidade. (Pg.20) 8 Da mesma maneira, pudssemos afirmar, que todos os pases industrializados consumem Coca Cola, sem implicar necessariamente que isto representaria uma qualidade essencial das naes industrializadas.
A mutabilidade da lngua, de fato, um resultado da sua arbitrariedade que, por sua vez, uma conseqncia da sua convencionalidade, pois, se no houvesse uma alternativa equivalente para um comportamento, ns no o chamaramos de convencional. A universalidade da mudana, primeiramente, uma observao emprica. Para a necessidade da mudana, os argumentos ainda no foram encontrados. A compreenso de processos contnuos de mudanas representa, desde sempre, uma dificuldade para o homem. A razo disso, provavelmente, se encontra no fato que ns no conhecemos um fenmeno percebvel, na vida cotidiana, que pudesse servir como exemplo. Exemplos percebveis temos apenas para processos de crescimento: os processos ontogenticos da natureza ou o trabalho manual do homem. Ambos representam processos sistemticos, quer dizer, processos onde uma idia do produto j existe antes do seu acabamento. Mesmo o vocabulrio da linguagem corrente influenciado por estes modelos mentais. Temos um vocabulrio para a criao e o crescimento, mas falta um para a evoluo. O que vale para a rea da lingstica, constatou LORENZ (1973: 18) para a biologia: Se ns tentamos descrever o processo da grande evoluo orgnica de uma maneira adequada, estamos sempre de novo impedidos pelo fato que o vocabulrio das lnguas naturais se desenvolveu numa poca, em que a ontognese, quer dizer, o crescimento individual, foi o nico tipo de desenvolvimento que o homem conhecia. Acrescentamos a este depoimento que, na rea da cultura, a ao individual do trabalhador ou do artista foi a nica maneira conhecida de descrever como se geram produtos no naturais. As palavras desenvolvimento ou evoluo at sugerem uma idia inadequada sobre o conceito da evoluo, nomeadamente, a noo que alguma coisa deve ser desembrulhada ou que alguma coisa se desdobra que na sua origem j estava pr-existente num estado embrionrio. Estes processos contnuos de mudana que pudessem nos servir como exemplos ou se realizam devagar demais para percebe-los durante uma vida humana, como processo de mudana (o que acontece no caso da evoluo da natureza), ou ns, simplesmente, no os percebemos como resultados de um processo contnuo de mudana (o que acontece no caso da moral, dos costumes, da religiosidade, da esttica ou da lngua). Percebemos o fenmeno da mudana lingstica, geralmente, pela perspectiva da sua suposta decadncia; fato, que facilita qualquer tipo de pessimismo cultural. Cada lingista j ouviu o argumento que a mudana da lngua no se percebe porque ela se efetua gradualmente e bem devagar, contudo isto no a verdade. Lembramos aqui dois exemplos da fala coloquial: a simplificao das conjugaes verbais em expresses como eles gosta, ns gosta, vocs gosta, ou a funo da partcula se como verdadeiro sujeito de orao em expresses como vende-se casas. Outro exemplo encontramos na mudana brusca do significado do verbo malhar que passou do emprego em expresses como malhar cereais, malhar metais, malhar em ferro frio ou malhar o ferro enquanto est quente para o uso no sentido de falar mal (vou malhar este filho da puta), fazer exerccios ( preciso malhar, cara, pra perder umas gorduras.) ou misturar a droga para aumentar o peso (O pessoal do morro t malhando pra faturar alto.).9 H, de fato, inumerveis exemplos onde ns percebemos as mudanas lingsticas, mas tambm bvio que ns no percebemos as alteraes individuais como elementos de um processo permanente e coletivo . Ao contrrio, a maneira tpica como ns percebemos as transformaes lingsticas a sua
9
cf.: SERRA E GURGEL (s.r.c.)
10
noo como decadncia da lngua. No de admirar, por isso, que os diversos tericos da decadncia, h dois mil anos esto lamentando a decadncia do respectivo vernculo, sem nunca ter provado, que houvesse um nico exemplo para uma lngua decada. Alm disso, nunca ouvimos falar de algum que queira lamentar a decadncia da prpria fala individual: Que portugus corrompido eu estou falando hoje, em comparao com os meus avs,! A decadncia da lngua sempre a decadncia da lngua dos outros. Em respeito s transformaes da lngua podemos escolher entre duas perguntas: Por que a lngua se transforma? ou Por que os falantes mudam a lngua? Em nosso contexto, vamos chamar a primeira pergunta a orgnicista e a segunda a mecanicista. Ao nosso ver, ambas as verses so traioeiras. Elas convidem a responder de maneira inadequada. Analisamos, primeiramente, a verso orgnicista. Na linguagem cientfica, as hipstases, metforas ou prosopopias so to comuns como na linguagem corrente. A eletricidade est correndo, os genes so egostas, mudanas na presso atmosfrica formam altas e baixas que vo e vem, que criam frentes e que deixam se reprimir. Estas expresses representam abreviaturas confortveis que no criam problemas, porque pelo menos os especialistas dispem de termos tcnicos que explicam os fenmenos sem metforas, reficaes ou personificaes. A pergunta Por que a lngua muda? tem como pressuposio a afirmao A lngua est mudando. A particularidade desta hipstase que at os especialistas no dispem de uma explicao que ns podemos aceitar no seu sentido palavra. Claro, sabemos que no a lngua portuguesa que est fazendo alguma coisa quando ela se transforma; sabemos que as mudanas tem alguma coisa a ver com os seus falantes. Mas o que? A histria da lingstica mostra que a reficao da lngua, quase necessariamente, provoca a sua subsequente animao, pois, j que se fez da lngua uma coisa, no h razo por que ela deve ficar uma coisa morta. A lngua vive; h foras nela que trabalham (WEISSGERBER 1971: 9); ela cresce, envelhece e morre (SCHLEICHER 1863: 6). Uma lngua procura solues, ela extingue ela seduz, ela luta para sobreviver e ela vence (ibid.: 29). E como ela faz tudo isso muito bem, ela, finalmente, recebe um esprito que domina nela (GRIMM 1819/1968: 6). Deste modo, a tcnica de comunicao da espcie biolgica homo sapiens sapiens se transformou de repente num ser vivo e racional com vrios dons esquisitos. A hiptese que os prprios falantes mudam a sua lngua, representa a pressuposio da verso mecanicista da nossa pergunta. Ela tambm traioeira, pois, a repreenso que ela tivesse mudado um pouquinho o nosso vernculo, a nossa av, certamente, nos levasse a mal. E a pergunta de CHOMSKY (1981: 18) Ser que voc ou eu criamos o ingls, obviamente, apenas retrica. Ambas as verses, a organicista, assim como a mecanicista, so traioeiras. A pergunta Por que a lngua muda? trata a lngua como um organismo que dispe de foras vitais. A pergunta, Por que os falantes mudam a lngua?, no entanto, soa ativo demais e sugere que os homens tem uma inteno, uma vontade ou um plano para mudar a lngua; como se a lngua fosse um produto artificial do homem, um mecanismo que ele pode criar e modificar vontade. Ambas as perguntas tem sua origem nos dois modelos citados em cima: na ontognese e no trabalho manual. Por trs razes, ambas so inadequadas para o modelo de uma lngua em contnua mudana:
11
(i)
A ontognese, assim como o artesanato representam atividades intencionais, isto significa que o produto final gentica ou conceptualmente antecipado. Esta afirmao no vale para o desenvolvimento de uma lngua. A ontognese, assim como a atividade manual, acabam quando o produto final est pronto. A vida da lngua, ao contrrio disso, uma histria sem fim. A ontognese, assim como a atividade manual representam processos individuais. H razes contingentes quando uma obra no pode ser criada por um indivduo s. Aes coletivas que se baseiam numa dada inteno quase so individuais; geralmente h nelas uma instncia central que responsvel pelo planejamento e a execuo da obra. A mudana da lngua, assim como a evoluo biolgica, representam fenmenos coletivos, quer dizer, processos que caracterizam-se pela participao de populaes.
(ii)
(iii)
4. MUDANA, ESSNCIA E GNESE Se ns resumimos o ento dito, chegamos a concluso que os falantes mudam a sua lngua sem ter uma inteno, um plano ou uma conscincia disso. Esta observao, de fato, correta, mas ela caracteriza a mudana lingstica apenas por negativas, quer dizer, pela excluso de certos critrios incompatveis. Isto significa que nossas afirmaes no representam uma resposta positiva questo como e porque os falantes transformam as lnguas. O problema se apresenta deste modo: Ns nos comunicamos justamente como nos comunicamos; falamos coisas importantes ou insignificantes, pela escrita ou pela fala, de maneira formal ou informal, mas, geralmente, ao nos comunicarmos, ns no nos lembramos da lngua, igualmente, como ns no nos lembramos da inflao quando fazemos compras. Ao usar a sua lngua milhes de vezes, os falantes a alteram permanentemente, ou, dito melhor, eles geram a transformao contnua da lngua por causa do uso permanente. Geralmente, ns no temos a inteno de provocar este atrito lingstico. A maioria dos falantes observa as mudanas lingsticas at com desinteresse, ou melhor ainda, geralmente, eles nem percebem as mudanas. Caso contrrio, h transformaes de que eles gostam; h outras que eles detestam ou no desejam, mas tanto faz, se eles aprovam uma mudana ou no, eles no podem planejar, evitar ou provoc-la conscientemente10. A questo , ento: Por que e como ns provocamos mudanas de lngua pelo uso cotidiano dela? Quais so os mecanismos desta transformao contnua? A tradio lingstica sempre chamou a ateno ao princpio da economia na articulao, mas se isto realmente representa o nico fator que domina o desenvolvimento, ento todas as lnguas, no decorrer do tempo, devem se tornar cada vez mais econmicas, o que, evidentemente, no acontece.
10
nica exceo desta regra se encontra na criao de novos termos tcnicos ou no planejamento poltico de reformas ortogrficas, etc. Mas nem nestes casos, h uma garantia, que o resultado de uma interveno consciente se assemelha ao objetivo intencionado.
12
Se ns conhecssemos os mecanismos que conduzem as mudanas lingsticas, saberamos mais sobre nossa comunicao cotidiana, pois, obviamente, estamos comunicando de uma maneira, que provoca a mudana do nosso meio de comunicao. Isto no exclui, que h processos aleatrios, mas estes, per definitionem, no so explicveis. (i) Se ns conhecssemos a finalidade do nosso uso da lngua, saberamos por que nossa lngua se transforma permanentemente pelo uso.
A questo como o processo da mudana lingstica realiza-se, no um problema histrico, mas sistemtico. As mudanas de amanh so as conseqncias do nosso comportamento de hoje. A teoria da mudana representa, ao mesmo tempo, uma teoria das funes e dos princpios da nossa lngua. (ii) Se ns soubssemos por que nossa lngua se transforma permanentemente, ns conheceramos a finalidade do nosso uso da lngua.
A frase (ii) a inverso da frase (i). O conhecimento da funo de um objeto tem uma ntima ligao com o conhecimento, por que este objeto existe. (iii) Se ns conhecssemos as funes da nossa comunicao, ns saberamos alguma coisa sobre a lgica da gnese da nossa lngua.
Uma teoria sobre a origem, por exemplo, do fenmeno dinheiro implica uma teoria sobre as funes do dinheiro. Esta conexo vale para toda a rea das instituies sociais. Uma instituio podia ter nascido para cumprir certas funes que se distinguem das funes que ela exerce hoje. Pudesse ter acontecido que um mtodo antigo de simular batalhas transformava-se num jogo chamado xadrez. Quando funes antigos se tornam obsoletas, a respectiva instituio no precisa necessariamente perecer; ela pode assumir outras funes. No entanto, ULLMANN-MARGALIT (1978: 280) adverte ao leitor para ele no fazer concluses precipitadas: This relation between the functional analysis of an item and a causal-genetic account of its presence, although often close (...), is by no means necessary. Contudo, ela tambm no quer subestimar a conexo entre a anlise funcional e a teoria da gnese, pois tal conexo ns encontramos nas obras artess, assim como na natureza viva. Se eu conheo a funo de uma viga na asna do telhado, eu tenho, ao mesmo tempo, uma boa hiptese sobre o porque da sua existncia. Se eu conheo a funo do fgado, eu tenho uma boa hiptese sobre a razo da sua formao. Esta conexo encontramos tambm nos fenmenos e instituies sociais como o direito, o dinheiro, os mercados, a moral ou a lngua. Vamos tentar demonstrar este fato num exemplo: Quem no j assistiu, numa praa pblica bem movimentada, ao espetculo de um artista de rua? Sempre cresce, nesta ocasio, em volta do msico ou palhao, um anel de homens que formam o pblico do artista. A combinao do pblico na forma geomtrica de um anel representa a gnese de uma estrutura social. Esta estrutura nasce, igualmente como a mudana da lngua, sem que houvesse qualquer planejamento ou acordo entre os participantes; ela cresce espontaneamente. Por isso, chamamos tal fenmeno uma ordem espontnea. Em nenhum dos espectadores houve a inteno de criar tal estrutura. A maioria nem notou que eles participaram ativamente na sua gnese, mas caso positivo, eles se mostrariam indiferentes em relao a este fato.
13
Observamos que no possvel entender a essncia desta estrutura social sem compreender a lgica da sua gnese, mas, para isso, precisa-se compreender, primeiramente, a funo das aes dos indivduos que participam na estrutura. Uma descrio meramente geomtrica no consegue adequadamente explicar a estrutura, pois a mesma forma geomtrica poderia ser formada por um batalho de soldados que obedeceram ordem de colocar-se em forma de crculos com um certo dimetro. As duas figuras geomtricas, esta dos soldados obedientes e aquela do pblico espontneo, podem ser idnticas do ponto de vista geomtrico, mas como fenmenos sociais elas so essencialmente diferentes. Uma estrutura espontnea, como aquela do pblico na praa, evidentemente cresce quando cada um dos homens que participam na sua gnese est escolhendo seu lugar conforme trs critrios: (i) (ii) (iii) ter a melhor vista possvel, no ficar exposto demais, dar a um certo nmero de homens a possibilidade de assistir ao espetculo da melhor maneira possvel.
Quem quer compreender a estrutura tem que conhecer estas mximas. Se as crianas de uma creche agissem somente conforme a mxima (i), elas criariam uma estrutura totalmente diferente, provavelmente, um aglomerao mais irregular. Um objeto (no sentido mais geral) se relaciona com sua funo, do mesmo modo, como uma ao com sua finalidade, respectivamente, com sua inteno. Na rea dos fenmenos sociais, a anlise das finalidades de uma ao, conseqentemente, essencial para a compreenso da estrutura gerada. Ao mesmo tempo, a compreenso do modo de gerao constitui a compreenso da prpria estrutura. Sendo a formao espontnea de um pblico um exemplo para uma estrutura mais ou menos estvel, ela pouco adequada para provar a hiptese que as finalidades de uma ao facilitam tambm a compreenso da mudana do fenmeno. As funes de ao citadas em (i) (iii) geram uma estrutura relativamente estvel. Se as pessoas agissem, exclusivamente, conforme a mxima (i), como as crianas fizessem, nasceria, provavelmente, uma estrutura em contnua transformao, quer dizer, um aglomerao de indivduos que rompem permanentemente a multido a fim de chegar mais para a frente. Queremos salientar que ns falamos apenas sobre as funes das aes e no sobre a funo da estrutura circular. Isto tem uma boa razo, pois, num sentido derivado, podemos atribuir estrutura circular, a mesma funo de permitir o maior nmero possvel de pessoas a assistir ao espetculo. Isto no evidente porque a funo da estrutura do fenmeno no precisa necessariamente corresponder com a funo do procedimento que gera o fenmeno. Sendo nosso exemplo um caso onde a funo da estrutura (circular) favorece a realizao da funo da ao (descrita pelas mximas (i) (iii)), temos como resultado uma estrutura relativamente estvel. Mas o exemplo das crianas mostra que h tambm outras possibilidades, como, por exemplo, um caso onde a funo da estrutura (circular) no corresponde com a funo do comportamento (infantil). Um comportamento exclusivamente base da mxima (i) no gera uma estrutura que consegue realizar a funo da ao. Exatamente nisto encontramos a causa da sua instabilidade. Tal estrutura instvel tem as qualidades que Friedrich Engels atribuiu histria: Cada indivduo aspira a um objetivo que os outros querem impedir e
14
o resultado que surge deste processo uma coisa que ningum quis. (MARX/ ENGELS 1972: 464). 5. NATUREZA VS. ARTE INSTINTO VS. RAZO Desde que o francs Bernard de Mandeville11 (1670 1733) e os filsofos escoceses Adam Ferguson12 (1723 1816) e Adam Smith13 (1723 1790) interessaramse por fenmenos que so resultados de aes humanas, mas no realizaes do planejamento humano14, a noo destes fenmenos sempre foi ligado ao conhecimento que as lnguas naturais tambm pertencem quela rea paradoxal das aes humanas onde os motivos das aes individuais e a questo dos seus efeitos sociais devem ser rigidamente separados. A exigncia de separar estes dois nveis vale tambm para a explicao destes fenmenos como resultados de um processo que parece ser conduzido por uma mo invisvel (SMITH 1776/1920: 235 seg.). Adam Smith j teve uma idia clara sobre a economia como fenmeno deste tipo: A receita anual de cada sociedade eqivale exatamente ao valor de troca de toda a produo anual do seu trabalho econmico; ou melhor, a receita anual este valor de troca. Todo mundo procura conseguir o melhor controle sobre o fluxo do seu capital aplicado no trabalho do seu pas. Cada um tenta gerenciar este mesmo trabalho de uma maneira que seu produto poder obter o maior valor possvel. Tal comportamento implica necessariamente que todo mundo se esfora, dentro dos seus limites, para aumentar a receita anual da sociedade o mximo possvel. Todavia, geralmente, ningum aspira a um rendimento maior do bem-estar geral e nem sabe quanto ele o faz avanar. Cada um pensa apenas na prpria segurana quando ele prefere o trabalho do seu pas ao trabalho de outro pas; cada um aspira apenas a seu prprio lucro quando ele gerencia este trabalho de tal maneira que seu produto possa conseguir o maior valor possvel, mas, neste caso como em muitos outros, cada um conduzido por uma mo invisvel para que ele promover um objetivo a que ele no aspira de maneira nenhuma (realce nosso). No obstante, este desconhecimento no representa nenhuma calamidade para a sociedade. Ao perseguir seu prprio interesse, cada um aumentar o da sociedade muito mais eficiente do que quando ele procurava realmente apoiar o desenvolvimento geral. Entre as teorias deste tipo, escreve HAYEK (1969: 150), a teoria da economia de mercado das sociedades livres, at hoje, a nica que foi desenvolvida sistematicamente durante um longo perodo; e junto com a lingstica (realce nosso) ela representa, talvez, uma das poucas teorias que precisam de tal elaborao esmerada por causa da complexidade particular do seu objeto de pesquisa. Toda a teoria econmica (e acreditamos tambm a teoria lingstica) deve ser interpretada como uma tentativa de reconstruir o carter de uma dada ordem atravs das regularidades que se encontram no comportamento individual. Contudo, difcil afirmar que os economistas tem uma conscincia clara de que exatamente isto representa a sua tarefa.
11 12
Vide: MANDEVILLE (1732/1980) Vide: FERGUSON, (1767/1904: 171) :
.... and nations stumble upon establishments, which are indeed the result of human action, but not the execution of any human design.
13 14
SMITH (1776/ 1920) Esta descrio provem do ttulo de um ensaio de HAYEK (1969a)
15
Sem dvida, a observao final sobre os economistas vale tambm para os lingistas. Podemos at afirmar, que os lingistas do sculo XIX e XX, na sua grande maioria, nem tomaram conhecimento dos pensamentos dos filsofos escoceses. Isto ainda mais surpreendente, porque quase nenhum pensador da escola escocs perdeu a oportunidade de incluir a lingstica explicitamente na sua teoria. Qual a explicao para tanta negligncia? Ns vivemos numa cultura cheia de dicotomias. Antteses determinam os nossos pensamentos: Deus e o diabo, o cu e o inferno, bom e ruim, homem e mulher, jovem e velho, langue e parole. Entre todas estas antteses, so as dicotomias natureza vs. arte e instinto vs. razo que representam os maiores obstculos para a compreenso da cultura e da lngua. A pressuposio que o mundo se divide em duas reas bem distintas, uma que abrange as coisas naturais e outra que inclui os produtos do trabalho humano, to antiga como o pensamento ocidental. Tal pensamento encontrou sua expresso filosfica mais influente j na distino platnica entre physei e nom ou nos termos aristotlicos physei e thesei, mas ns encontramos o mesmo conceito na distino moderna entre leis naturais e regras sociais, fatos naturais e fatos institucionais ou lnguas naturais e lnguas artificiais. Neste contexto, MLLER (1862/1892: 20) escreveu: H duas divises principais na cincia do homem que se chamam, conforme seu objeto, a fsica e a histrica. A cincia fsica trata das obras de Deus, a histrica das do homem. E FREI (1929: 24) anotou: La rgle grammaticale n rien de commun avec la loi linguistique; la premire est conventionelle (thesei on), la seconde naturelle (physei on). A dicotomia natural vs. artifcial tem uma paralela cognata e tambm enganadora: instinto vs. razo. Como ns distinguimos no nvel das coisas entre fenmenos naturais e artificiais, separamos, no nvel do comportamento as aes racionais das emocionais ou instintivas. Acontece que, nesta classificao precipitada, nos omitimos a faculdade decisiva e mais especfica do homem: a sua habilidade de criar tradies e costumes, quer dizer, a sua habilidade de determinar seu comportamento atravs de regras sociais. No obedecemos razo nenhuma e nem ao nosso instinto quando ns construmos uma frase em Portugus gramaticalmente correta, quando ns rejeitamos o consumo de carne canina, quando ns preferimos antes vestir um cala do que uma saia ou vice-versa, ou quando ns pedimos uma cadeira e nos recusamos a comer sentado no cho. Obedecemos aos tradies e costumes que se formaram na nossa cultura. Respeitamos simplesmente as regras sociais da nossa sociedade. HAYEK (1983: 170) salienta no seu ensaio A razo sobrestimada, que a razo e a inteligncia no representam pressuposies para a criao de um sistema de regras, mas as suas conseqncias: As falsas distines dicotmicas entre natural` e artificial` e entre emoo` e razo` so responsveis pela negligncia lamentvel do processo essencialmente imaterial da evoluo cultural que gera as tradies morais (e a lngua humana; complemento nosso) que determinaram o desenvolvimento da civilizao. (...) A faculdade humana de agir de forma racional, inteligente e bem planejada, de fato, pressupe a existncia de um sistema de regras sociais. A verdadeira alternativa para a emoo` no a razo`, mas o cumprimento das regras tradicionais que no so produtos da razo.
16
Ningum precisa ser inteligente para obedecer s regras ou para contribuir para o estabelecimento de costumes. No obedecemos s regras porque sabemos que isto seja inteligente ou racional. Obedecemos s regras porque os outros fazem a mesma coisa. Geralmente no conhecemos a vantagem ou a funo de um certo sistema de regras ou de um dado costume, nem podemos calcular o que aconteceria se ns os abolirmos ou substituirmos por outros. A histria da catequese dos ndios fornece um bom exemplo para as conseqncias imprevisveis ou catastrficas de intervenes racionais de supostos civilizados em costumes supostamente primitivos de supostos selvagens. Aprender um comportamento no representa um resultado da compreenso, mas, ao contrrio, a sua fonte (realce nosso). O homem adquire inteligncia porque ele encontra tradies que ele pode aprender. (HAYEK 1983: 166). O comportamento racional implica previses. Quando sigo s regras no escolho. Sigo s regras e ao instintos cegamente. (WITTGENSTEIN 1907/1990: 96) por causa desta analogia que as regras sociais se transformam numa segunda natureza (CICERO 1974: verso 25.74). Uma vez adquiridas, elas fazem parte do nosso ego e, de fato, muitas vezes difcil descobrir, se um certo comportamento determinado por instintos inatos ou regras interiorizadas. Quem tem a faculdade de prever as coisas pode agir de maneira inteligente, pois inteligncia a habilidade de resolver problemas sem fazer experimento. Quem obedece simplesmente s regras no precisa da previso. Basta, neste caso, subordinar um dado problema a um tipo de problemas j conhecido. As regras justificam o nosso comportamento, mas o que justifica as regras? Elas no precisam de uma justificao, porque elas so o fundamento de qualquer justificao, quer dizer, a base de todas as aes racionais. Pelo ponto de vista da filognese, assim como da ontognese, a faculdade de decidir base de regras precede a faculdade de agir racionalmente. Crianas desenvolvem ritos e agem de acordo com eles, muito tempo antes que elas so capazes de agir racionalmente. O costume encontra-se entre o instinto e a razo. A faculdade de desenvolver costumes pressupe especialmente a faculdade de agir em situaes semelhantes da mesma maneira como os outros agem ou, pelo menos, alguns outros. Isto significa que o homem tem que ser capaz de aprender, alm dos comportamentos e reaes j inatos, os comportamentos dos outros membros da sua comunidade. O grande prolongamento da adolescncia e da juventude, provavelmente, representa o ltimo e decisivo passo da evoluo biolgica em rumo a um comportamento onde as regras aprendidas prevalecem sobre as reaes inatas. (HAYEK 1983: 165). Qual a vantagem da faculdade de aprender costumes? Observamos que os trs tipos de faculdades, a de agir base dos instintos, base de regras ou base da razo, correspondem com trs graus de velocidade na adaptao de um ser vivo a seu ambiente em transformao. Vamos ler um trecho de BEEH (1981: 94 seg.) onde ele explica o que significa comportamento: H decises que o meio faz por iniciativa prpria, mas que, a despeito disso, so vantajosas por um certo organismo, no entanto o nmero deste tipo de decises to insignificante que apenas aquela espcie tem uma chance de sobreviver que faz o maior nmero possvel de decises por conta prpria. Os indivduos desta espcie tem que dispor de uma organizao que facilita a transformao de situaes desfavorveis em situaes favorveis.
17
Nossos instintos representam tal organizao. muito vantajoso, por exemplo, fechar instintivamente as plpebras, quando uma mosca se aproxima dos nossos olhos. Nossa espcie aprendeu este comportamento instintivo por um processo evolucionrio que garantiu aos indivduos uma chance maior de sobreviver ou se reproduzir, se eles desenvolveram, em tais situaes, uma habilidade maior de fechar os olhos. O que inato para o indivduo, neste sentido, aprendido para a espcie. Tais processos de aprendizagem precisam de muito tempo. A velocidade com qual uma espcie reage geneticamente a um meio em transformao necessita de centenas de milhares de anos. As regras para o comportamento social tambm no se adaptam de um dia para outro, mas as dimenses da velocidade de mudana so completamente diferentes. Costumes ou convenes podem bastante mudar num prazo de dez ou vinte anos. Enquanto o comportamento conduzido por instintos ou regras convencionais, de princpio, muito conservador, orientam-se as aes racionais (num modelo idealizado) exclusivamente na lgica do problema em questo, e no na soluo que os outros propem, ou que desde sempre foi aplicada, mas, em cada nvel do nosso modelo, pagase a maior velocidade de adaptao s condies transformadas com um grau menor de confirmao, quer dizer, com um risco cada vez maior. O comportamento instintivo se confirmou em milhes de exemplos durante milhares de anos. bvio, ele no flexvel, mas ele altamente seguro. O repertrio dos comportamentos convencionais tambm se confirmou em milhes de exemplos, durante dcadas ou sculos. Ele tem, por assim dizer, uma flexibilidade e uma segurana mdias. Ele junta o estereotpico das aes com um grau de confiana relativamente alta. Ao contrrio disso, as aes conduzidas pela razo so altamente arriscadas. Elas permitem uma adaptao total a cada nova condio, sob o risco de fracassar completamente. Por isso, apenas o ser humano pode agir de maneira completamente errada, pois o engano total tem como condio prvia o pensamento racional. Eis a nossa resposta geral para a questo da vantagem do comportamento convencional: O comportamento conduzido por regras d a liberdade ao ser humano de reagir aos problemas iminentes mais rpido e com mais flexibilidade do que o repertrio dos comportamentos instintivos permite. HAYEK (1983: 164) escreve neste contexto: Os instintos inatos do homem no foram criados para uma sociedade como a nossa. Os instintos foram adequados para uma vida em pequenos grupos, nos quais o homem se uniu durante os milnios de desenvolvimento da espcie humana. (...) A sociedade extensa o resultado do desenvolvimento de certas regras de comportamento que, muitas vezes, prescrevem que ele no deve fazer o que seus instintos exigem. Em resumo: A vantagem dos sistemas de regras sociais se encontra no fato que eles facilitaram a formao das sociedades grandes. Em comparao com pequenos grupos, as sociedades grandes tem a vantagem que elas podem dispor de uma multiplicidade de habilidades e conhecimentos que ultrapassam a capacidade de um indivduo por muito. Graas a esta vantagem e do princpio da diviso de trabalho, os membros individuais de uma sociedade grande podem aproveitar bens, servios e habilidades que um indivduo ou um membro de um grupo pequeno nunca capaz de produzir. Contudo, a vida numa sociedade grande precisa de outras formas de comportamento e outras regras para a convivncia social. Quem quer formar comunidades maiores, tem que substituir os princpios da cooperao direta e do poder da fora maior por princpios e regras sociais abstratos. O costume a forma original destes princpios abstratos. Agir conforme um costume significa abstrair o caso concreto e subordina-lo a um certo tipo de comportamento.
18
A lngua representa tal costume; um costume estabelecido para conseguir certas coisas de uma certa maneira; um costume que cresceu entretanto a um tamanho gigantesco. Uma das condies prvias mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade grande a regulamentao da violncia, ou melhor, a substituio da violncia por comportamentos alternativos pacficos. As instituies fundamentais para substituir a violncia so o direito, o mercado e a lngua. O costume do direito serve para transferir a regulamentao do direito aos mo de uma terceira pessoa que neutra. O indivduo cede seu direito de defesa prpria ou vingana a uma instituio que lhe oferece em troca proteo contra a defesa prpria ou a vingana indevidas de um terceiro (um governo, um cacique, um mafioso). O direito ento um negcio de trocas: ns transferimos nossa pretenso de vingana a um terceiro (governo, cacique, mafioso) e recebemos em troca disso a proteo contra as aes arbitrrias dos outros. O mercado e a lngua servem para finalidades semelhantes. Ambos representam instituies que servem para influenciar os outros. O mercado a instituio que ns usamos quando queremos influenciar algum a d-nos uma certa coisa; a lngua a instituio que ns usamos quando queremos influenciar algum a fazer ou a acreditar uma certa coisa. A alternativa arcaica para o mercado e a lngua a violncia: para o negcio o roubo; para a lngua a presso (MANDEVILLE 1980: 289). Suponhamos que algum tem o que ns precisamos e que ele precisa o que ns temos. Fazer negcio significa dar o que ns temos para receber o que ns precisamos. Em analogia disso, comunicao significa revelar algum os nossos desejos e opinies, na esperana e na inteno que isto seja uma razo para o outro realizar o nosso desejo, respectivamente, aceitar a nossa opinio. A comunicao e o negcio baseiam-se no mesmo princpio: Se voc quer influenciar algum a fazer uma coisa, d-lhe uma razo para realiz-la voluntariamente. Receber o que ns precisamos pode ser uma boa razo para dar ao outro em troca o que ele quer. Conhecer a opinio de algum, muitas vezes, pode ser uma boa razo para assumir a mesma idia. Saber que algum quer que ns faamos alguma coisa, sob certas circunstncias, pode ser uma boa razo para realizar este desejo. Comprar uma coisa com dinheiro um caso especial de fazer negcio em geral. Dinheiro um meio convencional para acelerar o negcio. Ele facilita a nossa procura por algum que tem o que ns precisamos, e que precisa o que ns temos porque dinheiro uma coisa que quase todo mundo precisa. Do mesmo modo, podemos afirmar: a comunicao atravs de uma lngua um caso especial da comunicao em geral. A lngua um meio convencional para acelerar, aperfeioar ou, muitas vezes, possibilitar a comunicao. Ela facilita para nos, mostrar ao outro o que ns queremos ou como ns queremos influenci-lo. A lngua, assim como a economia de dinheiro, h muito tempo, se tornou independente, de uma maneira que uma mera perspectiva instrumental simplificaria as coisas demasiadamente. Vamos esclarecer este fato atravs de uma comparao: O jogo de xadrez um meio convencional para colocar algum em xeque-mate. O que engraado nesta afirmao? A perspectiva indevidamente instrumental, pois o jogo de xadrez mantm com o fato de ser xeque-mate uma outra relao do que uma furadeira com buracos. A existncia de buracos, enfim, logicamente independente da existncia de furadeiras. Podemos definir o termo buraco sem usar a palavra
19
furadeira na definio. Em analogia com isto, podemos tambm afirmar que lnguas completamente desenvolvidas, como as atuais lnguas naturais, no sentido estrito, no representam apenas bons instrumentos para fazer certas coisas. Ao contrrio, h certas coisas que ns podemos realizar, graas linguagem, apenas porque as lnguas as constituem primeiramente, da mesma maneira, como somente o jogo de xadrez constitui a possibilidade de colocar algum em xeque-mate. 6. A LNGUA COMO UM FENMENO DE TERCEIRO TIPO No sculo XIX, a idia diretriz para muitas cincias foi a pesquisa por teorias sobre o desenvolvimento histrico dos fenmenos. Esta afirmao vale tambm para a lingstica. Hoje em dias, uma idia fundamental para muitas cincias e a procura para teorias de ordens espontneas, quer dizer, ordens que nascem sem ser premeditadas ou planejadas. H ordens espontneas em muitas reas; na natureza igualmente como na cultura: a espiral de uma galxia, a cabea brotando de um brocoli, uma paisagem de dunas na praia, uma pista corcovada de esquiar, - ou uma lngua natural como o portugus. Na rea social, ordens espontneas, geralmente, so fenmenos concomitantes de aes individuais que servem para objetivos totalmente diferentes do que o de criar uma ordem. Isto vale para uma rede de trilhas pela neve ou pelo gramado de um parque assim como para uma lngua natural. Desde a antigidade, h um conceito universal que divide, sem restos, o mundo em dois tipos de fenmenos; estes que Deus criou e que se chamam naturais, e aqueles que o homem criou. Tertium non datur. As obras de Deus so fenmenos naturais, as do homem, culturais. Os fenmenos naturais so independentes da vontade do homem; as da cultura so resultados de expresses de vontade e, deste modo, objeto das cincias humanas. Trata-se, porm, nesta classificao dicotmica, de um engano fundamental que provocou, durante sculos, uma interpretao falsa da lngua e da lingstica. Quem desejou classificar a lingstica como uma cincia natural, referiu-se ao fato que o desenvolvimento de uma lngua independente da vontade humana; quem desejou classifica-la como uma cincia humana, podia referir-se ao fato, que somente as aes lingsticas dos homens so capazes a provocar o desenvolvimento de uma lngua. Na lingstica histrica, pertencem primeira corrente com sua abordagem mecanicista August Schleicher15, Max Mller16 e toda a escola neogramtica do sculo XIX (Karl Brugmann17, Hermann Osthoff18, Berthold Delbrck19 e Hermann Paul20), que declararam que as leis lingsticas trabalham com uma necessidade cega; assim como o francs Andr Martinet21, que foi o maior teorizador da fonologia diacrnica estrutural neste sculo.
15 16
Vide: SCHLEICHER (1861- 862) Vide: MLLER, Max. (1861-1864) 17 Vide: BRUGGMANN, Karl. (1878) 18 Vide: BRUGGMANN / OSTHOFF (1878 seg.) 19 Vide: BRUGGMANN / DELBRCK (1886 seg.) 20 Vide: PAUL (1880) 21 Vide: MARTINET (1970/1991)
20
A segunda corrente da lingstica diacrnica, esta que vinculou a lingstica com a histria da cultura e da sociedade, encontra uns dos seus representantes mais ilustres, no sculo XIX, em Wilhelm von Humbold22, Wilhelm Wundt23, Michel Bral24, Antoine Meillet25 e William D.Whitney26, e, no sculo XX em Fritz Mauthner27, Jost Trier28, Edward Sapir29, Benjamin Lee Whorf30 e Stephen Ullmann31; todos pesquisadores que colocaram as mudanas lingsticas no campo das condies sociais e psicolgicas da linguagem. A sada do dilema da dupla consolidao na lingstica, por um lado, nas cincias naturais, e, por outro lado, nas humanas, encontra-se no conhecimento moderno que a suposta dicotomia, natureza vs. cultura, baseia-se numa ambigidade desconhecida do predicado criado pelo homem. Em outras palavras, h, alm dos fenmenos naturais e culturais, fenmenos de um terceiro tipo, e uma lngua natural, sendo resultado de um processo evolucionrio, representa exatamente um deles. J observamos que nossa linguagem corrente se ope de vrias maneiras a uma representao adequada de processos evolucionrios32. Ns dispomos dos adjetivos natural e artificial, mas no temos um adjetivo que se referisse a fenmenos de um terceiro tipo que abrangia os fenmenos evolucionrios. Esta observao vale, apesar do fato, que ns distinguimos inteiramente entre dois mtodos que o homem aplica na criao do mundo cultural. Efetuamos esta distino, porm, atravs de termos inadequados. Distinguimos, por exemplo, corretamente entre flores naturais e flores artificiais. Mas separamos, de maneira incoerente, uma cidade que cresceu naturalmente de uma que foi planejada artificialmente na prancheta de desenho. Do mesmo modo, distinguimos entre um alfabeto natural e um artificial ou entre uma lngua natural e uma lngua artificial. O fato que ns realizamos estas distines correto, mas a maneira como ns designamos estes objetos enganadora. Pois cidades ou lnguas naturais tem uma coisa em comum: ao contrrio das flores, estes objetos no so naturais. Trata-se de produtos humanos ou instituies culturais. Como eles se distinguem dos seus equivalentes artificiais, que tambm representam produtos humanos ou fenmenos culturais? Nossa resposta geral : Enquanto estes so planejados, aqueles cresceram organicamente. No fundo, ns realizamos at em nossa linguagem corrente uma distino tripartida, mas ns a efetuamos com uma terminologia dicotmica. Ns distinguimos, nas coisas que no so naturais, entre naturais e artificiais. Nossos fenmenos do terceiro tipo representam os objetos naturais entre as coisas que no so naturais. A tricotomia da linguagem corrente representamos no quadro (1) na pgina seguinte. Sobressai, neste desenho, que ns empregamos, na linguagem corrente, o adjetivo natural de maneira ambgua. O fato que ns chamamos os fenmenos do terceiro tipo naturais provavelmente encontra sua razo na observao que estes
22 23
Vide: HUMBOLDT (1985) Vide: WUNDT (1900) 24 Vide: BRAL (1897/1992) 25 Vide: MEILLET (1905) 26 Vide: WHITNEY (1875/76). 27 Vide: MAUTHNER (1912/1982) 28 Vide: TRIER (1931) 29 Vide: SAPIR (1921) 30 Vide: WHORF (1956) 31 Vide: ULLMANN (1957) 32 vide: cap. 3, pg. 6
21
fenmenos, realmente, tem caractersticas de fenmenos naturais assim como de fenmenos artificiais. The things in this category resemble natural phenomena in that they are unintended and to be explained in terms of efficient causes, and they resemble artifical phenomena in that they are the result of human action (....). (HAAKONSSEN 1981: 24). Quadro (1): A classificao dos fenmenos conforme a linguagem corrente: As coisas
naturais
artificiais (?)
artificiais flores, rios, a lngua das abelhas esperanto, cdigo Morse flores de papel, cidades satlites
naturais Portugus, cidades antigas, alfabeto latim
Vamos analisar as caractersticas essenciais dos fenmenos de terceiro tipo atravs de um exemplo que todo mundo j experimentou ao dirigir no transito rodovirio: o engarrafamento sem causas. Trata-se, de fato, de um fenmeno de terceiro tipo que exemplifica as qualidades tpicas desta espcie. Vamos reconstruir a criao de tal engarrafamento num modelo simplificado. Suponhamos que numa estrada bem movimentada que dispe apenas sobre uma faixa, temos carros que andam numa distncia de 30 metros numa velocidade de 100 km/h. De repente, um motorista freia por razes irrelevantes para 90 km/h. Chamamos este carro de A e os carros seguintes de B, C, etc. Quando B observa as luzes do freio de A, ele tambm vai freiar; como B no sabe at qual velocidade A vai freiar, ele vai freiar um pouco mais do que A, para manter uma distncia de segurana. Provavelmente ele vai freiar at 85 k/h. Em seguida, C tem o mesmo problema. Freiar at exatamente 85 km/h arriscado demais, porque ele no sabe, como B freia. Sua tendncia de manter uma distncia de segurana faz ele freiar mais do que necessrio. Ele vai reduzir sua velocidade, provavelmente at 80 km/h. O que se sucede ento, todo mundo j calculou: querendo ou no, S vai parar e todos os carros atrs dele tambm. O engarrafamento que aconteceu atrs do carro S, de uma certa maneira, foi criada por todos os carros anteriores (A S). As aes dos motoristas individuais destes carros o criaram, mas ningum pode afirmar que eles tinham a inteno de parar o transito. Cada um deles apenas reagiu de maneira adequada ao comportamento do respectivo carro de frente, base do seu desejo legtimo de garantir uma distncia segura. Sem ter tais intenes e sem tomar conhecimento, os motoristas (A S) provocaram, desta maneira, uma situao muito perigosa. Podemos at afirmar que aqueles que provocaram o engarrafamento no encravaram-se nele. Como j vimos, fenmenos do terceiro tipo como este engarrafamento, so fenmenos coletivos. Eles nascem em conseqncia das aes de muitos participantes,
22
sempre quando o comportamento deles mostra uma certa uniformidade que, observado por si mesmo, pode ser irrelevante, mas que provoca na sua multiplicidade certas conseqncias. A uniformidade em nosso exemplo se encontra no fato que cada motorista age base do princpio: melhor freiar um pouco mais do que fraco demais. As intenes de cada motorista se concentram no desejo de no bater contra o carro da frente. Nenhum deles tem conscincia da sua contribuio ao engarrafamento. O engarrafamento representa um fenmeno concomitante da ao enfrear com um acrscimo de segurana. Conseqentemente, temos que distinguir o resultado de uma ao das suas conseqncias. O resultado de uma ao o acontecimento que tem que ocorrer para poder chamar esta ao de realizada. Se o resultado de uma ao, de fato, ocorreu, ns chamamos esta ao realizada. A ao de fechar uma porta, por exemplo, se realizou, se o seu resultado uma porta fechada. A inteno de realizar o resultado de uma ao chamamos, ento, a primeira inteno. Geralmente, ns no realizamos aes por causa dos seus resultados, mas por causa das suas conseqncias. Fecha-se uma porta para proteger-se de uma corrente de ar ou do olhar curioso de um vizinho. Os efeitos intencionados dos resultados de uma ao chamamos as conseqncias intencionadas de uma ao. Se as conseqncias intencionadas de uma ao no se efetuam, dizemos que esta ao no foi bem sucedida. Para continuar com nosso exemplo: O vento, talvez, continua a soprar pela janela e o vizinho pode satisfazer sua curiosidade subindo na sua varanda. Uma ao, ento, pode ser realizada, mesmo sem ser bem sucedida. A inteno de efetuar as conseqncias de uma ao chamamos, conseqentemente, a segunda inteno. Conforme esta terminologia, no podemos chamar nosso engarrafamento nem o resultado, nem uma conseqncia das aes que o provocaram. Trata-se, pelo contrrio, de uma conseqncia no intencionada. Mas at esta denominao enganadora. Afinal, o engarrafamento no representa a conseqncia no intencionada das aes individuais. Ele , na verdade, a conseqncia no intencionada da totalidade de todas as respectivas aes, pois conseqncias no intencionadas de aes individuais h demais; e a maioria delas no e interessante: um garom deixa cair um copo, a cozinheira salga a sopa em excesso, mas a conseqncia que responsvel pelo engarrafamento no no intencionada, porque a diminuio da velocidade com um acrscimo de segurana , de fato, intencionada, mas desta ao intencionada nasce um fenmeno no intencionado. particular a este tipo de fenmenos no intencionados, que sua ocorrncia to segura como o amem na igreja; claro, sempre pressupondo que a ao que as provoca foi, de fato, realizada. Trata-se, no engarrafamento sem causa, de uma conseqncia causal dos resultados das aes dos diversos carros. Se as aes dos motoristas (A-S) foram realizadas e a prpria velocidade em relao ao carro de frente foi suficientemente diminuda, inclusive um acrscimo de segurana, ento o engarrafamento dos carros seguintes uma conseqncia causal do comportamento uniforme de todos. um engano se as teorias afirmam que nas cincias humanas no haja espao para causalidades.33 , de fato, correto que os fenmenos culturais no se explicam exclusivamente como causais, mas h, no entanto, explicaes para certos fenmenos que se caracterizam por componentes causais. Para ser adequada, a explicao de um fenmeno de terceiro tipo deve apresentar tal componente causal.
33
cf. COSERIU (1958/1974: 23, 95 seg.)
23
Fenmenos de terceiro tipo sempre se constituem de uma rea microcsmica, que intencional, e uma rea macrocsmica, que causal. Os indivduos que participam na criao do fenmeno formam a rea microcsmica (em nosso exemplo os motoristas) e as estruturas que a rea microcsmica gerou formam o macrocosmos (em nosso exemplo, o engarrafamento). Em resumo: Um fenmeno de terceiro tipo a conseqncia causal de uma multiplicidade de aes intencionadas por indivduos. O comportamento dos indivduos, pelo menos em parte, tem que seguir s mesmas intenes. bvio que tais fenmenos assumem no processo da gnese e da transformao de uma lngua um papel importante, pois a criao da ordem espontnea de uma dada lngua tambm representa um fenmeno de carter duplo: De um lado, h o microcosmos dos falantes individuais que seguem suas intenes comunicativas34 a fim de influenciar os destinatrios das suas mensagens35. O objetivo, em matria de linguagem, o de ser compreendido, afirmou BRAL (1897/1992: 19), mas, aspirando ao sucesso pragmtico (SEARLE 1979: 50), os falantes escolhem suas palavras apenas em considerao dos custos e do lucro das suas aes36. Influenciar a ordem ou a estrutura do seu cdigo est fora do alcance de cada indivduo37 e nem pertence aos seus objetivos. Temos que afirmar, com Bral, que a liberdade est ausente no domnio das mudanas lingsticas e observamos que ningum livre para mudar o sentido das palavras, nem para construir uma frase segundo uma gramtica prpria. Conclumos que essa limitao da liberdade se deve necessidade de ser compreendido. (BRAL 1897/1992: 154). Do outro lado, h o macrocosmos dos elementos do cdigo lingstico que permanecem estticos ou transformam-se dinamicamente sob o contnuo atrito que o conjunto dos seus falantes provoca. Bral ainda reconhece neste atrito o resultado de uma obscura e perseverante vontade humana, mas ele j supe, que preciso representa-la (a vontade humana; obs. nossa) sob a forma de milhares, milhes, bilhes de tentativas, muitas vezes infelizes, algumas vezes com algum sucesso, que assim dirigidas, assim corrigidas, assim aperfeioadas, acabam por definir-se numa dada direo. (BRAL 1897.1992: 19). O que Bral ainda interpreta platonicamente e muito vago como o esprito de repartio, uma estranha fora mgica, que representa, conforme o lingista francs, o verdadeiro organizador ou demiurgo no processo da criao de uma linguagem (ibid.: 38), ns definimos como resultado da colaborao
34
Vide: BRAL (1897/1992: 24): (...) o objetivo geral da linguagem, que de se fazer compreender com o mnimo de dificuldade, quero dizer com o menor esforo possvel. 35 Vide: SEARLE (1969: 46): A afirmao que uma expresso se refere a alguma coisa ..., conforme a minha terminologia, ou no faz sentido, ou representa uma abreviatura para o fato, que um falante emprega esta expresso a fim de referir-se a alguma coisa. (realce nosso). 36 Vide: BOURDIEU (1980: 115130) 37 Vide: SAUSSURE (1916/1969: 85 e 132): Nunca se consulta a massa social nem o significante escolhido pela lngua poderia ser substitudo por outro. Um indivduo no somente seria incapaz, se quisesse, de modificar em qualquer ponto a escolha feita. O princpio da imutabilidade, para Saussure, a contrapartida pragmtica ao princpio semntico da arbitrariedade. , porm um princpio estritamente da ordem sincrnica. Mesmo que o conceito saussureano de lngua um conceito esttico que tenta isolar as estruturas lingsticas da sua evoluo histrica, Saussure sabia bem que o signo lingstico muda com a evoluo da lngua. Ele descreveu tal fenmeno histrico universal lingstico como o princpio da mutabilidade lingstica.
24
entre os nveis microscpico e macroscpico da linguagem, quer dizer, como um fenmeno de terceiro tipo. 7. O PAPEL DA LINGSTICA DIACRNICA
As lnguas no constituem realidades homogneas e estticas, mas os falantes normalmente no tem conscincia das metamorfoses lingsticas. As alteraes sonoras, sintticas e semnticas ou as substituies lexicais efetuam-se num processo to lento e gradual que, geralmente, apenas os fillogos e os sociolingstas conseguem perceber os sinais de uma mudana em progresso. Os falantes, muitas vezes, avaliam as formas inovadoras como erradas ou imprprias. Os grupos implementadores de mudanas tm geralmente baixo prestgio social e sua fala inclusive aquilo que nela inovao costuma ser marcada de forma negativa pelos grupos mais privilegiados econmico, social e culturalmente. S com a quebra progressiva desse estigma ... que as formas inovadoras adquirem condies de se expandir para outras variedades da lngua.(FARACO 1991: 16). Observamos estruturas e palavras que existiam antes [e] no ocorrem mais ou esto deixando de ocorrer; ou, ento, ocorrem modificaes em sua forma, funo e/ou significado. (ibid.: 10). Notam-se, tambm, estruturas e palavras que, muitas vezes, foram inventadas, numa situao informal, pelas classes mdias ou baixas e que avanam pela fala informal das classes mais privilegiadas at chegar a situaes formais de fala ou escrita, mas nem todas as mudanas passam necessariamente por essa escala. Muitas permanecem socialmente estigmatizadas, o que lhes bloqueia o caminho da expanso por outras variedades da lngua, deixando-as como marcas identificadoras de variedades sem prestgio social. (FARACO 1991: 15). H variaes que no implicam uma mudana geral e contnua da lngua. Mas jamais acontecem transformaes lingsticas sem a pressuposio de uma variao. O Portugus, como lngua natural, tambm no constitui uma realidade homognea e esttica, mas sim um sistema complexo cuja configurao se altera continuamente no eixo do tempo. Neste sentido, ele representa mais um destes objetos cujos elementos, obviamente, no devem a sua estrutura ao mero acaso. Mas, em oposio a uma sinfonia ou uma pintura, a complexidade do Portugus no foi criada com vista a um estado final. Pelo contrrio, a estruturao da maior parte dos seus elementos38 define-se somente no olhar retrospectivo (DAWKINS 1986/87: 21). A estrutura especial do Portugus e de cada uma das suas variaes regionais, sociais ou estilsticas explica-se pela histria das suas transformaes ou, melhor, pelo decorrer de um jogo complexo de transformao e permanncia. Este ponto de vista atribui a lingstica diacrnica um novo papel. Sua tarefa no encontra-se mais exclusivamente na reconstruo de estados passados do vernculo 39, mas na reconstruo do presente pelo ponto de vista da sua evoluo40.
38
A meu saber, a nica exceo deste princpio encontra-se na criao consciente de novos termos tcnicos, slogans, etc. 39 Os pioneiros da lingstica histrica comparativa, no incio do sculo XIX, tentaram recuperar os estgios antigos das lnguas, considerando as formas passadas superiores ou melhores do que as respectivas lnguas modernas. Embora os neogramticos, no fim do sculo XIX, comearam a interpretar as mudanas como um progresso que facilita a fala e alivia a memria, eles ficaram, no fundo, na mesma tradio, mas concentraram-se, especialmente, no estudo dos mecanismos que regem as transformaes
25
At a pesquisa sincrnica da realidade presente pode contribuir nesta tarefa de elucidao das alteraes lingsticas em qualquer ponto da histria. Os fatores lingsticos e extra-lingsticos41 que condicionam as atuais mudanas em progresso42, de princpio, so semelhantes aos fatores que operaram no passado. As informaes sociolingsticas, coletadas sobre dados do presente, deste modo, podem ajudar a entender as mudanas ocorridas no passado. Observar o presente, afirma BRAL (1897/1912: 12), implica, ento, encontrar nele tempos diferentes. 8. A AUTO-ORGANIZAO DAS ORDENS ESPONTNEAS
Tanto faz, se ns voltamos ao passado para explicar o presente, ou se ns analisamos o presente para ilustrar o passado; o que importa o conhecimento, que as mudanas no se do de forma totalmente aleatria, embora sua direo seja em boa parte indeterminada. (FARACO 1991: 73). Pelo contrrio, a metamorfose contnua segue estratgias mltiplas e um fato lingstico pode mudar em vrias direes. A direo que vai ser tomada, porm, no a priori determinvel, dependendo para sua efetivao da conjuno de outros fatores contextuais (lingsticos ou no). (ibid.: loc. cit.). O que se muda na linguagem, no se muda, obrigatoriamente, por necessidade. (BRAL 1897/1992: 13). O que importa so os sentidos e estes so convencionalmente atribudas s formas (meios exteriores). (ibid.: loc. cit.) As leis internas que determinam as mudanas lingsticas no tem um carter obrigatrio. A regularidade da linguagem se deve ao hbito, ao costume, e no a um carter mecnico. As mudanas ento, so determinadas de fora ou reguladas inteiramente. (ibid.: loc. cit.). Mas a nica lei categrica se encontra na regra que as formas j criadas servem de modelo para formas novas. (ibid.: loc. cit.). Esta nica lei categrica, que, conforme Bral, domina as transformaes lingsticas, encontramos tambm na teoria moderna sobre a criao de ordens espontneas. Por isso, no de admirar, que os processos de transformaes lingsticas, lembram a evoluo biolgica. Afinal, todas as formas de organizao so conduzidas por informaes. Isto vale para organismos naturais, do mesmo modo, como para sistemas sociais. As estruturas da natureza, assim como as da sociedade, representam uma hierarquia de condies laterais, composta por nveis cada vez mais complexos. So as mudanas e o desenvolvimento destas configuraes estruturais que
lingsticas. Os estruturalistas, em seguida, comearam a descrever sincronicamente um certo estgio histrico de uma lngua; no entanto, eles interpretaram os textos arcaicos estaticamente e eliminaram, deste modo, o carter dinmico e heterogneo das lnguas. 40 Um estudo de um recorte do portugus que se aproxima deste ponto de vista se encontra em: FARACO (1982). 41 Vide: TRAVAGLIA (1995: 41 58): Travaglia segue HALLIDAY, MCINTOSH e STEVENS (1974) e distingue dois tipos bsicos de variedades lingsticas: os dialetos e os registros (ou estilos). As variaes dialetais se classificam em territoriais, sociais, de idade, de sexo, de gerao e de funo. As variaes de registro so classificadas como sendo trs tipos diferentes: grau de formalismo, modo (oral ou escrito) e sintonia (com informaes especficas sobre o ouvinte). 42 Mudanas em progresso so um dos objetos favorecidos da teoria da variao de L abov. Vide: LABOV (1971: 111-194), LABOV (1972: Cap. I, V e VII), LABOV (1976/1978), LABOV (1981), LABOV (1982: 17-92) e LABOV, JAEGER, STEINER (1972).
26
facilitam o nosso conhecimento sobre a criao e a evoluo de sistemas organizados como, por exemplo, uma lngua natural. Cada sistema pode apenas ser conduzido por si mesmo, afirma LUHMANN (1984: 208), um socilogo alemo que pesquisa h 30 anos a autopoisis43 dos organismos sociais. O termo grego refere-se ao fato, que os sistemas complexos no se desenvolvem, se estabilizam e se transformam em conseqncia de planos ou decises racionais. Pelo contrrio, eles auto-organizam-se base de leis inerentes que dificilmente podem ser influenciadas e quase sempre so imunes contra intervenes planejadas, pois o complexo, durante a sua reproduo contnua, tem uma dinmica especfica e cria suas prprias estratgias. Seguir estratgias mltiplas no significa que qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar. O caos determinado por certas restries que canalizam as alternativas. Mesmo assim, o resultado no previsvel, j porque entre as vrias possibilidades est sempre presente a chamada estratgia nula, isto , no ocorrer nenhuma mudana. (FARACO 1991: 73). Da mesma maneira como a evoluo biolgica est muito delimitada pelo carter conservadora dos programas genticos, na lngua, tambm, nada muda radicalmente, sem correr o perigo de deixar a mensagem incompreensvel. Luhmann afirma que sistemas sociais no vivem num intercmbio ilimitado com seu meio. Mesmo se h fases, nas quais as mudanas parecem ser mais condensadas, uma ordem estabelecida no se adapta a curto prazo multiplicidade dos fenmenos. Pelo contrrio, ela desenvolve-se quase isoladamente, apenas ocupada com si mesmo. Seu contato com o meio restringe-se a poucas antenas que registram apenas as mudanas essenciais no ambiente. Estas alteraes substanciais do mundo externo provocam variaes internas, s quais o sistema deve reagir para garantir o seu funcionamento. Deste modo, a lngua, como fenmeno social, mantm o mesmo equilbrio elstico como a natureza: ela mostra uma capacidade de persistncia no decorrer da sua histria e ela aproveita, ao mesmo tempo, as possibilidades que cada novo desenvolvimento traz. A semelhana entre as reaes caticas na natureza e na sociedade justifica a transposio de conceitos e mtodos das cincias naturais s pesquisas sociais e histricas. Fenmenos sociais, como a lngua, afinal, representam tambm sistemas dinmicas que no obedecem a funes lineares. Ilya Prigogine, ganhador do prmio de Nobel de qumica em 1977 observou com razo, que as idias sobre a instabilidade e a flutuao penetram as cincias humanas. (PRIGOGINE / STENGERS 1984: 18). Sem correr perigo de confundir inovaes semnticas com um verdadeiro aumento de conhecimento, publicou, por exemplo, o socilogo alemo HAAG (1983) um livro sobre a sociologia quantitativa, onde ele apresenta um modelo de uma sociedade, na qual duas opinies polticas se encontram em competncia. Haag simula o comportamento humano a base de poucos parmetros de tendncias: caso a disposio de acomodar-se, por exemplo, ultrapassa um certo valor, uma sociedade liberal transforma-se abruptamente numa sociedade totalitria.
43
Vide: ARNAULD (1683/1965: cap.IV), MATURANA/ VARELA, (1972), BAUDRILLARD (1976): A auto-referencialidade dos processos que so gerados por si mesmo j foi descrita na semitica de PortRoyal que, deste modo, antecipou uma corrente radical do constructivismo do sc. XX. Em nosso sculo, bilogos e socilogos analisam o tema da autopoisis desde os anos 70. O ps-estruturalista Baudrillard, por exemplo, estende o princpio da autopoisis crtica da sociedade consumista. Na sua obra, encontramos a idia da auto-referencialidade incrustada na sociedade ps-industrial do Primeiro Mundo, cujas valores no possuem justificativas fora de si, mas reproduzem-se e criam-se permanentemente segundo as estruturas do sistema cultural que os gera.
27
Este conceito da transformao relativamente rpida de um estado de organizao para outro podemos aproveitar tambm para a descrio das transformaes lingsticas. Suponhamos, por exemplo a presena de uma nova variante lingstica numa dada comunidade de fala. Alguns falantes vo aceitar o novo sem hesitar, apenas para mostrar a sua identificao com o grupo.44 A maioria dos falantes, porm, refreado por certas inibies de comportamento, comea a empregar a nova variao apenas se um grande nmero de falantes das classes prestigiadas assume o novo.45 Se a nova variao impe-se na comunidade inteira ou no, depende de alguns parmetros estruturais e extra-lingsticos, como o nmero dos reformadores iniciais, sua posio social, sua idade, educao, etc. Decerto, quanto mais complexo o sistema , tanto maior o nmero de parmetros que o dominam. Caso que certos valores limites destes fatores no so ultrapassados, a maioria dos falantes no vai mudar seu comportamento lingstico, mas a nova variante comea a espalhar-se, se o estimulo passa por cima do limiar da excitao. Deste modo, h, nos sistemas sociais, ordem e caos um ao lado do outro. A decomposio da ordem em caos, assim como a organizao do caos numa nova ordem mostram uma criatividade incalculvel. A formao de uma lngua em direo a uma nova complexidade uma resposta a complexidade modificada do meio. O sistema das variaes lingsticas, de um lado, est fechado, porque, ocupado com si mesmo, ele desenvolve-se isoladamente atravs da sua prpria dinmica inerente: o meio no determina inevitavelmente o que acontece dentro do sistema. A evoluo da lngua baseia-se no fato, que ela no precisa necessariamente reagir ao ambiente. Mas, ao mesmo tempo, o sistema est aberto, porque seu equilbrio depende da afluncia de informaes externas, se ele no quer correr perigo de desintegrar-se. Para dominar o imprevisto, a lngua, obviamente, aproveita-se, no decorrer da sua evoluo, da diviso do trabalho entre a maior multiplicidade possvel de elementos aparentemente secundrios e a estabilizao seletiva das reas essenciais. Os falantes ou grupos de falantes especializam-se cada vez mais para satisfazer melhor as exigncias complexas da vida. Eles corrigem seu comportamento lingstico em conseqncia do refluxo de informaes que eles recebem do mercado lingstico.46 As lnguas organizam, deste modo, a sua prpria estruturao. As mudanas lingsticas representam, neste ponto de vista, os resultados dos processos de mutao causados pelo atrito da lngua por seu uso dirio. Contanto que os fatores extra-lingsticos no causam uma tendncia contrria, as variantes que exigem do falante o menor esforo de pronncia, que ocupam o menor espao na memria e que garantem a melhor
44 45
LABOV pesquisou tal processo numa ilha em Maryland/Estados Unidos. BRAL 1897/1992: 29) descobriu na formao do ingls moderno, um bom exemplo, como o desinteresse das classes prestigiadas para com a fala do povo, acelera as mudanas lingsticas: A verdade que as classes superiores da sociedade, servindo -se do francs durante vrios sculos, tinham deixado o uso do ingls para as classes populares. Ora acabamos de ver a parte mais culta da nao que retarda a evoluo da lngua. Quando os aristocratas se desinteressam pela lngua nacional, essa evoluo se acelera. Outro exemplo menciona BAGNO (1997: 57) que lembra as mudanas lingsticas, ocorridas em conseqncia da Revoluo Francesa: A Revoluo Francesa de 1789 tirou do poder a classe social dos aristocratas, nobres e grandes proprietrios de terra. No lugar deles ela colocou outra classe social, a dos burgueses comerciantes, banqueiros e industriais da cidade. A mudana de classe social tambm significou mudana de variedade lingstica dominante...No antigo regime .... a fala dos burgueses era ridicularizada, tratada com desprezo pelos aristocratas.... Ora, justamente na fala daqueles burgueses que estava acontecendo com toda a liberdade o desaparecimento do lhe para dar lugar ao i. 46 O termo mercado lingstico foi primeiramente empregado por BOURDIEU (1980: 115 -131).
28
compreensibilidade no ouvinte, tem uma probabilidade maior de sobreviver na guerra lingstica. O que determina as mudanas em progresso, so a realimentao positiva, a auto-amplificao das tendncias presentes e uma dependncia impressionvel das condies iniciais. S podemos explicar as alteraes, se conhecemos os fatores, nos quais a estabilidade anterior se baseou. Todavia, como as condies iniciais dificilmente podem ser reconstrudas em detalhe, a previso do comportamento de um sistema lingstico torna-se, de fato, impossvel. No entanto, a anlise do caos determinado no significa apenas desengano sobre predies fracassadas, pois ao lado da suposta falta de regras, h estruturas bem ordenadas que a anlise pode explicar. Mesmo assim, a previso do portugus ps-postmoderno do sculo XXI no pertence s tarefas da lingstica histrica. Mas ela deve contribuir na soluo do problema sobre o que os falantes fazem quando eles comunicam. Se ns compreendemos os mximas e regras da nossa comunicao, ns tambm compreendemos porque as lnguas mudam no decorrer da sua histria e porque elas vo continuar a transformar-se no futuro. Pois as mudanas de amanha so as conseqncias coletivas dos nossos atuais atos comunicativos . Deste modo, cada um de nos colabora com sua parte para a evoluo da fala humana. (BRAL 1897/1992: 17). LASS (1980) defende no seu livro On Explaining language change a teoria que no h explicaes para as mudanas lingsticas porque no h regras absolutas na rea da lngua. Por isso no seja possvel prever as transformaes futuras. Aqui se mistura o certo com o errado. certo que no h uma regra na rea do comportamento humano que determina sob quais condies os falantes evitam um de vrios homnimos. certo tambm que, em conseqncia disso, no possvel prever se um certo homnimo vai desaparecer ou no. errado, porm, que no haja uma explicao coerente para estes fenmenos. LASS (1980) exige e procura as regras no lugar errado. O comportamento dos falantes pertence s condies prvias de uma mudana lingstica. No h regras, porm, se uma mudana ocorre ou no, pois, regras, de princpio, admitem uma predio apenas quando as condies prvias so cumpridas. Se os falantes param de usar uma certa palavra, ela desaparece da lngua. A trivialidade desta previso tem sua razo na fora da regra subjacente. As mudanas lingsticas, de princpio, so explicveis base de regras, mas, de fato, as transformaes reais no podem ser previstas, no porque faltem regras, mas porque a realizao das condies prvias incalculvel. Neste ponto, a lngua encontra-se com outros sistemas caticas como, por exemplo, o tempo. O comportamento destes sistemas caticos no indeterminado por si mesmo. H at provas matemticas que todo o comportamento futuro destes sistema pode ser exatamente calculado. As dificuldades comeam quando ns tentamos definir as condies iniciais. Geralmente ns verificamos apenas post festum, base da existncia do resultado, que as premissas foram cumpridas, quer dizer, ns conhecemos o resultado e a regra e reconstrumos as premissas. As previses de tendncias, no tempo, no so previses base de regras incertas, mas base de premissas desconhecidas. Muitas vezes, ordens espontneas mostram uma surpreendente beleza. O estmulo esttico destas estruturas baseia, de um lado, na sua relao especial entre a ordem e o caos e, do outro lado, na relao entre simplicidade e complexidade. Isto no vale apenas para a biologia ou as lnguas naturais. Cientistas de todas as disciplinas se esforam em achar o simples dentro ou atrs do complexo. Deste modo, os anos oitenta tornaram-se a dcada do amadurecimento de diversas teorias do caos que abriram
29
caminho para uma nova viso do mundo. Pesquisadores de todas as cincias descobriram, especialmente, atravs do emprego das novas geraes de supercomputadores, que objetos ou fenmenos complexas representam coisas cujos elementos so estruturados de uma maneira que o mero acaso no podia provocar. Ao penetrar no mundo do complexo, mostraram-se conexes regulares que explicam o simples na multiplicidade dos fenmenos. Devemos a esta faculdade de abstrair o nosso talento de tornar um mundo calculvel que a vista no pode abranger. De fato, os adjetivos complexo e calculvel so ligados atravs dos seus sentidos contrrios. Um sistema calculvel, se ns dispomos sobre leis que a matemtica exprime de maneira exata. Como j foi dito, o decorrer de um processo pode ser prognosticado, se as condies iniciais e laterais da funo so bem conhecidas, o que acontece, por exemplo, no caso dos movimentos planetrios. Leis matemticas determinam, tambm, o crescimento do complexo. Leis que, muitas vezes, so surpreendentemente simples. O segredo da multiplicidade encontra-se no fato que as funes que determinam o complexo no so lineares. J que os efeitos mtuos entre os elementos de um sistema complexo no so lineares, eles tambm no somam-se por uma simples adio. Em cada grau da hierarquia, nasce, atravs da colaborao dos elementos, uma totalidade que se caracteriza, em comparao com seus elementos bsicos, por qualidades novas: No caso do complexo, vale afirmar que a totalidade mais do que a soma das suas partes.. A formao de um sistema complexo serve muito bem para mostrar o que significa no ser linear. Um mecanismo no linear causa um crescimento que ultrapassa todos os limites. Deste modo, as menores oscilaes das condies iniciais podem ter um efeito gravssimo ao estado final do respectivo sistema. Por isso, no possvel prognosticar exatamente um estado futuro de um sistema complexo, mesmo se as leis sejam determinantes, pois a menor indeterminao inicial amplifica-se como uma avalanche. O fato, que os efeitos mtuos entre os elementos de um objeto complexo no so lineares, revela-se ainda em outro fenmeno muito interessante: a presena de fortes realimentaes dinmicas dentro do sistema que provocam a incerteza do seu estado final. Nenhuma situao representa um resultado fixo. Todos os estgios tornam-se imediatamente o ponto de partida de um novo desenvolvimento. Deste modo, as condies iniciais transformam-se continuamente. Inicia-se uma auto-organizao do sistema, logo que processos seletivos de aperfeioamento se juntam ao fenmeno da realimentao do estado inicial com informaes sobre o estado final da ltima iterao. Isto explica porque o comeo de um sistema que se auto-organiza perde-se durante a histria da sua evoluo, pois, enquanto as formas j criadas servem de modelo para formas novas (BRAL 1897/1992: 13), perdem-se, aos poucos, os vestgios da origem. As condies iniciais se tornam condies laterais que canalizam o desenvolvimento. Estas condies laterais, falando rigorosamente, tem funo de critrios seletivos: eles delimitam a multiplicidade dos processos virtualmente possveis ao limitado nmero dos processos que ns realmente observamos. A dinmica no linear, como novo tipo de cincia das estruturas, abrange tambm uma teoria dos sistemas complexos, mas, ao contrrio da fsica tradicional, o que entra no foco das pesquisas so as condies laterais dos processos. Como teoria mais geral sobre acontecimentos temporais, ela capaz de exprimir um modelo abrangente de processos diacrnicos. Na cincia das estruturas complexas revela-se, deste modo, aquela unidade entre as cincias naturais e humanas que j foi dada
30
como perdida, pois, como j foi dito, cada forma de organizao, a final das contas, conduzida a base de informaes; e neste ponto de vista, as estruturas naturais e as culturais mostram-se ambas como uma hierarquia de condies laterais cada vez mais complexas47. 9. A EXPLICAO ATRAVS DA MO INVISVEL
Explicar um significado peculiar nas cincias histricas significa interpretar a mudana, torna-la compreensvel, ilumina-la... (FARACO 1991: 74). A nosso saber, o primeiro a exigir a exatido explicativa para uma teoria de sintaxe foi Noam Chomsky Mas o que vale para a rea restrita da sintaxe deve ser padro para qualquer teoria emprica: Ela no pode contentar-se com a descrio de um fenmeno; mas ela tem que explicar porque este fenmeno apareceu. Ns nos ocupamos, conseqentemente, com a apresentao de uma teoria de sistemas complexos que explica o estado atual de uma lngua como conseqncia de sua evoluo histrica. Ela afirma que as transformaes lingsticas podem ser explicadas nos moldes de uma teoria sobre as relaes entre escolhas individuais e suas conseqncias involuntrias para um cdigo lingstico. O filsofo alemo HAYEK (1969 e 1983) referiu-se a tal modelo com a apresentao de uma teoria da ordem espontnea e sua explicao atravs da mo invisvel. O filsofo americano NOZICK (1976: 32) desenvolveu a mesma idia sobre o carter duplo de certos fenmenos culturais para seu conceito de uma economia nacional. Ele tambm j estimulou a adaptao da teoria da ordem espontnea pela lingstica e sociologia. A partir da, o desenvolvimento de uma teoria das transformaes lingsticas nos moldes da teoria das ordens espontneas era apenas uma questo de tempo. Quem faz um passeio pela Avenida Robert Kennedy, em Macei, ou pelo pequeno bairro da Praia de Iracema, em Fortaleza, impressiona-se logo com a cacofonia que o vento traz das numerosas barracas de praia. A cada dez metros, h um seresteiro ou um carro com um sonzo no porta-malas aberto que tentam, com seu som tropical, chamar a ateno do pblico e convencer os clientes a consumir na respectiva barraca. H, porm, outra explicao para o fenmeno que se ouve em forma de uma anedota contada aos turistas: No suportando a poluio sonora da rea, cada comerciante tenta combate-la com a mesma ttica: aumentar o volume do prprio som, ao mximo, a fim de que ningum precise escutar o barulho dos respectivos vizinhos. Um modo certo de tirar a graa de uma anedota analisa-la. No entanto, vamos l: Por que a segunda explicao engraada? Obviamente por causa da surpresa que ela oferece, pois, ainda que seja totalmente irracional, ela continua a ser, logicamente, possvel. A primeira explicao para o barulho, esta que sugere que todos aumentam o seu respectivo som, porque eles querem atrair clientes ou porque eles gostam mesmo de msica, foi substituda pela hiptese bizarra que todo mundo aumenta o seu som apenas porque no agenta o barulho dos vizinhos. De fato, a idia coerente: Se cada comerciante enfrenta a situao incmoda de ser exposto ao barulho dos vizinhos com a mesma ttica de aumentar o prprio som, ento ser inevitvel que todas as barracas, a curto prazo, aumentem o seu som ao mximo. Basta que qualquer uma das barracas
47
vide: cap.7, pg. 25.
31
comece, por qualquer razo, a aumentar o seu som e todas as outras seguiro. Pressupondo que a premissa correta, o resultado ser inevitvel. Na terminologia do nosso trabalho, o hbito, nesta estria, de aumentar o som ao mximo possvel representa um fenmeno de terceiro tipo e a sua explicao uma explicao atravs da mo invisvel. Antes de discutir a forma desta explicao, vamos fazer algumas observaes sobre seu nome teoria da mo invisvel. A escolha deste nome tem vantagens e desvantagens. Uma desvantagem que a metfora da mo invisvel, ao sugerir que ela se refere a um mistrio, engana leitores que ainda no conhecem o termo. Mas, na verdade, o contrrio est certo. A teoria da mo invisvel quer explicar estruturas e processos que os homens geram despercebidamente, sem querer e, por assim dizer, como que foi conduzido por uma mo invisvel (SMITH 1776/1920: 235). Foi o escocs Adam Smith que cunhou esta metfora nos seus estudos sobre a economia liberal. A desvantagem do termo, o fato que ele engana o leigo, reduzida pela vantagem que ele est, h muito tempo, bem introduzido e geralmente conhecido na filosofia poltica e na teoria das economias nacionais. A nosso saber, a expresso invisible hand explanation (explicao atravs da mo invisvel) foi primeiramente usada por NOZICK (1976: 32): Tais explicaes mostram uma certa beleza. Elas explicam como uma estrutura complexa ou um sistema complexo, os quais se acreditava que foram criados pelos esforos sistemticos de um indivduo ou um grupo, pelo contrrio, foram gerados e mantidos atravs de um processo que, de maneira nenhuma, envolveu a idia de um sistema ou uma estrutura total. Conforme Adam Smith falamos de explicaes atravs da mo invisvel. Num sentido muito amplo, podemos afirmar, mais uma vez, com Robert Nozick: A explicao atravs da mo invisvel explica alguma coisa, que parece como o resultado de um plano premeditado pelo homem, mas que, no fundo, no se baseia em nenhuma inteno. (...) Trata-se de um tipo de explicao gentica. (ibid.: loc.cit.). Ela explica um fenmeno, ao explicar como ele nasceu ou como ele pudesse ter nascido. Suas reas caractersticas so as instituies sociais, como, por exemplo, o dinheiro, a moral, a lngua, a moda, as favelas, etc. Ela se ocupa, ento, com ordens socioculturais, fenmenos que facilmente sugerem que eles foram intencionalmente criados por uma suprema instncia de planejamento geral, um inventor, Deus ou uma comisso central. Trata-se, em respeito a todas estas instituies, sem exceo, de fenmenos do terceiro tipo, que so percebveis em nvel macroscpico, assim como microscpico, mas a percepo de um nvel do fenmeno no implica, necessariamente, a percepo do outro. Ns podemos, por exemplo, achar graa em comprar o produto mais caro de dois artigos equivalentes e, ao mesmo tempo, podemos lamentar a alta taxa de inflao. Ns somos capazes de nos queixar sobre a suposta decadncia do vernculo, causada pelas mudanas em progresso, sem relacion-la com nossos prprios hbitos lingsticos. Em resumo: No nvel microscpico de uma instituio social encontramos as aes individuais que geram e mantm as estruturas do nvel macroscpico da mesma instituio. A despeito disso, a observao do nvel macroscpico, a princpio, est independente da observao do nvel microscpico.
32
Tal independncia explica, tambm, porque as metforas que dominam alguns modelos da lingstica histrica afirmam que certas palavras deslocam ou substituem outras, ou que elas avanam ou penetram no corpo da lngua. Tais modelos, geralmente, no efetuam uma ligao entre as mudanas gerais e o comportamento lingstico dos falantes individuais que cause aqueles deslocamentos, substituies ou avanos. Isto significa que h uma tendncia na teoria lingstica de prescindir das explicaes e de contentar-se com as descries dos fatos atuais ou passados. A explicao adequada de uma instituio social estratificada em dois nveis, encontra-se, ento, num modelo que consegue desenvolver o segundo estrato, o nvel macroscpico da instituio, base do primeiro estrato, do nvel microscpico das aes sociais dos indivduos. A teoria da mo invisvel quer realizar exatamente isto. ULLMANN-MARGALIT (1978: 278) a caracteriza como se segue: An invisible-hand explanation explains a well-structured social pattern or institution. It typically replaces an easily forthcoming and initially plausible explanation according to which the explanandum phenomenon is the product of intentional design with a rival account according to which it is brought about through a process involving the separate actions of many individuals who are supposed to be minding their own business unware of and a fortiori not intending to produce the ultimate overall outcome. J HUMBOLDT (1836/1985: 46) escreveu a respeito da lngua: Sua verdadeira definio... tem que ser uma gentica. BRAL (1897/1992: 34) tambm afirmou: A questo lingstica no fundo uma questo social ou nacional. Isto, na verdade, vale para todos os fenmenos de terceiro tipo. O Harlem, em Nova York, por exemplo, uma favela de negros, igualmente como Soweto na Africa do Sul, mas as duas favelas representam dois fenmenos que se distinguem essencialmente um do outro. Enquanto uma cresceu organicamente, quer dizer como um fenmeno de terceiro tipo, representa o outro, um artefato dos racistas.48 Para entender um fenmeno de terceiro tipo temos que conhecer o seu processo de formao da mesma maneira que os resultados deste processo de formao, pois um fenmeno de terceiro tipo no representa apenas um dos dois itens o processo de formao ou o seu resultado -, mas ambos simultaneamente. O que ns chamamos aqui, de maneira simplificada, resultados o portugus do Brasil, a moral atual, o valor do Real, a favela de Harlem na verdade, no representam resultados finais de certos processos de formao, mas episdios de processos da evoluo cultural, quem no tm um incio e nem um fim determinado. Uma explicao atravs da mo invisvel deve refletir as trs qualidades essenciais dos fenmenos de terceiro tipo: (i) (ii) (iii) o fato, que eles so de natureza processual; o fato, que eles se constituem de um nvel microscpico e um nvel macroscpico; o fato, que eles tm, de um lado, alguma coisa em comum com fenmenos naturais e do outro lado, com fenmenos artificiais.
O modelo ideal da teoria da mo invisvel, conseqentemente, compe-se de trs graus:
48
Claro que ns no negamos que motivos racistas tambm podem ter um importante papel na formao orgnica de uma favela. Mas eles se manifestam de maneira diferente.
33
(i)
a representao, respectivamente, definio das condies gerais e dos motivos, intenes, objetivos e convices que formam o fundamento das aes dos indivduos que participam no respectivo fenmeno; a representao do processo que explica como uma multiplicidade de aes individuais causa a estrutura em questo; a representao, respectivamente, a definio da estrutura que estas aes individuais geraram.
(ii) (iii)
Um exemplo muito simples encontramos na teoria das trilhas: Em muitos relvados dos jardins pblicos podemos encontrar placas que probem pisar na grama. Isto vale tambm para o pequeno jardim zoolgico de Fortaleza. No entanto, sempre h nestes lugares uma rede de trilhas que prova que os indivduos no querem respeitar a estrutura de atalhos pavimentados. Estas redes de trilhas sempre so construdas de uma maneira inteligente, econmico e bem planejada. obvio que a estrutura de trilhas mais engenhosa do que a estrutura projetada pelos arquitetos de paisagem. Alm disso, num desenho do parque que mostra apenas os edifcios, instalaes, acessos, inclusive as suas funes, seria possvel antecipar onde as trilhas vo crescer. Seria possvel predizer o sistema das trilhas com uma preciso muito maior do que qualquer presuno sobre o sistema de caminhos que os arquitetos de paisagem planejaram. Por qu? O sistema de trilhas tem uma estrutura mais racional; ela mais inteligente e, como soluo de um problema de transito, ela mais elegante. Todavia, fica bvio que a gerao do sistema de trilhas exigiu muito menos inteligncia do que o planejamento da rede de atalhos pavimentados. Pois a inteligncia do sistema de trilhas no resultado da inteligncia dos seus criadores, mas da sua preguia. Nossa teoria da mo invisvel em respeito a este fenmeno toma este fato em considerao: Nossa hiptese que uma grande parte dos visitantes do parque prefere andar por caminhos mais curtos em vez de passear por mais compridos. Observamos que os atalhos pavimentados no correspondem com esta tendncia encurtadora porque, muitas vezes, eles no representam a menor distncia entre dois pontos que os visitantes gostam de freqentar. Sabemos que a grama estiola em lugares que so muito freqentados. Suponhamos que o sistema de trilhas representa a conseqncia no intencionada daqueles aes intencionais e finais que definem-se pelo objetivo de chegar a certos lugares p, atendendo a mxima de economizar energia e tempo. Esta teoria contm os trs graus do nosso modelo ideal: indicamos os motivos que causam as aes individuais (a escolha do trecho sob considerao da mxima de economizar energia); o processo da mo invisvel constitui-se na destruio paulatina do gramado nos percursos mais freqentados; e a criao gradual da estrutura fixa de trilhas representa o terceiro grau do nosso modelo. Esta teoria tambm corresponde a nossa exigncia de representar as trs qualidades essenciais de um fenmeno de terceiro tipo: seu carter processual, sua estratificao num nvel microscpico e num nvel macroscpico e o fato que ela contm caractersticas de um fenmeno natural, assim como caractersticas de um fenmeno artificial. Tambm fazem parte desta teoria, uma explicao final que tpico para explicaes de produtos artificiais, e uma explicao causal que tpico para a explicao de fenmenos naturais. Uma explicao atravs da mo invisvel explica seu explanandum, o fenmeno de terceiro tipo, como uma conseqncia causal de aes intencionais de indivduos que, pelo menos em parte, tem intenes semelhantes.
34
Apesar de nunca ter observado a criao de uma rede de trilhas acreditamos que esta explicao correta (embora seja possvel de formul-la melhor do que ns fizemos). De onde ns tiramos esta confiana? No possvel que ela , do mesmo modo, errada como nossa teoria da cacofonia na praia? Quando uma explicao pela mo invisvel uma boa explicao? Boa, ela , se ela descreve a verdade; verdadeira, ela , se as premissas so corretas, se as leis gerais esto em vigor e se o processo da mo invisvel necessariamente conduz ao seu explanandum. J afirmamos que em ambos os exemplos, na cacofonia, assim como na rede de veredas, o explanandum realiza-se necessariamente, se o seu explanans, quer dizer, as premissas e as leis, so corretas. A veracidade da teoria da mo invisvel, no entanto, geralmente, no pode ser comprovada porque impossvel provar a veracidade das premissas essenciais, pois, por razes tcnicas ou psicolgicas, muitas vezes impossvel verificar, se os supostos motivos para certos comportamentos so corretos ou no. Alm disso, geralmente, difcil observar um processo de mo invisvel diretamente, quer dizer, em formao. Por isso, uma explicao pela mo invisvel, muitas vezes, representa uma estria cheio de suposies. Tudo isso no precisa diminuir o valor de uma explicao atravs da mo invisvel, porque ela pode ser boa ou ruim, independentemente da possibilidade de verificar as suas afirmaes. Ela boa, se as premissas essenciais so plausveis e se o processo da mo invisvel realiza-se necessariamente, conforme as leis lgicasmatemticas ou causais. Ser plausvel e concludente so os critrios decisivos para a exatido de uma teoria da mo invisvel. A teoria da cacofonia foi concludente. Isto justifica seu valor como uma anedota surpreendente, mas as sua premissa no plausvel. Se eu no gosto de som alto eu preferia antes evitar o barulho das barracas do que aumentar o barulho na minha prpria, simplesmente, porque eu no gosto de barulho, nem se ele vem do meu prprio som. Apesar disso, eu no queria incomodar os outros com meu barulho, j que eles, no suportam o meu, da mesma maneira, como eu no suporto o deles. A solidez da teoria da rede de trilhas, no entanto, se encontra, por um lado, na plausibilidade da pressuposio que os homens preferem antes andar por caminhos mais curtos do que por mais compridos, e, por outro lado, na concluso lgica, que uma rede de trilhas, sob certas circunstncias, inevitavelmente crescer, contanto que nossa premissa seja correta. Suponhamos que entre a entrada do jardim zoolgico, as jaulas dos macacos e o pequeno restaurante encontra-se uma grande rea gramada; os caminhos pavimentados enquadram a relva em forma retangular. Temos a condio ideal para a gerao de uma rede de trilhas. Mas podemos predizer que esta rede de fato crescer? Caso esta situao encontra-se no Brasil ou na Alemanha, ns tivssemos a coragem de apostar nisso, se no por nossa cabea, ento pelo menos por um jantar, mas qual seria a nossa sentena, se ns temos que imaginar esta situao em Coria da Norte ou em Japo; ou h 200 anos em Londres? Ningum ousaria mais de apostar, porque no temos os conhecimentos necessrios para poder avaliar como as pessoas reagem ou tivessem reagido: H regras que probem pisar a grama? Qual a rigidez destas regras? Qual a disciplina das pessoas em questo? Qual a sua atitude em respeito a infraes? Qual a sua atitude em respeito a proteo de relvados? De fato, at difcil predizer o nosso prprio comportamento para um prazo maior. No momento, estamos dispostos a pisar, as vezes, a grama e aproveitar um
35
encurtamento. Caso que haja alguns pequenos sebes, cercas ou canteiros de flores no meio, esta disposio pode mudar, especialmente em companhia dos nossos filhos ou sob o olhar desfavorvel de um guarda. Ser que a nossa disposio de pisar a grama crescer nos prximos vinte anos porque ns queremos conceder grama a mesma proteo que ns j oferecemos s flores? Ou ser que ela vai diminuir, por quaisquer outras razes? Tudo possvel. Isto mostra que as explicaes atravs da mo invisvel tem apenas um pequeno valor prognstico. Elas permitem no mximo predies hipotticas: Se as pessoas agem conforme esta ou aquela mxima, ns vamos observar que, em conseqncia destas ou daqueles condies gerais, esta ou aquela estrutura vai crescer. Conhecemos este tipo de predies pela economia nacional ou pelos boletins meteorolgicos; sabemos, por isso, como suas afirmaes so de pouca confiana. Alis, para sistemas mais complexas de terceiro tipo, como por exemplo, para um sistema de trilhas, no possvel fazer predies particulares, mas, quando muito, predies gerais e estruturais, que a literatura inglesa chama patterns predictions. O lei da gravidade permite predies sobre o comportamento de uma maa. As chamadas leis de mercado, no entanto, no permitem predies sobre o vnculo empregatcio do operrio Sousa; no mximo, elas permitem predies sobre o desenvolvimento geral do desemprego. Da mesma maneira podemos extrapolar uma tendncia geral que o elenco dos pronomes da fala culta de Fortaleza continuar a distanciar-se do elenco conforme a NGB, mas impossvel predizer, se o pronome tu, aos poucos, desaparecer completamente e se ele ser substituda pelo pronome voc em todos os contextos. Tambm impossvel predizer se perguntas, como voc viu Sousa?, em cem anos, de modo geral, sero respondidas com frases do tipo eu vi ele, que, hoje em dias, ainda esto estigmatizadas, enquanto a atual variante normativa, eu o vi, ou o padro culto, eu vi, desaparecero. Teorias da mo invisvel no tem valor prognstico no mesmo sentido, como uma teoria fsica. A razo deste fenmeno se encontra no fato que ns no podemos predizer as suas premissas. O que elas permitem apenas uma extrapolao: Se isto ou aquilo acontecer, as pessoas comportaro-se de uma ou de outra maneira e, em conseqncia disso, geraro esta ou aquela estrutura. Os economistas tem razo em lamentar a falta de valor prognstico das suas teorias da mo invisvel; mas para a lingstica isto no representa uma deficincia. Primeiro, porque um engano pressupor que o carter cientfico, nas teorias das cincias humanas, dependa da exatido dos valores previstos. E segundo, porque h pouca necessidade prtica para predies lingsticas. Uma teoria da mo invisvel, antes de mais nada, tem um valor diagnstico. Ela no explica como as coisas vo continuar, mas como elas se desenvolveram, mas, para que serve uma diagnose, se ela no permite uma orientao para o futuro? O sentido de uma diagnose, na medicina, por exemplo, encontra-se no fato, que ela representa a base de uma terapia. Ningum faz diagnoses sem qualquer inteno concreta. Para avaliar o valor de uma teoria diagnostica do portugus do Brasil temos que lembrar, mais uma vez, que a essncia, a mudana e a gnese de um fenmeno de terceiro tipo mantm uma ntima conexo. No nossa tarefa predizer a estrutura do portugus do sculo XXI, mas queremos contribuir na compreenso da questo, o que ns estamos fazendo, sempre quando estamos nos comunicando? Se ns entendssemos as mximas e regras da nossa comunicao, teramos condies de compreender porque o Portugus transformou-se no passado, e porque ele continuar a
36
transformar-se no futuro, pois as mudanas de amanha so as conseqncias do comportamento coletivo dos falantes de hoje. Uma lingstica diacrnica que quer ultrapassar a mera descrio dos fenmenos lingsticos deve esforar-se para descobrir aqueles mximas, regras ou motivos das nossas aes comunicativas que proporcionam e explicam aquele processo de mo invisvel que gera as respectivas estruturas da nossa lngua. Vamos observar um fenmeno emprico: Expresses que se referem a mulheres sempre foram submetidas a discriminaes pejorativas. Este destino atingiu as palavras rapariga49 ou cachopa50 e mulher51 e , provavelmente, tambm no vai deixar escapar dona52 ou senhora. Como aconteceu isto? Quem gosta de pensamentos lineares vai pressentir, nesta tendncia, uma certa forma de misoginia latente que leva um falante individual ao hbito de empregar tais palavras cada vez um pouco mais pejorativas. Mas como emprega-se uma palavra cada vez mais pejorativa? GRAHAM (1975: 61) acredita em ter descoberta, neste contexto, the tendency in the language that i called praise him / blaime her. A tendncia crescente de usar as expresses rapariga, cachopa, mulher ou dona de maneira pejorativa no se deve mxima blame her, mas, antes de tudo, mxima praise her. Trata-se, ento, de um fenmeno paradoxo, no qual cada falante sempre quer o melhor (= elogiar), mas, sem querer, transforma as respectivas palavras em formas pejorativas. Numa sociedade, como a brasileira, que viveu numa tradio cortes, h uma norma social que exige tratar as mulheres com delicadeza. Os homens abrem a porta para uma mulher, eles oferecem uma cadeira, a ajudam a vestir o casaco ou acendemlhe o cigarro. A tendncia de escolher, em presena de uma mulher, antes uma expresso que pertence a um nvel social ou estilstico mais alto do que baixo, faz parte deste comportamento corts. A mxima no blaime her, mas, por assim dizer, melhor escolher, em caso de dvidas, uma palavra que pertence a um nvel alto demais do que baixo demais. Este comportamento cria, aos poucos, uma tendncia que transforma a prxima palavra mais elevada numa forma no marcada ou neutra, enquanto a antiga forma neutra transforma-se numa pejorativa. Deste modo, encontramos hoje, nos banheiros dos melhores restaurantes, a placa senhoras, enquanto mulheres ou elas corresponde com o estilo de uma barraca de praia. A expresso Como vai a sua mulher? considerada impertinente, em certas situaes; mais conveniente dizer sua esposa ou a Senhora Fulana. Claro que a respectiva mxima vale apenas em situaes onde os falantes jogam o jogo de galantaria. Quando este jogo no pressuposto, a variao normal pode at transformar-se numa expresso desagradvel ou ofensiva. Quem j se dirigiu, numa
49 50
Sentido original (conforme CUNHA, 1997): mulher moa; sentido pejorativa: prostituta Sentido no sculo XVI (conforme CUNHA, 1997): mulher moa; sentido pejorativo: meretriz 51 Mulher, no seu sentido palavra, ainda no evoca associaes negativas. Mas pronunciada com o menosprezo do homem que julga-se, por exemplo, um motorista melhor, a palavra facilmente assume valor pejorativo. 52 No sculo XIII, a palavra dona ainda significa exclusivamente proprietria, esposa ou mulher (CUNHA, 1997). Seu sentido bsico, uma mulher que tem autoridade ou poder sobre outras pessoas ainda diretamente ligado sua origem latim. A forma exprimiu respeito e referiu-se a uma certa posio social. Todavia, no atual registro formal da vida comercial, o vocativo, Dona Fulana, as vezes, considerado como uma forma inoportuna e demasiadamente familiar. Temem alguns vendedores, que a antiga forma de respeito hoje pode evocar a idia que a cliente sente-se avaliada como simples dona de casa, quer dizer, uma pessoa mais velha, e tradicional que no entende muito bem de negcios.
37
discusso conjugal, a sua parceira com a expresso, Mas a Senhora sabe tudo melhor!, conhece o efeito desta cortesia desmedida. Um jornal que substitui, numa notcia sobre as vtimas da seca, a frase, Os homens e mulheres morreram de fome, pela expresso, Os Senhores e Senhoras morreram de fome, mostraria um cinismo sem piedade. Isto significa que a escolha de palavras neste campo semntico, tem nada a ver com uma alta estima ou um desprezo gerais, com a cortesia geral ou com o verdadeiro estrato social, mas com a questo, se conveniente jogar o jogo de galantaria ou no. Por isso, um clube de tnis tem uma diviso para Senhoras, enquanto um clube de futebol tem uma equipa feminina e o servio social da prefeitura oferece um lar para mulheres. A emancipao das Senhoras num programa poltico da PT soaria to estranho como o alfaiate de mulheres na revista CARAS. Em resumo: O motivo para o comportamento galante no nvel microscpico dos falantes individuais provoca, a longo prazo, no nvel macroscpico da lngua uma tendncia pejorativa que parece ser conduzida por uma mo invisvel. Trata-se, neste fenmeno, de um tipo de inflao semntica: a repetio milionria de uma expresso provoca a sua desvalorizao no mercado lingstico. Este exemplo serve tambm para explicar, mais uma vez, a vantagem de uma explicao atravs da mo invisvel. Pressuposto que nossa explicao para o emprego pejorativo representa uma boa explicao, o que ela consegue finalmente explicar e o que no? Ela no presta para fazer uma predio sobre o desenvolvimento do sentido das palavras mulher ou Senhora. Mas ela permite uma predio estrutural, que o uso pejorativo continuar no futuro, se o jogo das galantarias vai continuar. Se este jogo ainda durar por muito tempo, depende de muitos fatores sociais, que ns no queremos analisar neste contexto. A nossa explicao tem, de fato, um valor prognstico que cresce na medida em que os estudos lingsticos e scio-histricos tornam o modelo mais detalhado e sutil. Nossa explicao esclarece um aspecto na nossa fala, uma das suas funes e os seus efeitos macroscpicos. 10. EXPLICAES CAUSAIS, FINAIS E FUNCIONAIS
A comparao do processo que gera fenmenos lingsticos com a criao de uma rede de trilhas no uma novidade. J em 1912, MAUTHNER (1912/1982: 83seg.) empregou esta imagem no mesmo sentido com ns: Se todos os camponeses de uma aldeia acreditam, por exemplo, que o mais confortvel caminho para a prxima igreja ou bar cruza um certo prado, (...) ento podemos observar, que eles trilham mecanicamente uma vereda onde a grama no crescer mais.(...) Neste caso, podemos falar metaforicamente de uma lei natural. (...) No entanto, (...) no h uma lei natural ativa que fora a aldeia a usar o caminho mais prximo. (...) No h uma aldeia, mas apenas camponeses; (...) apenas h, de um lado o barro pisado com mais fora, e do outro lado, os passos dos camponeses que andam. (...) Todavia, cada vez que um campons individual levanta a sua perna individual e faz um passo numa certa direo, entra neste jogo um fator psicolgico que, conforme as circunstncias, se chama vontade ou costume. (...) Os mesmos fatores, descobrimos entre aqueles movimentos do homem que so subsumidos ao termo lngua.
38
Mauthner referiu-se, neste trecho, hiptese dos neo-gramticos, que as leis fonticas estejam em vigor sem excees. Obviamente, ele conheceu bem a combinao entre momentos causais e finais que determina os processos lingsticos. No fim do sculo XIX houveram ainda outros autores que j sabiam que sempre so dois fatores que colaboram no processo das mudanas lingsticas, respectivamente, na evoluo de um estado da lngua: MLLER (1862/1892: 34) escreveu: O processo que d a lngua uma substncia fixa (...) rene dois elementos contrrios, a necessidade e a vontade livre; e WHITNEY (1876: 283) escreveu um pouquinho mais tarde: The process of language-making (...) works both consciously and unconsciously, as regards the further consquences of the act. Apesar de que o conhecimento deste fato certo e decisivo, nenhum dos lingistas conseguiu aproveitar-se dele a fim de formular um conceito concludente de lngua que implicasse a idia da evoluo lingstica. O que mais esquisito ainda, ningum prosseguiu na abordagem de Mauthner, Mller e Whitney e ela quase caiu em esquecimento. Em vez de analisar como a colaborao entre necessidade e vontade funciona, a lingstica comeou a concentrar-se, novamente, numa questo antiga que j tinha levado vrias geraes de lingistas ao caminho errado: a pergunta, se o desenvolvimento da lngua representasse ou um processo final ou um processo causal. O tempo muda tudo, e no h uma razo, porque a lngua deveria ser isenta desta lei geral, escreveu SAUSSURE (1916/1967: 91) no seu Cours, numa franca ingenuidade; e invertindo esta explicao mecanicista, alguns lingistas modernas, como por exemplo, AYREN (1986: 110), desenvolveram ainda mais teorias organicistas ao anotar afirmaes como: A lngua vive, e quem vive transforma-se. Entre os lingistas contemporneos COSERIU (1958/1974) foi, ao nosso ver, o primeiro que criticou fundamentalmente a procura para as origens causais das mudanas lingsticas. O seu trabalho Sincrnia, diacrnia e histria, publicado j em 1958, representa at hoje um estudo bsico da teoria de mudanas lingsticas. Nele, Coseriu escreveu: A idia da causalidade (...) por um lado um resto da antiga interpretao da lngua como um organismo natural` e, por outro lado, ela um resultado do sonho positivista de descobrir as supostas leis` da lngua (ou das lnguas) e de transformar a lingstica, em analogia com as cincias naturais, numa cincia exata. COSERIU (1958/1974: 152). Este sonho positivista, de fato, realizou-se em alguns trabalhos mais recentes. Quem procura, como Chomsky e sua escola gerativista, estruturas da lngua humana que so geneticamente determinadas, encontra-se na rea da biologia humana e, provavelmente, pode exigir, com razo, a aplicao do mtodo de Galileu na sua pesquisa. Ainda assim, Coseriu afirma com razo, que as teorias causais no so adequadas explicao das mudanas lingsticas. Sua interpretao correta, porque o desenvolvimento histrico das nossas lnguas independente da parte geneticamente determinada da nossa habilidade de falar. A chamada gramtica universal representa apenas os limites restritivos das mudanas virtuais. Ao formular uma explicao alternativa, COSERIU (1958/1974: 166) revela, querendo ou no, que at ele ainda est preso na dicotomia traioeira entre natural e artificial: Nos fenmenos naturais, sem dvida, temos que procurar necessidade exterior ou causalidade; nos fenmenos culturais, no entanto, necessidade interior ou finalidade. Coseriu deduz a sua hiptese sobre o carter final da lngua da premissa correta, que a lngua no um objeto natural (...), mas sim um objeto cultural (ibid.: 143), e
39
que ela representa um mundo criado por homens (ibid.: 152). No entanto, sua hiptese implica tambm a premissa errada e dogmtica que os objetos culturais, feitos pelo homem, necessariamente, tem que ser explicados por sua suposta finalidade, pois as atividades livres do homem sempre so motivadas pela pergunta para que?` e nunca pela pergunta causal por qu?` (ibid.: 142). Do mesmo modo, como os autores do sculo XIX (Mauthner, Mller, Whitney, etc.) que tinham se atrapalhado na dicotomia entre natural e artificial, Coseriu tambm sente-se incomodado por esta questo e aspira a uma sada desta bipolarizao enganadora. Claro, que ele sabe bem que os falantes, geralmente, nem tem a inteno de provocar uma mudana lingstica e nem tem conscincia dela. Por iss ele critica, com razo, o conceito de Henri Freis sobre a finalit inconsciente e ele acusa o lingista francs de confundir os fatos ao afirmar que foras inconscientes sejam capazes a causar as mudanas lingisticas. No entanto, nem Coseriu consegue realizar uma retificao concludente dos fatos: Correto apenas o fato (...), que a finalidade aparece espontnea e diretamente, sempre quando h necessidade de exprimir-se, e nunca em conseqncia de uma inteno racional de transformar o cdigo lingstico que vale entre os indivduos. (ibid.: 170). Considerando esta afirmao, em que sentido podemos ainda falar de inteno? Como j vimos, a finalidade, de fato, tem um papel importante nas mudanas lingsticas; mas sempre em colaborao com processos causais. Sob certas circunstncias, os resultados das aes finais, ou melhor dizer, das aes intencionais acumulam-se e provocam estruturas que no pertencem a rea da finalidade das diversas aes dos indivduos. Esta acumulao um fenmeno causal. Deste modo, ambos os partidos, os finalistas assim como os causalistas, podem reclamar uma parte da verdade para si. Seu erro encontra-se na pretenso de exigir exclusividade para seu ponto de vista, quer dizer, na sua incapacidade de reconhecer a colaborao entre processos finais e causais. Esta incapacidade tem sua origem na unilateralidade dos dois pontos de vista. Quem percebe uma mudana lingstica pelo ponto de vista do sistema lingstico, percebe-la como um fenmeno causal. E, com efeito, este modo de ver o processo de mudana, certo, pois, o fato que os falantes, por qual razo que seja, mudaram, por exemplo, a sua preferncia de expresso provocou, inevitavelmente, o desaparecimento da palavra saga2 53 no significado de bruxa ou feiticeira em favor da palavra saga1 no sentido de lenda ou narrativa histrica54. Apesar deste tipo de conflito entre homnimos, pode tambm haver um conflito entre sinnimos. A deciso de uma escolha lingstica a favor ou desfavor de uma expresso mais ou menos sinnima, como, por exemplo, doce de gelo e sorvete ou ceroula e cueca, provoca a arcizao ou o sumio de uma das formas lingsticas em alternncia, pois, se uma palavra cai em desuso, rompe-se a cadeia escalonada entre ensinar e aprender e isto provoca, com necessidade causal, o desaparecimento desta expresso numa dada lngua.
53
vide: CALDAS (1968: 3616): saga2: nome que os romanos davam s bruxas e feiticeiras: luda por ora a saga do inrito no passou (Castilho). saga3: ant. reaga, retaguarda, coice. 54 Apesar do fato, que a palavra ainda encontra-se neste sentido, por exemplo, no Dicionrio de Portugus Alemo (1989) da Porto Editora, ns no encontramos mais um falante contemporneo no Brasil, que ainda lembra-se da palavra no sentido de bruxa.
40
Ao contrrio disso, quem percebe uma mudana lingstica pela perspectiva dos falantes que se comunicam percebe apenas finalidade; uma finalidade, porm, que no se refere inteno de mudar a lngua, mas, exclusivamente, ao desejo de ter xito na respectiva ao comunicativa. Quem empregou, na sua fala, a palavra saga2 no sentido de bruxa, quem falou de doce de gelo e teve a inteno de referir -se ao seu desejo de consumir uma sobremesa, correu, a partir de um certo momento ou em certos contextos, perigo de ser mal compreendido e arriscou, deste modo, o sucesso da sua ao comunicativa. Assim, a sua escolha em detrimento da forma saga2 (= bruxa) ou da expresso doce de gelo no foi causada pela existncia de homnimos como saga155 ou saga356 ou de sinnimos como doce de gelo e sorvete, mas motivada pelo desejo de no ser mal compreendido. O fato de ter homnimos ou sinnimos, num corte sincrnico de uma lngua, no representa a causa da mudana, mas, como Coseriu observou corretamente, uma condio prvia, que pode provocar uma predisposio entre os falantes para escolher, em certas situaes, aquela alternativa entre as diversas expresses que evita o perigo der ser mal entendido. Isto significa que a mudana lingstica no representa um fenmeno final, porque ela no ocorre base de intenes. O que tem finalidade apenas a escolha de uma expresso alternativa em contextos equvocos. O resultado desta escolha intencional dos indivduos a mudana da lngua. Esta , ento, uma conseqncia causal das aes comunicativas do conjunto de falantes, cujos membros tm, pelo menos em parte, a mesma inteno: evitar um mal-entendido. Observamos os dois seguintes tipos de afirmaes que facilmente encontramos em muitas explicaes para fenmenos lingsticos: (i) (ii) A causa do desaparecimento de saga2 (bruxa, feiticeira) foi a situao homonmia com saga1 (uma narrativa em prosa). A palavra saga2 desapareceu do portugus do Brasil, porque ela um homnimo do palavra saga1.
Estas afirmaes so erradas? Ou elas apenas no conseguem explicar o fenmeno de maneira adequada? Com certeza, elas no so totalmente erradas; elas at conseguem dar a impresso de que se trata de duas explicaes fortes, mas, quem olha mais profundo vai logo perceber que a homonmia nem era necessria, nem suficiente para explicar o desaparecimento de saga2: Ser que saga2 no teria desaparecido, se ela no fosse um homnimo de outra palavra? Talvez sim, talvez no; quem sabe? Saga2 tinha que desaparecer necessariamente por causa da homonmia? No. Primeiro, porque
55
vide: CALDAS (1968: 3616) : saga1: tradio histrica ou mitolgica dos escandinavos// Espcie de xcara ou cano popular que tem por tema algumas dessas tradies: A monarquia morreu (...) Deixemo -la na podrido silenciosa do seu transe, que, nem a lira dos bardos entoar para ela sagas picas, nem a bca (sic!) dos ugures h de rezar-lhe outros responsos que no sejam desdenhosas vaias por no ter sabido defender-se. (Fialho, Saibam Quantos, p.14, ed.1914).// fr. saga deriv. do ant. escand. saga.. 56 vide: CALDAS (1968: 3616): saga3: ant. reaga, retaguarda, coice. Obs.: Esta forma, na verdade nunca entrou em conflito com os outro dois homnimos, porque ela j tinha desaparecida durante o sculo XVI quando a palavra retaguarda (= o ultimo elemento da tropa) de origem italiano (retrogurdia) instalou-se no portugus. Os exrcitos da Itlia renascentista, na poca foram considerados uns dos mais efetivos da Europa. A importncia cultural da pennsula, nesta poca, manifesta-se em inumerveis influncias italianos nas lnguas europias.
41
h, no Portugus, muitos homnimos que no provocam uma fuga de homnimos; e segundo porque, teoricamente, a forma que podia ter desaparecido e ter sido substituda por outra palavra poderia ser saga1 em vez de saga2. Por que tantos lingistas acham que afirmaes do tipo (i) ou (ii) representam explicaes aceitveis? Como possvel que algum chegue idia que ele dispe de uma boa explicao, quando ele cita dois fatos dos quais nenhum necessrio, nem suficiente para explicar a existncia do outro? A razo disso encontra-se no emprego abusivo das expresses causa, respectivamente porqu, que do s frases (i) e (ii) a impresso de ter fora explicativa. Analisamos, em seguida, os motivos e causas do desaparecimento da palavra saga2 que, conforme o dicionrio etimolgico de Cunha, ocorria no portugus desde 1844 como derivado da palavra latim saga, -ae57. A palavra saga2 no desapareceu porque ela manteve uma relao de homonmia com a palavra saga1, mas porque, a uma certa altura, ela no fez mais parte do lxico dos falantes. Ela no fez mais parte do lxico, porque ela no foi mais aprendida neste sentido. Ela no foi mais aprendida, porque os falantes que ainda dispuseram desta palavra, evitaram o seu emprego em favor de expresses alternativas, como bruxa ou feiticeira. Eles evitaram saga2, porque eles no quiseram correr o perigo de ser mal compreendidos. Houve o risco de serem mal compreendidos, porque saga2 homnimo de saga1 e porque, em muitos contextos, possvel substituir o significado de saga2 por este de saga1 e vice-versa, sem que uma das duas interpretaes criasse uma afirmao absurda: uma saga1/2 medieval, uma saga1/2 feia, uma saga1/2 interessante, etc. H a possibilidade de substituir a palavra saga2 por vrios sinnimos, como, por exemplo, bruxa ou feiticeira, contudo esta afirmao no vale para a palavra saga1 que, no portugus, apenas ocorre desde o sculo XX58 como designao comum s narrativas em prosa, histricas ou lendrias, nrdicas, redigidas sobretudo na Islndia nos sculos XIII e XIV59. Quem usou saga1 no pde evitar o risco de ser mal compreendido, porque no houve sinnimos adequados para substituir esta forma equvoca. Como a forma saga1 refere-se tambm s canes populares, que tm por tema certas tradies histricas ou mitolgicas, ela ocorreu provavelmente com uma freqncia maior do que saga2, que uma forma mais erudita. Saga1 correu mais freqentemente o perigo de ser mal interpretada. Este risco aumentou ainda mais, porque ambos os homnimos pertencem a campos semntico que podem ocorrer no mesmo contexto60: Sagas1 escandinavas no tratam de sagas2 romanas. Os falantes tiveram uma disposio de evitar saga1 ou saga2 a favor de uma expresso alternativa, porque o uso de ambas as formas homonmias ps o sucesso da comunicao em perigo. Finalmente, a forma menos freqente, saga1, caiu em desuso, porque a lngua portuguesa oferece antes uma alternativa para esta forma do que para seu homnimo saga1. A afirmao (ii) representa, na melhor das hipteses, uma abreviatura aproximativa para estes passos explicativos em forma de uma cadeia de porqus. provvel que ns temos uma disposio de aceitar tais abreviaturas como explicaes, porque, na lngua corrente, ns consideramos a relao de porque como transitiva,
57 58
cf. CUNHA (1997: 698) cf. CUNHA (1997: 698) 59 cf. CUNHA (1997: 698) 60 Esta observao no vale, por exemplo, para os homnimos banco 1 (= tipo de assento} e banco2 (= casa bancria) que ocorrem com alta freqncia, mas quase nunca no mesmo contexto .
42
mas quando soletramos esta abreviatura e reconstrumos o caminho entre os motivos dos indivduos e os resultados das suas aes na rea macroscpica, ela desdobra-se e transforma-se numa explicao das mudanas lingsticas atravs da mo invisvel. As afirmaes (i) e (ii) no so equivalentes, porque nem todas as oraes com porque podem ser transformadas em oraes equivalentes que contm a palavra causa, pois, ns usamos porque de um lado para a representao de um motivo intencional e, do outro lado, para a representao de uma razo causal: (i) (ii) Eu lhe escrevi, porque eu quis dar-lhe uma alegria. Eu estou molhado, porque eu ca na gua.
Na primeira frase, o porque exprime uma relao final. (A porque B significa, neste caso, B o motivo para A). Na segunda frase, o porque exprime uma relao causal (A porque B significa, neste caso, B a causa de A). Chamamos o primeiro porque o porque intencional e o segundo, o porque causal. Correspondem ao porque intencional as perguntas introduzidas por por que? e para que?. Correspondem ao porque causal apenas as perguntas introduzidas por por que?. Chamam-se explicaes finais as respostas s perguntas introduzidas com para que?, mas, como todas as perguntas introduzidas com para que? podem ser transformadas em perguntas introduzidas com por que?, no precisamos distinguir, na lngua corrente, entre a explicao final que se dirige para frente e a sua correspondente explicao causal que se dirige para trs. No uso coloquial, podemos ento resumir, sem ter medo de ser mal entendido, os dois tipos de perguntas pelos termos explicao intencional ou pergunta intencional. No obstante, a nossa explicao atravs da mo invisvel torna-se mais precisa quando distinguimos o porque causal do porque final. Na verdade, j fizemos isto em nosso exemplo acima: a impresso em negrito e itlico simboliza o porque intencional e a impresso apenas em negrito refere-se ao porque causal. Quem analisa nossa cadeia de porqus mais uma vez, reconhecer logo: O desaparecimento de saga2 representa a conseqncia causal das aes intencionais de indivduos que, pelo menos em parte, realizaram intenes semelhantes. Falta ainda uma explicao para o momento histrico do desaparecimento de saga2. Parece que ele efetuou-se mais ou menos no comeo deste sculo. Por que? Por que no mais cedo ou mais tarde? Ser que de repente se falou mais sobre temas mitolgicos do que sobre bruxas? Ou ser que de repente se falou mais sobre as bruxas, com a conseqncia que o conflito virtual dos dois homnimos de repente tornou-se ativo? Quem sabe? Constatamos, por enquanto, que a forma saga2 a mais antiga em portugus e que saga1 comeou a reprimir saga2 apenas a partir do sculo XX, mas obvio que os fatos sociais e histricos fazem parte de uma explicao atravs da mo invisvel, assim como os dados lingsticos, porque todos estes fatores estimulam os falantes a modificar sua fala e mudar suas preferncias de expresso. Todos estes critrios formam, por assim dizer, as condies ecolgicas das aes comunicativas. Explicaes atravs da mo invisvel e explicaes histricas no representam formas alternativas para justificar os mesmos fenmenos; ao contrrio, as condies histricas representam fatores que podem influenciar o comportamento comunicativo dos falantes, mas a explicao sempre tem que recorrer ao comportamento dos indivduos. No h um caminho direto entre os fatos histricos e os fatos lingsticos que ns pudssemos alegar, com razo, como uma explicao concludente para uma mudana lingstica.
43
J vimos que a explicao de um fato lingstico nem pode ser exclusivamente intencional ou final, nem exclusivamente causal. Quem fala das causas das mudanas lingsticas ainda pode recorrer desculpa que ele emprega a palavra causa no sentido coloquial e que ele se refere aos fatores que representam as razes das aes comunicativas dos falantes, mas como explicaremos o erro que uma teoria da mudana lingstica deve basear-se exclusivamente na intencionalidade? Uma razo para este engano encontra-se numa antiga dicotomia que j citamos vrias vezes: Nos fenmenos naturais procura-se, sem dvida, uma necessidade exterior ou causalidade; nos fenmenos culturais, porm, procura-se uma necessidade interior ou finalidade. (COSERIU 1958/1974: 166). A segunda razo baseia-se na pressuposio implcita que uma explicao funcional, necessariamente, representasse uma explicao final. De fato, o que iria ser mais lgico do que pensar que os produtos culturais, que exercem uma certa funo, so justamente feitos para assumir esta funo. Tambm obvio que os fenmenos lingsticos exercem uma certa funo. Conseqentemente, temos que nos ocupar com a questo da sua finalidade, se queremos explicar a sua funcionalidade. RONNEBERGER-SIBOLD (1980: 37) viu isto clara e distintamente: Ao procurar a explicao das mudanas lingsticas na satisfao das necessidades dos falantes, ns nos juntamos ao grupo dos finalistas (...) que perguntam para que os falantes mudam a sua lngua? J no captulo 4, salientamos que h uma estreita ligao entre a pergunta sobre a gnese e a pergunta sobre a funo. Se ns soubssemos para que ns usamos a nossa lngua, ns tambm saberamos porque ela se formou e porque ela muda enquanto os seus falantes empregam-na para comunicar-se. Uma explicao atravs da mo invisvel no representa apenas uma explicao do processo da gnese, mas tambm, uma explicao funcional. No contexto das instituies sociais, se ns perguntamos sobre a funo de um sistema, temos que distinguir entre a pergunta sobre a funo do sistema na vida social da comunidade e a pergunta sobre a funo das partes do sistema dentro do prprio sistema. Ningum nega que a lngua tem uma funo para os homens, mas no h unanimidade sobre a questo qual seja esta funo. A lngua serve para trocar idias, transferir conhecimentos adquiridos ou coordenar aes coletivas. A cooperao crescente nas comunidades humanas, por exemplo, no uso de aparelhos ou na caa coletiva exigiram uma comunicao diferenciada. A lngua falada aparece como um novo meio de transporte para a corrente de informaes. (OSCHE 1987: 509). Gnter Osche no est errado, mas a coordenao de uma caa coletiva j exige uma lngua e um intelecto bem desenvolvidos. Ao nosso ver, houve, na origem da lngua, uma situao bem mais primitiva; por exemplo, um grito de alerta que se transformou, aos poucos, num signo lingstico. No comeo, houve, provavelmente, um indivduo s, que tentou usar os sinais primitivos da horda a fim de realizar seu desejo de escolher uma parceira ou de exigir sua parte da comida. Os outros integrantes da comunidade adquiriram o novo hbito, assim que eles representaram as vantagens que os falantes conseguiram adquirir. Este modelo da gnese da linguagem, numa situao bem primitiva que envolve, inicialmente, apenas um indivduo, tem duas vantagens: Primeiro, as teorias tradicionais, geralmente, no conseguem explicar a situao paradoxal como um coletivo aprende a falar, se o uso da fala no traz vantagens para
44
um indivduo s, pois pressuposto, que o objetivo da comunicao a troca de idias, precisa-se, pelo menos, de uma pequena comunidade, cujos membros querem trocar suas idias. A aquisio da linguagem pelo primeiro falante, neste caso, no lhe trouxe vantagem nenhuma, porque no havia ainda parceiros para trocar opinies. A horda, conseqentemente, nunca podia adquirir o hbito de falar. Ao contrrio disso, nossa pressuposio que o objetivo da comunicao seja o sucesso social explica porque o domnio da lngua j foi uma vantagem para um nico indivduo (por exemplo na conquista de um parceiro para as relaes sexuais ou na luta pelos cuidados da vida). Segundo, nossa pressuposio de uma situao bem primitiva no depende da afirmao que entre a comunicao animal e a comunicao humana houve um diferena essencial. As teorias tradicionais, geralmente, partem exatamente desta segunda pressuposio e elas sempre fracassam nela, porque no conseguem explicar, alm do problema da origem da lngua, como se efetuou, durante a evoluo humana, o salto na capacidade cognitiva que separou de vez os animais e os homens.61 Concordando com as opinies dos filsofos de linguagem que mais se destacam atualmente, como, por exemplo, GRICE (1979) e SEARLE (1983), partimos, em nossa anlise, da idia principal destes pensadores, que afirma que a lngua representa, em primeiro lugar, um meio para influenciar os outros. No negamos as outras funes, que a nossa lngua elaborada, sem dvida, tambm exerce (transferir idias, coordenar caas coletivas, etc.), mas trata-se nisso de funes que so derivadas da funo principal, que influenciar os outros. Para que comunicamos, por exemplo, uma idia para um receptor? Para influenci-lo, para modificar ou fortalecer as suas prprias opinies. O que significa ter uma explicao funcionalista? A funo de uma coisa encontra-se na sua contribuio para o funcionamento de um sistema superior, ao qual ela presta seu servio. O relgio est s ordens do homem. O ponteiro est s ordens do relgio. A explicao funcionalista de uma coisa explica porque esta coisa existe, porque ela ainda existe ou por que ela no existe mais. ULLMANN-MARGALIT (1978: 279) descreve a formula geral de uma funo assim: A funo de um (X) num sistema (S) (F) Isto significa: O sistema (S) tem a tarefa , respectivamente o objetivo (O) e realizar a funo (F) atravs de (X) um elemento essencial da explicao do objetivo (O). Vamos preencher este esquema num exemplo: X: os rins S : o organismo humano O: sobreviver F: filtrar o sangue
61
A discusso e a literatura sobre o problema da origem da lngua j foram to amplas e debatidas, que a Societ de Linguistique de Paris proibiu em 1865, no ano da sua fundao, qualquer palestra sobre est e assunto. A Philological Society of London seguiu este exemplo em 1873 e seu ento presidente Alexander J. Ellis exigiu: We have to investigate what is! Nem por isso, nossa viso do assunto bem menos polemico. Eis alguns das obras mais interessantes sobre este assunto: LEIBNITZ (1710/1983), CONILLAC (1746/1977), HERDER (1772/1978), ROUSSEAU (1781/1981), HUMBOLDT (1836/1994), SCHELLING (1850/ 1959), STEINTHAL (1851), GRIMM (1851/1854).
45
A funo (F) dos rins no organismo humano (S) a filtrao do sangue. Esta frase significa, conforme nossa esquema: O organismo humano (S) tem o objetivo (O) de sobreviver e a filtrao do sangue (F) pelos rins (X) um elemento essencial da explicao como ele sobrevive (O). Se ns queremos compreender a funo da lngua ou dos elementos da lngua temos que substituir as variveis (S), (O) e (F) pelos termos adequados: X: a lngua S: o homem O: o sucesso social F: a influncia O homem (S) tem o objetivo (O) de ter sucesso social, e a influncia (F) atravs da lngua (X) um elemento essencial da explicao do sucesso social (O). Consideramos a alternativa para esta formula menos concludente: X: a lngua S: a sociedade O: a comunicao F: a troca de idias A sociedade (S) tem o objetivo (O) de comunicar, e a troca de idias (F) atravs da lngua (X) um elemento essencial da explicao da comunicao (O). H duas razes pelas quais esta explicao menos concludente. Primeiro, a substituio de homem por sociedade provoca um novo problema: O que significa dizer que um coletivo tem objetivos, se isto no significa que os indivduos deste coletivo tm os mesmos objetivos. difcil explicar como o costume de falar pde se estabelecer, se a comunicao traz vantagens para a sociedade sem ter vantagens para os indivduos. obvio, conceitos coletivos tm que ser redutveis a conceitos individuais, se eles querem alegar ter valor explicativo, mas, neste caso, no precisamos substituir o termo homem pela palavra sociedade. Segundo, a troca de idias, de fato, representa um elemento essencial para a explicao da comunicao, mas se a hiptese que fazer comunicao significa influenciar algum a fim de que esse faa alguma coisa e, ao mesmo tempo, influencialo de tal maneira que ele perceba esta inteno de atuar sobre seu comportamento correta, ento podemos concluir que a comunicao representa um tipo especial de influncia62 e a troca de idias, por sua vez, representa uma forma particular de como esta influncia se d a perceber. Neste caso, a anlise funcional da segunda variao do nosso esquema representa apenas uma argumentao circular, porque o conceito troca de idias j implcito definio do termo comunicao como um jogo de influncias. Pressuposto que isto certo, a nossa segunda frmula transforma-se em uma mera banalidade assim que ns substitumos sociedade por homem (por razes j mencionadas em cima): O homem quer comunicar e a lngua lhe serve para isso.
62
Chama-se manipulao, a influncia que no se d a perceber.
46
Isto, sem dvida certo, pois como a funo de um produto de limpeza limpar, pelo mesmo sentido trivial, a funo de um meio de comunicao comunicar. J mencionamos anteriormente que a funo de uma coisa encontra-se na sua contribuio para o funcionamento de um sistema s u p e r i o r; e no na sua contribuio para o prprio funcionamento. Isto significa que ns temos que procurar uma resposta para a questo para que a comunicao serve ao homem. Nossa proposta que a comunicao serve para alcanar o sucesso social, pois, a comunicao um jogo com vrios motivos; um jogo que persegue vrios objetivos ao mesmo tempo, que servem todos para influenciar os outros. Como a explicao atravs da mo invisvel analisa este jogo complexo? Ela mostra qual a funo particular que provoca a mudana. Observamos mais uma vez nosso exemplo do uso pejorativo das palavras para mulheres. Nossa explicao no captulo 7 mostrou que a palavra Senhora no empregada apenas para referir-se a mulheres, mas para jogar o jogo de galantaria; isto no significa apenas ser gentil e respeitoso num sentido geral, mas, ainda hoje, ser galante e corts no sentido da sociedade cortes. E exatamente esta funo provoca a depreciao. Este fato nos leva noo que h funes de uso da lngua que so, por assim dizer, autodestrutivas. Tudo que pretende ser original pertence a esta classe. Galantaria um jogo onde originalidade trunfo. Mas se todo mundo faz a mesma escolha original, ento a originalidade, aos poucos, transforma-se em normalidade e, por conseguinte, inadequada para realizar a sua funo. Encontramos aqui, tambm, uma das razes porque a maioria das grias tem uma vida muito breve. Os adolescentes, por exemplo, querem chamar a ateno pelo uso de expresses originais. Mas assim que certas grias tornam-se moda e ocorrem sem cessar elas perdem seu carter original e, provavelmente, desaparecem de novo. Claro que isto apenas um motivo porque os falantes sentem-se estimulados a modificar ou conservar as suas preferncias de expresso. Os mesmos adolescentes que querem ser originais tambm querem mostrar que pertencem a um certo grupo social. Por conseguinte, eles vo adquirir um lxico de grias que prova a sua qualidade de ser integrante da tribo com um certo cdigo cultural que distingue-os dos alheios. Alguns itens deste vocabulrio funcionam como palavraschaves, sobrevivem talvez uma gerao ou mais, penetram, s vezes, o vocabulrio de outros grupos sociais e entram finalmente no dicionrio de uma lngua. As mudanas ou conservaes lingsticas, deste modo, ocorrem no entrecruzamento de diversos motivos e saber porqu um fenmeno lingstico est mudando ou conservando-se significa saber para que ele est sendo usado, quer dizer, conhecer aquela funo no jogo comunicativo que garante a conservao ou provocou a modificao da expresso. 11. AS MXIMAS DO COMPORTAMENTO LINGSTICO
O quadro (2) na pgina seguinte representa simbolicamente a estrutura de uma explicao atravs da mo invisvel. Podemos ver, neste desenho, quais so os fatores que tm um papel na explicao da mudana ou da conservao de um fenmeno lingstico. Uma explicao completa tem que tomar todos estes elementos em considerao. Ao lado esquerdo da caixa retangular, encontramos o nvel microscpico, ao lado direito, o nvel macroscpico. O nvel microscpico representa o nvel das aes dos participantes individuais, inclusive das condies relevantes que determinam o seu comportamento; o nvel macroscpico representa o nvel da lngua no seu sentido
47
hiposttico. A caixa retangular simboliza o processo cumulativo que forma a ponte entre os processos microscpico e macroscpico. Explicamos, primeiramente, o lado esquerdo do nosso modelo: Se muitas pessoas fazem quaisquer coisas dispares, no crescer provavelmente nenhum fenmeno interessante; ou pelo menos nenhum processo de mo invisvel, porque estes nascem apenas quando muitas pessoas agem, sob diversos aspectos, de maneira semelhante; ou, em outras palavras: quando as aes de muitas pessoas mostram, pelo menos em um aspecto, uma semelhana relevante. Mil pessoas com dez mil intenes podem andar do ponto A para o ponto B. Mas uma vereda crescer apenas se suas aes se assemelham pelo menos em um aspecto: Eles tm que fazer o melhor possvel para economizar energia. De todos os motivos, razes ou intenes do seu comportamento, apenas um relevante para a explicao da vereda: a estratgia de escolher o caminho mais curto. Quadro (2): A estrutura de uma explicao atravs da mo invisvel
Aes Processo de mo invisvel Condies ecolgicas intencionais causais Conseqncias
Explanandum
O fato que as aes tm que se assemelhar pelo menos em um aspecto representa uma condio prvia imprescindvel para a gerao de um processo de mo invisvel, mas a mera realizao desta condio prvia no suficiente para garantir a gerao de um processo de mo invisvel, porque, alm do mais, possvel que haja semelhanas irrelevantes, quer dizer, semelhanas que no deixam vestgios. Seguindo o exemplo de GRICE (1979), exprimimos o aspecto da semelhana relevante entre as aes atravs da apresentao de mximas que ns chamamos de mximas de ao. Uma mxima de ao representa uma tendncia ou uma estratgia consciente ou inconsciente de agir de uma certa maneira. Sua exigncia manifesta-se da melhor maneira possvel numa orao imperativa. Esta orao imperativa deve ser escolhida de tal maneira que o comportamento em questo aparentemente satisfaa o pedido. Ande do ponto A para o ponto B de tal maneira que o percurso escolhido seja o mais curto possvel! Isto uma redao adequada para uma mxima que possibilita e explica a gerao de uma vereda na grama. A maneira como se redige estas mximas de ao no diz nada sobre a questo como as semelhanas relevantes para a respectiva ao, de fato, foram motivadas. A tendncia de andar do ponto A para o ponto B, em conformidade com o princpio de gastar o mnimo de energia, pode ser uma conseqncia da nossa constituio biolgica, de consideraes racionais ou de comportamentos adquiridos pelo meio cultural.
48
As trs setas em nosso desenho que apontam para a caixa retangular simbolizam as aes relevantes que obedecem a uma ou vrias destas mximas de ao. Claro que nem todos os membros de uma comunidade precisam necessariamente contribuir para a gerao do fenmeno em questo. O nmero necessrio de participantes ativos e a sua dimenso real depende, na verdade, de muitos fatores, como, por exemplo, do tipo de fenmeno que est em questo, ou dos critrios que ns resumimos, em nosso modelo, sob o termo condies ecolgicas. Os fatores ecolgicos que influenciam uma escolha lingstica so, em parte, de natureza lingstica, e, em outra parte, de natureza extralingstica. Os fatores lingsticos referem-se competncia individual do falante, inclusive sua antecipao da competncia individual do seu parceiro de comunicao. (A competncia real do receptor no pertence aos fatores que influenciam as aes do falante, porque ela no lhe acessvel.) As hipteses do falante sobre a competncia do ouvinte fazem parte da competncia do falante. Aos fatores extra-lingsticos pertencem, entre outros, a realidade social, o mundo material e, provavelmente, dados biolgicos. Uma distino rgida entre fatores lingsticos e extra-lingsticos difcil, porque os fatores sociais e biolgicos podem ter influncias diretas na competncia lingstica. A lingstica histrica tradicional, geralmente, resumia todos estes fatores ecolgicos sob o termo causas da mudana lingstica; e ela, de fato, tambm j distingiu entre causas lingsticas e extra-lingsticas. Nosso quadro (2) ento, esclarece o verdadeiro papel que estas causas tm num processo de mo invisvel. Um fenmeno de terceiro tipo pode ser planejado. Sob certas circunstncias, possvel planejar um processo de mo invisvel. Conhecemos este fenmeno pelo planejamento da economia nacional: quem quer diminuir a fuga do capital estrangeiro pode aumentar os juros, mas os investidores que voltam a aplicar o seu capital no Brasil no fazem isto, porque eles querem ajudar o governo a controlar a fuga de capital. Isto significa, claramente, que a volta do capital ao pas no representa um fenmeno intencional. Todavia o governo que aumentou os juros fez isto com o propsito de mudar as condies econmicas no pas de tal maneira que os investidores estrangeiros, querendo ou no, fazem coisas que ajudam a controlar a fuga do capital. As mudanas lingsticas, conseqentemente, tambm podem ser planejadas, sem ser intencionais. Um exemplo para uma poltica lingstica que age em analogia quela da economia do mercado financeiro, pode funcionar mais ou menos assim: Se os brasileiros homossexuais comeassem chamar-se conscientemente de veados eles fariam uma poltica lingstica que teria como objetivo, tirar desta palavra a sua funo discriminante, pois, ao usar a palavra veado como nome prprio ou nome de um minoria que se caracteriza por uma preferncia sexual diferente, os veados brasileiros roubariam dos outros um dos seus palavres preferidos. Claro que os negligentes, intolerantes e racistas da maioria dominante que no poderiam mais usar a palavra veado no seu sentido pejorativo no teriam a inteno de mudar o significado da palavra ao omiti-la, mas, de fato, eles provocariam, aos poucos, exatamente isto; porque um nome que o injuriado usa para a prpria denominao no serve mais para os objetivos discriminantes dos ofensores. A veracidade deste pensamento j foi provado pelos homossexuais dos Estados Unidos ou da Alemanha que comearam, nos anos 60, chamar-se pelos antigos palavres gay ou Schwuler, expresses, que hoje os veados destes pases usam com orgulho porque elas mudaram o sentido e simbolizam uma pequena vitoria na luta do seu movimento poltico pela igualdade dos homossexuais.
49
Tais fenmenos mostram que nem mesmo um planejamento lingstico do Ministrio de Educao poderia anular o mecanismo de mo invisvel. Qualquer medida oficial tambm representaria apenas um fator (provavelmente, muito efetivo) da ecologia das aes dos falantes, quer dizer, um fator que pertence ao crculo esquerdo do nosso modelo. Afirmamos mais uma vez, que no h nada, nem uma qualidade estrutural, nem uma fora exterior, que tenha um efeito direto sobre a lngua. Cada processo lingstico tem que fazer a marcha comprida pelas aes dos indivduos e ele tem que ser explicado atravs deste caminho. Por isso, COSERIU (1958/1974: 169) escreve: No h nenhum tipo de fora exterior que pode ter influncia sobre a lngua sem trespassar pela liberdade e inteligncia dos falantes. Uma mxima de ao uma funo que representa um conjunto de condies ecolgicas que agem num espao de ao. A mxima define qual ser a ao escolhida entre uma feixe de aes que sero virtualmente possveis sob dadas condies. Observamos, mais uma vez, nosso exemplo do desaparecimento de saga2, no sentido de bruxa, a partir dos princpios do sculo XX. Tentamos explicar este desaparecimento seguindo as diversas fases do nosso quadro (2). I. As condies ecolgicas que influenciam a escolha lingstica dos falantes da poca so: a) o tamanho do conjunto de fenmenos que podem ser designados com saga1 e o do conjunto de fenmenos que podem ser designados com saga2 foram mais ou menos iguais. b) Saga1 e saga2 foram homnimos. c) No comeo do sculo XX cresceu a popularidade das narrativas lendrias atravs da msica popular; fato que aumentou a freqncia da palavras saga1. d) Apesar de tratar-se de uma forma erudita, a palavra saga2 ganhou, ao mesmo tempo, mais ateno, porque os antigos contos de fada e a cultura romana ganharam um importante papel na educao. e) Os pontos c) e d) juntos fizeram de um possvel conflito de homnimos um caso virulento. f) A lngua portuguesa dispe de recursos lexicais que podem substituir saga2 por palavras com um sentido quase sinnimo, mas no homonmico, como, por exemplo, bruxa ou feiticeira. g) O ponto f) no vale analogamente para saga1. h) Quem quis evitar um mal-entendido, por causa de b) ate e), pde dispor, por causa de f) e g), de expresses alternativas para saga2, mas no para saga1. i) Em conseqncia de a), as chances para um mal-entendido so quase iguais para ambas as expresses, mas para saga2 houve alternativas das quais saga1 no disps. II. Eis as mximas que provocaram o desaparecimento de saga2 sob as condies descritas em a) at i): (i) M1: Fale de uma maneira que seja quase impossvel algum entender errado.
50
(ii) (iii)
M2: Fale de uma maneira que todo mundo compreenda-lhe. Nos casos de M1 e M2, no se trata de equivalentes, porque um malentendido no representa o contrrio de compreendido. Vamos ver ainda, que as duas mximas fazem diferentes contribuies ao processo de mo invisvel.
III.
O processo de mo invisvel, provocado pela omisso da palavra saga2, relativamente simples. Sendo uma palavra erudita, a sua freqncia sempre foi mais baixa do que a de saga1. Por causa do uso cada vez mais raro da palavra saga2, estes falantes que ainda a conheciam esqueceram dela aos poucos. Os falantes da prxima gerao nem a aprenderam mais. Desta maneira nasceu um efeito de realimentao positiva: quanto menos pessoas tiveram a palavra saga2 no seu lxico, tanto menos poderam empreg-la. Deste modo, juntou-se quela tendncia de evitar a palavra ainda uma incapacidade de empreg-la. A partir da, mudaram-se as condies ecolgicas para aqueles falantes que ainda dispunham da palavra. Agora eles comearam a evita-la mesmo em contextos onde no havia o perigo de serem mal entendidos, simplesmente porque a baixa freqncia e distribuio diminuiu a chance de ser bem entendido. O explanandum da nossa anlise representa a conseqncia causal deste processo: a palavra saga2 desapareceu do portugus do Brasil. As leis que provocaram este fenmeno so bastante elementares: L1: Palavras que so usadas raramente raramente so aprendidas. L2: Se um receptor no conhece o significado de uma palavra, diminui a sua chance de entender o que o falante quis dizer ao empreg-la.
IV
12.
ESTASE E DINMICA NAS LNGUAS NATURAIS
Para afirmar a respeito de uma coisa que ela mudou, alguns dos seus elementos tiveram que ficar estveis. Caso contrrio, fica difcil garantir que a identidade do objeto que mudou ainda a mesma. Eu ainda uso a mesma vassoura como h dez anos; apenas uma vez eu tive que trocar o pau e uma vez eu montei uma escova nova l em baixo. Esta afirmao no completamente absurda; ainda que o estado atual da vassoura tenha com seu estado inicial nada mais em comum do que duas vassouras diferentes. Se ns trocssemos simultaneamente o pau e a escova originais por outro pau e outra escova, ento no poderamos falar da mesma vassoura; nem se as duas peas fossem as mesmas que ns trocamos um depois do outro. Esta observao trata dos nossos critrios para a identidade num processo diacrnico. Para poder falar de mudana numa maneira que faz sentido, temos que pressupor tambm a estabilidade. LDTKE (1980: 4) chama este tipo de identidade diacrnica, a continuidade em escalonamento. H diferentes tipos de mximas de aes que geram a estase e a dinmica numa lngua. H mximas que geram homogeneidade quando o estado inicial heterogneo e estase quando o estado inicial homogneo. Por exemplo, a mxima, Fale de uma maneira que o pblico lhe entenda!, pertence a esta classe.
51
Fazer comunicao significa, entre outras coisas, que os participantes, geralmente, querem ser entendidos, mas se o desejo de ser compreendido gera estase e homogeneidade, por que o fenmeno da mudana ainda existe? Se a lngua representasse um organismo sistemtico (...) com o objetivo de facilitar a comunicao entre a comunidade de falantes, ento poderamos esperar que ela fosse estvel como um sistema que cumpre a sua funo adequadamente, mas o que acontece o contrrio: o sistema muda. (ALARCO-LIORACH 1968: 117). Ao contrrio de COSERIU (1958/1979), onde ns achamos esta citao, achamos que esta concluso correta. O erro, ao nosso ver, encontra-se em uma das duas premissas, nomeadamente naquela que afirma que seu objetivo facilitar a comunicao. A lngua tem muitos objetivos, e se ns queremos salientar um, ento salientemos este de influenciar os outros; pois a comunicao est a servio deste objetivo principal. LASS (1980: 136) escreve: If language is many things other than a communication system, including a form of play, then change can occur, presumably, for reasons totally unconnected with communicative function`. Em nossa linguagem corrente, a expresso comunicar muitas vezes equiparada com dizer alguma coisa e, deste modo, achar alguma coisa. O que ns comunicamos, conseqentemente, exatamente o que ns achamos. Achar, conforme Herbert Paul Grice, significa ter a inteno de deixar algum reconhecer alguma coisa. Deste modo, o outro entendeu justamente o que ns achamos, se ele reconheceu exatamente isto, que, conforme nossa inteno, ns deixamo-lo reconhecer. Em outras palavras: Compreender significa reconhecer as intenes abertas. Neste sentido, comunicar significa ter a inteno de deixar algum abertamente compreender alguma coisa. Afirmamos, neste contexto, que conceitos liberais de comunicao que chegam a concluso final que para o ser humano impossvel no comunicar63 so indiferenciados demais para serem chamados resultados de anlises lingsticas. Como ns queremos, geralmente, realizar vrias intenes em cada ao comunicativa, h tambm vrios graus de incompreenso. Se compreender significa conhecer todas as intenes abertas de um falante, ento encontramos o oposto contraditrio de compreender na expresso no reconhecer todas as intenes abertas, quer dizer: compreender parcialmente. No compreender, conseqentemente, significa no reconhecer nenhuma inteno aberta. Um malentendido acontece quando o receptor atribui ao emissor intenes que ele no teve; quer dizer, quando ele compreendeu uma coisa que o falante no quis dizer. Conforme esta anlise, possvel, ento, que ns compreendamos e mal entendamos algum ao mesmo tempo; nomeadamente, na situao, na qual ns reconhecemos todas as intenes abertas de um falante e, alm disso, ainda pressupomos intenes que ele no teve. Por isso, provavelmente, melhor dizer que o receptor compreendeu o emissor quando ele reconheceu todas as intenes do falante e quando ele no lhe atribui intenes que ele no teve. Neste caso, o oposto contraditrio de compreender compreender parcialmente ou mal compreender. Se ns observamos o espectro de possibilidades que existe entre no compreender nada, compreender parcialmente e compreender completamente, junto com as possibilidades de um mal-entendido total ou parcial, ento comeamos a compreender que tudo isto j muito complexo. Mas as coisas ainda pioram: Pois, quando ns comunicamos, na verdade, ns no comunicamos todas as intenes que ns temos; ao contrrio, h algumas intenes, as quais ns esperamos justamente que o
63
vide: WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON (1967/1972)
52
receptor no as reconhea. E, alm disso, h outras intenes as quais ns queremos que o receptor as reconhea; mas ns no queremos que o receptor reconhea que ns quisemos que ele as reconhecesse. Se ns dizemos para uma Senhora: Hoje a Senhora est to bonita., ento ns queremos, geralmente, que ela reconhea que ns achamos que ele est muito bonita hoje. Talvez ns at tenhamos a inteno que ela compartilhe conosco esta nossa opinio sobre ela, mas se ns temos, alm disso, a inteno de granjear as suas simpatias, ento ns justamente no queremos que ela reconhece esta segunda inteno, porque esta inteno se realiza bem apenas se fica desconhecida. Isto um exemplo para uma inteno que a comunicao pode ter sem comunica-la. Analisemos um caso mais complexo. Quando as crianas pequenas querem gabar-se, elas fazem isto, geralmente, de forma direta: Meu pai tem um Mercedes, ou Meu pai ganha muito dinheiro. Mas quando os adultos querem gabar-se com sua vida luxuosa, eles tm que fazer isto bem discretamente, se eles querem ter o mesmo sucesso social; por exemplo: A oficina da Mercedes muito atenciosa em Fortaleza., ou Estamos numa progresso de imposto to cruel que nem vale mais a pena ganhar um dinheiro extra. Se ns falamos assim, geralmente, temos a inteno que o receptor reconhea que nos somos donos de um Mercedes ou ganhamos muito dinheiro, mas, ao mesmo tempo, no temos a inteno que o receptor perceba que ns queremos exatamente comunic-lo esta mensagem, porque falar sobre a prpria fortuna muito indiscreto impedir, portanto, a realizao da nossa inteno de impressionar os ouvintes. Isto significa, que ns temos que distinguir entre intenes abertas e intenes ocultas, ou entre o sentido de uma expresso e o sentido comunicado da mesma expresso. O sentido de uma expresso, consequentemente, o conjunto de todas as intenes que o falante persegue ao comunica-la; enquanto o sentido comunicado de uma expresso abrange o conjunto parcial das intenes abertas. Acontece, no raramente, que a inteno que mais nos estimulou a proferir uma expresso exatamente esta que ns no queremos comunicar, quer dizer, que no deve ser compreendida. A comunicao, ento, no o objetivo da lngua, mas, na melhor das hipteses, um objetivo (importante) entre outros. Se a comunicao fosse o nico objetivo da lngua, poderamos mais cedo esperar a estase do que a mudana (o que, de fato, Alarcos Liorach observou com razo). Vamos, em seguida, justificar esta hiptese. Como j notamos, comunicar significa mostrar as suas intenes atravs de uma certa maneira; e compreender significa reconhecer estas intenes. A mxima (i) (ii) (iii) Fale de uma maneira que os outros lhe entendam! Fale de uma maneira que os outros possam reconhecer as suas intenes. Mostre as suas intenes de uma maneira, que os outros possam reconhec-las. significa ento, respectivamente,
O que ns podemos fazer para mostrar aos outros a s nossas intenes? Podemos torcer para que eles as adivinhem, mas isto no representasse um mtodo muito promissor. Se duas pessoas querem encontrar-se e nenhum delas tem a possibilidade de marcar um
53
compromisso, ento no seria muito lgico esperar que o acaso ajudasse. Se ns queremos deixar os outros reconhecer as nossas intenes, e os outros tambm querem reconhec-las, encontramo-nos numa situao semelhante. O acaso no excludo, mas esperar que ele ajude seria irracional. O problema que ns encontramos aqui um problema clssico de coordenao. Problemas de coordenao apenas podem ser resolvidos com xito, se h um sistema harmonioso de expectativas correspondentes. (LEWIS 1969: 24). O nico mtodo racional para encontrar algum sob as condies descritas acima e com uma chance maior do que aquela do mero acaso encontra-se na tentativa de ir quele lugar, ao qual ns esperamos que os outros tambm vo quando eles querem nos encontrar. Em outras palavras: Ns vamos para onde ns achamos que os outros vo64 (quando eles querem nos encontrar). E para onde vo os outros? Se eles agirem racionalmente, eles vo para onde eles acham que ns iramos (quando ns queremos encontr-los). Nossa estratgia ento deve ser: Ns vamos para onde ns achamos que os outros vo, se eles fossem em nosso lugar. Isto a estratgia que ns devemos escolher se ns queremos encontrar algum sem poder marcar um compromisso. Parece que HUMBOLDT (1836/1907: 47) concluiu que tal estratgia (mutatis mutandis) mantm um papel central na comunicao. Como uma fora espiritual que tem como objetivo a compreenso, ele descreve esta mxima assim: Ningum deve falar com o outro de maneira diferente do que este falaria com ele. Esta a estratgia a qual ns devemos corresponder, se ns queremos ser compreendidos. Vamos cham-la de Mxima de Humboldt. Se o nico objetivo da nossa fala seria ser compreendidos, a nossa mxima de comunicao deveria ser: Fale assim, como voc acha que o outro falaria se ele estivesse no seu lugar! Nossa hiptese, ento, que esta mxima trata-se, na verdade, de uma verso pouco modificada da Mxima de Humboldt gera homogeneidade, se o estado inicial foi heterogneo, e estase, se o estado inicial foi homogneo. Como isto possvel? Se os outros falariam conosco da mesma maneira como ns falamos com eles e se nos falaramos com eles da mesma maneira como eles falam conosco, ento ns simplesmente trocaramos as nossas maneiras de falar. Como, deste modo, poderiam se estabelecer a estase ou a homogeneidade? A Mxima de Humboldt funciona de maneira mais sutil: Como ns sabemos como os outros falariam se eles estivessem em nosso lugar? Porque ns nos lembramos de oportunidades quando eles falaram conosco, mas nestas ocasies eles obedeceram Mxima de Humboldt. Provavelmente, eles falaram conosco assim, como eles acharam que ns falaramos, se ns estivssemos no lugar deles. Se ns tentssemos falar com os outros como eles falariam conosco sob as mesmas condies, imitaramos, na verdade, a maneira como os outros falariam quando eles tentassem falar como nos quando nos tentssemos falar com eles como eles falariam conosco.... Deste modo, acontece uma assimilao contnua das nossas competncias e uma estabilizao assim que a assimilao se realizou amplamente.
64
Pedimos desculpa para a sintaxe coloquial que serve perfeitamente para o objetivo em questo.
54
Supomos que isto representa uma das mximas mais fundamentais da nossa comunicao. Trata-se da estratgia de ser compreendido. Esta estratgia to fundamental que, as vezes, ns a correspondemos, mesmo quando no faz sentido que ajamos conforme suas regras. Por exemplo, na situao de ensinar e aprender, quando o falante deveria ser um ideal para o aprendiz que quer melhorar sua competncia. Mas graas ao fato que ns interiorizamos a Mxima de Humboldt completamente, ns temos a tendncia de falar com crianas pequenas como crianas pequenas, ou com estrangeiros num portugus rudimentar. A lingstica Anglo-sax chama estes fenmenos de baby-talk ou foreigner-talk. Qualquer outra estratgia de assimilao tambm tem efeitos estabilizadores ou homogeneizadores; como a comunicao com base nas mximas: Fale assim que voc pode ser reconhecido como membro do grupo!, ou Fale assim que voc no chama demais a ateno!. Trata-se, nisso, de variaes da mxima Fale como os outros! (Claro que os outros tambm podem ser uma minoria!). O lingista francs LEVIN (1988) simulou com a ajuda de um programa de computador a mxima Fale como os outros no seu ambiente! Ele conseguiu provar que tal mxima capaz de gerar estruturas surpreendentes. Levin se props a simular a distribuio, respectivamente a divulgao de variaes lingsticas numa dada rea. Como rea ele escolheu uma grade quadrado com um comprimento de 55 por 55 campos. A cada campo se atribui um certo valor, por exemplo, preto ou branco. A distribuio dos valores na rea total efetua-se conforme o princpio do acaso. A distribuio inicial desta rea lingstica encontrase no quadro (3) na pgina seguinte. Em seguida, desenvolveu-se um programa de computador65 que simula uma certa interao entre as duas variaes. Cada campo pode conservar o seu valor ou muda-lo, dependendo dos valores que os campos vizinhos mantm. Cada campo, que no se encontra na margem da rea, tem 8 campos vizinhos (se ns contamos tambm os vizinhos na diagonal). O programa deve simular mais ou menos a mxima talk like the people around you!. Cada campo tem uma determinada chance de manter sua cor ou de troca-la. A deciso depender apenas do fato, quantos dos 8 campos vizinhos so pretos, respectivamente brancos. Um campo que cercado de 8 campos da mesma cor, na prxima iterao do programa, pode apenas conservar a sua cor original. Um campo que cercado de 8 campos da respectiva cor complementar ter que mudar sua cor na prxima rodada. Um campo branco que cercado de 4 campos brancos e 4 campos pretos ter, conforme a funo do algoritmo, uma chance de 51 % de ficar branco. O resultado surpreendente. J depois de, relativamente, poucas iteraes cresce uma estrutura que lembra notavelmente um mapa de isoglossas (vide: pg. 92). O segundo quadro na pgina 90 mostra o resultado depois 20 iteraes. Esta estrutura se arredonda depois das iteraes seguintes ainda mais; mas logo ela mostra-se estvel
65
Trata-se de um programa chamado autmato celular.
55
(vide: pg. 90 92). Mesmo depois 10.000 iteraes a estrutura ainda ficou neste estado estvel. Claro que tal modelo est longe de representar um modelo realista das mudanas lingsticas. Although my students became convinced that the grig was a territory, the squares villages, or individual speakers, and the two variants real language variants, I knew better, escreve LEVIN (1988: 6seg.), I regard this is only a very primitive and abstract preliminary model that hopefully mimics linguistic inter-actions.66 No obstante, o modelo discutido tem implicaes para os aspectos da teoria de mudanas lingsticas que ns discutimos aqui. Ele mostra que a mxima em questo capaz de gerar uma estrutura com reas homogneas a partir de uma distribuio aleatria inicial; e ele mostra que esta estrutura homognea fica estvel. Alm disso, o modelo mostra que possivel, que language change (...) may (...) be understandable on a grand scale as a kind of dynamic pattern emerging from simple and understandable interactive principles. (ibid.: loc. cit.). Princpios interativos, quer dizer, mximas que geram homogeneidade e estase, chamamos mximas estticas. Em analogia a isso, vamos chamar as mximas que geram dinmica mximas dinmicas. Pertencem a este grupo as seguintes mximas: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Fale assim que voc chama a ateno! Fale assim que voc no pode ser reconhecido como um membro do grupo! Fale de maneira engraada, divertida. Fale de maneira charmosa, gentil, lisonjeira. Fale assim que voc no gasta energia sem necessidade! (o ilustre princpio da economia!)
Trata-se nas mximas (i) a (iv) de regras que se referem ao lucro. A mxima (v) referese aos custos. Supomos que existem, pelo menos, estes dois tipos de mximas; mas no queremos excluir a possibilidade que h uma outra tipologia alm desta, conforme os efeitos macroscpicos, uma classificao que talvez seja mais adequada aos fenmenos observados. Deste modo, a mxima da compreenso, por exemplo, no pode ser atribuda inequivocamente a um dos dois tipos de mximas. O desejo de ser compreendido, por um lado, responsvel pela consistncia da nossa lngua e pelo fato, que a lngua tende a expandir-se, quando as reas de comunicao se expandem; por outro lado, esta mxima tambm responsvel pelo fenmeno que certas palavras desaparecem do nosso lxico, como ns vimos no exemplo da saga. Em conexo com outras mximas, a mxima de compreenso at co-responsvel por um certo tipo de mudana permanente que o lingista alemo Helmut Ldtke resumiu no seu ilustre Lei da Mudana Lingstica que rene os princpios da redundncia, da economia e da fuso. A explicao desta lei universal, porm, no cabe a este captulo. Geralmente, ns no escolhemos nossos recursos lingsticos apenas com base em uma mxima. Ao falar, ns tentamos pelo menos matar dois coelhos de uma s cajadada: assimilar-se, chamar a ateno, ser compreendido, economizar energia, etc. O
66
No seu ensaio Models of Segregation (1969), T.C. Schelling tentou explicar a formao de um gueto com um modelo semelhante. obvio, que, por exemplo, a mxima dos inquilinos Se mude quando voc pertence a uma minoria na sua vizinhana! gera distribuies semelhantes. ULLMANN MARGALIT (1978) cita o modelo de Schelling como exemplo para uma explicao atravs da mo invisvel.
56
caso que algum quer nada mais do que simplesmente ser entendido raramente acontece, mas caso sim, o falante deve recorrer a recursos tradicionais; pois a cada inovao corre o risco de ser mal-entendido. Quem quer ser compreendido deve agir conforme as expectativas dos receptores. O novo, ao contrrio disso, representa necessariamente o menos esperado. Quem corre perigo de afogar-se, deve gritar alta e claramente a palavra Socorro! No faz sentido, nesta situao, de ser criativo ou de economizar energia na articulao. H mximas, tambm, que entram em conflito uma com a outra; elas se contradizem. Ainda assim, quem quer corresponder a ambas ao mesmo tempo deve fazer compromissos. Isto, tambm, mais cedo uma regra do que uma exceo. Chamar a ateno, mas ainda querer ser compreendido; isto um caso tpico destes conflitos de intenes. A fala, neste ponto de vista, um jogo entre assimilao e separao, entre ortodoxia e inovao. Nesta situao encontra-se, muitas vezes, a gerao dos adolescentes. Eles tm que falar eternamente sobre coisas, como a msi ca, a escola, o namoro, o esporte, a moda, etc. com um pblico que ou de verdade desinteressado, como muitos adultos, ou que se dar ares de ser desinteressado, como os outros jovens (que chamam esta atitude, hoje em dia, de ficar frio ou ficar cool). Com este pblico, um adolescente, ento, deve falar de um lado, de uma maneira que chama a ateno e mostra criatividade e graa, e do outro lado, de uma maneira que rpida e facilmente entendida pelos membros do seu grupo e que prova que ele iniciado nos ritos lingsticos da sua gerao. Processos de mudanas evolucionrias podemos especialmente esperar em situaes onde os indivduos so expostos a escassez, pois escassez significa intensificao da seleo. Na natureza viva encontramos processos de seleo especialmente onde h escassez de espao, tempo, energia (luz ou alimentos) ou parceiros sexuais. Ser que, em analogia aos processos biolgicos, ns somos tambm expostos escassez nesta parte da vida que ns vencemos com a ajuda da nossa lngua? Sim, mas com uma diferena importante: Os tipos de escassez que ns enfrentamos como participantes da comunicao no tem apenas efeitos seletivos; eles aumentam, apesar disso, o quota das variaes, pois a variao, na rea da cultura, no depende do acaso como na rea da natureza. Ela nasce pela criatividade humana que antecipa a seleo. A necessidade, como se sabe, estimula a imaginao. Como participantes da comunicao ns tempos contar com escassez de ouvintes ou leitores atenciosos, escassez de possibilidades de publicar (no sentido mais amplo), escassez de tempo e energia pelo lado do falante, escassez de simpatia, pacincia, dedicao pelo lado dos receptores, escassez de prestgio social, de amigos, de fregueses, clientes, eleitores, admiradores, etc. Todos ns dispomos de estratgias que fazem parte da nossa competncia lingstica e comunicativa; estratgias que so mais ou menos adequadas para ns nos sairmos bem em nossas aes comunicativas. Agir sempre significa transformar um estado relativamente menos desejvel em um estado relativamente mais desejvel. Isto vale tambm para as aes comunicativas. A hipermxima da nossa comunicao, ento, : Fale assim que voc ser socialmente bem sucedido! Mas o que vale como sucesso social sempre depende do caso particular, da situao especial e do indivduo, do grupo ou do receptor em questo. A hipermxima deve ser
57
interpretada no seu sentido trivial. Ela no implica quaisquer caractersticas substanciais do sucesso social. Ela apenas uma abreviatura para a outra mxima (tambm trivial), que diz: Fale assim que voc realiza os objetivos da sua ao comunicativa o mais cedo possvel! Os objetivos comunicativos podem ser: enganar algum, consolar uma criana, conquistar um pblico, convencer algum, vender um carro, dar ares de ser inteligente, fazer algum rir, conhecer uma mulher, aparecer como um pessoa calada, ser Antiptico, etc.; geralmente um dos objetivos principais ou secundrios ser compreendido. Podemos desdobrar a hipermxima em vrias mximas secundrias, que, por sua vez, podem ser classificadas em mximas dinmicas e estticas. A mxima de economia Fale assim que voc no gasta mais energia do que necessrio para realizar o seu objetivo! provavelmente mantm um papel especial. Trata-se, sem dvida, de uma das mximas mais dinmicas; mas ela no se refere principalmente realizao do objetivo, mas aos custos desta realizao. Por isso, talvez devamos modificar a nossa hipermxima de maneira seguinte: Fale assim que voc ser socialmente bem sucedido com os menores custos possveis! O princpio da economia uma prova da hiptese que a escassez provoca mudana. O princpio afirma, nas palavras de MARTINET (1970/1991: 14), que as lnguas modificam-se ao longo dos tempos, (...) essencialmente para adaptarem-se da maneira mais econmica satisfao das necessidades comunicativas dos grupos que as falam. Este pensamento baseia-se obviamente na pressuposio correta, porm, antigamente, muitas vezes, demasiadamente generalizada, que os falantes, geralmente, comunicam sob condio de escassez de tempo e energia. A mxima de economizar energia articulatria encontra-se num conflito diacrnico com a mxima de falar de uma maneira compreensvel. Helmut Ldtke examinou este conflito e descreveu suas conseqncias no intencionais numa teoria de um fenmeno de mo invisvel. 13. A LEI DE LDTKE A teoria de Ldtke est comprometida com o individualismo metodolgico, que marca tambm a posio que nosso trabalho representa na teoria de conhecimento. Suas explicaes so explicaes de baixo para cima. Ldtke no interpreta a lngua como uma coisa, um inventrio ou um sistema de signos preexistentes, mas como uma certa tcnica de comunicao do ser humano. Os recursos que ns empregamos para comunicarmos no tm uma preexistncia lgica anterior a seu uso, mas representam os resultados das nossas aes comunicativas. A mudana lingstica, conforme a teoria de Ldtke, representa um produto inconsciente e involuntrio de cooperao entre a liberdade de decidir entre alternativas lingsticas e a ambio de aperfeioar as aes lingsticas. Para deixar as nossas aes comunicativas compreensveis, elas tm que ser articuladas com bastante estrutura sonora; Ldtke fala neste contexto da negentropia
58
de sinal (= entropia negativa de um sinal), termo que se refere, na teoria de informao, ao fato que cada fonte de informao deve dispor sobre um contedo mdio de informaes. Caso a estrutura sonora seja demasiadamente reduzida, a interpretao da mensagem pelo receptor se torna difcil. Vamos esclarecer isto atravs de um exemplo: Quando um jovem, em frente de um bar, responde pergunta do seu amigo Vamos nessa que boa bea? com a expresso T comc, p!, este rudo tivesse sido articulado com to pouca negentropia de sinal, que as suas chances de ser interpretado corretamente, quer dizer no sentido do falante, seriam pssimas sem o contexto da situao. Se o mesmo jovem, por exemplo, em outras situaes, ficasse com medo de ser mal interpretado, e ele dispusesse da possibilidade de articular seu rudo com mais estrutura sonora, isto poderia ser feito com qualquer pronncia mais explcita, comeando com a forma T com voc, p. at a forma completa Eu estou com vocs, pessoal. Falar mais claro do que claro no possvel. H, ento, um limite superior que encontra-se na forma explcita. Para baixo, no entanto, no h um limite to ntido. T comc, p. j uma forma muito reduzida, mas, sob certas co ndies, bastaria tambm T, p. Falemos, ento, geralmente, conforme a mxima Fale de uma maneira que voc no gastar mais energia articulatria do que necessria. Mas o que significa necessria? O que necessrio, em parte, tambm definido por fatores sociais, mas estes no vamos analisar neste contexto. Observemos os fatores de mera transferncia de mensagem. Precisa-se exatamente de tanta energia articulatria, quanto o receptor necessita para a identificao correta da mensagem. Entretanto tentar acertar exatamente esta quantia seria uma estratgia arriscada; pois se reduzirmos a negentropia de sinal apenas um pouquinho demais, a nossa ao comunicativa fracassaria. Por isto, ns trabalhamos na comunicao com redundncia, quer dizer, com um excesso de negentropia de sinal que ultrapassa a quantidade absolutamente necessria para a identificao correta da mensagem. Esta redundncia, do outro lado, tambm no pode ser exagerada; pois, pouca redundncia arrisca a compreenso e redundncia demais arrisca a ateno do receptor. Por isto, a estratgia no deve ser falar da maneira mais econmica, mas falar da maneira mais econmica e to redundante como necessria. Em conseqncia disso, o falante enfrenta um problema de coordenao: Ele tem que dosear a redundncia da sua fala conforme a sua avaliao prvia das chances que o receptor tem para uma interpretao bem sucedida da mensagem. Ldtke chama esta avaliao gerenciamento da redundncia. Como j vimos, as possibilidades articulatrias tm um limite superior: No possvel falar mais claro do que claro. Quem quer aumentar a redundncia alm dos recursos acsticos deve usar recursos lexicais. Se nosso jovem acreditasse que a forma completa Eu estou com vocs, pessoal., em conseqncia do barulho em frente do bar, no seria bem sucedida, ele poderia tambm dizer Eu estou com vocs, pessoal e vou entrar neste bar. Os recursos lexicais e sintticos no conhecem limites superiores. No existe uma prolixidade mxima. No entanto, h um mnimo de recursos lexicais e sintticos que pode ser violado apenas por telegramas e ordens militares. Deste modo, o gerenciamento da redundncia est limitado por dois lados e, ao mesmo tempo, aberto por dois lados. H um limite inferior da gramaticalidade lexical e
59
sinttico e um limite superior da expressividade articulatria; enquanto no h, teoricamente, um limite superior da verbosidade e um limite inferior do desleixo articulatrio. Desta maneira, a mudana morfolgica programada a seguir uma certa direo: Em conseqncia do fato que a articulao tem um limite superior, mas no conhece um inferior, as unidades lingsticas podem apenas ficar cada vez mais curtas. As palavras sofrem um atrito pelo uso quotidiano. Por causa da mxima de economizar energia articulatria acontece que antigas formas reduzidas tornam-se, aos poucos, formas completas que em seguida sofrero o mesmo processo de atrito. Nossas gramticas histricas so cheias de exemplos de metaplasmos por subtrao (afrese, sncope, haplologia, apcope, crase ou sinalefa) , como, por exemplo, episcopu bispo, lepore lebre, idololatria idolatria, amare amar, colore coor cor ou de intro - dentro ( COUTINHO 1998: 148 149). Se ns extrapolarmos o princpio da contrao sonora e o do enriquecimento lexical, chegaremos ao resultado que, qualquer dia, em vez de unidades lexicais, disporemos apenas de seqncias no contnuas de formas sonoras mnimas, mas isto, de fato, no aconteceu e nunca acontecer. Ldtke explica este fato atravs do seu princpio de fuso (vide: Quadro (3) em baixo). O ouvinte-falante no percebe mais como segmentos diferentes as unidades lingsticas que acontecem, muitas vezes, juntas como unidades vizinhas. Ele percebe-as como unidades particulares, pois ser uma unidade lingstica no significa outra coisa, seno ser uma unidade mvel da nossa fala que aparece com alta freqncia. Explica-se, deste modo a formao do futuro de presente do portugus com base no futuro analtico do latim vulgar: amar habeo amar hei amarei. O falante comum simplesmente parou de perceber a expresso amar hei como conexo de duas palavras distintas e comeou a empreg-las como uma unidade particular. O jogo lingstico comea de novo assim que uma nova unidade lingstica acaba de se formar pela concatenao de duas unidades antigamente vizinhas. Desta maneira, observamos uma circulao ilimitada, direcionada e irreversvel que gerada pelo princpio de economizar energia, pelo princpio da enriquecimento lexical e pelo princpio da fuso. Quadro (3) : A lei de Ldtke
Ldtke fala, neste contexto, de uma lei universal da mudana lingstica. Isto faz levantar duas perguntas sobre o estado ontolgico da teoria de Ldtke:
60
(i) (ii)
Ser que tal mudana lingstica realmente representa um fenmeno universal? Ser que tal mudana lingstica realmente representa um processo que se desenrola conforme uma lei?
Estas duas perguntas no so equivalentes. verdade que uma resposta positiva pergunta (2) implicar uma resposta positiva pergunta (1), mas no possvel, base da universalidade de um fenmeno na rea cultural, inferir uma lei universal. Isto significa, caso ns tenhamos que responder segunda pergunta com no, segue-se que a primeira pergunta representa uma questo emprica que no podemos resolver, pois, quem leva a hiptese da universalidade do processo em considerao logo ter que admitir que mesmo uma prova com base em dados de vrias lnguas naturais representaria apenas uma gota no mar. Como no podemos provar a universalidade e nem a no-universalidade do processo, vamos nos ocupar primeiramente com a segunda questo. Quem quer pressupor que o processo que Ldtke analisou conduzido por leis gerais escolheu, ao nosso ver, um caminho enganador, contudo no afirmamos isto, porque estamos de acordo com LASS (1980: 3), que acredita que na rea da histria da lngua no haja laws of relevant type e que escreveu: the enterprise of seeking them is doomed to failure. Pelo contrrio, a nossa pressuposio que o processo de mudanas lingsticas no causal se baseia na observao que os dados do seu input contm aes humanas. Aes humanas, com efeito, no acontecem porque elas seguem alguns leis gerais; conquanto elas provocam facilmente conseqncias causais. Ldtke mostrou, ento, como trs fenmenos de mo invisvel so concatenados ciclicamente um atrs do outro; concatenados de uma maneira que o output de cada processo ( independentemente de onde ns comeamos) sempre representa a condio ecolgica decisiva do input do processo seguinte. Chamamos esta condio de decisiva, porque ela representa o fator principal que consegue provocar o prximo fenmeno do ciclo, todavia a condio prvia para a gerao do respectivo prximo processo do ciclo sempre que os falantes continuam agir conforme as mximas que Ldtke pressups. Mesmo se ns tivssemos (quase absolutamente) certeza que as pessoas continuariam a corresponder a estas mximas, elas nunca fariam isto com uma necessidade causal. Propomos, por isso, chamar a lei de Ldtke uma lei de terceiro tipo, a fim de distingui-la, por um lado, das leis naturais e, por outro lado, das leis planejadas como, por exemplo, as leis do transito, pois verdade que uma articulao que quer economizar energia necessariamente gera a contrao sonora, mas o fato que as pessoas falam de uma maneira que economiza energia no representa uma necessidade absoluta. Se, por exemplo, uma comunidade religiosa bastante grande comeasse considerar o desleixo articulatrio dos seus adeptos como um pecado mortal, a lngua desta comunidade pararia de transformar-se conforme o processo de Ldtke. Helmut Ldtke, ento, realizou com sua teoria o que SAPIR (1921/1961: 144seg.) chamou de drift (corrente). Chama-se drift, conforme Edward Sapir, o movimento direcionado que uma lngua ou uma famlia de lnguas mantm durante um longo prazo. A drift de uma lngua nasce quando os falantes, inconscientemente, do preferncia quelas formas novas que conduzem numa certa direo, declara Sapir ao inverter os fatos reais, pois no h um argumento concludente, que explique de onde os falantes tirariam a sua tendncia de reforar uma drift. A teoria de Helmut Ldtke, no entanto, consegue esclarecer que h certos princpios que provocam, sob certas circunstncias, uma drift, se ns pressupomos que os falantes continuam a obedec-los. Ao nosso ver, Ldtke desenvolveu, deste
61
modo, um modelo bsico para a explicao de um fenmeno lingstico atravs da teoria da mo invisvel; um modelo que capaz de explicar acontecimentos histricos individuais. Contudo, a drift, por si mesma, no deve servir como argumento que explique mudanas lingsticas atravs de afirmaes do tipo x se transformou em y porque a mudana de x para y corresponde a drift predominante. A drift no explica a mudana, ela mesma tem que ser explicada; e o que Ldtke fez, foi exatamente isso. Vamos voltar, mais uma vez, para a questo da universalidade e pressupomos que Ldtke teve razo quando ele levantou a hiptese que o fenmeno em questo tivesse um carter universal. Quais so os argumentos para provar tal hiptese, alm da prova emprica que, como j vimos, no realizvel? O argumento mais prximo a favor de fenmenos universais na lngua sempre a hiptese que eles sejam geneticamente programados, mas ser que uma drift pode ser inata? Claro que no. No podemos exagerar em destacar o inatismo como argumento decisivo, pois a hiptese que uma coisa como ela porque Deus a criou assim sempre seduziu o homem a desistir da procura por uma explicao melhor. Ao nosso ver, podemos classificar as universalidades lingsticas em dois tipos que tem, cada uma, a sua prpria causa de origem. De um lado, h universalidades que so diretamente inatas. O fato que ns nos servimos do nosso aparelho fonador-auditivo para nos comunicar faz parte do equipamento gentico do homem. Por outro lado, ningum pressupe que nosso medo de lees seja diretamente inato, embora ele represente uma caracterstica universal dos homens. Nosso medo de lees, provavelmente, faz parte de uma estratgia mais geral para resolver problemas, como, por exemplo: No se meta numa luta com algum que mais forte do que voc! O fato, que todas as lnguas naturais dispem de substantivos talvez se deva ao fato que o nosso mundo compe-se, em grande parte, de objetos separveis. Obviamente, temos que admitir que um tipo de determinismo gentico possibilita os homens a reconhecer objetos, mas no h necessidade de afirmar que h um esquema lingstico que contm o componente substantivo. H, ento, universalidades diretamente inatas e outras indiretamente inatas que se derivam de estratgias de comportamentos e princpios inatos mais gerais, quer dizer, no especificamente lingsticos. A corrente cclica que Ldtke analisou e explicou, provavelmente, representa tal universalidade indiretamente inata, pois os princpios que Ldtke levanta para explicar o fenmeno, de fato, so muito elementares e no so de natureza especificamente lingstica: (i) (ii) o princpio de economia: Tente realizar os objetivos das suas aes com o mnimo de custos (de energia); o princpio de redundncia: melhor tomar um pouco demais dos recursos que voc usar para alcanar os objetivos das suas aes do que um pouco de menos; o princpio de fuso: Interprete os conjuntos de coisas que (quase) sempre ocorrem simultaneamente como unidades.
(iii)
O fato que este princpios so to elementares garante que eles so (provavelmente) universais e amplamente cumpridos. No entanto, isto no faz deles uma lei, pois nada fora os homens a comportar-se conforme a sua natureza inata. Ao contrrio, como j
62
vimos, uma parte das nossas regras tem justamente a tarefa de moldar o nosso comportamento instintivo. Explicaes atravs de mximas, princpios ou estratgias so capazes de esclarecer o at ento misterioso conceito da drift ou corrente na mudana lingstica. O respectivo estado de uma lngua, obviamente, impe aos falantes certas condies ecolgicas que podem causar-lhes problemas quando eles tentam realizar as suas aes comunicativas com xito. A teoria de Ldtke mostra que uma drift nasce quando os falantes reagem a estas condies ecolgicas e aos problemas impostos por elas, sempre conforme as mesmas mximas. Isto vale para uma drift morfolgico, assim como para uma drift semntica, como aquela da pejorizao contnua das denominaes sociais para mulheres. Em resumo: parece que a lingstica histrica ter um papel principal nas futuras pesquisas sobre os princpios nos quais as lnguas baseiam-se. 14. A TEORIA DA NATURALIDADE A teoria da naturalidade tem trs campos de pesquisa principais: a fonologia, a morfologia e a sintaxe. A nossa representao se orientar especialmente na teoria da morfologia natural; mas as idias principais valem para todas as reas citadas. A idia bsica da morfologia natural : The assumption that morfological phenomena can be evaluated by their naturalness or markedness. (WURZEL 1992: 225) Os termos centrais natural e marcado, geralmente, so empregados como sinnimos inversos: O natural e o no-marcado e o marcado e o no-natural. H um contnuo entre os polos natural e marcado, a graded scale of maximally natural/unmarked to maximally unnatural/marked.(ibid.: 226) Em seguida, pressupe se, que, nos diferentes nveis da lngua, h diversos princpios que determinam a direo da mudana lingstica: universal principals of morphological naturalness (markedness principles, preference principles)(ibid.: loc. cit.) Tais princpios so por exemplo: the principle of constructional iconicity, the principle of morphosemantic transparency, (...) and the principle of system congruity (ibid.: loc. cit.), para citar apenas alguns deles. Observamos em seguida um exemplo para cada um dos princpios citados. Corresponde, por exemplo, ao princpio da iconicidade construtiva, o fato que a forma do plural de um substantivo (geralmente) mais comprido do que a respectiva forma do singular, quer dizer, mais coisas so representadas iconograficamente atravs de mais fonemas. Quem examina, por exemplo, os graus de iconicidade da formao do plural na lngua inglesa descobrir que o tipo boy boys tem iconicidade mxima, o tipo goose geese tem iconicidade mnima e o tipo sheep sheep no iconogrfico. O plural sheep, ento, marcado, quer dizer, no-natural. de esperar, ento, que a forma sheep sheeps nascer mais cedo do que a forma boy boy; e de esperar, tambm, que crianas formassem o plural errado *sheeps mais cedo do que o plural errado *boy. O princpio da transparncia morfo-semntica diz que uma codificao conforme o princpio uma funo uma forma melhor do que uma codificao que impe a uma forma vrias funes. Conforme esta regra, as formas do portugus arcaico migo, tigo, sigo so menos naturais do que suas formas correspondentes no portugus moderno comigo, contigo, consigo. Como j vimos, o princpio de fuso exige que os morfemas que ocorrem (quase) sempre juntos devem ser percebidos
63
como unidades morfolgicas. Migo, tigo, sigo, consequentemente, comearam a ser percebidos como unidades morfolgicas, quer dizer, como razes. No entanto, no portugus arcaico, a slaba -go originalmente ainda trouxe a noo da posposio latim cum. Houve ento morfemas intransparentes que funcionaram simultaneamente como razes e posposies. Nesta situao, os falantes corresponderam (inconscientemente) ao princpio da transparncia morfo-semntica: Eles pressuporam que os respectivos morfemas exercessem apenas funo de razes e esqueceram simplesmente a segunda funo da raz arcaica, a da posposio latina. Em conseqncia disso, eles tinham que acrescentar raiz moderna um morfema que exercesse funo de preposio. Na forma atual, o prefixo com exerce esta funo, enquanto os morfemas migo, sigo, tigo agora exercem exclusivamente a funo de raiz, mas, como os falantes (provavelmente) continuaro a corresponder ao princpio de fuso, podemos esperar que a forma atual, algum dia, tambm cair em conflito com o princpio da transparncia e ser percebida como unidade morfolgica com funo dupla. Nesta altura o ciclo deste jogo lingstico comear de novo. O princpio da congruncia de sistema pressupe que a morfologia de uma lngua determinada por certas caractersticas estruturais que definem o sistema lingstico. H uma tendncia, nas mudanas lingsticas, de substituir as formas que no correspondem a estas caractersticas por formas que so congruentes com o sistema. O portugus, por exemplo, forma o superlativo sinttico da grande maioria dos seus adjetivos com o sufixo -ssimo. Num pequeno grupo de adjetivos acrescenta-se ao seu tema os sufixos -limo ou -rimo para formar o grau superlativo. O processo para a formao dos superlativos eruditos ainda idntico ao do latim. Mas alguns adjetivos j apresentam duas formas alternativas: macrrimo magrssimo, pauprrimo pobrssimo, nigrrimo negrssimo, crudelssimo cruelssimo. Estes exemplos mostram que h uma tendncia, no portugus, de substituir as formas arcaicas ou eruditas por formas mais adequadas ao sistema da lngua. Magrssimo, pobrssimo ou negrssimo j so aceitas, enquanto cruelssimo apenas tolerado. No entanto, as formas *agudssimo, *amargssimo ou *nobrssimo ainda so corrigidas como desvios da norma. Como j vimos no penltimo exemplo, os diversos princpios podem entrar em conflito. Geralmente acontecem conflitos entre morphology, with its semiotically motivated naturalness principles, and phonology, with principles that are motivated articulatoily or perceptually. (WURZEL 1992: 227). Um exemplo pode esclarecer este fenmeno ainda mais: Em conseqncia de princpios fonolgicos de naturalidade, as consoantes mediais surdas latinas, quando intervoclicas, sonorizaram-se em portugus nas suas homorgnicas. A consoante -c- antes de a, o ou u sonorizou-se em -g-. Dico transformou-se, deste modo, em digo. A mesma consoante -c- antes de e ou i sonorizou-se em -z-. Dicere, consequentemente, transformou-se em dizer. Na raiz do verbo ocorre, desde ento, alomorfia na primeira pessoa do presente do indicativo: diz + e + r vs. dig + + + o. obvio que o paradigma eu digo, ns dizemos ope-se, por exemplo, ao princpio da transparncia morfo-semntica. O desenvolvimento da naturalidade fonolgico provocou, ento, uma diminuio da naturalidade morfolgica. Por causa de tais conflitos, o processo da gerao de formas marcadas nunca parar e a lngua nunca chegar a um estado de perfeita estabilidade natural. A morfologia natural comprovou que a mudana lingstica, pelo menos nas reas analisadas, direcionada, quer dizer, corresponde a tendncias que, em parte, so
64
universais. A interao entre estas tendncias provoca conflitos que impedem o sistema lingstica chegar a um estado de repouso. Este resultado no pouca coisa! Mas ele no contm nenhuma parte explicativa, pois so justamente estas tendncias e o seu carter universal que exigem uma explicao. A teoria de naturalidade, porm no se d conta desta exigncia fundamental. A razo deste pecado de omisso se encontra, em parte, j no conceito da naturalidade que, geralmente, tautolgico e circular: o comum representa o no marcado, que representa o mais simples, que representa o natural. Umas das hipteses centrais da teoria naturalista diz que um processo morfolgico, respectivamente uma estrutura morfolgica, natural quando ele a) vastamente divulgado e/ou b) adquirido numa fase primria da vida e/ou, c) relativamente resistente a mudanas lingsticas e/ou, d) muitas vezes, o resultado de processos de mudanas lingsticos. Trata-se, nesta hiptese, na verdade, do batismo de uma tautologia: o comum forma-se com uma freqncia maior e desaparece com uma freqncia menor do que o desusado (isto a tautologia); e a teoria naturalista chama este comum de natural (isto o batismo). Em analogia a esta definio tautolgica, h outra explicao da naturalidade que afirma que um fenmeno morfolgico mais natural e menos marcado, se ele corresponde s caractersticas principais do sistema da respectiva lngua. Sendo as caractersticas que definem o sistema de uma lngua, per definitionem, as caractersticas que predominam nesta lngua e que so, por isso, as mais comuns, podemos afirmar que esta segunda explicao da naturalidade tambm declara apenas que o comum seja o no marcado e o no marcado seja o natural. Mudanas naturais, neste ponto de vista, no representam outra coisa do que o conjunto de processos que degradam fenmenos marcados a favor de fenmenos menos marcados. Sendo no marcado equiparado com natural, esta explicao tambm afirma apenas que as mudanas naturais conduzem de um estado menos natural para o estado natural. Encontramos esta tautologia bem explcita num estudo de STEIN (1990: 289): Any departure from optimal nature stuctures is more marked and less natural. Derivamos desta afirmao, diretamente, a concluso tautolgica, que any departure from natural less natural. O que dificulta a compreenso do conceito da naturalidade , alm da sua definio tautolgica, a obscuridade do domnio deste conceito, pois ainda no sabemos bem o que deve ser chamado natural. A designao refere-se ou s estruturas lingsticas, s regularidades diacrnicas ou aos processos comunicativos; ou ser que naturais so os fatores de uma infra-estrutura pr-lingstica nas reas da cognio, da recepo ou do comportamento, como props STEIN (1988: 474)? Em qual nvel de anlise o termo deve ser aplicado: no nvel das estruturas e fenmenos lingsticos, no nvel dos processos diacrnicos ou no nvel das aes comunicativas dos indivduos? Outra pergunta importante encontramos na questo o que o conceito de naturalidade prope-se a explicar? O que, finalmente, deve e pode ser explicado? A teoria de naturalidade quer explicar casos individuais de mudanas lingsticas? Ela quer explicar, por exemplo, porque a palavra latim jdice se transformou no portugus em juiz, porque o superlativo magrssimo reprimir a forma erudita macrrima ou porque nossos filhos geralmente formam os particpios dizido, fazido e abrido, antes de aprender as formas dito, feito e aberto? Ou ser que a teoria naturalista quer explicar certas tendncias atuais, potential directionalities ou
65
the logical gap between the tendency in the individual and the unindirectionality of tendencies in groups (STEIN 1990: 286)? Os tericos pressupem que eles conseguem explicar a tendncia, ou eles acham que a tendncia explica o caso individual? Para cada uma destas questes, a teoria naturalista apresenta as respectivas respostas; mas as afirmaes dos diversos autores, muitas vezes, se opem. Ao nosso ver, podemos transformar a teoria naturalista numa teoria com fora explicativa, se ns correspondemos a certos princpios. Voltamos ao exemplo que LASS (1980: 18) escolheu para provar why naturalness does not explain anything, s para mostrar como o conceito de naturalidade ganha fora explicativa. Escolhemos um caso claro de naturalidade e tentamos transformar uma suposta explicao, gradualmente, numa adequada forma explcita. O grupo de consoantes [ rs] transformou-se, na passagem do latim vulgar para o portugus, num processo da assimilao da primeira consoante segunda em [ss]. Esta observao, por exemplo, faz parte de uma teoria de naturalidade que explica porque persona , ou reversu se transformaram em pessoa ou revesso. Uma explicao desta assimilao atravs da teoria de naturalidade, conforme Lass, deve ser colocado da maneira seguinte: 1a verso de uma explicao de uma mudana lingstica atravs da teoria de naturalidade: Condio 1 Lei 1 Explanandum uma seqncia [rs] [ss] mais fcil para pronunciar do que [rs] [rs] [ss]
Claro que o explanandum no representa uma conseqncia deduzida e a lei 1 no realmente uma lei. No prximo passo, mostraremos que a introduo de uma lei estatstica tambm no melhoraria nossa explicao. A verso corrigida : 2a verso de uma explicao de uma mudana lingstica atravs da teoria de naturalidade: C1 L1 L2 uma seqncia [rs] [ss] mais fcil para pronunciar do que [rs] Se os falantes tivessem a escolha, na maioria dos casos, muito provvel, que eles preferissem uma articulao mais fcil do que uma mais difcil. [rs] [ss]
obvio que a chamada lei estatstica (L2) no melhora a nossa explicao nem tornou-a mais mole. O explanandum continua a ser o que ele foi: um non sequitur. Isto tem que ser assim, porque leis estatsticas no representam leis que permitam concluses, mas sim generalizaes. O fato, por exemplo, que 90 % dos fumantes compulsivos morrem de cncer de pulmo no explica porque Manuel Brega, um fumante compulsivo, morreu de cncer de pulmo. Sua morte foi causada por processos qumicos no seu pulmo e no pela estatstica. Sua morte confirma a estatstica, mas a estatstica no explica a sua morte. Singular counter-instances do not falsify probabilistic theories, afirma LASS (1980: 19). Trata-se ento de uma pseudoexplicao sem fora explicativa.
66
Esta sentena esmagadora de Lass correta, porque ele pressups, legitimamente, que a teoria naturalista aspirasse a uma explicao do caso individual, como, por exemplo, a transformao de persona em pessoa. Mas justamente isto, que o modelo naturalista no conseguiria realizar. No entanto, caso ns formulemos uma verso adequada, ele conseguir explicar a tendncia. A teoria de naturalidade, ento, capaz de explicar a tendncia, mas a tendncia, pelas razes j mencionadas, no consegue explicar o caso individual. Segue-se uma explicao da tendncia: 3a verso de uma explicao de uma mudana lingstica atravs da teoria de naturalidade: C1 C2 C3 L1 L2 Existem grupos de consoantes [rs]. Os custos da articulao de [ss] so menores do que os de [rs]. A realizao de [rs] atravs da forma [ss], geralmente, no prejudica os objetivos comunicativos dos falantes. Sob condies naturais, os homens preferem escolher entre vrias alternativas de ao aquela que promete o maior lucro subjetivo. Se a maioria de uma populao se afasta freqentemente da mesma maneira de uma das suas convenes em vigor, ela provoca uma modificao desta conveno em rumo a este desvio. Geralmente nasce uma modificao da conveno de [rs] para [ss].
Esta deduo tem duas vantagens em comparao com as anteriores: ela vale e ela tem fora explicativa. Claro, ela no capaz de prever se as palavras da norma culta arvore, fsforo , msica ou sbado se transformaro, aos poucos, em arvre, fosfro, musga e sabo, mas ela explica as tendncias. O caso que falsifica a hiptese de uma tendncia no representar um resultado individual irregular, mas uma comunidade de falantes com uma variao lingstica, na qual valem as condies C1 C3 e as leis L1 L2,mas na qual no existe a respectiva tendncia. Esta explicao contm duas afirmaes sobre leis que no se referem lngua, mas sim ao comportamento humano (L1) e lgica do conceito de conveno (L2). Claro que as respectivas leis e condies poderiam ser formuladas com mais habilidade. O advrbio geralmente, no explanandum E, vem da condio C3. Este fato importante; pois, pressuposto que as leis so rgidas, facilmente possvel inferir um explanandum flexvel a partir de condies incertas, mas de leis incertas segue-se absolutamente nada. H trs diferenas principais entre a segunda e a terceira verso da nossa explicao da transformao lingstica entre [rs] e [ss]: i.) ii.) iii.) A segunda verso tenta explicar o caso individual, a terceira explica a existncia de uma tendncia. A terceira verso distingue rigidamente entre o nvel microscpico das aes individuais e o nvel macroscpico das estruturas lingsticas. A terceira verso corresponde aos princpios do individualismo metodolgico; quer dizer, o ponto de partida da explicao encontra-se nas aes dos indivduos so, e no nas lnguas, nas estruturas, nos processos ou nos coletivos.
A distino rgida entre os nveis microscpico e macroscpico permite a renncia quela terminologia dupla de natural e marcado que provocou a concluso circular
67
das definies inicialmente mencionadas. Ao nosso ver, faz sentido reservar o predicado natural para o nvel microscpico e o predicado (no) marcado para o nvel macroscpico. Tal distino na terminologia permitiria a formulao de uma hiptese no circular, e sim emprica, que afirmaria que os comportamentos naturais dos falantes, sob certas condies, podem provocar estruturas no marcadas no nvel macroscpico da lngua. De fato, nossa terceira verso da explicao inclui tal pressuposio de naturalidade no lei L1. Embora a naturalidade (do comportamento humano) e a marcao (das estruturas lingsticas) sejam relacionadas sistematicamente uma com a outra, conseguimos, deste modo, defin-las independentemente. Tal teoria modificada de naturalidade no se ope ao nosso postulado anterior que exige que qualquer teoria explicativa das mudanas lingsticas deve ter a forma de uma explicao atravs da mo invisvel. Nossa terceira verso da explicao representa uma explicao atravs da mo invisvel que inclui, ao mesmo tempo, pressuposies da teoria das escolhas racionais. A idia principal da teoria das escolhas racionais a seguinte: As aes humanas so determinadas por trs fatores, os objetivos de ao, as possibilidades de ao e os limites de ao. O homem capaz de hierarquizar as alternativas de ao que se oferecem em respeito a um dado objetivo de ao. O critrio predominante desta hierarquizao o lucro liquido subjetivo que o indivduo espera ganhar. Chama-se racionalidade de ao a faculdade de classificar as alternativas conforme este critrio. Isto significa: Se um indivduo pode escolher entre vrias alternativas para realizar o objetivo de uma ao, ele escolher a que promete dar-lhe o maior lucro lquido subjetivo. Isto vale para Madre Teresa assim como para um masoquista ou um especulador de bolsa em Nova York. Todos eles no se distinguem na racionalidade das suas aes, mas na avaliao subjetiva do lucro lquido. O lucro lquido de uma ao o lucro menos os custos. Como ningum conhece suficientemente todas as conseqncias das suas alternativas e todas as condies objetivas, todo mundo se restringe, na avaliao do futuro lucro lquido de uma ao, ao suposto lucro lquido subjetivo. A melhor motivao para a escolha de uma alternativa foi dada, se a vantagem da relao entre seus custos e seu lucro so mximas. Uma ao escolhida vale como explicada, se o indivduo mostrou que sua escolha era, sob as condies conhecidas e no ponto de vista subjetivo, a melhor possvel. Claro que a aspirao ao mximo lucro lquido no tem nada a ver com egosmo ou altrusmo. Aes egostas so aquelas que no consideram, no seu clculo de custos e lucros, as conseqncias positivas ou negativas que uma ao tem para os outros. Aes altrustas so aquelas que so realizadas sem esperar que os outros reajam com alguma recompensa. Voltamos, ento, a nossa teoria de naturalidade. J no comeo do sculo XIX, os lingistas souberam que o desenvolvimento de uma lngua tem alguma coisa a ver com a economia , rigorosamente falando, com o desejo de economizar energia na articulao e na cognio e com o princpio dos custos mnimos (LYONS 1968: 89seg.). J GRIMM (1819/1968: 2) escreveu: A lngua cresce conforme a lei natural de uma economia sbia. Nesta tradio se alinha a teoria da naturalidade, e por isso as reas da fonologia e da morfologia sempre foram consideradas o domnio principal para as tentativas de explicar as mudanas lingsticas atravs de uma teoria de naturalidade, pois estas so as reas onde os efeitos da economia sbia se mostram mais bvios. Como durante a comunicao, a conscincia repara o fator da economia de custos menos do que o da aspirao ao lucro mximo, cresce o perigo de falar sobre a lngua de uma maneira que abstrai o falante e refica a lngua. No entanto, os falantes no tm o
68
objetivo de diminuir os custos ao mnimo possvel; pois quem aspiraria a economia total dos custos, poderia ficar calado. O que importa na comunicao, como em todas as outras aes, um saldo positivo entre os custos e os benefcios. Isto j vimos na teoria de Helmut Ldtke (cp. 13). O quadro (4) representa os fatores de custos e benefcios que influenciam durante uma ao comunicativa o clculo da escolha dos recursos lingsticos: Quadro (4): Os fatores de custos e benefcios numa ao comunicativa. clculo
benefcios
custos
esttico
social
informativo
energia cintica energia cognitiva
imagem prpria
relao
persuaso
representao
No lado dos benefcios distinguem-se o lucro esttico, social e informativo; no lado dos custos distinguem-se os custos de energia cintica e os custos de energia cognitiva. O lucro informativo pode referir-se persuaso ou a representao. O lucro social pode referir-se imagem prpria ou relao com os outros. Com efeito, cinco fatores de benefcios e dois fatores de custos entram no clculo que determina a escolha dos recursos lingsticos. Os fatores de benefcios so: persuaso (por exemplo, a expresso com maior eloqncia ou melhor compreensibilidade), representao ( por exemplo, a palavra precisa), esttica (por exemplo, a expresso mais elegante), imagem prpria (por exemplo, a escolha de uma palavra culta), relao com os outros (por exemplo, a variao mais gentil). Os fatores de custos so: os custos de energia cintica (por exemplo, a energia de articulao, o tamanho da palavra) e custos de energia cognitiva (por exemplo, capacidade de memria). Se ns pressupomos que, por exemplo, o desejo de deixar uma impresso positiva no receptor no menos natural do que o desejo de economizar energia de articulao, temos que admitir, que a rea de explicao da teoria de naturalidade no se limita fonologia e morfologia , mas tem que abranger tambm a sintaxe e a semntica. Os objetos da teoria de naturalidade, conforme este conceito, so exatamente estes fenmenos de mudanas lingsticas que so provocados por mximas universais de ao, os chamados principles of human nature. Dependendo da respectiva situao inicial de cada lngua, estes fenmenos sempre tiveram e tero diferentes efeitos nas diversas lnguas. 15. DIACRONIA OU SINCRONIA?
69
A teoria das mximas e seu papel no processo da mo invisvel podem esclarecer a conexo entre sincronia e diacronia, mas vamos, primeiramente, lanar uma olhada sobre o uso destes dois termos na linguagem corrente dos lingistas. Como se sabe, a determinao conceptual destas duas dimenses da lngua devemos a Ferdinand de Saussure, no entanto, a distino mais antiga do que a definio dos termos, mas, at hoje, parece que o significado exato daquela distino entre sincronia e diacronia ainda est controversa. Uns reconhecem nestes dois termos, principalmente, predicados ontolgicos que denominam duas maneiras de ser da lngua; outros querem interpret-los como predicados metodolgicos que servem para denominar aspetos diferentes da anlise lingstica, quer dizer, diferentes perspectivas de pesquisa. Coseriu, por exemplo, julgou: De Saussure no se dedicou a ontologia, mas fez metodologia. (...) Por isso, a distino entre sincronia e diacronia no pertence a teoria da linguagem, mas a teoria da lingstica. (COSERIU 1980: 144). Ao que Saussure se dedicou na verdade, est incerto e controverso, porque o nome Saussure, hoje em dia, empregado para duas coisas diferentes: de um lado para Ferdinand de Saussure, e do outro lado para os autores do Cours de linguistique gnrale. Estes, como se sabe, no so idnticos. O Cours foi redigido pelos dois lingistas suos Charles Bally e Albert Sechehaye e ele pretende refletir os pensamentos que Saussure tinha referido num curso universitrio com o mesmo nome. Mas os prprios autores no assistiram quele seminrio. Suas fontes foram os relatrios estudantis sobre as aulas e o conhecimento lingstico de que lingistas da poca podiam dispor. No de admirar, ento, que algumas teorias prprias dos dois autores entraram, querendo ou no, como supostas idias saussureanas, naquela reconstruo do curso com base nos relatrios incompletos que por si mesmo tambm j tinham contido interpretaes falsas. A compreenso geral da dicotomia saussureana e, deste modo, o uso atual dos termos sincronia e diacronia na linguagem corrente dos lingistas profundamente cunhado pela verso do Cours de Bally e Sechehaye. Estes, de fato, favorecem a interpretao metodolgico da dicotomia, e vinculam-na com a recomendao de distinguir os dois nveis de anlise nitidamente e com a tendncia de atribuir a prioridade sincronia. A perspectiva sincrnica uma anlise de um estado de lngua sob abstrao da mudana, respectivamente da dinmica; a perspectiva diacrnica uma anlise de dois ou mais estados da lngua de diferentes momentos histricos. A lingstica diacrnica no estuda mais as relaes entre os termos coexistentes de um estado da lngua, mas entre termos sucessivos que se substituem uns aos outros no tempo. (SAUSSURE 1998: 163). Vamos observar agora, mais uma vez, a nossa explicao para o desaparecimento da palavra saga2, no sentido de bruxa. Lembramos, aqui, que ela teve a seguinte forma: Sob as condies Cx Cy (lingsticas e extra-lingsticas) que dominaram no decorrer do sculo XX, uma comunicao conforme as mximas M1 e M2 iniciou um processo de mo invisvel que provocou, em conseqncia das leis L1 e L2, necessariamente a extino da palavra saga2. Trata-se, nesta explicao, de uma afirmao pelo ponto de vista sincrnico ou diacrnico? Ou numa pergunta mais geral ainda: Uma teoria sobre a mudana lingstica pertence lingstica diacrncia ou sincrnica? Se ns observarmos, mais uma vez, a definio citada por Bally e Sechehaye podemos afirmar: A resposta pode ser no s ... mas tambm ou nem um ... nem outro. Quando uma pergunta permite duas respostas contraditrias, podemos sempre confiar na hiptese que alguma coisa
70
est errada com os termos. Neste caso, fica evidente que os termos sincronia e diacronia no so adequados para uma anlise dos problemas de mudana. Trata-se, no fundo, de termos da teoria da lingstica histrica e no da teoria da mudana, pois os termos estado e histria so essencialmente diferentes dos termos estase e dinmica. O passado o lugar das coisas que so terminantemente acontecidas e criadas. (GARAUDY 1973: 139). O que pertence histria esttico, s o presente que o lugar da dinmica. Uma teoria da mudana lingstica, consequentemente, no representa uma teoria da histria , mas uma teoria da dinmica. Parece-nos que uma explicao do tipo apresentado adequada para cumprir a exigncia que COSERIU (1980: 94) levantou em 1980 no seu ensaio Sobre a primazia da histria, em que ele convidou a criar uma sincronia integrada cuja tarefa ser determinar a maneira como o funcionamento da lngua e a mudana da lngua convergem. De fato, a questo da mudana de uma lngua respectivamente a mudana de um fenmeno de terceiro tipo no um problema histrico. Quem compara o poder de compra do Real no momento T1 com o poder de compra do Real nos momentos T2 ,T3, ..., Tn realizar uma pesquisa diacrnica e chegar, deste modo, a uma histria do valor de compra do Real; mas ele no chegar a uma teoria da inflao, no entanto quem quer explicar a reduo do valor de compra num dado prazo precisar de uma teoria sobre a inflao. Contudo, no chegaremos a tal teoria por um mtodo que pretende generalizar as descries histricas do valor de compra. Vrios autores j afirmaram que a questo da mudana lingstica no representa um problema histrico. COSERIU (1958/1974: 94), por exemplo, viu na mudana lingstica um problema racional; e HAYEK (1969: 154) escreveu: O problema da formao de tais estruturas (como, por exemplo, o mercado ou a lngua; obs. nossa) uma questo terica e no histrica, porque ela ocupa-se com fatores de uma seqncia de ocorrncias que podem, de princpio, ser repetidas, embora, de fato, aconteceram apenas uma nica vez. No fundo, a dicotomia diacronia versus sincronia no combina com a idia de gerao e mudana de fenmenos lingsticos, porque estes termos servem geralmente para a caracterizao de observaes sobre a lngua no seu sentido reficado. Aqui, tocamos outro problema que, ao examin-lo mais pormenorizadamente, assemelha-se ao problema diacronia vs. sincronia. 16. A LNGUA INTERNA DE CHOMSKY Ser que os lingistas devem compreender e analisar a lngua, em primeiro lugar, no sentido de uma faculdade, ou ser que os lingistas devem abstrair os falantes e observar a lngua, em primeiro lugar, como uma coisa (relativamente) autnoma? A discusso deste problema ocupa os lingistas h sculos e a questo surge em cada gerao de novo. Como se sabe, quem iniciou a discusso foi HUMBOLDT (1836/1907: 44). Sua verso de abordar o problema referiu-se pergunta, se a lngua representaria mais cedo uma obra (gr.: ergon) ou uma faculdade (gr.: energeia). Como sabemos, ele tencionou mais para a segunda resposta: A lngua no deve ser interpretada como um produto morto, mas pelo contrrio como uma criao. Em outro trecho, ele afirma ainda mais decidido: A lngua por si mesmo no uma obra (ergon), mas uma atividade (energeia). (ibid.: 46) Para a prtica da lingstica este conhecimento quase no mostrou efeitos. Deste modo, Coseriu pde
71
afirmar com toda razo: Esta afirmao j foi citada muitas vezes; na maioria dos casos, porm, para esquece-la imediatamente e para refugiar-se, em seguida, na lngua no sentido de ergon. Acreditamos, no entanto, que muitas vezes no se trata de uma fuga, mas de uma exigncia que o objetivo da pesquisa levanta. Para que serve o conhecimento que a lngua, em primeiro lugar, no representa uma obra, mas uma atividade, se o lingista quer redigir um dicionrio, uma histria das lnguas, uma gramtica de uma lngua individual ou um livro didtico? Seja qual for, para a maioria das anlises lingsticas, seria til fingir que a lngua representa um ergon. Em outras palavras, a reficao da lngua, geralmente, no representa um engano terico, mas uma necessidade prtica. Geralmente, mas no sempre. O modo de ver a lngua exclusivamente como um ergon representa neste momento um engano, quando questes da gnese ou da formao entram no primeiro plano da pesquisa. Isto acontece, por exemplo, nos casos da teoria gerativista e da teoria sobre as mudanas lingsticas, e justamente estas teorias representam os dois campos onde a questo de Humboldt, mesmo em roupas diferentes, novamente, entrou na discusso. Conforme a teoria gerativista, pressupe-se que cada falante competente dispe de um dado conhecimento lingstico que facilita-lhe produzir e compreender um nmero ilimitado de frases. Chama-se gramtica este conhecimento que se compe de vrios componentes interativos. Alm disso, os gerativistas pressupem que o ser humano, durante a sua adolescncia, tem que adquirir esta gramtica apenas em parte, pois uma parte das nossas habilidades gramaticais inata, quer dizer, ela faz parte do nosso equipamento gentico e , por isso, universal. Esta parte inata do conhecimento lingstico chama-se gramtica universal (em ingls: universal grammar = UG). CHOMSKY (1986: 3) escreveu: UG may be regarded as a characterization of the genetically determined language faculty, (...) as a theory of the initial state` of the language faculty. Os gerativistas acreditam que impossvel explicar sem tais pressuposies como todas as crianas deste planeta, independentemente da sua inteligncia, do tipo de lngua a aprender e do ambiente social em que elas vivem, so capazes de aprender a sua respectiva lngua materna num prazo relativamente curto; e isto, apesar do fato que os dados lingsticos que uma criana geralmente recebe do seu ambiente so bastante delimitados e deficientes. Cada criana chega a este resultado numa idade em que ela no consegue aprender nenhuma habilidade que mostre um grau de complexidade semelhante. A teoria gerativista imagina, ento, que no se trata, nesta parte inata do nosso conhecimento lingstico, de regras positivas, mas, antes de tudo, de princpios restritivos.67 Forma-se na criana, base dos princpios inatos e da experincia lingstica, uma gramtica interna que, de algum modo, deve ser representada mentalmente. Esta gramtica representada chama-se, conforme a terminologia dos gerativistas, a gramtica internalizada (em ingls: Internalized Grammar = IG). A lngua, quer dizer, o conjunto de frases que tal gramtica internalizada avalia como gramaticalmente bem formadas chama-se, conforme esta terminologia, internalized language (IL). O que importa nesta definio mostra o exemplo seguinte: Quando um homem grava na sua memria um poema, ele dispor sobre uma representao mental do poema aprendido, mas esta representao mental no manter a mesma relao com o poema que a gramtica IG mantm com a lngua IL, pois o que pertence lngua IL, e o que no lhe
67
Nosso sistema de normas morais ou legais tambm no trata, em primeiro lugar, das coisas que so permitidas, mas das coisas que devemos omitir. No seria econmico, mas sim, praticamente, impossvel, codificar e aprender todas as coisas lcitas; pois a rea das coisas permitidas deve ser ilimitado.
72
pertence, determinado pela gramtica IG, mas, no caso do poema, vale o contrrio, pois este logicamente precedente sua representao mental. At aqui, qualquer lingista tradicional poderia tranqilamente concordar, embora ele contra-argumentasse, talvez, que as afirmaes de Chomsky sobre a gramtica IG e a sua relao com a lngua IG, embora concludentes, fossem para um lingista apenas de pouco interesse. Afinal, no seria a tarefa do lingista pesquisar o que uma criana tem na cabea, pois o que lhe importa seria nada mais do que a respectiva lngua natural. Esta existe independentemente do que se encontra representado na tua cabea ou na minha. Deste modo, a gramtica da lngua portuguesa, por exemplo, distingue-se profundamente da gramtica que um homem tem na sua cabea. Quanto ao nosso fictcio lingista tradicional, este aspira construo de uma gramtica exteriorizada (em ingls: externalized grammar = EG) da lngua exteriorizada (em ingls: externalized language = EL), pois conforme sua viso do mundo, o que representa o fato dado a lngua exteriorizada EL, enquanto a gramtica exteriorizada EG representa apenas um derivado dela. Um adepto de Chomsky responderia a esta colocao: O que voc chama de lngua portuguesa` , na verdade, um artefato bastante estranho. No fundo, no se trata nem de uma categoria lingisticamente relevante. Se ns chamamos ou no chamamos um fenmeno de lngua depende, na verdade, de avaliaes polticas ou sociolgicas. Apesar disso, ou uma lngua representa um fenmeno que algum realmente pode dominar neste caso a gramtica EG converge com a gramtica IG de um falante competente ou a lngua representa uma coisa que, de fato, nenhuma pessoa emprica domina perfeitamente neste caso, ela representa uma coisa que no corresponde com nada. If you are talking about language, disse CHOMSKY (1982: 108), you are always talking about an epiphenomon, you are talking about something at a further level of abstraction removed from actual physical mechanisms. Mais tarde ele afirmou: The notion of E-language has no place in this picture (quer dizer, na sua teoria lingstica; obs. nossa). There is no issue of correctness with regard to E-languages, however characterized, because E-languages are mere artefacts. We can define Elanguage in one way or another or not at all since the concept appears. (CHOMSKY 1986: 26) No queremos seguir mais ainda esta linha de discusso, mas queremos relacionar a dicotomia I vs. E com nosso conceito da lngua como um fenmeno de terceiro tipo. Para os representantes da gramtica gerativa, a gramtica IG representa o verdadeiro objeto de pesquisa lingstica. Ela representa a nica coisa que realmente tem existncia material. Grammars have to have a real existence, that is, there is something in Your brain that corresponds to the grammar. That has got to be true. (CHOMSKY 1982: 107). A lngua IL, por assim dizer, representa a manifestao exterior da gramtica IG. Ela serve para o lingista como uma base de dados que ele usa para a reconstruo da gramtica internalizada IG. Nisso, aquela parte da gramtica IG que dada como inata ganha um interesse particular, pois ela que comum a todos os homens e, deste modo, a todas as lnguas naturais do homem. Por isso, esta parte da gramtica IG chama-se tambm gramtica universal. So duas as razes, pelas quais a anlise dos princpios universais da nossa faculdade de falar tem uma importncia maior. De um lado, conhecimentos sobre a organizao da mente humana so interessantes por si mesmos; do outro lado, podemos
73
empreg-los para explicar algumas caractersticas estruturais da nossa lngua. Pois, como j vimos no captulo 9 (pg. 31) uma explicao que merece o seu nome, necessariamente, deve recorrer a princpios e leis gerais. A organizao biolgica da mente humana representa uma instncia adequada para fornecer tais princpios e leis gerais. Quem no quer apenas descrever adequadamente as regras que constituem uma lngua, mas quer, alm disso, explicar, porque elas so como elas so, pode recorrer esta instncia. O fato que os representantes da teoria gerativista declaram a gramtica IG como o nico e verdadeiro objeto da sua pesquisa representa, ao nosso ver, um erro. Esta exclusividade tem apenas o efeito de uma auto-limitao voluntria e no representa um perigo, enquanto os gerativistas no representam a maioria absoluta dos pesquisadores lingsticos. A vantagem desta auto-limitao facilmente compreensvel. A competncia de um falante torna-se, deste modo, uma qualidade (fsica?) da pessoa. We suggest that for H to know the language L is for Hs mind/brain to be in a certain state. (CHOMSKY 1986: 26). Afirmaes sobre a gramtica so interpretadas como statements about structures of the brain. Segue-se consequentemente: Statements about I-language (...) are true or false (ibid.: 23) no seu sentido rgido! Os gerativistas conseguiram, desta maneira, realizar um sonho que os lingistas cultivam h cem anos: UG and theories of I-languages, universal and particular grammars, are on a par with scientific theories in other domains (...) Linguists will be incorporated within the natural sciences. (ibid.: 27; realce nosso). Deste modo, os humanistas e socilogos tornaram-se cientistas empricos atravs da mera re-interpretao do objeto de pesquisa: Today the distributional analysis of E-languages continues, but now it is called analysis of genetic endowment. (ITKONEN 1991: 71). Conforme o ponto de vista gerativista, a lingstica, agora, est on a par com as cincias exatas. O engano se encontra na pressuposio que todas as possveis afirmaes certas a respeito de uma lngua esto esgotadas, assim que a gramtica IG de uma lngua completa e adequadamente descrita. FANSELOW/ FELIX (1987: 58-62), por exemplo, esforam-se bastante em argumentar contra a hiptese que a lngua representa um sistema de convenes que se desenvolveria atravs de um processo da mo invisvel. Consequentemente, a hiptese principal do nosso trabalho, conforme estes dois autores, inadequada, ou pelo menos suprflua. O argumento que a pressuposio de um processo da mo invisvel seja inadequado funciona assim: O termo conveno, de princpio, implica a possibilidade geral de violar a conveno. (ibid.: 58) Mas as crianas no conheam a lngua do seu ambiente por conveno, porque as crianas no tm escolha nenhuma (ibid.: 61). Consequentemente: muito duvidoso, sob este ponto de vista, se a aquisio e o uso de uma lngua, de fato, podem ser chamados de uma conveno. (ibid. 62), pois: Cada um aprende e emprega necessariamente a lngua do seu ambiente. Diante deste fato, as questes se se trata de uma conveno e se h alternativas virtuais no fazem sentido. (ibid.: 62). Os autores, obviamente, usaram neste argumento o princpio de Frege da nodistino do distinto (FREGE 1966: 115). Pois a pergunta se uma lngua natural representasse completamente ou em parte um sistema de convenes diferente da pergunta, se uma conveno as crianas aprenderem a lngua do seu ambiente. As crianas no aprendem a sua lngua materna por costume, mas porque seu equipamento biolgico prev isto. De fato, no se trata de uma conveno que os alemes falam alemo e os franceses falam francs (FANSELOW/ FELIX 1987: 62) (apesar do fato que uma conveno chamar alemo ou francs, o que eles falam). No entanto, o
74
objeto da sua aquisio de lngua tem (em grande parte) um carter convencional. Em outras palavras: O que elas aprendem uma conveno. O fato que elas aprendem geneticamente determinado. Analisamos, em seguida, o argumento de FANSELOW/ FELIX (1987) que a pressuposio de um processo da mo invisvel seria suprfluo. O pensamento dos dois autores se apresenta assim: Se a lngua uma conveno, o objeto desta conveno, afinal das contas, deve ser uma gramtica. (ibid.: 59). Teoricamente, fosse possvel que esta conveno, simplesmente, se manifestasse nisso, que todos os falantes de uma lngua dispem de uma gramtica IG que mentalmente representada e que , nas suas reas centrais, igual para todos os indivduos, o que facilitaria a comunicao lingstica entre eles. (ibid.: 60). Mas se a conveno consiste em possuir a mesma gramtica IG (ibid.: loc. cit.), podemos reduzir esta conveno completamente gramtica IG; isto significa que uma especificao completa e adequada da gramtica IG representa, ao mesmo tempo, uma caracterizao adequada e completa da conveno. (ibid.: loc. cit.). A validade deste argumento depende da maneira como ns resolvemos a falta de nitidez daquela pressuposio que a lngua representa uma conveno. Ser que o objeto da conveno a igualdade das gramticas IG, ou ser que os autores pressupem que o objeto daquele conhecimento lingstico que constitui a gramtica IG tem um carter convencional? No primeiro caso, no haver reduo nenhuma; pois uma especificao de uma ou vrias gramticas IG desembocar numa teoria sobre o conhecimento lingstico dos respectivos falantes, mas nunca numa teoria sobre a igualdade dos conhecimentos lingsticos nas reas centrais. No segundo caso, poderamos, de fato, falar sobre uma reduo parcial, pois uma especificao adequada e completa da gramtica IG, realmente, abrangeria tambm o objeto da conveno, mas no incluiria a convencionalidade do objeto. Claro que um gerativista obstinado poderia dizer: Eu no me interesso pelo aspecto da convencionalidade! Meu interesse refere-se exclusivamente gramtica universal e esta, per definitionem, no tem carter convencional, mas inata, todavia, esta afirmao implicaria uma renncia exigncia que uma explicao deve ser adequada; o que no corresponderia com a condio sine qua non que os lingistas geralmente aceitam para suas teorias. Suponhamos que um falante exprime uma frase do tipo: *No lhe acompanho, porque estou muito ocupado. O falante de tais frases no viola nenhum princpio da gramtica universal (UG); ele simplesmente no conhece a regncia de alguns verbos. Geralmente no o objetivo da formao de teorias lingsticas descrever a gramtica IG de falantes esquisitos, mas a dos falantes que conhecem a sua lngua muito bem, como CHOMSKY (1965/1969: 13) ainda escreveu em 1965. Claro que nem CHOMSKY (1986) pde viver sem idealizaes. Ele no se interessa pela gramtica IG de qualquer pessoa, mas apenas the case of a person presented with uniform experience in na ideal Bloomfieldian speech community with no dialect diverity and no variation among speakers. (CHOMSKY 1986: 17). Para a lngua desta hipostasized speech community vale que ela deve ser enfrentada como uma pure` instance of UG. (ibid.: loc.cit.). Isto significa que a idealizao foi deslocada. Antigamente, o falante idealizado era o objeto de pesquisa; hoje ele parece ser um homem comum que teve a sorte de aprender a sua lngua materna numa comunidade de falantes que completamente idealizada. Isto significa nada menos do que Chomsky tem exclusivamente interesse para um falante cuja gramtica IG est conforme com a conveno. Conforme a conveno, porm no significa idntico a conveno!, pois cada falante participa na
75
conveno da sua lngua materna, mas ningum consegue cobri-la totalmente. Conseqentemente, no haveria ningum que possusse uma gramtica IG cuja especificao adequada e completa representasse uma especificao adequada e completa do objeto das convenes gramaticais. Em respeito lngua IL, podemos afirmar que cada falante , num sentido trivial, um falante competente, pois como j vimos, a lngua IL representa exatamente este conjunto de frases que a sua respectiva gramtica IG permite gerar. Ao contrrio disso, chama-se um falante competente no Portugus, por exemplo, aquele cuja gramtica IG gera uma lngua IL que est de acordo com as convenes. Conforme as convenes, justamente neste caso, que ela representa um conjunto parcial daquela lngua EL que gerada pelos princpios e regras universais e convencionais de uma comunidade de falantes. Claro, que uma lngua, no sentido de lngua de uma comunidade da falantes, encontra-se num nvel mais elevado de abstrao do que uma lngua interna IL. Tambm certo que a lngua, como fenmeno de terceiro tipo, representa um epifenmeno daqueles aes comunicativas que geram a estase e a mudana da sua estrutura, mas no h nada de desonroso no fato de ser um epifenmeno. Na rea cultural, muitas vezes, so justamente os epifenmenos que so os mais interessantes. A inflao representa um epifenmeno das nossas aes econmicas; possvel que at religies representam epifenmenos; as trilhas e engarrafamentos citados so epifenmenos, do mesmo modo, como as lnguas naturais no seu sentido hiposttico. Os lingistas devem ser conscientes dos efeitos de uma limitao voluntria que impede a realizao daquele raciocnio de abstrao que parte das aes individuais nos parmetros das competncias individuais e chega ao processo de mo invisvel que o resultado destas aes individuais. Em primeiro lugar, tal limitao implica renunciar ao conceito j mencionado que afirma que a competncia individual tem conformidade com as convenes. Ela impede, ao mesmo tempo, um adequado conceito sobre a aquisio da linguagem, pois o que forma a base da aquisio da lngua , por um lado, os princpios inatos da gramtica universal e, por outro lado, as experincias de sucessos e fracassos comunicativos. A criana aprende filtrar a abundncia do seu input lingstico a fim de descobrir, base das experincias bem sucedidas e fracassadas, as estruturas que tem valor convencional na sua comunidade de fala. Chomsky afirmou vrias vezes que o conhecimento inato de linguagem represente um filtro para as lnguas possveis. Queremos realar que o ambiente do uso tambm age como um filtro. Em segundo lugar, esta renncia abstrao do raciocnio implica tambm a impossibilidade de analisar a mudana lingstica. Podemos distinguir, atravs da dicotomia de Chomsky, entre I e E, a mudana interna da mudana externa, mas, quando fizermos isto, constataremos de novo que o fenmeno externo no pode ser reduzida a um ou vrios fenmenos internos. Por um lado, a afirmao que a palavra saga2, no sentido de bruxa, desapareceu do lxico externo e, por isso, da gramtica externa do portugus do Brasil no implica a concluso que esta palavra desapareceu tambm do lxico interno e, consequentemente, da gramtica interna de um falante individual. Por outro lado, a observao que a nossa gramtica interna sofreu uma mudana no implica a concluso, que na gramtica externa aconteceu a mesma mudana ou uma semelhante. Talvez nenhuma mudana tenha ocorrido na gramtica externa!
76
Em outras palavras: a mudana interna no e necessria nem suficiente para a mudana externa; e a mudana externa no e necessria nem suficiente para a mudana interna. Na verdade, a mudana interna no representa nenhuma mudana lingstica e a mudana lingstica, por sua vez, no representa nada que acontece na cabea de um falante individual. The distinction between I-language and E-language is useful in that it invites linguistics to ask what is the actual object of their study. But a legitimate answer to this question can be either`or both`. (HURFORD 1987: 26). Para as questes em respeito a mudana lingstica cabe como resposta apenas both, pois, por dizer na terminologia de Chomsky, fornecer uma explicao para a mudana lingstica significa mostrar que um fenmeno da lngua externa LE represente um epifenmeno que , sob certas condies histricas, um resultado necessrio do uso em massa das gramticas internas IG dos integrantes de uma comunidade de fala. Claro que o uso da gramtica interna IG exige conhecimentos que ultrapassam os conhecimentos que constituem a gramtica interna IG. O prprio Chomsky reala isto: Enquanto ns no tivermos resolvido as questes how we talk e how we act, bastante correto dizer that something very important is left out (...); I not only agree, but insist on that. (CHOMSKY 1980/1981: 80). Apesar do incmodo que o prprio Chomsky constatou, os gerativistas, por enquanto, no querem levar em considerao que a lngua externa EL representa uma das condies que determinam como os falantes empregam a sua gramtica interna IG e como eles a adquirem e modificam. 17. UM PROCESSO EVOLUCIONRIO Neste captulo, analisaremos a questo em que medida o desenvolvimento lingstico representa um caso de evoluo socio-cultural e como os mecanismos de tal processo evolucionrio se representam. O termo desenvolvimento lingstico, neste contexto, no se refere ao surgimento da linguagem humana a partir de formas preliminares de linguagens animais, mas ao desenvolvimento histrico das lnguas. O desenvolvimento lingstico, neste sentido, inclui necessariamente estase assim como mudana. Os historiadores lingistas tradicionalmente se ocuparam mais com o aspecto da mudana; provavelmente por causa de uma pressuposio oculta que sugere: onde nada mudou, tambm no h nada a explicar. Todavia, ao nosso ver, no h um argumento objetivo que justificasse tal preferncia. O fato, por exemplo68, que, no Brasil, algumas formas antigas do portugus sobreviveram que podem ser encontradas j em escritores portugueses dos sculos XV e XVI, e que os portugueses modernos avaliam como erros, merece tanto uma explicao, como o desaparecimento das respectivas formas no portugus de Portugal. Deste modo, por exemplo, conservaram-se, como herana de uma lngua portuguesa que se falou h muito tempo, na fala caipira as palavras despois, escuitar ou entonce e na linguagem corrente de Cear, as expresses ele chamou-me ignorante ou cheguei em casa. Mesmo se os portugueses so convencidos que os brasileiros cometem graves erros, estes brasileirismos j se encontram na literatura clssica. Cames, por exemplo, sempre usou as formas com gerndio estou falando, estou indo, enquanto as formas correspondentes do portugus de Portugal, estou a falar, estou a ir, representam uma inovao bem recente.
68
cf. BAGNO (1998: 120-122)
77
A estase exige a mesma ateno porque o antigo provrbio, se ns no fizermos nada, continuar tudo igual, no vale na rea das lnguas. Se ns no fizermos nada, a lngua desaparecer, mas tudo ficar igual, se ns no mudarmos as nossas preferncias de expresso. Tanto faz, se ns mantemos ou mudamo-las, em ambos os casos ns fazemos uma escolha (geralmente inconsciente) cuja primeira alternativa to misteriosa como a segunda. A evoluo na lngua, por isso, deve abranger os dois tipos de fenmenos, a estase e a dinmica. O uso do termo evoluo nas reas social e cultural, muitas vezes, causa fortes suspeitas de dois lados. Por um lado, h o receio principal de querer exercer, de uma maneira inadequada, uma cincia natural; por outro lado, h o perigo de ser confundido com um adepto do darwinismo social. Ambas as preocupaes tem suas razes na histria da cincia lingstica e merecem, por isso, uma breve resposta. O desejo de muitos lingistas de pertencer ao ilustre crculo dos cientistas naturais estimulou alguns a exceder-se em teorias grotescas. Sabe-se que Max Mller ou August Schleicher, apesar da qualidade extraordinria da sua obra, freqentemente foram vitimas das suas idias darwinistas. As afirmaes de Chomsky e seus adeptos mostram que o desejo de trabalhar com o mtodo indutivo de Galileu sobrevive tambm em nossa poca e o sonho de chegar a mesma exatido de resultados que marca as cincias naturais nunca acabou. Por isso realamos, mais uma vez, se ns defendemos a opinio que uma teoria do desenvolvimento lingstico seja uma teoria evolucionria, ns no concatenamos esta afirmao com a pretenso de representar uma teoria que pertena s cincias naturais. COSERIU (1958/1974: 154) escreveu neste contexto: Observamos o fato que as cincias humanas ainda no dispem sobre um conceito prprio para substituir o termo incmodo e inadequado da evoluo, pois, ao contrrio dos objetos naturais, os objetos culturais so marcados pelo desenvolvimento histrico e no pela evoluo. E em outro trecho ele afirma: O sistema no se desenvolve no sentido de uma evoluo, mas gerado pelos falantes de acordo com as necessidades de expresso. (ibid.: 246). Apesar desta crtica de Coseriu, em respeito ao nosso emprego dos termos evoluo ou gentico, ns nos encontramos, mesmo pelo seu ponto de vista, em boa companhia: Quem pensa (...) a formao de lngua sucessivamente, tem que atribui-la, como todos os processos de formao na natureza, a um sistema evolucionrio (realce nosso). Quem escreveu isto, foi HUMBOLDT (1836/1907: 149); e em outro trecho ele realou que a verdadeira definio da lngua (...) pode apenas ser uma gentica (realce nosso) (ibid.: 46). Nosso raciocnio, ento, se alinha numa tradio sociolgica que teve tambm efeitos sobre a teoria biolgica. Pois Bentham, Smith e Malthus foram os precursores da teoria darwinista: Tratou-se de uma nova e magnfica idia quando Darwin imaginou a natureza como uma economia, em que os animais e plantas valem (...) como integrantes de uma sociedade, como cidados da natureza (...). No seria to compreensvel como Darwin conseguiu influenciar tanto os terico sociolgicos, se ns no soubssemos que a sua prpria teoria representa uma sociologia da natureza e que Darwin transferiu o ento ideal do estado ingls natureza. (RDL 1909: 128) No mesmo sentido, como Adam Smith era o ltimo filsofo de moral e o primeiro economista, Darwin era o ltimo economista e o primeiro bilogo., escreveu Simon Patton69 no ano 1899.
69
citado conforme HAYEK (1983: 172)
78
Com esta afirmao, chegamos ao segundo perigo, o de ser confundido com um adepto do darwinismo social. Aqueles filsofos que tentaram transferir a teoria de Darwin sociedade humana eram pssimos bilogos, assim como pssimos socilogos. Eles colocaram as metforas de Darwin sobre a luta pela sobrevivncia e a sobrevivncia of the fittest ao servio das justificaes pseudo-cientficos do imperialismo e do racismo. Esta transcrio das idias de Darwin em um novo contexto foi possvel porque eles tomaram a metfora da luta no sentido literal a fim de provar que a guerra e a opresso ocorrem com a necessidade das leis naturais. A hiptese da sobrevivncia do mais apto (fittest) foi reinterpretada no sentido da sobrevivncia do mais forte. No se tratou, naquela poca, do progresso da teoria sobre a evoluo cultural, mas do apoio ideolgico para a poltica colonial e racista; contudo, na lingstica, as idias do darwinismo social tinham apenas um papel secundrio e, ao nosso saber, apenas August Schleicher empregou a metfora da luta pela sobrevivncia quando ele proclamou a vitoria das lnguas indogermnicas. Nossa tentativa de compreender o desenvolvimento lingstico como um processo evolucionrio no se caracteriza de maneira nenhuma pela aspirao de transferir um modelo terico das cincias naturais a um objeto das cincias humanas. Ao contrario, nossa argumentao se destaca pela aspirao de aplicar a uma anlise lingstica um modelo terico, nomeadamente este da mo invisvel, cuja origem se encontra nas cincias culturais. Pela perspectiva da histria das cincias, assim como, pelo ponto de vista da lgica do sistema, precisa-se apenas de um pequeno passo para fazer a ponte entre a teoria da mo invisvel e o conceito da evoluo. Apesar disso, a teoria da evoluo biolgica serve-nos apenas como um modelo heurstico, cuja anlise crtica fecunda o pensamento anlogo sem deixar-nos cair em antigos vcios. Quais so as condies que um desenvolvimento histrico deve cumprir, para ser chamado, com toda razo, um processo evolucionrio? H trs critrios a verificar: (i) O processo no pode ser teleolgico; isto significa que ele no pode ser realizado de maneira controlada e em respeito a um certo objetivo previamente definido. Isto no exclui a possibilidade que processos evolucionrios podem correr numa certa direo, mas, de maneira nenhuma, que eles tem que tomar uma certa direo. Por isso, a realizao de uma reforma ortogrfica no representa um processo evolucionrio, mesmo se ela se efetua num prazo biolgico e mesmo se ela provoca sub-processos evolucionrios. O processo deve acumular pequenas mudanas. Isto significa que ele geralmente gerado por populaes e no por indivduos. A dinmica do processo deve se basear num jogo entre variao e seleo. Abstraindo os efeitos do mero acaso, a cooperao entre variao e seleo sempre se realiza quando o jogo contem alternativas cujo grau de adequao varia em respeito a um dado objetivo ou uma dada tarefa e em respeito a um dado ambiente ou s dadas condies ecolgicas.
(ii) (iii)
Analisaremos, em seguida, de qual modo a lngua, como um dos representantes daqueles objetos culturais que ns chamamos de fenmenos de terceiro tipo, cumpre as trs condies citadas. ad (i) O desenvolvimento das lnguas naturais evidentemente no teleolgico; o processo de mudana no serve para alcanar um certo objetivo; ele no tem um objetivo previamente definido e ele no previsvel (vide: cap. 10). No entanto, ele
79
corre, em parte, numa certa direo (vide: cap. 13), o que explica a possibilidade de extrapolar tendncias. ad (ii) O desenvolvimento lingstico, sem dvidas, representa um processo cumulativo. Ser cumulativo justamente uma das caractersticas decisivas dos fenmenos de terceiro tipo (vide: cap. 6, 9). ad (iii) O caso da terceira condio menos bvio. No faltam observaes na literatura que o mecanismo da variao e da seleo tambm age na lngua; Max Mller afirmou, num trecho citado por DARWIN (1871/1893: 116): Em cada lngua, h uma luta contnua entre as palavras e as formas gramaticais pela sobrevivncia. As melhores formas, as mais curtas e mais fceis sobrepem-se incessantemente s outras; e elas devem a sua vitria sua prpria fora inerente. Hermann Paul escreveu em 1880 nos seus Princpios da histria de lngua: O objetivo no tem outro papel no desenvolvimento da conveno lingstica do que aquele que Darwin lhe proporcionou no desenvolvimento da natureza orgnica: a maior ou menor utilidade dos objetos formados determina a sua chance de sobreviver ou perecer. O ilustre bilogo contemporneo, Richard Dawkins, afirma: As lnguas, sem duvida, passam por um processo evolucionrio. (DAWKINS 1986/1987: 260). No seu livro O gene egosta, ele enumera uma srie de analogias entre as evolues biolgica e cultural. Ele at inventou um termo que corresponde, na rea da cultura, ao conceito do gene e a qual ele deu o nome meme. Memes geram, igualmente como genes, rplicas com um alto grau de exatido em copiar. Exatido em copiar outra palavra para longevidade em forma de cpias.(DAWKINS 1976/1978: 34). Memes so, por assim dizer, unidades de memria que tem justamente o tamanho certo para ainda ser transmissveis en bloc de uma memria para outra. Exemplos para um meme so: melodias, pensamentos, slogans, moda de roupa, a maneira como se faz loua de barro ou arcos. (ibid.: 227). Claro que unidades lingsticas como palavras, idiomas, a maneira de articular uma palavra ou de formar o seu plural, tambm representam memes. Ao deslocar-se de um corpo para outro, os genes se multiplicam, no fundo de genes (ingl.: gen pool; obs. nossa), atravs dos espermatozoides e dos vulos; os memes se multiplicam, de maneira analgica, no fundo de memes (ingl.: mem pool; obs. nossa) ao saltar de um crebro para outro, atravs de um processo que se chama , num sentido geral, imitao.(loc. cit.). Alguns memes se juntam, da mesma maneira como os genes, e concatenam-se em cadeias complexas de memes, a fim de aumentar suas chances de sobreviver, respectivamente de contagiar algum. Cada um por si mesmo, nem o meme Deus, nem o meme purgatrio tivessem sido to bem sucedidos, como eles foram, quando eles se juntaram e formaram junto com o meme f uma cadeia complexa de memes. (ibid.: 233). Os memes concorrem um com o outro para conquistar um espao na memria escassa. Como entre os genes, h, entre os memes, alguns que tem maior xito, no fundo de memes, do que os outros. Isto corresponde com a seleo natural. (ibid.: 229). Assim, que os memes que geram suas prprias rplicas tinham se formado, comeou (...) seu prprio processo de evoluo.(loc. cit.).
80
Interrompemos aqui o jogo de analogias que o prprio Dawkins provavelmente no levou a muito srio e desenvolveremos nossas prprias idias mais especificamente lingsticas, mas, antes de tudo, vamos observar uma coisa: As palavras e formas que lutam, conforme Max Mller, pela sua sobrevivncia e os memes de Richard Dawkins que concorrem para uma freqncia maior no fundo dos memes tem uma coisa em comum: todos eles so personificaes, protagonistas que agem num jogo de variao e seleo. Continuemos com nosso pensamento: Em analogia do fundo de genes, isto , do conjunto de todos os genes de uma populao, podemos imaginar um fundo de memes lingsticos, um conjunto de todos os memes de uma comunidade de fala, quer dizer, de todas as unidades lingsticas, que tem justamente o tamanho certo para deslocar-se de uma competncia individual para a outra. Trata-se, nisso, de um tipo de infeo70. Os falantes se infectam por uso e aceitao, quer dizer, pela aprendizagem. Ao contrrio dos genes, que ficam num corpo durante toda a sua vida, um meme lingstico capaz de deixar uma competncia individual, simplesmente, pelo ato de esquecimento. Os genes tem aleles. Onde h um gene para olhos azuis haver um gene para olhos castanhos. Chamam-se aleles os concorrentes para o mesmo lugar num cromossoma. Memes lingsticas tambm tem aleles. Trata-se dos concorrentes para um espao na fala. Podemos chama-los alternativas de expresso, unidades lingsticas que podem assumir a mesma funo. A impresso, que a prxima CPI do oramento, mais uma vez, no ter conseqncias para os culpados`, pode ser exprimida pelo menos por cinco maneiras diferentes: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Isto vai acabar em nada. J vi este filme antes. Isto vai acabar em pizza. Isto vai dar em nada. Isto vai acabar em samba.
Estes cinco aleles concorrem para um lugar na fala para exprimir a nossa indignao. Formas gramaticais (eremitos eremites eremites), ou variaes de ortografia ( catorze quatorze) e pronncia (mendigo mendingo, tossir tussir, problema poblema) podem concorrer entre si e so, por isso, aleles. Sinnimos so aleles para excellence. Ao nosso ver, o problema para com a analogia de Dawkins se encontra no fato que seus memes so interpretados como reprodutores ativos, dotados com uma mobilidade irreal. Esta capacidade biolgica transforma o modelo de Dawkins numa verso moderna do vitalismo cultural, pois genes realmente agem, eles, de fato, so replicadores, eles se juntam em corpos (plantas, animais e homens) que lhes servem para a reproduo. Um gene no tem outro desejo do que ver-se representado no fundo de genes com a maior freqncia possvel. Ele realiza este objetivo ao colaborar na formao de um corpo que se adapta melhor s circunstncias (ingl.: fitter) do que outro corpo que no contm o mesmo gene. Um gene bom, ento, aquele que forma um corpo mais eficiente (ibid.: 102). Ao contrrio disso, os memes no se servem dos crebros para reproduzir-se. Nesta analogia a relao entre produtor e produto colocado s avessas. Ns somos produtos dos nossos genes, mas produtores dos nossos memes. Resta levantar a objeo: Somos produtores dos nossos memes, mas no de todos! A maioria das coisas que ns
70
SAUSSURE (1916/67: 248) fala do contato contagioso.
81
temos na cabea tem sua origem na cabea dos outros. Esta objeo correta! at verdade que, muitas vezes, ns nem podemos nos proteger contra a invaso de um meme. At aqui, mesmo a metfora da infeo correta: conhecemos palavras ou teorias que nunca planejamos aprender, mas os invasores no me foram a contribuir na sua multiplicao. No h analogia na natureza para a diferena entre posse ativa e passiva. Ao contrrio dos genes, um meme lingstico no se aproveita do homem para multiplicar-se com xito. Pelo contrrio, o homem se aproveita dos memes lingsticos a fim de realizar seus objetivos comunicativos ou, mais geral, para conseguir sucesso social. O que um meme bom? Por duas razes, esta pergunta no se responde de maneira to inequvoca como a pergunta pelo bom gene. Primeiro, por causa da assimetria entre posse ativa e passiva. Pode ser muito til conhecer formas lingsticas que ns nunca empregamos em nossa fala; at formas cujo uso ns abominamos. Compreender mais e melhor do que compreender menos. Neste ponto de vista, a minha competncia individual nunca chega a ser grande demais. Todos os memes so bons memes do ponto de vista do possuidor. Do ponto de vista do usurio, o negcio outro; e isto representa a segunda razo: bons memes so aqueles cujo emprego conduz minhas aes comunicativas ao sucesso desejado. O que vale como sucesso, porm, depende de muitos fatores. O que importa para o gene, apenas a sua freqncia alta. Justamente esta pode ser muito indesejvel para o usurio de uma unidade lingstica. O sucesso social, as vezes, corresponde com a escolha original do recurso lingstico. Dawkins, ento, simplificou as coisas, quando ele alegou que, no fundo dos memes, alguns dos memes tivessem um sucesso maior do que os outros e que este fato correspondesse seleo natural durante a evoluo biolgica. O mecanismo da seleo lingstica inclui dois nveis que mantm uma relao de realimentao, pois cada homem que domina uma lngua dispe de uma certa competncia real ou individual (em distino daquela competncia ideal a que os lingistas se referem quando eles querem denominar o objeto de uma gramtica). A competncia individual contm a gramtica IG de Chomsky e, apesar disso, muitas outras coisas como, por exemplo, estratgias, mximas e pressuposies sobre a competncia individual dos outros. Como j vimos no contexto da mxima de Humboldt, a competncia individual contm expectativas em relao ao comportamento dos outros, assim como expectativas em relao s expectativas dos outros. No h duas competncias individuais idnticas. No h, por exemplo, dois falantes que dispem exatamente do mesmo lxico. Nossa competncia tambm no assim, que ns poderamos dispor sobre um certo recurso lingstico para um dado objetivo comunicativo que garante em qualquer contexto e com qualquer receptor o mesmo sucesso. No h um recurso lingstico adequado para cada situao, mas h um recurso lingstico para cada situao; sempre pressuposto que a nossa competncia bastante rica. A competncia individual do homem tem o carter de uma hiptese71. A nossa competncia nossa hiptese sobre a questo, como ns conseguiremos influenciar, num dado contexto, um dado receptor para acreditar no que ns acreditamos, para fazer o que ns queremos que ele faa e para sentir o que ns queremos que ele sinta. Sabe-se que os falantes, geralmente, no tem conhecimento terico da sua lngua. Eles so incapazes de formular as regras sobre o uso de expresses cotidianas. Perguntado, se eles conhecem as regras do emprego da palavra cabea, eles,
71
cf. MAUTHNER (1901/1982: 6)
82
provavelmente no se lembrariam que no se diz Eu tenho dentes na cabea ou Eu tenho um nariz na cabea, enquanto, sim, pode-se dizer Eu tenho orelhas na cabea. A assimetria do nosso conhecimento lingstico depende diretamente do seu carter hipottico. Ns no conseguimos, por assim dizer, ler as nossas hipteses de trs para frente: para todas as situaes possveis, temos um estoque de hipteses que dizem qual recurso lingstico seria o mais adequado ou o mais bem sucedido para uma dada situao; mas no temos uma hiptese para um dado recurso lingstico que diria em que situao ns podemos emprega-lo adequadamente. A competncia individual uma hiptese que se orienta nos problemas e no nas regras. ( uma das tarefas dos lingistas, derivar as regras dos problemas). O carter hipottico da nossa competncia individual uma conseqncia do carter experimental das nossas aes comunicativas. Cada vez que um falante entra em contato comunicativo com outro, ele realiza um pequeno experimento social. Como j vimos, o homem geralmente, tenta realizar, durante a comunicao, vrios objetivos simultaneamente. Ser compreendido representa apenas um deles. Os diversos objetivos podem at entrar em conflito um com o outro. Para realizar todos os objetivos, vrias exigncias devem ser cumpridas: temos que avaliar corretamente a situao, o receptor, a sua competncia individual, os seus conhecimentos do mudo e as suas expectativas em relao a ns; e finalmente temos que escolher os recursos lingsticos adequados para tudo isso. Claro que durante todos estes clculos corremos risco de fazer decises erradas. Durante a comunicao quotidiana, geralmente, ningum tem conscincia do fato que ns realizamos permanentemente pequenos experimentos. Isto vale, porque a maioria deles coroada de xito, porque nossa competncia individual uma boa hiptese que bem testada para as situaes quotidianas. Mas h situaes em que ns temos plena conscincia do risco de fracasso parcial ou total: concorrer a um emprego, conquistar uma mulher, pedi-la em casamento, vender um produto ou falar numa lngua estrangeira. Vale uma nota observar que nosso modelo comunicativo no nos obriga a pronunciar-nos sobre as diversas teorias de aquisio de linguagem. A idia que a competncia individual tem um carter hipottico e o seu uso um carter experimental no inclui afirmaes sobre a aquisio do nosso conhecimento lingstico. No interrompemos a questo sobre qual o tamanho da parte filogeneticamente adquirida, isto , ontogeneticamente pr-existente e qual o tamanho da parte ontogeneticamente adquirida? Experimentos que tem xito, simplesmente afirmam a hiptese; e estes que fracassam em parte ou totalmente levam os experimentadores espertos modificao da respectiva hiptese. Chegamos, de novo, ao nosso problema do mecanismo da variao e seleo das lnguas. Temos, de princpio, duas perguntas: a primeira pela instncia que realiza a seleo; e a segunda pelo nvel onde a seleo se realiza. Os bilogos ainda no entraram num acordo total sobre o nvel onde a seleo se realiza: ao nvel dos genes, dos indivduos, dos coletivos ou da espcie? Para a seleo lingstica oferecem-se, ao nosso ver, apenas dois nveis potenciais: o nvel do indivduo e o nvel de unidade lingstica. Em respeito s instncias da seleo natural, a harmonia entre os bilogos parece ser maior. Distinguem-se, na biologia, dois tipos de seleo conforme as suas instncias
83
de seleo: a seleo fenotpica (ingl.: survival action) e a seleo genotpica (ingl: reproductive selection)72. Para a seleo fenotpica, a instncia de seleo o meio; ela conduz adaptao s condies ecolgicas. A instncia de seleo da seleo genotpica so os parceiros da vida sexual. Ambas as selees podem corresponder a tendncias opostas. Um veado, por exemplo, seria melhor equipado para a vida na moita sem sua armao enorme. Mas intil, um veado sem armao nunca receber a chance de legar sua forma bem adaptada a uma prole. Na rea da cultura humana, h tipos de seleo bem parecidas com este exemplo. Devemos os sapatos Luis Quinze exclusivamente antecipao da seleo reprodutiva, mas para a seleo lingstica no descobrimos ainda nenhuma razo que justificasse a distino entre os dois tipos de seleo j mencionados. No obstante, podemos distinguir entre dois outros tipos de seleo: uma que vem de fora e outra que o prprio falante realiza. Estes dois tipos de seleo se referem a diferentes nveis de seleo, mas eles so ligados um ao outro73. A seleo exterior chama-se seleo social e a interior chama-se seleo lingstica. A seleo social refere-se pessoa; a seleo lingstica refere-se aos recursos lingsticos. H um processo de realimentao entre os dois mecanismos de seleo. Analisaremos um exemplo: Sr. Roberto Brega concorre a um emprego no Banco do Bruzundanga74. Para isto, ele escreve uma carta oficial. Sr. Brega se esforar a redigir sua carta da melhor maneira possvel, pois ele saber que seu futuro depender muito da forma lingstica desta carta. Em conseqncia disso, ele escolher seus recursos lingsticos conforme sua crena sobre a melhor maneira de impressionar os senhores diretores do Banco do Bruzundanga. Finalmente, ele ter a inteno de transmitir a idia que ele seria o melhor candidato possvel. Isto significa que Sr. Brega antecipar a seleo social dos senhores diretores e realizar a seleo lingstica dos seus recursos estilsticos com base nesta dita antecipao. Entre as alternativas de expresso que sua competncia individual mantm a sua disposio, ele escolher estas que prometero, na sua opinio, o resultado desejado. Trata-se, nisso, de um experimento comunicativo. Pressupomos que o experimento fracassar: Sr. Brega no conseguir o emprego no Banco do Bruzundanga. Se ele um experimentador esperto, ele corrigir, em seguida, a sua carta mais uma vez antes de arriscar-se num novo jogo. Nisso, ele no poder contar com qualquer ajuda dos senhores diretores, pois a resposta negativa refere-se pessoa e no aos recursos lingsticos da carta. Isto mostra, que a lngua, geralmente, interpretada como uma parte da pessoa. Sr. Brega no receber a diagnose para o fracasso do seu experimento. Se for necessrio, cabe-lhe a anlise dos seus erros, assim como a modificao da sua carta antes de realizar um novo experimento. Obviamente, estamos numa espiral contnua de seleo: seleo lingstica seleo social seleo lingstica etc. O que faz o jogo to interessante, mas tambm to arriscado, o fato, que ns nunca saberemos se, no prximo experimento, as condies ecolgicas sero semelhantes e que ns nunca teremos certeza, se nossas diagnoses estaro corretas. Mesmo se nossos receptores fornecerem uma diagnose, ns ainda no poderamos ter certeza; pois eles tambm poderiam errar.
72 73
HUXLEY (1963: XIX seg.) cf. TOULMIN (1972/1978: 394 seg.) 74 Devemos este nome a stira Os Bruzundangas de Lima Barreto
84
H outro processo de realimentao, maior ainda e de natureza indireta: A colaborao de Sr. Brega no processo de mo invisvel! Pois Sr. Brega tambm contribui um pouquinho na conservao e na modificao das convenes de Bruzundanga: Sr. Brega violou, provavelmente, algumas convenes que os senhores diretores acharam incondicionalmente validas e, em conseqncia disso, ele no recebeu o emprego. Se esta violao das regras no teve um carter extremamente idiossincrtica, mas se referiu a uma variao que tolerada na lngua falada, mas (ainda) no na escrita, ento ele, provavelmente, contribuiu com sua transgresso da norma culta a um processo de mo invisvel que acabar numa nova conveno. Deste modo, ns estamos o tempo todo ocupados com o estabelecimento de normas em cujas exigncias ns fracassaremos mais tarde. 18. OBSERVAES FINAIS Este trabalho representa o resultado do conhecimento que a histria da lngua tambm tem de ser acompanhada duma cincia que se ocupe com as condies gerais da vida do objeto que historicamente se desenvolve (...). (PAUL 1880/1966: 13). Uma cosmologia da lngua a condio prvia da possibilidade de realizar uma histria da lngua que tem fora explicativa. Nosso estudo teve como objetivo o desenvolvimento de uma imagem da lngua a que a mudana permanente do seu objeto no uma idia alheia (PAUL 1880/1920: 369). Isto no implica a hiptese muito mais forte que a mudana contnua seja uma caracterstica essencial e necessria das lnguas naturais, pois tal hiptese afirmaria: H pelo menos uma qualidade (ou um conjunto de qualidades concatenadas) das lnguas naturais que causa(m) com necessidade lgica a sua mudana contnua. No conhecemos tal qualidade! Mas mostrou-se que h certas caractersticas do nosso uso da lngua que causam com necessidade a mudana contnua da nossa lngua. Faltam tambm os argumentos para provar que tais caractersticas tem sua origem em qualidades essenciais da espcie humana. O rio da lngua corre sem interrupo, escreveu SAUSSURE (1916/1996: 163). Mas a prova da necessidade deste processo tambm lhe custou muito: Mas em que se baseia a necessidade de mudana? pergunta ele (ibid.: 91) e responde desamparadamente: O tempo altera todas as coisas; no existe razo para que a lngua escape a essa lei universal. (loc. cit.). Mesmo se ns, por falta de argumentos concludentes, temos que deixar a questo em aberto, se a mudana contnua das lnguas representa um processo necessrio ou no, ainda resta-nos o fato, que a mudana lingstica, de fato, foi registrada em todas as lnguas naturais, por toda a parte e em todas as pocas. A falta de um exemplo contrrio sugere tomar esta hiptese como um fato. Como j foi dito, para a compreenso desta hiptese precisa-se desenvolver um conceito de lngua a que este fato no alheio; como, por exemplo, no caso do conceito de lngua de Chomsky, cujos padres nem permitem a pergunta pela mudana lingstica de uma maneira razovel. Para o conceito estruturalista de lngua, a mudana tambm representa um fato exterior, uma coisa que amplamente vista como um distrbio. Uma lngua (...) sofre (...) transformaes, escreveu SAUSSURE (ibid.: 118) de maneira significativa. Quem v a lngua exclusivamente como sistema de smbolos que reflete o mundo e que serve para trocar idias, est sempre disposto a interpretar a mudana lingstica como um
85
mecanismo que serve, primeiramente, para remediar as faltas internas do sistema ou a adaptar, novamente, a imagem lngua ao original mundo, sempre quando o original se afastou da sua imagem. Vimos, que, na verdade, as mudanas do mundo no representam argumentos suficientes ou necessrios para mudanas lingsticas. A mudana lingstica uma conseqncia necessria da maneira como ns empregamos nossa lngua na comunicao. (Como j foi dito, vamos deixar em suspenso, se o uso da lngua por si uma conseqncia da natureza humana.) Uma das teses bsicas deste trabalho que uma lngua natural, em primeiro lugar, representa um recurso para influenciar os outros; isto significa que a comunicao lingstica um mtodo especfico da nossa espcie para levar o outro a concluses interpretadoras. Quem comea analisar a lngua por este aspecto, reconhecer imediatamente que, na aplicao deste mtodo, entram logo fatores no jogo como o sucesso e o fracasso ou a importncia de hipteses apropriadas sobre o parceiro, o objetivo e a situao; trata-se, nisso, exclusivamente de conceitos que sugerem o emprego de recursos dinmicos para participar neste jogo de influncia. Desenvolvemos esta idia partindo da teoria do caos. O modelo da criao de uma ordem espontnea serviu, ao mesmo tempo, para a explicao de um aspecto importante da natureza das lnguas naturais. Interpretamos a lngua como um costume de influncia que se formou atravs de um processo de mo invisvel; um fenmeno de terceiro tipo que nasceu sem planejamento ou inteno em conseqncia de comportamentos naturais do ser humano, comportamentos que STEWART (1858/1971: 34) chamou known principles of human nature. a hiptese principal deste trabalho, que uma lngua natural represente um fenmeno de terceiro tipo e que a explicao atravs da mo invisvel represente o nico modelo adequado para tornar este tipo de fenmenos compreensvel. Esta hiptese ultrapassa a rea da anlise lingstica: no possvel compreender aspectos decisivos da cultura ou dos fenmenos socioculturais sem interpret-los como fenmenos de terceiro tipo. Mudana de lngua, ento, um caso especial da mudana socio-cultural. No tencionamos, porm, ligar a esta definio a pretenso de uma hegemonia conceptual. No negamos que uma lngua natural (tambm) representa um sistema de signos ou smbolos, que ela um cdigo ou uma energeia, no sentido de Humboldt, e que faz sentido analis-la sob o aspecto de uma gramtica interna (IG) de Chomsky. Nossa hiptese no que a lngua seja isto e no aquilo, porque acreditamos que a pergunta pela essncia da lngua, no fundo, uma pergunta ingnua. No se trata da questo o que a lngua , mas como ela deve ser interpretada quando lanamos os olhos sobre certas formas interrogativas. A hiptese, conseqentemente, deve ser formulada da seguinte maneira: Quando a lingstica interessa-se no fato da mudana lingstica e da sua explicao, conveniente, analisar uma lngua natural sob o aspecto de um fenmeno de terceiro tipo. O conhecimento da histria de um problema aprofunda a compreenso da essncia do problema. Por isto desenvolvemos o problema, especialmente nos primeiros captulos, com muitas referncias a histria da cincia. Evitamos conscientemente a tentativa de separar nitidamente a parte sistemtica da parte histrica, pois nosso objetivo no foi escrever um ensaio historiogrfico, mas ligar os problemas da gnese e da mudana de lngua com a mudana e a gnese do problema. As perguntas sobre a vida e o crescimento das lnguas que os lingistas do sculo XIX tinham levantado
86
no foram resolvidos de maneira nenhuma. Eles simplesmente desapareceram, depois da mudana de paradigma que Saussure tinha provocado, porque outras perguntas surgiram como mais urgentes. Com o fim da metfora do organismo lingstico desapareceu tambm o interesse na vida da lngua. Conseqentemente, tentamos, com este trabalho, referir-nos s perguntas em cujas tradio ele est: Nosso estudo tenta retomar e resolver problemas que especialmente a lingstica alem do fim do sculo XIX levantou e em que ela aferrou-se em parte. Aplicamos, nisso, idias que especialmente a filosofia social e de linguagem dos filsofos escoceses do sculo XVIII formularam. Os primeiros captulos serviram para o desenvolvimento histrico-sistemtico do problema e da sua soluo; seguiu-se uma explicao da teoria que reclama por si resolver os problemas: a teoria dos fenmenos de terceiro tipo e o seu modelo de explicao atravs da mo invisvel. Nosso trabalho levanta a hiptese que a explicao da mo invisvel representa a nica forma adequada para explicar a mudana lingstica. Esta pretenso parece, de fato, desnecessariamente intolerante e dogmtica. Mas ela uma conseqncia do nosso conceito de lngua. Alm disso, no h, por enquanto, outra explicao concludente. No seu livro On Explaining Language Change, LASS (1980: pg. XI) provou com bons argumentos que as explicaes oferecidas na lingstica podem ser desmascaradas como pseudo-explicaes sem fora explicativa. The supposed explanations reduce either to taxonomic or descriptive schemata (which, whatever their merits and they are considerable (...) are surely not explanations), or to rather desparate and logically flawed pseudo-arguments. Quem defende a opinio de que haja outros modelos de explicao para os fenmenos de mudana lingstica (com exceo dos poucos exemplos da normalizao autoritria como, por exemplo, reforma ortogrfica, mudana de nome, definio terminolgica) deve mostrar que os argumentos de Lass no valem e que haja outros modos de explicao que realmente representem explicaes. Encontra-se ainda outra estratgia para o objetivo de refutar as afirmaes de Roger Lass: H o argumento que nossas exigncias sejam rgidas demais, que h um conceito menos exigente em respeito ao termo explicao e que este conceito mais tolerante tenha fora explicativa e represente um conceito de explicao adequado para a lingstica. Evidentemente, referem-se a esta estratgia por exemplo TRAVAGLIA (1993) ou BERLINCK (1989). Eles defendem um tipo de explicao que respeita a dimenso discursiva (TRAVAGLIA 1993: 71), respectivamente, que se encaixa na teoria da variao e mudana lingstica (BERLINCK 19989: 109). Ambos os autores reivindicam por si apresentar um princpio terico de fora explicativa (TRAVAGLIA 1993: 75), quer dizer, uma explicao para o estabelecimento, a mudana e a permanncia do sentido (loc.cit.) que seja lingisticamente correta. Uma explicao correta, obviamente, se constitui de dois tipos de razes para o fenmenos em questo: (i) razes inerentes lngua (por exemplo: esquemas de explicaes funcionalistas: ajuste do sistema lingstico, economia, fuga de homnimos, etc.); razes extra-lingsticas (por exemplo: efeitos substrato vs. suprstrato, o prestgio de um grupo social, a estigmatizao, etc.)
(ii)
87
BERLINCK (1989) escolheu como exemplo a ordenao frasal SV vs. VS no Portugus. Seguindo GUIRAUD (1980), TRAVAGLIA (1993) enumera uma lista abrangente de causas pela mudana lingstica que, ao seu ver, exclusivamente acontece no nvel coletivo. Ambos os estudos tm o defeito de apresentar explicaes cuja plausibilidade apenas percebvel numa concluso circular: o seu paradoxo que elas tem apenas um valor parcial e no geral, quer dizer, apenas nos casos em que elas se confirmam e no nos casos anlogos onde no houve mudana. As suas causas explicam, ento, apenas os exemplos citados, e, em conseqncia disso, valem todas as objees que ns citamos j no capitulo 10. Trata-se, na verdade, de pseudo-explicaes sem fora explicativa, cujos argumentos representam um paralogismo clssico: post hoc ergo propter hoc. A concluso vaga de BERLINCK (1989: 109) tpica para este mtodo de anlise circular: Concluindo, portanto, os fatos discutidos nesse capitulo representam exemplos concretos dos pressupostos centrais da teoria da variao e mudana lingstica, ao mostrar que o aparente caos esconde um sistema delicado e engenhosamente articulado. Um sistema que, embora inerentemente mutvel, consegue manter sua funo comunicativa, na medida em que a mudana se d lentamente, como um processo gradual de adaptao do sistema. Concluses deste tipo que descobrem no fim da anlise, novamente, os prprios pressupostos, simplesmente no se chamam concluses. Pois a adaptao do sistema no explica a mudana, mas representa a sua conseqncia. TRAVAGLIA (1993), obviamente, sentiu no seu estudo o impasse das explicaes pelas causas lingsticas e extra-lingsticas e tentou levantar uma hiptese de natureza hierarquicamente superior (ibid.: 85). Mas seu modelo de um universo discursivo no consegue representar aquela cincia de princpios ou, num palavra bem moderna, cosmologia, que Hermann Paul tinha exigido j no sculo passado. A existncia de estruturas a que a teoria dos fenmenos complexos aspira, somente pode se tornar compreensvel atravs de uma cosmologia, escreveu HAYEK (1969: 154) bem no sentido de Hermann Paul. O esclarecimento das condies do devir histrico d-nos, simultaneamente com a lgica geral, a base para a teoria dos mtodos, a que se deve obedecer na verificao de cada um dos fatos.. (PAUL s.d.: 15). Claro que no podemos concluir, que tal cosmologia resolver qualquer problema, pois pressupor isto significaria confundir a condio necessria com a suficiente. Neste contexto, foram levantadas diversas objees contra a teoria dos fenmenos de terceiro tipo; certamente com a suposio que a incapacidade de explicar certos fenmenos de mudana provaria a invalidade da explicao atravs da mo invisvel. Citamos aqui apenas um exemplo para este argumentao: Sabe-se que certos fonemas sofreram alteraes no decorrer da histria do portugus e outras no. As consoantes iniciais, escreve, por exemplo, COUTINHO (1998: 111), no sofrem, em regra geral, modificao na passagem do latim para o portugus. As alteraes, que porventura nelas se notam, j se tinham operado no latim, ou decorrem da influncia da analogia, ou da ao de algum fonema vizinho, ou ainda de ter a palavra penetrado primeiro em outra lngua, de onde foi trazida depois ao portugus.
88
Coutinho enumera, em seguida, uma lista de modificaes e indica as suas causas atravs de argumentos inerentes ao sistema da lngua (analogia, princpo da economia, etc.). J conhecemos este mtodo circular e tambm j criticamos o tipo dos seus resultados. O que nos interessa aqui, o fato que Coutinho tambm parte da idia que os fenmenos estticos, quer dizer os fonemas sem alterao, no exigem uma explicao, simplesmente, porque eles no mudaram. Coutinho, deste modo, no explica, porque as consoantes iniciais /p/, /k/, /l/, /m/ e /n/ sofreram alteraes, enquanto justamente /t/ e /r/ ficaram inalteradas. Porque /kr/ se tornou /gr/ enquanto, na mesma posio /tr/ ficou /tr/? Ser que a explicao atravs da mo invisvel chegaria, nestes casos, a resultados mais convincentes? A resposta no! Ns tambm no conhecemos as verd adeiras causas e suspeitamos de que elas dificilmente sero descobertas, pois, para ficar explicvel, um fato histrico de uma lngua deve se encontrar numa distncia adequada com a base de explicao. O que significa isso? Vamos seguir um exemplo matemtico de HERINGER (1988). Analisaremos uma afirmao que pode encontrar-se em qualquer histria lingstica: (p b) (por exemplo: lupu lobo; ripa riba; capere caber). Esta regra afirma que a consoante medial /p/ se tornou /b/ na passagem do latim para o portugus. Seria uma explicao concludente (atravs da mo invisvel) deste fato, se ns mostraremos quais mximas sob quais condies ecolgicas provocaram um comportamento cuja conseqncia foi a implantao do fonema /b/ em lugares onde antigamente houve o fonema /p/. No seu experimento terico, HERINGER (1988: 3) calculou a base emprica de tais afirmaes. Such innocent looking statements are about highly complex processes, and therefore common historiography of language suffers from serious macroscopy. Vamos observar (junto com Heringer) esta macrscopia mais de perto. Pressupomos que o fenmeno da mudana lingstica citada estende-se sobre um perodo de 200 anos. Pressupomos, alm disso, que 100 milhes de portugueses participaram neste processo evolucionrio e que eles conversaram em mdia uma hora por dia. Neste prazo eles pronunciaram na mdia 2000 palavras com um comprimento mdio de 5 fonemas. Isto significa que 108 falantes produziram 104 manifestaes fonticas num prazo de 7x104 dias. Isto d como resultado 7x106 manifestaes fonticas. No tomamos em considerao que a recepo destas articulaes tem pelo menos o mesmo papel importante para o processo de mudana lingstica do que a sua emisso pelos falantes. Ento chegamos ao resultado estimado que a formula (p b) significa mais ou menos isto: Onde, no momento t1, foi pronunciado o fonema /p/ 70.000.000.000.000.000 manifestaes fonticas mais tarde foi articulado o fonema /b/. I hope that this Gedankenexperiment may convince us that statements like (p b) belong to a very specific kind of empiricism. (HERINGER 1988: 5). O que aprendemos com este exempo? legtimo fazer certas afirmaes descritivas sobre a historiografia de uma lngua que nunca podem se tornar candidatos razoveis para esforos explicativos. Fenmenos lingsticos so explicveis na medida em que a dimenso escolhida adequadamente. Ao nosso ver, encontramos esta dimenso adequada apenas num nvel estrutural que ainda pode ser correlacionado de maneira razovel com o nvel das aes lingsticas. Quem quer saber como uma ameba se transformou num elefante deve se conter com um resposta bastante geral, quer dizer, com uma explicao do tipo por princpio. Mas mesmo se a projeo da anlise d certo, uma explicao, muitas vezes, ficar fora do alcance, pois no dispomos sobre os conhecimentos necessrios para realiza-la. A
89
histria de lngua sempre se definiu essencialmente como uma cincia descritiva, por isso os dados necessrios para uma histria de lngua que tem fora explicativa nunca foram compilados ou classificados. Apesar destes fatos desanimadores, continua valer, para a lingstica histrica, o que CHOMSKY (1965/1969: 40) j exigiu h alguns anos para a teoria gramatical: Mesmo se muitas vezes j difcil conseguir a exatido descritiva, a exigncia fica indispensvel para o desenvolvimento produtivo da teoria lingstica que ela persegue objetivos ainda muito mais altos. Este objetivo se chama: exatido explicativa. A teoria da histria de uma lngua mostra sua exatido explicativa na medida em que ela consegue correlacionar os dados histrico-descritivos (adequadamente reconstrudos) com os tipos de aes lingsticas cujas conseqncias eles representam. Isto significa que a teoria da histria de uma lngua deve justificar as mudanas lingisticas como conseqncias involuntrias de aes individuais que foram realizadas sob certas condies ecolgicas e conforme certas mximas de ao. Mesmo se os dfices contingentes ao nosso conhecimento, muitas vezes, se opem a este objetivo, acreditamos que este trabalho mostrou, que isto representa, por princpio, uma exigncia que a pesquisa pode cumprir.
90
ANEXO
Distribuio e divulgao de variaes numa dada rea base da norma: "Fale como os outros na sua vizinhana!"
Iterao: 0
Iterao:20
91
Distribuio e divulgao de variaes numa dada rea base da norma: "Fale como os outros na sua vizinhana!"
Iterao: 80
Iterao: 500
92
Distribuio e divulgao de variaes numa dada rea base da norma: "Fale como os outros na sua vizinhana!"
Iterao:1000
As isoglossas de "nichts" (nada) na antiga rea de divulgao da lngua alem
93
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS AITCHINSON, Jean (1987). Words in the Mind. Oxford: Blackwell. ______, _____ (1991). Language Change: Process or Decay? Cambridge: Cambridge University Press. ALARCOS LIORACH, Emlio (1951). Gramtica Estrutural. Madrid: Gredos. ______, _____ (1968). Fonologa Espaola. 4a ed. Madrid: Gredos. ARNAULD, A. & LANCELOT, C. (1660/1969). Grammaire Gnrale et Raisonne. Paris: Republications Paulet. ______ & _____ (1685/1972). Die Logik oder die Kunst des Denkens. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft. ______, ____ & NICOLE, Pierre (1683/1965). La logique ou lart de penser. Ed. crit. FREYTAG LRINGHOFF, B. von & BREKLE, E. 2 vols. Stuttgart: Frommann. AUSTIN, John L. (1962). How to do Things with words. (ed. J.O. Urmson). Oxford: Oxford Univerity Press. Citado conforme edio alem: ______ (1972) Zur Theorie der Sprechakte. (ed. Ernst von Savigny) Stuttgart: Reclam. AYREN, Armin (1986). Wenn wir htten, was wir haben. Der gestrte Konjunktiv. In: GAUGER, Hans Martin (1986). Sprach-Strungen. Beitrge zur Sprachkritik. Mnchen, Wien: Beck. Pg. 110-124. BAGNO, Marcos (1997). A lngua da Eullia. Novela Sociolingstica. So Paulo: Editora Contexto. BAUDRILLARD, Jean (1976). Lchange symbolique et la mort. Paris: Gallimard. BEEH, Volker (1981). Sprache und Spracherlernung. Unter mathematischbiologischer Perspektive. Berlin, New York: de Gruyter. BERLINCK, Rosane de Andrade (1989). A construo VSN do portugus do Brasil: uma viso diacrnica do fenmeno da ordem. In: TARALLO, Fernando (org.). Fotografias sociolingsticas. Campinas SP: Editora da UNICAMP. Pg. 95-113. BLOOMFIELD, Leonard (1933/1941). Language. New York: Henry Holt, Rinehart & Winston. BORETZKY, Norbert (1977). Historische Linguistik. Reinbek: Rowohlt. BORSCHE, Tilman (ed.)(1996). Klassiker der Sprachphilosohie. Mnchen: Beck. BOURDIEU, Pierre (1980). O mercado lingstico. In: ____. (1980) Questions de sociologie. Paris: Les ditions de Minuit. BRAL, Michel (1897/1992). Essai de Semantique. Science des significations. Citado conforme traduo portugus: ______ (1992) Ensaio de Semntica. Cincia das Significaes. So Paulo: educ-Pontes. BRUGGMANN, Karl (1878). Vorwort zu den Morfologischen Untersuchungen. In: BRUGGMANN, Karl & OSTHOFF, Hermann (1878). Morfologische Untersuchungen. 1.Bd. Zeitschrift. Leipzig: Engelmann.. _______, ____ & DELBRCK, Berthold (1886). Grundlagen der Komparativen Grammatik der Indogermanischen Sprachen. 3 Bde. Leipzig: Engelmann.
94
BHLER, Karl (1934). Sprachtheorie. Jena, Stuttgart: G. Fischer. Citado conforme reedio parcial em: HOFFMANN, Ludger (1996). Sprachwissenschaft. Ein Reader. Berlin, New York: de Gruyter. CALDAS, Aulete (1968). Dicionrio contemporneo da lngua portuguesa. 5a ed. 5 vol. Rio de Janeiro: Editora Delta. CHERUBIM, Dieter (ed.)(1975). Sprachwandel. Berlin: de Gruyter. CHOMSKY, Noam (1957/1973). Sintactic Structures. The Hague: Mouton. Citado conforme edio alem: ______ (1973).Strukturen der Syntax. The Hague: Mouton. ______, ____ (1965/1969). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge/Mass.: MIT Press. Citado conforme edio alem: ______ (1969). Aspekte der Syntaxtheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. ______, ____ (1966/1971). Cartesian Linguistics. New York: Harper & Row. Citado conforme edio alem: ______ (1971). Cartesianische Linguistik. Tbingen: Niemeyer. ______, ____ (1975/1993). Reflections on Language. New York: Pantheon Books. Citado conforme edio alem: ______ (1993). Reflexionen ber die Sprache. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. ______, ____ (1980/81). Rules and Represantation. New York: Columbia University Press. Citado conforme edio alemo: _____ (1981). Regeln und Reprsentationen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. ______, ____(1982). The Generative Enterprise: a discussion with Riny Huybregts and Henk van Riemsdijk. Dordrecht. ______, ____ (1986). Kmowledge of Language: its Nature, Origin and Use. New York: Westport. ______, ____ (1988/1996). Probleme sprachlichen Wissens. Weinheim: Beltz. CICERO (1974). De Finibus Bonorum et Malorum. Stuttgart: Reclam Verlag. CONDILLAC, Etienne Bonnot de (1746/1977). Essai sur lrigine des connaissances humaines. Citado conforme edio alem: _____ (1977). Essay ber den Ursprung der menschlichen Erkenntnisse. Hrsg. Ulrich Ricken. Leipzig: Reclam. COSERIU, Eugenio (1958/74). Sincrona, diacrona, e histria. El problema del cambio lingstico. Madrid, Montevideo. Citado conforme edio alemo: ______ (1974). Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. Mnchen: UTB Fink. ______, ____ (1980). Vom Primat der Geschichte. In: Sprachwissenschaft 5, Heft2. ______, ____ (1983). Linguistic Change Does not exist. In: Linguistica Nuova ed Antica. Rivista de Linguistica Classica, Medioevale e Moderna. Anno I, pg. 5163. COUTINHO, Ismael de Lima (1998). Gramtica Histrica. 16a ed. Rio de Janeiro: Editora Ao Livro Tcnico. CUNHA, Antnio G. da (1997). Dicionrio etimolgico. 9a ed., 5 vol. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
95
DARWIN, Charles (1871/1996). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. London. Citado conforme edio alem: _____ (1996). Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtauswahl. Zrich: Fourier Verlag. DAWKINS, Richard (1976/1996). The Selfish Gene. Oxford. Citado conforme edio alem: Das egoistische Gen. Berlin: Ullstein Piper. ______, ____ (1986/87). The Blind Watchmaker. New York, London.Citado conforme edio alem: ______ (1987). Der blinde Uhrmacher. Ein neues Pldoyer fr den Darwinismus. Mnchen: Ullstein Piper. ENGELS, Friedrich (1890/1972). Brief an Joseph Bloch vom 22. September 1890. In: MARX, Karl / ENGELS, Friedrich (1972). Werke. Vol. 37. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopdie. Pg. 464. FANSELOW, Gisbert/ FELIX, Sascha (1987). Sprachtheorie. Eine Einfhrung in die generative Grammatik. Vol. 1. Tbingen: UTB. FARACO, Carlos Alberto (1982). The imperative sentence in portugues; a semantic and historical discussion. Salford: University of Salford. Ph.D. dissertation. ______, ____ (1991). Lingstica Histrica. So Paulo: Editora tica. FERGUSON, Adam (1767/1904). An essay on the history of civil society. Edinburgh. Citado conforme edio alemo: _____ (1904) Abhandlung ber die Geschichte der brgerlichen Gesellschaft. Aus dem engl Original, und zwar der Ausgabe letzter Hand (7. Aufl. 1814) ins Deutsche bertragen von Valentine Dorn. In: WAENTIG, H. (ed.) (1904): Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister. 2. Band. Jena: Meiner. FLEISCHER, Wolfgang (1971). Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2. Aufl. Tbingen: Max Niemeyer. FREGE, Gottlieb (1905/1966). Logische Untersuchungen. Ed. PATZIG, Gnther. Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. FREI, Henri (1929). La Grammaire des Fautes. Paris, Genve. Citado conforme edio alem: _____ (1929), Leipzig: Meiner. FRITZ, G. (1974). Bedeutungswandel im Deutschen. Tbingen: Niemeyer. ______, ____ (1984). Anstze zu einer Theorie des Bedeutungswandels. In: BESCH, W./ REICHMANN, O./ SONDEREGGER, St. (eds.) (s.d.). Sprachgeschichte. HSK 2.1.-2.2. Berlin: de Gruyter. Pg. 739-753. GARAUDY, Roger (1974). The Alternative Future: A vision of Christian Marxism. Wien, Mnchen, Zrich, New York: de Gruyter. GRAHAM, Alma (1975). The Making of a Nonsexist Dictionary. In: THORNE, Barrie / Hemley, Nancy (eds.). Language and Sex. Differance and Dominance. Rowley/ Mass.: Mass. University Press. GRICE. Herbert Paul (1979a). Utterers Meaning and Intentions. In: The Philosophical Review 78. 147-177. Citado conforme verso alem em: MEGGLE, G. (ed.) (1979). Handlung, Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, Pg. 16-51. ______, ____ (1979b). Utterers Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning. In: Foundations of Language 4.1-18. Citado conforme verso alem em: MEGGLE,
96
G. (ed.) (1979). Handlung, Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, Pg. 85-111. ______, ____ (1979c). Logic and Conversation. In: COLE, P./ MORGAN, J. (eds.). Syntax and Semantics. Vol.3. New York, San Francisco, London: Academic Press. Pg.41-58. Citado conforme verso alem em: MEGGLE, G. (ed.) (1979). Handlung, Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979. Pg. 243-265. GRIMM, Jacob (1819/1968). Vorreden zur deutschen Grammatk von 1819 und 1822. Neudruck. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft. ______, ____ (1851/1854) . ber den Ursprung der Sprache. 1851. In: _____ (1854). Kleinere Schriften. Bd. 1. Berlin: Dmmler. Pg. 255-298. HAAG, Gnther (1983). Die quantitative Soziologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. _____, ____/ WEIDLICH, W. (1988) Interregional Migration: Dynamic Theory ans Comparative Analysis. Berlin, New York: Springer Verlag. _____, ____ / MUELLER, U./ TROITSCH, K.G. (1992) Economic Evolution and Demographic Change: Formal Models in Social Sciences (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 395). Berlin, New York: Springer Verlag. HAAKONSSEN, Knud (1981). The science of a legislator. The jurisprudence of David Hume and Adam Smith. Cambridge. Cambridge Univerity Press. HABERMAS, Jrgen (1971). Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz. In: _______, LUHMANN (1971). Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie was leistet Systemforschung? Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Pg. 101-141. HAYEK, Friedrich August von (1969a): Die Ergebnisse menschlichen Handelns aber nicht menschlichen Entwurfs. In: Freiburger Studien. Gesammelte Aufstze. Tbingen: Gunter Narr. Pg. 97 107. ______, ____ (1969b). Bemerkungen ber die Entwicklung von Systemen und Verhaltensregeln. In: ____.Freiburger Studien. Gesammelte Aufstze. Tbingen: Gunter Narr. Pg. 108-152. ______, ____ (1983). Die berschtzte Vernunft. In: RIEDL, Rupert J. & KREUZER, Franz (1983). Evolution und Menschenbild. Hamburg: Hoffmann und Campe. Pg. 164-192. HERDER, Johann Gottfried (1772/1978). Abhandlung ber den Ursprung der Sprache. Hrsg. PROSS, Wolfgang (1978). Mnchen: Hanser. HUMBOLDT, Wilhelm von (1985). ber die Sprache. Ausgewhlte Schriften. Hrsg. von Jrgen Trabant. Mnchen: dtv. ______, ____ (1836/1994a): ber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und Ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. In: ______ (1836/1907).Gesammelte Schriften, Bd. VII. Berlin. Reedio em: _____ (1994). ber die Sprache. Ausgewhlte Schriften. Hrsg. von Jrgen Trabant. Mnchen: UTB. ______, ____ (1836/1994b). ber die Kawi-Sprache auf der Insel Java. 3 Bde. Berlin: Druckerei der kniglichen Akademie, 1836-1839. Darin insbesondere die
97
Einleitung. In: _____. ber die Sprache. Ausgewhlte Schriften. Hrsg. Jrgen Trabant. Mnchen: UTB. HURFORD, James (1987). Language and Number. The Emergene of a Cognitive System. Oxford: Oxford Univerity Press. HUXLEY, Julian (1963). Evolution. The Modern Synthesis. 2a ed. London. ITKONEN, Esa ( 1991). What is methodology (and history) of linguistics good for, epistemologially speaking? In: Historie Epistmologie. Language 13/I. 51-75. KREUZER, Franz (1983). Evolution und Menschenbild. Hamburg: Hoffmann und Campe. LABOV, W (1971). Das Studium der Sprache im sozialen Kontext. In: KLEIN, Wolfgang & WUNDERLICH, Dieter (eds.). Aspekte der Soziolinguistik. Frankfurt: Suhrkamp. Pg. 111-194. _____, ____ (1972a). The social motivation of sound change. Reproduzido in: _____. Sociolinguistics patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, cap. I. _____, ____ (1972b). The The reflection of social processes in linguistic structures. In: _____. Sociolinguistics patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, cap. V. _____, ____ (1972c). Subjective dimensions of a linguistic change progress.In:_____. Sociolinguistics patterns. Philadelphia: University Pennsylvania Press, cap.VI. in of
_____, ____ (1972d). On the mechanism of linguistic change. In: _____. Sociolinguistics patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, cap. VII. _____, ____ (1976/1978). Sprache im sozialen Kontext. Beschreibung und Erklrung struktureller und sozialer Bedeutung von Sprachvariationen . 2 vol. Kronberg/Ts.: Athenum. _____, ____ (1981). Resolving the neogrammarian controversy. Language, 57 (2). _____, ____ (1982). Building on empirical foundations. In: LEHMANN, W. & MALKIEL, Y. (eds) (1982). Perspectives on historical linguistics. Amsterdam: John Benjamins. Pg. 17-92. _____,_____ (1994). Principles of Linguistic Change. Vol.1. Oxford: University Press. ______, JAEGER, M., STEINER, R (1972). A quantitative study of sound change in progress. Philadelphia: US Regional Survey. LEIBNITZ, Gottfried Wilhelm (1710/1983). Brevis Designatio Meditationum de Originibus Gentium Ductis Potissimum Ex Indiciis Linguarum. 1710. Verso alem: Hrsg. PRKSEN, Uwe (1983). Stuttgart: Reclam. LASS, Roger (1980). On Explaining Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. LEVIN, Jules (1988). Computer Modelling Language Change. Riverside/CA: Scripts of the Univerity of Riverside/ CA. LEWIS, David (1969/1975). Convention. A Philosophical Study. Cambridge/MA: Cambridge University Press. Citado conforme edio alem: _____ (1975).
98
Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhandlung. Berlin, New York: de Gruyter. LORENZ, Konrad (1973). Die Rckseite des Spiegels. Versuch Naturgeschichte des menschlichen Erkenens. 2. Aufl. Mnchen: Piper. einer
LUHMANN, Niklas (1984). Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. LDTKE, Helmut (1980). Sprachwandel als universales Phnomen. In: _____ (ed.)(1980). Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels. Berlin, New York: de Gruyter. LYONS, John (1968). Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge. Citado conforme edio alem: _____ (1980) Einfhrung in die moderne Linguistik. 5a ed. Mnchen: Beck. ______, ____ (1977/1980). Semantics. 2 vol. Cambridge: Cambridge Univerity Press. Citado conforme edio alem: _____ (1980). Semantik. 2 vol. Mnchen: Beck MANDEVILLE, Bernard de (1732/1980). The Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick (sic!) Benefits. With a Commentary Critical, Historical, and Explanatory by F.B.Kaye. 2 Vols. Oxford. Citado conforme edio alemo: _____. Die Bienenfabel. Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1980. MARTINET, Andr (1960/1971). Elments de linguistique gnrale. Paris: A. Colin. Citado conforme edio alem: _____ (1971). Grundzge der allgemeinen Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kohlhammer. ______, ____ (1960/1991). Elments de linguistique gnrale. Paris. Citado conforme edio portugus: ______ (1970/1991). Elementos de Lingstica Geral. 11a ed. Lisboa: Livraria S da Costa Editora. MATURANA, Humberto R. & VARELA, Francisco (1972). Autopoiesis and cognition. Dordrecht: Reidel. MAUTHNER, Fritz (1912/1982) Beitrge zu einer Kritik der Sprache. Bd. 2: Zur Sprachwissenschaft. Stuttgart. Nachdruck der ungekrzten Ausgabe Frankfurt a.M., Berlin, Wien: Erich Schmidt Verlag. MEILLET, Antoine (1905). Comment les Mots Changent de Sens. Paris. In: ______ (1936). Linguistique Historique et Linguistique Gnrale. Tomo 2. Paris: Kliencksieck. MOISES, Massaud (1995). A literatura portuguesa atravs dos textos. 24a ed. So Paulo: Cultrix. MLLER, Max (1862/ 1892). Vortrge ber die Sprachwissenschaft. Leipzig. In: _____ (1862/1892). Die Wissenschaft der Sprache. Vom Verfasser autorisierte deutsche Ausgabe besorgt durch Dr. R. Fick und Dr. W. Wischmann. Bd.1. 15. Aufl. Leipzig: Engelmann. NEHBUSCH, Rdiger (1994). Amazonas: Uma viagem origem do tempo. Palestra com projeo de slides na Universidade Tcnica de Berlim no dia 28 de junho de 1994. NOZICK, Robert (1977). Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books.
99
_______, _____ (1993). The Nature of Rationality. Princeton: Princeton Univerity Paperbacks. OSCHE, Gnther (1987). Die Sonderstellung des Menschen in biologische Sicht: Biologische und kulturelle Evolution. In: SIEWING, Rolf (ed.)(1987). Evolution. Bedingungen Resultate Konsequenzen. Stuttgart, New York: Kohlhammer. PAUL, Hermann (1880/1966). Prinzipien der Sprachgeschichte. 7. unvernderte Auflage. Tbingen: Max Niemeyer. _____, ____ (s.d.) Princpios Fundamentais da Histria da Lngua. 2a ed. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian. PIERCE, Charles Sanders (1983). Phnomen und Logik der Zeichen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. ______, ____ (1991). Schriften zum Pragmatismus. Frankfurt a. M: Suhrkamp. PRIGOGINE, Ilya & STENGERS, Isabelle (1984). Order out of Chaos. Mans new Dialogue with Nature. New York: Bantam. PUTNAM, Hilary (1978). Meaning, Reference and Stereotypes. In: GUENTHNER F./ GUENTHNER-REUTTER, M. (eds.). Meaning and Translation. London. Random House. ______, ____ (1988/1991). Representation and Reality. Philosophical Papers Vol.2. Cambridge/Mass.: MIT Press. Citado conforme edio alem: ______ (1991). Reprsentationen und Realitt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. RDL, Emil (1909): Geschichte der biologischen Theorien in der Neuzeit. Band 2: Geschichte der Entwicklungstheorien in der Biologie des 19. Jahrhunderts. Leipzig: Dmmler. REICHMANN, O. (1984). Historische Lexikologie. In: BESCH, W./ REICHMANN, O./ SONDEREGGER, St. (eds.) (s.d.). Sprachgeschichte. HSK 2.1-2.2.. Berlin: de Gruyter. Pg.: 440-460. RONNEBERGER-SIBOLD, Elke (1980). Sprachverwendung Sprachsystem, konoie und Wandel. Tbingen: Max Niemeyer. ROUSSEAU, Jean-Jaques (1781/1981). Essai sur lrigine des langues. Ed. Charles Porset. Paris: Nizet. SAPIR, Edward (1921/1961). Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace & Company. Citado conforme edio alem: ______ (1961). Die Sprache. Eine Einfhrung in das Wesen der Sprache. Mnchen: Hber. SAUSSURE, Ferdinand de (1916/1967). Cours de Linguistique Gnrale. 3a ed. Paris: Payot. Citado conforme edio alem: ______ (1967) Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 2. Aufl. Berlin: de Gruyter. ______, ____ (1916/1996). Cours de Linguistique Gnrale. 3a ed. Paris: Payot. Citado conforme edio portugus (1996). Curso de lingstica geral. Trad. Chelini, A., Paes, J.P. & Blikstein, I. & Salum, I.N.. So Paulo: Cultrix. SCHAU, Udo (1989). Dicionrio de Portugus Alemo. Porto: Porto Editora.
100
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph (1850/1959). Vorbemerkugen zur Frage ber den Ursprung der Sprache. In: SCHRTER, Manfred (Hrsg.). Schellings Werke. 4. Ergnzungsband. Mnchen: Beck und Oldenbourg. SCHELLING, T.C. (1969). Models of Segregation. In: American Economic Review54. 488-493. SCHLEICHER, August (1861-1862). Handbuch der Komparativen Grammatik der Indogermanischen Sprachen. Weimar: s.r.c. ______, ____ (1863). Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar: s.r.c. ______, _____ (1850/1983). Die Sprachen Europas in systematischer bersicht: Linguistische Untersuchungen. New York: John Benjamins Pub. Co. SERRA E GURGEL, J.B. (s.d.) Dicionrio de Gria. Modismo Lingstico. O Equipamento Falado do Brasileiro. 4a ed. (s.r.c.) SEARLE, John R (1969). Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press. _____, ____ (1979). Expression and meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press. _____, ____ (1983). Intentionality. An essay in the philosophy of mind. Camridge: Cambridge Univerity Press. SILVA NETO, Serafim da (1952/1970). Histria da Lngua Portuguesa. 2a ed. Rio de Janeiro: Livros de Portugal. SMITH, Adam (1776/1920). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London:1776. Reprint. London: s.e.,1812. Citado conforme edio alem: ______ (1920) Eine Untersuchung ber Natur und Wesen des Volkswohlstandes. Bd. 2 In: WAENTIG, H. (ed.) (1920): Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister. Bd. 12. Jena: Meiner. STAM, James (1976). Inquiries into the Origin of Language: The Fate of a Question. New York: Hagerstow. STEIN, Dieter (1990). The Semantics of Syntactic Change. Berlin, New York: de Gruyter. STEINTHAL, Heymann (1851). Der Ursprung der Sprache im Zusammenhang mit den letzten Fragen des Wissens. Eine Darstellung der Ansicht Wilhelm von Humboldts verglichen mit denen Herders und Hamanns. Berlin: Dmmler. STEWART, Dugald ( 1858/1971). The collectes Works of Dugald Stewart. ESQ., F.R.S.S. Herausgegeben von Sir William Hamilton. Bart., Vol. X. Boston/ Mass. Republ. Farnborough U.K. TOULMIN, Stephen (1972/78). Human Understanding. Vol I: The Collective Use and Evolution of Concepts. Princeton/New Jersey: Citado conforme edio alem: ______ (1978). Kritik der kollektiven Vernunft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. TRABANT, Jrgen (1990). Traditionen Humboldts. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. _______, _____ (ed.) (1995). Sprache denken. Frankfurt a. M.: Fischer.
101
TRAVAGLIA, Luiz Carlos (1993). Hiptese de explicao discursiva para a mudana de significado e a formao de palavras. In: LETRAS & LETRAS. Vol 8, No 2, Dez.1992 (publicado em dez.1993). Pg.: 51-89. ______,_____ (1995). Gramtica e interao: uma proposta para o ensino de gramtica no 10 e 20 graus. 3a edio. So Paulo: Cortez Editora. TRIER, Jost (1931).Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Vertandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. 2 Bde. Heidelberg: Winter. TURMA DA MESA 14 (s.r.b.). Ba de Palavras. Expresses em desuso mas que guardam gostosas recordaes. Disseonrio [sic!]. ULLMANN, Stephen (1957). The Principles of Semantics. 2nd ed. Glasgow, Oxford: Jackson, Son & Co. ULLMANN-MARGALIT, Edna (1978). Invisible Hand Explanations. In: Synthese 39, No.2. Pg.263-291. WATZLAWICK, Paul/ BEAVIN, Janet H./ JACKSON, Don (1967/1996). Pragmatics of Human Comunication. A Study of Interactional Papers, Patholgies, and Paradoxies. New York: Norton. Citado conforme edico elam: _____ (1996) Menschliche Kommunikation. Formen, Strungen, Paradoxien. Bern: Verlag Hans Huber. WEISGERBER, Leo (1971). Von den Krften der deutschen Sprache. Bd. 1: Grundzge der inhaltsbezogenen Grammatik. 4. Aufl. Dsseldorf: Alber. WHITNEY, William D (1876/1974). Language and the Study of Language: twelve Lectures of the Principles of Linguistics Science. London. Citado conforme edio alem: ______ (1974). Die Sprachwissenschaft. W.D Whitneys Vorlesungen ber die Prinzipien der vergleichenden Sprachforschung. Bearbeitet von JOLLY, J., Mnchen: Fink. _____, ____ (1875/1976). The Life and Grows of Language. London. Citado conforme edio alem: _____ (1976) Leben und Wachsthum (sic!) der Sprache. bersetzt von LESKIEN, A., Leipzig: VEB Verlag Enzyklopdie. WHORF, Benjamin Lee (1956). Language. Thought and Reality. (ed. John B. Caroll). Cambridge/Mass.: M.I.T. Press. WITTGENSTEIN, Ludwig (1953/1969). Philosophical Investigations. 2a ed.Oxford: Basil Blackwell. Citado conforme traduo alem: _____ (1969) Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. WUNDT, Wilhelm (1900). Vlkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Bd. 1 und 2: Die Sprache. Leipzig: Engelmann. WURZEL, Wolfgang-Ulrich (1992) The Structural Heritage in Natural Morphology. In: LIEB, Hans Heinrich (ed.) (1992). Prospects for a new Structuralism. Amsterdam, Philadelphia.
Você também pode gostar
- Física - Material Didático - Bibl PDFDocumento4 páginasFísica - Material Didático - Bibl PDFHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Buchtipps - Física Na Escola - Rev - Arquimedes - A14 - 2008 PDFDocumento1 páginaBuchtipps - Física Na Escola - Rev - Arquimedes - A14 - 2008 PDFHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Newton Principia-Folha Capa PDFDocumento1 páginaNewton Principia-Folha Capa PDFHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Morgado, Augusto César de O. - Análise Combinatória e ProbabilidadeDocumento99 páginasMorgado, Augusto César de O. - Análise Combinatória e ProbabilidadeGinia Gomes100% (1)
- Racismo em Portugal - Cabo VerdeDocumento42 páginasRacismo em Portugal - Cabo VerdeHans Peter WieserAinda não há avaliações
- O Universo Vermelho - Tabela de ConteúdoDocumento1 páginaO Universo Vermelho - Tabela de ConteúdoHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Buchtipps - Física Na Escola - Rev - Arquimedes - A14 - 2008 PDFDocumento1 páginaBuchtipps - Física Na Escola - Rev - Arquimedes - A14 - 2008 PDFHans Peter WieserAinda não há avaliações
- GrafosDocumento49 páginasGrafosdanieltroinaAinda não há avaliações
- O início do conflito entre Romulo e RemoDocumento2 páginasO início do conflito entre Romulo e RemoHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Plínio - O Berço Da Cultura Ocidental - LatimDocumento2 páginasPlínio - O Berço Da Cultura Ocidental - LatimHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Racismo em São Tomé e PríncipeDocumento29 páginasRacismo em São Tomé e PríncipeHans Peter WieserAinda não há avaliações
- DW - Portugal - O Novo Eldorado Da Classe Média BrasileiraDocumento4 páginasDW - Portugal - O Novo Eldorado Da Classe Média BrasileiraHans Peter WieserAinda não há avaliações
- JoDoBrasil - No Brasil, A Energia Solar Ainda É Inviável Pelo Alto CustoDocumento3 páginasJoDoBrasil - No Brasil, A Energia Solar Ainda É Inviável Pelo Alto CustoHans Peter WieserAinda não há avaliações
- A Origem Das Notas MusicaisDocumento1 páginaA Origem Das Notas MusicaisHans Peter WieserAinda não há avaliações
- A reportagem sobre a 1002a noite na Avenida PaulistaDocumento14 páginasA reportagem sobre a 1002a noite na Avenida PaulistaHans Peter WieserAinda não há avaliações
- O Português Não Procede Do LatimDocumento6 páginasO Português Não Procede Do LatimDébora Pretti D'OnofrioAinda não há avaliações
- HPW A Dêixis Social 11 2003Documento1 páginaHPW A Dêixis Social 11 2003Hans Peter WieserAinda não há avaliações
- Dionisio Et Al - Generos em Debate - Pôsteres Acadêmicos - UFPE - 2013Documento114 páginasDionisio Et Al - Generos em Debate - Pôsteres Acadêmicos - UFPE - 2013Hans Peter WieserAinda não há avaliações
- Jaguaribe - A Máquina de Passar FilmeDocumento1 páginaJaguaribe - A Máquina de Passar FilmeHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Vilela - Teoria Crítica Da Educ de AdornoDocumento104 páginasVilela - Teoria Crítica Da Educ de AdornoHans Peter WieserAinda não há avaliações
- America Do Sol - ApresentaçãoDocumento37 páginasAmerica Do Sol - ApresentaçãoHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Jornal Energia SolarDocumento404 páginasJornal Energia SolarHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Almeida - Construção Do Discurso Homoerótico Nas Narrativas de C Moscovich - 15EnPosUFPELDocumento4 páginasAlmeida - Construção Do Discurso Homoerótico Nas Narrativas de C Moscovich - 15EnPosUFPELHans Peter WieserAinda não há avaliações
- HPW - Classificação Tipológica de Gêneros TextuaisDocumento22 páginasHPW - Classificação Tipológica de Gêneros TextuaisHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Couceiro - A Personagem Negra Na Telenovela BrasDocumento12 páginasCouceiro - A Personagem Negra Na Telenovela BrasHans Peter WieserAinda não há avaliações
- HPW Eagleton Ideologie 3Documento9 páginasHPW Eagleton Ideologie 3Hans Peter WieserAinda não há avaliações
- Chomsky - Triste Espécie - Pobre Coruja de MinervaDocumento4 páginasChomsky - Triste Espécie - Pobre Coruja de MinervaHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Recepção e Reprodução Textuais - Relato de Pesquisa - PRNDocumento20 páginasRecepção e Reprodução Textuais - Relato de Pesquisa - PRNHans Peter WieserAinda não há avaliações
- A Retórica ClássicaDocumento5 páginasA Retórica ClássicaHans Peter WieserAinda não há avaliações
- Concurso Vestibular 2003 da Universidade Estadual de LondrinaDocumento19 páginasConcurso Vestibular 2003 da Universidade Estadual de Londrinarua41Ainda não há avaliações
- Ondine Claude DebussyDocumento65 páginasOndine Claude DebussyBreno VilelaAinda não há avaliações
- O Stylist Como Construtor de ImagensDocumento8 páginasO Stylist Como Construtor de ImagensRaphael PeixotoAinda não há avaliações
- Cerâmica Tradicional no Alto JequitinhonhaDocumento19 páginasCerâmica Tradicional no Alto JequitinhonhaLenço De Seda CecabAinda não há avaliações
- Curadorias pioneiras: Szeemann e ZaniniDocumento13 páginasCuradorias pioneiras: Szeemann e Zaninijulio julioAinda não há avaliações
- Questões EnemDocumento6 páginasQuestões EnemEdir AlonsoAinda não há avaliações
- Practical Applications of Neuroscience Informed Art Therapy - En.ptDocumento10 páginasPractical Applications of Neuroscience Informed Art Therapy - En.ptManu SatoAinda não há avaliações
- Numa Encruzilhada de Quatro Discursos Mediação e Educação Na Documenta 12: Entre Afirmação, Reprodução, Desconstrução e TransformaçãoDocumento13 páginasNuma Encruzilhada de Quatro Discursos Mediação e Educação Na Documenta 12: Entre Afirmação, Reprodução, Desconstrução e TransformaçãoRaiany dos AnjosAinda não há avaliações
- Viollet Le DucDocumento18 páginasViollet Le DucRaonne MeloAinda não há avaliações
- Definicao de Curadoria - Maria Cristina de Oliveira BrunoDocumento11 páginasDefinicao de Curadoria - Maria Cristina de Oliveira BrunoRenata CittadinAinda não há avaliações
- Resumo Artes - Recuperação 1Documento3 páginasResumo Artes - Recuperação 1Ravi RodriguesAinda não há avaliações
- Patrimônio Cultural e Arte na CidadeDocumento2 páginasPatrimônio Cultural e Arte na CidadeSusana Stockmann TrindadeAinda não há avaliações
- Prova 2° Ano TardeDocumento6 páginasProva 2° Ano TardeHalden MonteiroAinda não há avaliações
- GUIMARÃES. M. RIBEIRO. E. Imaginario-em-ExposicaoDocumento153 páginasGUIMARÃES. M. RIBEIRO. E. Imaginario-em-ExposicaomichelleAinda não há avaliações
- Paulo Trabalho004Documento2 páginasPaulo Trabalho004Nz NaganAinda não há avaliações
- Resenha de uma gramática abrangente da língua portuguesaDocumento4 páginasResenha de uma gramática abrangente da língua portuguesaVlad CleyAinda não há avaliações
- SeductressDocumento500 páginasSeductressVinnie VincentAinda não há avaliações
- 3 - A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO (1) PTDocumento4 páginas3 - A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO (1) PTYasmim Motta LameiraAinda não há avaliações
- Carl Flesch Estudos Elementares UrstudieDocumento20 páginasCarl Flesch Estudos Elementares UrstudieDerik CostaAinda não há avaliações
- A semiose hermética e as teorias da recepção em EcoDocumento6 páginasA semiose hermética e as teorias da recepção em EcoLeoTron25Ainda não há avaliações
- ContinuumDocumento21 páginasContinuumBruno KaneoyaAinda não há avaliações
- 31a Livro PTDocumento332 páginas31a Livro PTGlauciaCarneiro100% (1)
- DANÇA - A CoreografiaDocumento44 páginasDANÇA - A CoreografiaAlexsandro FragôsoAinda não há avaliações
- Marionetização do AtorDocumento13 páginasMarionetização do AtorRafael Rodrigues Vieira da SilvaAinda não há avaliações
- Plano de Curso 2022 Ef02Documento22 páginasPlano de Curso 2022 Ef02Caroline CoutinhoAinda não há avaliações
- Funcionalismo X Styling Anna LopesDocumento23 páginasFuncionalismo X Styling Anna LopesAnna LopesAinda não há avaliações
- A Redescoberta Do Barroco Brasileiro e Os Desafios Da Pesquisa em Um Arquivo ColonialDocumento18 páginasA Redescoberta Do Barroco Brasileiro e Os Desafios Da Pesquisa em Um Arquivo ColonialTeresa E. CalgamAinda não há avaliações
- Regulamento ENART 2019Documento30 páginasRegulamento ENART 2019Gilmar gonçalvesAinda não há avaliações
- Souzousareta Geijutsuka: Deslocamentos Entre Realidade e FicçãoDocumento7 páginasSouzousareta Geijutsuka: Deslocamentos Entre Realidade e FicçãoTav NetoAinda não há avaliações
- O rap no Brasil, Chile e CubaDocumento16 páginasO rap no Brasil, Chile e CubagumedaAinda não há avaliações