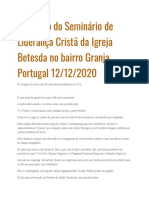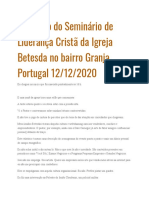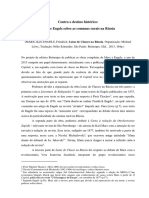Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
02 Lilia
Enviado por
Charles Odevan XavierTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
02 Lilia
Enviado por
Charles Odevan XavierDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Repertrio do
tempo
LILIA MORITZ SCHWARCZ
LILIA MORITZ
SCHWARCZ
professora do
Departamento de
Antropologia da
FFLCH-USP e autora
de, entre outros,
O Espetculo das
Raas (Companhia
das Letras).
INTRODUO:
UM REPERTRIO DO TEMPO
o ano de 1585, Andr de Avelar, natural de
Lisboa e professor na cadeira de matemtica,
publicou o seguinte, e sugestivo, tratado:
Repertrio dos Tempos, o Mais Copioso que
at Agora Saiu Luz, Conforme a Nova Refor-
mao do Pe. Gregrio XIII, ano 1582. Feito por
Andr de Avelar, Dirigido ao Ilmo Sr D Manuel
Castelbranco. Chegam as Tbuas dos Lunrios
e Eclipses at o Ano de 1610. Com Licena.
Impresso em Lisboa por Manoel de Lyra. Ano
de 1585. Com Privilgio Real por Dez Anos
1
.
Contando com 137 folhas e uma dezena
de ilustraes, o documento foi enm apro-
vado pela Inquisio, que exigiu alteraes,
e as realizou, assim como j havia prendido
o autor em seus crceres por conta de ideias
consideradas estranhas aos autos de poca.
Tanto verdade, que Andr Avelar inicia seu
ensaio armando que este Repertrio do
Tempo no tem nada contra a nossa Sagrada
Igreja. O texto se divide em seis partes porque
assim o pede a qualidade e distino das
matrias que nele se tratam, deixando claro
o matemtico que o assunto sujeito a muita
variao e diferena. De fato, o tempo sempre
deu trabalho e no de hoje que divide os
1 Esse documento pode ser
encontrado na Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro,
na seo de obras raras,
sob a classificao SOR
W1,2,1.
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 20
pensadores mais ou menos versados no as-
sunto. Mas continuemos, ainda, com nosso
repertrio.
No de forma desavisada nosso autor
comea seu Tratado I reetindo sobre Do
Tempo e suas Partes. Nessa parte da obra,
Avelar analisa a diviso do ano em meses,
e discorre sobre do ms que coisa , e por
que so doze. Tambm explica por que a
semana formada por sete dias; isso sem
esquecer da diviso do prprio dia, ou seus
motivos de existncia e a natureza dos se-
gundos. No descura ainda de precisar as
idades do homem; as idades do mundo;
a relao de idades dos reis, e por m da
eternidade
(Avelar, 1585, p. 3).
no Tratado II chamado Da Diviso
do Mundo e Suas Partes que o matem-
tico aborda desde os vrios compsitos do
mundo, como
[...] o elemento da gua e da diviso da
Terra, da Europa, da frica, da sia, da
quarta parte do mundo, o elemento do ar,
dos ventos, do vento que corre, o elemento
do fogo, da regio celestial ou etrea, dos
planetas, da quantidade de horas planetrias,
do primeiro cu da Lua, do segundo cu
onde est Mercrio, do terceiro cu onde
est Vnus, do quarto cu onde est o Sol,
do quinto cu onde est Marte, do stimo
cu onde est Saturno, do oitavo cu, do
nono cu, da dcima Esfera, do Zodaco,
do signo de ries, do signo de Tauro, do
signo de Gemini, do signo de Cncer, do
signo de Leo, do signo de Virgo, do signo
de Libra, do signo de Scorpio, do signo
de Sagitrio, do signo de Capric, do signo
de Aqurio, do signo de Pisces, do lugar e
declinao do Sol e quantidade do dia, do
uso das tbuas para saber a quantidade da
noite, a causa e diferena do crescer e min-
guar dos dias em diversas partes e diverso
tempo, do rosto, forma e claridade da Lua,
do movimento prprio da Lua, da diviso
do Curso da Lua para saber em que signo
anda a Lua, do cerco da Lua, da imagem da
Lua ou do Sol que se imprime na nuvem,
do arco da velha, da Galxia ou Via Lctea
que se chamam Caminho de Santiago, do
som ou estrondo ou msica, da grandeza das
estrelas xas e dos planetas, da tbua das
grandezas das estrelas e planetas segundo
Alfragano, das distncias que h do centro
da Terra at cada um dos cus, das tbuas
das distncias que h do centro da Terra
a qualquer dos cus, da linha equinocial,
do horizonte, do meridiano, do Zenith,
do Nadirtit, dos hemisfrios, do auge, do
nascimento e postura do Sol por diferentes
partes do horizonte, para saber a que horas
nasce e se pe o Sol, qualquer dia do ano,
das cinco zonas do cu e plagas da Terra, dos
climas, da exalao, do vapor, das nuvens,
da chuva, da pedra da neve, do rocio da
manh, da geada, da nvoa, dos troves, do
relmpago, do raio, das estrelas que caem
ou correm, do tremor da Terra, da pedra de
corisco, dos fogos e aberturas do cu, dos
cometas (Avelar, 1585, p. 5).
O captulo exaustivo e lembra as fa-
mosas listas de Borges acerca dos animais
presentes numa enciclopdia chinesa; uma
referncia leva a outra que se abre a mais
outra. A tarefa de repertoriar o tempo surge,
pois, innda, como se a mera descrio j
esgotasse as pretenses de Avelar.
Falta ainda mencionar o Tratado III
Da Diversidade dos Ciclos e Calendrio
com Festas Mudveis que inclui
[...] a pormenorizao do ciclo solar, da
tbua do ciclo solar, da letra do mingual,
da tbua da letra do mingual, tbua do ci-
clo falar e letra do mingual, da indicao
de como se saber quantos so de ureo
nmero cada ano, da tbua perptua do
ureo nmero, do crculo das epactas [?];
tbua das epactas que respondem aos ureos
nmeros desde os idos de outubro de 82
tirados os 10 dias at o ano de 1700 exclu-
sivamente, das festas mudveis e Pscoa de
Ressurreio, da tbua perptua das festas
mudveis, do uso da tbua precedente, da
tbua temporria das festas mudveis, do
uso da tbua temporria, da dignidade do
santo e solene dia da Pscoa, da ascenso
de Nosso Senhor Jesus Cristo aos cus, da
Pscoa do Esprito Santo, da instituio da
festa da Santssima Trindade, da instituio
da Festa de Corpus Christi, das Ladainhas,
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 21
das quatro tmporas, do advento quando
se probem as bodas do que se contm no
calendrio, do calendrio, da tbua perptua
para saber que dia e de que ms se celebra a
Pscoa, da Pscoa em cada um ano segundo
o uso da Santa Igreja de Roma, para saber
quando ser ano bissexto, para saber de
memria em que grau e de que signo anda
o sol a cada dia, da tbua de entrada do sol
nos doze signos, para saber de memria em
que signo anda a lua, saber de memria o
ureo nmero, saber de memria a espacta,
saber de memria cada ms quando ser lua
nova ou cheia (Avelar, 1585, p. 8).
O tempo se classica pois a partir de
suas partes mais mecnicas, digamos assim
anos, meses, dias e segundos , mas tam-
bm tendo em mente o espao e o mundo,
ou os ciclos e calendrios marcados pelas
festas que a humanidade manda celebrar.
Perspicaz, nosso cientista investe ainda
mais, abrindo o seu Tratado IV com Das
Eleies Medicinais com o Lunrio e Eclip-
ses do Ano de 1584 at o Ano de 1610. A
estariam contempladas
[...] as quatro compreenses em geral
dos signos que so idneos para sangrar
estando a lua neles conforme a variedade
das compreenses, da tbua dos aspectos
dos planetas com a Lua que so bons para a
sangria, da tbua dos aspectos que probem
e so danosos para fazer sangria, da gura
das partes do corpo em que dominam os
sete planetas e doze signos, das veias do
corpo humano, da eleio da sangria, do
sangrador e seus aparelhos e maneira que h
de ter no sangrar e por ventosas, do tempo
idneo para purgas, da eleio para receber
purgas considerada segundo o movimento
da Lua, da tbua dos aspectos da lua com
os planetas para a eleio da sangria, da
confortao das quatro virtudes naturais
do corpo humano segundo astrlogos, dos
dias caniculares, da tbua do tempo em que
comeam os dias caniculares em diferentes
partes, dos dias crticos, das regras medi-
cinais e astronmicas tiradas de Hermes
Trimegisto estando a Lua em algum dos
doze signos com saturno ou Marte, a Lua
em ries com Saturno, a Lua em ries
com Marte, a Lua em Touro com Saturno,
a Lua em Touro com Marte [], do que se
contam nas tbuas do lunrio, das tbuas
do lunrio do ano de 1584 at o ano de
1610, calculadas ao meridiano de Lisboa,
do uso das tbuas do lunrio, da tbua da
longitude de alguns lugares mais insignes
de Espanha, Ilhas do Mar Oceano, Costa
do Brasil, frica e Guin, respectuadas em
suas distncias a Meridiano de Lisboa, dos
eclipses dos lumiares Sol e Lua, do eclipse
da Lua, do eclipse do Sol, das medidas dos
eclipses, para saber com demonstrao
quantos dedos ou pontos se eclipsa o Sol,
tbuas dos eclipses desde o ano de 1584
at o de 1610.
A lua surgia como o marcador mais
indicado para calcular o tempo presente, e
estar-se nele tranquilo, e Andr de Avelar
usa de seu repertrio para bem orientar
os leitores acerca de eclipses e outros fen-
menos da natureza que bem podem alterar
a calma que preside o tempo.
Tanto que, no Tratado V, quando o pro-
fessor analisa
Da diviso dos signos em triplicidades e
decanos, da signicao universal dos eclip-
ses, da signicao dos eclipses segundo
as triplicidades da signicao dos efeitos
do eclipse do Sol pelos decanos, da signi-
cao do eclipse da Lua pelos decanos,
da signicao dos eclipses pelas cores, se
a signicao do eclipse ser muito ecaz
ou dbil, em que provncias ou regies ser
a signicao do eclipse, tbuas das pro-
vncias e cidades sobre os que doze signos
tem sua signicao, tbua das provncias
e cidades sobre que os planetas tem sua
signicao, da signicao da fertilidade
ou esterilidade do ano por modo rstico, da
mesma signicao por outro modo rstico,
da signicao dos primeiros troves do
ano estando a Lua em qualquer dos doze
signos, da signicao dos troves que se
ouvem das quatro partes do mundo, da sig-
nicao dos troves pelos doze meses, da
signicao dos troves depois da cancula,
estando a Lua em algum dos doze signos,
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 22
da signicao do estado vindouro pelo
nascimento da cancula, da signicao
da fertilidade pela temperana das quartas,
sinais de terremotos, sinais de peste, sinais
de carestia, sinais de serenidade, sinais de
ventos por estrelas, sinais de chuvas, sinais
de tempestades, sinais de frios, das signi-
caes dos tempos (Avelar, 1585, p. 12),
trata no s do eclipse como de outros ele-
mentos que serviriam como marcadores de
tempo; ou melhor, como fatores a alterar a
regularidade de sua vigncia. Ao que tudo
indica, o matemtico pretendia tudo listar,
com vistas a tentar minimamente controlar
a arte do tempo.
Bastava, assim, a Avelar indicar, no Tra-
tado VI De Algumas Regras Curiosas de
Astronomia, Pertencentes Arte de Marear
, para dar por terminada a sua tarefa, expli-
cando o mundo dos polos, dos crculos rtico
e Antrtico, mas tambm a tbua das mars
pelo Sol e pela Lua. Mas o objeto ltimo era
sem dvida imenso uma vez que j iniciava
o tratado com a noo de eternidade:
Um espao que no tem princpio nem m,
nem coisa alguma de sucesso e sempre est
em um Ser e em uma permanncia [].
Como diz Santo Agostinho a Eternidade
uma verdadeira incomutabilidade. Tem a
eternidade trs mui excelentes propriedades
que so: ser sem princpio, nem meio, nem
m. Porque uma substncia imensa, incre-
ata, eterna, perfeitssima, por si subsistente,
onipotente, em quem no h coisa maior
nem menor, primeira, nem derradeira, um
sumo bem que de quem todo o bem e sade
depende (Avelar, 1585, p. 13).
Lendo o documento do mestre Avelar de
maneira mais ligeira, tudo pareceria indicar
para uma divagao solitria e isolada, per-
dida em um documento, igualmente perdido
em uma biblioteca. No obstante, o que se
revela, at pela reao ciosa da Inquisio
que altera o texto visando a conform-lo aos
demais saberes da poca, que o tempo
sempre foi bom para pensar
2
. No caso em
referncia, o cientista, ciente de sua tarefa, es-
mera-se em desmembrar medidas, conceitos
e classicaes at o limite que o exerccio
racional pode levar, desaguando na denio,
nada racional, de eternidade, para encontrar
uma espcie de limite paradoxal a seu traba-
lho. Mas o que procura nosso matemtico?
Talvez o tempo seja a prpria cosmologia da
sociedade ocidental, que sempre se pautou
pela procura de uma determinada tempora-
lidade, dada pelo controle matemtico de
quilmetros, segundos, quilos, pesos e outras
classicaes de medida, espao, peso e
temporalidade que passariam a sensao de
mensurao precisa, evolutiva e inexorvel
da prpria histria.
No entanto, visto por outro ngulo (e
alguma desconana), o que o Repertrio
demonstra que tambm ns nos pauta-
mos por respostas falveis e que somos
marcados pela ideia da seta do tempo, nos
termos de Bruno Latour (1994); a certeza
de uma cronologia evolutiva, cumulativa
e progressiva. No obstante, possvel di-
zer que at mesmo na sociedade ocidental
o tempo sempre foi objeto de polmica,
ainda mais quando contrastado com outras
sociedades. Quem sabe a antropologia seja,
portanto, uma boa janela para pensarmos
no s como os outros sempre reetiram
sobre o tempo e, de maneira plural, como
tambm ns. possvel, portanto, inventa-
riar o domnio de mltiplas temporalidades,
s vezes paralelas, s vezes excludentes ou
aparentemente excludentes.
TEMPOS E TEMPORALIDADE:
UMA REFLEXO ENTRE
HISTRIA E ANTROPOLOGIA,
OU ENTRE HISTRIAS E
ANTROPOLOGIAS
No de hoje que se debatem noes
como sincronia e diacronia, estrutura e
acontecimento. Nos anos 60, por exemplo,
com a voga do estruturalismo, antropo-
logia cou reservado o lugar da falta de
2 Referncia famosa frase de
Lvi-Strauss sobre os mitos
serem bons para pensarem.
Ver expresso utilizada por
Lvi-Strauss, em seu livro
Totemismo Hoje (1986), para
se contrapor a Malinowski.
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 23
histria e de sujeito, por contraposio
histria, que guardaria para si o local do
tempo e da temporalidade. Representada,
sobretudo, pela etnologia francesa, e por
seu intelectual mais referenciado Claude
Lvi-Strauss , a antropologia parecia assu-
mir o local de contraposio ao tempo, e de
ateno a outros tempos ou tempo nenhum.
O que interessava, agora, era a recorrncia,
a reiterao e no tanto a mudana e o
movimento. A escola anunciava o nal do
indivduo, a recusa de uma histria volunta-
rista, o privilgio da noo de estrutura em
detrimento do agente social. O movimento
representava, tambm, e num primeiro
momento, a imploso do paradigma perso-
nalizado por Sartre o existencialismo ,
e punha em xeque o primado absoluto da
razo ocidental. O impacto da descoberta
de novas civilizaes e de suas losoas
anunciava, pois, um movimento sem volta,
de descentramento, e celebrava a morte do
indivduo como categoria universal.
A forma vinha antes do contedo, o es-
pao diante do tempo, o objeto por sobre o
sujeito, a relao na frente do signicado. A
cultura surgia como uma segunda natureza
e trapaceava com ela. Esboava-se, pois,
uma teoria geral da cultura, em termos de
se pensar o lugar, o estatuto e o papel do
simbolismo na vida social. A articulao
terica entre simbolismo e estrutura social
j havia sido proposta por Durkheim, no
nal do XIX, com sua anlise do fen-
meno religioso. Forma abreviada da vida
coletiva, a religio no s reetiria todos
os aspectos da sociedade real e de sua rea-
lidade, como produziria uma idealizao
sistemtica das mesmas. O suposto era que
a vida social seria feita essencialmente de
representaes coletivas, ou, ainda, que o
social s seria real quando entrelaado e
permeado pelo simbolismo. A inspirao
vinha da lingustica de Saussure e de Roman
Jakobson, que nos anos 1940 anunciavam
novos procedimentos formais. Em primeiro
lugar, um signo s teria sentido a partir da
relao que apresentaria com os demais
elementos da estrutura. Signicava dizer,
em segundo lugar, que nenhum elemento
fazia sentido por si prprio, mas apenas em
conjunto. O mtodo era, assim, sincrnico
e a-histrico, uma vez que os sistemas pre-
existiriam aos usos que deles poderiam ser
feitos. Por m, as estruturas constituiriam
fenmenos sociais que se armariam re-
velia do prprio sujeito. A estaria a noo
de inconsciente estrutural, presente na
obra de Lvi-Strauss e de Lacan; a ideia de
estrutura narrativa profunda de Greimas;
a epistme em Foucault. Os mitos falam
entre si, diria Lvi-Strauss, levando seu lei-
tor a pensar em estruturas que se articulam
e se modicam para alm do voluntarismo
do prprio indivduo. Tratava-se, assim, de
dar um pontap nas losoas do indivduo,
como o marxismo e o existencialismo,
e por contraposio elaborar uma ampla
ancoragem dessa filosofia sem sujeito
transcendental. Nada mais constrangedor
para uma civilizao que deu primado ao
indivduo e prpria histria
3
.
Mas esse tipo de reao, assim como a de
nosso matemtico Avelar, no surgia como
coincidncia desavisada. Ao contrrio, re-
presentava uma contraposio articulada a
um problema vericado na longa durao.
No hora de fazer uma cartograa ou de
mapear temas e autores. Melhor admitir
que esse tipo de questo foi, e , central,
alm de ter oposto, ou por vezes unido, dis-
ciplinas, como a histria e a antropologia.
Dentre os historiadores, a percepo de
que o estudo da diacronia permitia prever
lentides e precipitaes, entre estrutura
e conjuntura, fez com que prossionais
como Fernand Braudel diferenciassem o
tempo geogrco do tempo histrico, esse
por sua vez dividido em algumas tempo-
ralidades as quais implicavam, cada uma
por si, uma s histria particular. Em O
Mediterrneo, Fernand Braudel seguiu a
trama da observao geogrca, buscando
no s localizaes, como permanncias,
imobilidades, repeties, regularidades
da histria mediterrnea (Braudel, 1995).
Utilizando o termo longa durao, o
historiador confessava seu temperamen-
to estruturalista, pouco solicitado pelo
acontecimento (Braudel, 1995, p. 625),
e defendia a importncia de reconhecer a
existncia de tempos longos e decompor
3 Para um bom apanhado, ver
Dosse (2007).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 24
a histria em planos escalonados: Ou se
quisermos, distino, no tempo da hist-
ria, de um tempo geogrco, de um tempo
social, de um tempo individual (Braudel,
1978, p. 15). Longe do que se convencionou
chamar de histria tradicional, positiva ou
vnementielle conforme designada por
F. Simiand e P. Lacombe , essa mais atenta
ao tempo breve, ao indivduo, ao aconteci-
mento e ao flego curto, a longa durao
permitia captar estruturas bastante largas de
tempo, quase cclicas em seu movimento,
cuja durao lentamente ritmada escapava
ao observador comum.
Mas no cabe atribuir a Braudel a ex-
clusividade desse recorte ou preocupao.
Marc Bloch, por exemplo, j em 1924
atentava, por meio da anlise do poder
de cura dos reis taumaturgos franceses
e ingleses, para uma histria que no se
limitava a esses soberanos ou durao
de seus reinados. Tratava-se de entender
o desejo do milagre, busca que no
privilgio de um ou de outro sculo. A
assim chamada Nova Histria (como uma
das herdeiras da Escola dos Annales) apro-
fundou a problemtica, trabalhando com
uma disciplina que no seria apenas serial
e baseada na suposta sucesso cronolgica.
Por detrs da noo de histria problema
de Lucien Febvre estava a ideia de que se
deveria tematizar o prprio Cronos, e de
que existiram histrias que demorariam
mais a passar.
Tambm Thompson, em outra tradio
na verso inglesa que se fez, sobretudo,
materialista e social, e para lembrarmos
mais um exemplo signicativo , mostrou
como aps a temporalidade dada pelo galo,
que inaugurava a manh com seu canto,
ganhava espao o tempo da fbrica, e uma
noo mediatizada pelo trabalho (Thomp-
son, 1986). Assim, mais interessante do que
pretender dar conta do conjunto de pensado-
res que trataram do tema perspectiva to
ampla como do nosso professor de Lisboa,
e certamente fadada ao fracasso mais vale
assinalar momentos desse debate; alinhavar
alguns movimentos nessa fronteira, sem
canonizar autores ou dar um tom demais
encadeado ao argumento. Com efeito, o
risco de uma viso evolutiva faz parte de
vrias correntes da histria das ideias, que
supem uma sucesso de sistemas los-
cos
4
, deixando escapar o essencial: o
prprio contedo das teorias historiadas
(Goldman, 1994).
O suposto que, tal qual demonstrou
Durkheim, o tempo categoria do enten-
dimento humano e no h como deixar
de pensar sobre ele. no artigo sobre o
sistema totmico australiano, e a partir da
religio entendida como um dos primeiros
sistemas de representao e de classica-
o , que Durkheim investiga o lugar de
onde emanam todas as categorias bsicas
do entendimento, como tempo, espao,
gnero, nmero, causa, substncia, perso-
nalidade, totalidade. Bsicas, na medida em
que dominam a vida intelectual de toda e
qualquer sociedade, elas compem os
quadros rgidos que encerram o pensamento
humano. No existe sociedade que no as
possua; sem elas o entendimento, a comu-
nicao e a vida social so impossveis. No
entanto, como coisas sociais, as categorias
de entendimento so construes, que se
exprimem no plano simblico da cultura.
Durkheim encontra uma sada sociolgica
para a questo, e se afasta da anlise formal
do funcionamento da razo e das formas a
priori da sensibilidade e do entendimento,
como prope Kant. Nesse sentido, elas
no seriam dadas de antemo, nem muito
menos seriam imanentes ao esprito huma-
no. A prova dessa armao dada pela
diversidade cultural, que preenche com
contedos simblicos distintos os quadros
permanentes do pensamento humano,
expressos pelas categorias do entendi-
mento. A variabilidade desses contedos,
atestada por meio de um conjunto de evi-
dncias etnogrcas disponveis na poca,
permite atestar o argumento de Durkheim,
mostrando como os contedos culturais e
simblicos so diversos, os procedimentos
formais e sociais, que garantem s catego-
rias sua dimenso estrutural presente em
diferentes sociedades, so os mesmos. Por
isso, categorias como o tempo so comuns
em suas estruturas apesar de diversas na sua
experimentao
5
.
4 No lugar de uma histria
das ideias Franois Chate-
let, em Histria da Filosoa
(1972, p. 3), prope uma
geograa das ideias.
5 Para uma excelente leitura
de Durkheim, sugiro a leitura
do artigo de Heloisa Pontes,
Durkheim: uma Anlise dos
Fundamentos Simblicos da
Vida Social e dos Fundamen-
tos Sociais do Simbolismo
(1993).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 25
Se as categorias so coletivas, e apenas
suas armaes, particulares, no por coin-
cidncia a antropologia, com sua prtica dis-
ciplinar, acabou por colecionar momentos
em que diversos povos reetiram sobre o
tempo e a temporalidade, com vistas a rever
nossas prprias concepes. Proponho, en-
to, investigar alguns casos exemplares em
que antroplogos reetiram sobre a histria,
ou ento, acerca do tempo. Ou melhor, como
algumas escolas de antropologia e certos
autores dialogaram com vrias histrias:
um modelo ocidental de histria (digamos
assim, e de forma provisria), pautado pela
cronologia e pela comprovao documental;
uma histria tal qual historiadores a fazem (a
disciplina histrica); uma histria entendida
como categoria social (e que me remete
noo de temporalidade); ou a crtica a certa
losoa da histria, o que permitir pensar
no conceito de historicidades
6
.
Mas comecemos por algum tipo de in-
cio, na tradio de nosso mestre Avelar.
possvel denir histria como uma categoria
universal, j que a experincia comum da
passagem do tempo consensual, mas tam-
bm particular: na dimenso dos eventos
e quando o acontecimento culturalmente
valorizado. A histria pode, tambm, ser
tomada como uma disciplina, ou ento
como uma categoria fundamental. Nesse
ltimo sentido, e nos termos de Durkheim,
estaramos lidando com uma categoria
bsica do entendimento: como vimos, no
h sociedade que no construa sua noo
de tempo, mas cada cultura a realiza empi-
ricamente de forma particular
7
.
Poderamos opor, tambm, duas noes
mais corriqueiras de tempo e, como vere-
mos, de histria. Assim como as coisas vivas
nascem, crescem e morrem e, portanto,
mudam , tambm certos fenmenos da na-
tureza se repetem (a semana, as estaes, o
dia que vira noite e vice-versa). Um paralelo
pode ser feito com a famosa distino entre
sociedades com ou sem histria: as que
se denem pela mudana ou pela reiterao
nesse ltimo caso, as nomeadas socie-
dades frias (na verso de Lvi-Strauss,
1975a; 1996), estagnantes (na concepo
de Claude Lefort, 1979). Entretanto, at
6 Ver, nesse sentido, Gaboriau
(1968), Marcio Goldman
(1998; 1999).
7 Ver mi l e Dur khei m
(1988).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 26
mesmo esse debate foi abandonado faz
algum tempo, ou pelo menos o mal-enten-
dido que o circundava. Lefort mostrava
como no teria procurado por realidades
empricas, mas antes modelos, assim como
Lvi-Strauss explicitou que tal classicao
servia, apenas, para indicar diferenas entre
culturas: denia somente dois estgios que,
nos termos de Rousseau, no existem, no
existiram, jamais existiro (Lvi-Strauss,
1983, p. 1.219).
De toda forma, se no existem reali-
dades empricas e no h sociedade sem
tempo , o problema, sob a forma de um
paradoxo, continua presente. possvel,
portanto, recoloc-lo da seguinte maneira:
assim como se estudam parentescos, rituais
ou simbologias, tambm a histria seria
uma maneira de recuperar, nos termos de
Montaigne, como a humanidade vria,
e nesse sentido incluir a ns mesmos
como objeto de reexo. Assim, para efeitos
deste ensaio pouco importa selecionar uma,
entre tantas denies, mas antes pensar
como a antropologia vem entendendo e
registrando a presena da histria e da
temporalidade em outras sociedades e por
que no na nossa. De pronto, lembro de
alguns exemplos mo: o tempo dos nueres
que, como mostra Evans-Pritchard (1978),
adotavam um referencial interno; o tempo
dos mendis, um povo que, como explica M.
Sahlins (1997), fazia tudo convergir para
seu prprio tempo; o modelo pendular
encontrado por Leach entre os kachins, no
qual o tempo representado como uma re-
petio de inverses (Leach, 1974, p. 193);
o tempo dos piaroas, descrito por Joanna
Overing (1995), que ora linear ora no
8
;
o tempo dos umedas, praticado no ritual
pesquisado por Alfred Gell (1992), quando
se encena com diferentes cores os vrios
ciclos da vida
9
e o nosso um tempo
seriado e cumulativo, tarefa dileta dos his-
toriadores que vm privilegiando a ideia de
histria como mudana e no reiterao.
A est, pois, uma questo genuinamente
antropolgica: a busca de alteridades entre
sociedades; formas diversas de expresso,
que ajudam a reetir, no limite, sobre a
nossa prpria experincia.
interessante destacar, ainda, a impor-
tncia que a histria, pensada agora como
disciplina, assumiu na prpria constituio
da antropologia. Nesse sentido, a delimi-
tao de fronteiras foi preocupao central
de algumas escolas de antropologia, cujos
autores buscaram definir seus modelos
tambm a partir de uma contraposio
de mtodos: cabia histria a diacronia
(entendida como uma forma de subjetivi-
dade) e, antropologia, a sincronia (ento
adotada como uma maneira de garantir
objetividade). Essa histria tem, portan-
to, muitas portas de entrada: neste breve
ensaio pretendo realizar apenas uma breve
antropologia da histria
10
.
DIACRONIA OU SINCRONIA
No incio da disciplina antropolgica
propriamente dita e com o evolucionismo
a diacronia era parte essencial. Usando no-
es como progresso e perfectibilidade,
uma srie de autores voltou-se para a histria
pregressa tentando nela encontrar sinais do
futuro. certo que essa antropologia de nais
do sculo XIX procurava uma s histria,
pautando-se na ideia de que certas culturas
teriam permanecido na estaca zero da evo-
luo, seriam fsseis vivos a testemunhar o
passado da nossa prpria sociedade. E, dessa
forma, o modelo do Ocidente, caracterizado
por uma evoluo cumulativa e pela tecno-
logia ndice para denir o progresso obri-
gatrio , virava marca de uma humanidade
unicada, mas cindida por desigualdades
ultrapassveis
11
. Foi nesse momento, tam-
bm, que essas sociedades sem Estado
12
foram denidas como primitivas e da eterna
infncia (Cunha, 1992a, p. 11). E, como
tinham parado na histria, no havia por
que perguntar sobre ela. Conforme armava
Varnhagen, famoso historiador do Imprio
brasileiro, de tais povos na infncia no
h Histria: h s etnograa (Varnhagen,
1978 , p. 30).
O modelo era conjectural, no sentido
de que se imaginava um passado pensando
no presente, e talvez por isso antroplogos
8 Gostaria de salientar, porm,
que no compartilho das
crticas que essa autora
faz a Lvi-Strauss, supondo
que ele credite aos povos
amaznicos a falta de his-
tria.
9 Gell faz, inclusive, um po-
lmico apanhado sobre
as noes de tempo en-
contradas nas obras de
Durkheim, Evans-Pritchard,
Lvi-Strauss e Leach.
10 preciso esclarecer que,
daqui para a frente, farei uso
de algumas referncias pre-
sentes na aula que dei para
o concurso de titularidade,
realizado na Faculdade de
Filosoa Cincias Humanas
e Letras, da USP, em maro
de 2005.
11 Destacamos, entre outras,
as obras: Maine, Ancient
Law (1861), Bachofen, Das
Mutterrecht (1861), Fustel de
Coulanges, La Cit Antique
(1864), McLennans, Primi-
tive Marriage (1865), Tylor,
Researches into the Early
History of Mankind (1865)
e Morgan, The Systems of
Consanguinity (1871).
12 Ver, nesse sentido, o debate
clssico realizado por Pierre
Clastres no livro A Sociedade
contra o Estado (2003), assim
como a tese de Sergio
Cardoso (1989).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 27
culturalistas norte-americanos, de um lado,
e funcionalistas ingleses, de outro, busca-
ram distanciar-se da diacronia e se opor
histria, j em incios do XX. Condena-
va-se o evolucionismo no s porque sua
reconstituio histrica no era vericvel
e comprovvel, mas tambm porque a his-
tria dessas sociedades parecia diminuta,
e pouco afervel, frente ao presente etno-
grco. Franz Boas advogava a prtica
de uma histria circunscrita: era preciso
localizar desenvolvimentos particulares e
realizar anlises comparativas limitadas e
processuais (Boas, 2004). Era bem melhor
trabalhar com culturas individuais do que
optar por grandes panoramas, tal qual fa-
ziam os evolucionistas; isso sem esquecer
que, para esse antroplogo, era necessrio,
pragmaticamente, optar por um modelo
diacrnico, uma vez que no havia como
encontrar histria a partir da etnograa. E
histria, nesse caso, era tomada como o
recurso a documentos utilizados por nossos
prossionais; como relquias, cartas, atas,
enm, vestgios materiais de preferncia
de um passado grafo. Assim, se a histria
representava um recurso ao tempo passado
denidor de realidades presentes, no domnio
da etnologia que lidava com sociedades sem
escrita , nenhum fato histrico parecia estar
disponvel. E conclua: O material necess-
rio para a reconstruo da Histria biolgica
da humanidade insuciente, o material
para a reconstruo da cultura ainda mais
fragmentado. Dispomos de informaes
histricas apenas de povos que dominaram
a escrita (Boas, 2004a, p. 98)
13
.
Mas, anal, qual era a histria que Boas
pretendia encontrar? No seria uma histria
ocidental (pautada em registros escritos) e,
por princpio, no localizvel nas culturas
por ele estudadas? Segundo Lvi-Strauss,
Boas manifestaria a decepo de renunciar
aspirao de entender como as coisas
chegaram a ser o que so, transformando-se
em um agnstico histrico (Lvi-Strauss,
1975a, p. 21). Como fazer histria do presente
sem recurso ao passado e sem transformar
aquela histria (ou sua suposta ausncia) na
nossa histria? Talvez Boas tenha aberto
mo de pensar que o que estava em questo
era o encontro com outras histrias: as que
no se recuperam no lpis e no papel.
Entretanto, ainda mais radical era a op-
o de certos antroplogos, hoje denidos
como funcionalistas, que se privaram da
diacronia sob o pretexto de que a histria que
os etnlogos faziam no era sucientemente
boa. Rompendo com a herana de Rivers,
que sempre defendeu um duplo ponto de
vista na anlise das sociedades o estudo
comparativo de diferentes estruturas sociais
e o estudo histrico dos processos das so-
ciedades humanas , antroplogos sociais
britnicos de geraes subsequentes trans-
formaro a concepo de dinmica social (e
de histria) no pomo da discrdia. Histria
passava a lembrar esquemas evolucionistas
e a prpria ideologia do progresso, correntes
no sculo XIX
14
. Por outro lado, o prprio
mtodo implicava uma recusa histria, j
que as sociedades humanas, sobretudo na
viso de Radcliffe-Brown, eram analisadas
como sistemas sincrnicos e em equilbrio.
Tanto que o autor estabeleceria uma distn-
cia formal e emprica entre disciplinas: ao
etngrafo destina-se o conhecimento direto,
fruto da observao dos povos que estuda;
j os historiadores limitam-se aos arquivos
escritos (Radcliffe-Brown, 1989, p. 11). Re-
tomando o tema exclusivamente a partir de
questes de mtodo, Radcliffe-Brown como
que expulsava a histria de sua anlise: Os
antroplogos, que consideram o estudo
histrico, instalam-se em conjecturas e pura
imaginao (Radcliffe-Brown, 1989, p.
12). No entanto, e como diz Merleau-Ponty,
disciplinas no se denem por mtodos,
mas por problemas epistemolgicos. A
antropologia se deniria, no pelo trabalho
de campo, mas pela questo da alteridade,
procurada em sociedades empricas ou em
arquivos (Merleau-Ponty, 1970).
De toda maneira, vista sob essa perspec-
tiva-ngulo, a etnograa se converteria efe-
tivamente em um modelo exclusivamente do
presente, pautado na pesquisa de campo, e
condicionado pela ausncia de documentos
escritos. Nada como dar naturalidade ao que
era, no limite, uma sada de emergncia.
Ou seja, abandonava-se a histria, por falta
dela; ou melhor, por falta de uma histria
13 Para um bom apanhado
das ideias de Boas sugiro a
leitura dos livros de George
W. Stocking Jr. (2004) e de
Margarida Maria Moura
(2004).
14 Rivers, que praticou um
mtodo indutivo e de tra-
dio empirista, introduziu,
em seu texto Histria e
Etnologia, de 1920, a ideia
de cronologia relativa,
distinta de uma cronologia
absoluta ou numrica. Ver,
tambm, Grinshaw and Hart
(1993).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 28
que era, sob todos os ngulos, ocidental.
E mais uma vez Lvi-Strauss (1975a, p.
27) quem problematiza tal postura: []
pouca histria vale mais do que nenhuma,
dizer que uma sociedade funciona trusmo,
mas dizer que tudo nessa sociedade funcio-
na um absurdo. Anal, o problema no
era metodolgico e sim epistemolgico:
desconhecer que havia muita histria tam-
bm no presente ou, ainda, que existiriam
outras histrias e temporalidades inscritas
na prpria etnograa.
MUITAS HISTRIAS
Em 1950, Evans-Pritchard proferiria
algumas aulas sobre o tema. Provocando e
chamando o debate que se travava poca
entre antropologia e histria como uma
querela domstica, o autor remontava
fronteiras, e ao mesmo tempo as dilua.
fato que, no plantel das disciplinas, cabe-
ria antropologia o estudo de sociedades
contemporneas; mas dizia ele no
havia mais como ignorar a histria: []
o conhecimento do passado leva a uma
compreenso mais profunda da natureza
da vida social no presente. A histria no
mera sucesso de mudanas, mas, sim,
processo de desenvolvimento. O passado
est contido no presente como este no
futuro
15
. Introduzia-se, dessa maneira,
uma chave explicativa das mais relevantes:
histria processo e no h sociedade que
no construa a sua histria, mesmo que no
tempo sincrnico. Ou seja, histria no a
mera sucesso de eventos, antes a relao
entre eles: diacrnica ou sincrnica (Evans-
Pritchard, 1962, p. 48).
Na verdade, o antroplogo retomava
preocupaes j presentes na sua produ-
o da dcada de 40, quando enfrentara a
especicidade da categoria tempo em seu
estudo sobre os nueres, mostrando de que
maneira esse conceito era condicionado
pelo ambiente fsico, mas suas respostas
dependiam de estruturas sociais e suas re-
laes internas
16
. O tempo poderia ser no
s emocional, pois referido experincia
dos indivduos e no mensurao externa,
como pessoal. De toda maneira, tratava-se
de outra forma de conceber a histria: no
a nossa histria (ou a histria do sujeito
e das mudanas), mas uma histria interna
ao grupo e construda a partir de categorias
nativas
17
. Os nueres pensam sobre o tempo,
mas losofam de outras maneiras.
Preocupado com os impasses que a
mera dualidade sincronia x diacronia vinha
criando, em artigo publicado em 1961,
Evans-Pritchard relacionaria os problemas
de uma antropologia que, crescentemente,
de a-histrica, se tornara anti-histrica: o
uso acrtico de fontes documentais, o pouco
esforo em lidar com o passado, o suposto
de que as populaes nativas so estti-
cas e, sobretudo, a ideia de que se podia
simplesmente abolir a mudana social. E
insistia: [] no se chega mudana sem
o recurso histria e ignorando-a estamos
condenados a no conhecer o presente
(Evans-Pritchard, 1962, p. 56). Inteirado das
discusses do momento, citava Lvi-Strauss
e Louis Dumont para sintetizar seu ponto
de vista: Histria o movimento pelo qual
a sociedade revela-se a si mesma e o que
(Evans-Pritchard, 1957, p. 21). Evans-
Pritchard acusava, assim, a existncia no
de um mtodo que optara por ser a-his-
trico, por conta das especicidades do seu
campo, mas de uma recusa ou ignorncia
da histria, o que j signicaria quase um
obscurantismo disciplinar.
Contrrio a essa posio, destacava no
tanto as diferenas, mas antes as semelhan-
as entre as disciplinas que teriam como
objeto comum traduzir ideias para outros
termos e torn-las inteligveis: o fato de
os antroplogos estudarem pessoas em
primeira mo e os historiadores, atravs
de documentos, era apenas, segundo ele,
questo tcnica. No entanto, se esse
problema parecia fcil de ser superado,
restava lidar com faces mais espinhosas da
questo. Talvez por isso Pritchard se preo-
cupasse tanto em destacar no s o interesse
crescente entre antroplogos pela histria,
como em introduzir dois nveis distintos de
anlise: histria seria o registro de eventos,
mas tambm a representao dos mesmos
15 Ver Marret Lectures,
Evans-Pri tchard (1962),
Evans-Pritchard (1978a, p.
100).
16 Os tempos mais longos
eram quase sempre es-
truturais; os tempos mais
breves, ecolgicos. O tempo
estrutural era progressivo,
enquanto o tempo ecolgi-
co era cclico e delimitado.
17 Ver, tambm, Marret Lectu-
res, Evans- Prichard (1962a,
p. 21).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 29
(Evans-Pritchard, 1962, p. 56; Dumont,
1957, p. 63). E mais do que o registro do
tempo, o que interessava era entender his-
tria como losoa; um discurso sobre o
tempo, e nesse sentido tanto ns como os
outros seramos escribas da matria.
E o assunto parecia em pauta. Em 1949,
Lvi-Strauss lanara um ensaio provocador
sobre o mesmo tema: seu primeiro Etnolo-
gia e Histria. No texto inaugural do ento
jovem etngrafo no era a antropologia de
Evans-Pritchard que estava em questo,
mas o funcionalismo de Malinowski e
Radcliffe-Brown, e justamente a recusa
manifestada por ambos em introduzir a
histria
18
. Pode-se indagar, perguntava
ironicamente, se privando-se de qualquer
histria, no teriam abandonado tudo []
E muito pouca histria (j que tal infe-
lizmente o quinho do etnlogo) vale mais
do que nenhuma (Lvi-Strauss, 1975a, pp.
25, 26-7). Por certo, no o caso de tomar
partido na disputa. Interessa mais mostrar
como o etnlogo realizaria, a partir de ento,
uma crtica epistemolgica maneira como
a antropologia lidara com a questo do tem-
po e da histria. Como deniria em Raa
e Histria: Todas as sociedades humanas
tm um passado da mesma ordem de gran-
deza No existem povos crianas, todos
so adultos, mesmo aqueles que no tiveram
dirio de infncia e de adolescncia (Lvi-
Strauss, 1975, p. 35). No obstante, se no
existem povos sem histria, existem, sim,
variaes nas formas como as sociedades
se representam e se apresentam a partir da
histria: por sua recusa ou manifestao. O
desao seria assim destacar a existncia de
diferentes modelos de conceber a histria
e a prpria temporalidade: uma progressiva
e acumulativa, e outra igualmente ativa,
mas que retomaria uma espcie de uxo
cclico.
Claude Lefort apresentava a mesma preo-
cupao, em 1952, ano em que publica As
Formas da Histria. O lsofo recuperava
a perspectiva de Lvi-Strauss, e introduzia
a noo de historicidades para tentar
reetir no conceito no plural. As culturas
apresentariam formas distintas de denir
o seu devir, existindo variaes entre uma
histria regida por um princpio de conser-
vao e uma histria que abre sempre lugar
para o novo, entre uma histria visvel que
refora sempre a percepo da mudana
e uma histria invisvel que apaga seus
vestgios: H sociedades cuja forma se
manteve durante milnios e que, a despeito
dos acontecimentos de que foram teatro
[] ordenam-se em funo da recusa do
histrico (Lefort, 1979a, p. 17). O pensador
chamava essas sociedades de sem histria
no porque desconhecessem mudanas, mas
por conta da insistncia delas em neutrali-
zar os efeitos da mudana. As sociedades
estagnantes no se situariam, portanto,
aqum do desenvolvimento histrico: elas
elaborariam as prprias condies de sua
estagnao (Lefort, 1979a, pp. 17-8). Dessa
maneira, distante da concepo de Hegel,
para quem a histria nasce obrigatoriamente
com o Estado, Lefort reetia sobre a vign-
cia de sociedades que premeditadamente
abriram mo da histria, da nossa histria. J
a etnologia ajudaria no apenas a desvendar
formas primitivas da evoluo humana, mas
antes a esclarecer o confronto entre tipos
de devir: [] uma mesma humanidade,
s voltas com as mesmas questes, embora
dando a elas solues diferentes (Lefort,
1979a, pp. 55-6).
Voltemos mais uma vez ao texto de
Lvi-Strauss, que ocupava lugar estratgico,
como introduo da coletnea Antropologia
Estrutural, obra fundamental para o lana-
mento das bases da teoria do, ento, jovem
Lvi-Strauss
19
. Nele, o autor anunciava a
especicidade da etnologia que praticava e,
por meio da questo da histria, repassava os
novos impasses da disciplina. Em suas pala-
vras: Pretender reconstituir um passado do
qual se impotente para atingir a histria,
ou querer fazer a histria de um presente
sem passado, drama da etnologia [ou do
culturalismo] em um caso, da etnograa
[ou do funcionalismo] em outro (Lvi-
Strauss, 1975, p. 30). O ensaio comeava
descartando distines que davam histria
a alteridade no tempo, e antropologia no
espao: [] o comum que so sistemas
de representao que em seu conjunto di-
ferem de seu investigador (Lvi-Strauss,
18 Radcliffe-Brown sempre dis-
cordou dessa alcunha, que
dizia ter sido introduzida
pelo prprio Malinowski. Ver,
nesse sentido, Da Estrutura
Social (in Radcliffe-Brown,
1989, p. 279).
19 O ensaio fora publicado
originalmente na Revue de
Metaphysique et de Morale.
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 30
1975a, p. 28). Lvi-Strauss arriscava, ainda,
distines nos procedimentos disciplinares:
enquanto o historiador se debrua sobre
muitos documentos, o antroplogo observa
apenas um. No entanto, tal desproporo
parece no incomodar o etnlogo, que iro-
nizava a prpria constatao dizendo que a
sada seria multiplicar os antroplogos,
ou admitir que o historiador tambm recorre
aos etngrafos de sua poca. A diferena no
seria, assim, de objeto (a alteridade), muito
menos de objetivo (o diverso), nem mesmo
de mtodo (mais ou menos documentos).
No obstante, para alm das similitudes,
Lvi-Strauss introduziria uma nova dico-
tomia, mais operante do que as anteriores:
Enquanto a histria organiza seus dados
em relao s expresses conscientes, a
etnologia indaga sobre as relaes incons-
cientes da vida social (Lvi-Strauss, 1975a,
p. 34)
20
. A questo no era, porm, tcnica
ou metodolgica. A partir de tal distino,
Lvi-Strauss tambm no tinha como
objeto desautorizar a prtica da histria;
ao contrrio, a meta era anunciar as bases
de sua antropologia estrutural. Anal, seu
objetivo era justamente chegar s estrutu-
ras inconscientes, por meio de elementos
recorrentes: Na lingustica e na etnologia
no a comparao que fundamenta a gene-
ralizao, mas sim o contrrio. Dessa ma-
neira, a diviso entre presena ou ausncia
de documentos no seria falsa, mas pouco
essencial. E o mesmo artigo terminava com
um inesperado nal: Elas nada podem uma
sem a outra (Lvi-Strauss, 1975a, pp. 37
e 41). Traduzindo: uma (a histria), sem a
outra (a antropologia).
O artigo geraria tantos ataques de histo-
riadores que, quarenta anos depois, o mestre
francs ainda se preocupava em defender
sua posio: Meu artigo tendia a mostrar
que uma oposio nefasta e caduca deveria
ceder lugar aos trabalhos que os etnlogos
e historiadores hoje podem realizar lado a
lado (Lvi-Strauss & Eribon, 1990, p. 157).
Lvi-Strauss trataria, inclusive, de esclare-
cer seu partido em novo artigo, apresentado
em 1983, por ocasio do Quinto Ciclo de
Conferncias em homenagem a M. Bloch.
Interessante que, apesar do mesmo ttulo
20 Nessa perspectiva a histria
estaria para a antropologia
assim como a etnografia
para a etnologia.
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 31
Histria e Etnologia , no existem
referncias explcitas ao texto anterior.
Seu objetivo, dessa vez, seria examinar as
estreitas relaes entre as disciplinas e
adiantar que fora graas antropologia que
os historiadores teriam percebido a impor-
tncia das manifestaes obscuras. E por
meio dessas manifestaes que o autor
introduz um novo campo: uma antropologia
histrica. O problema ento anunciado da
seguinte maneira: Todas as sociedades so
histricas, mas apenas algumas o admitem
francamente, outras preferem ignor-la
(Lvi-Strauss, 1983, p. 1.218). As culturas
seriam classicadas no em funo de uma
escala ideal, ou em nome de seu grau de
historicidade, mas a partir da maneira como
o pensamento coletivo se abre histria:
como e quando a veem como ameaa, ou
quando percebem nela um instrumento para
transformar o presente.
H assim uma decorrncia no argumento
que vale a pena insistir: pensando o tempo
como categoria analtica, no h sociedade
que no seja histrica. E ponderava: []
como pouco plausvel que as sociedades
humanas se repartam em dois grupos irredu-
tveis, alguns revelando a estrutura, outros o
acontecimento, duvidar que a anlise estru-
tural se aplique a algumas conduz recus-la
para todas (Lvi-Strauss, 1983, p. 1.229).
Tratava-se, pois, de armar a existncia de
uma noo alargada de histria, que com-
portasse diferentes formas de representar
o devir: cumulativo, circular ou mesmo a
negao da mudana.
E o tema da histria estaria presente
em vrios textos de Lvi-Strauss, mas de
maneira original: a histria seria a nossa
cosmologia particular e ocidental e no um
modelo universal
21
. Nesses ensaios, o autor
lanar mo da etnologia justamente para,
por meio da diferena que as sociedades
apresentam, elaborar uma crtica ao papel
universalizante que a histria ocidental se
autoatribui. Por sinal, se at agora trabalha-
mos com duas categorias a histria dos
historiadores (como denominam Gaboriau,
1968, e Goldman, 1998) e a histria como
conceito analtico , preciso lembrar a
crtica que o etnlogo far Filosoa da
Histria. E com o intuito de se contrapor a
algum sentido privilegiado da histria que o
ltimo captulo do livro O Pensamento Sel-
vagem foi escrito. Nele, o etnlogo critica,
diretamente, a leitura sartriana da histria,
que tomou a dialtica como modelo geral
e invocou o critrio da universalidade da
conscincia histrica: [] preciso bas-
tante egocentrismo e ingenuidade para crer
que o homem est todo inteiro, refugiado
em um s dos modos histricos de seu ser
[]. A histria no , pois, a histria, mas a
histria para (Lvi-Strauss, 1976, p. 292).
Toda histria , portanto, particular, e nossa
prpria concepo ocidental seria redutvel
a um cdigo especco: a cronologia, nossa
cosmologia particular.
Assim, mesmo a partir de um tema apa-
rentemente pouco relevante em sua teoria,
Lvi-Strauss chega a concluses sobre as
formas de nomear a historicidade
22
. E a
antropologia por meio da comparao
e do estranhamento ocuparia lugar pri-
vilegiado, revelando como existem tantas
histrias como culturas, religies e paren-
tescos. A distino entre histrias frias e
quentes , dessa forma, apenas, e como
vimos, um modelo para chegar alteridade:
Ela no postula uma diferena de natureza
[]. Refere-se s atitudes subjetivas que as
sociedades adotam frente histria (Lvi-
Strauss, 1998, p. 108).
O etnlogo desenvolveria o conceito de
maneira a se afastar ainda mais da pecha
de um pensador sem histria. Mas Lvi-
Strauss trabalharia, ainda, com outro conceito
aproximado de histria: a noo de grupo
de transformaes (Lvi-Strauss, 2004, pp.
20-1). Esse tipo de proposta j est presente
no primeiro volume das Mitolgicas, quando
o autor esclarecia que congurara o grupo
de transformaes de cada sequncia, seja
no interior do prprio mito, seja elucidando
as relaes de isomorsmo entre sequncias
extradas de vrios mitos provenientes da
mesma populao (Lvi-Strauss, 2004,
pp. 20-1). De toda forma, ao ancorar suas
anlises em sociedades concretas, o etnlogo
mostrava como, para o estruturalismo, as
transformaes histricas concretizam-se
por meio de inverses lgicas, segundo as
21 Ver Histria e Etnologia
(1949); Raa e Hi str i a
(1952), Aul a I naugural
(1960), os dois ltimos
captulos de O Pensamento
Selvagem (1962), o segun-
do Histria e Etnologia
(1983), Um Outro Olhar
( publ i cado na r evi st a
LHomme em 1983), Histria
de Lince (1991), Voltas ao
Passado (entrevista para a
revista Mana de 1998), nas
Mitolgicas (1964-71).
22 Ver, tambm, nesse sentido,
artigo de Mrcio Goldman
(1999).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 32
quais os elementos contidos na experincia
do mundo concreto so a todo momento
reelaborados, tendo como base princpios
estruturantes comuns a toda a humanidade
(Pateo, 2004, p. 8). Na sua denio: []
a anlise estrutural no recusa a histria. Ao
contrrio concede-lhe um lugar de destaque
[]. Para ser vivel, uma investigao vol-
tada para as estruturas comea por curvar-se
diante do poder e da inanidade do evento
(Lvi-Strauss, 2003).
ANTROPOLOGIA DA HISTRIA E
HISTORICIDADES
O aprofundamento desse debate impli-
caria pensar no conceito de entropia e em
como, para Lvi-Strauss, as estruturas no
seguem um s sentido lgico que pressupe
a mudana: elas podem no se alterar, muitas
vezes se perdem, morrem e assim por diante
23
.
De toda maneira, o que interessa destacar
como, tambm, por meio da questo da
histria, Lvi-Strauss revela-se um terico
da diversidade; e essa constatao acaba
por problematizar interpretaes enganosas
acerca dessa obra. Anal, desde os anos 1970
vrios antroplogos dividiram-se entre aque-
les que se opunham ao modelo estrutural, em
sua suposta condenao histria
24
, e aqueles
que se declararam abertamente inuenciados.
No o momento de listar nomes que toma-
ram parte desse debate. Quem sabe seja mais
proveitoso mencionar alguns pensadores
que nos auxiliariam a pensar na tarefa que
nos propomos neste ensaio, ou seja, como a
antropologia vem reetindo sobre a questo
do tempo e da histria. E dentro desse campo
no h como deixar de lado Marshall Sahlins,
que vem se denindo, justamente, como um
estruturalista histrico, que tem analisado
a maneira como as culturas carregam suas
prprias historicidades.
Foi com o livro Historical Metaphors
and Mythical Realities que Sahlins imis-
cuiu-se mais diretamente no debate entre
antropologia e histria. Como explicava o
autor: O grande desao para uma hist-
ria antropolgica no s saber como os
eventos so ordenados pela cultura, mas
como, nesse processo, a cultura tambm
reordenada. Isto , a reproduo de uma
estrutura carrega sempre a sua prpria
transformao (Sahlins, 1986, p. 9). O
objetivo era demonstrar de que maneira
qualquer recepo relida por estruturas
anteriores, motivadas pela dinmica da pr-
pria cultura: O processo histrico caminha
num movimento recproco entre a prtica da
estrutura e a estrutura da prtica (Sahlins,
1986, p. 72). esse processo que Sahlins
denomina, em Ilhas de Histria (Sahlins,
1990), como a reavaliao funcional de
categorias. O autor reintroduzir, pois, his-
tria na noo de estrutura (s que a partir da
concepo de Hocart
25
), mostrando como,
mesmo na representao mais abstrata dos
signos a cosmologia , a estrutura est
em movimento.
O problema levaria menos a explodir o
conceito de histria pela experincia antro-
polgica da cultura, e mais a introduzir a
experincia histrica, incluindo a estrutura.
Por sua vez, a cultura assim examinada cor-
responde organizao da situao atual em
termos do passado. isso que Sahlins chama
de estrutura da conjuntura: a forma como
as culturas reagem a um evento, fazendo
dialogar o contexto imediato com estrutu-
ras anteriores. A histria construda tanto
no interior de uma sociedade, como entre
sociedades que repem estruturas passadas
na orquestrao do presente. Foi tambm
com essa preocupao que Sahlins estudou
a incorporao original do capitalismo em
pases perifricos. Temos, assim, dois auto-
res Lvi-Strauss e M. Sahlins que com
preocupaes distintas podem, porm, ser
aproximados a partir da problemtica da
histria, ou melhor, por conta da inteno
de chegar a outras temporalidades. Por
sinal, histria, vista desse ngulo, antes
um construto terico que permite entender,
por via particular, a prpria diversidade das
culturas. Sahlins, ao se concentrar no tema
do poder, tambm provocou muita polmica
ao mostrar como atentar para estruturas e
permanncias no signica recusar a histria
e a mudana
26
.
23 Ver, nesse sentido, artigo de
Mauro Almeida (1998).
24 Ver, nesse sentido, Christian
Delacampgne e Bernard
Traimond (1997).
25 Ver, por exemplo, Hocart
(1969).
26 A estaria a novidade dos
trabalhos desse autor, que
tem explorado o rendimen-
to da anlise estrutural para
pensar em outras histrias
particulares e contingentes:
as recepes de culturas, as-
sim chamadas, perifricas.
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 33
Ainda pensando na temporalidade,
possvel chegar perto da excurso hist-
rica que Clifford Geertz (s.d.) elabora em
Negara. A partir do estudo de uma prtica
ritual realizada na Indonsia, o autor no s
elabora crticas losoa poltica ocidental,
como defende uma concepo particular de
histria: A histria de uma civilizao, ex-
plica ele, pode ser descrita como uma srie
de grandes eventos [] ou ento enquanto
fases de desenvolvimento scio-cultural
(Geertz, s.d., p. 15). Geertz reconhece a
complementaridade das abordagens, e ajunta
uma terceira: a etnogrca. No se trata de
acreditar que a ilha tenha sido poupada
histria (Geertz, s.d., p. 18), ou que os cos-
tumes do presente sejam prova de existncia
no passado. A ideia , no entanto, rearmar
que h histria no presente etnogrco
27
.
Negara apresenta, pois, formas distintas de
fazer poltica, poder e histria, reconhecidas
por um mtodo to particular como contes-
tado: o doing history backward
28
. Sem
entrar no argumento da obra, vale atentar
para o tipo de histria preconizada: Em
certo sentido, formular o problema nesses
termos fazer uma histria de frente para
trs []. A vida como disse Kierkegaard se
vive para frente, mas se compreende para
trs (Geertz, 1971, pp. 59-60).
Se no h tempo para refazer todo esse
debate
29
, o que se pode dizer que existe
uma antropologia interessada na transfor-
mao histrica; ou melhor, nas manifes-
taes divergentes de processos histricos
semelhantes
30
. O fato que uma srie de
autores
31
tem investido numa antropologia
histrica, atenta s reelaboraes locais.
O suposto que do contato entre culturas
no resultam apenas dois blocos: um im-
pondo esquemas culturais e outro absor-
vendo; um sendo destrudo ou aculturado
e outro resistindo e mantendo sua tradio
imutvel
32
. Esse tipo de perspectiva pode
ser acompanhado tambm no contexto da
Amrica indgena, onde uma clara reviso
tem sido produzida
33
.
No por acaso, um grupo de investiga-
es antropolgicas vem reconsiderando as
maneiras de fazer essa histria do encon-
tro e criticado a representao do nativo
como um elemento passivo diante dela
(Oliveira, 1999; Lima, 1989; Monteiro,
2001; Wright, 1999). Isso sem deixar de
lado trabalhos que buscam no uma hist-
ria (ocidental) dos ndios brasileiros, mas
uma histria indgena em seus prprios
termos (Cunha, 1992; Cunha & Castro,
1986; Albert & Ramos, 2002; Franchetto &
Heckenberger, 2001; Amoroso, 2004; Per-
rone-Moyss, 1992; Gallois, 1994, 2004;
Comaroff, 1985; Comaroff & Comaroff,
1992; Farage, 1991). Ao invs de acreditar
que o discurso sobre os povos de tradio
no-europeia serve para iluminar nossas
representaes do outro, passa-se a inda-
gar de que maneira os outros representam
os seus outros, e o local do tempo e da
histria ganha papel privilegiado (Castro,
1999, p. 155). No possvel repassar toda
a produo etno-histrica ou esgotar autores
e obras. Vale assinalar, porm, como est
em pauta reconsiderar formas indgenas
de pensar e fazer histria um regime de
historicidades prprio , uma outra histria,
para voltarmos a nosso debate central. Dessa
maneira, legtimo articular perspectivas
se no anadas ao menos convergentes.
por meio da alteridade que se chega a
outras histrias, paralelas nossa prpria
experincia. E no estamos to longe da
denio quase cannica de Merleau-Ponty
que viu na antropologia a maneira de pen-
sar quando o objeto outro e exige a nossa
prpria transformao (Merleau-Ponty,
1970, pp. 199-200).
AQUI ENTRE NS E O
REPERTRIO DO TEMPO
Mas resta problematizar a nossa prpria
histria ocidental, onde, segundo Lvi-
Strauss, a histria substitui a mitologia e
desempenha a mesma funo. Para as so-
ciedades sem escrita a mitologia asseguraria
que o futuro permanece el ao presente e ao
passado; j na nossa concepo a histria
garantiria que o futuro ser sempre distinto
do presente (Lvi-Strauss, 1979, pp. 63-4).
27 Mais recentemente, uma
srie de autores tem tecido
crticas a essa perspectiva.
Lembro, a ttulo de exemplo,
dos trabalhos de Clifford &
Marcus (1986) e as crticas
que fazem Anna Grinshaw
& Keith Hart (1993, p. 25).
28 Ver Geertz (1971).
29 Vi stas sob esse ngul o
delimitado, cer tas obras
de Geer tz retomari am
problemticas presentes
nos textos de Sahlins: ambos
analisam de que maneira
processos do presente
so deter mi nados por
estruturas do passado e
geram experincias origi-
nais. Mas existem tambm
dissonncias: diferente de
Geertz, Sahlins dene uma
espcie de vocao para
as sociedades que estuda,
acreditando que as culturas
preexistentes limitam de
forma radical as possibi-
lidades de mudana. Por
outro lado, percebem-se
divergncias na maneira
como Sahlins entende as
culturas perifricas: tal qual
centros da transformao
histrica. Alis, esse se-
ria o cerne da crtica de
autores como Bhabha e
Obeyesekere, que acusaram
uma tendncia culturalista
nas obras de Sahlins. Ver,
nesse sentido, Obeyeseke-
re (1992), Sahlins (2001),
Bhabha (1998) e Sahlins
(2004).
30 Ver, nesse sentido, Fox &
Gingrich (2002, p. 167).
31 Ver, entre outros, Isaac Rhys
(1982), Clendinnen (1987),
Dening (1980).
32 Ver, nesse sentido, Pompa
(2003) e Ginzburg (1999).
33 Ver, nesse sentido, entre ou-
tros, Pompa (2003), Gerald
Sider (1994) e Steven Stern
(1992). Na produo histo-
riogrca, Serge Gruzinski
(1999), Ronaldo Vainfas
(1995) e Pedro Puntoni.
Para o uso do conceito
de negociao destaco os
trabalhos de Joo Jos Reis
(1991; 2000).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 34
Ou seja, a autoconscincia histrica faz parte
de algumas culturas que trazem para den-
tro de si tal movimento progressivo, o que
faria da nossa sociedade, uma sociedade a
favor da histria. Entretanto, o perigo de
apostar nessa viso unitria caricaturar a
ns mesmos. Se outras sociedades carregam
histrias no plural, tambm o Ocidente
esse conjunto muito diverso no s (e
sempre) um conjunto de sociedades que se
pauta exclusivamente pela cronologia.
E no por mera coincidncia vrios
historiadores se voltaram sobre nossos
tempos. J citamos, no incio deste ensaio,
M. Bloch e Fernand Braudel, mas no
pretendo recuperar a produo, agora, da
histria, e perguntar quais foram as antropo-
logias que a histria encontrou
34
. Gostaria,
sim, de nalizar trazendo a discusso para
mais perto. possvel reverter o eixo de
anlise e, por meio da alteridade, reetir no
s sobre os outros, mas acerca da nossa
prpria cultura e suas tantas historicidades.
Por esse caminho assumiramos uma nova
postura diante das sociedades complexas,
que implica antropologizar o centro e no
apenas a periferia da nossa cultura
35
.
Se no so poucos os trabalhos de an-
troplogos brasileiros que tm se utilizado
da diacronia como forma de reexo
36
,
tambm o recurso presena da sincronia
em nossa sociedade, caracterizada pela
mudana, tem se mostrado produtivo; e
basta lembrar da herana de Gilberto Freyre
(1951)
37
. O desao enfrentar, portanto,
as vrias histrias da nossa cosmologia,
tema retomado por Latour para pensar os
modernos: [] a passagem ocidental do
tempo, comenta ele,
nada mais do que uma forma particular
de historicidade [] A antropologia est a
para lembrar que a passagem do tempo pode
ser interpretada de diferentes formas [] Vi-
vemos a sensao de uma echa irreversvel
do tempo. Como observava Nietzsche, os
modernos tm a doena da histria. Querem
datar tudo, porque pensam terem rompido
denitivamente com o passado [] Mas
o passado permanece ou mesmo retorna
(Latour, 1994, pp. 68-9).
semelhana do que a etno-histria
realiza para outras culturas, trata-se de re-
cuperar um trabalho de traduo para as
sociedades complexas (Geertz, 2003). Esse
tipo de antropologia levaria a que fssemos
capazes de nos espantar diante de formas de
representar nossa prpria sociedade e, por
que no, o tempo e a histria. K. Thomas
tinha razo quando reconheceu que aqueles
que estudam o passado se deparam com duas
concluses contraditrias. A primeira que
o passado era muito diferente do presente.
A segunda que ele era muito parecido
(Thomas, 1991, p. 10).
Mas hora de terminar, e recorro a
um exemplo da literatura: o escritor Italo
Calvino, em seu livro Seis Propostas para
o Prximo Milnio, traz um captulo sobre
a rapidez. Ficaria frustrado o leitor que,
seguindo literalmente o ttulo, procurasse
pela velocidade do progresso, do acmulo
de novos conhecimentos, do tempo fugaz do
contexto urbano. Ao contrrio, nesse caso, o
famoso escritor italiano narra um episdio
inusitado: a histria de Chuang-Ts que,
entre tantas virtudes, guardava a habilidade
do desenho. Certo dia, o prprio imperador
da China veio at o artista, com uma enco-
menda precisa: pediu-lhe que retratasse um
caranguejo. Chuang-Ts argumentou que
precisaria de cinco anos e uma casa com
doze empregados para realizar tal tarefa,
demanda aceita como justa e adequada.
Passados cinco anos, porm, o pintor no
havia sequer comeado o rascunho. Preciso
de outros cinco anos, disse Chuang-Ts,
e mais uma vez o soberano concordou.
Ao completar o dcimo ano, Chuang-Ts
pegou um pincel e num instante, com um
nico gesto, deniu um caranguejo: o
mais perfeito caranguejo que jamais se viu
(Calvino, 1991, p. 68).
No sei quanto tempo necessrio
para desenhar um caranguejo. Tambm
certo que essa narrativa permitiria muitas
interpretaes. Nesse contexto preciso, a
histria de Calvino possibilita reetir sobre
as construes culturais de certas categorias,
a relatividade de sua compreenso e de seu
manejo, apesar da universalidade de seu
estabelecimento. Matria dos contos tam-
34 No h espao para re-
cuperar todos os traba-
lhos que enfrentaram na
historiografia o tema da
temporalidade. Lembro s
de alguns, que, na escola
francesa, realizaram esse
debate mais diretamente: Le
Goff (1981), Duby (1976),
Dumzi l (1985), Duby
(1978), Le Goff (1985), Le
Roy Ladurie (1997). Sugiro
tambm a leitura do livro
de entrevistas organizado
por Maria Lcia Pallares-
Burke (2000) com nove
historiadores europeus e
norte-americanos. Nelas o
debate entre antropologia
e histria retomado em
vrios momentos.
35 In Sexta-feira antropologia
artes humanidades 4. Corpo.
So Paulo, Pletora, p. 117.
36 Cito, nesse sentido, en-
tre tantos outros, Cunha
(1979), Mott (1993), Corra
(1998), Maggie (2001).
37 Cito Freyre a despeito de
reconhecer que, apesar
do recurso histria, o
antropl ogo procurava
mesmo pela sincronia. Ver,
tambm, nessa tradio
que retomava sempre as
origens, o clssico de Bastide
(1971).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 35
bm de tradio ocidental como a Bela
Adormecida, quando at a gua pareceu
adormecer o tempo (assim como o espao)
j inspirou metforas e reexes de origens
diversas e que, de to recorrentes, mais se
pareceram com domnios da natureza. No
entanto, tempo e espao, parafraseando
mais uma vez Lvi-Strauss, parecem me-
lhores para pensar no como e quando
os homens imitam a natureza, mas de que
maneira a cultura trapaceia com ela. Anal,
homens e as culturas tm tempos diferentes
e constroem seu espao de forma signi-
cativa. O tempo e a histria so matria de
negociao: ambguos em sua compreenso,
mltiplos nos desenlaces, vrios enquanto
representao. No estamos to distantes
da noo do tempo misterioso de Walter
Benjamin: [] essa imagem do passado
que a histria transforma em coisa sua
(Benjamin, 1985).
Partimos assim de nosso matemtico
com sua tentativa de classicar, borgiana-
mente, o tema, e chegamos no em uma,
mas em muitas histrias: uma histria que
os homens fazem sem saber (como catego-
ria analtica); uma histria que os homens
sabem que fazem (como disciplina); a
histria como elemento universal ou trao
da relatividade. Mas o mais importante,
que o trajeto ajuda a problematizar nossas
concepes de tempo e de histria. Como
revela Dumont, a tese complementar
que falta demonstrar, ou defender, que,
inversamente, uma perspectiva antropol-
gica pode permitir-nos conhecer melhor
o sistema moderno de ideias e valores,
sobre o qual acreditamos saber tudo pelo
simples fato de ser nele que pensamos e
vivemos (Dumont, 1985, pp. 19-20). No
sabemos bem que histria nos habita e de
que maneira naturalizamos sua evidncia.
Se o que dene a antropologia antes uma
questo ou uma postura que, nos termos
de Merleau-Ponty, diz respeito prpria
natureza da reexo antropolgica que, ao
levar a srio a alteridade, cria um espao
de encontro entre o eu e o outro
38
, tam-
bm o tempo h de nos levar a desconar
de certezas assentadas. Como cincia da
alteridade e da diversidade a antropologia
permite transpor conceitos e fazer com que
a reexo incida sobre ns mesmos. Dito
de forma mais direta, se a antropologia
deve se debruar sobre o que considerado
nativamente relevante, no pode deixar
escapar a centralidade que a histria ocupa
em nosso pensamento: ela parte funda-
mental das grandes narrativas sociais e da
forma de nos autorrepresentar, costurando
eventos. E como mostrou Paul Veyne, a
histria no singular, e com maiscula, no
limite no existe (Veyne, 1982).
A questo , portanto, to complexa
como antiga: anal, somos todos nativos
de nossas muitas temporalidades. Volte-
mos uma vez mais a Andr de Avelar com
seu Repertrio dos Tempos. Em momento
oportuno, nosso professor mostrou do que
se contm o kalendario:
Eu sou o Janeiro que o torresmo abano
quem tome ao fogo o vinho gostando.
Eu sou o Fevereiro, que engrosso a terra,
quebro a geada para crescer a erva.
Eu sou o Maro, que as vinhas podando
alegrias fao o tempo andando.
Eu sou o Abril, do doce dormir, folgo com
Boninas e Aves ouvir.
Eu sou o Maio que para folgar me vou com
falces e ces a caar.
Eu sou o Junho que colho o gro porque o
meu fruto a todos so.
Eu sou o Julho que debulho as ervas para
encher de trigo as cidades e aldeias.
Eu sou o Agosto que amanho as cubas, pipas
e quartos para o sumo das uvas.
Eu sou o Setembro que de uvas maduras,
fao bons vinhos enchendo as cubas.
Eu sou o Outubro que com bois lavrando,
fao que a terra o trigo vai dando.
Eu sou o Novembro, que a lua minguante,
corto a madeira que coisa importante.
Eu sou o Dezembro que matando o porco
triunfo a prazer, alegrando o meu corpo.
Mais do que o jogo certo dos meses,
que repetem mecanicamente as mesmas
certezas, a partida aqui jogada mais lem-
braria os conhecidos jogos rituais. Em
La Pense Sauvage, Lvi-Strauss recupera
tais jogos de competio, nomeadamente
38 Para essa discusso, ver
Peixoto (2001, p. 3).
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 36
BIBLIOGRAFIA
ALBERT, Bruce & RAMOS, Alcida (orgs.). Pacicando o Branco. Cosmologias do Contato no Norte Ama-
znico. So Paulo, Unesp 2002.
ALMEIDA, Mauro. Simetria e Entropia: sobre a Noo de Estrutura em Lvi-Strauss, in Revista de
Antropologia. So Paulo, v. 42, n. 1-2, 1998.
AMOROSO, Marta. Conquista do Paladar: os Kaingang e os Guarani para Alm das Cidadelas Cris-
ts, in Anurio Antropolgico. Braslia, UnB, 2004.
AVELAR, Andr de. Repertrio dos Tempos, o mais copioso que at agora saiu luz, conforme a nova
reformao do Pe. Gregrio XIII, ano 1582. Feito por Andr de Avelar, dirigido ao Ilmo Sr D Manuel
Castelbranco. Chegam as tbuas dos lunrios e eclipses at o ano de 1610. Com Licena. Impresso
em Lisboa por Manoel de Lyra. Ano de 1585. Com privilgio Real por dez anos. Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro, seo de obras raras, sob a classicao SOR W 1,2,1.
BASTIDE, Roger. As Religies Africanas no Brasil. So Paulo, Pioneira, 1971.
BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito de Histria, in Obras Escolhidas. So Paulo, Brasiliense, 1985.
BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 1998.
BOAS, Franz. (1936). History and Science in Anthropology, in Franz Boas. Antropologia Cultural. Rio
de Janeiro, Zahar, 2004.
____________. (1932). Os Objetivos da Pesquisa Antropolgica, in Franz Boas. Antropologia Cultu-
ral. Rio de Janeiro, Zahar, 2004a.
BRAUDEL, Fernand. Histria e Cincias Sociais. A Longa Durao, in Escritos sobre a Histria . So
Paulo, Perspectiva, 1978.
____________. O Mediterrneo. So Paulo, Martins Fontes, 1995.
CALVINO, talo. Seis Propostas para o Prximo Milnio. So Paulo, Companhia das Letras, 1991.
CARDOSO, Sergio. A Crtica da Antropologia Poltica na Obra de Pierre Clastres. Tese de doutorado.
So Paulo, Depto. de Filosoa, USP, 1989.
CASTRO, Eduardo Viveiros de. Etnologia Brasileira, in Sergio Miceli (org). O que Ler na Cincia Social
Brasileira (1970-1995)1. Antropologia. So Paulo, Editora Sumar, 1999.
CHATELET, Franois. Histria da Filosoa. Rio de Janeiro, Zahar, 1972.
CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado. So Paulo, Cosac & Naify, 2003.
CLENDINNEN, I. Ambivalent Conquests: Mayas and Spaniard in Yucatan, 1517-1570. Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1987.
CLIFFORD, James; MARCUS, George. Writing Culture. Berkeley, University of California Press, 1986.
COMAROFF, J. Body and Power. Spirit of Resistence: the Culture and History of a South African People.
Chicago, Chicago University Press, 1985.
COMAROFF, John; COMAROFF, Jean. Ethnography and the Historical Imagination. Boulder: Westview
Press, 1992.
o futebol praticado pelos gahuku-gama
na Nova Guin. Os dois cls opostos
competem durante dias a o ou melhor,
o tempo que fosse necessrio para se
alcanar sempre um empate e num tipo
particular de equilbrio. No o caso de
explorar esse exemplo, mas, antes, de
reter a importncia do paralelo analtico
e da comparao. No h vencedor nessa
contenda, apenas a demonstrao da plu-
ralidade de histrias e temporalidades que
vimos experimentando.
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 37
CORRA, Mariza. As Iluses da Liberdade. Bragana Paulista, Edusf, 1998.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros Estrangeiros. So Paulo, Brasiliense, 1979.
____________ (org.). Histria dos ndios no Brasil. So Paulo, Companhia das Letras, 1992.
____________. Introduo a uma Histria Indgena, in Histria dos ndios no Brasil. So Paulo, Com-
panhia das Letras, 1992a.
CUNHA, Manuela Carneiro da & CASTRO, Eduardo Viveiro de. Vingana e Temporalidade: os Tupi-
nambs, in Anurio Antropolgico, v. 85, 1986, pp. 57-78.
DELACAMPGNE, Christian & TRAIMOND, Bernard. A Polmica Sartre/Lvi-Strauss Revisitada. Nas
Razes das Cincias Sociais de Hoje, in Les Temps Modernes, 596, novembro, dezembro, 1997.
DENING, Greg. Islands and Beaches. Discourses on a Silent Land. 1774-1880. Melborne, Melborne
University Press, 1980.
DOSSE, Franois. Histria do Estruturalismo. So Carlos, Editora Sagrado Corao de Jesus, 2007.
DUBY, Georges. Le Temps des Cathdrales. Paris, Gallimard, 1976.
____________. Les Trois Ordres ou lImaginaire Feodale. Paris, Gallimard, 1978.
DUMZIL, Georges. Heurs et Malheurs du Guerrier. Paris, Flammarion, 1985.
DUMMONT, L. For a Sociology of India, in Contributions to Indiam Sociology, n. 1, 1957.
DUMONT, Louis. O Individualismo: uma Perspectiva Antropolgica da Ideologia Moderna. Rio de
Janeiro, Rocco, 1985.
DURKHEIM, mile. Representaes Individuais e Representaes Coletivas , in Sociologia e Filosoa.
Rio de Janeiro, Forense, 1988.
EVANS-PRITCHARD, E. E. Anthropology and History, in Essays in Social Anthropology. London, Faber
and Faber, 1962.
____________. Social Anthropology: Past and Present, in Essays in Social Anthropology. London,
Faber and Faber, 1962a.
____________. Os Nuer. So Paulo, Perspectiva, 1978.
____________. Antropologia Social. Lisboa, Edies 70, 1978a.
FARAGE, Nadia. As Muralhas do Serto: os Povos Indgenas no Rio Branco e a Colonizao. Rio de Janei-
ro, Paz e Terra, 1991.
FOX, Richard & GINGRICH, Andre. Anthropology, by Comparison. London and New York, Routledge, 2002.
FRANCHETTO, Bruna & HECKENBERGER, Michael (orgs.). Os Povos do Alto Xingu. Histria e Cultura. Rio
de Janeiro, Editora da UFRJ, 2001.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. 4
a
ed. Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1951.
GABORIAU, Marc. Antropologia Estrutural e Histria, in Luiz Costa Lima. O Estruturalismo de Lvi-
Strauss. Petrpolis, Vozes, 1968.
GALLOIS, Dominique. Mairi Revisitada: a Reintegrao da Fortaleza de Macap na Tradio Oral dos
Waipi. So Paulo, Ncleo de Histria Indgena e do Indigenismo NHII- USP/Fapesp, 1994.
____________. Sociedades Indgenas e suas Fronteiras na Regio Sudeste das Guianas, mimeo, 2004.
GEERTZ, Clifford. Islam Observed. Religious Development in Marrocos and Indonesia. Chicago, Chicago
University Press, 1971.
____________. Negara. O Estado Teatro no Sculo XIX. Lisboa, Difel, s.d.
____________. Como Pensamos Hoje: a Caminho de uma Etnograa do Pensamento Moderno, in
O Saber Local. Petrpolis, Vozes, 2003.
GELL, Alfred. The Anthropology of Time. Cultural Construction of Temporal Maps and Images. Oxford/
Providence, Berg Oxford/ Providence, 1992.
GINZBURG, Carlo. Introduo ao livro O Queijo e os Vermes. So Paulo, Companhia das Letras, 1999.
GOLDMAN, Marcio. Razo e Diferena. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 1994.
____________. Lvi-Strauss e os Sentidos da Histria, in Revista de Antropologia. So Paulo, v. 42, n. 1-2, 1998.
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 38
____________. Lvi-Strauss e os Sentidos da Histria, in Alguma Antropologia. Rio de Janeiro,
Relume Dumar, 1999.
GRINSHAW, Anna and HART, Keith. Anthropology and the Crisis of the Intellectuals. Cambridge, Prickly
Pear Press, 1993.
GRUZINSKI, Serge. La Pense Mtisse. Paris, Fayard, 1999.
HOCART, A M. Kinship. Oxford, Oxford University Press, 1969.
LADURIE, Emmanuel Le Roy. Montaillou. Ctaros e Catlicos numa Aldeia Francesa 1294-1324. So
Paulo, Companhia das Letras, 1997.
LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos. So Paulo, 34 Letras, 1994.
LE GOFF, Jacques. La Naissance du Purgatoire. Paris, Gallimard, 1981.
____________. LImaginaire Mdieval. Paris, Gallimard, 1985.
LEACH, E. R. Dois Ensaios a Respeito da Representao Simblica do Tempo, in E. R. Leach. Repen-
sando a Antropologia. So Paulo, Perspectiva, 1974.
LEFORT, Claude. As Formas da Histria. So Paulo, Brasiliense, 1979.
____________. Sociedades Sem Histria e Historicidade, in As Formas da Histria. So Paulo, Brasi-
liense, 1979a.
LVI-STRAUSS, C. & ERIBON, Didier. De Perto e de Longe. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1990.
LVI-STRAUSS, Claude. A Estrutura dos Mitos, in Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro, Tempo
Brasileiro, 1967.
____________. Raa e Histria. So Paulo, Martins Fontes, 1975.
____________. Histria e Etnologia, in Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro,
1975a.
____________. Histria e Dialtica, in O Pensamento Selvagem. So Paulo, Companhia Editora
Nacional, 1976.
____________. Mito e Signicado. Lisboa, Edies 70, 1979.
____________. Histoire et Ethnologie, in Annales E.S.C., 38 (6), 1983, pp. 1.217-31.
____________. Totemismo Hoje. 1986.
____________. Histria e Etnologia, in Textos Didticos. Campinas, IFCH/UNICAMP, n. 24, 1996.
____________. Voltas ao Passado, in Mana, Estudos de Antropologia Social 4 (2), p. 108.
____________. A Harmonia das Esferas, in Claude Lvi-Straus. Do Mel s Cinzas, 2003, pp. 401-8.
____________. O Cru e o Cozido. So Paulo, Cosac& Naify, 2004.
LIMA, Antonio Carlos. A Identicao como Categoria Histrica, in J. P. Oliveira (org.). Os Poderes e as
Terras do ndios. Comunicaes 14. Rio de Janeiro, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, 1989.
MAGGIE, Yvonne. Guerra de Orix. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001.
MERLEAU-PONTY. De Mauss a Claude Lvi-Strauss, in Os Pensadores. So Paulo, Abril Cultural , 1970.
MONTEIRO, John. Tupis, Tapuias e Historiadores. Estudos de Histria Indgena e do Indigenismo. Tese
de livre docncia. Campinas, Unicamp, 2001.
MOTT, Luiz. Rosa Egipcaca. Uma Santa Africana no Brasil. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1993.
MOURA, Margarida Maria. Nascimento da Antropologia Cultural. A Obra de Franz Boas. So Paulo,
Hucitec, 2004.
OBEYESEKERE, Gananath. The Apotheosis of Captain Cook, 1992.
OLIVEIRA, Joo Pacheco de. Ensaios em Antropologia Histrica. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1999.
OVERING, Joanna. O Mito como Histria: um Problema de Tempo, Realidade e Outras Questes,
in Mana. Estudos de Antropologia Social. volume 1, nmero 1. Rio de Janeiro, PPGAS/Relume
Dumar, 1995.
PALLARES-BURKE, Maria Lcia (org.). As Muitas Faces da Histria. So Carlos, Unesp, 2000.
PATEO, Rogrio Duarte do. Claude Lvi-Strauss: Estrutura, Histria e Transformao, (mimeo.), 2004.
REVISTA USP, So Paulo, n.81, p. 18-39, maro/maio 2009 39
PEIXOTO, Fernanda. O Dilogo como Forma. Caxambu, XXV Encontro Anual da Anpocs (mimeo.),
2001.
PERRONE-MOYSS, Beatriz. ndios Livres e ndios Escravos:os Princpios da Legislao Indigenista
do Perodo Colonial, in Manuela Carneiro da Cunha (org.). Histria dos ndios no Brasil. So
Paulo, Companhia das Letras, 1992.
POMPA, Cristina. Religio como Traduo. So Paulo, Edusc/Anpocs, 2003.
PONTES, Heloisa. Durkheim: uma Anlise dos Fundamentos Simblicos da Vida Social e dos Fun-
damentos Sociais do Simbolismo, in Cadernos de Campo, ano III, n. 3, 1993, pp. 89-102.
PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Brbaros. Povos Indgenas e Colonizao do Serto. Nordeste do Brasil,
1650-1720. So Paulo, Hucitec-Edusp.
RADCLIFFE-BROWN, A. R. Estrutura e Funo nas Sociedades Primitivas. Lisboa. Edies 70, 1989.
REIS, Joo Jos. A Morte uma Festa: Ritos Fnebres e Revolta Popular no Brasil do Sculo XIX. So
Paulo, Companhia das Letras, 1991.
____________. Negociao e Conito: a Resistncia Negra no Brasil Escravista. So Paulo, Compa-
nhia das letras, 2000.
RHYS, Isaac. Tranformations in Virginia. Chpel Hill, University of North Carolina Press, 1982.
RIVERS. Histria e Etnologia (1920), in Roberto Cardoso de Oliveira (org). A Antropologia de Rivers.
Campinas, Editora da Unicamp, 1991.
SAHLINS, Marshall. Historical Metaphors and Mythical Realities. Michigan, Michigan Press, 1986.
____________. Ilhas de Histria. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1990.
____________. O Pessimismo Sentimental e a Experincia Etnogrca: Por Que a Cultura No
um Objeto em Extino, in Mana. V. 3. Rio de Janeiro, abril, 1997.
____________. Como Pensam os Nativos. So Paulo, Edusp, 2001.
____________. Esperando Foucault, Ainda. So Paulo, Cosac & Naify, 2004.
SIDER, Gerald. Identity as History: Ethnohistory, Ethnogenesis and Ethnocide in the Southeastern
United States, in Identities, v. 1. nmero 1, 1994, pp: 109-22.
STERN, Steven. Paradigms of Conquest: History, Historiography and Politics, in Journal of Latin
American Studies, v. 24, 1992, pp. 1-34.
STOCKING JR., George W. (org). Franz Boas. A Formao da Antropologia Americana. 1883-1911. Rio
de Janeiro, Contraponto/Editora UFRJ, 2004.
THOMAS, Keith. Introduction, in Jan Bremmer & Herman Roodenburg (ed.). A Cultural History of
Gesture. Cambridge, Polity Press, 1991.
THOMPSON, E. P. The Making of the English Working Class. London, Penguin Books, 1986.
VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos ndios. Catolicismo e Rebeldia no Brasil Colonial. So Paulo, Compa-
nhia das Letras, 1995.
VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. (1854). Histria Geral do Brasil. So Paulo, Melhoramentos, 1978.
VEYNE, Paul. Como Se Escreve a Histria. Braslia, Editora da Universidade de Braslia, 1982.
WRIGHT, Robin (org). Transformando os Deuses. Os Mltiplos Sentidos da Converso entre os ndios
do Brasil. Campinas, Unicamp, 1999.
Você também pode gostar
- Seminario de LiderançasDocumento4 páginasSeminario de LiderançasCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Seminario de Lideranças Da Igreja BetestaDocumento4 páginasSeminario de Lideranças Da Igreja BetestaCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Ficha de Via (Da) Gens TeologicasDocumento7 páginasFicha de Via (Da) Gens TeologicasCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Edital Ppgletras 03.2019 Mestrado Turma 2020.1 PDFDocumento26 páginasEdital Ppgletras 03.2019 Mestrado Turma 2020.1 PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Desvendando a Literatura Negra Brasileira através da poesia de Luís Gama e Solano TrindadeDocumento4 páginasDesvendando a Literatura Negra Brasileira através da poesia de Luís Gama e Solano TrindadeCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Fichamento de Livro PDFDocumento7 páginasFichamento de Livro PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Fichamento de Livro PDFDocumento7 páginasFichamento de Livro PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Mais LONGO CAPA COMUM CONTOS DE MACUMBA E ASSOMBRAÇÃO KDP AMAZON MDocumento75 páginasMais LONGO CAPA COMUM CONTOS DE MACUMBA E ASSOMBRAÇÃO KDP AMAZON MCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- A Serpente Na Biblia SagradaDocumento2 páginasA Serpente Na Biblia SagradaCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- O Conceito de Trickster Na Teoria Do Folclore Par Entender o Coiote o Macaco Exu KrishnaDocumento3 páginasO Conceito de Trickster Na Teoria Do Folclore Par Entender o Coiote o Macaco Exu KrishnaCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Mais LONGO CAPA COMUM CONTOS DE MACUMBA E ASSOMBRAÇÃO KDP AMAZON MDocumento75 páginasMais LONGO CAPA COMUM CONTOS DE MACUMBA E ASSOMBRAÇÃO KDP AMAZON MCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- 2014 LuanaAntunesCosta VCorr PDFDocumento292 páginas2014 LuanaAntunesCosta VCorr PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Silva PC Me Arafcl PDFDocumento179 páginasSilva PC Me Arafcl PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Atenção Psicologica e UmbandaDocumento23 páginasAtenção Psicologica e UmbandaCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- 2014 LuanaAntunesCosta VCorr PDFDocumento292 páginas2014 LuanaAntunesCosta VCorr PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Encantados e encantarias no folclore brasileiroDocumento6 páginasEncantados e encantarias no folclore brasileiroalberto_frega100% (1)
- Determinados Por Nosso DeterminismoDocumento16 páginasDeterminados Por Nosso DeterminismoCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- O Labirinto Religioso OcidentalDocumento38 páginasO Labirinto Religioso OcidentalgabrielpilonAinda não há avaliações
- 184 Resumo 5129 1 10 20190220Documento1 página184 Resumo 5129 1 10 20190220Charles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Imaginario Popular e Geografia Do Brasil: ProlegomenosDocumento20 páginasImaginario Popular e Geografia Do Brasil: ProlegomenosCamilaAinda não há avaliações
- A melancolia na tragédia de HamletDocumento20 páginasA melancolia na tragédia de HamletViviane CostaAinda não há avaliações
- O Labirinto Religioso OcidentalDocumento38 páginasO Labirinto Religioso OcidentalgabrielpilonAinda não há avaliações
- 27 31FCHS2006 3Documento5 páginas27 31FCHS2006 3Charles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Catimbo, Umbanda e Candomble PDFDocumento14 páginasCatimbo, Umbanda e Candomble PDFJuremeiraCarla100% (1)
- Trabalho PestilênciaDocumento33 páginasTrabalho Pestilênciainformatica.paula6988Ainda não há avaliações
- 2039 8893 1 PB PDFDocumento10 páginas2039 8893 1 PB PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- A Toca do Coelho Branco: nossa Mandala AstrológicaDocumento12 páginasA Toca do Coelho Branco: nossa Mandala AstrológicaEdivon Oliveira100% (3)
- Videopoema: uma poética da intersemioseDocumento9 páginasVideopoema: uma poética da intersemioseCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- TavaresMonica PDFDocumento195 páginasTavaresMonica PDFmsumitaAinda não há avaliações
- Edital Ppgletras 03.2018 Mestrado 2019.1 Final PDFDocumento25 páginasEdital Ppgletras 03.2018 Mestrado 2019.1 Final PDFÍtalo BianchiAinda não há avaliações
- Modelo Sociocomunicacional CHARAUDEAUDocumento11 páginasModelo Sociocomunicacional CHARAUDEAUMarianna RibeiroAinda não há avaliações
- Painel do Aluno - Questões e DesempenhoDocumento3 páginasPainel do Aluno - Questões e DesempenhoWeriquis SalesAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro: Quando A Rua Vira CasaDocumento0 páginaFichamento Do Livro: Quando A Rua Vira CasaAzul Araújo50% (2)
- Matriz de História 6o ao 3o AnoDocumento2 páginasMatriz de História 6o ao 3o AnoFilipe de OliveiraAinda não há avaliações
- O Ensino Da Arte e A Pluralidade Cultural - Trabalhando Com A InterculturalidadeDocumento11 páginasO Ensino Da Arte e A Pluralidade Cultural - Trabalhando Com A InterculturalidadetauacarvalhoAinda não há avaliações
- Marx e Engels sobre as comunas rurais na RússiaDocumento6 páginasMarx e Engels sobre as comunas rurais na RússiaLucas Parreira ÁlvaresAinda não há avaliações
- 2 Série - Ética Ubuntu - Perspectiva Africana Da Moralidade - Aula 16Documento22 páginas2 Série - Ética Ubuntu - Perspectiva Africana Da Moralidade - Aula 16Marcus Vinicios Pantoja da SilvaAinda não há avaliações
- Agrupamento de Escolas Aquilino RibeiroDocumento20 páginasAgrupamento de Escolas Aquilino RibeiroJorge Andre GuedesAinda não há avaliações
- Ap1 - Ana - Lucia - Infográfico Teorias e Práticas de CurrículoDocumento6 páginasAp1 - Ana - Lucia - Infográfico Teorias e Práticas de CurrículoAna Lucia Corrêa GomesAinda não há avaliações
- 13 Educação Fisica Recreacao LazerDocumento2 páginas13 Educação Fisica Recreacao LazerAna Paula FerreiraAinda não há avaliações
- 10164-Texto Do Artigo-29275-1-10-20161014Documento31 páginas10164-Texto Do Artigo-29275-1-10-20161014Juan Da Silva LemosAinda não há avaliações
- A longa duração na história segundo BraudelDocumento5 páginasA longa duração na história segundo Braudelanon_937785226Ainda não há avaliações
- Monografia EntregueDocumento36 páginasMonografia EntregueMara Cecília Maciel CavalcanteAinda não há avaliações
- Credencia Colégio Flama com cursos técnicosDocumento30 páginasCredencia Colégio Flama com cursos técnicosFabiano PessanhaAinda não há avaliações
- Pós-Modernismo e Desconstrutivismo em ArquiteturaDocumento12 páginasPós-Modernismo e Desconstrutivismo em ArquiteturaAna Carolina MirandaAinda não há avaliações
- Trabalho de Direito EclesiásticoDocumento7 páginasTrabalho de Direito EclesiásticoEddie EdmarAinda não há avaliações
- Linguística Aplicada - Histórico da DisciplinaDocumento2 páginasLinguística Aplicada - Histórico da DisciplinadaniloAinda não há avaliações
- 4.1 Aluno Nao e Mais Aquele Antonio FaveroDocumento18 páginas4.1 Aluno Nao e Mais Aquele Antonio FaveroDiogo BogéaAinda não há avaliações
- Sistemas de Organização AdministrativaDocumento12 páginasSistemas de Organização AdministrativaPedro Marques100% (1)
- Materialdeapoioextensivo Geografia Exercicios Africa Subsaariana Quadro Social e ConflitosDocumento1 páginaMaterialdeapoioextensivo Geografia Exercicios Africa Subsaariana Quadro Social e ConflitosFabiano rodrigues100% (1)
- História da Matemática em Atividades DidáticasDocumento120 páginasHistória da Matemática em Atividades Didáticasgil santosAinda não há avaliações
- Unidos na Construção de uma Escola para TodosDocumento30 páginasUnidos na Construção de uma Escola para TodosthabatacostaAinda não há avaliações
- Panorama dos estudos sobre texto e discursoDocumento5 páginasPanorama dos estudos sobre texto e discursoEds CavalAinda não há avaliações
- Resenha Coesão e CoerênciaDocumento2 páginasResenha Coesão e CoerênciadominguinhasAinda não há avaliações
- Michelle de Freitas BissoliDocumento282 páginasMichelle de Freitas BissoliEdilsonAzevedoAinda não há avaliações
- A Influência Africana No Português BrasileiroDocumento26 páginasA Influência Africana No Português BrasileiroRodolfo DantasAinda não há avaliações
- Psicologia Da Educacao - Licenciaturas PDFDocumento202 páginasPsicologia Da Educacao - Licenciaturas PDFZelão Liz100% (2)
- Aula 3 - Comportamento Do ConsumidorDocumento46 páginasAula 3 - Comportamento Do Consumidorrgomes.carolAinda não há avaliações
- A influência de Haussmann no Rio dos anos 20Documento12 páginasA influência de Haussmann no Rio dos anos 20Alexandra Dias Ferraz TedescoAinda não há avaliações
- Ubuntu como ética africanaDocumento24 páginasUbuntu como ética africanaMarçal De Menezes Paredes100% (2)