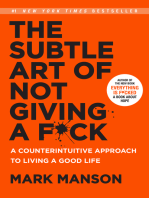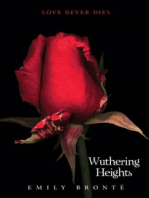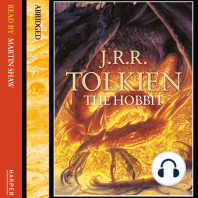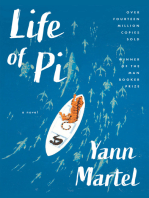Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Edicao54 Completa
Enviado por
Luciano NascimentoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Edicao54 Completa
Enviado por
Luciano NascimentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
F I LME CULTURA n
o
54 . MAIO 2011 WWW.FILMECULTURA.ORG.BR R$5,00 ISSN 2177-3912
V A N G U A R D A
I N O V A O
=
Job: 253124 -- Empresa: Burti RJ -- Arquivo: 253124-10837-1-1_pag001.pdf
Registro: 20170 -- Data: 23:09:36 31/03/2011
Job: 253124 -- Empresa: Burti RJ -- Arquivo: 253124-10837-1-1_pag001.pdf
Registro: 20170 -- Data: 23:09:36 31/03/2011
lmecultura 54 | maio 2011 2
PRESIDENTE DA REPBLICA DILMA ROUSSEFF
MINISTRA DA CULTURA ANA DE HOLLANDA
SECRETRIO EXECUTIVO / MinC VITOR ORTIZ
SECRETRIA DO AUDIOVISUAL ANA PAULA DOURADO SANTANA
GERENTE DO CTAv GUSTAVO DAHL
CTAv - Centro Tcnico Audiovisual
Avenida Brasil, 2482 | Benca | Rio de Janeiro | RJ | Brasil
cep 20930.040
tel (21) 2580-3775 ramal 2006
Filme Cultura uma realizao viabilizada pela
parceria entre o Centro Tcnico Audiovisual CTAv
e o Instituto Herbert Levy - IHL.
Este projeto tem o patrocnio da Petrobras e utiliza
os incentivos da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet).
www.lmecultura.org.br
lmecultura@lmecultura.org.br
distribuicao@lmecultura.org.br
lmecultura 54 | maio 2011
DIRETOR GUSTAVO DAHL | EDITORA EXECUTIVA JOANA NIN | EDITOR/JORNALISTA RESPONSVEL MARCELO CAJUEIRO (MTB 15963/97/79)
REDAO CARLOS ALBERTO MATTOS, DANIEL CAETANO, JOANA NIN, JOO CARLOS RODRIGUES E MARCELO CAJUEIRO
PRODUTORA LETCIA FRIEDRICH | SECRETRIA DE REDAO MANARA CARNEIRO
COLABORADORES ANDR PARENTE, CAO GUIMARES, FERNANDO MORAIS DA COSTA, FILIPE FURTADO, LUIZ GONZAGA ASSIS DE LUCA,
MARCOS MAGALHES, MRIO ALVES COUTINHO, PEDRO BUTCHER, RUBENS MACHADO JR. E TATIANA MONASSA
PROJETO GRFICO E DIAGRAMAO MARCELLUS SCHNELL | PRODUO ICONOGRFICA LEONARDO ESTEVES
RESTAURAO DIGITAL DE FOTOGRAFIAS ANA OLIVEIRA ROVATI | REVISO EDITORIARTE | PRODUO GRFICA SILVANA OLIVEIRA
SUPERVISO DO PROJETO (INSTITUTO HERBERT LEVY) JOS CARLOS BARBOZA DE OLIVEIRA
4 EDITORIAL GUSTAVO DAHL | 5 OS CORPOS E ESPRITOS DA POCA DANIEL CAETANO
10 DRAMATURGIA OU VANGUARDA: EIS A QUESTO JOO CARLOS RODRIGUES
14 DO QUASE AO PS-CINEMA: CINEMA E INSTALAO NO BRASIL ANDR PARENTE | 19 O FUTURO DO CINEMA LUIZ GONZAGA ASSIS DE LUCA
23 O DESEJO PELO OUTRO FILIPE FURTADO | 28 O INCHAO DO PRESENTE: EXPERIMENTALISMO SUPER-8 NOS ANOS 1970 RUBENS MACHADO JR.
33 BUSCA AVANADA MRIO ALVES COUTINHO | 35 FILME CULTURA ENTREVISTA CLBER EDUARDO DA REDAO
41 DOCUMENTRIO DE INVENO CARLOS ALBERTO MATTOS | 45 NOVOS CAMINHOS PARA A ANIMAO EXPERIMENTAL MARCOS MAGALHES
49 COMO SOA HOJE EXPERIMENTAL? FERNANDO MORAIS DA COSTA | 54 CAMINHOS DA INOVAO | 59 ENSAIO FOTOGRFICO CAO GUIMARES
67 CINEMATECA DE TEXTOS / JULIO BRESSANE | 70 UM FILME / O GERENTE JOO CARLOS RODRIGUES E PEDRO BUTCHER
76 PERFIL / RUBEM BIFORA II GUSTAVO DAHL | 81 E AGORA? JOS PADILHA | 83 E AGORA? NEVILLE DALMEIDA
85 L E C TATIANA MONASSA | 88 LIVROS / CINEMA DE GARAGEM CARLOS ALBERTO MATTOS | 90 CURTAS JOANA NIN | 91 ATUALIZANDO JOANA NIN
95 PENEIRA DIGITAL CARLOS ALBERTO MATTOS | 96 CINEMABILIA
Grupo Grco Stamppa | tiragem 2.000 exemplares
Luiz Fernando Carvalho registra com
seu celular a projeo de Lavoura arcaica.
Em primeiro plano: Leonardo Medeiros (Pedro)
Para que o novo nasa, preciso que o velho morra, diz, com certa brutalidade,
a interpretao da carta O Ancio, no tar criador. Na mitologia veda, Vishnu,
o mantenedor, precedido por Brahma, o criador e sucedido por Shiva, o destruidor.
nesta dialtica de criao e destruio que a vida avana. Quando Giotto rompe com
a tradio dos cones bizantinos e representa o homem na mesma escala dos santos,
inova. Quando os impressionistas abandonam a linha e a perspectiva da pintura clssica,
usando diretamente a cor, criam uma nova forma de representao, foram um novo olhar.
Exemplos de avanos na evoluo artstica pela ruptura so inmeros. Quando Schoenberg
e Webern trocam a harmonia meldica da escala de sete notas pela utilizao sistemtica e
sucessiva das doze notas do mtodo dodecafnico, mudam a prpria natureza da msica.
Adeus Tchaikovsky. O incio do sculo XX foi prdigo em revolues. Joyce, Mallarm,
Brancusi. Freud e Einstein. Ruptura e desconstruo foram o preo pago pela inveno.
O mundo no seria o mesmo depois do modernismo soa to antiga a palavra como
no o foi depois das revolues americana e francesa, no nal do sculo XVIII.Tudo muda.
Menos a vanguarda, diria mais tarde, ironicamente, Louis Jouvet, monstro sagrado dos
palcos franceses. Sim, o desejo do novo sempre o mesmo porque o velho se aferra sua
sobrevivncia. Quando a informao se exaure de signicado pelo longo uso, para signicar
novamente tem que ser diferente. Mas se for demais, deixar de ser percebida, da mesma
maneira que aquela se exauriu. A linguagem, como o corpo e a crosta terrestre, se gasta.
Atualmente o conceito de inovao se aplica preferencialmente a modelo de negcio, jargo
introduzido pela informtica, como escopo e deletar, que todo o mundo entende. Trata
de interrelaes determinadas por um formato. A troca de uma lgica da escassez por uma
da abundncia como feito no mundo digital, a facilidade de acesso proporcionada pela
evoluo tecnolgica, a diminuio de custos de captao visual e sonora, bem como de
sua difuso, mudaram denitivamente a fabricao e o consumo da imagem em movimento.
Novos instrumentos, como o celular, o i-pod, o i-pad, nova redes sociais como o Youtube.
twitter, o Facebook, a obsolescncia do suporte fsico, transformaram estruturalmente o
audiovisual. Sua unidade mnima, o plano esta frao de mundo ser diferente segundo
sua reproduo se d numa tela de cinema, de televiso, de computador ou celular.
O quadro, a escala,o tempo, a distncia do objeto, o ritmo sero outros segundo o
instrumento em que so contemplados. Adeus tambm para a doura de viver das imagens
eternas do cinema. Filmes de famlia, registros de cmera de segurana, realidade no
mediada do jornalismo televisivo, so to nobres quanto. Como queria Heisenberg, com seu
princpio da indeterminao, pelos idos dos anos 1920, o observador modicou a experincia.
Ningum perfeito. A presente edio de Filme Cultura, a um s tempo ambiciosa e modesta,
se aventura em tentar dar conta deste estado das coisas. Mistura o presente, o passado e o
futuro: se h hoje uma certeza que o mundo mix. FC no quer ser cabea nem ingnua,
espaos preenchidos pela academia e pelo consumo. Pretende simplesmente comear a
corresponder a esta abrupta invaso do Novo, em um mundo cada vez mais audiovisual.
GUSTAVO DAHL DIRETOR DA FILME CULTURA E GERENTE DO CTAv
lmecultura 54 | maio 2011 V A NGUA RDA - I NOV A O
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
P O R D A N I E L C A E T A N O
lmecultura 54 | maio 2011 Limite
lmecultura 54 | maio 2011 6 V A NGUA RDA - I NOV A O
Como j foi apontado em muitas anlises sobre a ps-modernidade, o ambiente
cultural da nossa poca tem como caracterstica uma desconfiana com relao aos
conceitos de originalidade e inovao. As transformaes sociais e culturais no deixam
de acontecer, nem modos novos de lidar com circunstncias novas deixam de surgir e
se instituir devido a essa descrena nas mudanas, mas estamos prximos demais da
memria fantasma de uma poca em que eram notveis os movimentos de inveno e
ruptura movimentos que comearam em meados do sculo XIX tiveram momentos de
pice nas dcadas de 1920 e 1960 e se tornaram cada vez mais raros a partir de algum mo-
mento dos anos 70. Da em diante, as discusses sobre o que este momento posterior
modernidade se difundiram por conta da mudana de ambiente cultural, devido aos sinais
de esgotamento radical dos movimentos vanguardistas; neste novo momento, as ideias,
as discusses, as crenas e as obras enm, o esprito do tempo , tudo isso marcado
pela presena de uma forte conscincia histrica, to presente que impede a possibilidade
de ruptura. E os gestos de rompimento esttico ainda precisam sobreviver epidemia de
historicismo, uma vez que correm o risco de serem vistos como repeties do que foi
feito ou do que se faz em outros lugares, cabendo aos crticos buscar rtulos compatveis
em algum livro velho. Para mencionar um exemplo bvio, qualquer forma narrativa que
subverta a ordem lgica da natureza recebe a alcunha de surrealista, mesmo que no
tenha nada a ver com os princpios da escrita automtica de Andr Breton e seus comparsas.
O movimento de liderana que foi exercido pelas ditas vanguardas (j clssicas) do sculo XX
foi o de romper com modelos estabelecidos. Para compreender por que isso no se mostra
to frequente no nosso tempo, pode ser de boa ajuda lembrar qual era o contexto histrico
que as provocou. Os artistas da chamada vanguarda oscilaram entre o fascnio e o horror
modernidade, como j apontou Octavio Paz. Essas vanguardas ocorreram em seguida ao
sculo em que se estabeleceram os modelos de uma arte burguesa que em muita situaes
se conciliava com seus precursores do perodo aristocrtico (como nos casos de neoclassi-
cismo), e em outros se opunha e radicalizava em vrios nveis contra os modelos clssicos,
at chegar s rupturas vanguardistas. Em um trecho da sua Filosoa da composio, Edgar
Allan Poe diz que a verdade que a originalidade (a no ser em espritos de fora incomum)
de modo algum uma questo, como muitos supem, de impulso ou de intuio. Para ser
encontrada, ela, em geral, tem de ser procurada trabalhosamente, e embora seja um mrito
positivo da mais alta classe, seu alcance requer menos inveno que negao. Podemos
desconar dos excessos do tom racionalista que caracteriza o texto de Poe, mas certo que
o gesto de ruptura precisa que existam um ou mais modelos que possam ser confrontados.
Naturalmente, isso no aconteceu de forma idntica em cada uma das artes. No teatro, os regis-
tros de ruptura com os modelos tradicionais ocorrem somente no nal do sculo XIX. O mesmo
se deu com a msica, em que as experimentaes romnticas eram cuidadosamente calculadas
dentro do regime harmnico herdado do classicismo, conforme se percebe em casos modelares
como os de compositores alemes e italianos. J a pintura se manteve pretensamente realista
at sofrer a concorrncia dos registros fotogrcos: o incio do impressionismo acontece na
dcada de 1870, quando tem incio a era das vanguardas. a literatura que se difere um pouco
entre as artes: quando estavam se denindo as formas do romance burgus, ainda sobrevinham
lmecultura 54 | maio 2011
rudos da crtica irnica s narrativas do perodo aristocrtico feita pelo Marqus de Sade.
No por acaso que Sade foi considerado por estudiosos como Michel Foucault o primeiro escritor
moderno, aparecendo antes mesmo de existir um modelo burgus a ser rompido. Na verdade,
a pardia, crtica irnica aos modelos, podia ser percebida j em obras clebres do perodo
barroco, como o Dom Quixote de Cervantes... Seja como for, a seu modo a literatura precisou
ser moderna antes da palavra: para escrever, foi preciso criticar, romper e recriar os modelos,
sem o empurro de qualquer aparato de registro tecnolgico (tal como aconteceu com a pintura
e com a msica). Isso no caso da escrita em prosa, pois a poesia foi talvez mais radical: os
poetas da sociedade burguesa desde o princpio so poetas da ruptura, parente da revoluo.
Se a literatura da era burguesa teve desde o princpio essa chama crtica e experimental, muito se deve
s intuies dos precursores, mas algo tambm se deve a uma natureza especca do texto escrito:
os letrados eram, em sua maior parte, pessoas mais abonadas. Sempre soar grosseiro armar que a
produo artstica mais experimental destinada apenas a pessoas mais ricas e/ou eruditas qualquer
um pode ter sua sensibilidade provocada por obras inovadoras. No entanto, o ponto incmodo que
no se pode negar outro: no qualquer um que pode se dedicar vanguarda. A experimentao
moderna no depende apenas da existncia de modelos a serem criticados e reinventados depende
tambm de sustento nanceiro dentro deste sistema de crtica e reinveno. Um criador de talento
pode ser levado pelas circunstncias a querer agradar o pblico de todas as maneiras pela justa moti-
vao de manter o seu ganha-po. Sobretudo nas pocas em que o pblico descona das novidades.
O recurso aos modelos j estabelecidos comum nessas circunstncias.
O cinema surgiu quando todas as outras artes viviam o calor dos movimentos de ruptura
com seus modelos e convenes. As heranas que o cinema guardou de outras artes, como
a literatura e a pintura, foram fontes fundamentais para a atitude experimental que existiu
na sua base. Se parece hoje natural que se tenha estabelecido uma tradio dominante de
linguagem narrativa (cujas convenes podem ser constantemente reformuladas), preciso
apontar que esses impulsos de crtica e experimentao tomaram parte de todos os perodos
da produo cinematogrca, desde antes dos lmes de Grifth (vale mencionar o livro de
Flvia Cesarino da Costa, O primeiro cinema espetculo, narrao, domesticao, entre
outros sobre o assunto). J naquele princpio de sculo o ambiente de experimentao das
outras artes era favorvel a isso, e desde ento o cinema intrigou a muitos daqueles que
eram propensos a experimentaes estticas. Como apontou uma vez Alain Robbe-Grillet, j
nos anos 1960, A atrao indubitvel que a criao cinematogrca exerce sobre muitos dos
novos romancistas deve ser procurada noutro lugar. No a objetividade da cmera que os
apaixona, mas sim suas possibilidades no domnio do subjetivo, do imaginrio. Em vrios
momentos, o cinema foi visto como uma espcie de porta da esperana por quem pretendia
fazer uma arte nova algo que nem sempre vicejava, por razes nanceiras ou logsticas.
O perodo agnico da arte de vanguarda fez-se ver, sobretudo, no nal dos anos 1960 e na
dcada seguinte; chegou-se enm a uma espcie de exausto das rupturas. De repente, um
outro ambiente se instalou. No um novo ambiente, decerto, porque isso seria em si um
paradoxo: como haveria um ambiente novo a partir da descrena em torno da ideia de
originalidade? Seja como for, instaurou-se a f na desconana.
V A NGUA RDA - I NOV A O Roda de bicicleta, Marcel Duchamp (1913)
lmecultura 54 | maio 2011 8 8
De fato, a crena na experimentao de linguagem depende mais de uma espcie de arro-
gncia conante do que do conhecimento amplo das circunstncias e tendncias. Podendo
ou no se basear em ampla erudio, e podendo se sair bem ou mal nas suas prprias
pretenses, o experimentalismo uma atitude que no depende seno de si. As concei-
tuaes formuladas pelos inmeros manifestos vanguardistas nem sempre antecederam
as obras ao contrrio, reduzir estas quelas empobrecedor em diversas situaes.
Talvez seja mais interessante enxergar a atitude experimentalista como uma determina-
da predisposio intuitiva e afetiva, e no como conceito relativo a um certo estado das
artes e a criao experimental depende sobretudo de uma execuo el a este desejo.
Neste sentido, pode parecer natural falar do m das vanguardas, uma vez que a ideia
de vanguarda embute o conceito de progresso, de avano e, portanto, de ruptura
consciente de um determinado contexto. No entanto, o que motiva a experimenta-
o no algo desta natureza. O prprio conceito de vanguarda clssico-narrativo
e racionalista demais, se for levado ao p da letra. Mas a descrena na necessidade
(e mesmo na possibilidade) de experimentao um sentimento to comum, nos dias de
hoje, que pode ser diagnosticada como uma doena de muitos espritos da nossa poca.
Isto se torna mais grave (e, por outro lado, mais frgil) no espao brasileiro. Nossa con-
cepo de modernidade, como muitos j disseram, foi importada das agendas europeias;
o grupo do Modernismo de 22 marco de um movimento vanguardista no Brasil por falta
de um imaginrio prvio de pas, precisou invent-lo em vez de romp-lo. Nosso contexto
de pas gigante com formao colonial e socialmente desigual provocou paradoxos per-
sistentes e intrigantes, denidos ao redor da dialtica entre o no ser e o ser outro, na
expresso clssica de Paulo Emilio. Numa sociedade at ento (e, em vrios aspectos, at
hoje) disposta a se enxergar a partir de modelos estrangeiros a serem imitados, Paulo Emilio
apontou o dilema que moveu os dois polos clssicos do dito modernismo: a busca mtica
e antropolgica por razes a serem inventadas, em que a gura histrica de liderana foi
Mrio de Andrade, e a antropofagia oswaldiana, que se fortalecia devorando do outro seus
modos (s me interessa o que no meu, conforme o clssico Manifesto Antropofgico).
O paradoxo teve sua oportunidade de concretizao em um determinado momento do que se
poderia chamar contexto cultural brasileiro: se Oswald falava do biscoito no que a massa
experimentaria, a msica fez acontecer esse fenmeno. Com a rdio e a modernizao dos
meios de difuso de msica, consolidou-se uma era de ouro, uma forma modelar de msica
brasileira. A isso sucedeu-se o biscoito no que Joo Gilberto e seus parceiros de Bossa Nova
prepararam: quebraram modelos e os reinventaram, fazendo uma arte moderna que, parado-
xalmente, se caracterizava pelo rigor e pela conteno em pleno pas do carnaval. Conforme
j armaram tanto Caetano Veloso como Tom Z, o sucesso de Joo Gilberto fez crer numa
certa vocao para a modernidade do nosso pas do futuro. Moderna, popular e massicada,
a Bossa Nova sugeriu a uma nova gerao que o caminho da negociao com a indstria
poderia ser to radical e inovador quanto o enfrentamento podia ser. Assim o tropicalismo
fez um novo movimento na relao antropofgica: tambm as massas so um outro que
provoca interesse. Nesta perspectiva, a inovao e a inveno so naturais em um espao de
circulao de obras e ideias que continua em processo de se consolidar em todo o pas.
V A NGUA RDA - I NOV A O
De cima para baixo:
Lhomme de tte, Caoutchouc e
Viagem lua, de Georges Mlis
lmecultura 54 | maio 2011
Isso no aconteceu com a produo de cinema. Podemos dizer que, graduadas na precariedade,
nossa modernidade era verde e a nova vanguarda ainda amarela. As referncias vanguardistas,
sobretudo os cnones dos cinemanovistas e dos marginais, no tm a fora fantasmtica da Bossa
Nova e da MPB que se seguiu. Talvez por isso o cenrio musical, to vigoroso, parea ter diculdades
ainda maiores para indicar movimentos de renovao do que a produo de cinema. Esta, subven-
cionada pelo mecenato, ainda tem um qu de pr-moderna, j que seus modelos mal se constituem
com a possvel exceo de comdias de costumes, do ironicamente chamado favela movie e,
claro, da chanchada. Chanchada que ainda se mostra presente apesar de todas as mudanas nas
circunstncias seja nas sesses de humor e de grosserias na televiso, seja na incapacidade
de copiar modelos externos que alguns lmes nativos seguem a mostrar. O chanchadesco, por
natureza, um humor que produz constrangimento, e no por acaso que, em certas ocasies,
essa herana foi e reaproveitada e reinventada por alguns dos realizadores considerados mais
experimentais, do cinema de inveno, conforme a expresso do Jairo Ferreira.
A relativa ausncia de modelos estabelecidos e consistentes acaba provocando esse curioso
paradoxo: o espao para invenes e reinvenes que recriem e consolidem novos modelos
parece existir (como sempre) e, ao mesmo tempo, ser inatingvel (talvez por no ter modelo
forte a confrontar). A conscincia histrica no tem efeito apenas nos estilos das obras,
mas tambm na recepo a elas. Mas, como circunstncias sempre guardam diferenas
entre si, os modos de inventar se apresentam: para isso, como j disse, preciso uma certa
conana na capacidade de inventar algo que no foi feito at ento. Trata-se de uma certa
disposio do esprito, at natural, uma vez que a existncia se marca pela diferena e a
mera repetio arrisca se tornar um eco do que j foi feito. Essa disposio atualmente
perceptvel em alguns lmes de realizadores de vrias idades. Mesmo que eventualmente
se mostre travada por alguns cacoetes expressivos, ela sugere a chance de que o ambiente
esteja passando por mudanas e as possibilidades de inovao esttica possam provocar
menos ceticismo e mais interesse. Mas esse movimento ainda precisa se mostrar marcante
e incontornvel para no se parecer com andorinhas de vero, como em outras ocasies da
produo de cinema no Brasil.
Daniel Caetano daniel@lmecultura.org.br
Talvez seja mais interessante enxergar a atitude experimentalista como uma determinada
predisposio intuitiva e afetiva, e no como conceito relativo a um certo estado
das artes e a criao experimental depende sobretudo de uma execuo el a este desejo.
V A NGUA RDA - I NOV A O
O co andaluz, de Luis Buuel
lmecultura 54 | maio 2011 10
Ao contrrio da fotograa e da edio, muito modicadas na ltima dca-
da pela tecnologia digital, h um setor da atividade cinematogrca que tem passado
inclume pelas recentes inovaes: a dramaturgia. Andr Bazin, no clebre Ontologia
da imagem cinematogrca (Cahiers du Cinma, dezembro 1956) a rebatizou de mise-
en-scne, e para ele, deveria ser uma arte do registro do real, com pouca ou nenhuma
interveno da edio (montagem proibida). Esse destino manifesto do cinema, no o
realismo, mas a realidade, foi conrmado dez anos depois, em Le ne dellavanguardia,
artigo de Pier Paolo Pasolini: O cinema no evoca a realidade, como a lngua literria;
no copia a realidade, como a pintura; no imita a realidade, como o teatro. O cinema
reproduz a realidade: imagens e sons. Ao reproduzir a realidade, o que faz o cinema?
O cinema exprime a realidade com a realidade mesma.
A concepo baziniana vai ser contestada na Frana dentro do prprio Cahiers, quando
Godard, no incio dos anos 1960, usou (e abusou) da montagem nos seus primeiros l-
mes (notadamente Acossado e Uma mulher uma mulher), fragmentando a sequncia
para conservar dela apenas as partes que interessam, quebrando a continuidade e a
cronologia. Desde um pouco antes, na Itlia, Antonioni fazia exatamente o contrrio,
preferindo os tempos mortos aos tempos de ao, e os planos longos, sem corte.
Em A aventura, o desprezo pelo enredo to grande que o lme termina sem que tenha
sido resolvido o incidente que detonou a trama. A plateia do festival de Cannes vaiou o
diretor, que teve de se retirar da sala por uma sada de emergncia.
Em ambos os casos estamos diante de inovaes do cinema moderno, uma fuga da
gramtica tradicional da dramaturgia. Mas qual seria esta, anal? Voltando a Pasolini,
sua uma das melhores denies desse fenmeno, expressa num artigo de 1965,
Cinema de poesia. Entre outras coisas, o texto faz uma distino entre um cinema-prosa
e um cinema-poesia. O primeiro seguiria a estrutura dos romances de Charles Dickens,
com personagens com conitos bem denidos e uma trama cronolgica em captulos,
de preferncia emocionante, pois o que se pretende aqui envolver o espectador num
mundo paralelo, mas sem perder a referncia com a realidade. Nessa categoria podemos
incluir cineastas to diferentes como David Grifth, John Ford, David Lean, William Wyler,
Luchino Visconti, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock. J do cinema-poesia no se exige
coerncia nem cronologia. Assim como num poema de Rimbaud, no o tema que nos
seduz, mas a forma, as rimas, a mtrica, as metforas. Aqui no se pretende envolver
o espectador, mas se exibir diante dele, como um mgico diante da plateia. o caso de
autores como Jean Cocteau, Mrio Peixoto, Sergei Paradjanov, Walt Disney, Kenneth Anger,
P O R J O O C A R L O S R O D R I G U E S
V A NGUA RDA - I NOV A O
Pier Paolo Pasolini
lmecultura 54 | maio 2011
Stan Brakhage, Glauber Rocha. Embora muito atacada pelos estruturalistas, essa classi-
cao permanece vlida, entre outras qualidades, por ser de rpida compreenso. Houve
polmica de notveis, uns contrrios a ela (Metz), outros favorveis (Deleuze). Claro que no
uma clusula ptrea, e encontramos cenas-poesia em lmes-romance (de Fellini, Buuel
e Minnelli, entre outros tantos), e, bem mais raramente, vice-versa.
Retornemos ao tema da gramtica cinematogrca. Desde o cinema silencioso ela vem
se aprimorando. Primeiro incorporou recursos j existentes na literatura (o ashback), na
pintura (as imagens onricas de sonho e pesadelo) ou no teatro (os dilogos, a cenograa).
A msica ao vivo, que acompanhava os lmes mudos, foi transformada em trilha sonora,
msica de fundo. Hoje encontramos lmes com um rolo fora do lugar por opo (Pulp ction,
1994, de Quentin Tarantino), onde a narrativa se conta trs vezes, cada uma delas com um
pequeno incidente que muda tudo (Corra, Lola, corra/Lola rennt, 1998, de Tom Tykwer), ou
narrada de trs para frente (Amnsia/Memento, 2001, de Christopher Nolan). No longa-
metragem Blue, 1993, em que o cineasta Derek Jarman fala da experincia de ter cado cego
em decorrncia da Aids, ouvimos uma trilha de dilogos e rudos, diante de uma tela azul,
completamente vazia. A verso de Branca de Neve, 2000, por Joo Csar Monteiro, tambm
prescinde quase totalmente da imagem.
H muito que o formato industrial padro dos anos 1930/40, de 90 minutos, foi implodido.
Temos hoje simultaneamente lmes de um minuto ao lado dos musicais de Bollywood, e dos
picos do cinema chins, que frequentemente beiram quatro horas de durao. Produes
em telas mltiplas com ao simultnea, como The Chelsea girls, 1966, de Andy Warhol
e Paul Morrisey, ou lmadas num plano nico de 92 minutos, como Arca russa, 2002, de
Aleksandr Sokurov. Em geral encontramos um narrador na terceira pessoa (oculto ou em voz off),
mas existem algumas tentativas de cmera subjetiva em longa-metragem, vide A dama do
lago, 1947, de Robert Montgomery, e Eros, o deus do amor, 1981, do nosso Walter Hugo
Khoury. Filmes com mais de um narrador, que contam partes diferentes da mesma histria
(Cidado Kane, 1940, Orson Welles) ou diferentes verses do mesmo fato (Rashomon, 1950,
de Akira Kurosawa). Em O gerente, 2010, Paulo Cezar Saraceni faz o narrador aparecer em
carne e osso, falando diretamente ao espectador, como na televiso. Mais recentemente,
com a divulgao de obras vindas de pases orientais, comeam a se destacar lmes prximos
da msica modal, que se repete ad aeternum, sem muitas mudanas, ao contrrio da tonal,
dominante na cultura ocidental, que exige uma soluo dramtica denida. Tio Boonmee,
2010, de Apichatpong Weerasethakul, onde no h nenhuma progresso dramtica e se con-
fundem os planos da realidade e do sobrenatural, e tambm os do passado-presente-futuro,
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
Jean-Luc Godard e
Michelangelo Antonioni
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 12
apenas um dos mais famosos. Outros viro. A substituio da Razo pela F, que parece ser uma
das temticas do sculo 21, deu origem a uma corrente de lmes espiritualistas, invivel dca-
das atrs, e cuja produo brasileira kardecista (Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Nosso lar)
a manifestao nacional do fenmeno, que prenuncia ser de longussima durao.
Portanto, na dramaturgia cinematogrca de co j se tentou de tudo um pouco, e tudo
indica termos chegado a um impasse de formas e ideias. Muitos crticos importantes acre-
ditam estar esse tipo de cinema esgotado e destinado extino, passando a dedicar seu
tempo e ateno ao documentrio ou ao videoclipe. Outros vo mais longe na sua obsesso
novidadeira, e analisam imagens das cmaras de segurana dos bancos e shoppings, ou
lmes domsticos postados na web. Imagens a esmo, captadas quase por acaso. Depois
do cinema de autor, procuram um cinema sem autor, portanto sem dramaturgia. Tudo bem,
uma opo. O equvoco estar se essas imagens casuais forem colocadas no mesmo nvel
das de um Murnau, um Tarkovsky, um Bressane, um Hawks, mesmo de um Watson Macedo,
onde tudo voluntrio, portanto artstico, mesmo quando destinado ao mercado.
Permitam-me discordar. Desde os primrdios da humanidade muito claro que o homem
tem um grande apreo, se no uma necessidade, pela narrativa ccional. Comeou com
a chamada literatura oral, que precede a escrita, e teve no teatro uma de suas primei-
ras manifestaes. Os folhetins, as radionovelas, as telenovelas so provas mais do
que conhecidas por todos ns. O interesse pela vida alheia, a necessidade de fugir da
realidade e a utilizao da co como reexo e comentrio da sociedade so apenas
alguns dos ingredientes dessa necessidade. No, a obra de co no vai acabar. Nem
na literatura, nem no cinema, nem na televiso. Digamos mesmo que continua a ser o
eixo principal que sustenta essas atividades, e assim ser.
Mas resta uma pergunta que no quer calar: possvel modernizar a dramaturgia do
cinema de co, ou se trata de uma forma j petricada, que apenas gira sobre si mesma
com pouqussimas variantes?
Nos ltimos 30 anos, a frmula revelada pelo roteirista americano Syd Field, no seu livro
Screenplay/ The foundations of screenwritting, 1979, foi exportada, como uma praga,
para todas as partes do mundo. o paradigma dos trs atos, segundo o qual todo lme
possui uma Apresentao (25% do total) onde so introduzidos o protagonista e situa-
o; um Confronto (50% do total) quando protagonista e antagonista entram em choque
(recomenda-se l pela pgina 60 de um roteiro de 100 uma pequena reverso de expec-
tativa para acordar o espectador eventualmente desatento); e uma Soluo (os 25%
restantes), quando o protagonista consegue, ou no, o seu objetivo. Hoje um roteiro que
no siga essas regras ptreas dicilmente ser aprovado para produo. A famosa frase
de Godard, todo lme tem um comeo, um meio e um m - mas no necessariamente
nessa ordem, tornou-se um antema, um sacrilgio. Busca-se a ordem.
Derek Jarman e
Joo Csar Monteiro
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
Se a dramaturgia no cinema parte do roteiro para chegar mise-en-scne, torna-se evidente que
o primeiro condiciona a segunda, e um roteiro acadmico conduzir o diretor na mesma direo.
A primeira implicncia da nouvelle-vague contra o cinema de qualidade do ps-guerra comeou
exatamente com os roteiros literrios, de dilogos pomposos, que caracterizavam a produo
francesa. Tambm no Brasil, os diretores do Cinema Novo investiram contra o incipiente cinema
industrial, geralmente melodramas ou policiais, e tambm contra o cinema popular, representado
pela chanchada. Sua dramaturgia bem mais consistente que a do primeiro grupo, e mais bem
acabada, se bem que menos comunicativa, que a do segundo. Em Deus e o diabo na terra do sol
e Terra em transe Glauber Rocha apresentou novidades reais diante do que se fazia ento no
Brasil, e mesmo fora dele: viso no folclrica da cultura popular, uso da cano como parte
da narrativa, direo estilizada dos atores, gurinos no primeiro. Superposio de narrativas
sonoras simultneas, alegoria poltica, pr-tropicalismo no segundo. Em oposio a ele e ao
Cinema Novo, querendo ir mais alm, vieram os lmes da Bel-Air, outro momento em que a
dramaturgia do cinema brasileiro foi sinnimo de vanguarda. Velhos tempos.
A tentativa, at o momento frustrada, de implantar uma indstria de cinema no Brasil, muito
presente a partir de 1970, veio disciplinar e empobrecer tudo. Produo alavancada por leis
de incentivo, pr-aprovada pela empresa que escolhe o projeto, selecionando temas menos
explosivos, sugerindo elenco televisivo, opinando aqui e ali, preferindo roteiros bem for-
matados a qualquer novidade. Os sucessos narrativos que encontraram resposta na bilheteria,
como, por exemplo, os escritos por Brulio Mantovani, so muito ecientes, mas no escapam
do modelo padro vigente. Nem pretendem. Fazem parte da indstria de entretenimento.
O que os fez cair no gosto popular principalmente a temtica. O ponto inicial de todo lme:
o seu argumento, o seu contedo. Camos ento, inesperadamente, no campo da poltica.
A escolha de certos temas pode ser muito explosiva. Na esquerda ortodoxa dos anos 1930/60,
ele tinha de ser progressista e os protagonistas, positivos. o Realismo Socialista do regime
stalinista. Curioso vericar sua diluio na ideologia liberal dos lmes feitos em Hollywood
nos anos 1960 com mensagem antirracista, e com personagens negros sem nenhum defeito,
interpretados por Sidney Poitier, e dirigidos academicamente por Martin Ritt ou Stanley
Kramer. Foram os jovens turcos da crtica francesa que separaram a temtica da mise-en-scne.
Mas da ndia, onde sombra da maior produo mundial a cinelia chega s raias do fanatismo,
volta e meia ainda nos chegam notcias de cinemas incendiados porque exibiram lmes com
personagens transgressores, e uma religio ou casta sentiu-se ofendida.
Portanto, o contedo de um lme incomoda. Dentro do cinema comercial e seus roteiros
pr-formatados, , a rigor, a nica brecha por onde inovar a dramaturgia. No cinema-poesia,
de autor ou de vanguarda, onde vale tudo, continua pertinente, pois o experimentalismo da
mise-en-scne no pode ser pretexto para falta de assunto ou opinio.
Joo Carlos Rodrigues jcrodrigues@lmecultura.org.br
Apichatpong Weerasethakul
Glauber Rocha
V A NGUA RDA - I NOV A O
A
C
E
R
V
O
T
E
M
P
O
G
L
A
U
B
E
R
lmecultura 54 | maio 2011 14
Ultimamente vemos surgir, em relao a um certo campo de experimentao do
cinema, termos tais como cinema expandido, ps-cinema, cinema de artista, cinema de
exposio, cinema do dispositivo este ltimo termo, criado por ns. O que h de comum
entre todos esses termos uma certa forma de pensar o cinema em relao com dois ou-
tros campos de problema, o da arte contempornea e o das novas mdias. Razo pela qual
intitulamos nosso ltimo livro de Cinema em trnsito: cinema, arte contempornea e novas
mdias (Azougue, 2011), livro que comenta uma srie de experimentaes cinematogrcas
seminais realizadas em espaos outros, fora da sala de cinema.
Entretanto, do ponto de vista da prtica, as formas de representao do cinema j nascem,
como veremos, juntamente com processos de recriao de seu dispositivo. Deixando de lado
o contexto e os autores que, no incio dos anos de 1970, discutiram o processo ideolgico
do sistema cinema, e trazendo a discusso para o presente, podemos recolocar o problema
dizendo que o cinema j nasceu multimdia. A exemplo do que vem sendo dito sobre as novas
tecnologias de comunicao, podemos armar que, em seu dispositivo, o cinema faz convergir
trs dimenses diferentes: a arquitetura da sala, herdada do teatro italiano (os anglo-saxes
usam, at hoje, o termo movie theatre para designar essa sala); a tecnologia de captao e
projeo da imagem e cujo padro foi inventado no nal do sculo XIX por Edison; e a forma
narrativa (esttica da transparncia) adotada pelo cinema em torno dos anos de 1910, em
particular o cinema de Hollywood, sob a inuncia da vontade de viajar sem se deslocar.
No toa que, de hbito, quando pensamos em cinema, a imagem que nos vem cabea a de
um espetculo que envolve ao menos estes trs elementos distintos: uma sala escura, onde h uma
projeo de uma imagem em movimento que conta uma histria em cerca de uma hora e meia.
Quando se diz que os irmos Lumire inventaram o cinema, esquece-se, muito frequente-
mente, que o Cinematographo s continha as duas primeiras dimenses acima mencionadas.
Apenas recentemente comeou-se a distinguir de forma sistemtica o cinema dos primeiros
tempos, o cinema dito de atraes (Nol Burch, Andr Gaudreault, Tom Gunning etc.), do
cinema narrativo clssico, que surge em torno de 1908. De fato, a histria do cinema dos
primeiros tempos nos permite separar dois momentos absolutamente diferentes: o da
Os irmos Lumire
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
emergncia de um dispositivo tcnico (o cinema como dispositivo espetacular de produo
de fantasmagorias) e aquele outro, fruto de um processo de institucionalizao sociocultu-
ral do dispositivo cinematogrco (o cinema como instituio de uma forma particular de
espetculo), isto , o cinema entendido como formao discursiva.
Portanto, quando se diz hoje que as novas tecnologias de um lado, e a arte contempor-
nea, de outro, esto transformando o cinema, preciso perguntar de que cinema se trata.
O cinema convencional, que doravante chamaremos de forma cinema (termo que cunha-
mos para distinguir do cinema do dispositivo), apenas uma forma particular de cinema,
porque no dizer uma instalao, que fez sucesso e se tornou hegemnica: vale dizer, um
modelo esttico determinado histrica, econmica e socialmente. Trata-se de um modelo
de representao, a forma narrativa-representativa-industrial (N.R.I., termo cunhado por
Claudine Eizykman), ou um modelo institucional modelo-representativo-institucional
(M.R.I., sigla inventada por Nol Burch) ou um modelo esttico, esttica da transparncia
(termo utilizado por Ismail Xavier).
O cinema, na condio de sistema de representao, no nasce com sua inveno tcnica, pois
leva cerca de uma dcada para se cristalizar e se xar como modelo. Ele um dispositivo com-
plexo que envolve aspectos arquitetnicos, tcnicos e discursivos cada um deles , por si s,
um conjunto de tcnicas , todos eles voltados para a realizao de um espetculo que gera no
espectador a iluso de que est diante dos prprios fatos e de acontecimentos representados.
No devemos, portanto, permitir que a forma cinema se imponha como um dado natural, ou
melhor, que o cinema se dena por ela. A prpria forma cinema, alis, uma idealizao.
Deve-se dizer que nem sempre h sala; que a sala nem sempre escura; que o projetor nem
sempre est escondido ou desapercebido ( silencioso, por exemplo); que o lme nem
sempre projetado (muitas vezes, e cada vez mais, ele transmitido por meio de imagens
eletrnicas e digitais); e nem sempre conta uma histria (muitos lmes so atracionais,
abstratos, experimentais etc.). A histria do cinema tende a recalcar os pequenos e grandes
desvios produzidos nesse modelo, como se ele se constitusse apenas do que quer que tenha
contribudo para o seu desenvolvimento e o seu aperfeioamento.
P O R A N D R P A R E N T E ( Para Arlindo Machado )
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 16
Em outras palavras, o cinema sempre foi mltiplo, mas essa multiplicidade se encontra,
por assim dizer, encoberta, recalcada ou idealizada em funo de sua forma dominante.
Ao longo da histria do cinema h no apenas experincias esparsas, como cinco momentos
fortes que se notabilizam por grandes transformaes e variaes quanto ao dispositivo
cinematogrco, sobretudo depois no ps-guerra: cinema do dispositivo, arte do vdeo,
cinema expandido e cinema interativo.
Cada um desses momentos histricos de inveno (pr-cinema) e reinveno do cinema
(ps-cinema) est ligado a um processo de variao e transformao das trs dimenses
do dispositivo cinematogrco supracitadas. Por exemplo, o termo pr-cinema est ligado
a tudo o que, de certa forma, ainda que realizado com imagens em movimento, veio a ser
criado antes do surgimento e da cristalizao do cinema como um espetculo de sala,
o que de fato se deu com os irmos Lumire, tidos como inventores do cinema, quando na
verdade vrios outros inventores j faziam cinema sem sala, dentre os quais destacamos
Thomas Edison, com seu Kinetoscpio que hoje poderia ser considerado um totem,
termo muito utilizado para os dispositivos multimdias , e Raul Grimoin-Sanson, com seu
Cineorama, cinema de 360 graus, apresentado na feira de 1900 com o intuito de fazer o
espectador experimentar a subida de um balo. O Kinetoscpio e o Cineorama eram duas
vias completamente diferentes: o primeiro mais relacionado questo da iluso da imagem
em movimento e o segundo mais calcado ao processo de imerso e aos antigos panoramas,
aos quais a forma cinema est intimamente ligada nessa tentativa de produzir um processo
de imerso o mais intenso possvel.
O termo cinema dos primeiros tempos se refere a toda uma produo de lmes que, ao
contrrio dos pr-cinemas, eram realizados para serem exibidos em sala de cinema. O que
diferencia o cinema (forma cinema) do pr-cinema basicamente a ausncia, nestes
ltimos, de decupagem e de montagem, ou seja, do que veio a ser denominado posterior-
mente de linguagem cinematogrca ou de sistema de representao (NRI, MRI, esttica
da transparncia, forma cinema).
O que hoje chamamos de ps-cinema nasceu no Ps-guerra, mais particularmente nos anos
de 1960, com a videoarte e com as instalaes e happenings cinematogrcos. A videoarte
o meio privilegiado a partir do qual se deu o encontro entre o audiovisual e a arte con-
tempornea. A videoarte estava presente em todos os movimentos que zeram a passagem
do moderno ao contemporneo movimentos resultantes de uma ruptura com o repertrio
modernista, entre os quais destacamos: a pop arte, o neoconcretismo, o minimalismo, a
arte conceitual, o grupo Fluxus, a land art.
Nos anos 1960, surgiu uma srie de experincias de cinema com projees mltiplas, instalaes e
happenings, realizada por cineastas experimentais, em sua maioria americanos Kenneth Anger,
Stan VanDerBeek, Robert Whitman, Andy Warhol, Jeffrey Shaw, Anthony McCall , interessados
em experimentar a combinao de vrios meios de expresso, misturando o cinema, a dana, a
msica, a performance e as artes plsticas. O cinema expandido foi ao mesmo tempo um movi-
mento de radicalizao do cinema experimental e um movimento sincronizado com a dispora
do cinema da sala. De l para c, cada vez mais encontramos cinema em todos os lugares, da
televiso aos gadgets digitais, da internet aos muros da cidade, nos museus e galerias.
Thomas Edison
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
Na verdade, esse movimento se deu em vrios campos artsticos, na msica, no teatro, na
dana, nas artes plsticas: em todos esses campos, houve uma dessacralizao do espao
tradicional de apresentao das obras. Vale aqui lembrar a importncia da msica nesse
processo: o rock rompeu com as estruturas da sala, o muro e a cadeira, tornando a msica
cada vez mais comportamental. Hoje, a msica tecno foi mais alm: qual o sentido de ouvir-
mos uma msica tecno em uma sala de concerto? A msica tecno avessa contemplao
esttica, no sentido de que dispensou os principais elementos de apreciao esttica que
so a melodia e a harmonia. Na verdade, o teatro, a dana, a msica, as artes plsticas e
o cinema mais experimental dos anos 1970 buscaram na dessacralizao dos espaos de
exibio uma maneira de torn-los cada vez mais interativos.
Lembramos que foram os neoconcretistas que, antes mesmo dos minimalistas, propuseram a
participao do espectador na obra de arte. Em 1973, em seus projetos de Cosmococas, que s
vieram a ser apresentadas em pblico bem mais tarde, Hlio Oiticica e Neville DAlmeida busca-
ram realizar um conjunto de instalaes, no qual o espectador pudesse experimentar o cinema
a partir da projeo audiovisual. A ideia principal de Oiticica e Neville era a de experimentar
um duplo devir: o devir do cinema das artes plsticas e o devir das artes plsticas do cinema,
em uma espcie de discurso indireto livre. Isso ca muito claro no comentrio de Hlio:
Colocam-me o visual (cujo problema de imagem j fora consumido em TROPICLIA), num nvel
de ESPETCULO (PERFORMANCE-PROJEO) a q me atrai a experincia de cinema de NEVILLE:
os MOMENTOS-FRAMES dos SLIDES so a sute lgica de MANGUE BANGUE limite: a mim me
anima insuar experimentalidade nas formas mais ESPETCULO-ESPECTADOR q continuam
a permanecer virtualmente imutveis: a NEVILLE interessa gadunhar a plasticidade sensorial
do ambiente q quer como se fora artista plstico (e o mais do que ningum!) INVENTAR:
em MANGUE BANGUE a cmera como uma luva sensorial pra tocar-cheirar-circular: explodir
portanto em fragmentos-SLIDES pretexto-consequncia pra PERFORMANCE-AMBIENTE: EU-
NEVILLE no criamos em conjunto, mas incorporamo-nos mutuamente de modo q o sentido
da autoria to ultrapassado quanto o do plgio: JOGO-JOY: nasceu de blague de cafungar
p na capa do disco de ZAPPA WEASELS RIPPED MY FLESH: quem quer a sobrancelha ? e a
boca ?: sfuuum! : p-SNOW: pardia das artes plsticas: pardia do cinema.
Se Hlio e Neville vieram a denominar as Cosmococas de Quasi-cinema, isso no se deve ao
fato de estas no usarem imagem em movimento, mas por colocarem de lado o que ele chama
a unilateralidade do cinema. O quasi-cinema de Hlio e Neville cinema, mas um cinema
participativo, que pode romper com a NUMBNESS que aliena o espectador na cadeira-priso.
Pois como soltar o CORPO no ROCK e depois se prender cadeira do numb-cinema???
Por outro lado, a tecnologia jogou um papel crucial nesse processo de transformao da relao
dos vrios meios de expresso e o espectador. Para continuarmos tomando como exemplo a
msica, a partir dos anos de 1930 a msica passou a ser ouvida em qualquer lugar proces-
so j prenunciado por Paul Valery em 1928, em um texto utpico intitulado A conquista da
ubiquidade, no qual ele arma que a msica, por sua integrao com todos os aspectos da
vida individual e social, a arte que vai encontrar primeiro novos modos de reproduo, distri-
buio e de escuta em primeiro lugar por meio do rdio e depois do som porttil: o cassete,
o walkman, e nalmente os minsculos tocadores de MP3, celulares, entre outros.
Hlio Oiticica e Neville DAlmeida
V A NGUA RDA - I NOV A O
I VAN CARDOSO
lmecultura 54 | maio 2011 18
No campo do audiovisual e do vdeo, o cinema comeou a sair da sala ao ser distribudo na tev,
ainda nos anos de 1940, para depois passar a ser distribudo em vdeo, nos lares, primeiro em VHS
(1970), e depois em DVD (1990), e na Internet. Hoje, a internet possibilitou que qualquer aluno
cinlo bem-informado possusse sua prpria cinemateca. Mas do ponto de vista da criao,
a imagem eletrnica teve sua importncia para o cinema expandido em dois momentos cruciais:
em primeiro lugar, nos anos de 1960, quando artistas como Nam June Paik, Bruce Nauman, Peter
Campos, Dan Graham, Steina Vasulka e Woody Vasulka utilizaram as cmeras em circuito fechado
para fazer instalaes nas quais a experincia da obra o foco do trabalho; e mais tarde, quando
do surgimento dos projetores multimdia, autores da videoarte como Gary Hill, Bill Viola, Thierry
Kuntzel, Zbigniew Rybczynski vieram a fazer suas complexas instalaes que transformavam o
cinema em todas as suas trs dimenses fundantes, como tpico das instalaes.
No Brasil, embora tenhamos tido, durante os anos de 1970, uma intensa produo de cinema
experimental (Antnio Dias, Antnio Manuel, Paulo Brusky, Arthur Omar, Lgia Pape, Andr
Parente a esse respeito remetemos o leitor ao catlogo da exposio Filmes de Artista -
1965-1980, organizada por Fernando Cocchiarale em 2007 e publicada pela Contra-Capa) e
de videoarte (Snia Andrade, Letcia Parente, Regina Silveira, Rafael Frana, Eder Santos,
Sandra Kogut, entre outros. Ver a esse respeito o livro Extremidades do vdeo, de Christine
Mello, Editora Senac, 2009), a produo instalativa comea a surgir, com rarssimas excees,
como as j citadas Cosmococas, apenas em meados dos anos de 1980, e ainda assim de
forma muito tmida. Foi apenas a partir dos anos de 1990 que uma srie de artistas, cine-
astas e videomakers vieram a produzir intensamente instalaes: Jlio Plaza, Eder Santos,
Snia Andrade, Regina Silveira, Tadeu Jungle, Diana Domingues, Maurcio Dias & Walter
Riedweg, Sandra Kogut, Arthur Omar, Lucas Bambozzi, Simone Michelin, Cao Guimares,
Andr Parente e Katia Maciel, entre muitos outros.
A razo para o surgimento tardio das instalaes no Brasil mesmo os Quasi-Cinema ou
Cosmococas s foram apresentadas mais de dez anos aps a morte de Hlio Oiticica, a partir
dos anos de 1990 muito simples. O cinema expandido requer o acesso a meios dispendio-
sos e um certo domnio tcnico. Por outro lado, do ponto de vista esttico, requer uma certa
problematizao do dispositivo do cinema, sobre o qual falamos no incio. De fato, a questo
do dispositivo est completamente entranhada no cinema expandido (cinema experimental
ou videoarte), uma vez que nela a obra no se apresenta mais como um objeto autnomo
preexistente relao que se estabelece com o sujeito que a experimenta. Tudo nos leva a
crer que nessas instalaes o cinema sofre uma transformao radical. A instalao permite ao
artista espacializar e temporalizar os elementos constitutivos da obra. O termo indica um tipo
de criao que recusa a reduo da arte a um objeto para melhor considerar a relao entre
seus elementos, entre os quais, muitas vezes, est o prprio espectador. A obra um processo,
sua percepo se efetua na durao de um percurso, que nico, singular, e que implode o
tempo de um espetculo com incio, meio e m (show, sesso, pea). Engajado em um percurso,
envolvido em um dispositivo, imerso em um ambiente, o espectador participa da mobilidade
da obra. A experincia da obra pelo espectador constitui o ponto nodal do trabalho.
Andr Parente cineasta, artista e pesquisador do cinema e das novas mdias. Professor da UFRJ, autor
de diversos livros, entre eles: Imagem-mquina (1993); Sobre o cinema do simulacro (1998); Narrativa e
modernidade (2000); Cinma et Narrativit (LHarmattan, 2005); Cinema em Trnsito (2011).
De cima para baixo:
Cosmococa CC2 - onobject, 1973;
Cosmococa CC5 - Hendrix War, 1973;
Cosmococa CC5 - Trashislapes, 1973;
Cosmococa CC3 - Ailcryn*, 1973.
V A NGUA RDA - I NOV A O
C
S
A
R
O
I
T
I
C
I
C
A
F
I
L
H
O
lmecultura 54 | maio 2011
Toda vez que me questionam sobre o futuro do cinema, vem-me cabea um artigo
que li na revista espanhola Muy interessante h 25 anos. Convidaram dez cineastas para
relatar como viam o cinema dos anos 2000. Um escreveu que seria um barco percorrendo o
Sena com projees em suas velas. Outro armava que as exibies seriam tridimensionais
no centro de uma grande praa. Um terceiro descrevia uma sala com inmeras e gigantescas
telas, onde o espectador escolhia o que queria ver. Todas as interpretaes eram poticas,
sem qualquer preocupao com os aspectos mercadolgicos ou tcnicos.
Essa viso ldica transmite uma viso otimista sobre a exibio coletiva, aquela que coloca
diferentes pessoas compartilhando emoes ao mesmo tempo. Escrevi um artigo no nal
dos anos 1980, portanto quando milhares de cinemas cerravam denitivamente suas portas
e locadoras de videocassete eram abertas em cada esquina. Armava que a exibio coletiva
jamais deixaria de existir, pois estar junto, compartilhar o prazer ou a dor uma necessidade
humana. O tempo se incumbiu de provar tal armao o theatrical encontra-se novamente
em ascenso, enquanto a venda ou o aluguel de DVDs entrou em profundo declnio, pratica-
mente deixando de existir em importantes mercados como o sul-coreano ou o mexicano.
Tentarei car restrito s prospeces sobre as tecnologias que existem ou que esto em
desenvolvimento, evitando fazer futurologia. Neste sentido, o conceito de convergncia di-
gital passa a ser fundamental em nossa explanao. Tem-se a integrao de todos os meios
e veculos, permitindo que um mesmo produto audiovisual circule em qualquer um deles. A
especializao dos equipamentos, to valorizada na sociedade industrial tradicional, perdeu
o seu sentido. Os Meios de produo como cmeras e ilhas de edio e nalizao pas-
saram a estar disponveis a qualquer um que possa adquirir um computador domstico,
uma cmara de lmagem ou, mais simplesmente, um telefone que lhe permitir captar as
P O R L U I Z G O N Z A G A A S S I S D E L U C A
V A NGUA RDA - I NOV A O
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
lmecultura 54 | maio 2011
lmecultura 54 | maio 2011 20
imagens e exibi-las em qualquer meio ou veculo. Mesmo a denio conceitual do que seja
um lme ou um programa televisivo mostra-se obsoleta, adotando-se uma denio mais
ampla, que o conceito de contedo.
A armao acima descrita pode levar a uma interpretao de que se atingiram as condies
to sonhadas de acesso das produes de baixo oramento aos cinemas mais rentveis.
Intensamente sonhadas desde a dcada de 1950, quando surgiram as cmaras e gravadores
de som portteis, que permitiram a mobilidade e o registro de cenas sem o aparato que os
estdios exigiam. No atual estgio tecnolgico, produzir um lme algo muito mais simples
e barato que realiz-lo com pelcula 16 mm, que exigia quase que o mesmo aparato de na-
lizao dos lmes mais dispendiosos, como a locao de mesas de montagem (moviolas),
o uso de tas magnticas perfuradas, a mixagem destas pistas de som, a transcrio da ta
mixada para o tico de som, a montagem dos negativos e as cpias positivas. No bastassem
os altos custos das diversas etapas de produo, as caras cpias em 16mm tinham baixa
resistncia fsica e raramente superavam uma vida til de 50 ou 60 exibies.
O baixo investimento na produo de um lme que pode circular em mdias comuns como os
DVDs, os hard discs ou atravs de sinais transmitidos pela internet ou por satlite, aponta
para uma possibilidade indita na circulao de contedos. Porm, as salas de cinema no
se regem apenas pela oferta de produtos, mas por um complexo sistema de distribuio dos
lmes, onde ofertado um nmero muito maior de produtos do que as suas reais capacidades
de exibio. Basta ver que anualmente os Estados Unidos, o Mxico e a Frana lanam at
o dobro de ttulos do Brasil. Podemos dizer que, genericamente, faltam telas no pas e que,
por isso mesmo, a produo nacional e estrangeira supera as suas disponibilidades.
Pode parecer um paradoxo armar que, se a convergncia digital incrementa a capacidade
produtiva de lmes, ela, por outro lado, leva concentrao nos processos de comerciali-
zao. Os grandes estdios no so mais empresas voltadas a realizar lmes, buscar seus
lucros nas salas de cinema e complementarmente no homevideo. Hoje, as produes atendem
a todos os veculos e meios existentes, projetando-se para as possibilidades de explorao
futuras (como o video-on-demand), tratando os mercados sem divisar fronteiras ou pases.
Busca-se o maior lucro possvel em cada janela de exibio, enm, cada veculo ou meio
tratado como importante fonte de receitas. As majors no so nacionais ou multinacionais,
denindo-se enquanto transnacionais. Basta ver que um destes grandes conglomerados,
a Sony, proprietria da Columbia-Tristar, tem capital japons; a News Corp, proprietria da
Fox, nasceu na Austrlia e a Universal era controlada pelo conglomerado francs Vivendi
at poucos anos atrs. Os conglomerados focam seus interesses na universalidade da
explorao de seus produtos, que circulam em sistemas que abrangem redes de comu-
nicao que podem abranger jornais, emissoras de televiso, produo musical, portais
de internet, produtores de videojogos, agncias de notcias, telefonia, licenciamento de
personagens etc. Para resumir: os interesses dos grandes estdios no se situam exclu-
sivamente na explorao de lmes, mas em atender s necessidades que os sistemas de
comunicaes demandam no consumo de contedos.
V A NGUA RDA - I NOV A O
Imax 3D
lmecultura 54 | maio 2011
Os grandes estdios visam o suprimento dos seus sistemas de comunicao com os produtos
audiovisuais com maior volume de arrecadao de receitas. Os produtos classicados como
prime. Os demais produtos, em geral produzidos por terceiros, complementam a grade de
programao dispensando o investimento contnuo por parte destes investidores que adqui-
rem os demais produtos j nalizados no mercado secundrio. Os produtos diferenciados,
comumente conhecidos como blockbusters, recebem investimentos estratosfricos, tendo
suas margens de riscos reduzidas ao serem oferecidos aos mais diversos meios e veculos.
Chegam a custar mais de duas centenas de milhes de dlares. Avatar e Alice ultrapassaram
a arrecadao de U$ 2 bilhes apenas no theatrical. Os blockbusters so planejados em longo
prazo, prevendo as suas sequncias, constituindo o que se passou a chamar franquias. No
comeo dos anos 2000, representavam quase 40% das arrecadaes totais dos cinemas.
No ano de 2010, as vinte maiores rendas do ano atingiram, nos principais mercados cine-
matogrcos, patamares entre 65% e 75% do total das rendas auferidas nas bilheterias.
Esbanjam tecnologia nos efeitos especiais e no realismo virtual. Para se assegurar o fatu-
ramento macio destes lmes, tm se introduzido novas tcnicas, como ocorreu com o 3D,
avana-se sobre as projees tridimensionais sem o uso dos culos e sobre a interatividade
do espectador, que j pode assistir a lmes 4D, que incorporam sensaes tcteis, olfativas
e movimentos das cadeiras. As salas de exibio j podem ter conguraes fsicas variveis
com o recolhimento total ou parcial das poltronas, viabilizando a dana em shows musicais
e propiciando um ambiente mais adequado nos espetculos esportivos.
Assim apresentado, pode parecer que os produtores independentes adentraram o pior mundo.
Num resumo pessimista, pode-se expressar: primeiro, os grandes estdios foram substitudos
por megaconglomerados. Depois, seus principais produtos, que no passam de 20 ttulos por
ano, chegam a custar centenas de milhes de dlares, tomam a maior parte das datas. Em julho
do ano passado, apenas trs lmes estrangeiros ocupavam quase 70% das telas dos cinemas
brasileiros. Qual a vantagem que a tecnologia digital trouxe, ento, ao cinema independente?
Podemos armar que se tem um momento indito, de grande perspectiva para o produto
independente, seja ele um longa-metragem experimental, um documentrio, um curta-
metragem, uma srie de televiso, um programa televisivo, ou at mesmo um curtinha de
alguns segundos. Em primeiro, porque nunca houve tantos veculos para exibir os lmes.
Basta ver o Youtube para carmos embasbacados com a quantidade de material disponvel.
Legal ou ilegalmente (e esta uma discusso mais complexa da qual fugirei) assiste-se a
materiais que jamais chegariam a qualquer tipo de tela. Mesmo brincadeiras amadoras feitas
com uma simples cmara de telefone chegam aos sites, e cada vez mais os assistimos em
canais de televiso por assinatura e mesmo nas emissoras abertas.
Trata-se de uma mudana extrema nos sistemas de circulao dos produtos audiovisuais.
No s possvel produzi-los com o simples custo de aquisio de um telefone celular,
como possvel fazer sua circulao, que ser assistida por um nmero muito maior de
espectadores do que nos veculos tradicionais. No se dependeu de um produtor, de um
distribuidor ou de um proprietrio de veculo ou meio de comunicao.
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 22
A distribuio do homevideo, no sistema de locao (rental), declina com o avano das
tcnicas de circulao dos contedos na internet. Num futuro muito prximo, o video-on-
demand ter um consumo muito intenso, bastando ao consumidor baixar o contedo em
seu computador, em seu telefone, em seu tablet, em seu televisor... O consumo on-demand
muda a estrutura de comercializao de contedos, pois permitir adquirir os direitos de
assistir a um contedo a preos nmos. Porm, se estes valores so baixos, a imensido
de compradores gera volumosos montantes para os contedos oferecidos.
Essa nova dimenso de fazer circular amplamente os produtos que antes no chegavam s
mos do consumidor j foi retratada por Chris Anderson ao criar a teoria da cauda longa,
uma proposio de comercializar produtos que no se submetem aos critrios tradicionais
de consumo devido sua pequena escala de vendas. Atravs do consumo globalizado,
obtido pela oferta na internet, localiza-se um nmero de consumidores suciente para lhes
dar a viabilidade econmica. Se estivermos discutindo a exibio pelas salas de cinema,
no teremos um volume imediato de ingressos vendidos para permitir uma programao
contnua como ocorre nos cinemas tradicionais. Porm, a oferta concentrada e dirigida a
determinados horrios possibilita que os contedos sejam colocados nas telas, como vm
ocorrendo com as peras, bals, shows de rock e eventos esportivos.
H outro mercado que se constitui. Os equipamentos simples e baratos que apresentam
projees de boa qualidade esto gerando um circuito paralelo e alternativo ao fornecimento
dos contedos dos grandes distribuidores. Com isso lmes de longa, mdia metragem e
mesmo programas televisivos tm chegado s telas, sem que tenha que se investir nos altos
custos das cpias cinematogrcas. O boom de documentrios que chegaram aos cinemas
brasileiros enquadra-se nesta ampla segmentao. Tem-se uma vigorosa rede de auditrios e
cinemas que independe dos grandes proprietrios de salas e que no so ameaados na sua
sobrevivncia pela disponibilidade de cpias e dos altos custos operacionais de um cinema
tradicional. Em termos qualitativos, elas se mostram satisfatrias, j que utilizam as tecno-
logias da televiso que tm evoludo em direo s emisses em HD (High Denition).
A denio do cinema do futuro vai em direo multiplicidade das ofertas, tanto na direo
de salas com telas enormes, sonorizaes espetaculares, projees tridimensionais, capazes
de se transformar em arenas que exibam contedos diferenciados, como vai em direo
expanso de circuitos alternativos. De um lado, estrutura-se uma indstria gigante que visa
grandes lucros ao ofertar caras produes e, do outro lado, constitui-se uma ampla rede
de veculos e meios voltada a receber os produtos artsticos. Esta dispe praticamente do
mesmo arsenal de circulao de contedos que os estdios: mltiplos veculos e meios.
Como j foi dito neste artigo, a necessidade de suprimento de produtos audiovisuais para
o sistema audiovisual existente propicia condies inditas para a produo de lmes.
Ou melhor, para ser mais exato, de contedos.
Luiz Gonzaga Assis De Luca doutor em Cincias das Comunicaes e autor dos livros
Cinema digital - um novo cinema? e A hora do cinema digital.
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
Num dos debates com realizadores de curtas-metragens na ltima Mostra de
Cinema de Tiradentes chamou ateno o depoimento de Jair Molina, que estava l repre-
sentando o Coletivo Santa Madeira, que pelo segundo ano consecutivo exibia um curta
no evento. Molina relata como o grupo quase acabou aps as lmagens do lme anterior
Pescaria de merda porque ele prprio imps uma srie de ideias radicais que lhe pareciam
essenciais ao trabalho, mas que na poca no caram bem com seus companheiros;
o novo curta, O plantador de quiabos, novamente se revelou traumtico e rachou o grupo que
o prprio cineasta parecia no debate pr em questo. Entre sua presena como representante
do grupo e sua prpria verso dos fatos, fcil justa ou injustamente imaginar Molina como a
fora criativa do Coletivo Santa Madeira, mas o que de mais signicativo temos nesta pequena
anedota sobre diferenas criativas na realizao de um curta envolve menos esta gura singular
do autor, e muito mais como ela encapsula um desejo muito comum entre jovens cineastas
brasileiros. Molina e seus colegas de grupo, egressos da mesma faculdade de Cinema, em vez
de se organizar segundo nossa lgica tradicional de funes cinematogrcas, preferiram,
a despeito das possveis diferenas criativas, se instalar dentro desta ideia de grupo.
P O R F I L I P E F U R T A D O
lmecultura 54 | maio 2011 O plantador de quiabos
V A NGUA RDA - I NOV A O
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
lmecultura 54 | maio 2011 24
um sentimento muito forte que transpassa boa parte do jovem cinema brasileiro.
Ela est l num desejo de reforar a prpria ideia de gerao muito menos uma ferramenta
de marketing e mais um reconhecimento de que a cena ela prpria a maior consumidora
de si mesma , assim como os vrios focos locais, cada um com algumas caractersticas
muito prprias que propem vrios minigrupos; algo que ca claro quando nos lembramos
da organizao da 50 edio desta mesma Filme Cultura, em artigos que buscavam chegar
ao cinema brasileiro contemporneo atravs de vrios cinemas regionais. Sobretudo esta
ideia de grupo ganha fora quando observamos como muito do que de mais vital no cinema
brasileiro recente nasceu de produtoras locais, como a Teia (MG), Smio (PE) e Alumbramento
(CE) que so mais que meras empresas que abrigam uma srie de realizadores, e sim focos
criativos que apresentam cada um ao seu modo um olhar para o cinema muito prprio.
Uma boa forma de observarmos as caractersticas deste movimento de dissoluo da
criao do indivduo para o grupo compararmos as diferenas da ideia de encontro com
personagens nos lmes de Eduardo Coutinho e de alguns lmes de jovens realizadores como
A casa de Sandro, de Gustavo Beck, e Vigias, de Marcelo Lordello. Num lme como O m e o
principio, a cmera de Coutinho no deixa de documentar como toda sua equipe se desloca
com ele para a pequena cidade na qual as entrevistas so coletadas, mas o foco invaria-
velmente se encontra na gura do cineasta e seus personagens; a equipe existe somente
enquanto exerce uma funo. Existe uma hierarquia muito clara nestes encontros captados
por Coutinho. Quando Beck descreve A casa de Sandro como um lme de visita, o visitante
em questo visivelmente no s o cineasta. Da mesma forma Vigias no sobre Lordello
acompanhando a noite de uma srie de vigias noturnos, mas de todo um grupo que est
ali junto com o cineasta. H uma clara mudana de paradigma entre um lme como O m e
o princpio e Vigias, da gura do autor para a imagem do grupo. No deixa de dizer muito
sobre este processo que Beck seguiu A casa de Sandro com Chantal Akerman de C, lme-
entrevista com a cineasta belga Chantal Akerman realizado em parceria com o jornalista
Leonardo Luiz Ferreira, responsvel pela entrevista que serve de base para o lme, que, num
outro momento, seria s mais uma personagem, mas aqui alado posio de coautor.
Ainda assim temos uma diferena entre os lmes de uma produtora como a Teia, no qual o
cinlo pode localizar uma srie de interesses estticos comuns, mas nos quais ainda so
inegveis as personalidades prprias de cineastas, como Sergio Borges e Marlia Rocha,
e lmes nos quais a identidade do autor se torna muito mais difusa. Voltando no tempo,
encontramos dois lmes realizados no comeo dos anos 2000 que podem ser vistos como
ancestrais dos lmes coletivos recentes: o curta Resgate cultural, o lme, do coletivo per-
nambucano Telephone Colorido, e o longa Conceio autor bom autor morto, codirigido
por um grupo de estudantes da Universidade Federal Fluminense. O Telephone Colorido,
Vigias
V A NGUA RDA - I NOV A O
que se autodescreve como um grupo de guerrilha cultural, vem realizando ao longo da d-
cada, entre curtas e clipes, um trabalho notvel no meio da cena pernambucana que chegou
at ns pela primeira vez nos vinte minutos de cine manifesto de Resgate cultural. O lme
coloca em tenso uma srie de elementos da cultura pernambucana a partir da ideia do
sequestro de Ariano Suassuna. O Telephone Colorido se identica com os sequestradores
e muito da fora do inventrio cultural proposto pelo lme nasce justamente do discurso
no ser identicado com um indviduo em si, mas com a presena muito mais ambgua do
coletivo de guerrilha.
Conceio Autor bom autor morto lida diretamente com a gura do autor. O lme foi reali-
zado entre 1998 e 2000 como trabalho de concluso da UFF por Andr Sampaio, Cynthia Sims,
Daniel Caetano, Guilherme Sarmiento e Samantha Ribeiro e nalmente nalizado e lanado
em 2007. Apesar de ser um lme com episdios dirigidos individualmente pelos diretores
e unidos pela ideia de um grupo de estudantes de cinema num bar falando sobre os lmes
que gostariam de fazer, vemos muito mais fragmentos de lmes muito bem costurados
pela excelente montagem de Sampaio do que uma srie de curtas, e no h crditos que
especiquem quem foi responsvel pelo qu. A ideia dos personagens que se revoltam contra
a crueldade constante, a que so sujeitados pelos seus criadores, s refora o interesse do
lme de colocar em crise o conceito de autoria. Curiosamente, a despeito de todo este esforo
de matar o autor, Conceio no consegue deixar de explicitar suas mltiplas sensibilidades,
e quem conhece, por exemplo, os curtas de Sampaio ou as crnicas de Sarmiento tende a
reconhecer ao menos parte das sequncias pelas quais eles so responsveis. Sem falar na
forte presena terica do hoje redator da Filme Cultura, Daniel Caetano, que no deixa de ser
uma espcie de autor da crise do autor proposta pelo seu lme. Conceio se revela muito
mais uma cacofonia de sensibilidades do que a dissoluo da autoria que a princpio sugere.
Vale destacar que a disposio dos seus diretores de se colocarem em cena como ces
de si mesmos aponta para uma tendncia muito comum que se aprofundaria em boa parte
do jovem cinema brasileiro com gosto pelo coletivo com suas equipes frequentemente em
cena nos documentrios e hbridos e seus cineastas atores de si mesmo em ces como
Os monstros dos Irmos Pretti e Primos Parente. Esta autoconscincia que ao mesmo
tempo presente o tempo todo e completamente dissolvida dentro das suas narrativas uma
caracterstica comum tanto a Conceio como Resgate cultural no deixa de ser um dos
maiores elos entre estes lmes coletivos. No caso de Conceio, a despeito de toda a dis-
cusso sobre autores, o lme nunca deixa de ser principalmente uma chanchada possvel
dentro do contexto do cinema brasileiro do fim dos anos 1990.
lmecultura 54 | maio 2011
Da esquerda para a direita:
A casa de Sandro,
Desassossego (lme das maravilhas),
Pescaria de merda.
V A NGUA RDA - I NOV A O
Resgate cultural, o lme
lmecultura 54 | maio 2011 26
Muito do desejo de dissoluo de autor presente em Conceio viria a se completar de
forma ambgua ano passado em Desassossego (lme das maravilhas), projeto coletivo
coordenado pela dupla de cineastas Felipe Bragana e Marina Meliande. um lme que
existe ao mesmo tempo em dois planos. De um lado, trata-se de um trabalho coletivo com
dez episdios dirigidos por Helvcio Marins Jr/Clarissa Campolina, Carolina Duro/Andrea
Capella, Ivo Lopes Arajo, Marco Dutra/ Juliana Rojas, Marina Meliande, Caetano Gotardo,
Raphael Mesquita/Leonardo Levis, Gustavo Bragana, Felipe Bragana e Karim Anouz); por
outro, tambm a terceira parte da trilogia Corao no fogo de Bragana e Meliande (que
tambm inclui os seus longas A fuga da mulher gorila e A alegria). Logo Desassossego existe
num espao nico, parte de um projeto pessoal, no qual os cineastas incluram uma srie de
realizadores amigos. De certa forma a expresso mais clara deste desejo de buscar o outro
presente no jovem cinema brasileiro, como se o projeto Corao no fogo fosse incompleto
se no se estender a mo e convidar outros parceiros para compartilhar dele. Por outro
lado, Desassossego no deixa de anular suas individualidades em favor do projeto geral
com a sensibilidade de Bragana/Meliande dominando de tal forma o lme que os mltiplos
episdios se misturam num s. A ideia de autor se dissolve no que podemos chamar de um
lme de curador. So dois movimentos completamente opostos generosidade do convite
e a forma como tudo se dilui num s olhar. O prprio conceito central de Desassossego um
lme-carta que convida o espectador a colaborar tambm refora a ideia de incluso, de
obra incompleta sem um convite ao outro.
Ningum levou to a srio a ideia do trabalho coletivo como a produtora cearense
Alumbramento, em especial nos dois longas-metragens do quarteto Luiz e Ricardo Pretti,
Pedro Diogenes e Guto Parente. Os quatro cineastas j realizaram extensa obra em curtas
individualmente (Luiz e Ricardo frequentemente trabalham juntos) e mais recentemente
zeram em conjunto os longas Estrada para Ythaca e Os monstros. Desde 2008, quando da
realizao do longa em episdios Praia do Futuro, um tpico lme de apresentao, e do curta
dos Pretti Vida longa ao cinema cearense, uma espcie de carta de intenes, a Alumbramento
se destaca por ser um polo criativo no qual os cineastas regularmente colaboram nos lmes
uns do outros, mas nestes longas recentes este processo vem para dentro da imagem.
26
Os monstros
Os monstros um lme que acredita plenamente que o desejo de uma expresso autntica s
tem como existir se compartilhado com o outro. No um pblico abstrato,
mas um companheiro que tenha um mnimo de sintonia com o seu trabalho. No se faz
cinema sozinho, Os monstros parece repetir sempre.
lmecultura 54 | maio 2011
Em ambos os lmes, os quatro cineastas interpretam verses de si mesmos e a ideia da camara-
dagem do grupo est sempre no centro do processo com a ideia de borrar a fronteira entre cinema
e vida presente o tempo todo. Em Estrada para Ythaca, o processo uma viagem alcoolizada
para velar um amigo morto, mas em Os monstros a ao se torna muito mais direta e simblica.
Os monstros um lme que acredita plenamente que o desejo de uma expresso autntica s
tem como existir se compartilhado com o outro. No um pblico abstrato, mas um companheiro
que tenha um mnimo de sintonia com o seu trabalho. No se faz cinema sozinho, Os monstros
parece repetir sempre. No lme os Pretti interpretam dois msicos e Diogenes e Parente so dois
tcnicos de som, e tudo afunila para uma longa dura cerca de 15 minutos jam session que o
quarteto grava. um lme todo agoniado em busca deste momento no qual a colaborao nal-
mente acontece e o trabalho de cada um pode nalmente encontrar seu espao e respirar.
Se num lme como Conceio o coletivo passa inevitavelmente por uma tentativa de matar
a gura do cineasta como um criador solitrio, em lmes como Desassossego e Os monstros
entramos pelo terreno muito maior que o do compartilhamento de sensibilidades. J no se
contenta simplesmente em mostrar a obra pronta aos cineastas-amigos, preciso traz-los
para dentro delas. Se Conceio e Resgate cultural eram lmes que no disfaravam dentro
do seu mal-estar um confronto, Desassossego e Os monstros misturam o seu mal-estar a
uma constante afetividade. O grupo o ltimo refgio tanto dos seus personagens como
dos seus criadores. uma forma tanto de resistncia como de fuga, algo que se manifesta
de forma mais direta nestes lmes, mas encontra eco em vrios outros trabalhos de jovens
cineastas que, se assinados individualmente, no escondem o mesmo desejo de dissolver o
indivduo (seja este o personagem como seu autor) num grupo. A nica armao constante
neste cinema que j no podemos sobreviver realizando lmes sozinhos.
Filipe Furtado ex-editor da Revista Pais e atualmente redator da revista Cintica.
Conceio - autor bom autor morto
Desassossego, (lme das maravilhas)
DANI EL CAETANO LUCAS VAN DE BEUQUE
lmecultura 54 | maio 2011 28
Quem se dispuser a conhecer a histria do cinema experimental ou de van-
guarda realizado no Brasil encontrar diculdades de acesso a cpias, alm de uma lmo-
graa ainda mal mapeada em vrios lugares, pocas e vertentes. Vai encontrar debates e
bibliograa do maior interesse sobre certos momentos, autores e movimentos - o Limite de
Mrio Peixoto, o Cinema Novo, o Marginal. E os anos 1970 conguram, em todo caso, um
apogeu dessa produo, pelo menos do ponto de vista quantitativo. A produo experimental
realizada em Super-8 nessa dcada enorme, se comparada ao vdeo ou ao 16 e 35 mm.
E no tem sido vista desde ento, quando foi por seu turno muito pouco vista, foi s em ses-
ses alternativas, festivais atomizados, e depois disso no mais. Nem pblico cinlo ou de
especialistas, pesquisadores. Portanto, difcil essa tarefa de falar sobre algo que ainda no
est incorporado ao debate, no possui abordagens comparativas, algo sequer recenseado
sistematicamente, quanto mais historiado e criticado, reverberado em alguma fortuna crtica
(nem os mais vistos S8 de E. Navarro, ou H. Oiticica, tiveram em dcadas alguma pgina de
anlise). A historiograa do cinema entre o ps-guerra e os anos 1990 foi se tornando cada
vez mais da indstria, em particular no pas onde nunca fomos to industrialistas quanto
nessa virada de sculo. E quando trata do radicalismo experimental no traz muita anlise
crtica, predomina o tom do elogio e da adeso pessoal ou metafsica.
Eu prprio dei incio a uma pesquisa do experimentalismo superoitista, h pouco tempo, com
interrupes grandes, e posso falar relativamente ao que pude processar at aqui (ver p. 32).
Se falamos de vanguarda no cinema brasileiro moderno, o Cinema Novo (e o Marginal, quase
como um eco invertido dele) fornecem ao longo dos anos 1960 a rgua e o compasso que
vo repercutir at os dias que correm. Falo aqui de vanguarda e experimental sem nas suas
teorias me aprofundar, o que implicaria esforo considervel, j que existem aspectos e
compreenses diferentes, disseminados sem maior sistematizao enquanto debate espec-
co: tomo ento os termos num mbito genrico de uso em nossa tradio cultural. So por
vezes termos sinnimos, outras antagnicos, segundo o contexto. Pode-se generalizar que
a ambio do experimental (com inmeras excees) menos explcita no campo poltico
ou das instituies sociais, e por m tambm no aspecto projetual, no sentido de articular
o fazer artstico da criao a um horizonte histrico de modo manifesto e conceituado. J o
experimental costuma aguardar interpretaes a posteriori. Exemplo? Candeias. Se a postura
experimental se dissemina pelo pas a partir do nal dos anos 1960, junto com o Tropicalismo
e o recrudescimento da ditadura, assumindo contornos de vanguarda nos mais diferentes
sentidos, isto tudo se pode discutir, mas no quer dizer que possamos vericar nas obras
resultados altura das pretenses.
P O R R U B E N S M A C H A D O J R .
V A NGUA RDA - I NOV A O
Edgard Navarro
lmecultura 54 | maio 2011
Avaliar esse problema entrar no campo da crtica, da anlise de lmes, entrar no mrito
da esttica que se realiza nos lmes no apenas na proposta ou convico dos autores,
como, alis, de hbito se verica. Porque tem muita coisa diferente debaixo desse conceito
guarda-chuva do cinema experimental, em que cabe um pouco de tudo lme de artista,
agit-prop, cinema de poesia, amadorismo radical etc. preciso pr a bola no cho e partir dos
lmes, sobretudo, e da experincia que eles nos proporcionam, para conseguir estabelecer
algum debate mais produtivo, para alm do surdo tiroteio. Ou seja, trata-se de uma discus-
so necessria, de longo prazo, sem dvida um pouco mais republicana, e que em grande
medida apenas comea a engatinhar, levantando os lmes, vendo e procurando estabelecer
os seus parmetros prprios em face das expectativas autorais, diante dos olhares da sua
poca e os de hoje; claro, da parte do pblico, da crtica.
A multiplicidade de proposies estticas uma das marcas distintivas da produo au-
diovisual na dcada de 1970, imposio, em parte, de uma segmentao fragmentria de
experincias, forada pela ditadura civil e militar que se implantou no pas em 1964 e que
recrudesceu a partir de 1968. Ao lado da vigorosa expanso da TV e do relativo sucesso da
Embralme, houve tambm uma proliferao de experimentalismos jamais vista, o mais das
vezes localizados e circunscritos, implicando microesferas comunitrias, como no caso de
festivais intermitentes, certos cineclubes, mostras artsticas, e de uma mirade de pequenos
eventos. Uma parte desses espaos de exibio cumprir, conforme avanamos na dcada,
um papel crescente e premonitrio, ainda que extremamente limitado, de esfera pblica de
oposio (conforme no ps-68 europeu cogitariam A. Kluge e O. Negt, em seu livro Esfera
pblica e experincia). Um motivo que tem dicultado o debate da histria do cinema expe-
rimental no Brasil a sua grande produo em bitola menor e suporte amadorstico, como
o 8 mm, Super-8, os primeiros formatos do vdeo, cuja irreprodutibilidade tcnica tornou
suas poucas, fugidias e aurticas primeiras sesses, no raro, o nico acesso s obras,
dotando a sua memria mortia de uma cintilao mtica. Repete-se assim o mau exemplo
inaugural dado pelo 35 mm Limite, de M. Peixoto, eclipsado por dcadas de uma histria
carente, deixando muita plvora por reinventar.
O experimentalismo superoitista por suas caractersticas intrnsecas como meio e insero
social, nas condies brasileiras dos anos 1970, chegando aos 1980, implicou uma forte
experincia de rebeldia e negao. No caso, o valor de exposio das obras nessa nova
esfera sensorial implica e acarreta em diferenas especcas no mbito das prticas rituali-
zadas, tal como foi pensado por Walter Benjamin em torno da questo da aura, requerendo
V A NGUA RDA - I NOV A O
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
lmecultura 54 | maio 2011 30
uma reproposio crtica. J no momento da captao, do registro das imagens, observam-se
parmetros sensveis de modicao no acionamento da cmera e no comportamento de
quem lma. H uma desritualizao do fazer cinematogrco convencional com sentidos
diversos. Pode ser acompanhada ao longo da dcada sua evoluo circunstanciada pelo que
seria mais lmvel, sobretudo em direo aos espaos abertos, a descoberta de seu teor
urbano, existencial, pblico e poltico. Bastante recorrente na produo mais radical, uma
determinada ironia se constri, em glosas ou ataque simblico aos monumentos culturais
dispostos no espao pblico da cidade, como se pode vericar em lmes como Explendor
do martrio, de Srgio Po, Fabulrio tropical, de Geneton Moraes Neto, e Gato / Capoeira,
de Mrio Cravo Neto.
Politicamente suspeito, o cinema experimental ou de vanguarda no Brasil, nas poucas
manifestaes que provocou para alm do Cinema Novo e Marginal, foi pensado historica-
mente no diapaso do formalismo de fundo conservador. A ponta do iceberg mais visvel
Glauber divisando O Mito Limite. Com o advento do Cinema Novo, convm notar,
um tanto paradoxal que isto de certo modo ainda continuasse acontecendo, embora com
uma nova viso do problema. Desde ento, conforme se observou mesmo nos meios mais
crticos e de esquerda, persiste um desinteresse sobre o teor poltico do chamado cinema
experimental, que alcana mesmo os dias atuais. A produo dos anos 1970 em Super-8 nos
sugere todavia revogar esse lugar-comum, fazendo uma ponte do cinema com a inquietude
das artes plsticas e da poesia de mimegrafo.
A desmonumentalizao superoitista estava ligada a outra tendncia bastante evidente em
sua carga contestatria aos padres da arte estabelecida: a performance, o registro pela
cmera de um ato performtico rompendo com o comportamento respeitvel. A perfor-
mance estava seguidamente ligada contestao da ordem imposta ao espao pblico,
como na observao-ao proposta por Srgio Po, que quer usar o espao fsico da rua
reavaliando seu funcionamento e introduzindo novas atitudes. O Super-8 aproximava-se,
nesses momentos, do happening teatral, da pichao e da momentaneidade da poesia
marginal, que se propunham transitrias, imediatas, mais ativas que representativas.
Coerente com essa espcie de ao flmica direta, a poltica do corpo e da sexualidade ad-
quiria centralidade naquele verdadeiro inchao do presente dos lmes Super-8. Era uma
coisa bem poltica, ertica e poltica, segundo o lsofo e poeta Jomard Muniz de Britto,
protagonista do tropicalismo no nordeste, que se entrincheirou no anarcossuperoitismo.
Bissexualismo, travestis, desconstruo da imagem burguesa da mulher, frequentavam a
simptica bitola. Muitos dos lmes tm algo de festa dionisaca, verso cinematogrca
do desbunde. Com a forte presena da contracultura nos anos 1970, o dilogo do corpo que
grita por libertao parece clamar pela natureza, qual o corpo deseja retornar. A fruio da
relao imediata corpo-espao, sob o signo da natureza, como no curitibano Vitrines (1978)
de Rui Vezzaro ou no soteropolitano P e mandalas (1977) de Paulo Barata, outra das
formas de contestao do status quo, ora impostando um olhar que desdenha ou estranha
o advento sisudo da urbe, ora se aproximando da curtio primitivista hippie de que
obra mxima Cu sobre gua (1978) de Jos Agrippino de Paula.
Cu sobre gua
V A NGUA RDA - I NOV A O
Ivan Cardoso
Exposed
lmecultura 54 | maio 2011
J na poca o Super-8 foi bastante estigmatizado como um tipo de amadorismo anarquista,
e no melhor dos casos tcnica precria demais para ser levada a srio. Entretanto uma es-
pecca esttica do precrio vai se incorporando tambm nas outras bitolas, h mimeses
entre os diferentes suportes, fazendo com que em distintas prticas se possa encontrar
uma esttica indelvel do Super-8. Em filmes como A rainha diaba (1973), de Fontoura,
ou no curta Di Glauber (1977), h procedimentos de soltura da cmera 35 mm que mostram a
impregnao de novos repertrios gestuais, difceis de se vericar antes do Super-8. Isso se
pode armar sem sabermos que Glauber tinha j lmado em Super-8 no exlio; e de Fontoura
ter declarado combinar com seu fotgrafo uma deliberada imitao da cmera Super-8. H, com
efeito, uma questo que estou tentando compreender, a tcnica junto com toda uma poca, seus
humores, sua adrenalina singular, aqueles determinados fatores que se compem: a contra-
cultura, o sufoco ditatorial, a simpatia pelo espontneo, a abertura lenta, gradual e relativa.
Pois bem, o que eu estou chamando ento de um efeito Super-8 se insinua e grassa como uma
facilitao tcnica, a redundar em faturas rsticas mas desenvoltas, explorando e elaborando
o que o prossional chamaria de erro, barbeiragem ou incompetncia. Apertar o boto e
sair lmando, eis o gesto libertrio! Convertem-se em prxis cinematogrca as palavras de
Oswald de Andrade, ao falar da contribuio milionria de todos os erros. Clamava de sua
coluna-tribuna Geleia Geral o tropicalista Torquato Neto (tambm superoitista) nos tempos
duros de 1971: pegue uma cmera e saia por a, como preciso agora (...) documente tudo
o que pintar, guarde. Mostre. Isso possvel.
O que aconteceu a partir da inveno do Super-8 em 1965 foi uma comercializao com preo
acessvel, similar ao das cmeras digitais de hoje. A conscincia da sua precariedade no contexto
histrico brasileiro, cultural ou artstico, deu um signicado especial a essa produo feita
com pouco; como, alis, num patamar anterior, o zera o chamado Cinema Marginal, ainda
que ali respeitando mais certos padres convencionais, como o 35 mm e o longa. Quando
Sganzerla no nal dos anos 1960 propunha espirituosamente que no Brasil passssemos a
fazer lmecos, glosava e traduzia em midos ideias de Glauber que marcaram o Cinema
Novo. Mas a sua radicalizao visionria no podia ento prever que na dcada seguinte isto
se concretizasse de fato; e sobretudo via Super-8. O manifesto Uma esttica da fome, 1965,
propunha fazermos frente indstria cultural no tendo que imitar modelos hollywoodianos,
com lmes caros e complicados, produo alambicada, como no ps-guerra se tentou por aqui.
Talvez o Super-8 tenha realizado a mais funda repercusso da Esttica da Fome em termos
de realizao potica, no plano da criao de formas cinematogrcas no pas.
Marginlia 70
Zona Sul
Agrippina
V A NGUA RDA - I NOV A O
Lumbra. Da esquerda para a direita,
Pola Ribeiro, Edgar Navarro, Jos Araripe Jr.,
Fernando Belens Jorge Felippi (no meio, sentado
no cho), Ana Nossa e Henrique Andrade.
ARQUI VO EDGAR NAVARRO
lmecultura 54 | maio 2011 32
Em 2001 veio a pblico o levantamento que z do experimental Super-8, com apoio do Ita
Cultural, remasterizando 180 ttulos. Vi ento mais de 450 lmes, dos quase 700 levantados,
envolvendo-se 237 realizadores (um tero destes sendo artistas plsticos) de 21 cidades
(Porto Alegre, Florianpolis, Curitiba, So Paulo, Campinas, Santos, Rio, Goinia, Belo
Horizonte, Governador Valadares, Vitria, Salvador, Aracaju, Macei, Recife, Caruaru, Joo
Pessoa, Teresina, Fortaleza, So Lus e Manaus). Entre 2001 e 2003, uma seleo itinerante
da mostra feita em So Paulo, Marginlia 70: o experimentalismo no Super-8 brasileiro,
percorreu dezenas de cidades no pas e no exterior (na Frana, vos marges, annes 70,
em 2003). A verso paulistana totalizava 125 lmes e as itinerantes variavam entre 42 e 24
lmes. Dentre as dezenas de realizadores resgatados (78 na mostra maior) guram Jomard
Muniz de Britto, Edgard Navarro, Ivan Cardoso, Jos Agrippino de Paula, Hlio Oiticica, Lygia
Pape, Antonio Dias, Torquato Neto, Srgio Po, Jorge Mouro, Rui Vezzaro, Mrio Cravo Neto,
Raymond Chauvin, Geneton Moraes Neto, Paulo Bruscky, Jairo Ferreira, Abro Berman, Carlos
Porto, Leonardo Crescenti, Gabriel Borba, Marcello Nitsche, Claudio Tozzi, Nelson Leirner,
Regina Vater, Anna Maria Maiolino, Henrique Faulhaber, Giorgio Croce, Ragnar Lagerblad,
Fernando Blens, Pola Ribeiro, Jos Araripe Jr., Virglio de Carvalho Neto, Marcos Sergipe,
Paulo Barata, Robinson Roberto, Jos Umberto Dias, Ktia Mesel, Donato Ferrari, Marcos
Bertoni, Isay Weinfeld, Marcio Kogan, Iole de Freitas, Ismnia Coaracy, Vivian Ostrovsky,
Fernando Severo, Peter Lorenzo, Paulo Rocha, Hassis, Jlio Plaza, Luiz Alphonsus, Artur
Barrio, Carlos Vergara, Carlos Zilio, Maria do Carmo Secco, Daniel Santiago, Ypiranga Filho,
Amin Stepple, Ana Nossa, Berenice Toledo, Bernardo Caro, Marcos Craveiro, Getulio Gaudielei
Grigoletto, Henrique de Oliveira Jr., Jos Albino Gonalves, Bertrand Lira, Torquato Joel, Chico
Liberato, Firmino Holanda, Flvio de Souza, Flvio Motta, Luciano Figueiredo, scar Ramos,
Luiz Otvio Pimentel, Srgio Giraud.
Rubens Machado Jr. pesquisador, curador e professor titular de Teoria e Histria do Cinema da ECA-USP.
vice-presidente do Conselho de Orientao Artstica do MIS-SP. Dedica-se ao estudo das vanguardas no cinema
brasileiro escrevendo em publicaes especializadas e editou vrias revistas desde Cine-Olho (1975-80).
Da esquerda para a direita: Torquato Neto, Jomard Muniz de Britto e Jorge Mouro
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 lmecultura 54 | maio 2011 V A NGUA RDA - I NOV A O
Todo internauta que assim o desejar poder ver
algumas obras-primas do curta-metragem, da autoria de
Luiz Rosemberg Filho: Nossas imagens (http://vimeo.
com/18157969), O discurso das imagens (http://vimeo.
com/14184725), $em ttulo (http://www.youtube.com/
watch?v=sCPTDQHWYm4) e As ltimas imagens de
Tebas (http://vimeo.com/16861345). Filmes primorosos,
produtos da imaginao e sensibilidade frteis de um
autor no pleno domnio da linguagem da sua arte: como o
universo virtual algo annimo, ca uma questo: quem
realmente Luiz Rosemberg Filho?
Glauber Rocha, em A revoluo no Cinema Novo (1981),
nos d algumas pistas e fala de um cineasta ambicioso,
cuja pretenso tratar do todo: totalizante Rosemberg
sempre foi, e continua sendo. Nesses ltimos curtas-
metragens os temas so na verdade grandes perguntas:
O que o cinema? O que a imagem? (esta palavra/
questionamento est no ttulo de trs dos quatro curtas.
Em O discurso das imagens, Walter Benjamin pode ter
uma resposta: aquilo que sabemos que em breve j no
teremos diante de ns torna-se imagem). Para respond-
las, Rosemberg cita amplamente o cinema, o teatro,
a losoa, o ensaio, a poesia, as artes plsticas, a msica
(empregando com insistncia o princpio da colagem):
a medida do autor tudo que a cultura e a civilizao
ocidental pensaram e produziram de melhor na sua longa
histria; embora um cineasta assumidamente brasileiro
e preocupado com o seu pas, ele denitivamente no
um autor paroquial nem limitado ao Brasil.
Glauber diz tambm que Rosemberg um revolucionrio
pela RAYZ e que realizou lmes de vanguarda. Crnica
de um industrial (1978, longa-metragem) era exatamente
isto: um lme de vanguarda, de um pensador, de um expe-
rimentador de formas. Seus planos-sequncias enormes,
seu texto extremamente bem cuidado (alguns exemplos de
sua poderosa prosa potica: incertezas da vida e a certeza
da morte; a terrvel luta de ser o que se ; deixei de ser
um animal, um selvagem, um homem, uma contradio,
o trabalho da trilha sonora, apontam para um pesquisador
que sempre procurou inovar, no repetir. Rosemberg sem-
pre trabalhou a literatura (mais propriamente, a poesia:
o cinema sem poesia nunca me interessou muito, escreveu)
em todos seus lmes: primeiramente a literatura falada,
orquestrada num texto primoroso (Crnica de um indus-
trial), at chegar a seus curtas mais recentes, onde ele
lma (escreve) as muitas palavras que tem a dizer. Mas j
em Crnica de um industrial ele lmava algumas palavras
(anncios em neon), mas tambm uma mo escrevendo
num caderno; assim como, nos seus ltimos curtas, existe
quase sempre um esplndido texto em off (a narradora por
vezes aparece na imagem).
Revolucionrio pela RAYZ e lmes de vanguarda: mais
uma vez, uma denio perfeita para seus quatro curtas.
Agora, pesquisando a imagem digital, Rosemberg chega
concluso (prpria) de que ela to cinematogrca
quanto a imagem realizada com o celuloide. Imagens
soberbas so criadas em todos os curtas: por exemplo,
em O discurso das imagens, a narradora fecha os olhos,
quando se sobrepe a este plano o plano-sequncia nal
de One plus one, de Jean-Luc Godard, onde vemos uma
personagem, morta, ser carregada pela grua em movimen-
to. Ou, ento, em As ltimas imagens de Tebas, o rosto
do personagem, encarnado pelo prprio diretor, com os
olhos vazados, sangrando, enquanto atrs dele exibida
a sequncia inicial de O co andaluz, onde o diretor (Luis
Buuel) corta o olho de uma mulher com a navalha: duas
imagens de uma beleza esfuziante. Quanto trilha sonora
desses curtas: quase sempre um texto que interage em
perfeita sintonia com as imagens, ou ento se relaciona
com elas numa contradio dialtica (toda palavra m-
sica, nos dito em O discurso das imagens; msica das
palavras mais a melodia: outra dialtica/colagem de sua
obra). Rosemberg vai alm: sua montagem (ritmo) por
Luiz Rosemberg Filho, as imagens, os sons e a fora revolucionria da palavra
P O R M R I O A L V E S C O U T I N H O
Seus projetos so todos possudos de ambies totalizantes.
Glauber Rocha em Revoluo no Cinema Novo
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
lmecultura 54 | maio 2011 34
si s transforma seus lmes em msica, quer dizer, em
peas musicais. Mas ateno: suas tas so de um autor
que procura o novo; mas certo classicismo (e mesmo
romantismo) ronda conscientemente suas obras. A trilha
sonora musical de Crnica de um industrial quase toda
de Bach, mas no nal temos Tristo e Isolda, de Wagner.
As ltimas imagens de Tebas, por sua vez, livremente
inspirado em dipo Rei e dipo em Colono, de Sfocles.
Rosemberg pode ser um cineasta de vanguarda, mas no
abandona nenhum dos perodos da arte, nem mesmo o
surrealismo (a imagem inicial de Nossas imagens: uma
cmera, um trampolim e um cu esplendoroso).
Os quatro curtas so, portanto, o entrechoque perturbador
entre frases lmadas, faladas, imagens soberbas e uma
msica poderosa (articuladas por uma montagem lateral:
ver Bazin logo adiante), quer dizer, cinema sim, imagem
e som, mas tambm literatura, poesia e msica renada-
mente trabalhadas. Este tipo de cinema foi claramente
mapeado por Andr Bazin e Alexandre Astruc. Em 1948,
Astruc escreveu um ensaio, Nascimento de uma nova
vanguarda: a cmera-caneta, onde defendia um cinema
escrito com a cmera, no qual as imagens no eram os
nicos elementos de linguagem que um cineasta poderia
usar. Escreveu:
[o cinema] se torna pouco a pouco uma linguagem. Uma
linguagem, quer dizer, uma forma na qual e pela qual um
artista pode exprimir seu pensamento, por mais abstrato
que ele seja, ou traduzir suas obsesses exatamente
como acontece hoje no ensaio e no romance.
E continuava:
o cinema gradualmente se livrar do que visual, da ima-
gem pela imagem, das imediatas e concretas demandas
da narrativa, para se transformar num meio de escritura
to exvel e sutil como a linguagem escrita.
Quanto s possibilidades expressivas:
a mais losca meditao sobre a produo humana,
psicologia, metafsica, ideias e paixes perfeitamente
cabvel no cinema. [...] ideias contemporneas e lo-
scas so tais que somente o cinema pode fazer
justia a elas.
Resumindo, ele diz que em breve ser possvel escrever
ideias diretamente no lme.
Quanto a Andr Bazin, num dos muitos textos sobre a
questo, abordando um lme de Chris Marker, Lettre de
Sibrie, diz que:
com Chris Marker (...) diria que a matria primitiva a
inteligncia, sua expresso imediata a palavra, e que
a imagem no intervm seno em terceira posio em
referncia a esta inteligncia verbal. (...) uma noo
absolutamente nova da montagem (...). Aqui, a imagem
no reenvia quela que a precede ou que a segue,
mas lateralmente, de qualquer maneira, em relao
ao que dito, ao mesmo tempo. Melhor, o elemento
primordial a beleza sonora, e a partir dela que o
esprito deve saltar em direo imagem. A montagem
se faz da orelha ao olho.
s trocar Marker por Rosemberg, e pareceria que Bazin
estaria escrevendo e antecipando este ltimo.
No nal de Crnica de um industrial o personagem prin-
cipal diz que queria a toda fora ser poeta, acreditava
na fora revolucionria da palavra. Luiz Rosemberg h
mais de quarenta anos realiza lmes em celuloide, vdeo,
digital, curtas e longas. Mas ele tambm escreveu com
a cmera, colocou suas ideias diretamente no cinema,
criou uma montagem que usa primeiro a inteligncia, em
seguida as palavras, a msica, e s ento salta para as
imagens. Luiz Rosemberg Filho um cineasta/ensasta
admirvel; mas , tambm, um enorme poeta.
Mrio Alves Coutinho crtico de cinema, literatura e ensasta, autor de
Escrever com a cmera, a literatura cinematogrca de Jean-Luc Godard;
organizador de Presena do CEC: 50 anos de cinema em Belo Horizonte;
tradutor de Tudo que vive sagrado, poesias de William Blake e
D. H. Lawrence; Canes da inocncia e da experincia, William Blake;
O livro luminoso da vida, ensaios literrios de D. H. Lawrence, e roteirista
(Idolatrada, longa; Joo Rosa e O horizonte de JK, curtas). doutor em
Literatura Comparada pela Faculdade de Letras/UFMG. Ps-Doutorado no
Departamento de Comunicao Social/UFMG, sobre Andr Bazin.
V A NGUA RDA - I NOV A O lmecultura 54 | maio 2011 34
Luiz Rosemberg Filho
lmecultura 54 | maio 2011
Como responsvel pela curadoria da Mostra de Cinema de Tiradentes desde
2007, o paulista Clber Eduardo, torcedor do Botafogo, tem tido contato ano a ano com as
produes brasileiras mais ambiciosas em termos estticos. No dia 11 de fevereiro, poucos
dias aps o m da 14 edio da Mostra, Clber conversou com a Filme Cultura:
Filme Cultura: Clber, num determinado momento a curadoria da Mostra de Tiradentes
passou a focar em cineastas estreantes e num cinema inovador. Foi a que surgiu a mostra
Aurora, no?
Clber Eduardo: Essa foi a quarta edio da Aurora. Antes dela, esse no era o perl predo-
minante da mostra, uma vez que ela sempre incluiu lmes com propostas mais populares,
mas j havia uma abertura para isso. Duas coisas aconteceram ento: at a edio de 2006
a mostra no tinha inscritos - os lmes eram convidados depois que passavam por outros
festivais. Em 2007, quando eu comecei a fazer a curadoria, foram 35 longas inscritos. A,
pela primeira vez, a mostra teve contato com uma outra produo. E havia um nmero
grande de primeiros e segundos lmes, com caractersticas diferentes do que os festivais
de cinema estavam exibindo. No havia nada claro sobre o que era esse cinema brasileiro
contemporneo. Alm disso, esse foi o momento em que a Mostra se abriu para produes
em vdeo digital - e houve um aumento avassalador de inscries, chegamos a ter 80 longas
inscritos por ano.
FC: A maior parte dos lmes inscritos em digital?
CE: Sim, a maioria. E entre eles h um maior nmero de documentrios. Uma das caractersti-
cas que a Mostra sempre teve, desde antes de eu entrar, o espao para o debate com os
crticos, que so protagonistas da mostra junto com os realizadores. A mostra Aurora no
d prmio em dinheiro, a ideia que ela sirva de vitrine para os lmes. A gente v cerca de
80 inscritos para selecionar sete lmes, ento ser selecionado para a Aurora j um certo
mrito, independente de prmio.
F
I
L
M
E
C
U
L
T
U
R
A
e
n
t
r
e
v
i
s
t
a
V A NGUA RDA - I NOV A O
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
L
E
O
N
A
R
D
O
L
A
R
A
,
A
C
E
R
V
O
U
N
I
V
E
R
S
O
P
R
O
D
U
O
A INVENTIVIDADE PARA POUQUSSIMOS
lmecultura 54 | maio 2011 36
FC: Quando voc escolhe esses sete lmes, quais so os critrios que utiliza? De que maneira
h uma poltica e uma esttica nessa escolha?
CE: O primeiro critrio que esses sete lmes no cheguem mostra Aurora pr-legitimados,
ou seja, no entram os lmes que j passaram em Cannes ou ganharam o prmio principal
em outros festivais. Esse o primeiro critrio, que no haja um pr-favorito. No ano em que
tinha o Belair, por exemplo, eu achei que ele seria um grande favorito. A prefervel exibir
num horrio nobre do festival, mas no incluir na seleo do Aurora. A partir deste critrio,
ns vemos o que existe disposio. Nem sempre se tem sete lmes com a fora ou a ho-
mogeneidade que a curadoria gostaria. Depende muito da safra de cada ano. Dentro das
circunstncias, eu procuro desenhar um perl para a Mostra.
FC: Que perl seria este? Voc busca vanguardistas?
CE: Olha, quase nada que escolhi eu consideraria de vanguarda. Eu busco lmes que me causem
algum tipo de estranhamento, lmes que quebrem as expectativas. O que me interessa tentar
criar outro padro de normalidade, um outro padro do popular. Hoje, eu acho que o pblico
de Tiradentes suporta e gosta de determinados lmes que no aceitaria h alguns anos. Existe
um clima de abertura para o que a gente entende como diferente, e esse diferente pode ser
mais ousado, ou pode no ser. No tenho admirao exclusiva por lmes experimentais e
vanguardistas que quebrem a narrativa. O que me interessa aqui que haja alguma reexo
sobre os lmes escolhidos, pois a mostra no resume o cinema contemporneo brasileiro,
ela no pretende dar conta disso. Ela d espao para esse cinema dos lmes sem edital, de
baixo oramento, sem lei de incentivo, sem distribuidora. Eu acredito que nesse lugar de
diretores jovens, baixos oramentos, com um clima vigente de pessoas que se juntam para
trabalhar, poder surgir alguma coisa com uma pulso nova. Os compromissos so menores.
Eles podem correr mais riscos porque so mais jovens, no tm lhos ainda, no tm que
pagar penso etc.
FC: Quais os lmes que voc apontaria como inovadores de fato?
CE: difcil falar de inovao ou inveno nos lmes que se encaixam nesse perl. Essa gerao
muito reverente e muito consciente da relao que tem com a produo mais antiga. uma
gerao que vem da universidade, ento esses processos so vinculados a certos lmes,
certos cineastas. Essa gerao muito consciente da necessidade de estar na pauta, e a
entrada de curadores internacionais em Tiradentes comea a evidenciar isso. Lembrei agora
daquela diviso que o Jairo Ferreira fazia, baseado no livro do Ezra Pound, entre os cineastas
inventores, diluidores, mestres, artesos e beletristas, seguidores de moda. A questo
em que ponto eles esto inventando e at que ponto esto diluindo. Isso no quer dizer
que esses filmes so meras diluies dos inventores, mas eles esto querendo se colar,
criar a partir dos inventores. s vezes os filmes acabam ficando sombra das grandes
rvores dos inventores.
FC: Quais so os modelos principais desses lmes recentes?
CE: Os que esto trabalhando numa rarefao dramtica, numa durao do plano que no
necessariamente a durao do acontecimento. Isso em primeira instncia. De uma certa
maneira, quem esteja trabalhando com o formalismo do enquadramento, da relao entre
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
cmera, espao e formas de composio dos atores; mas trabalhando tambm com quase
uma fenomenologia do acontecimento. Essa estetizao do fenmeno comum nesse cinema
dos anos 2000 e est presente nessa gerao nova em vrios lmes. A matriz disso, hoje,
vem dos asiticos, mas se pensarmos historicamente eu diria que Antonioni ganhou. O lme
do Thiago Matta Machado, Os residentes, difere disso: Os residentes vai trabalhar com outra
coisa, que parece at um pouco datada, referente demais a um determinado momento do
cinema, mas ele no est procurando essa rarefao. Se comparado aos lmes da mesma
gerao, nele h uma certa agressividade que ausente na maioria desses outros lmes.
Um pouco ironicamente, eu chamei estes lmes, em algum texto meu, de apatia feliz. uma
falta de revolta, falta de reatividade, uma certa apatia afetiva, afetuosa, mas um pouco resig-
nada: aquela que procura a beleza da gota dgua, mas no se preocupa com a chuva. Acho
que isso no vem somente de uma produo de lmes, mas sim de um momento histrico.
FC: Voc apontou que esse cinema autoconsciente tributrio dos lmes do Antonioni, passando
por Tsai Ming-Liang e Apichatpong Weerasethakul. Alm deste, existem em Tiradentes outros
cinemas, outros modelos e matrizes?
CE: Certamente existem. Esse cinema que destaquei o que estaria mais prximo da pauta que vocs
propem: o cinema de vanguarda, de experimentao e ousadia. Os lmes mais ousados so
esses lmes conscientes das suas citaes e referncias, o cinema da rarefao dramtica e do
alargamento do plano, de um certo recuo da signicao e da enunciao, algo muito evidente
nessas produes, assim como o recuo dos olhares, dos posicionamentos. Eu reconheo que
neste universo que est o cinema brasileiro mais inquieto. Porm, nem ele nico em Tiradentes,
nem acho que seja radical, um cinema de quebrar os pratos. O Aurora cou mais associado a
esse cinema mais lento e mais bem enquadrado. Estar l signica um selo de qualidade, uma
espcie de legitimao, por isso importante pr uns lmes toscos em que eu vejo valor,
mas que tm um lado mais selvagem, mais precrio, mais intuitivo. Eu tenho admirao pelo
cinema racional, mas tambm gosto desse outro mais intuitivo, com mais frescor.
FC: Mas voc v a experimentao acontecer no cinema expandido, no chamado ps cinema,
no cinema relacionado s artes plsticas?
CE: Olha, eu acho que existem lugares mais apropriados para experimentaes do que o cinema.
A ideia de experimentao nunca foi e nunca ser hegemnica no cinema como nas artes
plsticas contemporneas. No toa que muita gente est indo para as galerias, dizendo
que os dispositivos do cinema no interessam mais. Eu tenho um pouco de fobia da Bienal,
no consigo car duas horas numa. E isso no diminui o cinema: ainda d para lotar uma
tenda fazendo com que as pessoas assistam a um lme inteiro. Num momento em que as
pessoas s assistem a 10 minutos de qualquer coisa, ver um lme inteiro, como diz o Pedro
Costa, uma atitude de resistncia poltica, quase reacionrio. Desse reacionarismo eu
gosto. Eu gosto muito de uma frase do Agamben, que diz: para ser contemporneo, neces-
srio estar defasado do seu momento histrico. Eu gosto dessa ideia de um certo recuo do
contemporneo pra melhor entender, como dar um passo para trs. Eu sou meio desconado
com o passo frente. A minha percepo antivanguardista. Eu prero car atrs para poder
analisar o rumo das coisas. No me sinto capaz de manter sempre esse olhar para o olho do
furaco. As coisas muito contemporneas me incomodam.
V A NGUA RDA - I NOV A O
Os residentes
A
L
E
X
A
N
D
R
E
C
.
M
O
T
A
,
A
C
E
R
V
O
U
N
I
V
E
R
S
O
P
R
O
D
U
O
PEDRO VENEROSO
A
L
E
X
A
N
D
R
E
C
.
M
O
T
A
,
A
C
E
R
V
O
U
N
I
V
E
R
S
O
P
R
O
D
U
O
lmecultura 54 | maio 2011 38
FC: A cada ano a gente v a predominncia na Mostra de Tiradentes de uma cinematograa de
uma parte do Brasil. De que maneira isso um diferencial ou pode se tornar um problema
para a mostra?
CE: A distribuio regional no tem importncia nenhuma, isso no um critrio. O que importa
so os lmes. O que vale trazer pessoas novas, que normalmente no chegavam com os
seus lmes. O Festival acaba sendo um lugar de muitas trocas e armao de lmes, muitas
parcerias comearam ali. No tem essa questo da cota regional, o que tem uma ateno
e interesse pelos lmes, de onde quer que eles venham. E existem ncleos muito fortes em
Pernambuco, Cear e Minas.
FC: E o eixo Rio/So Paulo? Voc acha que a inovao pode estar tolhida por um sistema que j
existe? Ou talvez no haja guras especcas que se destaquem?
CE: Rio e So Paulo esto sempre presentes, mas so casos diferentes, tm caminhos muito
prprios. No Rio at pode haver cineastas unidos que saram todos ou boa parte da UFF,
mas no necessariamente constituem um grupo. Eles tm ncleos prprios, independentes,
particulares, cada um desenvolve o seu caminho. No existe essa ideia de colaborao mais
ampla que a gente v em Minas, Cear e Pernambuco. Talvez porque exista a necessidade
dessa unio nesses lugares, enquanto no Rio e So Paulo isso uma opo, no uma ne-
cessidade. E claro que o cinema cearense no s a Alumbramento, no ? Existem outros
realizadores, mas pelo menos nas produtoras Alumbramento, do Cear, Smio e Trincheira,
de Recife, na Teia e agora na Filmes de Plstico, de Minas Gerais, o processo coletivo quase
uma condio para a existncia do lme. No que sempre dirijam coletivamente e, mesmo
que acontea, no ser assim para sempre. Num debate em que estavam fazendo uma com-
parao entre os lmes brasileiros baratos de hoje e o cinema marginal underground dos
anos 60 e 70, o Andr Gatti lembrou do seguinte: Pode ter uma familiaridade aqui e outra
ali, mas o cinema de hoje no tem nada de marginal, todo mundo tem CNPJ. No acho que as
pessoas queiram fazer cinema s por afeto. Isto uma condio para que as pessoas faam
cinema, talvez elas no faam cinema se no for com afeto, mas todo mundo quer se inserir,
estrear, vender lme l fora, os diretores querem passar seus lmes em Cannes. Eu no acre-
dito nesse romantismo do ps-industrial, esse ps-industrial na verdade um pr-industrial,
no caso desse segmento. Todos esto querendo se inserir, s que com liberdade.
FC: A inveno um desejo, como se no tivessem noo de quais so os caminhos abertos?
Ou talvez estes caminhos estejam abertos demais?
CE: Eu acho que estamos vivendo num momento de transio para alguma coisa que ainda est
nebulosa. Eu acho muito difcil a gente conseguir dar nomes e entender o processo contem-
porneo, o que acontece de agora pra frente, porque acho que as mudanas sero cada vez
mais rpidas, inclusive nas formas de estruturar a narrativa.
FC: Por outro lado, voc falou que os planos esto cada vez mais longos.
CE: Pretendendo ser uma forma de resistncia. Existe um mercado da resistncia pelo plano.
Hoje, fala-se muito sobre o tempo de durao do plano, o retorno vida, s que um retorno
vida estetizado, com uma luz bem pensada. Se a gente pega, por exemplo, um de nossos
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
cnones contemporneos, o Jia Zhang-Ke, ele sintetiza o que o paradigma do cinema con-
temporneo, essa ideia de um contato com o tempo e com o espao, mas com um desenho
muito bem feito. A questo : ser que daqui a 10 anos o Jia Zhang-Ke vai ser um paradigma?
Seria uma resistncia que ganhou prmio em Cannes, uma resistncia mainstream. A no
mais resistncia.
FC: Mas s se v inveno e resistncia nos lmes de planos longos?
CE: Quando a gente fala em cinema experimental, mesmo no curta-metragem, a gente imagina
um cinema da velocidade, de choque entre planos, de mudanas abruptas, mas eu vejo
muito pouco disso hoje, at em curtas-metragens. O que est se fazendo com a narrativa j
foi feito antes. O que se pode mais fazer com a narrativa? Existe talvez uma proposta que se
reinventa dentro da narrativa.
FC: No possvel inventar dentro da tradio?
CE: , sim. Como j disseram, a tradio saber acender o fogo, no cultuar as cinzas. A tradi-
o est a, que bom que ela se constituiu ao longo do tempo. Mas criar a partir da tradio
narrativa tambm no algo novo. Existe uma grande crise de inveno, difcil ser inventivo
hoje. Quanto mais consciente, mais difcil . No acho que o cinema contemporneo seja to
inventivo. O que o Apichatpong est fazendo uma coisa que no consigo relacionar com
nada da tradio cinematogrca. Mas, fora ele, quem est fazendo algo novo? O Kiarostami
estava numa experincia muito radical, um caso. A inventividade para pouqussimos.
E ela no uma caracterstica de todas as pocas do cinema.
FC: Em documentrios como Pacic ou os lmes do Eduardo Coutinho, ou em ces dirigidas
coletivamente, o questionamento da autoria no Brasil est sendo trabalhado como uma
coisa nova?
CE: Talvez eu concorde no sentido de no estar muito na moda o realizador manipulador, o sujeito
que decide o que vai acontecer, aquele que expe a sua viso de mundo e de cinema. Nesse
sentido houve um recuo, com esse elogio do processo, do ator colaborativo, do fotgrafo que
tambm co-autor. Por outro lado, o que o Foucault chamava de culto ao autor continua pre-
valecendo. A assinatura nunca foi to importante como grife para os festivais internacionais.
FC: Voc gosta da expresso novssimo cinema brasileiro?
CE: No, porque no diz nada. Ele novssimo, e da? Daqui a alguns anos a gente ter um ou-
tro novssimo. Esse rtulo, originalmente, era apenas o nome de uma sesso realizada no
Rio de Janeiro. O problema desses cinemas novos que eles se pautam por uma suposta
novidade, uma originalidade. E quando mudar a poca, vamos dar o nome de qu? Hoje h
uma congurao diferente do que era na dcada de 1990, assim como essa era diferente
da de 1960, e assim por diante. A questo como a gente vai nomear qualquer mudana na
congurao. Vamos fazer o trabalho completo, porque falar s que novo uma atitude
preguiosa: signica no ir a essa nova congurao e dizer o que ela , quais so as suas
caractersticas, apontando o que novo com relao ao que havia antes.
V A NGUA RDA - I NOV A O
Jia Zhang-Ke
lmecultura 54 | maio 2011 40
FC: O Marcelo Ikeda e o Dellani Lima publicaram um livro nomeando essa produo como Cinema
de garagem, uma denio a partir da precariedade das condies de produo.
CE: Assim eles demarcam o modo de criao e produo, no demarcam um movimento esttico,
e sim o ambiente. O Paolo Gregori fez uma diviso de que eu gostei muito: ele conceituou o
cinema de galpo e o cinema de fundo de quintal. O cinema de galpo aquele com
CNPJ, e o outro, que feito sem precisar de galpo, esse cinema de garagem. Espao para
isso existe: hoje temos mais festivais de cinema que exibem essas produes, e a forma de
produzir est mais fcil. Falta fazer a segunda parte do trabalho, que tentar ver se acontece
de fato uma nova congurao esttica. Se a gente for pegar o foco dessa ceninha novssima,
o Jos Eduardo Belmonte est na periferia e o Lrio Ferreira est quase fora dela. Eu gosto muito
de todos os lmes do Belmonte. Gosto dessa sensao de descontrole dos personagens que
ele cultiva. Isso eu no vejo com frequncia no cinema brasileiro atual, a gente cou meio blas,
perdeu a agressividade, e eu sinto falta disso. Existe uma vertente da produo e do pensamento
cinematogrco brasileiro que recusa essa proposta de cinema, que contra a agressividade.
FC: Temos visto inovao nos lmes dos diretores mais velhos?
CE: As minhas ltimas experincias de ver lmes de cineastas mais velhos foram mais impac-
tantes que ver os dos mais novos. Os lmes do Bressane, como Clepatra, assim como
o novo lme do Saraceni, O gerente, e tambm Serras da desordem e esse mais recente
do Geraldo Sarno, O ltimo romance de Balzac. Nem todos so to radicais em seus l-
mes. No caso do Bressane, ele est sempre inventando o cinema novamente. o nico
cineasta que consegue me surpreender de verdade. Eu senti isso com esse do Saraceni.
Onde que est essa inventividade ali? a que eu acho que h algo de intangvel e
invisvel na inveno, porque nem sempre a gente consegue deni-la no procedimento.
FC: Qual a importncia da crtica nessa nova cena? E esse rtulo da nova crtica?
CE: Esse rtulo nomeou o grupo de uma gerao que j no mais nova, que agora j est insti-
tucionalizada em alguns casos. Enm, ao mesmo tempo que h o vdeo digital para o cinema,
hoje h a possibilidade para os crticos publicarem na internet. Tiradentes sobretudo um
grande espao de discusso para os novos realizadores, e talvez seja o festival de cinema
que tenha mais crticos por metro quadrado no Brasil. Esse confronto entre lmes e crticos
fundamental, e num segundo momento existe essa relao entre crtico e realizador na mesa
de debate, com outros crticos e cineastas na plateia fazendo perguntas ou respondendo.
A presena da crtica ajuda muito a dar uma aquecida no clima. Boa parte desses segundos
longas so de realizadores que j tm com a crtica uma relao, que comea a ter ssuras e
ressentimentos a partir do momento em que os lmes so feitos e debatidos. No sei at que
ponto isso abala a relao amistosa e saudvel, mas os realizadores tm que ter maturidade
para tratar com a crtica. Um certo receio do conito uma caracterstica muito brasileira.
Leia a verso integral da entrevista no site www.lmecultura.org.br
Julio Bressane e Clepatra
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
Os historiadores do cinema brasileiro no tero dvidas em apontar o primeiro fe-
nmeno da rea depois da Retomada: foi a renovao do documentrio, que comeou em 1997 e
teve seu pique entre 2004 e 2007. A partir, sobretudo, do surgimento de Santo forte, de Eduardo
Coutinho, Socorro Nobre, de Walter Salles, e Notcias de uma guerra particular, de Joo Moreira
Salles, o doc brasileiro conheceu um surto no somente de repercusso no meio e junto ao pblico,
como tambm de inquietao formal que o colocou na linha de frente do setor audiovisual.
Sem dvida a maior contribuio para esse momentum foi a desrepresso das subjetividades.
E isso se deu tanto no foco de interesse dos lmes pessoas vistas cada vez mais como
individualidades, em vez de representantes de classes ou grupos sociais , como no eixo
de expresso dos realizadores, que se permitiram participar explicitamente do processo de
documentao e, em alguns casos, at se colocarem como protagonistas de seus docs.
exploso das subjetividades somaram-se os intercmbios com a co, com a videoarte
e com o experimentalismo para congurar um panorama atraente como o doc brasileiro s
conheceu, em escala quantitativa innitamente menor, na aurora do Cinema Novo. Atraente
sobretudo para as novas geraes de cineastas, que ali encontraram um ambiente propcio
ao desejo de experimentao e necessidade de trabalhar em regime de baixo oramento.
Ao longo dos anos 2000, o doc virou um grande laboratrio de pesquisa de linguagem nos
coletivos, escolas de cinema e mesmo entre diretores consagrados. At hoje a Mostra de
Cinema de Tiradentes, principal vitrine do cinema jovem no pas, recebe documentrios
numa proporo maior que 50% no seu processo de inscries.
Mas, anal, como se tm manifestado essas vrias tendncias que proponho enfeixarmos no
conceito de documentrio de inveno? o que pretendo sintetizar nos prximos pargrafos.
(Convm aqui dar o crdito ao termo cinema de inveno, cunhado por Jairo Ferreira, que veio
para sanar o caos semntico em torno das ideias de vanguarda, experimental e marginal.)
P O R C A R L O S A L B E R T O M A T T O S
V A NGUA RDA - I NOV A O
Santos Dumont pr-cineasta?
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
lmecultura 54 | maio 2011 42
O imprio do dispositivo
Ao mesmo tempo libertao e priso para o documentarista, o uso de um dispositivo no
lugar de um roteiro tem recriado as possibilidades da dramaturgia documental. O termo
dispositivo usado aqui em sua vertente francesa (dispositif), baseado em acepes de
Michel Foucault e Gilles Deleuze, como um sistema de escolhas (temporais, espaciais e/ou
circunstanciais) que norteiam o percurso do cineasta dentro de uma realidade e um campo
de trabalho. Coutinho, quando elegeu determinada comunidade, um certo perodo e formas
de conduta mais ou menos regulares para fazer lmes como Santo forte, Babilnia 2000,
Edifcio Master e O m e princpio, estava ajudando a estabelecer o dispositivo na pauta
dos documentaristas brasileiros.
Cezar Migliorin, devotado estudioso do assunto, assim deniu sinteticamente o dispositivo
como estratgia narrativa: a introduo de linhas ativadoras em um universo escolhido.
Para exemplicar, ele analisou o doc Rua de mo dupla, de Cao Guimares (2003), em que
pares de pessoas que no se conheciam foram convidadas a trocar de casa durante 24
horas e lmar a casa do outro, tentando intuir sobre a personalidade do dono. A troca e o
espelhamento de impresses constituem a aventura do lme.
O doc de dispositivo traz como novidade a substituio do planejamento e da retrica expo-
sitiva pelo inesperado. Coloca o realizador merc de suas escolhas iniciais e o obriga a lidar
com resultados nem sempre controlveis. Pacic, de Marcelo Pedroso (2010), foi inteiramente
realizado com lmagens de turistas em cruzeiros martimos, coletadas depois das viagens.
O prprio Migliorin autor de um curta provocativo, Ao e disperso (2003), em que ele se
limita a exibir a maneira como gastou a verba do edital em viagens pessoais que simultane-
amente compunham o seu lme-prestao de contas. No este o caso, mas o inferno do
dispositivo comea quando se torna mero fetiche, bastando-se em sua simples exposio.
O princpio da incerteza
Caminho bastante comentado e debatido ultimamente inclusive em artigo meu na Filme
Cultura n 50 , a hibridez de cdigos documentais e ccionais dentro de um mesmo lme
forjou para o doc novos paradigmas de recepo por parte do pblico. A valorizao da
incerteza, ou pelo menos um relaxamento nas exigncias de autenticidade na origem
das imagens documentais, tem levado documentaristas como Andrea Tonacci (Serras da
desordem), Gabriel Mascaro (Avenida Braslia Formosa) e Maria Augusta Ramos (Juzo) a
trabalharem, cada um a seu modo, nos interstcios entre registro e encenao.
Se no representa necessariamente uma renovao na dramaturgia do documentrio, como
o caso do dispositivo, esse princpio da incerteza altera a atitude do cineasta perante seus
personagens e objetos. Mas principalmente modica a maneira como o pblico consome e
reage a um tipo de cinema que, durante meio sculo (dos anos 1930 aos 80, pelo menos),
cou escravizado ao papel de janela ou explicador do mundo. O que se impe agora o doc
como construo cinematogrca acima de tudo. Livre, portanto, para viajar na inveno.
Rua de mo dupla
Em cima, Pacic,
em baixo, Avenida Braslia Formosa
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
A esttica como ao documental
No curta Clandestinos (2001), Patrcia Moran entrevista ex-militantes contra o regime militar
em Belo Horizonte. O tema ultraexplorado se reaquecia mediante uma edio de som e de
imagens que simulava o desnorteamento, a comunicao precria, a dissimulao de iden-
tidades e o clima de vigilncia que marcavam a vida na clandestinidade. Como esse, muitos
outros docs tm pisado o terreno da inovao com os calados de uma esttica aplicada
diretamente ao tema.
comum no doc de inveno que a informao, ou parte considervel dela, seja passada
pelo estilo e pelos signos de linguagem, e no pela descrio, o dado simples ou a retrica
expositiva. O mundo factual no referido retoricamente, mas emocionalmente. Trabalha-se
mais com o sensorial e o rtmico do que com a explanao didtica. Aboio, de Marlia Rocha
(2005), por exemplo, ecoava essa tradio vocal dos vaqueiros atravs de ensaios audiovi-
suais na caatinga, privilegiando a beleza do movimento bruto e a tonalidade evocativa dos
sons. Quando Cao Guimares, Lucas Bambozzi e Beto Magalhes resolveram documentar
prosses em extino (O m do sem m, 2007), optaram por imagens de Super 8 e uma
edio em que as coisas parecem mais desaparecer que ser trazidas tela.
O doc de inveno utiliza modelos narrativos menos convencionais, toma liberdades poticas
em maior grau e adota formas subjetivas de representao. Em sua linguagem, incorpora tcni-
cas antes mais associadas co, como efeitos digitais, imagens incrustadas ou sobrepostas,
alteraes do ritmo natural, congelamentos, trilha sonora assumidamente no diegtica,
planos subjetivos, descontinuidades. Em ltima instncia, aproxima-se tanto da co quanto
do cinema experimental, mas destes se difere basicamente por voltar-se para objetos reais do
mundo social. Essa ncora com o real o que ainda os caracteriza como documentrios.
O tratamento potico da realidade pode ser motivado pelo prprio tema ou personagem, como
o caso da evocao do poeta Waly Salomo pelo amigo Carlos Nader em Pan-cinema permanente
(2009). Qualquer veleidade informativa saborosamente sabotada pelo sopro de desarrumao
que provm das atitudes de Waly. Da resulta uma biograa experimental perfeitamente ajustada
a seu objeto. Mas essa poetizao do real pode, ao contrrio, vir de uma escolha deliberada do
realizador. Este o caso de Joel Pizzini em 500 almas (analisado na Filme Cultura 53), que procura
nos quase extintos ndios guats, bem como no acervo cientco e imaginrio sobre eles e os
ndios em geral, os elementos para a construo de uma etnopotica audiovisual.
Compilaes que recriam
O documentrio baseado em materiais de arquivo tambm conheceu um rejuvenescimento
signicativo na ltima dcada. Os lmes, fotos e arquivos sonoros preexistentes passaram
a ser usados no apenas como evidncias e ilustraes, mas como matria-prima para jogos
intertextuais, signos disponveis para uma outra escrita radicalmente original. O exemplo mais
popular dessa tendncia foi Ns que aqui estamos por vs esperamos (1998), de Marcelo
Masago, inventrio crtico-afetivo de verdades e mentiras sobre o sculo XX. Jean-Claude
Pan-cinema permanente
V A NGUA RDA - I NOV A O
Aboio
lmecultura 54 | maio 2011 44
Bernardet foi outro que se exercitou no subgnero, com destaque para So Paulo sinfonia
e cacofonia (1995), ensaio sobre continuidades e picos de inveno no cinema paulista de
vrias pocas. Joel Pizzini, por sua vez, forjou em Glauces: estudo de um rosto (2001) uma
espcie de atuao pstuma de Glauce Rocha ao samplear e criar novos signicados com
as imagens da atriz em diversos lmes.
Mas o nome mais profundamente identicado com uma renovao do olhar sobre os arquivos
sem dvida Carlos Adriano. A partir de materiais s vezes nmos (poucos fotogramas,
velhos discos de vinil, uma curta cena de mutoscpio), ele cria ensaios minuciosos sobre
memria, perda e esquecimento. A manipulao (fsica e artstica) de artefatos fora de uso
uma condio fundamental do seu trabalho. Em lmes como Remanescncias (1997),
Militncia (2002) e Santos Dumont pr-cineasta? (2010), Adriano cria elos inesperados
entre os primrdios do cinema e a era da manipulao digital, sempre no pleno esprito de
desbravamento experimental.
Passeios pelo bosque da arte
Pode no ser o mais radical, mas o passo mais vistoso dado pelo documentrio contempor-
neo no rumo da experimentao o que o aproxima da esfera das artes visuais. Um histrico
da contaminao entre docs e artes plsticas no Brasil tem que necessariamente remontar
ao alvorecer dos vdeos de artistas, na dcada de 1970. Da nasce uma tradio com pontos
marcantes na srie Rioarte Vdeo Arte Contempornea, trabalhos conjuntos de artistas
plsticos e videoartistas, e nas experimentaes de pioneiros como Arthur Omar, Miguel Rio
Branco e Mrio Cravo Neto (ver artigo de Rubens Machado Jr. nesta edio).
Se por um lado vigora um impulso documental nas artes plsticas com as operaes sobre
fotograas, o agenciamento de matrias corporais e a insero do documentrio na pauta
das Bienais, entre outras coisas , verica-se tambm o deslizamento do doc para o mbito
dos museus, galerias e instalaes. Arthur Omar props ao espectador a experincia imer-
siva de uma mesquita afeg em sua instalao Dervix (2005). Kika Nicolela pediu a travestis
que se recriassem vontade, sozinhos diante de uma cmera num quarto de motel, e criou
Trpico de Capricrnio (2004) para ser visto numa instalao com tela no teto. Carlos Nader
desenvolveu o conceito de segredo pessoal em mltiplas plataformas de interao, que
incluam o vdeo, a performance e a instalao. Nesses trabalhos de Nader, sigilo, sucessi-
vamente reiterado, funcionava como um manifesto pelo recalcamento do teor informativo
do documentrio, em busca de uma expressividade mais conceitual e sensorial.
Esse contgio e essa expanso, que absorvem artistas com trnsito entre vrias disciplinas,
esto levando o doc a pontos extremos de sustentao do seu vnculo com o real. Isso
conduz inevitavelmente ao debate sobre o prazo de validade da prpria distino entre
documentrio, co e experimentao. Talvez estejamos muito prximos no exatamente
de um futuro, mas de um passado que ainda soa como matriz e utopia: as vanguardas dos
anos 1920, quando todos os cdigos se mesclavam em nome da inveno.
Carlos Alberto Mattos carmattos@lmecultura.org.br
V A NGUA RDA - I NOV A O
Dervix
lmecultura 54 | maio 2011 V A NGUA RDA - I NOV A O
A Animao, origem de todas as linguagens audiovisuais, arte de inveno
por excelncia. Desde Joseph Plateau (1801-1883) e Emile Reynaud (1844-1918), os desenhos
e objetos animados quadro a quadro se constituram no mais essencial tubo de ensaio para
a experimentao de tcnicas e estilos do que se passou a chamar de Cinema. Isto posto,
pode-se concluir que no se faz animao sem inovao ou experimentao. Mesmo na
obra mais comercial quase impossvel escapar de um ou outro fator de risco, tentativa ou
pura ousadia no visual, na narrativa ou concepo esttica, j que tudo em uma animao
intermediado pela mente e pelas mos do(s) indivduo(s) criador(es).
Ento o que seria, anal, uma animao experimental? No livro norte-americano Experimental
animation, uma das raras obras de referncia sobre o assunto, os autores Robert Russett
e Cecile Starr listam trs condies em seu critrio para classicar lmes e autores de ani-
mao como experimentais: o uso de tcnicas individuais, dedicao pessoal (trabalho no
encomendado ou nanciado) e ousadia artstica.
P O R M A R C O S M A G A L H E S
lmecultura 54 | maio 2011
Oups
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
M
A
R
I
O
L
A
D
E
I
R
A
lmecultura 54 | maio 2011 46
At bem pouco tempo (talvez at o m do sculo passado), virtualmente toda obra de anima-
o autoral produzida no Brasil poderia se encaixar nestes padres, j que as possibilidades
comerciais eram inexistentes ou to tnues que no representavam constrangimentos ou
barreiras a qualquer tipo de experimentao. O rtulo experimental poderia at ser aplicado,
de maneira pejorativa, ao lme que no atingisse os padres esperados para uma aplicao
comercial. O esforo de Anlio Latini nos anos 1950 ao fazer praticamente sozinho Sinfonia
amaznica, levado a experimentar pela carncia absoluta de recursos, constitua uma inovao
pelo feito histrico primeiro longa-metragem de animao brasileiro mas buscava repetir,
da maneira possvel, as frmulas j testadas por Walt Disney em lmes como Fantasia.
Desde sempre, claro, existiram os autores que aceitaram ou reclamaram conscientemente
o rtulo de experimentais, sem ambies comerciais ou mesmo narrativas, encantados por
um exerccio visual com as imagens em movimento. O autor de animao brasileiro at hoje
mais classicado assim Roberto Miller, um dos muitos inuenciados aqui pelo escocs-
canadense Norman McLaren. Como seu dolo, Miller se destacou por realizar a partir dos anos
1960 lmes abstratos desenhados diretamente sobre a pelcula. Desde ento, esta tcnica
cou caracterizada aqui como expresso mxima da animao experimental.
interessante citar que McLaren, tido entre ns como cineasta livre e experimental, viveu
mais de 40 anos como funcionrio do governo do Canad. Praticamente toda a sua obra au-
toral patrimnio estatal, o que foge aos critrios de Russett e Starr (apesar de gurar com
destaque no livro). McLaren personica o cinema laboratrio industrial, a busca de lingua-
gens com o objetivo de aplic-las a objetivos concretos. No h dvidas de que ele cumpriu
magistralmente esta funo, sem se contaminar pelos vcios do funcionalismo, mas mesmo
assim no escapou de uma certa indiferena da radical comunidade apreciadora do cinema
no-narrativo (como alguns preferem nomear o experimental na Amrica do Norte), pelo fato
de sua obra no ser de todo descompromissada e sua pacata vida pessoal no corresponder
ao radicalismo de algumas de suas manifestaes estticas.
Ao longo dos anos 1960 e 70, pela prpria circunstncia libertria (e depois escapista) da
arte daquele perodo, muitos artistas brasileiros passaram pela animao como veculo
de experimentao esttica foi o caso de Jos Rubens Siqueira (Sorrir), Antnio Moreno
(Eclipse), Rui de Oliveira (Cristo procurado), Stil (Batuque) e outros. Com a vinda dos anos
1980, praticamente desapareceu o espao para experincias mais radicais, mas elas conti-
nuaram acontecendo quando possvel. Adeus, de Cu dEllia, um perturbador exemplo de
antropofagia de smbolos visuais feito por um animador formado pelo mercado da publicidade.
Ainda fora do circuito, preciso destacar o lugar de autor experimental para Fernando Diniz,
artista do Museu de Imagens do Inconsciente, que surpreendeu a todos com a maestria em
seu nico lme, Estrela de oito pontas, de 1996.
Com a revoluo tecnolgica iniciada dos anos 1990, o advento das mdias digitais e os
novos processos de produo, pode-se destacar duas vertentes para novas experimenta-
es: uma seria a computao grca. Outra seria o cruzamento de tecnologias, suportes
e formatos permitidos pelo meio digital.
lmecultura 54 | maio 2011 46
lmecultura 54 | maio 2011
No primeiro caso, novas ferramentas de visualizao digital expandem tecnologias de repre-
sentao que seriam destinadas a ser cada vez mais is realidade. Hiper-realismo em
3D, motion capture, estereoscopia, podem tambm ser usados para criar novos universos e
lgicas narrativas, desconstruindo e inovando nossas percepes de realidades. Um autor
que optou entre ns por um caminho consistente nesta rea Carlos Eduardo Nogueira, ani-
mador independente com slida carreira em linguagem experimental em computao grca.
Nogueira se encaixa nos trs quesitos de Russett e Starr, criando em software 3D texturas e
shadings completamente fora do padro comercial, mantendo uma postura independente e
sempre buscando alguma inovao em cada trabalho, desde Desirella at Yansan.
No segundo caminho, todos os autores hoje em dia, sem exceo, se sentem tentados a expe-
rincias no limiar entre duas ou mais linguagens. Unir o artesanal ao digital tem possibilidades
innitas. A animao pode agora se inserir livremente em longas ao vivo, documentrios,
instalaes e produtos multiplataforma, desaando o senso comum e intrigando o espectador.
Um jovem talento do nosso cinema de atores, Matheus Souza, revelado pelo longa Apenas o m,
prepara seu projeto seguinte usando a roupagem de animao proporcionada pela rotoscopia
( maneira de Richard Linklater em Waking life, alis uma bvia inuncia).
Guilherme Marcondes, paulista, hoje trabalhando para o mundo todo a partir de Los Angeles,
iniciou-se com um curta independente, Tyger, que conjuga magistralmente diversas tcnicas
e linguagens: teatro de animao, lmagem ao vivo e animao 2D e 3D. Marcondes continua
criando para o mercado de clipes e publicidade trabalhos que sempre inovam e expandem
a insero do experimental.
Obra emblemtica e inspiradora para muitos a do grateiro e animador italiano Blu, que
tem feito sua carreira quase exclusivamente com lmes postados no Vimeo com licena
Creative Commons, nos quais usa uma simples cmera fotogrca digital e as tintas, pincis
e aerossis do grate. Blu tem pelo menos um possvel seguidor no Brasil: Meton Jofly,
tambm grateiro, que incorpora a seus curtas de animao a esttica dos painis de rua
em Ratos de rua, Sinal vermelho e outros.
Uma outra tendncia experimental lida com a forma narrativa e o modelo de produo: o lme
coletivo. Voltando mais uma vez ao passado, em 1986, Ano Internacional da Paz da ONU, a anima-
o brasileira fora apresentada ao mundo pelo coletivo Planeta Terra, que reunia 30 animadores
em atividade constante no Brasil, cada um demonstrando sua viso e representao do tema
Paz. O que era uma moda na poca (puxada pelo clipe musical coletivo de Michael Jackson,
We are the world) amadureceu agora para uma forte tendncia alimentada pelas redes digitais,
que pode inuenciar todo o futuro da produo e permitir cada vez mais cruzamentos.
Fabio Yamaji, paulista e nissei, foi formado em uma infelizmente extinta produtora, a
Trattoria di Frame, que conseguia aplicar uma postura experimental ao mercado publicitrio
de animao. Ao se ver solto na rea autoral, Yamaji despertou para uma brilhante carreira
iniciada com Divino, de repente... Neste lme, alm das diversas tcnicas (pixilation, desenho,
objetos, etc.), destacam-se a criao e produo coletiva.
Engolervilha
Ratos de rua e
Mutu
Grate animado
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 48
Maro, o irreverente animador carioca de muitos curtas, como O arroz nunca acaba, j fora res-
ponsvel por unir jovens animadores (entre eles, Fabio) em torno da absurda e iconoclasta srie
coletiva Engolervilha, cujo terceiro episdio j extrapola com o nome de Engole logo uma jaca
ento. Diversas tcnicas e um total descompromisso com lgica e tica fazem um terreno frtil
para extravasar em catarse as linguagens e tcnicas experimentais de vrios animadores.
Dentre os nomes revelados por esta srie est tambm o de um jovem cearense, Diego Akel,
que assume a bandeira do cinema de animao experimental no conceito McLaren: formas
abstratas, pesquisa de texturas e descompromisso com personagens e narrativas pronta-
mente reconhecveis. Diego tem atuado com ocinas e seminrios em Fortaleza e promete
continuar a expandir esta tendncia em sua comunidade.
importante mesmo que estruturas e recursos sejam mantidos para ampliar nossos laboratrios
de linguagens. Um dos mais antigos laboratrios se mantm h 21 anos em um cenrio idlico,
beira da Floresta da Tijuca, no Horto do Rio de Janeiro: o Visgraf (Laboratrio de Visualizaes
Grcas) do Impa (Instituto de Matemtica Pura e Aplicada), onde a equipe liderada pelo designer,
fotgrafo e matemtico Luiz Velho cria softwares e sistemas que fazem cada vez mais junes de
conhecimentos musicais, de dana e de captura de movimento muito interessantes e intrigantes
para a comunidade artstica. No existem (ainda) casos de obras artisticamente reconhecidas
(por exemplo, lmes premiados em festivais de cinema) feitos com as ferramentas digitais pes-
quisadas pelo Visgraf, mas pode-se apostar que isso no demorar a acontecer.
Marcio Ambrsio, animador e artista plstico paulista com passagem pela Blgica, explora o
fazer intuitivo da animao com interfaces digitais interativas em instalaes performticas
como Oups e o Grate animado, mostrados ao pblico em eventos como o festival Anima
Mundi. Alis, uma das marcas do festival justamente o Estdio Aberto, onde os futuros
talentos descobrem o prazer da experimentao com o quadro a quadro. No deixa de ser
um laboratrio temporrio e democrtico a cu aberto, no ms de julho, quando acontece
o festival no Rio e em So Paulo.
Ultimamente o foco de ateno para a animao tem se voltado para a conquista do mercado
brasileiro de sries de TV e longas para cinema, fato indiscutivelmente importante, histrica
e estrategicamente. medida que este mercado se estabelece (e ainda h muito caminho a
percorrer), vai se evidenciando cada vez mais a necessidade destes laboratrios de novas
possibilidades. O importante que esta vocao de pesquisa, natural e intuitiva na arte da
animao, no se deixe perder na ambio estreita de atender ao que o mercado comea a
determinar, pelo simples e cmodo vcio da repetio. Pois a histria mostra que os mercados
mais slidos e frutuosos foram conquistados com a inovao, e esta uma lio que, no que
diz respeito aos animadores, apesar de sua vocao natural, precisa sempre ser renovada.
Marcos Magalhes cineasta de animao, autor de Animando e Meow! (premiado em Cannes), professor
pleno de Animao na PUC-Rio e um dos diretores do Anima Mundi, Festival Internacional de Animao do Brasil.
V A NGUA RDA - I NOV A O
Planeta Terra
Estdio aberto no Anima Mundi
lmecultura 54 | maio 2011 V A NGUA RDA - I NOV A O
Quando fui convidado pelos editores da revista para escrever sobre vanguardas
e experimentaes sonoras, a juno de dois fatos me levou a um impasse inicial: primeiro,
havia certa indicao de que o texto tratasse de inovaes recentes; segundo, h a minha
prpria vontade atual de escrever mais sobre o cinema contemporneo do que sobre pero-
dos passados da histria do cinema. O problema congurou-se quando pensei o seguinte:
o que h de inovaes sonoras hoje?
Ando dizendo em salas de aula e em lugares menos cotados que h hoje uma espcie de
vale-tudo sonoro, embora domesticado, porm mais livre de certas convenes ensinadas
pelo cinema clssico narrativo. Assim, creio no estar sozinho ao defender que certos usos do
som que j foram considerados tabus, no que, generalizando, se diz ser o cinema comercial,
esto hoje cada vez mais naturalizados. Quanto msica, por exemplo, ideias tradicionais
como as que diziam respeito a uma impossibilidade no dito cinema comercial, hollywoodiano
que seja, da msica ir contra o que as imagens narram so difceis de aplicar hoje, mesmo na
anlise dos lmes que mais fazem sucesso pelo mundo afora. Antigos argumentos sobre o
medo de silenciar certas aes, sob risco do espectador simplesmente estranhar a ausncia
de tal som e de repente perceber que h mecanismos de juno entre sons e imagens em
operao, j no fazem sentido quando passa a se tornar um clich o fato de propositada-
mente no se ouvir o tiro fundamental, a exploso mais impactante. Se tais silenciamentos
tm a funo primordial de chamar exatamente a ateno do espectador para tais aes,
ao invs de causar distanciamento, pode-se dizer que cortes abruptos de grande intensidade
sonora para impresses de silncio no assustam mais ningum.
P O R F E R N A N D O M O R A I S D A C O S T A
Andarilho
lmecultura 54 | maio 2011
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
lmecultura 54 | maio 2011 50
Sobre grande parte da sonorizao para cinema hoje paira o conceito de hiper-realismo.
Inicialmente relacionada pintura, tal expresso parece dar conta de modos a unir sons e
imagens em ilhas de edio, reproduzidos nas salas de cinema cujo aparato sonoro seja mais
impactante. No se trataria mais de mostrar ao espectador que aqueles sons so dedignos
aos que ele escuta na realidade, mas de deixar claro que som de cinema passa a ser um
artefato que produz impacto sensorial maior do que os sons do mundo, ou do que os sons
que tais objetos produziriam no mundo.
Na verdade, creio ser mais interessante exatamente a fronteira entre uma coisa e outra: uma
espcie de hiper-realismo sutil, se isso no for um oximoro. evidente que no caso dos maiores
lanamentos do cinema mundial o hiper-realismo est indubitavelmente em funcionamento.
Mas em parte do cinema brasileiro dos anos mais recentes, do cinema argentino, mexicano,
uruguaio at, o som vem deixando de se ancorar no real, seja l o que isso for, e ganha auto-
nomia para que dele se possa dizer: a representao de tais sons nesses tais lmes se traduz
em um excesso obrigatrio, em uma intensidade maior do que se espera quando vemos na
tela as fontes que produzem os sons. Mesmo aqui, no cinema feito nossa volta, as coisas
parecem soar mais densas do que na prpria realidade, quando entramos nas salas.
Confesso aqui a preocupao de no cair no binarismo experimental X comercial.
Da at a falta de pudor em tomar o dito cinema comercial como lugar de uma esttica sonora
contempornea reconhecvel.
Preocupavam-me ainda, quando pensava no texto por escrever, os termos a serem usados:
conhecida a resistncia dos que seriam expoentes de uma histria do cinema experimental
a essa prpria palavra. Stan Brakhage, que como ensina Fred Camper no deve ser visto
apenas como um bastio do suposto reinado da imagem no cinema, mas tambm como o
responsvel pela experincia radical de colocar seus espectadores frente ao silncio total
de suas projees, notoriamente no gostava da palavra para denir seu trabalho. Mudando
do cinema para a msica, John Cage, em texto de 1957 chamado exatamente Experimental
Music, comentava como passou da objeo radical aceitao do termo experimental
para denir seu trabalho.
De qualquer forma, mais simptica talvez do que cinema experimental seja a expresso
cinema de inveno, o que remete ao saboroso livro de Jairo Ferreira. Sua anlise das
obras de Candeias, de Reichenbach, de Jos Agripino de Paula, de Bressane, de Tonacci e
de tantos outros sempre sensvel ao som dos lmes e s suas relaes com as imagens.
A mirabolante diviso do livro nas categorias de sintonia experimental (eis a a tal palavra),
sintonia existencial, visionria, intergaltica faz apenas mostrar a sintonia da prpria
anlise com os objetos identicados e no identicados, vistos e ouvidos.
Ao pensar um pouco sobre dcadas passadas, evidente que h uma tradio de experimen-
taes sonoras no cinema brasileiro. Mais especicamente, bvio, no cinema moderno. O
trabalho de Simplcio Neto, em vias de publicao, sobre o som de Hitler III mundo, lembra
a complexidade de sua trilha sonora. Simplcio Neto lembra tanto a inuncia do diretor Jos
Em cima John Cage,
em baixo Stan Brakhage
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011
Agripino de Paula sobre a comunidade artstica da So Paulo do m dos anos 1960 e incio dos
1970 quanto sua erudio, o fato de estar antenado com diversas correntes artsticas espa-
lhadas entre a Europa e os Estados Unidos. Agripino defenderia assim a chamada msica de
ta, em referncia msica concreta capitaneada, entre outros, por Pierre Schaeffer. Seria
essa uma das mltiplas inuncias de suas experimentaes sonoras, materializadas em um
disco raro e no prprio lme. Para Simplcio, um lme como o de Agripino borra a sempre citada
fronteira entre diegese e no diegese de forma grave, at porque talvez a preocupao com
o espao que cada som ocupa no seja nem relevante para se analis-lo. Simplcio chega a
colocar a questo: o som de Hitler III mundo no seria um imenso comentrio extradiegtico?
Se a resposta fosse armativa, estaramos dizendo que nenhum som faz parte das aes que
vemos. O prprio autor da pergunta, no entanto, no a responde armativamente, ao chegar
concluso de que mesmo tal raciocnio pareceria reducionista.
Se o som no cinema clssico narrativo est claramente, na maior parte do tempo, em um lugar
ou em outro (no espao da ao ou vindo de fora dele); se uma caracterstica do cinema
moderno embaralhar essa diviso, existiriam lmes, como Hitler III mundo, nos quais as
relaes entre sons e imagens parecem estar ainda mais soltas. o caso, por vezes citado,
da voz sobre as imagens nos lmes de Marguerite Duras, os quais o pblico carioca teve
recentemente a oportunidade de ver em sala de cinema. India song talvez seja o maior e mais
clebre exemplo: ali, as vozes que narram evidentemente no esto no espao e no lugar da
ao mostrada nas imagens, mas tambm no se encaixam nos parmetros tradicionais da
voz over. Tais vozes parecem estar em um terceiro lugar, deslocado, talvez entre o primeiro
e o segundo. Criam relaes inconclusivas com as imagens.
Mas voltando aos lmes de hoje e nossa questo inicial: o que h de invencionices sonoras,
especicamente no cinema brasileiro? Aqui surge uma vontade desagradvel de dizer que
o que h de mais inventivo no caracteriza uma novidade assim to nova, embora se possa
fazer uma relativizao, como de fato faremos.
Hitler III mundo
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 52
A indistino, por exemplo, entre msica e rudos, uso sonoro paradigmtico do cinema
moderno, vem se tornando um dos clichs do cinema contemporneo. Pense-se, sobre o
cinema moderno, no famosssimo caso de Vidas secas, na criao sonora de Geraldo Jos
para a obra de Nelson Pereira dos Santos que no precisa ser reexplicada aqui. Alis, modo
de sonorizar presente em Vidas secas, mas no s. Geraldo Jos organizaria os rudos se-
gundo parmetros musicais em Os fuzis, em Navalha na carne, em O amuleto de Ogum e em
outros. Sobre O amuleto de Ogum, Jards Macal, compositor da msica do lme, explicaria,
em depoimento para Severino Dad inserido no documentrio do montador sobre o tcnico
de som, que Geraldo Jos o ensinara que rudo som, e som msica, e msica rudo.
No cinema internacional das ltimas dcadas, tal modo de sonorizar que j foi marca do cinema mo-
derno pode ser ouvido em lmes provenientes de diferentes modos de produo: Lars Von Trier em-
baralha a fronteira entre o que msica e o que rudo, Darren Aronofsky o faz repetidamente.
O terico de msica e de msica para cinema Robin Stilwell prope, em artigo chamado The fan-
tastical gap between diegetic and nondiegetic, que na anlise do som do cinema contemporneo
no sejam necessariamente utilizados parmetros que serviram para pensar o cinema clssico
narrativo ou mesmo o cinema moderno. A partir da sugesto de Stilwell, pode-se dizer que, em-
bora certas estratgias para unir sons e imagens no cinema possam no parecer necessariamente
novas, o modo como se operam essas estratgias particular dos lmes contemporneos. Assim,
por exemplo, a transformao de um som identicado como rudo, em um primeiro momento, em
algo que se pode chamar de msica, em um segundo, no produziria hoje, evidente, o mesmo
sentido que produzia cinquenta anos atrs, quando determinados diretores circunscritos ao
incio do cinema moderno mostraram ser possvel aquela operao sonora.
Em Andarilho, de Cao Guimares, parece, de fato, haver um modo contemporneo de
borrar fronteiras tanto entre diegtico e no-diegtico, quanto entre msica e rudos.
Em um cinema no qual as imagens sugerem uma contemplao mais radical, os sons podem
ganhar funes proeminentes: criar ritmos internos em determinados planos, no meio-tempo
entre dois cortes de imagem, materializar ndices que na imagem no apaream de forma
to clara. Viajo porque preciso, volto porque te amo, de Marcelo Gomes e Karim Anouz,
provoca questes sonoras interessantes, algumas delas discutidas recentemente no blog
de Jean-Claude Bernardet. Salta aos olhos e aos ouvidos a radicalidade do lme em primeira
pessoa; a centralidade da voz atravs da qual recebemos a consso da perda da mulher,
e atravs da qual descobrimos paulatinamente que personagem esse. extremamente
funcional a estratgia de criar uma identicao entre personagem e espectadores a partir
dessa voz, embora, como bem lembra Bernardet, haja elementos na imagem que a reforcem,
como os planos de estrada do ponto de vista de quem est no volante, sendo que quem
V A NGUA RDA - I NOV A O
Viajo porque preciso, volto porque te amo
lmecultura 54 | maio 2011
supostamente est no volante o personagem principal, Z Renato. Bernardet destaca a
necessidade do texto rigorosamente construdo, embora a lgica de sua construo exija uma
margem de ambiguidade que no deixa criar uma relao precisa entre sons, palavras (que
no deixam de ser sons) e imagens. O crtico chega surpreendente concluso de que tal
narrao onipresente torna, ao m do lme, o corpo invisvel de Z Renato mais pesado do
que no incio. Corpo que, lembra ainda Bernardet, como no clebre caso do Doutor Arthur,
do Triste trpico de Arthur Omar, no tem existncia visual em momento algum.
Curta-metragem recente que tambm faz da no apario do corpo da personagem principal
sua principal estratgia narrativa A dama do Peixoto, de Douglas Soares e Allan Ribeiro.
Alm de seguirmos pelo lme esperando por uma personagem que no aparece, tampouco
vemos de onde vm as vrias vozes que falam dela. Enquanto ouvimos a montagem de vozes,
vemos no os corpos, mas recantos da praa habitada pela personagem principal invisvel.
Ao nal, vemos, evidentemente, o rosto da personagem to discutida.
Essa estratgia de deixar fora de quadro o que mais se espera ver, de linhagem to nobre
na histria do cinema, encontra outros praticantes no cinema brasileiro contemporneo.
o caso de Eduardo Valente. O exerccio do fora de quadro nos seus curta-metragens, mais
radical em O sol alaranjado, teve mais um captulo no longa-metragem No meu lugar, no
qual aes fundamentais para o desenrolar da trama no so vistas, mas ouvidas.
Voltando a Viajo porque preciso, volto porque te amo, surge, para alm da anlise da
voz encaminhada por Bernardet, uma ltima questo: se a voz nos leva de tal forma para
dentro da cabea do personagem, se ouvimos o que ele pensa, o que dizer dos demais
sons? Tambm ouvimos os sons do serto a partir da sua apreenso pelo personagem?
Se dissermos que no, de fato estaremos criando estatutos diferentes para a voz e para os
demais sons, especicamente para os rudos. Pois, neste caso, a voz seria um som subjetivo
(a ouvimos pois ouvimos os pensamentos do personagem), enquanto os rudos tentariam
representar o serto objetivamente. Se, ao contrrio, negarmos essa primeira hiptese,
chegaramos concluso oposta: tudo o que ouvimos est na cabea de Z Renato, e ouvi-
mos os sons do serto, do So Francisco, das cidades, a partir do que ele ouve. certo que
a voz em primeira pessoa cria a identicao entre os espectadores e o personagem, mas
essa identicao se expande para todos os sons do lme? Ou estes esto em outro lugar,
funcionando de acordo com outras regras? As vozes e os demais sons produzem sentidos
assim to diferentes entre si?
Fernando Morais da Costa professor do Departamento de Cinema e Vdeo e do Programa de Ps-Graduao em
Comunicao da Universidade Federal Fluminense. autor de O som no cinema brasileiro.
A dama do Peixoto
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 54
Paulo Henriques Britto
poeta, tradutor e professor
H que distinguir o conceito de vanguarda de outro, estreitamente a ele associado: o de
experimentalismo. Aqui a metfora cienticista em vez de militar: o artista experimental
aquele que, tal como o cientista que elabora experimentos no laboratrio em prol do pro-
gresso da cincia, desenvolve inovaes que levariam a avanos no campo da arte. Quando
no assumiu um papel radical de demolidor niilista, o artista de vanguarda era muitas vezes
experimental neste sentido, pois precisamente por se dedicar pesquisa de formas ele
ajudava a traar o futuro para o qual abria caminho. (...)
Meu ponto que - tal como j havia experimentao artstica antes dos meados do sculo XIX -
aps o m das vanguardas, quando se tornou anacrnica a gura do artista que quer com cada
obra inventar uma nova linguagem para sua arte, continuar a haver inovao artstica e novos
experimentos em arte. Em todas as reas de criao continuaro a surgir processos e linguagens
novas, ora buscados de modo calculado, ora produzidos mais intuitivamente; alguns caro na
histria como curiosidades apenas, enquanto outros daro uma inexo diferente ao desen-
volvimento de uma determinada arte. Para dar exemplos do cinema, o close-up e o cinema
falado foram inovaes tcnicas frteis; por outro lado, o Cinerama e o processo Smell-o-
vision criado por Mike Todd, Jr. foram (em graus diferentes) improdutivos.
Para encerrar, algumas palavras sobre a poesia brasileira. (...) O poeta de 2011 pode optar por
escrever uma sestina ou criar um poema visual e sonoro num blogue. Assim, na obra de alguns
dos mais importantes poetas contemporneos, como Claudia Roquette-Pinto e Carlito Azevedo,
podemos encontrar elementos do concretismo, retrabalhados e combinados com recursos mais
tradicionais. Outros, como Antonio Cicero, combinam forma clssica e dico coloquial; e a
profuso polifnica de vozes que marca a poesia de Francisco Alvim tem mais de um trao
em comum com o informalismo anrquico da gerao mimegrafo. Ricardo Domeneck
produz uma lrica confessional que mais uma vez evoca a gerao mimegrafo, mas
acumula referncias e citaes poliglotas maneira de Haroldo de Campos. Poetas
e nque t e F I L M E C U L T U R A
V A NGUA RDA - I NOV A O
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
Com o objetivo de compreender os pontos em comum e as diferenas nas mais recentes
propostas de experimentao de linguagem no cinema e nas demais artes, Filme Cultura
procurou especialistas de outras areas para falar sobre as circunstncias atuais. A eles,
apresentamos a seguinte questo:
Por onde passam hoje a inovao e a experimentao, seja na sua rea ou em
geral? Voc pode dar exemplos de nomes ou obras?
As respostas que nos foram dadas por estas guras de destaque da literatura, do teatro,
dos quadrinhos, das artes plsticas e da TV podem ser lidas a seguir.
lmecultura 54 | maio 2011
como esses, e muitos outros que eu poderia mencionar, esto, cada um a seu modo,
experimentando com a linguagem potica, embora no possam ser considerados artis-
tas experimentais como os do tempo das vanguardas; e no temos nenhum motivo para
duvidar que no futuro experimentos continuem a ser realizados na poesia, como em
todas as artes. O ocaso do vanguardismo experimental no a morte da experimentao
artstica: apenas o m de um longo captulo.
Leia a ntegra da resposta de Paulo Henriques Britto em www.lmecultura.org.br
Jos Roberto Aguilar
artista plstico, escritor e bandleader
uma impresso subjetiva, claro. Eu acho que a vertente para uma inovao passa pelo
cinema, que est sendo cooptado pelas artes plsticas.
Esta juno poderosa. Primeiro, quebra o enredo linear baseado em ao, o tempo determi-
nado pelo espetculo, e assim devolve um envolvimento livre do tempo e dos racionalismos.
sintomtico a ltima Bienal de So Paulo estar coalhada de vdeos. Um exemplo maior o
do diretor tailands ganhador da Palma de Ouro, tambm presente na Bienal, Apichatpong
Weerasethakul.
Bia Lessa
encenadora de teatro e pera, cengrafa e designer de exposies e museus
Acho que as grandes inovaes e experimentaes passam hoje pelas cincias exatas nada
nos cria maiores questionamentos do que as novas possibilidades abertas pelo universo
cientco. Penso que samos da linha de frente e que estamos buscando um novo espao.
Nesse sentido acho que os espetculos, sejam eles em teatro, msica ou pera, esto cada
vez mais difceis de serem realizados. Por essa razo as linguagens comeam a se misturar
na esperana de estabelecer um novo universo de possibilidades - mas eu, particularmente,
estou descrente desse caminho apesar de t-lo utilizado em alguns dos meus trabalhos.
Z Celso e Antunes Filho em teatro ainda so imbatveis. Eles esto na linha de frente, no
meu entender. Alguns momentos de suas obras atuais so sucientes para nos proporcionar
momentos de emoes e transformaes profundas. Instantes dentro de grandes percur-
sos. Cito a obra de Paulo Mendes da Rocha, Tadao Ando, o escritrio Sanaa em arquitetura; a
msica de Egberto Gismont, Caetano e Bethania; Pina Bausch, o maestro Sergiu Celibidache.
Fiquei emocionada com o ltimo lme do Godard, Filme socialismo.
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 56
Luiz Camillo Osorio
crtico de arte
A inovao e a experimentao seguem sendo coisa rara, mas passam por vrios lugares no meio
de arte. Ela pode estar nas pinturas de Sean Scully, nos lmes e desenhos de William Kentridge,
nas aes propostas por Tino Sehgal ou Laura Lima, nas instalaes de Ernesto Neto ou Janet
Cardiff etc. Citei estes exemplos - e poderia citar outros - para mostrar que a diferena do novo
no est ligada a um suporte ou meio expressivo, no tem nada a ver com evoluo tecnolgica
(nem contra ela), mas se apresenta como uma surpresa esttica: algo que nos tira das frmulas
constitudas e nos faz poder perceber as coisas de um modo singular. claro que com a prolife-
rao de museus e com um mercado de arte aquecido, h uma demanda inacionada por obras
de arte. A quantidade no implica qualidade, tampouco contrria a ela. Sempre houve um
excesso de obras que com o tempo foram sendo ltradas pela histria, sobrando o osso potico.
As reservas tcnicas esto abarrotadas de obras expelidas. Do contraste nascem as diferenas
e estas se manifestam, de incio, com o que chamei de surpresa esttica que est relacionada
inovao e experimentao. O resto especulao e business, que esto no meio de tudo e
no adianta reclamar. Cabe a cada um e histria separar o joio do trigo.
Helosa Buarque de Hollanda
professora e editora
Do meu ponto de vista, a literatura brasileira est num momento ureo. A nova gerao est
entrando com fora, criando seu pblico leitor, uma gerao que tem uma formao literria
com forte input de imagens, msica, quadrinhos, clipes etc. Ento voc v uma literatura
quase multiplataforma, mesmo que s use a palavra impressa. Outra enorme novidade a
emergncia do nicho de literatura infanto-juvenil. Adolescentes esto lendo! verdade que
essa gerao est superatrada por um mundo de vampiros e bruxos(as), mas o interesse
pela leitura aumenta e comea a chegar em outros tipos de literatura. E, por ltimo, as duas
perspectivas de inovao que esto chegando e fazendo barulho: a literatura produzida nas
periferias, que vem com dico prpria e trazendo uma nova relao com a criao e com
a prpria leitura, e o universo da web, que para mim o grande laboratrio literrio desse
momento. A convergncia de mdias e linguagens, os recursos de participao e expresso
so quase innitos, os games sinalizam novos formatos narrativos para a novela e para o
romance. Enm, teremos surpresas no pacato mundo das Letras.
Novos nomes: Cecilia Gianetti, Joo Paulo Cuenca, Andria del Fuego, Alice Santana.
Periferia: Ferrez, Alessandro Buzo, Sacolinha, Allan da Rosa, Nelson Maca, Sergio Vaz.
Ota
quadrinista
O mundo est mudando e as novas mdias do uma nova dimenso aos quadrinhos e animao.
Estamos num momento de transio, mas ainda no incio dessa nova era, e a humanidade ainda
est se adaptando. Mas acredito que ainda no descobriram o jeito certo de fazer as coisas.
Minhas reas so quadrinhos e animao. Os quadrinhos tais como os conhecemos, em papel
impresso, no devem morrer to cedo nas edies de colecionadores, mas na transio para os
V A NGUA RDA - I NOV A O
A
N
D
R
E
A
S
V
A
L
E
N
T
I
N
lmecultura 54 | maio 2011
formatos eletrnicos podem ter implementos. Anal, se antes as imagens no podiam se mexer
por serem impressas em papel, agora elas podem quando lidas em e-books. Ento podem ser
como as imagens dos livros e jornais do universo de Harry Potter, onde so todas animadas.
H que ter cautela no uso desses recursos, para no desvirtuar muito a linguagem. J a animao
tende, num futuro no muito distante, a se mesclar com a holograa. J existe tecnologia para
isso, porm os custos so proibitivos para produzir de um jeito acessvel s massas. Sem contar
com o recurso da interatividade, que pode ser utilizado tambm. Mas preciso que ambos os
lados da indstria os criadores e os produtores se adaptem transio. O contedo fun-
damental, e a responsabilidade maior para os criadores... sem uma boa histria no adianta
ter toda a tecnologia disposio.
Estou certo de que algum vai descobrir o caminho e dar um passo que coloque tudo num
novo patamar... mas acho que ainda cedo para citar nomes.
Luiz Fernando Carvalho
cineasta e diretor de TV
(...)
Gostaria que chegasse at vocs essa ideia do vazio da inveno de onde parto sempre;
que, desde que existe, no sculo XIX, esta mesma linguagem no cessa de se esvaziar, seja
na Literatura, nas Artes Plsticas, ou depois, como agora, no prprio Cinema, ou mesmo na
Televiso ou atravs das novas mdias.
Gostaria, ao menos, de apresentar a necessidade de abandonar uma ideia preconcebida, ideia
de que uma inveno se faz de si prpria, segundo a qual ela j uma linguagem, possvel de
pertencer a um contexto de invenes, inventadas como as outras, mas sucientemente
e de tal modo escolhidas e dispostas que, atravs delas, passe algo de inefvel.
Parece-me, ao contrrio, que a inveno no , desde sempre, desde sua origem, feita de
algo inefvel. Ela feita de algo ttil, de algo constitudo por nossos sentidos; portanto,
poderia ser chamada de fbula, no sentido rigoroso e originrio do termo. Ento, a inveno
feita de algo que deve e pode ser experimentado e construdo: uma fbula que, todavia,
dependendo do traado de seu arteso, pode ser reproduzida numa linguagem de ausncia,
assassinato, duplicao ou simulacro.
(...)
Quando uma inveno uma inveno?
O paradoxo de um lme reside no fato de s ser Cinema no exato momento de seu comeo,
na tela ainda em branco e que permanece em branco, quando nada ainda foi projetado
na sua superfcie.
O que faz com que a Literatura seja Literatura, que a linguagem escrita em um livro seja
Literatura, uma espcie de ritual prvio que traa o espao da consagrao das palavras.
Poderamos, substituindo a palavra Literatura pela palavra Cinema, dizer ento que o que
faz com que um lme seja Cinema, [que a linguagem visual de um lme seja Cinema], uma
espcie de ritual prvio que traa o espao da inveno das Imagens.
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 58
Ento, quando a pgina em branco comea a ser preenchida, quando se comea a transcrever
palavras nessa superfcie ainda virgem, cada palavra [assim como no Cinema, cada imagem]
se torna, de certo modo, absolutamente decepcionante com relao imaginao Literria
ou Cinematogrca, pois no h nenhuma palavra ou nenhuma imagem que pertena, por
essncia, por direito de natureza, Literatura ou ao Cinema, ou at mesmo s novas mdias.
De fato, desde que uma palavra esteja escrita na pgina em branco, ela deixa de ser Literatura,
assim como desde que uma imagem projetada em uma tela em branco deixa de ser Cinema.
Quero dizer que a inveno de cada palavra ou imagem , de certo modo, uma transgresso
da essncia pura, branca, vazia e sagrada da Imaginao, que faz de toda inveno no uma
realizao Literria ou Cinematogrca, mas sua ruptura, sua queda, seu arrombamento.
A inveno uma queda para o alto.
Leia a ntegra da resposta de Luiz Fernando Carvalho em www.lmecultura.org.br
Silviano Santiago
escritor e crtico literrio
Cito a passagem do livro de Jean Genet sobre Giacometti:
Aceito mal o que em arte se designa por inovador. Dever uma obra ser entendida pelas
geraes futuras? Por qu? Que querer isso dizer? Que elas podero utiliz-la? Em qu?
No vejo bem. J vejo melhor ainda que muito obscuramente : toda a obra de arte que
pretenda atingir os mais altos desgnios deve, desde o incio e com pacincia e uma innita
aplicao, recuar milnios e juntar-se, se possvel, imemorial noite povoada pelos mortos
que iro reconhecer-se nessa obra.
Nunca, nunca, a obra de arte se destina s novas geraes. Ela oferenda ao inmero
povo dos mortos. Que a acolhem. Ou rejeitam. Mas os mortos de que falo nem vivos foram.
Ou ento esqueci-os. Porque foram-no sucientemente para que os esqueam, j que a vida
teve como m lev-los a cruzar esta tranquila margem de onde aguardam ido daqui um
sinal reconhecvel.
(...)
Giacometti tem um modo de falar rude, como se escolhesse a dedo a entoao e os termos
mais prximos da linguagem corrente. Parece um tanoeiro.
Ele Viu-as em gesso... lembra-se do gesso?
Eu Sim.
Ele Acha que perdem por ser bronze?
Eu No. Nada.
Ele E ganhar, ganham?
Hesito de novo proferir a frase que melhor se aplica aos meus sentimentos.
Eu Voc vai voltar a rir-se, mas curiosamente eu no diria que elas ganham, mas sim que
o bronze ganhou. Pela primeira vez na vida o bronze acaba de triunfar. As suas mulheres
so uma vitria do bronze. Sobre o prprio bronze, creio.
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 V A NGUA RDA - I NOV A O
Ensaio fotogrfico P O R C A O G U I M A R E S
Na passagem do milnio, no incio das lmagens de O m do sem m
(sobre prosses em extino), na regio do Alto Jequitinhonha, em Minas Gerais,
encontramos estes seres estranhos cuja prosso era assustar pssaros.
Pareciam congelados em um gesto apontando algo no horizonte, um contrap
de dana, um tropeo, um grito. Pareciam congelados para a eternidade como as
mmias, as montanhas e as pedras.
Apesar de estarem ali para assustar, provocavam em mim uma intimidade
imediata, a arqueologia de uma ludicidade infantil derretendo as estalactites da
minha alma envelhecida.
Sentei ali no meio deles em silncio esperando que algo acontecesse. Longas
horas se passaram e nada aparentemente aconteceu. Ao anoitecer fomos embora
e o chacoalho do carro me embalou num sono profundo. Agora eles j danavam
em roda entoando uma cano antiga pontuada por gritos paleolticos. A cada
grito uma pea de roupa de seu fabuloso vesturio era lanada no meio da roda.
A cano continuava innita pelo meio da noite e sobre a terra fofa recm-arada
apenas um monte de roupas e uma profuso de pegadas de ps pequenos onde
alguns pssaros ciscavam aqui e ali.
Imagino que hoje, uma dcada depois, esta prosso quase no exista mais e no
fao a menor ideia de onde foi parar esta pequena multido de seres fascinantes
que habitavam nossas lavouras. Talvez apenas migraram para um plano de
realidade diferente e estejam assustando os pssaros famintos que hoje habitam
nossos sonhos.
lmecultura 54 | maio 2011
lmecultura 54 | maio 2011
O EXPERIMENTAL NO CINEMA NACIONAL
publicado no Mais!, Folha de S. Paulo em 4/4/1993 e extrado
do livro Julio Bressane - Cinepotica, organizado por Carlos
Adriano e Bernardo Vorobow. Ed. Massao Ohno, SP, 1995.
O primeiro lme experimental no Brasil foi o dos dois
irmos Segretto, que adquiriram na Frana, no ano mesmo
de sua fabricao (1897), a cmera de lmar criada pelos
(tambm dois) irmos Lumire.
Os irmos Segretto filmaram em 1898, do convs do
paquette que os trazia da Europa, a entrada da Baia da
Guanabara com seus fortes portugueses e megalitos
lendrios. Este material foi destrudo. Mas podemos con-
jecturar que estas imagens com a cmera em movimento
(travelling) e oscilando, movimento natural do barco,
foram um total experimento cinematogrco. O experi-
mental est, entre outros indicadores, pelo inusitado do
lugar onde se encontrava a cmera, pelo movimento e
pela oscilao (pelo balano, e isto era bossa-nova), que
certamente alterava a apreenso da luz e da paisagem.
A imagem dos megalitos e das cavernas pr-histricas
fascinavam e sugeriam a experimentao e a descoberta.
O registro habitual da tomada de cmera era xo e sobre
trip, para a necessria imobilidade da cmera na xao
e captao da luz. No se faziam os registros de tomadas
com a cmera em movimento e muito menos oscilando...
Os irmos Lumire quando espalharam pelo mundo seus
cinegrafistas pela primeira vez viram tomadas feitas
com a cmera em movimento. Eram os registros de seus
operadores, que de Veneza e da China enviavam imagens
lmadas de dentro de gndolas ou balsas. Nascia o tra-
velling. Figura da sintaxe cinematogrca que se tornaria
a mais clssica do cinema moderno.
J U L I O B R E S S A N E
V A NGUA RDA - I NOV A O
I
V
A
N
C
A
R
D
O
S
O
Julio Bressane
lmecultura 54 | maio 2011 68
anos 20. Rero-me ao cinema de LHerbier, Dulac, Delluc,
Epstein, Gance, Alberto Cavalcanti, entre outros. um
cinema totalmente voltado para a experimentao e para
a busca de limites, quebra de compartimentos, mistura de
disciplinas, cinema pensado como organismo intelectual
demasiadamente sensvel e que faz fronteira com todas
as artes, cincias e a vida...
Este cinema formula (Abel Gance o fez) a teoria segundo a
qual cinema a msica da luz. O lme um fotograma
transparente, branco, onde a sombra que organiza a
imagem. A sombra , portanto, msica.
Foi esta tradio do cinema que fez de forma sistemtica a
explorao dos lugares inabituais de registro, de tomada
de cmera. A cmera foi retirada de seu trip ou carrinho
e lanada em hlice no espao ou em um balo ou ainda
amarrada a um selim de bicicleta... ngulos inusitados
para as novas emoes!
Limite, o filme, experimentou, inventou, criou novos
enquadramentos, desenquadrou e criou novas possibili-
dades de compreenso e apreenso da luz. Novas ferra-
mentas para esta coisa pouco simples a que se resume
toda arte: transmitir uma emoo. Tratou o cinema de
maneira a submet-lo e dot-lo de todas as inuncias,
dando-lhe uma exibilidade que at ali ele desconhecia.
Uma ltima olhadela, um ltimo talho no experimentalis-
mo ancestral e prgono do Limite. Limite radicaliza esta
formulao de Gance: cinema a msica da luz. Mas ainda
mais: distingue e congura a primeira vez o prprio signo
cinematogrco. O signo do eu-cinema. o seguinte: a
cmera na mo sempre foi a mais perturbadora posio
de cmera na coisa do lme, muito usada desde o nas-
cimento do cinema, mas sempre enquadrada na altura do
olho. No Limite d-se uma transgresso. A cmera na mo
colocada na altura do cho. Em visionria tomada sem
corte, a cmera abandona, retira de seu enquadramento
todos os elementos acessrios do lme, tais como ator,
enredo, paisagem para lmar apenas a prpria luz e o
movimento. Cinema puro, ele mesmo, em Mangaratiba!
V A NGUA RDA - I NOV A O
Notamos a nesse episdio dos irmos Segretto (nascimento
do cinema entre ns) que no cinema nacional no seu nasce-
douro, na sua primeira congurao, no esboo de seu signo,
existe j o elemento experimental. Este o no transpassar
todo cinema brasileiro da em diante e para sempre.
E repetiu-se. Veio depois nos anos 20, o Major Thomaz
Reis. Documentarista que acompanhou, lmando, a ex-
pedio de Rondon ao Alto Xingu em 1923. Este operador
cuidadoso lmou a Viso do Paraso. So imagens do
Brasil mtico, lmado com lente plana, enquadramento
organizado, closes nicos de ndios e gente brasileira.
Composies que combinam rigor e improviso, em planos
de criaturas, selva e foras da natureza (como, por exem-
plo, a tomada da barca-arca de No, que atravessa uma
caudaloso rio-dilvio). Uma luz apreendida com grande
domnio tcnico e originalidade, sendo que o negativo foi
revelado nas guas da prpria selva. Imagens que deixa-
ro sua marca duradoura em nossa cinematograa.
No ano de 1930 temos Limite de Mrio Peixoto. Inaugura
uma outra e nova mentalidade. Digo que Limite uma nova
mentalidade porque j , entre ns, arte alusiva, pardica
ou de conscincia do passado do cinema. J cinema do
cinema, ou seja, implica a criao e recriao da imagem
no lme cinematogrco.
Ciente do passado, Limite sente a inuncia e radicaliza os
procedimentos, a guras da tradio mxima do cinema
experimental, que o cinema de vanguarda francs dos
Major Thomaz Reis em O Cinegrasta de Rondon
lmecultura 54 | maio 2011
ponto de vista. So topoi, lugares-comuns, recriados e
recombinados abundantemente. Sinais de experimentalis-
mo (exemplo: as tomadas em plano geral com silhuetas no
horizonte de cangaceiros caminhando, o clich da msica
e da balada-cordel (elemento iconolgico), o bandoleiro
(interpretado pelo prprio Lima Barreto) que em um clssi-
co lugar-comum morre atirando, lutando contra ningum.
E uma experimentao inusitada: a longa cena de suplcio
e vingana em que o ator representa hipnotizado...).
Frmulas do pattico (frmula estilstica arcaizante,
expresso adequada aos estados emocionais no limite
da tenso) marcam O cangaceiro. So verdadeiros topoi
gurativos: testemunhos de estado de esprito transfor-
mado em imagem.
Estes so apenas alguns os de nossa tradio de lmes.
O cinema experimental no Brasil vive desde 1898. Noto que
nosso cinema ou experimental ou no coisa alguma!
V A NGUA RDA - I NOV A O
Lembremo-nos da formulao de um monstro do laco-
nismo francs, R. Barthes, que agra, no famoso poema
de Rimbaud Le bateau ivre, o momento em que o barco-
poema expulsa o comandante e diz EU...
H mais em nosso tecido cinematogrco experimental
a ser observado.
Tal como o Major Reis, nos anos 20, que lmou des-
lumbrantes imagens do mito Brasil, com lente plana e
cuidados de luz e cmera, criando um paradigma para o
nosso cinema, aconteceu nos anos 30 outro fenmeno:
o mascate srio Benjamin Abraho, que lmou o serto,
a caatinga, Lampio e seu grupo. So imagens pertur-
badoras. Com uma luz solarizada, estourada, sem rgido
controle, irregular, com uma cmera de corda na mo,
brutalista, criou uma poderosa imagem-dejeto, brbara,
paradigmtica em nosso cinema e em nossa cultura. Uma
Imagem-Canudos...
Deus e o diabo na terra do sol foi extrado destas cenas
gravadas pelo mascate srio. Alude a estas imagens.
O Major Thomaz Reis e Benjamin Abraho formam um
eixo de onde sai e por onde passa tudo que presta no
nosso cinema.
Nos anos 50, temos o transplante positivo de rgos e
mtodos do cinema europeu, sobretudo ingls, para o
Brasil. Foi a Vera Cruz. Um movimento civilizador entre
ns. Hoje, revendo estes lmes, podemos constatar esta
verdade. Produziu uma obra-prima que influenciou o
cinema internacional: O cangaceiro de Lima Barreto. No
podemos esquecer que a gura principal, o animador, da
Vera Cruz, foi Alberto Cavalcanti, artista ligadssimo ao
cinema experimental francs (trabalhou com LHerbier
em El Dorado e fez vrios lmes nesta fase, entre eles La
Ptite Lilie e Le train sans yeux).
Os elementos e procedimentos experimentais do
Cangaceiro so inmeros. uma pardia acaboclada
do western, devorando os principais clichs do gnero,
saturando-os, e recriando-os maneira canibal, de seu Afonso Segretto
lmecultura 54 | maio 2011 70
O G E R E N T E d e P A U L O C Z A R S A R A C E N I
p o r J O O C A R L O S R O D R I G U E S
& P E D R O B U T C H E R
A VONTADE DE COMER
por Joo Carlos Rodrigues
Aos 77 anos de idade, Paulo Czar Saraceni volta a surpreender com seu dcimo
segundo longa-metragem, uma produo de baixo oramento bancada pela Petrobras. Como boa
parte de sua obra, se baseia na literatura brasileira (trs adaptaes de Lcio Cardoso, uma de
Machado de Assis, outra de Paulo Emlio Salles Gomes). Desta vez, temos Carlos Drummond de
Andrade. Mas um Drummond atpico, pois no se trata de um poema, mas de um conto.
O gerente (o conto) data de 1945, e foi inicialmente denido como novela. Seis anos de-
pois reapareceu na coletnea Contos de aprendiz. Em 2009 voltou a ser publicado de modo
separado. Possui uma narrativa irnica, quase machadiana. Analisando detalhadamente,
revela uma analogia evidente com o clebre conto de Joo do Rio, Dentro da noite, que
de 1910. Em ambos temos o feliz encontro entre um personagem sdico e um masoquista.
Pois se no primeiro um jovem crava alnetes nos braos de sua amada e ela consente, em
O gerente o protagonista possui um vcio ainda mais monstruoso e ainda assim desperta
paixes. O erotismo intenso de Drummond na fase nal de sua obra no teria surpreendido
tanto se este conto tivesse sido mais bem analisado quando publicado pela primeira vez.
Muita coisa j est ali, para quem tem olhos atentos.
primeira vista, O gerente (o lme) uma adaptao linear, onde at os dilogos foram
mantidos. H uma grande uncia narrativa, que podemos tambm chamar de leveza,
e tudo se desenrola com grande elegncia e estilo. Pouco a pouco, porm, descobrimos que
a delidade ao texto no exclui uma viso personalssima. Surgem citaes obra drum-
mondiana, vindas de outras fontes: poemas ditos pelos atores ou recitados em disco pelo
prprio poeta, que surge em pessoa num clipe de um raro documentrio de Fernando Sabino
e David Neves ou na famosa esttua da Avenida Atlntica. Outras so mais pessoais: a bossa
nova, Joo Gilberto, o crtico Almeida Salles. Em determinado momento, o personagem vai
lmecultura 54 | maio 2011 70
lmecultura 54 | maio 2011
ao cinema. O lme Luzes da ribalta, de Chaplin, homenagem ao Chaplin Clube do Otvio
de Faria, o guru que transformou Saraceni de jogador de futebol em cineasta. Essas inter-
venes, longe da gratuidade, servem de contraponto entre o universo do poeta mineiro e
o do cineasta carioca, at agora mais prximo do barroquismo catlico. Essa mudana de
tom na obra de Saraceni uma das boas surpresas que o lme apresenta.
Era um homem que comia dedos de senhoras, no de senhoritas. Eis pelo menos o que se
dizia dele, por aquela poca. Mas apresentemo-lo antes. Viera do Norte, morava em Laranjeiras,
chegara a gerente de banco. Distinguia-se pela correo de maneiras e pelo corte a um tempo
simples e elegante da roupa. Ou melhor, no se distinguia, pois o homem bem-vestido passa
mais ou menos desapercebido nos dias que correm, entre moas e rapazes americanizados,
de gestos soltos, roupas vistosas. As pessoas mais velhas certamente o prezavam por isso,
e recebiam-no com simpatia especial; porm, mesmo entre essas pessoas j penetrara a moda
das meias curtas, chamadas soquetes, a que Samuel jamais aderiu, e dos palets esportivos,
soltos como camisolas, para ir ao bar ou passear na praia, e que Samuel nunca chegaria a
vestir. Tudo isso est no passado por que ele morreu h um ano, de uremia.
Assim se inicia o conto, j resumido no primeiro pargrafo. E tambm assim comea o lme,
onde o narrador do texto, oculto na terceira pessoa, ressurge como algum que fala direta-
mente para o espectador e no interage com os outros personagens. O uso de um narrador
de carne e osso e no do velho recurso da voz off tem sua razo de ser. O sexo de quem
narra o conto no denido, mas deduz-se ser masculino, como Drummond. J a narrao de
Saraceni feita pela atriz Joana Fomm. Essa mudana permite uma analogia inevitvel, para
quem conhece a obra do cineasta, com o misterioso personagem interpretado por Margarida
Rey em Porto das Caixas, seu primeiro longa. Mulher madura, enrolada num xale escuro,
na encruzilhada da vida. Personagem que associamos ao Destino, ou quem sabe, Morte.
H momentos em O gerente, como toda sequncia na escadaria da igreja no Largo do
Machado, em que a autocitao, a comear pelo gurino e a postura da atriz, bem evidente.
Quem narra o lme a Morte, ou, se preferirem, o Destino. Estamos longe do realismo.
O Samuel de Drummond um homem quase gordo, de pouco cabelo. O de Saraceni Nei
Latorraca, nem uma coisa nem outra. Ator possuidor de ironia rara, o seu Samuel no
antiptico ao espectador. Percebemos que agrada as mulheres, um galanteador nato, mas
foge assim que percebe a possibilidade de um relacionamento mais srio. No livro sabemos
que tudo aconteceu entre 1925 e 1932, mas no lme pouco se fala em datas, e a cenograa e
os gurinos avanam no tempo de maneira muito livre. H momentos onde, ao longe, vemos
construes modernas, enquanto no primeiro plano estamos meio sculo atrs. S a partir de
certo momento surgem as primeiras evidncias de sua atividade predatria nas recepes da
alta roda. Os trs ataques consecutivos no tem explicaes, nem precedentes. Acontecem,
e pronto. Aqui o alnete no vestido de Madame Boanerges. Ali, o esbarro de um apressado
no Jquei Clube em Guiomar, esposa do amigo Tancredo. Acol, um garon afoito que empurra
a senhora Figueroa, esposa de um encarregado de negcios da Amrica Central. Sempre no
exato momento em que Samuel lhes beijava as mos. E l se foram as pontas dos dedos das
respeitabilssimas damas, arrancadas a dente, diante de toda sociedade estabelecida.
lmecultura 54 | maio 2011
lmecultura 54 | maio 2011 72
A tal Figueroa descrita como criatura magnca, talvez um pouco ampla de busto; olhos pesta-
nudos, que brilhavam, e uma voz quente, parecendo queimar as palavras. Seu episdio acontece
na legao da China. Na tela, a cor dominante o vermelho, e um show de samba com msicas
de Noel Rosa anima o ambiente, como na Lapa atual. Ela Adriana Bombom, esfuziante mulata
carioca, sex-symbol popular. A msica e a dana tambm dominam o episdio Boanerges, onde
madame e Samuel conversam amenidades enquanto valseiam, como nas dcadas de 1930 ou
40. Todas as mulheres so maravilhosas, charmosas, elegantes. J os personagens masculinos
(o delegado, o mdico, o diretor do banco) so predominantemente desagradveis e repressores.
Mesmo os amigos que carregam o caixo de Samuel parecem mortos vivos. Outra das boas carac-
tersticas de O gerente no ser previsvel. Merece um destaque especial o enquadramento de
certas paisagens cariocas, como o Passeio Pblico, o Campo de Santana, a ilha de Paquet,
transguradas a ponto de parecerem novas at para quem as conhece muito bem. Lembrei de
Jlio Bressane, cujos lmes tambm nos surpreendem ao reenquadrar a paisagem do Rio.
Samuel passa a ser comentado, evitado at. Temos ento a sequncia-chave da confeitaria.
H um momento memorvel onde uma senhora d-lhe a mo a beijar, entre apavorada
e apreensiva, e vemos sua expresso de alvio ao t-la de volta sem faltar um pedao.
Um toque de atabaque, e surge, descendo uma escadaria, Pombajira, entidade dos amores
desregrados, s gargalhadas de deboche. Notemos, em breve ashback, que ao morder
seu primeiro dedo, o da madame Boanerges, Samuel estranhamente gira 360 graus sobre
si mesmo, marcao no realista que parece estapafrdia. Agora adquire um sentido.
A citao das religies afro-brasileiras, muito frequente na obra do diretor, divide o lme em
duas partes. Pois introduz a bela Deolinda Mendes Gualberto (Ana Maria Nascimento Silva).
Samuel no se contm e nca-lhe o dente. Escndalo. Processo. Surpresa: apesar das provas
e testemunhas, a vtima inocenta o algoz. Ao contrrio das outras, Dona Deolinda gostou de
ser mordida. Na assistncia, rumo ao hospital, seu rosto oscila entre a dor e o prazer.
Esse tipo de perversidade sexual renada no frequente no cinema brasileiro, e s encon-
tro correspondente no portugus Joo Csar Monteiro e no espanhol Buuel, dois velhos
devassos, no bom sentido do termo. Mesmo a mulher fatal no frequenta muito nossas
telas. Temos os personagens interpretados por Odete Lara, e poucos mais. Deolinda a
tpica mulher fatal. A ferida infecciona, perde o brao, mas no desiste. Persegue Samuel
at reconquist-lo. No livro, depois do ato, ele regressa a So Paulo, para onde se mudou.
No lme, o casal termina na cama, enlouquecido pelo prazer dos sentidos.
Samuel ajoelhou-se beira da cama, envolveu-lhe com a colcha o toco de brao. Tirou-lhe
os sapatos, acomodou melhor o corpo mole, abandonado. E tomou-lhe de manso a mo.
Aproximou-se mais. O anel de pedra azul projetava uma sombra insignicante na base do dedo.
O mais era branco, um branco amarelado, de papel velho, muito macio. Samuel ergueu a mo
at os lbios, devagar, com extremo cuidado e gentileza. Muito tempo durou o contato.
Nada se sabe do nal da histria. A nica pista, suprema ironia, voltando ltima frase da
fala que abre o lme, a causa mortis do nosso anti-heri. Uremia. Que vem a ser o excesso
de protena animal. Quem sabe adquirida ao comer dedos de senhoras respeitveis.
Uma overdose, talvez. Ou quem sabe uma indigesto.
Joo Carlos Rodrigues jcrodrigues@lmecultura.org.br
lmecultura 54 | maio 2011
VELHO FILME NOVO
por Pedro Butcher
Disse Paulo Czar Saraceni que o Cinema Novo no uma questo de idade; uma
questo de verdade. Hoje quase mtica, a frase citada por Glauber Rocha na epgrafe de
um artigo escrito em 1962, mais tarde includo no livro Revoluo do Cinema Novo.
Aos 77 anos, oito anos depois de lanar o singular documentrio-bbado Banda de Ipanema,
Saraceni faz jus sua frase com O gerente, um velho lme novo, deslocado de seu tempo.
No atual contexto do cinema brasileiro, O gerente um lme sem lugar. Dicilmente encon-
trar distribuio comercial e, apesar de ter inaugurado o Festival de Tiradentes, em janeiro
passado, possvel que tenha diculdades at mesmo de circular pelo circuito dos festivais
nacionais. Isso porque Saraceni o concebe como um lme livre, sem qualquer amarra, e encara
de frente as consequncias geradas por essa opo.
Na pgina seis de seu livro Por dentro do Cinema Novo minha viagem, Saraceni narra seu primeiro
contato com o conto de Carlos Drummond de Andrade que serviu de inspirao para o roteiro.
Ele ouviu falar de O gerente pela primeira vez em uma mesa de bar, ainda nos anos 1950:
Havia o Cuca, homem de teatro, bom de papo, que nos falou de Fernando Pessoa e adorava um
conto de Drummond chamado O gerente, a histria de um gerente de banco muito conceituado
na praa que adorava ir s festas do soaite e que, ao cumprimentar as madames, beijava-lhes
as mos, sugando, disfaradamente, um dedo, que podia ser o mindinho ou o indicador.
Publicado pela primeira vez em 1945, em uma pequena edio autnoma, O gerente foi includo
no fundamental Contos de aprendiz, publicado em 1951. Em Tiradentes, Saraceni destacou
esse contato inicial com as palavras de Drummond. A paixo pela palavra transparece no
lme, que tem na gura de Joana Fomm uma narradora no convencional, dirigindo-se para
lmecultura 54 | maio 2011 74
a cmera com um texto que ora faz a ao avanar, ora limita-se a comentar a cena e os des-
varios de seu personagem principal, o aparentemente pacato gerente de banco Samuel.
Diferentemente da descrio de Saraceni, Samuel no suga o dedo das madames; ele apro-
veita o gesto cavalheiresco de beijar a mo e morde o dedo com velocidade suciente para
sequer ser notado e fora para arrancar um pedao. uma curiosa aproximao de Drummond
ao conceito da antropofagia, to importante para o modernismo brasileiro, um movimento do
qual Drummond fez parte e ao mesmo tempo no fez, transcendendo suas margens.
De certa forma, o lme de Saraceni , antes de tudo, uma tentativa de estabelecer dilogos
com o modernismo brasileiro, de se reaproximar de ideias e formas que foram abandonadas
pelos lmes e, indiretamente, por esse gesto, Saraceni retoma questes do cinema novo.
Assim como o modernismo libertou a poesia da mtrica e das amarras temticas, o cinema
novo, do qual Saraceni uma das guras centrais, procurou libertar o cinema brasileiro da
reproduo de modelos estrangeiros e das amarras tcnicas da produo industrial. Ao mes-
mo tempo, Drummond, de certa forma, representa uma sntese que poucas vezes o cinema
brasileiro foi capaz de encontrar, mas que sempre um fantasma para ns: a combinao
de inveno formal e sucesso popular.
Em uma de suas colunas recentes no jornal O Globo, Jos Miguel Wisnik comentou esse
aspecto falando de No meio do caminho, poema escrito em 1928 que se tornou alvo de
intensa controvrsia justamente por ter se popularizado (algo que, quando o assunto
poesia, uma exceo e, para muitos, heresia). O poema tem apenas dez linhas, das quais
se imortalizaram os versos no meio do caminho tinha uma pedra/tinha uma pedra no meio
do caminho. Mas esse mesmo poema traz outra expresso-chave: nunca esquecerei desse
acontecimento/na vida das minhas retinas to fatigadas.
O gerente pode ser visto como um belo descanso para retinas fatigadas. Filmado em outra
cadncia que no o da imagem em tempo real e da montagem frentica, o lme traz com
uma abordagem frouxa (porque livre) e um ritmo prprio, singular. Essa opo gera momentos
de beleza e outros bastante estranhos, como a bizarra homenagem Petrobras que irrompe
no meio do lme. Em determinado momento, a cmera se detm em alguns personagens que
fazem comentrios sobre a estatal do petrleo criada por Getlio, e um deles arma algo
como j se sabia, ali, que a Petrobras seria a grande patrocinadora do cinema brasileiro,
em uma espcie de leitura meio torta do tema nacionalista do modernismo.
Em outros momentos, por sorte majoritrios, Saraceni consegue um real dilogo com o moderno,
e no toa que O gerente lembre tanto aquele que seja, talvez, o mais moderno dos cineastas
vivos: o portugus Manoel de Oliveira. Como Oliveira, Saraceni quase sempre constri seus planos
com simplicidade, sem pirotecnias. Os personagens podem andar pelo centro do Rio dos dias de
hoje caracterizados com roupas de poca, em meio a pedestres que circulam por ali normalmente.
Em outro momento, o lme para uma vez mais para uma homenagem bem mais interessante,
festejando, com imagens de arquivo, Francisco Almeida Salles, em uma bela sequncia aparen-
temente sem propsito que reverencia um dos grandes intelectuais brasileiros.
lmecultura 54 | maio 2011
Mas, apesar de tantas digresses, O gerente , antes de tudo, um lme de personagens e
de atores. Saraceni no se exime de contar a histria do respeitvel gerente de banco com a
estranha tara de morder os dedos das mulheres que corteja. O tema do conto bem poderia
aproximar o lme de uma boa comdia de costumes moda antiga uma boa tradio do
cinema brasileiro mas Saraceni opta por um tom bem diferente. O roteiro se divide em dois
tempos: um primeiro um pouco mais prximo do cmico, apesar de sombrio; e um segundo
bem mais soturno, quase um lme de horror.
Na primeira parte, somos apresentados, aos poucos, estranha tara de Samuel, que tem entre
suas vtimas Djin Sganzerla, Letcia Spiller e Adriana Bombom. Na segunda, uma das vtimas
do protagonista se apaixona por ele, o que desestabiliza por completo a vida do gerente.
A escolha dos atores tem importncia fundamental na concepo de Saraceni. A trinca de
protagonistas, formada por Ney Latorraca, Joana Fomm (amiga de Samuel e narradora) e
Ana Maria Nascimento e Silva (a vtima apaixonada) so trs guras um tanto esquecidas
pela produo atual. As participaes especiais, visivelmente carregadas de afeto, vo de
Paulo Cesar Pereio a Nildo Parente.
Entre a narrativa e as digresses, a caracterstica maior de O gerente a estranheza. Nesse
ponto, Saraceni se afasta de Manoel de Oliveira (em que nada est fora do lugar) para se
aproximar de Julio Bressane e Rogrio Sganzerla, duas guras ps-Cinema Novo. No Festival
de Tiradentes, Bressane armou que O gerente um lme que impele o espectador a um
esforo sensvel para sair da mediocridade: um cinema que desapareceu. No h mais
pblico para v-lo, pois esse pblico no est mais preparado para determinadas coisas.
De fato, O gerente um lme que no se identica com corrente alguma e no apenas no
atual cenrio do cinema brasileiro, mas do cinema em geral. Nunca a stima arte, que
nasceu sob o signo da indstria e dentro dela viveu seu pice como linguagem e criao,
se viu to radicalizada entre a produo industrial que desgua nos multiplex/shopping
centers, e uma produo feita s margens, cada vez mais caracterizada pela criao coletiva
e a circulao em meios alternativos, como a internet. No meio disse tudo est o cinema de
autor, que vive sua maior crise. O gerente um lme de autor, que vive na carne e espelha
essa crise. antigo porque moderno; vivo porque a armao de um tipo de fazer cine-
matogrco que perdeu seu espao e, talvez, esteja moribundo. Um lme gauche na vida.
Pedro Butcher formado pela Escola de Comunicao da UFRJ. Trabalhou como reprter e crtico de cinema no
Jornal do Brasil e em O Globo. Atualmente edita o website Filme B, especializado em mercado de cinema no Brasil,
e colabora para o jornal Folha de S. Paulo.
lmecultura 54 | maio 2011 76
P O R G U S T A V O D A H L
O FENMENO (II) B I F O R A
A histria da cinelia brasileira, ao contrrio da
francesa, que acaba de ganhar um tratado, no desperta
grande interesse nem nos jovens nem na academia. Tanto
pior. No se compreender o cinema no Brasil sem ela.
Nada de novo. Tentem achar nas bibliotecas exempla-
res passados das revistas de cinema publicadas aqui...
ou mesmo vestgios da crtica mais recente na internet.
Pois bem, nesta histria que ainda depende muito de
depoimentos pessoais, h um momento pico que o
duelo entre Rubem Bifora e Paulo Emilio Salles Gomes,
no segundo Clube de Cinema de So Paulo, em 1946.
O primeiro, fundado por nada menos que P.E., Antonio
Candido de Mello e Souza e Dcio de Almeida Prado, sur-
giu em 1941 na Faculdade de Filosoa, Cincias e Letras.
Atentem aos sobrenomes. A Universidade de So Paulo,
fundada na dcada anterior pelo governador Armando
Salles de Oliveira, tinha como objetivo explcito qualicar
a jovem elite paulista pelo contato com a civilizao eu-
ropeia. Para a Filosoa vieram nada menos que os jovens
Claude Levy-Strauss e Fernand Braudel. Roger Bastide
era uma estrela menor. Depois viria Ungaretti, autor do
genial poema curto, que diz simplesmente: Millumino
dimenso. As aulas eram dadas em francs. Rapidamente
os bons rapazes foram identicados pelo Estado Novo e o
cineclube foi fechado. Em 46, depois de sua segunda estada
em Paris, P.E. volta, e com a cumplicidade de Caio Scheiby,
abre o segundo Clube de Cinema, origem da Filmoteca do
Museu de Arte Moderna de So Paulo, que, por sua vez,
iria virar a Cinemateca Brasileira. E de repente aparece
o jovem Bifora, vinte e poucos anos, que sabia tudo do
cinema americano dos anos 30 e 40. Aos doze anos de
idade j recolhia todas as chas tcnicas e informaes
sobre os lanamentos, que comearam a ser registradas
em papel de po, porque a famlia era muito pobre, do
modesto bairro da Casaverde, conforme ele cita em sua
entrevista autobiogrca, no nal da coletnea de suas
crticas, organizadas por Carlos M. Motta, A coragem de ser,
coleo Aplauso, Imprensa Ocial do Estado de So Paulo,
2006, disponvel na internet. Dcadas depois as mticas
chas do Bifora seriam usadas na sua seo Indicaes
da Semana, nO Estado.
De um lado P.E., alto, belssima estampa, elegante, ternos
de alfaiate, boa famlia de Sorocaba, formado em losoa
na famosa Filosoa, vindo de Paris, j tendo feito a revista
Clima, chamado de chato-boy por Oswald de Andrade,
num evidente acesso de cimes. Grande orador, voz de
bartono, intelectual com o brilho e inteligncia que fariam
dele, nos prximos trinta anos, o que foi. E Rubem Bifora,
V A NGUA RDA - I NOV A O
77
reconhecendo esta dualidade, diria mais tarde que s
Andr Bazin, o cara da crtica cinematogrca do sculo XX,
conseguia super-la e conciliar os dois. J Bifora lite-
ralmente espumava de raiva quando se referia crtica
franco-italiana, esquerdista, intelectual e gr-na, vendida
ao realismo do cinema sovitico e posteriormente ao mo-
vimento neorrealista. Inimigos do glamour e dos valores
do Olimpo hollywoodiano ou da densidade expressionista
germnica, aos quais contrapunham a cara nua do povo.
Identicava nesta crtica dominante o reconhecimento
prvio e incondicional, o esprito de igrejinha sistematica-
mente repercutido pela imprensa politizada. Como diria
mais tarde dos lmes do Cinema Novo, prevalecimento
dos fatos da vida sobre a beleza da forma e a harmonia
dos valores. Ele e sua turma prefeririam os estilistas,
o Joaquim Pedro de O padre e a moa, o Ruy Guerra de
Os cafajestes, o Paulo Cezar Saraceni de Porto das Caixas,
soltura do Glauber de Barravento ou Cac Diegues em
Ganga Zumba.
Se Paulo Emilio era um deus, Bifora era um demnio.
E gostava de s-lo. Remar contra a mar, ir contra o pre-
estabelecido, segundo Carlos M. Motta, no livro j citado.
Paga um preo at hoje, queimando no fogo do inferno
da falta de reconhecimento e do desinteresse. Num pas
conservador, numa cultura conformada, numa crtica con-
vencional, no estar sozinho nem em m companhia.
A relao de Bifora com a coreograa e a dana pode ser-
vir de exemplo. Na dcada de 1930, em Hollywood, Busby
Berkeley era consagrado como coregrafo e diretor. Suas
imagens de pernas femininas multiplicadas ad innitum,
seu antpoda. Baixo, extrao humilde, ternos prontos das
Casas Garbo, confuso no discurso, mas com um conhe-
cimento e paixo pelo cinema nicos, instrudos por um
olho privilegiado, imensa curiosidade e uma memria
formidvel. Gostava de ir contra a corrente e desarrumar
o arrumado, no se deixava impressionar por reputaes
j feitas, consagraes unnimes. No gostava de Chaplin
(que horror!) e sim de Buster Keaton. Uma aproximao
absolutamente sensorial do cinema, iniciada na infncia
pelo exerccio de um confesso voyeurismo fetichista das
grandes estrelas hollywoodianas dos anos 1930. Deusas
inacessveis, feitas de luz. Ou ento semideusas, quase
humanas, profanas por conta de uma disponibilidade
fantasiada, promscua, pela massa de fs de qualquer
gnero. Transidos de desejo, abrigados na penumbra
annima das salas escuras. Algo como o esplendor
fsico dos deuses e heris retratados em mrmore pela
estatuaria helnica, de brilho opaco e tato suave, como
a pele. Esta aproximao, por assim dizer, corprea, fez
com que Bifora fosse imediatamente sensvel e atento
aos aspectos visuais do cinema, como a tipologia dos
intrpretes, a fotografia, os figurinos, a cenografia.
E tambm msica, aos sons, ao uso da voz. Uma viso
formal do cinema, no verbal, autodidata, extrauniversi-
tria, inculta, potica, trgica e pantesta, autnoma, por
ele mesmo subvalorizada quando a restringia meramente
a aspectos tcnico-artsticos e valores de produo.
Mas que por outro lado se caracterizava pela viso do
papel criativo do produtor. Adorava Erich Pommer, Arthur
Freed, Val Lewton, Jerry Wald e detestava Michael Powell
e Dore Schary. Contrapunha-se viso sociolgica
de Paulo Emilio, formada, sobretudo, pelo cinema francs
de antes da guerra, sempre testemunha consciente de seu
momento histrico. O contrrio do americano, pretenso
entretenimento.
O historiador Boris Fausto, que estava l em 1946, frequen-
tador do cineclube e testemunha dos debates e embates,
depondo sobre o tema, fala da complementaridade das
vises e da excepcional oportunidade de aprender com
Paulo Emilio o alcance dos lmes como fenmeno social
e com Bifora a dar ateno aos aspectos de linguagem
e estilo, estticos, cnicos, que faziam a excelncia dos
filmes americanos da poca. O prprio Paulo Emilio,
Buster Keaton
lmecultura 54 | maio 2011 78
assim como as bananas e morangos do nmero The lady in
the tutti frutti hat, com Carmem Miranda em Entre a loura e
a morena (1943) so inesquecveis. Comentrio de Bifora
nas Indicaes, sobre o lme-antologia O esplendor de
Hollywood/Hooray for Hollywood (1976) O maior bene-
ciado Busby Berkeley, o famoso coregrafo das girls
semidespidas em shows simtricos, que eram muito mais
caleidoscpios, efeitos de cmera do que dana pura. Isto s
viria a ocorrer mesmo na revoluo neoexpressionista, nos
musicais coloridos de Arthur Freed na Metro. Na poca dos
musicais de Busby, antes desta srie, Bifora preferia Fred
Astaire e Ginger Rogers a combinao perfeita, a dupla inimi-
tvel de danarinos coreografada por Hermes Pan. Quando
os Cahiers du Cinma vo descobrir, no incio dos 1960, em
Ziegeld Follies, o nmero de Judy Garland e os reprteres,
lmado por seu marido Vincente Minelli em um plano s, em
tons de roxo e cor de abbora, chovem no molhado. Bifora
j sabia desde sempre que a coreograa cinematogrca tem
que combinar os movimentos dos bailarinos com aqueles da
cmera, no caso montada na famosa grua de trinta metros
da M.G.M. isto que ele reconhece, por oposio s imagens
barrocas, mas chapadas, bidimensionais, de Busby Berkeley,
que hoje pareceriam replicadas em computador. Sem
deixarem de ser sublimes, mas caindo mais para um visual
de arabescos gurativos que da fora da dana moderna
americana, grande contribuio ao sculo XX. E tambm era
capaz de revelar os mritos de Gower Champion, da dupla
com Marge, inspirado bailarino mas subestimado coregrafo,
que em Jupiters darling/A favorita de Jupiter (1955) faz com a
parceira um bal inesquecvel, lmado em longos travellings,
saltando entre as barracas de um mercado de rua na Roma
Antiga. E que tambm bota no mesmo lme, elefantes cor-
de-rosa contracenando com Esther Williams. Bifora vai
identicar tambm a grande diferena dramatrgica entre os
musicais dos anos 1930 e os dos 1940. Enquanto os primei-
ros, inuenciados pela estrutura dramtica das operetas com
Nelson Eddy e Jeanette Mac Donald, paravam a ao para
entrar o nmero musical donde tantos exemplos em que
o pretexto do lme a montagem de um show na Broadway
ou alhures os musicais da Metro incorporavam os nmeros
ao, sem interromp-la para a cano ou para a dana.
Criavam uma nova conveno narrativa na qual o especta-
dor entrava como se a vida pudesse ser falada, cantada e
danada o tempo todo.
Footlight parade / Belezas em revista
lmecultura 54 | maio 2011
Lembro perfeitamente do dia em 1958, no hall entre o
auditrio e o barzinho do MAM, quando lendo uma en-
quete feita pela Filmoteca, com as listas dos melhores
dez lmes de todos os tempos axadas na parede, a de
Bifora inclua The pirate / O pirata (1947), de Vincente
Minelli, Gene Kelly protagonizando. Aos vinte anos, recebi
um tapa na cara da minha caretice jovem e bem pensante:
um musical da Metro podia ser o melhor lme do mundo!
Mais tarde o Tigre, como o chamava Khouri, relembraria
de seu gosto e familiaridade com as bailarinas clssicas
do cinema: preferia Tamara Toumanova a Moira Shearer.
E o amenco de Jos Greco e Jos Limon. Tudo isto vindo l
de trs, l de longe, de uma viso juvenil, solitria, formada
nos poeiras da Casaverde e do velho Centro. Praa da S,
Vale do Anhangaba, Largo Paissandu, Rua da Consolao.
Sem nunca ter sado de So Paulo nem ido a Paris, Bifora
era um cosmopolita. A volta ao mundo percorrida nas telas
em mais de oitenta dias, conrmando o que se sabe desde
Lumire e Melis: o cinema viajante.
Outro exemplo. Jean Pierre Melville, cineasta francs autor
de lmes de gngster que por ser fora de esquadro, como
Jean Cocteau, Georges Franju, Alexandre Astruc, Jacques
Becker e Agns Varda, foi poupado da tsunami icono-
clstica com que os jovens turcos dos Cahiers (Chabrol,
Godard, Truffaut, Rohmer, Domarchi, Moullet) arrasaram
o cinma de papa das glrias do entreguerras, Duvivier,
Carn, Autant-Lara, Ren Clair, para abrir espao para a
Nouvelle Vague. Um dia numa entrevista lhe perguntaram
quais eram seus diretores preferidos. Deslou de mem-
ria os nomes de uns cento e vinte do cinema americano,
onde pela primeira vez reconheci vrios que j haviam
sido achados por Bifora. Pensei que malucos de cinema
havia pelo mundo inteiro e que ns no Brasil tnhamos o
nosso, o melhor, de primeira.
Bifora inventava diretores. Alguns como Joseph H. Lewis
ou Douglas Sirk, que Fassbinder considerava seu mestre,
seriam redescobertos na onda dos Cahiers, no nal dos
1950. Outros permanecem obscuros at hoje. Lesley
Selander e Ray Nazarro eram considerados grandes dire-
tores de westerns classe B. William Witney trabalhava em
seriados mais humildes. Robert Gordon era transparente,
no estilo dos grandes intimistas dos anos 1930, Edmund
Goulding, Clarence Brown, Leo Mac Carey, mas em obs-
curos lmes de guerra baratos, passados em submarinos.
Ao qual Bifora aproximava outros injustiados como
Alfred Newman e Sidney Salcoff. Hugo Haas, ator e diretor
checo, com lmes de crimes, herdou a paixo de Bifora
pelo cinema de onde viera Gustav Machaty, de Extasy
(1933), apogeu do pantesmo, primeiro nu frontal do ci-
nema, com a belssima Heddy Lamar adolescente. O olho
e o faro de Bifora identicavam pelo estilo os diretores
nascidos na Europa Central e emigrados para Hollywood,
como o hngaro Charles Vidor. Quase germnicos, j eram
vistos com uma expectativa positiva. Mas, seguramente,
o exemplo mais extremado Frank Wisbar. Na j referida
lista dos dez melhores, ele incluiu Fronteiras da ambio/
The prairie (1948). Era um western de produo barata,
baseado num livro de James Fenimore Cooper, sobre uma
famlia que se muda para a Louisiana, quando ela est
sendo comprada pelos Estados Unidos, no sculo XIX. Um
lme de colonizao. Nunca o vi citado, nem a seu diretor,
mas consta dos livros de referncia e da Wikipedia. Existe.
Judy Garland em The pirate / O pirata
lmecultura 54 | maio 2011 80
Bifora se delongava em elogi-lo. Descrevia um plano no
qual na frente havia um lao de forca esperando um conde-
nado, e no fundo, dentro dele, uma Bblia com suas folhas
sendo viradas pelo vento. No mnimo, curioso. Talvez trgico.
O diretor era alemo, logo expressionista. Diz a mitologia
biafrica que era um lme Z, feito em uma semana. Foi
relanado um ano depois de sua estreia, com um corte de
vinte minutos feito pelo estdio, sinalizao de fracasso no
lanamento. No entanto, para Bifora, era o maior western
de todos os tempos.
Ele nunca se recuperou da decadncia industrial de
Hollywood. E da viso de mundo e dos valores ticos que
estavam por trs dos lmes, que eram seus e se foram com
ela. Paradoxalmente, a partir dos anos 1960, viu acesa a
chama cinemtica em autores como Resnais, Antonioni,
Rosi, Werner Herzog, Carlos Saura, Marco Ferreri. Sem falar
em Bergman, que descoberto em 1952, com Juventude, no
Festival de Punta delEste, teve Noites de circo/Giklarnas
afton exibido no Festival de Cinema de So Paulo, 1954,
criando uma nova devoo em Bifora e Khouri. Forte.
Haveria ainda muito a dizer de Rubem Bifora. Seu lado es-
curo, idiossincrtico, paranoico, seu antiesquerdismo radical,
a rivalidade persistente com Paulo Emilio e sua Cinemateca
Brasileira, o anticinemanovismo, que chegou beira da
delao pblica durante a ditadura, sua paulistice provin-
cianamente anticarioca, seu desencanto com o progresso
e a modernidade (detestava os Beatles). E tambm de sua
carreira como diretor bissexto (Ravina, O quarto, A casa das
tentaes) que se queixava de ter tido uma m relao com
os atores (Eliane Lage, Sergio Hingst, Elizabeth Gasper). Logo
ele. Ver sua relao com a poltica, a viso da esquerda como
uma utopia inatingvel, seu lado mstico. Uma vez, andando
juntos pelo Centro, incio da noite, falamos de Deus. Eu disse
que se ele existisse seria inconcebvel pelo homem. Falamos
de imanncia e transcendncia, eu menino, ele homem feito,
o prottipo do gnio incompreendido. Capaz de dizer em sua
ltima entrevista, citando Einstein e o eterno ciclo de criao e
destruio do Universo: quantas vezes a Terra e os planetas
j se zeram e se desmancharam... e se tornaram a fazer. E as
pessoas pensam na eternidade... No tem eternidade. Mas
tem. Andr Gatti me contou que certa vez, ao se referirem
a meu nome diante dele, laconicamente comentou: Minha
cria. Tive na hora uma ponta de orgulho. Anal, sua eterni-
dade estar aqui, mantendo-se vivo.
Gustavo Dahl gustavo.dahl@lmecultura.org.br
Porto das Caixas
Em cima, Barravento; embaixo, O padre e a moa.
V A NGUA RDA - I NOV A O
lmecultura 54 | maio 2011 V A NGUA RDA - I NOV A O
E agora, Jos? Apenas dez anos depois de dar incio
carreira cinematogrca com a produo do documentrio
Os carvoeiros, Jos Padilha dirigiu nada menos que o lme
brasileiro de maior pblico desde que comea em 1970 a afe-
rio convel de bilheteria no pas. Com o impressionante
fenmeno popular dos dois Tropa de elite h uma tendncia
de se classicar Padilha como um diretor voltado para pro-
dues de carter meramente mercadolgico. Mas um olhar
isento de preconceitos leva concluso de que Tropa de
elite, laureado com o Urso de Ouro em Berlim, e, sobretudo,
Tropa de elite 2 contam com muito mais do que cenas de
ao executadas com perfeio. Citando apenas uma das
qualidades dos lmes, a construo de um personagem-
marco do cinema nacional, ao mesmo tempo extremamente
realista e dotado de simbolismo de um quase super-heri
tupiniquim, o Capito Nascimento, remete a um realizador
no mnimo esmerado na dramaturgia. E ainda h o Padilha
documentarista, de Garapa e Segredos da tribo, produes
de menor oramento para o nicho de festivais, e de nibus
174, doc-sensao com entrada no circuito comercial, para
no falar de RoboCop.
Que tipo de diretor Jos Padilha?
Eu fao os lmes que sinto vontade de fazer, e penso a di-
reo de cada projeto nos seus prprios termos. A questo
: dada a vontade de se fazer um determinado lme, qual
a melhor maneira, o melhor formato, para execut-lo? Se
acho que o melhor formato para o lme um projeto grande
com cenas de ao e coisas do gnero, fao o lme assim.
Se acho que o lme pede cmera na mo, preto e branco e
som em mono, fao isto. Onde o lme vai passar, em que
festival vai entrar, e qual o pblico que vai interessar so
problemas que usualmente deixo para depois.
Por que mais de 11 milhes de pessoas
pagaram ingresso para ver Tropa de elite 2?
Acho que o sucesso de pblico no caso dos dois Tropa de
elite deriva da juno do cinema com a realidade. O cinema,
por si s, j capaz de suscitar fortes emoes. Quando um
lme tem uma boa dramaturgia e bem realizado, ele gera
empatia entre o pblico e os seus personagens, mesmo se
estes personagens forem totalmente ctcios. No caso dos dois
Tropa de elite, as emoes do cinema se juntaram s emoes
que os problemas reais na rea da segurana pblica criam na
sociedade. Conseguimos montar lmes em que a histria dos
personagens se sobreps realidade que eles representam.
Isto gerou grande interesse popular pelos lmes e pelos seus
personagens. No que tange esttica e qualidade, acho que
os dois Tropa romperam com a antiga tendncia do cinema
brasileiro de taxar de lme hollywoodiano os lmes locais
que utilizam efeitos especiais, efeitos sonoros e grandes cenas
de ao em sua narrativa. Podemos importar estes aspectos
tcnicos do cinema americano, e mesmo assim fazer lmes
tipicamente brasileiros.
Como vocs atingiram este grau de
maestria nas cenas de tiroteio e combate?
As cenas de ao, em qualquer lme, resultam da coor-
denao dos departamentos de efeitos especiais de cena
e de stunts com a direo e a fotograa. Temos grandes
diretores e fotgrafos no cinema brasileiro, mas no temos
tradio em efeitos especiais de cena e em stunts. Por isso,
importamos prossionais destes dois departamentos.
Trouxemos tcnicos com tradio no mercado americano,
gente que fez Homem de ferro, Falco negro em perigo
e Guerra nas estrelas. A juno entre estas pessoas e o
jeito brasileiro que eu e Lula temos de lmar deu origem
esttica das cenas de ao dos dois lmes.
Acho que as cenas de ao vo entrar no cinema brasileiro
para car, mas acho tambm que as faremos do nosso
jeito, sem copiar o cinema dos outros. Anal, por que de-
veramos limitar a priori o uso de qualquer recurso tcnico
disponvel no cinema, sobretudo se o nosso pblico se
interessa por eles?
ALEXANDRE LI MA
Como vocs conceberam o personagem
do Capito Nascimento?
Criei o personagem junto com o Rodrigo Pimentel, o Brulio
e o Wagner Moura. Ele surgiu de muita pesquisa, da expe-
rincia de vida do Pimentel, de algum talento por parte dos
roteiristas, e de um grande trabalho do Wagner.
Qual a sua relao prvia com este
(sub)mundo do crime e da polcia?
Vi lmes importantes sobre o submundo carioca, como
Lcio Flvio e Notcias de uma guerra particular, mas o meu
real contato com o universo da violncia carioca comeou
com a pesquisa que z para o nibus 174, evento que no
apenas caiu de paraquedas na minha vida, como caiu de
paraquedas na vida da cidade. O evento do nibus 174 foi
um marco para o debate da segurana pblica no Brasil,
porque incluiu em seu enredo quase todos os agentes
envolvidos nos problemas da segurana pblica brasilei-
ra. Do menino de rua at o governador do estado. Foi um
marco tambm na minha carreira no cinema. Me apaixonei
pela histria e por seu signicado, e isto me levou a fazer
trs lmes sobre o problema da segurana pblica.
RoboCop?
Tento fazer os lmes que gosto, seja no cinema brasi-
leiro ou no cinemo de Hollywood. Resolvi desenvolver
RoboCop, porque gosto do primeiro lme da srie e por-
que idealizo um lme que me permita abordar assuntos
que considero interessantes de um ponto de vista los-
co, no caso o problema mente-corpo. Por isso embarquei
no projeto com entusiasmo.
Faris
Os dez lmes que mais inuenciaram a concepo de
cinema de Jos Padilha.
1. Gimme me Shelter, de Albert Maysles e David Maysles
Foi o primeiro lme do Albert Maysles que eu vi.
Por causa do lme eu o procurei. E ele me ajudou bastante
com conselhos e com a distribuio de nibus 174.
2. Um dia em setembro, de Kevin Macdonald
Vi em Sundance e quei com vontade de fazer Onibus 174.
3. Minha vida de cachorro, de Lasse Hallstrm
Um lme de grande sensibilidade. Me fez amar mais o cinema.
4. Clube da luta, de David Fincher
Um lme de grande risco e muito bem realizado.
5. 2001, uma odisseia no espao, de Stanley Kubrick
A prova de que o cinema pode discutir ideias
sosticadas.
6. Apocalypse now, de Francis Ford Coppola
O maior lme independente de todos os tempos.
7. Os bons companheiros, de Martin Scorsese
Me ajudou a pensar a narrativa dos dois Tropa de elite.
8. Cidade de Deus, de Fernando Meirelles
Me colocou em contato com Brulio Mantovani e
Daniel Rezende.
9. Terra estrangeira, de Walter Salles
O primeiro lme da retomada que realmente amei.
10. Forrest Gump, de Robert Zemeckis
Um lme que parece simples, mas que resulta de um
roteiro complexo e difcil.
Tropa de elite 2 e Garapa
Da esquerda para a direita, Cidade de Deus, Clube da lura e 2001
ALEXANDRE LI MA
lmecultura 54 | maio 2011
E agora, Neville? Voc j contou que
o incio da sua carreira no foi fcil.
Voc chegou a ir para os EUA antes de
fazer seu primeiro lme, no?
Eu fui para os EUA no dia 13 de maro de 1964, antes do
golpe militar. Eu tinha 22 anos e tinha passado pelo CEC,
o Centro de Estudos Cinematogrcos de Belo Horizonte,
onde eu tinha sido membro fundador do Centro Mineiro
de Cinema Experimental. Foi l que eu conheci o cinema
de vrios pases do mundo, havia crticos como Cyro
Siqueira e Jacques do Prado Brando, alm de pessoas
da minha gerao, como Geraldo Veloso, Guar Rodrigues
e Carlos Alberto Prates Correa. Ento eu fui para os EUA
e z um curso de direo de cinema no New York City
College, mas era muito ruim: os professores davam aulas
sobre questes tcnicas, como decorar a nomenclatura
de planos mdios, gerais e em close-up. Aquilo no me
satisfazia, eu perguntei a um professor sobre os grandes
cineastas do mundo, como Eisenstein, Fellini e outros, e
ele me disse que o nico cinema realmente importante
era o de Hollywood. A eu percebi que foi no CEC que eu
aprendi tudo que eu sei sobre cinema. Enm, no nal
desse curso em Nova York eu dirigi um curta, That night
on the bowery, inspirado no Quincas Berro dgua, do
Jorge Amado. A gente lmou e montou em 16mm, mas eu
nem cheguei a ver a cpia nal. Eu voltei para o Brasil e
z um curta-metragem chamado O bem-aventurado, que
inscrevi no festival JB/Mesbla. O presidente do jri era o
Nelson Pereira dos Santos, eu ganhei um dos prmios.
Mas depois no aconteceu nada - e a, passado um tempo,
eu voltei para Nova York, onde trabalhei como garom.
Numa noite, uma pessoa me chamou para atender uma
mesa de brasileiros. Eu fui e nela estava o Nelson. Ele foi
muito gentil e me falou para nos encontrarmos no dia
seguinte. A ele me disse: Neville, eu vou fazer Fome
de amor; ia lmar na Frana, mas agora o personagem
um brasileiro que trabalha como garom em Nova York.
Voc pode organizar a lmagem para mim aqui e ser meu
assistente de direo. Foi uma felicidade muito grande.
No ano seguinte eu voltei ao Brasil e z meu primeiro
longa-metragem, Jardim de guerra. Que foi proibido e
jamais exibido. Depois z um segundo lme, Piranhas
do asfalto, que tambm foi proibido. Entre 1966 e 1977
eu z cinco lmes e todos foram proibidos, nenhum deles
passou. Isso s mudou quando eu z A dama do lotao.
Mas nunca z um plano de cinema sequer para agradar
a ditadura ou quem quer que seja. Me diziam: No faz
esse nu com luz acesa, faz no escuro, assim no pode!
Mas eu dizia que a ditadura ia passar e eu ia car. Por
causa disso, perdi muito dinheiro meu e de vrios amigos.
E onde esto as cpias dos primeiros lmes?
S sobraram Jardim de guerra e Mangue bangue, esse
numa cpia encontrada recentemente em Nova York.
Piranhas do asfalto tem uma cpia que foi para Paris e
nunca mais voltou, e os negativos foram destrudos numa
enchente que houve na Lder. No Brasil no existe poltica
de preservao de verdade. O cineasta precisa morrer
para que comecem a se preocupar em preservar os lmes.
Como voc e Hlio Oiticica se aproximaram?
O Jardim de guerra foi proibido, mas a gente fez uma
sesso secreta no laboratrio, a o Jos Celso Martinez
Correa e Wally Salomo foram e levaram o Hlio. No nal
ele veio me dizer que tinha adorado, que era a primeira
vez que ele tinha visto projeo de slides num lme. A
ns samos todos juntos, camos a noite inteira conver-
sando sobre arte, inveno, fazendo planos, sonhando...
Naquela noite mesmo eu e o Hlio combinamos de fazer
um trabalho juntos, uma unio entre o cinema e as artes
plsticas. Da veio o Quasi-cinema e as Cosmococas. Isso
a arte contempornea, quando ela sai da parede, da
pintura e da escultura e se une a outras artes. Depois ns
combinamos de fazer um lme juntos, chamado Mangue
bangue, mas o Hlio ganhou uma bolsa e foi para Nova
York, a eu dirigi o lme sozinho.
Seus lmes no amaciam - todos tm
uma dose de agressividade que
fundamental para eles. O cenrio de
hoje d espao para isso?
A realidade brutal, ento meu cinema brutal e delicado,
mas no to brutal quanto a realidade. Hoje eu tenho mais
de cem lmes rodados em digital e ainda no montados,
muitos documentrios sobre vrios assuntos, como a Daspu,
a Parada Gay e outros. Hoje as cmeras digitais permitem que
a gente possa fazer lmes como o lema do Glauber, uma
cmera na mo e uma ideia na cabea. Mas preciso ter
ideias na cabea, porque s vezes eu vejo algumas porcarias
em documentrios aplaudidos, como zooms e movimentos
de cmera malfeitos, a eu pergunto por que fazem assim e
me dizem que no tem problema porque feito em vdeo.
Mas tudo a mesma coisa, do vdeo ao cinemascope:
preciso ter linguagem cinematogrca. s vezes parece que
os jovens cineastas esto preocupados com a lei de incentivo,
o patrocnio, fazer lmes parecidos com os de Fulano ou
Beltrano, o sucesso aqui ou ali... Isso poderia ser saudvel,
mas a o cara acaba pensando s em histrias que se encaixam
nisso tudo. Se o sujeito est disposto a fazer alguma coisa no
lme para agradar o patrocinador, ou se deixar de mostrar
alguma coisa no lme porque o pblico vai reagir e a burguesia
vai car preocupada, melhor ir para a televiso fazer novelas.
Tem muito jovem fazendo lmes velhos e muito velho fazendo
lmes jovens. Mas isso no acontece s no cinema, acontece
em todas as artes atualmente.
Faris
Os dez lmes que mais inuenciaram a concepo de
cinema de Neville DAlmeida.
1. Rio Babilnia, de Neville DAlmeida
Eu nunca vi nada como Rio Babilnia. O Rio de Janeiro
sempre era lmado de forma tmida, e esse lme tem
de tudo.
2. O Encouraado Potemkin, de Sergei Eisenstein
Pela fora dramtica e pela montagem paralela do
Eisenstein. uma coisa espetacular, de tirar o flego, e
ao mesmo tempo um lme poltico.
3. Cidado Kane, de Orson Welles
um lme que me emociona muito por causa do Rosebud:
sobre a infncia perdida.
4. 8 e 1/2, de Federico Fellini
a histria de um diretor louco, em crise e sem saber o
que fazer. Acho que essa a histria de todos os diretores
de cinema conscientes.
5. A doce vida, de Federico Fellini
a vida que todo mundo queria viver naquela poca: a
Itlia dos artistas, mulheres lindas, intelectuais, festas...
O lme ingnuo, bobinho: no tem droga, no tem crime,
no tem travesti, no tem nada. Mas genial.
6. A dama do lotao, de Neville DAlmeida
um lme revolucionrio. Foi um dos primeiros lmes no
mundo a mostrar o desejo da mulher, apresentando uma
personagem que ativa no sexo.
7. Un chant damour, de Jean Genet
Acho que o maior de todos os lmes. A cena de um preso
enviando uma rosa para o outro maravilhosa.
8. Terra em transe, de Glauber Rocha
Essa mistura que o Glauber fez da alma carnavalesca com
Villa-Lobos foi uma coisa muito forte para todos ns que
queramos fazer cinema no Brasil naquela poca.
9. Ivan, o terrvel, de Sergei Eisenstein
Aqui o outro polo do Eisenstein. A cena de multido com
trinta mil gurantes ainda uma das mais impressionantes
da histria.
10. Limite, de Mrio Peixoto
O Mrio Peixoto foi um inventor, um absurdo que no
tenham dado condies para ele fazer outros lmes. Limite
poesia em forma de lme.
11. O anjo exterminador, de Luis Buuel
incrvel a capacidade do Buuel em fazer o lme todo
dentro de uma casa. O Hitchcock j tinha feito isso em
Festim diablico, mas o Buuel vai alm, porque traz
uma dimenso existencial a essa recluso. Ele trata das
frustraes das pessoas, fantstico.
O anjo exterminador,
A doce vida e
Un chant damour
lmecultura 54 | maio 2011
Observando a efervescente produo indepen-
dente brasileira recente, constatamos que certas formas
e temas recorrentes a aproximam de cinematograas
estrangeiras em voga, sobretudo a asitica, que desde me-
ados da dcada de 1980 vem trilhando os caminhos mais
inovadores e instigantes do cinema. E ainda que a rede de
inuncias que se estabelecem entre os meios artsticos
possa seguir desgnios misteriosos, apontar correntes e
determinantes que delineiam pontos de contato e polos de
inuncia prioritrios parte incontornvel de uma crtica
que deseje transcender a anlise estrita dos objetos.
No processo chamado de retomada do cinema brasileiro,
uma srie de booms teve lugar, dentre os quais o relativo
aumento da produo em meados da dcada de 1990 talvez
seja o menos relevante para o estabelecimento do quadro
de produo e circulao que notamos hoje. Anal, com o
fortalecimento da democracia ps-Collor, um novo quadro
sociocultural naturalmente haveria de se desenvolver no
pas. E, nesta conjuntura, pode-se notar um marcante
reexo de abertura para o estrangeiro, como se o Brasil se
visse subitamente diante da globalizao crescente e dei-
xasse pra trs tanto o ufanismo da tradio militarista que o
havia acompanhado durante o sculo XX, quanto o esforo
de armao brasilianista que havia pautado o grosso da
produo artstica das dcadas anteriores.
No meio cinematogrfico, isso se manifestou de di-
ferentes maneiras: nos filmes de longa-metragem, o
desejo de se equiparar em qualidade tcnica produo
comercial estrangeira levou a distores de foco, cujas
RESSACA DA
ONDA ASITICA
EM SOLO NACIONAL
P O R T A T I A N A M O N A S S A
A amiga americana
A viagem do balo vermelho
Eternamente sua
lmecultura 54 | maio 2011 86
consequncias se estendem at hoje. No campo temtico,
a gura do estrangeiro, desde Carlota Joaquina, princesa do
Brazil, passou a assombrar-nos como a grande voz da razo
superior, daquele que detm o conhecimento do mundo
perante os eternos pases em desenvolvimento. De outro
lado, no entanto, a abertura se apresentou como um desejo
genuno de abolir as fronteiras restritivas entre o nacional e
o estrangeiro, de alargar os horizontes para um intercmbio
mais livre do rano de um engajamento poltico gerador de
diversos preconceitos.
E nesse cenrio que emergem novas geraes, empenha-
das em buscar o contato com o mundo, em ir atrs do que
de mais novo e/ou estimulante se estava produzindo em
outros pases e em renovar o interesse pela crtica e pelo
pensamento: em suma, em buscar novos modelos, novos
ideais. Num primeiro momento, as escolas de cinema e a
internet certamente tiveram um papel fundamental para
a formao destas geraes. As primeiras, por serem um
espao natural de convergncia de desejos, cultivo de inu-
ncias e estmulo a trocas e intercmbios. A segunda, pela
possibilidade espantosa e reveladora de aproximar todos
os cantos do globo no apenas pela comunicao facilitada,
mas sobretudo pela troca e circulao potencializadas e
magnicadas de contedos.
Alargando um pouco o escopo, percebemos que esta experi-
ncia brasileira na verdade se insere em um processo maior
de renovaes culturais, vericvel, em maior ou menor
medida, em diversos pases perifricos de economia mais ou
menos ascendente. E, mais ainda: que a valorizao da pro-
duo cinematogrca nestes pases encontra um paralelo
fundamental justamente com o despontar dos novos cinemas
asiticos na cena internacional na dcada de 90.
Os processos que deram origem a tais inovaes estilsticas
do outro lado do mundo so prprios a cada pas, embora
guardem pontos de contato entre si. Em geral, pode-se dizer
que o que gerou esse sopro de frescor na sia foi uma cres-
cente pujana econmica destes pases no cenrio interna-
cional, um reprocessamento da inuncia dos cinemas novos
da dcada de 60 e 70, sobretudo os europeus, e mecanismos
diversos de fomento ou facilitao da produo, seja em
termos tecnolgicos ou nanceiros. Dessa forma, Hong Kong,
Taiwan, Coreia do Sul, China, Tailndia e num segundo
momento, Filipinas, Malsia e outros viram o nascimento de
geraes promovendo uma espcie de reinveno antropo-
fgica prpria: deglutiram a inuncia e a educao artstica
recebidas no exterior para reformul-las de acordo com suas
culturas locais, terminando por originar uma verdadeira
combusto nos rumos do cinema internacional.
E como o Brasil teria se conectado a essa rede, ao ponto de
estabelecer uma conuncia de formas e estilos? Retornando
questo da abertura exposta acima, constatamos que,
no que diz respeito ampliao de perspectivas artsticas e
de reexo, a renovao geracional de meados da dcada
de 90 promoveu um feliz casamento entre o af do novo e
o anseio de se sentir mais conectado ao mundo. E talvez
no fosse exagero armar que o advento das revistas ele-
trnicas de crtica de cinema nacionais tenha tido um papel
fundamental em estimular a divulgao de cinematograas
e autores antes restritos a meios bastante especcos, com
os quais o contato e a anidade costumava ser pouca, como
revistas estrangeiras especializadas e o circuito dos grandes
festivais internacionais, abrindo caminho, pouco a pouco,
para o reconhecimento de um novo horizonte comum de
preferncias e sensibilidades.
Em que pese o magma de uma srie de variantes prprias a
um perodo histrico e compartilhadas pela maioria, como
compreenso de mundo e concepes de tempo e espao,
podemos dizer que esta agitao em solo brasileiro gerou
algo bastante promissor e desaador para os nossos pa-
dres at ento. Pois o abandono da reverncia ao Cinema
Novo como norte maior, de um lado, e a negao da tradi-
o pseudoindustrial que vai da Vera Cruz Globo Filmes,
de outro, teria deixado essas novas geraes vontade
para perseguir, a exemplo dos asiticos, uma expresso
espontnea fundamentalmente ligada experincia do
contemporneo.
Se Tsai Ming-liang se dedicava solido melanclica das
metrpoles em seus planos xos de longa durao que
flertam com o enfado, Hou Hsiao-hsien se entregava a
lnguidos movimentos de cmera para captar movimentos
imperceptveis de homens destitudos de uma existncia
funcionalista; Wong Kar-wai abraava a incompletude dos
lmecultura 54 | maio 2011
relacionamentos amorosos e a fragmentao do indivduo
traduzindo-os em manipulaes delirantes da imagem, e
Apichatpong Weerasethakul mergulhava numa relao sen-
sualista com a natureza, contemplando um tempo mtico feito
de aes banais cando apenas nos realizadores orientais
de maior projeo , um universo vasto de inveno se nos
anunciava tambm.
E a produo que vemos hoje circulando na maioria dos
festivais nacionais e tambm representando o Brasil em fes-
tivais internacionais , sem dvida, derivada em grande parte
desse movimento invisvel de aproximao e contaminao
que vem se dando h mais de dez anos. Longas-metragens
como A fuga da mulher gorila, de Felipe Bragana e Marina
Meliande, Mutum, de Sandra Kogut, ou ainda O cu de Suely,
de Karim Anouz, e curtas como Sobe, Soa, de Andr Mielnik,
Handebol, de Anita Rocha da Silveira, ou A amiga americana,
de Ivo Lopes Arajo e Ricardo Pretti, so testemunhos de que
o Brasil tangencia uma espcie de world cinema inspirado
em traos marcantes da produo independente asitica.
Sensibilidade or da pele, tempos distendidos, rarefao
narrativa e relao ttil com o espao so algumas das
caractersticas que unem esses lmes nacionais a diversos
outros realizados em pases como os do Leste Europeu ou
da Amrica Latina.
Embora as caractersticas mencionadas no sejam exclusi-
vidade da produo asitica, anal so tambm vericveis
em autores ocidentais de reputao anterior, a exemplo de
Gus Van Sant e Claire Denis, no seria ilcito armar que a
nova onda asitica como um todo determinou em grande
parte as tendncias mais valorizadas do cinema de autor
internacional nos ltimos 15 ou 20 anos. E o que signica
para o cinema brasileiro trilhar esse caminho? Arejar a pro-
duo, sem dvida. Se aproximar do circuito de prestgio
internacional, inegavelmente. Mas eu acrescentaria ainda: se
afastar relativamente do desao de confrontar sua histria e
seu legado a partir do presente. Porque, diferentemente do
que ocorreu no caso dos cinemas novos do ps-guerra, em
que se pode dizer que o neorrealismo italiano e a Nouvelle
Vague francesa provocaram uma ebulio diferenciada em
cada solo nacional que tocaram, a onda asitica parece ter
dado origem mais a decalques sem muita vida do que a obras
vibrantes e autnomas como as originais.
Tatiana Monassa editora da revista eletrnica Contracampo
(www.contracampo.com.br). Formada em cinema pela UFF,
ministra cursos e ocinas, organiza e escreve para catlogos
de mostras de cinema e participa de selees de festivais.
A fuga da mulher gorila
lmecultura 54 | maio 2011 88
P O R C A R L O S A L B E R T O M A T T O S
A nova cena do cinema jovem brasileiro j tem seu primeiro
esboo de perl. Em vrios aspectos, Cinema de garagem
se assemelha a muitos dos lmes que aborda. Foi editado
com recursos prprios dos autores. Resulta de um trabalho
colaborativo entre Marcelo Ikeda e Dellani Lima, que, entre
outras coisas, dividem os ofcios de cineastas e curadores
de eventos de cinema. Como diversos realizadores jovens,
eles transitam entre polos regionais diferentes: Marcelo
mudou-se recentemente do Rio para Fortaleza, enquanto
Dellani, nascido na Paraba, formou-se no e atua h 11 anos
em Belo Horizonte.
No por acaso, Minas e ocupam lugar de destaque nesse
Inventrio afetivo sobre o jovem cinema brasileiro do
sculo XXI, como se apresenta o livro no subttulo.
Da talvez a insucincia que impede de se ver ali um ba-
lano mais completo de uma cena em que se destacam
igualmente produes do Rio, So Paulo e, sobretudo, de
Pernambuco. A seu favor, os autores dispensam a preten-
so de dar conta de tudo o que ocorreu de inovador no
perodo 2000-2010. Pretendem apenas demarcar formas
de criao e apontar picos de inventividade nessa dcada
que, signicativamente, fechou com as vitrias simblicas
do cearense Estrada para Ythaca na Mostra de Cinema
de Tiradentes e do mineiro O cu sobre os ombros no
Festival de Braslia.
Para esses observadores, carinhosos mais que crticos,
o que dene um certo tipo de cinema que pode ser cha-
mado de garagem? Isso passaria tanto pelo modelo de
produo quanto pelo processo de criao. Muitos desses
lmes, mesmo de longa metragem, so feitos sem dinheiro
de editais ou de grandes patrocinadores. Respondem a
um desejo mais de expresso que de reconhecimento.
Em alguns casos, o propsito de viver no cinema supera
o de viver do cinema, reetindo uma linha de continuida-
de entre o prossional e o vivencial. A assinatura do autor
diluda entre vrios signatrios, que ora se agrupam em
conjuntos (Alumbramento, Teia etc.), ora se permutam em
redes atravs de vrios estados.
Cinema de garagem
O cu sobre os ombros
A internet apontada como a grande responsvel por
uma nova exploso de cinelia que forma o campo de
referncias desses novos diretores. E a no temos mais
a hegemonia do Cinema Novo nem mesmo do Cinema
Marginal, mas um cardpio de admiraes que alcana o
cinema asitico, a vanguarda americana dos anos 1960 e
70 (incluindo John Cassavetes) e dolos como Pedro Costa,
Chantal Akerman e Claire Denis.
Um forte sentimento de grupo se delineia nas argumen-
taes dos autores do livro, fruto de seu franco engaja-
mento na cena que descrevem e das estirpes que elegem
como marcos comparativos. Valores como amizade
e afeto no s esto na gnese desse cinema como
repercutem nas anlises que dele se faz. Dellani Lima,
autor de projetos nas reas de msica e cinema, alm de
cineasta ultraindependente, cunhou o termo cinema de
garagem para uma mostra de lmes. Ele ocupa a primeira
parte do livro com seu estilo caudaloso e enumeratrio,
trabalhando com justaposies no narrativas que procu-
ram mapear as caractersticas do contexto em que esse
novssimo cinema oresceu. Na segunda metade, Marcelo
Ikeda, que tambm crtico e professor, se xa em lmes,
realizadores e grupos.
A gura do autor pode estar em questo, mas no deixa
de guiar as escolhas de Ikeda. De seus textos se depre-
ende a importncia, para a nova cena, dos irmos Luiz e
Ricardo Pretti, do diretor de fotograa Ivo Lopes Arajo,
de Cao Guimares, Helvcio Marins Jr., Marco Dutra, Andr
Sucato e Guto Parente, para citar os que tm mais lmes
mencionados. Muito signicativamente, Luiz Rosemberg
Filho o nico veterano a merecer um artigo especco,
por conta de seu exemplo de lucidez e resistncia.
Se de um lado a postura crtica dos autores soa cau-
telosa ao recuar sempre de hierarquias e totalizaes,
de outro assume preferncias de maneira explcita e s
vezes retumbante. Como quando Ikeda, ao analisar o
documentrio de Cao Guimares e Pablo Lobato, conclui
peremptrio: acredito que o cinema deva ser como
Acidente. Ikeda, alis, insere no livro seu sonoro mani-
festo por uma crtica que seja no um porto seguro, mas
um barco deriva, que prera a dvida s certezas de
especialistas. No entanto, suas prprias notas crticas so-
bre lmes alheios esto repletas de armaes convictas
e adjetivos policromticos.
Se a contradio pode ser tomada aqui como uma virtu-
de, isso se deve ao carter de garagem do livro em si.
Ele nasceu do desejo de oferecer, de bate-pronto, um
pacote de reaes aos lmes, muitas vezes no ato mesmo
de sua primeira exibio. Em vez de reexo distanciada,
Cinema de garagem , em sua maior parte, uma coletnea
de textos publicados em catlogos de mostras e blogs
frequentados pelos autores, que acompanham a cena
desde seu alvorecer. Da vm uma certa descontinuidade,
algumas repeties e principalmente o sentido de urgncia
que norteou aqueles artigos.
As ideias passam quentes de eventos como a Mostra de
Tiradentes, a Mostra do Filme Livre (RJ), o Cine Esquema
Novo (RS) e a Mostra Indie (BH), onde esse panorama se
formou e prosperou na ltima dcada. O livro no se limita
a apresent-lo a partir de suas razes. Quer tambm fazer
a defesa de um cinema mnimo (no dizer de Dellani) que
afete o espectador (seja ou no pelo afeto) e transborde da
vida de quem faz diretamente para o mundo de quem v.
O cinema como vocao, mais que como prosso.
Acidente e Cartas ao Cear Carlos Alberto Mattos carmattos@lmecultura.org.br
lmecultura 54 | maio 2011 90
A animao Tempestade, de Csar Cabral (2008), o do-
cumentrio Dreznica, de Anna Azevedo (2008) e a co
Engano, de Cavi Borges (2010) so trs bons exemplos de
curtas-metragens recentes que inquietam por trazerem em
si propostas de inovao criativa. Ambos se destacam pela
ousadia na linguagem e audcia na realizao, tudo regado a
bom gosto. So lmes bem-sucedidos, vamos dizer, mas que
escolheram caminhos improvveis para contar suas histrias.
Surpreendem sem sair do prprio rumo, mas desvirtuam
nossa expectativa, levam-nos a procurar outra tica.
Por exemplo, como pode ser retratada uma tempestade em
alto-mar com animao stop motion? gua, fogo e outros
elementos com movimentos de difcil controle quadro a qua-
dro so sempre um desao para quem utiliza esta tcnica
de fotografar sequencialmente bonecos em cenrios cons-
trudos em estdio. O lme de Csar Cabral, Tempestade,
consegue um resultado muito interessante usando tubos
translcidos revestidos e coloridos com iluminao. O de-
sao maior foi tentar construir o mar de uma forma que at
ento desconhecia (...) e sabia que o mar/tempestade era
fundamental para criar e dar narratividade ao lme. Lembro
que estudamos vrias possibilidades, tintas dissolvidas em
gua, celofanes, cheguei at a fazer um estudo com malhas
de correntes (...) no nal chegamos aos tubos, conta Csar.
A fotograa de Alziro Barbosa e os raios e riscos de chuva
feitos na ps-produo tambm ajudaram muito.
O curioso que este curta inspirado na obra do artista plsti-
co William Turner, pintor ingls do sculo XIX considerado um
dos precursores do Impressionismo, com obras produzidas 50
anos antes dos demais ou seja, um artista de vanguarda. O
curta foi produzido em quatro meses e trata da solido e do
amor de um marinheiro isolado no meio do oceano.
O documentrio Dreznica, de Anna Azevedo (2008), ilu-
mina na tela sonhos de pessoas que perderam a viso.
Enquanto imagens de lmes em Super-8 perambulam
errticas, vozes em primeira pessoa tentam explicar
quais so as vises internas de cegos, aquelas que eles
produzem enquanto dormem. No mnimo d para dizer
que a ideia original, mas o principal mrito dela nos
provocar experincias sensoriais desavisadamente. Ao
tentar encontrar relao entre as imagens e arriscar algu-
ma conexo com a fala dos personagens nos perdemos,
como que sonhando acordados.
J Engano produz uma narrativa a partir de dois planos-
sequncia projetados lado a lado o tempo todo, unidos
por um telefonema. O lme tem 11 minutos e percorre
ruas do Rio de Janeiro e estaes de Metr levando junto
a nossa crescente inquietao com a conversa do casal
que no se conhece. Minuto a minuto eles do a impres-
so de estarem mais perto de algo que no podemos
supor o que seja, mas que tambm pode no ser nada.
A ateno dividida entre o dilogo, o caminho de cada
um deles e as imagens divididas na tela nos prendem
ao lme sem necessidade de mais nenhum elemento
cnico. O pulo do gato vem perto do nal, quando os
personagens trocam de cmera naturalmente, cruzando-
se numa faixa de pedestres. Um passa a seguir pelo
caminho inverso do outro at se perderem por completo.
uma co, mas traz com muita verdade e originalidade
um sentimento comum nas cidades grandes.
Se o curta o terreno da experimentao por excelncia,
no deveria ser to difcil encontrar exemplos compro-
metidos com novas propostas e solues diferenciadas.
Mas foi. Adotou-se aqui como critrio escolher um de
cada gnero que pudesse ser enquadrado tambm com
o nebuloso rtulo de experimental. Os escolhidos so
obras despretensiosas, inovadoras em sua prpria rbita.
E este justamente o maior mrito delas.
Joana Nin joana.nin@lmecultura.org.br
P O R J O A N A N I N
EXPERIMENTAES DE CURTA METRAGEM
Tempestade.
direita, Engano.
Dreznica
V
A
N
G
U
A
R
D
A
I
N
O
V
A
O
lmecultura 54 | maio 2011
EQUIPAMENTOS DE LTIMA GERAO
AJUDAM A SALVAR PELCULAS DA MORTE
P O R J O A N A N I N
Enquanto o cinema em pelcula est a caminho
da extino, empresas de nalizao ao redor do mun-
do empenham-se em produzir e aperfeioar modernos
equipamentos destinados a criar novas solues para o
trato com lmes. Este paradoxo tem uma explicao, com
Hollywood e todos os outros polos produzindo cinema
digital, os fabricantes de telecines, scanners, transfer tape
to lm e outros inventos da tecnologia do mercado viram
minguar suas perspectivas de expanso. Para continuar a
vender eles precisaram adaptar o foco, lanar olhar mais
cauteloso aos acervos j existentes e se deteriorando dia
e noite por todos os cantos. As cinematecas e museus de
imagem passaram a ocupar lugar de destaque na carteira
de clientes destes fabricantes, quem sabe dando aos
lmes mais comprometidos uma nova chance.
Pena que a lgica comercial diferente daquela que rege
a preservao audiovisual. Equipamentos digitais, por
melhor que sejam, modernizam-se com grande velocida-
de. preciso muitas horas de ocupao da agenda deles
para pagar o investimento. Para complicar, as iniciativas
de restaurao de obras audiovisuais ainda so escassas
e o dinheiro, limitado. Os projetos demoram muito para
comear por causa da diculdade de captao de recursos,
no existe volume que justique novos investimentos
nesta rea, pondera Marcelo Siqueira, diretor tcnico e
supervisor de restaurao da Teleimage. Ele explica ainda
que os acervos histricos esto majoritariamente nos
espaos pblicos. Estes rgos tm acesso direto aos
governos, ento ca cada vez mais difcil para as empresas
particulares concorrerem, diz.
consenso entre preservadores que no basta copiar os
lmes para meios digitais. Para preserv-los necessrio
restaurar as pelculas, duplic-las e depois manter rigo-
roso controle de temperatura e umidade. O conceito de
preservar signica conservar o material em seu suporte
lmecultura 54 | maio 2011 92
original. Portanto, telecinar no representa preservar. Esta
ao se insere no processo e auxilia a preservao, j que
os materiais originais sero menos manipulados e estaro
acessveis em outro suporte. Uma ta pode durar 15 anos
e a pelcula, 100 quando bem conservados, explica
Dbora Butruce, coordenadora do Acervo Audiovisual do
Centro Tcnico Audiovisual CTAv/SAV/MinC. Marcelo
Siqueira concorda e acrescenta: no existe uma norma
determinando qual deveria ser o procedimento para a
digitalizao de acervos visando utilizao do dinheiro
pblico X qualidade dos servios. Muitos acervos gastam
verbas digitalizando seus materiais para MiniDV ou DVD,
mas estes formatos no tm qualidade e nem longevidade
para serem considerados preservao.
As mquinas para escaneamento ou telecinagem de
pelculas so as mesmas utilizadas para a nalizao de
lmes novos, o que d a elas um pouco mais de popula-
ridade e chances de mercado. O trabalho representa a
primeira etapa da restaurao digital, processo difundido
pelo mundo na dcada de 1990 e adotado pelo Brasil no
comeo dos anos 2000. A novidade dos dias atuais ca
por conta dos modelos mais recentes estarem sendo
produzidos com caractersticas especiais, tambm vol-
tados para pelculas em decomposio. Com isso, lmes
encurtados, entortados pela ao do tempo e pela falta de
climatizao adequada tambm podem ser escaneados,
embora a soluo no sirva para todos. Existem pelcu-
las que sequer podem ser desenroladas e, portanto, no
so possveis de passar em nenhuma mquina. Sempre
o que ir determinar o resultado de um processo digital
o estado em que a pelcula se encontra. Digitalizao no
mgica, explica Dbora.
Entre as vedetes do momento esto dois scanners de
pelculas concorrentes entre si: um americano, o Arriscan,
da Arri, que produziu o gravador de lme Arrilaser; e o
Scanity, da alem DFT, fabricante do Spirit, marca de
telecine bastante conhecida no mundo com mais de 400
unidades vendidas. Ambos partem de um mesmo princ-
pio: lmes antigos se deterioram e precisam de mquinas
capazes de transcrev-los para suportes digitais mais
Arriscan
Scanity
lmecultura 54 | maio 2011
dedignamente quanto possvel. O fabricante pensou:
o lme est morrendo, fato. Vou vender pouco scanner
para os mercados atuais. Ento vou pensar nas cinema-
tecas e arquivos, justica Joo Rodrigues, representante
comercial da alem DFT Digital Film Thecnologie.
Os dois equipamentos utilizam, entre outras qualidades
exaltadas por cada fabricante, sensores ultrassensveis,
iluminao por LED (luz fria que dispensa ltro, aumenta
a segurana do processo e d maior preciso da intensi-
dade do feixe luminoso), infravermelho para deteco de
arranhes e opes de deslizamento das pelculas sem a
necessidade de roletes dentados, ou grifas pinos que
tracionam os lmes por meio de suas perfuraes para
que eles possam avanar e serem copiados. Eles ainda
preparam o terreno para a restaurao digital, produzin-
do sugestes de parmetros para a recomposio das
imagens danicadas, o que economiza tempo na etapa
seguinte. Mas h algumas diferenas entre os modelos.
O Scanity l em tempo real qualquer tipo de udio sin-
cronizado, e tambm negativos de som. J o Arriscan no
trabalha com registros sonoros, apenas com imagens,
mas oferece a possibilidade de utilizao ou no de janela
molhada captura das imagens durante banho qumico
com lquidos especialmente desenvolvidos para preencher
riscos e arranhes dos suportes originais dos lmes.
O assunto motivo de polmica entre preservadores e
restauradores.
A Cinemateca Brasileira est realizando testes para denir
em qual scanner dever investir nos prximos meses
ainda no h nenhum destes modelos citados no Brasil.
Patrcia de Fillipi, diretora adjunta e coordenadora do la-
boratrio de restaurao da Cinemateca Brasileira, explica
que hoje a instituio tem um scanner que trabalha com
rolete dentado e simula digitalmente a janela molhada.
A janela molhada, com lquido mesmo, muito mais
precisa em todos os registros, argumenta. Segundo
Frank Mueller, representante comercial da Arri em Nova
York, a principal vantagem para a janela molhada contra
a seca a reduo do tempo de trabalho necessrio para
restaurar a imagem digitalmente. Para os lmes que
no passam pelos roletes dentados, at a chegada da
nova mquina a Cinemateca resolve as diculdades como
pode. Hoje, para salvar um negativo encolhido, ns o
passamos por uma copiadeira com janela molhada para
duplicar o mster, e depois escaneamos o novo material.
Ter este novo equipamento economizaria uma etapa do
processo, diz.
A desvantagem da janela molhada que a imagem perde
denio quando escaneada porque o prprio lquido re-
presenta um componente a mais na frente do fotograma,
como um ltro a gerar interferncias na copiagem. Pesar
na balana prs e contras nem sempre to fcil quanto
parece. H posies convictas a favor e contra o uso dos
equipamentos com janela molhada como ferramenta
principal no processo de restauro de lmes. Eu usaria
para um ou outro plano especco, ou na total falta de
alternativa. Se me chegar um pssimo negativo original,
tenho chances de apresentar um restauro 100%. Ou seja,
exatamente igual ao original quando foi lanado. Partindo
de uma cpia boa ou de uma janela molhada, no pos-
svel chegar a 70% de delidade, e com quase o dobro do
custo, assegura Fbio Fraccarolli, prossional atuante no
ramo h 10 anos que criou recentemente a Photograma,
empresa especializada exclusivamente na restaurao
digital de lmes. J o pesquisador cinematogrco Hernani
Heffner defende o recurso: sou favorvel ao uso da janela
molhada, ela economiza horas de mquina na restaurao.
Acho um passo necessrio, o resultado melhor do que
o de qualquer software que faa isso.
O lme antigo passa por scanner, ou telecine, e depois
segue para um trabalho tcnico especializado pros-
sionais e programas desenvolvidos para recuperar suas
caractersticas originais e devolv-los ao pblico. A res-
taurao digital de cinema um servio ainda caro que
proporciona devolver a visibilidade a lmes que estavam
indisponveis e que no tinham condies tcnicas de co-
mercializao. Foi o que aconteceu com O bandido da luz
vermelha (Rogrio Sganzerla, 1969) e com os desenhos do
Maurcio de Sousa, esclarece Fbio Fraccarolli. No entan-
to, ele alerta: um engano pensar que o restauro digital
lmecultura 54 | maio 2011 94
salva lmes. O restauro fotoqumico salva lmes. Patrcia
de Filippi enftica quando defende que a digitalizao
deve ser imediatamente seguida de restauro. Se a gente
comea a deixar tudo em digital, depois para transferir
para pelcula ca complicado. A plataforma digital muda
muito rpido, com o tempo no faz mais sentido utilizar
materiais digitalizados anteriormente. Se tivssemos
guardado coisas que escaneamos em 2003, hoje pode-
ramos fazer melhor por estas imagens, diz. A exceo,
segundo ela, ca por conta de materiais em estado muito
ruim, ou quando a pelcula tiver a perspectiva de sofrer
por ainda mais tempo, sem condies de esperar.
Algumas armadilhas podem se esconder atrs das ultra-
modernas mquinas e tecnologias de digitalizao, res-
taurao e preservao de pelculas. Suas possibilidades
so tantas que possvel fazer pelos lmes mais do que
eles precisam. O primeiro lme restaurado digitalmente no
Brasil foi Macunama, 1969, de Joaquim Pedro de Andrade.
O trabalho foi realizado entre 2003 e 2004 e houve diver-
gncias conceituais entre os prossionais envolvidos,
principalmente sobre o quanto de cor seria devolvido
cpia restaurada. O lme foi produzido no nal dos anos
1960 e cou conhecido na poca como exemplo do tro-
picolor, uma forma jocosa de chamar a forma brasileira
de tratar as cores naquele momento, bem diferente do
padro americano dominante. Na restaurao, o resultado
da tentativa de recompor esta opo esttica pode ter
cado um pouco exagerado. Eu no tenho lembranas
do Macunama to saturado, vi o lme na virada dos anos
1970 para os 80. Vrias outras pessoas comentaram isso.
As cores das roupas dos personagens mudam de cena
para cena, comenta Hernani Heffner. E emenda o lme
pagou um preo por causa do pioneirismo de sua restau-
rao. Hoje se voc perguntasse para quem trabalhou no
processo, provavelmente eles fariam diferente.
O mais inquietante diante de toda esta profuso de in-
formaes pensar que quando o primeiro equipamento
com estas modernas tecnologias de escaneamento pisar
em solo brasileiro a um custo que pode chegar a 1 milho
de dlares, certamente j haver outros muito mais avan-
ados em desenvolvimento ao redor do mundo. Hoje o
diferencial dispensar as grifas e roletes dentados, usar
iluminao LED, determinar padres mais precisos para
a recuperao de riscos, ler ou no bandas sonoras e
trabalhar ou no com janela molhada. No h como saber
quais sero as novidades do futuro, mas uma coisa certa:
nem que seja por questes de interesse mercadolgico
de grandes fabricantes de equipamentos do setor, os
acervos flmicos esto em foco que seja para o bem da
recuperao de nossa memria audiovisual.
Joana Nin joana.nin@lmecultura.org.br
Filmtransport
lmecultura 54 | maio 2011
P O R C A R L O S A L B E R T O M A T T O S
FILMOGRAFIA BRASILEIRA www.cinemateca.com.br
O maior e mais convel banco de dados sobre cinema
brasileiro pode ser consultado no site da Cinemateca
Brasileira, no item Bases de dados Filmografia
Brasileira. Ali o pesquisador encontra informaes b-
sicas sobre cada lme produzido no Brasil entre 1897 e
2007, incluindo longas e curtas-metragens, cinejornais e
muitos lmes domsticos.
Esse manancial resultou do Censo Cinematogrfico
Brasileiro, empreendido pela cinemateca nos primeiros
anos da dcada de 2000 com patrocnio da Petrobras.
No levantamento foram includos no somente os lmes
depositados no acervo da entidade, mas todos os que cir-
cularam e foram noticiados naqueles 110 anos de cinema.
Na cha de cada lme constam todas as fontes (cpias,
publicaes etc.) utilizadas na pesquisa.
Os dados compreendem cha tcnica completa, sinopse,
premiao, canes da trilha sonora, locaes, data e local
de lanamento, termos descritores (tags) e muitas vezes
uma miniatura do cartaz do lme. O site admite consultas
simples e algumas formas de pesquisa avanada, sendo
muito til para estudantes, curadores e estudiosos do
cinema brasileiro.
JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE www.filmesdoserro.com.br/jpa.asp
O site ocial de Joaquim Pedro de Andrade uma espcie
de padro mnimo do que deveria existir na web para
cada grande cineasta brasileiro. Oferece uma introduo
sinttica obra do diretor de Macunama, conectado como
hotsite da pgina da produtora Filmes do Serro.
A biograa de Joaquim Pedro disposta numa linha do
tempo, com signicativo material iconogrco e trechos de
artigos e depoimentos a partir dos quais se pode ter acesso
s respectivas verses integrais. Em outro item do menu
esto os textos de cinco entrevistas fundamentais de Joaquim
Pedro e mais trs depoimentos em vdeo. A lmograa rene
sinopses, chas tcnicas, fotos e trechos em movimento
de seus 14 lmes, alm de uma seleta de crticas e ensaios.
Por m, h uma extensa bibliograa sobre o cineasta,
compreendendo livros, artigos, entrevistas, textos de ca-
tlogos etc. Pena que no sejam fornecidos os links para
os materiais que j estejam disponveis na internet. Mas
isso, anal, irrelevante frente imerso que o site nos
propicia na obra e no pensamento de um dos principais
denidores do cinema moderno brasileiro.
DAVID BORDWELLS WEBSITE ON CINEMA www.davidbordwell.net
Roger Ebert o chamou de nosso melhor escritor de
cinema. Seus ensaios crticos, atentos siologia das
imagens e dos sons, frequentam tanto as bibliograas
acadmicas quanto as pginas da indstria do entrete-
nimento. David Bordwell aposentou-se da Universidade
de Wisconsin em 2004 e, desde ento, divide seu tempo
entre a preparao de livros, a frequncia a festivais e o
dia a dia do seu visitadssimo site na internet.
Em davidbordwell.net, o crtico rene muitos de seus
famosos ensaios, que combinam a anlise de lmes e fe-
nmenos cinematogrcos com uma boa dose de simples
prazer cinlo. O site utilizado tambm para expandir
seus livros, com adendos, textos contguos e observaes
que ele considerou impertinentes na verso impressa. H
espao, ainda, para artigos, resenhas de livros e um blog
mantido por Bordwell e sua esposa, Kristin Thompson.
Num dos pequenos comentrios sobre os livros de cinema que
costuma receber, Bordwell elogia a edio brasileira do seu
Figuras Traadas na Luz (Papirus Editora, 2009) por ter trans-
formado as notas de m de captulo em notas de p de pgina.
Valorizar esse detalhe que implica qualidade da leitura tpico
das observaes minuciosas do hoje ilustre blogueiro.
lmecultura 54 | maio 2011 96 ACERVO CI NEMATECA BRASI LEI RA / ARQUI VO PEDRO LI MA
Fotogramas da animao Desenho abstrato, de Roberto Miller, 1961.
A
C
E
R
V
O
C
I
N
E
M
A
T
E
C
A
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
PATROCNIO
CONFI RA CONTEDO EXCLUSIVO NO SITE
WWW.FILMECULTURA.ORG.BR
REALIZAO
LEI DE
INCENTIVO
CULTURA
CENTRO TCNICO AUDIOVISUAL
I N S T I T U T O
HERBERT LEVY
I L
H
Você também pode gostar
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5794)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)No EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (7770)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (20018)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNo EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNo EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3321)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)No EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (9054)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItNo EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3275)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionNo EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (726)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionNo EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionNota: 4 de 5 estrelas4/5 (9756)