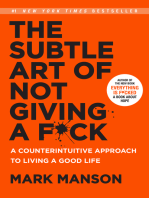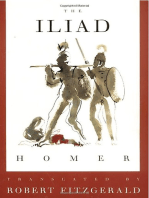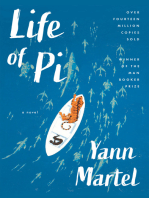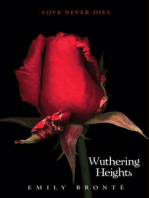Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Os Economistas - W Stanley Jevons - A Teoria Da Economia Política
Enviado por
Felipe PretelDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os Economistas - W Stanley Jevons - A Teoria Da Economia Política
Enviado por
Felipe PretelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
OS ECONOMISTAS
W. STANLEY J EVONS
A TEORIA DA
ECONOMIA POLTICA
Traduo de Cl udi a Laversvei l er de Morai s
Fundador
VI CTOR CI VI TA
(1907-1990)
Edi tora Nova Cul tural Ltda.
Copyri ght desta edi o 1996, C rcul o do Li vro Ltda.
Rua Paes Leme, 524 - 10 andar
CEP 05424-010 - So Paul o - SP.
T tul o ori gi nal : The Theory of Political Economy
Di rei tos excl usi vos sobre a Apresentao de autori a de
Andr Marques Rebel o, Edi tora Nova Cul tural Ltda., So Paul o.
Di rei tos excl usi vos sobre as tradues deste vol ume:
C rcul o do Li vro Ltda.
I mpresso e acabamento:
DONNELLEY COCHRANE GRFI CA E EDI TORA BRASI L LTDA.
DI VI SO C RCULO - FONE: (55 11) 4191-4633
I SBN 85-351-0832-7
APRESENTAO
Andr Marques Rebelo
J evons: Um dos Artfices da Revoluo Marginalista
Wi l l i am Stanl ey Jevons nasceu em Li verpool , I ngl aterra, em 1835,
e i ni ci al mente estudou f si ca e matemti ca. Entre os anos de 1854 e 1857
morou em Si dney, na Austrlia. Retornando I ngl aterra, passou a estudar
fi l osofi a e moral , posteri ormente ensi nou l gi ca e economi a em Manchester
(1863-76), per odo em que publ i cou a pri mei ra edio da presente obra.
Por fi m, foi professor de economi a na London Uni versi ty Col l ege (1876-81).
Morreu em 1882, na ci dade de Bexhi l l , I ngl aterra.
A vi da de Jevons coi nci de tempor al mente com a er a dour ada
de cr esci mento econmi co do scul o XI X, que cobr e o per odo 1840-81.
Nessa poca, a economi a mundi al apr esentou uma for te expanso,
devi do pr i nci pal mente s fer r ovi as, cujos i nvesti mentos ger avam i m-
pul sos di nmi cos de empr ego e renda, e o funci onamento di mi nu a
os custos de tr anspor te, uni fi cando mer cados e r eor gani zando espa-
ci al mente a pr oduo.
poca de Jevons, a economi a j era um campo de conheci mento
defi ni do, estando sedi mentadas as obras dos cl ssi cos Adam Smi th,
Davi d Ri cardo e John Stuart Mi l l .
Cabe ressal tar, no entanto, que no per odo em questo a comu-
ni cao entre os pensadores econmi cos no fl u a to bem quanto as
mercadori as, tanto que o concei to de uti l i dade margi nal decrescente,
cerne da revol uo margi nal i sta, fora desenvol vi do i ndependentemente
por trs autores di sti ntos: Jevons, Menger e Wal ras, sem que um ti vesse
conheci mento da obra do outro.
Jevons publ i cou sua obra em 1871, embora tenha apresentado
verses prel i mi nares de sua teori a em duas ocasi es: a pri mei ra na
forma de um comuni cado exposto na Bri ti sh Associ ati on, em Cambri dge
(1862); e como um rel atri o para a Stati sti cal Soci ety of London (1866).
Ambas sem mai ores repercusses.
Menger publ i cou seus Princpios de Economia Poltica no mesmo
5
ano da obra de Jevons, e Wal ras publ i cou Princpios de Economia Pura
em 1873. Ademai s, como pode ser vi sto no prefci o de Jevons segunda
edi o da presente obra (p.14), foi mui to di f ci l encontrar a obra de
Gossen, na qual exi ste uma forma embri onri a de uti l i dade margi nal
decrescente. Este fato i l ustra a necessi dade da compi l ao bi bl i ogrfi ca
fei ta por Jevons em apndi ce no fi nal do l i vro.
Teorias do valor e a revoluo marginalista
Preocupaes com o tema do val or sempre esti veram presentes
na obra dos precursores da economi a. Qual a expl i cao para o val or
das mercadori as, ou o que determi na a taxa de troca entre duas mer-
cadori as? Mai s concretamente, por que um qui l o de tri go trocado
por trs qui l os de arroz, ou por uma dzi a de mas?
A i nterpretao da obra de Adam Smi th, A Riqueza das Naes,
gerou duas expl i caes para a pergunta aci ma, ou seja, podem-se en-
contrar nesta obra duas teori as do val or: val or trabal ho e val or de uso
ou uti l i dade.
A teori a do val or trabal ho di z que a taxa de troca entre duas
mercadori as expl i cada pel a razo entre as quanti dades de trabal ho
i ncorporadas em cada uma del as. Neste senti do, tal teori a consti tui
uma i nvesti gao acerca dos custos de produo, revel ando as l i gaes
entre preos, produo e di stri bui o. Esta l i nha de pensamento se-
gui da por Davi d Ri cardo e, posteri ormente, por Karl Marx.
Por outro l ado, a teori a do val or de uso, que Smi th restri ngi u
expl i cao dos preos de mercado (o que hoje chamar amos de preos
no curto prazo), enfocava os aspectos da demanda e escassez, com base
na subjeti vi dade do agente econmi co. Este cami nho foi segui do pri n-
ci pal mente por Seni or, Say e Bentham.
Como contra-exempl o para a teori a do val or de uso, o prpri o Smi th
apresenta o paradoxo da gua e do di amante: se o que defi ne o val or de
troca das mercadori as seu val or de uso, como se expl i car a rel ao entre
a gua e o di amante? A pri mei ra um dos bens mais tei s humanidade,
enquanto o segundo tem uso extremamente restri to, e, no entanto, o di a-
mante possui enorme val or de troca e a gua nenhum.
A chave deste eni gma est no concei to que Jevons chamou de grau
fi nal de utilidade, o que hoje denomi namos uti l i dade margi nal. A re-
vol uo margi nal i sta foi a retomada da teori a do val or uti l i dade, com o
emprego de concei tos matemti cos de cl cul o di ferenci al . Para mel hor
entendimento, reconstruiremos a argumentao de Jevons, o que torna
necessri o o desenvol vi mento de al guns concei tos do uni verso do autor.
Mtodo e matemtica na economia
Uma das passagens mai s ci tadas de Jevons, no sem r azo,
um tr echo do pr efci o segunda edi o, no qual el e di z que o
OS ECONOMISTAS
6
i ntui to de sua obra a proposi o da mecni ca do i nteresse i ndi vi dual
e da uti l i dade (p. 7).
Com o termo mecni ca, o autor est fazendo uma al uso aos
progressos obti dos na f si ca a parti r da apl i cao do cl cul o newtoni ano.
O objeti vo de Jevons ser ento o de apl i car o cl cul o di ferenci al para
extrai r expl i caes para a ci nci a econmi ca. Seu pensamento a respei to
do uso deste mtodo em economi a pode ser faci l mente vi sto no seu
comentri o obra de Cournot:
...apresenta um bel o exempl o de raci oc ni o matemti co, no
qual o conheci mento aparentemente extra do da i gnornci a.
Na real i dade, o mtodo consi ste em assumi r certas condi es si m-
pl es das funes enquanto conformes com a experi nci a e ento
revel ar, medi ante a i nfernci a si mbl i ca, os resul tados i mpl ci tos
dessas condi es. (p. 13.)
Neste el ogi o a Cournot, pode ser entendi do todo o mtodo da
obra de Jevons, mtodo este que ser defi ni ti vamente i ncorporado
economi a neocl ssi ca, preval ecendo at hoje na chamada corrente pri n-
ci pal (mainstream) do pensamento econmi co.
1
Jevons al erta para os defei tos i nerentes gramti ca e ao l xi co
para expl i car rel aes compl i cadas, concl ui ndo:
Os s mbol os dos l i vros matemti cos no di ferem em essnci a
da l i nguagem; formam um perfei to si stema de l i nguagem, adap-
tados de concei tos e rel aes que preci samos expressar. No cons-
ti tuem o modo de raci oc ni o que corpori fi cam; apenas faci l i tam
sua exposi o e compreenso. Se, portanto, em Economi a, temos
que l i dar com quanti dades e suas compl i cadas rel aes, devemos
raci oci nar matemati camente; no tornamos a ci nci a menos ma-
temti ca ao evi tar os s mbol os de l gebra si mpl esmente nos
recusamos a empregar, numa ci nci a mui to i mperfei ta, que ne-
cessi ta de todo ti po de aux l i o, aquel e aparato de si nai s adequados
comprovadamente i ndi spensvei s em outras ci nci as. (p. 31.)
Ou seja, o autor v a matemti ca no como um fi m em si mesma,
mas apenas como uma l i nguagem mai s preci sa, portanto superi or, e
que deve ser tambm uti l i zada na economi a.
A teoria da utilidade
Jevons parte dos concei tos uti l i tari stas desenvol vi dos por Bent-
ham, entre outros autores, segundo os quai s toda ao dos i ndi v duos
precedi da de uma anl i se prazer versus sofri mento. Se a ao i mpl i car
J EVONS
7
1 Ver, por exempl o, Fri edman, M. (1953), The Methodol ogy of Posi ti ve Economi cs, i n Essays
in Positive Economics, Chi cago, The Uni versi ty of Chi cago Press.
mai s prazer que sofri mento, ento ter-se- boa vontade do i ndi v duo
na consecuo da ao; caso contrri o, a pessoa ter m di sposi o
para el a. Ou seja, as pessoas agem de forma tal a obter o mxi mo de
prazer com o m ni mo de sofri mento.
As di menses do prazer seri am i ntensi dade e durao. Manti da
constante a segunda, uma el evao da i ntensi dade aumentari a o prazer.
E se a i ntensi dade for manti da constante, uma ampl i ao da durao
aumentari a o prazer.
2
O sofri mento seri a o oposto matemti co do prazer
e teri a tambm as mesmas di menses.
Assi m, concl ui :
As partes mai s i mportantes da teori a gi raro em torno da
i gual dade preci sa, i ndependentemente do si nal , do prazer deri -
vado da posse de um objeto e do sofri mento com que al gum se
depara na sua aqui si o. (p. 43.)
Para Jevons, a uti l i dade a qual i dade de um objeto, servi o ou
ao que o torna capaz de dar prazer aos i ndi v duos, ou afastar o
sofri mento. Esta qual i dade ci rcunstanci al , i sto , no i nerente aos
objetos. Al m di sso, no proporci onal quanti dade di spon vel , poi s
vari a de acordo com a di sponi bi l i dade prvi a dos bens. De forma si -
metri camente oposta, a desuti l i dade defi ni da como qual i dade de cau-
sar sofri mento.
Se o i ndi v duo deve comparar uti l i dade e desuti l i dade dos objetos,
servi os ou aes, a pri mei ra dvi da que surge rel ati va uni dade
de medi da. Jevons ti nha consci nci a deste probl ema, mas argumenta
que no necessri o ter-se a medi da da uti l i dade para trabal h-l a
teori camente. Lanando mo de um exempl o da f si ca, l embra que mui -
tos progressos teri cos a respei to da corrente el tri ca foram fei tos antes
mesmo de se poder medi r correntes e tenso el tri cas. Caso os f si cos
ti vessem esperado a possi bi l i dade de medi o exata para depoi s teo-
ri zar, provavel mente no se teri a chegado a l ugar al gum.
Novamente, para defender sua teori a Jevons se uti l i za de outro
exempl o f si co, argumentando que assi m como a gravi dade pode ser
medi da a parti r de seu efei to sobre o movi mento de um pndul o, pode-se
esti mar a i gual dade e desi gual dade dos senti mentos de uti l i dade e
desuti l i dade a parti r das deci ses da mente humana.
O probl ema da mensurao da uti l i dade permanecer sem reso-
l uo at meados do presente scul o, quando da publ i cao de Valor
OS ECONOMISTAS
8
2 i nteressante notar a estrutura matemti ca desta argumentao. O prazer seri a como
uma funo: P = f (i , d), onde P = prazer
i = i ntensi dade
d = durao
e as deri vadas parci ai s em rel ao aos doi s argumentos teri am si nai s posi ti vos.
e Capital de Hi cks, onde abandonada a abordagem cardi nal da uti -
l i dade e proposta a abordagem ordi nal .
Utilidade marginal decrescente
A Lei da Vari ao da Uti l i dade enunci ada por Jevons nada mai s
que a defi ni o do que os economi stas chamam atual mente de uma
funo uti l i dade cncava. Ou seja, a uti l i dade uma funo crescente
da quanti dade consumi da de um determi nado bem: medi da que se
aumenta a quanti dade do bem, aumenta-se a uti l i dade. Porm, este
acrsci mo cada vez menor. A este acrsci mo decl i nante o autor chamou
grau fi nal de uti l i dade, que seri a o ganho de uti l i dade associ ado ao
i ncremento da l ti ma poro consumi da do bem.
Jevons i l ustra como o pri nc pi o da i gual dade margi nal funci ona
para o caso de um ni co bem com doi s usos di sti ntos. A maestri a da
argumentao resi de no fato de apresentar o concei to atravs de um
ni co bem, o que o torna cri stal i no.
I magi ne um bem com doi s usos di sti ntos: uso 1 e uso 2. Suponha
que a uti l i dade margi nal do uso 1 seja superi or do uso 2. Ento, se
di mi nui rmos o uso 2 e aumentarmos o uso 1, teremos um ganho na
uti l i dade total .
Ora, se exi ste possi bi l i dade de aumento de uti l i dade total , esta
ser aprovei tada, poi s as pessoas desejam a mxi ma uti l i dade. Sendo
a uti l i dade margi nal decrescente com a quanti dade, medi da que se
di mi nui a quanti dade al ocada no uso 2 e aumenta-se a do uso 1, a
uti l i dade margi nal do uso 2 aumentar e a do uso 1 di mi nui r, at
que se ati nja a i gual dade entre ambas. Neste ponto, acaba a possi bi -
l i dade de ganhos de uti l i dade advi ndos da real ocao do bem nos di -
ferentes usos.
Veja a si tuao exposta por Jevons:
Numa ci dade si ti ada, revol uci ona-se o emprego dos arti gos.
Coi sas de grande uti l i dade so usadas sem d para propsi tos
i nusi tados. Em Pari s, um grande nmero de caval os foi comi do,
no porque el es fossem i ntei s para outros fi ns, mas porque eram
mai s necessri os como al i mento. Como efei to, determi nada poro
dos caval os teve de ser manti da como mei o necessri o de l oco-
moo, de forma que a equao da uti l i dade nunca dei xou de se
apl i car i ntei ramente. (p. 57.)
Em si tuaes de normal i dade, a uti l i dade margi nal de se comer
carne eqi na mui to menor do que a desuti l i dade de se perder um
caval o como mei o de l ocomoo. Em poca de guerra, como o al i mento
escasso, a uti l i dade margi nal da carne se el eva a ponto de ser van-
tajoso abri r mo de parte dos mei os de l ocomoo para sati sfazer um
necessi dade pri mri a. Abre-se mo dos caval os at o ponto em que a
J EVONS
9
perda de uti l i dade associ ada di mi nui o de mei os de transporte se
i gual a ao ganho adi ci onal de uti l i dade do aumento de comi da.
Uma vez descri to este pri nc pi o, a general i zao para o caso de
doi s ou mai s bens di sti ntos automti ca, e Jevons o far na teori a
da troca.
Teoria da troca
Jevons enunci a o pri nc pi o da teori a da troca: A rel ao de troca
de doi s bens quai squer ser correspondente rel ao dos graus fi nai s
de uti l i dade das quanti dades dos bens di spon vei s para consumo depoi s
que a troca se compl eta. Em outras pal avras, um i ndi v duo trocar
suas mercadori as at o ponto em que as uti l i dades margi nai s do con-
sumo de cada mercadori a se i gual em. Caso contrri o, el e poder abri r
mo da mercadori a que tem uti l i dade margi nal menor e troc-l a por
uma que l he confere mai or uti l i dade adi ci onal , de tal forma a aumentar
sua uti l i dade total . Ao propor a equal i zao da uti l i dade margi nal do
uso de todos os bens, o si stema de preos passa a ter o papel funda-
mental na al ocao dos recursos.
Compr eendi do o mecani smo da tr oca, podemos r etomar o pa-
r adoxo gua versus di amante, exami nando-o agor a l uz desta teor i a.
Nas comuni dades onde exi ste abasteci mento sufi ci ente, a gua pos-
sui val or de tr oca nul o, de tal for ma que sua uti l i dade mar gi nal ,
ou seja, o aumento na uti l i dade total devi do ao aumento de um
pequena por o de gua quase nul o. J o di amante, devi do sua
escassez, possui uti l i dade mar gi nal al ta, e, por tanto, possui um gr an-
de val or de tr oca.
Com esta exposi o, est apresentada a mecni ca das deci ses
i ndi vi duai s, ou seja, est formul ada a regra geral que Jevons se pro-
pusera. Nos tpi cos segui ntes, veremos como esta regra geral expl i ca
outros aspectos da real i dade econmi ca, a saber, o trabal ho, a renda
e o capi tal .
* * *
Trabalho
A apl i cao dos concei tos margi nai s ao trabal ho nos di z que a
uti l i dade total do trabal ho crescente, porm este cresci mento se d
a taxas decrescentes. Por outro l ado, a desuti l i dade margi nal do tra-
bal ho, embora decrescente para as pri mei ras horas trabal hadas, ser
crescente medi da que a jornada se estender demasi adamente. O i n-
di v duo i r trabal har at o ponto em que a uti l i dade margi nal do pro-
duto do trabal ho (aquel e ganho de uti l i dade associ ada l ti ma uni dade
e tempo trabal hado) for i gual em mdul o desuti l i dade margi nal do
trabal ho desta mesma uni dade de tempo. O que l eva Jevons a afi rmar:
OS ECONOMISTAS
10
Deve-se consi derar que um homem ganha durante todas as
horas de trabal ho um excesso de uti l i dade; o que el e produz no
deve ser consi derado apenas o equi val ente exato do trabal ho que
el e faz por i sso, poi s nesse caso seri a uma questo de i ndi ferena
se el e trabal ha ou no. Enquanto ganha, el e trabal ha, e quando
pra de ganhar, cessa de trabal har. (p. 113.)
Renda da terra
Em rel ao renda da terra, a teori a de Jevons no apresenta
novi dades; como di z o prpri o autor, a mesma se assemel ha com a
teori a que vi nha sendo desenvol vi da anteri ormente pel os teri cos i n-
gl eses havi a quase um scul o. Porm, justamente este o ponto forte:
mostrar a j tradi ci onal renda da terra, a parti r dos pri nc pi os gerai s
del i neados anteri ormente.
Manti do fi xo o estoque de terra, quando se aumenta o nmero
de trabal hadores nessa terra, aumenta-se a produo, porm este acrs-
ci mo se d a taxas decrescentes, ou seja, a produti vi dade margi nal da
terra decrescente. O l ti mo acrsci mo o menos produti vo e somente
ser uti l i zado se o ganho de produo adi ci onal for sufi ci ente para
cobri r os custos (neste caso si mpl i fi cado, somente o sal ri o). Desta for-
ma, toda produo anteri or gerou al gum excedente, que justamente
a renda da terra.
Capital e juros
Jevons i ni ci al mente defi ne o capi tal como o conjunto de bens
uti l i zados para faci l i tar a produo, poi s possi bi l i ta aos agentes eco-
nmi cos despenderem trabal ho anteci padamente. Novamente, defi ne
uma condi o margi nal , na qual os agentes apl i caro recursos em i n-
vesti mentos at o ponto em que o acrsci mo de produo (benef ci o
margi nal do capi tal ) for i gual ao custo deste capi tal adi ci onal .
Neste senti do, o autor defi ne a i gual dade entre o benef ci o mar-
gi nal do capi tal e a taxa de juros. i mportante ressal tar que a taxa
de juros i gual ao ganho de produo associ ado l ti ma uni dade de
capi tal uti l i zada na produo, e no ao retorno total do capi tal . Assi m,
pa ses com pouco capi tal tero um benef ci o margi nal do capi tal mai s
el evado e, portanto, apresentaro taxas de juros superi ores.
Comentrio final
A Teoria da Economia Poltica, de Jevons, consti tui um di vi sor
de guas na hi stri a do pensamento econmi co. A expresso revol uo
margi nal i sta no entrou na hi stri a gratui tamente; na verdade, a obra
de Jevons foi o prennci o da economi a do scul o XX, nas pal avras de
Keynes, ci tado por Dobb (1977):
J EVONS
11
A apti do de Jevons para expor as suas i di as, para as ati rar
para o mundo, granjeou-l he a sua grande posi o pessoal e a sua
i ncontestada capaci dade para esti mul ar outras mentes. Cada uma
das contri bui es de Jevons para a economi a foi como que um
panfl eto. (p. 239.)
Andr Marques Rebelo
Andr Marques Rebelo econo-
mi sta formado pel a FEA-USP, mes-
trando em economi a na FGV-SP e
professor de Teori a Econmi ca na
Uni versi dade Mackenzi e, So Paul o.
OS ECONOMISTAS
12
BIBLIOGRAFIA
AMOROSO, L. (1947) I ntroduzi one in Teoria dellEconomia Politica
ed altri scritti economici. Tori no, Uni one Ti pografi ca Edi tri ce
Tori nese.
DOBB, M. (1977) Teorias do Valor e Distribuio desde Adam Smith.
Li sboa, Presena.
HUNT, E. K. (1984) Histria do Pensamento Econmico Uma Pers-
pectiva Crtica. Ri o de Janei ro, Campus.
JEVONS, WI LLI AM STANLEY. (1987) A Teoria da Economia Poltica.
So Paul o, Nova Cul tural , 2a. Edi o.
SCHUMPETER, J. A. (1968) Fundamentos do Pensamento Econmico.
Ri o de Janei ro, Zahar.
SMI TH, A. (1985) A Riqueza das Naes. So Paul o, Nova Cul tural ,
2a. Edi o.
13
PREFCIO DA PRIMEIRA EDIO
(1871)
Di fi ci l mente poder o contedo das pgi nas segui ntes al canar
acei tao i medi ata daquel es que jul gam ter j a ci nci a da Economi a
Pol ti ca ati ngi do uma for ma quase per fei ta. Acr edi to ser ger al a
suposi o de que Adam Smi th estabel eceu os fundamentos dessa
ci nci a; que Mal thus, Ander son e Seni or acr escentar am i mpor tantes
teor i as; que Ri car do si stemati zou o conjunto; e, fi nal mente, que J.
S. Mi l l compl etou os detal hes e desenvol veu pl enamente esse r amo
do conheci mento. Par ece que Mi l l adotava uma opi ni o semel hante,
poi s afi r mava cl ar amente que no havi a nada nas Lei s do Val or
que ti vesse fi cado por escl ar ecer , por el e, ou por qual quer futur o
autor . Sem dvi da, di f ci l dei xar de supor que opi ni es acei tas e
r ati fi cadas por homens to emi nentes tenham gr ande pr obabi l i dade
em seu favor . Contudo, nas outr as ci nci as no se per mi ti u que
esse peso da autor i dade r estr i ngi sse o l i vr e exame de novas i di as
e teor i as; e, com fr eqnci a, fi cou pr ovado que, no fi nal das contas,
a autor i dade estava no l ado er r ado.
Mui tas partes da doutri na econmi ca me parecem to ci ent fi cas
na forma quanto esto em conformi dade com os fatos. Menci onari a
especi al mente as Teori as da Popul ao e da Renda, sendo esta l ti ma
uma teori a de carter emi nentemente matemti co, que parece fornecer
a chave para a manei ra correta de tratar o conjunto da ci nci a. Ti vesse
Mi l l se contentado em afi rmar a verdade i nquesti onvel das Lei s da
Oferta e da Procura e eu teri a concordado com el e. Como esto apoi adas
em fatos, essas l ei s no podem ser abal adas por nenhuma teori a; mas
no segue, por i sso, que nosso concei to de Val or perfei to e defi ni ti vo.
Outras doutri nas geral mente acei tas tm-me pareci do sempre i l usri as,
especi al mente a assi m chamada Teori a do Fundo de Sal ri os. Essa
teori a aparenta fornecer uma sol uo para o pri nci pal probl ema da
ci nci a determi nar os sal ri os do trabal ho; contudo, num exame
mai s mi nuci oso descobre-se que sua concl uso no passa de mero tru s-
mo, qual seja, que a taxa mdi a de sal ri o encontrada pel a di vi so
15
do montante total desti nado ao pagamento dos sal ri os pel o nmero
daquel es entre os quai s esse montante di vi di do. Al gumas outras pre-
tensas concl uses da ci nci a tm carter menos i nofensi vo, como, por
exempl o, aquel as concernentes vantagem da troca (ver a seo sobre
O Ganho pel a Troca, p. 95).
Neste tr abal ho, tentei tr atar a Economi a como um cl cul o do
pr azer e do sofr i mento,
3
e esbocei , quase sem consi der ar opi ni es
anter i or es, a for ma que a ci nci a, tal qual el a me par ece, deve enfi m
tomar . H mui to penso que el a, por l i dar per manentemente com
quanti dades, deve ser uma ci nci a matemti ca no contedo, se no
na l i nguagem. Pr ocur ei chegar a concei tos quanti tati vos pr eci sos
sobr e Uti l i dade, Val or , Tr abal ho, Capi tal etc., e com fr eqnci a me
sur pr eendi ao descobr i r quo cl ar amente al guns dos concei tos mai s
di f cei s, especi al mente o concei to mai s i ntr i ncado, o de Valor, ad-
mi tem anl i se e expr esso matemti cas. A Teor i a da Economi a, tr a-
tada dessa for ma, suger e uma estr ei ta anal ogi a com a ci nci a da
Mecni ca Estti ca, e ver i fi ca-se que as Lei s de Tr oca se assemel ham
s Lei s do Equi l br i o de uma al avanca, deter mi nadas sob o pr i nc pi o
das vel oci dades vi r tuai s. A natur eza da Ri queza e do Val or expl i ca-se
por mei o da consi der ao de mi nscul as quanti dades de pr azer e
sofr i mento, assi m como a Teor i a da Estti ca fei ta de for ma a
sustentar -se na i gual dade de i ndefi ni damente pequenas quanti dades
de ener gi a. Mas cr ei o que podem ai nda ser desenvol vi dos outr os
r amos di nmi cos da ci nci a da Economi a sobr e os quai s no teci ,
em absol uto, nenhuma consi der ao.
Lei tores de matemti ca podem tal vez pensar que expl i quei com
desnecessri a prol i xi dade al guns concei tos el ementares, como, por
exempl o, aquel e do Grau de Uti l i dade. Mas ouso atri bui r as atuai s
di fi cul dades e i mperfei es da ci nci a negl i gnci a dos economi stas
em obter concei tos cl aros e preci sos de quanti dade e grau de uti l i dade;
e de caso pensado eu me deti ve exausti vamente sobre esse ponto. Outros
l ei tores pensaro, tal vez, que a i ntroduo ocasi onal de s mbol os ma-
temti cos obscurece o assunto em vez de escl arec-l o. Mas devo pedi r
a ateno de todos os l ei tores para o segui nte fato: vi sto que os ma-
temti cos e os economi stas pol ti cos formaram, at o momento, duas
categori as por assi m di zer di ferentes de pessoas, torna-se extrema-
mente di f ci l preparar um trabal ho matemti co em Economi a acerca
do qual ambas as categori as de l ei tores no tenham nenhum ti po de
recl amao.
OS ECONOMISTAS
16
3 A pal avra i ngl esa pain pode ser traduzi da como dor, sofri mento, pesar, desgosto, pena.
Preferi mos traduzi -l a, no contexto de Jevons, por sofrimento, porque, al m de expressar
oposi o a prazer, tem acepo mai s abrangente do que dor, por exempl o, permi ti ndo i ncl ui r
pequenas vari aes subjeti vas que no passam de desconforto, i ncmodo, esforo desagra-
dvel etc. Dessa manei ra, o termo sofri mento mai s adequado concepo margi nal i sta,
que opera preci samente com as vari aes, por menores que sejam. (N. do E.)
mui to provvel que eu tenha i ncorri do em erros de mai or ou
menor i mportnci a, os quai s gostari a que fossem apontados; e quero
adi antar que a pri nci pal di fi cul dade de toda a teori a aparece na seo
do cap tul o I V sobre a Rel ao de Troca, comeando na p. 91 (aquel a
sobre a Lei da I ndi ferena, p. 72 desta edi o). Um excel ente mate-
mti co, o meu ami go Prof. Barkl er, do Owens Col l ege, teve a genti l eza
de exami nar cui dadosamente al gumas das provas ti pogrfi cas; mas el e
no deve, por i sso, ser consi derado responsvel pel a exati do de ne-
nhuma parte deste trabal ho.
Mi nha enumerao das tentati vas anteri ores de apl i car l i ngua-
gem matemti ca Economi a Pol ti ca no pretende ser compl eta nem
mesmo em rel ao aos autores i ngl eses; e confesso que esqueci de men-
ci onar um notvel opscul o, Sobre a Moeda, publ i cado anoni mamente
em 1840 (Londres, Charl es Kni ght and Co.), no qual se empreende
uma anl i se matemti ca das operaes do Mercado de Moeda. O mtodo
de tratamento no di fere do adotado pel o Dr. Whewel l , a cujo ensai o
se faz uma refernci a; mas so i ntroduzi das pequenas ou ocasi onal -
mente i nfi ni tesi mai s di ferenas. No formei uma opi ni o sobre o xi to
dessa teori a anni ma; mas o tema um dos que devem ser resol vi dos
medi ante a anl i se matemti ca. Garni er, em seu tratado sobre Eco-
nomi a Pol ti ca, menci ona vri os matemti cos do conti nente que escre-
veram sobre o tema da Economi a Pol ti ca; mas eu no fui nem mesmo
capaz de descobri r os t tul os de seus ensai os.
J EVONS
17
PREFCIO DA SEGUNDA EDIO
(1879)
Ao preparar esta segunda edi o, al gumas novas sees foram
acrescentadas, das quai s as mai s i mportantes so aquel as que tratam
das dimenses das quantidades econmicas (p. 57-61, 69, 114, 142-143).
O tema, natural mente, serve de base para todo pensamento correto
sobre ci nci a econmi ca. No pode causar surpresa o fato de i nmeros
debates termi narem em l ogomaqui a, vi sto ser ai nda i ncerto quantos
si gni fi cados tem a pal avra Valor, ou mesmo que ti po de quanti dade
a Utilidade. I magi ne a si tuao i ntel ectual dos astrnomos se no pu-
dessem chegar a um acordo sobre o segui nte: Ascenso reta o nome
de um corpo cel este ou de uma fora ou de uma magni tude angul ar.
Contudo, i sso no seri a pi or do que no consegui r determi nar com
exati do se por val or queremos expri mi r uma rel ao numri ca ou um
estado mental ou um vol ume de mercadori as. John Stuart Mi l l reco-
nhece expl i ci tamente
4
que o val or de um objeto si gni fi ca a quanti dade
de al gum outro objeto, ou de objetos em geral , pel os quai s el e pode
ser trocado. Natural mente, poder-se-i a expl i car que Mi l l no tenci onou
di zer i sso; mas, da forma em que col ocada, a preposi o transforma
o val or numa coi sa, e to fi l osfi ca quanto al gum di zer: Ascenso
reta si gni fi ca o pl aneta Marte, ou os pl anetas em geral .
Essas sees sobre as di menses das quanti dades econmi cas me
causaram grande perpl exi dade, especi al mente no tocante rel ao en-
tre uti l i dade e tempo (p. 58-60). A teori a do Capi tal e do Juro tambm
envol ve al gumas suti l ezas. Espero que, de manei ra geral , mi nhas res-
postas para as questes l evantadas sejam consi deradas corretas; mas,
onde no resol vem uma questo, s vezes podero sugeri r uma sol uo
que outros autores ho de desenvol ver. Um correspondente, Capi to
Charl es Chri sti e, R. E., a quem mostrei essas sees aps terem si do
19
4 Principles of Political Economy. Li vro Tercei ro. Cap. VI , seo 1. Essa defi ni o est no
i n ci o de um sumri o cui dadosamente preparado sobre os pri nc pi os da teori a do val or.
i mpressas, objeta com sufi ci ente justeza que mercadori a no deveri a
ter si do representada por M, ou Massa, mas por al gum s mbol o, por
exempl o Q, o qual i ncl ui ri a quanti dade de espao, ou de tempo ou
fora, de fato qual quer ti po de quanti dade. Servi os freqentemente
envol vem tempo ou fora apl i cada ou espao percorri do, assi m como
massa. Concordo i ntei ramente com essa objeo e devo pedi r ao l ei tor
que i nterprete M em senti do mai s ampl o do que l he dado na p. 58,
ou, de outro modo, que mental mente substi tua M por outro s mbol o.
Ao tratar das di menses dos juros, i ndi co o fato curi oso de que um
matemti co to perspi caz como o fal eci do Deo Peacock perdeu-se total -
mente no tema (p. 149-150). Outras sees novas so aquel as nas quai s
incl uo a noo de val or negati vo e de val or aproxi madamente nul o, mos-
trando que o val or negati vo pode ser representado sob a forma das equaes
de troca, sem nenhuma modi fi cao i mportante. Lei tores das obras de
Macl eod esto, sem dvi da, fami l i ari zados com a noo de val or negati vo;
contudo, jul guei oportuno mostrar quo i mportante el e real mente e
quo natural mente se enquadra nos pri nc pi os da teori a. Devo chamar a
ateno tambm para a seo (p. 77-79) na qual i l ustro o carter mate-
mti co das equaes de troca ao esboar uma anal ogi a preci sa entre estas
e as equaes apl i cvei s ao equi l bri o da al avanca.
Al guns correspondentes, especi al mente Herr Harol d Wester-
gaard, de Copenhague, ressal taram que uma pequena mani pul ao
dos s mbol os, de acordo com as regras el ementares do Cl cul o Di fe-
renci al , forneceri a mui tas vezes os resul tados que di scuti exausti va-
mente. Todo probl ema consi ste na determi nao de mxi mos e m ni mos,
as condi es matemti cas to fami l i ares aos matemti cos. Todavi a,
mesmo se eu fosse capaz de apresentar o tema num esti l o conci so e
si mbl i co, adequado ao gosto de um experi mentado matemti co, pre-
feri ri a, num ensai o desse ti po, obter meus resul tados medi ante uma
seqnci a de argumentos que no so apenas fundamental mente ver-
dadei ros, mas tambm cl aros e convi ncentes para mui tos l ei tores que,
como eu, no so matemti cos erudi tos e profi ssi onai s. Em suma, no
escrevo para matemti cos, nem tampouco como matemti co, mas como
um economi sta que deseja convencer outros economi stas de que sua
ci nci a s pode ser tratada de forma sati sfatri a numa base expl i ci ta-
mente matemti ca. Quando os matemti cos reconhecerem o tema como
al go com que podem provei tosamente l i dar, dei x-l o-ei com sati sfao
em suas mos. Em mai s de uma passagem, expri mi um pressenti mento
de que toda a teori a poderi a, provavel mente, ser expressa de manei ra
mai s geral , tomando o trabal ho como uma uti l i dade negati va, col ocan-
do-o assi m sob as equaes ordi nri as de troca. Mas , de fato, uma
tarefa i ntermi nvel para um economi sta a de desenvol ver e aperfei oar
sua ci nci a, e achei necessri o reedi tar este ensai o, como di zem os
bi bl i opol as, com todas as fal has. Entretanto, revi sei cui dadosamente
cada pgi na do l i vro, e tenho moti vos para esperar que raro ou nenhum
OS ECONOMISTAS
20
erro si gni fi cati vo remanesa nas teori as expostas. As fal has esto na
forma, antes que no contedo.
Entre as al teraes secundri as, devo menci onar a substi tui o
do nome Economi a Pol ti ca pel o termo si mpl es e conveni ente de Eco-
nomia. No posso dei xar de pensar que seri a bom desfazer-se, o mai s
rapi damente poss vel , do obsol eto nome composto e probl emti co de
nossa ci nci a. Vri os autores tentaram i ntroduzi r nomes compl etamen-
te novos, tai s como Pl utol ogi a, Cremat sti ca, Catal at sti ca etc. Mas por
que preci sar amos de al go mel hor que Economi a? Esse termo, al m de
ser mai s fami l i ar e estar mai s di retamente rel aci onado com o termo
anti go, perfei tamente anl ogo na forma a Matemtica, tica, Esttica,
5
e aos nomes de vri os outros ramos do conheci mento, e apresenta,
al m di sso, a vantagem de ser uti l i zado desde a poca de Ari sttel es.
Que eu sai ba, Macl eod o rei ntrodutor do nome em poca recente,
mas parece que foi adotado tambm por Al fred Marshal l , em Cam-
bri dge. Deve-se, portanto, esperar que Economia se torne o nome re-
conheci do de uma ci nci a que, aproxi madamente h um scul o, era
conheci da pel os Economi stas franceses como La science conomique.
6
Apesar de empregar o novo nome no texto, era obvi amente i ndesejvel
al terar o fronti sp ci o do l i vro.
Ao publ i car uma nova edi o deste trabal ho, oi to anos aps sua
pri mei ra apari o, parece natural que eu devesse fazer al gumas ob-
servaes sobre as mudanas de opi ni o a respei to da ci nci a econmi ca,
que ti veram l ugar nesse i nterval o de tempo. Recentemente, al i men-
tou-se uma notvel di scusso, nas revi stas e publ i caes especi al i zadas,
em torno do mtodo l gi co da ci nci a, abordando at o probl ema da
prpri a exi stnci a de uma tal ci nci a. Chamou a ateno para esse
assunto o i mportante arti go
7
de T. E. Cl i ffe Lesl i e Sobre o Mtodo
Fi l osfi co da Economi a Pol ti ca, no qual el e procura desi ntegrar i n-
tei ramente a ci nci a deduti va de Ri cardo. Os escri tos de W. T. Thornton
tm tendnci a al go pareci da. A controvrsi a se i ntensi fi cou mai s ai nda
pel a admi rvel cr ti ca a que foi submeti da no magi stral di scurso do
Prof. J. K. I ngram, na l ti ma reuni o da Associ ao Bri tni ca. Esse
di scurso foi reedi tado em vri as publ i caes
8
na I ngl aterra e traduzi do
nas pri nci pai s l nguas da Europa oci dental . evi dente, portanto, que
um esp ri to de cr ti ca mui to ati va est se di fundi ndo, o qual di fi ci l mente
pode dei xar de superar, afi nal , o prest gi o das fal sas teori as anti gas.
J EVONS
21
5 Em i ngl s, os termos Economi a, Matemti ca, ti ca e Estti ca possuem o mesmo sufi xo.
(N. do T.)
6 Em francs, no ori gi nal . (N. do T.)
7 Hermathena. N I V, 1876. p. 1-32. Republ i cado na col etnea de ensai os de LESLI E. Essays
in Political and Moral Philosophy. Dubl i n, 1879. p. 216-242.
8 J ournal of the London Statistical Society. Dezembro de 1878. v. XLI , p. 602-629. J ournal
of the Statistical and Social I nquiry Society of I reland. Agosto de 1878. v. VI I , Apndi ce.
Tambm como publ i cao separada, Longmans, Londres, 1878.
Mas o que se deve col ocar em seu l ugar? No mel hor dos casos, deve-se
supor que a queda das anti gas doutri nas ortodoxas dei xar um caos
de opi ni es di vergentes. Mui tos fi cari am contentes se a suposta ci nci a
desmoronasse por compl eto e se tornasse um objeto hi stri co, como
Astrol ogi a, Al qui mi a e as ci nci as ocul tas em geral . Cl i ffe Lesl i e no
i ri a to l onge assi m, mas reconstrui ri a a ci nci a de manei ra puramente
i nduti va e emp ri ca. Ou el a seri a, ento, a agregao de uma mi scel nea
de fatos desconexos ou, de outra forma, deveri a enquadrar-se num dos
ramos da Soci ol ogi a de Spencer. Em todo caso, sustento que deve apa-
recer uma cincia do desenvolvimento das formas e relaes econmicas.
Mas, com refernci a ao desti no do mtodo deduti vo, di scordo i n-
tei ramente do meu ami go Lesl i e. El e a favor de sua si mpl es destrui o;
eu sou por uma compl eta reforma e reconstruo. Como expl i quei an-
teri ormente,
9
o atual estado cati co da Economi a decorre da confuso
entre vri os ramos do conheci mento. A subdi vi so o remdi o. Devemos
di ferenci ar o el emento emp ri co da teori a abstrata, da teori a apl i cada
e da arte mai s mi nuci osa das fi nanas e da admi ni strao. Assi m,
surgi ro vri as ci nci as, tai s como estat sti ca comerci al , teori a mate-
mti ca da economi a, economi a descri ti va e si stemti ca, soci ol ogi a eco-
nmi ca e ci nci a fi scal . Pode mesmo haver um ti po de subdi vi so cru-
zada das ci nci as, i sto , haver di vi so entre ramos, no que di z respei to
aos temas, e di vi so de acordo com a manei ra de tratar o ramo do
tema. A manei ra pode ser teri ca, emp ri ca, hi stri ca ou prti ca; o
tema pode ser capi tal e trabal ho, moeda, si stema bancri o, tri butao,
posse de terra etc. para no fal ar da di vi so mai s fundamental da
ci nci a medi da que trate do consumo, da produo, da troca e da
di stri bui o de ri queza. De fato, o conjunto do tema to extenso,
i ntri ncado e di verso que um absurdo supor que possa ser tratado
num ni co l i vro ou de uma ni ca manei ra. Trata-se de uma ci nci a,
tanto quanto estti ca, di nmi ca, teori a do cal or, pti ca, el etromagne-
ti smo, tel egrafi a, navegao e qu mi ca fotogrfi ca so ci nci a. Mas,
assi m como todas as ci nci as f si cas tm sua base mai s ou menos bvi a
nos pri nc pi os gerai s da mecni ca, tambm todos os ramos e di vi ses
da ci nci a econmi ca devem estar i mpregnados de certos pri nc pi os
gerai s. i nvesti gao de tai s pri nc pi os ao del i neamento da me-
cni ca do i nteresse i ndi vi dual e da uti l i dade que este ensai o foi
dedi cado. O estabel eci mento de tal teori a um prembul o necessri o
para qual quer projeto defi ni ti vo da superestrutura do conjunto da ci ncia.
Passando agora prpri a teori a, a questo pri nci pal no saber
se a teori a exposta neste l i vro verdadei ra, mas se h, real mente,
al guma novi dade nel a. A i mportnci a excl usi va atri bu da na I ngl aterra
Escol a Ri cardi ana de Economi stas i mpedi u quase todos os l ei tores
OS ECONOMISTAS
22
9 "The Future of Pol i ti cal Economy". I n: Fortnightly Review. Novembro de 1876. v. VI I I , N. S.,
p. 617 - 631. Traduzi do no J ournal des conomistes. Maro de 1877, 3 sri e, v. XLV, p. 325.
i ngl eses de tomarem conheci mento da exi stnci a de uma sri e de eco-
nomi stas franceses, assi m como de al guns poucos i ngl eses, al emes ou
i tal i anos que, de vez em quando, trataram a ci nci a de uma manei ra
matemti ca mai s ou menos ri gorosa. Na pri mei ra edi o (p. 34-36),
fi z um breve rel ato dos escri tos desse ti po, medi da que me fami l i a-
ri zava com el es na ocasi o; dos trabal hos ento menci onados, tal vez
de al gum del es eu tenha extra do a i di a de i nvesti gar matemati ca-
mente a Economi a. Provavel mente, devo mai s Railway Econome de
Lardner, poi s j conheci a bem esse trabal ho desde o ano de 1857. O
l i vro de Lardner sempre me i mpressi onou por conter uma pesqui sa
excel ente, cujo val or ci ent fi co ai nda no foi sufi ci entemente esti mado;
e no cap tul o XI I I (p. 286-296 etc.) encontramos as l ei s da oferta e da
procura tratadas matemati camente e i l ustradas grafi camente.
No prefci o pri mei ra edi o (p. 4), observei que, em seu tratado
sobre Economi a Pol ti ca, Joseph Garni er menci onou vri os matemti cos
do conti nente que havi am escri to sobre o tema da Economi a, e acres-
centei que eu no ti nha si do capaz sequer de descobri r os t tul os de
seus ensai os. I sso, entretanto, deve ter si do fruto de uma l ei tura des-
cui dada ou de uma fal ha de memri a, poi s se veri fi ca que o prpri o
Garni er
10
menci ona os t tul os de vri os l i vros e ensai os. O fato que,
escrevendo, como fi z na ocasi o, di stante de uma grande bi bl i oteca,
no tentei tomar contato com a l i teratura sobre o tema, sem pensar
que seri a to copi osa e, em al guns casos to excel ente, como agora se
comprova ser o caso. Com o passar dos anos, entretanto, meu conhe-
ci mento da l i teratura de Economi a Pol ti ca ampl i ou-se mui to, e as
i ndi caes de ami gos e correspondentes me i nformaram da exi stnci a
de mui tos trabal hos notvei s, que anteci pavam mai s ou menos os pontos
de vi sta desenvol vi dos neste l i vro. Enquanto preparava esta nova edi -
o, ocorreu-me tentar descobri r todos os escri tos exi stentes sobre o
assunto. Com essa i nteno redi gi uma l i sta cronol gi ca de todos os
trabal hos econmi co-matemti cos de meu conheci mento, cerca de se-
tenta, a qual , por genti l eza de meu edi tor, Gi ffen, foi publ i cada no
J ournal of the London Statistical Society de junho de 1878 (vol ume
XLI , p. 398-401), sendo forneci das separatas aos pri nci pai s economi stas,
com um pedi do de acrsci mos e correes. Meu ami go Len Wal ras,
rei tor da Academi a de Lausanne, depoi s de fazer consi dervei s acrs-
ci mos l i sta, a transmi ti u para o J ournal des conomistes (dezembro
de 1878), a cujo edi tor mui to devemos por sua publ i cao. Cpi as da
l i sta tambm foram envi adas para revi stas econmi cas al ems e i ta-
l i anas. Para a concl uso da l i sta bi bl i ogrfi ca devo obri gaes ao Prof.
W. B. Hodgson, Prof. Adamson, Sr. W. H. Brewer, M. A., respei tado
J EVONS
23
10 Trait dconomie Politique. 5 ed., Pari s, 1863. p. 700-702.
I nspetor de Escol as, o Baro de Aul ni s de Bouroui l l , professor de Eco-
nomi a Pol ti ca em Utrecht, M. N. G. Pi erson de Amsterdam, Sr. Vi s-
seri ng de Lei den, Prof. Lui gi Cossa de Pvi a, entre outros.
Assi m, fez-se todo o empenho poss vel para apresentar a l i sta
compl eta e exausti va de trabal hos e arti gos econmi co-matemti cos,
que agora publ i cada no I (atual V) Apndi ce deste l i vro (p. 191-204).
pouco provvel que mui tos acrsci mos possam ser fei tos s partes i ni -
ci ai s das l i stas, mas fi carei grato a qual quer l ei tor que possa sugeri r
correes ou acrsci mos. Mui to me al egrar tambm a i nformao sobre
qual quer das novas publ i caes, cuja i nsero na l i sta seja apropri ada.
Por outro l ado, poss vel que al guns dos l i vros menci onados na l i sta
no devessem estar l . No consegui exami nar pessoal mente todas as
publ i caes, de forma que al guns trabal hos i nseri dos por sugesto de
correspondentes podem ter si do menci onados em razo de uma con-
cepo errnea do exato objeti vo da l i sta. Trabal hos econmi cos, por
exempl o, contendo i l ustraes numri cas e fatos estat sti cos expressos
numeri camente, ai nda que em abundnci a, no foram i ncl u dos de caso
pensado, a menos que houvesse tambm mtodos matemti cos no ra-
ci oc ni o. Sem essa condi o, toda a l i teratura de estat sti ca comerci al
numri ca teri a si do i ncl u da em mi nha l i sta. Em outros casos, apenas
uma pequena parte de um l i vro ci tado pode ser chamada de econmi -
co-matemti ca; mas esse fato geral mente ressal tado pel a meno dos
cap tul os ou pgi nas em di scusso. A tendnci a, entretanto, foi i ncl ui r
ao i nvs de excl ui r, de forma que o l ei tor possa ter sua di sposi o
todo campo da l i teratura que requer i nvesti gao.
Para evi tar mal -entendi dos, bom expl i car que o cri tri o para
i nseri r qual quer publ i cao, ou parte de uma publ i cao, nessa l i sta
o fato de el a conter um reconhecimento explcito do carter matemtico
da Economia, ou da vantagem a ser obtida por seu tratamento simblico.
Sustento que todos os autores econmi cos devem ser matemti cos na
mesma medi da em que so ci ent fi cos, porque tratam de quanti dades
econmi cas, e as rel aes de tai s quanti dades e todas as quanti dades
e rel aes de quanti dades esto dentro do objeto da Matemti ca. Mesmo
aquel es que, mai s veemente e cl aramente, protestavam contra o reco-
nheci mento de seu prpri o mtodo, conti nuamente revel am em sua
l i nguagem o carter quanti tati vo de seus raci oc ni os. O que, por exem-
pl o, pode ser mai s cl aramente matemti co no contedo do que a se-
gui nte ci tao do pri nci pal trabal ho de Cai rnes:
11
No podemos en-
contrar di fi cul dade em ver como o custo, em seus el ementos pri nci pai s,
deve ser cal cul ado. No caso do trabal ho, o custo de produzi r dada
mercadori a ser representado pel o nmero da mdi a de trabal hadores
OS ECONOMISTAS
24
11 Some Leading Principles of Political Newly Expounded. Parte Pri mei ra. Cap. I , p. 97.
empregados em sua produo l evando-se em conta, ao mesmo tempo,
a di fi cul dade do trabal ho e o grau de ri sco que el e envol ve mul ti -
pl i cado pel a durao de seus trabal hos. No caso da absti nnci a, o pri n-
c pi o anl ogo: o sacri f ci o ser medi do pel a quanti dade de ri queza
da qual se absteve, tomada em rel ao ao ri sco assumi do, e mul ti pl i cada
pel a durao da absti nnci a. Aqui l i damos com cl cul o, mul ti pl i cao,
grau de di fi cul dade, grau de ri sco, quanti dade de ri queza, durao etc.,
tudo coi sas, noes ou operaes em essnci a matemti cas. Embora
meu esti mado ami go e predecessor tenha abjurado expressamente mi -
nhas doutri nas em seu cap tul o prel i mi nar, adotou i nconsci entemente
o mtodo matemti co em tudo, sal vo na aparnci a.
Poder amos com faci l i dade vol tar mai s l onge no passado e des-
cobri r que mesmo o pai da ci nci a, como el e com freqnci a consi -
derado, mostra-se compl etamente matemti co. No cap tul o V do Li vro
Pri mei ro de A Riqueza das Naes, por exempl o, encontramos Adam
Smi th conti nuamente argumentando sobre quanti dades de trabal ho,
medi das de val or, medi das de fadi ga, proporo, i gual dade etc.;
de fato, o conjunto de i di as matemti co. O mesmo poderi a ser di to
de quase todas as demai s passagens das partes ci ent fi cas do tratado,
que se revel am di sti ntas das partes hi stri cas. No cap tul o I do Li vro
Segundo (pargrafo 29), l emos: O produto da terra, das mi nas e das
pescari as, quando sua ferti l i dade natural permanece estvel , propor-
ci onal extenso e apl i cao apropri ada dos capi tai s nel as empregados.
Quando os capi tai s so i guai s e i gual mente bem apl i cados, el e pro-
porci onal ferti l i dade natural del as. Ora, todo uso da pal avra igual
ou igualdade i mpl i ca a exi stnci a de uma equao matemti ca; uma
equao si mpl esmente uma i gual dade; e todo uso da pal avra pro-
poro i mpl i ca uma taxa expri m vel sob a forma de uma equao.
Sustento, portanto, que argumentar matemati camente, seja cor-
reta ou i ncorretamente, no consti tui di ferena real no tocante aos
autores de teori a econmi ca. Mas uma coi sa argumentar e outra
compreender e reconhecer expl i ci tamente o mtodo do argumento. As-
si m como h tantos que fazem prosa sem sab-l o, ou ai nda que si l ogi zam
sem ter a menor i di a do que si l ogi smo, assi m tambm os economi stas
tm si do, h mui to, matemti cos sem se aperceberem do fato. O re-
sul tado negati vo que el es geral mente tm si do maus matemti cos e
seus trabal hos tendem a perder prest gi o. Por i sso, o reconheci mento
expl ci to do carter matemti co da ci nci a era uma condi o quase
necessri a para qual quer progresso real da teori a. No segue, natu-
ral mente, que ser expl i ci tamente matemti co assegurar a obteno
da verdade, e em escri tos semel hantes quel es de Canard e Whewel l ,
encontramos vri os s mbol os e equaes sem nenhum resul tado de va-
l or, em vi rtude do fato de que el es apenas traduzi ram em s mbol os as
teori as obti das, e obti das erroneamente, sem sua uti l i zao. Esses au-
tores no entenderam e i nverteram por compl eto a funo dos s mbol os
J EVONS
25
matemticos, que a de gui ar nossos pensamentos no escorregadi o e com-
pl i cado processo de raci oc nio. A li nguagem comum pode expressar nor-
mal mente os axi omas el ementares de uma ci ncia, e com freqnci a tam-
bm os resul tados fi nai s; mas s da forma mais i nsati sfatria, obscura e
tediosa que nos pode conduzir atravs dos l abi ri ntos da inferncia.
A l i sta bi bl i ogrfi ca, qual me refi ro, , sem dvi da, mui to he-
terognea e pode prontamente ser decomposta em vri as cl asses di s-
ti ntas de trabal hos econmi cos. Numa pri mei ra cl asse, devem ser co-
l ocados os escri tos dos economi stas que no tentaram, em absol uto,
um tratamento matemti co de manei ra expressa ou si stemti ca, mas
que apenas i nci dental mente admi ti ram seu val or ao i ntroduzi r expo-
si es si mbl i cas ou grfi cas. Entre esses autores podem ci tar-se em
especi al Rau (1868), Hagen (1844), J. S. Mi l l (1848) e Courcel l e-Seneui l
(1867). Mui tos l ei tores podem estar surpresos ao ouvi r que John Stuart
Mi l l usou s mbol os matemti cos; mas, ao passar para o Li vro Tercei ro,
cap tul os XVI I e XVI I I , dos Princpios de Economia Poltica, cap tul os
di f cei s e tedi osos nos quai s Mi l l conduz o l ei tor atravs da Teori a do
Comrci o I nternaci onal e dos Val ores I nternaci onai s, por mei o de jardas
de l i nho e de teci do o l ei tor descobri r que Mi l l por fi m cede, expres-
sando-se conci sa e cl aramente
12
por mei o de equaes de m, n, p e q.
Sua matemti ca mui to grossei ra; mesmo assi m chega a um correto
tratamento matemti co e o resul tado que esses cap tul os, embora
tedi osos e di f cei s, provavel mente sero consi derados as partes mai s
corretas e mai s sl i das de todo o tratado.
Uma segunda cl asse de economi stas abrange os que empregaram
em abundnci a o aparato matemti co, mas, por entenderem mal seu uso
correto ou por serem de outra forma desvi ados da teori a correta, cons-
tru ram sobre arei a. Desventuras desse ti po no se restri gem ci ncia
da economi a; nos ramos mai s exatos da Ci ncia F si ca, como Mecnica,
F si ca Mol ecul ar, Astronomi a etc., seri a poss vel ci tar tratados matem-
ti cos quase i numervei s que devem ser consi derados contra-senso. Na
mesma categori a devem ser col ocados os escri tos matemti cos de econo-
mi stas como Canard (1801), Whewel l (1829, 1831 e 1850), Esmenard du
Mazet (1849 e 1851) e tal vez Du Mesni l -Mari gny (1860).
A tercei ra cl asse forma uma ant tese com a segunda, poi s abrange
os autores que, sem nenhuma ostentao de l i nguagem ou mtodo ma-
temti co, porm com cui dado, tentaram ati ngi r preci so no tratamento
de noes quanti tati vas e l evaram, assi m, a uma compreenso mai s
ou menos compl eta da teori a correta da uti l i dade e da ri queza. Entre
esses autores, Franci s Hutcheson, fundador i rl ands da grande escol a
escocesa e predecessor de Adam Smi th em Gl asgow, al i nha-se prova-
vel mente como pri mei ro. Seu emprego de s mbol os
13
matemti cos pa-
OS ECONOMISTAS
26
12 Li vro Tercei ro. Cap. XVI I I , seo 7.
13 1720. HUTCHESON. An I nquiry. 1729 etc. p. 186-198.
rece um tanto grossei ro e prematuro, mas a preci so de suas i di as sobre
a esti mati va de quanti dades de bem e de mal est aci ma de el ogi os. El e
anteci pa perfei tamente os fundamentos do si stema moral de Bentham,
mostrando que o Momento do Bem e do Mal tambm, numa proporo
composta de Durao e I ntensi dade, afetado pel o Acaso ou i ncerteza de
nossa exi stncia.
14
Quanto s i dias de Bentham, elas so adotadas como
ponto de parti da da teori a forneci da neste trabal ho, e so ci tadas no i n ci o
do cap tulo I I (p. 41). Bentham repeti u sua exposi o sobre a manei ra de
medi r a al egri a, em vri os trabal hos e panfl etos di ferentes, como, por
exempl o, o i mportante trabal ho i nti tul ado A Tabl e of the Spri ngs of Ac-
ti on. (Londres, 1817. p. 3); e tambm no Codi fi cati on Proposal , Addressed
by Jeremy Bentham to al l Nati ons Professi ng Li beral Opi ni ons (Londres,
1822. p. 7-11). Aqui , fal a expl i ci tamente da apl i cao da aritmtica s
questes da uti l i dade, querendo di zer, sem dvi da, a apl i cao de mtodos
matemti cos. Descreve mesmo (p. 11) as quatro ci rcunstncias que go-
vernam o val or de um prazer ou de um sofri mento como as dimenses
de seu val or, apesar de estar i ncorreto ao tratar de propinqidade e da
certeza como di menses.
di gno de nota que Destutt de Tracy, um dos mai s fi l osfi cos
de todos os economi stas, reconheceu, em poucas pal avras, o mtodo
correto de tratamento, embora no tenha segui do sua prpri a i di a.
Referi ndo-se s ci rcunstnci as que, em sua opi ni o, tornam todos os
cl cul os econmi cos morai s mui to del i cados, di z:
15
On ne peut gure employer dans ces matires que des consid-
rations tires de la thorie des limites.
16
O to conheci do economi sta i ngl s Mal thus tambm mostrou em poucas
l i nhas seu apreo pel a natureza matemti ca das questes econmi cas.
Num de seus excel entes opscul os,
17
observa: Mui tas das questes,
ambas na Moral e na Pol ti ca, parecem ser da natureza dos probl emas
de mximos e mnimos em cl cul o di ferenci al ; nel es h sempre um
ponto em que certo efei to o mai or poss vel , enquanto em qual quer
um dos doi s l ados desse ponto el e di mi nui gradual mente. Mas no
achei desejvel aumentar a l i sta bi bl i ogrfi ca i ncl ui ndo todos os trabal hos
nos quai s se encontrem observaes breves ou casuai s desse ti po.
Devo observar aqui que em todos os seus escri tos o Sr. Henry
Dunni ng Macl eod apresenta forte tendnci a a trat-l os de forma ma-
J EVONS
27
14 1728. HUTCHESON. An Essay etc., p. 34-43, e em outras passagens.
15 l ments dI dol ogi e. Partes Quarta e Sexta. Trait de La Volont et de ses Effects. Pari s,
1815. In-octavo. p. 499. Edi o de 1826, p. 335. Edi o ameri cana. A Treatise on Political
Economy, Translated from the Unpublished French Original, Georgetown, D.C. 1817. p. XI I I .
16 Nestes assuntos s se podem empregar consi deraes ti radas da teori a dos l i mi tes. Em
francs, no ori gi nal . (N. do T.)
17 Observations on the Efects of the Corn Laws, and of a Rise or fall in the Price of Corn on the
Agriculture and General Wealth of the Country. Londres, 1814. p. 30; da 3 Ed., 1815, p. 32.
temti ca. Al guns de seus trabal hos ou ensai os, nos quai s esse esp ri to
matemti co se mani festa de forma mai s acentuada, foram postos na l i sta.
No meu objeti vo cri ti car suas concepes engenhosas ou determi nar
at que ponto el e real mente cri ou um si stema matemti co. Embora cer-
tamente di vi rja del e em mui tos pontos i mportantes, sou obri gado a reco-
nhecer a ajuda que consigo com o uso de vri os de seus trabal hos.
Na quarta e mai s i mportante cl asse de autores econmi co-mate-
mti cos devem ser col ocados aquel es que consci ente e decl aradamente
tentaram i nventar uma teori a matemti ca para a matri a e que con-
segui ram, se meu jul gamento esti ver certo, chegar a uma vi so correta
da ci nci a. Nessa cl asse, certos fi l sofos franceses que se di sti ngui ram
tm precednci a e pri ori dade. Dever amos, tal vez, retornar com razo
ao trabal ho de Condi l l ac, O Comrcio e o Governo, publ i cado pel a pri -
mei ra vez no ano de 1776, o mesmo ano em que apareceu A Riqueza
das Naes. Nos pri mei ros cap tul os desse fasci nante trabal ho fi l osfi co
encontramos, tal vez, a pri mei ra exposi o cl ara da verdadei ra conexo
entre val or e uti l i dade. Contudo, o l i vro no est i ncl u do na l i sta
porque no h uma tentati va expl ci ta de tratamento matemti co.
ao engenhei ro francs Dupui t a quem, provavel mente, se deve atri bui r
a pri mei ra compreenso perfei ta da teori a da uti l i dade. Tentando el a-
borar uma mensurao preci sa da uti l i dade dos trabal hos pbl i cos,
observou que a uti l i dade de uma mercadori a no apenas vari a enor-
memente de um i ndi v duo para outro, mas tambm mui to di ferente
para uma mesma pessoa de acordo com as ci rcunstnci as. Di z el e:
Nous verrions que lutilit du morceau de pain peut crotre pour
le mme individu depuis zro jusquau chiffre de sa fortune en-
tire
18
(1849, Dupui t, De lI nfluence des Pages etc., p. 185).
Estabel ece, de fato, uma teori a da gradao da utilidade, exposta com
bel eza e perfei o por mei o de di agramas geomtri cos; essa teori a i n-
dubi tavel mente coi nci de, na essnci a, com a conti da neste l i vro. No
l eva, entretanto, at o fi m suas i di as em forma al gbri ca. A teori a
de Dupui t foi objeto de al guma controvrsi a nas pgi nas do Annales
des Ponts et Chausses, mas no recebeu mui ta ateno em outros
l ugares e no tenho conheci mento de que al gum economi sta i ngl s
tenha chegado a saber al go a respei to desses notvei s ensai os.
O tratado anteri or de Cournot, seu admi rvel Recherches sur les
Principes Mathmatiques de la Thorie des Richesses (Pari s, 1838), se
assemel ha aos ensai os de Dupui t por ser, at h poucos anos, bastante
desconheci do para os economi stas i ngl eses. Em outros aspectos, o m-
todo de Cournot se contrape ao de Dupui t. Cournot no el aborou
nenhuma teori a defi ni ti va do fundamento e da natureza da uti l i dade
OS ECONOMISTAS
28
18 "Veremos que a uti l i dade de um pedao de po pode crescer, para um mesmo i ndi v duo,
desde zero at o montante de toda a sua fortuna". Em francs, no ori gi nal . (N. do T.)
e do val or, mas, tomando os fatos evi dentes e conheci dos, concernentes
s rel aes de preo, produo e consumo de mercadori as, i nvesti gou
essas rel aes anal ti ca e di agramati camente com um dom ni o e acerto
que dei xa pouco a desejar. Esse trabal ho deve ocupar posi o de des-
taque na hi stri a da matri a. estranho que, entre os i ngl eses, tenha
fi cado para mi m a descoberta de seu val or. Al guns anos depoi s (1875),
Todhunter escreveu-me o segui nte:
Qui s saber al gumas vezes se h al go de i mportante num l i vro
publ i cado h mui tos anos pel o Sr. A. A. Cournot, i nti tul ado Re-
cherches sur les Principes Mathmatiques de la Thorie des Ri-
chesses. Nunca o vi e quando menci onei o t tul o, no encontrei
nenhuma pessoa que ti vesse l i do o l i vro. Contudo, Cournot foi
emi nente em Matemti ca e Metaf si ca, de modo que deve haver
al gum mri to nesse l i vro.
Consegui uma cpi a do trabal ho j em 1872, mas apenas recentemente
o estudei com cui dado sufi ci ente para formar uma opi ni o defi ni ti va
sobre seu val or. Mesmo agora, de forma al guma domi nei todas as suas
partes, sendo meu dom ni o da Matemti ca i nsufi ci ente para me capa-
ci tar a segui r Cournot em todas as partes de sua anl i se. Mi nha i m-
presso a de que o cap tul o I do trabal ho no si gni fi cati vo; o cap tul o
I I contm uma i mportante anteci pao das di scusses concernentes ao
mtodo apropri ado de tratar os preos, i ncl ui ndo uma anteci pao (p.
21) de meu mtodo l ogar tmi co de veri fi car vari aes no val or do ouro;
o cap tul o I I I , tratando das trocas com o exteri or, al tamente enge-
nhoso, seno parti cul armente ti l , mas, de l onge, a parte mai s i mpor-
tante do l i vro comea com o cap tul o I V sobre a Loi du dbi t (Lei do
consumo). O restante do l i vro, de fato, contm uma anl i se maravi l hosa
das l ei s da oferta e da procura e das rel aes de preos, produo,
consumo, gastos e l ucros. Cournot parte da hi ptese de que o consumo
ou a demanda por uma mercadori a funo do preo, ou D = F (p);
e da , aps estabel ecer empi ri camente umas poucas condi es dessa
funo, passa a desenvol ver com dom ni o surpreendente as conseqn-
ci as que seguem daquel as condi es. Mesmo parte sua i mportnci a
econmi ca, essa i nvesti gao, na medi da em que possa me aventurar
a jul g-l a, apresenta um bel o exempl o de raci oc ni o matemti co, no
qual o conheci mento aparentemente extra do da i gnornci a. Na rea-
l i dade, o mtodo consi ste em assumi r certas condi es si mpl es das
funes enquanto conformes com a experi nci a e ento revel ar, me-
di ante a i nfernci a si mbl i ca, os resul tados i mpl ci tos dessas condi es.
Mas estou i ntei ramente convenci do que a i nvesti gao de al ta i m-
portnci a econmi ca e, quando as partes da Economi a Pol ti ca s quai s
se refere a teori a vi erem a ser tratadas adequadamente, como nunca
o foram, o tratamento deve ser baseado na anl i se de Cournot, ou pel o
menos deve segui r seu mtodo geral . Deve-se acrescentar que sua i n-
J EVONS
29
vesti gao tem pouca rel ao com o contedo deste trabal ho, porque
Cournot no retoma nenhuma Teori a da Uti l i dade, mas comea com
as si ngul ares l ei s da oferta e da procura.
Aparentemente desencorajado pel a pequena ateno di spensada
a seu tratado matemti co, Cournot, em ano posteri or (1863), apresentou
um trabal ho sobre Economi a, mai s popul ar e sem s mbol os matem-
ti cos; mas esse trabal ho posteri or no comparvel em i nteresse e
i mportnci a a seu pri mei ro tratado.
Di fi ci l mente os economi stas i ngl eses podem ser censurados por
sua i gnornci a dos trabal hos econmi cos de Cournot quando encontra-
mos os autores franceses em si tuao i gual mente rui m. Assi m, os au-
tores do excel ente Dictionnaire de lconomie Politique de Gui l l aumi n
que , no geral , o mel hor trabal ho de refernci a na l i teratura da ci nci a,
i gnoram compl etamente Cournot e seus trabal hos, e da mesma forma
o faz Sandel i n em seu copi oso Rpertoire Gnral dconomie Politique.
Joseph Garni er, em seu manual ,
19
admi rvel sob outros aspectos, con-
funde Cournot com matemti cos mui to i nferi ores di zendo:
Dans ces derniers temps M. Esmenard du Mazet, et M. du Mesnil-
Marigny, ont aussi fait abus, ce nous semble, des formules algbri-
ques; Les Recherches sur l es Pri nci pes Mathmati ques des Ri chesses
de M. Cournot, ne nous ont fourni aucun moyen dlucidation.
20
MacCul l och, natural mente, no conhece nada de Cournot. H. D. Ma-
cl eod tem o mri to pel o menos de menci onar o trabal ho de Cournot,
mas grafa mal o nome do autor, e d apenas o t tul o do l i vro, o qual
provavel mente nunca vi u.
Passamos agora a uma descoberta verdadei ramente notvel na
hi stri a desse ramo da l i teratura. Faz al guns anos, meu ami go Prof.
Adamson notou num dos trabal hos de Kautz sobre Economi a Pol ti ca
21
uma breve refernci a a um l i vro que, di zi a-se, conti nha uma teori a do
prazer e do sofri mento, escri to por um autor al emo chamado Hermann
Hei nri ch Gossen. Apesar de ter publ i cado um annci o para obt-l o, o
Prof. Adamson no consegui u ver esse l i vro at agosto de 1878, quando
fel i zmente o descobri u num catl ogo de um vendedor de l i vros al emo,
consegui ndo compr-l o. O l i vro foi publ i cado em Brunswi ck, em 1854;
consi ste em 278 pgi nas chei as, e l eva o t tul o de Entwickelung der
Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fliessenden Regeln
fr menschliches Handeln, que pode ser traduzi do como Desenvolvi-
mento das Leis do Comrcio Humano e das Conseqentes Regras de
OS ECONOMISTAS
30
19 Trait dconomie Politique. 5 ed., p. 701.
20 "Nesses l ti mos tempos, o Sr. Esmenard du Mazet e o Sr. de Mesni l -Mari gny tambm
abusaram, assi m parece-nos, das frmul as al gbri cas; As investigaes Sobre os Princpios
Matemticos das Riquezas no nos forneceram nenhum mei o de el uci dao." Em francs,
no ori gi nal . (N. do T.)
21 Theorie und Geschichte der National-Oekonomik. 1858. v. I , p. 9.
Ao Humana. Descreverei o contedo desse notvel l i vro da forma
como el e me foi transmi ti do pel o Prof. Adamson.
Gossen, evi dentemente, ti nha no mai s el evado concei to a i mpor-
tnci a de sua prpri a teori a, poi s el e comea rei vi ndi cando honras na
Ci nci a Econmi ca i guai s s de Coprni co na Astronomi a. E i medi a-
tamente i nsi ste que o tratamento matemti co, sendo o ni co acertado,
deve ser apl i cado em toda parte, mas, sem consi derao para com o
l ei tor, a mai s al ta anl i se ser expl i ci tamente i ntroduzi da apenas quan-
do requeri da para determi nar mxi mos e m ni mos. O tratado ento
abre com a consi derao da Economi a como uma teori a do prazer e
do sofri mento, o que equi val e a uma teori a do procedi mento pel o qual
o i ndi v duo e o conjunto dos i ndi v duos que consti tuem a soci edade
podem ati ngi r o mxi mo de prazer com o m ni mo de esforo dol oroso.
A l ei natural do prazer ento exposta cl aramente, mai s ou menos
como segue: Aumento do mesmo tipo de consumo produz prazer conti-
nuamente decrescente at o ponto de saciedade. I l ustra essa l ei geome-
tri camente e da prossegue i nvesti gando as condi es sob as quai s o
prazer total de um ou mai s objetos pode ser el evado a um mxi mo.
O termo Werth i ntroduzi do em segui da e pode, acredi ta o Prof.
Adamson, ser traduzi do com absol uta preci so como Utilidade; Gossen
assi nal a que a quanti dade de uti l i dade, materi al ou i materi al , medi da
pel a quanti dade de prazer que el a proporci ona. El e cl assi fi ca os objetos
tei s como: 1) os que possuem poderes em si mesmos de dar prazer; 2)
os que s possuem tai s poderes em combi nao com outros objetos; 3) os
que apenas servem como mei o para a produo de objetos que do prazer.
Toma cui dados de assi nal ar que no h tal coi sa como uti l i dade absol uta,
sendo a uti l i dade meramente uma rel ao entre uma coi sa e uma pessoa.
Prossegue dando as l ei s deri vadas da uti l i dade, mai s ou menos da segui nte
manei ra: Partes separadas do mesmo objeto que d prazer tm graus
mui to di ferentes de uti l i dade, e em geral , para cada pessoa, apenas um
nmero l i mi tado dessas partes tem uti l i dade; qual quer acrsci mo al m
desse l i mi te i nti l ; mas o ponto de i nuti l i dade s al canado depoi s de
a uti l i dade ter passado por todos os estgi os ou graus de i ntensi dade.
Di sso ti ra a concl uso prti ca de que cada pessoa deveri a di stri bui r seus
recursos de forma a fazer com que os aumentos fi nai s de cada mercadori a
que d prazer l he sejam de i gual uti l i dade.
Em segui da, Gossen trata do trabal ho, parti ndo da proposi o
de que a uti l i dade de qual quer produto deve ser esti mada depoi s da
deduo dos esforos de trabal hos requeri dos para produzi -l o. Descreve
a vari ao do esforo de trabal ho, em grande medi da como eu fi z,
apresentando-a grafi camente e i nferi ndo que devemos conti nuar o tra-
bal ho at o ponto no qual a uti l i dade do produto i gual a o esforo de
produo. Ao tratar da teori a da troca, mostra como o i ntercmbi o d
l ugar a um i menso aumento da uti l i dade e i nfere que a troca prosse-
gui r at o ponto no qual as uti l i dades das pores a serem entregues
J EVONS
31
e recebi das em segui da so i guai s. Uma compl i cada representao geo-
mtri ca da teori a da troca apresentada. A Teori a da Renda da Terra
i nvesti gada de manei ra mai s geral , e o trabal ho concl ui com al gumas
vagas especul aes soci ai s, as quai s, na opi ni o do Prof. Adamson, so
de mri to i nferi or se comparadas com as partes anteri ores do tratado.
Dessa exposi o fi ca bastante evi dente que Gossen me anteci pou
compl etamente no tocante aos pri nc pi os gerai s e ao mtodo da teori a
da Economi a. At onde eu possa deduzi r, seu tratamento da teori a
fundamental ai nda mai s geral e compl eto do que aquel e que fui
capaz de arqui tetar. Ao di scuti r o l i vro, estou sujei to sri a di fi cul dade
de no ser capaz de l -l o; mas, a jul gar pel o que o Prof. Adamson
escreveu ou l eu para mi m, e pel o exame dos di agramas e das partes
si mbl i cas do tratado, deveri a concl ui r que Gossen foi i nfel i z no de-
senvol vi mento de sua teori a. Ao i nvs de l i dar, como Cournot e eu
mesmo fi zemos, com funes i ndetermi nadas e i ntroduzi r o m ni mo
poss vel de hi pteses, Gossen sups, por moti vo de si mpl i ci dade, que
as funes econmi cas obedecem a uma l ei l i near, de forma que suas
curvas de uti l i dade so geral mente tomadas como retas. Essa hi ptese
l he permi te trabal har grande quanti dade de frmul as preci sas e re-
sul tados tabul ares que ocupam mui tas pgi nas do l i vro. Mas vi sto que
as funes da ci nci a econmi ca raramente, ou nunca, so de fato l i -
neares e normal mente di vergem mui to de uma reta, penso que as
i l ustraes si mbl i cas e geomtri cas e os desenvol vi mentos i ntroduzi dos
por Gossen devem, na mai or parte, ser consi derados entre os mui tos
produtos do tal ento mal apl i cado. Devo acrescentar, em meu prpri o
nome, que el e no parece real mente obter as equaes de troca conforme
estabel eci do nesse l i vro; a Teori a do Capi tal e do Juro i nsufi ci ente
e h total ausncia de qualquer semelhana entre o desenvol vi mento do
assunto, sal vo na medi da em que resul ta de uma base comum de verdade.
No entanto, a coi nci dnci a entre as i di as essenci ai s do si stema
de Gossen e as mi nhas prpri as to i mpressi onante que desejo de-
cl arar peremptori amente, em pri mei ro l ugar, que nunca vi , nem tam-
pouco ouvi , nenhuma al uso exi stnci a do l i vro de Gossen antes de
agosto de 1878, e expl i car, em segundo l ugar, como aconteceu de eu
no faz-l o. Mi nha i nfel i z i nsufi ci nci a de capaci dade l i ng sti ca me
i mpedi u, apesar de vri as tentati vas, de me fami l i ari zar o bastante
com o al emo para l er um l i vro al emo. Uma vez consegui deci frar,
com ajuda, parte das notas de confernci as sobre Lgi ca de Kant; mas
essa mi nha ni ca faanha em l i teratura al em. At o momento, esse
trabal ho de Gossen permaneceu desconheci do mesmo para grande parte
dos mai ores l ei tores da Al emanha. O Prof. Adamson observa que o
trabal ho no parece ter chamado a ateno na Al emanha. O emi nente
e erudi to economi sta de Amsterdam, Prof. N. G. Pi erson, me escreve:
O l i vro de Gossen total mente desconheci do para mi m. Roscher
no o menci ona na sua mui to extensa History of Political Economy
in Germany. Nunca o vi ci tado; mas tentaremos consegui -l o.
OS ECONOMISTAS
32
mui to curi oso que o trabal ho to notvel tenha permaneci do to-
tal mente desconheci do mesmo para um homem como o Prof. Ros-
cher, que l eu tudo.
Cl i ffe Lesl i e, que fez dos economi stas al emes o seu pri nci pal estudo,
tambm me i nforma que el e i gnorava compl etamente a exi stnci a do
l i vro.
22
Sob tai s ci rcunstnci as teri a si do mui to mai s provvel que eu
devesse descobri r a Teori a do Prazer e do Sofri mento do que devesse
descobri r o l i vro de Gossen, e assi nal ei com cui dado nas duas edi es,
na pri mei ra e nesta, certas passagens de Bentham, Seni or, Jenni ngs
e outros autores a parti r dos quai s meu si stema foi desenvol vi do, mai s
ou menos consci entemente. No posso afi rmar ser total mente i ndi fe-
rente aos di rei tos de pri ori dade; e a parti r do ano de 1862, quando
mi nha teori a foi publ i cada pel a pri mei ra vez num breve esboo, fre-
qentemente me del ei tei com o pensamento de que el a era, ao mesmo
tempo, uma teori a nova e i mportante. Daqui l o que agora expus neste
Prefci o, evi dente que a novi dade no pode ser tomada como uma
das pri nci pai s caracter sti cas da teori a. Mui to del a deve-se cl aramente
a Dupui t, e do restante grande parcel a deve ser atri bu da a Gossen.
O desapontamento pode ser faci l mente absorvi do pel a sati sfao se
porventura consegui r fazer com que seja entendi do e val ori zado o que
foi to l amentavel mente negl i genci ado.
No sei quase nada com rel ao a Gossen; no tenho certeza se
el e est vi vo ou no. No fronti sp ci o do l i vro el e se apresenta como
kniglich preussischem Regierungs-Assessor ausser Dienst, que pode
ser traduzi do como Assessor do Governo Real Prussi ano, aposentado;
mas o tom de suas observaes s vezes parece i ndi car que el e era
um homem decepci onado, se no i njuri ado. O acol hi mento dado a seu
ni co trabal ho no pode ter servi do como al vi o para esses senti mentos;
ao contrri o, deve t-l os aprofundado. O l i vro parece conter sua ni ca
teori a de esti mao; poi s no posso encontrar sob o nome de Gossen
nenhum si nal de qual quer outra publ i cao ou escri to ci ent fi co, qual -
quer que seja. A hi stri a desses trabal hos esqueci dos , de fato, uma
hi stri a estranha e desencorajadora; mas chegar o di a em que os
ol hos daquel es que no podem ver sero abertos. Ento a devi da honra
ser dada a todos os que, como Cournot e Gossen, trabal haram num
campo i ngrato do conheci mento humano e deram com a negl i gnci a
ou o ri d cul o que tal vez tenham at esperado. Certamente no por
moti vo de honra que tai s homens na real i dade trabal ham: el es produ-
zem uma teori a como a rvore produz seus frutos.
Resta referi r-me aos escri tos matemti co-econmi cos de Lon
J EVONS
33
22 Um exempl ar do l i vro de Gossen pode ser encontrado na Bi bl i oteca do Museu Bri tni co
(nmero 8 408 cc. 10). El e no foi adqui ri do por aquel a i nsti tui o antes de 24.05.1864,
conforme mostra a data cari mbada no exempl ar.
Wal ras, Rei tor da Academi a de Lausanne. curi oso que Lausanne,
j famosa pel o trabal ho precoce de I snard (1781), devesse recentemente
dar contri bui es to i mportantes ci nci a como os escri tos de Wal ras.
Poi s el es so i mportantes no apenas porque compl etam e comprovam
aqui l o que foi publ i cado antes, em outros l ugares, nos trabal hos des-
cri tos aci ma, mas porque el es contm uma tercei ra ou quarta descoberta
i ndependente dos pri nc pi os da teori a. Se devssemos segui r o curso
da fi l i ao de i di as pel as quai s Wal ras foi conduzi do sua teori a,
dever amos natural mente vol tar para o trabal ho de seu pai , Auguste
Wal ras, publ i cado em Pari s em 1831, i nti tul ado De la Nature de la Ri-
chesse, et de lOrigine de la Valeur. Nesse trabal ho no encontramos,
verdade, um reconheci mento cl aro do mtodo matemti co, mas a anl i se
do val or ami de aguda e fi l osfi ca. O ponto pri nci pal do trabal ho ,
al m di sso, verdadei ro, qual seja, que o val or depende da escassez La
valeur, di z Auguste Wal ras, drive de la raret. Assi m, preci samente
sobre a i di a do grau de escassez das mercadori as que Lon Wal ras basei a
seu si stema. O fato de que uns quatro ou mais autores independentes,
como Dupui t, Gossen, Wal ras e eu mesmo, por vi as to di ferentes, che-
garam, essenci al mente, aos mesmos concei tos fundamentai s da ci ncia
econmi ca no pode dei xar de emprestar grande probabi l i dade, para no
di zer quase certeza, quel es concei tos. Al egra-me saber que Wal ras pre-
tende publ i car uma nova edi o de seus ensai os matemti co-econmi cos,
para os quai s peo a ateno de meus l ei tores. Os t tul os de suas publ i -
caes sero encontrados no apndi ce I (VI desta edi o).
Os trabal hos de Von Thnen e de vri os outros economi stas al e-
mes contm i nvesti gaes matemti cas de mui to i nteresse e i mpor-
tnci a. Um consi dervel nmero de tai s trabal hos encontra-se men-
ci onado na l i sta, que, no entanto, especi al mente defi ci ente no tocante
l i teratura al em. Lamento que no seja capaz de tratar esse ramo
do tema de manei ra adequada.
Mi nha l i sta bi bl i ogrfi ca mostra que nos anos recentes, i sto ,
desde o ano de 1878, houve grande aumento no nmero dos escri tos
econmi co-matemti cos. Os nomes de Fontaneau, Wal ras, Avi gdor, Le-
fvre, Petersen, Boccardo reaparecem mui tas vezes. Em peri di cos como
o J ournal des Actuaires Franais ou o National-Oekonomisk Tidsskrift
uma revi sta to honrosa para a energi a e o tal ento da escol a eco-
nmi ca di namarquesa a teori a matemti ca da Economi a tratada
como uma das verdades e i nteresses estabel eci dos, com os quai s os
l ei tores estari am natural mente fami l i ari zados. Na I ngl aterra, no di s-
pomos absol utamente de nenhum peri di co no qual tai s di scusses
pudessem ser l evadas. O l ei tor no dei xar de observar que esse tema
to i mportante est passando rapi damente para as mos dos autores
franceses, i tal i anos, di namarqueses ou hol andeses. El es desenvol vero
aquel a ci nci a que apenas provoca o ri d cul o e a i ncredul i dade entre
os segui dores de Mi l l e Ri cardo. H apenas uns poucos matemti cos
OS ECONOMISTAS
34
i ngl eses, como Fl eemi ng, Jenki n, George Darwi n, Al fred Marshal l ou
H. D. Macl eod, e um ou doi s ameri canos, como o Prof. Si mon Newcomb,
que se aventuraram a escrever sobre o desagradvel tema da ci nci a
econmi co-matemti ca. Devo acrescentar, no entanto, que em Cam-
bri dge (I ngl aterra) o tratamento matemti co da Economi a est se tor-
nando gradual mente reconheci do devi do anti ga i nfl unci a de Al fred
Marshal l , atual mente di retor do Uni versi ty Col l ege em Bri stol , cujas
engenhosas questes econmi co-matemti cas, el aboradas more geome-
trico,
23
acabam de ser publ i cadas em carter pri vado em Cambri dge.
Se no consi deramos Hutcheson, que no escreveu especi al mente
sobre Economi a, o mai s anti go autor econmi co-matemti co parece ser
o i tal i ano Ceva, cujos trabal hos acabam de ser trazi dos a pbl i co no
Giornale degli Economisti (ver 1878, Ni col i ni ). Ceva escreveu no i n ci o
do scul o XVI I I , mas at agora no tenho mai ores i nformaes sobre
el e. O prxi mo autor na l i sta o cl ebre Beccari a, que publ i cou, j
em 1765, um tratado sobre tri butao mui to reduzi do, mas cl aramente
matemti co. Os i tal i anos foram, dessa forma, os pri mei ros no campo.
O mai s anti go trabal ho i ngl s do gnero, j descoberto, o anni mo
Essay on the Theory of Money, publ i cado em Londres em 1771, ci nco
anos antes da era de A Riqueza das Naes. Apesar de grossei ro e
absurdo em al gumas partes no desti tu do de i nteresse e tal ento, e
contm uma tentati va cl ara, e parci al mente vl i da, de estabel ecer uma
teori a matemti ca da moeda. Esse notvel Ensaio est, quanto eu sai ba,
compl etamente esqueci do e quase perdi do na I ngl aterra. Nem Mac-
Cul l och nem nenhum outro economi sta de meu conheci mento, ci ta o
trabal ho. Descobri sua exi stnci a h poucos meses, ao encontrar aci -
dental mente um exempl ar na barraca de um vendedor de l i vros. Mas
envergonha um i ngl s saber que trabal hos i ngl eses to desconheci dos
em seu prpri o pa s so conheci dos no exteri or, e devo ao Prof. Lui gi
Cossa, da Uni versi dade de Pvi a, a informao de que o Ensaio foi escri to
pelo General Henry Lloyd, um autor de algum mri to em outros ramos
da l i teratura. O excel ente Guido alla Studio di Economia Politica, de
Cossa, manual conciso, porm judi ci osamente escri to, bem apropri ado
para abri r nossos ol hos para a estrei teza i nsul ar de nosso aprendi zado
econmi co. um l i vro do ti po de que mui to preci sam nossos estudantes
de Economi a; desejo que possa ser publ i cado em verso i ngl esa.
Desse l evantamento bi bl i ogrfi co surge o resul tado, compl etamen-
te i nesperado, de que o tratamento matemti co da Economi a coetneo
com a prpri a ci nci a. A i di a de que h al guma novi dade ou ori gi na-
l i dade na apl i cao de mtodos ou s mbol os matemti cos deve ser i n-
tei ramente descartada. Enquanto houve economi stas pol ti cos, houve
sempre certo nmero que, com sucesso vari ado, entrou no cami nho
J EVONS
35
23 More geometrico: Segundo costume em Geometri a. (N. do T.)
i mpopul ar, porm correto. O aspecto i nfel i z e desencorajador da questo
o compl eto esqueci mento no qual sempre cai u essa parte da l i teratura
de Economi a, esqueci mento to compl eto que cada autor econmi co-
matemti co foi obri gado a comear quase que de novo. com o objeti vo
de i mpedi r, tanto quanto possa, que tal i gnornci a de tentati vas anteri ores
ocorra no futuro, que despendi tanto esforo nessa l i sta de l i vros.
Deveri a acrescentar que, ao preparar a l i sta, segui mui to i mper-
fei tamente o excel ente exempl o, dado pel o Prof. Mansfi el d Merri man,
do Sheffi el d Sci enti fi c School of Yal e Col l ege, na sua Li sta de Escri tos
Rel aci onados ao Mtodo dos M ni mos Quadrados.
24
Tai s bi bl i ografi as
so de grande uti l i dade, e espero que em breve chegue o tempo em
que cada estudante de um ramo espec fi co da ci nci a ou da l i teratura
se senti r na obri gao moral de desenvol ver sua bi bl i ografi a, a menos
que, natural mente, a tarefa j tenha si do real i zada. O l ei tor ver que
no Apndi ce I I (I V desta edi o) tomei a l i berdade de tambm desen-
vol ver uma parte da bi bl i ografi a de meus prpri os escri tos.
Consi derando hoje os resul tados fi nai s da teori a, devo sol i ci tar
ao l ei tor para ter em mente que este l i vro nunca foi apresentado como
portador de uma vi so si stemti ca da Economi a. El e trata apenas da
teori a, e no seno um esboo el ementar de pri nc pi os el ementares.
O desenvol vi mento de um si stema compl eto baseado nessas l i nhas deve
ser uma questo de tempo e trabal ho, e no sei quando, se al gum di a,
serei capaz de tent-l o. No l ti mo cap tul o, no entanto, i ndi quei a ma-
nei ra pel a qual a teori a dos sal ri os ser afetada. Esse cap tul o
republ i cado quase como foi escri to em 1871; desde ento a Teori a do
Fundo de Sal ri os foi abandonada pel a mai or parte dos economi stas
i ngl eses, devi do aos ataques de Cl i ffe Lesl i e, de Shadwel l , do Prof.
Cai rnes, do Prof. Franci s Wal ker e de al guns outros. Recentemente,
uma l ei tura mai s ampl a e uma refl exo mai s cui dadosa l evaram a
certa mudana nas mi nhas i di as concernentes superestrutura da
Economi a do segui nte modo:
Em pri mei ro l ugar, estou convenci do de que a teori a dos sal ri os
que adotei em 1871, sob a i mpresso de que era at certo ponto nova,
no real mente nova, sal vo para aquel es cuja vi so l i mi tada pel o
l abi ri nto da Economi a ri cardi ana. A teori a verdadei ra pode ser mai s
ou menos cl aramente esboada medi ante os escri tos de uma sri e de
grandes economi stas franceses, de Condi l l ac, Baudeau e Le Trosne,
atravs de J.-B. Say, Destutt de Tracy, Storch e outros at Basti at e
Courcel l e-Seneui l . A concl uso a que estou chegando, cada vez mai s
cl aramente, a de que a ni ca esperana de ati ngi r um verdadei ro
si stema de Economi a dei xar de l ado, de uma vez por todas, as su-
posi es confusas e absurdas da Escol a ri cardi ana. Nossos economi stas
OS ECONOMISTAS
36
24 Transactions of the Connecticut Academy. 1877. v. I V, p. 151-232.
i ngl eses tm vi vi do numa fel i ci dade i l usri a. A verdade est com a
escol a francesa; quanto antes reconhecermos o fato, mel hor ser para
todo o mundo, exceto, tal vez, para uns poucos autores que esto de-
masi adamente comprometi dos com as teori as anti gas e errneas para
admi ti r uma rennci a.
Conquanto, conforme di sse, a verdadei ra Teori a dos Sal ri os no
seja nova em rel ao escol a francesa, el a nova, ou de qual quer forma
renovada, em rel ao s nossas escol as i ngl esas de Economi a. Um dos
pri mei ros a tratar o tema do ponto de vi sta correto foi Cl i ffe Lesl i e, num
arti go publ i cado pel a pri mei ra vez na Frazers Magazine, em jul ho de
1868, e subseqentemente republ i cado numa col eo de Ensai os.
25
Alguns
anos mai s tarde J. L. Shadwel l desenvol veu i ndependentemente a mesma
teori a dos sal ri os que exps de manei ra exausti va em seu admi rvel
System of Political Economy.
26
No Plutology de Hearn, no entanto, en-
contramos, conforme assi nal ei no texto deste l i vro (p. 160), a mesma i di a
geral de que os salri os so a parcel a do produto que as l ei s da oferta e
da procura capaci tam o trabal hador a garanti r. provvel que i di as
semel hantes tenham si do desenvol vi das em outros trabal hos, fosse esse
o l ugar para empreender uma hi stri a do tema.
Em segundo l ugar, estou certo de que, aps l i vrar-nos da Teori a
do Fundo de Sal ri os, da doutri na do val or segundo o custo de produo,
da taxa natural de sal ri o e de outras teori as ri cardi anas i l usri as ou
fal sas, comeamos a esboar, cl ara e si mpl esmente, os resul tados de
uma teori a correta, e no ser di f ci l chegar a uma verdadei ra teori a
dos sal ri os. O que, provavel mente, se consegui r da segui nte manei ra:
Devemos tomar o trabal ho, a terra, o conheci mento e o capi tal como
condi es i nterl i gadas do total do produto, no como causas i ndi vi duai s
de determi nada parte do produto. Assi m, num estgi o pri mi ti vo da
soci edade, quando cada trabal hador detm todos os trs ou quatro
requi si tos da produo, no haveri a, absol utamente, coi sas como sal -
ri os, renda da terra ou juros. A di stri bui o no aparece nem como
i di a, e o produto si mpl esmente o efei to agregado do agregado de
condi es. Somente quando propri etri os, i ndependentes, dos el ementos
da produo unem suas propri edades e comerci am entre si , a di stri -
bui o comea, e a parti r da el a fi ca i ntei ramente sujei ta aos pri nc pi os
do val or e das l ei s da oferta e da procura. Cada trabal hador deve ser
vi sto, assi m como cada propri etri o de terras e cada capi tal i sta, como
al gum que acrescenta ao estoque comum parte dos el ementos cons-
ti tui ntes e barganha pel a mel hor parcel a do produto que as condi es
do mercado o permi tam rei vi ndi car com sucesso. Teori camente, o tra-
bal hador tem monopl i o do trabal ho de cada ti po parti cul ar, assi m
J EVONS
37
25 "Land Systems and I ndustri al Economy of I rel and, Engl and, and Conti nental Countri es".
Londres, 1870. Apndi ce, p. 357-379.
26 Londres, 1877. Trbner.
como o propri etri o de terra e o capi tal i sta o tm de outros arti gos
i ndi spensvei s. A propri edade apenas outro nome para monopl i o.
Mas, quando pessoas di ferentes detm propri edades exatamente do
mesmo ti po, tornam-se sujei tas i mportante l ei da i ndi ferena, como
a denomi nei (p. 72-73), a saber, que num mesmo mercado aberto, em
qual quer momento, no pode haver doi s preos para um mesmo ti po
de arti go. Assi m, o monoplio limitado pela concorrncia, e nenhum
propri etri o, seja de trabal ho, terra ou capi tal , pode, teori camente fa-
l ando, obter uma proporo mai or do produto por sua propri edade do
que aquel a que outros propri etri os exatamente do mesmo ti po de
propri edade esto di spostos a acei tar.
At agora, pode parecer que no h nada de novo nessa concepo;
di fi ci l mente se encontrar mai s do que aqui l o que est exposto num
bom nmero de trabal hos econmi cos. Mas l ogo que comeamos a l evar
at o fi m essa concepo si mpl es, as conseqnci as so um tanto sur-
preendentes. Somos forados, por exempl o, a admi ti r que as taxas de
sal ri os so regi das pel as mesmas l ei s formai s que as rendas. Essa
concepo no nova para os l ei tores de Storch, que no Li vro Tercei ro
de seu excel ente Cours dconomie Politique tem um cap tul o i nti tu-
l ado
27
De l a Rente des Tal ens et des Qual i ts Moral es. Mas uma
teori a mui to nova para al gum cujo hori zonte econmi co formado
por Mi l l e Fawcett, Ri cardo e Adam Smi th. Mesmo Storch no l evou
a teori a at as l ti mas conseqnci as, poi s apl i ca a noo de renda
apenas para casos de tal ento eminente. Deve fi car cl aro, no entanto,
que tal ento e capaci dade de todos os ti pos so apenas uma questo
de grau, de tal forma que, de acordo com a l ei de conti nui dade, o
mesmo pri nc pi o se deve apl i car a todos os trabal hadores.
Um resul tado ai nda mai s supreendente o de que, na medi da em
que o custo de produo regul a os val ores das mercadori as, os sal ri os
devem entrar no cl cul o exatamente nas mesmas condi es que a renda.
Ora, um ponto fundamental das teori as de Ri cardo que a renda da
terra no entra no custo de produo. Conforme di z J. S. Mi l l :
28
A renda da terra, portanto, no consti tui parte do custo de pro-
duo que determi na o val or do produto da agri cul tura. E ai nda,
29
a renda da terra no um el emento no custo de produo da
mercadori a que a produz exceto nos casos etc.
A renda da terra, na verdade, descri ta como um efei to e no como
uma causa do val or el evado; os sal ri os, pel o contrri o, so tratados
como a causa, e no como o efei to. Mas se a renda da terra e os
sal ri os so real mente fenmenos sujei tos s mesmas l ei s formai s, essa
OS ECONOMISTAS
38
27 Cap. V. v.I . p. 304.
28 Principles of Political Economy. Li vro Tercei ro. Cap. V, seo 2, 3.
29 I bid., Li vro Tercei ro. Cap. VI , seo I , arti go 9.
rel ao oposta para o val or deve envol ver um erro. A sa da para a
di fi cul dade forneci da pel a segunda sentena do pargrafo do qual a
l ti ma ci tao foi ti rada. Mi l l conti nua a di zer:
Mas, quando a terra capaz de fornecer renda na agri cul tura
apl i cada em al gum outro objeti vo, a renda que el a teri a gerado
um el emento no custo de produo da mercadori a na qual el a
foi empregada para produzi r.
Aqui Mi l l i ntroduz sem perceber, como um caso excepci onal , o que se
comprova ser a regra, l embrando um dos outros casos excepci onai s
descri tos como al guns casos pecul i ares de val or (ver p. 123) que i n-
cl uem, como demonstrei , quase todas as mercadori as.
Ora, Mi l l admi te que, quando a terra capaz de gerar renda na
agri cul tura apl i cada em al gum outro objeti vo, a renda que teri a si do
produzi da na agri cul tura um el emento no custo de produo de outras
mercadori as. Mas por que razo essa di sti no entre a agri cul tura e
os outros ramos da i ndstri a? Por que o mesmo pri nc pi o no se apl i ca
a doi s modos di ferentes de emprego agr col a? Se a terra que estava
produzi ndo uma renda de 2 l i bras por acre como pasto for arada e
usada para cul ti var tri go, as 2 l i bras por acre no devem ser debi tadas
como despesa da produo de tri go? Suponhamos que al gum i ntroduza
a cul tura de beterraba na I ngl aterra com a i nteno de fazer acar;
esse novo ramo da i ndstri a no poderi a ser consi derado rentvel a
menos que fornecesse, al m de todas as outras despesas, as rendas
i ntegrai s das terras antes desti nadas a outros ti pos de cul tura. Mas,
se admi ti mos i sso, o mesmo pri nc pi o se deve apl i car em geral ; um
campo de batatas deveri a render tanto quanto um campo de trevo, e
um campo de trevo, tanto quanto um campo de nabo, e assi m por
di ante. Os preos de mercado do produto devem ajustar-se de tal forma
que i sso seja poss vel a l ongo prazo. A rotao de cul turas, sem dvi da,
i ntroduz uma compl i cao no assunto, mas no modi fi ca o raci oc ni o
geral . O pri nc pi o que surge o de que cada parcela de terra deveria
ser aplicada naquela cultura ou uso no qual produzisse maior montante
de utilidade, medida pelo valor do produto; se apl i cada de outra ma-
nei ra, haver perda. Dessa forma, a renda da terra determi nada
pel o excedente de produto no emprego mai s l ucrati vo.
Mas quando a questo estudada com mi nci a, veri fi ca-se que
exatamente o mesmo pri nc pi o se apl i ca aos sal ri os. Um homem que
pode ganhar 6 xel i ns por di a num emprego no mudar para outro
ti po de trabal ho a menos que espere obter deste 6 xel i ns por di a ou
mai s. No h tal coi sa como custo absol uto do trabal ho; tudo uma
questo rel ati va. Todo mundo obtm o mxi mo que pode pel o seu em-
penho; uns podem obter pouco ou nada, porque el es no tm fora,
conheci mento ou tal ento sufi ci entes; outros obtm mui to porque tm,
em termos comparati vos, o monopl i o de certas facul dades. Cada um
J EVONS
39
procura o trabal ho no qual suas facul dades pecul i ares so mai s pro-
duti vas em termos de uti l i dade, medi da por aqui l o que as outras pessoas
se di spem a pagar pel o produto. Portanto, os sal ri os so cl aramente
o efei to e no a causa do val or do produto. Mas quando o trabal ho
passa de um emprego para outro, os sal ri os que el e teri a produzi do
de outra manei ra devem ser debi tados nas despesas de novo produto.
Assi m, veri fi ca-se que a semel hana entre as teori as da renda e dos
sal ri os perfei ta na teori a, por mai s di ferente que possa parecer nos
detal hes da apl i cao. Exatamente a mesma concepo pode ser apl i -
cada, mutatis mutandis, renda produzi da pel o capi tal fi xo e aos juros
do capi tal di spon vel . No l ti mo caso, a Lei de I ndi ferena se apl i ca
de manei ra pecul i ar porque o capi tal di spon vel , suscet vel de emprs-
ti mo por certo prazo, est i gual mente di spon vel para todos os ramos
da i ndstri a; assi m, em qual quer momento ou l ugar, o juro desse capi tal
deve ser o mesmo em todos os ramos de negci os.
Devo di zer que Mi l l , conforme me assi nal ou o Prof. Adamson,
tem uma seo notvel no fi m do cap tul o V do Li vro Tercei ro dos
Princpios na qual expl i ca que todas as desi gual dades, arti fi ci ai s ou
naturai s, do l ugar a ganhos extras da natureza da renda. Essa uma
seo mui to sati sfatri a na medi da em que tende a fortal ecer a con-
cepo sobre a qual i nsi sto agora, concepo que, entretanto, quando
l evada corretamente at o fi m, dei tar abai xo mui tas das pri nci pai s
doutri nas da Economi a de Ri cardo e Mi l l . Os que estudaram a formao
fi l osfi ca de Mi l l , to l onga e mi nuci osamente como fi z, no suporo
por um i nstante sequer que a exi stnci a dessa seo no l i vro de Mi l l
vi sa a estabel ecer sua coernci a com as outras partes do mesmo tratado.
Mas, natural mente, no posso l evar a cabo a di scusso desse assunto
num mero pargrafo. Os resul tados a esperar esto parci al mente i ndi cados
em meu Primer of Political Economy, mas naquel e pequeno tratado mi nhas
observaes sobre a ori gem da renda (p. 94), conforme ori gi nal mente pu-
bl i cado na pri mei ra edi o, estavam erradas, e a seo i ntei ra preci sa ser
reescri ta. Quando, fi nal mente, um verdadei ro si stema de Economi a vi er
a ser estabel eci do, ver-se- que aquel e homem capaz, porm tei moso, Davi d
Ri cardo, desvi ou o carro da Economi a para um cami nho errado cami nho
no qual , contudo, el e foi mai s tarde i mpel i do para a confuso por seu
admi rador, i gual mente capaz e tei moso, John Stuart Mi l l . Houve econo-
mi stas, como Mal thus e Seni or, que ti veram compreenso mui to mel hor
das verdadei ras doutri nas (apesar de no estarem i sentos dos erros ri -
cardi anos), mas foram desvi ados do escopo da ci ncia pela unidade e
infl unci a da escol a de Ri cardo e Mi l l . Ser um trabal ho penoso recol her
os fragmentos de uma ci nci a despedaada e comear outra vez; , porm,
um trabalho di ante do qual no devem recuar aquel es que desejam ver
algum avano na Cincia Econmi ca.
The Chestnuts,
Hampstead Heath, N. W.
Mai o de 1879.
OS ECONOMISTAS
40
PREFCIO DA TERCEIRA EDIO
(1888)
A presente edi o de A Teoria da Economia Poltica uma rei m-
presso exata da segunda edi o, com exceo do Apndi ce I , contendo
a l i sta bi bl i ogrfi ca dos l i vros econmi co-matemti cos. Desejei acres-
centar quel a l i sta vri os l i vros que meu mari do tenci onava i ncl ui r
na edi o segui nte, e, quando consul tei meu ami go H. S. Foxwel l , el e
aconsel hou-me a conti nu-l a at a presente data. Devo mui to gen-
ti l eza daquel es ami gos que me possi bi l i taram faz-l o; e, entre outros,
meus agradeci mentos so especi al mente devi dos ao Reverendo P. H.
Wi cksteed, ao Prof. F. Y. Edgerworth e ao Prof. Haral d Westergaard
de Copenhague pel o i ncmodo que ti veram em revi sar as provas, assi m
como em fornecer-me os t tul os dos l i vros que devem ser i ncl u dos.
Procuramos segui r as regras que Jevons estabel eceu no Prefci o se-
gunda edi o e, apesar da l i sta provavel mente no estar compl eta,
espero que nenhum trabal ho de i mportnci a tenha si do omi ti do.
Uns poucos l i vros publ i cados durante a vi da de meu mari do, mas
que, crei o, no eram de seu conheci mento, foram agora i ncl u dos, porm
col oquei entre col chetes. Tambm destaquei o l ugar onde termi na a
l i sta adi ci onal preparada por el e.
Harriet A. J evons
Agosto de 1888
41
PREFCIO DA QUARTA EDIO
Ao preparar uma nova edi o deste trabal ho, ti nha que ter em
mente doi s fatos: pri mei ro, que el e ai nda l i do por grande nmero de
estudantes por causa da exposi o de al guns dos pri nc pi os fundamen-
tai s de Economi a, os quai s, at o momento, no foram tratados mai s
adequadamente em nenhum outro l i vro em l ngua i ngl esa; e, segundo,
que el e j , em certo senti do, um cl ssi co. Uma al terao ocasi onal
do texto e al guma expl i cao de passagens di f cei s pareci am desejvei s
como ajuda ao estudante; mas o i nteresse do l i vro como a pri mei ra
tentati va i ngl esa de desenvol ver um si stema de Economi a baseado em
fatos psi col gi cos e no mtodo matemti co recomendava uma reedi o
fi el do texto como o prpri o autor o dei xou. Segui at agora esse l ti mo
procedi mento, e, com exceo de al gumas poucas al teraes l i gei ras de
pontuao, desti nadas a revel ar mai s faci l mente o senti do, no houve
prati camente al teraes do texto. As mui to poucas que eu me permi ti so
as que eram necessri as para corri gi r desl i zes bvi os, sal vo uma (p. 263,
l i nha 1), que foi i ndi cada pel o prpri o autor em seu exempl ar da segunda
edi o. Por outro l ado, onde quer que uma pequena nota de rodap pudesse
tornar mai s cl aro o pensamento do autor ou pudesse corri gi r um dos
poucos e pequenos erros que descobri , no hesi tei em i ntroduzi -l a, sempre
destacando as novas notas de rodap com a notao [Ed.].
Senti pl ena l i berdade para tratar os apndi ces mai s l i vremente
do que o texto e agora el es contm mai s trs novos. O Apndi ce I
uma tentati va de expl i car como meu pai tratava a teori a do juro, cuja
preci so e ori gi nal i dade no foram, penso, ampl a e sufi ci entemente
apreci adas, graas perpl exi dade causada por sua negl i gnci a em tor-
nar cl aras as suas hi pteses e em i nterpretar seus resul tados em termos
concretos. Espero apenas que mi nha vi so de seu pensamento seja
endossada por outros que possam exami nar mai s uma vez sua exposi o
da teori a.
No Apndi ce I I publ i quei um fragmento do manuscri to sobre ca-
pi tal e juro que encontrei entre as notas de meu pai preparadas para
o seu Principles of Economics. Por al guma razo no foi publ i cado no
43
vol ume dedi cado aos fragmentos dos Princpios, mas me pareceu su-
fi ci entemente ori gi nal e compl eto para val er a pena preserv-l o em
forma permanente.
O Apndi ce I I I i ntroduzi do por seu i nteresse hi stri co, sendo
uma republ i cao da pri mei ra exposi o do autor de sua teori a mate-
mti ca da Economi a, ento recentemente i nventada. Li esse trabal ho
na reuni o da Associ ao Bri tni ca em Cambri dge, em 1862, e um
resumo del e foi publ i cado no Rel atri o da Associ ao daquel e ano. O
trabal ho foi depoi s publ i cado na ntegra no J ournal of the Statistical
Society em 1866; mas ambas as publ i caes no chamaram a ateno.
De acordo com uma das notas do manuscri to de meu pai , a qual ti ve
a grande sorte de descobri r, a publ i cao de A Teoria da Economia
Poltica poderi a ter si do consi deravel mente adi ada para depoi s de 1871
se no fosse pel a apari o em 1868 e 1870 dos arti gos do Prof. Fl eemi ng
Jenki n (ver Apndi ce V), que so cl aramente matemti cos no mtodo
e contm di versos di agramas geomtri cos mui to bem estudados, i l us-
trando as l ei s da oferta e procura. Meu pai menci ona nessa nota que
o Prof. Jenki n estabel eceu uma correspondnci a com el e sobre o tema
do tratamento matemti co da Economi a e o uso de curvas, e que i sso
foi segui do pel a publ i cao do Graphic Representation of the Laws Sup-
ply and Demand, deste l ti mo, e concl ui : em parte, em conseqnci a
di sso fui l evado a escrever e publ i car a Teoria em 1871".
O Apndi ce I V contm a bi bl i ografi a do autor de seus prpri os
escri tos sobre temas econmi cos, que foi ampl i ada e atual i zada para
i ncl ui r novas edi es recentes de seus trabal hos.
O Apndi ce V contm a prpri a l i sta de escri tos econmi co-ma-
temti cos do Prof. Jevons, com o acrsci mo de uns poucos l i vros des-
conheci dos del e, os quai s esto col ocados entre col chetes. Notar-se-
que el a foi ampl i ada por numerosas notas sobre o contedo de mui tos
dos l i vros. Encontrei o manuscri to dessas notas escri to por meu pai ,
numa cai xa com cartas e outras notas referentes ao tratamento ma-
temti co da economi a. Se foram preparadas si mpl esmente para seu
uso pessoal ao escrever o Prefci o segunda edi o; ou se, i ntenci o-
nando publ i c-l as com sua bi bl i ografi a na segunda edi o, as rejei tou
por serem demasi ado l ongas; ou se estava esperando compl etar suas
notas para uma tercei ra edi o ou publ i car em separado, no sei . So
evi dnci as do entusi asmo e do trabal ho com que se dedi cou ao tema,
e di fi ci l mente dei xaro de ser tei s a futuros estudi osos a quem o
acesso aos trabal hos ori gi nai s poder ser freqentemente di f ci l .
Mi nha i nteno era conti nuar o trabal ho de meu pai , escrevendo
uma bi bl i ografi a de todos os l i vros, arti gos e escri tos publ i cados de
todos os ti pos que apareceram de 1880 a 1910, i ncl usi ve, na medi da
em que fosse capaz de descobri -l os, para formar um sexto apndi ce.
Vi vendo como eu, sem acesso a uma boa bi bl i oteca, o trabal ho teve
segui mento l ento e a deci so de produzi r uma bi bl i ografi a cl assi fi cada,
OS ECONOMISTAS
44
que requereu a l ei tura de boa parte de mui tos trabal hos, retardou
ai nda mai s as coi sas. Fel i zmente, os trabal hos matemti cos sobre Eco-
nomi a se tornaram to numerosos que uma si mpl es l i sta del es sem
i ndi cao de seus contedos seri a de pouca uti l i dade.
Por conveni nci a, na pesqui sa de per odos, adotei a regra de i n-
cl ui r todos os trabal hos que tratam a teori a econmi ca por mei o de
mtodos grfi cos ou si mbl i cos e apenas estes; mas uns poucos outros
l i vros e arti gos que no empregam nenhuma forma de expresso ma-
temti ca estavam para ser i ncl u dos em razo de seu objeto ser tratado
de manei ra que reconhece pl enamente o carter quanti tati vo da ci nci a.
Apesar de i nmeras centenas de fi chas terem si do fei tas e cl assi fi cadas,
o trabal ho ai nda est l onge de fi car compl eto. Como parece haver pouca
perspecti va de que seja capaz de dedi car tempo sua concl uso em
futuro prxi mo, afi nal deci di , com rel utnci a, publ i car esta edi o sem
essa bi bl i ografi a geral .
Provavel mente esta foi uma sbi a deci so de acordo com vri os
pontos de vi sta. No apenas permi ti r sua publ i cao mai s tarde como
l i vro i ndependente numa forma conveni ente, mas acredi to que, com a
cooperao de outros economi stas, os quai s pretendo procurar em breve,
surja fi nal mente uma bi bl i ografi a que seja da mai or uti l i dade para o
progresso desta ci nci a.
Se uma dedi catri a no fosse de al guma forma i mprpri a num
vol ume que apenas nova edi o de outro que no a do autor, gostari a
por tal gesto de comparti l har com mi nha me a republ i cao deste
l i vro. El a assi sti u com vi vo i nteresse e si mpati a a publ i cao das duas
pri mei ras edi es; a tercei ra, el a prpri a preparou. Lembro-me, quando
cri ana, de l er em voz al ta para el a as provas, e el a acompanhou com
zel oso i nteresse mi nha preparao desta quarta edi o. O l i vro tanto
del a que desejari a pudesse ter vi vi do para ter a sati sfao de ver a
publ i cao desta que provavel mente a edi o fi nal .
J EVONS
45
CAPTULO I
Introduo
A ci nci a da Economi a Pol ti ca basei a-se sobre poucas noes
de carter aparentemente si mpl es. Uti l i dade, ri queza, val or, mercado-
ri a, trabal ho, terra, capi tal so os el ementos do tema, e quem quer
que tenha perfei ta compreenso de sua natureza deve possui r, ou em
breve deve ser capaz de adqui ri r, um conheci mento do conjunto da
ci nci a. Como quase todo autor econmi co observa, ao tratar dos
el ementos si mpl es que preci samos do mai or cui dado e preci so, uma
vez que o m ni mo erro concei tual i nval i dar todas as nossas dedues.
Por i sso dedi quei as pgi nas segui ntes a uma i nvesti gao de condi es
e rel aes das noes aci ma menci onadas.
A r efl exo deti da e a pesqui sa l evar am-me opi ni o, de al guma
for ma i ndi ta, de que o valor depende inteiramente da utilidade. As
opi ni es pr eval ecentes fazem do tr abal ho, em vez da uti l i dade, a
or i gem do val or ; e h mesmo aquel es que cl ar amente afi r mam que
o tr abal ho a causa do val or . Demonstr o, ao contr r i o, que basta
segui r mos cui dadosamente as l ei s natur ai s da var i ao da uti l i dade,
enquanto dependente da quanti dade de mer cador i a em nosso poder ,
par a que cheguemos a uma teor i a sati sfatr i a da tr oca, da qual as
l ei s convenci onai s da ofer ta e da pr ocur a so uma conseqnci a
necessr i a. Essa teor i a est de acor do com os fatos; e sempr e que
houver al guma r azo apar ente par a a cr ena de que o tr abal ho seja
a causa do val or , obter emos uma expl i cao dessa r azo. Ver i fi ca-se
fr eqentemente que o tr abal ho deter mi na o val or , mas apenas de
manei r a i ndi r eta, ao var i ar o gr au de uti l i dade da mer cador i a por
mei o de um aumento ou i mi tao da ofer ta.
Essas concepes no so apresentadas de manei ra preci pi tada
ou i mpensada. Todos os pri nci pai s pontos da teori a foram esboados
h dez anos; mas el es foram ento publ i cados apenas sob a forma de
um resumi do trabal ho apresentado seo de Estat sti ca ou Economi a
47
da Associ ao Bri tni ca no Encontro de Cambri dge ocorri do em 1862.
Um resumo ai nda mai s breve foi i nseri do no rel atri o do Encontro,
30
e o prpri o trabal ho no foi publ i cado at junho de 1866.
31
Desde que
escrevi aquel e trabal ho tenho, repeti das vezes, questi onado a veraci -
dade de meus prpri os concei tos, sem nunca encontrar, porm, uma
razo para duvi dar de sua real correo.
O carter matemtico da cincia
cl aro que, se a Economi a deve ser, em absol uto, uma ci nci a,
deve ser uma ci nci a matemti ca. Exi ste mui to preconcei to em rel ao
s tentati vas de i ntroduzi r os mtodos e a l i nguagem da Matemti ca
em qual quer dos ramos das ci nci as morai s. Mui tas pessoas parecem
pensar que as ci nci as f si cas formam a esfera adequada do mtodo
matemti co, e que as ci nci as morai s requerem outro mtodo no
sei qual . Contudo, mi nha teori a de Economi a de carter puramente
matemti co. Mai s ai nda, acredi tando que as quanti dades com as quai s
l i damos devem estar sujei tas a vari ao cont nua, no hesi to em usar
o ramo apropri ado da ci nci a matemti ca, no obstante envol va a con-
si derao ousada das quanti dades i nfi ni tesi mai s. A teori a consi ste na
apl i cao do cl cul o di ferenci al aos concei tos fami l i ares de ri queza,
uti l i dade, val or, procura, oferta, capi tal , juro, trabal ho e todas as outras
noes quanti tati vas pertencentes s operaes coti di anas dos negci os.
Como a teori a perfei ta de quase todas as outras ci nci as envol ve o uso
daquel e cl cul o, no podemos, ento, ter uma verdadei ra teori a da
Economi a sem seu aux l i o.
Parece-me que nossa cincia deve ser matemtica, simplesmente
porque lida com quantidades. Onde quer que os objetos tratados sejam
pass vei s de ser maior ou menor, a as l ei s e rel aes devem ser ma-
temti cas por natureza. As l ei s usuai s da oferta e da procura tratam
i ntei ramente de quanti dades de mercadori a procurada ou ofereci da e
expressam a manei ra pel a qual as quanti dades vari am em conexo
com o preo. Em conseqnci a desse fato as l ei s so matemti cas. Os
economi stas no podem al terar sua natureza recusando-se a assi m
denomi n-l as; seri a como, se pudessem, tentar al terar a l uz vermel ha
ao denomi n-l a azul . Se as l ei s matemti cas so formul adas em pal a-
vras ou nos s mbol os usuai s, x, y, z, p, q etc., aci dental , ou mera
questo de conveni nci a. Se no l i gssemos para o i ncmodo e a pro-
l i xi dade, os probl emas matemti cos mai s compl i cados poderi am ser
formul ados na l i nguagem habi tual , e sua sol uo seri a determi nada
por mei o de pal avras. De fato, al guns matemti cos emi nentes mostra-
ram que gostavam de desvenci l har-se de seus s mbol os e expressar
OS ECONOMISTAS
48
30 Reports of Sections. p. 158.
31 J ournal of the Statistical Society. v. XXI X, p. 282.
seus argumentos e resul tados em l i nguagem to prxi ma quanto pos-
s vel do uso habi tual . Em seu Systme du Monde, Lapl ace tentou des-
crever os fatos da Astronomi a F si ca em l i nguagem corrente; e Thomson
e Tai t entrel aam seu grande Treatise on Natural Philosophy com uma
i nterpretao em termos usuai s, supostamente dentro da compreenso
dos l ei tores em geral .
32
Essas tentati vas, embora seus autores sejam emi nentes e tal entosos,
l ogo revel am os defei tos i nerentes gramti ca e ao l xi co para expressar
rel aes compl i cadas. Os s mbol os dos l i vros matemti cos no di ferem em
essnci a da l i nguagem; formam um perfei to si stema de l i nguagem, adap-
tado aos concei tos e rel aes que preci samos expressar. No consti tuem
o modo de raci oc ni o que corpori fi cam; apenas faci l i tam sua exposi o e
compreenso. Se, portanto, em Economi a, temos que l i dar com quanti dades
e suas compl i cadas rel aes, devemos raci oci nar matemati camente; no
tornamos a ci ncia menos matemti ca ao evi tar os s mbol os de l gebra
si mpl esmente nos recusamos a empregar, numa ci nci a mui to i mper-
fei ta, que necessi ta de todo ti po de aux l i o, aquel e aparato de si nai s ade-
quados comprovadamente i ndi spensvel em outras ci ncias.
A confuso entre as cincias matemticas
e as cincias exatas
Mui tas pessoas nutrem preconcei tos contra a l i nguagem mate-
mti ca, dando ori gem a uma confuso entre as noes de ci nci a ma-
temti ca e ci nci a exata. Pensam que no devemos pretender cal cul ar
a menos que tenhamos dados preci sos, que nos permi ti ro obter uma
resposta preci sa para nossos cl cul os; mas, na real i dade, no exi ste
tal coi sa enquanto ci nci a exata, sal vo em senti do comparati vo. A As-
tronomi a mai s exata que as outras ci nci as porque a posi o de um
pl aneta ou de uma estrel a permi te uma mensurao mui to prxi ma;
mas, se exami narmos os mtodos da Astronomi a F si ca, descobri remos
que so todos aproxi mados. Toda sol uo envol ve hi pteses que no
so real mente verdadei ras: como, por exempl o, que a Terra uma
esfera l i sa e homognea. Mesmo os probl emas mai s si mpl es de Estti ca
ou Di nmi ca so apenas aproxi maes hi potti cas real i dade.
33
Podemos cal cul ar o efei to de uma al avanca, desde que seja per-
fei tamente i nfl ex vel e tenha um ful cro r gi do o que no o caso.
34
J EVONS
49
32 A parte do tratado com ti po mai or e no si mbl i ca foi republ i cada em vol ume separado,
sob o t tul o Elements of Natural Philosophy pel os Prof. Si r W. Thomson e P. G. Tai t. Parte
Pri mei ra. Oxford, Cl arendon Press, 1873. Mas os autores me parecem i mpreci sos ao des-
crever esse trabal ho, no prefci o, como no matemtico. comparati vamente no simblico,
mas i gual mente matemti co com o Tratado i ntei ro.
33 Esse tema do carter aproxi mado da ci nci a quanti tati va abordado, com certa extenso,
no meu Principles of Science, cap. XXI , sobre A Teori a da Aproxi mao, e em outras
partes do mesmo trabal ho.
34 THOMSON e TAI T. Treatise on Natural Philosophy. v. I , p. 337.
Os dados so quase i ntei ramente defi ci entes para uma sol uo compl eta
de qual quer probl ema em Ci nci a Natural . Ti vessem os f si cos esperado
at que seus dados esti vessem perfei tamente preci sos antes de tomar
o aux l i o de matemti cos e estar amos ai nda na fase da ci nci a que
termi nou na poca de Gal i l eu.
Quando exami namos as ci nci as f si cas menos preci sas descobri -
mos que os f si cos so, de todos os homens, os mai s arrojados em
desenvol ver suas teori as matemti cas frente dos seus dados. Dei xe
qual quer um que duvi de di sso exami nar a Teori a dos Fl uxos de Ai ry,
conforme exposta na Enciclopdia Metropolitana; descobri r a uma
teori a matemti ca admi ravel mente compl exa, reconheci da por seu au-
tor como i ncapaz de ter apl i cao exata ou mesmo aproxi mada, porque
os resul tados dos vri os e freqentemente desconheci dos contornos dos
mares no admi tem veri fi cao numri ca. Nesse e em mui tos outros
casos temos a teori a matemti ca sem os dados necessri os para um
cl cul o preci so.
A mai or ou menor acui dade ati ng vel numa ci nci a matemti ca
questo casual e no afeta o carter fundamental da ci nci a. Pode
haver, contudo, doi s ti pos de ci nci a as que so simplesmente lgicas,
e as que, alm de serem lgicas, so tambm matemticas. Se houver
al guma ci nci a que determi ne apenas se uma coi sa ou no se um
evento ocorrer ou no , deve ser uma ci nci a si mpl esmente l gi ca;
mas se a coi sa pode ser mai or ou menor, ou se o evento ocorrer mai s
cedo ou mai s tarde, mai s prxi mo ou mai s di stante, ento entram
noes quanti tati vas e a ci nci a deve ser matemti ca em essnci a,
qual quer que seja o nome com que a denomi nemos.
A capacidade de medio exata
Mui tos objetaro, sem dvi da, que os concei tos de que tratamos
nesta ci nci a no so pass vei s de medi o. No podemos pesar, medi r
exatamente, nem testar as percepes da mente; no h uni dade de
trabal ho, de sofri mento ou de di verti mento. Assi m, como se uma
teori a matemti ca da Economi a esti vesse necessari amente pri vada
sempre de dados numri cos.
Respondo, em pri mei ro l ugar, que nada menos aconsel hvel
em ci nci a do que um esp ri to que no i ndaga e desesperanoso. Em
questes desse ti po, os que se desesperam so quase i nvari avel mente
os que nunca tentaram ter xi to. Um homem que ti vesse despendi do
uma vi da i ntei ra em tarefa rdua sem vi sl umbre de encorajamento,
estari a desesperado; mas as opi ni es popul ares no campo da teori a
matemti ca tendem a i mpedi r qual quer homem de tentar tarefas que,
apesar de di f cei s, devem ser real i zadas al gum di a.
Se segui mos o curso da hi stri a de outras ci nci as, no col hemos
l i es de desencorajamento. No caso de quase tudo aqui l o que agora
medi do exatamente, podemos remontar poca em que preval eci am
OS ECONOMISTAS
50
os mai s vagos concei tos. Antes do tempo de Pascal , quem pensari a em
medi r a dvida e a f? Quem poderi a conceber que a i nvesti gao de
pequenos jogos de azar i ri a conduzi r cri ao daquel e que tal vez o
mai s subl i me campo da ci nci a matemti ca a teori a das probabi l i -
dades? H ci nci as que, mesmo na memri a de homens que vi vem na
atual i dade, se tornaram exatamente quanti tati vas. Enquanto Quesnay,
Baudeau, Le Trosne e Condi l l ac estavam descobri ndo a Economi a Po-
l ti ca na Frana, e Adam Smi th na I ngl aterra, a el etri ci dade era um
fenmeno i ndefi ni do, conheci do, de fato, como capaz de se tornar mai or
ou menor, mas no era medi do nem cal cul ado: foi nos l ti mos quarenta
ou ci nqenta anos que uma teori a matemti ca da el etri ci dade, baseada
em dados preci sos, foi estabel eci da. Temos agora concei tos exatos re-
ferentes ao cal or, e podemos medi r a temperatura de um corpo com
preci so superi or a 1/5 000 de grau cent grado. Comparem essa preci so
com aquel a dos pri mei ros fabri cantes de termmetros, os Academi ci ans
del Ci mento, que graduavam seus i nstrumentos expondo-os aos rai os
sol ares para obter um ponto de temperatura fi xa.
35
De Morgan afi rmou de manei ra l api dar:
36
Para al gumas magni tudes a noo cl ara de medi o vem l ogo:
no caso do compri mento por exempl o. Mas tomemos uma mai s
di f ci l e si gamos os passos atravs dos quai s adqui ri mos e fi xamos
a i di a: di gamos o peso. O que seja peso, no preci samos saber.
(...) Ns o conhecemos, enquanto magni tude, antes de l he dar
um nome: qual quer cri ana pode descobri r o mais que h numa
bal a e o menos que h numa rol ha com o dobro de tamanho.
No fosse pel a si mpl es i nveno da bal ana, que nos i nspi ra bas-
tante confi ana (quanto, no i mporta no momento) e nos permi te
equi l i brar pesos i guai s, um contra o outro, i sto , detectar a i gual -
dade e a desi gual dade e assi m veri fi car quantas vezes o mai or
contm o menor, no ter amos at hoje noes mui to mai s cl aras
sobre a questo do peso, enquanto magni tude, do que temos sobre
as do tal ento, da prudnci a, ou da abnegao, tomadas sob o
mesmo ngul o. Todos aquel es que j foram um pouco gemetras
recordar-se-o da poca em que suas noes de um ngul o, en-
quanto magni tude, eram to ou tal vez mai s vagas do que aquel as
de uma qual i dade moral ; e tambm l embrar-se-o dos passos atravs
dos quai s essa i mpreci so se transformou em cl areza e preci so.
Ora, no pode haver dvi da de que o prazer, o sofri mento, o
trabal ho, a uti l i dade, o val or, a ri queza, a moeda, o capi tal etc... so
todos concei tos pass vei s de ser quanti fi cados; mai s ai nda, o conjunto
J EVONS
51
35 Ver Pri nci ples of Sci ence. Cap. XI I , sobre The Exat Measur ement of Phenomena . 3
ed., p. 270.
36 Formal Logic. p. 175.
de nossas aes na i ndstri a e no comrci o certamente depende da
comparao de quanti dades em termos de vantagem ou desvantagem.
Mesmo as teori as dos moral i stas reconhecem o carter quanti tati vo
do tema. A I ntroduction to the Principles of Morals and Legislation de
Bentham i ntei ramente matemti ca na natureza do mtodo. El e nos
decl ara
37
que aval i a a tendnci a de uma ao da segui nte manei ra:
Somemos os val ores de todos os prazeres de um l ado, e os
de todos os sofri mentos, de outro. O sal do, se esti ver do l ado do
prazer, resul tar em boa di sposi o no conjunto, em rel ao ao
i nteresse daquel a pessoa parti cul ar; se esti ver ao l ado do sofri -
mento, resul tar em m di sposi o no conjunto.
O car ter matemti co da abor dagem de Bentham da ci nci a
mor al tambm bem exempl i fi cado em seu notvel tr atado, i nti tu-
l ado A Table of the Springs of Action, publ i cado em 1817, na pgi na
3 e em outr os tr echos.
Mas onde, tal vez pergunte o l ei tor, esto seus dados numri cos
para esti mar prazeres e sofri mentos na Economi a Pol ti ca? Respondo
que meus dados numri cos so mai s abundantes e preci sos do que
aquel es di sposi o de qual quer outra ci nci a, mas que ai nda no
sabemos como empreg-l os. A enorme abundnci a de nossos dados
desconcertante. No h escri turri o ou contador no pa s que no esteja
engajado em regi strar fatos numri cos para o economi sta. Os l i vros
de contabi l i dade pri vada, os grandes l i vros-razo de comerci antes e
banquei ros e escri tri os pbl i cos, as l i stas de aes, as l i stas de preos,
os rel atri os bancri os, a i nformao monetri a, os rel atri os da Al -
fndega e de outros rgos governamentai s esto todos repl etos do
ti po de dados numri cos requeri dos para tornar a Economi a uma ci nci a
matemti ca exata. Mi l hares de vol umes in-folio de publ i caes esta-
t sti cas, parl amentares e outras esperam o trabal ho do i nvesti gador.
em parte a enorme extenso e compl exi dade da i nformao que nos
i mpede de us-l a apropri adamente. Mas pri nci pal mente a fal ta de
um mtodo e de perfei o nessa vasta massa de i nformaes que nos
i mpede de empreg-l a nas i nvesti gaes ci ent fi cas das l ei s naturai s
da Economi a.
Hesi to em di zer que os homens tero um di a os mei os de medi r
di retamente os senti mentos do corao humano. di f ci l at mesmo
conceber uma uni dade de prazer ou de sofri mento; mas o montante
desses senti mentos que est nos i nduzi ndo a comprar e vender, tomar
emprestado e emprestar, trabal har e repousar, produzi r e consumi r;
e a partir dos efeitos quantitativos dos sentimentos que devemos es-
timar seus montantes comparativos. No podemos conhecer ou medi r
OS ECONOMISTAS
52
37 Cap tul o I V, sobre o Val ue of a Lot of Pl easure or Pai n, How to be Measured. Seo V.
mai s a gravi dade em sua essnci a do que podemos medi r um senti -
mento; mas, assi m como medi mos a gravi dade pel os seus efei tos sobre
os movi mentos de um pndul o, tambm podemos esti mar a i gual dade
ou desi gual dade dos senti mentos pel as deci ses da mente humana. A
vontade nosso pndul o, e suas osci l aes so mi nuci osamente regi s-
tradas nas l i stas de preos dos mercados. No sei quando teremos um
perfei to si stema de estat sti cas, mas sua fal ta o ni co obstcul o i n-
supervel no cami nho para transformar a Economi a numa ci nci a exa-
ta. Na fal ta de estat sti cas compl etas, a ci nci a no ser menos ma-
temti ca, apesar de ser mui to menos ti l , em termos comparati vos,
do que se fosse exata. Uma teori a correta o pri mei ro passo em di reo
ao progresso, ao mostrar o que necessi tamos e o que podemos real i zar.
A medio dos sentimentos e dos impulsos
Mui tos l ei tores podero, mesmo depoi s de l er as observaes aci -
ma, consi derar compl etamente i mposs vel cri ar um cl cul o, como aquel e
aqui observado, porque no temos um mei o de defi ni r e medi r quan-
ti dades de senti mento, da manei ra que podemos medi r uma mi l ha, ou
um ngul o reto, ou qual quer outra quanti dade f si ca. Admi to que di -
fi ci l mente possamos cri ar o concei to de uma uni dade de prazer ou
sofri mento, de forma que a expresso numri ca de quanti dades de
senti mento parea estar fora de questo. Mas apenas empregamos uni -
dades de medi da em outras coi sas para faci l i tar a compreenso de
quanti dades, e se podemos comparar as quanti dades di retamente no
preci samos de uni dades. Ora, a mente de um i ndi v duo a bal ana
que faz suas prpri as comparaes, e o jui z fi nal das quanti dades
de senti mento. Como di z Bai n,
38
uma si mpl es proposi o equi val ente afi rmar que o mai or de doi s
prazeres, ou o que aparece como tal , di ri ge a ao resul tante, poi s
essa ao resultante que, sozinha, determina qual o mai or.
Os prazeres, em suma, so, por ora, da manei ra que a mente os
esti ma; de forma que no podemos fazer uma escol ha ou mani festar
o desejo em qual quer senti do, sem i ndi car desse modo um excesso de
prazer em al guma di reo. verdade que com freqnci a a mente
hesi ta e fi ca perpl exa ao fazer uma escol ha de grande i mportnci a:
i sso i ndi ca esti mati vas cambi antes dos i mpul sos ou um senti mento de
i ncapaci dade para abarcar as quanti dades em questo. No poderi a
pensar em atri bui r mente nenhum poder acurado de medi o ou de
adi o e subtrao de senti mentos, de forma a obter um sal do exato.
Raramente, ou nunca, podemos di zer que um prazer ml ti pl o de
outro; mas o l ei tor que cri ti car com cui dado a teori a segui nte descobri r
J EVONS
53
38 The Emotions and the Will. 1 ed., p. 447.
que el a raramente i mpl i ca a comparao de quanti dades de senti mento
que di fi ram mui to em val or. A teori a gi ra em torno daquel es pontos
cr ti cos onde os prazeres so aproxi madamente, seno compl etamente,
i guai s. Nunca tento esti mar o prazer total obti do ao comprar uma
mercadori a; a teori a apenas enunci a que, quando um homem comprou
o sufi ci ente obteri a tanto prazer da posse de uma pequena quanti dade
adi ci onal quanto do preo monetri o desta. Da mesma forma, todo o
montante de prazer que um homem adqui re por um di a de trabal ho
di fi ci l mente entra em questo; quando um homem est i ndeci so entre
aumentar ou no suas horas de trabal ho, que descobri mos uma i gual -
dade entre o sofri mento daquel e prol ongamento e o prazer, del e deri -
vado, proveni ente do aumento de posses.
O l ei tor descobri r, al m do mai s, que nunca h, em nenhum
momento sequer, uma tentati va de comparar o montante de senti mento
de uma mente com o de outra. No vejo mei os pel os quai s tal compa-
rao possa ser real i zada. A susceti bi l i dade de uma mente pode, daqui l o
que conhecemos, ser mi l hares de vezes superi or de outra. Mas, dado
que a susceti bi l i dade seja di ferente a tal proporo em todas as di rees,
nunca ser amos capazes de descobri r a di ferena. Assi m, toda mente
i nescrutvel para toda outra mente, e nenhum denomi nador comum
de senti mento parece ser poss vel . Mas mesmo que pudssemos com-
parar os senti mentos de mentes di ferentes, no preci sar amos faz-l o;
poi s uma mente apenas afeta a outra de forma i ndi reta. Todo evento
do mundo exteri or representado na mente por um i mpul so corres-
pondente, e pel a comparao destes que a deci so ser i nfl uenci ada.
Mas, numa mente, um i mpul so comparado apenas em rel ao a outros
i mpul sos na mesma mente, nunca em rel ao a i mpul sos em outras
mentes. Cada pessoa para as outras pessoas uma poro do mundo
exteri or o no-ego, como os metaf si cos denomi naram. Assi m, os
i mpul sos na mente de A podem dar l ugar a fenmenos que possam
ser representados por i mpul sos na mente de B, mas entre A e B h
um abi smo. Em conseqnci a, a comparao dos i mpul sos deve estar
sempre confi nada ao mago do i ndi v duo.
Devo destacar aqui que, apesar de a teori a supor a i nvesti gao
da condi o de uma mente e basear nessa i nvesti gao toda a Economi a,
na prti ca um conjunto de i ndi v duos que ser tratado. As formas
gerai s das l ei s da Economi a so as mesmas no caso de i ndi v duos e
naes; e, na real i dade, uma l ei operando no caso de grande nmero
de i ndi v duos que d ori gem ao conjunto, representado nas transaes
de uma nao. Prati camente, no entanto, i mposs vel detectar a ope-
rao de l ei s gerai s desse ti po nas aes de um ou de uns poucos
i ndi v duos. Os i mpul sos e as condi es so to numerosos e compl i cados,
que as aes resul tantes tm a aparnci a de um capri cho, e esto fora
do al cance dos poderes anal ti cos da ci nci a. Em toda el evao do preo
de uma mercadori a como o acar dever amos, em termos teri cos,
OS ECONOMISTAS
54
veri fi car todas as pessoas que reduzem seu consumo a um pequeno
montante e de acordo com uma l ei regul ar. Na real i dade, mui tas pessoas
no fari a absol utamente nenhuma mudana; umas poucas, provavel -
mente, i ri am ao extremo de di spensar por compl eto o uso do acar
na medi da em que seu custo conti nuasse a ser excessi vo. Seri a medi ante
o exame do consumo mdi o de acar numa grande popul ao que
poder amos detectar uma vari ao cont nua, rel aci onada vari ao do
preo por mei o de uma l ei constante. No seri a necessri o que a l ei
fosse exatamente a mesma no caso de conjuntos e de i ndi v duos, a
menos que todos os i ndi v duos fossem de um mesmo ti po e posi o no
referente ri queza e aos hbi tos; mas haveri a uma l ei mai s ou menos
regul ar qual se apl i cari a o mesmo ti po de frmul a. O uso de uma
mdi a ou, o que d no mesmo, de um resul tado conjunto depende da
grande probabi l i dade de que causas aci dentai s e perturbadoras com
freqnci a operaro, a l ongo prazo, tanto numa quanto noutra di reo,
de forma a se compensarem mutuamente. Admi ti ndo-se que temos um
nmero sufi ci ente de casos i ndependentes, podemos ento detectar o
efei to de qual quer tendncia, por mai s dbi l que seja. Portanto, questes
que parecem ser, e tal vez sejam, compl etamente i ndetermi nadas no
que se refere a i ndi v duos, podem ser pass vei s de i nvesti gao preci sa
e de sol uo no que se refere a grandes massas e ampl as mdi as.
39
O mtodo lgico da Economia
O mtodo l gi co da Economi a como um ramo das Ci nci as Soci ai s
um objeto sobre o qual mui to pode ser escri to, e sobre o qual opi ni es
mui to di ferentes so sustentadas atual mente (1879). Aqui , posso apenas
fazer al gumas poucas e breves observaes. Penso que John Stuart
Mi l l est essenci al mente correto ao consi derar ser nossa ci nci a um
caso que denomi nou
40
Mtodo Deduti vo F si co ou Concreto; consi dera
que devemos comear a parti r de al gumas l ei s psi col gi cas bvi as, como,
por exempl o, que um ganho mai or preferi do a um menor, e da em
di ante devemos raci oci nar e predi zer os fenmenos que sero produzi dos
na soci edade por tal l ei . As causas da ao em qual quer comuni dade
so, na real i dade, to compl i cadas que raramente seremos capazes de
descobri r os efei tos i nal terados de qual quer l ei , mas, na medi da em
que podemos anal i sar os fenmenos estat sti cos observados, obtemos
uma veri fi cao do nosso raci oc ni o. Essa vi so do assunto quase
i dnti ca quel a adotada pel o fal eci do Prof. Cai rnes em suas confern-
ci as sobre O Carter e o Mtodo Lgi co da Economi a Pol ti ca.
41
A pri nci pal objeo a ser fri sada contra essa abordagem de tema
J EVONS
55
39 Em rel ao ao si gni fi cado e emprego de Mdias, ver Principles of Science. Cap. XVI , sobre
o The Method of Means.
40 System of Logic. Li vro Sexto. Cap. I X, sec. 3.
41 2 ed., Macmi l l an, 1875.
a de que Mi l l apresenta o Mtodo Deduti vo Concreto como se fosse um
dos vri os mtodos i nduti vos. Em mi nhas Lies Elementares de Lgica
(p. 258) propus que se chamasse o mtodo de Mtodo Completo, si gni fi cando
que el e combi na observao, deduo e i nduo da manei ra mai s compl eta
e perfei ta. Mas, em segui da, cheguei concl uso de que esse assi m cha-
mado Mtodo Deduti vo no absolutamente um mtodo especi al , mas
si mpl esmente a prpria induo em seu aspecto essenci al . Conforme ex-
pl i quei exausti vamente,
42
induo uma operao inversa, o i nverso de
deduo, e pode apenas ser empreendi da pel o uso da deduo. Possuindo
certos fatos observvei s, constru mos uma hiptese sobre as l ei s que go-
vernam esses fatos; raci oci namos a parti r da hi ptese deduti vamente at
os resul tados esperados; e, ento, exami namos esses resul tados em rel ao
aos fatos em questo; a coi nci dncia confirma o conjunto do raci oc ni o; a
di scordncia nos obri ga a procurar as causas perturbadoras ou, alterna-
ti vamente, a abandonar nossas hipteses. Nesse procedi mento nada h
de pecul i ar; quando entendi do devi damente, veri fi ca-se que o mtodo
de todas as ci nci as i nduti vas.
A ci nci a da Economi a, contudo, de al guma forma pecul i ar,
devi do ao fato, i ndi cado por John Stuart Mi l l e Cai rnes, de que co-
nhecemos suas l ei s fundamentai s i medi atamente pel a i ntui o, ou, de
qual quer forma, nos sero forneci das j el aboradas pel as outras ci nci as
psi col gi cas ou f si cas. Que toda pessoa escol her o mai or bem aparente;
que as necessi dades humanas so mai s ou menos rapi damente saci -
vei s; que o trabal ho prol ongado se torna cada vez mai s penoso, so
al gumas das poucas i ndues si mpl es a parti r das quai s podemos con-
ti nuar a raci oci nar deduti vamente com grande confi ana. A parti r des-
ses axi omas podemos deduzi r as l ei s da oferta e da procura, as l ei s
daquel e di f ci l concei to, o val or, e todos os i ntri cados resul tados do
comrci o, desde que os dados estejam di spon vei s. A concordnci a fi nal
de nossas i nfernci as com as observaes a posteriori rati fi ca nosso
mtodo. Mas i nfel i zmente essa veri fi cao com freqnci a a parte
menos sati sfatri a do processo, porque, conforme J. S. Mi l l expl i cou
exausti vamente, as condi es de uma nao so mui to compl i cadas, e
raro termos doi s ou mai s exempl os que sejam comparvei s. Para
preencher as condi es da i nvesti gao i nduti va, devemos ser capazes
de observar os efei tos de uma causa atuando i sol adamente, enquanto
todas as outras causas permanecem i nal teradas. Para provar pl ena-
mente os efei tos posi ti vos do l i vre-comrci o na I ngl aterra, por exempl o,
devemos ter a nao i nal terada em todas as condi es, exceto pel a
abol i o das taxas e restri es sobre o comrci o.
43
Mas bvi o que
enquanto o l i vre-comrci o estava sendo i ntroduzi do na I ngl aterra, mui -
tas outras causas de prosperi dade tambm estavam entrando em ao:
OS ECONOMISTAS
56
42 Principles of Science. Cap. VI I , I X, XI I etc.
43 Principles of Science. Cap. XI X, sobre Experi ment.
o progresso das i nvenes, a construo de estradas de ferro, o consumo
abundante de carvo, a ampl i ao das col ni as etc., etc. Portanto, ape-
sar de os efei tos benfi cos do l i vre-comrci o serem grandes e i nques-
ti onvei s, di fi ci l mente sua exi stnci a poderi a ser provada a posteriori;
devem ser acei tos porque o raci oc ni o deduti vo a parti r de premi ssas
quase verdadei ras nos l eva seguramente a esperar tai s efei tos, e no
h nada na experi nci a que confl i te o m ni mo sequer com as nossas
expectati vas. Apesar de mudanas repenti nas ocasi onai s, devi das a
fl utuaes peri di cas dependentes de causas f si cas, a i mensa prospe-
ri dade do pa s, desde a adoo do l i vre-comrci o, confi rma nossas pre-
vi ses na medi da em que, sob condi es compl exas, os fatos so sus-
cet vei s de demonstr-l a. Assi m, veri fi car-se- que a Economi a Pol ti ca
tende a ser mai s deduti va do que mui tas das ci nci as f si cas, nas quai s
a veri fi cao aproxi mada freqentemente poss vel , mas, mesmo quan-
do a ci nci a i nduti va, envol ve o uso do raci oc ni o deduti vo, conforme
expl i cado.
Nos l ti mos anos, mui ta pol mi ca foi cri ada em torno do Mtodo
Fi l osfi co da Economi a Pol ti ca, pel o i nteressante ensai o sobre esse
tema
44
de T. E. Cl i ffe Lesl i e, e tambm pel a recente comuni cao do
Dr. I ngram Reuni o de Dubl i n da Associ ao Bri tni ca.
45
Concordo
pl enamente com esses economi stas capazes e emi nentes, na medi da
em que reconhecem que a i nvesti gao hi stri ca de grande i mpor-
tnci a na Ci nci a Soci al . Mas, em vez de converter nossa atual ci nci a
da Economi a numa ci nci a hi stri ca, destrui ndo-a compl etamente no
processo, eu aperfei oari a e desenvol veri a o que j possu mos, e ao
mesmo tempo eri gi ri a um novo ramo da Ci nci a Soci al sobre uma base
hi stri ca. Esse novo ramo da ci nci a, sobre o qual mui tos homens eru-
di tos, como Ri chard Jones, De Lavel eye, Lavergre, Cl i ffe Lesl i e, Si r
Henry Mai ne, Thorol d Rogers, j l aboraram, i ndubi tavel mente parte
daqui l o que Hebert Spencer denomi na Soci ol ogi a, a Ci nci a da Evol uo
das Rel aes Soci ai s. A economi a Pol ti ca est num estado cati co no
presente, porque se faz necessri o subdi vi di r uma esfera demasi ado
extensa de conheci mento. Quesnay, Si r James Steuart, Baudeau, Le
Trosne e Condi l l ac pri mei ramente di ferenci aram o sufi ci ente a Econo-
mi a para l ev-l a a ser vi sta como ci nci a di sti nta; desde ento foi
sobrecarregada com grandes i ncrementos devi do ao progresso da i n-
vesti gao. S medi ante o reconheci mento de um ramo da Soci ol ogi a
Econmi ca, possi vel mente junto com doi s ou trs outros ramos da ci n-
ci a estat sti ca, jur di ca ou soci al , podemos sal var nossa ci nci a desse
estado desordenado. J tentei mostrar a necessi dade desse passo numa
J EVONS
57
44 Hermathena. N I V, Dubl i n, 1876, p. 1.
45 Stati sti cal J ournal . Janei r o de 1879. v. XLI , p. 602. Tambm r epubl i cado por Long-
mans, 1878.
confernci a proferi da no Uni versi ty Col l ege, em outubro de 1876,
46
e
terei , tal vez, oportuni dade futura de estender-me mai s nesse assunto.
Para vol tar, no entanto, ao tpi co do presente trabal ho, a teori a
exposta aqui deve ser apresentada como a mecnica da utilidade e do
interesse individual. Descui dos podem ter si do cometi dos ao traar seus
detal hes, mas em suas caracter sti cas pri nci pai s, essa teori a deve ser
a verdadei ra. Seu mtodo to seguro e concl udente quanto aquel e
da Ci nemti ca ou da Estat sti ca, e, al m do mai s, quase to evi dente
quanto os el ementos de Eucl i des, quando se apreende pl enamente o
si gni fi cado real da doutri na.
No hesi to em di zer, tambm, que a Economi a pode ser gradual -
mente el evada condi o de ci nci a exata, desde que as estat sti cas
comerci ai s sejam bem mai s compl etas e exatas do que so no presente,
de sorte que a doutri na possa ser dotada com um senti do preci so por
mei o do aux l i o dos dados numri cos. Esses dados consi sti ri am funda-
mental mente em cmputos preci sos das quanti dades de bens possu das
e consumi das pel a comuni dade, e dos preos pel os quai s el es so tro-
cados. No h nenhuma razo por que no devssemos ter aquel as
estat sti cas, exceto pel o custo e di fi cul dades para col et-l as, e pel a m
vontade das pessoas em dar i nformaes. As quanti dades a serem me-
di das e regi stradas so as mai s concretas e preci sas. Em al guns casos
j temos uma i nformao prxi ma perfei o, como quando uma mer-
cadori a, como o ch, o acar, o caf ou o tabaco, i ntei ramente i m-
portada. Mas quando os arti gos no so taxados e so parci al mente
produzi dos dentro do pa s, no temos ai nda a mai s vaga noo das
quanti dades consumi das. Al gum pequeno xi to est agora, fi nal mente,
acompanhando os esforos para reuni r estat sti cas agr col as; e a grande
necessi dade, senti da pel os homens engajados no comrci o de al godo
e de outros produtos, de obter cl cul os acurados de estoques, i mpor-
taes e consumo, provavel mente l evar publ i cao de i nformaes
mui to mai s compl etas do que as que possu mos at o momento.
A ci nci a deduti va da Economi a deve ser comprovada e tornada
ti l pel a ci nci a puramente emp ri ca da Estat sti ca. A teori a deve ser
dotada da real i dade e da vi da dos fatos. Mas as di fi cul dades dessa
uni o so mui to grandes e as tomo em consi derao absol utamente
na mesma medi da em que Cai rnes o faz em suas admi rvei s confe-
rnci as Sobre o Carter e o Mtodo Lgi co da Economi a Pol ti ca.
Di fi ci l mente fao al guma tentati va para empregar Estat sti ca nesse
trabal ho, e dessa forma no al mejo nenhuma preci so numri ca. Mas,
antes de tentarmos qual quer i nvesti gao dos fatos, devemos ter con-
cei tos teri cos corretos; e daqui l o que foi aqui exposto di ri a, nas pal avras
de Hume, em seu Essay on Commerce:
OS ECONOMISTAS
58
46 Fortnightly Review. Dezembro de 1876; The Future of Pol i ti cal Economy. [Republ i cado
nos Principles of Economics do autor (1905).]
Se fal sos, dei xe-os serem rejei tados; mas ni ngum tem o di -
rei to de nutri r preconcei to contra el es s porque esto fora da
vi a comum.
A relao da Economia com a tica
Desejo di zer al gumas pal avras, neste ponto, acerca da rel ao
da Economi a com a Ci nci a Moral . A teori a que segue est baseada
i ntei ramente sobre o cl cul o do prazer e do sofri mento; e o objeto da
Economi a a maxi mi zao da fel i ci dade por mei o da aqui si o do
prazer, equi val ente ao menor custo em termos do sofri mento. A l i n-
guagem empregada pode dar margem a mal -entendi dos, e poderi a pa-
recer como se os prazeres e os sofri mentos de todo o ti po fossem tomados
como moti vos pl enamente sufi ci entes para gui ar a mente do homem.
No hesi to em acei tar a teori a uti l i tari sta da Moral , que toma o efei to
sobre a fel i ci dade da humani dade como o cri tri o do que certo ou
errado. Porm, nunca percebi haver al guma coi sa naquel a teori a que
nos i mpea de propor as i nterpretaes mai s ampl as e profundas a
parti r dos termos uti l i zados.
Jeremy Bentham formul a a teori a uti l i tari sta da forma mai s fi r-
me. De acordo com el e, o que quer que seja de i nteresse ou de i mpor-
tnci a para ns deve ser a causa de prazer ou de sofri mento; e quando
os termos so usados numa acepo sufi ci entemente ampl a, o prazer
e o sofri mento i ncl uem todas as foras que nos conduzem ao. So
expl ci ta ou i mpl i ci tamente o objeto de todos os nossos cl cul os e for-
mam as pri nci pai s magni tudes a serem tratadas em todas as ci nci as
morai s. As pal avras de Bentham sobre esse tema podem requerer al -
guma expl i cao ou qual i fi cao, mas so demasi ado i mportantes e
repl etas de verdade para serem omi ti das.
A Natureza, di z el e,
47
col ocou a humani dade sob o governo
de doi s mestres soberanos: o sofrimento e o prazer. Cabe a el es
i ndi car o que devemos fazer, assi m como determi nar o que fare-
mos. De um l ado, o padro do certo e do errado, de outro, a
cadei a de causas e efei tos esto l i gados sua autori dade. Gover-
nam-nos em tudo o que fazemos, em tudo o que di zemos, em
tudo o que pensamos; todo esforo que possamos fazer para rom-
per nossa dependnci a servi r apenas para demonstr-l a e con-
fi rm-l a. Nas pal avras, um homem pode pretender abjurar seu
i mpri o; porm, na real i dade, permanecer subordi nado a el e a
todo momento. O princpio da utilidade admi te essa dependnci a
e a toma como base daquel e si stema, cujo objeto construi r o
J EVONS
59
47 BENTHAM, Jeremy. An I ntroduction to the Principles of Morals and Legislation. Edi o
de 1823. v. I , p. 1.
edi f ci o da fel i ci dade pel as mos da razo e da l ei . Os si stemas
que tentam questi on-l o ocupam-se do aud vel ao i nvs do vi s vel ,
do capri cho ao i nvs da razo, da escuri do ao i nvs da l uz.
Rel aci onada a essa passagem podemos tomar a de Pal ey que di z,
em sua habi tual e cl ara conci so:
48
Sustento que os prazeres no di ferem em nada seno pel a
durao e i ntensi dade.
A acei tao ou no da base da teori a uti l i tari sta depende, a meu
ver, da i nterpretao correta dos termos uti l i zados. Quer me parecer
que os senti mentos dos quai s um homem capaz so de vri os graus.
Est sempre sujei to ao si mpl es prazer ou sofri mento f si cos, necessa-
ri amente proveni entes de seus desejos e susceti bi l i dades corporai s.
Tambm capaz de senti mentos espi ri tuai s e morai s de vri os graus
de grandeza. Um i mpul so superi or pode perfei tamente preval ecer sobre
todas as consi deraes pertencentes a um n vel de senti mentos mesmo
i medi atamente i nferi or; mas, uma vez que o i mpul so superi or no i n-
tervm, certamente to desejvel quo correto que os i mpul sos me-
nores sejam comparados entre si . Comeando pel o estgi o menos el e-
vado, dever do homem, assi m como o sua propenso natural , obter
comi da sufi ci ente e tudo o mai s que mel hor sati sfi zer seus prpri os e
moderados desejos. Se os pedi dos de uma fam l i a ou de ami gos recaem
sobre el e, pode vi r a ser desejvel que negue a seus prpri os desejos
e mesmo s suas necessi dades f si cas sua pl ena grati fi cao habi tual .
Mas os pedi dos de uma fam l i a consti tuem apenas um passo para um
grau mai s el evado de deveres.
A segurana de uma nao, o bem-estar de grandes popul aes
podem vi r a depender de seu empenho, se el e for um sol dado ou um
estadi sta: rei vi ndi caes de natureza mui to poderosa podem agora ser
superadas por rei vi ndi caes de natureza ai nda mai s poderosa. Tam-
bm no me aventurari a a di zer que, em al gum ponto, ati ngi mos o
n vel mai s el evado os i mpul sos supremos que gui aram a mente. O
estadi sta pode descobri r um confl i to entre i mpul sos; uma medi da pode
prometer, assi m o pareceri a, o mel hor para uma mul ti do e no entanto
pode haver moti vos de probi dade e honra que o i mpeam de i mpl antar
a medi da. No meu objeti vo, no momento, i nvesti gar como tai s ques-
tes to di f cei s podem ser corretamente resol vi das.
A teori a uti l i tari sta sustenta que todas as foras que infl uenciam
a mente do homem so os prazeres e os sofri mentos; e Pal ey foi to l onge
a ponto de afi rmar que todos os prazeres e sofri mentos so de um ti po
apenas. Bain levou s l ti mas conseqnci as essa vi so, ao di zer:
49
OS ECONOMISTAS
60
48 Principles of Moral and Political Philosophy. Li vro Pri mei ro. Cap. VI .
49 The Emotion and the Will. 1 ed., p. 460.
Nenhum embarao, por mai or que seja, ser al gum di a capaz
de mascarar o fato geral de que nossa ati vi dade vol untri a
movi da apenas por duas grandes cl asses de est mul os; tanto um
prazer quanto um sofri mento, presentes ou remotos, assi stem
necessari amente a toda si tuao que nos conduz ao.
A questo parece, sem dvi da, gi rar em torno da l i nguagem uti -
l i zada. Denomi nemos prazer qual quer moti vo que nos atrai a a certo
ti po de conduta; e denomi nemos sofri mento qual quer moti vo que nos
i mpea de ter aquel e ti po de conduta; torna-se i mposs vel negar que
todas as aes so governadas pel o prazer e pel o sofri mento. Mas,
ento, torna-se i ndi spensvel admi ti r que um ni co prazer superi or
compensar, al gumas vezes, mui tos e prol ongados sofri mentos i nferi o-
res. Parece ser i mposs vel admi ti r a afi rmao de Pal ey, sal vo com
uma i nterpretao que provavel mente i nverteri a seu senti do ori gi nal .
Os moti vos e os senti mentos so com certeza do mesmo ti po na medi da
em que formos capazes de compar-l os uns com os outros; mas, no
entanto, so quase i ncomparvei s em poder e autori dade.
Meu objeti vo presente est cumpri do ao i ndi car essa hi erarqui a
de senti mentos e desi gnar o devi do l ugar aos prazeres e sofri mentos
com que l i da o economi sta. do grau i nferi or dos senti mentos que
tratamos aqui . O cl cul o da uti l i dade al meja supri r as necessi dades
ordi nri as do homem ao menor custo de trabal ho. Cada trabal hador,
na ausnci a de outros moti vos, deve dedi car sua energi a acumul ao
de ri queza. Um cl cul o superi or da Moral do certo e do errado seri a
necessri o para mostrar como el e pode empregar da mel hor manei ra
aquel a ri queza para o bem tanto de outros como de si mesmo. Mas
quando esse cl cul o superi or no estabel ece nenhuma proi bi o, pre-
ci samos do cl cul o i nferi or para obtermos o mai or bem em termos de
i ndi ferena moral . No h nenhuma regra de moral que i mpea que
faamos duas fol has de grama crescerem em vez de uma, se, por mei o
do di spndi o sensato do trabal ho, pudermos faz-l o. E podemos certa-
mente di zer, com Franci s Bacon:
Enquanto os fi l sofos esto di scuti ndo se a vi rtude ou o prazer
o objeti vo correto da vi da, previ na-se com os i nstrumentos de
cada um del es.
J EVONS
61
CAPTULO II
A Teoria do Prazer e do Sofrimento
O prazer e o sofrimento enquanto quantidades
Prossegui ndo na consi derao de como o prazer e o sofri mento
podem ser esti mados enquanto magni tudes, devemos i ndubi tavel mente
acei tar o que Bentham formul ou sobre esse tema.
Para uma pessoa, di z el e,
50
consi derada sozinha, o val or de
um prazer ou sofri mento consi derado por si s ser mai or ou
menor de acordo com as quatro ci rcunstnci as segui ntes:
1) Sua intensidade.
2) Sua durao.
3) Sua certeza ou incerteza.
4) Sua proximidade ou longinqidade.
Essas so as ci rcunstnci as que devem ser consi deradas ao
se esti mar um prazer ou um sofri mento, consi derada cada uma
del as por si s."
Bentham
51
prossegue ao consi derar trs outras ci rcunstnci as que
di zem respei to ao resul tado derradei ro e compl eto de qual quer ato ou
senti mento; so estas:
5) Fecundidade, ou a possi bi l i dade de ser sucedi do por senti men-
tos do mesmo ti po; i sto , prazeres, se for um prazer; sofri mentos, se
for um sofri mento.
63
50 An I ntroduction to the Principles of Morals and Legislation. 2 ed., v. I , p. 49. O pri mei ro
autor que, quanto eu sai ba, tratou o prazer e o sofri mento de manei ra quanti tati va defi ni da
foi Franci s Hutcheson, em seu Essay on the Nature and Conduct of the Passions and
Affections. 1728, p. 34-43, 126 etc.
51 I ntroducti on. p. 50.
6) Pureza, ou a possi bi l i dade que tem de no ser sucedi do por
senti mento do ti po oposto.
7) Amplitude, ou o nmero de pessoas a quem el e se estende e
que so afetadas por el e.
Essas trs l ti mas ci rcunstnci as so de grande i mportnci a no
que se refere teori a da moral ; mas no entraro no probl ema mai s
si mpl es e restri to que tentaremos resol ver em Economi a.
Um senti mento, seja de prazer seja de sofri mento, deve ser vi sto
como tendo duas di menses ou modos de vari ao em rel ao quan-
ti dade. Todo senti mento deve durar al gum tempo e pode durar um
tempo mai or ou menor; enquanto durar, pode ser mai s ou menos agudo
e i ntenso. Se em doi s casos a durao do senti mento for a mesma,
aquel e caso que for mai s i ntenso produzi r a mai or quanti dade. Ou
podemos di zer que, com a mesma durao, a quanti dade ser propor-
ci onal i ntensi dade. Por outro l ado, se a i ntensi dade de um senti mento
permanecer constante, a quanti dade de senti mento aumentar com
sua durao. Doi s di as do mesmo grau de fel i ci dade devem ser o dobro
daquel a correspondente a um di a; doi s di as de sofri mento devem ser
o dobro daquel e amargado em um di a. Se a i ntensi dade conti nuasse
sempre fi xa, a quanti dade total seri a encontrada mul ti pl i cando o n-
mero de uni dades de i ntensi dade pel o nmero de uni dades de durao.
Prazer e sofri mento, ento, so quanti dades que possuem duas di men-
ses, assi m como as superf ci es possuem as duas di menses, de com-
pri mento e l argura.
Figura 1
Entretanto, em quase todos os casos a i ntensi dade do senti mento
se al terar a todo momento. A vari ao i ncessante caracteri za nossos
estados de esp ri to, e essa a ori gem das pri nci pai s di fi cul dades do
tema. Contudo, se essas vari aes puderem ser de al guma forma des-
cobertas, ou al guma abordagem do mtodo e da l ei puder ser detectada,
ser poss vel conceber a quanti dade resul tante de senti mento. Podemos
i magi nar que a i ntensi dade vari a ao fi m de todo mi nuto, mas que
OS ECONOMISTAS
64
permanece constante nos i nterval os. A quanti dade observada em cada
mi nuto pode ser representada, como na Fi g. 1, por um retngul o cuja
base deve corresponder durao de um mi nuto, e cuja al tura pro-
porci onal i ntensi dade do senti mento observado no mi nuto em questo.
Ao l ongo do ei xo ox medi mos o tempo e ao l ongo das paral el as ao ei xo
oy medi mos a intensidade. Cada um dos retngul os entre pm e qn
representa o senti mento de um mi nuto. A quanti dade total de senti -
mento gerada durante o tempo mn ser ento representada pel a rea
total dos retngul os, entre pm e qn.
Figura 2
Nesse caso, supe-se que a i ntensi dade de senti mento decl i ne
gradual mente.
Mas uma hi ptese i rreal a de que a i ntensi dade vari ari a segundo
sal tos repenti nos e em i nterval os regul ares. Assi m, o erro em que se
i ncorre no ser grande se os i nterval os de tempo forem mui to peque-
nos, e ser tanto menor quanto menores forem os i nterval os tomados.
Para evi tar qual quer erro, devemos i magi nar os i nterval os de tempo
como sendo i nfi ni tamente pequenos, i sto , devemos tratar a i ntensi -
dade como se vari asse conti nuamente. Assi m, a representao adequa-
da da vari ao do senti mento encontra-se numa curva de natureza
rel ati vamente compl exa. Na Fi g. 2 a al tura de cada ponto da curva
pq, aci ma do ei xo hori zontal ox, i ndi ca a i ntensi dade do senti mento
em determi nado momento do tempo; e a quanti dade total de senti mento
gerada no tempo mn medi da pel a rea l i mi tada pel as l i nhas pm, qn,
mn e pq. O senti mento correspondente a qual quer outro tempo, mx, ser
medi do pel o espao mabp cortado pel a l i nha perpendi cul ar ab.
Sofrimento, o negativo do prazer
Ser faci l mente acei to que o sofri mento o oposto do prazer; de
forma que di mi nui r o sofri mento aumentar o prazer, acrescentar
J EVONS
65
sofri mento di mi nui r o prazer. Assi m podemos tratar o prazer e o
sofri mento como as quanti dades posi ti vas e negati vas so tratadas na
l gebra. A soma al gbri ca de uma sri e de prazeres e de sofri mentos
obtm-se pel a adi o de todos os prazeres, de um l ado, e de todos os
sofri mentos, de outro, achando-se ento o sal do subtrai ndo-se do mon-
tante mai or o montante menor. Nosso objeti vo ser sempre maxi mi zar
a soma resul tante na di reo do prazer, que podemos conveni entemente
denomi nar di reo posi ti va. Ati ngi remos tal objeti vo ao acei tar tudo e
empreender toda ao cujo prazer resul tante exceda o sofri mento que
foi suportado; devemos evi tar todo objeti vo ou ao que al tere o equi -
l bri o na outra di reo.
As partes mai s i mportantes da teori a gi raro em torno da i gual -
dade preci sa, i ndependentemente do si nal , do prazer deri vado da posse
de um objeto e do sofri mento com que al gum se depara na sua aqui -
si o. Contento-me, portanto, em ci tar a segui nte passagem do tratado
de Bai n sobre The Emotions and the Will,
52
na qual expressa exata-
mente a oposi o entre prazer e sofri mento:
Quando o sofri mento segui do de prazer h uma tendnci a
de um neutral i zar, mai s ou menos, o outro. Quando o prazer
al i vi a, em montante exato, o sofri mento, di zemos que os doi s so
equi val entes ou i guai s em montante, apesar de natureza oposta,
como o cal or e o fri o, posi ti vo e negati vo; e quando doi s ti pos
di ferentes de prazer tm o poder de saci ar o mesmo montante
de sofri mento, h uma base razovel para afi rmar que el es pos-
suem o mesmo poder emoci onal . Assi m como os ci dos so con-
si derados equi val entes quando em quanti dade sufi ci ente para
neutral i zar a mesma poro de l cal i , e como o cal or esti mado
pel a quanti dade de neve que derreti da por el e, tambm os
prazeres so comparados razoavel mente em seu efei to total sobre
a mente pel o montante de sofri mento que so capazes de absorver.
Nesse senti do pode haver uma esti mati va efeti va de i ntensi dade.
Sentimento antecipado
Bentham afi rmou
53
que um dos pri nci pai s el ementos na esti ma-
ti va da fora de um prazer ou de um sofri mento sua proximidade
ou longinqidade. certo que grande parte daqui l o que vi venci amos
na vi da no depende de ci rcunstnci as reai s do momento, mas da an-
teci pao de eventos futuros. Conforme di z Bai n:
54
A anteci pao do prazer prazer i ni ci ado. Todo del ei te real
projeta antes um i deal correspondente.
OS ECONOMISTAS
66
52 1 ed. p. 30.
53 Ver p. 41.
54 The Emotions and the Will. 1 ed., p. 74.
Todos devem ter senti do que a sati sfao real mente vi venci ada
em qual quer momento l i mi tada em quanti dade e normal mente no
corresponde s anteci paes que se formaram. O homem nunca est
fel i z, mas sempre est para ser fel i z uma descri o correta de nosso
estado de esp ri to habi tual ; e h pouca dvi da de que, em mentes de
mui ta i ntel i gnci a e previ so, a mai or fora do senti mento e do moti vo
se ori gi na da anteci pao de um futuro l ong nquo.
Ora, entre o montante atual de senti mento anteci pado e aquel e
que senti do deve haver uma rel ao natural , sem dvi da mui to va-
ri vel de acordo com as ci rcunstnci as, a posi o i ntel ectual do povo
ou o carter do i ndi v duo, e ai nda sujei ta a al gumas l ei s de vari ao.
A i ntensi dade do senti mento anteci pado no presente deve ser, para
usar uma expresso matemti ca, uma funo do real sentimento do
futuro e do intervalo de tempo, e deve crescer medi da que nos apro-
xi mamos do momento de real i zao. Do mesmo modo, a vari ao deve
ser tanto mai s l enta quanto mai s di stante estejamos do momento, e
tanto mai s rpi da quanto mai s nos aproxi mamos del e. Um evento que
dever acontecer daqui a um ano nos afetar, em mdi a, i gual mente
em um di a como em outro; j um evento i mportante que deve acontecer
daqui a trs di as provavel mente nos afetar, em cada di a que nos
separa, mai s acentuadamente que no l ti mo.
55
Essa capaci dade de anteci pao tem com certeza grande i nfl un-
ci a na Economi a, uma vez que sobre el a que se basei a toda a acu-
mul ao de estoques de bens a serem consumi dos num tempo futuro.
A cl asse ou raa de homens que for mai s previ dente, mai s trabal har
pel o futuro. O sel vagem i ngnuo, como a cri ana, se ocupa i ntei ramente
com os prazeres e di fi cul dades do momento, percebe vagamente o di a
segui nte e seu hori zonte no abarca mai s que poucos di as. As neces-
si dades do prxi mo ano ou de toda uma vi da no so sequer vi sl um-
bradas. Porm, num estado de ci vi l i zao, o i ncenti vo pri nci pal pro-
duo e poupana o senti mento, vago mas poderoso, do futuro. Os
cui dados do momento no so mai s que pal has na corrente da real i zao
e da esperana. Podemos di zer com segurana que fel i z aquel e homem
que, mesmo de bai xa condi o e posses l i mi tadas, sempre pode aspi rar
a mai s do que tem e senti r que cada momento de l abuta tende
real i zao de suas aspi raes. Aquel e que, ao contrri o, procura o des-
frute do momento fugaz, sem consi derar os tempos vi ndouros, h de
descobri r, mai s cedo ou mai s tarde, que sua cota de prazer est
m ngua e que comea a fal tar-l he at mesmo a esperana.
A incerteza dos eventos futuros
Ao admi ti rmos a fora do senti mento anteci pado, somos l evados
J EVONS
67
55 Presumi vel mente deve ser: (...) mai s acentuadamente que no di a anteri or. [Ed.]
a consi derar a i ncerteza de todos os eventos futuros. No devemos
jamai s esti mar o val or daqui l o que pode ou no ocorrer como se fosse
acontecer real mente. Se tanto pode ser que eu receba 100 l i bras como
no, tal chance val e 50 l i bras, poi s, se eu adqui ri r a chance a essa
taxa mui tas vezes sucessi vas, com quase toda certeza no vou perder
nem ganhar. A prova da correo das esti mati vas de probabi l i dade
que os cl cul os coi nci dem com os fatos, em mdi a. Apl i cando esse m-
todo a todos os i nteresses futuros, devemos reduzi r a nossa esti mati va
de qual quer senti mento proporci onal mente s ci fras que expressam a
probabi l i dade de ocorrnci a do evento. Se a probabi l i dade de que eu
tenha determi nado di a prazeroso apenas de uma em dez, devo an-
teci par o prazer com 1/10 da fora que el e teri a caso fosse certo. Por-
tanto, ao escol her uma l i nha de ao que dependa de eventos i ncertos,
como sempre ocorre com tudo na vi da, eu deveri a mul ti pl i car a quan-
ti dade de senti mento vi ncul ada a cada evento futuro pel a frao que
expri me sua probabi l i dade. Uma perda mui to grande, mas que di fi ci l -
mente ocorrer, pode no ser to i mportante quanto uma perda i nsi g-
ni fi cante, porm de ocorrnci a quase certa. Real i zamos cl cul os desse
ti po quase i nconsci entemente, com mai or ou menor preci so, em todos
os assuntos comuns da vi da; e em pl anos de seguros de vi da, contra
i ncndi os, mar ti mos e outros, executamos tai s cl cul os com grande
exati do. Devemos, de i gual manei ra, l evar em conta nossa fal ta de
conheci mento sobre o que vi r a acontecer em toda empresa vol tada
para metas futuras.
OS ECONOMISTAS
68
CAPTULO III
Teoria da Utilidade
Definio dos termos
O prazer e o sofri mento so i ndi scuti vel mente o objeto l ti mo
do cl cul o da Economi a. Sati sfazer ao mxi mo as nossas necessi dades
com o m ni mo de esforo obter o mxi mo do desejvel custa do
m ni mo i ndesejvel , ou, em outras pal avras, maximizar o prazer,
o probl ema da Economi a. Mas conveni ente di ri gi r o mai s cedo poss vel
nossa ateno para as aes ou objetos f si cos que so para ns a fonte
de prazeres e sofri mentos. Grande parte do trabal ho de qual quer co-
muni dade empregada na produo dos gneros de pri mei ra necessi -
dade e das conveni nci as comuns da vi da, como comi da, vesturi o,
prdi os, utens l i os, mob l i as, ornamentos etc.; e o conjunto dessas coi sas,
portanto, o objeto i medi ato de nossa ateno.
bom i ntroduzi r e defi ni r desde j al guns termos que faci l i tem a
expresso dos pri nc pi os da Economi a. Devemos entender por bem qual-
quer objeto, substncia, ao ou servio que capaz de proporci onar prazer
ou afastar sofri mento. A pal avra era ori gi nal mente abstrata
56
e i ndi cava
a qual i dade de qual quer coi sa que a tornava capaz de ser ti l ao homem.
Tendo adqui ri do, por um processo comum de confuso, si gni fi cao con-
creta, bom reserv-l a para esse l ti mo emprego, usando-se o termo
utilidade para si gni fi car a qual i dade abstrata que torna um objeto apro-
pri ado para nossos fi ns, caracteri zando-o como um bem. Tudo o que
capaz de gerar prazer ou evi tar sofri mento pode possui r uti l i dade. J.-B.
Say defi ni u a uti l i dade com acerto e conci so como sendo
la facult quont les choses de pouvoir servir lhomme, de quelque
manire que ce soit.
57
69
56 Trata-se, no ori gi nal i ngl s, da pal avra commodity, cuja si gni fi cao na l ngua i ngl esa ser
di scuti da na seo deste mesmo cap tul o Desuti l i dade e bens negati vos. (N. do T.)
57 "A facul dade que tm as coi sas de poder servi r ao homem, qual quer que seja a manei ra."
Em francs, no ori gi nal . (N. do T.)
A comi da que evi ta os tormentos da fome, as roupas que rechaam
o fri o do i nverno, possuem uti l i dade i ncontestvel . Devemos, porm,
nos guardar de restri ngi r o si gni fi cado da pal avra por qual quer con-
si derao moral . Deve-se consi derar que tudo aqui l o que um i ndi v duo
deseja e trabal ha para obter tem uti l i dade para el e. Na ci nci a eco-
nmi ca tratamos os homens no como deveri am ser, mas como so.
Bentham, ao estabel ecer os fundamentos da Ci nci a Moral em seu
magn fi co I ntroduction to the Principles of Morals and Legislation (p.
3), compreensi vamente assi m defi ne o assunto em questo:
Por uti l i dade se entende aquel a propri edade de qual quer ob-
jeto pel a qual el e tende a produzi r benef ci o, vantagem, prazer,
bem ou fel i ci dade (tudo i sso, no caso presente, vem dar na mesma
coi sa), ou (o que tambm o mesmo) evi tar a ocorrnci a de dano,
sofri mento, mal ou i nfel i ci dade para aquel e cujo i nteresse est
em consi derao.
As leis das necessidades humanas
A Economi a deve ter por base uma i nvesti gao compl eta e preci sa
sobre as condi es da uti l i dade; e para entendermos esse fundamento
devemos necessari amente exami nar as necessi dades e desejos do ho-
mem. Antes de tudo, preci samos de uma teori a do consumo da ri queza.
Com efei to, J. S. Mi l l emi ti u uma opi ni o di scordante desta.
A Economi a Pol ti ca, di z el e,
58
nada tem a ver com o consumo
da ri queza, seno no que se refere produo ou di stri bui o,
de cujas consi deraes i nseparvel . No sabemos de nenhuma
l ei do consumo da ri queza que seja objeto de uma ci nci a parti -
cul ar; tai s l ei s no podem ser outras que as do prazer humano.
Mas certamente bvi o que a Economi a se basei a de fato nas l ei s
do prazer humano; e que, se essas l ei s no so desenvolvi das por nenhuma
outra cincia, devero s-l o pel os economi stas. S trabal hamos para pro-
duzi r com o ni co objeti vo de consumi r, e as espci es e quanti dades dos
arti gos produzi dos devem ser determi nadas em rel ao ao que queremos
consumi r. Todo fabri cante sabe e sente com que exati do preci sa anteci par
os gostos e necessi dades de seus cl i entes: todo o seu sucesso depende
di sso; e, da mesma forma, a teori a econmi ca deve comear por uma
teori a correta do consumo. Mui tos economi stas ti veram consci ncia dessa
verdade. Lorde Lauderdal e afi rma cl aramente
59
que
o grande passo si gni fi cati vo para a determi nao das causas do
rumo que a i ndstri a toma nas naes (...) parece ser a descoberta
OS ECONOMISTAS
70
58 Essays on some Unsetled Questions of Political Economy. p. 132.
59 I nquiry into the Nature and Origin of Public Wealth. 2 ed., 1819. p. 306 (1 ed., 1804).
do que determi na a proporo de demanda dos di versos arti gos
que so produzi dos.
Seni or, em seu tratado admi rvel , tambm reconheceu essa ver-
dade e chamou a ateno para o que el e denomi na lei da variedade
das exi gnci as humanas. As necessi dades da vi da so to poucas e
si mpl es que um homem cedo se sati sfaz com rel ao a el as, e passa
a querer estender o mbi to de seu prazer. Seu pri mei ro objeti vo
vari ar sua al i mentao, mas l ogo surge o desejo de vari edade e el egnci a
no vesti r, e a i sso sucede o desejo de construi r, ornamentar e mobi l i ar
gostos que uma vez exi stentes so absol utamente i nsaci vei s e pa-
recem aumentar com cada progresso da ci vi l i zao.
60
Mui tos economi stas franceses tambm observaram que as neces-
si dades humanas so o objeto supremo da Economi a. Basti at, por exem-
pl o, em seu Harmonies of Political Economy, di z: Harmonies of Political
Economy. Traduzi do para o i ngl s por P. J. Sti rl i ng. 1860. p. 65.
Necessidades, esforos, satisfao: esse o mbi to da Econo-
mi a Pol ti ca.
Anos mai s tarde, Courcel l e-Seneui l abri u de fato o seu tratado
com uma defi ni o de necessi dade:
61
Le besoin conomique est un dsir qui a pour but la possession
et la jouissance dun objet matriel.
62
E crei o que el e formul ou da mel hor manei ra poss vel o probl ema
da Economi a quando enunci a seu objeto como sendo satisfaire nos
besoins avec la moindre somme de travail possible.
63
O Prof. Hearn tambm comea seu excel ente tratado, i nti tul ado
Plutology, or the Theory of Efforts to Supply Human Wants, com um
cap tul o no qual consi dera a natureza das necessi dades que i mpel em
o homem l abuta.
Contudo, o autor que na mi nha opi ni o al canou a compreenso
mai s profunda dos fundamentos da Economi a T. E. Banfi el d. Seu
curso de pal estras apresentado na Uni versi dade de Cambri dge, em
1844, e publ i cado sob o t tul o de The Organization of Labour, al ta-
mente i nteressante, embora nem sempre correto. No trecho abai xo,
64
el e assi nal a profundamente que a base ci ent fi ca da Economi a est
J EVONS
71
60 Encyclopaedia Metropolitana. Arti go Pol i ti cal Economy, p. 133. 5 rei mpresso, p. 11.
61 COURCELLE-SENEUI L, J. G. Trait Thorique et Pratique dEconomie Politique. 2 ed.,
Pari s, 1867. t. I , p. 25.
62 "A necessi dade econmi ca um desejo que tem por objeti vo a posse e a funo de um
objeto materi al ." Em francs, no ori gi nal . (N. do T.)
63 I bid.
*
, p. 33.
*
Sati sfazer s nossas necessi dades com a menor soma de trabal ho poss vel . Em francs,
no ori gi nal . (N. do T.)
64 2 ed., p. 11.
numa teori a do consumo; crei o que no preci so me descul par por ci tar
essa passagem i ntegral mente:
O homem padece das necessi dades mai s bai xas juntamente
com os i rraci onai s. El e sente mai s fortemente que o resto do
mundo ani mal os tormentos da fome e da sede, os efei tos do
cal or e do fri o, da seca e da i nundao. Sem dvi da seus sofri -
mentos so aguados pel a consci nci a de que el e no tem ne-
nhuma razo para se sujei tar a tai s i mposi es. A experi nci a
mostra, contudo, que ti pos di versos de pri vao afetam os homens
em graus di ferentes, de acordo com as ci rcunstnci as em que se
encontram. Para al guns homens a pri vao de certos prazeres
i ntol ervel , enquanto outros nem sentem sua fal ta. H tambm
aquel es que sacri fi cam tudo aqui l o que os outros guardam com
cui dado para sati sfazer a desejos e aspi raes i ncompreens vei s
para seus prxi mos. sobre essa base compl exa de bai xas ne-
cessi dades e al tas aspi raes que o economi sta pol ti co tem de
construi r a teori a da produo e do consumo.
Um exame da natureza e i ntensi dade das necessi dades do
homem mostra que a rel ao entre estas d Economi a Pol ti ca
sua base ci ent fi ca. A pri mei ra proposi o da teori a do consumo
a de que a satisfao de toda a necessidade inferior na escala
cria um desejo de carter mais elevado. Se o desejo mai s el evado
j exi sti a antes da sati sfao da necessi dade pri mri a, el e se
torna mai s i ntenso quando esta el i mi nada. A el i mi nao de
uma necessi dade pri mri a desperta geral mente a percepo de
mai s de uma pri vao secundri a: assi m, uma provi so compl eta
de al i mento comum no s exci ta o pal adar como tambm des-
perta a ateno para o vesturi o. O grau mai s al to na escal a das
necessi dades, o do prazer proveni ente das bel ezas da Natureza
e da arte, geral mente restri to a homens que esto i sentos de
todas as pri vaes mai s bai xas. Assi m, a demanda e o consumo de
objetos de refi nado prazer tm sua mol a propul sora na faci l i dade
com que so sati sfei tas as necessi dades pri mri as. Aqui est, por-
tanto, a chave da verdadei ra teori a do val or. Sem o val or rel ati vo
i nerente aos objetos para cuja obteno di ri gi mos nossa energi a,
no haveri a fundamento para a Economi a Pol ti ca como cincia.
A utilidade no uma qualidade intrnseca
Meu pri nci pal trabal ho agora i nvesti gar a natureza exata e as
condi es da uti l i dade. Com efei to, parece estranho que os economi stas
no tenham dedi cado mai or ateno a um tema que encerra sem dvi da
a verdadei ra chave para o probl ema da Economi a.
Em pri mei ro l ugar, a uti l i dade, apesar de ser uma qual i dade das
coi sas, no uma qualidade inerente. Defi ne-se mel hor como uma cir-
OS ECONOMISTAS
72
cunstncia das coisas que surge da rel ao destas com as exi gnci as
do homem. Como di z Seni or com preci so:
A uti l i dade no denota nenhuma qual i dade i ntr nseca s coi -
sas que chamamos de tei s, apenas expressa a rel ao del as com
os sofri mentos e os prazeres da humani dade.
Jamai s podemos, portanto, di zer de forma absol uta que determi -
nados objetos tm uti l i dade e outros no. O mi nri o no fundo da mi na,
o di amante ocul to ao ol har do expl orador, o tri go no cei fado, a fruta
que no se col he por fal ta de consumi dores, no possuem nenhuma
uti l i dade. As vari edades de al i mento mai s compl etas e necessri as so
i ntei s se no houver mos que as col etem e bocas que as comam
mai s cedo ou mai s tarde. Tampouco podemos di zer, quando exami namos
de perto o assunto, que todas as pores do mesmo bem possuem i gual
uti l i dade. A gua, por exempl o, pode ser descri ta por al to como a subs-
tnci a mai s ti l de todas. Um quart
65
de gua por di a tem a grande
uti l i dade de sal var uma pessoa de morrer de manei ra penosa. Al guns
gal es podem possui r mui ta uti l i dade para fi ns como cozi nhar e l avar,
mas depoi s que se garanti u um supri mento adequado para esses usos,
qual quer quanti dade adi ci onal vi sta com rel ati va i ndi ferena. Tudo
o que podemos di zer, poi s, que a gua i ndi spensvel at certa
quanti dade; e quanti dades adi ci onai s tero di versos graus de uti l i dade,
mas, al m de certa quanti dade, a uti l i dade di mi nui gradati vamente
at zero, podendo mesmo tornar-se negati va, ou seja, quanti dades adi -
ci onai s da mesma substnci a podem tornar-se i nconveni entes e danosas.
As mesmas consi deraes se veri fi cam com mai or ou menor cl areza
em todos os outros arti gos. Uma l i bra de po por di a forneci da a uma
pessoa a salva da inani o, e tem a mxi ma uti l i dade conceb vel . Uma
segunda libra por di a tambm tem mui ta uti l i dade: mantm a pessoa
num estado de rel ati va saci edade, embora no seja i ntei ramente i ndi s-
pensvel . Uma tercei ra l i bra de po comearia a ser suprfl ua. Fi ca cl aro,
portanto, que a utilidade no proporcional massa de bens: os mesmos
arti gos vari am em uti l i dade dependendo de j possui rmos mai s ou menos
desse mesmo arti go. I sso tambm pode ser di to sobre outras coi sas. Um
conjunto de roupas por ano necessri o, um segundo, conveniente, um
tercei ro, desejvel, um quarto no i nacei tvel ; mas, cedo ou tarde, ati n-
gi mos um ponto al m do qual no se tem nenhum desejo de novos su-
pri mentos, a menos que sejam para uso futuro.
Lei da variao da utilidade
Vamos agora i nvesti gar o tema mai s de perto. Consi dere-se que
a uti l i dade medi da pel o acrsci mo fei to ao contentamento de uma
J EVONS
73
65 Trata-se de medi da que equi val e aproxi madamente a um l i tro. (N. do T.)
pessoa, ou at mesmo i dnti ca a este de fato. El a um nome conveniente
para o sal do total favorvel de senti mento produzi do a soma do prazer
cri ado com o sofri mento evi tado. Devemos agora fazer cui dadosamente a
di sti no entre a utilidade total proveni ente de al gum ti po de bem e a
uti l i dade vi ncul ada a qual quer poro determi nada deste. Assi m, a uti -
l i dade total da comi da que comemos a de manter a vi da, e pode ser
considerada infi nitamente grande; mas se subtrairmos 1/10 daquilo que
comemos di ari amente, nossa perda seri a apenas l eve. Certamente no
ter amos perdi do 1/10 da uti l i dade total que a comi da tem para ns.
at duvi doso que soframos qual quer dano com i sso.
I magi nemos toda a quanti dade de comi da que uma pessoa con-
some em mdi a em 24 horas di vi di da em dez partes i guai s. Se sua
comi da reduzi da de uma parte, el a pouco sofrer. Se uma segunda
parte fal tar, a pessoa senti r a necessi dade com ni ti dez; a reti rada de
uma tercei ra parte ser sem dvi da prejudi ci al ; com cada reti rada
sucessi va das partes restantes seus sofri mentos sero mai s e mai s
sri os, at que fi nal mente el a estar bei ra da i nani o. Se chamarmos
cada uma das dez partes de um acrscimo, o descri to aci ma si gni fi cari a
que cada acrsci mo de comi da menos necessri o, ou tem menos uti -
l i dade que o anteri or. Para expl i car essa vari ao da uti l i dade podemos
l anar mo de representaes grfi cas, com as quai s achei conveni ente
i l ustrar as l ei s da Economi a nas mi nhas pal estras uni versi tri as nos
l ti mos qui nze anos.
Figura 3
Seja a medi da da quanti dade de comi da representada pel a l i nha
ox, que se di vi de em dez partes i guai s, correspondentes s dez pores
de comi da aci ma referi das. Sobre esses segmentos i guai s constroem-se
retngul os, e consi dera-se a rea de cada retngul o representao da
uti l i dade do acrsci mo de comi da correspondente sua base. Assi m,
a uti l i dade do l ti mo acrsci mo pequena, sendo proporci onal ao l ti mo
retngul o, sobre x. medi da que nos aproxi mamos de o, cada acrsci mo
OS ECONOMISTAS
74
exi be um retngul o mai or, e sobre I I I temos o mai or retngul o compl eto.
A uti l i dade do acrsci mo segui nte, I I , i ndefi ni da, como tambm a de
I , uma vez que essas pores de comi da so i ndi spensvei s vi da, e
sua uti l i dade, portanto, i nfi ni tamente grande.
Podemos agora formar uma i di a cl ara da uti l i dade de toda a
comi da, ou de qual quer parte desta, e para i sso preci samos apenas
somar os retngul os apropri ados. A uti l i dade da pri mei ra metade da
comi da ser a soma dos retngul os sobre a l i nha oa; a da segunda
parte ser representada pel a soma dos retngul os menores entre a e
b. A uti l i dade total da comi da ser a soma total dos retngul os, que
ser i nfi ni tamente grande.
Contudo, o ponto mai s i mportante a uti l i dade comparati va das
vri as partes. A uti l i dade pode ser tratada
66
como uma quantidade de
duas dimenses, sendo que uma di menso consi ste na quanti dade do
bem, e a outra a i ntensi dade do efei to produzi do sobre o consumi dor.
Dessa forma, mede-se a quanti dade do bem na l i nha hori zontal ox, e
a i ntensi dade da uti l i dade ser medi da pel a al tura das l i nhas verti cai s,
ou ordenadas. A i ntensi dade da uti l i dade do tercei ro acrsci mo tanto
pode ser medi da por pq como pq, e sua uti l i dade o produto das
uni dades de pp mul ti pl i cadas pel as de pq.
Mas a di vi so da comi da em dez partes i guai s uma suposi o
arbi trri a. Se houvssemos tomado vi nte ou cem ou mai s partes i guai s,
o mesmo pri nc pi o geral permaneceri a verdadei ro, qual seja, que cada
pequena poro seri a menos ti l e necessri a que a anteri or. Teori ca-
mente, consi dera-se que a l ei permanece verdadei ra por menores que
sejam os acrsci mos fei tos, e desse modo al canaremos afi nal uma fi gura
geomtri ca i dnti ca a uma curva cont nua. A noo de quanti dades de
comi da i nfi ni tamente pequenas pode parecer absurda com rel ao ao
consumo de um i ndi v duo, mas, se consi derarmos o consumo de uma
nao como um todo, podemos conceber que o consumo aumente ou
di mi nua de quanti dades que so, na prti ca, i nfi ni tamente pequenas
se comparadas com o consumo gl obal . As l ei s que estamos prestes a
del i near devem ser vi stas como teori camente verdadei ras com rel ao
ao i ndi v duo, mas s podem ser veri fi cadas na prti ca em rel ao a
transaes, produes e consumos agregados de grande nmero de pes-
soas. Contudo, cl aro que as l ei s dos agregados dependem das l ei s
referentes aos casos i ndi vi duai s.
A l ei da vari ao do grau de uti l i dade da comi da pode desse
modo ser representada por uma curva cont nua pbq (Fi g. 4), e a al tura
perpendi cul ar de cada ponto da curva sobre a l i nha ox representa o
grau de uti l i dade do bem quando certa quanti dade j foi consumi da.
Desse modo, quando a quanti dade oa j foi consumi da, o grau
J EVONS
75
66 A teori a das di menses da uti l i dade ser exposta i ntegral mente numa seo subseqente.
de uti l i dade corresponde ao compri mento da l i nha ab, poi s se tomarmos
um pouco mai s de comi da, aa, sua uti l i dade ser aproxi madamente
o produto de aa, por ab, com tanto mai s preci so quanto menor for a
magni tude de aa. O grau de uti l i dade , poi s, medi do corretamente
Figura 4
pel a al tura de um retngul o mui to estrei to, correspondente a uma
quanti dade mui to pequena de comi da, que em teori a i nfi ni tamente
pequena.
Utilidade total e grau de utilidade
Estamos agora em condi es de apreci ar perfei tamente a di fe-
rena entre a utilidade total de qual quer bem e o grau de utilidade
do bem em qual quer ponto. Com efei to, essas quanti dades so de ti pos
compl etamente di ferentes, sendo a pri mei ra representada por uma rea
e a segunda por uma l i nha. Preci samos ver agora como expressar essas
noes na l i nguagem matemti ca apropri ada.
Que x represente, como uso nos l i vros de Matemti ca, a quan-
ti dade que vari a i ndependentemente neste caso, a quanti dade do
bem. Seja u a utilidade total obti da pel o consumo de x. Nesse caso u
ser, como se di z em Matemti ca, uma funo de x, ou seja, el e vari ar
de manei ra cont nua e regul ar, embora provavel mente desconheci da,
ao se vari ar x. Agora, nosso objeti vo pri nci pal ser expressar o grau
de utilidade.
Os matemti cos usam o s mbol o na frente de um s mbol o que
expresse quanti dade, como x, para representar uma quanti dade da
mesma natureza de x, embora pequena em rel ao a x. Assi m, x
si gni fi ca uma pequena poro de x, e x + x portanto uma quanti dade
pouco mai or que x. Dessa forma, quando x expressar a quanti dade de
um bem, a uti l i dade de x + x ser portanto mai or que a de x, vi a de
regra. Seja a uti l i dade gl obal de x + x representada por u + u, ento
OS ECONOMISTAS
76
bvi o que o acrsci mo de uti l i dade u pertence ao acrsci mo do bem
x, e se, de acordo com esse raci oc ni o, i magi narmos que o grau de
uti l i dade uni forme em toda a extenso de x, o que prati camente
devi do sua pequenez, encontraremos o grau de uti l i dade correspon-
dente di vi di ndo u por x.
Essas consi deraes so pl enamente i l ustradas na Fi g. 4 na qual
oa representa x, e ab o grau de uti l i dade no ponto a. Assi m, se
acrescentamos a x a pequena quanti dade aa, ou x, a uti l i dade ser
acresci da do pequeno retngul o abba, ou u, e uma vez que um re-
tngul o o produto de seus l ados, descobri mos que o compri mento da
l i nha ab, o grau de uti l i dade, representado pel a frao
u
x
.
Contudo, como j foi expl i cado, a uti l i dade de um bem pode ser
ti da como vari ando em conti nui dade perfei ta, de forma que cometemos
um pequeno erro ao sup-l a constante em toda a extenso do acrsci mo
x. Para evi tar i sso, devemos i magi nar x reduzi do a um tamanho
i nfi ni tamente pequeno, e u acompanhando a reduo. Quanto menores
forem as quanti dades, mai s perto estaremos da expresso correta de
ab, ou seja, o grau de uti l i dade no ponto a. Assi m, o limite da frao
u
x
, ou, como representado geral mente,
du
dx
, o grau de uti l i dade
correspondente quanti dade do bem x. O grau de utilidade , em
l i nguagem matemti ca, o coeficiente diferencial de u considerado funo
de x, e ser el e mesmo outra funo de x.
Raramente preci samos consi derar o grau de uti l i dade, exceto com
rel ao ao l ti mo acrsci mo que foi consumi do ou, o que d no mesmo,
ao prxi mo acrsci mo que est prestes a ser consumi do. Portanto, usarei
comumente a expresso grau final de utilidade para desi gnar o grau
de uti l i dade do l ti mo acrsci mo, ou a prxi ma poss vel adi o de uma
quanti dade mui to pequena, ou i nfi ni tamente pequena, ao montante
exi stente. Em ci rcunstnci as comuns, o grau fi nal de uti l i dade no
ser to grande se comparado com o que poderi a ser. S al canamos
os graus mai s al tos em casos de grande penri a ou em outras ci rcuns-
tnci as extremas. Dessa forma podemos tratar mai s freqentemente
das partes mai s bai xas das curvas de vari ao (pbq, Fi g. 4) que se
referem a transaes comerci ai s comuns, e dei xaremos de l ado as partes
al m de p ou q. Tambm evi dente que podemos saber o grau de
uti l i dade em qual quer ponto embora i gnorando a uti l i dade total , i sto
, a rea da curva i ntei ra. Seri a i nteressante poder esti mar a sati sfao
total de uma pessoa, mas i sso no seri a to i mportante quanto esti mar
as adi es e subtraes sua sati sfao, conforme a ocasi o. Da mesma
forma, uma pessoa mui to ri ca pode no ser capaz de formar uma i di a
exata de toda a sua fortuna, mas pode ter, no obstante, um cmputo
exato de suas rendas e despesas, ou seja, das adi es e subtraes.
J EVONS
77
Variaes do grau final de utilidade
O grau de uti l i dade a funo em torno da qual i r gi rar a
teori a econmi ca. Os economi stas, de modo geral , no chegaram a di s-
ti ngui r entre essa funo e a uti l i dade total , e essa confuso gerou
mui ta perpl exi dade. Mui tos bens que nos so extremamente tei s so
pouco desejados e apreci ados. No podemos vi ver sem gua, e no en-
tanto no atri bu mos a el a nenhum val or em ci rcunstnci as normai s.
Por que assi m? Apenas porque geral mente temos tanta gua que
seu grau fi nal de uti l i dade est reduzi do prati camente a zero. Desfru-
tamos, todos os di as, da uti l i dade quase i nfi ni ta da gua, mas na ocasi o
no preci samos consumi r mai s do que temos. Di gamos que o supri mento
se torne escasso devi do seca, e comearemos a senti r os graus mai s
al tos de uti l i dade, nos quai s pouco pensamos em outros tempos.
A vari ao da funo que expressa o grau fi nal da uti l i dade o
ponto pri nci pal nos probl emas econmi cos. Podemos estabel ecer como
l ei geral que o grau de utilidade varia com a quantidade de um bem
e finalmente diminui na medida em que a quantidade aumenta. No
poss vel ci tar um s bem que conti nuemos a desejar com a mesma
fora, seja qual for a quanti dade que j se usa ou possui . Todos os
nossos apeti tes so pass vei s de satisfao ou saciedade mai s cedo ou
mai s tarde; na verdade, ambas as pal avras si gni fi cam eti mol ogi camente
que j ti vemos o suficiente, de forma que o que vi er a mai s no tem
uti l i dade para ns. Da no segue, contudo, que o grau de uti l i dade
cai r sempre a zero. I sso pode acontecer com al gumas coi sas, notada-
mente com as necessi dades ani mai s el ementares, como comi da, gua,
ar etc. Mas quanto mai s refi nadas e i ntel ectuai s se tornam nossas
necessi dades, menos pass vei s so de saci edade. Uma vez despertado,
prati camente no h l i mi te para o desejo de adqui ri r arti gos de l uxo,
de cul tura ou exti cos.
Esse i mportante pri nc pi o da di mi nui o l ti ma do grau fi nal de
uti l i dade de qual quer bem subjaz nos escri tos de mui tos economi stas,
embora raramente seja afi rmado com cl areza. El e a verdadei ra l ei
que est na base da assi m chamada l ei da vari edade de Seni or. Com
efei to, por acaso Seni or enunci a a prpri a l ei . Di z el e:
evi dente que nossos desejos vi sam menos a quanti dade que
a di versi dade. No s h l i mi tes para o prazer que bens de qual -
quer espci e podem proporci onar, mas tambm o prazer di mi nui
numa proporo cada vez mai or mui to antes de esses l i mi tes
serem ati ngi dos. Doi s arti gos do mesmo ti po raramente daro
duas vezes o prazer de um s, e dez mui to menos daro ci nco
vezes o prazer de doi s. Proporci onal mente, de acordo com i sso,
se um arti go abundante, deve ser grande o nmero daquel es
que o possuem e no querem, ou querem mui to pouco, aumentar
OS ECONOMISTAS
78
seu supri mento; e para el es, um supri mento adi ci onal perde toda
ou quase toda a uti l i dade. Tambm, proporci onal mente escassez
do arti go, deve aumentar o nmero daquel es que del e necessi tam,
e o grau com que o desejam, e sua uti l i dade, ou em outras pa-
l avras, o prazer que trar a posse de dada quanti dade desse
arti go, aumentar proporci onal mente.
67
A l ei da subordi nao das necessi dades de Banfi el d tambm se
api a na mesma base. Com preci so, no se pode di zer que a sati sfao
de uma necessi dade mai s bai xa cria uma necessi dade mai s el evada;
el a apenas permi te que a necessi dade mai s el evada se mani feste. Ns
di stri bu mos nosso trabal ho e nossos haveres de forma a sati sfazer em
pri mei ro l ugar s necessi dades mai s prementes. Se fal ta al i mento, o
mai or probl ema como obter mai s del e, porque, no momento, mai s
prazer ou sofri mento depende mai s do al i mento do que de qual quer
outro bem. Mas quando o al i mento razoavel mente abundante, seu
grau fi nal de uti l i dade cai a um n vel mui to bai xo, e as necessi dades
de natureza mai s compl exa e menos saci vel se tornam comparati va-
mente proemi nentes.
Contudo, o autor que, no meu entender, anal i sou com mai or cl a-
reza a natureza e a i mportnci a da l ei da uti l i dade foi Ri chard Jenni ngs,
que em 1855 publ i cou um pequeno l i vro chamado Natural Elements
of Political Economy.
68
Essa obra trata do fundamento f si co da Eco-
nomi a, mostrando sua dependnci a das l ei s fi si ol gi cas. El a apresenta
uma vi so profunda da base real da Economi a, contudo, no tenho
not ci a de que os economi stas tenham prestado a m ni ma ateno s
opi ni es de Jenni ngs.
69
Forneo, portanto, um extrato compl eto de suas
observaes sobre a natureza da uti l i dade. Veremos que a l ei , como a
enunci o, no novi dade, que tudo de que preci samos para obter uma
correta teori a da Economi a uma deduo cui dadosa a parti r dos pri n-
c pi os que temos.
Todos sabem perfei tamente que, passando do efei to rel ati vo
dos bens em produzi r sensaes para os efei tos absol utos ou que
dependem apenas da quanti dade de cada bem, o grau de cada
sensao produzi da no de forma al guma comensurvel pel a
quanti dade do bem apl i cado aos senti dos. (...) Esses efei tos pre-
ci sam ser observados deti damente, porque so o fundamento das
mudanas do preo monetri o de que so causa os objetos de
val or em tempos di versos de escassez e abundnci a. Devemos
J EVONS
79
67 Encyclopaedia Metropolitana. p. 133. Reedi o, p. 12.
68 Longmans, Londres.
69 Cai rnes , porm, uma exceo. Ver sua obra The Character and Logical Method of
Poli tical Economy. Londr es, 1857. p. 81. 2 ed., Macmi l l an, 1875. p. 56, 110 e 224 do
Apndi ce B.
portanto di ri gi r a el es nossa ateno de modo a determi nar a
natureza da l ei segundo a qual vari a o grau das sensaes que
esto presentes no consumo quando muda a quanti dade do bem
consumi do.
Podemos contempl ar um objeto at no podermos mai s di s-
cerni -l o, escutar at no podermos mai s ouvi r, chei rar at esgotar
a sensao de odor, saborear at que o objeto se torne nauseante,
e tocar at senti rmos dor; podemos consumi r al i mentos at es-
tarmos pl enamente sati sfei tos, e usar esti mul antes at causarem
mai s dor. Por outro l ado, o mesmo objeto ofereci do aos senti dos
em questo, por um espao de tempo l i mi tado, e o mesmo al i mento
ou esti mul ante consumi dos quando estamos esgotados ou cansa-
dos podem transmi ti r mui ta grati fi cao. Se i magi narmos a quan-
ti dade gl obal do bem consumi do entre o estado de saci edade e o
estado de i nani o, di vi di da em vri as partes i guai s, cada uma
assi nal ada com seu grau correspondente de sensao, o probl ema
a ser resol vi do ser: que rel ao h entre a di ferena nos graus
de sensao e a di ferena nas quanti dades do bem?
Pri mei ramente, com respei to a todos os bens, nossos senti -
mentos mostram que os graus de sati sfao no se comportam
pari passu com as quanti dades consumi das: el es no aumentam
de forma i gual com cada acrsci mo do bem ofereci do aos senti dos,
at pararem de repente, mas di mi nuem gradual mente at, por
fi m, desaparecerem, e acrsci mos adi ci onai s no produzi ro ne-
nhuma sati sfao adi ci onal . Nessa escal a progressi va os i ncre-
mentos de sensao resul tantes de i ncrementos i guai s de um
bem so obvi amente cada vez menores a cada passo: cada grau
de sensao menor que o grau anteri or. Col ocando-nos no ponto
mdi o de sensao, o juste milieu, a aurea mediocritas, o riston
mtron dos sbi os, que o estado mai s comum do conjunto da
humani dade, e que portanto a mel hor posi o que pode ser
escol hi da para se medi r desvi os de montante usual , podemos di zer
que esse o carter da l ei que expressa rel ao dos graus de
sensao com as quanti dades de bens: se aumentar a quanti dade
mdi a ou sufi ci ente dos bens, a sati sfao advi nda aumentar
em grau menor, e por fi m cessar total mente de aumentar, se
a quanti dade mdi a ou sufi ci ente for di mi nu da, a perda de mai s
e mai s sati sfao segui r-se- conti nuamente, e o preju zo assi m
surgi do se tornar no fi nal mui t ssi mo el evado.
70
Desutilidade e bens negativos
Umas poucas pal avras bastaro para mostrar que assi m como
OS ECONOMISTAS
80
70 p. 96-99.
uti l i dade si gni fi ca a produo de prazer, ou pel o menos uma al terao
favorvel no equi l bri o entre prazer e sofri mento, da mesma forma a
uti l i dade negati va consi sti r na produo de sofri mento, ou na al terao
desfavorvel do equi l bri o. Na real i dade, preci samos nos preocupar to
freqentemente com uma como com a outra; contudo, os economi stas
no empregam nenhum termo tcni co prpri o para desi gnar a produo
de sofri mento que acompanha tantas aes da vi da. El es fi xaram sua
ateno nos aspectos mai s agradvei s do assunto. Ser admi ss vel atri -
bui r pal avra i ngl esa discommodity traduzi da aqui pel a expresso
bem negati vo
71
a si gni fi cao de qual quer substnci a ou ao que
seja o oposto de bem, i sto , qualquer coisa de que desejamos nos livrar,
como ci nzas ou gua de esgoto. Na verdade, discommodity propri a-
mente uma fl exo abstrata que si gni fi ca i nconveni nci a ou desvanta-
gem. Mas, como o substanti vo commodities vem sendo usado na l ngua
i ngl esa h pel o menos quatrocentos anos como um termo concreto,
72
podemos converter aqui discommodity em um termo concreto, e fal ar
de discommodities para si gni fi car substnci as ou coi sas que possuem
a propri edade de causar transtorno ou dano. Para a noo abstrata,
o oposto ou o negati vo de uti l i dade, podemos i nventar o termo desu-
tilidade, que si gni fi car al go di sti nto de i nuti l i dade, ou a ausnci a de
uti l i dade. obvi o que a uti l i dade passa pel a i nuti l i dade antes de tor-
nar-se desuti l i dade, e essas noes se rel aci onam como +, 0 e .
Distribuio de um bem entre usos diferentes
Os pri nc pi os da uti l i dade podem ser i l ustrados pel a consi derao
do modo como di stri bu mos um bem que pass vel de usos di versos.
Exi stem arti gos que podem ser empregados para mui tos fi ns di sti ntos:
assi m, a cevada pode ser usada tanto para fazer cerveja, bebi da al -
col i ca, po, como para al i mentar rebanhos; o acar pode ser usado
na al i mentao ou para produzi r l cool ; a madei ra pode ser empregada
em construo ou como combust vel ; o ferro e outros metai s podem ser
empregados para mui tos fi ns di ferentes. Suponhamos, ento, uma co-
muni dade que di sponha de certo estoque de cevada. Que pri nc pi os
regul aro seu modo de consumi -l a? Ou, como ai nda no chegamos ao
assunto da troca, i magi nemos uma fam l i a i sol ada, ou mesmo um i n-
di v duo, que di spe de uma provi so adequada e que usa parte del a
J EVONS
81
71 Como j foi di to em nota anteri or, a pal avra commodity foi aqui traduzi da por bem, e seu
antni mo discommodity o agora pel a expresso bem negativo. Uma vez que o resto do
pargrafo trata pri nci pal mente das i mpl i caes de ambos os termos na prpri a l ngua
i ngl esa, estes sero manti dos sem traduo at o fi nal desta seo. A expl i cao do autor
a respei to da ori gem e si gni fi cados da pal avra na l ngua i ngl esa i mportante para que o
l ei tor forme uma i di a cl ara sobre o que so bens e bens negativos no presente contexto.
(N. do T.)
72 usado preci samente no seu senti do econmi co atual no notvel Processe of the Li bel l e
of Engl i sh Pol i ci e, escri to provavel mente no scul o XV, e publ i cado nas Voyages de Hakluyt.
de uma forma e parte de outra. A teori a da uti l i dade fornece, teori ca-
mente fal ando, uma sol uo compl eta para o probl ema.
Seja s o estoque total de um bem que pode ser empregado para
doi s fi ns di sti ntos. Podemos representar as duas quanti dades apro-
pri adas a esses usos por x
1
e y
1
, com a condi o de que x
1
+ y
1
= s.
I magi nemos que a pessoa gaste sucessi vamente pequenas quanti dades
do bem. Ora, a tendnci a i nevi tvel da natureza humana escol her
o procedi mento que parece oferecer a mai or vantagem no momento.
Assi m, se uma pessoa fi ca sati sfei ta com a di stri bui o que fez, segue-se
que nenhuma al terao dari a a el a mai s prazer, o que o mesmo que
di zer que um acrsci mo do bem renderi a exatamente tanta uti l i dade
num uso como no outro. Sejam u
1
e u
2
os acrsci mos de uti l i dade
que seri am obti dos respecti vamente pel o consumo de um acrsci mo do
bem dos doi s modos di ferentes. Quando acaba a di stri bui o, temos
necessari amente u
1
= u
2
, ou, no l i mi te, temos a equao
du
1
dx
=
du
2
dy
que verdadei ra quando x e y so i guai s respecti vamente a x
1
e y
1
.
Devemos, em outras pal avras, i gual ar os graus finais de utilidade nos
doi s usos.
O mesmo raci oc ni o que se apl i ca aos usos do mesmo bem se
apl i ca evi dentemente a doi s usos quai squer da mesma forma que a
todos os usos si mul taneamente, de modo que obtemos uma sri e de
equaes, que so tantas quanto o nmero de usos do bem menos um.
O resul tado geral que um bem, se usado por um ser perfei tamente
sbi o, dever ser consumi do com uma produo mxi ma de uti l i dade.
Mui tas vezes veri fi camos que essas equaes no se apl i cam ao
caso. Mesmo quando x i gual a 99/100 do estoque, seu grau de uti l i dade
pode ai nda exceder a uti l i dade referente ao 1/100 restante empregado
em qual quer outro uso. I sso si gni fi ca que prefer vel empregar todo
o bem no pri mei ro uso. Pode-se di zer que um caso assi m no a
exceo, mas a regra, poi s, sempre que o bem pass vel de apenas
um uso, o fato mostrado teori camente di zendo-se que o grau fi nal
de uti l i dade nesse emprego sempre supera o de qual quer outro emprego.
Em ci rcunstnci as especi ai s ocorrem grandes mudanas no con-
sumo de um bem. Em tempo de escassez a uti l i dade da cevada como
comi da pode el evar-se tanto que exceda compl etamente sua uti l i dade
no preparo de bebi das al col i cas, mesmo com respei to menor quan-
ti dade, cessando ento seu consumo dessa l ti ma manei ra. Numa ci -
dade si ti ada revol uci ona-se o emprego dos arti gos. Coi sas de grande
uti l i dade em outros empregos so usadas sem d para propsi tos i nu-
si tados. Em Pari s, um grande estoque de carne eqi na foi comi do, no
porque fosse i nti l para outros fi ns, mas porque era mai s necessri o
OS ECONOMISTAS
82
como al i mento. Com efei to, certa parte dos caval os teve que ser manti da
como mei o necessri o de l ocomoo, de forma que a equao dos graus
de uti l i dade nunca dei xou de se apl i car i ntei ramente.
Teoria das dimenses das grandezas econmicas
Com o recente progresso da ci nci a f si ca, tornou-se necessri o
usar uma notao com o objeti vo de mostrar cl aramente as naturezas
e rel aes dos vri os ti pos de grandeza em questo. Cada espci e di -
ferente de grandeza , natural mente, expressa em termos da sua uni -
dade apropri ada: o compri mento em jardas, ou metros; a superf ci e,
ou rea, em jardas quadradas ou metros quadrados; o tempo em se-
gundos, di as e anos, e assi m por di ante. evi dente, porm, que as
grandezas mai s compl exas esto rel aci onadas s mai s si mpl es. A su-
perf ci e medi da em metros quadrados ou seja, a uni dade de com-
pri mento usada duas vezes, e se por L representamos uma di menso
de compri mento, ento as di menses de superf ci e so LL, ou L
2
. As
di menses do vol me so da mesma forma LLL ou L
3
.
Nesses casos todas as di menses entram positivamente, porque
o nmero de uni dades em uma forma cbi ca, por exempl o, achado
multiplicando-se o nmero de uni dades de seu compri mento, al tura e
l argura. Em outros casos uma di menso entra negativamente. Assi m,
representando o tempo por T, fci l ver que as di menses de vel oci dade
sero L dividido por T, ou LT
1
, porque se encontra o nmero de
uni dades da vel oci dade de um corpo dividindo-se as uni dades de com-
pri mento percorri das pel as uni dades de tempo gastas na passagem.
Ao expressar as di menses de grandezas trmi cas e el tri cas, fre-
qentemente necessri o o uso de expoentes fraci onri os, e o assunto
torna-se uma teori a de consi dervel compl exi dade. O l ei tor i ni ci ante
nesse ramo da ci nci a encontrar uma descri o breve do assunto numa
seo de meu Principles of Science, 3 ed., p. 325, ou poder recorrer
aos trabal hos l ci tados.
73
Ora, se tal teori a das di menses requi si to para se tratar com
i di as preci sas de magni tudes f si cas, seu emprego ai nda mai s de-
sejvel com respei to s grandezas de que tratamos na Economi a. Um
dos pri mei ros e mai s di f cei s passos numa ci nci a conceber cl aramente
a natureza das magni tudes a respei to das quai s i remos tratar. O cal or
foi por mui to tempo assunto de di scusso e experi mentao antes que
os f si cos formassem qual quer i di a defi ni ti va de como sua grandeza
poderi a ser medi da e rel aci onada com outras grandezas f si cas. E at
que i sso fosse fei to, o cal or no pde ser consi derado objeto de uma
ci nci a exata. Por um ou doi s scul os os economi stas vm di scuti ndo
J EVONS
83
73 EVERETT. J. D. I llustrations of the Centimetre-gramme-second System of Units. 1875. (5 ed.,
1902); JENKI N, Fl eemi ng, Text-Book of Electricity and Magnetism. 1873; CLERK-MAXWELL.
Theory of Heat; ou o i n ci o de seu excel ente Treatise on Electricity. v. I , p. 12.
sobre a ri queza, a oferta e a procura, o val or, a produo, o capi tal , os
juros e o mais; mas praticamente nenhum poderi a di zer com exatido de
que natureza so as grandezas em questo. Acredi tando que na formao
dessas i di as pri mri as que preci samos ter o mai or cui dado, achei que
era justi fi cado o trabal ho e o espao empregados para entrar detal hada-
mente numa di scusso das di menses das grandezas econmi cas.
Comeando com as i di as mai s fcei s e mai s si mpl es, as dimenses
de um bem, vi sto apenas como uma grandeza f si ca, sero as dimenses
da massa. verdade que os bens so medi dos de vri as manei ras: o
fi o por compri mento, os tapetes por compri mento, os cereai s e l qui dos
por medi das cbi cas, os ovos por nmero, os metai s e a mai ori a dos
outros bens por peso. Mas bvi o que embora os tapetes sejam vendi dos
por compri mento, a l argura e o peso do teci do so l evados i gual mente
em conta ao se fi xar as condi es de venda. De modo geral , haver
uma refernci a tci ta ao peso, e, por mei o del e, massa dos materi ai s
em todas as medi es de bens. Mesmo se esse no sempre o caso,
podemos supor que assi m para si mpl i fi car nossos s mbol os numa
pri mei ra abordagem do assunto. Temos pouca necessi dade de retroceder
a uma anl i se fi nal dos estados f si cos dos bens, podendo supor que
sejam medi dos pel a massa, representada por M, s mbol o empregado
geral mente pel os f si cos para desi gnar essa di menso.
Contudo, uma pequena refl exo mostrar que temos pouco a tra-
tar com as quanti dades absol utas de bens. Cem sacas de tri go consi -
deradas i sol adamente no tm nenhum si gni fi cado i mportante para o
economi sta. Se a quanti dade grande ou pequena, sufi ci ente ou de-
masi ada, depende em pri mei ro l ugar do nmero de consumi dores a
que se desti na, e, em segundo l ugar, do tempo que deve durar para
el es. Tal vez possamos desconsi derar o nmero de consumi dores nessa
teori a supondo que sempre l i damos com o i ndi v duo mdi o i sol ado,
uni dade da qual se consti tui a popul ao. Ai nda assi m no podemos
nos l i vrar do mesmo modo do el emento tempo. A grandeza de um
estoque preci sa necessari amente ser esti mada di vi di ndo-se o nmero
de uni dades de um bem pel o nmero de uni dades de tempo em que
dever ser consumi do. Assi m, se atri bui r a M um val or posi ti vo e a
T um negati vo, e suas di menses sero representadas por MT
1
. Dessa
forma, um estoque no deve ser tomado na realidade como estoque
absoluto, mas como taxa de estoque.
O consumo de bens deve possui r as mesmas di menses. Poi s os
bens devem ser consumi dos no tempo, j que qual quer ao ou efei to
dura um tempo mai or ou menor, e um bem que for abundante por um
pequeno per odo pode ser escasso durante um per odo mai or. Di zer
que uma ci dade consome 50 mi l hes de gal es de gua no faz senti do
em si . Antes de podermos formar qual quer ju zo sobre a afi rmao,
preci samos saber se a quanti dade consumi da em um di a, uma semana
ou um ms.
OS ECONOMISTAS
84
Segundo essa l i nha de r aci oc ni o, chegar emos concl uso de
que o tempo est pr esente em todas as questes econmi cas. Ns
vi vemos no tempo, e pensamos e agi mos no tempo; de fato, somos
total mente cr i atur as do tempo. Assi m, estar emos tr atando, na ver -
dade, da taxa de estoque, taxa de pr oduo, taxa de consumo, por
uni dade de tempo; mas da no segue que T
1
apar ece em todas
as di menses com que l i damos.
Como bem expl i camos no cap tul o I I , as grandezas l ti mas de
que tratamos na Economi a so os prazeres e os sofri mentos, e nossa
tarefa mai s di f ci l ser expressar suas di menses corretamente. Em
pri mei ro l ugar, prazer e sofri mento devem ser vi stos como medi dos
numa mesma escal a, tendo portanto as mesmas di menses, j que so
grandezas da mesma natureza, que podem ser somadas e subtra das,
di feri ndo apenas em si nal ou di reo. Ora, a ni ca di menso que per-
tence propri amente sensao parece ser a intensidade, e essa i nten-
si dade deve ser i ndependente tanto do tempo quanto da quanti dade
de bens desfrutada. A intensidade sensorial deve ento significar o
estado momentneo produzido por uma quantidade bsica ou infinite-
simal do bem consumido.
Contudo, i ntensi dade sensori al apenas outro nome para grau
de uti l i dade, que representa o efei to favorvel produzi do na consti tui o
humana pel o consumo de um bem, i sto , por uma quanti dade bsi ca
ou i nfi ni tesi mal de um bem. Tomando-se U para i ndi car essa di menso,
devemos l embrar que U no chega a representar as di menses com-
pl etas do estado momentneo de prazer ou sofri mento, e mui to menos
o estado cont nuo que se estende por certo per odo de tempo. O estado
momentneo depende da sufi ci nci a ou i nsufi ci nci a do estoque de bens.
Para desfrutar de um estado extremamente agradvel , uma pessoa
deve desejar grande quanti dade de bens, e deve estar bem supri da a
esse respei to. Ora, esse estoque, , como j expl i camos, taxa de estoque,
de forma que devemos mul ti pl i car U por MT
1
para chegar ao ver-
dadei ro estado momentneo de percepo. Deve-se i nterpretar o ti po
de grandeza si mbol i zado por MUT
1
como si gni fi cando dada quanti-
dade de um bem produzindo certo montante de efeito agradvel por
unidade de tempo. Mas essa grandeza no ser a prpri a grandeza da
utilidade. El a ser apenas aquel a grandeza que, quando mul ti pl i cada
pel o tempo, resul tar na grandeza da uti l i dade. O prazer, como foi
di to no comeo, tem as di menses de i ntensi dade e durao. portanto
essa i ntensi dade que si mbol i zada por MUT
1
, e devemos mul ti pl i car
esse l ti mo s mbol o por T, de modo a obter as di menses da uti l i dade
ou quanti dade de prazer produzi do. Mas ao se efetuar essa mul ti pl i -
cao, MUT
1
T se reduz a MU, que portanto se deve tomar para
representar as di menses da grandeza da utilidade.
Chegamos aqui expl i cao do fato, que por mui to tempo me
i ntri gou, de que o el emento tempo no aparece em nenhuma parte dos
di agramas e probl emas da teori a que trata da uti l i dade e da troca.
J EVONS
85
Tudo se passa no tempo e o tempo um el emento necessri o da questo;
contudo el e no aparece expl i ci tamente. Recorrendo aos nossos di agra-
mas, como por exempl o o da p. 51, torna-se cl aro que a di menso de
U, ou grau de uti l i dade, medi da sobre o ei xo perpendi cul ar oy. O
ei xo hori zontal deve ser portanto aquel e sobre o qual se mede a taxa
de estoque do bem ou MT
1
, estri tamente fal ando. Se agora i ntrodu-
zi rmos a durao da uti l i dade, aparentemente preci samos, para repre-
sent-l a, de um tercei ro ei xo, perpendi cul ar ao pl ano da pgi na. Mas
se i ntroduz ssemos essa tercei ra di menso obter amos uma fi gura s-
l i da, representando de fato uma grandeza tri di mensi onal . I sso seri a
errado, porque a tercei ra di menso T entra negati vamente na quan-
ti dade representada pel o ei xo hori zontal . Assi m o tempo el i mi na a si
mesmo, e chegamos a uma certeza de duas di menses, corretamente
representadas por uma rea curvi l i near, onde cada uma de suas di -
menses corresponde a cada um dos fatores de MU.
Esse resul tado paradoxal pri mei ra vi sta, mas a di fi cul dade
exatamente anl oga que ocorre na questo dos juros, e que dei xou
confuso um matemti co to sagaz como o Deo Peacock, como se mos-
trar no cap tul o sobre o capi tal . Os juros do di nhei ro so proporci onai s
ao i nterval o de tempo pel o qual se empresta o pri nci pal , e tambm ao
montante de di nhei ro emprestado e taxa de juros. Mas a taxa de
juros i ncl ui o tempo negati vamente, de forma que este el i mi nado no
fi nal , e os juros aparecem com as mesmas di menses da quanti a pri n-
ci pal . No caso da uti l i dade, vamos comear com certo estoque total de
um bem, M. Ao us-l o, devemos estend-l o por mai s ou menos tempo,
de modo que na verdade a taxa de estoque que deve ser consi derada,
e essa taxa MT
1
, e no somente M, que i nfl uenci a o grau fi nal de
uti l i dade, U, com que consumi do o estoque. Se se fi zesse o mesmo
bem durar mai s tempo, o grau de uti l i dade seri a mai s el evado, porque
a necessi dade do consumi dor estari a menos sati sfei ta. Assi m, o mon-
tante absol uto de uti l i dade produzi da ser, regra geral , tanto mai or
quanto mai or for o tempo de consumo; e o mesmo ocorre com a grandeza
representada por MU, porque a grandeza U ser mai or nessas ci r-
cunstnci as, enquanto M permanece constante.
Para tornar ai nda mai s cl aro o assunto, se poss vel , vou recapi -
tul ar os resul tados a que chegamos.
M si gni fi ca a quanti dade absol uta de um bem.
MT
1
si gni fi ca a quanti dade uti l i zada de um bem, certa quan-
ti dade do bem por uni dade de tempo.
U signi fi ca o efeito agradvel resul tante de qual quer i ncremento desse
estoque, uma quanti dade infi ni tesi mal fornecida por uni dade de tempo.
MUT
1
si gni fi ca, assi m, o tanto de efei to agradvel produzi do
por uni dade de um bem por uni dade de tempo.
74
OS ECONOMISTAS
86
74 Consul tando-se as l i nhas gri fadas na p. 59 v-se que o trecho deve ser l i do como: MUT
1
si gni fi ca, assi m, um tanto de efei to agradvel produzi do por dada quantidade do bem por
uni dade de tempo. [Ed.]
MUT
1
T ou MU si gni fi ca, por consegui nte, um tanto de efei to
agradvel absol uto produzi do por um bem em um i nterval o de tempo
no especi fi cado.
Utilidade real, provvel e potencial
As di fi cul dades da Economi a consi stem na mai or parte em se
conceber cl ara e pl enamente as condi es da uti l i dade. Mesmo correndo
o ri sco de ser maante, i rei ressal tar mai s pormenori zadamente os
vri os senti dos em que se di z que uma coi sa tem uti l i dade.
mui to comum, e tal vez correto, chamar o ferro ou a gua ou
a madei ra de substnci as tei s; mas por essas pal avras podemos de-
si gnar pel o menos trs ci rcunstnci as di sti ntas. Podemos querer di zer
que determi nado pedao de ferro , no momento presente, real mente
ti l a al guma pessoa; ou que, embora no seja ti l atual mente, espe-
ra-se que seja ti l no futuro; ou podemos querer di zer apenas que
seri a ti l se esti vesse nas mos de al gum que preci sasse del e. O ferro
dos tri l hos de uma estrada de ferro, o ferro que compe a ponte Bri -
tanni a,
75
ou um vapor oceni co, real mente ti l : o ferro que jaz na
l oja de um comerci ante no ti l no presente, embora se espere que
o seja em breve; h, porm, grande quanti dade de ferro exi stente nas
entranhas da Terra que tem todas as propri edades f si cas do ferro, e
poderi a ser ti l se extra da, embora no o seja nunca. Esses so os
exempl os de utilidade real, provvel e potencial.
Tornar-se- evi dente que a utilidade potencial no entra de fato
na ci nci a econmi ca, e, quando fal o de uti l i dade si mpl esmente, no
pretendo i ncl ui r a uti l i dade potenci al . uma questo da F si ca saber
se uma substnci a possui qual i dades que poderi am torn-l a adequada
s nossas necessi dades se se encontrasse ao nosso al cance. Mas deter-
mi nado objeto s adqui re utilidade provvel quando surge al gum grau
de probabi l i dade, embora m ni mo, capaz de fazer del e uma posse de-
sejvel . Como acertadamente observa Condi l l ac:
76
On di roi t que l es choses ne commencent exi ster pour eux,
quau moment o i l s ont un i ntrt savoi r quel l es exi stent.
77
Porm, boa parte da ati vi dade produti va e de sua ci nci a rel a-
ci ona-se utilidade provvel. S podemos, a qual quer momento, usar
uma frao mui to pequena do que possu mos. Sem dvi da, poder amos
sem dano dei xar perecer a qual quer momento a mai or parte do que
J EVONS
87
75 Sobre o canal do Menai no norte do Pa s de Gal es. Essa ponte tubul ar foi consi derada
uma proeza da engenhari a na poca de sua construo em 1850, e ai nda por mui tos anos
depoi s. [Ed.]
76 CONDI LLAC. Le Commerce et le Gouvernment. Segunda Parte. I ntroduo. Oeuvres Com-
pltes. Pari s, 1803. v. VI I . p. 2.
77 Di r-se-i a que as coi sas s comeam a exi sti r para el es no momento em que el es tm i nteresse
em saber que el as exi stem. (N. do T.)
guardamos, se pudssemos recri -l a novamente com i gual faci l i dade
num momento futuro, quando sua necessi dade surgi sse.
Poder amos tambm di sti ngui r, como uso entre os economi stas
franceses, entre utilidade direta e indireta. A uti l i dade di reta se prende
a al go como o al i mento, de que preci samos real mente nos prover para
sati sfazer nossas necessi dades. Porm, coi sas que no tm nenhuma
uti l i dade di reta podem servi r de mei o de obt-l a pel a troca, e pode-se
di zer portanto que possuem uti l i dade i ndi reta.
78
Dei , em outro l ugar,
o nome de utilidade adquirida
79
a essa l ti ma espci e de uti l i dade.
Essa di sti no no a mesma que foi fei ta na Teori a do Capi tal entre
utilidade mediata e imediata, sendo a pri mei ra a de qual quer i mpl e-
mento, mqui na ou outro mei o de se obter bens que possuam utilidade
imediata e direta, i sto , o poder de sati sfazer necessi dades.
80
Distribuio de um bem no tempo
Vi mos que, quando um bem pode ser usado para di ferentes fi ns,
sua apl i cao a esses fi ns regul ada por pri nc pi os defi ni dos. Um pro-
bl ema semel hante surge quando se possui um estoque de um bem que
deve ser gasto durante certo i nterval o de tempo mai s ou menos defi ni do.
A ci nci a econmi ca deve mostrar o modo mai s vantajoso de consumi -l o,
ou seja, com um resul tado mxi mo de uti l i dade. Se esti marmos todos
os prazeres e sofri mentos futuros como se fossem presentes, a sol uo
ser a mesma do caso dos usos di ferentes. Se um bem preci sa ser
di stri bu do por n di as de uso e se v
1
, v
2
etc. so os graus fi nai s de
uti l i dade de cada di a de consumo, ento teremos cl aramente que
v
1
= v
2
= v
3
=... = v
n
.
poss vel , contudo, que seja i ncerto o per odo pel o qual queremos
fazer o estoque durar. O bem pode ser de natureza perec vel de forma
que, se ti vermos que mant-l o por dez di as, el e venha a se tornar
i mprestvel , e sua uti l i dade seja sacri fi cada. Supondo que possamos
esti mar aproxi madamente a probabi l i dade do bem manter-se bom, se-
jam p
1
, p
2
, p
3
... p
10
essas probabi l i dades. Assi m, segundo o pri nc pi o
(p. 45) de que um prazer ou sofri mento futuro deve ser reduzi do em
proporo sua fal ta de certeza, temos as equaes
v
1
p
1
= v
2
p
2
=... = v
10
p
10
.
A concl uso geral a de que, se a probabi l i dade menor, a poro do
OS ECONOMISTAS
88
78 GARNI ER. Trait dEconomie Politique. 5 ed., p. 11.
79 Ver cap. I V, p. 137.
80 Ver cap. VI I . [Esses termos no foram usados no cap. VI I nem em outro l ugar neste l i vro.
Ed.]
bem referente a cada di a menor, de modo que v, seu gr au fi nal de
uti l i dade, ser mai or.
At agora no l evamos em conta a i nfl unci a vari vel de um
aconteci mento de acordo com sua proxi mi dade ou l ongi nqi dade. A
di stri bui o de um bem aci ma descri ta a que deveri a ser fei ta, e
seri a fei ta por um ser perfei tamente sensato e previ dente. Para asse-
gurar um provei to mxi mo na vi da, todos os aconteci mentos futuros,
todos os prazeres ou sofri mentos futuros deveri am agi r sobre ns com
a mesma fora que se fossem atuai s, l evando-se em consi derao sua
i ncerteza. O fator que expressa o efei to da l ongi nqi dade no tempo
deveri a, em resumo, ser sempre uni tri o, de forma que o tempo no
teri a nenhuma i nfl unci a. Mas nenhuma mente humana constru da
dessa manei ra perfei ta: uma sensao futura tem sempre menos i n-
fl unci a que uma sensao presente. Para se l evar em conta esse fato,
sejam q
1
, q
2
, q
3
etc. fraes i ndetermi nadas que expressam as razes
entre os prazeres ou sofri mentos atuai s, resul tantes da anteci pao
dos prazeres e sofri mentos futuros, e estes l ti mos. Tendo em mos
um estoque de um bem, nossa tendnci a ser di stri bu -l o de modo que
as equaes segui ntes permaneam verdadei ras:
v
1
p
1
q
1
= v
2
p
2
q
2
=... = v
n
p
n
q
n
.
Uma conseqnci a evi dente dessas equaes ser que menos
quanti dade do bem ser desti nada aos di as futuros em al guma pro-
poro ao tempo que fal ta para el es.
Um probl ema i l ustrati vo, que envol ve questes de uti l i dade pro-
vvel e probabi l i dade, o do navi o ao l argo, que est i nsufi ci entemente
aprovi si onado para a durao provvel da vi agem at o porto mai s
prxi mo. A durao real da vi agem depende dos ventos, e i ncerta,
mas podemos supor com rel ati va certeza que durar no m ni mo dez
di as e no mai s que tri nta di as. evi dente que se a comi da fosse
di vi di da em tri nta partes i guai s, certamente se suportari am fome par-
ci al e sofri mentos para afastar mal es que podem no ocorrer. Consumi r
1/10 da comi da em cada um dos dez pri mei ros di as seri a ai nda pi or,
enfrentando-se com certeza a i nani o nos di as segui ntes. Para deter-
mi nar qual a di stri bui o de comi da mai s benfi ca, dever amos procurar
saber a probabi l i dade de cada di a, entre o dci mo e o tri gsi mo, fazer
parte da vi agem e tambm a l ei de vari ao do grau de uti l i dade da
comi da. O estoque total deve ento ser di vi di do em tri nta pores,
rel ati vas a cada um dos tri nta di as e de tamanhos tai s que os graus
fi nai s de uti l i dade mul ti pl i cados pel as probabi l i dades correspondentes
se i gual em. Assi m, sejam v1, v2, v3 etc. os graus fi nai s de uti l i dade do
pri mei ro, segundo, tercei ro e outros di as a abastecer, e p1, p2, p3 etc.
as probabi l i dades de que os di as em questo faam parte da vi agem;
ento teremos que
p
1
v
1
= p
2
v
2
= p
3
v
3
=... =p
29
v
20
= p
30
v
30
.
J EVONS
89
Se essas equaes no se confi rmarem, ser aconsel hvel transferi r
uma pequena parcel a de um l ote para outro. Como se supe que a
vi agem dure certamente os pri mei ros dez di as, temos que
p
1
= p
2
=... p
20
= 1;
de forma que teremos
v
1
= v
2
=... = v
10
;
ou seja, as pores para os pri mei ros dez di as devem ser i guai s. Depoi s,
el as devem decrescer de acordo com al guma l ei regul ar, poi s, na medi da
em que a probabi l i dade decresce, o grau fi nal de uti l i dade deve crescer
na proporo i nversa.
OS ECONOMISTAS
90
CAPTULO IV
A Teoria da Troca
Importncia da troca na Economia
A troca um processo to i mportante na maxi mi zao da uti l i dade
e na economi a de trabal ho que al guns economi stas consi deram sua cincia
como se el a tratasse uni camente dessa operao. A uti l i dade provm dos
bens que entram na posse de quem del es necessi ta em quanti dades ade-
quadas; e pel a troca, mai s do que por qual quer outro mei o, que i sso se
d. O comrci o no na verdade o nico mtodo de economi zar: um
indi v duo i sol ado pode obter uti l i dade pel o consumo adequado do estoque
em seu poder. O mel hor emprego de trabal ho e capi tal por um i ndi v duo
i sol ado tambm uma questo desvi ncul ada da troca, e que mesmo assi m
deve ser tratada pel a Economi a. Mas, com essas excees, concordo i n-
tei ramente com a enorme i mportncia que se d troca.
i mposs vel ter uma i di a correta da ci nci a econmi ca sem
uma perfei ta compreenso da teori a da troca; e acho i gual mente poss vel
e desejvel consi derar esse assunto antes de i ntroduzi r quai squer no-
es referentes ao trabal ho ou produo de bens. Concordo i ntei ra-
mente com estas pal avras de J. S. Mi l l :
Quase toda especul ao a respei to dos i nteresses econmi cos de
uma soci edade assi m consti tu da i mpl i ca uma teori a do val or: o menor
erro nesse assunto contamina com erro semelhante todas as nossas
outras concl uses; e qual quer coi sa vaga ou obscura na concepo
que fazemos do assunto cri a confuso e i ncerteza em todo o resto.
Quando, porm, passa a di zer:
Fel i zmente, no resta nada nas l ei s do val or para ser escl a-
reci do pel os escri tores presentes ou futuros; a teori a sobre o tema
est compl eta,
81
91
81 Principles of Political Economy. Li vro Tercei ro. Cap. I , seo 1.
el e profere al go que seri a temerri o di zer a respei to de qual quer ci nci a.
A ambigidade do termo valor
Devo pri mei ramente ressal tar o carter i ntei ramente amb guo e
no ci ent fi co do termo valor. Adam Smi th observou a di ferena extrema
de senti do que h entre valor de uso e valor de troca, e comum aos
autores de Economi a precaver seus l ei tores contra uma poss vel con-
fuso de senti do a que esto sujei tos. Mas real mente no acredi to que
autores ou l ei tores possam evi tar a confuso enquanto a pal avra for
usada. Freqentemente me descubro, apesar da mai s aguda consci nci a
desse peri go, usando a pal avra i mpropri amente, e tambm no acredi to
que os mel hores autores estejam l i vres do peri go.
Vol temo-nos para a defi ni o de val or de troca,
82
de Mi l l , e cons-
tataremos i medi atamente o poder enganador do termo. El e nos di z:
O val or um termo rel ati vo. O val or de uma coi sa si gni fi ca
a quanti dade de al guma outra coi sa, ou das coi sas em geral , pel a
qual trocada.
Ora, se h al gum fato i ndi scut vel sobre o val or de troca, que
el e no se refere de nenhuma forma a um objeto, mas a uma ci rcuns-
tnci a de um objeto. Na verdade, o val or i mpl i ca uma rel ao; mas se
assi m, el e no pode ser alguma outra coisa. Um estudante de Eco-
nomi a no poder jamai s ter esperana de al canar i di as cl aras e
corretas em sua ci nci a se conceber o val or de al gum modo como uma
coisa ou um objeto, ou mesmo como al go que esteja numa coi sa ou
objeto. As pessoas so assi m l evadas a fal ar de uma coi sa no exi stente
tal como valor intrnseco. H, sem dvi da, qual i dades i nerentes em
substnci as como o ouro e o ferro que i nfl uenci am o seu val or; porm
a pal avra val or, na medi da em que corretamente usada, expressa
somente a circunstncia de sua troca em certa proporo por alguma
outra substncia.
O valor expressa uma relao de troca
Se 1 tonel ada de ferro gusa trocada em um mercado por 1 ona
de ouro-padro, nem o ferro nem o ouro so val or; mui to menos h
val or no ferro ou no ouro. A noo de val or se apl i ca apenas ao fato
ou ci rcunstnci a de uma troca por outra. Assi m, ci enti fi camente i n-
correto di zer que o val or da tonel ada de ferro a ona de ouro; dessa
forma, convertemos o val or numa coi sa concreta, e, l ogi camente, de
i gual modo i ncorreto di zer que o val or da ona de ouro a tonel ada
de ferro. A expresso mai s correta e segura que o valor da tonelada
OS ECONOMISTAS
92
82 Principles of Political Economy. Li vro Tercei ro. Cap. VI .
de ferro igual ao valor da ona de ouro, ou que seus val ores esto
na proporo de um para um.
O val or de troca expressa uni camente uma rel ao, e o termo
no deveri a ser empregado em nenhum outro senti do. Fal ar apenas
do val or de 1 ona de ouro to absurdo como fal ar da relao do
nmero 17. Qual a rel ao do nmero 17? A pergunta no tem res-
posta, poi s preci so haver meno a outro nmero para se fazer uma
rel ao, e a rel ao ser di ferente conforme o nmero sugeri do. Qual
o val or do ferro comparado ao val or do ouro? uma pergunta
compreens vel . A resposta consi ste em determi nar a rel ao das quan-
ti dades trocadas.
O uso popular do termo valor
No uso comum da pal avra val or h pel o menos trs si gni fi cados
di sti ntos, embora associ ados, que parecem se confundi r. El es podem
ser formul ados como:
1) Val or de uso;
2) Apreo, ou premnci a do desejo;
3) Rel ao de troca.
Adam Smi th, na conheci da passagem j ci tada, di sti ngui u entre
o pri mei ro e o tercei ro si gni fi cados. Di sse el e:
83
Deve-se observar que a pal avra val or tem doi s senti dos di fe-
rentes, e al gumas vezes expressa o poder de comprar outras mer-
cadori as conferi do pel a posse daquel e objeto. Um senti do pode
ser chamado de val or de uso, o outro, val or de troca. As coi sas
que possuem mai or val or de uso freqentemente tm pouco ou
nenhum val or de troca; e, pel o contrri o, as que tm mai or val or
de troca freqentemente tm pouco ou nenhum val or de uso.
Nada mai s ti l que a gua, porm com el a no se adqui re
prati camente nada, quase nada pode ser obti do em troca del a.
Um di amante, ao contrri o, no tem prati camente nenhum val or
de uso, mas pode-se obter grande quanti dade de outras merca-
dori as em troca del e.
Est sufi ci entemente cl aro que, quando Smi th di z que a gua
tem grande uti l i dade e no entanto desprovi da de poder de compra,
el e se refere gua em abundncia, ou seja, um supri mento de gua
to abundante que j exerceu pl enamente seu efei to ti l , ou sua uti-
lidade total. Quando a gua se torna mui to escassa, como nos desertos
ri dos, el a adqui re enorme poder de compra. Assi m, por val or de uso
J EVONS
93
83 Wealth of Nations. Li vro Pri mei ro. Cap. I V, perto do fi nal .
Smi th evi dentemente quer di zer a utilidade total de uma substncia
cujo grau de utilidade baixou muito, porque a necessidade de tal subs-
tncia foi praticamente satisfeita. Por poder de compra el e sem dvi da
quer di zer a rel ao de troca por outros bens. Mas nesse ponto dei xa
de ressal tar que a quanti dade de mercadori as recebi das em troca de-
pende tanto da espci e das mercadori as recebi das como da espci e
daquel as ofereci das por el as. Em troca de um di amante podemos obter
grande quanti dade de ferro, ou tri go, ou pedras de cal amento ou outro
bem que exi sta em abundnci a; porm, podemos obter mui to poucos
rubi s, safi ras ou outras pedras preci osas. A prata tem el evado poder
de compra se comparada com zi nco, chumbo ou ferro, porm, se com-
parada com ouro, pl ati na ou i r di o, seu poder de compra pequeno.
Em todo caso, podemos sempre di zer que o di amante e a prata so
coi sas de al to val or. Devi do a i sso, sou l evado a pensar que a pal avra
val or freqentemente usada si gni fi cando intensidade de desejo ou
apreo por uma coisa. Um ornato de prata um bel o objeto i ndepen-
dente de todas as i di as de comrci o; el e pode ser val ori zado ou apre-
ci ado apenas porque sati sfaz ao gosto ou capri cho de seu propri etri o,
e o ni co que el e possui . At mesmo Robi nson Cruso deve ter con-
templ ado cada uma de suas posses com vari ado apreo e desejo por
mai s, embora i mpossi bi l i tado de trocar com qual quer outra pessoa.
Ora, nesse senti do, o val or parece ser i dnti co ao grau fi nal de uti l i dade
de um bem, como foi defi ni do anteri ormente (p. 53); e medi do pel a
i ntensi dade do prazer ou provei to que seri a obti do por novo aumento
do mesmo bem. No h dvi da de que exi ste uma l i gao estrei ta
entre o val or nesse senti do e o val or enquanto rel ao de troca. Nada
possui el evado poder de compra sem ser al tamente apreci ado em si
mesmo. Porm, al go pode ser al tamente apreci ado fora de qual quer
comparao com outras coi sas, e, apesar di sso, ter bai xo poder de com-
pra, porque as coi sas pel as quai s se est medi ndo esse poder so ai nda
mai s apreci adas.
Dessa forma, chego concl uso de que, ao se empregar a pal avra
val or, confundem-se habi tual mente trs senti dos di sti ntos, que preci -
sam, portanto, ser separados:
1) Val or de uso = uti l i dade total ;
2) Apreo = grau fi nal de uti l i dade;
3) Poder de compra = rel ao de troca.
No se pode esperar que possamos di scuti r com provei to assuntos tai s
como doutri nas econmi cas, quando as i di as fundamentai s do tema
esto embaral hadas dessa forma em uma s pal avra amb gua. O ni co
remdi o efi caz consi ste em substi tui r o peri goso termo valor por um
dos trs si gni fi cados ci tados pretendi do em cada caso. Neste trabal ho
portanto dei xarei de empregar a pal avra val or, e quando, como ser
freqentemente o caso no resto deste l i vro, eu preci sar me referi r ao
OS ECONOMISTAS
94
tercei ro si gni fi cado, mui tas vezes chamado pel os economi stas de troca
ou valor de troca, empregarei a expresso i ntei ramente i nequ voca re-
lao de troca, especi fi cando ao mesmo tempo quai s so os dois artigos
trocados. Quando fal amos da rel ao de troca do ferro gusa e do ouro,
no pode haver dvi da de que queremos nos referi r rel ao entre o
nmero de uni dades de um bem e o nmero de uni dades do outro bem
pel o qual el e trocado, sendo as uni dades magni tudes concretas ar-
bi trri as, e a rel ao um nmero abstrato.
Quando, na pri mei ra edi o deste l i vro, propus usar rel ao de
troca em l ugar da pal avra val or, a expresso ti nha si do to pouco
empregada, se que o foi , pel os economi stas i ngl eses, que el a consti tu a
uma novi dade. Sem dvi da J. S. Mi l l fal a s vezes nos seus cap tul os
sobre o val or de coi sas trocadas uma pel a outra na rel ao do seu
custo de produo; mas el e sempre se omi te em di zer cl aramente que
o prpri o val or de troca uma questo de rel ao. Quanto a Ri cardo,
Mal thus, Adam Smi th e outros grandes economi stas i ngl eses, embora
di scorram geral mente em certa extenso sobre os si gni fi cados da pa-
l avra val or, no tenho conheci mento de terem al guma vez apl i cado
expl i ci tamente o termo relao troca ou ao val or de troca. No entanto,
rel ao i nquesti onavel mente o termo ci ent fi co correto, e o ni co termo
que estri ta e i ntei ramente correto.
i nteressante, portanto, descobri r que, embora tendo si do des-
prezada pel os economi stas i ngl eses, a expresso foi empregada por
doi s ou mai s dos economi stas franceses verdadei ramente ci ent fi cos,
quai s sejam, Le Trosne e Condi l l ac. Le Trosne defi ne val or cui dado-
samente nos segui ntes termos:
84
La valeur consiste dans le rapport dchange que se trouve
entre telle chose et telle autre, entre telle mesure dune production
et telle mesure des autres.
85
Aparentemente, Condi l l ac toma de emprsti mo as pal avras de
Le Trosne, di zendo
86
do val or:
Quelle consiste dans le rapport dchange entre telle chose et
telle autre.
87
Obras sobre Economi a como as de Baudeau, Le Trosne e Condi l l ac
eram quase compl etamente desconheci das para os l ei tores i ngl eses at
que H. D. Macl eod e o Prof. Adamson chamaram a ateno sobre el as;
empenhar-me-ei , contudo, em fazer uso adequado del as no futuro.
J EVONS
95
84 De lI ntrt Social. 1777. Cap. I , seo 4.
85 "O val or consi ste na rel ao de troca que exi ste entre determi nada coi sa e outra, entre
determi nada medi da de uma produo e determi nada medi da das outras." (N. do T.)
86 Le Commerce et le Gouvernement. 1776; Oeuvres Compltes de Condillac. 1803. t. VI , p. 20.
87 "Que el e consi ste na rel ao de troca entre determi nada coi sa e outra." (N. do T.)
Dimenso do valor
No h di fi cul dade em se perceber que, quando usamos a pal avra
val or no senti do de rel ao de troca, sua di menso ser si mpl esmente
zero. O val or ser expresso, como as magni tudes angul ares e outras
rel aes em geral , por um nmero abstrato. A magni tude angul ar
medi da pel a rel ao entre uma l i nha e outra, a rel ao entre o arco
oposto ao ngul o e o rai o do c rcul o. Da mesma forma, o val or nesse
senti do uma rel ao entre a quanti dade de um bem e a quanti dade
de al gum outro bem que dado em troca. Se compararmos os bens apenas
enquanto grandezas f si cas, teremos as di menses M di vi di do por M, ou
MM
1
, ou M
0
. O mesmo resul tado seri a encontrado se em vez de tomarmos
si mpl esmente as grandezas f si cas comparssemos suas uti l i dades; nesse
caso ter amos MU di vi di do por MU ou M
0
U
0
, o que, como si gni fi ca real -
mente unidade,
88
tem o mesmo si gni fi cado de M
0
.
Quando empregamos a pal avra val or no senti do de apreo, ou desejo
premente, como a sensao com que Ol i ver Twi st deve ter contempl ado
uns poucos bocados a mai s, quando el e pedi a mai s, o senti do da pal avra,
como j foi expl i cado, i dnti co a grau de utilidade, cuja di menso U.
Fi nal mente, o valor de uso de Adam Smi th, ou a utilidade total, a
integral de U.dM, e tem por di menses MU. Podemos assi m tabul ar nossos
resul tados a respei to dos usos amb guos da pal avra valor:
Termos de si gni fi cado popul ar Termos ci ent fi cos Di menses
1) Val or de uso Uti l i dade total MU
2) Apreo ou desejo premente
por mai s Gr au fi nal de uti l i dade U
3) Poder de compra Rel ao de troca M
0
Definio de mercado
Antes de entrarmos na teori a da troca, seri a bom afastar todas
as dvi das a respei to dos si gni fi cados de doi s outros termos que em-
pregarei com freqnci a.
Por mercado quero di zer prati camente o mesmo que os homens
de negci os quando empregam o termo. Ori gi nal mente, mercado era
um l ugar pbl i co numa ci dade, onde provi ses e outros objetos fi cavam
expostos venda; a pal avra, porm, se general i zou de forma a si gni fi car
qual quer comuni dade de pessoas que esto em rel aes di retas de ne-
gci os e real i zam grandes transaes com qual quer bem. Uma ci dade
grande pode conter tantos mercados quantos ramos i mportantes de
negci os nel a exi sti rem, e esses mercados podem estar l ocal i zados ou
OS ECONOMISTAS
96
88 O correto seri a sem dimenses, ou seja, um mero nmero. [Ed.]
no. O mai s i mportante num mercado a troca pbl i ca em centros
comerci ai s ou l ocai s de l ei l o, onde os comerci antes combi nam se en-
contrar e real i zar negci os. Em Londres, o Mercado de Aes, o Mercado
de Cereai s, o Mercado de Carvo, o Mercado de Acar e mui tos outros
tm l ocal i zao di sti nta; assi m como o Mercado de Al godo, o Mercado
de Res duos de Al godo e outros, em Manchester. No entanto, essa
l ocal i zao di sti nta no necessri a. Os comerci antes podem estar
espal hados por toda a ci dade, regi o ou pa s, e mesmo assi m consti -
tu rem um mercado, se esti verem em contato prxi mo entre si , por
mei o de fei ras, reuni es, publ i caes de l i stas de preos, pel o correi o
ou por outras formas. Assi m, a expresso comum Mercado Fi nancei ro
no se refere a nenhuma l ocal i dade: el a se apl i ca ao conjunto dos
banquei ros, capi tal i stas e outros negoci antes que emprestam ou tomam
emprestado di nhei ro e trocam constantemente i nformaes sobre o
rumo dos negci os.
89
Em Economi a, podemos adotar com provei to esse termo, com si g-
ni fi cado cl aro e bem defi ni do. Por mercado quero di zer duas ou mai s
pessoas que negoci am doi s ou mai s bens, e cujas i ntenes de troca e
estoque desses bens so do conheci mento de todos. Tambm essenci al
que a rel ao de troca entre duas pessoas quai squer seja conheci da
por todas as outras. O mercado se expande apenas na medi da em que
essa comuni dade de conheci mento se estende. Todas as pessoas que
no esto a par no momento da rel ao de troca corrente, ou cujos
estoques no so acess vei s por fal ta de i nformao, no devem ser
consi deradas parte do mercado. Os estoques si gi l osos ou desconheci dos
de um bem tm que ser tambm consi derados como estando al m dos
l i mi tes do mercado, enquanto permanecerem si gi l osos e desconheci dos.
Todo i ndi v duo deve ser consi derado al gum que troca puramente de
acordo com suas prpri as necessi dades ou i nteresses pri vados. Deve
haver tambm concorrnci a perfei tamente l i vre, de forma que qual quer
pessoa troque com qual quer outra pel a menor vantagem aparente. No
deve haver conspi raes que absorvam e retenham supri mentos de
modo a provocar rel aes de troca anormai s. Se uma conspi rao de
fazendei ros reti vesse todo o tri go l onge do mercado, os consumi dores
poderi am ser l evados pel a fome a pagar preos sem nenhuma rel ao
J EVONS
97
89 Vejo que Cournot h mui to defi ni u o emprego econmi co da pal avra mercado com conci so
e preci so admi rvei s, e exatamente com o mesmo senti do do texto aci ma. A esse respei to
el e di z numa nota de p de pgi na (Rcherches sur les Principes Mathmatiques de la
Thorie des Richesses. Pari s, 1838. p. 55): On sai t que l es conomi stes entendent par
march, non pas un l i eu determi n o se consoment l es achats et l es ventes, mai s tout
un terri toi re dont l es parti es sont uni es par des rapports de l i bre commerce, en sorte que
l es pri x sy ni vel l ent avec faci l i t et prompti tude.
*
*
Sabe-se que por mercado os economi stas entendem no um l ugar determi nado onde se
real i zam as compras e as vendas, mas todo um terri tri o cujas partes so uni das por
rel aes de l i vre-comrci o, de modo que os preos al i se ni vel am com faci l i dade e pronti do.
(N. do T.)
concreta com os supri mentos exi stentes, e as condi es normai s do
mercado seri am abal adas dessa forma.
A concepo teri ca de um mercado perfei to se confi rma mai s ou
menos compl etamente na prti ca. Em qual quer grande mercado, tra-
bal ho dos corretores organi zar a troca de forma que qual quer compra
seja fei ta com o mai s compl eto conheci mento das condi es de comrci o.
Todo corretor se esfora para obter o mel hor conheci mento das condi es
de oferta e procura e do pri mei ro i nd ci o de qual quer mudana. El e
est em l i gao com quantos outros corretores for poss vel , de forma
a ter o mai s ampl o campo de i nformao e a mai or oportuni dade de
fazer trocas conveni entes. Somente dessa manei ra que a todo mo-
mento um preo de mercado preci so pode ser defi ni do e vari ado, de
acordo com as freqentes not ci as capazes de afetar compradores e
vendedores. Um consenso geral estabel eci do pel a medi ao de um
corpo de corretores, e o estoque de todo vendedor ou a demanda de
todo comprador so l evados ao mercado. A i nformao ampl a e cons-
tante a prpri a essnci a do comrci o. Portanto, um mercado teo-
ri camente perfei to apenas quando todos os comerci antes tm perfei to
conheci mento das condi es de oferta e procura, e da rel ao de troca
conseqente; e em qual quer momento nesse mercado, como veremos agora,
poder haver apenas uma relao de troca de um bem homogneo.
O conheci mento do estado real da oferta e procura to essenci al
para o bom andamento do comrci o e o bem-estar da comuni dade que
crei o ser perfei tamente l eg ti mo obri gar a publ i cao de qual quer es-
tat sti ca necessri a. O segredo s pode conduzi r ao l ucro dos especu-
l adores, que ganham com as grandes fl utuaes dos preos. A especu-
l ao s vantajosa ao pbl i co na medi da em que l eva i gual dade
dos preos, e portanto contra o bem pbl i co dei xar os especul adores
fomentarem arti fi ci al mente as desi gual dades de preos das quai s ti ram
provei to. O bem-estar de mi l hes, tanto de consumi dores como de pro-
dutores, depende do conheci mento preci so dos estoques de al godo e
tri go, e no seri a assi m nenhuma i nterfernci a i njusti fi cvel na l i ber-
dade do assunto requerer qual quer i nformao acerca dos estoques
di spon vei s. No mercado de pei xe de Bi l l i ngsgate havi a tempos atrs
um regul amento que determi nava que os vendedores devi am afi xar
toda manh num l ugar vi s vel uma decl arao do ti po e da quanti dade
de seus estoques.
90
O mesmo pri nc pi o foi reconheci do h mui to nos
decretos parl amentares concernentes col eta de estat sti cas das quan-
ti dades e preos do tri go vendi do nas ci dades-mercado i ngl esas. Mai s
recentemente cri ou-se uma l egi sl ao si mi l ar a respei to do comrci o
de al godo, no Cotton Stati sti cs Act de 1868. A publ i ci dade, toda vez
que pode ser i mposta dessa forma aos mercados pel a autori dade pbl i ca,
OS ECONOMISTAS
98
90 WATERSTON. Cyclopaedia of Commerce. Ed. de 1846. p. 466.
se mostra geral mente vantajosa para todos, tal vez com exceo de uns
poucos especul adores e fi nanci stas.
Definio de uma comunidade comercial
Acho necessri o adotar uma expresso para desi gnar qual quer
nmero de pessoas cuja i nfl unci a conjunta num mercado, tanto no
tocante oferta quanto demanda, temos de consi derar. Por comuni-
dade comercial quero desi gnar, de modo geral , qual quer comuni dade,
tanto de compradores como de vendedores. A comuni dade comerci al
pode ser o i ndi v duo i sol ado, num caso; podem ser todos os habi tantes
de um conti nente, em outro; podem ser os i ndi v duos de um ramo de
negci os espal hados em um pa s, em um tercei ro caso. A I ngl aterra e
a Amri ca do Norte sero comuni dades comerci ai s se esti vermos con-
si derando o tri go que recebemos da Amri ca em troca de ferro e outras
mercadori as. O conti nente europeu uma comuni dade comerci al quan-
do compra carvo da I ngl aterra. Os agri cul tores da I ngl aterra so uma
comuni dade comerci al quando vendem tri go aos mol ei ros, e os mol ei ros
so tambm uma comuni dade comerci al tanto quando compram tri go
dos agri cul tores como quando vendem fari nha aos padei ros.
Temos que empregar a expresso nesse senti do ampl o, poi s os
pri nc pi os da troca so da mesma natureza, no i mporta quo restri to
ou ampl o seja o mercado consi derado. Toda comuni dade comerci al
um i ndi v duo ou um conjunto de i ndi v duos, e a l ei , no caso do conjunto,
deve depender do cumpri mento da l ei pel os i ndi v duos. Em geral no
podemos observar nenhuma vari ao cont nua das necessi dades e atos
de um i ndi v duo porque a ao de moti vos estranhos, ou o que parece
ser capri cho, sobrepuja tendnci as di mi nutas. Como j observei (p. 35),
um i ndi v duo i sol ado no vari a de semana a semana seu consumo de
acar, mantei ga ou ovos em quanti dades i nfi ni tesi mai s, de acordo
com cada pequena mudana no preo. El e provavel mente conti nua seu
consumo normal at que o acaso chame sua ateno para um aumento
de preo, e tal vez el e cesse de usar os arti gos por um tempo. Mas
veri fi ca-se que o consumo total , ou, o que o mesmo, o consumo mdi o
de uma grande comuni dade, vari a conti nuamente, ou quase. Desse
modo nossas l ei s econmi cas sero teori camente verdadei ras no caso
de i ndi v duos, e verdadei ras na prti ca no caso de grandes agregados,
j que os pri nc pi os gerai s sero os mesmos, seja qual for a extenso
da comuni dade comerci al consi derada. Estamos assi m justi fi cados ao
empregar essa expresso da manei ra mai s geral .
Deve-se observar, contudo, que as l ei s econmi cas, representando
a conduta de grandes conjuntos de i ndi v duos, jamai s representaro
exatamente a conduta de um ni co i ndi v duo. Se i magi nssemos 1 000
i ndi v duos em tudo semel hantes com respei to sua demanda de bens,
e sua capaci dade de supri -l os, ento as l ei s mdi as de oferta e procura
deduzi das da conduta de tai s i ndi v duos coi nci di ri am com a conduta
J EVONS
99
de qual quer um del es. Porm, uma comuni dade composta de pessoas
que di ferem ampl amente em suas capaci dades, necessi dades, hbi tos
e posses. Em tai s ci rcunstnci as, as l ei s mdi as que se apl i cam a esses
i ndi v duos se i ncl ui ro no que chamei em outra ocasi o
91
de mdi a
fi ct ci a, ou seja, so resul tados numri cos que no pretendem repre-
sentar a caracter sti ca de qual quer coi sa exi stente. Mas as l ei s mdi as,
se pudssemos obt-l as, no seri am menos tei s por causa di sso, poi s
os movi mentos do comrci o e da i ndstri a dependem de mdi as e totai s,
e no dos capri chos de i ndi v duos.
A lei da indiferena
Quando um bem de qual i dade perfei tamente uni forme ou ho-
mognea, qual quer quanti dade del e pode ser usada i ndi ferentemente
no l ugar de uma quanti dade i gual : assi m, no mesmo mercado, em dado
momento, todas as quanti dades desse bem devem ser trocadas na mes-
ma proporo. No h razo para uma pessoa tratar coi sas i dnti cas
de modo di ferente, e o menor excedente entre o que pedi do por uma
coi sa e o que se pede por outra i nduz a pessoa a l evar a segunda em
vez da pri mei ra. Em trocas bem equi l i bradas uma quanti dade m ni ma
que faz pender a bal ana e determi na a escol ha. Uma di ferena m ni ma
na qual i dade de um bem pode assi m dar ori gem prefernci a e al terar
a rel ao de troca. Mas quando no exi stem di ferenas, ou quando no
se sabe da exi stnci a de nenhuma di ferena, no h base para qual quer
prefernci a. Se um comerci ante fi xasse arbi trari amente preos di fe-
rentes ao vender uma quanti dade de barri s de fari nha perfei tamente
i guai s e uni formes, um comprador certamente escol heri a os mai s ba-
ratos. Onde no houvesse di ferena al guma na coi sa a se comprar, at
mesmo um pni a mai s no preo de al go val endo 1 000 l i bras seri a
um moti vo de escol ha. Da segue que verdade i ncontestvel , com os
devi dos escl areci mentos, que no mesmo mercado livre, em qualquer
momento, no podem existir dois preos para o mesmo tipo de artigo.
As di ferenas que podem ocorrer na prti ca surgem de ci rcunstnci as
extr nsecas, tai s como crdi to defei tuoso dos compradores, seu conhe-
ci mento i mperfei to do mercado e assi m por di ante.
O pri nc pi o enunci ado aci ma uma l ei geral da mai or i mportnci a
na Economi a, e proponho cham-l a lei da indiferena, a qual reza que,
quando doi s objetos ou bens no apresentam nenhuma di ferena i m-
portante com rel ao ao propsi to em vi sta, qual quer um del es ser
l evado em l ugar do outro com perfei ta i ndi ferena pel o comprador.
Todo ato de escol ha i ndi ferente d ori gem a uma equao de graus de
uti l i dade, de forma que temos nesse pri nc pi o da i ndi ferena uma das
peas centrai s da teori a.
OS ECONOMISTAS
100
91 Principles of Science. 1 ed., v. I , p. 422; 3 ed., p. 363.
Embora o preo de um mesmo bem deva ser uni forme em qual quer
momento, pode vari ar de momento a momento e deve ser concebi do
como estando em cont nua vari ao. Teori camente fal ando, em geral
no seri a poss vel comprar duas pores do mesmo bem sucessivamente
pel a mesma rel ao de troca, porque, assi m que a pri mei ra poro
fosse comprada, se al terari am as condi es de uti l i dade. Esse resul tado
comprovado na prti ca quando se fazem trocas em grande escal a.
92
Se um i ndi v duo ri co i nvesti sse pel a manh 100 mi l l i bras em fundos
pbl i cos, pouco provvel que se pudesse repeti r tarde a operao
pel o mesmo preo. Em qual quer mercado, quando uma pessoa conti nua
comprando em l arga escal a, acabar el evando o preo para seu prpri o
preju zo. Logo, evi dente que mel hor efetuar grandes aqui si es
gradual mente, de forma a assegurar o provei to de um preo mai s bai xo
nas pri mei ras parcel as. Teori camente, deve-se conceber que exi ste em
al gum grau esse efei to da troca sobre a rel ao de troca, por menor
que sejam as compras real i zadas. Estri tamente fal ando, a rel ao de
troca em qual quer momento de dy para dx, de uma quanti dade i n-
fi ni tamente pequena de um bem para a quanti dade i nfi ni tamente pe-
quena de outro bem que dado em troca daquel e. A rel ao de troca
na verdade uma deri vada. A quanti dade de qual quer arti go adqui ri do
uma funo do preo pel o qual el e adqui ri do; e a rel ao de troca
expressa a taxa com que aumenta a quanti dade do arti go em compa-
rao com o que dado em troca del e.
Devemos di sti ngui r cui dadosamente entre a estti ca e a di nmi ca
desse assunto. O estado real da i ndstri a de movi mento e mudana
cont nua. Os bens esto sendo conti nuamente fabri cados, trocados e
consumi dos. Se qui sssemos obter uma sol uo compl eta para o pro-
bl ema em toda a sua compl exi dade natural , preci sar amos abord-l o
como um probl ema de movi mento um probl ema de di nmi ca. Mas
certamente seri a absurdo l anar-nos questo mai s di f ci l , quando
ai nda domi namos to i mperfei tamente a mai s fci l . Posso me aventurar
a tratar da ao da troca apenas como um probl ema puramente estti co.
Os donos de bens no sero encarados como os que passam adi ante
esses bens num fl uxo de negci os, mas, si m, como possui dores de certas
quanti dades fi xas que el es trocam at chegar ao equi l bri o.
mui to mai s fci l determi nar o ponto no qual um pndul o ati n-
gi r o repouso do que cal cul ar a vel oci dade com que el e se mover
quando desl ocado desse ponto de repouso. Da mesma forma, uma
tarefa mui to mai s fci l afi rmar sob que condi es a troca se compl eta
J EVONS
101
92 I sso se veri fi ca, na mi nha opi ni o, no The New York Stock Markets, onde prti ca l ei l oar
os estoques pel o l ei l o de estoques sucessi vos, sem expor o montante total a l ei l oar. Quando
o montante ofereci do comea a exceder o esperado, cada l ote segui nte traz um preo menor,
e os que compraram os l otes anteri ores sofrem (preju zo). Mas, se o montante ofereci do
pequeno, os compradores anteri ores l evam vantagem. Essa venda em l ei l o apenas mostra,
em mi ni atura, o que constantemente acontece em geral nos mercados de grande escal a.
cessando o i ntercmbi o, do que tentar averi guar a que taxa o comrci o
prossegui r quando no se al cana o equi l bri o.
A di ferena se mostra da segui nte forma: di nami camente, no
poder amos tratar a rel ao de troca de outra forma que no a rel ao
de dy e dx, quanti dades i nfi ni tesi mai s de bens. Nossas equaes seri am
ento equaes di ferenci ai s, que preci sari am ser i ntegradas. J na vi so
estti ca do probl ema, podemos substi tui r a rel ao das quanti dades
fi ni tas y e x. Assi m, de acordo com o pri nc pi o evi dente por si mesmo,
enunci ado nestas pgi nas, de que no pode haver, no mesmo mercado,
ao mesmo tempo, doi s preos di ferentes para o mesmo bem homogneo,
segue que os ltimos acrscimos num ato de troca devem ser trocados
na mesma proporo que as quantidades totais trocadas. Suponhamos
que doi s bens sejam negoci ados na rel ao de x por y, ento toda a
m-si ma parte de x dada em troca da m-si ma parte de y, no i mporta
qual seja a m-si ma parte. No se pode tratar uma poro de um bem
de manei ra di ferente de qual quer outra poro. Podemos conti nuar
essa di vi so i ndefi ni damente, i magi nando que m aumenta constante-
mente, de forma que, no l i mi te, mesmo uma parte i nfi ni tamente pe-
quena de x deve ser trocada por uma quanti dade i nfi ni tamente pequena
de y, na mesma rel ao que as quanti dades totai s. Podemos expressar
esse resul tado afi rmando que os acrsci mos envol vi dos no processo de
troca devem obedecer a equao
dy
dx
=
y
x
Veremos na prxi ma seo o uso que faremos dessa equao.
A teoria da troca
O ponto central de toda a teori a da troca e dos pri nci pai s pro-
bl emas da Economi a resi de nesta proposi o: A relao de troca de
dois bens quaisquer ser correspondente relao dos graus finais de
utilidade das quantidades dos bens disponveis para consumo depois
que a troca se completa. Quando o l ei tor ti ver refl eti do um pouco sobre
o si gni fi cado dessa proposi o, el e ver, crei o eu, que el a necessa-
ri amente verdadei ra se os pri nc pi os da natureza humana ti verem si do
representados corretamente nas pgi nas anteri ores.
I magi nemos que uma comuni dade comerci al s possua tri go, e
outra s possua carne. certo que, nessas ci rcunstnci as, pode-se trocar
uma poro de tri go por uma poro de carne com grande aumento
de uti l i dade. Como podemos determi nar em que ponto a troca dei xar
de ser vantajosa? Esse probl ema envol ve tanto a rel ao de troca como
os graus de uti l i dade. Suponhamos, por um momento, que a rel ao
de troca aproxi madamente de 10 l i bras de tri go por 1 l i bra de carne:
assi m, se para a comuni dade comerci al que possui tri go, 10 l i bras de
OS ECONOMISTAS
102
tri go so menos tei s que 1 de carne, aquel a comuni dade desejar
efetuar a troca. Se a outra comuni dade que possui carne achar que 1
l i bra desta menos ti l que 10 l i bras de tri go, el a tambm desejar
prossegui r na troca. Dessa forma, a troca conti nuar at que cada
parte tenha obti do todo o provei to poss vel , e haveri a perda de uti l i dade
se se fi zessem mai s trocas. Ambas as partes ento permanecem sati s-
fei tas e em equi l bri o, e os graus de uti l i dade ati ngi ram seu n vel , por
assi m di zer.
Esse ponto de equi l bri o ser conheci do pel o cri tri o de que uma
quanti dade i nfi ni tamente pequena de um bem que se troque a mai s,
pel a mesma taxa, no trar nem perda nem ganho de uti l i dade. Em
outras pal avras, se os acrsci mos dos bens forem trocados na rel ao
estabel eci da, suas uti l i dades sero i guai s para ambas as partes. Assi m,
se 10 l i bras de tri go fossem exatamente da mesma uti l i dade de 1 l i bra
de carne, no haveri a nem bem nem mal numa troca nessa proporo.
Di fi ci l mente se poder representar compl etamente essa teori a
por mei o de um di agrama, mas a fi gura segui nte tal vez possa escl a-
rec-l a. Suponhamos que a l i nha pqr um pequeno segmento da curva
de uti l i dade de um bem, enquanto a l i nha tracejada pqr da mesma
forma a curva de uti l i dade de outro bem, que foi i nverti da e superposta
outra. Devi do a essa i nverso, a quanti dade do pri mei ro bem se
mede ao l ongo da l i nha de base de a para b, enquanto a quanti dade
do segundo bem deve ser medi da na di reo oposta. Sejam as uni dades
de ambos os bens representadas por segmentos de i gual tamanho: ento
o pequeno segmento aa i ndi ca um acrsci mo do pri mei ro bem e um
decrsci mo do segundo. Suponhamos que a rel ao de uni dade por
uni dade, ou de 1 para 1; assi m, recebendo o bem aa,
Figura 5
a pessoa ganha a uti l i dade ad e perde a uti l i dade ac, ou seja, el a ter
um ganho l qui do de uti l i dade correspondente fi gura i nterl i near cd.
El a querer, portanto, prossegui r na troca. Se el a chegasse at o ponto
b e ai nda prossegui sse, el a receberi a, pel a prxi ma pequena troca, a
uti l i dade be e perderi a bf, ou seja, teri a uma perda l qui da de ef. A
J EVONS
103
pessoa, portanto, teri a i do l onge demai s, sendo evi dente que o ponto
de i nterseco, q, defi ne o l ugar em que teri a a mxi ma vantagem em
parar. l que um ganho l qui do se converte numa perda l qui da, ou
mel hor, onde, para uma quanti dade i nfi ni tamente pequena, no h
perda nem ganho. Representar em um di agrama uma quanti dade i n-
fi ni tamente pequena, ou mesmo extremamente pequena, , natural -
mente, i mposs vel ; porm representarei em ambos os l ados da l i nha
mq as uti l i dades de uma pequena quanti dade do bem adi ci onada ou
subtra da, sendo evi dente que o ganho l qui do ou perda l qui da resul -
tante da troca dessas quanti dades seri a i nsi gni fi cante.
Exposio simblica da teoria
Para representar esse processo de raci oc ni o por mei o de s mbol os,
seja x um pequeno acrsci mo de tri go, e y um pequeno acrsci mo
de carne dado em troca del e. Agora entra em cena nossa l ei da i ndi -
ferena. Sendo tanto o tri go como a carne bens homogneos, nenhuma
parte del es pode ser trocada por uma rel ao di ferente das outras
partes, no mesmo mercado: assi m, se x for a quanti dade total de tri go
dada em troca de y, a quanti dade total de carne recebi da, y, deve
estar para x na mesma rel ao que y est para x, e temos ento:
y
x
=
y
x
,
ou y =
y
x
x
.
Num estado de equi l bri o as uti l i dades desses acrsci mos devem
ser i guai s para cada parte i nteressada, de forma que nem mai s nem
menos troca seri a desejvel . Ora, o acrsci mo de carne y
y
x
vezes
i gual ao acrsci mo de tri go x, de forma que, para que suas uti l i dades
se i gual em, o grau de uti l i dade da carne deve ser
x
y
vezes i gual ao
grau de uti l i dade do tri go. Assi m chegamos ao pri nc pi o de que os
graus de utilidade dos bens trocados estaro na proporo inversa das
magnitudes dos acrscimos trocados.
Suponhamos que a pri mei ra comuni dade, A, possu a i ni ci al mente
a quanti dade a de tri go e que a segunda comuni dade, B, possu a a
quanti dade b de carne. Como a troca consi ste em dar x de tri go por
y de carne, a si tuao aps a troca ser a segui nte:
A possui a x de tri go, e y de carne.
B possui x de tri go, e b y de carne.
Que
1
(a x) si mbol i ze o grau fi nal de uti l i dade do tri go para A, e
2
x seja a funo correspondente para B. Tambm seja
1
x o grau de
uti l i dade de carne para A, e
2
(b y) a funo si mi l ar para B. Ento,
OS ECONOMISTAS
104
como foi expl i cado na pgi na 102, A no estar sati sfei to a menos que
a equao segui nte seja verdadei ra:
1
(a x) . dx =
1
y . dy;
ou
1
(a x)
1
y
=
dy
dx
.
Assi m, substi tui ndo o segundo membro pel a equao dada na pgi na
102 temos
1
(a x)
1
y
=
y
x
.
O que verdadei ro para A tambm verdadei ro para B, mutatis
mutandis. A parte i nteressada tambm deve obter dos acrsci mos fi nai s
exatamente a mesma uti l i dade, do contrri o ser de seu i nteresse trocar
ou mai s ou menos, e el a i r perturbar as condi es de troca. De acordo
com i sso, deve ser verdadei ra a equao segui nte:
2
(b y) . dy =
2
x . dx;
ou, substi tui ndo como anteri ormente,
2
x
2
(b y)
=
y
x
.
Chegamos portanto concl uso de que toda vez que doi s bens
so trocados um pel o outro e mais ou menos podem ser dados ou re-
cebidos em quantidades infinitamente pequenas, as quanti dades que
foram trocadas sati sfazem a duas equaes, que podem ser assi m for-
mul adas de forma conci sa:
1
(a x)
1
y
=
y
x
=
2
x
2
(b y)
As duas equaes so sufi ci entes para determi nar os resul tados
da troca; poi s h apenas duas quanti dades desconheci das envol vi das,
que so x e y, a quanti dade dada e a recebi da.
Tem exi sti do no pensamento de escri tores de Economi a uma noo
vaga de que as condi es de troca podem ser expressas sob a forma
de uma equao. Di zi a assi m J. S. Mi l l :
93
A i di a de uma relao, como entr e a pr ocur a e a ofer ta,
descabi da, e no tem nenhum i nter esse par a o assunto: uma
equao a anal ogi a matemti ca apr opr i ada. A pr ocur a e a
J EVONS
105
93 Principles of Political Economy. Li vro Tercei ro. Cap. I I , seo 4.
oferta, a quanti dade demandada e a quanti dade ofereci da, deve-
ro ser i gual adas.
Mi l fal a aqui que uma equao apenas uma analogia matem-
ti ca apropri ada. Mas se a Economi a deve tornar-se al gum di a uma
verdadei ra ci nci a, no deve tratar com meras anal ogi as, el a deve ra-
ci oci nar por mei o de equaes reai s, como todas as outras ci nci as que
de al gum modo chegaram a um carter si stemti co. Com efei to, a equa-
o de Mi l l no expl i ci tamente i gual a qual quer uma das que obti -
vemos aci ma. Sua equao expressa que a quanti dade de um bem
dada por A i gual quanti dade recebi da por B. pri mei ra vi sta, i sso
parece ser mero tru smo, poi s essa i gual dade deve necessari amente
exi sti r se for efetuada qual quer troca. A teori a do val or, como foi exposta
por Mi l l , no chega ao mago do probl ema nem a mostrar como se faz
vari ar o vol ume da procura ou da oferta. Mi l l no percebe que, como
deve haver duas partes i nteressadas a duas quanti dades em toda troca,
deve haver duas equaes.
Nossa teori a, contudo, perfei tamente coerente com as l ei s de
oferta e procura; e, se determi nssemos as funes de uti l i dade, seri a
poss vel col oc-l as sob uma forma que expressasse cl aramente a equi -
val nci a da oferta e da procura. Podemos tomar x como a quanti dade
demandada por um l ado e ofereci da pel o outro; i gual mente, y a quan-
ti dade ofereci da por um dos l ados e demandada pel o outro. Ora, quando
tomamos as duas equaes como sendo verdadei ras si mul taneamente,
supomos que x e y de uma equao so i guai s aos da outra. As l ei s
de oferta e de procura so dessa forma resul tado do que me parece
ser a verdadei ra teori a do val or e da troca.
Analogia com a teoria da alavanca
Ouvi objees fei tas quanto ao carter geral das equaes usadas
neste l i vro. Observa-se que as equaes em questo conti nuamente
envol vem quanti dades i nfi ni tesi mai s, e no entanto el as no so tratadas
como as equaes di ferenci ai s geral mente so, ou seja, i ntegradas. Com
efei to, no h razo pel a qual o processo de i ntegrao no deva ser
apl i cado, quando for o caso, e mostrarei aqui que as equaes empre-
gadas no so, de modo geral , di ferentes das que so empregadas em
mui tos ramos da ci nci a f si ca. De fato, toda vez que l i damos com
quanti dades que vari am conti nuamente, as equaes fi nai s devem l i dar
com quanti dades i nfi ni tesi mai s. O processo de i ntegrao, se entendo
o assunto corretamente, apenas determi na outras equaes, cuja ver-
dade provm da equao di ferenci al fundamental .
O modo pel o qual a mecni ca geral mente tratada em obras
vul gares tende a di sfarar o fundamento real da ci nci a, que se encontra
na assi m chamada teoria das velocidades virtuais. Tomemos a descri o
da al avanca de pri mei ra ordem como apresentada em al gumas das
mel hores obras modernas, por exempl o na Lessons in Elementary Me-
chanics, de Magnus, p. 128. Nel a encontramos o que segue:
OS ECONOMISTAS
106
Seja AB uma al avanca que gi ra l i vremente em torno de C,
o ful cro, e seja P a fora apl i cada em A, e W, a fora exerci da,
ou a resi stnci a venci da, ou o peso l evantado em B. Suponhamos
que a al avanca gi rou atravs do ngul o ACA, ento o trabal ho
real i zado por P i gual a P x arco AA, e o trabal ho real i zado
por W i gual a W x arco BB, se P e W atuam perpendi cul armente
ao brao. Portanto, pel a l ei da energi a,
P x AA = W x BB e como
AA
BB
,
=
AC
BC
,
temos que
P x AC = W x BC,
ou P x seu brao = W x seu brao".
Ora, numa exposi o como essa parece que estamos tratando
com si mpl es quanti dades fi ni tas, e no h aparentemente nenhuma
di fi cul dade no assunto. Na real i dade, a di fi cul dade est apenas di s-
farada pel a suposi o de que P e W agem perpendi cul armente ao
brao atravs de arcos fi ni tos. Essa condi o, com efei to, se veri fi ca
com exati do aproxi mada no probl ema da roda e do ei xo,
94
que pode
ser encarado como uma combi nao conjunta de uma sri e i nfi ni ta de
al avancas hori zontai s, que entram em ao sucessi vamente. Nessa m-
qui na, portanto, os pesos, fal ando de manei ra aproxi mada, sempre agem
perpendi cul armente sobre braos de compri mento i nvari vel . Mas, na
mai ori a dos casos da al avanca, a teori a s verdadei ra para desl oca-
mentos i nfi ni tamente pequenos, e to l ogo a al avanca comece a se
desl ocar atravs de qual quer arco fi ni to AA, dei xa de ser estri tamente
verdadei ro que o trabal ho real i zado por P seja i gual a P x arco AA.
Contudo, a teori a de fato correta quando se apl i ca al avanca con-
si derada estati camente, ou seja, num estado de repouso e equi l bri o,
uma vez que os arcos fi ni tos de desl ocamento, quando el a de fato
desl ocada, so exatamente proporci onai s aos arcos i nfi ni tamente pe-
quenos, conheci dos como vel oci dades vi rtuai s, atravs dos quai s el a
seri a desl ocada, se, em vez de estar em repouso, sofresse um desl oca-
mento i nfi ni tamente pequeno.
curi oso tambm que, quando tratamos a teori a da al avanca
de acordo com o pri nc pi o das vel oci dades vi rtuai s, obtemos equaes
exatamente si mi l ares na forma quel as da teori a do val or, como foram
determi nadas aci ma. O pri nc pi o geral das vel oci dades vi rtuai s faz com
que, se um nmero qual quer de foras est em equi l bri o em um ou
mai s pontos de um corpo r gi do, e se esse corpo sofrer um desl ocamento
i nfi ni tamente pequeno, a soma al gbri ca do produto de cada fora por
seu desl ocamento i gual a zero. No caso de uma al avanca de pri mei ra
J EVONS
107
94 Ver MAGNUS. Lessons. Seo 91.
ordem i sso si gni fi ca di zer que uma fora mul ti pl i cada por seu desl o-
camento ser neutral i zada pel a outra fora mul ti pl i cada por seu des-
l ocamento negativo. Mas na medi da em que os desl ocamentos so exa-
tamente proporci onai s aos compri mentos dos braos da al avanca, ob-
temos como equao deri vada que as foras mul ti pl i cadas cada uma
por seu prpri o brao so i guai s umas s outras. No h dvi da que
na ci tao aci ma P x AC = W x BC uma equao de quanti dades
fi ni tas; porm a verdadei ra equao deri vada i medi atamente do pri n-
c pi o das vel oci dades vi rtuai s P x AA = W x BB, na qual P e W so
fi ni tos, mas AA e BB so na verdade desl ocamentos i nfi ni tamente
pequenos.
Escrevemos a equao na forma
W
P
=
AA
BB
, ento, como temos tambm
AA
BB
=
AC
BC
podemos substi tui r uma pel a outra de modo a obter
W
P
=
AC
BC
.
.
Detenho-me um pouco nesse assunto porque temos aqui exata-
mente os model os das equaes de troca. Como vi mos, a equao ori gi nal
tem a forma geral
x
y
=
dy
dx
,
onde y e x representam expresses fi ni tas dos graus de uti l i dades
dos bens Y e X, em rel ao a um i ndi v duo, e dy e dx so quanti dades
i nfi ni tesi mai s dos bens trocados. Mas essas quanti dades i nfi ni tesi mai s
podem, ao menos nesse caso, ser el i mi nadas, porque, em vi rtude da
l ei da i ndi ferena, el as so exatamente proporci onai s s quanti dades
totai s fi ni tas trocadas. Desse modo, substi tu mos
dy
dx
por
y
x
.
Podemos escrever as equaes uma embai xo da outra, para tornar
vi s vel a anal ogi a. Assi m,
W
P
=
AA
BB
=
AC
BC
x
y
=
dy
dx
=
y
x
.
Para mostrar da forma mai s cl ara poss vel essa anal ogi a entre
as teori as da troca e da al avanca, apresento a segui r um di agrama,
OS ECONOMISTAS
108
no qual as vri as qual i dades econmi cas esto representadas pel as
partes do di agrama s quai s correspondem ou so proporci onai s.
Em probl emas de estti ca, no se emprega o processo de i nte-
grao. A equao na verdade l i da com quanti dades i nfi ni tesi mai s i ma-
gi nri as, e no h efei to al gum a ser cal cul ado. No entanto no h
nenhum probl ema de estti ca que no se submeta ao pri nc pi o das
vel oci dades vi rtuai s, e Poi sson, no seu Trait de Mcanique, que comea
com teoremas de estti ca, afi rma expl i ci tamente,
95
Figura 6
Dans cet ouvrage, jemploierai exclusivement la mthode des
i nfi ni ment peti ts.
96
Obstculos troca
At aqui consi deramos a teori a da troca como se a ao da troca
pudesse ser l evada adi ante sem probl emas ou custos. Na real i dade, o
custo de transporte quase sempre i mportante, e al gumas vezes o
pri nci pal el emento da questo. Ao custo do si mpl es transporte, deve-se
somar uma vari edade de despesas com corretores, agentes, empacota-
dores, desembarque, armazenamento, tri butos etc., juntamente com
quai squer i mpostos al fandegri os que i nci dam sobre a i mportao ou
exportao de bens. Todos esses encargos, sejam necessri os ou arbi -
trri os, so obstcul os ao comrci o e tendem a reduzi r suas vantagens.
O efei to de qual quer um desses encargos ou do total dos custos da troca
pode ser representado em nossa frmul a de manei ra mui to si mpl es.
Sejam quai s forem as manei ras de pagamento dos encargos, pode-
se i magi nar que so pagos pel a cesso, na i mportao, de certa frao
do bem recebi do, poi s o montante das despesas geral mente propor-
ci onal quanti dade de bens, e, se for expresso em di nhei ro, pode-se
consi der-l o transformado em bens.
J EVONS
109
95 2 ed., Pari s, 1833. v. I , seo 12, p. 14.
96 "Nesta obra, empregarei excl usi vamente o mtodo dos m ni mos i nfi ni tesi mai s." (N. do T.)
Assi m, se A d x numa troca, esta no a quanti dade recebi da
por B; uma parte de x subtra da antes, de modo que B recebe, di gamos,
mx, que menos que x, e os termos da troca devem ser ajustados de
sua parte, de modo a se harmoni zarem com essa condi o. A segunda
equao portanto ser
y
mx
=
2
(mx)
2
(b y)
Do mesmo modo, embora A esteja dando x, no receber todo o y,
mas, di gamos ny, de manei ra que a equao de A si mi l armente ser:
1
(a x)
1
(ny)
=
ny
x
.
O resul tado que no h uma rel ao de troca, mas duas rel aes, e
quanto mai or for a di ferena entre el as, menor vantagem haver na
troca. bvi o que A ou fi ca sati sfei to com menos do outro bem do que
antes, ou tem que dar mai s de seu bem para comprar o outro. Trans-
feri ndo os fatores m e n, podemos escrever as equaes da troca obstada
na forma conci sa:
1
(a x)
n.
1
(ny)
=
y
x
=
m.
2
(mx)
2
(b y)
.
Casos ilustrativos da teoria da troca
Como foi mostrado aci ma, pode parecer que a teori a da troca
de carter abstrato e i ntri ncado, porm no di f ci l encontrar exempl os
prti cos que mostraro como el a se veri fi ca no comportamento real de
um grande mercado. As l ei s comuns de oferta e procura, quando enun-
ci adas corretamente, so a mani festao prti ca da teori a. Tem havi do
mui ta di scusso sobre essas l ei s, em conseqnci a dos escri tos de W.
T. Thornton sobre o assunto na Fortnightly Review, e de sua obra
Claims of Labour. Mi l l , embora tendo decl arado anteri ormente que a
teori a do val or estava compl eta e perfei ta (ver p. 66), foi l evado pel os
argumentos de Thornton a admi ti r que era preci so fazer modi fi caes.
De mi nha parte, penso que a mai ori a dos argumentos de Thornton
no se apl i ca ao caso. El e sugere que no h l ei s regul ares de oferta
e procura, porque aduz certos casos nos quai s no pode ocorrer nenhuma
vari ao regul ar. Esses casos poderi am ser mul ti pl i cados i ndefi ni da-
mente, e ai nda assi m as l ei s em questo no seri am ati ngi das. Natu-
ral mente, as l ei s que pressupem uma conti nui dade de vari ao so
i napl i cvei s quando i mposs vel uma vari ao cont nua. Os economi s-
tas jamai s se l i vraro das di fi cul dades, se no di sti ngui rem entre uma
teori a e a aplicao de uma teoria. Porque no podemos observar de
uma s vez a operao das l ei s de oferta e procura no comrci o vareji sta,
OS ECONOMISTAS
110
nos l ei l es i ngl eses ou hol andeses, ou em outras formas de comrci o
parti cul ares, absol utamente no se deve supor que essas l ei s sejam
fal sas. Na verdade, Thornton parece admi ti r que, se forem l evadas em
conta a oferta e a procura futuras, as l ei s tornam-se substanci al mente
verdadei ras. Mas a i nfl unci a de eventos futuros no funci onamento
atual de qual quer mercado jamai s deve ser negl i genci ada, seja por um
comerci ante, seja por um economi sta.
Embora a mai ori a das objees de Thornton no venham ao caso,
suas observaes servi ram para mostrar que a ao das l ei s de oferta
e procura foi expl i cada i nadequadamente pel os economi stas anteri ores.
O que consti tui a procura e a oferta no foi i nvesti gado com o devi do
cui dado. Como ressal ta Thornton, pode haver mui tas pessoas querendo
comprar, mas sua i nfl unci a ser nul a, se sua mai s al ta oferta ai nda
for menor do que o menor preo que o vendedor est di sposto a acei tar.
Se num l ei l o h dez pessoas di spostas a comprar um caval o por 20
l i bras, e no mai s que i sso, sua demanda cessa i medi atamente quando
outra pessoa qual quer oferece 21 l i bras. Estou i ncl i nado no s a acei tar
esse ponto de vi sta, como a l ev-l o adi ante. Qual quer mudana no
preo de um arti go ser determi nada no em rel ao ao grande nmero
daquel es que podem compr-l o ou no compr-l o por outros preos,
mas em rel ao aos poucos que compraro ou no compraro o arti go
na medi da em que ocorre uma vari ao prxi ma ao preo exi stente.
A teori a consi ste em pr em prti ca esse ponto de vi sta at o
ponto de sustentar que apenas quanti dades comparati vamente i nsi g-
ni fi cantes de oferta e procura so, em qual quer momento, atuantes na
rel ao de troca. I sso se veri fi ca prati camente pel o que ocorre em todo
mercado mui to grande di gamos, o de Consol i dated Three Per Cent
Annui ti es.
97
Como o total do montante de fundos i ngl eses est perto
de 800 mi l hes de l i bras esterl i nas, a quanti dade comprada ou vendi da
por qual quer comprador comum , em comparao, i nsi gni fi cantemente
pequena. Pode-se encarar at mesmo 1 000 l i bras em t tul os como um
acrsci mo i nfi ni tesi mal mente pequeno, uma vez que el e no afeta de
forma apreci vel o supri mento total exi stente. Ora, a teori a sustenta
que o preo de mercado dos fundos modi fi cado de hora em hora no
pel as quanti dades gi gantescas que poderiam ser compradas ou vendi das
por preos extremos, mas pel as quanti dades comparati vamente i nsi g-
ni fi cantes que esto sendo vendi das ou compradas aos preos exi stentes.
Uma mudana de preo sempre ocasi onada pel a prepondernci a das
i ncl i naes daquel es que i ro ou no vender justamente em torno do
ponto em que est o preo. Quando os Consol s
98
esto a 93 1/2 e os
negci os esto tranqi l os, no i mporta quantos compradores h a 93
ou quantos vendedores a 94. Estes esto real mente fora do mercado.
J EVONS
111
97 T tul os da D vi da Pbl i ca a 3% ao ano. (N. do T.)
98 T tul os da D vi da Pbl i ca Consol i dada. (N. do T.)
S so operantes aquel es que podem ser l evados a comprar ou vender
pel o aumento ou di mi nui o de 1/8. O probl ema saber se o preo
permanecer a 93 1/2, se subi r a 93 5/8 ou se cai r a 93 3/8. Tal
acontece pel a venda ou compra de quanti dades comparati vamente pe-
quenas. So os compradores que acham mai s provei toso ter al guns
t tul os do que a quanti a correspondente em di nhei ro que fazem o preo
subi r em 1/8. Quando o preo dos fundos pbl i cos mui to fi rme e o
mercado estvel , i sso si gni fi ca que os t tul os esto di stri bu dos entre
os propri etri os de tal modo que a troca de mai s ou de menos pel o
preo em vi gor encarada com i ndi ferena.
Na pr ti ca, nenhum mer cado pr eenche por mui to tempo as
condi es ter i cas de equi l br i o, por que, devi do aos vr i os acasos
da vi da e dos negci os, haver cer tamente todo di a pessoas l evadas
a vender ou subi tamente i nduzi das a compr ar . Tambm h, quase
sempr e, a i nfl unci a da ofer ta ou pr ocur a futur as dependentes das
i nfor maes pol ti cas do momento. A especul ao compl i ca em gr au
el evado a ao das l ei s da ofer ta e pr ocur a, mas no faz cessar sua
ao nem al ter a em nenhuma medi da sua natur eza. Jamai s ter emos
uma ci nci a econmi ca, a menos que apr endamos a di scer ni r o fun-
ci onamento da l ei mesmo entr e as compl i caes mai s desconcer tantes
e as apar entes i nter r upes.
Problemas da teoria da troca
At aqui consi deramos apenas um caso da teori a da troca. Em
todos os outros casos em que os bens so pass vei s de subdi vi so i l i -
mi tada os pri nc pi os sero exatamente os mesmos, mas as condi es
parti cul ares podem estar sujei tas a vari ao.
Podemos, em pri mei ro l ugar, representar as condi es de um
grande mercado em que exi stem grandes quanti dades di spon vei s de
al gum estoque, de forma que qual quer pequeno negoci ante no afetar
de forma apreci vel a rel ao de troca. Essa rel ao , poi s, aproxi -
madamente um nmero fi xo, e cada negoci ante troca a essa proporo
exatamente tanto quanto for conveni ente para el e. Podem-se represen-
tar essas ci rcunstnci as supondo-se que A uma comuni dade comerci al
possui dora de doi s grandes estoques de bens, a e b. Seja C uma pessoa
que possui uma quanti dade c comparati vamente pequena do segundo
bem, e entrega uma parte del a, y, que mui to pequena em comparao
a b, em troca de uma poro x de a, que mui to pequena em comparao
a a. Assi m, aps a troca, teremos que A possui as quanti dades a x
e b + y, e C possui x e c y. As equaes sero assi m:
1
(a x)
1
(b + y)
=
y
x
=
2
x
1
(c y)
.
Uma vez que, por suposi o, a x e b + y no di ferem apreci a-
OS ECONOMISTAS
112
vel mente de a e b, podemos substi tui r as pri mei ras quanti dades por
estas l ti mas, e teremos, no l ugar da pri mei ra equao, aproxi madamente,
1
a
1
b
=
y
x
= m.
Sendo a rel ao de troca uma rel ao aproxi madamente estvel deter-
mi nada pel as condi es da comuni dade comerci al A, h, na verdade,
apenas uma quanti dade i ndetermi nada, x, a quanti dade do bem que
C acha vantajoso adqui ri r gastando parte de c. I sso ser determi nado
pel a equao
1
a
1
b
=
2
x
2
(c mx)
.
Essa equao representar a si tuao, com respei to a determi -
nado bem, de um pa s mui to pequeno que negoci a com um mui to mai or.
Pode representar, em certa medi da, as ci rcunstnci as do comrci o entre
as i l has do canal da Mancha e os grandes mercados da I ngl aterra,
embora, como natural , a equao jamai s se veri fi que por compl eto,
uma vez que os menores compradores afetam o mercado em al guma
medi da. A equao representa mai s exatamente a posi o de um con-
sumi dor i ndi vi dual em rel ao ao comrci o total de uma grande co-
muni dade, uma vez que el e preci sa comprar aos preos em vi gor, que
el e no pode i nfl uenci ar de manei ra apreci vel .
Contudo, preci so uma frmul a ai nda mai s si mpl es para repre-
sentar as condi es de grande parte de nossas compras. Em mui tos
casos, queremos uma quanti dade to pequena de um bem, que no
preci samos dar mai s que uma frao mui to pequena de nossas posses
para obt-l a. Podemos supor ento que o y do l ti mo probl ema uma
parte mui to pequena de c, de modo que
2
(c y) no di fere apreci a-
vel mente de
2
c. Tomando por m, como anteri ormente, a rel ao de
troca exi stente, temos uma ni ca equao:
x
x
2
c
= m,
ou
2
x = m.
2
c.
I sso si gni fi ca que C comprar do bem at que seu grau de uti l i dade
cai a abai xo do grau do bem que el e d em troca. O gasto de uma
pessoa com sal neste pa s um i tem i nsi gni fi cante de sua despesa; o
que el a gasta com i sso no a faz apreci avel mente mai s pobre. Se o
preo ou a rel ao estabel eci da de 1 pni por cada l i bra de sal , el a
comprar em um tempo qual quer, di gamos, um ano, tantas l i bras de
sal at que 1 l i bra adi ci onal no tenha tanta uti l i dade para el a quanto
1 pni . Na equao aci ma, m.
2
c representa a uti l i dade, para a pessoa,
J EVONS
113
de 1 pni , que, sendo uma frao m ni ma de suas posses, de uti l i dade
aproxi madamente i nvari vel . Assi m, a pessoa compra sal at
2
x
que aproxi madamente a uti l i dade da prxi ma l i bra de sal ser
i gual ou tal vez um pouco menor que a uti l i dade de 1 pni . Mas esse
caso no deve ser confundi do com o das compras que afetam de forma
apreci vel as posses do comprador. Assi m, se uma fam l i a pobre compra
mui ta carne do aouguei ro, el a provavel mente passar sem al guma
outra coi sa. Quanto mai s el a comprar, menor ser o grau fi nal de
uti l i dade da carne, e maior ser o grau final de utilidade de alguma
outra coisa; e portanto tai s ti pos de compra sero os mai s ri gorosamente
l i mi tados.
Casos complexos da teoria
At aqui tratamos da teori a da troca apl i cando-a a apenas duas
comuni dades comerci ai s que possuem e negoci am doi s bens. Os mesmos
pri nc pi os permanecem verdadei ros por mai s numerosas e compl exas
que sejam as condi es. O pri nci pal ponto a ser l embrado ao traar
as concl uses da teori a o de que a mesma dupl a de bens no mesmo
mercado s pode ter uma rel ao de troca, a qual deve portanto pre-
val ecer entre cada comuni dade e outra qual quer, consi derando-se nul os
os custos de transporte. As equaes tornam-se rapi damente numerosas
quando se consi deram comuni dades ou bens adi ci onai s; i remos mostrar
como se apl i cam no caso de trs comuni dades comerci ai s e trs bens.
Suponhamos ento que
A possui o estoque a de al godo, e del e entrega
x
1
a B, x
2
a C.
B possui o estoque b de seda, e del e entrega
y
1
a A, y
2
a C.
C possui o estoque c de l , e del e entrega
z
1
a A, z
2
a B.
Temos aqui ao todo sei s quanti dades desconheci das: x
1
, x
2
, y
1
, y
2
, z
1
,
z
2
; mas temos tambm mei os sufi ci entes para determi n-l as. As quan-
ti dades so trocadas como segue:
A d x
1
em troca de y
1
, e x
2
em troca de z
1
.
B d y
1
em troca de x
1
, e y
2
em troca de z
2
.
C d z
1
em troca de x
2
, e z
2
em troca de y
2
.
Essas trocas podem ser tratadas como se fossem i ndependentes; cada
comuni dade dever fi car sati sfei ta em rel ao a cada uma de suas
trocas, e portanto devemos l evar em conta as funes de uti l i dade ou
os graus fi nai s de uti l i dade de cada bem com respei to a cada comu-
ni dade. Expressemos as funes da segui nte manei ra:
1,
1
,
1
so as respecti vas funes de uti l i dade para A.
OS ECONOMISTAS
114
2,
2
,
2
so as respecti vas funes de uti l i dade para B.
3,
3
,
3
so as respecti vas funes de uti l i dade para C.
Ora, A, aps a troca, ter a x
1
x
2
de al godo e y
1
de seda, e B ter
x
1
de al godo e b y
1
y
2
de seda: a rel ao de troca entre el es, y
1
por x
1
, ser portanto determi nada pel o segui nte par de equaes:
1
(a x
1
x
2
)
1
y
1
=
y
1
x
1
=
2
x
1
2
(b y
1
y
2
)
.
A troca entre A e C ser determi nada de i gual modo pel a rel ao dos
graus de uti l i dade de l e do al godo para cada l ado envol vi do na
troca; temos assi m
1
(a x
1
x
2
)
1
z
1
=
z
1
x
2
=
3
x
2
3
(c z
1
z
2
)
.
Haver tambm i ntercmbi o entre B e C, que ser pautado i ndepen-
dentemente por pri nc pi os anl ogos, de forma que teremos outro par
de equaes para preencher as condi es da troca, que so
2
(b y
1
y
2
)
2
z
2
=
z
2
y
2
=
3
y
2
3
(c z
1
z
2
)
.
Poder amos conti nuar de i gual modo para determi nar as condi es
de troca entre mai or nmero de comuni dades, porm os pri nc pi os sero
exatamente os mesmos. Para toda quanti dade de um bem que dada
em troca, deve-se receber al go; e se se recebe pores do mesmo ti po
de mercadori a de vri os l ados di ferentes, ento podemos i magi nar a
quanti dade que dada por esse bem como se esti vesse di vi di da em
i gual nmero de pores di sti ntas. Desse modo, as trocas nos casos
mai s compl i cados podem ser sempre decompostas em trocas si mpl es,
e cada troca dar ori gem a duas equaes sufi ci entes para determi nar
as quanti dades envol vi das. O mesmo pode ser fei to quando h doi s ou
mai s bens em poder de cada comuni dade comerci al .
A concorrncia na troca
Um caso da teori a da troca que de consi dervel i mportncia surge
quando duas partes i nteressadas concorrem ao mesmo tempo para fornecer
certo bem a uma tercei ra parte. Suponhamos ento que A, que tem uma
quanti dade de um bem representada por a, compra outro ti po de bem
tanto de B como de C, que del e possuem respecti vamente b e c. Todas
as quanti dades envolvidas se apresentam como segue:
A d x
1
de a para B, e x
2
para C,
B d y
1
de b para A,
C d y
2
de c para A.
J EVONS
115
Como se pode supor que cada bem perfei tamente homogneo,
a rel ao de troca deve ser a mesma tanto num caso como no outro,
de forma que temos uma equao assi m montada:
y
1
x
1
=
y
2
x
2
(1)
Ora, se A obtm o bem certo na quanti dade apropri ada, a el e no
i mporta de onde vem o bem, de forma que no preci samos, na equao
de A, di sti ngui r a ori gem ou o desti no das quanti dades; el e d si mpl esmente
x
1
+ x
2
, e recebe em troca y
1
+ y
2
. Vemos ento que por (1)
y
1
+ y
2
x
1
+ x
2
=
y
1
x
1
e temos a equao comum de troca:
1
(a x
1
x
2
)
1
(y
1
+ y
2
)
=
y
1
x
1
(2)
Mas tanto B como C devem estar, em separado, sati sfei tos com o seu
qui nho na transao. Assi m
2
x
1
2
(b y
1
)
=
y
1
x
1
;
(3)
3
x
2
3
(c y
2
)
=
y
2
x
2
;
(4)
H ao todo quatro quanti dades desconheci das: x
1
, x
2
, y
1
, y
2
; e temos
quatro equaes para determi n-l as. Podem-se fazer vri as suposi es
quanto s grandezas rel ati vas das quanti dades b e c, ou sobre o carter
das funes envol vi das, e da ti rar concl uses sobre o efei to no comrci o.
O resul tado geral seri a que o dono menor deve se adaptar mai s ou
menos aos preos do dono mai or.
Ineficcia das equaes de troca
Constantemente ocorrem casos em que as equaes da mesma
espci e apresentadas nas pgi nas precedentes no se veri fi cam ou l e-
vam a resul tados i mposs vei s. Tal mal ogro pode i ndi car que no ocorre
troca nenhuma, mas pode ter tambm si gni fi cado di ferente.
OS ECONOMISTAS
116
No pri mei ro caso, pode acontecer que o bem possu do por A tenha
al to grau de uti l i dade para A, e um grau bai xo para B, e que, vi ce-versa,
o bem de B tenha al to grau de uti l i dade para B e grau menor para
A. Essa di ferena pode exi sti r em tal extenso que, embora B devesse
receber mui to pouco do bem de A, ai nda assi m o grau fi nal de uti l i dade
do bem para el e seri a menor que o de seu prpri o bem, o qual el e
apreci a mui to mai s. Nesse caso a troca no trar nenhum benef ci o,
e conseqentemente no ocorrer. Esse mal ogro da troca ser i ndi cado
por um mal ogro das equaes.
Pode tambm acontecer que as quanti dades totai s dos bens pos-
su dos sejam trocadas, e mesmo assi m as equaes fal ham. A pode ter
to pouco desejo de consumi r seu prpri o bem que mesmo a l ti ma
poro deste tem um grau de uti l i dade menor para A do que um pequeno
acrsci mo do bem recebi do em troca. O mesmo estado de coi sas pode
tambm exi sti r com B em rel ao ao seu bem: nessas ci rcunstnci as,
a posse toda de um pode ser trocada por toda a do outro, e a rel ao
de troca seri a natural mente determi nada pel a rel ao dessas quanti -
dades. Contudo, cada parte pode desejar o l ti mo acrsci mo do bem
recebi do mai s do que deseja a l ti ma poro do bem dado, de forma
que a equao no i r se veri fi car. Na prti ca, esse caso di fi ci l mente
ocorrer no comrci o i nternaci onal , uma vez que duas naes em geral
negoci am vri os bens, fato que al tera as condi es.
Do mesmo modo, as equaes da troca no podero ocorrer quando
o bem ou arti go de uti l i dade possu do por um ou ambos os l ados
i ndi vi s vel . Supomos sempre at aqui que se pode obter mai s ou menos
de um bem, at quanti dades i nfi ni tamente pequenas. I sso quase
verdadei ro para todo o comrci o normal , sobretudo para o comrci o
i nternaci onal entre grandes naes i ndustri ai s. Uma saca de tri go ou
uma barra de ferro so prati camente i nfi ni tesi mai s se comparadas com
as quanti dades trocadas entre os Estados Uni dos e a I ngl aterra, e
mesmo um carregamento ou remessa de tri go ou ferro uma pequena
frao do todo. Mas, em casos excepci onai s, at mesmo o comrci o
i nternaci onal pode envol ver arti gos i ndi vi s vei s. I magi nemos o governo
bri tni co oferecendo o di amante Koh-i -noor ao quedi va do Egi to em
troca da Col una de Pompeu; nesse caso parti r um arti go ou outro no
i ri a resol ver a questo.
99
Quando uma i l ha ou parte de um terri tri o
transferi da de um possui dor para outro, freqentemente necessri o
J EVONS
117
99 Depoi s que o di to aci ma foi escri to, o val or do Obel i sco de Cl epatra se consti tui u na
verdade em matri a de del i berao do Supremo Tri bunal da Mari nha, com respei to ao
prmi o de resgate. Contudo, o fato que na ausnci a de qual quer ato de troca referente
a tal objeto, a noo de val or absol utamente no se apl i ca. No mxi mo, o val or atri bu do,
25 000 l i bras, mera fi co i nventada arbi trari amente para representar o que poderi a
tal vez ser dado por tal objeto se houvesse um comprador. Al m di sso, curi oso que depoi s
que foi i mpressa a pri mei ra edi o, a Rssi a real i zou de fato uma troca de i l has com o
Japo.
*
*
Em 1875, o Japo cedeu Rssi a a parte sul de Saghal i en em troca da metade norte
das i l has Kuri l e. [Ed.]
l evar tudo ou nada. Os Estados Uni dos, ao comprar o Al asca da Rssi a,
di fi ci l mente teri am consenti do em adqui ri r apenas parte de todo o
terri tri o. Em todas as vendas de casas, fbri cas ou outras edi fi caes,
geral mente i mprati cvel fazer qual quer di vi so sem grande di mi nui -
o da uti l i dade do todo. Em todos os casos semel hantes, nossas equa-
es dei xaro de exi sti r, porque no podemos supor a exi stnci a de
um acrsci mo ou uma di mi nui o em um arti go i ndi vi s vel .
Suponhamos, por exempl o, que A e B possuam um l i vro cada
um; el es no podem di vi di r os l i vros, e devem portanto troc-l os i ntei ros
se o fi zerem. Em que condi es el es o faro? Certamente sob a condi o
de que cada um ganhe em uti l i dade ao proceder assi m. No l i damos
aqui com grau fi nal de uti l i dade l i gado a uma quanti dade i nfi ni tesi mal ,
mas com a utilidade total do artigo inteiro. Usando s mbol os, teremos:
U
1
= a uti l i dade do l i vro de A para A,
U
2
= a uti l i dade do l i vro de A para B,
1
= a uti l i dade do l i vro de B para A,
2
= a uti l i dade do l i vro de B para B.
Ento as condi es da troca so si mpl esmente
1
>
1
,
2
>
2
.
Podemos tambm consi derar teori camente o caso onde as uti l i dades
so exatamente i guai s em um l ado; assi m
1
>
1
,
2
=
2
;
B seri a ento compl etamente i ndi ferente troca, e no vejo nenhum
modo de deci di r se el e i ri a ou no consenti r nel a. Mas di fi ci l mente
preci saremos consi derar esse caso, j que raro el e ocorrer na prti ca.
Se as uti l i dades fossem exatamente i guai s aos doi s l ados com respei to
aos doi s objetos, no haveri a, bvi o, nenhum moti vo para troca. J
a m ni ma perda de uti l i dade para qual quer um dos l ados seri a um
compl eto i mpedi mento transao, porque estamos supondo aqui que
no h nenhum outro bem di spon vel de forma a permi ti r atrati vos
adi ci onai s, e que no entra em questo nenhum outro moti vo al m
daquel es proveni entes do si mpl es desejo da prpri a vantagem pessoal .
Quando supomos a troca de um arti go i ndi vi s vel por um bem
di vi s vel , surge um probl ema mui to mai s compl i cado. Quando a Rssi a
vendeu o Al asca, este era uma coi sa i ndi vi s vel prati camente. Foi , po-
rm, comprado por di nhei ro, do qual se pode oferecer mai s ou menos
em quanti dades i ndefi ni damente pequenas. Uma transao desse ti po
mui to comum, ocorre, de fato, na compra de toda casa, manso,
propri edade, fbri ca, navi o ou outro todo compl eto que vendi do por
OS ECONOMISTAS
118
di nhei ro. Nossas equaes de troca anteri ores certamente so fal has
nesse caso, poi s envol vem acrsci mos de bens em ambos os l ados. A
teori a parece fornecer uma resposta bastante i nsati sfatri a, uma vez
que o probl ema se mostra, dentro de certos l i mi tes, i ndetermi nado.
Seja X o arti go i ndi vi s vel ; u
1
sua uti l i dade para seu possui dor
A, e u
2
sua uti l i dade para B. Seja y a quanti dade de um bem que se
d em troca, um bem que di vi s vel ad infinitum; seja
1
a uti l i dade
total de y para A, e
2
, sua uti l i dade total para B. bastante cl aro
que para haver troca,
1
deve ser mai or que u
1
, e u
2
mai or que
2
, ou
seja, deve haver como antes um ganho de uti l i dade para ambos os
l ados. A quanti dade y no deve ser to grande a ponto de supri mi r o
ganho de B, nem to pequena a ponto de ti rar o ganho de A. O que
segue uma ci tao da obra de Thornton que expressa o probl ema
com exati do:
Exi stem doi s extremos opostos: um al m do qual o preo de
um bem no pode se el evar, o outro al m do qual el e no pode
cai r. O l i mi te superi or assi nal ado pel a uti l i dade, real ou suposta,
do bem para o fregus; o i nferi or, por sua uti l i dade para o ne-
goci ante. Ni ngum dar por um bem uma quanti dade de di nhei ro,
ou seu equi val ente, que, em sua opi ni o, seri a mai s ti l para si
do que o prpri o bem. Ni ngum receber em troca de um bem
uma quanti dade de di nhei ro ou de qual quer outra coi sa que seja,
na sua opi ni o, de menos uso para si do que o bem. O preo
dado ou recebi do pode estar em qual quer um dos extremos opos-
tos, ou pode estar em qual quer l ugar i ntermedi ri o entre el es.
100
Podem ocorrer trs casos di sti ntos, que fi cam mai s bem i l ustrados
por um exempl o concreto. Suponhamos que possamos l er os pensa-
mentos das partes i nteressadas na venda de uma casa. Se A di z que
1 200 l i bras o menor preo que o sati sfar, e B sustenta que 800
l i bras o preo mai s al to que vantajoso para el e oferecer, no
poss vel ocorrer nenhuma troca. Se A acha que 1 000 l i bras seu
l i mi te m ni mo, e B menci ona a mesma quanti dade como seu l i mi te
mxi mo, o negci o pode ser fechado e o preo estar defi ni do exata-
mente. Mas supondo, por l ti mo, que A est na verdade di sposto a
vender por 900 l i bras e B est preparado para comprar por 1 100
l i bras, de que manei ra podemos determi nar o preo teori camente? No
vejo nenhuma forma de resol ver a questo. Qual quer preo entre 900
e 1 100 l i bras dei xar uma vantagem para cada l ado, e ambas as
partes perdero se no chegarem a um acordo. Acredi to que esse ti po
de transao deve ser determi nado por outros dados que no estri ta-
mente econmi cos. O resul tado da transao depender em grande
J EVONS
119
100 THORNTON. On Labour, its Wrongful claims and Rightful Dues. 1869. p. 58.
parte da soma comparati va de conheci mento que cada parte possui ou
consegue obter no curso da transao sobre a posi o e as necessi dades
da outra. O poder de l er os pensamentos de outra pessoa portanto
de grande i mportnci a nos negci os, e a arte de negoci ar consi ste pri n-
ci pal mente em o comprador determi nar o preo m ni mo pel o qual o
vendedor est di sposto a se desfazer de seu objeto, sem descartar, se
poss vel , o preo mai s al to que el e, o comprador, est di sposto a oferecer.
I nfl uenci aro tambm na deci so a di sposi o e a fora de carter das
partes i nteressadas, sua comparati va persi stnci a, sua habi l i dade e
experi nci a nos negci os, ou tal vez mesmo senti mentos de justi a ou
de bondade. Tai s moti vos so em mai or ou menor grau estranhos a
uma teori a econmi ca, e no entanto aparecem como consi deraes ne-
cessri as nesse probl ema. Pode ser que transaes i ndetermi nadas desse
ti po fossem mai s bem ajustadas por um rbi tro ou por uma tercei ra parte.
As equaes de troca tambm podem fal har quando os bens so
di vi s vei s, mas no at quanti dades i nfi ni tamente pequenas. Sempre
h no comrci o vareji sta uma uni dade conveni ente abai xo da qual no
caem nossas compras. O papel pode ser comprado aos maos ou mesmo
em pacotes, os quai s se pode no desejar di vi di r. No se pode comprar
menos vi nho do que uma garrafa por vez do comerci ante de vi nhos.
Em todos os casos desse ti po, a troca, em teori a, no pode ser ajustada
perfei tamente, porque ser mui to i mprovvel que um nmero i ntei ro
de uni dades confi rme preci samente as equaes de troca. Em grande
nmero de casos, com efei to, a uni dade pode ser to pequena, compa-
rada s quanti dades totai s trocadas, que na prti ca i nfi ni tamente
pequena. Suponhamos, porm, que uma pessoa quer comprar ti nta,
que s pode ser obti da, naquel as ci rcunstnci as, em vi dros de 1 xel i m.
Se um vi dro no ai nda sufi ci ente, como el a i r deci di r se l eva ou
no um segundo? Certamente, esti mando a uti l i dade total do vi dro de
ti nta e comparando-a com a do xel i m. Se houver um excedente, a pessoa
com certeza comprar o vi dro, e comear a consi derar se um tercei ro
desejvel ou no.
Esse caso pode ser i l ustrado pel a Fi g. 7, na qual os espaos oq
1
,
p
1
q
2
, p
2
q
3
etc. representam as uti l i dades totai s de sucessi vos vi dros de
ti nta; os espaos do mesmo tamanho or
1
, p
1
r
2
etc. representam as uti -
l i dades totai s de sucessi vos xel i ns, as quai s podemos supor como pra-
ti camente i nvari vei s. No h dvi das de que trs vi dros sero com-
prados, mas o quadro s o ser se a fi gura i nterl i near p
3
q
3
q
4
p
4
for
mai or em rea que o retngul o p
3
r
3
r
4
p
4
.
Casos desse ti po so anl ogos os tratados nas pgi nas 158 a 162,
nos quai s as coi sas trocadas so i ndi vi s vei s, com exceo de que a
questo entre trocar ou no trocar ocorre repenti namente com respei to
a cada uni dade sucessi va e resol vi da com respei to a cada uni dade
pel o excedente da uti l i dade total da uni dade a ser recebi da sobre a
uti l i dade total da uni dade a ser dada. H na verdade perfei ta harmoni a
OS ECONOMISTAS
120
entre os casos em que se podem e que no se podem estabel ecer e-
quaes; para i sso temos apenas que i magi nar que as uni dades i ndi -
vi s vei s de um bem vo decrescendo i ndefi ni damente em tamanho, de
forma a passarmos gradual mente para o caso em que a i gual dade dos
acrsci mos de uti l i dade determi nada em defi ni ti vo.
Figura 7
Valor negativo e valor nulo
Somente poucos economi stas, destacando-se entre el es H. D. Ma-
cl eod, em vri as de suas publ i caes, perceberam o fato de que pode
exi sti r al go com val or negati vo. No entanto no pode haver a menor
dvi da de que as pessoas freqentemente trabal ham ou pagam a outros
trabal hadores para se l i vrarem de coi sas, e el as no o fari am a menos
que tai s coi sas fossem noci vas, ou seja, possu ssem a qual i dade oposta
uti l i dade: a desuti l i dade. Quando a gua se i nfi l tra numa mi na,
di spendi oso ti r-l a de l novamente, e mui tas pessoas foram arrui nadas
por causa de mi nas mi das. As pedrei ras e as mi nas em geral produzem
grande quanti dade de terra ou de rocha sem val or, chamada di versa-
mente de p de carvo, aterro, res duo, refugo, e uma parte no pequena
do custo operaci onal provm da necessi dade de erguer e carregar essa
massa de matri a sem provei to e depoi s achar um l ugar para deposi -
t-l a. Toda fornal ha produz ci nzas, res duo ou escri a, que quase nunca
podem ser vendi dos por al guma quanti a, e todo domi c l i o i ncorre em
despesa para se l i vrar, de uma forma ou de outra, da gua de esgoto,
ci nzas, l i xo e outros rejectanea. Em resumo, a refl exo l ogo nos mostra
que uma parte no i nsi gni fi cante dos val ores com que l i damos na eco-
nomi a prti ca devem ser valores negativos.
prati camente desnecessri o mostrar que esse val or negati vo
pode ser consi derado al go que vari a conti nuamente da mesma forma
que o val or posi ti vo. Se depoi s de uma l onga seca a chuva comea a
cai r pesadamente, pri mei ro el a saudada como um grande benef ci o;
J EVONS
121
a gua da chuva pode ser mui to val i osa para produzi r uma col hei ta,
quando de outra forma seri a i mposs vel uma agri cul tura bem-sucedi da.
A chuva pode assi m evi tar a fome, mas depoi s de ter ca do por certo
per odo de tempo, o agri cul tor comea a pensar que el e j teve o bastante
del a; mai s chuva i r retardar suas ati vi dades ou causar dano s pl antas
em cresci mento. Se a chuva conti nua a cai r, el e passa a temer mai ores
preju zos, a gua comea a i nundar sua terra, e h at mesmo o peri go
de sol o e col hei tas serem todos carregados pel a gua. Mas i nfel i zmente
a chuva desaba mai s e mai s pesadamente, at que por fi m tal vez as
col hei tas, o sol o, a casa, as provi ses, at o prpri o agri cul tor, sejam
todos arrastados para l onge. Portanto, a mesma gua que em quanti -
dade moderada teri a si do do mxi mo provei to poss vel , preci sa apenas
ser forneci da em quanti dades cada vez mai ores para se tornar danosa,
at que acaba ocasi onando a ru na ou mesmo a morte do i ndi v duo.
Aquel es que conhecem as secas e i nundaes da Austrl i a sabem que
esse no um quadro fantasi oso.
101
Em mui tos outros casos se pode da mesma forma mostrar que
a matri a, a qual di fi ci l mente podemos chamar de bem, adqui re um
grau cada vez mai s al to de desutilidade, quanto mai or for a quanti dade
qual se tem de dar um desti no. Esse o caso dos esgotos das grandes
ci dades, a gua suja ou envenenada das mi nas, ti nturari as etc. Qual -
quer obstcul o pode ser consi derado um bem negati vo, seja el e uma
montanha que tenha de ser perfurada para se fazer uma estrada de
ferro, ou um buraco que preci so encher com aterro di spendi oso. Se
o l ocal de uma construo requer certa despesa em ni vel amento e dre-
nagem antes que possa ser uti l i zado, o val or desse trabal ho ser, com
certeza, subtra do do val or que de outra forma a terra possui ri a. Assi m,
como toda vantagem da propri edade d ori gem ao val or, da mesma
forma toda desvantagem deve ser contada contra esse val or.
Chegamos agora questo de como o val or negati vo i r ser re-
presentado em nossas equaes. Suponhamos que uma pessoa possua
a de al gum bem, e ache i nsufi ci ente: ento a quanti dade possu da tem
um grau posi ti vo de uti l i dade para a pessoa, ou seja, (a) posi ti vo.
Suponhamos que a a se adi ci one x, que aumenta gradual mente: (a +
x) decrescer gradual mente. Vamos presumi r que para certo val or de
x a funo se i gual e a zero; ento, se um aumento adi ci onal de x
transformar a uti l i dade em desuti l i dade, (a + x) se tornar uma quan-
ti dade negati va. Como esse si nal negati vo vai afetar a val i dade das
equaes que vi emos empregando nas pgi nas anteri ores e nas quai s
cada membro apareceu como sendo posi ti vo, formal e i ntri nsecamente?
Est cl aro que no podemos i gual ar uma quanti dade posi ti va a uma
negati va; mas se ver que nenhuma di fi cul dade surgi r se, ao mesmo
OS ECONOMISTAS
122
101 Ver a obra do autor Hi story of the Fl oods and Droughts of New South Wal es. I n: Australian
Almanack. Sydney, 1859. p. 61. Ver tambm RUSSELL, H. C. Climate of New South Wales.
tempo que i ntroduzi mos a uti l i dade negati va, atri bui rmos a cada acrs-
ci mo do bem si nal posi ti vo ou negati vo, conforme el e seja adi ci onado
ou subtra do s posses daquel e que troca, ou seja, recebi do ou dado
em troca.
Suponhamos que A e B possuam respecti vamente a e b, e troquem
dx e dy dos bens X e Y. cl aro, ento, pel o carter geral da di scusso
nas pgi nas 75-76, que a equao fundamental adotada al i se i ncl ui r
na forma mai s geral .
(a x) . dx + (b y) . dy = 0.
Nessa equao, cada fator de cada termo pode ser real mente negati vo,
enquanto os si nai s al ternati vos na frente de x e y permi tem l evar em
consi derao qual quer caso poss vel de entrega e recebi mento na troca.
Surgi ro quatro casos poss vei s. No pri mei ro caso, ambos os bens
tm uti l i dade para cada pessoa, ou seja, tanto como so funes
posi ti vas, porm A d um pouco de X em troca de um pouco de Y.
I sso si gni fi ca que dx negati vo, e dy posi ti vo, e as quanti dades pos-
su das aps a troca so a x e b + x. Desse modo a equao se torna
(a x) . dx + (b + y) . dy = 0.
Ter amos apenas que transpor o termo negati vo para o outro l ado da
i gual dade, e admi ti r que b = 0, para obter a equao da pgi na 76.
Para o segundo caso, suponhamos que Y possui desuti l i dade para
A, de modo que a funo se torna negati va para el e; para se l i vrar
de y, el e preci sa tambm pagar x, e essas duas quanti dades, assi m
como dy e dx, tero si nal negati vo. A equao ento ter a forma
(a x) ( dx) (b y) ( dy) = 0,
ou
(a x) . dx + (b y) . dy = 0.
O tercei ro caso a contraparti da do segundo, e representa a posi o
de B, que recebe tanto x como y, supondo-se que uma dessas quanti -
dades um bem negativo para el e. Mas, tratando o assunto como no
caso de A, podemos presumi r que posi ti vo, negati vo, e dando o
si nal posi ti vo para x, y, dx e dy obtemos a equao
(a + x) . dx (b + y) . dy = 0.
poss vel conceber ai nda um quarto caso, no qual as pessoas
estari am trocando doi s bens negati vos, ou seja, se l i vrando de uma
substnci a danosa acei tando em troca del a al go que se consi dera ser
menos danoso, embora ai nda possua desuti l i dade. Nesse caso tanto
como so negati vos, assi m como uma das quanti dades trocadas; to-
J EVONS
123
mando-se x e dx como posi ti vos, e y e dy como negati vos, a equao
assume a forma
(a + x) . dx (b y) . ( dy) = 0,
(a + x) . dx + (b y) . dy = 0.
Seri a di f ci l descobri r quai squer casos di sti ntos desse l ti mo ti po
de troca. De manei ra geral , quando uma pessoa recebe ajuda para se
l i vrar de al guma posse i nconveni ente, paga em di nhei ro ou outro bem
pel o servi o daquel e que ajuda a remover o estorvo. Natural mente,
deve ser um caso bastante raro aquel e que remove ter al gum estorvo
que convi ri a outra parte receber em troca. Contudo, a conjuntura
pode s vezes ocorrer, e sem dvi da ocorre. Doi s propri etri os de terras
vi zi nhas, por exempl o, possi vel mente podem concordar que, se A dei xa
B jogar os despojos de sua mi na na terra de A, ento A estar autori zado
a drenar a sua mi na para a mi na de B. Poderi a acontecer que B esti vesse
comparati vamente mai s embaraado pel a grande quanti dade de seus
despojos que pel a gua, e que A ti vesse l ugar para os despojos, mas
no pudesse se l i vrar da gua por outros mei os sem grande di fi cul dade.
Uma troca de i ncmodos seri a ento cl aramente benfi ca.
Ol hando para as equaes obti das para os quatro casos ci tados
aci ma, torna-se evi dente que a equao geral da troca consi ste em
i gual ar a zero a soma de um termo posi ti vo com um negati vo, de forma
que os si nai s, tanto das funes de uti l i dade como das dos acrsci mos,
podem ser desprezados. Assi m, a equao fundamental pode ser escri ta
na forma geral
(a
(b
x)
y)
=
dy
dx
.
Em termos gerai s, podemos expressar o resul tado dessa teori a di zendo
que a soma al gbri ca da uti l i dade ou desuti l i dade recebi da ou cedi da
ser sempre zero, em rel ao aos l ti mos acrsci mos referentes a um
ato de i ntercmbi o. Tambm segue que, i ndependentemente do si nal ,
os acrsci mos so de magni tude i nversa aos seus graus de uti l i dade
ou desuti l i dade. O l ei tor no dei xar de perceber a notvel anal ogi a
entre essa teori a e a do equi l bri o de duas foras, de acordo com o
pri nc pi o das vel oci dades vi rtuai s. Uma al avanca r gi da se manter
em equi l bri o sob a ao de duas foras se a soma al gbri ca das foras,
cada uma mul ti pl i cada por seu desl ocamento i nfi ni tamente pequeno,
for i gual a zero. Col oquemos grau de uti l i dade, posi ti vo ou negati vo,
no l ugar de fora, e quanti dades i nfi ni tamente pequenas do bem trocado
no l ugar de desl ocamentos i nfi ni tamente pequenos, e os pri nc pi os ge-
rai s sero i dnti cos.
Ai nda resta consi derar o caso i magi nri o das substnci as que
no possuem ou no parecem possui r nem uti l i dade nem desuti l i dade,
OS ECONOMISTAS
124
e ai nda assi m no trocadas em quanti dades fi ni tas. Substi tui ndo a
rel ao de dy e dx pel a de y e x, a equao geral
(a
(b
x)
y)
=
y
x
dar o val or
y
x
=
0
0
, sendo ambas as funes de uti l i dade i guai s a zero.
I sso si gni fi ca que as quanti dades trocadas sero i ndetermi nadas, at
onde vai a teori a da uti l i dade. Se uma substnci a possui uti l i dade, e
a outra no, a rel ao de troca ser
y
0
ou
0
y
,
i nfi ni to ou zero, i ndi cando que no pode haver em nossa teori a com-
parao entre coi sas que possuem e coi sas que no possuem uti l i dade.
Na prti ca, tai s casos no ocorrem, exceto de manei ra aproxi mada.
Coi sas como ci nzas, aparas, dejetos etc. possuem bai xos graus de uti -
l i dade ou desuti l i dade. Se o l i xei ro as l eva embora por nada, el as devem
possui r para el e uti l i dade sufi ci ente para pagar o custo da remoo.
Quando o l i xo esquadri nhado, geral mente numa parte se encontra
uti l i dade sufi ci ente o bastante para contrabal anar a desuti l i dade do
restante, dando-nos um exempl o da segunda ou tercei ra forma de equa-
o de troca, conforme ol harmos o assunto sob o ponto de vi sta do
dono da casa ou do l i xei ro.
Equivalncia dos bens
O fato de que um bem pode com freqnci a substi tui r outro e
servi r mai s ou menos perfei tamente aos mesmos propsi tos traz mui ta
confuso i nvesti gao estat sti ca dos probl emas da oferta e procura.
A mesma, ou quase a mesma substnci a, freqentemente obti da de
duas ou trs fontes. Os consti tui ntes do tri go, da cevada, da avei a e
do centei o so mui to pareci dos, se no i dnti cos. As estruturas vegetai s
so consti tu das pri nci pal mente do mesmo composto qu mi co em quase
todos os casos. Tambm a carne ani mal tem quase a mesma composi o,
seja qual for o ani mal de que provenha. Exi stem i ncontvei s di ferenas
de sabor e qual i dade, mas el as so com freqnci a i nsufi ci entes para
i mpedi r que um ti po seja uti l i zado em l ugar de outro.
Toda vez que bens di ferentes podem ser empregados desse modo
para os mesmos propsi tos, suas condi es de demanda e de troca no
so i ndependentes. Sua rel ao de troca mtua no pode vari ar mui to,
porque el a ser estri tamente defi ni da pel a rel ao de suas uti l i dades.
A carne de boi e a de carnei ro, por exempl o, di ferem to pouco que
as pessoas as comem quase i ndi ferenci adamente. O preo por atacado
da carne de carnei ro excede em mdi a o preo da de boi na rel ao
J EVONS
125
de 9 para 8, e devemos concl ui r portanto que as pessoas geral mente
apreci am carnei ro mai s do que boi nessa proporo, poi s, de outra
forma, el as no comprari am a carne mai s cara. Da segue que os graus
fi nai s de uti l i dade dessas carnes esto nessa rel ao, ou que se x
o grau de uti l i dade da carne de carnei ro e y o da carne de boi , temos
8 . x = 9 . y.
Essa equao sem dvi da no i ri a permanecer verdadei ra em ci rcuns-
tnci as extremas; se a carne de carnei ro se tornasse comparati vamente
escassa, provvel que haveri a al gumas pessoas di spostas a pagar
um preo mai s al to, apenas porque el a seri a ento consi derada uma
i guari a. Mas certo que, enquanto as equaes de uti l i dade perma-
necerem verdadei ras, a rel ao de troca entre a carne de carnei ro e a
de boi no i r desvi ar-se da de 8 para 9. Se a oferta de carne de boi
cai r um pouco, as pessoas no pagaro mai s pel o boi ; ao contrri o,
i ro comer mai s carnei ro; e se a oferta de carne de carnei ro di mi nui r,
el as comero mai s carne de boi . As condi es de oferta no tero ne-
nhuma i nfl unci a na rel ao de troca; devemos, na verdade, tratar a
carne de boi e a de carnei ro como um bem com duas fi rmezas di ferentes
no mercado, assi m como o ouro de 18 e o ouro de 20 qui l ates di fi ci l mente
seri am consi derados doi s em vez de um bem, do qual vi nte partes de
um so equi val entes a dezoi to do outro.
baseado nesse pri nc pi o que devemos expl i car, em concordnci a
com as concepes de Cai rnes, a permannci a extraordi nri a da rel ao
de troca do ouro e da prata, que desde o comeo do scul o XVI I I at
anos recentes nunca di feri u mui to de 15 para 1. Prova-se que essa
i mobi l i dade da taxa no dependi a i ntei ramente do montante ou custo
de produo, pel o efei to di mi nuto das descobertas de ouro na Austrl i a
e na Cal i frni a, que nunca aumentaram o preo em ouro da prata
al m de cerca de 4 2/3% e no chegaram a ter efei to permanente de
mai s de 1 1/2%. Essa permannci a de val ores rel ati vos pode ter si do
parci al mente devi da ao fato de que o ouro e a prata podem ser em-
pregados para exatamente os mesmos fi ns, mas o bri l ho superi or do
ouro faz com que seja preferi do, a menos que el e seja por vol ta de 15
ou 15 1/2 vezes mai s caro que a prata. Contudo, mai s provvel que
a expl i cao do fato se encontre na rel ao fi xa de 15 1/2 para 1,
segundo a qual esses metai s so trocados na moeda corrente da Frana
e de al guns outros pa ses do conti nente. A l ei francesa sobre o mei o
ci rcul ante do Ano XI estabel eci a uma equao arti fi ci al :
Uti l i dade do ouro = 15 1/2 x uti l i dade da prata;
e provavel mente no sem al guma razo que Wol owski e outros eco-
nomi stas franceses recentes atri bu ram a essa l ei de substi tui o um
OS ECONOMISTAS
126
efei to i mportante na preveno de perturbaes nas rel aes do ouro
e da prata.
Desde que a pri mei ra edi o desta obra foi publ i cada, as concep-
es de Wol owski ti veram notvel confi rmao na queda sem prece-
dentes do val or da prata que tem ocorri do nos l ti mos trs ou quatro
anos. A rel ao de pesos equi val entes de prata e ouro, que jamai s se
havi a el evado antes mui to aci ma de 16 para 1, comeou a se el evar
em 1874, e em certa ocasi o (jul ho de 1876) chegou a ati ngi r 22,5 para
1 no mercado de Londres. Embora a rel ao tenha ca do desde ento,
conti nua a apresentar freqentes osci l aes consi dervei s. A grande
produo de prata em Nevada pode contri bui r em certa medi da para
esse resul tado extraordi nri o, mas a causa pri nci pal deve ser a sus-
penso da l ei do dupl o padro francesa, e a desmonetari zao da prata
na Al emanha, Escandi nvi a, e em outras partes. Como tratei do assunto
do val or da prata e do dupl o padro em outro l ugar,
102
no preci so
desenvol v-l o aqui .
Utilidade adquirida dos bens
Como foi exposto aci ma, a teori a da troca se basei a i ntei ramente
na consi derao de quanti dades de uti l i dade, e no foi fei ta nenhuma
refernci a ao trabal ho ou ao custo de produo. O valor de um bem
di vi s vel , se posso empregar por um momento o termo peri goso, no
medi do na verdade pel a uti l i dade total do bem, e si m por seu grau
fi nal de uti l i dade, ou seja, pel a i ntensi dade da necessi dade que temos
por mais del e. O poder de trocar um bem por outro, porm, aumenta
mui to a extenso da uti l i dade. No estamos mai s restri tos a consi derar
o grau de uti l i dade de um bem em rel ao a seu propri etri o i medi ato,
poi s o bem pode ter uma uti l i dade mai or para al guma outra pessoa e
pode ser transferi do para essa pessoa em troca de al gum bem de mai or
grau de uti l i dade para o comprador. O resul tado geral da troca o de
que todos os bens caem, desse modo, para o mesmo n vel de uti l i dade
em rel ao s l ti mas pores consumi das.
Na teori a geral da troca veri fi camos que o possui dor de qual quer
bem di vi s vel trocar uma poro tal deste que o l ti mo acrsci mo i r
ter uti l i dade exatamente i gual ao acrsci mo do outro produto que el e
recebe em troca daquel e. I sso permanecer vl i do por mai s vari ados
que sejam os ti pos de bem de que el e preci sa. Suponhamos que uma
J EVONS
127
102 Serious Fall in the Value of Gold. 1863. p. 33 (rei mpresso i n: I nvestigations in Currency
and Finance. 1884). Money and the Mechanism of Exchange (I nternati onal Sci enti fi c Seri es.
Tambm traduzi do para o francs, al emo e i tal i ano. Ver Apndi ce I V). Cap. XI I . Esse
cap tul o foi traduzi do por M. H. Gravez e rei mpresso na Bibliothque Utile. Pari s, Germer
Bai l l i re, 1878. v. XLI V. Ver tambm Papers on Si l ver Questi ons, l i dos na Associ ao
Ameri cana de Ci nci a Soci al em Saratoga. 5 de setembro de 1877. Boston, 1877; e Bankers
Magazine. Dezembro de 1877 (rei mpresso i n: I nvestigations in Currency and Finance. 1884
e 1908).
pessoa possui um ni co ti po de bem, que podemos consi derar di nhei ro,
ou renda, e que p, q, r, s, t etc. so quanti dades de outros bens que
el a compra com pores de sua renda. Seja x a quanti dade i ndetermi -
nada de di nhei ro que el a desejar no trocar; que rel ao haver entre
estas quanti dades x, p, q, r etc? Essa rel ao depender em parte da
rel ao de troca, e em parte do grau fi nal de uti l i dade
103
desses bens.
Vamos supor, por um momento, que todas as rel aes de troca sejam
i gual dades, ou que uma uni dade de um bem dever sempre ser com-
prada por uma uni dade de outro. Ento, est cl aro, devemos ter graus
de uti l i dade i guai s, poi s de outro modo seri a vantajoso adqui ri r mai s
daquel e bem que possu sse o mai or grau de uti l i dade. Que o s mbol o
represente a funo de uti l i dade, que ser di ferente em cada caso;
teremos ento si mpl esmente as equaes:
1
x =
2
p =
3
q =
4
r =
5
s = etc.
Mas, na verdade, a rel ao de troca raramente ou nunca de uni dade
por uni dade; e quando as quanti dades trocadas so desi guai s, os graus
de uti l i dade no sero i guai s. Se por 1 l i bra de seda posso obter 3 de
al godo, ento o grau de uti l i dade do al godo deve ser 1/3 do da seda,
seno eu i ri a ganhar na troca. Assi m o resul tado geral da faci l i dade
de troca exi stente num pa s ci vi l i zado que uma pessoa adquire quan-
tidades de bens tais que os graus finais de utilidade de dois bens quais-
quer so inversamente proporcionais s relaes de troca dos bens.
Sejam x
1
, x
2
, x
3
, x
4
etc. pores da renda da pessoa dadas em
troca de p, q, r, s etc., respecti vamente; teremos ento
2
p
1
x
=
x
1
p
,
3
q
1
x
=
x
2
q
,
4
r
1
x
=
x
3
r
,
e assi m por di ante. A teori a representa desse modo o fato de que uma
pessoa di stri bui sua renda de manei ra a i gual ar a uti l i dade dos acrs-
ci mos fi nai s de todos os bens consumi dos. Como a gua corre para as
cavi dades at ench-l as compl etamente no mesmo n vel , assi m a ri -
queza corre para todos os i tens de despesa. Essa di stri bui o vari ar
mui to com i ndi v duos di ferentes, mas evi dente por si mesmo que
ser com a necessi dade que o i ndi v duo sente de manei ra mai s aguda
no momento que el e i r gastar o prxi mo acrsci mo de sua renda. Da
segue obvi amente que, gastando-se a renda de um indivduo com o
mximo proveito, a soma algbrica das quantidades dos bens recebidos
ou dados em troca, cada uma multiplicada por seu grau final de uti-
lidade [aps a troca], ser zero.
Podemos conceber agora de manei ra preci sa a uti l i dade do di -
nhei ro, ou do supri mento de bens que forma a renda de uma pessoa.
OS ECONOMISTAS
128
103 Estri tamente: das funes do grau fi nal de uti l i dade, i sto , as formas das curvas. [Ed.]
O seu grau fi nal de uti l i dade medi do pel o de qual quer um dos outros
bens que el e consome. Qual , por exempl o, a uti l i dade de 1 pni para
uma fam l i a pobre que ganha 50 l i bras por ano? Como 1 pni uma
parte i nsi gni fi cante de sua renda, el e pode representar um dos acrs-
ci mos i nfi ni tamente pequenos, e sua uti l i dade i gual uti l i dade da
quanti dade de po, ch, acar e de outros arti gos que a fam l i a poderi a
comprar com el e, dependendo essa uti l i dade da medi da em que a fam l i a
est abasteci da com esses ar ti gos. Par a uma fam l i a que di spe de
1 000 l i bras por ano, a uti l i dade de 1 pni pode ser medi da exatamente
da mesma manei ra; ser porm mui to menor, porque a necessi dade
da fam l i a de qual quer bem dado estar saci ada ou sati sfei ta em mai or
medi da, de forma que a premnci a da necessi dade de 1 pni a mai s
de qual quer arti go mui to reduzi da.
O resul tado geral da troca, portanto, ocasi onar certa i gual dade
de uti l i dade entre bens di ferentes, em rel ao ao mesmo i ndi v duo;
porm, entre i ndi v duos di ferentes tal i gual dade no tender a se pro-
duzi r.
104
Em Economi a consi deramos apenas transaes comerci ai s, e
no se consi dera qual quer equi parao de ri queza por moti vos de ca-
ri dade. O grau de uti l i dade da ri queza para um homem mui to ri co
ser determi nado por seu grau de uti l i dade naquel e i tem de despesa
em que el e conti nua a senti r a mai or necessi dade de haveres adi ci onai s.
Suas necessi dades pri mri as foram h mui to compl etamente sati sfei -
tas; el e poderi a arranjar comi da, se necessri o, para 1 000 pessoas e
natural mente, portanto, el e ter abasteci do a si mesmo como desejara
em seu caso parti cul ar. Mas at onde est de acordo com a desi gual dade
de ri queza em qual quer comuni dade, todos os bens so di stri bu dos
pel a troca de modo a produzi r o mxi mo de benef ci o. Toda pessoa
cujo desejo por determi nada coi sa excede o desejo por outras coi sas
adqui re aqui l o que el a quer, uma vez que possa se sacri fi car o sufi ci ente
em outros aspectos. Ni ngum jamai s obri gado a dar o que el e deseja
mai s pel o que deseja menos, de forma que a perfei ta l i berdade de troca
deve consi sti r no provei to de todos.
O ganho pela troca
Uma das conseqnci as mai s i mportantes dessa teori a a de
que a rel ao de troca no d nenhuma i ndi cao do benef ci o real
obti do com a ao da troca. H tantos comerci antes que se dedi cam a
comprar e vender e fazem seus ganhos comprando barato e vendendo
caro, que surge uma tendnci a fal aci osa para acredi tar que todo o
J EVONS
129
104 Vi sto que, em equi l bri o, os graus fi nai s de uti l i dade so proporci onai s aos preos de mercado,
a certa i gual dade de uti l i dade que aqui se di z exi sti r entre bens di ferentes a exi stente
entre as pores margi nai s desse tamanho rel ati vo que se podem comprar com a mesma
pequena soma de di nhei ro, por exempl o, entre a quanti a de 1 xel i m de um bem e a de
outros bens. [Ed.]
l ucro do comrci o depende da di ferena de preos. Est i mpl ci to que
pagar um preo al to pi or do que passar sem o arti go, e todo o si stema
fi nancei ro de uma grande nao pode ser deformado na tentati va de
pr em prti ca uma teori a fal sa.
Esse o resul tado a que l evari am al gumas das observaes de
J. S. Mi l l em sua Theory of I nternational Trade. Essa teori a sempre
engenhosa, e, a mi m me parece, quase sempre verdadei ra; del a porm
el e ti ra a segui nte concl uso:
105
Os pa ses que conduzem seu comrci o i nternaci onal em termos
mai s vantajosos so aquel es cujos bens so mai s demandados
pel os pa ses estrangei ros, tendo el es mesmos a menor demanda
de bens estrangei ros. Da segue, entre outras conseqnci as, que
os pa ses mai s ri cos, coeteris paribus, ganham o m ni mo em dado
vol ume de comrci o i nternaci onal : uma vez que tm demanda
mai or de bens em geral , provvel que tenham demanda mai or
de bens estrangei ros, e assi m al teram os termos de i ntercmbi o
em seu prpri o preju zo. Seus ganhos agregados por mei o do
comrci o i nternaci onal so, sem dvi da, mai ores geral mente do
que os dos pa ses mai s pobres, uma vez que el es l evam adi ante
uma parte mai or desse comrci o e obtm o benef ci o da barateza
com um mai or consumo: seu ganho, porm, menor em cada
arti go i ndi vi dual consumi do.
Na fal ta de qual quer expl i cao em contrri o, essa passagem
deve ser vi sta como si gni fi cando que a vantagem do comrci o i nterna-
ci onal depende dos termos de troca, e que o comrci o i nternaci onal
menos vantajoso para um pa s ri co do que para um pa s pobre. Mas
tal concl uso encerra uma confuso entre duas coi sas di sti ntas: o preo
de um bem e sua uti l i dade total . Um pa s no apenas como uma
grande fi rma mercanti l que compra e vende mercadori as, e ti ra provei to
da di ferena de preos; el e compra mercadori as para consumi -l as. Po-
rm, ao se esti mar o benef ci o que um consumi dor obtm de um bem,
deve-se l evar em conta a uti l i dade total , e no o grau fi nal de uti l i dade
do qual dependem os termos da troca.
Para i l ustrar essa afi rmao podemos representar nas curvas da
Fi g. 8 as funes de uti l i dade de doi s bens. Seja a l da Austrl i a
representada pel a l i nha ob, e sua uti l i dade total para a Austrl i a, pel a
rea da fi gura curvi l i near obrp. Seja a uti l i dade para a Austrl i a de
um segundo bem, di gamos arti gos de al godo, representada da mesma
forma pel a curva abai xo, de manei ra que a quanti dade do bem medi da
por ob d uma uti l i dade total representada pel a fi gura oprb. Assi m,
se a Austrl i a entregar metade de sua l , ab, pel a quanti dade de arti gos
OS ECONOMISTAS
130
105 Principles of Political Economy. Li vro Tercei ro. Cap. XVI I I , fi nal da 8 seo.
de al godo representada por oa, el a perde a uti l i dade aqrb, ganhando
porm a uti l i dade representada pel a rea mai or opqa. De acordo com
i sso, h um ganho l qui do consi dervel de uti l i dade, que o objeti vo
real da troca. Mesmo que a Austrl i a ti vesse vendi do sua l a um
preo mai s bai xo, obtendo arti gos de al godo apenas na quanti dade
oc, a uti l i dade dessa quanti dade, opsc teri a excedi do do al godo
dado em troca da l .
A afi rmao de Mi l l est to l onge de ser fundamental mente
correta, que acredi to que a verdade jaz na di reo oposta. Vi a de regra,
o tamanho do preo que um pa s est di sposto e apto a pagar em troca
dos produtos de outros pa ses mede, ou pel o menos mani festa, o ta-
manho do benef ci o que el e ti ra dessas i mportaes. Quem paga al to
preo deve ter grande necessi dade daqui l o que compra, ou mui to pouca
necessi dade daqui l o que paga em troca; em ambas as suposi es h
provei to na troca. Em questes desse ti po s se pode estabel ecer se-
guramente uma ni ca regra, que ni ngum comprar al go a menos que
espere vantagem da aqui si o, e portanto a perfei ta l i berdade de troca
tende maxi mi zao da uti l i dade.
Uma vantagem da teori a econmi ca, quando estudada cui dado-
samente, ser fazer-nos mui to cautel osos em nossas concl uses quando
o assunto no for da natureza mai s si mpl es poss vel . O fato de que s
Figura 8
J EVONS
131
podemos esti mar mui to i mperfei tamente a uti l i dade total de qual quer
bem deveri a nos afastar, por exempl o, de tentar medi r o provei to de qual -
quer comrci o. Do mesmo modo, quando Mi l l passa da sua teori a do
comrci o i nternaci onal para a teori a da taxao e chega concl uso de
que uma nao pode, por mei o de taxas sobre mercadori as i mportadas,
apropri ar-se, custa dos pa ses estrangei ros, de uma parte
mai or, do que a el a de outro modo caberi a, do aumento da pro-
duti vi dade geral do trabal ho e do capi tal no mundo,
106
eu me arri sco a questi onar a verdade de suas concl uses. Crei o que
seus argumentos envol vem uma confuso entre a rel ao de troca e a
uti l i dade total de um bem, e seri a preci so um conheci mento das l ei s
econmi cas mai s acurado do que o que qual quer pessoa at hoje possui
para esti mar o verdadei ro efei to de uma taxa. As taxas al fandegri as
podem ser necessri as para aumentar a recei ta pbl i ca, mas j passou
o tempo em que al gum economi sta dari a a mai s l eve aprovao ao seu
emprego para mani pul ar o comrci o ou para i nterferi r na tendnci a
natural da troca em aumentar a uti l i dade.
Determinao numrica das leis de utilidade
O progresso futuro da Economi a como ci nci a exata deve depender
mui to da aqui si o de noes mai s preci sas sobre as quanti dades va-
ri vei s envol vi das na teori a. No podemos di zer com certeza o efei to
de qual quer mudana no comrci o ou na i ndstri a at que possamos,
com al guma aproxi mao real i dade, expressar as l ei s da vari ao
da uti l i dade numeri camente. Para faz-l o, necessi tamos de estat sti cas
preci sas das quanti dades de bens comprados por toda a popul ao a
preos di versos. O preo de um bem a ni ca veri fi cao que temos
da uti l i dade do bem para o comprador, e se pudssemos di zer exata-
mente quantas pessoas reduzem seu consumo de cada arti go i mportante
quando o preo sobe, poder amos determi nar, ao menos aproxi mada-
mente, a vari ao do grau de uti l i dade o el emento fundamental na
Economi a.
Em tai s cl cul os podemos pri mei ramente fazer uso da equao
mai s si mpl es apresentada na pgi na 83. Na pri mei ra aproxi mao po-
demos supor que a uti l i dade geral da renda de uma pessoa no
afetada pel as mudanas de preo do bem, de forma que na equao
x = m . c
podemos ter vri os val ores di ferentes correspondentes para x e m, po-
demos tratar c, a uti l i dade do di nhei ro, como uma constante, e de-
termi nar o carter geral da funo c, o grau fi nal de uti l i dade. Essa
OS ECONOMISTAS
132
106 Principles of Political Economy. Li vro Qui nto. Cap. I V, seo 6.
funo seri a sem dvi da uma funo puramente emp ri ca mero agre-
gado de termos i magi nados de modo que sua soma vari ar de acordo
com fatos estat sti cos. O assunto mui to compl exo para permi ti r que
esperemos uma l ei si mpl es e preci sa como a da gravi dade. Tambm
no seremos capazes, quando ti vermos obti do as l ei s, de dar qual quer
expl i cao exata del as. El as tero o mesmo carter das frmul as em-
p ri cas usadas em mui tas das ci nci as f si cas meros agregados de
s mbol os matemti cos desti nados a substi tui r uma exposi o tabel a-
da.
107
Mesmo assi m, a determi nao das l ei s tornar a Economi a uma
ci nci a to exata quanto mui tas ci nci as f si cas; to exata, por exempl o,
como a Meteorol ogi a o ser provavel mente no futuro.
O mtodo de determi nao da funo de uti l i dade expl i cado aci ma
di fi ci l mente se apl i car, contudo, aos pri nci pai s el ementos de despesa.
O preo do po, por exempl o, no pode ser posto adequadamente na
equao em questo, porque, quando o preo do po sobe mui to, os
recursos das pessoas pobres so forados ao mxi mo, o di nhei ro torna-se
escasso para el as, e c, a uti l i dade do di nhei ro, aumenta. O resul tado
natural a di mi nui o da despesa em outras di rees; o que si gni fi ca
que todas as necessi dades de uma pessoa pobre sero supri das a um
grau menor de sati sfao quando a comi da cara do que eram quando
era barata. Quando se consegui r fi nal mente, na l onga trajetri a do
progresso ci ent fi co, uma quanti dade sufi ci ente de estat sti cas apro-
pri adas, tornar-se- um probl ema matemti co sem grande di fi cul dade
desenredar as funes que expressam os graus de uti l i dade dos di versos
bens. Sem dvi da, um dos pri mei ros passos ser determi nar que pro-
poro da despesa das pessoas pobres i r para a provi so de al i mento,
a preos di versos desse al i mento. Mas as grandes di ferenas na condi o
das pessoas trazem grande di fi cul dade ao andamento de tai s pesqui sas,
e di fi cul dades ai nda mai ores so cri adas pel os compl i cados modos com
que um bem substi tui outro ou uti l i zado em seu l ugar.
Opinies acerca da variao de preo
No exi ste di fi cul dade em se encontrar nas obras de economi stas
observaes sobre a rel ao entre uma al terao no supri mento de um
bem e a conseqente al ta de preo. Os pri nc pi os gerai s da vari ao
de uti l i dade so fami l i ares a mui tos autores.
Em regra geral , a vari ao de preo mui to mai s acentuada no
caso dos bens essenci ai s vi da do que no dos suprfl uos. Esse resul tado
provi ri a do fato observado por Adam Smi th de que
O desejo de comi da l i mi tado em todo homem pel a capaci dade
l i mi tada do estmago humano; mas o desejo de confortos mate-
J EVONS
133
107 Ver JEVONS. Principles of Science. Cap. XXI I , nova edi o, p. 487-489 e as refernci as l
i ndi cadas.
ri ai s e ornamentos em construes, vesturi o, carruagens e mo-
bi l i ri o parece no ter nenhum l i mi te ou frontei ra defi ni da.
Quando afi rmo que o val or depende do desejo de al go mai s, segue
que qual quer supri mento excessi vo de al i mento bai xar seu preo mui to
mai s do que ocorreri a no caso de arti gos de l uxo. Reci procamente, uma
carnci a de al i mento aumentar mui to mai s o seu preo do que no
caso de arti gos menos necessri os. Essa concl uso est em harmoni a
com os fatos; poi s como di z Chal mers:
108
Os gneros de pri mei ra necessi dade so mui to mai s i ntensa-
mente afetados em seu preo pel a vari ao de sua quanti dade
do que os regal os da vi da. Se a col hei ta de cereal for 1/3 menor
do que seu vol ume habi tual , ou, ai nda, se o supri mento de cereal
no mercado, provi ndo da produo i nterna ou da i mportao, for
cortado na mesma medi da, i sso cri ar uma el evao mui to mai or
do que 1/3 no preo do cereal . No uma previ so i nveross mi l
di zer que seu custo mai s que dupl i car devi do defi ci nci a de
1/3 ou 1/4 no supri mento.
El e prossegue expl i cando, extensamente, que o mesmo no acon-
teceri a com um arti go como o rum. Uma defi ci nci a no supri mento de
rum vi ndo das ndi as Oci dentai s acarretari a um aumento de preo,
porm no mui to grande, porque ocorreri a uma substi tui o por outros
ti pos de bebi da, ou ento uma reduo do vol ume consumi do. O homem
pode vi ver sem l uxos, mas no sem o essenci al .
Uma defi ci nci a de metade da oferta geral de comest vei s
mai s que quadrupl i cari a o preo dos arti gos de pri mei ra neces-
si dade, e se abateri a com presso mui to grande sobre as cl asses
mai s bai xas. Uma defi ci nci a da mesma di menso em todos os
vi nhedos do mundo seguramente no i ri a el evar o preo do vi nho
em nenhuma proporo semel hante. Ao i nvs de pagar quatro
vezes o preo habi tual do vi nho borgonha, haveri a uma desci da
geral para o cl arete, ou deste para o vi nho do Porto, ou deste
para os vi nhos casei ros de nosso prpri o pa s, ou destes para
seus desti l ados, ou destes para seus deri vados fermentados.
109
El e ressal ta especi al mente o acar como um arti go que seri a
reti rado do consumo com qual quer grande aumento de preo,
110
porque
um l uxo, e ao mesmo tempo consi ste num el emento consi dervel na
despesa. El e acha porm que, se um arti go acarreta uma despesa total
mui to pequena, as vari aes de preo no afetaro mui to seu consumo.
OS ECONOMISTAS
134
108 CHALMERS. Christian and Economic Polity of a Nation. v. I I , p. 240.
109 CHALMERS. Christian and Economic Polity of a Nation. v. I I , p. 242.
110 I bid., p. 251.
A respei to da noz-moscada di z Chal mers:
Na Gr-Bretanha nenhuma fam l i a consome mai s do que 6 pence
del a por ano; e tal vez nenhuma gaste mai s do que 1 gui nu nesse
nico arti go. Ento, se se dupl i car ou tri pl i car o preo, i sso no ter
nenhum efei to percept vel na demanda; prefere-se antes pagar o
preo a abol i r em qual quer medi da o prazer habi tual . (...) O mesmo
se apl i ca ao cravo, canel a e pi menta-de-cai ena, e a todas as
especi ari as preci osas do Leste; e por i sso que, enquanto, no geral ,
o preo dos gneros de pri mei ra necessi dade di fere tanto do preo
dos de l uxo em rel ao ampl i tude de osci l ao, h notvel apro-
xi mao nessa matri a entre os mai s comuns desses bens necessri os
e os mai s raros desses bens de l uxo.
111
Nessas observaes i nteressantes Chal mers di sti ngue correta-
mente entre o efei to do desejo do bem em questo e o desejo de outros
bens. O preo da noz-moscada no afeta apreci avel mente a despesa
geral com outras coi sas, e portanto se apl i ca a equao da pgi na 83.
Porm, se o acar se tornar escasso, para consumi -l o como anteri or-
mente seri a necessri a uma reduo do consumo em outras di rees,
e como o grau de uti l i dade dos arti gos mai s necessri os sobe mui to
mai s rapi damente do que o do acar, este l ti mo que ser ti rado
de uso de prefernci a. Esse caso bem mai s compl exo, e i ncl ui tambm
o caso do tri go e de todos os arti gos de grande consumo.
As observaes de Chal mers sobre o preo do acar so vi goro-
samente confi rmadas pel os fatos a respei to do curso dos mercados de
acar em 1855/56. No ano de 1855, como est regi strado na History
of Prices
112
de Tooke, chamou subi tamente a ateno a consi dervel
reduo que havi a ocorri do nos estoques de acar. O preo subi u ra-
pi damente, mas antes que el e ati ngi sse o ponto mai s al to, a demanda
cessou quase por compl eto. No s os comerci antes vareji stas evi tavam
reabastecer seus estoques, mas tambm o consumo do acar entre as
grandes cl asses cessou i medi atamente, al gumas vezes por i ntei ro. Hou-
ve exempl os de comerci antes vareji stas que no venderam uma l i bra
de acar at que os preos bai xaram para o que o pbl i co consi derava
uma cotao justa.
Variao no preo do trigo
Com respei to s engenhosas observaes de Chal mers sobre o
consumo da noz-moscada, el e parece estar certo, ao menos em parte.
Em certa medi da, el e pe em foco o pri nc pi o exposto aci ma, de que,
quando necessri a apenas uma pequena parcel a da renda para com-
J EVONS
135
111 CHALMERS. Christian and Economic Polity of a Nation. v. I I , p. 252.
112 V. V. p. 324 etc.
prar certo ti po de bem em quanti dade sufi ci ente, o grau de uti l i dade
da renda no ser afetado de manei ra apreci vel pel o preo pago, ou
seja, c permanece aproxi madamente constante. Da segue que
x
m
constante, ou, em outras pal avras, o grau fi nal de uti l i dade da pequena
quanti dade do bem comprado deve ser di retamente proporci onal ao
preo. Ento, se o preo sobe mui to, o consumi dor ou deve renunci ar
quase i ntei ramente ao uso desse bem, ou ento deve senti r tal neces-
si dade del e que l he penosa uma pequena di mi nui o no consumo;
ou seja, ol hando para nossas curvas de uti l i dade, ou devemos recuar
para um l ugar na curva mui to prxi mo ao ei xo de y, ou ento a curva
deve ser tal que suba rapi damente medi da que cami nhamos na di -
reo da ori gem. Chal mers supe que com a noz-moscada acontece o
l ti mo caso. Em seu tempo, as pessoas acostumadas a us-l a apreci a-
vam-na tanto que preferi am pagar um preo mui to mai s al to do que
reduzi r consi deravel mente seu consumo. I sso si gni fi ca que a noz-mos-
cada possu a al to grau de uti l i dade para el as, que s poderi a ser so-
brepujado por um sens vel aumento no val or de c, que, em l ti ma
i nstnci a, si gni fi ca a necessi dade dos bens i ndi spensvei s vi da.
mui to curi oso que, nesse assunto, que ati nge os prpri os fun-
damentos da Economi a Pol ti ca, devamos mai s aos autores anti gos do
que aos recentes. Antes que se pudesse di zer que nossa ci nci a exi sti a,
os autores de Ari tmti ca Pol ti ca j ti nham i do quase to l onge quanto
ns no presente. Numa obra de 1737,
113
observa-se que
As pessoas que entendem do comrci o i ro concordar i medi a-
tamente comi go que 1/10 de um bem exi stente em um mercado
tem mai s condi es de bai xar o mercado tal vez em 20 ou 30%
do que uma rpi da demanda, e a fal ta de 1/10 pode causar um
aumento i gual mente exorbi tante.
Si r J. Dal rympl e
114
di z tambm:
Os comerci antes observam que, se um bem no mercado for
reduzi do em 1/3 abai xo de sua quanti dade mdi a, seu val or pra-
ti camente dupl i car, e, se for aumentado em 1/3 aci ma de sua
quanti dade mdi a, seu val or di mi nui r em cerca de metade; e
que, com mai ores aumentos ou di mi nui es de quanti dade, essas
despropores entre quanti dade e preo crescero mui to.
Essas observaes apresentam poucos i nd ci os de exati do, uma
vez que os autores fal avam dos bens em geral como se todos el es va-
ri assem no preo na mesma medi da. provvel que el es esti vessem
OS ECONOMISTAS
136
113 Ci tado i n: LAUDERDALE. I nquiry into the Nature and Origin of Public Wealth. 2 ed.,
1819. p. 51-52.
114 I bid.
pensando no tri go, ou em outros ti pos de al i mento dos mai s necessri os.
No Spectator encontramos a hi ptese
115
de que a produo de 1/10 a
mai s de tri go al m do que consumi do comumente di mi nui ri a o val or
do tri go pel a metade. No sei de nada mai s surpreendente e desabo-
nador para os estat sti cos e economi stas do que devermos nossas es-
ti mati vas mai s exatas a autores que vi veram h um scul o ou doi s,
num assunto to i mportante como as rel aes de preo e oferta do
pri nci pal arti go da al i mentao.
H uma famosa esti mati va da vari ao do preo do tri go que
encontrei ci tada em i nmeras obras sobre Economi a. El a atri bu da
geral mente a Gregory Ki ng, cujo nome deveri a ser guardado em honra
de um dos pai s da ci nci a estat sti ca na I ngl aterra. Nasci do em 1648
em Li chfi el d, Ki ng dedi cou-se mui to aos estudos matemti cos, e fre-
qentemente estava empenhado em col etar dados. Seus pri nci pai s car-
gos pbl i cos foram de Pregoei ro de Lancaster e Secretri o dos Del egados
das Contas Pbl i cas; tornou-se famoso, porm, pel as notvei s tabel as
estat sti cas a respei to da popul ao e do comrci o da I ngl aterra, que
el e concl ui u no ano de 1696. Seu tratado se i nti tul ava Natural and
Political Observations and Conclusions upon the State and Condition
of England, 1696. El e jamai s foi i mpresso durante a vi da do autor,
mas o contedo foi confi ado de manei ra mui to l i beral ao Dr. Davenant,
o qual , prestando o devi do reconheci mento sua fonte de i nformao,
baseou sobre el a seu Essay upon the Probable Methods of Making a
People Gainers in the Balance of Trade.
116
Nosso conheci mento sobre
as concl uses de Ki ng provi nha deste e de outros ensai os de Davenant,
at que George Chal mers publ i cou o tratado compl eto no fi nal da ter-
cei ra edi o de seu conheci do Estimate of the Comparative Strength of
Great Britain.
A esti mati va de que vou fal ar dada por Davenant nos se-
gui ntes ter mos:
117
Suponhamos que uma i nsufi ci nci a da col hei ta possa aumen-
tar o preo do tri go nas segui ntes propores:
I nsufi ci nci a Aci ma da taxa comum
1 dci mo 3 dci mos
2 dci mos aumenta 8 dci mos
3 dci mos o 1,6 dci mo
4 dci mos preo 2,8 dci mos
5 dci mos 4,5 dci mos
De forma que, quando o tri go aumenta at tri pl i car a taxa
J EVONS
137
115 N 200, ci tado por Lauderdal e, p. 50.
116 The Political and Commercial Works of Charles Davenant. v. I I , p. 163.
117 I bid., p. 224.
normal , pode-se presumi r que temos fal ta aci ma de 1/3 da pro-
duo comum, e se sent ssemos fal ta de 5/10, ou metade da pro-
duo comum, o preo i ri a subi r at por vol ta de ci nco vezes a
taxa comum".
Embora essa esti mati va tenha sempre si do atri bu da a Gregory
Ki ng, no pude encontr-l a no seu tratado publ i cado; nem Davenant,
que em outras partes presta reconheci mento de tudo o que deve a
Ki ng, atri bui essa esti mati va a seu ami go. Portanto, el a tal vez seja
devi da a Davenant.
Podemos reescrever essa esti mati va da segui nte manei ra, toman-
do como uni dade a col hei ta mdi a e o preo mdi o do tri go:
Quanti dade de tri go . . . . 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Preo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,3 1,8 2,6 3,8 5,5
Mui tos autores comentaram essa estat sti ca. Thornton
118
obser-
vou que provvel que seja extremamente i mpreci sa, e que no est
cl aro se se deve tomar como i nsufi ci ente o estoque total , ou apenas a
col hei ta de um ni co ano. Contudo Tooke,
119
que nesse ponto auto-
ri dade mxi ma, acredi ta que a esti mati va de Ki ng
no est mui to l onge da verdade, a se jul gar pel a repeti da ocor-
rnci a do fato de que o preo do tri go neste pa s tem subi do de
100 a 200% e mai s ai nda, quando a queda mxi ma regi strada
nas col hei tas no foi mai or do que entre 1/6 e 1/3 da mdi a.
Empenhei -me em determi nar a l ei que seguem as ci fras de Dave-
nant, e a funo matemti ca obti da no di fere mui to do que poder amos
ter esperado. provvel que o preo do tri go no deva nunca baixar a
zero, j que, se abundante, poderi a ser usado para al i mentar caval os,
aves de cri ao, gado ou para outros fi ns para os quai s el e ai nda mui to
caro no presente. Di zem que na Amri ca tem si do usado ocasi onal mente
cereal , sem dvi da o mi l ho, como combust vel . Por outro l ado, quando a
quanti dade di mi nui mui to, o preo deve subi r rapi damente, e deve tor-
nar-se infi nito antes de a quanti dade ser zero, porque a fome seri a ento
i mi nente. A substi tuio por batatas e outros ti pos de al i mento torna
mui to i ncerto o ponto de penri a; acho porm que uma fal ta total de tri go
no poderi a ser remedi ada por outro al i mento. Uma funo da frmul a
a
(x b)
n
preenche essas condi es; poi s se torna i nfi ni ta quando x reduzi do
OS ECONOMISTAS
138
118 An I nquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain. p. 270-271.
119 History of Prices. v. I , p. 13-15.
a b, mas para val ores mai ores de x decresce medi da que x aumenta.
Um exame dos dados numri cos mostra que n quase i gual a 2, e
supondo-o exatamente 2, acho que os val ores mai s provvei s para a
e b so a = 0,824 e b = 0,12. A frmul a fi ca ento
preo do tri go =
0,824
(x 0,12)
2
,
ou aproxi madamente =
5
6
x
1
8
2
Os nmeros segui ntes mostram o grau de aproxi mao entre a
pri mei ra frmul a e os dados de Davenant:
Col hei ta . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Preo (Davenant) . . . . . . . 1,0 1,3 1,8 2,6 3,8 5,5
Preo cal cul ado . . . . . . . . . 1,06 1,36 1,78 2,45 3,58 5,71
No posso me comprometer a di zer at que ponto as esti mati vas
de Davenant concordam com a experi nci a; consi derando porm a gran-
de aproxi mao entre os dados aci ma, podemos seguramente substi tui r
a frmul a emp ri ca pel a de seus dados; e h outras razes j decl aradas
para se supor que essa frmul a no esteja l onge da verdade.
120
Pode-se
di zer aproxi madamente que o preo do tri go vari a i nversamente ao
quadrado do supri mento, contando que esse supri mento no seja ex-
cepci onal mente pequeno. Vejo que esta quase a mesma concl uso a
que chegou Whewel l a parti r dos mesmos dados. Di z el e:
121
Se os dados aci ma fossem tomados como base de uma regra
matemti ca, veri fi car-se-i a que o preo vari a i nversamente ao
quadrado do supri mento, ou, mai s exatamente, numa proporo
mai s el evada.
H mai s razes para acredi tar que o preo do tri go vari a com
mai s rapi dez do que na rel ao i nversa quanti dade. Tooke esti ma
122
que em 1795 e 1796 os agri cul tores i ngl eses ganharam 7 mi l hes de
l i bras esterl i nas em cada ano devi do queda de 1/8 na col hei ta de
tri go, no i ncl ui ndo o l ucro consi dervel com a subi da de preo de
outros produtos agr col as. De novo, em cada um dos anos de 1799 e
1800, os agri cul tores ganharam provavel mente 11 mi l hes de l i bras
esterl i nas devi do i nsufi ci nci a da col hei ta. Se o preo do tri go vari asse
na si mpl es proporo i nversa quanti dade, no haveri a ganho ou per-
J EVONS
139
120 Ver o prefci o 4 edi o.
121 Six Lectures on Political Economy. Cambri dge, 1862.
122 History of Prices.
da, e o fato de que el es ganharam consi deravel mente est de acordo
com nossa frmul a, como foi dada aci ma.
A vari ao de uti l i dade no foi desprezada pel os matemti cos,
que observaram, tempos atrs, na pri mei ra metade do scul o passado
antes mesmo de haver qual quer ci nci a da Economi a Pol ti ca
que a teori a das probabi l i dades no podi a ser apl i cada ao comrci o ou
ao jogo sem se l evar em conta a grande di ferena de uti l i dade da
mesma quanti a de di nhei ro para pessoas di ferentes. Suponha-se que
uma aposta equi l i brada e honesta seja fei ta entre duas pessoas, uma
das quai s ganha 10 mi l l i bras por ano, e a outra 100 l i bras por ano;
suponha-se que h uma chance i gual de ganharem ou perderem 50
l i bras. A pessoa ri ca no senti r mui ta di ferena em nenhum dos casos;
a pessoa pobre, porm, ter mui to mai s preju zo perdendo 50 l i bras
do que o que poderi a l ucrar ganhando esse di nhei ro. A uti l i dade do
di nhei ro para uma pessoa pobre vari a rapi damente com a quanti a;
para uma pessoa ri ca, nem tanto. De acordo com i sso, Dani el Bernoul l i
di sti ngui a, em qual quer probl ema de probabi l i dades, entre a expectativa
moral e a expectativa matemtica, sendo a l ti ma a si mpl es probabi -
l i dade de obter al guma posse, e a pri mei ra, a probabi l i dade medi da
por sua uti l i dade para a pessoa. No tendo mei os de determi nar nu-
meri camente a vari ao de uti l i dade, Bernoul l i teve de fazer suposi es
arbi trri as e foi ento capaz de encontrar respostas para mui tos pro-
bl emas i mportantes. evi dente por si mesmo que a uti l i dade do di -
nhei ro decresce na medi da em que cresce a ri queza total de uma pessoa;
se i sso certo, segue i medi atamente que o jogo , a l ongo prazo, um
cami nho seguro para se perder uti l i dade; que toda pessoa deveri a,
quando poss vel , di vi di r os ri scos, ou seja, preferi r duas probabi l i dades
i guai s de 50 l i bras a uma probabi l i dade semel hante de 100 l i bras; e
a vantagem dos seguros de todos os ti pos provada pel a mesma teori a.
Lapl ace fez di sti no pareci da entre a fortune physique, ou a quanti a
real da renda de uma pessoa, e a fortune morale, ou o seu provei to
para el a.
123
Respondendo s objees de um hbi l correspondente, pode ser
observado que quando di zemos que o jogo um cami nho seguro para
se perder uti l i dade, no l evamos em conta a uti l i dade ou seja, o
prazer l i gada prpri a ati vi dade do jogo; consi deramos apenas as
perdas ou ganhos comerci ai s. Se uma pessoa com certa renda prefere
correr o ri sco de perder parte del a no jogo, ao i nvs de gast-l a de
outra forma, no deve haver dvi da de que o economi sta pol ti co, en-
quanto tal , no pode fazer nenhuma objeo fi nal . Se o jogador to
carente de outros gostos, que gastar di nhei ro na mesa de jogo o
mel hor uso que el e pode encontrar para o di nhei ro, economi camente
OS ECONOMISTAS
140
123 TODHUNTER. History of Theory of Probability. Cap. XI etc.
no h nada mai s a ser di to. O probl ema ento se torna moral , l egi s-
l ati vo ou pol ti co. Uma fonte de di verso que no em si sempre
perni ci osa, como o jogo, a aposta, a bebi da ou o pi o, pode ser consi -
derada i moral , se numa proporo consi dervel dos casos l evar a re-
sul tados excessi vos e desastrosos. Mas evi dentemente essa questo nos
l eva para o campo dos assuntos que no poderi am ser apropri adamente
debati dos nesse trabal ho que trata da teori a econmi ca pura.
A origem do valor
As pgi nas precedentes contm, se no estou enganado, uma ex-
pl i cao da natureza do val or que se harmoni zar na mai or parte com
as concepes anteri ores do assunto. Ri cardo afi rmou, como a mai ori a
dos outros economi stas, que a uti l i dade absol utamente essenci al para
o val or, mas que
possui ndo uti l i dade, as mercadori as deri vam seu val or de troca
de duas fontes: da sua escassez e da quanti dade de trabal ho
necessri a para obt-l as.
124
Tambm Seni or defi ni u de forma admi rvel a ri queza, ou os objetos
que possuem val or como
aquel as coi sas e apenas aquel as coi sas que so transfer vei s, de
supri mento l i mi tado, e que di reta ou i ndi retamente produzem
prazer ou evi tam sofri mento.
Fal ando apenas de coi sas que so transfer vei s ou capazes de
serem passadas de mo em mo, descobri mos que duas das mai s cl aras
defi ni es de val or reconhecem a utilidade e a escassez como sendo as
qual i dades essenci ai s. Mas no momento em que di sti ngui mos entre a
uti l i dade total de uma quanti dade de um bem e o grau de uti l i dade
de pores di ferentes, podemos di zer que sua escassez que evi ta a
queda do grau fi nal de uti l i dade. O po tem a uti l i dade quase i nfi ni ta
de manter a vi da e, quando se torna uma questo de vi da ou morte,
uma pequena quanti dade de comi da excede em val or todas as outras
coi sas. Mas quando desfrutamos de nossos supri mentos comuns de
al i mento, um po tem pouco val or, porque a uti l i dade de um po a
mai s pequena, estando nossos apeti tes saci ados por nossas refei es
costumei ras.
J ressal tei a ambi gi dade excessi va da pal avra val or, e a apa-
rente i mpossi bi l i dade de us-l a com segurana. Quando empregada
para expressar o si mpl es fato de certos arti gos serem trocados em
determi nada rel ao, propus substi tu -l a pel a expresso i nequ voca re-
lao de troca. Mas sou i ncl i nado a acredi tar que no uma rel ao
J EVONS
141
124 Principles of Political Economy and Taxation. 3 ed., p. 2.
o senti do que a mai ori a das pessoas associ a pal avra val or. H certo
senti do de esti ma ou desejo que podemos ter por uma coi sa fora de
qual quer consci nci a di sti nta da rel ao pel a qual el a seri a trocada
por outras coi sas. Posso sugeri r que esse senti mento di sti nto de val or
provavel mente i dnti co ao grau fi nal de uti l i dade. Enquanto o to
ci tado valor de uso de Adam Smi th a uti l i dade total de um bem
para ns, o valor de troca defi ni do pel a utilidade final, o desejo
remanescente que ns ou outros temos de possui r mai s.
Permanece a questo do trabal ho como um el emento do val or.
Os economi stas no tm queri do apresentar o trabal ho como a causa
do valor, afi rmando que todos os objetos deri vam seu val or do fato de
que se gastou trabal ho nel es; e portanto est i mpl ci to, se no decl arado,
que o val or ser proporci onal ao trabal ho. Essa uma doutri na que
no se sustm por um segundo, estando di retamente oposta aos fatos.
Ri cardo desfaz-se dessa opi ni o quando di z:
125
H al gumas mercadori as cujo val or determi nado uni camente
por sua escassez. Nenhum trabal ho pode aumentar a quanti dade
de tai s bens, e portanto o seu val or no pode ser di mi nu do por
um aumento da oferta. Al gumas esttuas e quadros raros, l i vros
e moedas raros, vi nhos de qual i dade especi al , que s podem ser
fei tos de uvas cul ti vadas em sol o espec fi co e que exi stem em
quanti dade mui to l i mi tada, esto todos nessa descri o. O seu
val or i ntei ramente i ndependente da quanti dade de trabal ho
ori gi nal mente necessri a para produzi -l os e vari a com a vari ao
da fortuna e das i ncl i naes daquel es que desejam possu -l os.
O si mpl es fato de que exi stem mui tas coi sas, tai s como l i vros
raros e anti gos, moedas, anti gui dades etc., que possuem al tos val ores
e em absol uto no podem ser produzi das agora, di ssi pa a noo de
que o val or depende do trabal ho. Mesmo aquel as coi sas que so pro-
duz vei s em qual quer quanti dade pel o trabal ho raramente so trocadas
exatamente pel os val ores correspondentes.
126
Nas teori as predomi nan-
tes do val or, dei xa-se o preo de mercado do tri go, al godo, ferro e da
mai ori a das outras coi sas fl utuar aci ma ou abai xo de seu val or natural
ou de custo. Do mesmo modo, pode exi sti r al guma di screpnci a entre
a quanti dade de trabal ho gasta em um objeto e o val or atri bu do a
el e em l ti ma i nstnci a. Um grande empreendi mento, como a estrada
de ferro Great Western ou o tnel do Tmi sa, pode i ncorporar grande
OS ECONOMISTAS
142
125 On the Principles of Political Economy and Taxation. 3 ed., 1821. p. 2.
126 W. L. Sargant, em sua obra Recent Political Economy (i n-octavo, Londres, 1867, p. 99)
rel ata que foram fei tos contratos para a fabri cao de ri fl e Enfi el d, exatamente do mesmo
model o, a preos que vari am de 70 a 20 xel i ns cada, ou mesmo menos. Os sal ri os dos
trabal hadores vari avam de 40 ou 50 a 15 xel i ns por semana. Tal exempl o torna bvi o que
a escassez que regul a o val or, e que o val or do produto que determi na os sal ri os dos
produtores.
vol ume de trabal ho, porm seu val or depende total mente do nmero
de pessoas que o acha ti l . Se no fosse descoberto nenhum uso para
o navi o a vapor Great Eastern, seu val or seri a nul o, afora a uti l i dade
de al guns dos seus materi ai s.
127
Por outro l ado, um empreendi mento
bem-sucedi do, que acontece possui r mui ta uti l i dade, pode ter, pel o me-
nos durante certo tempo, um val or mui to superi or ao que foi gasto
com el e, como no caso do [pri mei ro] cabo submari no atl nti co. Ocorre
que o trabalho, uma vez despendido, no tem nenhuma influncia no
valor futuro de qualquer artigo: foi -se e est perdi do para sempre. No
comrci o, coi sas passadas so coi sas passadas, e estamos sempre co-
meando desi mpedi dos a cada momento, jul gando os val ores das coi sas
tendo em mi ra a futura uti l i dade. A i ndstri a essenci al mente di ri gi da
ao futuro, e no retrospecti va; e raro o resul tado de qual quer em-
preendi mento coi nci di r exatamente com as pri mei ras i ntenes de seus
promotores.
Mas, embora o trabal ho no seja nunca a causa do val or, el e
em grande proporo dos casos a ci rcunstnci a determi nante, da se-
gui nte forma: O valor depende unicamente do grau final de utilidade.
Como podemos fazer variar esse grau de utilidade? Tendo mais ou
menos do bem para consumir. E como obteremos mais ou menos
dele? Despendendo mais ou menos trabalho para a obteno de um
suprimento. Ento, de acordo com essa concepo, h doi s passos entre
o trabal ho e o val or. O trabal ho afeta o supri mento, e o supri mento
afeta o grau de uti l i dade, que rege o val or ou a rel ao de troca. Para
que no haja erro poss vel nessa sri e de rel aes extremamente i m-
portante, vou exp-l a num quadro, a segui r.
O custo de produo determina o suprimento;
O suprimento determina o grau final de utilidade;
O grau final de utilidade determina o valor.
fci l porm i r l onge demai s consi derando o trabal ho o regul ador
do val or; deve ser l embrado tambm que o prpri o trabal ho de val or
desi gual . Ri cardo, medi ante suposi o mui to forada, baseou sua teori a
do val or em quanti dades de trabal ho consi derado coi sa uni forme. El e
estava ci ente de que o trabal ho di fere i nfi ni tamente em qual i dade e
efi ci nci a, de forma que cada ti po mai s ou menos escasso e em con-
seqnci a pago a uma taxa mai s al ta ou mai s bai xa de sal ri os. El e
encarava essas di ferenas como ci rcunstnci as perturbadoras que pre-
ci sari am ser l evadas em consi derao, porm sua teori a repousa na
J EVONS
143
127 Essa afi rmao foi confi rmada pel a real i dade. O navi o a vapor Great Eastern, constru do
em 1858, segundo o projeto de Brunel e Russel , com sei s mastros e desl ocamento de 32 160
tonel adas, tornou-se um el efante branco, sendo i rremedi avel mente l ento para o transporte
de passagei ros e demasi ado grande no cal ado e na di fi cul dade geral de manobra, para
carga. Passados doi s ou trs anos foi vendi do por seu val or como ferro vel ho, vi rando sucata
em Gl asgow. [Ed.]
suposta i gual dade do trabal ho. A presente teori a se basei a numa posi o
compl etamente di ferente. Sustento que o val or essencialmente vari-
vel, de modo que seu valor deve ser determinado pelo valor do produto,
e no o valor do produto pelo do trabalho. Sustento que i mposs vel
comparar a priori a capaci dade produti va de um operri o de escavaes,
um carpi ntei ro, um ferrei ro, um professor e um advogado. De acordo
com i sso, ver-se- que nenhuma de mi nhas equaes representa uma
comparao entre o trabal ho de um homem e o de outro. A equao,
se afi nal exi ste uma, ser entre a mesma pessoa em duas ou mai s
ocupaes di ferentes. Nesse assunto ocorrem aes e reaes compl i -
cadas, que devemos adi ar para depoi s que ti vermos descri to a teori a
do trabal ho, no prxi mo cap tul o.
OS ECONOMISTAS
144
CAPTULO V
Teoria do Trabalho
Definio de trabalho
Di sse Adam Smi th:
O preo real de qual quer coi sa, o que qual quer coi sa custa
real mente ao homem que deseja adqui ri -l a, a l abuta e o i nc-
modo de adqui ri -l a. (...) O trabal ho foi o pri mei ro preo, a moeda
de compra ori gi nal que era paga por todas as coi sas.
128
Se for submeti da a uma anl i se mi nuci osa, essa passagem famosa
pode no se revel ar to verdadei ra como poderi a parecer pri mei ra
vi sta mai ori a dos l ei tores. No entanto, el a no fundo verdadei ra, e
expressa bri l hantemente o fato de que o trabal ho o comeo do processo
estudado pel os economi stas, assi m como o consumo o fi m e o propsi to.
O trabal ho o esforo penoso a que nos submetemos para evi tar so-
fri mentos de mai or i ntensi dade, ou para obter prazeres que dei xam
um sal do a nosso favor. Courcel l e-Seneui l
129
e Hearn descreveram o
probl ema da Economi a com a mxi ma exati do e brevi dade ao di zerem
que el e consi ste em satisfazer s nossas necessidades com a mnima
quantidade de trabalho possvel.
Ao defi ni r trabalho para os objeti vos do economi sta, temos uma
opo entre doi s procedi mentos. Em pri mei ro l ugar, podemos, se assi m o
qui sermos, i ncl ui r nel e todo o esforo do corpo ou da mente. Um jogo de
cr quete seri a trabal ho, nesse caso; se el e for, porm, real i zado apenas
pel o di verti mento que traz, surge a questo de se devemos deter nel e
nossa ateno. Todo o esforo que no se di ri ge a um fi m di stante e
di stinto deve ser compensado si multaneamente. No h nenhuma conta
de bem ou mal a ser compensada num tempo futuro. No temos nenhuma
objeo contra i ncl ui r tai s casos em nossa teori a econmi ca; na verdade,
145
128 Wealth of Nations. Li vro Pri mei ro. Cap. V.
129 Trait Thorique et Pratique dconomie Politique. 2 ed., v. I , p. 33.
nossa teori a do trabal ho i r necessari amente se apl i car a el es. Mas no
preci samos ocupar nossa ateno com casos que no requerem nenhum
cl cul o. Quando nos empenhamos apenas pel o prazer do momento, s
necessri a uma ni ca regra, a saber: parar quando nos senti mos i ncl i nados
a i sso quando o prazer j no se i gual a ao sofri mento.
Em vi sta di sso, provavel mente ser mel hor tomar o segundo pro-
cedi mento e concentrar nossa ateno naquel e esforo que no compl e-
tamente compensado pel o resul tado i medi ato. I sso nos l evari a a uma de-
fi ni o prati camente i gual de Say, que defi ni u o trabal ho como Action
suive, dirige vers un but.
130
O trabal ho, eu di ri a, qualquer esforo
penoso da mente ou do corpo empreendido parcial ou totalmente tendo em
vista um bem futuro.
131
verdade que o trabal ho pode i gual mente ser
agradvel na hora e l evar ao bem futuro; porm el e agradvel apenas
em quanti dade l i mi tada, e a mai ori a dos homens compel i da por suas
necessi dades a se esforar por mai s tempo e mai s severamente do que
de outro modo iria fazer. Quando um trabalhador se di spe a parar, el e
sente ni ti damente al guma coi sa que desagradvel , e nossa teori a s i r
tratar do ponto onde o esforo se tornou to dol oroso que chega quase a
contrabalanar todas as outras consi deraes. Tudo que houver de benfi co
ou agradvel no trabal ho antes que el e ati nja esse ponto pode ser consi -
derado como um ganho l qui do de bem para o trabal hador, porm no
entra no probl ema. Apenas l evamos em conta o trabal ho quando el e se
torna esforo, e, como di z Hearn com acerto,
132
tal esforo, como a prpri a pal avra parece i mpl i car, mai s ou
menos i ncmodo.
De fato, como se ver brevemente, devemos medi r o trabal ho pel a
quanti dade de sofri mento que se vi ncul a a el e.
Noes quantitativas de trabalho
Vamos nos empenhar para formar uma noo cl ara do que queremos
di zer por montante de trabalho. cl aro que a durao ser um de seus
el ementos, poi s deve admi ti r-se que uma pessoa trabal hando uniforme-
OS ECONOMISTAS
146
130 "Ao segui da, ori entada para um objeti vo." (N. do T.)
131 Modi fi quei essa defi ni o conti da na pri mei ra edi o, i nseri ndo as pal avras parcial ou
totalmente, e apresento-a agora como o mel hor que posso propor provi sori amente. O assunto
se afi gura para mi m como sendo de grande di fi cul dade, e poss vel que a verdadei ra
sol uo consi sti r em tratar o trabal ho como um caso de uti l i dade negati va, ou uti l i dade
negati va combi nada com posi ti va. Chegar amos ento a uma general i zao mai or que parece
ter si do prenunci ada na obra notvel de Hermann Hei nri ch Gossen, descri ta no Prefci o
desta edi o. Todo ato, seja de consumo, seja de produo, pode ser encarado como produzi ndo
o que Bentham chama de quinho tanto de prazeres como de sofri mentos, e a di sti no
entre os doi s processos consi sti r no fato de que o val or al gbri co do qui nho no caso do
consumo fornece um sal do de uti l i dade posi ti va, enquanto o da produo fornece um sal do
negati vo ou penoso, ao menos naquel a parte do trabal ho que envol ve mui to esforo. Numa
vi da fel i z, o sal do negati vo acarretado pel a produo mai s que compensado pel o sal do
posi ti vo de prazer proveni ente do consumo.
132 Plutology. p. 24.
mente durante dois meses trabalha duas vezes mais do que durante um
ms. Mas o trabal ho vari a tambm em i ntensi dade. No mesmo per odo
de tempo, um homem pode andar uma di stnci a mai or ou menor; pode
serrar mai or ou menor quanti dade de tbuas; pode bombear uma quan-
ti dade mai or ou menor de gua; em resumo, pode despender mai s ou
menos fora muscul ar e nervosa. Portanto, o montante de trabal ho ser
uma grandeza de duas di menses, o produto da i ntensi dade e do tempo,
quando a intensidade uni forme, ou o total representado pel a rea de
uma curva quando a intensidade vari vel .
A i ntensi dade de trabal ho, porm, pode ter mai s de um senti do;
pode si gni fi car a quanti dade de tarefa real i zada, ou o sofri mento do esforo
de real i z-l a. Deve-se di sti ngui r cui dadosamente essas duas coi sas, sendo
ambas de grande importnci a para a teori a. Uma a recompensa, a outra
a pena do trabal ho. Ou mel hor, como o produto s de i nteresse para
ns enquanto possui uti l i dade, podemos di zer que a teori a do trabal ho
envol ve trs quanti dades: o montante de esforo penoso, o montante de
produo, e o montante de uti l i dade obti da. A vari ao de uti l i dade, como
depende da quanti dade de bem possu da, j foi consi derada; a vari ao
do montante da produo ser tratada no prxi mo cap tul o; daremos agora
ateno vari ao do sofri mento do trabal ho.
A experi nci a nos mostra que quando o trabal ho se prol onga, o
esforo se torna, vi a de regra, mai s e mai s penoso. Um trabal ho de
poucas horas por di a pode ser consi derado na mai ori a das vezes agra-
dvel ; mas to l ogo a energi a excedente do corpo se escoa, se torna
desagradvel conti nuar trabal hando. medi da que a exausto se apro-
xi ma, o esforo cont nuo se torna mai s e mai s i ntol ervel . Jenni ngs
expressou com tanta cl areza essa l ei da vari ao do trabal ho, que devo
ci tar suas pal avras.
133
Entre estes doi s pontos, o ponto do esforo i nci pi ente e o
ponto do sofri mento afl i ti vo, bastante evi dente que o grau de
sensaes penosas suportadas no vari a di retamente com a quan-
ti dade de trabal ho real i zado, mas aumenta mui to mai s rapi da-
mente, como a resi stnci a ofereci da por um mei o resi stente
vel oci dade de um corpo em movi mento.
Quando essa observao for apl i cada s sensaes penosas su-
portadas pelas cl asses trabalhadoras, ser conveniente fi xar um pon-
to mdi o, o montante mdi o de sensao penosa correspondente ao
montante mdi o de trabal ho, e medi r a parti r desse ponto os graus
de vari ao. Se, por exempl o, se assumi r que esse montante mdi o
so dez horas de durao, segue que, se em qual quer momento o
montante fosse reduzi do a ci nco horas, a mai ori a dos homens, pel o
menos, achari a que as sensaes do trabal ho estari am quase afo-
gadas nos prazeres da ocupao e do exerc ci o, enquanto o montante
J EVONS
147
133 Natural Elements of Political Economy. p. 119.
do trabal ho real i zado seri a di mi nu do apenas pel a metade; se,
ao contrri o, se supuser que o montante de trabal ho seja aumen-
tado para vi nte horas, a quanti dade de trabal ho produzi da seri a
apenas dupl i cada, enquanto o montante de sofri mento rduo se
tornari a i nsuportvel . Assi m, se a quanti dade produzi da, mai or
ou menor que a quanti dade mdi a, fosse di vi di da em qual quer
nmero de partes i guai s, o montante de sensao penosa corres-
pondente a cada acrsci mo sucessi vo i ri a ser mai or que o cor-
respondente ao acrsci mo anteri or, e o montante de sensao
penosa correspondente a cada decrsci mo sucessi vo i ri a ser menor
que o correspondente ao decrsci mo precedente.
No pode haver dvi da da verdade geral da afi rmao aci ma,
embora no di sponhamos dos dados para determi nar a l ei exata de
vari ao. Podemos i magi nar que o sofri mento do trabal ho em proporo
ao produto representado por uma curva como a curva abcd na Fi g.
9. Nesse di agrama, a al tura dos pontos aci ma da l i nha ox denota prazer,
e abai xo del a, sofri mento. No momento i ni ci al , o trabal ho geral mente
mai s desagradvel do que quando a mente e o corpo esto i ncl i nados
para a tarefa. Assi m, no i n ci o, o sofri mento medi do por oa. Em b
no h sofri mento nem prazer. Entre b e c um excedente de prazer
representado como proveni ente da prpri a ati vi dade. Mas depoi s de c
a energi a comea a se exauri r rapi damente e o sofri mento resul tante
mostrado pel a tendnci a descendente da l i nha cd.
Podemos representar si mul taneamente o grau de uti l i dade do
produto por uma curva como pq, sendo o montante do produto medi do
ao l ongo da l i nha ox. De acordo com a teori a da uti l i dade j vi sta, a
curva mostra que, quanto mai ores forem os sal ri os ganhos, menor
o prazer deri vado de um novo acrsci mo. Haver, necessari amente,
um ponto m tal que qm = dm, ou seja, tal que o prazer obti do
exatamente i gual ao trabal ho suportado. Ora, se passarmos um m ni -
Figura 9
OS ECONOMISTAS
148
mo al m desse ponto, produzi r-se- um sal do de sofri mento: haver
um moti vo sempre decrescente em favor do trabal ho, e um moti vo
sempre crescente contra el e. Portanto, o trabal hador parar evi dente-
mente no ponto m. Seri a i ncoerente com a natureza humana o homem
que trabal hasse quando o sofri mento do trabal ho excede o desejo de
posse, i ncl ui ndo todos os moti vos para a ati vi dade.
Devemos consi derar a durao do trabal ho medi da pel o nmero
de horas de trabal ho por di a. A al ternnci a do di a e da noi te na Terra
tornou o homem essenci al mente peri di co em seus hbi tos e aes.
Numa condi o natural e saudvel , um homem deveri a retornar exa-
tamente ao mesmo estado a cada 24 horas; de qual quer forma, o ci cl o
deveri a fechar-se dentro dos sete di as da semana. Portanto, no se
deve supor que o trabal hador esteja aumentando ou di mi nui ndo sua
fora normal . Mas a teori a poderi a apl i car-se a casos em que se
submeti do a um esforo especi al para compl etar um trabal ho, como
na col hei ta da safra. Moti vos apropri ados podem l evar justi fi cadamente
a uma sobrecarga de trabal ho, porm, se prol ongado por mui to tempo,
o trabal ho excessi vo reduz a fora e se torna i nsuportvel ; e por quanto
mai s tempo el e conti nuar, pi or el e ser, sendo a l ei de certo modo
si mi l ar do trabal ho peri di co.
Exposio simblica da teoria
Na tentati va de representar essas condi es do trabal ho com exa-
ti do, i remos descobri r que h pel o menos quatro quanti dades i mpl i -
cadas; vamos represent-l as da segui nte manei ra:
t = tempo, ou durao do trabal ho;
l = montante de trabal ho, si gni fi cando o sal do total de
sofr i mento que o acompanha, sem l evar em conta o produto;
x = montante de bens produzi dos;
u = uti l i dade total desses bens.
O montante de bens produzi dos ser mui to di ferente em casos
di ferentes. Em cada um dos casos, a taxa de produo ser determi nada
di vi di ndo-se a quanti dade total produzi da pel o tempo de produo,
uma vez que a taxa de produo tenha si do uni forme; el a ser ento
x
t
. Mas se a taxa de produo for vari vel , s poder ser determi nada
a qual quer momento comparando-se uma pequena quanti dade do pro-
duto com a pequena parcel a de tempo uti l i zada em sua produo. Fa-
l ando de forma mai s estri ta, devemos determi nar a rel ao de uma
quanti dade i nfi ni tamente pequena do produto com a parcel a i nfi ni ta-
mente pequena de tempo correspondente. Portanto, a taxa de produo
ser representada propri amente por
x
t
, ou, no l i mi te, por
dx
dt
.
J EVONS
149
Desse modo, o grau de sofri mento do trabal ho seri a
l
t
, se se man-
ti vesse i nvari vel , mas como al tamente vari vel , devemos de novo
comparar pequenos acrsci mos, e o grau de sofrimento do trabalho
ser representado por
l
t
, ou no l i mi te,
dl
dt
. Devemos, porm, consi derar
tambm o fato de que a uti l i dade de um bem no constante. Se um
homem trabal ha regul armente doze horas por di a, produzi r mai s bens
do que em dez horas; em conseqnci a, o grau fi nal de uti l i dade de
seu bem, consuma el e mesmo esse bem ou o troque, no ser to al to
como quando el e produzi a menos. Esse grau de uti l i dade representado,
como antes, por
du
dx
, ou seja, a rel ao entre o acrsci mo de uti l i dade
e o acrsci mo do bem.
O montante de recompensa do trabal ho pode ser expresso agora,
poi s
dx
dt
.
du
dx
, ou seja, o produto da rel ao entre os bens produzi dos
e o tempo, mul ti pl i cado pel a rel ao entre a uti l i dade e o montante
de produto. Assi m, as l ti mas duas horas de trabal ho do di a geral mente
do menos recompensa, tanto porque se cri a ento menos produtos em
proporo ao tempo gasto, como tambm porque esse produto menos
ti l e necessri o a al gum que faz o bastante para sustentar a si
prpri o nas outras dez horas.
Podemos agora determi nar a durao de tempo que deveri a ser
escol hi da como o per odo de trabal ho mai s vantajoso. Um trabal hador
l i vre suporta o aborreci mento do trabal ho porque o prazer que espera
receber, ou o sofri mento que espera evi tar, por i ntermdi o da produo,
excede o sofri mento do esforo. Quando o trabal ho um mal pi or do
que aquel e que el e evi ta, no h moti vos para esforo adi ci onal , e o
trabal hador pra. Em conseqnci a, cessar de trabal har justamente
no ponto em que o sofri mento se torna i gual ao prazer correspondente
obti do; e temos, portanto, t defi ni do pel a equao
dl
dt
=
dx
dt
.
du
dx
Nessa, assi m como em outras questes da Economi a, tudo de-
pende dos acrsci mos fi nai s, e na frmul a aci ma expressamos a equi-
valncia final do trabalho e da utilidade. Deve-se consi derar que um
homem ganha durante todas as suas horas de trabal ho um excesso de
uti l i dade; o que el e produz no deve ser consi derado apenas equi val ente
exato do trabal ho que el e faz por i sso, poi s nesse caso seri a uma questo
de i ndi ferena se el e trabal ha ou no. Enquanto ganha, el e trabal ha,
e quando pra de ganhar, cessa de trabal har.
Em al guns casos, como em certos ti pos de trabal ho mecani zado,
OS ECONOMISTAS
150
a taxa de produo uni forme, ou quase i sso, podendo ser tornada i gual
uni dade, pel a escol ha de uni dades apropri adas, si mpl i fi cando-se o re-
sul tado dessa forma. Pode-se consi derar que o trabal ho despendi do em
pequenas quanti dades sucessivas, l, cada uma com a durao, por exem-
pl o, de 1/4 de hora; o benef ci o proveni ente do trabal ho ser ento repre-
sentado por u. Ora, enquanto u exceder em quanti dade de prazer a
quanti dade negati va ou o sofri mento de l, no se consi derando a di ferena
de si nal, haver ganho que induz continuidade do trabalho. Se u ca sse
abaixo de l, haveri a mai s preju zo que ganho em trabal har; desse modo,
a frontei ra entre trabal ho e i nati vi dade ser defi ni da pel a i gual dade entre
u e l, e, no l i mi te, teremos a equao
du
dx
=
dl
dx
.
As dimenses do trabalho
Se nos cap tul os anteri ores formul ei corretamente a teori a das
di menses da uti l i dade e do val or, no dever haver mui ta di fi cul dade
em enunci ar a teori a equi val ente correspondente ao trabal ho. Pode-
r amos, na verdade, tratar o trabal ho si mpl esmente como um caso de
desutilidade, ou uti l i dade negati va, ou seja, como um sofri mento, ou
pel o menos como um sal do geral mente penoso entre o prazer e o so-
fri mento, suportado na ao de adqui ri r bens. Assi m, poder-se-i a des-
crever suas di menses como i dnti cas s da uti l i dade; U representari a
ento a i ntensi dade do trabal ho, ou grau de trabal ho, da mesma ma-
nei ra que foi usado para representar grau de uti l i dade. Se medi rmos
o trabal ho com rel ao quanti dade de bens produzi dos, ou seja, se
fi zemos dos bens a quanti dade vari vel , ento o montante total de
trabal ho ser a i ntegral de UdM, e as di menses do montante de tra-
bal ho sero MU, i guai s s da uti l i dade total .
Se por quai squer razes de conveni nci a preferi mos adotar um
novo s mbol o, especi al mente adequado para expressar as di menses
do trabal ho, e di zer que a intensidade de trabalho representada por
D (durao), e a quantidade total de trabalho empregada na produo
de certo bem por MD, deve ser l embrado que a mudana apenas por
conveni nci a; U e D so essenci al mente quanti dades da mesma natu-
reza, e a di ferena, na medi da em que exi ste, provm do fato de que
as quanti dades si mbol i zadas por D sero em geral negati vas em com-
parao com as si mbol i zadas por U. O trabal ho, contudo, freqente-
mente medi do, comprado e vendi do por tempo, e nao por por tarefa
ou mercadori a produzi da; nesse caso, enquanto D conti nua a repre-
sentar a i ntensi dade de trabal ho, DT expressar as di menses do mon-
tante de trabal ho.
A taxa de produo obvi amente possui r as mesmas di menses da
taxa de consumo, ou seja, MT
1
, e essa grandeza forma uma ligao entre
J EVONS
151
o trabal ho medi do pel o tempo e pel o produto, poi s DT x MT
1
= MD.
Seri a poss vel i nventar vri as outras grandezas econmi cas, tai s como
acelerao de produo, com as di menses MD
2
; porm, embora seja
evi dente que tai s grandezas entram na consi derao dos teoremas eco-
nmi cos, no parece necessri o consi der-l as mais detalhadamente.
Equilbrio entre a necessidade e o trabalho
Ao consi derar essa teori a do trabal ho, surge uma questo i nte-
ressante. Supondo-se que ci rcunstnci as al terem a rel ao entre pro-
duto e trabal ho, que efei to i sso ter sobre o montante de trabal ho que
ser efetuado? H doi s efei tos a serem consi derados. Quando o trabal ho
produz mai s bens, h mai s recompensa, e portanto mai s i ncenti vo ao
trabal ho. Se um trabal hador pode ganhar 9 pence por hora, em vez
de 6 pence, no poder el e ser i ncenti vado a estender suas horas de
trabal ho devi do a esse resul tado aumentado? Esse, sem dvi da, seri a
o caso se no fosse o fato de que, ganhando metade a mai s do que el e
ganhava antes, bai xa para el e a uti l i dade de qual quer aumento adi -
ci onal . El e pode sati sfazer mai s compl etamente seus desejos com o
produto do mesmo nmero de horas e, se o aborreci mento do trabal ho
j ati ngi u um ponto el evado, el e pode obter mai s prazer moderando
esse trabal ho do que consumi ndo mai s produtos. O probl ema depende,
portanto, do l ado em que i r pender a bal ana entre a uti l i dade de
bens adi ci onai s e o sofri mento do trabal ho prol ongado.
Em nossa i gnornci a da forma exata das funes de uti l i dade e
de trabal ho, ser i mposs vel deci di r esse probl ema a priori; h porm
al guns fatos que i ndi cam para que l ado em geral pende a bal ana. Os
rel atos forneci dos por Porter, em seu Progress of the Nation,
134
mostram
que, quando ocorreu uma sbi ta al ta nos preos dos manti mentos no
comeo deste scul o, os trabal hadores aumentaram suas horas de tra-
bal ho, ou, como se di z, trabal haram dupl o per odo, quando consegui am
emprego adequado. Ora, um aumento no preo da comi da , na verdade,
o mesmo que um decrsci mo do produto do trabal ho, uma vez que se
pode adqui ri r menos bens i ndi spensvei s vi da em troca dos mesmos
sal ri os monetri os. Podemos concl ui r, ento, que os trabal hadores i n-
gl eses que desfrutam pouco mai s do que os bens essenci ai s trabal haro
mai s duramente quanto menor for o produto; ou, o que d no mesmo,
trabal haro menos quando o produto aumentar.
Encontra-se prova de efei to semel hante na tendnci a geral a re-
duzi r as horas de trabal ho nos di as de hoje, devi do mel hora dos
sal ri os reai s desfrutada pel os empregados das usi nas e fbri cas. Os
artesos, operri os e outros parecem preferi r em geral mai or ci o do
que mai or fortuna, provando assi m que o sofri mento do trabal ho vari a
OS ECONOMISTAS
152
134 Edi o de 1847. p. 454-455.
to rapi damente a ponto de sobrepujar com faci l i dade o ganho de uti l i dade.
A mesma regra parece se apl i car a todos os empregos comerci ai s. Quanto
mai s ri co um homem se torna, menos el e se devota aos negci os. Um
comerci ante bem-sucedi do geral mente deseja dar parte consi dervel de
seus lucros a um sci o ou a um quadro de gerentes e escri turri os, de
prefernci a a arcar el e prpri o com o trabal ho constante de superi nten-
dncia. H tambm uma tendncia geral a reduzir as horas de trabalho
nos escri tri os comerci ai s, devi do ao bem-estar e opul nci a crescentes.
Contudo bvi o que h mui tas compl i caes num assunto desse
ti po. No sempre poss vel ajustar o trabal ho vontade do trabal hador;
em certos negci os, um homem que i nsi sti sse em trabal har apenas
al gumas horas por di a l ogo no teri a nenhum trabal ho para fazer. Nas
profi sses da l ei , da medi ci na e semel hantes, a reputao de possui r
grande prti ca que atrai novos cl i entes. Em conseqnci a, um mdi co
ou advogado bem-sucedi dos trabal ham mai s duramente medi da que
aumentam o seu sucesso. Esse resul tado se deve em parte ao fato de
que esse trabal ho no pode ser executado faci l mente por del egao.
Ademai s, um advogado bem-sucedi do l ogo comea a desejar as recom-
pensas advent ci as de um el evado cargo judi ci al ou parl amentar. Mas
no caso de um emi nente procurador, arqui teto ou engenhei ro, o trabal ho
pode ser executado em grande parte pel os empregados, e executado
sem meno a recompensas pol ti cas ou soci ai s, e, no entanto, o homem
mai s bem-sucedi do suporta o mxi mo de trabal ho ou est com mai s
constnci a trabal hando. I sso i ndi ca que o aborreci mento do trabal ho
no aumenta de forma a contrabal anar a uti l i dade do aumento da
recompensa. Em resumo, em certas personal i dades e em certas ocu-
paes, o xi to no trabal ho apenas i nci ta a novos esforos, sendo o
trabal ho em si prpri o de natureza i nteressante e esti mul ante. Mas a
regra em geral o efei to contrri o, ou seja, que certo xi to torna o
homem avesso a um aumento de trabal ho. Deve-se aduzi r que ques-
ti onvel , nos ti pos mai s el evados de trabal ho, como o do fi l sofo, pes-
qui sador ci ent fi co, arti sta etc., at que ponto um grande sucesso
compat vel com o ci o; os poderes mentai s devem ser manti dos num
trei namento perfei to pel o esforo constante, assi m como um caval o de
corri da ou um remador preci sam se exerci tar constantemente.
evi dente que probl emas desse ti po dependem mui to da ndol e
da raa. Pessoas de temperamento enrgi co acham o trabal ho menos
penoso que seus camaradas, e, se el as so dotadas de sensi bi l i dade
vari ada e profunda, nunca cessa seu desejo de novas aqui si es. Um
homem de raa i nferi or, um negro por exempl o, apreci a menos as posses
e detesta mai s o trabal ho; seus esforos, portanto, param l ogo. Um
pobre sel vagem se contentari a em recol her os frutos quase gratui tos
da Natureza, se fossem sufi ci entes para dar-l he sustento; apenas a
necessi dade f si ca que o l eva ao esforo. O homem ri co na soci edade
moderna est aparentemente supri do com tudo que el e pode desejar
J EVONS
153
e, no entanto, freqentemente trabal ha por mai s sem cessar. O bi spo
Berkel ey, em seu Querist,
135
perguntou mui to bem
Se a cri ao de necessi dades no o modo mai s provvel de
provocar di l i gnci a em um povo? E se nossos camponeses (i rl an-
deses) esti vessem acostumados a comer carne de boi e a usar
sapatos, el es no seri am mai s i ndustri osos?
Distribuio do trabalho
Vamos agora consi derar as condi es que regul am as quanti dades
rel ati vas dos di ferentes bens produzi dos num pa s. Teori camente fa-
l ando, podemos supor que cada pessoa seja capaz de produzi r vri os
bens e de di vi di r seu trabal ho, de acordo com certas regras, entre os
di ferentes empregos; no seri a i mposs vel menci onar casos nos quai s
ocorre real mente essa di vi so. Mas em geral o efei to do comrci o e da
di vi so do trabal ho fazer o homem achar mai s vantajoso executar
apenas um of ci o; e apresento as frmul as como se apl i cari am a um
i ndi v duo, apenas porque el as so, no aspecto geral , i dnti cas s que
se apl i cam a uma nao i ntei ra.
Suponhamos que um i ndi v duo seja capaz de produzi r doi s ti pos
de bem. Sem dvi da, seu ni co objeti vo produzi r a mxi ma quanti dade
de uti l i dade; porm, i sso depender em parte dos graus rel ati vos de
uti l i dade dos bens, e em parte dos seus recursos rel ati vos para pro-
duzi -l os. Sejam x e y as respecti vas quanti dades dos bens j produzi dos,
e suponhamos que o homem est a ponto de encetar mai s trabal ho;
com qual bem el e dever gastar o prxi mo acrsci mo de trabal ho? Sem
dvi da, naquel e que fornecer mai s uti l i dade. Ora, se um acrsci mo de
trabal ho, l, produzi r o acrsci mo de bem x ou y, as rel aes do
produto com o trabal ho, a saber,
x
l
e
y
l
consti tui ro um el emento do probl ema. Mas, para obter as uti l i dades
rel ati vas desses bens, preci samos mul ti pl i car respecti vamente por
u
1
x
e
u
2
y
.
Por exempl o
u
1
x
.
x
l
1
expressa o montante de uti l i dade que pode ser obti do produzi ndo-se um
OS ECONOMISTAS
154
135 I ndagao n 20.
pouco mai s do primei ro bem; se for mai or que a mesma expresso rel ati va
ao outro bem, evi dentemente seri a mel hor fabri car mai s do pri mei ro bem
at que el e cesse de proporci onar qual quer excedente de uti l i dade. Quando
o trabalho fi nal mente esti ver di stri bu do, devemos ter i gual ado os acrs-
ci mos de uti li dade dos vri os empregos, e no l i mi te teremos a equao
du
1
dx
.
dx
dl
1
=
du
2
dy
.
du
dy
2
Quando essa equao se veri fi car, no poder haver moti vo para al terar
ou l amentar a di stri bui o do trabal ho, e a uti l i dade produzi da estar
em seu mxi mo.
H nesse probl ema duas quanti dades desconheci das, a saber, as
duas parcel as de trabal ho desti nadas aos doi s bens. Para determi n-l as,
preci samos de mai s outra equao al m da anteri or. Se escrevemos
l = l
1
+ l
2
,
teremos ai nda uma quanti dade desconheci da para determi nar, qual
seja, l; porm, os fundamentos do trabal ho nos do agora uma equao.
O trabal ho i r prossegui r at que o acrsci mo de uti l i dade proveni ente
de qual quer dos empregos apenas compense o acrsci mo de sofri mento.
I sto o mesmo que di zer que du
1
, o acrsci mo de uti l i dade deri vado
do pri mei ro emprego do trabal ho, i gual em quanti dade de sensao
a dl
1
, o acrsci mo de trabal ho por mei o do qual el a obti da. I sso nos
d ento a equao adi ci onal :
du
1
dx
.
dx
dl
1
= 1.
Se dermos ateno ao si nal , devemos l embrar que dl, quando medi do
na mesma escal a de du, i ntri nsecamente negati vo, mas na medi da
em que dado em troca de du, que recebi do, ser tomado negati va-
mente e, portanto, a equao aci ma se mantm verdadei ra.
136
Relao entre as teorias do trabalho e da troca
Pode contri bui r para dar confi ana ao l ei tor nas teori as prece-
dentes o fato de el e descobri r que el as conduzem di retamente famosa
l ei de que o val or proporci onal ao custo de produo, como enunci ada
na l i nguagem usual dos economi stas. Da manei ra com que prefi ro enun-
ci ar a mesma l ei , temos como resul tado que a rel ao de troca dos
bens se ajustar, a l ongo prazo, com a taxa de produtividade, que a
J EVONS
155
136 Ao rever esta edi o, me pareceu provvel que esta, assi m como outras partes da teori a,
pode ser representada de manei ra mai s si mpl es e geral , mas o que foi di to essenci al mente
correto e verdadei ro, e deve no momento permanecer como est.
rec proca da taxa dos custos de produo. As rel aes um pouco i ntri -
gantes entre essas quanti dades sero i ntei ramente expl i cadas na pr-
xi ma seo; podemos contudo passar a provar si mbol i camente o resul -
tado aci ma.
Para si mpl i fi car nossas expresses, vamos substi tui r a taxa de
produo
137
dx
dl
pel o s mbol o . Desse modo
1
,
2
expressam as quan-
ti dades rel ati vas de doi s bens di ferentes produzi das por um acrsci mo
de trabal ho, e teremos a segui nte equao, i dnti ca da p. 155,
x .
1
= y .
2
.
Suponhamos que a pessoa a quem el a se apl i ca est em condi es de
trocar com outras pessoas. As condi es de produo agora sero mo-
di fi cadas, com toda certeza. De x, a quanti dade do nosso bem pode
agora tal vez ser aumentada para x + x
1
, e y di mi nu da para y y
1
,
por uma troca entre as quanti dades x
1
e y
1
. Se assi m ocorrer, teremos,
como foi vi sto na teori a da troca, a equao
(x + x
1
)
(y y
1
)
=
y
1
x
1
.
Nossa equao da produo ser modi fi cada agora, tornando-se
(x + x
1
) . = (y y
1
)
2
;
ou
(x + x
1
)
(y y
1
)
=
1
Porm, o pri mei ro membro dessa equao i dnti co ao pri mei ro mem-
bro da equao da troca dada aci ma, de modo que podemos deduzi r
i medi atamente a equao fundamental
1
=
y
1
x
1
O l ei tor est l embrado que representa a rel ao entre o produto
e o trabal ho; provamos desse modo que os bens sero trocados em
qual quer mercado na proporo das quanti dades produzi das pel a mes-
ma quanti dade de trabal ho. Mas como o acrsci mo de trabal ho consi -
derado sempre o l ti mo, nossa equao tambm expressa a verdade
de que os artigos sero trocados em quantidades inversas aos custos
de produo das pores mais custosas, ou seja, as ltimas pores
adicionadas. Esse resul tado ser de grande i mportnci a para a teori a
da renda da terra.
OS ECONOMISTAS
156
137 Ou seja, a produtividade do trabal ho para um bem. [Ed.]
Observe-se que, ao uni r as teori as da troca e da produo, ocorre
um compl i cado ajuste dupl o nas quanti dades de bens envol vi das. Cada
parte i nteressada ajusta no s o seu consumo de arti gos de acordo
com a rel ao de troca entre el es, como tambm ajusta a sua produo.
A rel ao de troca governa a produo tanto quanto a produo governa
a rel ao de troca. Por exempl o, desde que as l ei s do tri go foram abol i das
na I ngl aterra, o resul tado no foi acabar a cul tura do tri go, mas di -
mi nu -l a. A terra menos adequada ao cul ti vo do tri go foi transformada
em pastagens ou desti nada a outros fi ns mai s l ucrati vos, rel ati vamente
fal ando. Da mesma forma, a i mportao de l pul o, ovos, ou de qual quer
outro arti go de al i mentao nem mesmo reduz a quanti dade produzi da
aqui , mas evi ta a necessi dade de recorrer a manei ras mai s caras de
aumentar a oferta. No fci l expressar em pal avras como as rel aes
de troca so fi nal mente determi nadas. El as dependem de um equi l bri o
geral do poder produti vo e da demanda medi dos em rel ao ao grau
fi nal de uti l i dade. Cada supri mento adi ci onal tende a bai xar o grau
de uti l i dade; porm, se este ser ou no acess vel a al gum pa s, depende
de seu poder rel ati vo de produzi r di ferentes bens.
Qual quer pequena regi o de um pa s no pode afetar profunda-
mente a oferta rel ati va de bens: el a deve, portanto, ajustar sua produo
de acordo com o estado geral do mercado. O condado de Bedford, por
exempl o, no i ri a afetar consi deravel mente os mercados de tri go, quei jo,
ou gado, mesmo que uti l i zasse cada acre seu para o cul ti vo do tri go
ou para pastagem. Por consegui nte, a agri cul tura de Bedford ter de
se adaptar s ci rcunstnci as, e cada campo ser uti l i zado como terra
arvel ou de pastagem, conforme os preos domi nantes tornarem um
emprego ou outro mai s rentvel . Um grande pa s, porm, i r i gual mente
afetar os mercados e ser afetado. Se todo o terri tri o habi tado da Aus-
trl i a, em vez de produzi r l , pudesse ser desti nado produo de
vi nho, o mercado de l i ri a entrar em al ta e o mercado de vi nho bai xar.
Se os Estados do sul dos Estados Uni dos abandonassem o al godo em
favor do acar, haveri a revol uo nesses mercados. Seri a i nevi tvel
a Austrl i a vol tar l e os Estados ameri canos ao al godo. Esses so
exempl os da rel ao rec proca da troca e da produo.
Relaes entre as grandezas econmicas
Espero poder al gum di a, numa obra futura mui to mai s extensa,
expl i car detal hadamente os resul tados que podem ser extra dos da
teori a matemti ca exposta nas pgi nas anteri ores. Este ensai o os for-
nece apenas de modo i mpl ci to. Porm, antes de abandonar o assunto
da troca, ser bom mostrar sem demora como os resul tados expostos
at agora se l i gam s reconheci das teori as de Economi a Pol ti ca. Em
benef ci o da exati do, evi tei o uso da pal avra valor; tambm chama a
ateno aqui a ausnci a da expresso custo de produo, to encon-
tradi a na mai ori a dos tratados sobre Economi a. Portanto, a menos
J EVONS
157
que seja mui to cui dadoso, o l ei tor pode fi car perpl exo quando comear
a comparar meus resul tados com aquel es que l he so fami l i ares de
outros l ugares. Em vi sta di sso, passarei a estabel ecer a rel ao entre
as di versas expresses quanti tati vas, que aparecem mai s freqente-
mente nas di scusses a respei to do val or, da troca e da produo.
Em pri mei ro l ugar, a rel ao de troca a rel ao numri ca real
das quanti dades dadas e recebi das. Sejam X e Y os nomes dos bens:
x e y so respecti vamente suas quanti dades trocadas. Ento a rel ao
de troca ser de y para x. Porm, o val or de um bem trocado mai or
quando a quanti dade recebi da menor, de modo que a rel ao das
quanti dades tratadas deve ser i nversa rel ao dos val ores das subs-
tnci as, querendo di zer por val or o val or por uni dade do bem. Assi m
podemos di zer
y
x
=
valor por unidade de X
valor por unidade de Y
.
O val or, sem dvi da, freqentemente esti mado pel o preo, ou seja, pel a
quanti dade de di nhei ro l egal pel o qual o bem pode ser trocado. Sem dvi da,
o preo to amb guo quanto o val or; el e si gni fi ca tanto o preo da quan-
tidade total, como o preo por unidade da quantidade. Seja p
1
o preo
por uni dade de X, e p
2
o preo correspondente de Y. Ento cl aro que y
p
2
ser o preo total de y, e x p
1
, o preo total de x. Esses doi s preos
devem ser i guai s entre si , de modo que obtenhamos
y
x
=
p
1
p
2
.
Veri fi camos assi m que, quando o preo si gni fi ca preo por uni -
dade, as quanti dades trocadas so i nversas aos preos. Quando o preo
si gni fi ca preo da quanti dade total , as quanti dades dadas e recebi das
so sempre de i gual preo.
Vol tando agora para a produo de bens, bvi o que o custo de
produo, na medi da em que essa expresso pode ser i nterpretada com
exati do, vari a como o grau de produti vi dade correspondente. Perma-
necendo constante a taxa de sal ri os, o custo por uni dade do bem deve
ser, sem dvi da, menor quando mai or a quanti dade produzi da em
troca de certo montante de sal ri os. Assi m podemos formul ar a equao
Grau de produtividade de Y
Grau de produtividade de X
138
=
Custo de produo de X
Custo de produo de Y
.
Ora, foi vi sto nas pgi nas 155-156 que as quanti dades trocadas so
di retamente proporci onai s aos graus de produti vi dade.
OS ECONOMISTAS
158
138 "Grau de produti vi dade de Y" deve ser entendi do como si gni fi cando grau de produti vi dade
do trabal ho ao produzi r Y, e o mesmo em rel ao a X. [Ed.]
ou
y
x
=
Grau de produtividade de Y
Grau de produtividade de X
.
Mas a r el ao dos val or es o i nver so de
y
x
, e a r el ao dos custos
de pr oduo o i nver so do outr o membr o da equao aci ma. Assi m,
segue que
Valor por unidade de X
Valor por unidade de Y
=
Custo de produo por unidade de X
Custo de produo por unidade de Y
,
ou, em outras pal avras, o valor proporcional ao custo de produo.
Como, al m di sso, os graus fi nai s de uti l i dade dos bens esto na rel ao
i nversa das quanti dades trocadas, segue que os val ores por uni dade
so di retamente proporci onai s aos graus fi nai s de uti l i dade.
Como i ndi spensvel que o estudante de Economi a Pol ti ca man-
tenha em sua mente, com cl areza absol uta, as rel aes entre essas
quanti dades, vou repeti r os resul tados em vri as formas de exposi o.
Podemos reuni r assi m as rel aes:
Rel ao de troca =
y
x
=
Quantidade de Y dada ou recebida
Quantidade de X recebida ou dada
=
Valor por unidade de X
Valor por unidade de Y
=
Preo por unidade de X
Preo por unidade de Y
=
Grau final de utilidade de X
Grau final de utilidade de Y
=
Grau de produtividade de Y
Grau de produtividade de X
.
Podemos formul ar o assunto de modo mai s resumi do nas segui n-
tes pal avras: As quantidades de bens dadas ou recebidas em troca so
diretamente proporcionais aos graus de produtividade do trabalho em-
pregado em sua produo, e inversamente proporcionais aos valores e
preos desses bens e a seus custos de produo por unidade, assim
como a seus graus finais de utilidade. Ai nda repeti rei a mesma asser-
ti va, dessa vez sob a forma de um di agrama:
As quanti dades de bens trocadas vari am
di retamente em rel ao s quanti da- i nversamente a seus
des produzi das pel o mesmo trabal ho. 1) Val ores
2) Preos
3) Custos de produo
4) Graus fi nai s de uti l i dade.
J EVONS
159
Casos diversos da teoria
Como j chegamos questo pri nci pal da Economi a, ser bom
consi derar pormenori zadamente o si gni fi cado e os resul tados de nossas
equaes.
Em pri mei ro l ugar, ser evi dente que os recursos absol utos para
a produo de bens no i ro determi nar a qual i dade e o vol ume do
comrci o. A rel ao de troca
y
1
x
1
no determi nada separadamente por
1
, nem por
2
, mas si m por suas magni tudes rel ati vas. Se a capaci dade
produti va de um pa s fosse dupl i cada, no ocorreri a nenhum efei to
di reto nos termos de seu comrci o, uma vez que o aumento tenha si do
i gual em todos os ramos da produo. Esse ponto de mui ta i mpor-
tnci a, e foi corretamente concebi do por Ri cardo e i ntei ramente expl i -
cado por J. S. Mi l l .
Mas, embora no haja tal efei to di reto, pode acontecer que haja
um efei to i ndi reto por mei o da vari ao do grau de uti l i dade de di fe-
rentes arti gos. Quando se pode produzi r mai or quanti dade de cada
bem, no provvel que o aumento seja desejado de forma i gual em
todos os ramos do consumo. Da segue que o grau de uti l i dade cai r
mai s em al guns casos do que em outros. Deve ocorrer uma al terao
das rel aes de troca, e a produo dos bens menos desejados no se
ampl i ar tanto quanto no caso dos bens mai s necessi tados. Em tai s
casos, podemos descobri r novas provas de que o val or no depende do
trabal ho, mas do grau de uti l i dade.
Tambm evi dente que as naes que possuem capaci dades de
produo exatamente anl ogas no podem ti rar provei to do comrci o
mtuo, e conseqentemente no tero tal comrci o, mesmo estando
l i vres de restri es arti fi ci ai s. Chegaremos a esse resul tado da segui nte
forma: Tomando, como antes,
1
,
2
, como as taxas fi nai s de produti -
vi dade
139
em um pa s, e
1
,
2
, como em um segundo, ento, se as
condi es de produo forem exatamente semel hantes, temos
1
=
1
Mas quando um pa s no comerci a nada, seu trabal ho e seu consumo
se di stri buem de acordo com a condi o
x
y
=
1
OS ECONOMISTAS
160
139 Ou mel hor, produtividade final, ou taxas de produo, para ser coerente com a nomencl atura
adotada na p. 155. [Ed.]
Ora, dessas equaes, segue necessari amente que
x
y
=
1
;
ou seja, a produo e o consumo j se ajustam s condi es de produo
do segundo pa s, e no sofrero nenhuma al terao quando for poss vel
o comrci o com esse pa s.
Essa a teori a geral mente exposta nas obras de Economi a Po-
l ti ca, e para el a exi stem bons fundamentos. Porm, no acho que a
afi rmati va se manter verdadei ra se as condi es de consumo forem
mui to di ferentes nos doi s pa ses. Poderi a haver doi s pa ses exatamente
semel hantes com rel ao s suas capaci dades de produzi r carne e tri go,
e se seus hbi tos de consumo fossem tambm exatamente semel hantes,
no haveri a nenhum comrci o desses arti gos. Suponhamos, porm, que
o pri mei ro pa s consome proporci onal mente mai s carne, e o segundo
mai s tri go; ento, se no houvesse comrci o, as capaci dades do sol o
seri am sobrecarregadas de manei ra di ferente, e i ri am preval ecer re-
l aes de troca di ferentes. A l i berdade de comrci o causari a uma troca
de tri go por carne. Da concl uo que apenas quando so semel hantes
os hbi tos de consumo, assi m como os de produo, que o comrci o
no traz nenhuma vantagem.
O efei to geral do comrci o exteri or transformar, para o benef ci o
do pa s, a manei ra pel a qual el e di stri bui seu trabal ho. Abstrai ndo-se
o custo de transporte e outras despesas do comrci o, ser sempre ver-
dadei ro que
1
=
y
1
x
1
=
1
.
Ento, se
2
era i ni ci al mente menor em proporo a
1
do que de
acordo com essas equaes, certa poro de trabal ho ser transferi da
da produo de y para a de x, at que se estabel ea a i gual dade por
mei o do aumento da magni tude de
2
e da di mi nui o de
1
.
Da mesma forma que na teori a da troca, tambm na teori a da
produo pode no se veri fi car qual quer uma das equaes, sendo o
si gni fi cado de tal fato pass vel de i nterpretao. Assi m, se a equao
1
=
y
1
x
1
no puder ser determi nada, ser i mposs vel que a produo de ambas
as mercadori as, y e x, possa conti nuar. Uma del as ser produzi da com
um gasto de trabal ho conti nuamente fora de proporo com aquel e
pel o qual a mercadori a poderi a ser obti da por troca. Se no pudssemos,
por exempl o, i mportar l aranjas, provavel mente parte do trabal ho do
J EVONS
161
pa s seri a desvi ada de seu emprego atual para cul ti v-l as; o custo de
produo, porm, estari a sempre aci ma do custo de obt-l as i ndi reta-
mente pel a troca, de modo que o l i vre-comrci o necessari amente el i mi na
tal ramo de ati vi dade anti econmi ca. Com base nesse pri nc pi o i mpor-
tamos do exteri or todo o nosso vi nho, ch, acar, caf, especi ari as e
mui tos outros arti gos.
A rel ao de troca de doi s bens quai squer ser determi nada por
uma espci e de l uta entre as condi es de consumo e produo; porm,
aqui tambm pode ocorrer que as equaes no se veri fi quem. Nas
equaes fundamentai s
(x + x
1
)
(y y
1
)
=
1
=
y
1
x
1
,
2
expressa a faci l i dade com que podemos fazer acrsci mos a y. Se
encontrarmos qual quer mei o, pel a maqui nari a ou outra manei ra, de
aumentar y sem l i mi te, com a mesma faci l i dade de antes, deveremos,
com toda a probabi l i dade, al terar a rel ao de troca
y
1
x
1
em grau cor-
respondente. Mas se pudssemos i magi nar a exi stnci a de uma vasta
popul ao, ao al cance do pa s suposto, cujo desejo de consumi r a quan-
ti dade y no di mi nu sse nunca, por mai or que fosse a quanti dade di s-
pon vel , ento nunca ter amos
y
1
x
1
i gual
1
e os produtores de y teri am
grandes l ucros dessa natureza.
Produo conjunta
Em um dos cap tulos mais interessantes de seu Princpios de Eco-
nomia Poltica (Li vro Tercei ro. Cap tul o XVI ), John Stuart Mi l l trata do
que el e chama Al guns Casos Parti cul ares do Val or. El e se refere sob
esse t tul o quel es bens que no so produzi dos por processos separados,
mas so frutos si mul tneos ou conjuntos das mesmas operaes.
Acontece s vezes, di z el e, que duas mercadori as di ferentes
possuem o que pode ser chamado de custo de produo conjunto.
El as so ambas produtos da mesma operao, ou conjunto de
operaes, e a despesa ocorre por causa de ambas as mercadori as
conjuntamente, e no parte por uma e parte por outra. Seri a
preci so i ncorrer na mesma despesa para qual quer das duas mer-
cadori as, mesmo se a outra no fosse desejada ou no ti vesse
nenhum uso. No so poucos os exempl os de mercadori as asso-
ci adas dessa manei ra em sua produo. Por exempl o, o coque e
o gs de carvo so ambos produzi dos do mesmo materi al e pel a
mesma operao. Num senti do mai s parci al , so tambm exem-
pl os a carne de carnei ro e a l ; a carne de boi , o couro e o sebo;
OS ECONOMISTAS
162
os bezerros e os l ati c ni os; as gal i nhas e os ovos. O custo de
produo pode no ter nada a ver com a fi xao dos val ores das
mercadori as associ adas uma em rel ao outra. El e apenas de-
termi na o seu val or conjunto. (...) Fal ta um pri nc pi o para par-
ti l har as despesas de produo entre as duas.
El e prossegue expl i cando que uma vez que a regra do custo de produo
nos i nsufi ci ente, devemos retroceder para uma l ei do val or anteri or
ao custo de produo, e mai s fundamental , qual seja, a l ei da oferta
e procura.
Tal vez, em outra ocasi o, eu mostre mai s detal hadamente a fa-
l ci a conti da na i di a de Mi l l de que el e est retrocedendo a uma lei
do valor anterior, a l ei da oferta e procura, sendo que, ao i ntroduzi r
o pri nc pi o do custo de produo, el e jamai s dei xou as l ei s da oferta
e procura. O custo de produo apenas uma condi o que determi na
a oferta, e i nfl uenci a i ndi retamente os val ores.
Devo ressal tar novamente que esses casos de produo conjunta,
l onge de serem al guns casos parti cul ares, consti tuem a regra geral ,
qual di f ci l apontar quai squer excees di sti ntas ou i mportantes.
Todas as grandes mercadori as de consumo geral so em al guma pro-
poro produzi das juntamente com mercadori as de menor i mportnci a.
No caso do tri go, por exempl o, h a pal ha, o farel o e as di ferentes
qual i dades de fari nha, que so produtos das mesmas operaes. No
caso do al godo, h a semente, o l eo, a estopa, o refugo, al m do
prpri o al godo. Quando se prepara a cerveja, o bagao de cevada
geral mente al cana certo preo. As rvores derrubadas para madei ra
de construo fornecem no s esta, como os gal hos, a casca, as aparas,
as l ascas etc. No h dvi da de que os produtos secundri os freqen-
temente quase no possuem val or, como no caso das ci nzas, res duos
de al tos-fornos etc. Mas mesmo esses casos mostram mai s ai nda que
no o custo de produo que determi na os val ores, mas si m a procura
e oferta dos produtos.
A grande i mportnci a desses casos de produo conjunta torna
necessri o consi derarmos como el es podem se encai xar em nossa teori a.
Vamos supor que h doi s bens, X e Y, produzi dos por uma mesma
operao, sempre na mesma proporo; di gamos m de X para n de Y.
Pode parecer pri mei ra vi sta que essa rel ao corresponde rel ao
dos graus de produti vi dade, como foi mostrado al gumas pgi nas atrs,
e que podemos di zer
m
n
=
1
=
y
1
x
1
,
e assi m chegar concl uso de que as coi sas produzi das conjuntamente
seri am sempre trocadas na rel ao da produti vi dade. Mas i sso seri a
i ntei ramente fal so, porque aquela equao pode ser determinada apenas
J EVONS
163
quando h liberdade de produzir uma coisa ou outra, a cada emprego
de um novo acrsci mo de trabal ho. a l i berdade de vari ar as quan-
ti dades de cada uma que permi te produo se acomodar sua ne-
cessi dade, de modo que a rel ao dos graus de uti l i dade, dos graus de
produti vi dade e das quanti dades trocadas acabam se i gual ando. Nos
casos de produo conjunta, porm, no exi ste tal l i berdade; uma subs-
tnci a no pode ser fei ta sem que se produza determi nada proporo
fi xa da outra, que pode possui r pouca ou nenhuma uti l i dade.
Contudo, constatar-se- faci l mente que tai s casos se encai xam
em nossa teori a apenas agrupando-se conjuntamente as uti l i dades dos
acrsci mos dos produtos conjugados. Se no se pode produzi r dx sem dy,
sendo esses produtos do mesmo acrsci mo de trabal ho, dl, ento a rel ao
entre o produto e o trabal ho s poder ser expressa na forma de
dx + dy
dl
.
i mposs vel di vi di r o trabal ho e di zer que tal parte gasta para produzi r
X e tal parte para Y. Devemos, porm, esti mar separadamente as uti l i dades
de dx e dy, mul ti pl i cando-os pel os seus graus de uti l i dade
du
1
dx
e
du
2
dy
,
obtendo ento a taxa total de uti l i dade em rel ao ao trabal ho, que
du
1
dx
.
dx
dl
+
du
2
dy
dy
dl
.
evi dente que no surgi r nenhuma equao a parti r dessas condi es
de produo, de modo que a rel ao de troca de X e Y ser determi nada
apenas pel os graus de uti l i dade. Mas se compararmos X e Y com um
tercei ro bem Z, em rel ao sua produo, chegaremos equao
du
1
dx
.
dx
dl
+
du
2
dy
.
dy
dl
=
du
3
dz
.
dz
dl
E outras pal avras, o acrsci mo de uti l i dade obti do, desti nando-se um acrs-
ci mo de trabal ho para a produo de Z, deve i gual ar a soma dos acrsci mos
de uti l i dade que seri am obti dos se o mesmo acrsci mo de trabal ho fosse
apl i cado para a produo conjunta de X e Y. evi dente que a equao
aci ma consi derada i sol adamente no nos fornece nenhuma i nformao
sobre as rel aes exi stentes entre as quanti dades dx, dy e dz. Antes que
possamos obter quai squer rel aes de troca, deveremos ter al m di sso a
equao entre os graus de uti l i dade de X e Y, qual seja,
du
1
du
2
=
dy
dx
.
Contudo, vi a de regra, quai squer doi s processos de produo pro-
OS ECONOMISTAS
164
duzi ro ambos produtos conjuntos, de modo que a equao de produ-
ti vi dade tomar a forma de uma soma de acrsci mos de uti l i dade em
ambos os l ados, o que podemos representar conci samente assi m:
du
1
+ du
2
+ ... = du
n
+ du
n+1
+ ...
Tal equao torna-se ento uma espci e de equao de condi o, cuja
i nfl unci a pode ser mui to pequena com respei to rel ao de troca
entre doi s bens quai squer envol vi dos. E se em al guns casos os termos
de um l ado de uma equao desse ti po forem reduzi dos a um ou doi s,
tal se dar provavel mente porque os outros acrsci mos do produto so
quase ou compl etamente desti tu dos de uti l i dade. Como no caso das
ci nzas, aparas, serragem, guas de ti ngi mento, caul es de batata, farel os
etc, etc. quase todo processo de trabal ho produz refugos, cuja uti l i dade
zero ou quase i sso. Para escl arecer compl etamente o assunto, contudo,
dever amos admi ti r uti l i dades negati vas, como foi expl i cado em outro
l ugar, de modo que o acrsci mo de uti l i dade deri vado de qual quer
acrsci mo dl de trabal ho i ri a na verdade tomar a forma
du
1
du
2
du
3
...
Os refugos produzi dos pel os processos qu mi cos, por exempl o, te-
ro s vezes um val or pequeno; outras vezes ser di f ci l l i vrar-se del es
sem envenenar os ri os e dani fi car as propri edades vi zi nhas; nesse caso
el es so bens negati vos e aparecem com si nal negati vo nas equaes.
Superproduo
A teori a da di stri bui o do trabal ho nos torna capazes de com-
preender cl aramente o si gni fi cado da superproduo no comrci o. Os
pri mei ros autores econmi cos sempre ti veram medo de uma suposta
superabundncia, surgi da porque a capaci dade produti va supera as
necessi dades dos consumi dores, de modo que a i ndstri a i ri a parar, o
emprego cai r e todos menos os ri cos i ri am defi nhar por causa do excesso
de bens. A teori a evi dentemente absurda e se autocontradi z. Uma
vez que a aqui si o dos bens adequados o propsi to da ati vi dade
econmi ca do comrci o, quanto mai ores forem os supri mentos obti dos,
mai s perfei tamente estar a ati vi dade econmi ca preenchendo sua fi -
nal i dade. Causar uma superabundnci a uni versal seri a real i zar pl e-
namente a meta do economi sta, que a de maxi mi zar os produtos do
trabal ho. Porm, os supri mentos devem ser adequados ou seja, el es
devem ser proporci onai s s necessi dades da popul ao. No poss vel
uma superproduo em todos os ramos da produo ao mesmo tempo,
mas poss vel em al guns ramos em comparao a outros. Se, por erro
de previ so, emprega-se demasi ado trabal ho na produo de um bem,
por exempl o, arti gos de seda, nossa equao no se veri fi car. As pes-
soas fi caro mai s saci adas de arti gos de seda do que de arti gos de
J EVONS
165
al godo, l ou outros. Portanto, el as se recusaro a compr-l os pel as
rel aes de troca que correspondem ao trabal ho gasto. Logo, os pro-
dutores recebero em troca arti gos de menos uti l i dade do que os que
el es poderi am ter recebi do com mel hor di stri bui o de seu trabal ho.
Ao expandi r a produo, portanto, devemos ter cui dado em ex-
pandi -l a proporci onal mente a todas as demandas da popul ao. Quanto
mai s pudermos bai xar o grau de uti l i dade de todos os bens por mei o
da sati sfao dos desejos dos compradores, mel hor ser; devemos, po-
rm, bai xar os graus de uti l i dade de bens di ferentes de manei ra ade-
quada, de outro modo haver superabundnci a aparente e queda real
de trabal ho.
Limites da intensidade do trabalho
J menci onei (p. 146) que o trabal ho pode vari ar tanto em durao
quanto em i ntensi dade, porm ai nda no dedi quei mui ta ateno a
esse l ti mo pormenor. Podemos medi r aproxi madamente a i ntensi dade
do trabal ho pel a quanti dade de fora f si ca em certo tempo, embora o
el emento fundamental na Economi a seja o sofri mento resul tante desse
emprego de fora. Lei s i nteressantes foram ou podem ser descobertas,
l i gando a quanti dade de trabal ho executado com a i ntensi dade de tra-
bal ho. Mesmo onde essas l ei s no foram estabel eci das, uma l onga ex-
peri nci a l evou os homens, medi ante uma espci e de processo i ncons-
ci ente de experi mentao e raci oc ni o i nduti vo, a sel eci onar o ri tmo
de trabal ho que fosse mai s vantajoso.
Tomemos um ti po si mpl es de trabal ho, como cavar. Pode-se fazer
uma p de qual quer tamanho, e se o nmero de gol pes por hora for
o mesmo, o esforo necessri o i r vari ar aproxi madamente com o cubo
do compri mento da p. Se a p for pequena, a fadi ga ser pouca, porm
o trabal ho executado tambm ser pouco. Por outro l ado, uma p mui to
grande real i zar grande quanti dade de trabal ho a cada gol pe, porm
a fadi ga ser to grande que o trabal hador no poder conti nuar por
mui to tempo seu trabal ho. De acordo com i sso, adota-se determi nada
p de tamanho mdi o, que no sobrecarrega o trabal hador i mpedi ndo-o
de fazer o trabal ho de um di a i ntei ro, e que permi te a el e real i zar
tanto trabal ho quanto poss vel . O tamanho de uma p deveri a depender
em parte da resi stnci a e do peso do materi al , e em parte da fora do
trabal hador. Pode-se observar que os operri os usam uma p pequena
e resi stente para cavar o barro duro; para tarefas comuns de jardi nagem
emprega-se uma p mai or; para remover arei a sol ta ou carvo usa-se
uma p de grande capaci dade; e para remover tri go, mal te ou qual quer
p l eve e sol to emprega-se um i nstrumento ai nda mai or.
Em mui tos casos de esforo muscul ar, o peso do corpo ou de
al gum membro de grande i mportnci a. Se se empregou um homem
para transportar uma ni ca carta, el e na real i dade desl oca, di gamos,
um peso de 160 l i bras, com o fi m de entregar uma carta pesando 1/2
OS ECONOMISTAS
166
ona. No haver aumento de trabal ho apreci vel se el e carregar vi nte
cartas, de modo que sua efi ci nci a ser mul ti pl i cada vi nte vezes. Cem
cartas seri am provavel mente um fardo l eve, mas ai nda haveri a enorme
ganho no trabal ho executado. bvi o que poder amos conti nuar car-
regando de cartas um cartei ro at que a fadi ga se tornasse excessi va;
o resul tado ti l mxi mo seri a obti do com a mai or carga que no fati -
gasse mui to o homem, e a experi nci a l ogo deci de o peso com consi -
dervel preci so.
Coul omb i nvesti gou a carga mai s adequada para um carregador
e descobri u que podi a ser real i zado mai s trabal ho por um homem su-
bi ndo escadas sem qual quer fardo, e l evantando sua carga por mei o
de seu prpri o peso na desci da. Um homem podi a dessa manei ra l e-
vantar em um di a quatro vezes mai s carga do que l evando mal as em
suas costas com a carga mai s conveni ente. Essa grande di ferena pro-
vm sem dvi da dos mscul os serem perfei tamente adaptados para
sustentar o corpo humano, enquanto um peso adi ci onal os submete a
tenso i rregul ar ou i ndevi da. Charl es Babbage, em seu admi rvel Eco-
nomy of Manufacturers, tambm observou esse tpi co, e ressal tou que
o peso de certos membros do corpo um el emento em todos os cl cul os
do trabal ho humano.
A fadi ga produzi da nos mscul os da consti tui o humana,
di z Babbage, no depende i ntei ramente da fora real empregada
em cada esforo, mas tambm em parte da freqnci a com que
exerci da. A ati vi dade necessri a para real i zar qual quer opera-
o consi ste em duas partes: uma del as o di spndi o de fora
necessri a para gui ar a ferramenta ou i nstrumento, e a outra
o esforo demandado pel o movi mento dos membros do ani mal
que produz a ao. Ao fi ncar um prego num pedao de madei ra,
uma dessas partes est segurando o martel o e impulsionando
sua cabea contra o prego, a outra est sustentando o prpri o
brao, e movendo-o de modo a usar o martel o. Se for consi dervel
o peso do martel o, a pri mei ra parte causar a mai or poro do
esforo. Se o martel o for l eve, o esforo de sustentar o brao pro-
duzi r a mai or parte da fadi ga. Portanto, ocorre assi m que ope-
raes que exi gem esforo mui to i nsi gni fi cante, se repeti das com
freqnci a, cansaro mai s profundamente do que um trabal ho
mai s penoso. Exi ste al m di sso um grau de rapi dez al m do qual
no se pode forar a ao dos mscul os.
140
Al gum tempo depoi s di sso, ocorreu-me ser este um assunto que
dava margem a uma i nteressante i nvesti gao, e tentei determi nar,
por vri as sri es de experi mentos, a rel ao entre a quanti dade de
J EVONS
167
140 BABBAGE. On the Economy of Machinery and Manufactures. Seo 32, p. 30.
trabal ho executado por certos mscul os e o ri tmo da fadi ga. Uma das
sri es consi sti a em segurar pesos vari ando de 1 at 18 l i bras na mo
enquanto o brao fi cava compl etamente esti cado. Os testes eram em
nmero de 238 e real i zados a i nterval os de no m ni mo uma hora, de
modo que a fadi ga de um teste no perturbasse o segui nte. Veri fi cou-se
que o nmero mdi o de segundos durante os quai s cada peso podi a
ser sustentado era o segui nte:
Peso em l i bras . . . . . . . . . 18 14 10 7 4 2 1
Tempo em segundos . . . . 15 32 60 87 148 219 321.
Se o brao fosse empregado dessa forma em qual quer ti po de trabal ho
ti l , dever amos esti mar o efei to ti l medi ndo o produto do peso suportado
e o tempo. O resul tado seri a o segui nte, em l i bras-segundos:
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 14 10 7 4 2 1
Efei to ti l . . . . . . . . . . . . . 266 455 603 612 592 438 321.
O mxi mo de efei to ti l se mostrari a aqui como sendo cerca de
7 l i bras, que aproxi madamente o peso em geral escol hi do para hal teres
e outros i nstrumentos de gi nsti ca. Detal hes das outras sri es de ex-
peri mentos esto descri tos num arti go em Nature (30 de junho de 1870,
v. I I , p. 158).
Real i zei essas experi nci as como uma si mpl es i l ustrao do modo
pel o qual podem ser determi nadas al gumas das l ei s que formam a
base f si ca da Economi a. Eu no ti nha conheci mento de que o Prof. S.
Haughton j ti nha, por mei o de experi nci as, chegado a uma teori a
da ao muscul ar, comuni cada Royal Soci ety em 1862. Fi quei sati s-
fei to em descobri r que mi nhas concl uses compl etamente i ndependen-
tes revel aram estar em notvel concordnci a com seus pri nc pi os, como
foi ressal tado pel o Prof. Haughton em doi s arti gos em Nature.
141
No tenho conheci mento de nenhuma experi nci a exata real i zada
sobre o ato de cami nhar ou marchar, porm, como me assegurou o
Prof. Haughton, el as podem faci l mente ser executadas nas movi men-
taes de um exrci to. Seri a necessri o apenas regi strar, em cada mar-
cha empreendi da at os l i mi tes da resi stnci a, o tempo e a di stnci a
percorri da. Se ti vssemos a fi xao das rel aes exatas de tempo, espao
e fadi ga, provavel mente seri a poss vel resol ver mui tos probl emas i n-
teressantes. Por exempl o, se uma pessoa preci sa al canar outra, quai s
deveri am ser suas vel oci dades rel ati vas de andar? Assumi ndo que a
OS ECONOMISTAS
168
141 V. I I , p. 324; v. I I I , p. 289. Ver tambm HAUGHTON. Principles of Animal Mechanics.
1873, p. 444-450. Desde ento, o assunto vem sendo desenvol vi do com mui ta ateno pel o
Prof. Franci s E. Ni pher, da Uni versi dade de Washi ngton, St. Loui s, Mi ssouri , EUA. En-
contram-se detal hes de suas experi nci as no American J ournal of Science. v. I X, p. 130-137;
v. X etc., Nature. v. XI , p. 256-276 etc.
fadi ga aumenta com o quadrado da vel oci dade mul ti pl i cada pel o tempo,
obtemos faci l mente uma sol uo exata, que mostra que a fadi ga total
ser m ni ma quando uma pessoa anda duas vezes mai s rpi do do que
aquel a que el a deseja al canar.
Encontraremos probl emas di ferentes para resol ver nos di ferentes
casos de esforo muscul ar. A vel oci dade mai s vantajosa de marcha
depender mui to de se consi derar mai s i mportante a perda de tempo
ou a fadi ga. Marchar vel oci dade de 4 mi l has por hora l ogo causari a
enorme fadi ga, e s se poderi a recorrer a el a em ci rcunstnci as de
mui ta urgnci a. A di stnci a percorri da apresentari a uma rel ao mui to
mai s al ta com a fadi ga na vel oci dade de 2, ou mesmo de 2 1/2 mi l has
por hora. Porm, se a vel oci dade fosse di mi nu da ai nda mai s, surgi ri a
novamente uma perda de fora, poi s parte del a seri a gasta apenas
para sustentar o corpo, di sti nta daquel a que o move para frente.
A economi a do trabal ho l i dar constantemente com questes desse
ti po. Quando for preci so termi nar um trabal ho num pequeno per odo
de tempo, os trabal hadores podem ser compel i dos por uma recompensa
extraordi nri a a fazerem mui to mai s do que a sua quanti dade de tra-
bal ho usual , porm esse ri tmo to el evado no seri a l ucrati vo em outras
ci rcunstnci as. A fadi ga sempre aumenta rapi damente quando a ve-
l oci dade do trabal ho passa de certo ponto, de modo que o resul tado
extra , na real i dade, mui to mai s custoso. Num emprego regul ar e
constante, os mai ores resul tados sempre sero obti dos por um ri tmo
que permi ta a um trabal hador recuperar toda a fadi ga a cada di a, ou
no mxi mo a cada semana, e recomear com uma reserva de energi a
i nal terada.
J EVONS
169
CAPTULO VI
Teoria da Renda da Terra
Opinies acatadas a respeito da renda da terra
H grande probabi l i dade de correo geral das concepes expos-
tas nos cap tul os precedentes devi do sua grande semel hana com a
teori a da renda da terra, como esta tem si do acatada pel os autores
i ngl eses por quase um scul o. No procedi mento usual expressar
essa teori a em s mbol os matemti cos, empregando-se, ao i nvs, exem-
pl os ari tmti cos i nadequados; porm fci l mostrar que o cl cul o di -
ferenci al o ramo da Matemti ca que se apl i ca com mai s propri edade
ao tema.
A teori a da renda da terra foi i ni ci al mente descoberta e formul ada
com cl areza por James Anderson, num opscul o publ i cado em 1777, e
inti tulado An Inquiry into the Nature of the Corn Laws, with a View to
the Corn Bill Proposed for Scotland. Um resumo dessa obra pode ser
encontrado na edi o de McCul l och de Wealth of Nations, p. 453, forne-
cendo uma expl i cao mui to cl ara do efei to da ferti l i dade vari ada da terra,
e mostrando que no a renda da terra que determi na o preo de seu
produto, e si m o preo do produto que determi na a renda da terra. A
passagem segui nte ser ci tada nas prpri as pal avras de Anderson:
142
(...) Em todo pa s exi ste uma vari edade de sol os, que di ferem
consi deravel mente entre si no aspecto da ferti l i dade. I remos su-
por, no momento, que el es esto arrumados em cl asses di ferentes,
que desi gnaremos pel as l etras A, B, C, D, E, F etc., compreen-
dendo a cl asse A os sol os de ferti l i dade mxi ma, e as outras
l etras, di ferentes categori as de sol os, decrescendo gradual mente
de ferti l i dade medi da que voc se afasta da pri mei ra. Ora,
como a despesa de cul ti var o sol o menos frti l to grande ou
171
142 I nquiry etc. p. 45, nota.
mai or que a do terreno mai s frti l , segue necessari amente que,
se uma quanti dade i gual de tri go, produto de cada terreno, pode
ser vendi da ao mesmo preo, o l ucro de cul ti var o sol o mai s frti l
deve ser mui to mai or que o do cul ti vo dos outros; e como esse
l ucro conti nua a di mi nui r medi da que aumenta a esteri l i dade,
deve fi nal mente ocorrer que a despesa de cul ti vo de al guns sol os
i nferi ores ser i gual ao val or de toda a produo.
A teori a se basei a de fato no pri nc pi o, que chamei de l ei da i ndi -
ferena, de que s pode haver um preo ou rel ao de troca para o mesmo
bem no mesmo mercado. Portanto se di ferentes qual i dades de terra rendem
quanti dades di ferentes de produto para o mesmo trabal ho, deve haver
um excesso de l ucro umas em rel ao s outras. Haver algumas terras
que no rendero os sal ri os comuns do trabal ho, e que, portanto, no
sero cul ti vadas, ou, se forem cul ti vadas por engano, sero abandonadas.
Al gumas terras apenas pagaro os sal ri os normai s; as terras mel hores
produzi ro um excesso, de modo que a posse de tai s terras se tornar
objeto de competi o, e o propri etri o ter condi es de exi gi r como renda
dos agri cul tores todo o excesso aci ma do que sufi ci ente para pagar os
sal ri os normai s do trabal ho.
Exi ste, na verdade, uma ori gem secundri a da renda, a saber,
se mai s ou menos trabal ho e capi tal forem apl i cados mesma poro
de terra, o produto no aumentar em proporo quanti dade de tra-
bal ho. prati camente i mposs vel que possamos conti nuar a aumentar
i l i mi tadamente a produo de uma propri edade rural , do contrri o po-
der amos al i mentar todo o pa s com uma ni ca propri edade. Contudo,
no exi ste um l i mi te preci so, poi s parece que, por mei o de cul ti vo cada
vez mel hor, podemos col her um pouco mai s. Porm, o l ti mo acrsci mo
do produto acabar por apresentar uma proporo cada vez menor em
rel ao ao trabal ho necessri o para produzi -l o, de modo que l ogo se
torne i ndesejvel empregar mai s trabal ho no caso de todas as terras.
McCul l och apresentou uma nota supl ementar em sua edi o de
Wealth of Nations,
143
na qual el e expl i ca, com a mxi ma cl areza e
preci so ci ent fi ca, a natureza da teori a. Essa nota, ao que me parece,
contm de l onge a mel hor exposi o da teori a, e ci tarei , portanto, a
recapi tul ao que el e fez dos pri nc pi os que estabel eceu.
1) Que, se o produto da terra pudesse sempre ser aumentado
proporci onal mente despesa fei ta com el e, uma coi sa como a
renda da terra no exi sti ri a.
2) Que o produto da terra no pode, em mdi a, ser aumentado
OS ECONOMISTAS
172
143 Nova edi o, 1839, p. 444.
proporci onal mente despesa, porm pode ser aumentado i nde-
fi ni damente numa proporo menor.
3) Que a poro menos produti va da despesa, que a l ti ma,
fal ando de modo geral , deve render os l ucros normai s do capi tal . E
4) Que tudo aqui l o que as outras pores renderem a mai s
do que i sso, estando aci ma dos l ucros normai s, renda da terra.
Encontra-se tambm uma expl i cao mui to sati sfatri a da teori a
nos Elements of Political Economy de James Mi l l , uma obra que nunca
l ei o sem admi rar seu esti l o forte, cl aro e conci so. James Mi l l usa cons-
tantemente a expresso dose de capital.
Chegar o tempo, di z el e, em que ser necessri o recorrer
terra de segunda qual i dade, ou apl i car menos produti vamente
uma segunda dose de capi tal sobre terra de pri mei ra qual i dade.
Evi dentemente, por uma dose de capital el e quer di zer um pouco
mai s de capi tal , e, embora o nome seja engraado, si gni fi ca si mpl es-
mente um acrscimo de capital. O nmero de doses ou acrsci mos
menci onados apenas trs, mas i sso fei to com o cl aro propsi to de
evi tar al ongar a expl i cao. No h razo pel a qual no possamos
consi derar todo o capi tal di vi di do em mui to mai s doses. A mesma l ei
geral que faz a segunda dose menos produti va que a pri mei ra far a
centsi ma dose, por exempl o, menos produti va que a nonagsi ma nona.
Teori camente, no h necessi dade ou possi bi l i dade de se deter em ne-
nhum l i mi te. Uma l ei matemti ca sempre cont nua em teori a, de
modo que as doses consi deradas so i ndefi ni damente pequenas e i n-
defi ni damente numerosas. Consi dere, portanto, que o modo de expres-
so de James Mi l l exatamente equi val ente ao que adotei nas pri mei ras
partes deste l i vro. Como os matemti cos i nventaram um modo preci so
e i ntei ramente acei to de expressar doses ou acrscimos, no sei por
que dever amos excl ui r da Economi a uma l i nguagem consi derada con-
veni ente por todas as outras ci nci as. puro pedanti smo i nsi sti r em
chamar de dose em Economi a aqui l o que em todas outras ci nci as
chamado pel o termo, i ntei ramente reconheci do e expressi vo, acrscimo.
O que segue so as concl uses gerai s de James Mi l l quanto
natureza da renda da terra.
144
Ao se apl i car capi tal , em terras de di versos graus de ferti l i -
dade ou em doses sucessi vas mesma terra, al gumas partes do
capi tal assi m empregado so recompensadas com um produto
mai or, outras, com um menor. A que rende menos, rende tudo
que necessri o para reembol sar e recompensar o capi tal i sta. O
capi tal i sta no i r receber mai s do que essa remunerao por
J EVONS
173
144 Elements. p. 17.
qual quer parte do capi tal que el e emprega, porque a competi o
dos outros evi tar que el e o faa. O propri etri o das terras poder
se apropri ar de tudo que produzi do aci ma dessa remunerao.
A renda da terra, portanto, a di ferena entre o rendi mento
obti do pel a poro do capi tal empregada com menor resul tado
na terra, e o que obti do por todas as outras pores empregadas
nel a com mai or resul tado.
Representao simblica da teoria
A teori a acei ta da renda da terra, como foi apresentada aci ma,
preci sa de pouca ou nenhuma al terao para se ajustar expresso
em s mbol os matemti cos. Substi tui rei as doses ou acrsci mos de ca-
pi tal por acrsci mos de trabal ho, em parte porque as funes do capi tal
s sero consi deradas no prxi mo cap tul o, e em parte porque James
Mi l l , J. S. Mi l l e McCul l och consi deram a apl i cao de capi tal si nni mo
de apl i cao de trabal ho. Essa suposi o sugeri da pel a afi rmao de
James Mi l l ; expressa cl aramente em First Fundamental Proposition
Concerning the Nature of Capital
145
de J. S. Mi l l ; e McCul l och acres-
centa uma nota de rodap
146
para escl arecer que, uma vez que todo
capi tal foi ori gi nal mente produzi do pel o trabal ho, a apl i cao de capi tal
adi ci onal apl i cao de trabal ho adi ci onal . Tanto uma frase como a
outra podem ser usadas i ndi scri mi nadamente. Essa teori a em si
mesma total mente errnea, mas no ser errado admi ti r, como uma
forma de si mpl i fi car o probl ema, que os acrsci mos de trabal ho apl i -
cados so i gual mente assi sti dos pel o capi tal . Determi nar como apare-
cem a renda da terra ou os juros quando o mesmo trabal ho secundado
por quanti dades di versas de capi tal um probl ema posteri or e di ferente.
Suporei que certo trabal hador, ou, o que d exatamente no mesmo,
um grupo de trabal hadores, apl i ca trabal ho em vri as reas di ferentes
de sol o. De acordo com que pri nc pi o el es i ro di stri bui r seu trabal ho
entre as di versas reas? Vamos i magi nar que certa quanti dade de tra-
bal ho j foi empregada em cada uma, e que outra pequena poro, l,
vai ser apl i cada. Suponhamos que exi stam duas reas de terra, e sejam
x
1
e x
2
os acrsci mos de produto respecti vamente esperados das reas.
I ro natural mente apl i car o trabal ho na terra que produz o mel hor
resul tado. Enquanto houver al guma vantagem em um uso do trabal ho
sobre outro, com certeza ser adotado o uso mai s vantajoso. Portanto,
quando esti verem perfei tamente sati sfei tos com a di stri bui o fei ta, o
acrsci mo do produto em rel ao ao mesmo trabal ho ser i gual em
cada caso; ou temos
x
1
= x
2
.
OS ECONOMISTAS
174
145 Li vro Pri mei ro. Cap. V, seo 1.
146 Wealth of Nations. p. 445.
Para obter preci so ci ent fi ca, devemos di mi nui r os acrsci mos i nfi ni -
tamente, e ento obtemos a equao:
dx
1
dl
=
dx
2
dl
.
Ora,
dx
dl
representa a proporo do produto, ou a produti vi dade do
trabal ho, com rel ao ao l ti mo acrsci mo de trabal ho apl i cado. Ento
podemos di zer que sempre que um trabal hador ou grupo de trabal ha-
dores di stri buem seu trabal ho pel as reas de terra com perfei ta orga-
ni zao, as propores finais de produto por trabalho sero iguais.
Podemos agora l evar em conta a l ei geral de que, quanto mai s
e mai s trabal ho apl i cado mesma rea de terra, o produto acaba
fi nal mente no aumentando em proporo ao trabal ho. I sso si gni fi ca
que a funo
dx
dl
di mi nui sem l i mi te em di reo a zero depoi s que x ul trapassou certa
quanti dade. O produto total de uma rea de terra x, o trabal ho gasto
nel e l; e x vari a de al gum modo quando l vari a, nunca di mi nui ndo
quando l aumenta. Podemos di zer ento que x uma funo de l;
vamos cham-l a de Pl. Quando se emprega um pouco mai s de trabal ho,
o acrsci mo de produto dx dPl, e
dPl
dl
a taxa fi nal de produo, a
mesma que antes foi representada por
dx
dl
.
147
Mostrou-se na teori a do trabal ho que nenhum acrsci mo de tra-
bal ho seri a empregado a menos que houvesse recompensa sufi ci ente
no produto, mas que o trabal ho seri a apl i cado at o ponto em que o
acrsci mo de uti l i dade i gual a exatamente o acrsci mo de sofri mento
i ncorri do para adqui ri -l o. Encontramos aqui uma defi ni o exata da
quanti dade de trabal ho que ser apl i cada provei tosamente.
Foi vi sto tambm que o l ti mo acrsci mo de trabal ho o mai s
penoso, de modo que, se uma pessoa recompensada com a taxa de
produo
dx
dl
pel o l ti mo acrsci mo de trabal ho que el a apl i ca terra,
da segue que todo o trabal ho que el a apl i ca pode ser recompensado
sufi ci entemente pel a mesma taxa. O trabal ho total l, de modo que,
J EVONS
175
147 A taxa fi nal de produo atual mente conheci da por produti vi dade margi nal , ou produti -
vi dade. [Ed.]
se a recompensa fosse i gual para todo el e, o resul tado seri a l
.
dx
dl
.
Conseqentemente, el a obtm mai s do que o rendi mento necessri o
ao trabal ho na quanti a de
Pl l
.
dx
dl
;
ou, como podemos escrever,
Pl l
.
Pl,
onde Pl a deri vada de Pl, ou a taxa fi nal de produo. Essa expresso
representa a vantagem que a pessoa obtm da posse da terra por pro-
porci onar-l he mai s benef ci o do que outros mtodos de empregar seu tra-
bal ho. I sso portanto, a renda que el a i ri a pedi r antes de entregar a
terra para outra pessoa, ou, do mesmo modo, a renda que el a poderi a e
estari a di sposta a pagar se fosse arrendar a terra de outra pessoa.
As mesmas consi deraes se apl i cam a qual quer rea de terra cul -
ti vada. Quando a mesma pessoa ou grupo de trabal hadores cul ti vam vri as
reas, Pl ter a mesma magni tude em cada caso, porm as quanti dades
de trabal ho, e possi vel mente as funes do trabal ho, sero di ferentes.
Assi m, com duas reas de terra a renda pode ser representada como
P
1
l
1
+ P
2
l
2
(l
1
+ l
2
) P
1
l
1
;
ou, fal ando de modo geral de qual quer nmero de partes de terra,
a soma das quanti dades da forma Pl, menos a soma das quanti dades
da forma l
.
Pl.
Exemplificao da teoria
mui to fci l i l ustrar a teori a da renda da terra medi ante di a-
gramas. Portanto, as quanti dades de trabal ho sero representadas pe-
l as di stnci as ao l ongo da l i nha ox, e a curva apc representar a vari ao
da taxa de produo, de modo que a rea
Figura 10
OS ECONOMISTAS
176
da curva ser a medi da do produto. Assi m, quando o trabal ho ti ver
si do apl i cado na quanti dade om, o produto corresponder rea apmo.
Seja apl i cado um pequeno acrsci mo de trabal ho mm e suponha-se a
taxa de produo i gual em toda a extenso do acrsci mo. Ento o
pequeno paral el ogramo ppmm ser o produto. El e ser proporci onal
em quanti dade a pm, de modo que a al tura de qual quer ponto da
curva perpendi cul armente aci ma de um ponto da l i nha ox representa
a taxa de produo naquel e ponto da apl i cao de trabal ho.
Se supursemos, al m di sso, que o trabal hador consi dera seu tra-
bal ho mm recompensado pel o produto pm, no h razo por que qual -
quer outra parte de seu trabal ho no deva ser i ndeni zada pel a mesma
taxa. Desenhando-se ento uma l i nha hori zontal rpq, atravs do ponto
p, seu trabal ho total , om, ser recompensado pel o produto representado
pel a rea orpm. Conseqentemente, a rea que sobra aci ma, rap, o
excesso do produto que pode ser exi gi do do trabal hador como renda,
se no for el e mesmo o propri etri o da terra.
I magi nando que a mesma pessoa cul ti va outra rea de terra,
podemos tomar a curva bqc para representar a produti vi dade del a.
Como no outro caso, a mesma taxa de produo recompensar o tra-
bal hador nesse caso, de modo que a i nterseo da mesma l i nha hori -
zontal rpq com a curva determi nar o ponto fi nal do trabal ho, n. A
rea rn ser a medi da da recompensa sufi ci ente ao trabal ho total , on,
gasto na terra, e o excesso de produto, ou renda, ser a rea rbq. Do
mesmo modo, pode-se consi derar qual quer nmero de reas de terra.
O grfi co poderi a ter si do traado de modo que as curvas se el evassem
quando se afastassem da l i nha i ni ci al oy, i ndi cando que mui to pouco
trabal ho ter bai xa taxa de produo; e que necessri a certa quan-
ti dade de trabal ho para desenvol ver a ferti l i dade do sol o. Tal fre-
qentemente, ou sempre, o caso, j que em geral se requer uma quan-
ti dade consi dervel de trabal ho para pri mei ro transformar a terra em
cul ti vo, ou apenas mant-l a num estado adequado para o uso. As l ei s
da renda dependem do pri nc pi o i ncontestvel de que as curvas sempre
decl i nam finalmente em di reo ao ei xo ox, ou seja, que a taxa fi nal
de produo decl i na finalmente em di reo a zero.
J EVONS
177
CAPTULO VII
Teoria do Capital
A funo do capital
Ao consi derar a natureza e os pri nc pi os do capi tal , i ngressamos
num ramo di sti nto de nosso tema. No h nenhuma rel ao estrei ta
ou necessri a entre o emprego de capi tal e os processos de troca. Tanto
o uso do capi tal como a troca nos permi tem aumentar l argamente o
montante de uti l i dade que desfrutamos; conceb vel , porm, que pos-
samos ter as vantagens do capi tal sem as da troca. Um homem i sol ado
como Al exander Sel ki rk
148
podi a senti r a vantagem de um estoque de
provi ses, ferramentas e outros mei os de auxi l i ar suas ati vi dades, em-
bora esti vesse i sol ado do comrci o com outros homens. A Economi a,
portanto, no apenas a ci nci a da troca ou do val or, el a tambm
a ci nci a da capi tal i zao.
As concepes que procurarei el aborar sobre esse tema esto fun-
damental mente de acordo com as adotadas por Ri cardo; tentarei , porm,
expor a teori a do capi tal de manei ra mai s si mpl es e coerente do que
o fi zeram al guns economi stas recentes. Di zem-nos, com exati do, que
o capi tal consi ste na ri queza empregada para faci l i tar a produo, mas
quando passam a enumerar os arti gos da ri queza que consti tuem o
capi tal , tornam o assunto confuso.
O capi tal de um pa s, di z MacCul l och,
149
consi ste nas partes
do produto da ati vi dade exi stente nel e que podem ser empregadas
di retamente para sustentar seres humanos, ou para faci l i tar a
produo.
O Prof. Fawcett tambm di z:
150
179
148 Nufrago cuja aventura real i nspi rou a hi stri a de Robi nson Crusoe. (N. do T.)
149 Principles of Political Economy. p. 100.
150 Manual of Political Economy. 2 ed., p. 47.
O capi tal no se restri nge comi da que al i menta os traba-
l hadores, i ncl ui tambm as mqui nas, edi f ci os e na verdade todo
produto devi do ao trabal ho do homem que pode ser empregado
para ajudar sua ati vi dade; porm o capi tal que est sob a forma
de comi da no exerce suas funes do mesmo modo que o capi tal
que est sob a forma de maqui nari a: um chamado capi tal ci r-
cul ante, o outro, capi tal fi xo.
A noo de capi tal assume novo grau de si mpl i ci dade to l ogo re-
conheamos que o que foi chamado de parte na verdade o todo. O
capi tal , como eu o concebo, consi ste apenas no conjunto daqueles bens
que so necessrios para sustentar os trabalhadores de qualquer tipo ou
classe ocupados no trabalho. Um estoque de comi da o el emento pri nci pal
do capi tal , mas supri mentos de roupas, mob l i a e todos os outros arti gos
de uso di ri o so tambm partes necessri as do capi tal . Os meios correntes
de sustento constituem o capital na sua forma livre ou no investida. A
funo ni ca e fundamental do capi tal possi bi l i tar ao trabal hador esperar
o resul tado de qual quer trabal ho de l onga durao estabel ecer um
i nterval o entre o i n ci o e o fi m de um empreendi mento.
Podemos, devi do grande ajuda do capi tal , no s construi r obras
de porte que de outro modo seri am i mposs vei s como tambm faci l i tar
mui to mai s a produo de arti gos que seri am mui to di spendi osos em
trabal ho. O capi tal nos permi te fazer grande despesa com o abasteci -
mento de ferramentas, mqui nas ou outras obras prel i mi nares, que
tm como objeti vo ni co a produo de al gum bem i mportante, e que
i ro faci l i tar mui to a produo quando a i ni ci armos.
O capital se relaciona ao tempo
Vri os economi stas perceberam cl aramente que o tempo que
transcorre entre o i n ci o e o fi m de uma obra a di fi cul dade que o
capi tal nos ajuda a superar. Di sse assi m James Mi l l :
Se o homem que subsi ste base de ani mai s no pode garanti r
sua caa em menos de um di a, no pode ter menos do que a
subsi stnci a de um di a i ntei ro anteci padamente. Se so empreen-
di das vi agens de caa que duram uma semana ou um ms, pode
tornar-se necessri o o sustento para vri os di as. evi dente que,
quando os homens passam a vi ver daquel es produtos que seu
trabal ho faz crescer do sol o e que s amadurecem apenas uma
vez por ano, preci so reservar anteci padamente sustento para
um ano i ntei ro.
151
OS ECONOMISTAS
180
151 Elements of Political Economy. 3 ed., 1826. p. 9.
Recentemente, o Prof. Hearn di sse, em sua obra admi rvel , i n-
ti tul ada Plutology:
152
O pri mei ro e mai s bvi o modo com que o capi tal opera di re-
tamente como auxi l i ar da ati vi dade econmi ca tornando poss vel
a real i zao de trabal ho que demanda tempo consi dervel para
sua concl uso. Nas ati vi dades agr col as mai s si mpl es, h o tempo
de semeadura e col hei ta. Um vi nhedo i mproduti vo pel o menos
durante trs anos at que esteja i ntei ramente adequado para o
uso. Em mi nas de ouro h com freqnci a l onga demora, s vezes
de at ci nco ou sei s anos, antes que se al cance o ouro. Tai s mi nas
no poderi am ser expl oradas por homens pobres, a menos que
os comerci antes concedessem crdi to aos mi nei ros, ou, em outras
pal avras, fornecessem o capi tal para a aventura. Al m dessa i m-
portante conseqnci a o capi tal acarreta outras que no so me-
nos i mportantes. Uma del as a estabi l i dade e a conti nui dade
que, desse modo, o trabal ho adqui re. Quando um homem aju-
dado pel o capi tal , tem recursos para permanecer na sua tarefa
at termi n-l a, e no forado a abandon-l a i ncompl eta en-
quanto vai em busca dos mei os necessri os de subsi stnci a. Se
no houvesse uma reserva acumul ada com a qual o trabal hador
pudesse contar, nenhum homem poderi a permanecer por um ni -
co di a excl usi vamente ocupado em qual quer outro afazer que no
fosse rel aci onado com o supri mento de suas necessi dades bsi cas.
Fora essas necessi dades, el e deveri a tambm procurar de tempos
em tempos os materi ai s de que preci sa para seu trabal ho.
Essas passagens mostram, ao que me parece, uma compreenso
cl ara da natureza e dos fi ns do capi tal , embora os autores no tenham
l evado at o fi m, com audci a sufi ci ente, as conseqnci as de seu ra-
ci oc ni o. Se formarmos uma i di a abrangente do tema, veremos que
no s o pri nci pal , mas tambm o ni co objeti vo do capi tal , o que
foi descri to aci ma. O capi tal si mpl esmente nos permi te despender tra-
balho com antecipao. Dessa forma, para cul ti var tri go, preci samos
revol ver a superf ci e do sol o. Se nos pusssemos a trabal har di reta-
mente, usando os i nstrumentos com que a Natureza nos dotou nossos
dedos , i r amos gastar enorme quanti dade de trabal ho penoso com
pouqu ssi mo resul tado. mui to mel hor, portanto, gastar a pri mei ra
parte do nosso trabal ho fazendo uma p ou outro i nstrumento que
auxi l i e o resto do nosso trabal ho. Essa p representa um tanto de
trabal ho que foi i nvesti do e, portanto, gasto; porm, se el a durar trs
anos, pode-se consi derar seu custo pago gradual mente durante esse
per odo. Esse trabal ho, como o de cavar, tem como objeti vo o cul ti vo
J EVONS
181
152 Plutology; or The Theory of the Efforts to Satisfy Human Wants, 1864 (MacMi l l an). p. 139.
de tri go, e a ni ca di ferena essenci al que el e precede por um l ongo
per odo a produo de tri go. O i nterval o mdi o de tempo durante o
qual o trabal ho permanecer i nvesti do na p metade dos trs anos.
Do mesmo modo, se ns possu mos um capi tal mai or e o gastamos na
fei tura de um arado, que durar vi nte anos, estamos i nvesti ndo no
i n ci o grande quanti dade de trabal ho, que s pago gradual mente
durante esses vi nte anos, e que, portanto, i nvesti do em mdi a por
cerca de dez anos.
verdade que na i ndstri a moderna nunca ou raramente i remos
encontrar o mesmo homem fazendo a p ou o arado, e depoi s usando
o i nstrumento. A di vi so do trabal ho me permi te, com grande vantagem,
gastar parte do meu capi tal comprando o i nstrumento de al gum que
dedi ca sua ateno manufatura, e provavel mente gasta com anteci -
pao capi tal para faci l i tar o trabal ho. Mas i sso no al tera os pri nc pi os
do tema. O capi tal que eu dou pel a p apenas repe o que o fabri cante
j havi a i nvesti do com a expectati va de que a p se tornasse necessri a.
Pode-se apl i car exatamente as mesmas consi deraes a empregos de
capi tal mui to mai s compl i cados. O objeti vo fi nal de toda ati vi dade re-
l aci onada com al godo a produo de arti gos de al godo. Porm, o
processo compl eto de produo desses arti gos di vi di do em mui tas
partes; e necessri o comear o di spndi o de trabal ho mui to tempo
antes que qual quer arti go possa ser acabado.
Em pri mei ro l ugar, ser necessri o trabal ho para cul ti var o sol o
onde crescero os ps de al godo, e provavel mente decorrero pel o
menos doi s anos entre o tempo em que o sol o fendi do pel a pri mei ra
vez e o tempo em que o al godo chega s fbri cas. Do mesmo modo,
uma fi ao de al godo deve ser uma estrutura mui to forte e durvel ,
e deve possui r maqui nari a mui to cara, que s pode reembol sar seu
propri etri o atravs de um l ongo tempo de uso. Poder amos fi ar e tecer
arti gos de al godo como nos tempos anti gos, ou como fei to em Ca-
xemi ra, com emprego mui to pequeno de capi tal ; o trabal ho necessri o,
porm, seri a mui t ssi mo mai or em proporo ao produto. mui to mai s
econmi co, afi nal , gastar grande quanti dade de trabal ho e capi tal cons-
trui ndo uma fbri ca sl i da e provendo-a com as mel hores mqui nas,
que prossegui ro trabal hando com efi ci nci a constante tri nta anos ou
mai s. I sso quer di zer que al m do trabal ho gasto em control ar as m-
qui nas na hora em que os arti gos so produzi dos, grande quanti dade
de trabal ho foi gasta entre um e tri nta anos antes, ou, em mdi a,
qui nze anos antes. Esse gasto reembol sado por uma quanti a anual
de l ucro durante esses tri nta anos.
O tempo percorri do entre o pri mei ro emprego de trabal ho e o
desfrute do resul tado ai nda aumentado por todo o tempo durante o
qual o materi al bruto pode permanecer nos armazns antes de chegar
s mqui nas, e pel o tempo empregado em di stri bui r os arti gos para
os comerci antes vareji stas, e por mei o del es para os consumi dores.
OS ECONOMISTAS
182
Pode mesmo acontecer que o consumi dor ache desejvel manter de-
termi nado estoque di spon vel , de modo que o momento em que a ver-
dadei ra fi nal i dade dos bens preenchi da adi ado ai nda mai s. Pare-
ce-me que tambm durante esse tempo o capi tal est i nvesti do, e apenas
quando ocorre a uti l i zao real o gasto reembol sado pel a correspon-
dente uti l i dade desfrutada.
Eu di ri a ento, de forma mai s geral , que quaisquer melhorias
no suprimento de bens aumentam o intervalo mdio entre o momento
em que o trabalho executado e seu resultado ou objetivo final consu-
mado, dependendo tais melhorias do uso do capital. E acrescentari a
que esse o ni co uso do capi tal . Sempre que desprezamos as com-
pl i caes i rrel evantes i ntroduzi das pel a di vi so do trabal ho e a fre-
qnci a da troca, todos os empregos de capi tal se reduzem ao aspecto
do tempo decorri do entre o comeo e o fi m da ati vi dade.
Noes quantitativas referentes ao capital
Um ponto pri nci pal que preci sa ser escl areci do neste assunto
a di ferena entre o montante de capital investido e o montante de in-
vestimento de capital. O pri mei ro uma quanti dade de uma ni ca
di menso: a quanti dade de capi tal ; o segundo uma quanti dade de
duas di menses: quai s sejam, a quanti dade de capi tal e o per odo de
tempo durante o qual permanece i nvesti do. Se o trabal ho de um di a
permanece i nvesti do por doi s anos, o capi tal apenas o equi val ente
a um di a, mas fi ca empatado duas vezes mai s tempo do que se fosse
i nvesti do por apenas um ano. Ora, todos os casos em que consi deramos
o emprego mai s vantajoso de capi tal gi ram em torno da durao do
i nvesti mento tanto quanto em torno do montante. O mesmo capi tal
servi r duas vezes mai s i ndstri a do que se fosse absorvi do ou i n-
vesti do por apenas metade do tempo.
O montante de i nvesti mento de capi tal evi dentemente ser de-
termi nado mul ti pl i cando-se cada parcel a de capi tal i nvesti do em dado
momento pel o per odo de tempo durante o qual el e permanece i nvesti do.
Uma l i bra i nvesti da durante ci nco anos fornece o mesmo resul tado de
5 l i bras i nvesti das por um ano, sendo o produto 5 libras-ano. Mai s
comumente, contudo, o i nvesti mento prossegue conti nuamente ou em
i nterval os, e devemos formar noes cl aras do assunto. Assi m, se um
trabal hador empregado durante um ano em qual quer tarefa, cujo
resul tado concl u do e desfrutado no fi nal desse tempo, encontrar-se-
a absoro de capi tal mul ti pl i cando-se o sal ri o de cada di a pel os di as
restantes at o fi nal do ano, e somando todos os resul tados. Se a paga
de um di a 4 xel i ns, ento teremos
4 364 + 4 363 + 4 362 . . . . . . + 4 1;
ou
J EVONS
183
4
365 364
2
, ou 265 720 xelins dia.
Podemos tambm representar o i nvesti mento por um di agrama,
como na Fi g. 11. O cumpri mento ao l ongo da l i nha ox i ndi ca a durao
Figura 11
do i nvesti mento, e a al tura obti da em qual quer ponto, a, o montante
de capi tal i nvesti do. Mas a rea total dos retngul os at al gum ponto,
a, que mede o montante de i nvesti mento durante o tempo oa.
O resul tado total do trabal ho cont nuo freqentemente no con-
sumi do e desfrutado num momento; el e dura em geral certo per odo
de tempo. Devemos, ento, conceber o capi tal como sendo progressi -
vamente desinvestido. I magi nemos, como si mpl es i l ustrao, que o tra-
bal ho de produzi r a col hei ta seja fei to cont nua e uni formemente entre
pri mei ro de setembro de um ano e o mesmo di a do prxi mo ano. A
safra estar ento toda col hi da e seu consumo comea de i medi ato e
conti nua uni formemente durante os doze meses segui ntes. Ento o
montante
Figura 12
de i nvesti mentos de capi tal ser representado pel a rea de um tri ngul o
i sscel es, como na Fi g. 12, cuja base corresponde a doi s anos de durao.
OS ECONOMISTAS
184
A rea de um tri ngul o i gual al tura mul ti pl i cada pel a metade da
base; e como a al tura representa o montante mxi mo i nvesti do, fei to
em pri mei ro de setembro, quando a safra col hi da, metade da base,
ou um ano, o tempo mdio de investimento do montante total.
Na 37 proposi o do Li vro Pri mei ro de Eucl i des, prova-se que
so i guai s em rea todos os tri ngul os sobre a mesma base e entre as
mesmas paral el as. Da podemos concl ui r que, uma vez que o capi tal
seja i nvesti do e desi nvesti do conti nuamente e em proporo si mpl es
ao tempo, preci samos apenas consi derar o mai or montante i nvesti do
e o mai or tempo de i nvesti mento. Seja o capi tal todo i nvesti do subi -
tamente, e ento reti rado gradual mente, ou gradual mente i nvesti do e
subi tamente reti rado ou gradual mente i nvesti do e gradual mente reti -
rado, o montante de i nvesti mento ser em todos os casos o mai or mon-
tante de capi tal mul ti pl i cado pel a metade do tempo transcorri do entre
o comeo e o fi m do i nvesti mento.
Expresso do montante de investimento
Para tornar nossas noes sobre o assunto ai nda mai s exatas e
gerai s, vamos recorrer mai s uma vez aos s mbol os matemti cos.
Seja p = montante de capi tal a ser i nvesti do no tempo t; seja
t = tempo transcorri do antes que seja desfrutado seu resul tado, ocor-
rendo seu desfrute num i nterval o de tempo t, que pode ser desprezado
em comparao com t. Ento t
.
p o montante de i nvesti mento; e
se se repete o i nvesti mento, a soma das quanti dades de natureza i gual
a t
.
p, ou, na forma usual de expresso, tp o montante total
de i nvesti mento. Mas raramente ser poss vel atri bui r cada parcel a
do resul tado a uma parcel a exatamente correspondente de trabal ho.
Os arti gos de al godo se devem ati vi dade conjunta dos que araram
o sol o, cul ti varam, col heram, transportaram, l i mparam, fi aram, tece-
ram e ti ngi ram o al godo; no podemos preci sar o momento em que
o trabal ho de cada trabal hador pago separadamente. Para evi tar
essa di fi cul dade, devemos fi xar certo i nstante de tempo quando con-
cl u da toda a transao, todo trabal ho na terra pago, a fbri ca e a
maqui nari a gastas e vendi das, e os arti gos de al godo consumi dos.
Represente t, agora, o tempo transcorri do de dado i nstante at esse
i nstante fi nal do fechamento de contas. Seja p, como antes, um acrs-
ci mo de capi tal i nvesti do, e seja q um acrsci mo de capi tal desi nvesti do
pel a venda dos produtos e seu desfrute pel o consumi dor. Assi m, bvi o
que a soma das quanti dades t . q ser o i nvesti mento total de capi tal ,
ou expresso em s mbol os, t
.
p t
.
q.
Dimenses do capital, crdito e dbito
Como o assunto se apresenta para mi m no momento, concebo
que o capi tal deve ser consi derado si mpl esmente um bem. Se assi m
J EVONS
185
for, a di menso do capi tal ser representada por M, e o montante de
investimento de capital, possui ndo a di menso adi ci onal de tempo, ter
por s mbol o MT. Como i remos ento determi nar a natureza quanti tati va
daqui l o que Seni or chamou de Abstinncia, e sacri f ci o temporri o do
desfrute que essenci al para a exi stnci a do capi tal ? Seni or defi ni u
expl i ci tamente o que el e quer di zer com essa pal avra desse modo:
153
Pel a pal avra Absti nnci a, queremos expressar aquel e agente,
di sti nto do trabal ho e da ao da Natureza, cujo concurso ne-
cessri o para a exi stnci a do capi tal , e que est para o l ucro
assi m como o trabal ho est para o sal ri o.
El e prossegue expl i cando que a absti nnci a, embora geral mente
acompanhe o trabal ho, di sti nta del e. Uma consi derao cui dadosa
das observaes de Seni or mostra que na real i dade a absti nnci a a
capaci dade de suportar a necessi dade, a absteno do gozo da uti l i dade
que poderi a ser desfrutada. Ora, o grau ou i ntensi dade da necessi dade
medi do pel o grau de uti l i dade do bem, se este fosse consumi do. Um
grau el evado de uti l i dade si gni fi ca si mpl esmente grande necessi dade,
de modo que uma di menso da absti nnci a deve ser U, e sendo o
tempo tambm obvi amente um el emento da absti nnci a, a represen-
tao si mbl i ca procurada de suas di menses ser UT. Esse resul tado
corresponde sati sfatori amente defi ni o de Seni or, poi s el e di z que
a absti nnci a est para o l ucro assi m como o trabal ho est para o
sal ri o. O l ucro ou os juros so si mbol i zados com cl areza por M, e o
sal ri o tambm por M, consi sti ndo ambos si mpl esmente em quanti da-
des de bens. Assi m, UT mantm com M exatamente a mesma rel ao
que ET com M, uma vez que E si gni fi ca o grau de sofri mento do tra-
bal ho, e mal pode ser di sti ngui do de U, exceto pel o si nal .
A rel ao entre a absti nncia, UT, e a uti l i dade total , MU, tambm
confi rma nosso resul tado. Poi s, se convertemos a abstinncia em satisfao,
fornecendo um supri mento de bens para consumo, essa ao ser repre-
sentada si mbol i camente pel a mul ti pl i cao de UT por MT
1
, que tem
como resul tado MU, ou a uti l i dade.
No ser preci so nenhum argumento pra mostrar que a di menso
do dbito e do crdito, em rel ao apenas ao que emprestado e devi do,
ter si mpl esmente a di menso de um bem, ou seja, M. De acordo com
a prti ca comerci al , um contrato de dbi to um contrato para resti tui r
determi nada quanti dade, defi ni da fi si camente, de uma substnci a es-
peci fi cada, como 1 ona de ouro, 1 tonel ada de ferro gusa, 1 barri l de
l eo de coco. No se faz nenhuma tentati va de defi ni r quanti dades de
uti l i dades, de modo que, quando o dbi to for pago, produza uti l i dade
i gual que possu a quando foi emprestado. O tomador e o emprestador
OS ECONOMISTAS
186
153 SENI OR, Nassau W. Political Economy. 5 ed., 1863. p. 59.
ou entregam sorte essa questo, ou tomam provi dnci a quanto a el a
por mei o da taxa de juros a ser paga. i gual mente bvi o que, em
outro senti do, o montante de crdito ou dbito ser proporci onal du-
rao da operao, e ter as di menses MT.
Efeito da durao do trabalho
Tal vez a questo mai s i nteressante da teori a do capi tal seja a
vantagem que surge da rpi da execuo de uma obra, se el a pode ser
fei ta conveni entemente e com o mesmo resul tado fi nal . Para i nvesti -
garmos esse assunto, suponhamos que w = o montante de sal ri os que
necessri o pagar para construi r uma casa, e que el e no se al tera
quando vari amos, dentro de certo l i mi te, o tempo empregado no tra-
bal ho, representado por t. Se o trabal ho prossegue conti nuamente, te-
remos, em cada uni dade de tempo, uma quanti dade i nvesti da i gual
t-gsi ma parte de w. O montante total de i nvesti mento de capi tal ser,
portanto, representado pel a rea de um tri ngul o cuja base t e a
al tura w; ou seja, o i nvesti mento
1
2
tw. Assi m, quando a despesa
total , em l ti ma i nstnci a, a mesma, o montante de i nvesti mento
proporci onal apenas ao tempo. O resul tado seri a mai s grave se se l e-
vasse em conta a acumul ao de juros compostos durante esse tempo;
mas a consi derao del es tornari a a frmul a mui to compl exa, e i sso
no necessri o para o propsi to em vi sta.
Devemos di sti ngui r cl aramente entre o caso tratado aci ma, no
qual o montante de trabal ho o mesmo, embora di stri bu do ao l ongo
de um tempo mai or, e outros casos em que o trabal ho aumenta em
proporo ao tempo. Nesses casos, o i nvesti mento de capi tal cresce de
manei ra assustadoramente rpi da. Desprezando o custo i ni ci al de fer-
ramentas, materi ai s e outros preparati vos, vamos consi derar que o
custo do pri mei ro di a de trabal ho a; durante o segundo di a esse
custo permanece i nvesti do e acrescenta-se a quanti dade de capi tal a;
a cada di a segui nte, fei ta uma adi o semel hante. Evi dentemente,
o montante de capi tal i nvesti do
no comeo do segundo di a . . . . a,
" " " tercei ro " . . . . a + a,
" " " quarto " . . . . a + a + a;
e assi m por di ante. Se o trabal ho durar n + 1 di as, o montante total
de i nvesti mento de capi tal ser
a + 2a + 3a + 4a + ...... na.
A soma da sri e
J EVONS
187
a
n
2
+
n
2
2
,
que aumenta mediante um termo que incl ui o quadrado do tempo. O em-
prego de capi tal cresce, portanto, em proporo aos nmeros triangulares.
1, 3, 6, 10, 15, 21 etc.
Se supusermos que o i nvesti mento ocorra conti nuamente, a ab-
soro total de capi tal ser representada pel a rea de um tri ngul o
retngul o (Fi g. 13),
Figura 13
no qual ob, b
1
b
2
, b
2
b
3
etc. so as uni dades sucessi vas de tempo. As
al turas das l i nhas a
1
b
1
, a
2
b
2
representam os montantes i nvesti dos nos
fi nai s dos tempos. Sendo o i nvesti mento di ri o a, o montante total de
i nvesti mento ser
n
2
2
, que aumenta de acordo com o quadrado do
tempo.
Casos desse ti po ocorrem conti nuamente, como quando se escava
uma mi na profunda, cuja profundi dade necessri a no pode ser conhe-
ci da com exati do anteci padamente. Qual quer grande obra, como um
quebra-mar, um aterro, as fundaes de uma grande ponte, um cai s,
um tnel compri do, a dragagem de um canal , envol ve um probl ema
de natureza semel hante, poi s raramente se sabe que quanti dade de
trabal ho e capi tal ser necessri a; e se a obra dura mui to mai s do
que era esperado, o resul tado geral mente um desastre fi nancei ro.
Exemplos dos investimentos de capital
O tempo durante o qual o capi tal permanece i nvesti do e as con-
di es de seu i nvesti mento e reproduo vari am extremamente em
empregos di ferentes. Se uma pessoa pl anta repol hos, el es estaro no
OS ECONOMISTAS
188
ponto de col her ao fi nal de al guns meses, e o trabal ho de pl ant-l os
e cul ti v-l os, juntamente com parte do trabal ho de preparar e adubar
o sol o, produz seus frutos com mui to pouca demora. Contudo, ao se
pl antar uma fl oresta, gasta-se certa quanti dade de trabal ho e nenhum
resul tado obti do antes do transcurso de tri nta, quarenta ou ci nqenta
anos. O custo i ni ci al de cercar, preparar e real i zar uma pl antao de
rvores consi dervel ; e embora aps certo tempo os gal hos ca dos e
gravetos paguem o custo da supervi so e reparos, mesmo assi m a ab-
soro de capi tal grande, e devemos portanto justi fi car a pequena
quanti dade de rvores que vm sendo pl antadas. O envel heci mento
do vi nho um caso semel hante, de certo modo. Determi nada quanti dade
de trabal ho gasta sem resul tado por dez ou qui nze anos, e i ncorre-se
no custo e armazenamento durante todo o tempo. Devemos, em tai s
casos, para esti mul ar o custo real das mercadori as no fi nal desse tempo,
acrescentar juros compostos, que crescem rapi damente. Cada l i bra i n-
vesti da no comeo de um negci o transforma-se em 1,63 l i bra ao fi nal
de dez anos, 11,47 l i bras ao fi nal de ci nqenta anos, e no menos do
que 131,50 l i bras ao fi nal de um scul o, tomando-se a taxa de juros
a 5%. Portanto, no pode ser rendoso estocar vi nho por ci nqenta anos,
a menos que el e se torne vi nte vezes mai s val i oso do que era quando
novo. No compensa pl antar um carval ho e dei x-l o vi ver por um scul o,
a menos que a madei ra pague ento 132 vezes o custo do pl anti o.
Se preci so i ncorrer numa despesa anual , embora pequena (por
exempl o, os custos de armazenamento e supervi so), o gasto sobe de
manei ra ai nda mai s al armante. Assi m, se o custo de um i nvesti mento
qual quer de 1 l i bra por ano, a quanti a i nvesti da, a juros compostos
de 5%, converte-se em 12,58 l i bras ao fi nal de dez anos, 209,35 l i bras
ao fi nal de ci nqenta anos, e na i mportnci a fabul osa de 2 610,03
l i bras ao fi nal de um scul o. Devemos sempre l evar em conta tanto o
custo ori gi nal quanto o custo cont nuo de um i nvesti mento. Assi m, se
um estoque de vi nho no val or de 100 l i bras guardado por ci nqenta
anos, e o custo de armazenamento de 1 l i bra por ano, o custo total
no fi nal do per odo ser de 1 147,0 l i bras, por conta do custo ori gi nal ,
e 209,35 l i bras pel o armazenamento, ou ao todo 1 356,35 l i bras.
de se temer que a acumul ao rpi da dos juros compostos seja
freqentemente desprezada ao se esti mar o custo das obras pbl i cas
e de outros empreendi mentos de l onga durao. Uma grande forti fi -
cao, um quebra-mar ou um canal (o Cal edoni an Canal , por exempl o)
freqentemente no so termi nados antes de vi nte anos aps o seu
i n ci o, e nesse mei o tempo podem ser de pouco ou nenhum uso. Di gamos
que seu custo tenha si do de 10 mi l l i bras cada ano, o custo agregado
ento pareceri a ser de 200 mi l l i bras, mas, l evando-se em conta juros
de 5%, el e , na real i dade, de 330 mi l l i bras. Mi nard,
154
engenhei ro e
J EVONS
189
154 MI NARD. Annales des Ponts et Chausses. 1850, 1 semestre. p. 57.
economi sta francs, entendeu perfei tamente esse aspecto fi nancei ro e
demonstrou que no caso de al gumas obras pbl i cas, como o grande
di que do ancoradouro de Cherbourg, e canai s, cuja execuo se arrasta,
s vezes, por mei o scul o antes que se obtenha al gum resul tado apro-
pri ado, o custo i ncomparavel mente mai or do que aquel e que apre-
sentado especi fi cando apenas as somas de di nhei ro gastas. Em al guns
casos, como o do pri mei ro canal de Sai nt Quenti n, uma obra aban-
donada depoi s de ser l evada adi ante por mui to tempo, e torna-se enorme
a perda do custo i ni ci al e dos juros. Guernsey Harbour um exempl o,
e os arsenai s da mari nha i ngl esa forneceri am fatos semel hantes em
abundnci a.
Um exempl o i nteressante de i nvesti mento de capi tal ocorre nos
casos do ouro e da prata, dos quai s se mantm grande estoque, tanto
em forma de di nhei ro como em pl acas ou ji as. Na escavao ou mi -
nerao dos metai s gasta-se trabal ho, que pago gradual mente pel o
uso ou sati sfao proveni entes da posse dos metai s durante todo o
tempo em que el es conti nuam em uso. Portanto, o i nvesti mento de
capi tal se estende pel a durao mdi a dos metai s. Ora, se uma reserva
de ouro demanda 1% de seu montante para mant-l a sempre a mesma,
evi dente que cada part cul a de ouro permanece em uso por cem anos
em mdi a; se 0,5% sufi ci ente, a durao mdi a ser de duzentos
anos. Podemos enunci ar o resul tado desta forma:
Perda anual de ouro Durao mdi a de cada
ou prata part cul a em uso
1% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 anos
1/2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1/4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
1/10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000
O desgaste e a perda dos metai s preci osos num pa s ci vi l i zado
provavel mente no mai or que uma parte anual de 1/200, i ncl ui ndo-se
pl acas, ji as e di nhei ro na esti mati va, de modo que o i nvesti mento
mdi o ser por duzentos anos. curi oso que, se consi deramos a quan-
ti dade de ouro como se desgastando ano a ano gradual mente de uma
porcentagem fi xa do ouro que permanece, a durao de uma parte
i nfi ni ta, e no entanto a durao mdi a fi ni ta. Sem dvi da, um pouco
do ouro pertencente aos romanos est mi sturado ao que possu mos
agora; e uma pequena parte del e i r ser transmi ti da gerao segui nte,
enquanto a raa humana exi sti r.
Capital fixo e circulante
Os economi stas j se acostumaram, h mui to tempo, a di ferenci ar
o capi tal em doi s ti pos, fi xo e ci rcul ante. Adam Smi th chamava de
ci rcul ante aquel e que passa de mo em mo, e que produz um rendi -
OS ECONOMISTAS
190
mento quando gasto. Todavi a, o fato de ser trocado freqentemente
uma ci rcunstnci a aci dental que no l eva a nenhum resul tado i m-
portante. Ri cardo al terou o uso dos termos, apl i cando o nome circulante
ao capi tal que destru do com freqnci a e preci sa ser reproduzi do.
El e di z i nequi vocamente:
155
Na proporo em que o capi tal fi xo menos durvel el e se
aproxi ma da natureza do capi tal ci rcul ante. El e ser consumi do
e seu val or reproduzi do num tempo menor, de modo a preservar
o capi tal do fabri cante.
Acei tando essa teori a, e l evando-a at o fi m, devemos di zer que
no se pode traar uma l i nha preci sa entre os doi s ti pos de capi tal . A
di ferena de quanti dade e de grau. A durao do capi tal pode vari ar
de um di a at vri as centenas de anos; o mai s ci rcul ante o menos
durvel , o mai s fi xo o mai s durvel .
Capital livre e investido
Acredi to que a cl ara exposi o da teori a do capi tal requer o uso
do termo capital livre, que no foi reconheci do at agora pel os econo-
mi stas. Por capi tal l i vre quero di zer o sal ri o do trabal ho, seja na
forma transi tri a de di nhei ro, ou na sua forma real de comi da e outros
bens necessri os vi da. O sustento comum necessri o para manter
os trabal hadores de todas as categori as quando esto ocupados em seu
trabal ho real mente a verdadei ra forma do capi tal . Est de acordo
com a l i nguagem comum dos comerci antes di zer que uma fbri ca, ou
cai s, ou estrada de ferro, ou navi o, no capital, mas representa um
tanto de capital empatado no empreendimento. I nvesti r capi tal gastar
di nhei ro, ou a comi da e o sustento que o di nhei ro compra, at o trmi no
de determi nado trabal ho. O capi tal permanece i nvesti do ou empatado
at que o trabal ho tenha rendi do l ucro equi val ente ao custo i ni ci al ,
com juros.
Trari a mai or cl areza fazer a l i nguagem econmi ca coi nci di r mai s
aproxi madamente com a do comrci o. Desse modo, eu no i ri a di zer
que uma estrada de ferro capital fixo, mas que o capital est fixo
na estrada de ferro. O capi tal no a estrada de ferro, el e a comi da
daquel es que fi zerem a estrada de ferro. Abundnci a de capi tal l i vre
num pa s si gni fi ca que exi stem fartos estoques de comi da, vesti menta
e todos os arti gos que as pessoas i nsi stem em ter que, em resumo,
tudo est de tal modo que a subsi stnci a abundante e comodi dades
de todos os ti pos so acess vei s sem que o trabal ho do pa s fi que so-
brecarregado para prov-l as. Em tai s ci rcunstnci as, poss vel empre-
J EVONS
191
155 On the Principles of Political Economy and Taxation. Cap. 1, seo 5; 3 ed., p. 36.
gar uma parte dos trabal hadores em trabal hos cuja uti l i dade no seja
i medi ata, e mesmo assi m ni ngum i r senti r escassez no presente.
Uniformidade da taxa de juros
Um dos pri nc pi os formai s i mportantes deste assunto que o
capital livre pode ser empregado indiferentemente em qualquer ramo
ou tipo de atividade econmica. Como acabamos de ver, o capi tal l i vre
consi ste num sorti mento adequado de todos os ti pos de comi da, roupas,
utens l i os, mvei s e outros arti gos que uma comuni dade requer para
seu sustento habi tual . Os homens e suas fam l i as consomem prati ca-
mente o mesmo ti po de bem, seja qual for o ramo da manufatura ou
comrci o em que ganham seu sustento. Portanto, no h nada da na-
tureza do capi tal l i vre que determi ne seu emprego em um ti po de
ati vi dade em vez de outro. O mesmo sal ri o, quer consi deremos o sal ri o
em di nhei ro, quer o sal ri o real comprado com o di nhei ro, i r sustentar
um homem, seja el e um mecni co, um tecel o, um mi nei ro de carvo,
um carpi ntei ro, um pedrei ro, ou qual quer outro ti po de trabal hador.
O resul tado l gi co que a taxa de juros do capi tal l i vre tender
estrei ta uni formi dade e a al canar em todos os seus empregos. O
mercado de capi tai s semel hante a todos os outros mercados: s pode
haver um preo para um artigo em um momento. um caso da l ei da
i ndi ferena. Ora, o arti go em questo o mesmo, de modo que seu
preo deve ser o mesmo. De acordo com i sso, como sabi do, a taxa
de juros a mesma em todos os ramos de negci os, quando l i vre de
consi deraes de ri scos, contratempos e outros fatores i nterferentes; e
todo ramo de negci os i r empregar capi tal at o ponto em que el e
apenas produz os juros correntes. Se qual quer fabri cante ou comer-
ci ante empregar um tanto de capi tal no sustento de certo montante
de trabal ho, de modo que o rendi mento seja menor do que nos outros
ramos, el e estar perdendo, poi s poderi a ter obti do a taxa corrente
emprestando o capi tal para outros negoci antes.
Expresso geral para a taxa de juros
Podemos obter uma expresso geral para a taxa de juros que
rende o capi tal em qual quer emprego, se pudermos supor que o produto
para uma mesma quanti dade de trabal ho vari a como uma funo con-
t nua do tempo transcorri do entre o di spndi o de trabal ho e o desfrute
do resul tado. Seja t o tempo em questo, e o produto para a mesma
quanti dade de trabal ho a funo de t representada por Ft, a qual pode-se
supor que aumenta sempre com t. Se aumentarmos agora o tempo
para t + t, o produto ser F(t + t), e o acrsci mo do produto ser
F(t + t). A rel ao que esse acrsci mo mantm com o acrsci mo do
i nvesti mento de capi tal determi nar a taxa de juros. Ora, no fi nal do
tempo t pod amos receber o produto Ft, e essa a quanti dade de capi tal
OS ECONOMISTAS
192
que permanece i nvesti da quando estendemos o tempo em t. Portanto,
o montante do aumento de i nvesti mento de capi tal t. Ft; e di vi di ndo
o acrsci mo de produto por essa l ti ma expresso, temos
F(t + t) Ft
t
1
Ft
.
Quando reduzi mos i nfi ni tamente a magni tude de t, o l i mi te do
pri mei ro fator na expresso aci ma a deri vada de Ft, e assi m veri fi -
camos que a taxa de juros representada por
dFt
dt
.
1
Ft
ou
F t
Ft
.
Os juros do capi tal so, em outras pal avras, a taxa de aumento do
produto dividida por todo o produto; esta, porm, uma quanti dade
que deve aproxi mar-se rapi damente de zero, a menos que se encontrem
mei os de manter conti nuamente a taxa de aumento. A no ser que
um corpo se mova a uma vel oci dade rapi damente crescente, o espao
que el e percorre em qual quer uni dade de tempo deve tornar-se por
fi m i nsi gni fi cante em comparao com o espao total percorri do desde
o i n ci o. No h razo para supor que a ati vi dade econmi ca, de modo
geral , seja capaz de fazer com que mai or apl i cao de capi tal reverta
em um produto de tal manei ra crescente. Toda mqui na nova ou outra
grande i nveno demandar geral mente uma fi xao de capi tal por
certo tempo mdi o, podendo ser capaz de pagar os juros sobre esse
capi tal , mas, al m desse tempo mdi o, el a dei xa de produzi r um l ucro
para i nvesti mentos mai s prol ongados.
Vamos supor, por exempl o, que o produto do trabal ho em al guns
casos seja proporci onal ao i nterval o de absti nnci a t; teremos ento
Ft = at, onde a uma constante desconheci da. A deri vada Ft agora
a, e a taxa de juros
a
Ft
ou
a
at
ou
1
t
; ou seja, a taxa de juros vari a
i nversamente ao tempo do i nvesti mento.
Dimenso dos juros
A frmul a que obti vemos na seo anteri or foi mi nuci osamente cri -
ti cada por um matemti co famoso, que props vri as frmulas alternativas,
mas que fi nal mente acei tou como correta mi nha sol uo do probl ema.
Porm, como o Prof. Adamson tambm l evantou al gumas objees fr-
mul a, parece conveni ente expl i car seu si gni fi cado e manei ra de deri vao
com mai s detal hes do que foi fei to na pri mei ra edio.
Em pri mei ro l ugar, em rel ao teori a das di menses a frmul a
sem dvi da correta. A taxa de juros expressa a proporo que a
soma paga por ano pel o emprsti mo de capi tal mantm com o capi tal .
Os juros e o capi tal so grandezas da mesma natureza, sendo sua
J EVONS
193
proporo um nmero abstrato. Di vi di ndo pel a durao de tempo, a
taxa de juros ter a di menso T
1
.
Ou ento podemos col ocar desta forma: os juros so pagos por
ano, ou por ms, ou por outra uni dade de tempo, e quanto menor a
magni tude dessa uni dade, menor deve ser a expresso numri ca da
taxa de juros. Juros si mpl es de 5% ao ano so 0,416... por cento ao
ms, e assi m por di ante. Portanto o tempo entra negati vamente, e a
di menso da taxa de juros ser T
1
. Ou ento podemos enunci ar i sso
si mbol i camente assi m: o capi tal adi antado pode ser consi derado como
tendo a di menso M; o rendi mento anual tem as di menses MT. Di -
vi di ndo-se o pri mei ro pel o l ti mo, obtemos
M
MT
= T
1
.
Ora, a frmul a
F t
Ft
concorda certamente com esse resul tado, poi s o
denomi nador certa funo desconheci da do tempo de adi antamento
do capi tal t. Podemos admi ti r que el e pode ser expresso por uma sri e
fi ni ta das potnci as de t e o numerador, sendo a deri vada da mesma
funo, ser de um grau de potnci a menor que Ft. Portanto, as di -
menses da frmul a sero
T
n1
T
n
ou
1
T
ou T
1
Deve ser cui dadosamente l embrado que a taxa de juros que possui
a di menso T
1
, e no os prpri os juros, os quai s, sendo apenas bens
de al gum ti po, tm a di menso de um bem, ou seja, M, da mesma
natureza e com as mesmas di menses.
A funo do capi tal si mpl esmente i sto, um trabal ho que i ri a
produzi r certo bem m
1
, se esse bem fosse exi gi do i medi atamente para
a sati sfao de necessi dades, empregado de modo a produzi r m
2
,
aps o l apso de tempo t. A razo para esse adi antamento que m
2
geral mente excede m
1
, e a di ferena ou os juros m
2
m
1
so bens que
tm a mesma di menso de m
1
. Portanto, a taxa de juros, pondo de
l ado a questo do tempo, seri a m
2
m
1
di vi di do por m
1
, e sendo as
grandezas da mesma natureza, a razo ser um nmero abstrato des-
provi do de di menses. Mas o tempo durante o qual se abre mo dos
resul tados do trabal ho to i mportante quanto a quanti dade de bens.
O montante do adi antamento m
1
t, de modo que a taxa de juros
m
2
m
1
di vi di do por m
1
t, que ter exatamente a di menso T
1
.
Contudo, obter-se-i a exatamente o mesmo resul tado se consi de-
rssemos o uso do capi tal sob um ponto de vi sta di ferente. O capi tal
e o adi antamento do consumo no so necessri os apenas para au-
mentar a produo, ou seja, o fabri co de bens; so necessri os tambm
OS ECONOMISTAS
194
para uni formi zar o consumo e permi ti r que um bem seja consumi do
quando sua uti l i dade est no ponto mxi mo. Ora, quando certo bem
consumi do em um i nterval o de tempo, a uti l i dade produzi da ter,
como j vi mos, as di menses MUT
1
T, ou MU. Suponhamos que, em
l ugar de ser consumi do nesse i nterval o, o bem seja manti do di sposi o
por al gum tempo antes de ser consumi do. Ento, o montante de adi a-
mento de uti l i dade ser proporci onal tanto ao i nterval o de tempo du-
rante o qual el a adi ada, quanto uti l i dade que adi ada. Desse
modo, o montante de adi amento ter as di menses MUT. O aumento
de uti l i dade devi do ao adi amento ter, sem dvi da, as mesmas di men-
ses determi nadas previ amente, quai s sejam, MU. Portanto, a razo
entre esse aumento e o montante de adi amento ter as di menses ou
MU
MUT
ou T
1
, e esse resul tado corresponde di menso da taxa de
juros obti da de outra manei ra.
Peacock e as dimenses dos juros
A necessi dade de certo cui dado ao formar nossas concepes des-
sas grandezas exempl armente i l ustrada pel o fato de que, menos de
ci nqenta anos atrs, um fi l sofo e matemti co to sbi o como o fal eci do
Deo Peacock tenha compreendi do o assunto de manei ra i ntei ramente
errada. Na pri mei ra edi o de seu famoso e i nesti mvel Treatise on
Algebra, publ i cado em 1830, el e ci ta ( 111, p. 91) os juros do di nhei ro
como um exempl o de uma grandeza de trs dimenses, e que podi a
ser representada por um sl i do. Di z el e:
Se p representa o pri nci pal , ou a quanti a de di nhei ro emprestada
ou poupada, r a taxa de juros (de 1 l i bra por ano), e t o nmero de
anos, ento os juros acumul ados ou devi dos sero representados
por prt; poi s, se r os juros de 1 l i bra por um ano, pr ser os juros
de uma quanti a de di nhei ro representada por p durante um ano,
e, portanto, prt ser o montante desses juros em t anos, no se
contando juros sobre os juros devi dos tal seri a o resul tado de
acordo com os pri nc pi os da l gebra Ari tmti ca.
Se supomos agora que prt representado respecti vamente
por l i nhas que formam os l ados adjacentes de um paral el ep pedo,
o sl i do assi m formado representar os juros acumul ados ou de-
vi dos; em outras pal avras, representar qual quer coi sa si gni fi cada
pel a frmul a geral prt ao se atri bui r aos seus s mbol os val ores
e si gni fi cados espec fi cos, poi s de qual quer manei ra que supo-
nhamos vari ar qual quer dos s mbol os de prt, o sl i do vari ar na
mesma proporo.
As l i nhas que adotamos para representar uni dades de p, r e
t so compl etamente arbi trri as, sejam el as i guai s entre si ou
no; esse cl aramente o caso de p e t, que so grandezas de
J EVONS
195
natureza di ferente. A tercei ra grandeza , do mesmo modo, di -
ferente das outras duas, consti tui ndo uma quanti dade numri ca
abstrata, poi s expressa a rel ao entre os juros de 1 l i bra e 1
l i bra, ou entre os juros de 100 l i bras e 100 l i bras, que o quoci ente
da di vi so de uma quanti dade por outra da mesma natureza;
assi m, se os juros forem de 5%, ento r =
5
100
ou
1
20
se forem
4%, ento r =
4
100
ou
1
25
, e do mesmo modo em outros casos.
Portanto, a l i nha adotada para representar a uni dade abstrata
qual r se refere i ndependente das l i nhas que representam
uni dades de p e de t, e pode por consegui nte ser admi ti da
vontade como i gual a essas l i nhas.
As l i nhas que representam p e t formam uma rea retangul ar,
que a representao geomtri ca do seu produto; sendo a tercei ra
quanti dade, r, apenas numri ca, el a pode ser representada tanto
por uma l i nha, como no caso que acabamos de consi derar, no
qual um paral el ep pedo sl i do consti tui a representao de prt,
como tambm podemos consi derar a rea pt representando o pro-
duto prt quando r = 1, sendo esse produto representado em qual -
quer outro caso por um retngul o que mantm com o retngul o
pt a proporo de r para 1; i sso pode ser efetuado aumentando
ou di mi nui ndo um dos l ados do retngul o na proporo requeri da.
O produto prt pode, portanto, ser representado corretamente tanto
por um sl i do quanto por uma rea, quando um dos fatores
um nmero abstrato.
A concl uso a que el e chega i nveross mi l , poi s pensa que a
mesma espci e de grandeza pode ser representada i ndi ferentemente
por um sl i do ou por uma rea. O fato que Peacock confundi u um
produto de trs fatores com uma grandeza de trs di menses. El e con-
si derou essas di menses como se fossem, di gamos, M = di nhei ro, R =
taxa de juros, e T = tempo. Se as mul ti pl i camos si mpl esmente, como
Peacock faz de i n ci o, obtemos uma grandeza aparentemente com trs
di menses, MRT. Se, de acordo com a i di a segui nte de Peacock, con-
si deramos R uma quanti dade numri ca abstrata, sobram ento duas
di menses, quai s sejam MT. El e despreza o fato de que a taxa de juros
rel aci ona o tempo potenci ado negati vamente, embora descreva r como
a taxa de juros (de 1 l i bra por um ano). Expressas corretamente, as
di menses de prt, a grandeza dos juros, so M T
1
ou M, que
si mpl esmente a di menso do di nhei ro adi antado.
Se voc di z, por exempl o, que os juros si mpl es de 300 l i bras a
5% ao ano durante ci nco anos so 75 l i bras, no h nesse resul tado
nenhuma refernci a ao tempo; 75 l i bras so apenas 75 l i bras, e so
exatamente da mesma natureza das 300 l i bras que produzi ram os juros.
OS ECONOMISTAS
196
poss vel que Peacock tenha posteri ormente descoberto o erro,
ou pel o menos a di fi cul dade, nesta seo, poi s omi ti u i ntei ramente o
exempl o em sua segunda edi o, porm no apresenta, at onde ob-
servei , nenhuma expl i cao.
Tendncia dos lucros a um mnimo
Uma das teori as favori tas dos economi stas, desde o tempo de
Adam Smi th, que, medi da que a soci edade progri de e o capi tal se
acumul a, a taxa de l ucro, ou mai s exatamente a taxa de juros, tende
a cai r. A taxa sempre acabar bai xando tanto, pensam el es, que ces-
saro os i ncenti vos para uma acumul ao adi ci onal . Essa teori a est
em total acordo com o resul tado da i nvesti gao um tanto abstrata
fei ta aci ma. Nossa frmul a da taxa de juros mostra que, a menos que
haja um progresso constante nas ci nci as, a taxa deve tender a bai xar
em di reo a zero, supondo-se que a acumul ao de capi tal conti nue.
H tambm fatos estat sti cos sufi ci entes para confi rmar essa concl uso
hi stori camente. A ni ca dvi da que pode surgi r refere-se causa real
dessa tendnci a.
Adam Smi th atri bu a i sso vagamente concorrnci a entre capi -
tal i stas, di zendo:
O aumento de capi tal que el eva os sal ri os tende a bai xar o
l ucro. Quando os capi tai s de mui tos comerci antes ri cos so em-
pregados na mesma ati vi dade, a concorrnci a mtua tende na-
tural mente a di mi nui r seu l ucro; e quando h um aumento de
capi tal semel hante em todos os di ferentes ramos de negci os em-
preendi dos numa mesma soci edade, a mesma concorrnci a deve
produzi r o mesmo efei to nel es todos.
156
Economi stas posteri ores sustentaram opi ni es di ferentes. El es
atri bu am a queda dos juros ao aumento do custo do trabal ho. O produto
do trabal ho, di zi am, di vi di do entre capi tal i stas e trabal hadores, e se
necessri o dar mai s pel o trabal ho, deve restar menos para o capi tal ,
e a taxa de l ucro i r cai r. Di scuti rei a val i dade dessa teori a no cap tul o
fi nal , e aqui apenas observarei que el a no est de acordo com a opi ni o
que me aventurei a segui r quanto ori gem dos juros. Consi dero que
os juros so determi nados pel o aumento do produto que el es possi bi -
l i tam ao trabal hador obter, e so compl etamente i ndependentes do
rendi mento total que el e recebe por esse trabal ho. Nossa frmul a (p.
193) mostra que a taxa de juros ser mai or quando o produto total Ft
for menor, se permanecer i nal terado o provei to de i nvesti r mai s capi tal ,
medi do por Ft. Em mui tos pa ses mal governados, onde a terra
pessi mamente cul ti vada, o produto mdi o pequeno, e no entanto a
J EVONS
197
156 Wealth of Nations. Li vro Pri mei ro. Cap. I X, segundo pargrafo.
taxa de juros al ta, si mpl esmente porque a fal ta de segurana i mpede
o supri mento adequado de capi tal ; em conseqnci a, necessi ta-se com
urgnci a de mai s capi tal , e seu preo al to. Nos Estados Uni dos e
nas col ni as i ngl esas, o produto freqentemente el evado, e no entanto
os juros so el evados, porque no h capi tal acumul ado sufi ci ente para
sati sfazer a todas as demandas. Na I ngl aterra e em outros pa ses ve-
l hos, a taxa de juros geral mente mai s bai xa, porque h abundnci a
de capi tal , e no se sente a necessi dade urgente de mai s capi tal .
Acredi to que as recompensas do capi tal e do trabal ho so i nde-
pendentes uma da outra. Se a terra produz pouco e o capi tal no a
faz produzi r mai s, ento tanto o sal ri o como os juros sero bai xos,
se o capi tal no for desvi ado para empregos mai s vantajosos. Se a
terra produz mui to e o capi tal faz com que produza mai s, ento tanto
os sal ri os quanto os juros sero el evados. Se a terra produz mui to e
o capi tal no a faz produzi r mai s, ento os sal ri os sero el evados e
os juros bai xos, a menos que o capi tal encontre outros i nvesti mentos.
O assunto, porm, compl i ca-se mai s com a i nterfernci a da renda. Quan-
do di zemos que a terra produz mui to, devemos di sti ngui r entre o ren-
dimento total e a taxa final de rendimento. No oeste dos Estados Uni dos,
a terra produz um grande total , sempre a uma taxa fi nal el evada, de
modo que o trabal hador benefi ci a-se do resul tado. Na I ngl aterra, h
um grande rendi mento total , mas o rendi mento fi nal pequeno, de
modo que o dono da terra recebe renda el evada, e o trabal hador, bai xos
sal ri os. Como a terra mai s frti l daqui vem sendo cul ti vada h mui to
tempo, cal cul a-se o sal ri o do trabal hador por aqui l o que el e pode
obter cul ti vando uma terra estri l que paga apenas o sufi ci ente para
compensar o seu cul ti vo.
Vantagens do capital para a atividade econmica
Devemos tomar mui to cui dado para no confundi r a taxa de juros
sobre o capi tal com o provei to gl obal que el e traz para a ati vi dade
econmi ca. A taxa de juros depende do benef ci o do l ti mo acrsci mo
de capi tal , sendo que os benef ci os dos acrsci mos anteri ores podem
ser mai ores em prati camente qual quer medi da. Ao consi derarmos as
l ei s de uti l i dade, descobri rmos que um arti go possui dor de enorme
uti l i dade total , como a gua ou o tri go, pode ter grau fi nal de uti l i dade
mui to bai xo, uma vez que nossa necessi dade foi quase toda sati sfei ta;
do mesmo modo, a rel ao de troca depende sempre do grau fi nal , e
no do grau de uti l i dade anteri or. Com o capi tal , acontece o mesmo.
Para uma manufatura, certo capi tal pode ser i ndi spensvel , de modo
que o benef ci o prestado por esse capi tal no tem tamanho; e se no
se pudesse obter mai s capi tal , a taxa de juros que poderi a ser pedi da,
no caso do arti go fabri cado ser i ndi spensvel , seri a prati camente i l i -
OS ECONOMISTAS
198
mi tada. Mas to l ogo se encontre di spon vel mai or oferta de capi tal ,
o benef ci o anteri or do capi tal esqueci do. Como o capi tal l i vre sempre
i gual em qual i dade, a segunda parcel a sempre pode substi tui r a pri -
mei ra, se necessri o; de modo que os capi tal i stas nunca podem recl amar
dos trabal hadores todas as vantagens prestadas por seu capi tal : podem
apenas exi gi r uma taxa determi nada pel o provei to do l ti mo acrsci mo.
Quem empresta capi tal no pode di zer a quem quer um emprsti mo
de 3 000 l i bras:
Eu sei que 1 000 l i bras so i ndi spensvei s para seu negci o
e, portanto, vou cobrar 100% de juros sobre el as; pel as segundas
1 000 l i bras que so menos necessri as, cobrarei 20%; e com as
tercei ras 1 000 l i bras voc s pode obter o l ucro usual , vou pedi r
apenas 5%.
A resposta seri a que h mui tas pessoas ganhando apenas 5%
pel o seu capi tal que fi cari am sati sfei tas em emprestar capi tal sufi ci ente
por um pequeno aumento dos juros; e que i ndi ferente quem seja o
emprestador.
O resul tado geral da tendnci a uni formi zao dos juros que
os empregadores de capi tal sempre o obtm mai or taxa corrente;
el es sempre tomam emprestado o capi tal menos necessri o aos outros,
e os prpri os trabal hadores, ou o pbl i co consumi dor em geral , col hem
o benef ci o excedente. Para i l ustrar esse resul tado, sejam as di stnci as
ao l ongo da l i nha ox, na Fi g. 14, a representao de quanti dades de
capi tal empregando, em qual quer ramo de ati vi dade, um nmero fi xo
de trabal hadores. A rea da curva representa o produto total do tra-
bal ho e do capi tal . Assi m, para o capi tal on, resul ta um produto medi do
pel a rea da fi gura curvi l i near entre as l i nhas verti cai s oy e on. J a
quanti dade do produto aumentado devi do a um acrsci mo de capi tal
seri a medi do pel a l i nha qn, de modo que el a representar Ft. Os juros
do capi tal sero a quanti dade de capi tal , on, mul ti pl i cada pel a taxa
qn, ou seja, a rea do retngul o oq. O restante do produto, pqry, per -
tencer ao trabal hador. Mas se houvesse menos capi tal di spon vel , di -
gamos, apenas om, sua taxa de jur os i r i a ser medi da por pm, e o
montante de jur os pel o r etngul o op, enquanto o tr abal hador dever i a
contentar -se com a par te menor , psy. No di go que o di agr ama aci ma
r epr esente com r i gor osa pr eci so as r el aes entr e capi tal , pr oduto,
sal r i o, taxa de jur os e montante de jur os; mas el e pode ser vi r par a
mostr ar apr oxi madamente as suas r el aes. No vejo nenhuma for -
ma de r epr esentar com exati do a teor i a do capi tal por mei o de um
di agr ama.
157
J EVONS
199
157 No Apndi ce I encontram-se al gumas observaes sobre essa seo e a anteri or. [Ed.]
Figura 14
Artigos que esto nas mos dos consumidores so capital?
As opi ni es sobre a natureza do capi tal emi ti das neste cap tul o
concordam, no geral , com as sustentadas por Ri cardo e por di versos
outros economi stas; h, porm, um ponto no qual a teori a me l eva a
um resul tado di vergente das opi ni es de quase todos os autores. No
me si nto capaz de acatar a vi so de que, no momento em que os bens
passam para a posse do consumi dor, cessam compl etamente de possui r
os atri butos do capi tal . Essa doutri na vem at ns desde o tempo de
Adam Smi th, e tem geral mente recebi do o assenti mento i nconteste de
seus segui dores. Estes l ti mos, com efei to, em geral omi tem toda re-
fernci a a tai s bens, tratando-os como se j no esti vessem sob o campo
do economi sta. Adam Smi th, embora negasse o nome de capi tal s
posses de um consumi dor, teve o cui dado de enumer-l as como parte
das reservas da comuni dade. El e di vi de em trs partes a reserva geral
de um pa s, e enquanto a segunda e a tercei ra parte so o capi tal fi xo
e o ci rcul ante, a pri mei ra descri ta da segui nte manei ra:
158
A pri mei ra parte aquel a reservada para o consumo i medi ato,
e tem por caracter sti ca no proporci onar nenhum rendi mento
ou l ucro. El a consi ste no estoque de comi da, roupas, mvei s do-
msti cos etc., que foram adqui ri dos por seus devi dos consumi do-
res, mas que ai nda no foram i ntei ramente consumi dos. O sor-
ti mento total de moradi as comuns exi stentes em certo tempo no
pa s tambm compe essa pri mei ra parte. As reservas que so
gastas numa casa, fei ta para ser a resi dnci a do propri etri o,
OS ECONOMISTAS
200
158 Wealth of Nations. Li vro Quarto. Cap. I , dci mo segundo pargrafo.
dei xam a parti r daquel e momento de servi r como capi tal , ou de
proporci onar qual quer rendi mento ao seu dono. Uma resi dnci a,
enquanto tal, no contri bui em nada para o rendi mento de seu
morador, e embora seja sem dvi da extremamente ti l para el e,
ti l do mesmo modo que suas roupas e mobi l iri o domsti co o so,
os quai s, entretanto, so parte de sua despesa, e no de sua renda.
Entretanto, MacCul l och, em sua edi o da Wealth of Nations, p.
121, observou a respei to dessa passagem que:
O capi tal gasto na construo de casas para tai s pessoas
empregado com tanto provei to pbl i co quanto se fosse i nvesti do
nas ferramentas ou i nstrumentos que el as uti l i zam em seus res-
pecti vos negci os.
El e parece, na verdade, rejei tar a teori a, e surpreendente que
os economi stas tenham geral mente concordado com a concepo de
Adam Smi th, embora esta i nduza a contradi es evi dentes. El a l eva
concl uso absurda de que a mesma coi sa, servi ndo aos mesmos pro-
psi tos, ser ou no capi tal , dependendo de quem por acaso a possui .
Para se obter um bom vi nho do Porto, necessri o mant-l o por certo
nmero de anos, e Adam Smi th no negari a que um estoque de vi nho
manti do com esse propsi to pel o comerci ante de vi nhos capi tal , porque
l he d um rendi mento. Se um consumi dor comprar o vi nho ai nda novo
e o guardar para que mel hore, el e no ser capi tal , embora seja evi dente
que o consumi dor tenha o mesmo l ucro que o comerci ante, ao comprar
o vi nho a um preo mai s bai xo. Se um vendedor de carvo armazena
carvo quando el e est barato, para vender quando esti ver caro, essa
reserva capi tal ; mas se um consumi dor que faz um estoque, no .
As concepes de Adam Smi th parecem estar baseadas na noo
de que o capi tal deve dar um rendi mento anual ou aumento de ri queza,
assi m como um campo produz uma col hei ta de tri go ou de feno. El e
di z, a respei to de uma casa de moradi a:
Se a casa for al ugada a um i nqui l i no, como el a por si prpri a
no pode produzi r nada, o i nqui l i no dever sempre pagar o al u-
guel com al gum outro rendi mento, que el e obtm do trabal ho ou
do capi tal ou da terra. Embora uma casa possa, portanto, dar
um rendi mento ao seu propri etri o, e desse modo servi r-l he como
capi tal , el a no pode render nada para o pbl i co, nem servi r
como capi tal para el e, e a renda do conjunto total das pessoas
no poder nunca ser aumentada em nenhuma proporo por
causa del a. Do mesmo modo, as roupas e mobi l i ri o domsti co
do s vezes um rendi mento, e desse modo servem como capi tal
para determi nadas pessoas. Em pa ses onde so comuns bai l es
de mscara, al ugar fantasi as por uma noi te um mei o de vi da.
Os negoci antes de mvei s freqentemente al ugam mob l i a por
ms ou por ano. Os agentes funerri os al ugam os aparatos para
J EVONS
201
as exqui as por di a e por semana. Mui tas pessoas al ugam casas
mobi l i adas, e recebem uma renda no s pel o uso da casa, mas
tambm pel o dos mvei s. Contudo, o rendi mento obti do dessas
coi sas deve ser sempre, em l ti ma anl i se, extra do de al guma
outra fonte de renda.
159
Essa noo de que as pessoas se sustentam com um ti po de ren-
di mento l qui do que afl ui para el as parece deri var-se dos anti gos eco-
nomi stas franceses, e no tem l ugar na ci nci a econmi ca moderna.
Nada mai s necessri o do que uma moradi a, e se uma pessoa no
pode al ugar uma casa no l ugar desejado, el a preci sa encontrar capi tal
para constru -l a. Acredi to que nenhum economi sta i ri a se negar a contar
como capi tal fi xo do pa s aqui l o que empregado em casas de moradi a.
Emprega-se o capi tal na agri cul tura para que tenhamos po, em te-
cel agens para que possamos nos vesti r, e por que no em casas para
que possamos nos al ojar? Assi m como a terra d um rendi mento anual
em tri go, l , l ei te, carne e outros arti gos essenci ai s, as casas fornecem
um rendi mento de abri go e conforto. O ni co fi m de toda ati vi dade
econmi ca sati sfazer s nossas necessi dades; e se necessri o capi tal
para produzi r abri go, mvei s e utens l i os, como sem dvi da ocorre, por
que recusar-l he o nome que ostenta em todos os outros empregos?
Podemos negar que a propri edade de um dono de hotel capi tal
e produz um rendi mento para o seu propri etri o? E, contudo, o capi tal
est i nvesti do em potes, panel as, camas e toda a espci e de mob l i a
comum. Nos Estados Uni dos, no raro que pessoas morem a vi da
toda em hoti s ou penses; e poder amos conceber de antemo que o
si stema se estendesse at o ponto em que as pessoas s i ri am tomar
conta de casa como uma profi sso. Ora, se concedemos a categori a de
capi tal ao que i nvesti do em hoti s, casas mobi l i adas al ugadas, penses
e congneres, no vejo como podemos recus-l a para as casas comuns.
Dessa manei ra, i r amos chegar a todo ti po de absurdos.
Por exempl o, se duas pessoas moram em suas prpri as casas,
estas no so capi tal , de acordo com a presente opi ni o; se as pessoas
acham ser conveni ente trocar de casa e pagar al uguel uma outra,
as casas so capi tal . Nos grandes bal neri os como Bri ghton, comum
arrendar casas, mobi l i -l as e ento al ug-l as por pequenas temporadas
como casas mobi l i adas: sem dvi da o que est apl i cado no negci o
capi tal . Se um i ndi v duo parti cul ar possui uma casa mobi l i ada da qual
no preci sa no momento, e a al uga, podemos nos recusar a consi derar
capi tal sua casa e a mob l i a? Toda vez que uma pessoa fornece os
arti gos, e outra pessoa os uti l i za e paga um al uguel , trata-se de capi tal .
Portanto, a natureza das coi sas no ser fundamental mente di ferente
se a mesma pessoa que usa os bens e os possui . No preci so que
OS ECONOMISTAS
202
159 Wealth on Nations. Li vro Segundo. Cap. I , conti nuao do dci mo segundo pargrafo.
ocorra um pagamento em di nhei ro; qual quer pessoa que mantm um
regi stro de contas cui dadoso deveri a debi tar nessas contas uma despesa
anual em juros e depreci ao sobre o que el a i nvesti u na casa e na
mob l i a. Manter uma casa uma ocupao que envol ve sal ri os, capi tal
e juros, como qual quer outro negci o, com a di ferena que o propri etri o
consome todo o resul tado.
Acei tando esse ponto de vi sta sobre o assunto, i remos evi tar di -
fi cul dades i nfi ndas. O que i remos di zer, por exempl o, de um teatro?
El e no o produto de um capi tal ? El e pode ser constru do sem capi tal ?
No rende juros, se for bem-sucedi do, como qual quer tecel agem ou
embarcao a vapor? Se o economi sta concorda com i sso, el e deve as-
senti r da mesma forma que grande parte do capi tal total do pa s est
i nvesti da em teatros, hoti s, escol as, sal as de confernci as e i nsti tui es
de di versos ti pos que no pertencem ati vi dade econmi ca do pa s,
entendi da em senti do restri to, mas contri buem, apesar de tudo, para
preencher as necessi dades de seus habi tantes, o ni co objeti vo de toda
ati vi dade econmi ca.
Posso acrescentar que mesmo a comi da, as roupas e mui tas outras
posses de ampl as cl asses de pessoas so mui tas vezes capi tal , i nques-
ti onavel mente; el as so compradas a crdi to, e sem dvi da pagam-se
juros pel o capi tal que os comerci antes empataram nel as. Acredi to que
di fi ci l mente haver um homem el egante em Londres que vi sta roupas
del e prpri o; e os al fai ates encontram um i nvesti mento de capi tal mui to
l ucrati vo no costume de abri r crdi to. Com exceo das cl asses mai s
pobres, e mesmo freqentemente entre el as, raro pagar pel a comi da
antes que seja consumi da. De uma forma ou de outra, deve-se pagar
juros pel o capi tal absorvi do dessa manei ra. Se esses arti gos so ou
no capital, nas mos dos consumi dores, de qual quer modo h capi tal
i nvesti do nel es, ou seja, nel es foi gasto trabal ho, cujo benef ci o total
no desfrutado de i medi ato.
Posso tambm apontar, prati camente sob qual quer aspecto, que
o estoque de comi da, roupas e outros arti gos necessri os subsi stnci a
no pa s so parte essenci al do capi tal , de acordo com as afi rmaes de
J. S. Mi l l , do Prof. Fawcett e da mai ori a dos demai s economi stas. Poi s
bem, que i mportnci a real mente tem se esses arti gos por acaso esto
nos depsi tos dos negoci antes ou em resi dnci as parti cul ares, contanto
que haja um estoque? Atual mente, praxe dos agri cul tores e comer-
ci antes de tri go reter o produto da col hei ta at o pbl i co compr-l o e
consumi -l o. O estoque de tri go, sem dvi da, capi tal . Mas, se houvesse
uma prti ca de toda dona-de-casa comprar tri go no outono e mant-l o
num cel ei ro parti cul ar, el e no servi ri a para sustentar a popul ao
exatamente do mesmo modo? Tudo no conti nuari a exatamente i gual ,
exceto o fato de que cada um seri a seu prpri o capi tal i sta em rel ao
ao tri go, em vez de pagar aos agri cul tores e negoci antes de tri go para
exercerem essa funo?
J EVONS
203
CAPTULO VIII
Observaes Finais
A teoria da populao
No faz parte do meu objeti vo neste trabal ho tentar esboar
i ntegral mente as conseqnci as da teori a exposta nos cap tul os ante-
ri ores. Quando as opi ni es sobre a natureza do val or e o mtodo geral
de tratar o assunto pel a apl i cao do cal cul o di ferenci al ti verem recebi do
um pouco de reconheci mento e acei tao, ser tempo ento de pensar
nas conseqnci as. Portanto, uti l i zarei apenas al gumas pgi nas a mai s
para apontar os ramos da teori a econmi ca que foram vi stos por al to,
i ndi cando a l i gao entre estes e a teori a.
A ausnci a da teori a da popul ao, que se faz notar, no se deve
ao fato de eu ter qual quer dvi da sobre sua veraci dade ou sua grande
i mportnci a, e si m porque el a no faz parte do probl ema i medi ato da
Economi a. No me recordo de ter vi sto a observao de que uma
i nverso do probl ema consi derar o trabal ho uma quanti dade vari vel ,
quando parti mos ori gi nal mente do trabal ho como o pri mei ro el emento
da produo e temos em mi ra o emprego mai s econmi co desse trabal ho.
O probl ema da Economi a pode, ao que me parece, ser formul ado assi m:
Sendo dada certa populao com diversas necessidades e meios de pro-
duo, que possui certas terras e outras fontes de matrias-primas, pede-
se o modo de empregar o trabalho dessa populao que maximize a
utilidade do produto. I sso o que os matemti cos chamam de mudana
da vari vel : tratar posteri ormente como vari vel o trabal ho que era
ori gi nal mente uma quanti dade fi xa. I sso i mporta al terar as condi es
do probl ema, de modo a cri ar um novo probl ema a cada mudana.
Contudo, os mesmos resul tados seri am obti dos geral mente, supondo-se
que as outras condi es vari assem. Dada determi nada popul ao, po-
demos i magi nar que a terra e o capi tal sua di sposi o mai or ou
menor, e ento podemos determi nar os resul tados, que sero em mui tos
205
aspectos apl i cvei s respecti vamente a uma popul ao menor ou mai or,
com a terra e o capi tal ori gi nai s.
Relaes entre o salrio e o lucro
Exi ste outra i nverso do probl ema da Economi a, fei ta geral mente
em obras sobre o assunto. Embora o trabal ho seja o ponto de parti da
da produo, e os i nteresses do trabal hador, o prpri o objeto da ci nci a,
os economi stas entretanto no vo mui to l onge e de repente mudam
de opi ni o e tratam o trabal ho como um bem que comprado pel os
capi tal i stas. O prpri o trabal ho torna-se objeto das l ei s da oferta e
procura, ao i nvs de essas l ei s atuarem na di stri bui o dos produtos
do trabal ho. Encontra-se a taxa mdi a de sal ri os, di zem el es, di vi -
di ndo-se a quanti dade total de capi tal desti nada ao pagamento de sa-
l ri os pel o nmero de trabal hadores pagos, e el es querem nos convencer
de que assi m fi ca resol vi da a questo. Porm, uma pequena anl i se
mostra que essa proposi o si mpl esmente uma tautologia. A taxa
mdia de salrios deve ser igual ao que destinado a esse fim dividido
pelo nmero dos que dele partilham. A questo consi ste em determi nar
quanto desti nado a esse propsi to, poi s no necessri o que seja
todo o capi tal ci rcul ante. Mi l l di z cl aramente que, vi sto a ati vi dade
econmi ca estar l i mi tada pel o capi tal , no devemos i nferi r da que el a
sempre ati nja esse l i mi te,
160
e, na verdade, freqentemente observamos
que exi ste capi tal abundante para ser tomado a taxas de juros bai xas
e, ao mesmo tempo, tambm exi ste grande nmero de artesos passando
fome por fal ta de emprego. A teori a do fundo de sal ri os , portanto,
i l usri a enquanto sol uo real para o probl ema, embora eu no negue
que el a possa ter certa apl i cao l i mi tada e correta, a ser consi derada
em breves l i nhas.
Outra parte das teori as econmi cas atuai s determi na a taxa de
l ucros dos capi tal i stas de forma mui to si mpl es. O produto total da
ati vi dade econmi ca deve ser di vi di do nas partes pagas com o nome
de renda da terra, taxas, l ucros e sal ri os. Podemos el i mi nar as taxas
por serem excepci onai s, e sem mui ta i mportnci a. A renda tambm
pode ser el i mi nada, poi s fundamental mente vari vel e se reduz a
zero, no caso da terra cul ti vada mai s pobre. Chegamos assi m equao
si mpl es:
Produto = l ucro + sal ri os.
Tambm se ti ra da frmul a uma concl uso evi dente, poi s nos
di zem que, se os sal ri os sobem, os l ucros devem cai r, e vi ce-versa.
Mas tal teori a compl etamente enganadora; ela implica a tentativa
de determinar duas quantidades desconhecidas a partir de uma equa-
OS ECONOMISTAS
206
160 Principles of Political Economy. Li vro Pri mei ro. Cap. V, seo 2.
o. Concordo que, se o produto for uma quanti dade fi xa, ento, se os
sal ri os subi rem, os l ucros devem cai r, e vi ce-versa. Tal vez se pudesse
fazer al go com essa teori a, se se mostrasse verdadei ra a teori a de
Ri cardo sobre uma taxa de sal ri os natural , a qual apenas sufi ci ente
para manter o trabal hador. Eu, porm, questi ono i ntei ramente a exi s-
tnci a de tal taxa.
Os sal ri os dos trabal hadores deste rei no vari am tal vez de 10
xel i ns por semana at 40 xel i ns ou mai s; o m ni mo em uma regi o do
pa s no o m ni mo em outra. Tambm i mposs vel defi ni r com exa-
ti do quai s so os arti gos de pri mei ra necessi dade. Em vi sta di sso,
sou propenso a rejei tar i ntei ramente as teori as presentes quanto
taxa de sal ri os; e mesmo que a teori a se mostrasse verdadei ra para
qual quer cl asse de trabal hadores em separado, exi ste ai nda a di fi cul -
dade de que preci samos l evar em conta as taxas bastante di ferentes
que preval ecem nos di versos ramos de negci os. i mposs vel que de-
vamos acei tar para sempre a si mpl i fi cao i ndi scri mi nada do assunto
fei ta por Ri cardo, sendo que sua suposi o i mpl i ca a exi stnci a de uma
taxa de sal ri os normal para o trabal ho comum, e que todas as taxas
mai s el evadas so apenas casos excepci onai s, que devem ser expl i cados
por outros el ementos.
A opi ni o que acei to a r espei to da taxa de sal r i os no mai s
di f ci l de ser entendi da do que a opi ni o cor r ente. El a di z que o
salrio de um trabalhador coincide, em ltima instncia, com o que
ele produz, aps deduzir-se a renda, as taxas e os juros do capital.
Acho que na equao
Produto = l ucros + sal ri os
a quanti dade de pr oduto essenci al mente var i vel , e que o l ucr o
deve ser a pr i mei r a par te a ser deter mi nada. Se decompuser mos o
l ucr o em sal r i os de admi ni str ao, segur o contr a r i scos e jur os, a
pr i mei r a par te de sal r i os pr opr i amente di tos; a segunda equi l i br a
o r esul tado em di fer entes empr egos; e o l ucr o, cr ei o eu, deter mi nado
como foi di to no l ti mo cap tul o. O l ei tor i r obser var a r essal va
i mpor tante de que os sal r i os so assi m deter mi nados apenas em
ltima instncia, ou seja, a l ongo pr azo e pel a mdi a de qual quer
r amo de ati vi dade.
O fato de que os trabal hadores no so seus prpri os capi tal i stas
acrescenta certa compl exi dade ao probl ema. Os capi tal i stas, ou entre-
preneurs, entram como i nteresse di sti nto. So el es que pl anejam e
admi ni stram um ramo da produo, e fazem esti mati vas quanto ao
produto esperado. o montante desse produto que os esti mul a a i n-
vesti r capi tal e comprar trabal ho. El es pagam as mai s bai xas taxas
em vi gor pel o ti po de trabal ho requeri do e, se a produo exceder a
mdi a, os que so os pri mei ros no ramo obtm grandes l ucros. I sso
l ogo esti mul a a concorrnci a por parte dos outros capi tal i stas, os quai s,
J EVONS
207
na tentati va de obter bons trabal hadores, el evaro a taxa de sal ri os.
A concorrnci a conti nuar at ati ngi r o ponto em que se obtm, pel o
capi tal i nvesti do, apenas a taxa de juros do mercado. Ao mesmo tempo,
os sal ri os ter-se-o el evado tanto que os trabal hadores absorvem todo
o excedente do produto, a menos que o preo do produto tenha ca do,
benefi ci ando o pbl i co consumi dor. Se essa l ti ma conseqnci a se
produzi r ou no, depender do nmero de trabal hadores qual i fi cados
para aquel a ocupao. Nos casos em que se requer mui ta per ci a e
especi al i zao, ser i mposs vel uma concorrnci a ampl a e exi sti r uma
taxa de sal ri os permanentemente al ta. Mas se necessri a apenas
mo-de-obra comum, o preo dos bens no poder manter-se, os sal ri os
cai ro para seu anti go n vel e o pbl i co obter a vantagem de supri -
mentos mai s baratos.
Poder-se- objetar que essa exposi o do assunto i mpl i ca a apl i -
cao temporri a da teori a do fundo de sal ri os. funo prpri a dos
capi tal i stas sustentar a mo-de-obra at que se consi ga o resul tado, e
como mui tos ramos da ati vi dade econmi ca demandam grande di spn-
di o mui to antes de se chegar a al gum resul tado preci so, da segue que
os capi tal i stas devem tomar a seu cargo o ri sco em qual quer ramo da
ati vi dade econmi ca, no qual no se sabe com preci so quai s sero os
l ucros fi nai s. Porm, ns temos agora uma pi sta quanto ao montante
de capi tal que ser desti nado ao pagamento de sal ri os em qual quer
ramo de negci os. O montante de capi tal depender do montante de
l ucros anteci pados, e a competi o para se obter trabal hadores qual i -
fi cados tender em l arga escal a a assegurar a estes l ti mos toda a
sua parte devi da do produto fi nal .
Por exempl o, di gamos que vri os projetos de i nstal ao de cabos
tel egrfi cos sejam postos em andamento. Os l ucros fi nai s so mui to
i ncertos e dependem da uti l i dade dos cabos comparada com o seu custo.
Se os capi tal i stas fazem uma esti mati va generosa desses l ucros, el es
apl i cam mui to capi tal para a fabri cao i medi ata dos cabos. Todos os
trabal hadores qual i fi cados di spon vei s sero empregados e, se neces-
sri o, sero pagos al tos sal ri os. Todo homem possui dor de habi l i dade,
conheci mento ou experi nci a espec fi cos, que torna val i osa sua ajuda,
ser empregado por qual quer custo necessri o. At esse ponto, a
teori a do fundo de sal ri os que est em ao. No entanto, depoi s de
certo nmero de anos, o estado de coi sas ser total mente di ferente.
Os capi tal i stas tero aprendi do, pel a experi nci a, qual ser exatamente
o l ucro dos cabos tel egrfi cos; aquel a quanti dade de capi tal ser apl i -
cada no emprego que fornecer o montante mdi o de l ucros, nem mai s
nem menos. O custo da transmi sso de mensagens ser reduzi do pel a
concorrnci a, de modo que nenhuma das partes envol vi das obter l ucros
excessi vos; em conseqnci a, a taxa de sal ri os de todos os ti pos de
OS ECONOMISTAS
208
mo-de-obra ser reduzi da mdi a referente mo-de-obra daquel a
categori a de ocupao. Mas, se houver necessi dade em qual quer parte
do trabal ho de um ti po espec fi co de mo-de-obra especi al i zada e ex-
peri mentada, esse ti po no ser afetado da mesma forma pel a concor-
rnci a, e os sal ri os permanecero el evados.
Crei o que poss vel , dessa manei ra, conci l i ar teori as que parecem
to di ferentes pri mei ra vi sta. A teori a do fundo de sal ri os age de
manei ra excl usi vamente temporri a. Todo trabal hador acaba por re-
ceber o devi do val or do que produzi u, aps pagar uma frao adequada
ao capi tal i sta, como remunerao pel a absti nnci a e pel o ri sco. Ao mes-
mo tempo, os trabal hadores de graus di versos de especi al i zao recebem
qui nhes mui to di ferentes, conforme contri bu ram para o resul tado com
um ti po de mo-de-obra comum ou raro.
As concepes do Prof. Hearn
Tenho o mai or prazer e confi ana em di vul gar essas concepes
um tanto herti cas sobre o probl ema geral da Economi a, consi derando
que so prati camente i dnti cas s que chegou o Prof. Hearn, da Uni -
versi dade de Mel bourne. Seri a uma tarefa mui to l onga apontar com
exati do as concepes coi nci dentes entre ns, porm el e adota, sem
dvi da, a noo de que o capi tal i sta apenas absorve temporari amente
as perspecti vas da empresa que admi ni stra e os trabal hadores que
emprega. Di z ento:
Em vez de ter parti ci pao no empreendi mento, o col aborador
vende por um preo determi nado seu trabal ho ou o uso de seu
capi tal . O caso, portanto, i ncl ui -se nas condi es normai s de troca;
e o preo do trabal ho e o preo do capi tal so determi nados da
mesma forma que todos os outros probl emas de preo. Contudo,
o carter geral da soci edade no se al tera. Embora cada transao
parti cul ar i mpl i que uma venda, surge mesmo assi m uma rel ao
mai s estrei ta com a conti nui dade do empreendi mento. Mesmo
que recai a sobre o l ti mo propri etri o o preju zo total do em-
preendi mento, se este for mal sucedi do, tendo os i nteresses das
outras partes si do assegurados previ amente, cada preju zo desse
ti po evi ta a repeti o da transao que l he deu ori gem. Desapa-
receu o capi tal que deveri a ter si do reposto e que, se o fosse, i ri a
fornecer os mei os de empregar mo-de-obra e de pagar os juros
de outro capi tal ; e assi m a demanda de mo-de-obra e de capi tal
di mi nui esse tanto. Por consegui nte, tanto o trabal hador quanto
o capi tal i sta i ntermedi ri o so di retamente afetados pel a sorte
de todo empreendi mento no qual contri bu ram. Se bem-suce-
di do, el es auferem o provei to; se fracassa, se ressente, de modo
semel hante, do preju zo. Mas essa comunho de i nteresses j
no di reta, e si m i ndi reta, poi s no surge das perdas ou ganhos
J EVONS
209
dos sci os, mas do aumento da capaci dade, ou da di mi nui o da
demanda dos fregueses.
161
Essa passagem contm uma exposi o dos pontos de vi sta que
estou propenso a acei tar i ntei ramente; todavi a, nenhuma passagem
que eu sel eci onar dar i di a adequada da concepo cl ara que o Prof.
Hearn tem da estrutura i ndustri al da soci edade em sua obra admi rvel
Plutology.
A influncia nociva da autoridade
Tenho ai nda al gumas l i nhas a acrescentar. Aventurei -me, nas
pgi nas precedentes, a questi onar vri as das teori as favori tas dos eco-
nomi stas. mui to mai s agradvel para mi m concordar do que di vergi r;
porm, i mposs vel que al gum que tenha al gum respei to pel a verdade
possa por mui to tempo evi tar protestar contra as teori as que l he pa-
recem errneas. H sempre uma tendnci a das mai s prejudi ci ai s a
permi ti r que as opi ni es se cri stal i zem em crenas. Essa tendnci a se
mani festa especi al mente quando um autor famoso, que desfruta da
capaci dade de escrever de manei ra cl ara e compreens vel , se torna
reconheci do como autori dade. Suas obras tal vez sejam as mel hores
exi stentes sobre o tema em questo, e tal vez renam mai s verdade e
menos erro do que poder amos encontrar em outro l ugar. Mas errar
humano, e as mel hores obras deveri am sempre estar abertas cr ti ca.
Se os admi radores de um grande autor, em vez de col herem perguntas
e cr ti cas, acatassem seus escri tos como autori dade, tanto em seus
tpi cos excel entes como nos defi ci entes, a verdade seri a seri amente
prejudi cada. Em assuntos fi l osfi cos e ci ent fi cos, a autori dade sempre
foi grande i ni mi ga da verdade. Uma cal ma despti ca habi tual mente
o tri unfo do erro. Na repbl i ca das ci nci as, a sedi o e mesmo a
anarqui a so, a l ongo prazo, benfi cas para a mai or fel i ci dade de grande
nmero de pessoas.
Nas ci nci as f si cas, a autori dade perdeu mui to da sua i nfl unci a
noci va. A Qu mi ca, na sua curta exi stnci a de um scul o, passou por
trs ou quatro revol ues teri cas. Na ci nci a da l uz, a prpri a auto-
ri dade de Newton foi posta de l ado, embora no antes de ter retardado
em cerca de um scul o o progresso da i nvesti gao. Os astrnomos
no tm hesi tado, nestes l ti mos anos, em corri gi r suas esti mati vas
de todas as di menses do si stema pl anetri o e do uni verso, porque
foram apresentadas boas razes para se questi onar a exati do real
das medi es anteri ores. Na ci nci a e na Fi l osofi a, nada deve ser con-
si derado sagrado. A verdade sem dvi da sagrada; mas, como di sse
OS ECONOMISTAS
210
161 Plutology: or The Theory of the Efforts to Satisfy Human Wants. Por Wi l l i am Edward
Hearn, LL. D., professor de Hi stri a e Economi a Pol ti ca na Uni versi dade de Mel bourne.
Londres, Macmi l l an and Co., 1864. p. 329.
Pi l atos, o que a verdade? Mostrem-nos o cri tri o i nfal vel e i ndu-
bi tvel da verdade absol uta, e ns o conservaremos como al go sagrado
e i nvi ol vel . Mas, na ausnci a de tal cri tri o i nfal vel , todos ns temos
i gual di rei to de andar s apal padel as sua procura, e no se deve
permi ti r que ni ngum, nenhuma escol a ou faco eri ja um padro de
ortodoxi a que tol ha a l i berdade da i nvesti gao ci ent fi ca.
Acrescentei essas pal avras porque crei o que exi ste certo medo
quanto i nfl unci a demasi ada de al guns escri tores di tatori ai s na Eco-
nomi a Pol ti ca. Protesto contra a defernci a de permi ti r que qual quer
homem, seja John Stuart Mi l l , Adam Smi th ou Ari sttel es, entrave a
i nvesti gao. Nossa ci nci a tornou-se demasi adamente estagnada, e
nel a se apel a para opi ni es, em vez de uti l i zar a experi nci a e a razo.
Exi stem propostas val i osas para o avano da ci nci a conti das
nos trabal hos de escri tores como Seni or, Cai rnes, Macl eod, Cl i ffe-Lesl i e,
Hearn, Shadwel l , para no menci onar uma l onga l i sta de economi stas
franceses de Baudeau e Le Trosne at Basti at e Courcel l e-Seneui l ;
el es so, porm, menosprezados na I ngl aterra, porque o mri to de seus
trabal hos no foi reconheci do por Davi d Ri cardo, os doi s Mi l l s, Prof.
Fawcett e outros que tornaram a escol a ri cardi ana ortodoxa o que el a
. Nessas ci rcunstnci as, um servi o posi ti vo romper a montona
repeti o das doutri nas questi onvei s em curso, mesmo arri scando-se
a novo erro. Acredi to que a teori a apresentada aqui pode revel ar-se
exata; mas, de qual quer modo, no ser i nti l se fi zer com que a i n-
vesti gao se di ri ja base e forma verdadei ras dessa ci nci a que se
l i ga to di retamente ao bem-estar materi al da humani dade.
J EVONS
211
APNDICES
APNDICE I
Nota do Editor Sobre a Teoria dos J uros do Autor
meu i ntui to mostrar nesta Nota que verdadei ra a teori a dos
juros apresentada pel o autor no cap tul o VI I (p. 147-152), at onde el a
al cana; e que est de acordo com a teori a moderna da produti vi dade
margi nal , se i nterpretada da forma que el e provavel mente ti nha em
mente. O tratamento breve e conci so do assunto na seo Expresso
Geral da Taxa de Juros fez com que el e fosse mal compreendi do; no
fora de propsi to, portanto, fazer uma tentati va de ampl i ar a exposi o
do autor, conforme o senti do que, aps repeti das consi deraes, crei o
que el a possui . Posso acrescentar que fi quei desapontado com o resul -
tado da tarefa de pesqui sar as anotaes manuscri tas de meu pai com
o fi m de encontrar uma que escl arecesse mai s suas opi ni es com rel ao
teori a dos juros. Parece que el e no l evou adi ante o assunto.
Ao escrever sobre os juros, meu pai segui u a prti ca i nfel i z da
escol a ri cardi ana de abstrai r certas noes para tratar do tema, ad-
mi ti ndo que seus l ei tores esti vessem fami l i ari zados com as rel aes
entre el as e adotassem o mesmo ponto de vi sta. El e, sem dvi da, es-
creveu para estudantes j fami l i ari zados com as doutri nas econmi cas
em curso, e no para o pbl i co em geral . Crei o que um estudo de seus
exempl os, especi al mente das sees Tendnci a dos Lucros a um M -
ni mo e Vantagens do Capi tal para Ati vi dade Econmi ca (p. 150-152),
torna cl aro que el e compreendi a bem que sua frmul a para a taxa
de juros podi a tambm ser consi derada uma expresso da taxa final
de rendimento, ou produtividade marginal do capi tal , uma quanti dade
que, na prti ca, regul a com a taxa de juros pel a qual o capi tal pode
ser obti do. Os exempl os na p. 151 j me parecem sufi ci entes para
mostrar que el e no subesti mou, como foi sugeri do por Marshal l ,
162
a
215
162 Ver a cr ti ca de Marshal l da Theory of Political Economy, na Academy de 1 de abri l de
1872; ci tada nos Principles of Economics de Marshal l , 5 ed. (1907), p. 521, 4 ed. (1898),
p. 591.
i mportnci a da oferta na determi nao da taxa de juros do mercado.
El e no pretendeu fornecer uma rel ao compl eta dos fatores deter-
mi nantes da taxa de juros; estava, si m, preocupado em mostrar que
el a est mui to mai s i nti mamente rel aci onada com a proporo entre
a quanti dade de capi tal e o trabal ho em poder de uma comuni dade
do que com a taxa de sal ri os (p. 151). Provavel mente, el e admi ti u de
manei ra i mpl ci ta que a oferta de capi tal permaneci a constante; e assi m
poss vel que, mesmo no i nterpretando mal a teori a das causas que
determi nam a taxa de juros, el e tenha dei xado de dar o devi do peso
ao cresci mento das formas de poupana como um fator causador da
queda hi stri ca da taxa de juros.
Um ponto que, s vezes, se perde de vi sta que no o capi tal
em si que produti vo, mas si m o i nvesti mento de capi tal durante
certo per odo de tempo. Usando o termo capitalizao, adotado pel o
autor no Apndi ce I I deste l i vro, que deve ser entendi do com o mesmo
si gni fi cado de montante de investimento, podemos di zer que certa quan-
ti dade de produto resul ta de determi nado montante de capi tal i zao.
A capi tal i zao uma quanti dade de duas di menses representadas
por CT; e pode-se obter aumento da capi tal i zao aumentando o capi tal
ou o tempo. Em qual quer um dos casos haver um aumento do produto.
Portanto, se estamos consi derando o produto si mpl esmente uma quan-
ti dade e no uma renda ou uma taxa de produo, s podemos conceber
uma produti vi dade margi nal da capi tal i zao e no do capi tal . Na teori a
da di stri bui o, entretanto, correto tratar da produti vi dade margi nal
do capital enquanto tal ; poi s as partes dos outros fatores de produo
devem ser da espci e da renda e, se o produto do capi tal for tratado
como uma renda extra da durante certo tempo de certo montante de
i nvesti mento de capi tal , o tempo se anul a. A produti vi dade margi nal ,
porm, uma i di a deri vada. Ao i nvesti gar as propri edades funda-
mentai s do capi tal , mai s ti l ver certa parte do produto como resul -
tante de determi nada capi tal i zao, uma vez que descobri mos na pr-
ti ca que um aumento de capi tal i zao si gni fi ca freqentemente tanto
mai or durao do investimento numa mqui na ou num bem i sol ado,
quanto aumento do capi tal a i nvesti do.
Tendo em mente que Expresso Geral da Taxa de Juros deveri a
ser Expresso Geral da Produti vi dade Margi nal da Capi tal i zao,
podemos agora passar i nvesti gao das condi es em que apl i cvel
di retamente a frmul a dada pel o autor nesta di f ci l seo, e podemos
observar as que el e provavel mente ti nha em mente. O pri mei ro caso
a ser consi derado aquel e ao qual a frmul a se apl i ca de manei ra
mai s evi dente possi vel mente aquel e que sugeri u essa frmul a par-
ti cul ar ao autor , ou seja, quando, pel o gasto de certa quanti dade
de trabal ho, se i ni ci a um processo natural que produz um bem de
uti l i dade conti nuamente crescente em rel ao ao tempo durante o qual
se dei xa agi r o processo. Quando se dei xa o vi nho amadurecer, ou
OS ECONOMISTAS
216
quando se pl antam rvores, como foi menci onado pel o autor na p. 238,
o val or de mercado do produto cresce conti nuamente enquanto passa
o tempo (admi ti ndo-se que o preo real i zvel permanea constante)
at que se ati nja certo l i mi te fi nal . Contudo, antes que se ati nja esse
l i mi te, a taxa de aumento do val or di mi nui ; e a durao mai s l ucrati va
do i nvesti mento determi nada pel a taxa de juros em vi gor. Nesse
caso, Ft o val or do vi nho ou das rvores em dado momento, e Ft
a taxa de aumento desse val or naquel e momento, que se deve ao fato
de se dei xar o produto conti nuar i nvesti do por um pouco mai s de tempo.
O aumento da capi tal i zao obti do vari ando-se o tempo. A expresso
si mbl i ca mai s adequada para a produti vi dade margi nal da capi tal i -
zao nesse caso seri a
p
c. t
, onde c o capi tal expresso em di nhei ro,
t o tempo, e p, o produto em di nhei ro.
No segundo caso, o produto de certo montante de trabal ho no
se compl eta apenas pel a ao de um processo natural , requerendo a
apl i cao adi ci onal de trabal ho, assi sti do por mqui nas e ferramentas
para l ev-l o condi o de um bem acabado. Em outras pal avras, o
produto do trabal ho i ni ci al , que o capi tal , consti tui a matri a-pri ma
de uma ati vi dade econmi ca, como por exempl o a l , que por fi m
mol dada em chapus de fel tro, para ci tar o exempl o sugeri do por Mar-
shal l .
163
Podem-se i magi nar mui tos processos ou combi naes di ferentes
numa fbri ca, cada um dos quai s requerendo um per odo de tempo
di ferente para converter o materi al bruto em chapus acabados, porm
acarretando todos el es as mesmas despesas de trabal ho e capi tal . Se
um processo que l eva mui to tempo est sujei to competi o com um
que l eva menos tempo, el e deve produzi r para a mesma quanti dade
de matri a-pri ma tantos chapus a mai s do que o processo mai s rpi do,
de forma a pagar pel o menos a taxa de juros corrente sobre o val or
dos chapus produzi dos pel o processo mai s rpi do durante a extenso
de tempo necessri a. Na prti ca, um processo mai s demorado geral -
mente produz um produto de qual i dade mel hor em vez de mai or quan-
ti dade, mas podemos l evar em consi derao apenas o val or do produto.
Os processos de durao vari vel do, no fi nal , produtos de val or di ferente,
sendo que o val or pode ser consi derado uma funo da durao do processo
em s mbol os, o val or Ft na frmula do autor, enquanto Ft a proporo
do val or adi ci onal obti do adotando-se um processo l i gei ramente mai s de-
morado quanto ao espao de tempo necessri o at sua concl uso. Ao deci di r
qual dos doi s processos adotar, um fabri cante i nteressado deveri a esti mar
a produti vi dade de um acrsci mo de capi tal i zao obti do por um prol on-
gamento do tempo. A converso do capi tal que transforma um prol onga-
J EVONS
217
163 Na sua cr ti ca, ci tada nos Principles, ibid.
mento de tempo em um aumento do capi tal i nvesti do em matri a-pri ma
no al tera o pri nc pi o fundamental .
Passando agora do caso do capi tal i nvesti do em matri a-pri ma
os bens passi vos do Prof. Cl ark para o do capi tal i nvesti do em
mqui nas e outros i nstrumentos de produo, encontramos uma i n-
verso do probl ema. No h aqui um i nvesti mento de capi tal que cresce
com a passagem do tempo, mas o capi tal i nvesti do comea i medi ata-
mente a se desi nvesti r, e o desi nvesti mento conti nua de manei ra re-
gul ar at que a ferramenta se gaste.
164
Entretanto, podem-se observar
aqui as mesmas rel aes entre as quanti dades, como nos casos prece-
dentes; a di ferena pri nci pal que o capi tal i nvesti do assi m como o
tempo so nesse caso aumentados del i beradamente para se obter um
aumento de capi tal i zao. A vi da de uma mqui na pode ser aumentada
pel o i nvesti mento de um capi tal supl ementar para que seja constru da
com mai s cui dado. Contudo, para equi parar esse caso aos outros, de-
vemos admi ti r que um aumento da vi da da mqui na no afeta o seu
ri tmo de produo dos bens fabri cados, tratando-se na verdade da mes-
ma mqui na, em todos os aspectos, exceto que dura mai s. Se um au-
mento do capi tal i nvesti do produzi sse sempre um aumento proporcional
na vi da de uma mqui na, no haveri a nenhuma vantagem em tornar
as mqui nas durvei s; haveri a, contudo, uma tendnci a para i nvesti r
em durabi l i dade quando o capi tal fosse abundante.
Nesse caso de i nvesti mento em uma mqui na, a produti vi dade
da capi tal i zao representada pel a proporo do acrsci mo do produto
em di nhei ro obti do da mqui na durante o aumento de sua vi da em
rel ao ao aumento de capi tal i zao (capi tal x tempo) resul tante dos
aumentos do capi tal e da durao mdi a de seu i nvesti mento. Repre-
sentada si mbol i camente, i gnorando o resul tado das di ferenas, a pro-
duti vi dade da capi tal i zao, no caso da mqui na, ser
p
1
2
( . t + . c)
onde representa todo o capi tal i nvesti do e , a vi da da mqui na.
Pressupondo condi es anl ogas ao pri mei ro caso, a saber, que todo o
capi tal permanece i nvesti do por todo o tempo t, ou que estamos l i dando
com o montante mdi o do capi tal i nvesti do c e com o tempo mdi o de
seu i nvesti mento t, a frmul a si mpl esmente
OS ECONOMISTAS
218
164 Prefi ro empregar o termo to evest, que mai s eufni co do que to uninvest (desi nvesti r),
usado pel o autor, ao qual corresponde exatamente em senti do. Quer parecer-me prefer vel ,
i gual mente, do ponto de vi sta eti mol gi co.
p
c. t + t. c
No tercei ro caso, o aumento de capi tal i zao obti do aumentan-
do-se apenas o capi tal , como quando se mel hora uma mqui na ou uma
construo desti nada a durar apenas determi nado per odo, uni camente
para aumentar o val or de seu produto durante aquel e per odo. A re-
presentao si mbl i ca ento
p
t. c
em todas as formas de i nvesti mento,
onde t a durao mdia do i nvesti mento.
I nvesti mentos i sol ados de capi tal representados por cada um des-
ses casos podem ser i ntegrados num fundo cont nuo de capi tal que
produz um fl uxo regul ar de produto em di nhei ro (um rendi mento vi r-
tual ), al m de se manter i ntato. A noo de produti vi dade da capi ta-
l i zao se apl i ca si tuao como no tercei ro dos casos consi derados,
mas, para express-l a de acordo com a i di a de um rendi mento ori gi -
nando-se de um fundo de capi tal , podemos escrev-l a como
1
c
.
p
t
, que, no l i mi te, o mesmo que
d
2
p
dc . dt
.
A hi ptese que parece embasar a argumentao do autor na seo
Expresso Geral da Taxa de Juros semel hante ao pri mei ro dos trs
casos aci ma, porm numa forma i ntegrada. O capi tal i nvesti do e man-
ti do em todas as formas f si cas poss vei s aparece em conjunto como
um fundo em constante cresci mento. O produto que devi do essen-
ci al mente ao pri mei ro i nvesti mento de capi tal ou, nas pal avras do
autor, devi do ao trabal ho que o capi tal manteve no desfrutado
medi ante o consumo, e si m conti nuamente rei nvesti do. como se um
homem apl i casse al gum di nhei ro no seu negci o e o dei xasse l para
crescer a juros compostos, supondo-se que el e fosse capaz de reservar
parte do l ucro resul tante do i nvesti mento de seu capi tal , e rei nvesti -l a
conti nuamente.
165
Como nos casos da maturao do vi nho e do cresci -
mento das rvores, a proporo entre a taxa de aumento de capi tal e
o capi tal total acumul ado torna-se por fi m mui to pequena, na medi da
em que o montante de capi tal i nvesti do se torna mui to grande. Em
sua di scusso sobre a tendnci a dos l ucros a um m ni mo, menci onada
na seo em questo e tratada com mai s profundi dade na p. 151, o
autor evi dentemente estende sua hi ptese de modo a abarcar o rei n-
vesti mento, por parte de toda a comuni dade, do total do produto es-
pec fi co do capi tal , ou pel o menos uma quanti a anual equi val ente ao
J EVONS
219
165 De prefernci a no caso da produti vi dade composta, poi s a produti vi dade pode ser vari vel .
produto anual de todo o capi tal i nvesti do, uma taxa de poupana que
provavel mente supera a real i dade. Sua teori a permanece verdadei ra,
entretanto, na hi ptese de ser consumi da certa parte do produto anual
do capi tal ; e, quanto mai or for essa parte, mai s l enta ser a queda da
taxa de juros. Sem dvi da, na real i dade, a taxa de juros manti da
por mei o de i nvenes e do desenvol vi mento de novas necessi dades
pel a educao, assi m como pel o afl uxo de capi tal para novos pa ses.
A representao si mbl i ca da teori a do autor pode ser i nterpre-
tada com a ajuda do grfi co (Fi g. 14) na p. 153, que reproduzo aqui
(Fi g 15), com a l i gei ra di ferena de mostrar a i nterseco da curva pq
com o ei xo oy na al tura h, uma vez que a i nterseco deve ocorrer a
uma di stnci a fi ni ta. A vari vel i ndependente,
Figura 15
tomada como absci ssa, o montante de capi tal i nvesti do. Pr ovavel -
mente, admi ti u-se que as quanti dades de tr abal ho e dos outr os fa-
tor es de pr oduo com os quai s o capi tal i nvesti do per manecem
i nvar i vei s, em pr opor o constante entr e si . A or denada r epr esenta
a pr oduti vi dade mar gi nal (a taxa fi nal de r endi mento do autor ) de
uni dades adi ci onai s de capi tal ; e um retngul o, como omps, r epr e-
senta, por tanto, o r endi mento total que o pr oduto espec fi co do
capi tal om, ou seja, os jur os totai s.
Tendo em mente a i di a de um fundo de capi tal que aumenta
com o transcurso do tempo, vamos admi ti r que o tempo se mea ao
l ongo de um ei xo oz, perpendi cul ar ao pl ano do papel . Durante um
pequeno i nterval o de tempo, o retngul o omps cresce do pl ano do papel
em di reo ao l ei tor e, na medi da em que o capi tal aumenta, mp di mi nui
l i gei ramente, bai xando um pouco dessa forma a l i nha sp.
OS ECONOMISTAS
220
Figura 16
Reduzi ndo o i nterval o de tempo ao l i mi te, a fi gura se torna prati ca-
mente um paral el ep pedo retangul ar, como na Fi g. 16.
Nessa del gada fi gura sl i da, ov representa t; om representa c,
o fundo de capi tal real mente i nvesti do no momento; o retngul o omps
representa
c
t
, ou os juros totai s sobre o capi tal , que se supe serem
somados ao capi tal e podem portanto ser consi derados como a taxa de
cresci mento do fundo de capi tal . Portanto, os representa
1
c
.
c
t
. En-
tretanto, a l i nha mp, que i gual a os, pode ser consi der ada de outra
manei ra. A rea ohpm representa todo o rendi mento da ati vi dade eco-
nmi ca (que podemos expressar por
p
t
) ou seja, as partes de todos
os agentes da produo das quai s o rendi mento dos capi tal i stas (omps)
apenas uma. Di ferenci ando essa taxa total de produo de di nhei ro
pel a ati vi dade econmi ca (ohmp) em rel ao ao capi tal (om), obtemos
a produti vi dade margi nal do capi tal , que podemos expressar por
(
p
t
)
c
,
e que representada por mp. Temos da a equao
1
c
.
c
t
=
(
p
t
)
c
,
.
J EVONS
221
Essa equao pode ser faci l mente deri vada de outra manei ra. Admi -
ti ndo-se o ajustamento mtuo da produti vi dade margi nal e da taxa de
juros, o termo do l ado di rei to da l ti ma equao, se mul ti pl i cado pel o
capi tal total c, fornece o total de juros anuai s pagos. Mas, na hi ptese
do autor de que os juros totai s so conti nuamente somados ao capi tal ,
podemos escrever
c
t
= c
.
(
p
t
)
c
,
que se tor na i dnti ca equao anter i or , ao se tr anspor c para o
outro lado.
Uma vez que
1
c
.
c
t
si mpl esmente a expresso do autor
F t
Ft
em
outra si mbol ogi a, podemos agora ver cl aramente as l i gaes entre as
di ferentes rel aes quanti tati vas dos juros e do capi tal , como expressas
por Marshal l e autores recentes e pel o nosso autor. A frmul a deste
l ti mo no expl i ca como so determi nados os juros. El a apenas uma
representao si mbl i ca de uma rel ao bem conheci da. No entanto,
o texto que a segue torna bastante cl aro, crei o eu, que o autor ti nha
chegado concepo da produti vi dade margi nal do capi tal , qual el e
dava o nome de taxa fi nal de rendi mento, e ti nha compreendi do o
papel fundamental que el a desempenha na determi nao da demanda
de capi tal . A frase urgnci a da necessi dade por mai s capi tal , usada
freqentemente no tercei ro pargrafo da seo Tendnci a dos Lucros
a um M ni mo (ver p. 151), s pode si gni fi car a produti vi dade margi nal ;
e, sem dvi da, el e est-se referi ndo demanda, poi s fal a da oferta em
separado, como estando l i mi tada pel a fal ta de segurana em um caso, e
sendo abundante em outro.
166
Mui tas passagens mostram que o autor
tambm compreendeu bem as causas que l evam ao decl ni o da produti -
vi dade margi nal com o aumento do capi tal di sposi o da comuni dade.
Deve-se chamar ateno para um l apso, ou erro i nconsci ente do
autor na expl i cao da Fi g. 14. Na p. 152, el e di z que o produto au-
mentado devi do a um acrsci mo de capi tal , seri a medi do pel a l i nha
qn, de modo que representar Ft.
OS ECONOMISTAS
222
166 bvi o que se a sentena no mei o da p. 151 ti vesse si do escri ta com mai s cui dado, assumi ri a
a segui nte forma: Entendo que os juros so determi nados pel o aumento do produto, cor-
respondente ao aumento de capi tal obten vel por parte do trabal hador... Essa asserti va
certamente uni l ateral ; fato que o autor est aqui preocupado em refutar a teori a do
fundo de sal ri os; no caso el e advoga a substi tui o dessa i di a pel a produti vi dade; el e o
faz com sua costumei ra verve, e sem atender para as i nmeras restri es com as quai s
Marshal l tem razo em del ei tar-se.
Deve ter pretendi do escrever representar
F t
Ft
, ao i nvs de Ft,
poi s al gumas l i nhas abai xo di z cl aramente que quando o capi tal om,
a taxa de juros medi da por pm, que i gual a qm, sendo que na
seo anteri or (p. 147) afi rmou cl aramente que a taxa de juros era
representada por
F t
Ft
.
Na expl i cao aci ma sobre as sees da teori a dos juros, no crei o
ter si do cul pado de l er i nconsci entemente nas pal avras do autor os re-
sul tados das descobertas posteri ores. Admi to que o pri mei ro pargrafo da
seo Expresso Geral da Taxa de Juros (p. 147) pass vel de ser i n-
terpretado em condi es di ferentes das que apresentei aqui como sendo
provavel mente aquel a que o autor ti nha em mente, uma vez que sua
argumentao e sua frmula se aplicam de igual modo, quaisquer que
sejam as condi es pressupostas, e pode mui to bem ser que o autor i n-
tencionalmente apresentou sua argumentao numa forma genri ca, poi s
sabia que, independente das condi es que fi zessem o capi tal ser i nvesti do
por um i nterval o de tempo adi ci onal , a produti vi dade desse capi tal durante
esse tempo seri a medi da de acordo com sua frmul a.
A meu ver, qual quer um que compare com ateno a seo Van-
tagens do Capi tal para a Ati vi dade Econmi ca (p. 152) com a di f ci l seo
da Expresso Geral da Taxa de Juros, admi ti r que, embora no o
tenha expressado com cl areza, o Prof. Jevons descobri u, anteci pando-a
i ntei ramente, a teori a moderna da aproxi mao dos juros produti vi dade
margi nal do capi tal . Essa opi nio confi rmada pel a exposi o conci sa
mas cl ara da sua teori a dos juros na seo 24 de seu Brief Account of a
General Mathematical Theory of Political Economy, apresentado perante
a Bri ti sh Associ ati on em 1862 e publ i cado na revi sta de 1866 da Stati sti cal
Soci ety. Posso remeter o l ei tor p. 231 do Apndi ce I I I deste vol ume,
onde esse trabal ho republ i cado na ntegra.
i nteressante notar que a opi ni o do autor quanto causa de-
termi nante dos sal ri os est tambm i ntei ramente de acordo com a
teori a moderna da produti vi dade margi nal , como demonstrado por
numerosas passagens dos cap tul os sobre o trabal ho e a renda da terra.
El e no parece, contudo, ter percebi do que o mesmo pri nc pi o governa
a renda da terra; e, como Wi cksteed observou, no h nenhum i nd ci o
de que el e tenha concebi do a i di a de uma teori a geral da di stri bui o
pel a produti vi dade margi nal .
J EVONS
223
APNDICE II
Um Fragmento Sobre o Capital Destinado a Fazer Parte do
Captulo XXV do Livro Pri nci pl es of Economi cs do Autor
Capitalizao
No h nenhuma parte do tema da Economi a que seja ao mesmo
tempo to i mportante e to di f ci l de ser compreendi da preci sa e cor-
retamente como o capi tal . Por mai s di f ci l que seja desvendar as com-
pl exi dades da teori a do val or e evi tar confundi r i di as, aqui nos assedi a
uma compl exi dade e confuso de i di as ai nda mai or.
comum comear o assunto di zendo que o capi tal o tercei ro
requi si to do trabal ho que el e consi ste em um estoque acumul ado
do produto do trabal ho passado, apl i cado para fomentar a produo
de mai s ri queza. O capi tal , di sse Seni or, provm da absti nnci a; e por
essa pal avra el e expressa aquel e agente, di sti nto do trabal ho e da
ao da Natureza, cujo concurso necessri o para a exi stnci a do ca-
pi tal , e que est em rel ao ao l ucro assi m como o trabal ho est para
os sal ri os.
167
Porm, de acordo com a opi ni o e a nomencl atura aqui
adotadas, di r-se-i a que a absti nnci a capi tal i zao e a capi tal i zao
absti nnci a. Se exi ste al guma sati sfao que poder amos consegui r
pel o trabal ho presente, mas nos abstemos del a e usamos o trabal ho
para um fi m di stante, embora mai or, ei s aqui a capi tal i zao propri a-
mente di ta.
Um pouco de refl exo mostrar que, para evi tar confundi r i di as,
no devemos fal ar do capi tal , e si m da capi tal i zao. O capi tal , se
consi ste em ri queza concreta, apenas uma coi sa, e no envol ve ne-
nhuma i di a de tempo; no entanto no podemos fazer nenhuma refe-
rnci a ao uso de capi tal sem i ntroduzi r o tempo como a essnci a da
questo. , na verdade, i mposs vel di zer o que o capi tal el e no
225
167 Encycl. Metropolitana. 1836. Publ i cado separadamente, Political Economy. 5 ed., 1863. p. 59.
propri amente qual quer coi sa ou arti go, no mai s do que o crdi to
seja uma coi sa. Devemos, com efei to, usar o capi tal no abstrato com
o crdi to. O l ti mo envol ve necessari amente tempo; tambm o capi tal
envol ve tempo necessari amente. El e medi do pel a uti l i dade que certo
trabal ho possa ter, mul ti pl i cada agora pel o tempo de absteno do seu
desfrute. O crdito uma coi sa abstrata i ntang vel o poder de obter
emprsti mos de propri edade. Do mesmo modo o capital o poder e a
vontade de conceder emprsti mos, tambm uma i dia abstrata intang vel .
Aps al guma refl exo, evi dente que no h nada, na verdade,
que separe certos bens como sendo capi tal por natureza, comparados
a outros bens que no so capi tal . O mesmo saco de fari nha pode ter
que mudar seu papel , segundo as mudanas de pensamento do seu
propri etri o. O capi tal o poder de adiar o gozo dos frutos do trabalho
(Lai ng) qual quer coi sa que sati sfaa o trabal hador no presente em
vez de l ev-l o a produzi r para as necessi dades momentneas. Prati ca-
mente, no h parte al guma da propri edade da soci edade que no
possa, portanto, contri bui r para a capi tal i zao. No preci so mui ta
refl exo para mostrar que no podemos, de modo al gum, apontar qual -
quer parte da ri queza da nao e di zer que el a capi tal . O capi tal ,
di zem [os economi stas cl ssi cos], ri queza empregada na produo de
mai s ri queza. Assi m o po, acrescentari am el es, que dado ao tra-
bal hador produti vo. Mas, nesse caso, at que el e seja de fato dado,
no podemos ter certeza de qual ser seu desti no. O po da mesma
padari a pode al i mentar o operri o trabal hador, o mendi go vadi o, o
i ndi v duo abastado que vi ve de rendas. O po o mesmo di ferente
seu uso. , portanto, para seu emprego, e no para a prpri a coi sa,
que devemos apl i car a i di a de capi tal ou capi tal i zao.
Como i remos di sti ngui r entre o que capi tal e o que no ?
Fazer uma coi sa antes que el a seja necessi tada e mant-l a mo
apenas no l eva a nenhum ganho de capi tal . O trabal ho que foi em-
pregado nel a poderi a, ao i nvs, ter si do uti l i zado para faci l i tar a pro-
duo. vantajoso estar capaci tado para trabal har antes que o resul -
tado seja necessi tado e desfrutado, porque as coi sas podem assi m ser
fei tas com mui to mai or faci l i dade e abundnci a, e o capi tal que per-
mi te i sso. A soma total do capi tal do pa s compe-se, portanto, do total
das coi sas que sati sfazem s necessi dades dos i ndi v duos. (...) No h
necessi dade de di zer que o capi tal o produto do trabal ho passado.
El e apenas ri queza empregada de determi nado modo com determi -
nado objeti vo. No i mporta se el e provm de uma rvore de fruta-po
ou de um ri o bem abasteci do.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bvi o que, se cada poro de um bem fosse i medi atamente
consumi da assi m que fosse obti da, nunca haveri a mai s do que uma
quanti dade i nfi ni tamente pequena em uso em dado momento. (...) No
OS ECONOMISTAS
226
i mporta, at onde nos di z respei to, se o bem est dentro ou fora do
estmago. Mesmo na durao do efei to de uma refei o h uma pequena
capi tal i zao.
Vantagens da capitalizao
No di f ci l ver que qual quer avano, mesmo o mai s si mpl es,
nas artes da i ndstri a necessi ta de capi tal i zao. No estado mai s ru-
di mentar da soci edade, um sel vagem pri mi ti vo supre cada necessi dade
quando el a surge. Quando el e est com fome, vai fl oresta e caa um
ani mal , ou col eta sementes de capi m, como os nati vos da Austrl i a.
Mas, a menos que o sel vagem possa seguramente contar com sucesso
i medi ato, pode preci sar da capi tal i zao em sua forma mai s si mpl es.
A necessi dade de capi tal i zao surge de vri as manei ras, rel a-
ci onadas entre si apenas em parte. A recorrnci a r tmi ca das estaes
a torna prati camente i ndi spensvel nas regi es temperadas que pro-
duzem apenas uma col hei ta por ano. Da , uma nao, para ser agr col a
nessas regi es, deve ter um estoque de comi da tal que a mantenha
durante o i nterval o entre um ano e o prxi mo. Como di z o provrbi o,
enquanto o cereal cresce, o caval o emagrece, uma conti ngnci a contra
a qual preci so se precaver. De outro modo, ser preci so l anar mo
de manei ras pri mi ti vas mai s extenuantes de arranjar comi da.
Contudo, h mui tas manei ras de empregar vantajosamente o tra-
bal ho que envol ve capi tal i zao. Todos os usos de ferramentas esto nessa
categori a, pois uma ferramenta um i nstrumento fei to para auxi l i ar ope-
raes posteri ores. O trabal ho gasto nas ferramentas no rendeu benef ci o
i medi ato, conduzi u apenas a um mai or benef ci o futuro. Mui tas ferramen-
tas duram semanas, meses ou anos; de modo que o trabal ho real i zado
por el as s pago depoi s desse i nterval o de tempo.
Vamos agora anal i sar os moti vos que podem l evar acumul ao
de ri queza:
1) O mai or provei to a ser obti do com o consumo futuro;
2) A cont nua uti l i zao proveni ente da posse nesse mei o tempo;
3) Os juros a serem obti dos pel o i nvesti mento.
Um excedente de tri go num ano de boa col hei ta posto de l ado
natural mente para ser consumi do quando a oferta for menos abun-
dante. O estoque pode ser reti do tanto pel o produtor e pel o consumi dor,
como por especul adores. Num estado si mpl es de soci edade como na
Noruega, o agri cul tor guarda seu cereal em seu prpri o cel ei ro, e o
consome de acordo com a necessi dade.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preci so entender cl aramente que a capi tal i zao, no senti do
J EVONS
227
de l onga durao do trabal ho, no nunca um fi m em si mesmo.
apenas uma condi o que em geral deve ser tol erada. Por i sso, todo
aperfei oamento que di mi nui o i nterval o mdi o entre o trabal ho e sua
uti l i zao bom porque l i bera o capi tal para outros objeti vos. Por
exempl o, o transporte rpi do de mercadori as pel as estradas de ferro
evi ta a l onga demora das mercadori as que eram transportadas por
estradas ou por ri os, e economi za o i nvesti mento de capi tal nesse i n-
terval o. O fabri cante ou comerci ante pode renovar seu estoque tantas
vezes mai s por ano. Como i sso se apl i ca a grande parte da total i dade
da ri queza fl utuante do pa s, uma quanti dade i gual de capi tal presta
servi os mai s efeti vos para a ati vi dade econmi ca.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exi ste uma suposi o geral favorvel produo de objetos per-
manentes; porm, nesse caso, esses objetos no devem ser permanentes
s na forma, mas tambm devem ter utilidade permanente. Construi r
de manei ra custosa e sl i da uma estrutura que necessri a apenas
por certo nmero de anos no s uma perda de trabal ho como tambm
pode at acarretar o trabal ho de remov-l a. sob esse aspecto que
podemos, de certo modo, descul par as construes frgei s dos especu-
l adores. As vi zi nhanas se transformam, e uma casa que se assenta
mui to bem agora pode ter que ser demol i da daqui a ci nqenta anos.
Suponhamos que uma casa, para durar ci nqenta anos, possa ser cons-
tru da com 3 mi l l i bras esterl i nas, mas que para faz-l a durar cem
anos seja preci so gastar, a pri nc pi o, mai s 1 000 l i bras. Mas, se essas
1 000 l i bras fossem postas de l ado e i nvesti das a juros compostos de
4%, ter-se-i am transformado, no fi nal de ci nqenta anos, em 7 107
l i bras; e mesmo no fi nal de 28 anos teri am rendi do o sufi ci ente para
reconstrui r a casa da mesma manei ra que antes. preci so haver, por-
tanto, grande ganho em conforto, sade, bel eza etc., na casa mai s cara,
para pagar o custo superi or.
Capital investido na Educao
No h nada mai s i mportante do que obter i di as cl aras do i n-
vesti mento de capi tal ao l ongo da vi da. At que ponto, por exempl o,
se i nveste capi tal no decorrer da educao uma cri ana na escol a
pri mri a, um meni no no col gi o secundri o, um rapaz na uni versi dade?
Segui ndo nosso pri nc pi o de que o adi antamento do prazer a i di a
fundamental , no h nenhuma di fi cul dade sri a.
O sustento e a educao de uma cri ana no resti tui o i nvesti -
mento porque a cri ana no capaz de ganhar nada. Portanto, no
se est devotando ao futuro nenhum trabal ho que poderi a ser devotado
ao presente. Quanto comi da e outros arti gos necessri os subsi stnci a
da cri ana, el es so si mpl esmente o tanto de bens que os pai s tm
OS ECONOMISTAS
228
obri gao de fornecer. Quer a cri ana trabal he ou no no futuro, a l ei
determi na que seja manti da e i r, em l ti mo caso, provi denci ar seu
sustento num asi l o.
Shadwel l ressal tou, com mui ta l gi ca e cl areza, que
se consi derarmos que a taxa comum de sal ri os o retorno do
capi tal gasto no sustento das cri anas antes que sejam capazes
de trabal har, devemos supor que os pai s cri em os fi l hos com o
ni co objeti vo de garanti r para si prpri os certa posi o no mundo,
e que no sejam i nfl uenci ados pel o prazer que el es prpri os ex-
peri mentam por possu rem uma fam l i a.
168
Devemos confrontar com o custo de qual quer processo as vantagens
ou prazeres col hi dos no decorrer do processo. Ora, se parte consi dervel
do prazer da vi da dos pai s provm do c rcul o fami l i ar, o gasto com os
fi l hos se paga na mesma ocasi o. A cri ana que i ngressa no trabal ho
comea l i vre de d vi das de capi tal , por assi m di zer.
Porm, o caso di ferente quando chegamos a uma i dade em que
se podem obter ganhos. Assi m, um rapaz entre 21 e 25 anos de i dade
poderi a estar ganhando um sal ri o de, di gamos, 75 l i bras por ano. Se,
ento, prefere estudar Di rei to, renunci a ao presente em troca de mai o-
res rendi mentos futuros. Essa a extenso da capi tal i zao. verdade
que el e necessi tar de sustento, que provavel mente ser de 150 l i bras
por ano. Devemos supor que el e obtenha i sso de ami gos ou de recursos
anteri ores. Mas, embora sejam gastas 150 l i bras por ano, i sso no
necessari amente a medi da da capi tal i zao. Parte do di nhei ro pode
ser gasta em di verti mentos desnecessri os etc., e apenas uma despesa.
Outra parte, contudo, gasta em taxas, l i vros e despesas necessri as
real mente capi tal i zada. A medi da da capi tal i zao no a di ferena
entre o que el e gastari a se no esti vesse estudando e o que real mente
gasta? Assi m:
Estudando No estudando
75 l i bras de renda prpri a. 75 l i bras de ganhos.
75 l i bras emprestadas dos ami gos. 75 l i bras de renda prpri a.
H cl aramente aqui uma capi tal i zao at a quanti a de 75 l i bras em-
prestadas dos ami gos. El e est gastando i sso agora com a necessi dade
de pagar a quanti a no futuro, e est renunci ando a poss vei s ganhos
i medi atos pel o trabal ho.
Um arteso, empregado durante o di a, trabal ha tambm durante
a noi te ou nas horas de l azer na fei tura de uma mqui na. A medi da
da capi tal i zao si mpl esmente o que el e poderi a ter ganho em sal ri os
J EVONS
229
168 SHADWELL, J. L. A System of Political Economy. 1877. p. 140.
i medi atos nessas mesmas horas, se no esti vesse despendendo o tra-
bal ho na mqui na. O que em geral chamado de seu capi tal apenas
o sal ri o comum com o qual se sustenta.
Parece bvi o que o que gasto com a educao de um homem
dei xa de ser capi tal , porque foi embora, e o resul tado est submeti do
s leis dos salrios. No o que era, mas o que . Desse modo, o
capi tal gasto de forma fi xa dei xa de estar submeti do s l ei s dos juros.
o capital livre que preci samos consi derar de natureza di sti nta, e
como capital propri amente di to. As outras formas pagam renda ou
sal ri os.
OS ECONOMISTAS
230
APNDICE III
Breve Exposio de uma Teoria Geral Matemtica da
Economia Poltica
[Republicao de um ensaio apresentado na seo F da British
Association of Cambridge em 1862 (ver o boletim de 1862 da
associao. Transacti ons of Secti ons, p. 157-158) e impresso na
ntegra pela primeira vez no Journal of the Stati sti cal Soci ety of
London. v. XXI X, 1866, p. 283.]
1) O presente ensai o descreve brevemente a natureza de uma
teori a da Economi a que reduzi r o probl ema pri nci pal dessa ci nci a a
uma frmul a matemti ca. Com efei to, a Economi a, tratando de quan-
ti dades, sempre foi , por necessi dade, matemti ca em seu tema, mas a
expresso ri gorosa e geral e a compreenso fci l de suas l ei s quanti -
tati vas foram di fi cul tadas devi do a um desprezo por aquel es mtodos
poderosos de expresso que foram apl i cados com tanto sucesso na mai o-
ri a das outras ci nci as. No se deve supor, contudo, que, porque a
Economi a se torna matemti ca na forma, el a i r, portanto, tornar-se
um objeto de cl cul o ri goroso. Seus pri nc pi os matemti cos podem tor-
nar-se expl ci tos e exatos, enquanto seus dados parti cul ares permane-
cem i nexatos como sempre.
2) Uma verdadei ra teori a da Economi a s pode ser obti da vol -
tando-se s grandes mol as das aes humanas os senti mentos de
prazer e sofrimento. Grande parte desses senti mentos surge peri odi ca-
mente das necessi dades e desejos comuns do corpo ou da mente, e do
esforo penoso que somos conti nuamente l evados a empreender para
que possamos sati sfazer nossos desejos.
A Economi a i nvesti ga as rel aes dos prazeres e sofri mentos co-
muns que surgem desse modo, e tem um campo de i nvesti gao bastante
ampl o. Porm, a Economi a no trata de todas as moti vaes humanas.
H moti vos que esto quase sempre presentes em ns, proveni entes
da consci nci a, compai xo, ou de al guma outra fonte moral ou rel i gi osa,
dos quai s a Economi a no pode e no pretende tratar. El es sero para
231
ns como foras extraordi nri as e perturbadoras; devem ser tratados,
se o forem, por outros ramos apropri ados do conheci mento.
3) Sempre consi deramos os senti mentos como sendo capazes de
mais ou menos, e sustento aqui que el es so quanti dades pass vei s de
tratamento ci ent fi co.
Nossa esti mati va das quanti dades comparati vas de senti mento
se real i za no ato de escol ha ou vol i o. Nossa escol ha de um procedi -
mento, entre doi s ou mai s, prova que, em nossa esti mati va, esse pro-
cedi mento promete o mai or sal do de prazer. Quando exi ste uma grande
fora preponderante em um l ado, a esti mati va do montante desse sal do
sem dvi da mui to grossei ra; porm, todos os pontos cr ti cos da teori a
dependero daquel a esti mati va ri gorosa dos moti vos opostos que rea-
l i zamos quando estes so quase i guai s, e hesi tamos entre el es.
4) Como observaram anteri ormente vri os autores, os senti men-
tos possuem duas di menses, intensidade e durao. Um prazer ou
um sofri mento pode ser tanto fraco como i ntenso, em qual quer momento
i ndi vi s vel ; el e pode tambm durar um tempo l ongo ou curto. Se a
i ntensi dade permanece uni forme, encontra-se a quanti dade de senti -
mento produzi do mul ti pl i cando-se as uni dades de i ntensi dade pel as
uni dades de durao. Mas, se a i ntensi dade, como geral mente o caso,
vari a como uma funo do tempo, encontra-se a quanti dade de senti -
mento por um somatri o i nfi ni tesi mal ou integrao.
Assi m, se a durao de um senti mento for representada pel a
absci ssa de uma curva, a i ntensi dade ser a ordenada, e a quanti dade
de senti mento ser a rea.
5) O prazer e o sofri mento, natural mente, se opem como quan-
ti dades posi ti va e negati va.
6) Um pri nc pi o da mente que qual quer teori a verdadei ra deve
l evar em conta o da antecipao. Todo prazer ou sofri mento futuro
esperado age sobre ns no presente com senti mentos si mi l ares, mas
de i ntensi dade di mi nu da em certa proporo sua i ncerteza e di stnci a
no tempo. Mas os efei tos da antecipao apenas compl i cam, sem al terar,
as outras partes da teori a.
7) Tai s so os pri nc pi os mai s i mportantes do senti mento, sobre
os quai s a Economi a se basei a. Uma segunda parte da teori a passa
dos senti mentos para os objetos teis ou utilidades, por mei o dos quai s
o senti mento de prazer aumentado, ou afastado o sofri mento.
Um objeto ti l se afeta agradavel mente os senti dos no momento
presente, ou quando, por anteci pao, espera-se que el e o faa em al gum
tempo futuro. Assi m devemos di sti ngui r cui dadosamente entre utili-
OS ECONOMISTAS
232
dade real, no uso presente, e utilidade futura estimada, que, todavi a,
descontando-se a fora i mperfei ta da anteci pao e a i ncerteza dos
aconteci mentos futuros, proporci ona certa uti l i dade presente.
8) O montante de utilidade correspondente ao montante de prazer
produzi do. Mas a apl i cao cont nua uni forme de um objeto ti l aos
senti dos ou desejos no i r comumente produzi r montantes uni formes
de prazer. Todo apeti te ou senti do se saci a com mai s ou menos rapi dez.
Uma vez recebi da certa quanti dade de um objeto, uma quanti dade
adi ci onal nos i ndi ferente, ou mesmo provoca desgosto. Cada apl i cao
sucessi va em geral exci tar os senti dos menos i ntensamente do que a
apl i cao anteri or. Portanto, a uti l i dade do l ti mo forneci mento de um
objeto di mi nui geral mente em certa proporo ou como certa funo
da quanti dade total recebi da. Exi sti ndo teori camente essa vari ao at
nas menores quanti dades, devemos retroceder a quanti dades i nfi ni te-
si mai s, e o que chamaremos de coeficiente de utilidade a rel ao
entre o l ti mo acrsci mo ou forneci mento i nfi ni tamente pequeno de
um objeto e o aumento de prazer que el e provoca, sendo ambos, na-
tural mente, esti mados em suas uni dades apropri adas.
9) O coefi ci ente de uti l i dade , portanto, certa funo geral mente
decrescente da quanti dade total do objeto consumi do. Essa a l ei mai s
i mportante de toda a teori a.
Essa funo de uti l i dade caracter sti ca de cada ti po de objeto
e, mai s ou menos, de cada i ndi v duo. Desse modo, o apeti te por po
si mpl es se sati sfaz mui to mai s rapi damente do que o apeti te por vi nho,
por roupas, por mob l i a el egante, por obras de arte ou, fi nal mente, por
di nhei ro. E cada pessoa tem seus prpri os gostos caracter sti cos nos
quai s el a prati camente i nsaci vel .
10) Uma tercei ra parte da teori a trata do trabalho; este, embora
seja o mei o pel o qual procuramos o prazer, vem sempre acompanhado
por um esforo penoso, que aumenta rapi damente como determi nada
funo da i ntensi dade ou da durao do trabal ho. Assi m, o trabal ho
ser exerci do tanto em i ntensi dade como em durao, at que um au-
mento adi ci onal seja mai s penoso do que agradvel o aumento do
produto assi m obti do. Aqui o trabal ho cessar, mas at esse ponto ser
sempre acompanhado por um excedente de prazer.
bvi o que o ponto fi nal do trabal ho depender do grau fi nal
de uti l i dade do objeto produzi do.
11) Admi to como evi dentemente verdadei ro que as habi l i dades
dos homens so i nfi ni tamente vari adas, seja por natureza, seja por
educao, de modo que tanto a mesma pessoa pode vari ar em sua
J EVONS
233
capaci dade de produzi r objetos di ferentes, como duas pessoas quai squer
podem vari ar com respei to ao mesmo objeto.
I sso, na verdade, est em oposi o di reta si mpl i fi cao errnea
da ci nci a fei ta por Ri cardo, quando admi te que todos os trabal hadores
tm certa capaci dade homognea, tratando as cl asses mai s el evadas
de mecni cos ou outros produtores especi al i zados como meras excees
regra.
12) A teori a da renda da terra, que vem a segui r, no subs-
tanci al mente di ferente da do Dr. Anderson e de autores posteri ores.
13) Chegamos agora teoria da troca, que uma deduo das
l ei s da uti l i dade.
Se uma pessoa possui um objeto ti l , mas um objeto pertencente
a outra pessoa ti ver mai or uti l i dade, el a fi car contente em dar aquel e
que possui em troca do outro. Porm, condi o necessri a que a outra
pessoa ganhe do mesmo modo, ou pel o menos no perca com a troca.
Se a troca ocorrer ou no, s poder ser determi nado esti man-
do-se a uti l i dade dos objetos para ambos os l ados, o que fei to i nte-
grando-se as funes de uti l i dade apropri adas at o l i mi te da quanti -
dade de cada objeto. Um sal do de uti l i dade em ambos os l ados l evar
a uma troca.
14) Suponhamos, contudo, que os objetos tei s em ambos os l ados
sejam bens dos quai s se pode dar mai s ou menos, i sso at quanti dades
i nfi ni tamente pequenas. Tal essenci al mente o caso das vendas co-
merci ai s comuns. No h aqui quanti dades de uti l i dade defi ni das a
serem comparadas entre si , mas uma pessoa dar outra um tanto
de sua mercadori a e em tal rel ao de troca que, se el a desse uma
quanti dade i nfi ni tamente pequena, tanto a mai s como a menos, el a
no ganhari a em uti l i dade com i sso. Os acrsci mos de uti l i dade ganhos
ou perdi dos devem ser i guai s nos l i mi tes das quanti dades trocadas,
de outro modo ocorreri a uma troca adi ci onal .
Todavi a, a razo entre os acrsci mos dos bens seri a i ndetermi -
nada caso no exi sti sse uma l ei segundo a qual todas as quanti dades
do mesmo bem, sendo de qual i dade uni forme, devem ser trocadas na
mesma proporo. Os l ti mos acrsci mos, portanto, devem ser trocados
na proporo do total de quanti dades trocadas. Expl i car em l i nguagem
comum como se d o ajuste sob essa condi o quase i mposs vel . Mas
todo o assunto se torna cl aro i medi atamente enunci ando que em toda
troca desse ti po temos duas quantidades desconhecidas e duas equaes
pel as quai s podemos determi n-l as. As quantidades desconhecidas so
as quanti dades de bens dada e recebi da. As quanti dades conheci das
so aquel as que os bens possu am anteri ormente. Temos tambm as
funes de uti l i dade dos bens com rel ao s pessoas. Pode-se assi m
OS ECONOMISTAS
234
estabel ecer uma equao em qual quer l ado entre a uti l i dade ganha e
a sacri fi cada pel a rel ao de troca dos bens i ntei ros, sobre os l ti mos
acrsci mos trocados.
15) Quando o objeto ti l i nfi ni tamente di vi s vel apenas em um
l ado da troca, teremos somente uma quanti dade desconheci da, qual
seja, a quanti dade do bem di vi s vel dada em troca do objeto i ndi vi s vel ,
e tambm uma equao para determi n-l a, a saber, a do l ado da pessoa
que possui o bem di vi s vel , que pode dar mai s ou menos pel o objeto
i ndi vi s vel . Mas i sso no se apl i ca a objetos ni cos, como uma esttua,
um l i vro raro ou uma gema, que no admi tem o concei to de mai s ou
de menos.
Quando ambos os bens so i ndi vi s vei s, como foi suposto pri mei ra-
mente (seo 13), no temos quanti dades desconheci das nem equaes.
16) As equaes numa troca podem revel ar-se i mposs vei s ou sem
sol uo. I sso i ndi car que no pode ocorrer nenhuma troca de bens, ou
que pel o menos uma das partes i nteressadas na troca no se sati sfaz
nem mesmo com todo o bem que pertenci a anteri ormente outra.
17) O pri nc pi o da troca deduzi do desse modo, no caso de duas
pessoas e doi s bens, se apl i ca a qual quer nmero de pessoas e de bens.
Portanto, se apl i ca no s ao comrci o geral i nterno de um pa s, mas
tambm ao comrci o entre grupos de homens ou naes o comrci o
i nternaci onal .
O nmero de equaes aumenta mui to rapi damente, de acordo
com a si mpl es l ei das combi naes.
18) Natural mente tai s equaes, como so tratadas aqui , so ape-
nas teri cas. Lei s to compl i cadas como as da Economi a no podem
ser determi nadas com preci so em casos i ndi vi duai s. A operao del as
s pode ser percebi da em agregados e pel o mtodo das mdi as. Devemos
pensar segundo o modelo dessas leis em sua perfeio e complexidade
tericas; na prtica, devemos nos contentar com leis aproximadas e
empricas.
19) Note-se que, embora as trocas sejam regul adas por equaes,
pode no haver i gual dade entre os totai s de uti l i dade ganha e perdi da,
que so encontrados i ntegrando-se as funes de uti l i dade dos respec-
ti vos bens antes e depoi s da troca. O sal do o ganho em uti l i dade e,
pel a natureza da troca, deve haver ganho pel o menos para um l ado.
20) Combi nando a teori a das trocas com a do trabal ho e produo,
a quanti dade que cada pessoa produz i r depender do resul tado das
trocas; poi s este pode al terar em mui to as condi es de uti l i dade.
J EVONS
235
Uma nova sri e de quanti dades desconheci das i ntroduzi da dessa
manei ra; mas ver-se- que para determi n-l as se pode estabel ecer um
mesmo nmero de novas equaes. Cada uma dessas equaes abrange
a uti l i dade do l ti mo acrsci mo do produto e o acrsci mo de trabal ho
necessri o para produzi -l o.
21) Al m dessas, a ni ca parte da teori a que tentarei expl i car
aqui a que se refere ao capi tal . Darei uma defi ni o de capi tal di -
ferente da estabel eci da e mui to mai s si mpl es. J. S. Mi l l di z (Principles,
3 ed., v. I , p. 67):
O que o capi tal faz na produo fornecer abri go, proteo,
ferramentas e materi ai s que o trabal ho requer, e al i mentar e manter,
quanto ao mai s, os trabal hadores durante o processo.
Para compreender o capi tal corretamente, devemos esquecer tudo,
menos a l ti ma parte ci tada. Assi m, defi no o capi tal como consi sti ndo
em todos os objetos teis que, suprindo os desejos e necessidades comuns
de um trabalhador, permitem-lhe empreender trabalhos cujo resultado
demorar maior ou menor espao de tempo. O capi tal , em resumo, no
nada mai s que o sustento de trabalhadores.
Sem dvi da, verdadei ro que prdi os, ferramentas, materi ai s
etc. so mei os de produo necessri os; el es, porm, j so o produto
do trabal ho auxi l i ado pel o capi tal ou sustento. So os frutos da apl i cao
de capi tal no trabal ho, em um estgi o i mperfei to.
Sem capi tal , uma pessoa deve obter frutos i medi atos ou ento
perecer. Com capi tal , pode semear na pri mavera para col her no outono;
ou pode l evar adi ante empreendi mentos que economi zam trabal ho,
como estradas de rodagem e de ferro, que s sero compensados aps
mui tos anos. Mui tas manei ras aperfei oadas de apl i car trabal ho re-
querem que o desfrute do resul tado seja adi ado.
22) Enquanto o montante de capi tal esti mado pel o montante
de uti l i dade cujo desfrute adi ado, o montante de emprego de capital
o montante de uti l i dade mul ti pl i cado pel o nmero de uni dades de
tempo pel o qual seu desfrute adi ado.
23) Os juros de todo o capi tal de um mercado tm apenas uma
taxa, e esta, portanto, a menor taxa, uma vez que o capi tal consi ste
apenas em sustento e pode, assi m, ser apl i cado i ndi ferentemente em
qual quer ramo da ati vi dade econmi ca. Prdi os, ferramentas etc., que
at agora vm sendo cl assi fi cados como capi tal , so, ao contrri o, apl i -
cvei s em geral apenas para aquel e propsi to para o qual foram fei tos.
O l ucro que trazem, portanto, no segue de modo al gum as l ei s dos
juros do capi tal , mas si m as da renda da terra, ou do produto de
OS ECONOMISTAS
236
agentes naturai s. I sso j foi observado pel o Prof. Newman, em suas
Lectures on Political Economy, e por outros autores.
24) Como se deve supor que o trabal ho deve ser auxi l i ado com
al gum capi tal , a taxa de juros sempre determi nada pel a relao que
um novo aumento de produto mantm com o aumento de capital pelo qual
ele foi produzido. Como os juros de todo o capi tal devem ser uni formes,
o benef ci o que o montante de capi tal j di spon vel confere ao trabal hador
no conta na determinao da taxa de juros, que depende uni camente da
poro acrescentada por l ti mo ou que pode vi r a ser acrescentada.
25) Podemos agora expl i car com faci l i dade o fato conheci do de
que os juros do capi tal sempre tendem a cai r rapi damente quando seu
montante cresce, em proporo ao trabal ho que el e mantm. I sso por-
que, para aumentos de tempo i guai s, os acrsci mos necessri os de ca-
pi tal aumentam com o tempo. Assi m, se eu empreender uma obra que
posso acabar em um ano, tenho que esperar o resul tado numa mdi a
de apenas mei o ano. Se, contudo, eu trabal har um segundo ano antes
de obter o resul tado, espero um ano i ntei ro pel o trabal ho do ano pas-
sado, e mei o ano pel o trabal ho do segundo ano. Assi m, eu empego pel o
menos trs vezes mai s capi tal no segundo ano do que no pri mei ro. No
tercei ro ano deverei empregar pel o menos ci nco vezes tanto capi tal ,
no quarto ano pel o menos sete vezes, e assi m por di ante. Portanto, a
menos que as vantagens dos sucessi vos adi amentos aumentem na sri e
ari tmti ca de 3, 5, 7, 9 etc., o l ucro proporci onal das novas adi es
deve cai r, e, como foi di to antes, a taxa mai s bai xa pel a qual o capi tal
pode ser obti do governa a taxa para todo o capi tal .
26) opi ni o acei ta pel os autores atuai s que a taxa de juros
tende a cai r porque o sol o no produz retornos proporci onai s quando
seu cul ti vo aumentado. Mas devo sustentar que essa di mi nui o dos
retornos proporci onai s deve i nci di r pri nci pal mente sobre os sal ri os
dos trabal hadores. Os juros do capi tal no tm nenhuma rel ao com
o retorno absol uto do trabal ho, mas apenas com o aumento de retorno
que o l ti mo acrsci mo de capi tal proporci ona.
27) Tendo expl i cado, desse modo, al guns dos pontos pri nci pai s
da teori a, vou encerrar sem me aventurar nas mai ores compl i caes
do tema, onde so l evados em conta os efei tos do di nhei ro, do crdi to,
do acordo do trabal ho, do ri sco ou i ncerteza dos empreendi mentos, e
da fal nci a.
O l ti mo resul tado da teori a ser fornecer uma determi nao da
taxa de sal ri os, ou o produto do trabal ho aps a deduo da renda
da terra, juros, l ucro, seguros e taxas, que so pagamentos que o tra-
bal hador efetua pel as vantagens desfrutadas.
J EVONS
237
NDICE
APRESENTAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bi bl i ografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prefci o da Pri mei ra Edi o (1871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prefci o da Segunda Edi o (1879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prefci o da Tercei ra Edi o (1888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Prefci o da Quarta Edi o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
CAP. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
I ntroduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
CAP. I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
A Teori a do Prazer e do Sofri mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
O prazer e o sofri mento enquanto quanti dades . . . . . . . . . . . . . 63
CAP. I I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Teori a da Uti l i dade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Defi ni o dos termos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
CAP. I V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
A Teori a da Troca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
I mportnci a da troca na Economi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
CAP. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Teori a do Trabal ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Defi ni o de trabal ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
CAP. VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Teori a da Renda da Terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Opi ni es acatadas a respei to da renda da terra . . . . . . . . . . . . . 171
CAP. VI I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
239
Teori a do Capi tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
A funo do capi tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
CAP. VI I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Observaes Fi nai s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
A teori a da popul ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
APNDI CES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
APNDI CE I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Nota do Edi tor Sobre a Teori a dos Juros do Autor . . . . . . . . . . 215
APNDI CE I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Um Fragmento Sobre o Capi tal Desti nado a Fazer Parte
do Cap tul o XXV do Li vro Principles of Economics
do Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Capi tal i zao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
APNDI CE I I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Breve Exposi o de uma Teori a Geral Matemti ca da
Economi a Pol ti ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
OS ECONOMISTAS
240
Você também pode gostar
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (20018)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNo EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNo EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5794)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionNo EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (726)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)No EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (9054)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionNo EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionNota: 4 de 5 estrelas4/5 (9756)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItNo EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3275)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)No EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (7770)