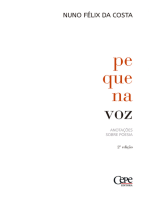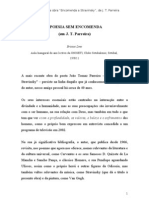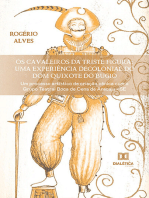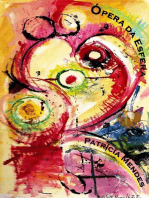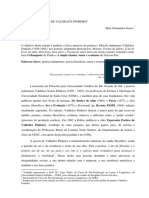Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Marinheiro Na Poesia de Fernando Pessoa
Enviado por
Maria De Jesus BezerraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Marinheiro Na Poesia de Fernando Pessoa
Enviado por
Maria De Jesus BezerraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
FACULDADE DE CINCIAS E LETRAS
SUELY APARECIDA ZEOULA DE MIRANDA
O MARINHEIRO NA POESIA DE FERNANDO
PESSOA:
PORTO OU TRAVESSIA?
ARARAQUARA - SP
2006
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
FACULDADE DE CINCIAS E LETRAS
SUELY APARECIDA ZEOULA DE MIRANDA
O MARINHEIRO NA POESIA DE FERNANDO
PESSOA:
PORTO OU TRAVESSIA?
Dissertao de Mestrado apresentada ao Programa de PsGraduao em Estudos Literrios da Faculdade de Cincias e Letras
da UNESP de Araraquara como exigncia parcial para obteno do
ttulo de Mestre.
Orientadora: Profa. Dra. Renata Soares Junqueira
ARARAQUARA - SP
2006
SUMRIO
1 INTRODUO ........................................................................................08
1.1 Teorizando o drama ...........................................................................20
1.1.1 O Marinheiro, um drama esttico ..............................................28
1.2 Teorizando a poesia ...........................................................................30
2 O MARINHEIRO: UMA INTERPRETAO ...........................................41
2.1 O Marinheiro, um resqucio simbolista? ..........................................42
2.2 O Marinheiro e suas configuraes: espaos e objetos .................49
2.3 Vises da arte simbolista n O Marinheiro .......................................52
2.3.1 A pintura simbolista .........................................................................53
2.3.2 Principais nomes da pintura simbolista .........................................54
2.3.3 A pintura simbolista e O Marinheiro: pontos de dilogo ..............55
2.4 A Intrusa e O Marinheiro: uma relao intertextual ..........................58
3 O MARINHEIRO: UM EXERCCIO INTRATEXTUAL? ............................63
3.1 A gnese ................................................................................................63
3.1.1 Ser/No Ser .........................................................................................64
3.1.2 Tudo/Nada ...........................................................................................65
3.1.3 Dentro/Fora .........................................................................................66
3.1.4 Sentir/Pensar ......................................................................................69
3.2 As pessoas de Pessoa ..........................................................................71
4 CONSIDERAES FINAIS .......................................................................85
REFERNCIAS .............................................................................................89
Aos meus amados filhos Thas, Lus Gustavo e
Franco, razes maiores da minha vida, e ao meu
marido, Gustavo, que sempre ser o meu lugar
certo e a minha mais grata paisagem.
AGRADECIMENTOS
A Deus, meu Pai amoroso, que sempre me conduz e me ilumina, fazendo dos
caminhos mais ngremes e desolados, uma estrada de sol e de esperana.
Profa. Dra. Renata Soares Junqueira, pela orientao competente e precisa.
Aos meus pais e irmos, pela presena alentadora.
Profa. Irac Miriam de Castro Martins, pela confiana, pelo incentivo e pela ternura
dos gestos.
Sonia, amiga e mestra, pelo carinho e disponibilidade, presentes desde o incio
desta caminhada.
Ao Pedro Paulo, meu filho do corao, pela ajuda inestimvel.
Carina, amiga-irm, pela fora e pelo carinho inesquecveis, provas de que o
idioma mais bonito o do corao...
A Imaginao mais importante que o Conhecimento. O
Conhecimento leva voc de A a B; a Imaginao leva voc a
qualquer lugar.
(EINSTEIN)
RESUMO
Este trabalho procura estabelecer pontos de dilogo entre o drama esttico O
Marinheiro, de Fernando Pessoa, e algumas de suas obras poticas posteriores
mostrando que, naquele, residem as sementes destas. Procura, tambm, fazer uma
anlise dos temas e dos postulados filosficos que perpassam o drama esttico,
bem como da forma potica construda pelo Pessoa dramaturgo, deixando derivar
dessa anlise a comparao com sua poesia e seu multifacetado processo de
criao.
Palavras-chave: Drama esttico. Poesia. Comparao. Intratextualidade.
ABSTRACT
This work aims to establish dialogue points between the static drama O Marinheiro ,
by Fernando Pessoa, and some of his later poetical works, showing that in the
former are resided the similarities of the latters. It also aims to do an analysis of the
themes and the philosophical postulates which pass the static drama like as the
poetical form constructed by Pessoa dramatist, and from this analysis deflects a
comparision with his poetic work, and his multifaceted process of creation.
Key Words: Static drama. Poetry. Comparision. Intratextuality
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
FACULDADE DE CINCIAS E LETRAS
SUELY APARECIDA ZEOULA DE MIRANDA
O MARINHEIRO NA POESIA DE FERNANDO PESSOA:
PORTO OU TRAVESSIA?
Dissertao de Mestrado apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Estudos
Literrios da Faculdade de Cincias e Letras da UNESP de Araraquara como
exigncia parcial para obteno do ttulo de Mestre.
Orientadora: Profa. Dra. Renata Soares Junqueira
BANCA EXAMINADORA:
_____________________________________________________________
Orientadora - Profa. Dra. Renata Soares Junqueira
______________________________________________
Membro Titular - Profa. Dra. Maria Lcia Outeiro Fernandes
______________________________________________________________
Membro Titular - Profa. Dra. Annie Gisele Fernandes
_______________________________________________________________
Membro Suplente Profa. Dra. Mrcia Valria Zamboni Gobbi
________________________________________________________________
Membro Suplente - Profa. Dra. Patrcia da Silva Cardoso
ARARAQUARA - SP
10
2006
1 INTRODUO
Sentir e pensar. O conflito entre essas duas foras - que mais exacerbam o
ser humano sem que ele se d conta - , talvez, a essncia da obra de Fernando
Pessoa. Ele soube mostrar, em sua obra, com muita clareza, a complicada e
aparentemente impossvel harmonia entre a emoo e a razo. Exps tambm a
angstia da existncia do homem na sociedade moderna, o qual ele reconhece ter
nascido para estar s em meio multido de pessoas ilhadas nas cidades que
impossibilitam o dilogo, restando apenas cada um por si. No entanto, a "Ode
Triunfal", de lvaro de Campos, numa das muitas provas de sua essncia paradoxal,
um elogio modernidade:
[...]
" fazendas nas montras! manequins! ltimos figurinos!
artigos inteis que toda a gente quer comprar!
Ol grandes armazns com vrias sees!
Ol anncios eltricos que vm e esto e desaparecem!
Ol tudo com que hoje se constri, com que hoje se diferente de ontem!
Eh, cimento armado,beton de cimento, novos processos!
Progressos dos armamentos gloriosamente mortferos!
Couraas, canhes, metralhadoras, submarinos, aeroplanos!
Amo-vos a todos, a tudo, como uma fera.
11
Amo-vos carnivoramente,
Pervertidamente e enroscando a minha vista
Em vs, coisas grandes, banais teis, inteis,
coisas todas modernas,
minhas contemporneas, forma atual e prxima
Do sistema imediato do Universo!
Nova Revelao metlica e dinmica de Deus!"
(PESSOA, 1986, p. 308)
Destruindo mitos e colocando o homem diante da triste verdade de que no
existe verdade, Pessoa revelou-se atravs de suas mscaras e de seus constantes
mergulhos em si mesmo, durante os quais se contemplava de longe e dos quais
voltava renovado, aproximando-se e distanciando-se voluntariamente dessa verdade
inexistente. Sua personalidade reflete-se claramente em sua obra potica,
disfarada, simulada, mutilada. Acusado por muitos de destruir sem, depois,
reconstruir, deixou-nos a impresso de que o poeta existe no para construir, mas
para colocar o homem face a face com sua condio, dando-lhe a chance de, a
partir de reflexes, reconstruir-se ou reinventar uma nova verdade. Ele prprio
desdobrou-se em outros e fez o retorno a si mesmo. Essa intracomunicao torna
sua personalidade mais rica, pois todos esses eus pertencem ao mesmo universo
potico.
Fazer poesia no era, para ele, um momento de inspirao. Era um ofcio a
que se dedicava com a certeza plena de ser seu nico caminho. Sua obra mostra a
firmeza de algum que pode falar de si, que realiza uma tarefa e sabe as
dificuldades que ela comporta, que revela a sua intimidade, desmistificando-se,
12
desnudando-se, ao mesmo tempo em que se esconde. Talvez a resida a riqueza e
a modernidade de sua obra: ela se insere na problemtica do homem moderno, pela
multifacetao em sujeitos poticos, ensejando uma crtica a esse homem
infinitamente solitrio, que saiu dos escombros ferido, mas lcido o bastante para se
buscar e se perder em meio s palavras, ao sonho, natureza, religio, dor da
prpria desintegrao.
O desassossego pessoano se respalda no vcio de pensar, na ausncia de
Deus, na fugacidade da vida, na certeza de que a felicidade existe para os outros,
na busca do prprio Eu. A fuga da realidade funde-se em trs possibilidades: o
retorno infncia, o adiamento, o sonho. A solido considerada o ponto de partida
para a explicao do espao na obra de Pessoa, e seu paraso perdido se desdobra
em dois grupos de imagens: os espaos de um mundo feliz e perdido, e os de um
presente triste.
Na moderna produo potica da obra de Pessoa verificam-se, segundo
Gonalves (1995), duas assertivas: uma terica, pela qual o poeta se volta para as
estticas do Paulismo, Interseccionismo e Sensacionismo e outra, pessoal, voltada
criao dos heternimos, ponto fulcral de sua poesia e de sua modernidade:
A questo da identidade, que perseguir o poeta vida afora,
ser responsvel pela imposio de um paradigma para a
Modernidade - quem produz o texto potico? por esse
prisma que surge a "esttica do fingimento", situao que
projeta Pessoa para uma autonomia e uma universalidade
em relao modernidade portuguesa. (GONALVES, 1995,
p. 9 )
A obra de Pessoa, realmente, pertence a duas categorias: ortnima e
heternima. A ortnima contm a obra do Pessoa "ele-mesmo". A heternima
contm a obra do "Pessoa-outros". preciso, aqui, situar bem a diferena entre
13
pseudnimo e heternimo, denominaes que, constantemente, levam a confuses:
a obra pseudnima a do prprio autor, que apenas assina com nome diferente; "a
heternima a do autor fora da sua pessoa". (Tbua Bilbliogrfica. Presena, n. 7,
apud SEABRA,1974, p. 9).
O fenmeno da heteronmia talvez seja a mais densa e intrigante faceta da
obra pessoana. Segundo o prprio poeta, o trao histrico-neurastnico de seu
carter que estaria na origem de sua tendncia para essa despersonalizao. No
entanto, alguns questionamentos presentes na poesia de cada heternimo, sobre a
razo dessa subjetividade estilhaada, mostram, segundo Seabra (1974, p. 12), que
essa despersonalizao no advm de uma simples crise da personalidade
psicolgica, mas do sujeito potico em si mesmo considerado, na sua pluralidade".
Assim, temos em Caeiro (PESSOA, 1986, p.241): "Ser real quer dizer no estar
dentro de mim./ Da minha pessoa de dentro no tenho noo de realidade./ Sei que
o mundo existe, mas no sei se existo." Ricardo Reis tambm afirma: "Se recordo
quem fui, outrem me vejo/ E o passado o presente na lembrana/ Quem fui
algum que amo/ Porm somente em sonho." (PESSOA, 1986, p. 283). Temos
ainda , em lvaro de Campos ( PESSOA, 1986, p.345): "Multipliquei-me para me
sentir/ Para me sentir, precisei sentir tudo, / Transbordei, no fiz seno extravasarme, / Despi-me, entreguei-me, / E h em cada canto da minha alma um altar a um
Deus diferente."
Assim, vemos que dentro do poeta coexistem vrios poetas. A cada um deles,
Fernando Pessoa atribuiu uma biografia, caracteres fsicos, traos de personalidade,
formao cultural, ideologia, profisso. Nasceram, assim, Alberto Caeiro, Ricardo
Reis, lvaro de Campos (os heternimos perfeitos), alm de vrios outros semiheternimos. O porqu desses heternimos, as causas de sua origem ou o que
14
pretendia o poeta com essa multiplicidade motivo de muita discusso e infinitas
conjecturas. Mas encontramos, dispersas por sua obra, algumas indicaes que nos
levam a apontar algumas razes: a conscincia das vrias personalidades vividas
pelo poeta em seu mundo interior; a tentativa de converter-se em toda uma
literatura; a sua essncia dramtica, a clara tentativa de representar a multifacetada
vida portuguesa. O prprio Pessoa fala-nos sobre a sua despersonalizao potica,
na nota que antecede as "Fices do Interldio" (PESSOA, 1986, p.198,199),
estabelecendo uma escala de quatro pontos:
1)- o temperamento e o estilo unificam a produo potica, mesmo que esta
exprima vrios e diferentes sentimentos;
2)- mesmo que o temperamento varie, o estilo permanece nico;
3)- o estilo pode variar, mas o poeta permanece nico;
4)- o poeta se multiplica em vrios poetas.
Como
se
v,
escala
crescente,
considerando-se
grau
de
despersonalizao alcanado. E precisamente essa pluralidade estranha e
fascinante que, por vezes, pode desviar o leitor do que , segundo Cruz ( s/d ),
essencial: o estudo das linguagens poticas de Pessoa, sejam elas dos heternimos
ou mesmo do ortnimo.
Ora tem sido precisamente o problema dos heternimos essa
estranha pluralidade de poetas num s que ao quase
monopolizar a ateno dos exegetas de Pessoa tem contribudo
em grande parte para os distrair desta primeira leitura a que o
poeta os convidava. Raramente, com efeito, ela foi abordada em
funo da estrutura da obra potica em si mesma. As explicaes
de fundo psicolgico, sociolgico ou filosfico, como as de tipo
impressionista ou mais elaboradamente temtico (no falando j
nas de matiz ideolgico ou polmico) trouxeram com certeza, aqui
e ali, contribuies parciais abordagem da obra. (CRUZ, s/d, p.
14).
15
Mas o prprio autor deixou-nos uma pista, para que possamos interpretar sua
obra polmica e paradoxal, levando-nos a leituras cada vez mais novas e
surpreendentes: a diferena absoluta de estilos, no que se refere aos heternimos.
Assim que cada um mostra idias e sentimentos, alm de tcnicas de composio,
absolutamente diferentes dos de seu "criador". "Cada personagem criada
integralmente diferente e no apenas diferentemente pensada". (CRUZ, s/d, p.15).
Exibem uma pluralidade de linguagens e no apenas diferentes formas de pensar e
sentir.
A verdade que Pessoa, com sua obra, destri mitos e os recria, depois,
sua maneira. Enquanto o ortnimo saudosista-nacionalista e lrico, os
heternimos apresentam uma poesia buclica e subjetiva em Caeiro, pag e
sensacionista em Reis, turbulenta e forte em Campos. Caeiro o fundador e criador
duma nova poesia da natureza; Reis inventa o neoclassicismo; Campos o poeta
modernista, capaz de intensificar as sensaes at o paroxismo. Como casar todas
essas caractersticas e todos esses adjetivos? Simples: basta aceitar o fato de que a
obra pessoana , toda ela, um tributo a tudo o que paradoxal, contraditrio. E
entender que ela nos ensina que, na verdade, a verdade no existe. Que o poeta
finge uma dor que, na verdade, sente. Que as coisas so apenas o que queremos
que elas sejam. Que todos somos medocres, que nada sabemos, porque no h
nada para saber...
O drama que existe na obra pessoana o de uma desesperada e
desesperadora lucidez. , acima de tudo, profundamente inteligente, de uma aguda
e quase palpvel genialidade. Nada de pieguices, nada de casual. Tudo muito
pensado, tudo muito slido, tanto na forma quanto na essncia. E porque honesta,
mesmo que dissimulada, e porque clara, mesmo que velada, apresenta uma
16
unidade que no encontramos em muitas obras, mesmo nas de alguns dos grandes
poetas. "Essa unidade est na prpria estrutura [...] da sua obra,numa orientao
fundamental que est em ser ela uma cadeia ininterrupta de esforos para
estabelecer o contato do homem com o universo" (CASAIS MONTEIRO, 1958, p.
73).
lvaro de Campos cr na sensao; Alberto Caeiro, na existncia; Ricardo
Reis, na forma; Pessoa ortnimo, em smbolos. Campos o poeta da impotncia;
Caeiro representa o sentir sem pensar; Reis o poeta da morte, do aniquilamento;
Fernando Pessoa ortnimo a vida que vence a inteligncia, a resignao do
sonho. Essa diversidade vale como uma expresso dramtica de identidade: "Se
fingir conhecer-se, tambm dar-se a conhecer". Na verdade, ao colocar sua
poesia longe da realidade que nos circunda, Pessoa garante sua autonomia e sua
universalidade, dando pistas para que entendamos sua identidade.
No centro da nebulosa heteronmica, Pessoa coloca Alberto Caeiro. Porm
interessante a viso, a esse respeito, de Cruz (s/d, p.80):
Se bem atentarmos, Alberto Caeiro no , no entanto, o
germe exclusivo de onde viriam a nascer, por
cissiparidade, os outros heternimos: ele apenas um
plo mais forte, um sol mais incandescente e vivo,
roda do qual vemos girar os demais astros do sistema.
Esta posio nuclear advm-lhe de ser Caeiro a criao
por assim dizer mais pura e perfeita de Pessoa ou, se
se quiser, o heternimo que leva at s ltimas
conseqncias a sua existncia enquanto "pessoa"
potica ou esttica, como tambm diz.
Em Pessoa, a criao literria e as criaturas que a representam, confundemse, pois os heternimos s vm luz juntamente com os poemas de que so
autores. Podemos dizer que os heternimos existem em funo de seus poemas e
no os poemas em funo dos heternimos. Nota-se, ainda, pela leitura de alguns
17
apontamentos do autor, que ele ortnimo coloca-se, ora no mesmo nvel dos
heternimos, ora sugerindo a superioridade potica destes, falando de um
"Fernando Pessoa impuro e simples", numa carta a Casais Monteiro, sobre o
surgimento dos heternimos.
Ortnima ou heternima, sua obra tem, como denominador comum, o fato de
ter sido o maior passo dado, neste sculo, para a reabilitao da voz, como cerne da
poesia. Voz, sob todas as suas formas. Voz que linguagem, comunicao. Que
filosofia, ironia, mordacidade, desiluso, crtica. E que no , segundo alguns
crticos, construtiva. O "indisciplinador de almas", como o chamou Jorge de Sena,
no apenas algum que, desiludido com o mundo, limita-se a virar-lhe as costas.
Sua desiluso nada tem de passiva e, para no lutar sozinho, cria vrios "eus", pura
manifestao de atividade, no de passiva aceitao da realidade. Segundo
Tabucchi (1984), existe at mesmo a hiptese de que Fernando Pessoa fosse o alter
ego de um Fernando Pessoa completamente igual ao primeiro.
E se Fernando Pessoa tivesse precisamente fingido ser Fernando Pessoa?
s uma suspeita. As provas, naturalmente, nunca as teremos. E, falta de
provas, s nos resta acreditar ( ou fingir acreditar ) nos dados biogrficos
daquele que foi a fico de um impostor idntico a si prprio, ou seja:
Fernando Antnio Nogueira Pessoa, filho dos falecidos Joaquim e Magdalena
Pinheiro Nogueira, empregado part-time como tradutor de cartas comerciais
em firmas lisboetas de importao-exportao. Nas horas livres, poeta.
(TRABUCCHI, 1984, p. 12)
Na verdade, em toda a obra pessoana percebe-se uma genialidade
direcionada para a arte. Como artista, como poeta e como gnio, Fernando Pessoa
tinha uma viso ampla e multiforme do mundo. Ele foi clssico, romntico,
parnasiano e modernista, tudo ao mesmo tempo. A sua genialidade foi justamente
poder separar completamente essas formas de "ser", de tal maneira que lhe foi
18
possvel escrever com estilos diferentes sobre matrias diferentes, como se em cada
momento fosse um homem diferente.
Uma das formas nucleares da poesia de Pessoa a contradio. Nela,
coexistem a tese e a anttese, sendo um terreno frtil para a proliferao das
linguagens poticas do autor. Cada leitura a face de outra, desnudando pontos
comuns e divergentes, que levam a uma oposio fundamental: a do Ser e a do
No-Ser, identificada claramente n'O Marinheiro.
A obra de Pessoa um discurso que busca a si mesmo, numa leitura
paradoxal que revela para ocultar, mascara e desvenda constantemente, num ir e vir
enriquecedor que perpassa a obra toda, como se cada texto fosse gerado pelos
demais e com eles entretecido. Joo Cabral de Melo Neto expressa bem esse
processo em "Tecendo a manh": "Um galo sozinho no tece a manh/ Ele
precisar sempre de outros "... E segue dizendo que o canto de um galo
"apanhado" por outro, que o passa a outro e este a mais outro, at que a manh
finalmente surge, como que tecida por todos esses gritos.
Na obra pessoana, cada texto parece pressentir a presena de outros, numa
textura mvel e ressonante que se desdobra para alm de si mesma. E, assim como
os galos de Joo Cabral, o poeta solta seu grito e o apanha, grita e o apanha
novamente, revestindo cada "grito" de uma roupagem nova, mas que conserva sua
essncia. E, nesse caminho de recuperao que os textos empreendem, acaba se
formando um tecido de recorrncias: imagens e temas se repetem para projetarem o
seu existir-alm, num deslocamento da mesma imagem para outros lugares da obra
como se, com essa projeo mltipla, a poesia construsse o "contra-smbolo" de
sua prpria textura.
19
Essa metamorfose opera-se de heternimo a
heternimo (e, por vezes, dentro do mesmo
heternimo), num movimento dramtico que se vai
tecendo em torno dos elementos germinais
disseminados pelos poemas numa s aparente
desordem e disperso catica. A originalidade de cada
heternimo, a especificidade de sua linguagem, reside
na integrao e ordenao desses elementos numa
estrutura coerente, quer ao nvel dos significantes quer
dos significados poticos. (CRUZ, s/d, p.38)
Seabra (1974, p.15), tambm cita esse movimento, esse tecer, esse processo
original de construo criadora:
Entre os autores que constituem a constelao
potica de Pessoa, estabelece-se um sistema de
relaes mtuas, em que cada elemento se
responde e corresponde, num tecer e destecer
sempre retomado de fios que se vo
entrecruzando, em planos diversos, mas que se
interpenetram.
Em quase todos os momentos da obra pessoana, reconhecemos essa fala
singular. N'O Marinheiro, por exemplo, temos vises claras desses desdobramentos.
O Marinheiro um drama esttico, uma pea teatral de Pessoa, que j foi objeto de
vrios e interessantes estudos e - com certeza - ainda o ser por muito tempo.
Nesse drama "sem ao", o poeta se reporta ao drama dentro do drama, onde o
tempo e o espao no so remetidos a uma unidade referencial. a questo dos
limites entre o sonho e a realidade, mais uma confirmao da existncia de um
texto que no se pertence a si prprio, que fala no apenas com a sua voz, mas com
a voz que antecipa a de outros.
20
Assim, o presente estudo se prope a estabelecer pontes entre o drama
esttico O Marinheiro, de Fernando Pessoa, e algumas de suas obras poticas
posteriores. Pretende demonstrar que, naquele, residem as sementes destas,
evidenciando o fato de que a intertextualidade pode acontecer em vrios e
fascinantes nveis, num exerccio de descobertas e redescobertas constantes e
enriquecedoras.
interessante, aqui, observar que, segundo Seabra (1974,p.17)
Estamos, com efeito, perante uma obra proteiforme,
no apenas enquanto criao de uma pluralidade de
linguagens, mas pelo seu apelo a uma pluralidade de
leituras, tanto dos textos poticos como dos textos
crticos que os prolongam e repercutem A
heteronmia exige, acima de tudo, uma apreenso
dessa intertextualidade...
Quaisquer que sejam as interpretaes, aluses ou citaes, este fato
sugestivo: O Marinheiro antecede vrias obras importantes do poeta e pode conter,
como pretendemos verificar, o grmen de sua criao. Lendo a obra, datada de
1913, percebemos nela palavras e citaes que evocam poemas escritos muito
tempo depois. Na "Cronologia da vida e obra de Fernando Pessoa" (1986, p. 61-66),
vemos que Caeiro surge em 1914 (8 de maro), assim como Campos e Reis (16 de
junho).
Teria o poeta voltado ao seu drama esttico e desdobrado frases-chave do
texto, criando - ou recriando - poemas a partir delas? uma pergunta, sem dvida,
apaixonante. E faz pensar num Pessoa novo, diferente daquele que acredita que o
homem completo aquele que se ignora. Mostra um homem angustiado, sim, mas
sonhador o bastante para rever e recriar e sentir e envolver, num puro e paradoxal
exerccio de insensata lucidez.
21
Prefaciando toda a obra pessoana, podemos citar um trecho das "palavras de
prtico", como ele mesmo as chamou: "Navegadores antigos tinham uma frase
gloriosa: 'Navegar preciso, viver no preciso'. Quero para mim o esprito dessa
frase, transformada a forma para a casar com o que eu sou: Viver no necessrio ;
o que necessrio criar" (PESSOA, 1986, p.15).
Pessoa soube criar, recriar, at "criar-se", fazendo de sua obra uma infinita
janela que mostra ricas possibilidades de diferentes leituras e interpretaes. E,
atravs de pesquisas bibliogrficas, tentaremos provar que O Marinheiro contm a
essncia de alguns poemas significativos surgidos tempos depois.
Objetivamos, com este estudo, portanto, comparar algumas obras poticas
ortnimas e heternimas de Fernando Pessoa ao poema dramtico O Marinheiro,
com a inteno de destacar, entre eles, pontos de dilogo; verificar se essas obras
esto interligadas por um pensamento filosfico que as coordena e concatena;
vislumbrar, na obra de Pessoa, uma multiplicidade de vises de mundo, fornecendo
alguns elementos que facilitem a compreenso do seu processo plural e
multifacetado de criao.
O presente estudo pretende, para tanto, buscar o respaldo terico de autores
como Bachelard, Bentley, Rgio, Ryngaert, Jauss e Barthes, fundamentando-se nas
teorias da poesia e do drama, visto que o ponto de partida desta pesquisa um
texto teatral e que o texto-base remete a toda a obra potica de Pessoa. A teoria da
Forma ensina que a imagem tende ao estado quase-matria, posta no espao da
percepo. Da pode passar ao devaneio, ponte, janela aberta a toda fico.
Esse devaneio pr - onrico depende de um processo de expresso: a palavra. "A
superfcie da palavra uma cadeia sonora" (BOSI, 2000, p.29). Enlaada matria
que compe a linguagem, a palavra pode gerar a atividade potica.
22
Assim como o poeta lida com o verso, o dramaturgo vale-se do dilogo, que
requer um encadeamento prprio, porque transmitido pelo ator. Em O Marinheiro,
pode-se notar que as frases so formalmente poesia pelo ritmo que as caracteriza.
Lendo o texto, no se pode deixar de ficar impressionado com esse aspecto do
drama pessoano. Como o poeta mesmo comenta, "h ritmo na prosa e h ritmo no
verso. No verso, porm, o ritmo essencial; na prosa no , acessrio - uma
vantagem,
mas
no
uma
necessidade.
No
fundo,
no
verso
nem
prosa..."(PESSOA, 1986, p.787). Entende-se, portanto, que podemos caracterizar
um texto literrio pela sua maior ou menor proximidade com esses dois tipos de
discurso. Segundo Cruz (s/d, p. 84), "eles correspondem, tendencialmente, aos
plos metafrico e metonmico da linguagem, sendo a poesia dominada pela
metfora e a prosa pela metonmia". Portanto, recorrer teoria da poesia e teoria
do drama faz-se necessrio, pois drama e poesia coexistem na obra de Pessoa,
interligados na essncia e na forma.
Fernando Pessoa sempre buscava a fuga do mundo imediato ou prximo,
sempre buscava as interrogaes. Sua paixo consistiu na grande aventura da
procura, muito mais do que no prazer da descoberta. Ele nunca quis o que era
definitivo, deixou abertas todas as possibilidades de dvida e, atravs dela, permite
que ns sejamos co-partcipes de sua arte.
1.1 Teorizando o drama
O prazer esttico, segundo Jauss (1979, p.63) " hoje, ou era at h pouco,
em geral desprezado como um privilgio da invectivada 'burguesia culta' ".
Comeando por Aristteles e Plato, passando por Santo Agostinho, Schiller,
Barthes, Freud, Sartre, Giesz, percebemos que no prazer esttico acham-se
23
reunidas a sensibilidade e a objetividade, aisthesis e anamnesis. No entanto, a
experincia esttica no se esgota a: existe, tambm, a katharsis, atravs da qual o
espectador pode ser diretamente afetado pela histria representada, identificando-se
com os atores, liberando suas prprias paixes e aliviando-se "por sua descarga
prazerosa, como se participasse de uma cura" (JAUSS, 1979, p.65).
Santo Agostinho traa duas diretrizes para o prazer: a primeira leva ao que
bom, orientado para Deus; a segunda leva ao que mau, orientado para o mundo.
Assim, os prazeres auditivos devem residir apenas nos cantos religiosos, elevando a
alma; os prazeres da viso devem restringir-se beleza da criao divina. Contudo,
h entre os dois uma linha muito tnue e existe o perigo de se cair na seduo
esttica da experincia sensual inspirada pela Arte. Alm disso, a arte do discurso
pode mostrar uma face to convincente do inacreditvel e do desconhecido que
chega a influenciar o espectador de forma poderosa e, at, definitiva.
A retrica sempre foi inimiga da filosofia e da teologia, justamente por essa
ambivalncia: o ouvinte pode ser levado, por suas mos, tanto para um bom quanto
para um mau objetivo. Debates recentes sobre o assunto chamam a ateno para
essa dupla face da persuaso e da induo, identificadas atualmente como
consenso e manipulao. Hoje, o prazer perdeu muito de seu sentido elevado.
Antigamente, o prazer justificava as relaes com a arte. "Hoje, para muitos, a
experincia esttica s vista como genuna quando se priva de todo prazer e se
eleva ao nvel da reflexo esttica." (JAUSS, 1979, p.71).
Roland Barthes empenhou-se na reabilitao do prazer esttico, colocando-se
contra a idia de que esse prazer no passa de um instrumento da classe
dominante.
O prazer, entretanto, no um elemento do texto, no um resduo
ingnuo; no depende de uma lgica do entendimento e da sensao;
uma deriva, algo ao mesmo tempo revolucionrio e associal e no pode ser
assumido por nenhuma coletividade, por nenhuma mentalidade, por
nenhum idioleto. (BARTHES, 1973, p.39)
24
Ainda segundo Barthes, preciso que surja uma esttica moderna, que
considere o "prazer do consumidor" (p. 94). E oferece a dicotomia entre o prazer
positivo e o deleite negativo (plaisir e jouissance). Ressalta tambm a importncia da
interao do leitor com o texto, sem o carter passivo de apenas receber, apenas
perceber microestruturas, mas pondo em prtica sua atividade imaginante,
experimentadora. A apologia de Barthes faz, do prazer esttico, o prazer face
linguagem, "o paraso das palavras" (p. 17). Aqui podemos localizar O Marinheiro e
sua caracterstica que, talvez, seja a mais marcante: a nfase dada linguagem,
em contraponto ao movimento das personagens em cena.
Mas, afinal, qual a diferena entre o prazer esttico e o prazer dos sentidos?
Pode-se dizer que, enquanto o prazer dos sentidos auto-suficiente e desvinculado
do mundo cotidiano, o prazer esttico exige uma tomada de posio, um momento
adicional, que implica uma funo social. Ao contrrio do simples prazer, a atitude
esttica no pode ser fruda no isolamento; ela exige que todas as sensaes sejam
compartilhadas e tenham um carter participativo, criador. Em sua anlise do
imaginrio, Sartre afirma que "na experincia esttica, o ato de distanciamento , ao
mesmo tempo, um ato formador da conscincia representante" (1940, p.239). Assim,
a realidade - e tambm a natureza - nunca bela por si mesma. Ela depende de um
distanciamento, para que possa ser fruda, explorada. O sujeito, enquanto utiliza sua
tomada de posio perante o objeto esttico, realiza uma reciprocidade entre si e o
25
objeto, de modo a gozar tanto o objeto quanto seu prprio eu, agora liberado de sua
mera existncia cotidiana.
Na conduta esttica, o sujeito sempre goza mais do que de si mesmo:
experimenta-se na apropriao de uma experincia do sentido do
mundo, ao qual explora tanto por sua prpria atividade produtora,
quanto pela integrao da experincia alheia e que, ademais,
passvel de ser confirmado pela anuncia de terceiros. O prazer
esttico que, desta forma, se realiza na oscilao entre a
contemplao desinteressada e a participao experimentadora, um
modo da experincia de si mesmo na capacidade de ser outro,
capacidade a ns aberta pelo comportamento esttico. (JAUSS, 1979,
p. 77)
N O Marinheiro, esse distanciamento bem claro, marcante. As veladoras
se questionam sobre o ser e o no-ser, a todo momento. O prazer esttico de que
fala Jauss, que um modo de experincia de si mesmo na capacidade de ser
outro, desvela talvez a semente da heteronmia, para ns claramente presente nas
trs veladoras .
Freud descreveu, vrias vezes, o prazer esttico pela relao que existe entre
o prazer de si e o prazer no outro. O espectador no teatro ou o leitor de romances,
pode
[...] gozar-se como uma figura importante e se entregar de
peito aberto a emoes normalmente recalcadas, pois o seu
prazer tem por pressuposto a iluso esttica, ou seja, o alvio
da dor pela segurana de que, em primeiro lugar, trata-se de
um outro que age e sofre, na cena, e, em segundo lugar, de
que se trata apenas de um jogo, que no pode causar dano
algum nossa segurana pessoal. (FREUD, 1969, p.163)
Assim, essa identificao faz com que participemos de experincias alheias,
coisa de que no seramos capazes se estivssemos em nossa realidade de todos
os dias. Mas a teoria de Freud sobre o auto-prazer no termina nessa catarse, no
despertar das prprias paixes que se identificam com aes ou sofrimentos alheios.
26
A doutrina tradicional do prazer catrtico atualizada por Freud e superada por uma
nova descoberta: a de que a todo o prazer esttico se acrescenta um maior prazer,
nascido de experincias mais profundas, perdidas entre os jogos infantis e nos
desejos ali experimentados, num feliz reconhecimento da experincia passada e do
tempo perdido.
A recorrncia psicanlise possibilita, entre outros conhecimentos, o da
singularidade e da universalidade da obra de Pessoa. Contudo, ela pode ser lida,
tambm, luz da filosofia. Podemos apresentar a perspectiva filosfica da leitura da
obra pessoana em quatro momentos: o primeiro est relacionado com a questo do
Eu, frente sua conscincia, sua subjetividade; o segundo situa a questo do
drama do homem face vida, morte e ao seu prprio destino; o terceiro situa as
dvidas de Pessoa sobre o conhecimento, a verdade; o quarto refere-se presena
de Deus e do Ser dentro da obra do poeta.
Segundo Jauss (1979), existem trs conceitos da tradio esttica inseridos
nas trs categorias fundamentais da fruio esttica: Poiesis, Aiesthesis e Katharsis.
A primeira a "faculdade potica", o prazer que podemos sentir ante a obra que
realizamos. a arte de criar, que faz do homem o ser por excelncia. A segunda a
contemplao, "o conhecimento sensvel, face primazia do conhecimento
conceitual" (JAUSS, 1979, p.80). A terceira a experincia esttica comunicativa
bsica, que conduz o espectador transformao de seus conceitos e liberao
de sua psique, "olhando-se" atravs dos gestos e das fantasias de outros. Essas trs
categorias no esto separadas, subordinadas umas s outras; antes, estabelecem
relaes de seqncia e, nelas, a comunicao literria s ter o carter de uma
experincia esttica se mantiver o carter de prazer.
27
Assim Jauss (1979) resume suas consideraes sobre as trs categorias
bsicas da experincia esttica:
A conduta de prazer esttico, que ao mesmo tempo
liberao de e liberao para, realiza-se por meio de trs
funes: para a conscincia produtora, pela criao do mundo
como sua prpria obra ( poiesis ); para a conscincia
receptora, pela possibilidade de renovar a sua percepo,
tanto da realidade externa, quanto da interna ( aisthesis ); e,
por fim, para que a experincia subjetiva se transforme em
inter-subjetiva, pela anuncia ao juzo exigido pela obra, ou
pela identificao com normas de ao predeterminadas e a
serem explicitadas. (p.81)
Segundo Rgio (1967), as caractersticas teatrais nem sempre estaro
perfeitamente entremeadas entre um poema ou um romance. preciso que se
esteja apto a sentir as formas latentes de teatro neles embutidas. O verdadeiro
poeta dramtico "o que algo de pessoal tem a dizer atravs do teatro" (p.114), o
que sentiu, intuiu, o que vivenciou interiormente situaes artisticamente revividas. O
prprio Pessoa, em sua estrofe famosa, reconhece o fato de que arte fingimento:
O poeta um fingidor./ Finge to completamente / que chega a fingir que dor / A
dor que deveras sente. Contudo, se o artista no sentiu a dor que finge, seu
fingimento apenas retrica e sua expresso jamais ser artstica.
A base da representao a falsidade. A arte do ator consiste em
servir-se do drama do autor para mostrar por meio dele sua
capacidade de interpretao. A pea como uma barra onde o
ator mostra suas habilidades ginsticas. [...] A representao,
repito, tem todo o atrativo de uma falsificao. Todos adoramos
um falsificador. um sentimento muito humano e completamente
instintivo. (PESSOA, 1990, p. 282)
28
necessrio entender, tambm, que o espetculo teatral no uma criao
individual, como o so, por exemplo, um quadro ou um poema; o espetculo teatral
exige, alm do texto, atores, figurinistas, iluminadores, cengrafos, operadores de
som, alm do pblico que, no teatro moderno , chega a interagir com os atores,
participando ativamente do espetculo. Assim, " o espectculo teatral um
espectculo complexo" (RGIO, 1967, p. 126). Segundo esse mesmo autor, possui
o teatro trs origens: religiosa, social e ldica. Na gnese do teatro, essas posies
se confundem mas, ao longo do tempo, duas tendncias ficaram bem definidas: a
que evidencia um espetculo complexo criado por um artista e realizado por vrios
outros, e a que mostra ser o teatro essencialmente um texto literrio, ainda que
realizado num palco, assistido por um pblico. Esta ltima a que mais nos
interessa, dentro deste estudo sobre o drama esttico de Fernando Pessoa.
Contudo, ainda segundo Rgio (1967), o verdadeiro autor teatral nunca fica
satisfeito com a simples leitura de sua obra. O que o realiza ser visto, ouvido,
sentido por um pblico. No palco que se manifesta, realmente, uma obra teatral.
Uma simples leitura jamais desvelar mincias e especificidades teatrais que s a
representao, num palco, mostrar. O teatro comea, portanto, quando se junta
obra literria um espetculo que a enriquea e a complete, independentemente da
vontade do autor.
preciso considerar, dessa forma, que so suficientes o ator e a palavra para
que o espetculo teatral no seja apenas literatura. Tudo depende da natureza da
obra e da personalidade do poeta dramtico, j que "qualquer obra de arte a
personalidade do seu criador". (RGIO, 1967, p. 122).
H outra considerao importante a fazer: o texto literrio o que respalda o
espetculo teatral. No entanto, ainda segundo Rgio (1967), esse texto no pode ser
29
um texto qualquer, mas sim um texto especial, artstico, que possibilite ao ator
exprimir-se e revelar-se. Aqui percebe-se a estreita ligao do espetculo teatral
com o amar, o gostar, o querer. Pois um espetculo s atinge o seu auge, seu
clmax, seu momento maior, quando todos os envolvidos com esse espetculo
escolhem, amam, sentem verdadeiramente um texto. Sem essa cumplicidade, essa
ao conjunta, nenhuma obra dramtica pode ser chamada de obra teatral.
Rgio (1967) ainda aponta as trs origens do teatro: uma origem religiosa,
mgica, voltada para os deuses e para as cerimnias em que se comemoravam
seus feitos, se pedia sua proteo, se aplacava a sua clera; uma origem social que,
atravs dos ritos de passagem manifestava o sentido de cl, nao, humanidade;
uma origem psicolgica e ldica, que inspira, no homem, o esprito de imitao.
Baty e Chavance apud Rgio (1967), comentando a importncia do teatro
face s demais artes, afirmam que as artes plsticas, por exemplo, podem produzir
espetculos magnficos e a literatura, da mesma forma, criar poemas admirveis.
Mas so incapazes, separadamente, de realizar uma obra verdadeiramente
dramtica, enquanto que, no teatro, existe uma confluncia de elementos
espetaculares levando a um objetivo comum. O texto, a interpretao, a decorao,
a expresso corporal, tudo canalizado para o momento mgico do espetculo
teatral.
O autor conclui que o teatro para ser lido, portanto, um simples gnero
literrio, pois s no palco ele viver sua verdadeira vida. A literatura exige um autor e
um leitor; o teatro exige vrios colaboradores e um pblico. Teatro espetculo.
Assim, um texto sem espetculo e um espetculo sem texto jamais chegaro a ser
teatro. O que nos parece que, quaisquer que sejam as situaes, o poeta
dramtico cria a sua obra contando, mesmo que de relance, com um pblico. Assim
30
que, n' O Marinheiro, as personagens no se movem durante toda a pea. Apenas
falam, sem quaisquer gestos em meio aos dilogos. No entanto, existem referncias,
anotaes, indicaes de cenrio, posicionamento de objetos, entonao de voz,
etc. H, portanto, a inteno do espetculo, uma situao de apresentao teatral.
Como afirma Rgio (1967, p. 170),
A realidade que todos os grandes poetas
dramticos acharam meio de, no renunciando
ao seu gnio, nem submetendo a sua criao a
excessivas
presses
externas,
criarem
literariamente e inspirarem espetculos teatrais
sem, ao mesmo tempo, afastarem a fecunda
lembrana do pblico
Fernando Pessoa sempre se referiu ao carter dramtico de sua poesia,
afirmando que a obra de cada heternimo seria como a fala dos personagens de um
drama seu. E que, juntas, elas formariam outro drama. Assim, um drama dentro de
outro drama. Por que no uma obra dentro de outra obra? Por que no a essncia
dos heternimos estar contida n'O Marinheiro, um "drama esttico", j que, segundo
Cruz (s/d, p. 19), o drama " reside, mais propriamente, no dilogo das linguagens
poticas, no interior da obra (das obras) dos heternimos"? O prprio Pessoa se
define como um poeta dramtico que vrios poetas, criando os heternimos e
estes criando suas respectivas obras poticas. essa poesia multipessoal,
plurissubjetiva que interessa ao nosso estudo.
.
1.1.1 O Marinheiro, um "drama esttico"
31
Segundo Seabra (1974), no parece possvel classificar "O Marinheiro" como
um "drama de ao" ou como um "drama de personagem", nem mesmo como um
"drama de espao", segundo uma outra classificao proposta por alguns tericos
da literatura. Ele , realmente, um drama esttico, sem ao, sem movimento.
Chamo teatro esttico quele cujo enredo dramtico no constitui ao - isto ,
onde as figuras no s no agem, porque nem se deslocam nem dialogam sobre
deslocarem-se, mas nem sequer tm sentidos capazes de produzir uma ao;
onde no h conflito nem perfeito enredo. Dir-se- que isto no teatro. Creio
que o porque creio que o teatro tende a teatro meramente lrico e que o enredo
do teatro , no a ao nem a progresso e conseqncia da ao - mas, mais
abrangentemente, a revelao das almas atravs das palavras trocadas e a
criao de situaes (...) Pode haver revelao de almas sem ao, e pode
haver criao de situaes de inrcia, momentos de alma sem janelas ou portas
para a realidade. ( PESSOA, 1990, p.283 )
No parece que Pessoa tenha criado "O Marinheiro" para ser representado.
Segundo Seabra (1974, p. 28), " ele destina-se muito mais a ser lido do que a ser
visto, ou antes a ser visualizado atravs das palavras." At as indicaes iniciais de
cena mostram isso: a maneira potica e sugestiva como so indicadas, parecem
dirigir-se no a um cengrafo, mas imaginao de um leitor.
No h indicao de tempo ou espao e as trs Veladoras que, no incio,
parecem personagens distintas, aos poucos vo se diluindo, dissolvendo sua
identidade at se reduzirem a, aparentemente, uma s. "Quem que est falando
com a minha voz?" (PESSOA, 1986, p.451). Elas vivem no espao de uma noite,
receosas da primeira luz do dia, que as dissolver. Para viverem e poderem sentirse reais, falam o tempo todo, contando umas s outras os seus sonhos.
No entanto, mesmo que as veladoras sejam simples vozes e no
efetivamente personagens, h no interior do drama um "personagem" simblico,
evocado atravs do sonho: um marinheiro, perdido numa ilha longnqua e que
32
sonha, tambm, com uma ptria que perdeu, ou antes, "que nunca tivesse tido".
Assim, a distino entre sonho e realidade questionada, quando uma das
veladoras se pergunta se, na verdade, no seriam elas o sonho do marinheiro e ele
a nica coisa real de toda a situao.
O tema central de toda a poesia de Pessoa, o mistrio do Ser e o terror do
Nada tambm so perfeitamente identificados na pea: "H alguma razo para
qualquer coisa ser o que ?" (PESSOA, 1986,p.443). "Se nada existisse, minhas
irms?... Se tudo fosse, de qualquer modo, absolutamente cousa nenhuma?"
(PESSOA, 1986, p.449).
Essas vozes que se confundem numa s, como nas tragdias gregas, o clima
de terror e dvida gerado pelas palavras que respondem s palavras, que situam o
drama no plano da tragdia.
Pessoa no deixou de sugerir o carter trgico de O Marinheiro, num de seus
comentrios escritos em ingls, que aqui traduzimos: "Comeando de uma
forma muito simples, o drama evolui gradualmente para um cume terrvel de
terror e de dvida, at que estes absorvem em si as trs almas que falam e a
atmosfera da sala e a verdadeira potncia do dia que est para nascer. O fim
desta pea contm o mais sutil terror intelectual jamais visto. Uma cortina de
chumbo tomba quando elas no tm mais nada a dizer uma s outras nem
mais nenhuma razo para falar. (SEABRA, 1974, p. 31)
Muitos crticos citam o fato de que Pessoa sempre ambicionou escrever um
poema dramtico em verso. No entanto, ele conseguiu uma maior intensidade de
estruturao potica e dramtica no drama esttico em prosa. Mais um paradoxo,
confirmando a face surpreendente do poeta.
E, numa frase de Seabra (1974, p. 34), encontramos uma afirmao que leva
ao objetivo maior deste estudo: mostrar que n'O Marinheiro esto contidas as
sementes de algumas das obras poticas posteriores de Pessoa.
E tanto O Marinheiro como o Primeiro Fausto nos surgiro, em ltima
anlise, como a face positiva e negativa de uma mesma evidncia
fundamental: a dramaticidade da obra de Pessoa manifesta-se no no
gnero dramtico propriamente dito mas na sua transposio lrica
para os heternimos.( SEABRA, 1974, p. 34).
33
1.2 Teorizando a poesia
S a poesia da mesma ordem que a filosofia e o pensar
filosfico. Mas a criao potica e o pensar no so, apesar
disso, idnticos. Falar do nada ser sempre, para a Cincia,
uma abominao, um absurdo. Pelo contrrio, alm do filsofo,
o poeta pode faz-lo. E isso no em razo de um menor rigor
que, segundo o senso comum, seria prprio da poesia, mas sim
porque na poesia (a que autntica e grande) reina uma
essencial superioridade de esprito em relao a tudo o que
puramente cincia. Superioridade em virtude da qual o poeta
fala sempre como se o ente (das Seiende) fosse pela primeira
vez expresso e interpelado. (HEIDEGGER)
Segundo Bachelard (1991 ), "a poesia uma metafsica instantnea". Ela
pode dar uma idia de unidade e uma viso universal numa simples palavra, num
curto bloco de palavras.. Em todo verdadeiro poema, encontramos elementos de um
tempo atpico, que foge do tempo comum. Bachelard chama esse tempo de vertical,
porque foge horizontalmente do tempo regular, que administra arrebatamentos e
emoes, muitas vezes inoportunamente. O instante da poesia visa verticalidade,
profundidade. E essas simultaneidades, ordenadas, mostram que o instante
potico exibe uma perspectiva metafsica:
O instante potico , pois, necessariamente complexo:
emociona, prova, - convida, consola -, espantoso e
familiar. O instante potico essencialmente uma relao
harmnica entre dois contrrios. No instante apaixonado do
poeta existe sempre um pouco de razo; na recusa racional
existe sempre um pouco de paixo. As antteses
sucessivas j agradam ao poeta. Mas, para o arroubo, para
o xtase, preciso que as antteses se contraiam em
ambivalncia. Surge, ento, o instante potico... No
mnimo, o instante potico a conscincia de uma
ambivalncia. Porm mais: uma ambivalncia excitada,
ativa, dinmica. O instante potico obriga o ser a valorizar
ou a desvalorizar. (BACHELARD, 1991, p.184)
34
Ainda segundo o autor, anttese e ambivalncia so dois termos que nascem
juntos, pois o poeta vive num nico instante os dois termos de suas antteses. Mas,
o que o tempo, dentro desse pluralismo de efeitos contraditrios? Podemos
chamar de tempo essa perspectiva vertical que envolve o instante potico? "Sim,
porque
as
simultaneidades
acumuladas
so
simultaneidades
ordenadas".
(BACHELARD, 1991, p.185). Elas do a dimenso do instante, porque lhe do uma
ordem interna e o tempo nada mais do que uma ordem. Portanto, a ordem das
ambivalncias no instante potico um tempo, que o poeta descobre ao recusar o
tempo comum, horizontal. E, ao atingir o mago desse tempo, o poeta atinge o
centro de si mesmo.
Cada poeta apodera-se desse tempo, sua maneira. Lendo Poe, vemos que
o tempo vertical pode se elevar ou se afundar. N'O Corvo, podemos perceber que
meia-noite nunca soa horizontalmente. Vai descendo, descendo na alma, trazendo
junto com as pancadas, feridas, recordaes, fantasmas... Depois nos traz de volta
para a vida, para o tempo plano. Enfim, "tudo que nos afasta da causa e da
recompensa, tudo que nega a histria ntima e o prprio desejo, tudo que
desvaloriza ao mesmo tempo o passado e o futuro encontra-se no instante potico".
(BACHELARD, 1991, p. 186)
Segundo Barthes (1971), prosa e poesia so grandezas que se podem medir
e uma sempre diferente da outra. Essa diferena no de essncia; de
quantidade. Assim, o dogma clssico da unidade da linguagem no afetado.
Assim, a poesia a "equao decorativa, alusiva ou carregada, de uma prosa virtual
que jaz em essncia e potncia em todos os modos de expresso." (BARTHES,
1971, p.56)
35
Nos tempos clssicos, Potica era algo convencional, designando somente a
inflexo de uma tcnica verbal, a expresso vestida de roupagens mais belas. Na
poesia moderna, nada resta dessas caractersticas.
A Poesia no mais ento uma Prosa decorada de
ornamentos ou amputada de liberdades. uma
qualidade irredutvel e sem hereditariedade. No mais
atributo, substncia e, por conseguinte, pode muito
bem renunciar aos signos, pois traz em si sua natureza
e no precisa assinalar exteriormente sua identidade: as
linguagens poticas e prosaicas esto suficientemente
separadas para poderem prescindir dos prprios signos
de sua alteridade. (BARTHES, 1971, p.56)
Ainda segundo Barthes (1971), enquanto a poesia clssica tcnica, sem
durao, na potica moderna as palavras mostram uma emanao visivelmente
sentimental. "... a fala , ento, o tempo espesso de uma gestao mais espiritual,
durante a qual o 'pensamento' preparado, instalado pouco a pouco pelo acaso das
palavras" (p. 57). Portanto, a Poesia moderna diferente da clssica pela estrutura
da linguagem, e entre elas s existe um ponto comum: a inteno sociolgica.
Barthes compara ainda a natureza da prosa e da poesia clssicas
matemtica. Todo o movimento da continuidade matemtica provm de um
entendimento explcito de suas ligaes. A linguagem clssica apresenta tambm
um movimento semelhante, ainda que menos rigoroso: respaldadas por uma
tradio que lhes retira todo o frescor, suas palavras apresentam uma sucesso de
elementos de igual densidade, submetidos a uma mesma presso emocional. A
funo do poeta clssico, portanto, no "encontrar palavras novas, mais densas ou
mais brilhantes, mas ordenar um protocolo antigo, aperfeioar a simetria ou a
conciso de uma relao, levar ou reduzir um pensamento ao limite exato de um
36
metro" (p. 58). No h dvida que a fala clssica, embora semelhante, no atinge a
perfeio funcional da rede matemtica: "nela, as relaes no se manifestam por
signos especiais mas apenas por acidentes de forma ou de disposio." (p. 59).
Na linguagem clssica, so as relaes que dirigem a palavra; na poesia
moderna, as relaes so apenas uma extenso da palavra. E a Palavra que
revela uma verdade de ordem potica e, portanto, "a palavra potica nunca pode ser
falsa porque total; ela brilha com uma liberdade infinita e prepara-se para
resplandecer no rumo de mil relaes incertas e possveis" (p.60 ). Assim, sob cada
palavra da poesia moderna, est inserida uma espcie de geologia existencial,
constituindo um objeto inesperado, produzido e consumido com uma curiosidade
particular que faz da fala potica uma fala terrvel e inumana. A linguagem clssica
uma linguagem social, um universo onde as palavras nunca tm o peso terrvel das
coisas, onde a fala sempre o encontro com algum. A poesia moderna, ao
contrrio, destri as relaes da linguagem, inverte o conhecimento da Natureza e
uma poesia objetiva que, segundo Barthes (1971), exclui os homens, pois "no
existe humanismo potico da modernidade" (p. 63). A poesia moderna pe o homem
em ligao com as imagens mais inumanas da Natureza: o cu, o inferno, a loucura,
o sagrado, etc. Os poetas modernos assumem a poesia no como um estado de
alma, uma tomada de posio, mas "com o esplendor e o frescor de uma linguagem
sonhada." (p. 63). Quando a linguagem potica pe em questo a Natureza, no h
mais escritura, h apenas estilos, atravs dos quais o homem enfrenta, solitria e
corajosamente, o mundo objetivo.
Em se tratando da poesia de Pessoa, ela ganha especial relevo quando
integrada na anlise da linguagem heternima. E essa multiplicidade de linguagens
poticas leva-nos descoberta da diversidade de toda a obra pessoana. Superando-
37
se, Pessoa se recria, desdobrando-se em muitos, falando atravs de vrias vozes,
todas suas e, ao mesmo tempo, todas absolutamente diferentes e desconhecidas.
Essa pluralidade nos abre horizontes para a multiplicidade de todas as leituras
possveis e, a cada leitura, julgamos ter encontrado uma chave para a interpretao
perfeita. No entanto, Pessoa nos escapa, se esconde, reaparece, heternimo aps
heternimo, at enquanto "ele mesmo".
A poesia de Pessoa a anlise mais complexa, dolorosa e trgica,
mas ao mesmo tempo lcida e impiedosa, do homem do sculo XX;
um homem atormentado que escarnece de outrem e de si prprio e
que, na sua verdade e na sua maldade, no abuso do paradoxo, na
capacidade de afirmar ironicamente o contrrio de um axioma j
antes ironicamente utilizado, produz uma poesia das mais
revolucionrias do sculo XX. (TABUCCHI, 1984, p. 19)
preciso observar que cada personagem criada integralmente e no
apenas pensada de modo diferente. Por isso, os heternimos falam atravs da
poesia. Em prosa, mais difcil simular, fingir. Os versos tornam mais espontnea
essa simulao.
Este estudo, como j citamos, visa a estabelecer pontes entre o drama
esttico O Marinheiro, de Fernando Pessoa e algumas de suas obras poticas
posteriores. Portanto, tentaremos encontrar a poesia sob a prosa, pois o teatro em
prosa de Pessoa mostra frases que so poesia, pelo ritmo que possuem. N'O
Marinheiro, esse aspecto do drama impressiona sobremaneira, se levarmos em
conta o seguinte apontamento do prprio autor:
O verso difere da prosa no s materialmente, mas
mentalmente. Se no diferisse, no haveria nem uma coisa
nem outra, ou haveria s uma que fosse uma espcie de
mistura de ambas. O estado mental que produz verso
diferente do estado mental que produz prosa. A diferena
exterior entre a prosa e o verso o ritmo; a diferena
interior entre a prosa e o verso ser a entre um estado
mental que naturalmente se projeta em simples palavras, e
um estado mental que naturalmente se projeta em ritmo
feito com palavras. (PESSOA, 1986, p.787)
38
Pessoa aproxima as linguagens poticas dos heternimos aos dois plos que,
no seu entender, dominam a arte da linguagem: a prosa e a poesia. Como vimos,
ele as diferencia apenas pelo ritmo, que estabelece "um acordo entre o princpio que
preside estrutura dos significados e o que rege a forma da expresso, se
quisermos reportar-nos sua prpria poesia."(SEABRA, 1974, p.85).
Para Pessoa, a poesia como a prosa feita msica, ou uma prosa cantada.
Seguindo esse raciocnio, teramos, na poesia, a naturalidade da palavra aliada ao
artifcio da msica. Assim que Caeiro e Campos tenderiam para a prosa; Pessoa
"ele mesmo" e Reis, para a poesia.
Segundo Casais Monteiro (1958), o modernismo realizou uma revoluo na
linguagem potica, revoluo esta concretizada na poesia de Pessoa, embora
iniciada por Gomes Leal, Cesrio Verde e Antonio Nobre:
Em toda a poesia de Pessoa palpita um anseio essencial, doloroso, imenso, de
desvendar o mistrio da vida. Isso lhe d uma unidade profunda: aqui no h
reparties por heternimos, nada muda nem divide a substncia desta preocupao
essencial, porque ela est na natureza profunda do seu ser. a vasta interrogao que
salta, em cada instante, dos seus passos pelo mundo, do seu encontro com as coisas,
com os acontecimentos reais, os quais escondem, para alm de sua aparncia causal,
um sistema de mistrios que so a denncia de um mundo dum mundo radioso e
calmo. este mundo - do qual veio o Poeta para cumprir neste a misso que de l
trouxe e as instrues que ainda de l recebe - que a sua poesia procura exprimir com
uma eloqncia e uma coragem que insistem em querer dizer o inexprimvel. Em querer
dizer os grandes mistrios que habitam o limiar do seu ser, perdido entre os sonhos que
no foram ("quem me dir quem sou?"), em dizer os sutis segredos que se escondem
sua angstia, "querer ouvir para alm do sentido que uma voz tem", querer poder beijar
o gesto sem beijar as mos e descendo pelos desvos do sonho, poder encontrar esse
gesto e prend-lo, em querer dizer a grande mgoa de todas as coisas serem bocados
e aquela fome de viver as coisas que, j durante a sua durao, sofre a pena do
momento em que tiverem acabado." (MAR TALEGRE apud CASAIS MONTEIRO, 1958,
p.133-4)
39
Ainda segundo Casais Monteiro (1958, p.138), "a poesia uma deusa
incgnita". Realmente, quando nela nos absorvemos e com ela nos identificamos,
parecemos compreend-la, toc-la. No entanto, ela de ns se oculta, de repente,
deixando-nos apenas a dvida e as possveis paisagens a descortinar. A verdade
que muito difcil de se identificar poesia e idias. Fernando Pessoa , entre os
grandes poetas do nosso tempo, um dos que melhor nos permite reconhecer essa
dificuldade. Seus heternimos tm suas obras impregnadas de vrias filosofias,
mostrando ao mesmo tempo a diversidade e a unidade efetivas da poesia.
Impregnadas, tambm, de uma msica prpria, fazendo um contraponto entre si,
mostrando harmonizaes que se repetem nos poemas de Caeiro, Reis, Campos e
Pessoa "ele mesmo".
A captao desta multiplicidade exige, todavia, do leitor que
o "acessvel" no lhe faa perder de vista o difcil - [...]
Exige dele, em primeiro lugar, que a msica de lvaro de
Campos, de Ricardo Reis e de Alberto Caeiro no lhe seja
menos familiar do que a de Fernando Pessoa ele-mesmo, e
que nas complexas harmonizaes da "Tabacaria" ou de
"Ode Martima", por exemplo, saiba reconhecer as mesmas
virtudes que na melodia mais familiar do "Menino de sua
me". Exige, em suma, que a msica lhe ensine aquilo que
a mtrica no oferece". (CASAIS MONTEIRO, 1958,
p.170).
preciso ter sempre presente que a linguagem dos poetas a linguagem de
sua prpria poca. A linguagem algo vivo, palpitante e, no caso de Pessoa, destri
para, talvez, reconstruir e "desvendar o mistrio da vida", como afirmou Talegre
Portanto, poesia e prosa coexistem na obra pessoana, racionalizando para sonhar e
sonhando para racionalizar. O ritmo oferece as nuances, as possibilidades de
compreenso, o auxlio interpretao.
40
O ritmo consiste numa gradao de sons e de falta de som, como o mundo
na graduao do ser e do no-ser. Quer isto dizer que o ritmo consiste numa
distribuio de palavras, que so sons, e de pausas, que so faltas de som.
[...] Na prosa, que a linguagem falada escrita, estas pausas so dadas por
uma coisa a que se chama pontuao, e a pontuao determinada
exclusivamente pelo sentido.[...] Se, porm, quisermos acentuar o ritmo para
alm da ordem lgica, em virtude de em ns a emoo,[...] predominar sobre
a idia propriamente dita, abriremos pausas artificiais no discurso.( PESSOA,
1990, p. 273)
Como afirma Pessoa, o ritmo algo presente tanto na prosa quanto no
verso, mesmo que, essencial neste, seja naquela apenas um acessrio. Ao
afirmar que, "no fundo no h verso nem prosa" (p. 787), ele talvez queira nos
mostrar que existe, apenas, a linguagem, seja ela prosa ou poesia.
[...] a diferena entre a prosa e o verso, sem desaparecer, longe
at de desaparecer, acentua-se tal qual , sem mais nada. O
verso a prosa artificial, o discurso disposto musicalmente. No
outra a diferena entre as duas formas da palavra escrita.
(PESSOA, 1990, p. 274)
Plato dedica um dilogo inteiro, Crtilo, aos problemas da linguagem,
mostrando que, nas mos de um sbio, ela um instrumento que deve ser usado
com lgica.
Scrates passa a
nomes dos deuses
pelo seu significado
relao ao destino
1988, p.28)
exemplificar como os
e heris se justificam
oculto ou evidente em
de cada um. (BRILL,
H uma diferena fundamental entre a perspectiva socrtica e a nossa
perspectiva: a palavra, considerada divina, formava um elo indivisvel com seu
significado, elo esse indissolvel porque era o prprio destino que o traava. Uma
41
denominao, por exemplo, tinha a capacidade de revelar a essncia da coisa
significada. Na perspectiva atual da linguagem, houve um hiato entre significado e
significante. Segundo Brill (1988, p.29), o sistema lingstico contemporneo,
desligado da realidade, "volta-se para si mesmo, mais interessado na sua prpria
coerncia interna do que no relacionamento com o mundo exterior".
Surge, ento, a importncia do smbolo. O que realmente faz do homem um
ser racional a sua capacidade de simbolizar todas as suas experincias de vida. A
funo simblica permite ao homem apropriar-se de suas vivncias e express-las,
memorizando-as ou transmitindo-as aos outros. Assim, na base da funo simblica
est a comunicao entre os homens, "possibilitando a troca de idias entre
indivduos do mesmo grupo social, atravs de cdigos tais como a linguagem escrita
e falada e as artes" (BRILL, 1988, p.35).
Segundo Gonalves (1995), as condies que determinam a existncia do
humano que constituem o simblico. Por isso, a fantasia possui duas funes: uma
funo imaginria, que ilusria, e uma funo simblica, que desveladora. Vale
lembrar aqui, contudo, que no apenas a poesia que se utiliza da imaginao para
entender a realidade. Toda a Teoria, inclusive a cientfica o faz, tambm.
Podemos entender que a poesia a livre interpretao da realidade. Isso
significa que o poeta no aceita o mundo interpretado por outras pessoas; ele a
desinterpreta, depurando-a, interpretando livremente o real. , ento, que a poesia
pode ser vista como um jogo, feito no com as palavras, mas sim com a realidade.
Portanto, a principal substncia dessa atividade ldica , em ltima anlise, a
imaginao, a atividade criadora que pode, atravs do olhar do poeta, reelaborar as
vises do mundo, usando temas prprios, usando a riqueza dos smbolos.
42
O Marinheiro tem como smbolo a morte. Um caixo, onde repousa uma
donzela, domina toda a pea. Veremos que, principalmente em Campos e no poeta
ortnimo, a morte um tema transcendental, rico em contedo metafsico. Em
ambos, percebemos o conflito da percepo do mistrio aliada a um impiedoso
racionalismo. N'O Marinheiro, essa dualidade bem clara. Enquanto a Primeira e a
Segunda veladoras questionam-se sobre situaes e imagens misteriosamente
pinceladas pela memria ou pelas palavras ditadas pela emoo e pelo medo, a
Terceira racional e objetiva, na maior parte do tempo. Se as duas primeiras vem
no tempo que custa a passar um motivo para sonhar ou relembrar o passado, ela
simplesmente pergunta: "Por que no haver relgio neste quarto?" (p. 442). E,
pergunta da Primeira veladora: "Quando vir o dia?" (p. 442), sua resposta rpida
e cida: "Que importa? Ele vem sempre da mesma maneira..." (p. 442).
Como se v, talvez esse narrador-observador que perpassa toda a obra de
Pessoa, possa ter andado por uma ponte construda entre vrios Pessoas que,
contudo, so os mesmos. Talvez os caminhos sejam iguais, apenas revestidos de
diferentes paisagens. Teria o poeta iniciado, n'O Marinheiro, a construo dessas
pontes e a pintura dessas paisagens?
o que tentaremos demonstrar, fazendo inicialmente uma anlise da pea,
seguida do estudo comparativo entre o drama esttico e alguns poemas e,
finalmente, apresentando as possveis concluses a que poderemos chegar, ao final
deste trabalho.
43
2 O MARINHEIRO: UMA INTERPRETAO
Segundo o prprio autor, a literatura dramtica uma variante da literatura
narrativa. A literatura a expresso verbal de um temperamento e a narrativa a
forma objetiva dessa expresso. A literatura dramtica a forma sinttica dessa
expresso objetiva; um drama , assim, um romance na sua forma mxima de
sntese possvel e, por isso, pode receber a aparncia de vida, pode ser simulado
num palco.
O Marinheiro, drama publicado por Pessoa no primeiro nmero de Orpheu, no
se trata de uma das obras perfeitas e acabadas que nos ficaram dele. Ele mesmo
comenta essa particularidade, em uma carta a Armando Cortes Rodrigues:
O meu drama esttico "O Marinheiro" est bastante
alterado e aperfeioado; a forma que v. conhece
apenas a primeira e rudimentar. O final,
especialmente, est muito melhor. No ficou, talvez,
uma cousa grande, como eu entendo as cousas
grandes; mas no cousa de que me envergonhe,
nem - creio - me venha a envergonhar. (PESSOA,
1986, p.788).
Na verdade, no podemos chamar esta obra de Pessoa de "drama de ao",
nem tampouco de "drama de personagem", segundo Cruz, (s/d, p. 28). Talvez,
criando um "drama esttico" em prosa, Fernando Pessoa atingiu, em mais um
44
surpreendente paradoxo, "uma maior intensidade de estruturao dramtica e
potica do que no seu ambicioso plano de um poema dramtico em verso". (CRUZ,
s/d, p. 34).
2.1 O Marinheiro, um resqucio simbolista?
No final do sculo XIX, verifica-se uma crise social, existencial e cultural que
tem como conseqncia a saturao das expectativas otimistas anunciadas pelo
desenvolvimento industrial e pelo progresso cientfico, que ganharam impulso a
partir da metade desse sculo. nesse contexto que surge o Simbolismo, voltado
para o ego, para as esferas inconscientes, na busca do "eu" profudo. Os simbolistas
buscavam a "sntese viva", que unisse em sua complexidade, todos os aspectos da
vida. A linguagem simbolista, infinita e plurvoca, explorava temas msticos,
fabulosos, mergulhando no vago, no mistrio, na iluso.
Sobre esse importante movimento, comenta Hauser (1968, p. 216-7):
O simbolismo a mais celebrada tendncia[...]
Predomina a moda da novela russa, do prerrafaelismo
ingls e da filosofia alem. Mas o efeito mais profundo
e mais fecundo vem de Baudelaire; considerado o
precursor mais importante da poesia simbolista e,
sobretudo, o criador da lrica moderna.
Para melhor entendermos a evoluo do simbolismo em Portugal, segundo
Cruz (s/d), devemos nos reportar a D. Joo Cmara, que em 1894, escreveu a
primeira pea "programaticamente simbolista" (p.22), O Pntano, sob a clara
influncia de Maeterlink. Escrita para ser encenada, feita concretamente para o
palco, no agradou ao pblico, talvez pela excessiva simbologia e pela carga
45
evocativa complicada. Talvez por isso, as demais obras de Cmara, depois,
mostraram um simbolismo bem mais simplificado.
No mesmo ano (1894), surge o primeiro poema dramtico de Eugnio de
Castro, Belkiss. No entanto, Castro mostra uma particularidade que nos interessa
sobremaneira, em virtude do estudo a que nos propomos neste trabalho: no h, em
suas obras, uma distino exata entre textos dramticos e no dramticos. Alguns
textos podem ser levados ao palco, mas visvel que as particularidades da
construo teatral como movimento, cena, dinmica, no eram uma preocupao do
autor. interessante notar, tambm, que a sua poesia dramtica extremamente
esttica, como o , tambm, o nosso O Marinheiro.
Mas, ainda segundo Cruz (s/d), em Antonio Patrcio que a evoluo do
simbolismo portugus encontra um dos seus momentos mais importantes e, no
teatro, sua "mais completa e caracterstica expresso" (p.24). Sua obra, construda a
partir da dualidade morte/amor, mostra uma frmula e uma tcnica bem
caractersticas da corrente simbolista, como em Pedro o Cru e D. Joo e a Mscara,
entre outros trabalhos.
Mas, na verdade, no modernismo que amadurecem certas inclinaes que a
escola simbolista procurou integrar e esse talvez seja um dos motivos por que
Simbolismo e Modernismo podem ser confundidos. No simbolismo, d-se um
fenmeno extremamente importante: a regenerao musical da poesia, que lhe
permite recuperar a sua essncia rtmica. Alm disso, outras caractersticas
marcaram o movimento: a necessidade de se captar a essncia misteriosa das
coisas; a busca da expresso potica atravs da musicalidade, dos smbolos, dos
temas msticos que levam percepo de uma nova linguagem; a peregrinao pelo
inconsciente, na busca do eu-profundo; o tom fatalista (pessimismo, horror, dor,
46
morte); valorizao de toda possibilidade de expresso que reproduza a percepo
do mundo. Alm disso, o simbolismo exalta a fala, a literatura teatral. E a palavra,
por si s, j espetacular, embora como vimos, ela no dar obra um carter
cnico se no for acompanhada de um mnimo de dinmica teatral.
O ideal dramtico simbolista comea por se afirmar em Mallarm, entre
outros, atravs, principalmente , da negao do teatro naturalista, segundo Seabra
Pereira (1975).
[...] libertao de toda e qualquer regra, mesmo da relao
representativa entre a forma tomada pelo drama e as formas da vida;
desprezo da realidade contempornea e da observao exacta; no
subordinao ao fio de uma intriga; tendncia para anular a aco;
impreciso de cenrios e vesturios; desnudao da cena; reduo
do nmero de actores, at ao ideal do actor nico, e obscurecimento
da sua presena e funo; etc. (SEABRA PEREIRA, 1975, p. 96)
Segundo Junqueira (2001), as diretrizes que norteiam O Marinheiro so as
que norteavam o teatro simbolista no final do sculo XIX. Essas diretrizes
correspondem s idias de Fernando Pessoa, segundo as quais "...Pode haver
revelao de almas sem aco, e pode haver criao de situaes de inrcia,
momentos de alma sem janelas ou portas para a realidade". (PESSOA apud CRUZ,
1991,p.68).
Discriminado como resqucio simbolista, ainda segundo Junqueira, so
precisamente essas caractersticas simbolistas principalmente a valorizao de
recursos sonoros e rtmicos sistematicamente repetidos, perfazendo uma linguagem
sensvelmente potica que, reelaboradas pelo autor, "fazem da pea um 'artefato
lingstico' que sui generis na medida em que proporciona ao leitor/
ouvinte/espectador, um espetculo potencialmente musical, uma quase sinfonia de
vozes femininas..." (JUNQUEIRA, 2001, p.204).
47
No apresentando nenhuma ao, apenas linguagem, a pea apresenta um
cenrio igual, do princpio ao fim do espetculo. O autor privilegia a imaginao,
fazendo com que as personagens adquiram materialidade atravs da fala, como se
escrevesse um "hino palavra", demonstrando o quanto nosso pensamento pode
viajar, sem necessidade de movimento. O drama esttico, na verdade, substitui a
categoria de ao pela categoria de situao, mostrando um teatro mais filosfico do
que dramtico, onde, a cada dilogo, confundem-se cada vez mais as fronteiras
entre a vida e o sonho. Uma das veladoras, a certa altura da pea pergunta: "Por
que no ser a nica coisa real nisto tudo o marinheiro, e ns e tudo isto aqui
apenas um sonho dele?..." (PESSOA, 1986, p. 449)
A pea passa-se no quarto de um castelo antigo, onde trs jovens velam o
corpo de uma donzela. O que mais impressiona a rigidez do quadro, a forma
esttica das cenas. Tudo se passa nesse quarto e as trs veladoras jamais saem do
seu lugar. O ambiente tipicamente simbolista: o quarto bem isolado do mundo
exterior, s se comunicando com ele atravs de uma nica janela, "alta e estreita,
dando para onde se v, entre dois montes longnquos, um pequeno espao de mar"
(PESSOA, 1986, p. 441). interessante perceber, aqui, que a metfora da janela
refora a questo do isolamento interior e exterior do homem, presentes na obra
pessoana, talvez como uma necessidade premente de totalidade: janela, porta,
prtico, paredes, muros, todos so funcionalmente idnticos. oportuno lembrar,
aqui, dois poemas de Alexander Search: In the street e A Donzela. Neles, o sono e o
sonho so mostrados como as matrizes da melancolia de Pessoa. Segundo
Gonalves (1995), nesses dois poemas pode-se perceber sinais da solido e de um
pas de sonho, temas que seriam retomados depois, n'O Marinheiro.
48
Assim que, na pea, as trs veladoras mostram-se, cada qual a seu modo,
envolvidas pelo sonho, pelo mistrio. O caixo, smbolo de toda a pea, domina a
cena, numa clara aluso morte, nica personagem verdadeira do teatro da vida.
As trs jovens no tm nomes, talvez privilegiando o sentir, o pensar, numa
demonstrao de importantes caractersticas simbolistas: a valorizao das
manifestaes espirituais, a atmosfera dionisaca obscura, subjetiva, a percepo de
uma outra realidade, a captao do mundo e do sentido das coisas pelo smbolo.
Em significativa parte dos escritores do Simbolismo,
encontramos uma configurao platnica da viso do
Mundo: sobreposio de duas realidades distintas, sendo
uma - a material, fenomnica, sensivelmente atingvel destituda de valor em si, porque considerada apenas como
anncio simblico da outra, a realidade espiritual,
imperecvel e plena. Neste universo se suscita e situa a
busca transracional, detectora e vivificadora das analogias
secretas dos seres... (SEABRA PEREIRA, 1975, p. 66)
preciso lembrar que o quarto , na verdade, o palco que, no simbolismo,
considerado o espao de um cerimonial, o espao ideal para a sinestesia. A pea ,
toda ela, uma representao do homem existencialmente impotente, surpreendido
pelo destino. As protagonistas so criaturas em estado de passividade, que falam de
uma vida no propriamente analisada, mas refletida na sua aspirao de
imaterialidade e de sonho.
Na pea no h noo de tempo. No h relgio no cenrio, fato percebido
subjetivamente pelas Primeira e Segunda veladoras e objetivamente pela Terceira.
PRIMEIRA- No dizamos ns que amos contar o
nosso passado?
SEGUNDA- No, no dizamos.
TERCEIRA- Por que no haver relgio neste quarto?
SEGUNDA- No sei... Mas assim, sem o relgio, tudo
mais afastado e misterioso. A noite pertence mais a
si prpria... Quem sabe se ns poderamos falar assim
se soubssemos a hora que ? ( PESSOA, 1986,
p.442 )
49
A supresso do tempo remete a elementos claramente simbolistas: a
efemeridade das coisas; o desejo de viver no a vida, mas o sonho; a inrcia que
insinua o quanto so frgeis os limites entre a vida e a morte.
As trs veladoras falam o tempo todo. Tm medo e, ao mesmo tempo, tdio.
Suas falas so filosficas e intrigantes, com definies fascinantes: "as mos no
so verdadeiras nem reais... so mistrios que habitam a nossa vida". [...] "os
montes devem ter um segredo de pedra que se recusam a saber que tm...
(PESSOA, 1986,p.443); "tudo muito e ns no sabemos nada..." ( idem, p.445).
A segunda veladora, ento, comea a contar um sonho que ela teve: sobre
um marinheiro, perdido numa ilha longnqua. Ele tambm sonha, com uma ptria
que inventou. A cada dia inventa novas paisagens, pessoas, acontecimentos. At
que se cansa de sonhar e tenta se lembrar de sua ptria verdadeira... mas no
consegue. Esquecera tudo. E percebe que toda sua vida, agora, se resume no
sonho que sonhara, dia aps dia. Segundo Junqueira (2001), a capacidade de
sonhar, que vital ao marinheiro (pois este sobrevive graas sua fico), est
ligada ao desapego de seu passado histrico , pois
[...]foi preciso perder-se num naufrgio e separar-se dos valores
que tinha at ento para finalmente se reencontrar, renovado, e
reconstruir - base de sonhos - uma identidade, sua e de sua
ptria. Repare-se tambm que, nesse processo de renovao, a
gua um elemento imprescindvel, quer pela sua fora motriz,
quer pela propriedade de refletir imagens invertidas, quer pelo
poder quase hipntico com que nos embala: no mar e pelo mar
que se perde e se reencontra o marinheiro... (JUNQUEIRA, 2001,
p.207).
50
A pea prossegue, com o relato da jovem que, a essa altura, se perde em
meio narrativa: contara um sonho, dentro de outro sonho. E as trs se assustam:
onde est, qual o limite entre o real e o irreal? E se, de repente, a jovem morta
estivesse ouvindo a histria? Quem pode afirmar que no? A morta estar mesmo
morta ou apenas sonha, repousada num caixo?
Ento, amanhece. E, com o amanhecer, vem a certeza: apesar de todos os
riscos, os medos, os desencantos, seguro viver, mas mais bonito sonhar. Onde
est a tristeza: na morte ou na vida? Em que se deve acreditar? Na verdade,
perguntas claras ou veladas, mas sempre instigantes, so a tnica dessa obra, onde
tudo fluido como a gua, tudo sonho, tudo pura fico. As prprias
veladoras,curiosamente, no tm nomes. So sempre denominadas por nmeros: a
primeira, a segunda e a terceira veladoras.
O que nos parece que a morta, repousando em seu caixo, pode
representar o poeta ortnimo, que "morre" para fazer nascer os heternimos. Essa
idia se repete, segundo Seabra (1974, p.160), no poema "Eros e Psique".
A lenda da Princesa que espera ser despertada por um
Infante que, finalmente, descobre ser ele essa mesma
Princesa, seria susceptvel de ler-se, de resto, como
uma espcie de iniciao simblica ao mistrio da
heteronmia. [...] Esta viso esotrica da identidade das
oposies, germe central da poesia de Pessoa,
encontra-se na textura do poema no como uma
simples ilustrao de um rito, mas como a germinao
dos elementos do significado e do significante em que
ele se desdobra e se consubstancia.
Aos poucos, tomado pela idia de que no sonho pode-se viver com muito mais
intensidade do que no mundo real, o leitor / espectador vai-se deixando levar para o
limite entre o real e o fictcio, entre a vida e a morte, tambm ele tornando-se parte
do espetculo. A linguagem tambm vai-se tornando fluida, medida em que as
51
veladoras desmistificam o mundo real, diluindo o significado das palavras, fazendoas soarem como pura melodia. No final da pea, a linguagem " quase msica pura
a embalar o espectador / ouvinte e a enred-lo numa espcie de transe do qual s
sair no momento em que a segunda veladora disser, subitamente, que j no
acredita no sonho" (JUNQUEIRA, 2001, p. 208).
Esse teatro musical, que no apresenta qualquer ao, sem qualquer outra
movimentao que no seja a da fala, realmente um teatro simbolista, pois se
presta tanto ao palco quanto declamao. No entanto, j h n'O Marinheiro ,
indcios de um modernismo que leva as personagens a desmistificarem a prpria
fico, tentarem rebelar-se, sonharem um sonho dentro de outro sonho,
questionarem o seu autor. Ilustrando sua interpretao do drama esttico de
Pessoa, Junqueira (2001) escolhe a seguinte imagem: "o cho de areia quente em
que, para sonhar, se senta o marinheiro durante o dia sombra das palmeiras, o
cho do Simbolismo; mas o horizonte ainda pouco iluminado que ele perscruta,
noite, sem olhar para as estrelas, o do Modernismo..." (p. 211).
Modernista ou simbolista, O Marinheiro uma leitura fascinante e aterradora:
fala de vida e morte, sonho e desesperana, certeza e mistrio. O navio que chega,
finalmente, ilha, no encontra l o marinheiro. Teria ele voltado sua terra? E o
mais perturbador pensar, ento, a qual delas teria voltado: real ou do sonho?
Ser possvel viver um sonho com tal intensidade? E ser que s essa conjectura j
no uma prova definitiva de que ns, leitores, tambm nos afastamos da
realidade?
2.2 O Marinheiro e suas configuraes: espaos e objetos
52
Considerando a distino que Issacaroff (1981) faz entre espao mimtico e
espao diegtico, podemos considerar em O Marinheiro, segundo Marinho (1983), a
existncia bsica desses dois espaos. O espao mimtico (tudo que visvel,
concreto), ser constitudo pelo quarto do castelo, visvel no palco; o espao
diegtico (tudo o que descrito pelas protagonistas/narradoras do drama),
constitudo pelas recordaes das veladoras. Podemos ainda considerar, no interior
do espao diegtico, o espao sonhado pelo marinheiro e narrado pela segunda
veladora, a que chamaremos de intradiegtico.
Ainda segundo a autora, todos os elementos de um espao tm a sua
correspondente negativa no outro. O espao mimtico fechado, circular, fixo e
representa o presente; o diegtico aberto, cheio de mobilidade, abstrato e
representa o passado, "que nunca existiu a no ser no desejo". (MARINHO, 1983, p.
28). No primeiro est a morte; no segundo est o sonho. Nos dois, movem-se quatro
personagens: as veladoras, que pertencem a ambos e a morta, que s pertence ao
primeiro. O marinheiro s evocado no segundo, dando origem, como j
mencionamos, ao espao intradiegtico.
Apesar da existncia desses trs espaos, no existe ao propriamente dita,
em nenhum momento da pea. Assim, o que ocupa o primeiro plano so os objetos
existentes nesses espaos, pois so eles que sugerem a ao.
No espao mimtico, os objetos geram angstia: o caixo, a donzela morta,
as tochas; a ausncia do relgio indica atemporalidade; o cantar do galo e o chiar do
carro marcam a distino entre noite/dia, fora/dentro, vida/morte, real/sonho.
No espao diegtico, tudo leva busca do sonho: os palcios de outros
continentes, a vela de um navio inatingvel. No espao intradiegtico o pas sonhado
e o navio sugerem segurana e bem-estar, ainda que impossveis. Assim,
53
percebemos claramente que os objetos dos espaos diegtico e intradiegtico
tentam, inutilmente, anular os objetos do espao mimtico. O que acontece que,
por contraste, eles os ressaltam ainda mais.
preciso observar, tambm, o modo semntico de estudar esses objetos,
considerando que morte e sonho so dois campos semnticos fundamentais n'O
Marinheiro. Inseridos neles encontramos alguns desdobramentos: famlia, o
elemento lquido, natureza, atemporalidade, angstia, etc. Ao longo da pea,
percebemos que o campo semntico da morte, onde permanecem, todo o tempo, as
veladoras, anula o campo do sonho. "O sonho , tambm ele, o sonho de um
sonho." (MARINHO, 1983, p. 31).
O modo retrico de estudar esses objetos considera a realizao sucessiva
e/ou simultnea em diferentes figuras. No espao mimtico, o caixo, smbolo de
toda a pea, representa uma metonmia da morte. A donzela morta a anttese
vida/morte enquanto que as velas representam uma metfora da vida dentro do
universo da morte. O relgio, ausente, a metfora da atemporalidade.
No espao diegtico, os espaos so, na sua maioria, smbolos: casa, flores
(de felicidade); vela (fuga ); o prprio marinheiro (morte).
No espao intradiegtico, navios e barcos naufragam no mar do real ou do
irreal e a viagem s pode ser um sonho enquanto o passado, a ilha, o marinheiro
so puras essncias. No final, resta o caixo, a forma englobante da morta.
[...] em O Marinheiro, o nico enredo
apenas o da morte de que a pea uma
clara alegoria; e o objeto nunca
desrealizado o caixo - forma
englobante que revela ou afirma
permanentemente, mais do que o corpo,
a alma da morta. (MARINHO,1983, p. 31)
54
A gua representaria a dialtica vida/morte. O elemento lquido contido na
pea o mesmo que atravessa a potica pessoana e remete para o tema do fluir do
tempo. A gua parece ser, para Pessoa, um sinal de limitao e o conduziria a um
tempo de passagem.
2.3 Vises da arte simbolista n'O Marinheiro
Segundo Cndido et al(1970), o mundo representado no palco feito de
objectualidades puramente intencionais e , integralmente, fico.
Essa fico
reveste-se de tal fora que se superpe realidade. Assim, a personagem "vive",
ultrapassa os limites dessa realidade e faz do homem, realmente, o centro do
universo.
O teatro , em ltima anlise, uma forma de arte complexa e abrangente.
Para refletirmos sobre a arte visvel no drama esttico de Pessoa, precisamos
pensar o homem que, respaldado por um movimento artstico, revestiu esse trabalho
de suas caractersticas marcantes. Buscando incessantemente a sua prpria
identidade e o sentido da existncia humana, ele conseguiu uma liberdade de ao
tanto exaltante como aterradora. E a reside o conflito fundamental de nossos dias:
embora tenha adquirido um vasto e profundo conhecimento de si mesmo, no lhe
veio a segurana esperada. A arte, ento, a grande sublimao.
55
2.3.1 A pintura simbolista
Segundo Woodford (1983), h muitas maneiras de se olhar para uma pintura.
Se tomarmos como base a figura de um biso, pintada h uns quinze mil anos no
teto de uma caverna existente no que hoje a Espanha, poderemos olh-la de
quatro maneiras diferentes. A primeira seria indagando a sua finalidade. Alguns
poderiam dizer que sua finalidade pode ter sido mgica: o pintor rupestre pode ter
alimentado a esperana de que o fato de capturar a imagem do biso na caverna lhe
propiciaria capturar o prprio biso. Uma segunda maneira de ver essa pintura seria
indagando o que elas nos dizem a respeito das culturas em que foram
produzidas. Assim, a pintura rupestre pode nos dizer muitas coisas sobre os
homens primitivos, que se deslocavam de um lugar para outro, por vezes abrigandose em cavernas, caando animais ferozes e colhendo frutos em meio aos campos
pr-histricos. Uma terceira forma de ver essa pintura seria procurando avaliar at
que ponto ela realista. Com certeza, a semelhana com a natureza foi um dado
desafiador para o artista... Uma quarta forma de ver essa pintura consiste em
analis-la em termos de construo, ou seja, como formas e cores foram
usadas para produzir padres dentro do quadro. Essa anlise nos ajudaria a
compreender melhor seu significado e a entender os recursos utilizados pelo artista
para obter os efeitos desejados.
Um simples olhar para um quadro bastante para nos impressionar de
algum modo sobre ele: as formas e cores, configuraes, dimenses e arranjo dos
56
motivos podem ajudar-nos a reconhecer os meios criados pelo artista para obter
determinados efeitos, que nos impressionam desta ou daquela maneira.
Um quadro pode estar repleto de smbolos e, sempre, existem mais que ns
no notamos sequer. Eles no so facilmente reconhecidos, mas podem estar
disfarados como objetos de aparncia perfeitamente natural. Assim, com
freqncia, existem num quadro muito mais coisas do que apenas aquelas que
atraem nosso olhar.
Um bom pintor sabe como compor um quadro,
possui um sentido sutil de harmonias cromticas ou
um sentido ousado de uma dissonncia tonal. [...]
Sua obra pode dar satisfao, agradar, surpreender,
ampliar nossa compreenso de um tema ou
enriquecer
nossa
percepo
de
formas.
(WOODFORD, 1983, p.110)
2.3.2 Principais nomes da pintura simbolista
Em 1889, surgia na pintura um novo movimento chamado sincretismo ou
simbolismo, do qual a figura central era Paul Gauguin.
Para Gauguin, a civilizao ocidental estava totalmente desestruturada,
obrigando os homens a uma vida incompleta, dedicada ao ganho material, em
detrimento de suas emoes. Seus seguidores simbolistas, os "nabis", foram muito
mais notveis na teoria que na prtica. Um deles, Maurice Denis fez a declarao
que iria tornar-se a palavra de ordem para os pintores do sculo XX: "Um quadroantes de ser um cavalo de batalha, um nu feminino ou um episdio qualquer-
essencialmente uma superfcie plana coberta de cores aplicadas com certa ordem."
57
Os
simbolistas
tambm
descobriram
alguns
artistas
mais
velhos,
descendentes dos romnticos, cuja obra, como a deles, tambm colocava a viso
interior acima da viso da natureza: Moreau e suas fantasias medievais, Redon e
sua imaginao atormentada, cheia de imagens pessoais e perturbadoras, Vuillard,
o mais talentoso dos nabis.
No final do sculo XIX, uma preocupao com a decadncia, a corrupo e o
mal permeou o clima artstico e literrio. Van Gogh e Gauguin mostraram-se
insatisfeitos perante esses males da civilizao ocidental e essa insatisfao,
paradoxalmente, provou ser, pelas obras produzidas nesse perodo, uma fonte de
vigor. Um nome importante, tambm, nesse cenrio foi Toulouse-Lautrec.
Outros nomes se sobressaram nessa poca: Ensor e seu pessimismo
obssessivo face condio humana; Munch e suas incurses pelas faces do medo
(seu quadro "O Grito" o exemplo mais famoso); Picasso e seu "perodo azul", que
consiste de quadros de mendigos, marginais e vtimas da sociedade, refletindo o
isolamento do prprio artista.
2.3.3 A pintura simbolista e O Marinheiro: pontos de dilogo
Tomando como ponto de partida os quatro modos de se ver uma
pintura, elencados por Woodford (1983), visualizemos, inicialmente, o cenrio da
pea. Um quarto de um antigo castelo, tendo ao centro um caixo contendo o corpo
de uma donzela, vestida de branco. Nos cantos, quatro tochas. direita existe uma
nica janela, alta e estreita, mostrando o mar, entre dois montes longnquos. Do lado
58
da janela esto trs donzelas, velando a morta. A primeira est sentada em frente
janela; as outras duas esto sentadas uma de cada lado da janela. noite e podese perceber "um resto vago de luar".
A finalidade desse quadro (e a imobilidade das personagens nos permite vlo como tal), pode ser levar-nos a perceber a importncia da morte, a mais
verdadeira personagem do teatro da vida. A janela, o nico acesso ao exterior,
mostra o mar e sua dualidade vida/morte, seu mistrio, smbolo do tempo que flui,
inexoravelmente. noite, h apenas um resto de luar l fora e, dentro, quatro tochas
iluminam a cena, criando um ambiente tipicamente simbolista. E a talvez resida a
finalidade maior do cenrio: levar o espectador a perceber exatamente a raiz
simbolista da pea. Se pensarmos que, para os pintores simbolistas, a viso interior
deveria estar acima da observao da natureza, perceberemos o porqu da
pequena viso oferecida pela janela, da fraca iluminao do aposento, da ausncia
de gestos e da abundncia de idias. H, ainda, uma curiosa observao a esse
respeito: Maillol, um pintor simbolista e, depois, escultor (considerado por alguns
crticos como o maior de todos os escultores simbolistas), considerava que uma
esttua
[...] deve, acima de tudo, ser "esttica" e estritamente
equilibrada, como uma obra arquitetural; deve
representar um modo de existir liberto de toda e
qualquer presso das circunstncias. (JANSON,
2001, p. 929)
Como se v, o "quadro" onde se passa a pea pode ter a finalidade de situar
o espectador no contexto simbolista, enfatizando as caractersticas marcantes desse
59
perodo atravs dos objetos de cena, da posio das personagens, das sensaes
que todos esses elementos provocam.
Considerando a segunda maneira de se ver um quadro, indagando o que ele
nos diz a respeito da cultura em que foi produzido, O Marinheiro pode nos
mostrar pontos interessantes: a maneira da poca de se velar os mortos, a
arquitetura, a decorao, o vesturio. Aqui podemos citar Gauguin e sua crtica
sociedade industrial, que obrigava os homens a uma vida incompleta, dedicada aos
ganhos materiais, enquanto suas emoes eram esquecidas. As veladoras,
privilegiando a palavra e a emoo, mostram-se discretas e comedidas, perturbadas
apenas com seu caos interior. Redon, Moreau e, mais ainda, Munch, mostram em
suas telas o medo que ronda todo o drama esttico de Pessoa.
A terceira maneira de ver uma pintura, ainda segundo Woodford (1983),
consiste em avaliar at que ponto elas so fiis realidade. importante
perceber, aqui, o quanto de irreal, inslito, existe na pea, evidenciando mais ainda
sua essncia simbolista. As trs jovens, estticas, imveis, numa sala escura, tendo
por companhia uma jovem morta e contando um sonho dentro de outro sonho,
cercadas por objetos estranhamente simblicos, nada tm de real. Vemos essa
caracterstica nos quadros de Ensor, com sua viso pessimista da condio humana
e nos de Picasso, do seu "perodo azul", ao retratar personagens e cenas que
refletiam seu prprio isolamento.
Finalmente, uma quarta maneira de ver pinturas consiste em analis-las em
termos de construo, do modo como formas e cores foram usadas para
produzir padres dentro do quadro. Nesse sentido, podemos perceber que as
cores escuras dominam o cenrio. A iluminao, feita pelas tochas do um tom
60
fantasmagrico ao ambiente, com certeza criando sombras e imagens onduladas e
bruxuleantes. No h qualquer meno vestimenta das veladoras. No entanto,
quanto morta, a indicao clara. Ela est "de branco". interessante notar que o
branco jamais foi uma cor ligada morte. Mas, aqui, esse dado talvez signifique que
a morte a nica coisa real, clara, verdadeira que existe na vida. No quarto circular,
fechado,
englobante,
existem
quatro
tochas,
correspondentes
quatro
personagens: as trs veladoras e a morta. Essa correspondncia continua nas
outras situaes: so dois montes vistos da janela, so duas veladoras sentadas
uma de cada lado da mesma janela, existe o mar, uma veladora de costas para a
nica janela. Podemos lembrar, aqui, de Vuillard, um importante pintor simbolista,
que misturava, em seus quadros, "superfcies planas e contornos acentuados, o
equilbrio de efeitos bi e tridimensionais e uma serena magia". (JANSON, 2001, p.
922).
2.4 A Intrusa e O Marinheiro : uma relao intertextual
Existe o que chamamos de intertextualidade quando um texto retoma
passagens de outro, quando eles dialogam entre si. A intertextualidade faz o
percurso inverso ao da leitura. A leitura converte um discurso em texto, relacionando
significantes a um significado. Chamamos de interpretao ao trajeto que parte de
um plano conotativo para um ponto de chegada denotativo.
O mecanismo "estrutural" da intertextualidade refaz o
mesmo trajeto no sentido inverso: ele parte de um texto,
desqualificando-o inicialmente na sua qualidade de algo j
interpretado para requalific-lo, em conseqncia, como
algo passvel de nova interpretao, o que faz com que o
texto se converta em outro discurso a interpretar. Desse
modo, um primeiro texto, produzido por uma primeira
leitura, pode ser relido como o plano de expresso ou
discurso de outro texto. (LOPES, 1978, p. 53)
61
Ainda segundo Lopes (1978), a intertextualidade implica uma retrica e uma
ideologia. Cada leitura, ao afirmar a sensatez de um discurso, realiza uma operao
ideolgica e cada escritura, ao transformar o texto lido em novo discurso, realiza
uma operao retrica. "A operao retrica consiste no apagamento da
interpretao proposta para a finalidade de postular a possibilidade de outras
reinterpretaes." (LOPES, 1978, p.57). Observemos o quanto de intertextual existe
entre A Intrusa, de Maeterlinck e O Marinheiro, de Pessoa.
Na aproximao que tem sido feita por vrios crticos entre O Marinheiro e o
teatro simbolista, sobretudo o de Maeterlinck, e que bem visvel se
tomamos como referncia um drama como "Les Aveugles", no foi todadvia
ainda sublinhada precisamente a comunidade de razes dos dois
dramaturgos no fundo trgico grego. A mesma busca de um teatro sem ao,
sem personagens movendo-se sobre a cena, reduzidas imobilidade de
onde apenas emergem as palavras, concebida por Maeterlinck como um
regresso s antigas mscaras da tragdia: "Seria talvez necessrio - escreve
- afastar inteiramente o ser vivo da cena. No est dito que no
regressaramos assim a uma arte dos sculos muito antigos, de que as
mscaras das tragdias gregas conservam talvez os ltimos vestgios."
(SEABRA, 1974, p. 31-2)
A pea A Intrusa, de Maurice Maeterlinck, foi publicada em 1890 e
representada pela primeira vez no ano seguinte. Decididamente simbolista, foi a
inspirao para a criao d' O Marinheiro. Num breve ato, a pea sintetiza toda a
obra de Maeterlinck. O longo sero no castelo, daria paz e alegria famlia, se no
fosse a intrusa... O Pai, o Tio, as trs moas da casa, no percebem a
aproximao da morte. S o Av, cego, tem poderes para "ver". S ele pressente a
chegada da Invisvel.
62
Chamado de "O poeta da Morte", Maeterlinck cantou-a insistentemente, pois a
Morte a nica personagem verdadeira deste teatro em que todos representamos,
fora, o nosso papel. Vejamos quanto de A Intrusa existe n' O Marinheiro .
As peas mostram pontos comuns, surpreendentemente coincidentes: em
ambas, o homem retratado existencialmente impotente, surpreendido pelo destino.
Os protagonistas so criaturas que penas esperam, passivamente, o desenrolar de
seu destino. A Morte domina o palco, talvez numa clara aluso ao fato de ser ela a
nica verdade que podemos esperar da vida, essa pea na qual somos atores sem
oportunidade de ensaiar nossas falas e nossos gestos.
A Intrusa apresenta como tema a Morte. N'O Marinheiro, o caixo com o
corpo da donzela o smbolo de toda a pea. As indicaes de cena no inicio das
duas peas, revelam um interessante paralelismo. Assim que, n' O Marinheiro
temos:
Um quarto que , sem dvida, num castelo antigo.
Do quarto v-se que circular. Ao centro ergue-se,
sobre uma mesa, um caixo com uma donzela, de
branco. Quatro tochas ao canto. direita, quase em
frente a quem imagina o quarto, h uma nica
janela, alta e estreita, dando para onde s se v
entre dois montes longnquos, um pequeno espao
de mar.
Do lado da janela velam trs donzelas. A primeira
est sentada em frente janela, de costas contra a
tocha de cima da direita. As outras duas esto
sentadas uma de cada lado da janela.
noite e h como que um resto vago de luar.
(PESSOA, 1986, p. 442)
Vejamos, agora, as indicaes iniciais d' A Intrusa:
63
Sala sombria de um velho castelo. Porta direita, porta
esquerda e uma pequena porta, disfarada, num dos
ngulos. Ao fundo, janelas de vitrais em que domina a
cor verde, e uma porta envidraada que se abre para
um terrao. Um grande relgio flamengo. Uma lmpada
acesa. (MAETERLINCK, 1967, p. 17)
Os pontos comuns, como se v, so claros. O nico objeto estranho a esse
paralelismo o relgio. No h, como se viu, relgio n' O Marinheiro, indicando
atemporalidade, indefinio. Na pea de Maeterlinck h uma estreita ligao entre a
chegada da morte casa e o soar das doze badaladas da meia-noite. O tempo e os
sons que o Av pode, envolvido pela cegueira (fsica, apenas), identificar face
presena da Intrusa, so absolutamente fundamentais para o desenrolar da pea.
Existe, ainda, o fato de que, em ambos os textos, os protagonistas no tm
nomes. So, no drama de Pessoa, A PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA
VELADORAS. No de Maeterlinck, so AS TRS MOAS, O AV, O TIO, O PAI, A
CRIADA. Apenas nas pginas 43 e 44 (1967), o AV chama os outros pelos nomes,
como para se localizar, dando ao leitor/espectador a idia de que, apesar da
cegueira fsica, o nico que tem o controle real da situao.
Um outro ponto interessante a ser considerado, o fato de que, assim como
no texto de Pessoa, no de Maeterlinck so trs as moas e, como naquele, neste
elas aparentam uma sintonia, uma harmonia quase perfeita, como se fossem, na
verdade, uma s. H uma situao no mnimo curiosa, quando o pai se dirige a uma
das moas, pedindo-lhe que v ao quarto verificar se o recm-nascido dorme
sossegado. Ao pedido do pai, a moa responde: "Sim, meu pai". Porm,
curiosamente, a indicao do texto mostrando a ao da jovem a seguinte: "(As
64
trs jovens levantam-se e, de mos dadas, penetram no quarto, direita)". O que
poderia indicar tal gesto? Seria uma aluso sintonia entre as trs personagens ou
algo mais profundo embutido no texto? N' O Marinheiro as trs veladoras so
comparadas por alguns estudiosos da obra pessoana aos trs principais
heternimos. Segundo Junqueira (2001), "... cumpre notar que as trs veladoras,
protagonistas de O Marinheiro, se insinuam como sombras embrionrias dos trs
clebres heternimos (Caeiro, Reis e Campos)". (p.209). preciso tambm citar,
aqui, o fato de que Almada Negreiros criou o figurino para a pea, colocando as trs
veladoras em um nico vestido: as trs cabeas apareceriam, mas os movimentos
seriam tolhidos.
H tambm outros pontos de ntimo contato entre as duas peas. Em ambas,
a fora de algo sobrenatural paira sobre os protagonistas, na maioria das vezes
relacionada luz, aos sons vindos de fora das cenas. N'A Intrusa , o Av percebe a
agitao da chama da lanterna: "Creio que ela se agita, que se agita demais..."( p.
49 ), ao que retruca uma das moas: " o vento frio que faz oscilar a chama." ( p. 50
). E o Tio pergunta: "Vento frio, por qu? As janelas esto fechadas." (p. 50). N' O
Marinheiro, a terceira veladora faz o seguinte comentrio acerca das chamas das
velas: "No h vento que mova as chamas das velas, e olhai, elas movem-se... Para
onde se inclinam elas?" (p.443).
No final, as duas peas terminam com uma pergunta seguida de uma
afirmativa, que foge um pouco da estrutura da frase e da situao anteriores. "O av:
Aonde vo - Aonde vo? - Eles me deixaram completamente sozinho!" (p. 56 ) .
"Segunda: Por que que mo perguntais? Por que eu o disse? No, no acredito..."
(p. 451).
65
3.O MARINHEIRO: UM EXERCCIO INTRATEXTUAL ?
O objetivo maior deste estudo, como j vimos, estabelecer pontes entre o
drama esttico O Marinheiro, de Fernando Pessoa, e muitas de suas obras
poticas posteriores. Pretendemos destacar alguns trechos do drama esttico para,
em seguida, compar-lo a outros, inseridos em sua obra potica.
3.1 A gnese
Podemos detectar muitas variaes de figuras poticas dispersas pela obra
pessoana. Existe, nela, uma espcie de "germinao contnua, a partir de ncleos
originrios que se ramificam e entrelaam numa rede mltipla e intrincada de
relaes mtuas." (SEABRA, 1974, p. 37).
66
A metamorfose das linguagens em que se desdobra a obra de Pessoa
acontece entre os heternimos e, s vezes, dentro do mesmo heternimo. Esse
aparente caos esconde, na verdade, uma coerncia e um equilbrio que residem na
originalidade e na especificidade de cada um deles. Encontramos, como a forma
nuclear da poesia de Pessoa, a contradio. Assim, procuraremos encontrar, n'O
Marinheiro, as grandes oposies de significado: ser/no ser, tudo/nada, dentro/fora,
sentir/pensar.
3.1.1 Ser/No Ser
A identidade do Ser e do No-Ser o germe central da poesia de Pessoa,
segundo Seabra (1974). N' O Marinheiro temos, logo no incio da pea, um exemplo
dessa preocupao com o mistrio do Ser:
SEGUNDA - "No, no falemos disso. De resto, fomos ns alguma cousa?"
H, como se v, um questionamento muito mais profundo do que as
palavras deixam transparecer. H como que uma aceitao da prpria pequenez
frente ao destino e s incertezas da vida. Esse tema retomado em Caeiro:
Sim, mesmo a mim, que vivo s de viver,
Invisveis, vm ter comigo as mentiras dos homens
Perante as cousas,
Perante as cousas que simplesmente existem.
Que difcil ser prprio e no ver seno o visvel! (PESSOA, 1986, p.218)
E Reis assim se pronuncia:
A tua lenha s o peso que levas
Para onde no tens fogo que te aquea,
Nem sofre peso aos ombros
As sombras que seremos (PESSOA, 1986, p.259-260)
Campos ainda mais objetivo: "Que sei eu do que serei, eu que no sei o
que sou?" (PESSOA, 1986, p 363). O tema tambm aparece em Pessoa "ele
67
mesmo": "Fosse eu apenas, no sei onde ou como, / Uma
coisa
existente
sem
viver..." (PESSOA, 1986, p.173).
Esse ltimo verso particularmente interessante: retrata bem a anttese
ser/ no-ser, a saudade estranha do que no se foi nunca. Vejamos as falas das
veladoras, em Pessoa (1986), enfatizando o mesmo tema:
SEGUNDA - [...] Fomos ns alguma coisa?(p.441) [...] J no tornarei a ser
aquilo que talvez eu nunca fosse... (442) [...] No podemos ser o que queremos
ser, porque o que queremos ser queremo-lo sempre ter sido no passado... (p.
445) [...] Quem que eu estou sendo? (p. 451)
PRIMEIRA - No desejais, minha irm, que nos entretenhamos contando o
que fomos?(p.441) Falai, portanto, sem reparardes que existis... No nos eis
dizer quem reis? (p.444) [...] Parece-me deste lago que ele nunca existiu...( p.
445) [...] Se nada existisse, minha irm? Se tudo fosse , de qualquer modo,
absolutamente coisa nenhuma? (p.449)
TERCEIRA - [...] No passado de gente maravilhosa que nunca existiu... (p.
443) [...] H alguma razo para qualquer coisa ser o que ? (p.443) [...] O que
eu era outrora j no se lembra de quem sou... Pobre da feliz que eu fui!...
(p.444)
3.1.2 Tudo/ Nada
Conciliados pela linguagem potica, o Tudo e o Nada aparecem num
movimento pendular, ao longo de toda obra heternima e, mesmo, da ortnima.
O MYTHO o nada que tudo.
O mesmo sol que abre os cus
um mytho brilhante e mudo O corpo morto de Deus,
Vivo e desnudo. (PESSOA, 1986, p.72)
Do que no foi, nem pde ser, e tudo.
D-me mais vinho, porque a vida nada. (PESSOA, 1986, p.186)
68
Mas, segundo Seabra (1974, p.55), " no heternimo lvaro de Campos
que, no entanto, a relao entre Tudo e Nada atinge a sua expresso mais intensa e
poderamos mesmo dizer, nos vrios sentidos da palavra, dramtica."
No sou nada.
Nunca serei nada.
No posso querer ser nada.
parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. (PESSOA, 1986,
p.362)
Com o Destino a conduzir a carroa de tudo pela estrada de nada. (PESSOA,
1986, p.362)
enigma visvel do tempo, o nada vivo em que estamos! (PESSOA, 1986,
p.387)
Vejamos, n' O Marinheiro, alguns trechos que apresentam essas
oposies:
PRIMEIRA - Se tudo fosse, de qualquer modo, absolutamente coisa
nenhuma? (PESSOA, 1986, p.449)
SEGUNDA - Ainda h pouco, quando eu no pensava em nada, estava
pensando no meu passado. (PESSOA, 1986, p. 443)
Percebe-se, latente nos discursos, o Nada e o Tudo, ainda que ocultos,
dissimulados, aparecendo nas relaes dialgicas tecidas entre as falas.
3.1.3 Dentro/ Fora
A dicotomia Interioridade/exterioridade uma das oposies que melhor
exprime a "problematizao constante das relaes entre o sujeito e o objeto,
diversamente presente em cada heternimo". (SEABRA, 1974, p. 61). Assim que
temos, no poeta ortnimo:
Deixo de me incluir
Dentro de mim. No h
C-dentro nem l-fora. (PESSOA, 1986, p.131)
69
E h, ainda do poeta ortnimo, um poema inteiro que mostra essa
interioridade face exterioridade:
De quem o olhar
Que espreita por meus olhos?
Quando penso que vejo,
Quem continua vendo
Enquanto estou pensando?
Por que caminhos seguem,
No os meus tristes passos,
Mas a realidade
De eu ter passos comigo?
s vezes, na penumbra
Do meu quarto, quando eu
Para mim prprio mesmo
Em alma mal existo
Toma um outro sentido
Em mim o Universo uma ndoa esbatida
De eu ser consciente sobre
Minha idia das coisas.
Se acenderem as velas
E no houver apenas
A vaga luz de fora No sei que candeeiro
Aceso onde na rua Terei foscos desejos
De nunca haver mais nada
No Universo e na Vida
De que o obscuro momento
Que minha vida agora:
Um momento afluente
Dum rio sempre a ir
Esquecer-se de ser,
Espao misterioso
Entre espaos desertos
Cujo sentido nulo
E sem ser nada a nada.
E assim a hora passa
Metafisicamente. (PESSOA, 1986, p.132-3)
Caeiro mostra, em sua obra, essa relao interior/exterior de maneira muito
clara:
Por mim, escrevo a prosa dos meus versos
E fico contente,
Porque sei que compreendo a Natureza por fora;
70
E no a compreendo por dentro
Porque a Natureza no tem dentro;
Seno no era a Natureza. (PESSOA, 1986, p.219)
s vezes esse dentro/fora, em Caeiro, descrito com claras, concretas e
vvidas imagens:
E depois, fechada a janela, o candeeiro aceso,
Sem ler nada, nem pensar em nada, nem dormir,
Sentir a vida correr por mim como um rio por seu leito.
E l fora um grande silncio como um deus que dorme. (PESSOA, 1986,
p.228)
Essncia e aparncia, finalmente, correspondemse e identificam-se, do mesmo modo que a
realidade interior e exterior, atravs d sua
indiferenciao na linguagem potica - isto a que
Pessoa chama a "lgebra do mistrio".
Essa lgebra no outra seno a prpria lgica
da poesia, em que a identidade dos contrrios
torna com efeito "indiferente"a "designao" dada
pelo poeta interioridade e exterioridade, ao
sujeito e ao objeto: no residir justamente o
"mistrio" potico nesta in-diferena, que longe de
eliminar as diferenas as mantm numa mtua
coexistncia em que a sua reversibilidade se
manifesta?
(SEABRA, 1974, p.65)
Vejamos o uso dessas oposies n'O Marinheiro:
PRIMEIRA - Fora de aqui, nunca vi o mar. Ali, daquela janela, que a nica
de onde o mar se v, v-se to pouco!... (PESSOA, 1986, p. 442)
SEGUNDA - Esse ar quente frio por dentro, naquela parte que toca na
alma... (PESSOA, 1986, p. 443)
TERCEIRA - As minhas palavras presentes, mal eu as diga, pertencero logo
ao passado, ficaro fora de mim, no sei onde, rgidas e fatais...(PESSOA,
1986, p. 444)
71
Na verdade, o que nos parece que as oposies dentro/fora so, de
todas, as mais marcantes dentro do drama O Marinheiro. As veladoras esto dentro
de um quarto. L fora, o mar visto de uma janela, citada constantemente na obra. A
janela a nica ligao das personagens com o exterior, a alegoria da liberdade,
da realidade. H, ainda, o marinheiro que vive apenas dentro de um sonho. A ptria
criada por ele s existe, tambm, dentro da sua imaginao. Dentro do quarto, o
sonho; l fora, a realidade. E essa dualidade perpassa todo o drama esttico, no
apenas concretamente mas, sobretudo, simbolicamente.
interessante notar essas oposies como que ocultas nas ltimas
indicaes de cena d' O Marinheiro :
Um galo canta. A luz, como que subitamente, aumenta. As trs veladoras
quedam-se silenciosas e sem olharem umas para as outras. No muito longe,
por uma estrada, um vago carro geme e chia. (PESSOA, 1986, p.45)
Se inserirmos as indicaes escondidas entre as palavras, teramos:
Um galo canta l fora. A luz, como que subitamente, aumenta. Dentro do
quarto, as trs veladoras quedam-se silenciosas e sem olharem umas para
as outras. L fora, no muito longe, por uma estrada, um vago carro geme e
chia (grifo nosso).
Como se v, o exterior/interior aparece na pea at o ltimo minuto. E
esse contraponto que situa o real e o sonho, o ser e o no ser, o sentir e o
pensar dentro do drama, tecendo os fios dessa paisagem-matriz que, como
veremos, criar novas e enriquecedoras paisagens dentro da obra pessoana.
A exterioridade tanto pode, com efeito, ser inerente ao
mundo exterior como ao mundo interior do poeta. E j
vimos como a apreenso do prprio eu enquanto
radicalmente estranho a si mesmo, enquanto outro,
caracteriza justamente a subjetividade em Pessoa, sendo
uma das razes da heteronmia.(SEABRA, 1974, p.61)
72
3.1.4 Sentir/Pensar
Pensar e sentir, sentimentos envolvidos pela razo e pela emoo revelam
uma das faces mais profundas da experincia potica de Pessoa. Os poemas de
Caeiro mostram isso muito bem:
Creio no mundo como num malmequer,
Porque o vejo. Mas no penso nele
Porque pensar no compreender...
O mundo no se fez para pensarmos nele
( Pensar estar doente dos olhos)
Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo... [...]
Amar a eterna inocncia,
E a nica inocncia no pensar... (PESSOA, 1986, p. 204-5)
H metafsica bastante em no pensar em nada. (PESSOA, 1986, p. 206)
Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho os meus pensamentos.
E os meus pensamentos so todos sensaes.
Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mos o os ps
E com o nariz e a boca.
Pensar uma flor v-la e cheir-la
E comer um fruto saber-lhe o sentido. (PESSOA, 1986, p. 212)
lvaro de Campos exprime muito bem essa dualidade sentir/pensar no
poema "Passagem das horas":
Sentir tudo de todas as maneiras,
Viver tudo de todos os lados,
Ser a mesma coisa de todos os modos possveis ao mesmo tempo,
Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos
Num s momento difuso, profuso, completo, longnquo. (PESSOA, 1986, p.
344)
73
Multipliquei-me, para me sentir,
Para me sentir, precisei sentir tudo. (PESSOA, 1986, p. 345)
E essa dualidade se repete em outros poemas:
Afinal, a melhor maneira de viajar sentir.
Sentir tudo de todas as maneiras.
Sentir tudo excessivamente [...]
Quanto mais eu sinta, quanto mais eu sinta como vrias pessoas,
Quanto mais personalidades eu tiver,
Quanto mais simultaneamente sentir com todas elas... (PESSOA, 1986, p. 406)
Vejamos o sentir/pensar de Pessoa n' O Marinheiro:
SEGUNDA - Eu devia agora sentir mos impossveis passarem-me pelos
cabelos - o gesto com que falam das sereias... [...] Ainda h pouco, quando
eu no pensava em nada, estava pensando no meu passado. (PESSOA, 1986,
p. 443)
PRIMEIRA - Custa tanto saber o que se sente quando reparamos em ns!
(PESSOA, 1986, p. 444)
SEGUNDA - Os homens que pensam cansam-se de tudo, porque tudo
muda.(PESSOA, 1986, p. 448)
PRIMEIRA - No penseis, no olheis para o que pensais... [...] O meu pavor
cresceu mas eu j no sei senti-lo...J no sei em que parte da alma que se
sente...(PESSOA, 1986, p.450)
SEGUNDA - No sinto nada... Sinto as minhas sensaes como uma coisa que
se sente... [...] Oh, que horror, que horror ntimo nos desata a voz da alma, e as
sensaes dos pensamentos, e nos faz falar e sentir e pensar quando tudo em
ns pede o silncio... [...] Quem a quinta pessoa neste quarto que estende o
brao e nos interrompe sempre que vamos a sentir? (PESSOA, 1986, p.451)
PRIMEIRA - Peso excessivamente ao colo de me sentir. Afundei-me toda no
lodo morno do que suponho que sinto. (PESSOA, 1986, p.451)
interessante registrar aqui o que diz Tabucchi (1984, p. 96), sobre O
Marinheiro e suas possveis relaes com a obra potica posterior de Pessoa:
O Marinheiro, embora com seu sabor
simbolista,
aparentemente
devedor
de
Maeterlinck, constitui a proto-histria daquele
interesse pelo oculto que encaminhar, mais
tarde, Pessoa para a teosofia e que
constituir a espinha dorsal dos grandes
poemas hermticos e da Mensagem. (grifo
nosso)
74
3.2 As pessoas de Pessoa
Encontramos muitos pontos de dilogo entre O Marinheiro e a obra
heternima e ortnima de Pessoa. H temas que se repetem, alguns
ostensivamente, outros embutidos na pretensa "falsidade" do poeta. H poemas
que, imediatamente remetem ao texto do drama esttico.
Um desses poemas chamou-nos a ateno pela aluso s situaes e s
personagens d' O Marinheiro : o mistrio, o mar, a Ptria anterior e perdida.
Meu pensamento um rio subterrneo.
Para que terras vai e donde vem?
No sei... na noite em que meu ser o tem
Emerge dele um rudo subitneo
De origens no Mistrio extraviadas
De eu compreend-las... misteriosas fontes
Habitando a distncia de ermos montes
Onde os momentos so a Deus chegados...
De vez em quando luze em minha mgoa,
Como um farol num mar desconhecido,
Um movimento de correr, perdido
Em mim, um plido soluo de gua...
E eu relembro de tempos mais antigos
Que a minha conscincia da iluso
guas divinas percorrendo o cho
De verdores unssonos e amigos,
E a idia de uma Ptria anterior
forma consciente do meu ser
Di-me no que desejo, e vem bater
Como uma onda de encontro minha dor.
Escuto-o... Ao longe, no meu vago tato
Da minha alma, perdido som incerto,
Como um eterno rio indescoberto,
Mais que a idia de rio certo e abstrato...
E p'ra onde que ele vai, que se extravia
Do meu ouvi-lo? A que cavernas desce?
75
Em que frios de Assombro que arrefece?
De que nvoas noturnas se anuvia?
No sei... Eu perco-o... E outra vez regressa
A luz e a cor do mundo claro e atual,
E na interior distncia do meu Real
Como se a alma acabasse, o rio cessa... (PESSOA, 1986,p.122-3)
Como se v, algumas aluses so claras, outras ocultas no texto, mas
facilmente pressentidas. Nas terceira, quarta e quinta estrofes, a dor de um homem
que perdeu sua Ptria, sua identidade, e as procura desesperadamente, clara. A
"Ptria anterior" no ser a que descrita pela Segunda veladora, no incio da
histria que conta s irms?
[...] Desde que, naufragado, se salvara, o marinheiro
vivia ali... como ele no tinha meio de voltar ptria, e
cada vez que se lembrava dela sofria, ps-se a sonhar
uma ptria que nunca tivesse tido; ps-se a fazer ter
sido sua uma outra ptria, uma outra espcie de pas
com outras espcies de paisagem, e outra gente...[...]
Cada hora ele construa em sonho esta falsa ptria, e
ele nunca deixava de sonhar...[...] Um dia [...] o
marinheiro cansou-se de sonhar... Quis ento recordar
a sua ptria verdadeira...mas viu que no se lembrava
de nada, que ela no existia para ele. [...] E ele viu
que no podia ser que outra vida tivesse existido...
(PESSOA, 1986, p. 445-7)
Essa fala da Segunda veladora nos fornece material para uma outra reflexo,
talvez at mais instigante: esse criar de uma nova ptria, uma nova vida,
completamente diferente da anterior, uma nova identidade, no poderia sugerir a j
latente criao dos heternimos? "Durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro
erguia num sonho contnuo a sua nova terra natal... Todos os dias punha uma pedra
de sonho nesse edifcio impossvel... Breve ele ia tendo um pas que j tantas vezes
76
havia percorrido"(1986, p. 446). Mais adiante, a fala alude a um distanciamento, uma
diviso clara do ser: "Quando falo demais comeo a separar-me de mim e a ouvirme falar" (p.446). Na mesma pgina, mais adiante, uma aluso que nos parece
claramente premonitria: "So trs a escutar...Trs no... No sei... No sei
quantas..."(grifo nosso).
Num outro trecho, pergunta da primeira veladora - ..."O mar de outras terras
belo?" - responde a Segunda: "S o mar de outras terras que belo. Aquele que
ns vemos d-nos sempre saudade daquele que no veremos nunca..."( p.442).
oportuna, aqui, a comparao com o seguinte poema:
O Tejo mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo no mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo no o rio que corre pela minha aldeia.
[...]
O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal.
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
E por isso, porque pertence a menos gente,
mais livre e maior o rio da minha aldeia.
[...]
O rio da minha aldeia no faz pensar em nada.
Quem est ao p dele est s ao p dele. (PESSOA, 1986, p.215-6)
O mar, o elemento lquido que atravessa toda a obra pessoana, mostra na
pea o nico elo das personagens com o mundo l fora. no mar que est o barco
apenas pressentido mas presente no sonho: dele se perdeu o marinheiro e no mar,
portanto, est sua fatalidade e sua libertao.
Num outro trecho, a primeira veladora pergunta: "O que qualquer cousa?
Como que ela passa?" (p. 442). E a terceira, no trecho seguinte, retoma o
questionamento: "H alguma razo para qualquer coisa ser o que ?" (p. 443).
Comparemos o tema das questes ao seguinte poema:
77
O mistrio das coisas, onde est ele?
Onde est ele que no aparece
Pelo menos a mostrar-nos que mistrio?
[...]
Porque o nico sentido oculto das cousas
elas no terem sentido oculto nenhum
mais estranho do que todas as estranhezas
E do que os sonhos de todos os poetas
E os pensamentos de todos os filsofos,
Que as cousas sejam realmente o que parecem ser
E no haja nada que compreender.
Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos: As cousas no tm significao: tm existncia.
As cousas so o nico sentido oculto das cousas. (PESSOA, 1986, p.223)
Este poema nos parece uma resposta clara, um desdobrar da questo
proposta pelas veladoras, no drama esttico. Deve-se observar, sobretudo, a ltima
estrofe. Ela parece representar uma resposta direta pergunta "H alguma razo
para qualquer coisa ser o que ?".
Observemos, agora, estes trechos. A Segunda veladora, num dado momento,
pergunta primeira: "reis feliz, minha irm?". Ao que a outra responde: "Comeo
neste momento a t-lo sido outrora." (p.444). Comparemo-lo ao seguinte poema:
Pobre velha msica!
No sei por que agrado,
Enche-se de lgrimas
Meu olhar parado.
Recordo outro ouvir-te.
No sei se te ouvi
Nessa minha infncia
Que me lembra em ti.
Com que nsia to raiva
Quero aquele outrora!
E eu era feliz? No sei:
Fui-o outrora agora. (grifo nosso) (PESSOA, p.140-141)
H, como se v aqui, no uma aluso, mas uma citao, relativa ao texto d'
O Marinheiro. Mas poderia surgir a seguinte dvida: o poema no pertence a
78
nenhum dos heternimos, mas ao Pessoa ortnimo. E no estamos tratando aqui da
obra pessoana heternima, datada de 1913 em diante? E, ento, o mais
surpreendente: o poema em questo , justamente, datado de 1913, ano da criao
d'O Marinheiro !
Num outro momento, a primeira veladora comenta sobre os montes, que ela
tanto ama: "... Sei que de l se vem, ao longe, montes... Eu fui feliz para alm dos
montes, outrora... [...] Por mim, amo os montes... Do lado de c de todos os montes
que a vida sempre feia..." Comparemos esses trechos ao poema seguinte:
Montes, e a paz que h neles, pois so longe...
Paisagens, isto , ningum...
Tenho a alma feita para ser de um monge
Mas no me sinto bem.
Se eu fosse outro, fora outro. Assim
Aceito o que me do,
Como quem espreita para um jardim
Onde os outros esto.
Quem outros? No sei. H no sossego incerto
Uma paz que no h,
E eu fico sem ler o livro aberto
Que nunca mo dir...
O poema citado de Pessoa ortnimo, mas datado de 1934, portanto vinte e
um anos depois da criao de O Marinheiro. Na primeira estrofe, clara a
segurana que advm da distncia, do no-ver, da dissimulao. Os montes
transmitem paz, pois esto longe... A segunda estrofe insinua a pluralidade do ser, o
olhar sem ser visto, que implica descompromentimento, aceitao. A terceira refora
a segunda, quando o poeta se questiona sobre essa pluralidade, esse
distanciamento consciente.
79
Podemos citar, agora, um poema datado de 1914, de Alberto Caeiro. Ele
parece fazer um contraponto com o seguinte trecho, falado pela segunda veladora:
..."Os homens que pensam cansam-se de tudo, porque tudo muda" (p.448).
Creio no mundo como num malmequer,
porque o vejo. Mas no penso nele
porque pensar no compreender...
[...]
Amar a eterna inocncia,
E a nica inocncia no pensar... (PESSOA, 1986, p. 205)
de 1916 o poema de lvaro de Campos, "Passagem das horas". Vamos
compar-lo fala da Terceira Veladora: "... Quando algum canta, eu no posso
estar comigo. Tenho que no poder recordar-me. E depois todo o meu passado
torna-se outro e eu choro uma vida morta que trago comigo e que no vivi nunca."
(p.444).
Trago dentro do meu corao,
Como num cofre que se no pode fechar de cheio,
Todos os lugares onde estive,
Todos os portos a que cheguei,
Todas as paisagens que vi atravs de janelas ou vigias,
Ou de tombadilhos, sonhando,
E tudo isso, que tanto, pouco para o que eu quero. (PESSOA, 1986, p. 341)
H tambm, n' O Marinheiro, vrias frases, que em momentos diferentes do
texto, curiosamente repetem a mesma idia: "...Bem sei que no valeu a pena...[...]
No, minha irm, nada vale a pena... [...] No vale a pena estar triste de outra
maneira..." (Segunda Veladora, p. 448-449). No seriam essas frases o contracanto
da frase famosa de "Mar Portuguez": ..."Tudo vale a pena /
Se a alma no
pequena"( PESSOA, 1986, p. 82) ?
Outro ponto interessante d'O Marinheiro a janela que, na indicao do
cenrio, como se viu, a nica ligao das personagens com o mundo exterior.: "
direita, quase em frente a quem imagina o quarto, h uma nica janela, alta e
80
estreita, dando para onde s se v, entre dois montes longnquos, um pequeno
espao de mar"( p. 441). Na obra de Alberto Caeiro h um poema datado de 1913,
que surpreende pelo paralelismo subjetivo, se comparado ao trecho citado:
No basta abrir a janela
Para ver os campos e o rio.
No bastante no ser cego
Para ver as rvores e as flores.
preciso tambm no ter filosofia nenhuma.
Com filosofia no h rvores: h idias apenas.
H s cada um de ns, como uma cave.
H s uma janela fechada, e todo o mundo l fora;
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,
Que nunca o que se v quando se abre a janela. (PESSOA, 1986, p. 231)
Como no poema, n O Marinheiro h uma janela e todo o mundo l fora. E h,
tambm, um sonho, que existe apenas dentro do aposento fechado. Mas que
termina quando a luz do dia invade o quarto, trazendo a realidade.
O poema seguinte, datado de 1914, parece uma das falas das veladoras, ao
olharem o mar atravs da janela, vislumbrando um navio, ao longe: PRIMEIRA Vejo pela janela um navio ao longe... (PESSOA, 1986, p. 445).
Ao longe, ao luar,
No rio uma vela,
Serena a passar,
Que que me revela?
No sei, mas meu ser
Tornou-se-me estranho,
E eu sonho sem ver
Os sonhos que tenho.
Que angstia me enlaa?
Que amor no se explica?
a vela que passa
Na noite que fica. (PESSOA,1986, p.143)
A imagem da janela, to claramente indicando o limite entre o sonho e a
realidade, entre o dentro e o fora, aparece, tambm nos dois ltimos versos de um
81
poema do poeta ortnimo: "Alm da cortina o lar / Alm da janela o sonho."
(PESSOA, 1986, p.154).
Quase podemos ouvir o marinheiro perdido, falando sobre sua ptria sonhada
entre palmeiras de uma ilha perdida, neste poema:
No sei se sonho, se realidade,
Se uma mistura de sonho e vida,
Aquela terra de suavidade
Que na ilha extrema do sul se olvida.
a que ansiamos. Ali, ali
A vida jovem e o amor sorri.
Talvez palmares inexistentes
leas longnquas sem poder ser,
Sombra ou sossego dem aos crentes
De que essa terra se pode ter.
Felizes, ns? Ah, talvez, talvez,
Naquela terra, daquela vez. (PESSOA, 1986, p.167)
A dualidade, explcita no drama esttico, aparece entre a vida sonhada e a
vivida, tanto das veladoras quanto do marinheiro, debruando-se at na vida do
leitor e na sua noo de realidade. O que sonho? O que real? O marinheiro est
dentro do sonho da veladora ou as veladoras estaro no sonho dele? Qual o limite
entre a vida vivida e a sonhada? Observemos este poema:
Temos, todos que vivemos,
Uma vida que vivida
E outra vida que pensada,
E a nica vida que temos
essa que dividida
Entre a verdadeira e a errada.
Qual, porm, verdadeira
E qual errada, ningum
Nos saber explicar;
E vivemos de maneira
Que a vida que a gente tem
a que tem que pensar. (PESSOA, 1986, p.172-3)
82
No trecho em que a PRIMEIRA veladora pede SEGUNDA: Falai-nos muito
mais do vosso sonho. Ele to verdadeiro que no tem sentido nenhum, oportuno
lembrar dois versos de um poema, j citado, de Caeiro: "Porque o nico sentido
oculto das cousas / elas no terem sentido oculto nenhum..." (PESSOA, 1986,
p.223)
fala da PRIMEIRA veladora: J no sei em que parte da alma que se
sente... Puseram ao meu sentimento do corpo uma mortalha de chumbo...(PESSOA,
1986, p. 450), pode corresponder o seguinte trecho de um poema de Caeiro: "Nem
sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. /O meu pensamento s muito
devagar atravessa o rio a nado / Porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram
usar." (PESSOA, 1986, p. 226).
Observemos estas falas contidas n' O Marinheiro:
SEGUNDA - S o mar das outras terras que belo. Aquele que ns vemos
d-nos sempre saudades daquele que no veremos nunca...[...] Nesse dia vi
ao longe, como uma coisa que eu s pensasse ver, a passagem vaga de uma
vela...[...] Nenhuma das velas dos navios que saem daqui de um porto se
parece com aquela, mesmo quando lua e os navios passam longe devagar...
(PESSOA, 1986, p.445)
Comparemo-las, agora, a este poema:
Navio que partes para longe,
Por que que, ao contrrio dos outros,
No fico, depois de desapareceres, com saudade de ti?
Porque quando te no vejo, deixaste de existir.
se se tem saudades do que no existe, sinto-a em relao a cousa nenhuma;
No do navio, de ns, que sentimos saudade. (PESSOA, 1986, p. 243)
Mais uma vez, o mar significando a vida que flui, sem complacncia, e o
navio, aqui, representando o ser, o poeta, o homem que s se sabe e se v a partir
do que concreto. Assim, dentro de si mesmo, na sua essncia, o poeta no existe.
83
Neste poema de Ricardo Reis, sentimos claramente como que um monlogo
do marinheiro, que se perdeu em meio ao sonho e a quem nada mais resta:
Se recordo quem fui, outrem me vejo,
E o passado o presente na lembrana.
Quem fui algum que amo
Porm somente em sonho.
E a saudade que me aflige a mente
No de mim nem do passado visto,
Seno de quem habito
Por trs dos olhos cegos.
Nada, seno o instante, me conhece.
Minha mesma lembrana nada, e sinto
Que quem sou e quem fui
So sonhos diferentes. (PESSOA, 1986, p.283)
E, numa prova irrefutvel de que existem paralelos entre obras e
dentro da mesma obra, o poema seguinte uma parfrase do poema anterior.
Tambm de Reis, do mesmo ano, apenas escrito dois meses depois:
No sei de quem recordo meu passado
Que outrem fui quando o fui, nem me conheo
Como sentindo com minha alma aquela
Alma que a sentir lembro.
De dia a outro nos desamparamos
Nada de verdadeiro a ns nos une Somos quem somos, e quem fomos foi
Coisa vista por dentro. (PESSOA, 1986, p.284)
A aluso aos heternimos nos parece clara dentro do drama esttico:
SEGUNDA - [...] medida que o vou contando a mim tambm que o
conto... So trs a escutar...(De repente, olhando para o caixo e
estremecendo.) Trs no... No sei... No sei quantas...
TERCEIRA - [...] Contveis e eu tanto me distraa que ouvia o sentido das
vossas palavras e o seu som separadamente. E parecia-me que vs, e a vossa
voz, e o sentido do que dizeis eram trs entes diferentes, como trs criaturas
que falam e andam.
SEGUNDA - So realmente trs entes diferentes, com vida prpria e real. Deus
talvez saiba porqu... (PESSOA, 1986, p. 450)
Neste poema de Reis, o tema parece ter sido retomado:
84
Vivem em ns inmeros;
Se penso ou sinto, ignoro
Quem que pensa ou sente.
Sou somente o lugar
Onde se senta ou pensa.
Tenho mais almas que uma.
H mais eus do que eu mesmo.
Existo todavia
Indiferente a todos.
Fao-os calar: eu falo.
Os impulsos cruzados
Do que sinto ou no sinto
Disputam em quem sou.
Ignoro-os. Nada ditam
A quem me sei: eu 'screvo. (PESSOA, 1986, p.291)
Mas nada nos parece mais recorrente que as imagens do marinheiro, do mar,
da ptria perdida. O "Cais Anterior", com suas chegadas e partidas, esse cais
misterioso, de onde o poeta se evade para todas as viagens martimas, "que so a
imagem duma circularidade transcendente, fora do Espao e do Tempo". (SEABRA,
1974, p.132).
Observemos os versos da "Ode Martima", de lvaro de Campos:
Ah, todo cais uma saudade de pedra!
E quando o navio larga do cais
E se repara de repente que se abriu um espao
Entre o cais e o navio,
Vem-me, no sei por qu, uma angstia recente,
Uma nvoa de sentimentos de tristeza
Que brilha ao sol das minhas angstias relvadas
Como a primeira janela onde a madrugada bate,
E me envolve como uma recordao duma outra pessoa
Que fosse misteriosamente minha.
Ah, quem sabe, quem sabe,
Se no parti outrora, antes de mim,
Dum cais; se no deixei, navio ao sol
Oblquo da madrugada,
Uma outra espcie de porto?
Quem sabe se no deixei, antes de a hora
Do mundo exterior como eu o vejo
Raiar-se para mim.
Um grande cais cheio de pouca gente,
Duma grande cidade meio-desperta,
Duma grande cidade comercial, crescida, apopltica,
Tanto quanto isso pode ser fora do Espao e do Tempo?
[...]
85
Ah, o Grande Cais donde partimos em Navios-Naes!
O Grande Cais Anterior, eterno e divino
[...]
Uma saudade a qualquer coisa,
Uma perturbao de afeies a que vaga ptria?
A que costa? A que navio? A que cais?
[...]
E vs, coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho!
Componde fora de mim a minha vida interior!
[...]
Todo o vapor ao longe um barco de vela perto.
Todo o navio distante visto agora um navio no passado visto prximo.
Todos os marinheiros invisveis a bordo dos navios no horizonte
So os marinheiros visveis do tempo dos velhos navios. (PESSOA, 1986,
p.315-9)
de Campos, tambm, o poema que cita um marinheiro "de sonho":
As naus seguiram
Seguiram viagem no sei em que dia escondido
E a rota que devem seguir estava escrita nos ritmos,
Os ritmos perdidos das canes mortas do marinheiro de sonho... (PESSOA,
1986, p.354)
A despersonalizao sofrida pelo marinheiro do drama parece retomada neste
poema datado de 1932:
Por que esqueci quem fui quando criana?
Por que deslembra quem ento era eu?
Por que no h nenhuma semelhana
Entre quem sou e fui?
A criana que fui vive ou morreu?
Sou outro? Veio um outro em mim viver? (PESSOA, 1986, p.561)
do poeta ortnimo um poema que nos parece duplamente interessante: fala
de algum que se perdeu, exterior e interiormente e foi escrito em 24 de outubro de
1913. O Marinheiro, como se sabe, foi escrito num nico dia: 12 de outubro de 1913.
Estes versos, portanto, foram escritos doze dias aps a criao do drama esttico:
Meus gestos no sou eu.
Como o cu no nada,
O que em mim no meu
86
No passa pela estrada.
O som do vento dorme
No dia sem razo.
O meu tdio enorme.
Todo eu sou vcuo e vo.
Se ao menos uma vaga
Lembrana me viesse
De melhor cu ou plaga
Que esta vida! Mas esse
Pensamento pensado
Como fim de pensar
Dorme no meu agrado
Como um alga no mar.
E s no dia estranho
Ao que sinto e que sou
Passa quando eu no tenho,
'St tudo onde eu no estou.
No sou eu, no conheo,
No possuo nem passo.
Minha vida adormeo
No sei em que regao. (PESSOA, 1986, p.677)
Dispersos pela obra de Fernando Pessoa, os temas contidos n' O
Marinheiro so facilmente identificveis, talvez por retratarem um ser perdido no
sonho de se reencontrar e na esperana de se conhecer o bastante para jamais se
perder novamente. No drama esttico, percebemos o Pessoa-outros (as veladoras),
o Pessoa-ele mesmo (a donzela morta), o Pessoa sem um porto a que chegar, sem
referncias ou passado a relembrar (o marinheiro). Mas h um poema que, de modo
peculiar nos remete ultima fala da pea. Ele poderia ser a resposta da SEGUNDA
fala da TERCEIRA:
Sonhei. Disperto. Um tdio doloroso
De ter sonhado, ou ento de dispertar,
Me ocupa o esprito indeciso e ocioso.
Sou como o movimento de alto mar,
Que parece existir sem avanar.
No me lembro qual foi o sonho ido,
Nem se portanto a sua ausncia di.
Grandes e vagas coisas hei dormido
87
Sou como o alto mar quando o Sol foi:
Uma novela imensa sem heri.
Nem mesmo sei se o sonho deixa mgoas.
Que sei eu do que sou ou quero ter?
Sou como o alto mar da noite: as guas
No mesmo movimento a ter que ser,
Um som, um brilho escuro, arrefecer... (PESSOA, 1986, p. 688)
4. CONSIDERAES FINAIS
Ao final deste estudo, em que procuramos tecer algumas consideraes a
respeito do drama esttico O Marinheiro, de Fernando Pessoa, face sua obra
88
potica posterior, podemos perceber que, realmente, muitos temas contidos
naquele, repetem-se nesta com uma clareza por vezes surpreendente. O que nos
parece que Pessoa parte sempre de verdades aparentemente inquestionveis,
mas que na verdade no o so, porque parecem resultar de uma reflexo sria e
contundente em torno de tudo o que motivo de seus poemas; alm disso, uma
profunda dualidade dialtica, presente em toda a sua obra, destri impiedosamente
quaisquer resqucios do que chamamos comumente de Verdade.
Talvez esse ir e vir seja uma pista, um sinal. Ele afirma, na voz de lvaro de
Campos: "Multipliquei-me, para me sentir, / Para me sentir, precisei sentir tudo, /
Transbordei-me, no fiz seno extravasar-me." Por que no multiplicar-se, buscando
dentro da prpria obra uma obra nova? Afinal, era preciso ser todos os que
existiram, aprender a sentir como eles, ser "uma srie de contas-entes ligadas por
um fio-memria", num incontrolvel desdobramento interior para, somando vrias
vises e vrias verdades, ter uma imagem aproximada do Universo como um todo.
O Marinheiro talvez contenha um desconhecido heternimo que, perdido em
uma "ilha interior", perdeu sua identidade, seu lugar, seus conceitos e desapareceu
para, como uma semente, fazer nascer outros a partir da sua prpria experincia. E,
um dia, voltou ilha misteriosa, colhendo as antigas sensaes para as reconduzir e
ordenar partindo do nada, da estaca zero.
Presente em toda a obra pessoana, a gua um sinal do tempo que flui,
inexoravelmente. O marinheiro vive junto ao mar, e tambm uma figura marcante
dentro da obra de Pessoa, assim como a ptria, perdida, sonhada, jamais
reconquistada. A ilha talvez seja, como j afirmamos, seu eu-interior, a que ele
chega, perdido. E, para no se perder de vez, finge to completamente, que chega a
fingir uma ptria que, na verdade, perdeu. As trs veladoras so as vozes dessa
89
histria. Elas do vida ao marinheiro, cada uma a seu modo. Atravs delas ele tem,
tambm, voz e vez. A aluso aos heternimos nos parece clara. Contudo, na vida
real, Pessoa o criador, eles as criaturas. N' O Marinheiro, eles so os criadores,
dando vida a um sonho dentro de outro sonho; e por serem alter-ego do poeta, cada
um v o mundo de um ngulo especfico. Assim que as trs veladoras so
profundamente dramticas, so mscaras, atrs das quais um Pessoa se esconde
para se revelar e se revela para despistar. No seria esse o supremo requinte da
mistificao?
O que nos parece , que muito de Caeiro existe na PRIMEIRA VELADORA:
ela faz aluso natureza, revelando-se extremamente subjetiva em suas
consideraes:
...Eu fui feliz para alm dos montes..[...] O que qualquer cousa? Como que
ela passa? [...] Colhia flores todo dia e antes de adormecer pedia que no mas
tirassem... [...] Custa tanto saber o que se sente quando reparamos em
ns!...[...] O dia nunca raia para quem encosta a cabea no seio das horas
sonhadas... [...] Falai-nos muito mais do vosso sonho. Ele to verdadeiro que
no tem sentido nenhum...
Como Caeiro, suas falas concentram-se no sentir, no uso de uma linguagem
direta e natural, que combina prosa com poesia.
A SEGUNDA VELADORA nos parece ter uma forma humanstica de ver o
mundo, j prenunciando o culto s entidades pags. Seria ela a semente de Ricardo
Reis? "S o mar das outras terras que belo... [...] Eu devia agora sentir mos
impossveis passarem-me pelos cabelos - o gesto com que falam das sereias... [...]
Falai-me das fadas. Nunca ouvi falar delas a ningum... [...] Sinto-me desejosa de
ouvir msicas brbaras que devem estar tocando em palcios de outros
90
continentes...". Se a PRIMEIRA s privilegia o sentir, esta mostra falas mais bem
elaboradas no sentido do raciocnio, do equilbrio, do pensar.
O esprito inconformado, que extrai do desespero a prpria razo de ser,
prprio de lvaro de Campos, encontra eco nas falas da TERCEIRA VELADORA:
O horizonte negro... [...] Por que no haver relgio neste quarto? [...] H
alguma razo para qualquer coisa ser o que ? [...] As minhas palavras
presentes, mal eu as diga, pertencero logo ao passado, ficaro fora de mim,
rgidas e fatais...[...] Falai-me da morte, do fim de tudo, para que eu sinta uma
razo para recordar..[...] ..eu choro uma vida morta que trago comigo e que no
vivi nunca...[...] Ser absolutamente necessrio, mesmo dentro do vosso
sonho, que tenha havido esse marinheiro e essa ilha? [...] dia j...Vai acabar
tudo... E de tudo isto fica, minha irm, que s vs sois feliz, porque acreditais
no sonho...
Assim como Campos est situado entre Caeiro e Reis, a TERCEIRA situa-se
claramente entre a PRIMEIRA e a SEGUNDA, mostrando ora o sentir de uma nela
levado ao extremo ora a artificialidade da outra...
Como j citamos, o Pessoa ele-mesmo, voltado profundamente para o
misticismo e a simbologia, pode estar realmente representado pela donzela morta.
Morte questionada por uma das veladoras: "Falai mais baixo. Ela escuta-nos,
talvez..." (PESSOA, 1986, p.449). Na verdade, essa morte pode ser o smbolo da
semente, que morre para gerar outras vidas.
Na verdade, a obra de Pessoa um caminho de infinitas paisagens, no um
ponto de chegada. uma viagem interminvel, no o porto. No acalma, no
aquece o corao ou a conscincia: um grito, um gesto de rebeldia mpar. Como
podemos chegar a concluses diante de uma obra assim? Segundo Tabucchi (1984,
p.19),
Pessoa uma mltipla, gigantesca m conscincia:
a minha, a nossa, a vossa, a de todos os homens de
boa vontade, qualquer que seja essa boa vontade.
Pessoa um grito de dor e um balido, um canto
altssimo e um esgar, uma unha que arranha o
quadro onde um bom professor queria traar a
tranquilizante demonstrao do seu teorema.
91
Por ora, fica a impresso de uma obra entretecida pela emoo e pela
angstia de sab-la fugaz, caso no se possa transmiti-la. E nesse jogo entre ser e
no-ser, est a base de toda a obra pessoana. A obra de um homem que se perdeu
e ganhou-se, entre as teias da razo.
A aranha do meu destino
Faz teias de eu no pensar.
No soube o que era em menino,
Sou adulto sem o achar.
que a teia, de espalhada,
Apanhou-me o querer ir...
Sou uma vida baloiada
Na conscincia de existir.
A aranha da minha sorte
Faz teia de muro a muro...
Sou presa do meu suporte. (PESSOA, 1986, p. 556)
REFERNCIAS
92
BACHELARD,G. O direito de sonhar. Traduo de Jos Amrico Motta Pessanha
et al. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991
BAKTIN, M. Esttica da criao verbal. So Paulo: Martins Fontes, 1997.
BARTHES, R. Le plaisir du texte. Paris, 1973.
______. O grau zero da escritura. So Paulo: Cultrix, 1971.
BENTLEY, E. A experincia viva do teatro. Trad. lvaro Cabral. Rio de Janeiro:
Zahar Editores, 1967.
BOSI, A. O ser e o tempo da poesia. So Paulo: Schwarez, 2000.
BRILL, A. Da arte e da linguagem. So Paulo: Perspectiva, 1988.
CADERMATORI, L. Perodos literrios. So Paulo: tica, 1995.
CASAIS MONTEIRO, A. Estudos sobre a poesia de Fernando Pessoa. Rio de
Janeiro: Agir, 1958.
COELHO, A. P. Os fundamentos filosficos da obra de Fernando Pessoa.
Lisboa: Editorial Verbo, 1971.
COHEN, J. Estrutura da linguagem potica. So Paulo: Cultrix, 1974.
COLQUIO- LETRAS- Lisboa. Ns 17, 25, 33. Fundao Colouste-Gulbenkiem,
1975.
COSTA, E. F. da. Fernando Pessoa: notas a uma biografia romanceada. Lisboa:
Guimares Editores, 1951.
CRUZ, D. I. O simbolismo no teatro portugus. (1890-1990). Lisboa: ICLP, 1991.
______. Introduo ao teatro portugus do sculo XX. Lisboa: Espiral s/d.
DE NICOLA, J. & INFANTE, U. Fernando Pessoa. So Paulo: Scipione, 1995.
DIANA LUZ PESSOA DE BARROS; JOS LUIZ FIORIN (orgs.) Dialogismo,
polifonia, intertextualidade. Em torno de Bakhtin. So Paulo: Edusp, 1994.
DIAS, M. H. M. Fernando Pessoa: um interldio intertextual. Rio de Janeiro:
Achiam, 1984.
FIORIN, J.L. & SAVIOLI, F.P. Para entender o texto. So Paulo: tica, 1992.
FREUD, S. Pessoas psicopticas em cena. Frankfurt: 1969.
93
GOMES, A C. Fernando Pessoa: as muitas guas de um rio. So Paulo: Pioneira
(EDUSP), 1987.
GONALVES, R. P. O sujeito Pessoa: literatura & psicanlise. Santa Maria: UFSM,
1995.
HAUSER, A Historia social de la literatura y el arte. Naturalismo e
Impressionismo. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1968.
ISSACAROFF, M. Poetics today. Spring, 1981.
JAKOBSON, R. Lingstica & Comunicao. So Paulo: Cultrix, 1969.
______. Os oxmoros dialticos de Fernando Pessoa. So Paulo: Abril Cultural,
1985. (Os Pensadores ).
JANSON, H. W. Histria geral da arte O mundo moderno. So Paulo: Martins
Fontes, 2001.
JAUSS, H. R. A literatura e o leitor. Trad. Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1979.
JUNQUEIRA, R. S. Sobre o teatro-msica ou simbolismo e modernismo n' O
Marinheiro de Fernando Pessoa. In: FACHIN, L; DEZOTTI, M. C. C (Org.). Teatro
em Debate. Araraquara: Laboratrio editora/FCL, 2001. (Estudos Literrios). p.20111)
KON, N. M. Freud e seu duplo: reflexes entre Psicanlise & Arte. So Paulo:
EDUSP, 1996.
LOPES, E. Discurso, texto e significao: uma teoria do interpretante.. So Paulo:
Cultrix, 1978.
LOPES, T. R. Pessoa por conhecer. Vol. 1 e 2. Lisboa: Estampa, 1990.
LOURENO, E. Pessoa revisitado- Leitura estruturante do drama em gente.
Coleo Civilizao Portuguesa, vol. 17. Porto: Inova, 1973.
MAETERLINCK. M. A intrusa. Srie Textos, cad. 2. Porto Alegre: Centro de arte
dramtica da UFRGS, 1967.
MAGALDI, S. Iniciao ao teatro. So Paulo: tica, 1991.
MARINHO, M. de F. A viagem no drama esttico "O Marinheiro". Porto: Persona,
1983.
MOISS, M. A criao literria: poesia. So Paulo: Cultrix, 1984.
______. A literatura portuguesa. So Paulo: Cultrix, 1971.
94
OSAKABE, H. Fernando Pessoa: resposta decadncia. Curitiba: Criar Edies,
2002.
PALLOTTINI, R. Introduo dramaturgia. So Paulo: tica, 1988.
PASCOLATI, S. Nos andaimes do teatro: a metatextualidade como trao da
potica lobatiana. - Dissertao de mestrado - Faculdade de Cincias e Letras.
Araraquara. UNESP, 1999.
PEIXOTO, F. O que teatro. So Paulo: Brasiliense, 1986.
PESSOA, F. Antologia potica. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1985.
______. Obra potica. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.
______. O livro do desassossego - por Bernardo Soares. Lisboa: tica, 1982.
______. Poemas escolhidos. So Paulo: Klick, 1997.
______ . Obra em prosa.
RGIO, J. Vistas sobre o teatro. In: Trs ensaios sobre arte. Lisboa: Portuglia,
1967. p. 104 -70.
ROSA, A N. As mscaras nigromantes: uma leitura do teatro escrito de Antonio
Patrcio. Lisboa: Assrio & Alvim, 2003.
ROSENFELD, A. Texto e contexto I. So Paulo: Perspectiva, 1996.
RYNGAERT, J. P. Introduo anlise do teatro. Trad. Paulo Neves. So Paulo:
Martins Fontes, 1996.
SARTRE, J. P. L'Imaginaire. Paris: Gallimard, 1940.
SEABRA, J. A Fernando Pessoa ou o poeto - drama. So Paulo: Perspectiva,
1974.
SEABRA PEREIRA, J. C. Decadentismo e Simbolismo na poesia portuguesa.
Coimbra: Coimbra Editora, 1975.
SIMES, J. G. Vida e obra de Fernando Pessoa. Lisboa: Bertrand, 1950.
TABUCCHI, A Pessoana Mnima. Escritos sobre Fernando Pessoa. Lous:
Imprensa Nacional/ Casa da Moeda,1984
WILSON, E. O castelo de Axel: estudo sobre a literatura imaginativa de 1870 a
1930. Trad. J. P. Paes. So Paulo: Cultrix, 1985.
95
WOODFORD, S. A arte de ver a arte. So Paulo: Zahar Editores, 1983.
Você também pode gostar
- A lírica fragmentária de Ana Cristina Cesar: Autobiografismo e montagemNo EverandA lírica fragmentária de Ana Cristina Cesar: Autobiografismo e montagemAinda não há avaliações
- Francisco Carvalho - O Silêncio É Uma Figura GeométricaDocumento188 páginasFrancisco Carvalho - O Silêncio É Uma Figura GeométricaHumbertoAinda não há avaliações
- Dissertacao Valeria SantosDocumento127 páginasDissertacao Valeria SantosamandafreesantosAinda não há avaliações
- A Poesia Lírica É Uma Forma de Poesia Que Surgiu Na Grécia AntigaDocumento4 páginasA Poesia Lírica É Uma Forma de Poesia Que Surgiu Na Grécia AntigaSérgio AlvesAinda não há avaliações
- A Lírica Amorosa de Marize CastroDocumento4 páginasA Lírica Amorosa de Marize CastroAlbimar Calixto da SilvaAinda não há avaliações
- 03 - O Jogo de Duplos Na Poesia de Sá-CarneiroDocumento281 páginas03 - O Jogo de Duplos Na Poesia de Sá-CarneiroHugo Domínguez SilvaAinda não há avaliações
- Álvaro de Campos - Temas - Metas 2017Documento3 páginasÁlvaro de Campos - Temas - Metas 2017ancostaAinda não há avaliações
- O Homem e Seus DuplosDocumento133 páginasO Homem e Seus DuplosrobertgtoledoAinda não há avaliações
- As cartas epifânicas de Caio Fernando Abreu: a escrita de urgênciaDocumento108 páginasAs cartas epifânicas de Caio Fernando Abreu: a escrita de urgênciaBenita Alves de Melo100% (1)
- Itinerarios - PDF InterativoDocumento86 páginasItinerarios - PDF InterativoMariana ValenteAinda não há avaliações
- Poesia e nosso tempoDocumento5 páginasPoesia e nosso tempoPatrícia Aparecida AntonioAinda não há avaliações
- Modernismo em Portugal e Fernando PessoaDocumento55 páginasModernismo em Portugal e Fernando PessoaSandy MartinsAinda não há avaliações
- A fragmentação da identidade em Fernando PessoaDocumento33 páginasA fragmentação da identidade em Fernando PessoaElizandra Fernandes Reis Silva100% (1)
- Múltiplos Olhares: Construindo Reflexões PoéticasNo EverandMúltiplos Olhares: Construindo Reflexões PoéticasAinda não há avaliações
- Movências binômicas na prosa de Álvares de AzevedoDocumento178 páginasMovências binômicas na prosa de Álvares de AzevedoMatheus SilvaAinda não há avaliações
- Alberto Pucheu - Mais Cotidiano Que o CotidianoDocumento99 páginasAlberto Pucheu - Mais Cotidiano Que o CotidianoMariana CasalsAinda não há avaliações
- 3.+Ana+Luísa+Amaral (1)Documento19 páginas3.+Ana+Luísa+Amaral (1)Rafael PereiraAinda não há avaliações
- Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras E Ciências HumanasDocumento3 páginasUniversidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras E Ciências HumanasMatty MattyAinda não há avaliações
- Diálogo entre a vida e o engajamento na obra de Farias de CarvalhoDocumento13 páginasDiálogo entre a vida e o engajamento na obra de Farias de CarvalhoKenedi AzevedoAinda não há avaliações
- Mulheres escritoras às vésperas da morteNo EverandMulheres escritoras às vésperas da morteAinda não há avaliações
- Schopenhauer e Augusto Dos AnjosDocumento127 páginasSchopenhauer e Augusto Dos AnjosbbanckeAinda não há avaliações
- Apresentação Da ObraDocumento8 páginasApresentação Da ObraJosé Brissos-LinoAinda não há avaliações
- Mitologias na arteDocumento20 páginasMitologias na artePablo CorreiaAinda não há avaliações
- Feijó FPDocumento11 páginasFeijó FPDiogenes MacielAinda não há avaliações
- Sebastião Alba O Ritmo A Noite O LimiteDocumento122 páginasSebastião Alba O Ritmo A Noite O LimiteFilipa AraújoAinda não há avaliações
- O Matriarcado No Programa Antropofagico PDFDocumento551 páginasO Matriarcado No Programa Antropofagico PDFlurodriiguesAinda não há avaliações
- DesconversoDocumento104 páginasDesconversoSara LovattiAinda não há avaliações
- A poesia simbolista de Camilo PessanhaDocumento16 páginasA poesia simbolista de Camilo PessanhaalineAinda não há avaliações
- Os Cavaleiros da Triste Figura: uma experiência decolonial do Dom Quixote do Bugio: um processo artístico de criação cênica com o Grupo Teatral Boca de Cena de Aracaju - SENo EverandOs Cavaleiros da Triste Figura: uma experiência decolonial do Dom Quixote do Bugio: um processo artístico de criação cênica com o Grupo Teatral Boca de Cena de Aracaju - SEAinda não há avaliações
- Álvaro de Campos - Sujeito, Consciência e Tempo Nostalgia Da InfânciaDocumento5 páginasÁlvaro de Campos - Sujeito, Consciência e Tempo Nostalgia Da InfânciaSucc SlaveAinda não há avaliações
- Ronaldo Cunha Lima - Cruz e SousaDocumento6 páginasRonaldo Cunha Lima - Cruz e SousaEsperidião AminAinda não há avaliações
- Eugenio de Andrade Antologia Breve PDFDocumento78 páginasEugenio de Andrade Antologia Breve PDFRui SousaAinda não há avaliações
- Projeto Luis ClaudioDocumento10 páginasProjeto Luis ClaudioLuis Claudio Moutinho RochaAinda não há avaliações
- Fichainformativafernandopessoaortonimo-Heteronimos 2019 - 20Documento5 páginasFichainformativafernandopessoaortonimo-Heteronimos 2019 - 20Paula LourençoAinda não há avaliações
- Andrade - Natureza em Álvares de AzevedoDocumento216 páginasAndrade - Natureza em Álvares de AzevedoCallipoAinda não há avaliações
- Trágico em Cruz PDFDocumento198 páginasTrágico em Cruz PDFAdilson SantosAinda não há avaliações
- Análise do poema Ao espelho, de José Paulo PaesDocumento5 páginasAnálise do poema Ao espelho, de José Paulo PaesGoncaloAinda não há avaliações
- A lírica amorosa de Valdelice PinheiroDocumento11 páginasA lírica amorosa de Valdelice PinheiroThaís PiresAinda não há avaliações
- Razão e emoção: aliadas na compreensão humanaDocumento7 páginasRazão e emoção: aliadas na compreensão humanaDaniel LimaAinda não há avaliações
- Razão e emoção: aliadas na compreensão humanaDOCUMENTO PALAVRAS 12Documento5 páginasRazão e emoção: aliadas na compreensão humanaDOCUMENTO PALAVRAS 12gonçalo100% (1)
- PARANHOS, M.C. Castro Alves e A Busca Da PoesiaDocumento15 páginasPARANHOS, M.C. Castro Alves e A Busca Da Poesiaplatiny8Ainda não há avaliações
- Naynara Tavares MoreiraDocumento128 páginasNaynara Tavares MoreiraThaís PiresAinda não há avaliações
- Poesia concreta, um manifestoDocumento78 páginasPoesia concreta, um manifestoLuis Ugaz100% (1)
- Naya Aparecida Fernandes Sousa RicciutoDocumento102 páginasNaya Aparecida Fernandes Sousa RicciutoHélio FrançaAinda não há avaliações
- Análise do poema O Rio de João Cabral como expressão do eu-líricoDocumento19 páginasAnálise do poema O Rio de João Cabral como expressão do eu-líricoAmanda RamosAinda não há avaliações
- Vasco Graça Moura: poeta, ensaísta e tradutor portuguêsDocumento9 páginasVasco Graça Moura: poeta, ensaísta e tradutor portuguêsMariana SemanasAinda não há avaliações
- Paisagens Poéticas na Lírica de Albano MartinsDocumento225 páginasPaisagens Poéticas na Lírica de Albano MartinsMirele UrtigaAinda não há avaliações
- ARTIGO - A Confissão de Sá-Carneiro - Nau Literária - UFRGSDocumento14 páginasARTIGO - A Confissão de Sá-Carneiro - Nau Literária - UFRGSEstevan KetzerAinda não há avaliações
- A Linguagem-Futuro de Arnaldo AntunesDocumento234 páginasA Linguagem-Futuro de Arnaldo AntunesoneiverarellanoAinda não há avaliações
- Texto 2 - Apostila de Literatura Portuguesa 13.04Documento108 páginasTexto 2 - Apostila de Literatura Portuguesa 13.04Vitoria Ribeiro NascimentoAinda não há avaliações
- 466 ##Default - Genres.article## 1855 2 10 20180703 PDFDocumento14 páginas466 ##Default - Genres.article## 1855 2 10 20180703 PDFRafael SalgueiroAinda não há avaliações
- Fernando, Rei RevisadoDocumento6 páginasFernando, Rei RevisadoCamila SabinoAinda não há avaliações
- O Palhaço-Professor e sua Pedra do ReinoDocumento132 páginasO Palhaço-Professor e sua Pedra do ReinoVictor TaiarAinda não há avaliações
- Territórios da escrita em Manoel de BarrosDocumento105 páginasTerritórios da escrita em Manoel de BarrosgalvaozimAinda não há avaliações
- Apresentação - Chelsea Lourdes ResidenceDocumento26 páginasApresentação - Chelsea Lourdes ResidenceGustavo Sousa AmaralAinda não há avaliações
- MURILLO-NEREA Diego 2016 Tesis ColecciónDocumento233 páginasMURILLO-NEREA Diego 2016 Tesis ColecciónDiana RibasAinda não há avaliações
- Olhos fixos no defuntoDocumento2 páginasOlhos fixos no defuntoivanquareAinda não há avaliações
- JAMESON, Fredric - Pós-Modernismo A Lógica Cultural Do Capitalismo TardioDocumento10 páginasJAMESON, Fredric - Pós-Modernismo A Lógica Cultural Do Capitalismo TardioMario Victor MargottoAinda não há avaliações
- Milagrosa Oração Da Cruz de CaravacaDocumento1 páginaMilagrosa Oração Da Cruz de CaravacaVilma TejoAinda não há avaliações
- Nibiru e os Anunnaki: a origem da humanidade segundo os sumériosDocumento12 páginasNibiru e os Anunnaki: a origem da humanidade segundo os sumériostrancedj2003Ainda não há avaliações
- Fei Hok Phai: o estilo da garça voandoDocumento24 páginasFei Hok Phai: o estilo da garça voandoPontaraAinda não há avaliações
- Rihgb2011numero0452 PDFDocumento624 páginasRihgb2011numero0452 PDFGabriel Lima Marques0% (1)
- Indicador de PHDocumento5 páginasIndicador de PHTeiken1996Ainda não há avaliações
- Novena Da Imaculada Conceição 7Documento1 páginaNovena Da Imaculada Conceição 7Spe DeusAinda não há avaliações
- Homilia 5 Domingo Tempo Comum Ano BDocumento3 páginasHomilia 5 Domingo Tempo Comum Ano Bmuriloguesser3278Ainda não há avaliações
- Ele Nos Deu Histórias I e II Parte TraduzidoDocumento45 páginasEle Nos Deu Histórias I e II Parte TraduzidovilmasousaAinda não há avaliações
- Sistema eletrônico de injeção em veículos GMDocumento2 páginasSistema eletrônico de injeção em veículos GMAntonio86% (7)
- Missões InfantilDocumento36 páginasMissões InfantilItalo SouzaAinda não há avaliações
- (Cliqueapostilas - Com.br) Acordes e Escalas PDFDocumento2 páginas(Cliqueapostilas - Com.br) Acordes e Escalas PDFOrlandia BorjaAinda não há avaliações
- O Banho de Diana: Alegoria política da França do século XVIDocumento14 páginasO Banho de Diana: Alegoria política da França do século XVIJéssicaAinda não há avaliações
- Aula 05 - 1 - EditorTextoWordDocumento44 páginasAula 05 - 1 - EditorTextoWordFlávio SantosAinda não há avaliações
- Tipos de lajes de concreto: vantagens e desvantagensDocumento10 páginasTipos de lajes de concreto: vantagens e desvantagensMarina SeabraAinda não há avaliações
- Ensino de Composição na UFBA: Práticas e ProcessosDocumento314 páginasEnsino de Composição na UFBA: Práticas e ProcessosMarcos de PaulaAinda não há avaliações
- Cristina Sampaio - Turonio Letras Galegas 19Documento1 páginaCristina Sampaio - Turonio Letras Galegas 19Anonymous K65dYFAinda não há avaliações
- É Muito Cedo Pra Pensar, de Dênis RubraDocumento104 páginasÉ Muito Cedo Pra Pensar, de Dênis RubraDênis Rubra100% (1)
- Relação cursistas sem envio Módulo 3Documento2 páginasRelação cursistas sem envio Módulo 3Cristiano TavaresAinda não há avaliações
- Alves Rubem Sobre MoluscosDocumento2 páginasAlves Rubem Sobre MoluscosSilvano SulzartyAinda não há avaliações
- Informática: Transferência, Multimídia e RedesDocumento5 páginasInformática: Transferência, Multimídia e RedesBrenda Thompson100% (1)
- Um Estranho Sonhador - Laini TaylorDocumento312 páginasUm Estranho Sonhador - Laini TaylorSamantha Guimarães100% (1)
- Flamboyant-Mirim: arbusto ornamental de pequeno porteDocumento4 páginasFlamboyant-Mirim: arbusto ornamental de pequeno porteJéssica ClementeAinda não há avaliações
- 1o Ano Ensino Médio 2013 Prova HistóriaDocumento2 páginas1o Ano Ensino Médio 2013 Prova HistóriaRobson VictorAinda não há avaliações
- A Guardiã das Estórias de CuraDocumento2 páginasA Guardiã das Estórias de CuraMarina JunqueiraAinda não há avaliações
- Quem fundou Pindamonhangaba? Análise crítica do conceito de fundadorDocumento11 páginasQuem fundou Pindamonhangaba? Análise crítica do conceito de fundadorhungriacabralAinda não há avaliações
- Moodle - Ficha 1Documento4 páginasMoodle - Ficha 1Carlos FragosoAinda não há avaliações