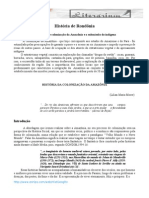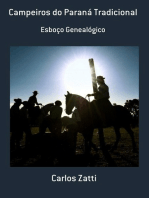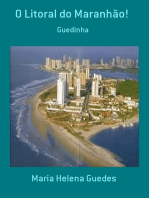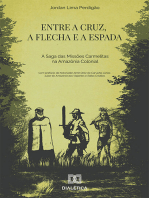Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
História Do Maranhão MA
Enviado por
Jorge FranciscoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
História Do Maranhão MA
Enviado por
Jorge FranciscoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Histria do Maranho MA
Origem do nome Maranho No h s uma hiptese para a origem do nome do Estado do Maranho. A teoria mais aceita que Maranho era o nome dado ao Rio Amazonas pelos nativos da regio antes dos navegantes europeus chegarem ou que tenha algum relao com o Rio Maraon no Peru. Mas h outros possveis significados como: grande mentira ou mexerico. Outra hiptese seria pelo fato do Estado conter um emaranhado de rios. Tambm pode significa mar grande ou mar que corre. Incio da colonizao do territrio maranhense Em 1534, D. Joo III divide a Colnia Portuguesa no Brasil em Capitanias Hereditrias, sendo o Maranho parte de 4 delas (Maranho 1 parte, Maranho 2 parte, Cear e Rio Grande), para melhor ocupar e proteger o territrio colonial. Porm, a ocupao no Maranho aconteceu a partir da invaso francesa Ilha de Upaon-Au (Ilha de So Lus) em 1612, liderada por Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardire, que tentava fundar colnias no Brasil. Os franceses chegaram a fundar um ncleo de povoamento chamado Frana Equinocial e um forte chamado de "Fort Saint Louis". Esse foi o incio da cidade de So Lus. Entretanto, os portugueses expulsaram os franceses em 1615 na batalha de Guaxenduba, sob o comando de Jernimo de Albuquerque Maranho, e passam a ter controle das terras maranhenses. Nesse episdio, foi importante a participao dos povos ndigenas que somaram foras a ambos os lados e estendendo o tamanho da batalha. Invaso holandesa Depois de terem invadido a maior parte do territrio do Nordeste da Colnia portuguesa na Amrica, os holandeses dominaram as terras da Capitania do Maranho em 1641. Eles desembarcaram em So Lus e tinham como objetivo a expanso da indstria aucareira com novas reas de produo de cana-de-acar. Depois, expandiram-se para o interior da Capitania. Os colonos, insatisfeitos com a presena holandesa, comearam movimentos para a expulso dos holandeses do Maranho em 1642, sendo o primeiro movimento contra a dominao holandesa. As lutas s acabaram em 1644 e nelas se destaca Antnio Texeira de Melo como um dos lderes do movimento. Revolta de Beckman Ver artigo principal: Revolta de Beckman Em 1682, a Coroa Portuguesa decidiu criar a Companhia de Comrcio do Maranho. Tal Companhia tinha o dever de enviar ao Estado do Maranho um navio por ms carregado de escravos e alimentos como azeite e vinho. Assim, Portugal pretendia aumentar o comrcio da regio. Mas a estratgia no dera certo. A Companhia abusava nos preos e, por vezes, atrasava os navios. Isso somado s pssimas condies de vida na poca, fizeram com que entre os colonos se criasse um clima de hostilidade contra a Metrople. Liderada por Manuel Beckman (Bequimo) em 1684, comea uma revolta nativista conhecida como a Revolta de Beckman. Os revoltosos queriam o fim da Companhia de Comrcio do Maranho e a expulso dos jesutas, pois a Companhia de Jesus era contra a escravido indgena (principal fonte de mo-de-obra na poca). Os revoltosos chegaram a aprisionar o Capito-mor de So Lus e outras autoridades, e expulsaram os jesutas, mas foram derrotados pelas foras da Coroa. Manuel Beckman foi condenado morte e enforcado em praa pblica, apesar de seu irmo, Toms Beckman ter ido Portugal para falar diretamente ao rei o motivo da revolta.
O movimento conseguiu fazer com que a Companhia fosse extinta mas no foram atendidos sobre a expulso dos jesutas. Marqus de Pombal e o Maranho Adotando ao modelo de dspota esclarecido, D. Jos I nomeou a Primeiro-Ministro, em Portugal, o Marqus de Pombal que teve importante papel na Histria do Maranho. Pombal fundou o Estado do Gro-Par e Maranho com capital em Belm e subdivido em quatro capitanias (Maranho, Piau, So Jos do Rio Negro e Gro-Par). Alm disso, expulsou os jesutas e criou a Companhia Geral de Comrcio do Gro-Par e Maranho cuja atuao desenvolveu a economia maranhense. Na fase pombalina, a Companhia de Comrcio do Gro-Par e Maranho incentivou as migraes de portugueses, principalmente aorianos, e aumentou o trfico de escravos e produtos para a regio. Tal fato fez com que o cultivo de arroz e algodo ganhasse fora e logo colocou o Maranho dentro do sistema agroexportador. Essa prosperidade econmica se refletiu no perfil urbano de So Lus, pois nessa poca foi construda a maior parte dos casares que compem o Centro Histrico de So Lus que hoje Patrimnio Mundial da Humanidade. A regio enriqueceu e ficou fortemente ligada Metrpole, quase inexistindo relao comercial com o sul do pas. Mas os projetos do Marqus de Pombal foram abalados quando subiu ao trono D. Maria I que extinguiu a Companhia de comrcio e muitas outras aes do Marqus na Colnia. Adeso do Maranho independncia do Brasil No Maranho, as elites agrcolas e pecuaristas eram muito ligadas Metrpole e a exemplo de outras provncias se recusaram a aderir Independncia do Brasil. poca, o Maranho era uma das mais ricas regies do Brasil. O intenso trfego martimo com a Metrpole, justificado pela maior proximidade com a Europa, tornava mais fcil o acesso e as trocas comerciais com Lisboa do que com o sul do pas. Os filhos dos comerciantes ricos estudavam em Portugal. A regio era conservadora e avessa aos comandos vindos do Rio de Janeiro. Foi da Junta Governativa da Capital, So Lus, que partiu a iniciativa da represso ao movimento da Independncia no Piau. A Junta controlava ainda a regio produtora do vale do rio Itapecuru, onde o principal centro era a vila de Caxias. Esta foi a localidade escolhida pelo Major Fidi para se fortificar aps a derrota definitiva na Batalha do Jenipapo, no Piau, imposta pelas tropas brasileiras, compostas por contingentes oriundos do Piau e do Cear. Fidi teve que capitular, sendo preso em Caxias e depois mandado para Portugal, onde foi recebido como heri. So Lus, a bela capital e tradicional reduto portugus, foi finalmente bloqueada por mar e ameaada de bombardeio pela esquadra do Lord Cochrane, sendo obrigada a aderir Independncia em 28 de julho de 1823. Os anos imperiais que seguiram foram vingativos com o Maranho; o abandono e descaso com a rica regio levaram a um empobrecimento secular, ainda hoje no rompido. A Balaiada Ver artigo principal: Balaiada Foi o mais importante movimento popular do Maranho e ocorreu entre Perodo Regencial e o primeiro ano do imprio de D. Pedro II. Os revoltosos exigiam melhores condies sociais e foram influnciados pelas lutas partidarias da aristocracia rural. Como lderes tiveram: Manuel Francisco dos Anjos Ferreira (O Balaio), Raimundo Gomes e Cosme dos Santos. Eles ainda conseguiram tomar a cidade de Caxias e estender o movimento at o Piau, porm, as tropas do imperador lideradas por Lus Alves de Lima e Silva (que recebeu o ttulo de Duque de Caxias) reprimiram o movimento. Os envolvidos foram anistiados e Manuel dos Anjos Ferreira e Negro Cosme foram mortos.
O estado do Maranho recebeu duas importantes correntes migratrias ao longo do sculo XX. Nos primeiros anos chegaram srio-libaneses, que se dedicaram inicialmente ao comrcio modesto, passando em seguida a empreendimentos maiores e a dar origem a profissionais liberais e polticos. Entre as dcadas de 40 e 60 chegou grande nmero de migrantes originrios do estado do Cear, em busca de melhores condies de vida na agricultura. Dedicaram-se principalmente lavoura de arroz, o que fez crescer consideravelmente a produo do estado. So Luiz - A capital do estado do Maranho foi fundada em 1612, na ilha de So Luiz, s margens da baa de So Marcos, do oceano Atlntico e do estreito dos Mosquitos. Povoada originariamente pelos franceses no sculo XVII, atualmente sua populao compe-se de aproximadamente 53% de mulheres e 47 % de homens. A economia local baseia-se primordialmente na indstria de transformao de minrios e no comrcio.
As principais atraes tursticas da cidade encontram-se na chamada Praia Grande, onde antigos casares cobertos de azulejos evidenciam a influncia portuguesa na arquitetura local. O bairro, restaurado quase por inteiro pelo Projeto Reviver, ponto cultural de destaque na cidade. Dispe de teatro, cinema, bares, lanchonetes, restaurantes e servios para turistas. O Reviver recuperou cerca de 107 mil m2, mais de 200 prdios, substituiu toda a rede eltrica e proibiu o trfego de veculos. A obra, estimada em US$ 100 milhes, devolveu Praia Grande o antigo cenrio de centro comercial e cultural da cidade do sculo XIX, quando So Luiz era chamada de Atenas brasileira. Entre os principais locais procurados por turistas encontram-se o Largo do Palcio; o Cais da Sagrao, onde costumavam ancorar os navios antigos, que levavam carregamento de acar; o Palcio dos Lees, local onde at 1615 funcionou o forte que protegia a capital da Frana Equinocial e at 1993 era a sede do governo estadual; a Catedral da S, construda pelos Jesutas em 1726; a igreja do Carmo, construda em 1627, uma das mais antigas da cidade; o Museu de Artes Visuais, com trabalhos de artistas maranhenses e azulejos europeus dos sculos XIX e XX; o Museu de Arte Popular, que funciona tambm como centro de cultura popular; o Teatro Arthur Azevedo, construdo entre 1815 e 1817, o primeiro a ser construdo em uma capital de estado brasileiro; e a Fonte do Ribeiro (1796), que possui trs portes de ferro dando acesso a passagens subterrneas que servem para escoamento de guas pluviais; a Feira da Praia Grande, que funciona em um prdio do sculo XIX, exibindo em um de seus portes as armas do Imprio em relevo. Trata-se do nico exemplar em So Lus, que escapou da depredao depois de institudo o regime republicano. Hoje, so comercializados vveres, frutas regionais, artesanato, mariscos e peixes no local. Existem vrias praias cobertas de dunas de areia nas redondezas de So Luiz. Algumas delas apresentam certo perigo a banhistas, devido s ondas que quebram a 7 m de altura. Entre as mais populares encontram-se a praia do Calhau; a de Ponta da Areia, onde se encontram as runas do Forte Santo Antonio (1691); de So Marcos, com as runas do Forte de So Marcos, do sculo XVIII; e a praia de Araaji, uma das mais bonitas dessa faixa litornea. O Parque Nacional dos Lenis Maranhenses, localizado em Primeira Cruz, ainda no possui infraestrutura para visitantes. Existem 12.010 escolas de ensino bsico no estado do Maranho; 300 escolas de ensino mdio; e quatro escolas de nvel superior. Em 1995, os analfabetos representavam 32% do total da populao. Indgenas - A populao indgena do estado do Maranho soma 12.238 habitantes, distribudos entre 16 grupos que vivem numa rea total de 1.908.89 hectares. Desse total, aproximadamente 86% (1.644.089 hectares), que representam 14 reas, j se encontram demarcadas pela Fundao Nacional do ndio (FUNAI), rgo do Governo Federal(9). Cerca de 14%, que correspondem a 264.000 hectares e incluem apenas duas reas (Aw e Krikati) ainda esto em processo de demarcao, embora sejam ocupadas pelos ndios. O grupo mais numeroso o dos
Araribia, com populao de 3.292 habitantes, que ocupa rea de 413.288 hectares, j demarcada pela FUNAI, no municpio de Amarante. O Cana Brava Guajajara o segundo grupo em tamanho da populao, com 3.143 ndios que ocupam 137.329 hectares nos municpios de Barra do Corda e Graja. Por Ilmar R. de Mattos e Daniella Calbria
Joo Francisco Lisboa analisa em seu livro "Apontamentos para a Histria do Maranho", de l852, os acontecimentos gerados pelo descontentamento criado pela introduo do estanco comrcio de produtos monopolizados pelo Estado - que tiveram sua culminncia na Revoluo do Maranho de l684, episdio conhecido como a "Revoluo de Beckman". O objetivo deste trabalho analisar algumas das significaes que Lisboa emprestou a "povo", "moradores", "cidados", "plebe" e "turba": a relao entre "povo" e "heri" e seus conceitos de "ordem" e "desordem". Povo o elemento passivo, apesar de agente da desordem, porque nele que agem as foras coletivas, no pode controlar as aes, ao contrrio, levado por elas, tornando-se, ento, a fora incontrolvel que irrompe em excessos e conduz desordem. O sujeito da ao dos eventos narrados Manuel Beckman, personagem que agrega os valores capazes de lhe conferir a condio de um heri. Mesmo assim, com o desenrolar dos acontecimentos, ele tambm passar a ser afetado pelas forras coletivas. Mas vejamos como Lisboa se vale do uso do termo "povo", contraposto ao de "moradores", at o momento em que os acontecimentos revolucionrios explodem na cidade. Os "moradores" so a elite da cidade enquanto a ordem mantida e esto claramente separados do "povo. Contudo, a partir do momento em que a opresso a que esses proprietrios esto sendo submetidos a partir da introduo do estanco se explicita, esta elite transforma-se, na narrativa de Lisboa, em "Povo". explcita a identificao do "povo" com uma situao de opresso. Este o momento em que se alternam as designao de "moradores" e "Povo". Entretanto, este "Povo", constitudo pela elite, jamais ser igual ao "povo", formado pela plebe. Existe, porm, um termo intermedirio nesta transio de "moradores" para "Povo" "cidado", que surge para designar os moradores uma vez que assumam parte ativa em uma situao poltica; termo que s permanece enquanto no surgem nenhum tipo de ao identificada com uma subverso da ordem. Isso significa dizer que permanecem cidados enquanto se mantm no mbito da reflexo , passando a tornar-se"Povo" se partem para a ao propriamente dita. Esta idia nos permite uma aproximao com as observaes de Michelet no livro "O Povo", de l846. Interessante porque, ambos se consideram liberais e poucos anos separam as duas obras. Podemos usar, portanto, algumas chaves presentes em Michelet para interpretar Lisboa. Em ambos os escritores est presente a idia de que o povo arrastado por grandes foras coletivas; bem como, a distino que fazem entre "homens de reflexo", binmio de onde emergir afigura do heri, ou para usar a denominao de Michelet, do gnio individual. Apesar do povo ser "arrastado pelas grandes foras coletivas", o que Michelet considera mais interessante no povo a sua capacidade de ao, por esta razo, segundo ele, o maior erro que as pessoas do povo podem cometer abandonar os "seus instintos" e lanar-se em busca das "abstraes e generalidades", que, inversamente, caracterizam os homens das altas sociedades, que os fazem ser, "homens de reflexo".
O intuito de Michelet era resgatar a imagem do povo, porm, na verdade, esse objetivo ia alm: ele estava descrevendo uma frmula para salvao do povo, funo esta, que caberia ao gnio individual, o heri: "O povo, em sua concepo mais elevada, dificilmente se encontra no povo. Quer eu o observe aqui ou ali, no se trata dele, mas de uma classe, uma forma parcial do povo, alterada e efmera. Em sua verdade, em seu poder maior, ele s existe no homem de gnio; neste que mora a grande alma... Essa voz a voz do povo; mudo pr si, ele fala pela boca deste homem..., e nele, finalmente, todos so glorificados e salvos". O limite a que chegou Michelet ao abordar o tema "povo" revelado pela inverso que faz: ao invs de colocar o homem de gnio no povo, coloca o povo dentro do homem gnio. No caso de Lisboa, o heri, em nenhuma de suas componentes, sa do seio do povo,partilha de elementos comuns com o povo ou o carrega em sua alma, como em Michelet; ao contrrio, o heri uma personagem que atravessa a fronteira entre a elite e o povo e ', por causa dos valores que, por um lado, o destacam singularmente; e por outro, carregar consigo debero , que o habilitam a desempenhar este papel. O herosmo que Beckman representa no est em momento algum a servio do povo para resgat-lo de sua posio. Seu herosmo existe para reagir injustia e opresso que, alis, so sofridos mais diretamente pelos proprietrios submetidos tiraniado estanco e proibio do livre comrcio. A designao de Povo que Lisboa emprega serve para nomeara elite que est submetida opresso . O povo identificado com a maior gama da populao indicado mais propriamente pelas designaes de turba, multido ou plebe. A poltica da Corte, "para no contrariar a prtica seguida no Estado em ocasies semelhantes" era fazer as coisas de modo a que, pelo menos, em aparncia se dessem pela aceitao voluntria da parte do povo. O que importava era que no se subvertesse a rotina naquele lugar. A novidade malfica a revoluo que se anuncia atravs de uma srie de pequenos incidentes que acabam por degenera-se at causar a deflagrao da desordem no sistema. exatamente isto que diz Francisco Lisboa "... em regra as crises natureza nunca deixam de trazer consigo todos os elementos indispensveis a seu completo desenvolvimento". Esta mentalidade a marca da permanncia e da continuidade mantidas pela Corte como garantia da manuteno de seu poder. As calamidades naturais entram no rol das causas gerais que se acumulam para agir de uma s vez, culminando no processo incontrolvel que escapa ao controle humano e leva revoluo. O "povo" o elemento impulsionado pelas "causas gerais", no possui ao prpria, ele mostrado como uma massa passiva pronta a ser conduzida. um acidente o estopim que detona a crise - o elemento prprio da situao de desordem, contido naturalmente no processo de degenerao. Este acidente a apario da voz que levar atrs de si a multido: a figura do revolucionrio. A multido sozinha, como j acentuado, jamais poderia levar este processo adiante. Para desempenhar este papel, Beckman sofre um rito de passagem atravs de um rebaixamento condio do homem comum, o que se d quando ele "ata o seu destino ao destino do povo" atravessando a distncia que separa a elite privilegiada do homem do povo, passando a participar"da misria e opresso comuns" sendo, portanto, "dominado e arrastado pelas mesmas idias e paixes, que eram de todos". Isso faz com que Beckman no possa ter mais total controle da situao. Entretanto, esta situao no absoluta j que Beckman nunca completa esta transio. Ele fica em uma situao intermediria entre o mundo da elite e o mundo do povo, entre o seu status nobre de "homem de reflexo" e o rebaixamento a "homem de ao".
esta localizao especial que o habilita a conduzir as multides e, sob este aspecto, ele representa o prottipo do heri. A voz de Beckman, o lder, ao conduzir as novas ordens se confunde com a ao da multido. Sua voz torna-se a prpria ao. Mas tambm , ao mesmo tempo, pela posio intermediria que ocupa, o elemento de moderao capaz de controlar a selvageria do povo, que a esta altura, j aparece representado totalmente por uma multido que no possui mais faces identificveis, somente "povo", e o "povo" entregue a seu estado completo, torna-se "plebe", e junto com ela, estar sempre presente a perspectiva de violncia, permanecendo, entretanto, a separao entre os lderes e o "povo", antepostos como nobres diante da plebe furiosa. Segundo o relato, fica claro que Beckman no teria tido o intento de instalar uma nova ordem, mas, pelo contrrio, restaurar a antiga. A manuteno da ordem mnima, surge como um ponto de honra a ser preservado pelos "melhores cidados", coisa muito diferente do que poderia fazer a "plebe". Com o passar do tempo, comea a aparecer toda a inconstncia do "povo", caracterstica da falta das virtudes identificadas com a firmeza de propsitos e com a tenacidade prprias somente do heri. Gradualmente, a ordem comea a ser restabelecida, e com a normalidade, a rotina. o retorno do mundo da permanncia suplantado o instante fugaz da novidade revolucionria. Est demonstrada a instabilidade do povo, que parece saudar o fim da revoluo com o mesmo entusiasmo com que abraara a sua causa. A moral da histria parece querer dizer que o "povo", enfim, ama a normalidade: O incio dos infortnios de Beckman dera-se com o rompimento com o acordo tcito que mantinha as aparncias "da aceitao voluntria do povo". A revoluo de Lisboa no alterao radical das bases em que se apoiam a sociedade brasileira, a glria que destaca da revolta do Maranho no o fato de haver sido uma revoluo, mas o herosmo de Beckman. Sobre revolues, Lisboa no as apoia, sua atrao pelo tema restringe-se s discusses entre homens ilustrados, entre os "homens de reflexo", lugar onde ele mesmo se situa, e de onde pode encontrar a legitimidade e a justia de uma revoluo, que seria um movimento, como j se disse, voltado, unicamente, contra as injustias e a falta de liberdade poltica e econmica para aqueles que identifica como cidados. Vai nesse sentido o liberalismo de Lisboa. Poderia parecer absurdo, que Lisboa acabe reverenciando a revoluo pela sua moderao, "respeito vida", "fazenda" e aos direitos dos adversrios". O respeito "fazenda", serve para diferenciar estas de outras revoltas menos nobres descritas como "simples fatos materiais", enquanto que, por outro lado, uma revoluo feita de idias poderia, facilmente, permanecer restrita aos sales da Repblica das Letras, em perfeito isolamento dos ditames da to temida necessidade. ao intelecto que deve estar ligada a revoluo e no necessidade. Esta a diviso entre "homens e reflexo" e "homens de ao", de que nos fala Michelet, e que parece fornecer os limites do mundo de Francisco Lisboa.
Bibliografia Lisboa, J. Francisco. Crnica do Brasil colonial: apontamentos para a histria do Maranho, Petrpolis: Vozes, l976. Michelet, Jules. O Povo, SP: Martins Fontes, l988.
O PADRE VIEIRA NO REINO DA MENTIRA
Por Voltaire Schilling
Padre Vieira ( 1608-1697) Por quase dez anos, de 1652 a 1661, o Padre Vieira viveu no Estado do Maranho, ento provncia do imprio luso, numa espcie de exlio. Brigado com a gente da corte, designaram-no, os seus superiores da Companhia de Jesus, a vir a assumir a \" misso do Maranho\" , que logo ele verificou ser dificlima. Mas o padre Vieira, orador prodigioso, talvez o maior homem das letras portuguesas em todos os tempos, no era de se conter, de contornar, de suavizar. Gigante em terra de anes, Guliver no pas de Liliput, ele legou sermes memorveis, nada digerveis, desancando os vcios da gente local com sua verve prodigiosa e indignada. A geografia do Diabo \" A verdade que vos digo, que no Maranho no h verdade\" Padre Vieira- Sermo da Quinta Dominga da Quaresma, S.Lus, 1654 Consta numa das tantas lendas que correm sobre o Diabo, lembrada pelo Padre Vieira, que aquele, saindo dos infernos, desabou-se por sobre a Europa. Partiu-se, porm, em pedaos que se espalharam por todos os lados. A cabea, chifre e tudo, caiu na Espanha, da os espanhis terem os miolos quentes, os seus ps caprinos foram parar na Frana, da l gostarem de danar e de se agitar, enquanto que o ventre satnico foi parar na Alemanha, o que explicava a gula daquele povo, sempre envolvido nos chucrutes, embeiando-se atrs das partes do porco, cozidas ou assadas, tanto faz. E a lngua do demo, indagou o Padre Vieira, onde teria ela ido parar? Sups que em Portugal. Resultava disso que da Vila do Castelo Vilamoura, do extremo norte ao extremo sul do reino, imperava aquela mania do falatrio, da maledicncia, do fuxico e da intriga. To prodigiosa era a fartura de palavras ruins em portugus que um tal de Drexelio, com elas, preparou um Abecedrio dos Vcios da Lngua. E o que encontraramos se consultssemos, por exemplo, o verbete dedicado letra \" M\", o. M. de Maranho. Ora, respondeu o padre categrico: \" M. de murmurar, M. de motejar, M. de maldizer, M. de malsinar, M. de mexerico\", e , sobretudo, concluiu o grande pregador, \" M. de mentir.\" Na Sibria de Portugal Bastou estar um pouco mais de um ano naquela parte do Novo Mundo, sado um tanto desterrado de Portugal, para que o Padre Vieira, o Grande, como o chamou com razo o padre Andr de Barros, entendesse que a costa do Maranho era um refgio da mentira. Em 1652, seus inimigos, afastando-o das proximidades do trono portugus, conseguiram empurr-lo para dentro de uma nau despachando-o para o outro lado do Atlntico, para os quadrantes da vila de So Lus. Que fosse converter os tapuias, mas que livrasse o rei de conselhos imprudentes. O Maranho daqueles tempos, estado independente do resto do Brasil desde 1621, diga-se, bem podia passar como a Sibria do Reino Lusitano. Um litoral imenso, pouco desbravado, que se estendia do Cear bocarra do Rio Amazonas, cheio de dunas, mato fechado e desolao. Pouqussima gente lusitana o habitava, mas muito nativo cor de cobre andava por aqueles sertes. Vieira desembarcou num caldeiro. O Maranho era um vespeiro no qual os jesutas enfrentavam diariamente os colonos. O pregador logo constatou que os chamados \" forasteiros\", isto , os brancos que vinham da Metrpole tentar a vida por aqueles lados, no queriam saber de converter ao cristianismo a boa alma de ningum. Muito menos a dos tapuias. Que ficassem pagos. Queriam, isso sim, era o corpo dos ndios. Os ps deles para no precisar
andar nem lavrar a terra, os braos deles para no necessitar remar nem semear, das costas para delas se servirem como lombo afim de carregar-lhes os trastes e outras vergas. O pescoo , enfim, s servia para por uma canga. Estando eles , os reinis que governavam a provncia, bem longe das vistas do rei, tudo sujeitavam e em tudo botavam a mo, porque no faltavam ofcios em que se podia furtar. E, ressaltou, no furtavam com unhas tmidas, mas com as agudas, as que deixam marca.. O Reino da Mentira A hora do padre - furioso, magoado com as rixas constantes - de acertar-se com aquela gente deu-se na Quinta Dominga da Quaresma, em abril do ano de 1654, momento quando, no final da missa, o grande homem reservou-lhes um sermo purgativo. Para ele o Maranho tornara-se \" o reino da mentira\" , com corte estabelecida na ilha de So Lus. L, como no fundo dos mares, no havia solidariedade nenhuma. Tal como entre os crustceos e os peixes, imperava o canibalismo. Caranguejo devorava o caranguejo e o cao, assim que a mar subia, comia a todos eles. Mas porque era assim? Vieira disse que era o clima. A inconstncia de tudo por l era tamanha que o litoral do Maranho, a baia de So Lus, era a nica no mundo inteiro onde at o sol, to certeiro em outras latitudes, enganava os pilotos, Olhando o astrolbio, ora ele indicava um grau, ora dois, o resultado era que muitos barcos encalhavam por l. O que o fez concluir que \" at o cu mentia no Maranho!\" Muito sol, alm de quebrar os laos de solidariedade, gerava a preguia e o cio. Este, ao prostrar as gentes, excitava-lhes a imaginao, me da mentira. Entre eles, mesmo que pelas duas orelhas escutassem uma verdade, perdida esta no caracol do ouvido, terminavam expelindo uma mentira pela boca. Tudo bem que em outras partes tambm se mentia. Lisboa, por exemplo. Mas ela era capital de um imprio. Podia exportar suas mentiras para outros cantos do mundo, para Veneza ou para Calicute. So Lus, pequenina, no. Naquela vila, a mentira no tendo para onde ir alimentava ainda mais outras inverdades. Nasciam e ali ficavam. L a mentira danava de roda. Era por isso, talvez, que o povo local temia a Serpente da Ilha, monstruoso ofdio que diziam dormir ao redor de So Lus e que se algum dia suas presas encontrassem o seu rabo, mordendo a si mesmo, ela se ergueria para devastar com tudo.
FUNDAO DA CIDADE DE SO LUS
Francesa ou portuguesa? Artigo polmico do saudoso historiador Jos Moreira, publicado no incio dos anos 80, defende a tese de que foram os portugueses e no os franceses que verdadeiramente fundaram a cidade de So Lus.
Derrotados os franceses em Guaxenduba, de uma maneira fragorosa, ao primeiro confronto com os portugueses e neo-brasileiros, tratou a toda pressa Daniel Ravardiere, de conseguir com o pernambucano Jernimo de Albuquerque, filho de um nobre portugus do mesmo nome, cunhado do donatrio da Capitania de Pernambuco, com a ndia Maria do Esprito Santo e nascida em Olinda, um armistcio, durante o qual esperava tirar a forra, atravs de reforos que esperava de Cancale e Diepe, no canal da Mancha, em Frana. Acertaram as partes contratantes que seriam enviados embaixadores aos governos de seus pases, para resolverem, se continuariam a luta, j que Ravardiere, insistia em dizer que ocupara o Maranho por ordem de sua rainha a regente Maria de Mdicis. Foi uma farsa dos franceses, pois na verdade eles no tinham credencial nenhuma e tanto verdade , que Maria de Mdicis, que reinava em nome de seu filho, ainda menor, Lus XIII, estava ela h muito tempo negociando o casamento dele com a princesa Ana dAustria, filha de Felipe III, que era portador das coroas Espanha e Portugal.
Nutria esse desejo de muito tempo e por isso, no iria autorizar um aventureiro e conhecido pirata Daniel Ravardiere, inimigo da sua religio, a invadir terras que eram da coroa portuguesa, desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas, homologado pelo Papa Alexandre VI, h 118 anos, isto , antes da descoberta do Brasil. O Maranho j tinha tido, at ento, vrios donatrios. Na ilha do Maranho, j tinha existido a povoao de Nazar, fundada pelos nufragos remanescentes do afundamento dos navios da expedio colonizadora de Aires da Cunha e isto mesmo foi dito por Jernimo de Albuquerque e Rararvardiere, como slido e incontestvel argumento de que o Maranho j pertencia a Portugal, cujos habitantes dessa povoao por falta de meios, uns regressaram a Ptria e outros amasiaram-se com ndias, da surgido uma tribo de ndios ferozes, brancos, barbados que foram desimados a ferro e a fogo em Peritor, muitos anos depois pelos portugueses. Diogo de Campos, embaixador do lado portugus, ao chegar a Lisboa, levou uma reprimida do vice-rei, que era o arcebispo dali, obrigando-o a regressar imediatamente a Pernambuco, dizendo-lhe que os franceses que ocupavam nossa ilha eram piratas e hereges (protestantes), portanto o tratado de armistcio no tinha nenhum valor jurdico. Chegando a Olinda, capital ento de Pernambuco, Diogo de Campos foi incorporado como almirante a uma poderosa esquadra, sob o comando de Alexandre de Moura, que imediatamente partiu para o Maranho, onde chegou expedindo ordens a Jernimo de Albuquerque que estava aquartelado no forte de Itapari, na baa de So Jos, que partisse imediatamente a sitiar o Forte de So Lus, pois iria atac-lo e tom-lo por mar, Jernimo de Albuquerque partiu logo e no dia 31 de outubro de 1615, acampou com suas tropas junto a Fonte das Pedras, local onde hoje se encontra o prdio da antiga Fbrica Santa Amlia. A Fonte das Pedras constava de alguns olhos dgua que escorria para o mar que banhava as barracas, na poca, onde se encontravam. Alexandre de Moura fundeou sua esquadra na foz do rio Maioba, hoje Anil, em frente ao Forte de So Lus, desembarcando imediatamente tropas especializadas numa ponta da ilha de So Francisco, carregando estacas de faxina, dirigidas pelo engenheiro-mor do Brasil, capito Francisco Frias de Mesquita, que para isso, havia se oferecido, ganhando apenas o soldo de soldado raso. Ravardiere, covardemente, no esboou um s gesto de reao intimado a render-se pelo general portugus, o fez prontamente comparecendo a presena deste. J conhecia o peso do brao portugus, mal armado e no iria submeter-se a nova derrota certa, mas sem dvida, honrosa, perante foras bem nutridas e no como as de Albuquerque que se alimentavam s de farinha de mandioca e caa, mal municiadas. Ravardiere de incio, solicitou pagamento de artilharia do forte alm de transporte para seus piratas para a Mancha, de cujas cidades eram oriundos o que foi aceito inicialmente, porm, no dia seguinte, 2 de novembro, Alexandre Moura, percebendo a fraqueza e covardia de seu adversrio, acrescentou ao termo da rendio mais as seguintes palavras: Que hade entregar o Sr. Ravardiere a fortaleza em nome de sua majestade com toda a artilharia, munies, e petrechos de guerra, que nela habitam sem por isso sua Majestade ficar obrigado a lhe pagar nada de sua real fazenda; e no deferindo a isto, torno a quebrar a minha palavra, ficando ele na fortificao e eu a fazer o que for servido; e isto, hoje, quarta-feira. Estoy por el acima declarado por el senor general Alexandro de Moura e assinou por baixo Ravardiere; e por este modo expedito libertou-se o general portugus das condies estipuladas por Jernimo de Albuquerque de pagar aos franceses toda a sua artilharia e munies. Tudo lhe foi imediatamente entregue, os fortes, como os navios da armada, bem como destes, se cedessem trs aos inimigos, conforme um dos artigos da capitulao, nos quais voltaram para a Frana mais de 400, deixando, apenas ficar alguns poucos que se haviam casado com ndias da terra, conforme diz Joo Lisboa. Isso se fez em ateno de serem, os que ficavam, catlicos e que podiam ser teis aos portugueses, porm os holandeses por ocasio em que ocuparam o
Maranho, mataram todos sob a desconfiana de que estariam ajudando os portugueses, durante a luta pela recuperao de nossa terra. Expulsos os franceses do Maranho, tratou Jernimo de Albuquerque de fundar a cidade de So Lus, por recomendao da corte de Madrid, sendo enviado Francisco Caldeira Castelo Branco, para fundar a cidade de Belm do Par. Os franceses durante os trs anos e quatro meses que aqui passaram, no trataram de erigir nenhuma cidade, como muita gente supe. Construram apenas o Forte que era de madeira e que sete anos aps os portugueses erigiram outro de pedra e cal, j com o nome de So Felipe. O engenheiro-mor do Brasil, Francisco Frias de Mesquita, o primeiro que o Maranho teve, fez o traado da cidade engenhosamente, aproveitando bem a sinuosidade do terreno. A primeira olaria, como diz Mrio Meireles, foi levantada por Albuquerque, porque as poucas casas esparsas, inclusive o forte, eram cobertas com palha de pindoba. Alm do forte com um grande barraco, tambm coberto de palha, para abrigar a guarnio, existia o convento de So Francisco, dos frades dessa ordem, que vieram com Francisco de Rassilly, catlico e scio na pirataria com Ravardiere, este no era nobre como se propala, desconhece-se o grau de sua nobreza, no era baro, visconde, conde, marqus ou duque. Em papelrios a guisa de ata, cujo original ningum viu, ele figura como cavaleiro. J um de seus scios de Diepe, nesse papelrio chamado Baro de Molle. Scio. Sim, porque a expedio foi financiada por esse baro, Francisco de Rassilly, este catlico, e os outros protestantes, e nunca pelo Rei, acuados nas margens francesas do Canal da Mancha. Aqui, em So Lus viviam os frades trazidos por Rassilly em desavena com os hereges de Ravardiere e j estavam tramando a deposio deste na chefia. Os franceses viviam distribudos na ilha, em grupos de 10 pelas 27 aldeias existentes no Maranho, por falta de habitaes em conjunto que formasse. Ao menos, uma povoao em torno do forte, conforme diz Berredo; por necessidade sexual, pois nas aldeias dos ndios, os piratas (quando no estavam ausentes da ilha na pilhagem de sua profisso da qual a ilha na pilhagem de sua profisso da qual a ilha ora repositrio de seus roubos, como ainda diz aquele autor), tinham as ndias com quem se amancebavam. Ravardiere no veio aqui estabelecer uma cidade, pois, tempo teve, mas fixar uma feitoria de piratas, como ainda afirma Berredo, e explorar o terreno a cata de minas e ouro, o que no conseguiu. Ravardiere daqui foi levado preso por Alexandre de Moura para Lisboa, onde esteve guardado no Forte de Belm, margem direita do Rio Tejo, durante dois anos, segundo uns, e trs segundo outros. Se fora um grande senhor, como querem seus afeioados fazer, crer, isso no aconteceria, pois Luiz XIII era genro do rei espanhol e de Portugal, Felipe III, que certamente intercederia por ele. Jernimo de Albuquerque Maranho, como passou a chamar-se o fundador e construtor da cidade de So Lus, nela faleceu, adotando tambm sua famlia o nome de Maranho. A fundao usam o nome de So Lus, por Jernimo de Albuquerque, se encontra descrita nos Anais do Estado do Maranho , de Berredo e nas obras a histria do nosso Estado de Raimundo Gaioso, Frei Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres, Joo Lisboa, Csar Marques, Ferdinand Deniz, este francs, Barbosa de Godis, Fran Pacheco e Ribeiro do Amaral, de modo incontestvel. Em vez de andarem os maranhenses desavisados a tecerem loas e homenagens imerecidas a Ravardiere, o assaltante de nossa indefesa terra, em 1612, o que constitui a mais nefante ingratido, deveriam as autoridades gravar indelevelmente, num monumento, os nomes daqueles que morreram para que o Maranho fosse Brasil. Concomitantemente se estendesse at o fim da Amaznia para que todos que hoje vivem e viveram neste solo abenoado, existissem, porque seno fosse o seu sacrifcio e sua bravura, no existiramos ns, os maranhenses, como disse Joo Lisboa a Gonalves Dias, mas um povo estranho, falando outra lngua, teriam outros costumes, porque queiram ou no, os que pensam o contrrio, descendemos mesmos irrefutavelmente dos portugueses, atravs de brancas, negras e ndias. A eles que devemos honrar, como nossos pais, avs, tetravs etc. A eles, cuja lngua falamos, ensinada por eles e os heris que morreram na Batalha de Guaxenduba que so: Lus de Guevara, natural de Tanger, filho de Gonalo Guevara, cavaleiro da Ordem de Cristo, homem nobre, natural de Braga; Francisco de Bessa (castelhano), Joo da Mata, natural do Brasil; Pedro
Olivares, de Viana; Amaro de Couto, natural de Lisboa; Bartolomeu Ramires, natural das Ilhas; Manoel de Loureiro, natural de Abrantes; Domingos Correia, natural da Ilha Graciosa. A estes sim competem todas as homenagens do povo maranhense, porque morreram para que nosso povo, hoje existisse e que vivem escondidas nas pginas rarississimamente lidas da jornada ao Maranho, escrita por seu comandante Diogo de Campos Moreno, o nico a homenage-los. Ns porm dizemos: glria eterna a eles, que morreram para que pudssemos existir...
MOREIRA, Jos. Fundao da cidade de So Lus. Jornal o Estado do Maranho. 1981, p.6.
A (DES)CONSTRUO DA MODERNIDADE NA POLTICA MARANHENSE
Por Alan Kardec Pacheco filho -Prof. da UEMA e mestre em Histria do Brasil,UFPE.
A discusso entre passado/presente; velho/novo; antigo/moderno tem suscitado um intenso e acalorado debate no meio intelectual. O homem ocidental se envolve h quase oito sculos com o passado. Desde Herdoto, o Pater Historiae do Ocidente, que ao resgatar 150 anos de histria, fez mais que um relato. Trouxe para o presente o passado, que ao transformar-se em tempo, tornou-se o fio condutor da Histria da humanidade e matria-prima do historiador. Essa discusso historiogrfica nos interessa por demais, visto que, o tema em questo Modernidade na Poltica Maranhense exige que se faa, previamente, uma abordagem de natureza conceitual e metodolgica acerca da modernidade. A procura pela imortalidade levou o homem a descrever, interpretar, relatar e analisar seus feitos. H muito, o homem caminha em busca do novo. As profundas transformaes ocorridas no tamanho fsico do mundo ocidental no sculo XV e a mudana na mentalidade no sculo XVI levaram esse novo homem a questionamentos at ento irrefutveis ao longo de sua existncia. So os renascentistas, os humanistas e bem mais prximos de ns os filsofos das luzes, que desafiaram, as verdades absolutas que sustentaram o mundo ocidental at o sculo XVI. Mas, a histria feita de construo e desconstruo. Dessa forma a razo passa a ser a partir das luzes a explicao fundante de um paradigma cientfico. Houve rupturas, continuidades, permanncias e descontinuidades, mas principalmente a passagem da transcendncia imanncia consolida o primado da razo. Neste sentido, o termo moderno surge no baixo latim com o significado de recente. A palavra antigo se referia antiguidade, sem o sentido por vezes pejorativo que alguns lhe atribuem hoje. No sculo XVI, com a diviso da Histria em Antiga, Medieval e Moderna, ainda assim, o termo moderno ope-se mais a medieval do que a antigo (LE GOFF: 1992, 168 ). Foi a sociedade capitalista advinda da revoluo industrial, que associou ao termo moderno o atual significado: novo, fazendo grande oposio ao passado, agora, sinmino de antigo/velho pejorativamente. A roupagem que dada ao novo/moderno assumi um contedo de pureza no seu significado, sem nenhuma vinculao com o passado.
O que velho/novo? antigo/moderno? Como delimitar, demarcar essas fronteiras? O senso comum mostra o novo/moderno como sendo uma ruptura com o passado. A igreja usou as expresses Boa Nova e Novo Testamento no com o sentido que a sociedade contempornea compreende o que seja moderno, mas com o sentido de atual, de hoje, para diferenciar do velho. O ano de 1922 no Brasil o marco da Semana da Arte Moderna, fortemente vinculada ao nacionalismo, mas que no deixa de significar uma ruptura. Os anos 60 nos trazem a Bossa Nova, a Jovem ( nova ) Guarda e o Cinema Novo. Todos se apresentando como novo, rompendo com um passado j ultrapassado. Ainda tratando da modernidade a msica, no cenrio internacional, no final dos anos 50 e comeo dos 60 de nosso sculo, o Rock n` roll, foi usado no sentido de novo/moderno, e aqui nitidamente com o sentido de ruptura. O que ainda poderia haver, aps a modernidade? Um perodo chamado moderno s pode pensar que a Histria atingiu o seu fim, e que os humanos vivero, da em diante, num presente perptuo [CASTORIADIS, 1992:15]. O carter dialtico do termo moderno, como nos j referimos que permite uma afinidade de interpretaes, conceitos, teorias, conforme esta breve discusso. Feita esta abordagem inicial, passemos para as questes conceituais. Utilizaremos o conceito de modernidade/modernizao que entende a modernidade como sendo ... aquele conjunto de mudanas operadas nas esferas poltica e econmica e social que tem caracterizado os dois ltimos sculos (BOBBIO,1994:768). Da modernizao poltica econmica, surge e no poderia ser diferente a modernizao social, que implica na melhoria da qualidade de vida das pessoas em todos os aspectos. Refletir sobre tendncias historiogrficas dever do profissional de histria para compreenso de seu tempo e de si mesmo enquanto agente do fato que pretende narrar. A metodologia adotada neste trabalho configura-se a partir das concepes da Escola dos Annales, mais precisamente no campo da Histria das Mentalidades. Indo de encontro aos que afirmam ser a histria tradicional apenas a histria poltica, histria do Estado e das instituies ( BARREIRO, 1994:8 ). Pretendemos fazer uma histria poltica respaldada na ambivalncia da Nova Histria, por entendermos que toda histria escolha. -o at devido ao acaso que aqui destruiu e ali salvou os vestgios do homem. -o devido ao homem ( apud: BOTO, 1994,24 ). O ato social objeto de nosso estudo, o ento candidato ao governo do Estado, Sr. Jos Sarney, elegeu-se com o slogan Maranho Novo, ambicioso projeto poltico, coletivo, arquitetado por um grupo de intelectuais maranhenses, cujo objetivo maior era colocar o Maranho na modernidade, e com isso resgatar agora para todo o Estado do Maranho e no s, para sua capital, So Lus, o ttulo que outrora tanto orgulho deu aos maranhenses Atenas brasileira. projeto esse que como governador, o Sr, Sarney, torna-o pessoal. Esse moderno/novo inspirado no passado apresentado como puro desvinculado de qualquer conotao com o velho. Qual o contedo desse moderno? Qual o impacto da modernidade do Maranho Novo na condio de vida dos maranhenses? Como esse moderno veiculado na prtica? Qual o cenrio que esse moderno est se configurando? Estudar a modernizao implantada pelo Sr. Jos Sarney deveras importante para a compreenso da sociedade maranhense dos ltimos 30 anos. Pois o discurso da modernizao
tem sido sua fala desde 1965, quando assumi a candidatura ao governo dos Estado. Usando com habilidade e competncia os veculo de comunicao, especialmente nos centros urbanos, a sua mensagem de renovao, modernizao, mudanas e desenvolvimento, varria o Estado inteiro, como um poderoso vento de liberdade, levando de roldo todos quantos tentavam oporse sua candidatura ( BUZAR, 1998:497 ). No houve e no h inovao no campo da prtica poltica no Maranho. No h a propalada ruptura com o passado/velho, at por que isso impossvel. A renda continua centrada em poucos e a burocracia criada fez o sarneysmo apropriar-se do Estado. A maior evidncia foi a eleio de Roseana Sarney pra o governo do estado, usando como slogan Novo Tempo inequivocamente continuidade do Maranho Novo de seu pai. Em se tratando do Maranho, neste recorte temporal v-se que o Estado no andou nos trilhos do postulado discurso modernizante, posto que, em seu segundo mandato, a Governadora cria uma Gerncia de Estado cujo nome Administrao e modernizao denuncia que nunca chegamos modernidade.
Você também pode gostar
- ExpMarítimoMaranhãoDocumento14 páginasExpMarítimoMaranhãoLeonora FerreiraAinda não há avaliações
- História Do Maranhão - NovoDocumento48 páginasHistória Do Maranhão - NovoMaria Fernanda AlvesAinda não há avaliações
- História do Maranhão e sua expansão marítimaDocumento11 páginasHistória do Maranhão e sua expansão marítimaIldeblan SilvaAinda não há avaliações
- História de Mato Grosso: Seleção de Conteúdo para Concurso Público do Governo de Mato GrossoNo EverandHistória de Mato Grosso: Seleção de Conteúdo para Concurso Público do Governo de Mato GrossoAinda não há avaliações
- Historia Do MaranhãoDocumento5 páginasHistoria Do Maranhãonatalia silvaAinda não há avaliações
- Geografia Do MaranhaoDocumento36 páginasGeografia Do MaranhaoHenrique CampeloAinda não há avaliações
- A Conquista e Colonização Da AmazôniaDocumento9 páginasA Conquista e Colonização Da AmazôniaJonas PinheiroAinda não há avaliações
- Apostila de HistDocumento7 páginasApostila de HistEduardo JoreuAinda não há avaliações
- História de Mato Grosso: da descoberta do ouro à exploração de diamantesDocumento30 páginasHistória de Mato Grosso: da descoberta do ouro à exploração de diamantesElton Cesar de Arruda100% (2)
- O Estado de RoraimaDocumento9 páginasO Estado de RoraimaRenisson VerasAinda não há avaliações
- 9162 o Espaco Rural de Pernambuco Luciano TeixeiraDocumento6 páginas9162 o Espaco Rural de Pernambuco Luciano TeixeiraArthur CaldasAinda não há avaliações
- Geografia PPT - PantanalDocumento79 páginasGeografia PPT - PantanalGeografia e História PPT100% (5)
- Curso 169946 Aula 00 Somente em PDF Ae6f CompletoDocumento23 páginasCurso 169946 Aula 00 Somente em PDF Ae6f CompletoLeonardo FreitasAinda não há avaliações
- Resumo História de RondôniaDocumento5 páginasResumo História de RondôniaNara AraripeAinda não há avaliações
- Principais Bacias Hidrográficas Do BrasilDocumento2 páginasPrincipais Bacias Hidrográficas Do BrasilRonalld100% (1)
- Apostila de Geografia Do Maranhão - (Módulo 3)Documento11 páginasApostila de Geografia Do Maranhão - (Módulo 3)PabloAinda não há avaliações
- História do PiauíDocumento2 páginasHistória do PiauíAntenor Filho100% (1)
- Historia Do ParanaDocumento18 páginasHistoria Do ParanaKarla UrsolaAinda não há avaliações
- Apostila Geografia Do ParanáDocumento39 páginasApostila Geografia Do ParanáReginaldo SimõesAinda não há avaliações
- Tentativas de colonização do Ceará no século XVIIDocumento3 páginasTentativas de colonização do Ceará no século XVIILucas Kauan100% (1)
- Cartilha Acre - Muitos São Os Caminhos de Deus PDFDocumento82 páginasCartilha Acre - Muitos São Os Caminhos de Deus PDFRaquel FrotaAinda não há avaliações
- Mayas, Astecas e Incas: Civilizações Pré-ColombianasDocumento16 páginasMayas, Astecas e Incas: Civilizações Pré-ColombianasIsabel SobralAinda não há avaliações
- Plano de Aula História - Cultura Indigena AtualizadoDocumento10 páginasPlano de Aula História - Cultura Indigena AtualizadoSilvia CarvalhoAinda não há avaliações
- Material PAS-UEM - 1o Ano - História Do ParanáDocumento2 páginasMaterial PAS-UEM - 1o Ano - História Do Paranáprovas_st_james50% (2)
- História do Paraná: dos primeiros povos até a colonização portuguesaDocumento57 páginasHistória do Paraná: dos primeiros povos até a colonização portuguesaFelipe Gomes CabralAinda não há avaliações
- Na Terra das Palmeiras: Gênero, Trabalho e Identidades no Universo das Quebradeiras de Coco Babaçu no MaranhãoNo EverandNa Terra das Palmeiras: Gênero, Trabalho e Identidades no Universo das Quebradeiras de Coco Babaçu no MaranhãoAinda não há avaliações
- Currículo Anos Iniciais 2019 - 1º Ao 5º AnoDocumento251 páginasCurrículo Anos Iniciais 2019 - 1º Ao 5º AnoIGOR LACERDAAinda não há avaliações
- Itaúna, município de Minas Gerais no Quadrilátero FerríferoDocumento5 páginasItaúna, município de Minas Gerais no Quadrilátero FerríferoTiago LopesAinda não há avaliações
- Povos Indígenas e Seus Aspectos CulturaisDocumento15 páginasPovos Indígenas e Seus Aspectos CulturaisOs Bunitos100% (1)
- Festas, religiosidades e africanidades no Amazonas: saberes em diálogoNo EverandFestas, religiosidades e africanidades no Amazonas: saberes em diálogoAinda não há avaliações
- Enciclopédia dos Municípios BrasileirosDocumento660 páginasEnciclopédia dos Municípios BrasileirosJacilmara MeloAinda não há avaliações
- O Livro das Canoas e o comércio de escravos indígenas na Amazônia colonialDocumento15 páginasO Livro das Canoas e o comércio de escravos indígenas na Amazônia colonialVenancio SilvaAinda não há avaliações
- A Historia Do MaranhãoDocumento154 páginasA Historia Do MaranhãoThiago Vilar67% (3)
- Formação da Região Norte emDocumento39 páginasFormação da Região Norte emJosué J SilvaAinda não há avaliações
- Apostila - MesopotâmiaDocumento8 páginasApostila - MesopotâmiaTatianni CruzAinda não há avaliações
- Origem do homem americano e primeiras fases da pré-história da AmazôniaDocumento53 páginasOrigem do homem americano e primeiras fases da pré-história da AmazôniaLarissa SantosAinda não há avaliações
- Currículo do Piauí: educação infantil e fundamentalDocumento22 páginasCurrículo do Piauí: educação infantil e fundamentalAlonso Therion Vocals100% (1)
- O olhar de um capuchinho sobre a África do século XVIIDocumento129 páginasO olhar de um capuchinho sobre a África do século XVIIGeraldo Neves100% (1)
- Educação é a base: Currículo 2019 para Educação Infantil do município de Tucuruí-PADocumento182 páginasEducação é a base: Currículo 2019 para Educação Infantil do município de Tucuruí-PAIGOR LACERDA100% (1)
- Tese Indios PotiguarasDocumento335 páginasTese Indios Potiguarasjosue100% (1)
- Dissertação Sobre As CandancesDocumento175 páginasDissertação Sobre As CandancesWendell VelosoAinda não há avaliações
- Dangelis Linguas Indígenas EscritoresDocumento48 páginasDangelis Linguas Indígenas EscritoresNAYARA CAMARGOAinda não há avaliações
- A Conquista Da Amazônia Pelos Europeus - ResumoDocumento3 páginasA Conquista Da Amazônia Pelos Europeus - ResumoGiueSamara Santos100% (1)
- A Presença Holandesa No CearáDocumento12 páginasA Presença Holandesa No CearáMN NT100% (1)
- Plano de Curso 7º AnoDocumento3 páginasPlano de Curso 7º AnoRousenGodinhoAinda não há avaliações
- Geografia do CearáDocumento5 páginasGeografia do CearáRafaela BatistaAinda não há avaliações
- Adesão Do Pará À Independência Do Brasil (Completo)Documento3 páginasAdesão Do Pará À Independência Do Brasil (Completo)Josiane Aguiar50% (2)
- Civilização GregaDocumento3 páginasCivilização GregaEverton WillianAinda não há avaliações
- Conhecimentos Sobre O Municipio de AracatiDocumento14 páginasConhecimentos Sobre O Municipio de AracatiEliab Silva100% (1)
- Pmma 125 Questões Geografia Do Brasil e Do MaranhãoDocumento87 páginasPmma 125 Questões Geografia Do Brasil e Do MaranhãoJohn Adson FerreiraAinda não há avaliações
- História ensinada, Cultura e Saberes Escolares (Amazonas, 1930-1937)No EverandHistória ensinada, Cultura e Saberes Escolares (Amazonas, 1930-1937)Ainda não há avaliações
- Bahia: nos Trilhos Da Colônia Leopoldina (História, Educação Básica, Quilombo, Currículo)No EverandBahia: nos Trilhos Da Colônia Leopoldina (História, Educação Básica, Quilombo, Currículo)Ainda não há avaliações
- Dicas para o MEU CANTINHO DE ESTUDOSDocumento62 páginasDicas para o MEU CANTINHO DE ESTUDOSJorge FranciscoAinda não há avaliações
- Minuta Edital TJPI - 2015 12 10Documento38 páginasMinuta Edital TJPI - 2015 12 10Dollar BillAinda não há avaliações
- Aula 01 Seguridade Social Evolução Histórica No Mundo e Legislativa No BrasilDocumento29 páginasAula 01 Seguridade Social Evolução Histórica No Mundo e Legislativa No BrasilJorge FranciscoAinda não há avaliações
- GABlistgeralcprobabilidade 2009Documento10 páginasGABlistgeralcprobabilidade 2009Jorge FranciscoAinda não há avaliações
- Introdução à MacroeconomiaDocumento7 páginasIntrodução à Macroeconomiascribd_scribd200979% (14)
- A Suspensão Do Fornecimento de Serviço Público Essencial Por Inadimplemento Do Consumidor PDFDocumento16 páginasA Suspensão Do Fornecimento de Serviço Público Essencial Por Inadimplemento Do Consumidor PDFJorge FranciscoAinda não há avaliações
- 6 ResumoDocumento28 páginas6 ResumoJorge FranciscoAinda não há avaliações
- Uma Introdução A História Do Pensamento EconômicoDocumento31 páginasUma Introdução A História Do Pensamento Econômiconilcmi100% (1)
- GABlistgeralcprobabilidade 2009Documento10 páginasGABlistgeralcprobabilidade 2009Jorge FranciscoAinda não há avaliações
- Uma Introdução A História Do Pensamento EconômicoDocumento31 páginasUma Introdução A História Do Pensamento Econômiconilcmi100% (1)
- Lei 7.661, 28-12-11 - Estatuto Social Da EBSERHDocumento10 páginasLei 7.661, 28-12-11 - Estatuto Social Da EBSERHJorge FranciscoAinda não há avaliações
- Cria EBSERH para gestão de hospitais universitáriosDocumento4 páginasCria EBSERH para gestão de hospitais universitáriosJorge FranciscoAinda não há avaliações
- A Violência Do Estado e Da Sociedade No Brasil Contemporâneo - Luis Edurado SoaresDocumento27 páginasA Violência Do Estado e Da Sociedade No Brasil Contemporâneo - Luis Edurado SoarespenalempresarialAinda não há avaliações
- Lei Anticorrupcao Compliance ArtigoDocumento26 páginasLei Anticorrupcao Compliance ArtigoMartesonCasteloBrancoAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre A Sexualidade Nos Espaços MidiáticosDocumento340 páginasReflexões Sobre A Sexualidade Nos Espaços MidiáticosFlorêncio M Costa JúniorAinda não há avaliações
- O crescimento dos shoppings e a atuação do BNDESDocumento17 páginasO crescimento dos shoppings e a atuação do BNDESsixorAinda não há avaliações
- 9 - A Repressão Da Biopirataria P. 188-208Documento21 páginas9 - A Repressão Da Biopirataria P. 188-208Emanuel PepinoAinda não há avaliações
- Breve histórico da imprensa homossexual no BrasilDocumento8 páginasBreve histórico da imprensa homossexual no BrasilEros TartarugaAinda não há avaliações
- Concurso ES da Defesa divulga aprovadosDocumento51 páginasConcurso ES da Defesa divulga aprovadosjackson moreiraAinda não há avaliações
- Sindicatos Filiados à FETICOM-SPDocumento2 páginasSindicatos Filiados à FETICOM-SPRobinson LemeAinda não há avaliações
- Representação social da arenização e influência da mídiaDocumento334 páginasRepresentação social da arenização e influência da mídiaZaiazinnAinda não há avaliações
- Escola S 17112011Documento74 páginasEscola S 17112011Ana PaulaAinda não há avaliações
- Plano de Desenvolvimento Institucional - 2015 - 2019Documento447 páginasPlano de Desenvolvimento Institucional - 2015 - 2019pedro2905Ainda não há avaliações
- Cozinhas comunitárias como estratégia de saúde e segurança alimentarDocumento2 páginasCozinhas comunitárias como estratégia de saúde e segurança alimentarRamon GasparAinda não há avaliações
- Prova PM 2008: questões de matemática, português e raciocínio lógicoDocumento7 páginasProva PM 2008: questões de matemática, português e raciocínio lógicoKariane PaulukAinda não há avaliações
- Metodologias Participativas e Sistematização de Experiências em AgroecologiaDocumento32 páginasMetodologias Participativas e Sistematização de Experiências em AgroecologiaOrlando Carlos Huertas TavaresAinda não há avaliações
- Índios da ParaíbaDocumento8 páginasÍndios da ParaíbaValdivino NetoAinda não há avaliações
- Projeto Política Pedagógico Do Parque Nacional Do Pau Brasil (PPPEA)Documento127 páginasProjeto Política Pedagógico Do Parque Nacional Do Pau Brasil (PPPEA)Alessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Gestão de Clubes de Futebol 2022Documento104 páginasGestão de Clubes de Futebol 2022Fut Cumbuco100% (1)
- Trabalho de GeoDocumento1 páginaTrabalho de GeoKelly FassarellaAinda não há avaliações
- Inventário 1850 AlbuquerqueDocumento2 páginasInventário 1850 AlbuquerqueKristin MorganAinda não há avaliações
- EARQ v2 2020 FinalDocumento223 páginasEARQ v2 2020 FinalDiniz SantosAinda não há avaliações
- Jornal de Teatro Edição Nr.10Documento24 páginasJornal de Teatro Edição Nr.10ClaudiaAinda não há avaliações
- Solo TromboneDocumento199 páginasSolo TromboneMaciel França0% (1)
- Flora Sussekind, Objetos Verbais Não Identificados (O Globo Prosa 21-9-2013)Documento11 páginasFlora Sussekind, Objetos Verbais Não Identificados (O Globo Prosa 21-9-2013)Biagio D'AngeloAinda não há avaliações
- Escolas de Aquiraz e CaucaiaDocumento21 páginasEscolas de Aquiraz e CaucaiamkpcearaAinda não há avaliações
- Língua InglesaDocumento9 páginasLíngua InglesaAlex LeaoAinda não há avaliações
- 100 Erros de PortuguêsDocumento9 páginas100 Erros de PortuguêsevelizebarbosaAinda não há avaliações
- Edição Do Ja-11 - 08 - 2018 PDFDocumento32 páginasEdição Do Ja-11 - 08 - 2018 PDFIgor NevesAinda não há avaliações
- Suplemento Pernambuco Literatura e Política PDFDocumento24 páginasSuplemento Pernambuco Literatura e Política PDFAnonymous 0Y3E2O5mA100% (1)
- Exercícios Sobre Fluxos Migratórios - GEOGRAFIADocumento2 páginasExercícios Sobre Fluxos Migratórios - GEOGRAFIArafaelafarons13Ainda não há avaliações
- Livro Amazônia As Vozes Do Rio Ana PizarroDocumento138 páginasLivro Amazônia As Vozes Do Rio Ana PizarroFelipe ZanelliAinda não há avaliações