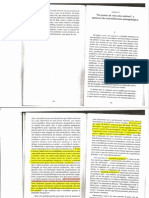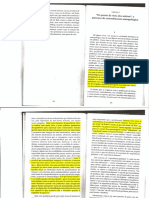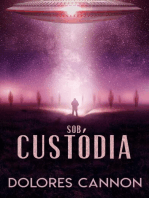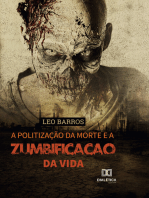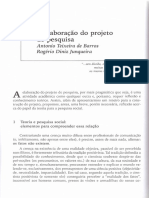Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ser Afetado
Enviado por
Lucas Veiga0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
53 visualizações7 páginasDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
53 visualizações7 páginasSer Afetado
Enviado por
Lucas VeigaDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
Meu trabalho sobre a feitiaria no Bocage
francs levou-me a reconsiderar a noo de
afeto, e a pressentir o interesse que haveria em
trabalh-la: primeiro, para apreender uma di-
menso central do trabalho de campo (a mo-
dalidade de ser afetado); depois, para fazer uma
antropologia das terapias (tanto selvagens
exticas, como cientcas ocidentais); e nal-
mente, para repensar a antropologia.
Com efeito, minha experincia de cam-
po com o desenfeitiamento, e, em seguida,
minha experincia com a terapia analtica le-
varam-me a pr em questo o tratamento pa-
radoxal do afeto na antropologia: em geral, os
autores ignoram ou negam seu lugar na expe-
rincia humana. Quando o reconhecem, ou
para demonstrar que os afetos so o mero pro-
duto de uma construo cultural, e que no
tm nenhuma consistncia fora dessa constru-
o, como manifesta uma abundante literatura
anglo-sax; ou para votar o afeto ao desapa-
recimento, atribuindo-lhe como nico destino
possvel o de passar para o registro da represen-
tao, como manifesta a etnologia francesa e
tambm a psicanlise. Trabalho, ao contrrio,
com a hiptese de que a eccia teraputica,
quando ela se d, resulta de um certo trabalho
realizado sobre o afeto no representado.
Ser afetado, de Jeanne Favret-Saada*
* FAVRET-SAADA, Jeanne. 1990. tre Aect.
In: Gradhiva: Revue dHistoire et dArchives de
lAnthropologie, 8. pp. 3-9.
riaouo
PAULA SIQUEIRA
Mestranda em Antropologia Social pelo PPGAS/
MN/UFRJ e pesquisadora de grupos culturais,
poltica e religio em Nilo Peanha, no Baixo
Sul da Bahia.
iiviso
TNIA STOLZE LIMA
Professora Doutora de Antropologia pelo
ICHF/UFF.
De um modo mais geral, meu trabalho pe
em causa o fato de que a antropologia acha-se
acantonada no estudo dos aspectos intelectu-
ais da experincia humana, nas produes cul-
turais do entendimento, para empregar um
termo da losoa clssica. parece-me ur-
gente, reabilitar a velha sensibilidade, visto
que estamos mais bem equipados para abord-
la do que os lsofos do sculo XVII.
Inicialmente, valem algumas reexes sobre
o modo como obtive minhas informaes de
campo: no pude fazer outra coisa a no ser
aceitar deixar-me afetar pela feitiaria, e ado-
tei um dispositivo metodolgico tal que me
permitisse elaborar um certo saber posterior-
mente. Vou mostrar como esse dispositivo no
era nem observao participante, nem (menos
ainda) empatia.
Quando viajei para o Bocage, em 1968, ha-
via uma abundante literatura etnogrca sobre
feitiaria, composta de dois conjuntos de textos
heterogneos e que se ignoravam mutuamente:
aquele dos folcloristas europeus (que se tinham
recentemente condecorado com o ttulo vanta-
joso de etnlogos, embora no tivessem mu-
dado em nada sua forma de trabalhar), e aquele
dos antroplogos anglo-saxes, sobretudo afri-
canistas e funcionalistas.
Os folcloristas europeus no tinham nenhum
conhecimento direto da feitiaria rural: seguindo
as prescries de Van Gennep, eles praticavam
investigaes regionais, encontrando-se com as
cadernos de campo n. 13: 155-161, 2005
156 | riaouo oi iauia siquiiia
cadernos de campo n. 13 2005
elites locais (o grupo menos bem situado para sa-
ber alguma coisa sobre o assunto) ou enviando-
lhes questionrios, interrogando tambm alguns
camponeses para saber se ainda se acreditava
nisso. As respostas recebidas eram to uniformes
quanto as questes: aqui, no, mas na aldeia vi-
zinha, so uns atrasados. Seguiam-se, ainda,
algumas anedotas cticas ridicularizando os cren-
tes. Para ir direto ao ponto, digamos que os etn-
logos franceses, desde que se tratasse de feitiaria,
dispensavam-se tanto de observar como de par-
ticipar (situao que permanece, alis, a mesma,
ainda em 1990). Os antroplogos anglo-saxes
pretendiam, ao menos, pr em prtica a obser-
vao participante. Levei um certo tempo para
deduzir dos seus textos sobre feitiaria que con-
tedo emprico podia-se atribuir a essa curiosa
expresso. Em retrica, isso se chama oxmoro:
observar participando, ou participar observando,
quase to evidente como tomar um sorvete fer-
vente. No campo, meus colegas pareciam combi-
nar dois gneros de comportamento: um, ativo,
de trabalho regular com informantes pagos, os
quais eles interrogavam e observavam; o outro,
passivo, de observao de eventos ligados fei-
tiaria (disputas, consultas a adivinhos). Ora,
o primeiro comportamento no pode de forma
alguma ser designado pelo termo participao
(o informante, ao contrrio, quem parece par-
ticipar do trabalho do etngrafo); e, quanto ao
segundo, participar equivale tentativa de estar
l, sendo essa participao o mnimo necessrio
para que uma observao seja possvel.
Portanto, o que contava, para esses antrop-
logos, no era a participao, mas a observao.
Desta, eles tinham, alis, uma concepo bas-
tante estreita: sua anlise da feitiaria reduzia-
se quelas das acusaes, porque, diziam eles,
so os nicos fatos que um etngrafo pode
observar. Acusar , para eles, um compor-
tamento, at mesmo o comportamento por
excelncia da feitiaria, j que o nico empiri-
camente vericvel, todo o resto sendo somen-
te erros e imaginaes nativas. (Ressaltemos de
passagem que, para esses autores, falar no
um comportamento, nem um ato suscetvel
de ser observado). Esses antroplogos davam
respostas precisas a uma nica questo quem
acusa quem de o ter enfeitiado em dada socie-
dade? mas cavam mudos quanto a todas as
outras como se entra numa crise de feitiaria?
Como se sai dela? Quais so as idias, as expe-
rincias e as prticas dos enfeitiados e dos seus
magos? Nem mesmo um autor to minucioso
quanto Turner permite sab-lo, e, para se fazer
uma idia disso, preciso voltar leitura de
Evans-Pritchard (1937).
De maneira geral, havia nessa literatura um
perptuo deslizamento de sentido entre v-
rios termos que teria sido melhor distinguir: a
verdade vinha escorrer sobre o real, e este,
sobre o observvel (aqui, havia uma confu-
so suplementar entre o observvel como saber
empiricamente vericvel, e o observvel como
saber independente das declaraes nativas),
depois sobre o fato, o ato ou o compor-
tamento. Essa nebulosa de signicaes tinha
por nico trao comum o fato de opor-se a seu
simtrico: o erro escorria sobre o imagin-
rio, sobre o inobservvel, sobre a crena e,
por m, sobre a palavra nativa.
Alis, no h nada mais incerto que o esta-
tuto da palavra nativa nesses textos: s vezes, ele
classicado entre os comportamentos (acu-
sar) e, s vezes, entre as proposies falsas (in-
vocar a feitiaria para explicar uma doena). A
atividade de fala enunciao escamoteada,
no restando mais do discurso nativo que seu
resultado, isto , os enunciados so impropria-
mente tratados como proposies e a atividade
simblica reduz-se a emitir proposies falsas.
Como se pode ver, todas essas confuses gi-
ram em torno de um ponto comum: a desqua-
licao da palavra nativa, a promoo daquela
do etngrafo, cuja atividade parece consistir
em fazer um desvio pela frica para vericar
sii aiiraoo, oi ;iaxxi iaviir-saaoa | 1;
cadernos de campo n. 13 2005
que apenas ele detm no se sabe bem o qu,
um conjunto de noes politticas, equivalen-
tes para ele verdade.
Voltemos a minha pesquisa sobre a feitiaria
no Bocage. Lendo essa literatura anglo-sax para
ajudar em meu trabalho de campo, quei im-
pressionada com uma curiosa obsesso presen-
te em todos os prefcios: os autores (e o grande
Evans-Pritchard no era exceo) negavam regu-
larmente a possibilidade de uma feitiaria rural
na Europa de hoje. Ora, no somente eu estava
dentro dela, como a feitiaria era amplamente
vericada em vrias outras regies, ao menos
pelos folcloristas europeus. Por que um erro em-
prico to evidente, to grande e to comparti-
lhado? Sem dvida, tratava-se de uma tentativa
absurda de realizar novamente a Grande Diviso
entre eles e ns (ns tambm j acredita-
mos em feiticeiros, mas foi h trezentos anos,
quando ns ramos eles), e assim proteger
o etnlogo (esse ser a-cultural, cujo crebro so-
mente conteria proposies verdadeiras) contra
qualquer contaminao pelo seu objeto.
Talvez isso fosse possvel na frica, mas eu
estava na Frana. Os camponeses do Bocage
recusaram-se obstinadamente a jogar a Grande
Diviso comigo, sabendo bem onde isso de-
veria terminar: eu caria com o melhor lugar
(aquele do saber, da cincia, da verdade, do
real, qui algo ainda mais alto), e eles, com o
pior. A Imprensa, a Televiso, a Igreja, a Esco-
la, a Medicina, todas as instncias nacionais de
controle ideolgico os colocavam margem da
nao sempre que um caso de feitiaria termi-
nava mal: durante alguns dias, a feitiaria era
apresentada como o cmulo do campesinato, e
este como o cmulo do atraso ou da imbecili-
dade. Assim, as pessoas do Bocage, para proibir
o acesso a uma instituio que lhes prestava ser-
vios to eminentes, ergueram a slida barreira
do mutismo, com justicaes do gnero: Fei-
tio, quem no pegou no pode falar disso ou
a gente no pode falar disso com eles.
Pois ento, eles falaram disso comigo somen-
te quando pensaram que eu tinha sido pega
pela feitiaria, quer dizer, quando reaes que
escapavam ao meu controle lhes mostraram
que estava afetada pelos efeitos reais freqen-
temente devastadores de tais falas e de tais
atos rituais. Assim, alguns pensaram que eu era
uma desenfeitiadora e dirigiram-se at a mim
para solicitar o ofcio; outros pensaram que eu
estava enfeitiada e conversaram comigo para
me ajudar a sair desse estado. Com exceo
dos notveis (que falavam voluntariamente de
feitiaria, mas para desqualic-la), ningum
jamais teve a idia de falar disso comigo sim-
plesmente por eu ser etngrafa.
Eu mesma no sabia bem se ainda era et-
ngrafa. Certamente, nunca acreditei ser uma
proposio verdadeira que um feiticeiro pudesse
me prejudicar fazendo feitios ou pronuncian-
do encantamentos, mas duvido que os prprios
camponeses tenham algum dia acreditado nis-
so dessa maneira. Na verdade, eles exigiam de
mim que eu experimentasse pessoalmente por
minha prpria conta no por aquela da ci-
ncia os efeitos reais dessa rede particular de
comunicao humana em que consiste a feiti-
aria. Dito de outra forma: eles queriam que
aceitasse entrar nisso como parceira e que a
investisse os problemas de minha existncia de
ento. No comeo, no parei de oscilar entre
esses dois obstculos: se eu participasse, o
trabalho de campo se tornaria uma aventura
pessoal, isto , o contrrio de um trabalho; mas
se tentasse observar, quer dizer, manter-me
distncia, no acharia nada para observar. No
primeiro caso, meu projeto de conhecimento
estava ameaado, no segundo, arruinado.
Embora, durante a pesquisa de campo, no
soubesse o que estava fazendo, e tampouco o
porqu, surpreendo-me hoje com a clareza das
minhas escolhas metodolgicas de ento: tudo
se passou como se tivesse tentado fazer da par-
ticipao um instrumento de conhecimento.
158 | riaouo oi iauia siquiiia
cadernos de campo n. 13 2005
Nos encontros com os enfeitiados e desenfeiti-
adores, deixei-me afetar, sem procurar pesqui-
sar, nem mesmo compreender e reter. Chegando
em casa, redigia um tipo de crnica desses even-
tos enigmticos (s vezes aconteciam situaes
carregadas de uma tal intensidade que me era
impossvel fazer essas notas a posteriori). Esse
dirio de campo, que foi durante longo tempo
meu nico material, tinha dois objetivos:
O primeiro era a curto prazo: tentar com-
preender o que queriam de mim, achar uma
resposta a questes urgentes do gnero: Por
quem X me toma? (uma enfeitiada, uma
desenfeitiadora), O que Y quer de mim?
(que eu o desenfeitice). Eu tinha interesse
em achar uma boa resposta, j que no encon-
tro seguinte, me pediriam para agir. Mas, em
geral, no tinha os meios necessrios para isso:
a literatura etnogrca sobre feitiaria, tanto
anglo-sax quanto francesa, no permitia que
se representasse esse sistema de lugares em que
consiste a feitiaria. Eu estava justamente expe-
rimentando esse sistema, expondo-me a mim
mesma nele.
O outro objetivo era a longo prazo: por
mais que vivesse uma aventura pessoal fasci-
nante, em nenhum momento resignei-me a
no compreender. Na poca, alis, no sabia
muito para que ou por que queria poder com-
preender, se para mim, para a antropologia
ou para a conscincia europia. Mas eu orga-
nizava meu dirio de campo para que servisse
mais tarde a uma operao de conhecimento:
minhas notas eram de uma preciso manaca
para que eu pudesse, mais tarde, realucinar os
eventos, e ento como eu no estaria mais
enfeitiada, apenas reenfeitiada compre-
end-los, eventualmente.
Os leitores de Corps pour Corps tero nota-
do que no h nada neste dirio que o asseme-
lhe queles de Malinowski ou de Mtraux. O
dirio de campo era para eles um espao ntimo
onde podiam enm se deixar livres, reencon-
trar-se fora das horas de trabalho, durante as
quais eram obrigados a representar diante dos
nativos. Em suma, um espao de recreao pes-
soal, no sentido literal do termo. As considera-
es privadas ou subjetivas esto, ao contrrio,
ausentes do meu prprio dirio, exceto se tal
evento de minha vida pessoal tivesse sido evo-
cado com meus interlocutores, quer dizer, se
tivesse sido includo na rede de comunicao
da feitiaria.
Uma das situaes que vivia no campo era
praticamente inenarrvel: era to complexa que
desaava a rememorao, e de todos os modos,
afetava-me demais. Trata-se das sesses de de-
senfeitiamento a que assistia, seja como enfei-
tiada (minha vida pessoal estava passando pelo
crivo e eu era instada a modic-la), seja como
testemunha dos clientes, mas tambm da tera-
peuta (eu era constantemente instada a intervir
bruscamente). No comeo, tomei muitas notas
depois de chegar em casa, mas era muito mais
para acalmar a angstia de ter-me pessoalmente
engajado. Uma vez que aceitei ocupar o lugar
que me tinha sido designado nas sesses, prati-
camente no tomei mais notas: tudo se passava
muito depressa, deixava-as correr sem pr-me
questes, e, da primeira sesso at a ltima, no
tinha compreendido praticamente nada do que
tinha acontecido. Mas registrei discretamente
umas trinta sesses das aproximadamente du-
zentas a que assisti para constituir um material
sobre o qual pudesse trabalhar mais tarde.
A m de evitar os mal entendidos, gostaria
de ressaltar o seguinte: aceitar participar e ser
afetado no tem nada a ver com uma operao
de conhecimento por empatia, qualquer que
seja o sentido em que se entende esse termo.
Vou considerar as duas acepes principais e
mostrar que nenhuma delas designa o que pra-
tiquei no campo.
Segundo a primeira acepo (indicada na
Encyclopedia of Psychology), sentir empatia con-
sistiria, para uma pessoa, em vicariously expe-
sii aiiraoo, oi ;iaxxi iaviir-saaoa | 1,
cadernos de campo n. 13 2005
riencing the feelings, perceptions and thoughts of
another
1
. Por denio, esse gnero de empa-
tia supe, portanto, a distncia: justamente
porque no se est no lugar do outro que se
tenta representar ou imaginar o que seria estar
l, e quais sensaes, percepes e pensamen-
tos ter-se-ia ento. Ora, eu estava justamente
no lugar do nativo, agitada pelas sensaes,
percepes e pelos pensamentos de quem ocu-
pa um lugar no sistema da feitiaria. Se armo
que preciso aceitar ocup-lo, em vez de ima-
ginar-se l, pela simples razo de que o que ali
se passa literalmente inimaginvel, sobretudo
para um etngrafo, habituado a trabalhar com
representaes: quando se est em um tal lugar,
-se bombardeado por intensidades especcas
(chamemo-las de afetos), que geralmente no
so signicveis. Esse lugar e as intensidades
que lhe so ligadas tm ento que ser experi-
mentados: a nica maneira de aproxim-los.
Uma segunda acepo de empatia ein-
fhlung, que poderia ser traduzida por co-
munho afetiva insiste, ao contrrio, na
instantaneidade da comunicao, na fuso com
o outro que se atingiria pela identicao com
ele. Essa concepo nada diz sobre o mecanis-
mo da identicao, mas insiste em seu resul-
tado, no fato de que ela permite conhecer os
afetos de outrem.
Armo, ao contrrio, que ocupar tal lugar
no sistema da feitiaria no me informa nada
sobre os afetos do outro; ocupar tal lugar afe-
ta-me, quer dizer, mobiliza ou modica meu
prprio estoque de imagens, sem contudo ins-
truir-me sobre aquele dos meus parceiros.
Mas e insisto sobre esse ponto, pois aqui
que se torna eventualmente possvel o gnero
de conhecimento a que viso , o prprio fato
de que aceito ocupar esse lugar e ser afetada
por ele abre uma comunicao especca com
os nativos: uma comunicao sempre involun-
1. Nota da tradutora: experimentar, de uma forma indi-
reta, as sensaes, percepes e pensamentos do outro.
tria e desprovida de intencionalidade, e que
pode ser verbal ou no.
Quando verbal, acontece mais ou menos
isto: alguma coisa me impele a falar (digamos,
o afeto no representado), mas no sei o qu, e
tampouco sei por que isso me impele a dizer jus-
tamente aquilo. Por exemplo, digo a um cam-
pons, em eco a alguma coisa que ele me disse:
Pois , eu sonhei que, e eu no teria como
explicar esse pois . Ou ento meu interlocu-
tor observa, sem fazer qualquer ligao: Outro
dia, fulano lhe disse que Hoje, voc est com
essas erupes no rosto. O que se diz a, impli-
citamente, a constatao de que fui afetada: no
primeiro caso, eu prpria fao essa constatao,
no segundo, um outro quem a faz.
Quando essa comunicao no verbal, o
que ento que comunicado e como? Tra-
ta-se justamente da comunicao imediata que
o termo einfhlung evoca. Apesar disso, o que
me comunicado somente a intensidade de
que o outro est afetado (em termos tcnicos,
falar-se-ia de um quantum de afeto ou de uma
carga energtica). As imagens que, para ele e
somente para ele, so associadas a essa intensi-
dade escapam a esse tipo de comunicao. Da
minha parte, encaixo essa carga energtica de
um modo meu, pessoal: tenho, digamos, um
distrbio provisrio de percepo, uma quase
alucinao, ou uma modicao das dimenses;
ou ainda, estou submersa num sentimento de
pnico, ou de angstia macia. No neces-
srio (e, alis, no freqente) que esse seja o
caso do meu parceiro: ele pode, por exemplo,
estar completamente inafetado na aparncia.
Suponhamos que no lute contra esse esta-
do, que o receba como uma comunicao de
alguma coisa que no saiba o que . Isso me
impele a falar, mas da forma evocada anterior-
mente (ento, eu sonhei que), ou a calar-
me. Nesses momentos, se for capaz de esquecer
que estou em campo, que estou trabalhando, se
for capaz de esquecer que tenho meu estoque
160 | riaouo oi iauia siquiiia
cadernos de campo n. 13 2005
de questes a fazer se for capaz de dizer-me
que a comunicao (etnogrca ou no, pois
no mais esse o problema) est precisamen-
te se dando, assim, desse modo insuportvel e
incompreensvel, ento estou direcionada para
uma variedade particular de experincia huma-
na ser enfeitiado, por exemplo porque por
ela estou afetada.
Ora, entre pessoas igualmente afetadas
por estarem ocupando tais lugares, acontecem
coisas s quais jamais dado a um etngrafo
assistir, fala-se de coisas que os etngrafos no
falam, ou ento as pessoas se calam, mas trata-
se tambm de comunicao. Experimentando
as intensidades ligadas a tal lugar, descobre-se,
alis, que cada um apresenta uma espcie par-
ticular de objetividade: ali s pode acontecer
uma certa ordem de eventos, no se pode ser
afetado seno de um certo modo.
Como se v, quando um etngrafo aceita
ser afetado, isso no implica identicar-se com
o ponto de vista nativo, nem aproveitar-se da
experincia de campo para exercitar seu narci-
sismo. Aceitar ser afetado supe, todavia, que
se assuma o risco de ver seu projeto de conhe-
cimento se desfazer. Pois se o projeto de conhe-
cimento for onipresente, no acontece nada.
Mas se acontece alguma coisa e se o projeto
de conhecimento no se perde em meio a uma
aventura, ento uma etnograa possvel. Ela
apresenta, creio eu, quatro traos distintivos:
1. Seu ponto de partida o reconhecimen-
to de que a comunicao etnogrca ordinria
uma comunicao verbal, voluntria e inten-
cional, visando aprendizagem de um sistema
de representaes nativas constitui uma das
mais pobres variedades da comunicao huma-
na. Ela especialmente imprpria para forne-
cer informaes sobre os aspectos no verbais e
involuntrios da experincia humana.
Noto, alis, que, quando um etngrafo
lembra-se do que houve de nico em sua esta-
da no campo, ele fala sempre de situaes em
que no estava em condies de praticar essa
comunicao pobre, pois estava invadido por
uma situao e/ou por seus prprios afetos.
Ora, nas etnograas, essas situaes, apesar de
banais e recorrentes, de comunicao involun-
tria e desprovida de intencionalidade no so
jamais consideradas como aquilo que so: as
informaes que elas trouxeram ao etngrafo
aparecem no texto, mas sem nenhuma refern-
cia intensidade afetiva que as acompanhava
na realidade; e essas informaes so coloca-
das exatamente no mesmo plano que as outras,
aquelas que so produzidas pela comunicao
voluntria e intencional. Poder-se-ia dizer, in-
clusive, que virar um etngrafo prossional
tornar-se capaz de maquiar automaticamente
todo episdio de sua experincia de campo em
uma comunicao voluntria e intencional vi-
sando ao aprendizado de um sistema de repre-
sentaes nativas.
Eu, ao contrrio, escolhi conceder estatuto
epistemolgico a essas situaes de comunica-
o involuntria e no intencional: voltando
sucessivamente a elas que constituo minha et-
nograa.
2. Segundo trao distintivo dessa etnogra-
a: ela supe que o pesquisador tolere viver em
um tipo de schize. Conforme o momento, ele
faz justia quilo que nele afetado, malevel,
modicado pela experincia de campo, ou en-
to quilo que nele quer registrar essa experin-
cia, quer compreend-la e fazer dela um objeto
de cincia.
3. As operaes de conhecimento acham-se
estendidas no tempo e separadas umas das ou-
tras: no momento em que somos mais afetados,
no podemos narrar a experincia; no momento
em que a narramos no podemos compreend-
la. O tempo da anlise vir mais tarde.
4. Os materiais recolhidos so de uma den-
sidade particular, e sua anlise conduz inevita-
velmente a fazer com que as certezas cientcas
mais bem estabelecidas sejam quebradas.
sii aiiraoo, oi ;iaxxi iaviir-saaoa | 1o1
cadernos de campo n. 13 2005
Consideremos, por exemplo, os rituais de
desenfeitiamento. Se no tivesse sido assim
afetada, se no tivesse assistido a tantos epi-
sdios informais de feitiaria, teria dado aos
rituais uma importncia central: primeiro,
porque sendo etngrafa, sou levada a privile-
giar a anlise do simbolismo; segundo, porque
os relatos tpicos de feitiaria lhes do um lugar
essencial. Mas, por ter cado tanto tempo en-
tre os enfeitiados e entre os desenfeitiadores,
em sesses e fora de sesses, por ter escutado,
alm dos discursos de convenincia, uma gran-
de variedade de discursos espontneos, por ter
experimentado tantos afetos associados a tais
momentos particulares do desenfeitiamento,
por ter visto fazerem tantas coisas que no eram
do ritual, todas essas experincias zeram-me
compreender isso: o ritual um elemento (o
mais espetacular, mas no o nico) graas ao
qual o desenfeitiador demonstra a existncia
de foras anormais, as implicaes mortais da
crise que seus clientes sofrem e a possibilidade
de vitria. Mas essa vitria (no podemos sobre
esse assunto falar de eccia simblica) supe
que se coloque em prtica um dispositivo tera-
putico muito complexo antes e muito tempo
depois da efetuao do ritual. Esse dispositivo
pode, claro, ser descrito e compreendido, mas
somente por quem se permitir dele se aproxi-
mar, quer dizer, por quem tiver corrido o risco
de participar ou de ser afetado por ele: em
caso algum ele pode ser observado.
Para nalizar, uma palavra sobre a ontologia
implcita de nossa disciplina. Em Meurtre dans
lUniversit Anglaise (Lne, n 21, abril-junho,
1985), Paul Jorion mostra que a antropologia
anglo-sax pressupe, entre outras coisas, uma
transparncia essencial do sujeito humano a
si mesmo. Ora, minha experincia de campo
porque ela deu lugar comunicao no
verbal, no intencional e involuntria, ao sur-
gimento e ao livre jogo de afetos desprovidos
de representao levou-me a explorar mil as-
pectos de uma opacidade essencial do sujeito
frente a si mesmo. Essa noo , alis, velha
como a tragdia, e a ela sustenta tambm, des-
de h um sculo, toda a literatura teraputica.
Pouco importa o nome dado a essa opacidade
(inconsciente etc.): o principal, em particular
para uma antropologia das terapias, poder da-
qui para frente postul-la e coloc-la no centro
de nossas anlises.
Você também pode gostar
- Ser Afetado Cadernos de Campo n13 155-161 2005Documento7 páginasSer Afetado Cadernos de Campo n13 155-161 2005Suellem HenriquesAinda não há avaliações
- Favret Saada - Ser AfetadoDocumento8 páginasFavret Saada - Ser AfetadoAna Carolina de Sousa VieiraAinda não há avaliações
- A modalidade de ser afetado na antropologiaDocumento3 páginasA modalidade de ser afetado na antropologiaLeskah01Ainda não há avaliações
- Ser afetadoDocumento2 páginasSer afetadoSuzana CorrêaAinda não há avaliações
- Balzac para sociólogos: utopia e disposições sociais no século xixNo EverandBalzac para sociólogos: utopia e disposições sociais no século xixAinda não há avaliações
- Vampiros na França Moderna: A Polêmica sobre os Mortos-Vivos (1659-1751)No EverandVampiros na França Moderna: A Polêmica sobre os Mortos-Vivos (1659-1751)Ainda não há avaliações
- Entre Favret SaadaDocumento10 páginasEntre Favret SaadaGraziele DaineseAinda não há avaliações
- Peter Geschiere - Feitiçaria e Modernidade Nos CamarõesDocumento30 páginasPeter Geschiere - Feitiçaria e Modernidade Nos CamarõesDiego MarquesAinda não há avaliações
- A natureza do entendimento antropológicoDocumento12 páginasA natureza do entendimento antropológicoJonas AraujoAinda não há avaliações
- A natureza do entendimento antropológicoDocumento12 páginasA natureza do entendimento antropológicoLuana TabordaAinda não há avaliações
- A etnografia como descrição densa da culturaDocumento7 páginasA etnografia como descrição densa da culturaSaulo BacellarAinda não há avaliações
- URIARTE O Que É Fazer Etnografia para Os AntropólogosDocumento12 páginasURIARTE O Que É Fazer Etnografia para Os AntropólogosGian LuccaAinda não há avaliações
- A etnografia: o método da Antropologia do século XXDocumento2 páginasA etnografia: o método da Antropologia do século XXMa BelleAinda não há avaliações
- Teoria da Literatura: Reflexões e novas proposiçõesNo EverandTeoria da Literatura: Reflexões e novas proposiçõesAinda não há avaliações
- Razão e poder na antropologiaDocumento20 páginasRazão e poder na antropologiaAlice MelloAinda não há avaliações
- Anthropological BluesDocumento9 páginasAnthropological BluesMatteo CiacchiAinda não há avaliações
- Escravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultNo EverandEscravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultAinda não há avaliações
- GEERTZ, C. Do Ponto de Vista Dos NativosDocumento12 páginasGEERTZ, C. Do Ponto de Vista Dos NativosSheila CamposAinda não há avaliações
- Do Ponto de Vista Dos NativosDocumento12 páginasDo Ponto de Vista Dos NativosLeandro Ferri FabroAinda não há avaliações
- As terras inventadas: Discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e Richard Francis ButonNo EverandAs terras inventadas: Discurso e natureza em Jean de Léry, André João Antonil e Richard Francis ButonAinda não há avaliações
- Do ponto de vista dos nativos: a natureza do entendimento antropológicoDocumento12 páginasDo ponto de vista dos nativos: a natureza do entendimento antropológicoRafael BrunoAinda não há avaliações
- A afetividade na etnografia e a experiência de ser afetado no campoDocumento5 páginasA afetividade na etnografia e a experiência de ser afetado no campoHannaAinda não há avaliações
- A Versão Dos Vencidos - Revista de HistóriaDocumento6 páginasA Versão Dos Vencidos - Revista de Históriamarta limaAinda não há avaliações
- Trauma, Memória e Figurabilidade na Literatura de TestemunhoNo EverandTrauma, Memória e Figurabilidade na Literatura de TestemunhoAinda não há avaliações
- O uso da imagem na Antropologia: desafios e possibilidadesDocumento8 páginasO uso da imagem na Antropologia: desafios e possibilidadesClaudia GordilloAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade Psíquica, Miscigenação e Poder: o Caso BolivianoNo EverandVulnerabilidade Psíquica, Miscigenação e Poder: o Caso BolivianoAinda não há avaliações
- O Campo e A Escrita: Relações IncertasDocumento15 páginasO Campo e A Escrita: Relações IncertasErica GiesbrechtAinda não há avaliações
- O Ofício de Etnólogo, Ou Como Ter Antropological Blues - Roberto DaMattaDocumento9 páginasO Ofício de Etnólogo, Ou Como Ter Antropological Blues - Roberto DaMattaSilvilleeAinda não há avaliações
- O feminino pelos olhos de demonólogos espanhóis dos séculos XVI E XVIINo EverandO feminino pelos olhos de demonólogos espanhóis dos séculos XVI E XVIIAinda não há avaliações
- O Seculo XVIII A Invençao Do Conceito de HomemDocumento5 páginasO Seculo XVIII A Invençao Do Conceito de HomemClaudia Sodre0% (1)
- Foucault e a teoria queer: seguido de Ágape e êxtase: orientações pós-secularesNo EverandFoucault e a teoria queer: seguido de Ágape e êxtase: orientações pós-secularesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- EtnografiaDocumento16 páginasEtnografiaDouglas EmanoelAinda não há avaliações
- Ensaios de Etnologia BrasileiraDocumento21 páginasEnsaios de Etnologia BrasileiraTaís Marinho100% (1)
- Comunicações Mediúnicas Entre Vivos (Ernesto Bozzano)Documento118 páginasComunicações Mediúnicas Entre Vivos (Ernesto Bozzano)foca420Ainda não há avaliações
- Caderno 66 Tania StolzeDocumento8 páginasCaderno 66 Tania StolzeDiego RosaAinda não há avaliações
- Eu e o OutroDocumento5 páginasEu e o OutroPedro SampaioAinda não há avaliações
- História do conceito de fetichismo e sua influência na psicologiaDocumento9 páginasHistória do conceito de fetichismo e sua influência na psicologiaDomingas RosaAinda não há avaliações
- Autoridade etnográfica e representação culturalDocumento10 páginasAutoridade etnográfica e representação culturalDenise Sales RafaelAinda não há avaliações
- O Resgate de Saturno: A Energia Masculina que Habita nossas ProfundezasNo EverandO Resgate de Saturno: A Energia Masculina que Habita nossas ProfundezasAinda não há avaliações
- O Ofício do Etnólogo e os Desafios da Pesquisa de CampoDocumento5 páginasO Ofício do Etnólogo e os Desafios da Pesquisa de CampoILMAAinda não há avaliações
- Estética da Estupidez: A arte da guerra contra o senso comumNo EverandEstética da Estupidez: A arte da guerra contra o senso comumAinda não há avaliações
- GINZBURG Carlo - Os Andarilhos Do Bem (Pocket)Documento284 páginasGINZBURG Carlo - Os Andarilhos Do Bem (Pocket)Iago De Paula Barbosa100% (1)
- Comunicações mediúnicas entre vivosDocumento118 páginasComunicações mediúnicas entre vivosrobsondcarlosAinda não há avaliações
- O que é etnografiaDocumento23 páginasO que é etnografiaAntonio Jefferson JeffersonAinda não há avaliações
- Ser afetado na pesquisa antropológicaDocumento3 páginasSer afetado na pesquisa antropológicaRenan Alves100% (1)
- Teoria queer na Amazônia: deslocando conceitos para pensar saberes-outrosDocumento14 páginasTeoria queer na Amazônia: deslocando conceitos para pensar saberes-outrosLarissa PelucioAinda não há avaliações
- Pelucio o Cu de PreciadoDocumento14 páginasPelucio o Cu de PreciadoDavi AbuhAinda não há avaliações
- Elementos de teoria geral do processo: poder judiciário, jurisdição, ação e processoNo EverandElementos de teoria geral do processo: poder judiciário, jurisdição, ação e processoAinda não há avaliações
- A crença dos outrosDocumento97 páginasA crença dos outrosRafaela MartinsAinda não há avaliações
- Biopolitica Na Clinica - Eduardo PassosDocumento11 páginasBiopolitica Na Clinica - Eduardo PassosTátia RangelAinda não há avaliações
- Anti ÉdipoDocumento23 páginasAnti ÉdipoJoseh Marcos De França da SilvaAinda não há avaliações
- Pensamento criativo em DeleuzeDocumento14 páginasPensamento criativo em DeleuzeLucas VeigaAinda não há avaliações
- ROLNIK, Suely. Esquizoanálise e AntropofagiaDocumento10 páginasROLNIK, Suely. Esquizoanálise e AntropofagiaIsabella BittarAinda não há avaliações
- Suely Rolnik - Corpo VibrátilDocumento11 páginasSuely Rolnik - Corpo VibrátilStéphane DisAinda não há avaliações
- Marina AbramovicDocumento9 páginasMarina AbramovicPamela ZechlinskiAinda não há avaliações
- MARX, Karl - O Capital (Volume 1a)Documento473 páginasMARX, Karl - O Capital (Volume 1a)Angela GainesAinda não há avaliações
- BORGES, Fabiane BENSUSAN, Hilan. Breviário de Pornografia EsquisotransDocumento156 páginasBORGES, Fabiane BENSUSAN, Hilan. Breviário de Pornografia EsquisotransDaniel CisneirosAinda não há avaliações
- O Corpo Na Neurose ObsessivaDocumento11 páginasO Corpo Na Neurose ObsessivaLucas VeigaAinda não há avaliações
- Suely Rolnik - Corpo VibrátilDocumento11 páginasSuely Rolnik - Corpo VibrátilStéphane DisAinda não há avaliações
- Simulado Psicologia Da Percepção EstacioDocumento3 páginasSimulado Psicologia Da Percepção Estaciobigkiko100% (1)
- Entendendo A ComunicaçãoDocumento32 páginasEntendendo A ComunicaçãoFabíola de SouzaAinda não há avaliações
- A Força Da Intenção-Wayne Dyer (Livro Completo)Documento223 páginasA Força Da Intenção-Wayne Dyer (Livro Completo)Fleury Ceraso85% (13)
- Epifanias da AmazôniaDocumento228 páginasEpifanias da AmazôniaGeorge Aaron100% (2)
- Psicologia Aplicada À Educação FísicaDocumento183 páginasPsicologia Aplicada À Educação FísicaThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Lugares e não-lugares: espaços da complexidadeDocumento10 páginasLugares e não-lugares: espaços da complexidadeCari CopAinda não há avaliações
- Arquitetura sagrada moderna: métrica, proporção e iluminação naturalDocumento230 páginasArquitetura sagrada moderna: métrica, proporção e iluminação naturalMaria Alessandra Camargo Do NascimentoAinda não há avaliações
- Case Hotel - 5 Gaps PDFDocumento10 páginasCase Hotel - 5 Gaps PDFoiaprendiAinda não há avaliações
- A relação entre teoria e pesquisa socialDocumento19 páginasA relação entre teoria e pesquisa socialJoão victor Gobbi Cassol100% (1)
- Apostila Pesquisa de MercadoDocumento96 páginasApostila Pesquisa de Mercadohabny100% (1)
- Teoria Da Literatura CEDERJ, Diana Klinger, Olga K e Jobim PDFDocumento192 páginasTeoria Da Literatura CEDERJ, Diana Klinger, Olga K e Jobim PDFAnonymous 0Y3E2O5mAAinda não há avaliações
- Manual de Protocolo - Completo para MentoresDocumento27 páginasManual de Protocolo - Completo para MentoresMarcos Araujo Junior100% (1)
- GRANDINETTI, Letícia Crespo. O Lugar É Aqui e o Tempo É Agora, Uma Investigação Do Desenho Como Registro Do CotidianoDocumento124 páginasGRANDINETTI, Letícia Crespo. O Lugar É Aqui e o Tempo É Agora, Uma Investigação Do Desenho Como Registro Do CotidianoGustavo NunesAinda não há avaliações
- CAT A (Slides)Documento11 páginasCAT A (Slides)Bruna RopelattoAinda não há avaliações
- Dissertacao 083 Bani SzeremetaDocumento100 páginasDissertacao 083 Bani SzeremetaÍtalo Batizoco0% (1)
- Corpo, Fenômeno e PerformanceDocumento135 páginasCorpo, Fenômeno e PerformanceAna Paula DessupoioAinda não há avaliações
- Programa completo de musculação e cardioDocumento6 páginasPrograma completo de musculação e cardioricardo araujo100% (1)
- Teste Desenvolvimento Da Percepção Visual (Marianne Frostig)Documento42 páginasTeste Desenvolvimento Da Percepção Visual (Marianne Frostig)Carla Marcela Faedda89% (9)
- Transitividade e PassivaDocumento24 páginasTransitividade e PassivaVictor Castilho BorgesAinda não há avaliações
- E Book As Dores Da Crianca Interior e o EneagramaDocumento44 páginasE Book As Dores Da Crianca Interior e o EneagramaNatalina PedroloAinda não há avaliações
- Tecnicas de Leitura 01Documento20 páginasTecnicas de Leitura 01trick2Ainda não há avaliações
- Método VECA para avaliação do comportamento administrativoDocumento11 páginasMétodo VECA para avaliação do comportamento administrativoAdvance Consultoria AmbientalAinda não há avaliações
- Construindo personagens para a telaDocumento13 páginasConstruindo personagens para a telaTereza Pereira100% (1)
- Educação em saúde na educação básica: estratégias emancipadorasDocumento9 páginasEducação em saúde na educação básica: estratégias emancipadorasLeonardo RodriguezAinda não há avaliações
- Inteligência SocioemocionalDocumento50 páginasInteligência SocioemocionalSolange MirandaAinda não há avaliações
- TCC Rodrigo 14 12 12Documento56 páginasTCC Rodrigo 14 12 12Mariane LopesAinda não há avaliações
- O desenho de Dürer e a produção de sentido sobre um rinoceronte nunca vistoDocumento10 páginasO desenho de Dürer e a produção de sentido sobre um rinoceronte nunca vistoLeonardo da SilvaAinda não há avaliações
- Top+100+Psicomotricidade + (BR) + (04.07) + (Vídeos)Documento78 páginasTop+100+Psicomotricidade + (BR) + (04.07) + (Vídeos)Janaina Dos Reis AlvesAinda não há avaliações
- Texto 6 - Sociologia e TecnologiaDocumento40 páginasTexto 6 - Sociologia e TecnologiaJoão Pedro BezerraAinda não há avaliações
- NBR 16537 - Piso Tátil.Documento52 páginasNBR 16537 - Piso Tátil.Mariana Meirelles100% (1)