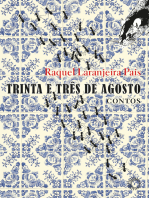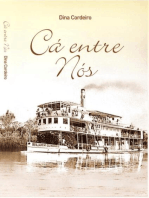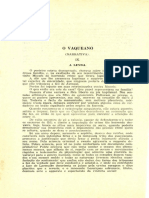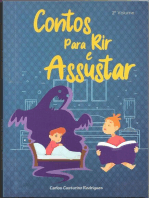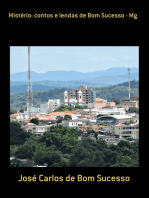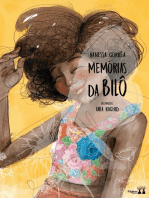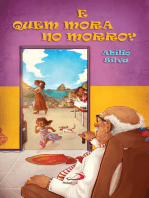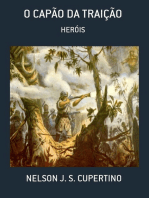Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Corpo
Enviado por
Mario Takeguma0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
190 visualizações0 páginaDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
190 visualizações0 páginaCorpo
Enviado por
Mario TakegumaDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 0
1
1. Penetraes: entre o sonho e a sobrevivncia!
Y, galo cantou!
A mame! A papai!
Inda por cima eles me vem coesses tal de Ado e Eva?!
i s: Ado panguo peidou na tanga
e quem segurou o B.O. foi Eva...
E eu?Eu sou fia das lama
minhAncestral no uma costela
Se sua honra de seu Pai apanh quieto e: Perdo!
dar doendo a outra face, inocente?...
Meu Papai justo nos embate
flecha, ob, rocha resistente!
Se a virgem santa imaculada
seu mote, paga e meta....
Minha Mame ferro e fogo
rios de gozo, guerra e festa!
Porque eu sou fia das gua,
minh Ancestal no uma costela
Porque eu sou fia das mata
minh Ancestal no uma costela
Porque eu sou fia da terra
minh Ancestal no uma costela
A bena Mame... A bena Papai....
(Elis Regina Feitosa do Vale)
Agachamos sob o Gunga, pedimos fora e licena ao povo ancestral da
Capoeira, s linhagens presentes e aos que viro. E ento, daremos incio a este jogo,
justamente, com as mos, ps e cabea no cho. O primeiro movimento deste texto
so algumas imagens de re-ligaes com a memria ancestral e com lembranas do
trajeto at aqui. O segundo movimento de um jogo maliciado com a academia, um
jogo de sobe-desce e aqui-al, entre as delcias e venenos dos caminhos dessa
pesquisa. No terceiro movimento deste texto, num chamado Me-Capoeira,
voltaremos novamente ao cho, Me-Terra, para lhe tomar a bena. J no quarto
movimento, desfrutamos de imagens da presena da Me-Capoeira em momentos de
lamento, de guerra e de festa. E, por fim, para o Adeus, adeus! Boa viagem! ficam
algumas impresses derradeiras.
Isto dito, a roda se armou num movimento introdutrio que, como o prprio
termo sugere, traz imagens do trajeto penetrante. Cenas nos caminhos banzeiros,
2
guerreiros e festeiros, que en-sinam viver uma filosofia-de-vida-matrial-capoeira com
todo corpo/alma/famla afro-amerndia em fraternidade. Nesse sentido ao mesmo
tempo ntimo e coletivo, a exemplo de meu papai contador de histrias, e re-movida
pelo amor, pela memria e pela criao, prefiro contar algumas cenas, pois uma
imagem diz milhes de palavras, e em silncio:
1.1. Uma narrativa ancestral de re-nascimentos.
Noite de segunda-feira, acaba a luz eltrica e comea a viela em xtase infantil,
com permisso pra vociferar e ganhar a noite da rua. A queda das lmpadas-holofote
e a armao das velas no cho do a permisso para a intimidade da roda. Papai
inicia sua arte de contar assegurado pela presena da mame, filhos de uma mesma
aldeia.
L no Morro dos Macaco, no serto do Piau era um lugar em que vivia uma
gente que no tinha fazenda e nem era escrava de fazendeiro. O lugar chamava assim
por que os fazendeiros falavam: - Me mandou pro inferno e foi se embora daqui, deve
de t l no morro dos macaco. Porque l era s preto e ndio.
L morava Yay uma ndia muito brava e rezadeira, curava gente, bicho e
planta, e botava ordem no terreiro. L tambm vivia um preto muito arisco, conhecido
como Z Gato. Chamavam ele de Gato porque era muito silencioso, misterioso, e no
tinha diabo que derrubasse esse homem de bunda e costa no cho. Mesmo dormindo.
As crianas da aldeia esperavam ele dormir na rede, quando ele embalava no sono,
passavam o faco na corda: e homi caa de pezinho! Com a guarda todinha fechada!
Ele morreu na tairagem de morte matada, na frente de casa e da Yay. Os brancos
chegaram na emboscada, um atirou no peito dele. Como o costume era de atirar e
depois sangrar o morto, Yay se armou com a espingarda. E, com o marido cado por
debaixo de suas pernas, apontou a arma pra eles e disse: - J atirou na covardia,
agora vo se embora, porque aqui num tem bicho nenhum pra tom tiro na
emboscada e ser sangrado!. Os home se arredaram dali. Ela ficou viva, fortona,
criando suas crias, vivendo sua vida.
Da, do amor entre esta ndia e este preto nasceu o Vio Cassimiro Gato, veio
com a arte da sensibilidade feiticeira da me com a felinagem malandreada do pai. Era
sempre chamado pela aldeia para mediar tretas de famlia, e, principalmente, as tretas
com os brancos fazendeiros. Dizem que ele tinha o corpo fechado, e num tinha arma
de branco que derrubasse o homem. Ele era ligeiro no faco e no cavalo, fazia arma
de branco fai, fazia bicho morrendo levantar sadio, curava gente, bicho e planta,
3
desviava tempestades... tudo com a palma das mos, com fumaa de tabaco e com
palavras na lngua dos vio. Passou para o lado de l com morte morrida, bem vinho.
O Vio Cassimiro Gato casou com uma filha de fazendeiro branca, isso deu a
maior confuso, o pai at des-herdou a filha. Mas o Vio ensinou pro sogro a diferena
afrontosa entre ser fraco e ser oprimido, e, entre propriedade privada e herana
ancestral. Ento, com dignidade viva, continuou casado, e muito bem na sua roa farta
e cheia. Da nasceram Badeco Gato e Maria Gata. Irmos inseparveis, famosos na
rea pelas presepadas, bagunas, desobedincias, fugas de casa, brigas de mo,
pelas pernadas. Pegavam s escondidas os cavalos do pai e todo dia sumiam na
paisagem. Maria Gata se casou com Manoel do Zuca, um vizinho sarar cabra bravo,
tiveram seis crianas. J Badeco Gato se casa com Morena, uma baixinha, cabocla
brava, tiveram trs crianas.
S que um dia Manoel do Zuca resolve, sozinho, pegar um pau de arara e se
joga pra cidade So Paulo em busca das modernidades. Maria Gata, arretada, ficou
na aldeia. At que um dia, na surdina, se apoderou das crianas e das trouxas de
pano e, junto com seu irmo Badeco Gato, ganham as estradas para o sul. Dessa vez,
sumiram na paisagem e os cavalos voltaram sozinhos.
Dias depois, Morena, com as crianas, segue ao encontro dos irmos fujes.
Assim, os casais e as crianas se amontoaram num mesmo cmodo numa favela
paulistana. Maria Gata era conhecida na quebrada pela sua boa comida, pelas artes
da reza e da vidncia, bem como pelas brigas de rua, diz que batia at em brutamonte
furioso. Badeco Gato era conhecido pelas festas, pela dana, pelas sedues, assim
como pelas brigas, diz que s batia com as pernas e com a cabea e que, mesmo
bbado ningum nunca viu ele cair no cho. Ele tinha o corpo fechado, levou no sei
quantos tiros e facadas e ficou de p, vivinho. Andava sempre na elegncia, todo de
branco, com chapu e sapato de bico fino.
De vov Maria Gata nasceu Afonsinho, meu papai. E de vov Badeco Gato
nasceu Cidinha, minha mame. Chegaram nesta selva de pedras e j caram nas
garras da escola e do patro. Tiveram trs filhos, a caula veio de surpresa, cheguei
aqui assim: improvisada. E nesta parceria umbilical, contam pra gente essas e muitas
histrias de correrias, ataques e esquivas frente aos ataques branco-sulistas.
Mantiveram a herana dos en-sinamentos da divergncia entre ser fraco e ser
oprimido, de no humilhar ningum nem deixar se humilhar, porque a cobra pisada
morde, derruba bicho grande. Mame com a ginga elegante das guas, que refresca e
embeleza, mas, se for o caso, inunda tudo, afoga bicho grande sem estardalhao. J
Papai, vem com a navalha na lngua, abrindo trilhas de festa, parteiro de gargalhada,
4
mas, se preciso for, linguageiro da justia, na gurra, parteiro de sacodes pblicos, e
assim, fazendo festa, esquarteja bicho grande.
1.2. Uma narrativa minina de re-colhimentos
Acordei na madrugada fria e seca, o cheiro de mofo e a bronquite acesa me
empurrou s sensaes do tempo de morada e de infncia na viela. De assistir
mame que, de um dia pro outro, toda a manh descia a ladeira com a Nandinha nos
braos, a colocava dentro do carro grande cortado de uma faixa amarela com
desenhos pretos, que s depois fui saber: eram sinais grficos dizendo: escolar. E eu
ficava de esgueio na grade da janela cheinha de marra na vontade de ir tambm e de
ccegas na curiosidade em saber onde e como era o lugar aquele carro parava e
deixava minha irm, antiga companheira de todas as horas, por toda a manh e por
todas as semanas.
Olhando o teto rajando em manchas desenhos mveis, no olho de dentro vi
aquela lousinha que foi presente da Tia Vanda, tia presenteadera que casou com
homem alvo e rico, nga que carrega entre dores e rancores, a gargalhada, a palavra
e a postura guerreira. Sempre ao final de suas histrias de resistncia, dizia: - Porque
primeiro eu peo licena, se no quiser sair da frente, a eu passo por cima! Na minha
cabea ningum pisa!. No cenrio vi tambm a cor da madeira de caixote na mesinha
e cadeirinha que, no quintal, nasceram das serradas, marteladas e da mo de papai,
cabra ligeiro, de atitude criadora e fora agilizadora. A mesinha era o pano de fundo
para o papel-de-po rabiscado e borrado. E o pano de fundo da mesinha era o cinza
do cho rachado da minscula varanda, que pra ns tinha o nome de arinha.
Na cabea o travesseiro, e no quadro da memria a imagem a de Nandinha,
minha irm dois anos mais velha, frente lousinha, dos cachos descabelados e da
representao autoritria e dona da verdade (certeza que imitava os procedimentos
professorais), que, por entre os rudos da viela, fazia ecoar aquela voz aguda e
compassada dando sons, palavras e sentidos aos desenhos cor de rosa do fundo
verde do quadro negro.
O corpo no colcho velho, e na alma revivo aquele sopro deleitoso que parecia
inflar todo o meu dentro e emudecer todo o meu fora, no devaneio do desvelamento
de todo o esquema de combinao entre os sinais, os sons, as falas e as coisas. Foi
no desenho daquela palavra PIPOCA que, desde o meu quarto ano de presena
neste mundo, no esqueo mais.
Poucos meses depois, quem descia a ladeira no colo da mame era eu, sono
sustado, entrava naquela Kombi abarrotada de crianas, todas vestidas idnticas,
5
algumas com lancheiras coloridas sobre o colo, e algumas caras conhecidas que,
como eu, levava estampados no colo s o brochurinha, o lpis e a borracha verde. A
Kombi estacionada naquele lugar de muro at onde a vista no alcanava, dentro,
corredores imensos de piso vermelho e o ecoar de vozes infantis at onde a agudez
do ouvido sentia. Estranheza solitria era a minha mudez, a minha zanga, a minha
sanha da observao distncia.
Sala de aula, professora branca de longos lisos cabelos, por entre os finos lbios
voz descompassadamente alta e um constante sorriso meio forado. Assim como no
se encostou a mim no me olhou nos olhos. Estranheza solitria. S passou a me
botar reparo, aps a primeira atividade, um desenho-livre no qual fiz balezinhos de
dilogos entre as personagens da minha criao. Perguntou-me: Qual o seu nome?
e eu: Elis Regina, ela: Ah, voc a do nome da cantora?! O que seus pais fazem?
e eu: Trabalham no supermercado, mame no caixa e papai na verdura. e ela: U!?!
E como voc j est alfabetizada? Eu sorri e me calei na traquinagem de fazer
mistrio. Ela tambm calou e se afastou com os olhos de cria e espanto.
Outra cena que desfila no meu palco da memria foi a de uma manh de chuva
(desconforto do p assando na meia molhada) era agosto, ms do soldado, lembro
das unhas cor-de-rosa da professora no papel desenhado de mimegrafo que ela,
sem me olhar, colocou na minha mesa. A nossa funo era colorir o desenho de um
soldado. O nico soldado que eu tinha visto era um jovem negro e grande que
atravessava a viela todo dia e cumprimentava sorridente as crianas.
No deu outra! Pintei a roupa de cor verde escura e a pele de cor preta. Da, a
professora, agora com o meu soldado colorido pendurado nos dedos com unhas
rosadas, resmungou que at que estava bom. Mas, apontando o trabalho de outra
criana, disse que ficaria melhor se eu o tivesse pintado de cor-de-pele, n? Fiquei
encucada e respondi pra ela: - pr, eu no sabia que tinha que pintar com o lpis cor-
de-pele e eu quis pintar com o marrom escuro. Ela me retrucou irritada: tudo bem,
eu j dei o visto! Agora pinte essa rvore, agora sim voc usa o marrom escuro pra
pintar o tronco. A eu falei: - Mas eu quero pintar o tronco com lpis cor-da-pele. E ela:
- Na hora de usar um voc quer usar o outro!? Pode pintar pessoal, mesmo porque
tm troncos de rvores que so mais claros, outros mais escuros. E ento amos
batizando os lpis, flor da pele, dos troncos e razes.
J na 1 srie, fiz logo uma amiguinha, filha da Dna Ita, empregada domstica
que morava humilhada no poro da manso da patroa, a negra menina Ana Paula.
Revivo a sensao de gelo e fogo, presos por dentro do espanto, quando pra ela
soltou um grito forte, alto e voraz, a sempre triste e sria professora: Todo comeo de
frase com letra maisculaaaaa!!!!.
6
Na escola em que estudvamos eram mantidos os alunos da classe pelas sries
seguintes, desse modo, Ana Paula e eu fomos companheiras de classe at a oitava
srie. E, at a oitava srie, vivenciei a grande dificuldade que ela enfrentava para lidar
com a palavra escrita. Passvamos tardes e tardes lendo os textos do livro didtico,
separando palavras em slabas e corrigindo suas escritas, at o momento em que a
sinh patroa percebia a minha presena e gritava ensandecida: Vai neguinha, pica a
mula!. E eu saia liberta da casa grande, no caminho de volta para o meu hospitaleiro
cortio. Caminhava espraguejando silenciosamente a madame rabugenta e
agradecendo viver isenta de sinh no meu querido mocambo.
Dia seguinte de manh, sala e recreio, voltvamos Ana e eu, s brancas
chacotas sobre o nosso cabelo carapinha fu, s camisetas sujas esgaradas dos
enfrentamentos diretos, s brabezas punitivas da diretoria e ao contratempo silencioso
com a palavra escrita. Durante um tempo, dentro da minha sensao, a palavra
escrita estava abotoada no silncio. Estranheza solitria.
De tarde voltava pra viela. A era fuzu na intimidade, s a crianada sem adulto,
tudo em famlia, irmandade da rua. At que mame descobre o projeto social das
freiras. Desde ento, saa o bonde das crianas l da rua, da escola diretamente pra
capela. Na capela, pela primeira vez, pude sentir a palavra escrita desatar do silncio,
agora estava apregoada ao canto pra Jesus e Maria, com linguajar truncado versando
complicado sempre em segunda pessoa. No deu outra! A a crianada,
mancomunada no malandrear vigilncia, disparava nas criaes de pardias
hereges regadas s crises-de-riso incontrolveis e contagiosas. Castigo: rezar o tero
todinho de joelhos sob o olhar sanguinrio da Madre Superior.
Depois de muitas traquinagens, rebelies infantis, motins e fugas coletivas, fui
convidada a me retirar do projeto e, na presena de mame. Estranhamente, desta
vez no levei nem mesmo uma bronca. Ento, mais uma vez liberta nas tardes da
irmandade-de-rua. Sobrou pros irmos mais velhos. Cristiano, artista de corpo alma e
corao, me ensinava a arriar a espada, fechar os olhos e sentir a beleza das coisas.
Fernanda, pelo contrrio, me ensinava a manter os olhos sempre abertos e o escudo
armado pras maldades da rua. Ento, muitas vezes passvamos a tarde na casa de
Umbanda da Tia Vilma, uma vizinha. Assim, passei dos castigos, bordados, culinrias
e tero, liberdade da rua, aos doces e brincadeiras com os Ers e com a famlia-de-
rua.
7
1.3 Uma narrativa quase adulta de grande e pequena sou eu
Aos vinte um anos, cheguei na Universidade de So Paulo, antes da matrcula
diretamente ao CRUSP, moradia estudantil pra dormir no quentinho. No campus, a
primeira imagem de desconforto e mpetos terroristas no esprito diante da cena: a
playboyzada branca comemorando o privilgio e, no mesmo salo, a negrada e
nordestinada, muito seriamente, provendo a segurana, o alimento e a limpeza. Voltei
em disparada pra moradia, foi quando recebi um convite pra um samba no Bloco F. A
sim! Senti de novo a minha aldeia. Logo a negrada me acolheu e me ofertou, em toda
esta caminhada universitria, alimentos e caminhos pras esquivas evaso, pra
dignidade viva em ambiente adverso.
Caminhos e alimentos reforados pelos re-encontros familiares de sangue e
ax. Em especial com povo do Il Ax Omo Od e da comunidade-de-terreiro Yl Ax
de Yans. Em aventuras bandoleiras na metrpole e no interior. Percuti o alimento
ancestral manifesto. A fora matrial da religao. A nutrir, proteger e movimentar
nossas presenas. Nossas presenas circulantes, assumindo sua natureza, vo
movimentando no quintal, no barraco, na rua, nos trabalhos, nas escolas... E, esses
caminhos a convivncia com as mulheres da minha famlia, com as ngas-via e
jovens feministas negras, nos auxilia sempre a no perder o eixo forte da nossa
dignidade constantemente atacada nos trancos desta circulao.
Nas escolas... Na escola universitria a ginga alimentando a presena. Durante
as aulas muito me intrigava os mitos de origem, descobri que para a universidade o
mito de origem do mundo est na Grcia. Este mximo de profundidade ancestral
que esta escola consegue conceber. Dialogando com os ancestrais da academia
greco-romanos fui caa de outras vozes pra esta conversa escolar. Logo encontrei o
Ncleo de Conscincia Negra e passei a trabalhar l com alfabetizao de jovens e
adultos, ali fui intensamente alimentada.
Neste mesmo movimento, comecei a estudar Histria da Educao da
Populao Negra, com recorte geracional voltado para jovens e adultos. Fui iniciada
cientificamente pela professora Maurilane Biccas, lembro-me sempre da expresso
dela, quando com seu sotaque mineiro sempre me alertava: - Vai Elis!
Academizaaa! e soltava suas gargalhadas durante a leitura respeitosa dos meus
textos, orientando-me, com leveza, sobre a negociao com o teatro da frieza
distanciada de uma escrita acadmica.
Assim, nas esquivas e contragolpes frente escrita distanciada e ao cotidiano
racismo uspiano, fui estudando os discursos higienistas, epistemicidas e genocidas da
elite branca sobre a educao dos negros. E, este mesmo bolo, visitando o contedo
8
da pesquisa Memrias de Escravido em famlias negras de So Paulo
(encomendada pela FFLCH diante advento do centenrio da abolio). Nela topei com
depoimentos de trs diferentes geraes de famlias negras contando, nas imagens
desta vida, seus lamentos, suas guerras e suas festas.
A melancolia da memria ancestral com seus rios de sangue, mutilaes,
estupros, seqestros, encarceramento, expulses, assassinato de crianas, lgrimas
de me... A exploso dos confrontos com os ces de guarda fiis aos coronis e
sinhs, dentro e junto do estado; imagens da guerra pra afirmar a presena firme nas
terras, nas ruas e nos prdios... A cadncia das festas... Confesso que, no fossem as
imagens das festas, das nga-via e da crianada alimentando a vida artista da
comunidade... Se no fossem elas, havia eu entrado em estado terrorista! Sentia
forte a dor e a fria, sem minar a alegria.
Nestes tempos-espaos do trajeto, encontrei a Capoeira em Contramestre
Pinguim, e em seu discpulo-treinel Marcio Folha. E ela ofereceu rios de banquetes e
encruzilhadas. Fortificando a intimidade ancestral e a presena circulante. No encontro
com a elegncia na guerra a modificar paisagens no jogo das negociaes e
confrontos, como sempre mostrava o mestre.
E nesse mesmo refluxo, alimentou a chamada pro atino com a disciplina.
Disciplina no sentido de ser pleno de si mesmo, como sempre marcava o professor
Mrcio Folha. Este encontro com vivo com disciplina e o amor Me-Capoeira traz
imagens deste menino-professor durante aqueles treinos pesados de vero, quando o
suor ia descendo pelos seios e os msculos gritavam pedindo arrego. E ele,
percebendo nossa ofegncia, a exemplo do Contramestre Pinguim, entoava alto: -
Braaaaa! Capoeira no pra!!! Respira no movimento!!
As mos fartas da Me-Capoeira alimentando para a fora, a concentrao e a
elegncia. Pra continuar inteirinha, de p, mas em intimidade com o cho, na
caminhada cansativa e dolorosa pelas trilhas espinhentas deste mundo de meu Deus!
Viva meu mestre, meus professores e irms de Capoeira, que me ensinaram a
malandragem, a mumunha e a malcia da Me-Capoeira! Nossa poltica de esquiva
aos planos de extermnio, nossa poltica de permanncia estudantil. A nossa guerra
festeira o despeito deles!
Nestes trajetos de choque, entre a Roda e os auditrios, a sala de aula, a
biblioteca..., fui surpreendida, fui presenteada com a presena de um professor
universitrio que, assim como meu irmo mais velho, me seduzia irreprimivelmente a
arriar a espada e a render o escudo. Era quase um choque trmico. Uma flor no
asfalto. En-caminhando-me aos aconchegos noturnos e aos devaneios crepusculares.
Mesmo sem ele desconfiar, acolheu matrialmente a minha alma. Enlevava-me, do
9
campo de guerra na selva de concreto e ao, para paisagens ancestrais no refresco
materno das guas frescas, do rtimos in-levadores do meu prprio corao, uma
sensao de devir.
Ento, dia seguinte, voltando ao concreto e ao, tive momentos injuriados
com as dores e frias nos estudos das patifarias e violncias contra a gente. Fiquei
profundamente melanclica aps o relatrio final, me despedi dos estudos em
histria da educao e passei a me dedicar s artes e rua. Nesta caminhada
bandoleira, tambm fui abrigada pelos movimentos de literatura negra e perifrica,
traando outros temperos e aucares em minha degustao mais festeira com a
palavra escrita. Estava eu ouvindo a escrita gritando liberdade, desabotoada do
silncio distanciado e da pauta retilnea. Estava eu, no princpio da ginga, com minha
prpria palavra escrita, com a palavra escrita da minha aldeia e com a palavra escrita
da casa-grande.
Nesta movimentao linguageira, passei a trabalhar como arte-educadora em
dana-afro, capoeira, maculel, percusso e contao de histrias ligadas a estas
artes. Uma caminhada com crianas, adolescentes e profissionais da educao, uma
lida itinerante pelas cinco zonas da cidade. Ao mesmo tempo trabalhava com
formao de professores, num projeto que tematizava a diversidade de gnero, sexual
e tnico-racial. Uma lida tambm itinerante pelos interiores do estado de So Paulo.
Uma lida itinerante e intergeracional de multiplicidades em uma mesma correnteza.
Quando numa manhzinha, me chega em casa o professor Mrcio Folha
munido de uma pasta velha, amarela e lotada, dizendo que gostaria de me mostrar
uma coisa. Fiquei logo atiadssima! E fazendo mistrio at eu terminar de tomar o
meu caf. De pana cheia e curiosidade faminta, tomei em minhas mos o tesouro do
ba amarelo: pginas e pginas com rascunhos de textos, flechas e desenhos. O feto
vivo de uma histria em quadrinhos contando de um velho Mestre de Capoeira em sua
maestria-capoeira em contato ntimo com uma criana beb-capoeira. Deste ouro
nasceram minhas passadas dedicadas pario do livro: Histrias de Tio Alpio e
Kau: o beab do Berimbau. E vamos agora palavra escrita projeteira, no dilogo
com as comisses de seleo dos projetos de fomento, na caa de recursos para a
materializao do ouro. E no deu outra! Dito e feito! O ouro reluziu!
No projeto O Beab do Berimbau, a pesquisa-criao-capoeira se atiou
todinha no nosso gesto. Assumi a responsa de auxiliar nos trabalhos de pesquisa e de
compor um material de apoio para o desfrute do livro em tempos-espaos escolares.
Mais uma vez fui intensamente alimentada na caa, pelas fontes e caminhos
capoeiras. Nessa caminhada senti o incio de muitos ciclos de estudos entre a
intimidade do conhecimento ancestral, a palavra das mestras e mestres, a literatura
10
escrita e as imagens. Na composio do material de apoio, a interrogativa in-
pulsionante era: o que a cultura negra tem a dizer cultura escolar? O que as mestras
e mestres da matriz afro-brasileira tm a dizer s mestras e mestres da escolarizao?
Neste ventre dessa con-versa, sem que ainda eu tivesse me dado conta,
nasciam os movimentos desta pesquisa de mestrado. Alimentando-se do saber das
mais-velhas e mais-velhos do Ax e da Capoeira. Nas pesquisas e criaes do projeto
O Beab do Berimbau, trafegamos, Mrcio Folha, Marciano Ventura e eu, entre: o
bairro nobre uspiano nas bibliotecas, conversa com pesquisadores e encontros de
orientao com Contramestre Pinguim; as terras baianas de Santo Amaro da
Purificao, no encontro com o Berimbau e as palavras do Mestre Ad e Mestre Gato
Ges: herdeiros de Mestre Gato Preto. E a periferia negra de So Paulo, nas rodas de
conversa com Me Slvia de Oy e Ogam Ed Oju Ob, Mestre Meinha.
Neste momento trajetivo, estava eu nos finalmentes da graduao. Hora da
mulherada, negrada e nordestinaiada pesquisadora, cmplice e parceira, me cobrar o
projeto para o mestrado. E eu, beb de Capoeira, me alimentando nas filosofias da
caminhada rueiras pelos movimentos do ax, de literatura, de arte negra, respondi pra
aldeia: - Vamo arm! Porque nis nis no singular E eu no ando s!!
Dito e feito! Alimentada e encaminhada por elas, dei prosseguimento s artes
de palavrear com doutores. Se no tem, a gente faz! Com alimentos e caminhos da
parceria presente, na intimidade da amizade com quem j passou por estas trilhas,
demos incio s linhas desse projeto tecido a muitas mos. De modo especial, por
meio da acolhida disciplinada da ngela Grillo e das visitas fundamentais e fartas de
Flvia Rios, Jackeline Ap. Romio, Adriana de Cssia Moreira, Fernanda Feitosa do
Vale, Marcio Folha, Uvanderson da Silva, Mateus Gato, Allan Santos da Rosa, Daniel
Tatu Puri... No deu outra! E, como fruto da destinao dentro de uma fraternidade
acadmica, na malemolncia em jogar coletivamente contra os bisturis dos processos
seletivos, contrariamos mais uma vez mais uma estatstica. E pra completar nossa
festa, nos doces do caminho, tenho como orientador aquele professor artista das
guas frescas.
Da, diplomada, recm-mestranda migrei para o extremo leste da zona leste da
cidade So Paulo, o bairro Cidade Tiradentes. Passei a lecionar numa Escola
Municipal de Educao Infantil, na EMEI do Cu gua Azul. Estava eu, na sala de
aula, mirada pelos 70 olhinhos brilhando de alegria e devir. Agora, como pr-Elis
estava eu tomada pelas ligas de corpo, alma e esprito, comigo mesmo, com as
crianas, com as coisas. Mais uma vez, e como nunca, fui intensamente alimentada
pela vida-comunidade-escolar.
11
Agora, o vuco-vuco do transporte pblico paulistano atravessando a cidade de
leste a oeste ia embalando as tramas e cises entre a vida-comunidade-escolar e a
vida-comunidade-acadmica. Senti no peito o peso da palavra e a necessidade vital
da arte, a necessidade da imagem, do deleite e da criao. Bem como, todo santo dia,
me sentia quase esmagada, no meio de um abrao bem apertadinho entre a
supremacia crist e a policiao estatal. E ento tudo comea em Pai Nosso e acaba
em Hino Nacional, E shiiiiiiiiiiiiii! Sem direito a aplausos no final.
No entanto o silncio interrompido pelo ritmo flor da pele na vida-
comunidade-rueira que nos impele a continuarmos na partilha das delcias e das
batalhas. Alimentada pelas nossas fraternidades guerreiras em trincheiras
acadmicas e escolares e pelas nossas fraternidades festeiras em
intimidades coletivas nas nossas salas, cozinhas e nos nossos muitos quintais e
caminhos.
12
2. O mundo de Deus grande, cabe numa mo fechada:
sim, sim, sim, sim, no, no, no, no! Y, jogue pra aqui! Y, jogue pra l!
Saracuti nos minhoco das vias, vielas e veias
Crepusculria Membrura tal minina molequeira
Em carne pr-do-sol-nascente diz que todinha feita
Muito da bem nascida Crepusculria Membrura
Que fia de papai-membrana e de mame-juntura
Que tormento zica pro rabujento Doutor Alvaustero Impertubalidade
que mequetrefeiro epistemicida p-de-breque nas injria
pnguando na poesia silenciosa das misterios-idade
no cagao do encontro e da incontrolabilidade
Assombradinho cas presena patologiza, criminaliza
e prescreve: - encarcera, elimina, e se no der... anesteseia!
Parasita predador, sangue-suga
Procura a cura procura acura procura a cura procura...
e marmoteia...
E a menina demandeira Crepusculria Membrura
alopatia-antroplogo-carcerria faz sua jura:
A afronta viva num sorriso da malcia na mumunha
Serelepeira nas rasteira brutamonte sente a multa
anuvia olofote, mostra arranha-cu em cala injusta
minina do abass, cabaa viva elementar
Minina tinhosa, traquinosa, presepra duma gua!
leva segredo leva em corridas devaneios levaleva
enleva escorridas desvaneios enleva enleva...
Pois que nos tantos p dseus tantos camin
se reabre se refecha se reabre se refecha se reabre se refecha...
em estradas e cavernas e estradas e cavernas em estradas e cavernas...
em teta, taa e flecha em teta, taa e flecha em teta, taa e flecha...
Pois que nimim essa minina crepusculando ovozigoteia
Num tanto que sou s um bucadinho num bucadinho que sou um tanto
num tanto que sou s um bucadinho e um tanto...em movimenta...numprano...
Nessa nossa vida nascida em linhas de linhagem linguageira
em teta, taa e flecha, em teta, taa e flecha... que no arreia e me repleta...
...que num arreia e me repleta...que me repia e me repleta
Nisso tudo essa tal minina bandoleira Crepusculria Membrura
Me mosaica me rejunta me mosaica me rejunta me mosaica me rejunta...
Me retalha me costura me retalha me costura me retalha me costura...
Me entalha me camura me entalha me camura me entalha me camura ...
Me ajeita me baguna me ajeita me baguna me ajeita me baguna...
Me mima me destruncha me mima me destruncha me mima e me destruncha...
Me acolhe me expulsa me acolhe me expulsa me acolhe me expulsa...
Me enlaba me ausculta me enlaba me ausculta me enlaba me ausculta...
(Tetas, taas, flechas:
a minina Crepusculria Membrura e o fantasma de Alvaustero Impertubalidade)
Daremos aqui incio ao jogo, do sim, sim, sim, no, no, no, no! Entre a velha
malemolncia dos conhecimentos ancestrais e as juntas travadas na dureza da escrita
acadmica. Nestas mata fechada, adentramos numa trilha de conhecimentos joviais
alimentados por uma orientao acadmica que mostrou brechas para um exerccio
das juntas no rigor da escrita institucional. Assim, aquecemos a alongamos as juntas na
ginga de uma filosofia crepuscular entre a racionalidade diurna das cises e a
13
sensibilidade noturna da acolhida ntima e segura. Neste exerccio, desfrutamos do dia
e da noite ao mesmo tempo num mesmo cu, o sim e o no; o pequeno e o grande; o
ali o c; tudinho junto numa mesma roda.
Nesse passeio espiral, nos enamoramos com cantigas de lamento, de guerra e
de festa, bem como com as narrativas ancestrais vitalizadas pelas yalorixs Y Silvia
de Oy e Don Oyacy, pelo babalorix Tata Quejessi, pelo Mestre Gato Ges, pelo
Contramestre Pinguim e pelo capoeirista e ogan Alab Mrcio Folha. E, por falar em
sapincias e narrativas, convidamos Walter Benjamin pro dilogo, ele aceita o convite
e nos conta que a narrativa:
Walter Benjamin:
1
tem sempre em si, s vezes de forma latente, uma
dimenso utilitria. Essa utilidade pode consistir seja no ensinamento moral, seja
numa sugesto prtica, seja num provrbio ou numa norma de vida de qualquer
maneira, o narrador um homem que sabe dar conselhos. (...) O conselho tecido
na substncia viva da existncia tem um nome: sabedoria.
2
Nessa latncia e potncia das narrativas, comungamos com imagens da fora-
alma-palavra tecel que vai e vem fiando, desfiando e afinando a substncia viva da
existncia capoeira. Nesse maranho, desfrutamos da escuta com o corpo todo e
como atividade criadora e recreadora. Nessa levada, somos conduzidos a um
movimento da transpassagem para a escrita tambm como atividade criadora. Nesse
sentido, buscamos um modo de trans-escrever em um movimento de esquiva aos
modos palavricidas de uma transcrio solitria, fiel e inviolvel, de uma reproduo
mecanizada do produto final confinado num pacote destinado anlise de contedo.
Nesta ginga com a academia, encontramos os modos oferecidos pela atividade
de transcriao
3
proposta por pesquisadores em histria oral. Sendo assim, no lugar
de uma transcrio mecnica, nos aventuramos por uma transcriao arteira.
Floreamos a transpassagem da palavra com alguns pitacos: nas rememoraes da
ambincia; no contexto; nas expresses faciais e nos gestos; nas artimanhas da
entonao no movimento de grifar, de pontuar, de frasear e de paragrafar; e na
disposio temtica de modo a perceber o movimento nos fluxos e refluxos dos temas
enfatizados por cada co-laborador/a.
Feita esta transcrio inicial por nossa parte, fomos ao segundo passo dessa
caminhada conjunta e movedia: retornamos s mestras e mestres, para mais uma
atividade transcriadora. Em parceria com as/os co-laboradoras/es, partilhamos da
1
Adotamos aqui o estilo de indicar, na citao, o nome da pessoa de quem extramos o trecho como
forma de destacar o dilogo, tanto com as colaboradoras e colaboradores nos textos orais, quanto com as
tericas e tericos na bibliografia que nos auxilia nessa pesquisa.
2
BENJAMIN, 1994, p. 200
3
CALDAS,1997, 1999; MEIHY, 2005; TESTA, 2007
14
criao e recreao linguageira de uma coautoria nessa nossa pesquisa. Uma vez que
no nos dedicamos a falar sobre o contedo transcrito, mas sim a conversar com
estas vozes. Estas vozes tm vida prpria neste texto, haja vista que comungamos
com essa noo de palavra viva gerada e regenerada pelas artimanhas da narrao,
da contao. Neste campo, floreamos uma ginga entre teorias e narrativas, nos
encontros e desencontros das encruzilhadas tecidas na palavra. Nesse caminho
intempestivo enamoramos com a palavra co-laborativa, ou com a co-laborao
palavreira em famlia. Ento, nessa coisa de laborao conjunta da palavra narrativa,
nos recordamos de Walter Benjamin quando ele diz:
Benjamin: A narrativa que durante muito tempo floresceu num meio de
arteso no campo, no mar e na cidade , ela prpria, num certo sentido, uma
forma artesanal de comunicao. Ela no est interessada em transmitir o puro
em si da coisa narrada como uma informao ou um relatrio. Ela mergulha a
coisa na vida do narrador pra em seguida tir-la dele. Assim se imprime na
narrativa a marca do narrador, como a mo do oleiro na argila do vaso.
4
nesse sentido de florescncia mergulhada e irradiada na vida, que tomamos
a palavra artes entalhando, trans-formando e colorindo as impresses na nossa
jornada. Nessa entoada, que ouvimos e escrevemos com o corpo todo nos
momentos de laborao linguageira, de vitlalizao da palavra laborativa. Desse
modo, chamamos as vozes artess dessas pessoas para co-laborarem a palavra
conosco pelas trilhas da jornada de uma caminhada conjunta.
5
Assim, neste jogo in-tenso, criativo e coletivo, da transcriao buscamos nos
esquivar do palavricdio tecnicista. Ento chamamos Adriana Queiroz Testa, que nos
conta de sua jornada transcriativa ao flertar com a palavra, o sentido e a memria dos
Guarani. E ele atende ao nosso chamado dizendo:
Adriana Testa: (...) enfrentei a tarefa de no apenas comunicar os traos
desta experincia, mas incorpor-las no prprio processo de transcriao de modo
a aproximar as palavras escritas dos relatos e vivncias que ganharam existncia
primeira nos temperos da oralidade. (...) Por isso, reconheo na histria oral uma
atividade poltica repleta de escolhas.
6
Num princpio da ginga criativa entre a oralidade e a escrita como palavras
vivas, chamamos este modo de fazer transcriao. Assim, buscamos minimizar as
inevitveis baixas dos temperos quentes na partilha das narrativas orais. Nessa
esquiva a uma transcrio crua e fria nas macas geladas do palavricdio
diagnosticador, jogamos aqui com a transcriao. E, ento, chamamos pro dilogo um
4
BENJAMIN, 1994, p.205
5
No sentido do saber caminar, como proposto por Huanacuni Mamani (MAMANI, 2010)
6
TESTA, 2007, p. 37
15
dos seus proponentes: o pesquisador Alberto Caldas. E, falando sobre histria oral,
ele nos conta de uma atividade criadora de:
Alberto Caldas: (...) transcriar: fazer viver uma vivncia de uma outra
maneira, isto , fazer fluir a vivncia da interioridade, da voz, para o mundo da
escrita: buscar o esprito da vivncia, jamais um reflexo do vivido: criamos em
conjunto um texto aberto que possa dialogar as aberturas das vivncias, com a
polissemia, as multiplicidades prprias do ser (...).
7
(..) Faltando limite, no havendo uma solidez ideo-lgica nem uma
monofonia, os textos transcriados tornam-se realidades abertas que exigem o
dilogo, o posicionamento e a reinterpretao. So textos que, ao resultarem de
uma potica da experincia, exigem, para se tornarem, tanto uma potica da
leitura quanto uma potica da interpretao. Exigem um roar para haver gozo.
8
Nesta degustao de corpo inteiro, calorosa e condimentada, buscamos esta
dimenso criadora de fazer viver e fluir, a palavra. Nesta dimenso criadora de fazer-
saber, tomamos a palavra, assim como a pessoa, enquanto expresso de vida em
uma permanncia aberta, polissmica, mltipla e trajetiva. E nessa levada de flerte
com a palavra circulante entre o hlito e a escuta do calor do momento de uma caa, e
a re-escuta e escreveo na intimidade do momento de juntar os ingredientes, cozer e
degustar da caa na nossa caverna.
Assim, nos momentos, tanto individuais como emparceirados, da atividade de
transcriao, primamos por expressar elementos importantes da conversa que,
naquele momento, no foram explicitamente oralizados, embora tenham sido
explicitado pela expresso corporal, pela ambincia, ou por conversas anteriores em
en-namentos cotidianos da nossa convivncia. Vale contar que os momentos
emparceirados so aqueles em que retornamos s pessoas co-laboradoras, e junto
com elas, revisitamos a primeira verso transcriada, e, assim, voltamos aos temas
para possveis modificaes, eliminaes, e incluses de novos elementos. Numa
atividade recriadora e recreativa, de uma brincadeira muito sria, ou uma seriedade
muito brincante com as palavras.
Nesta levada transcriada, convidamos de novo as palavras da pesquisadora
Adriana Queiroz Testa. Ela aceita retornar, dizendo:
Adriana Testa: Tendo em vista a preocupao central da histria oral com
a experincia e no com o registro e verificao de uma histria factual, as
fantasias, os sonhos, o esquecimento e outros elementos to caros memria so
a matria sobre a qual o autor se debrua enquanto tece as narrativas orais em
texto escrito (Meihy, 2005). Essa noo de que memria uma construo
dinmica e no um objeto concreto a ser guardado e resgatado, nos leva a
concordar com Walter Benjamin quando ele afirma que um acontecimento vivido
finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o
7
CALDAS, 1997, p.78
8
CALDAS,1999, p. 77
16
acontecimento lembrado sem limites, porque apenas uma chave para tudo o
que veio antes e depois (1985:37).
9
Nesta levada, Adriana Testa mostra essa dinamicidade aberta em construo,
nos movimentos da memria, do sentido e da palavra, em sua convivncia com os
guaranis contando suas histrias de vida. E, nesta conversa com Benjamin podemos
perceber imagens de um desencarceramento da memria e da palavra. Podemos
perceber nesta liberdade trajetiva, sinais da palavra movimentando o tempo-espao
mtico da recursividade dinmica do devir-presente-passado-ancestral, em intimidade
com a matria e a ambincia na profundidade do acontecimento vivido. Nesse
sentido, tomamos a palavra vivida e vvida no encontro das foras em um modo
artista, comunal e matrial de en-sinar e fazer-saber numa matriz afro-amerndia.
E, neste modo nos alimentamos das narrativas transcriadas, no como
instrumento capturado, diagnosticado, analisado e transmitido, mas sim como vozes
vivas neste nosso texto multi-autoral. E, ento, importa frisar que no realizamos
entrevistas, com perguntas e respostas, nem nos atemos biografia pessoal das/os
co-laboradoras/es, mas sim participamos de rodas temticas de conversa com
pessoas da nossa convivncia familiar. Convivncia que precede, perdura e procede a
esta pesquisa nos desafios da responsabilidade. Nesse sentido, estas pessoas j
conheciam de antemo, mais ou menos, elementos da nossa jornada, bem como,
receberam de antemo, semanas antes do encontro registrado, uma lista com alguns
temas que nos move.
Vale dizer que esta lista, continha os temas: palavra; ancestralidade; donos e
donas; arte; modos de en-sinar e fazer-saber; matria os quatro elementos; Me-
Capoeira e capoeiristas. Alm disso, para as mes-de-santo, alm destas palavras
geradoras, adicionamos o tema das imagens femininas da cobra, da sereia e da
cabaa. Importa dizer que as conversas no seguiram as temticas nesta ordem
tampouco se reduziram a elas. Assim como, nessa liberdade familiar, nem todas as
pessoas co-laboradoras se detiveram em todos estes temas, o que nos permitiu
desfrutar de toda uma imprevisibilidade temtica. Desse modo, as rodas de conversa
foram temperadas por uma intimidade de encontros frteis de foras. Mobilizados pela
fora matrial afro-amerndia da palavra co-laborativa.
Nessa levada, fica impossvel um procedimento racionalmente distanciado e
confinado no crcere de abordagem e investigao e prescrio. E, ento, nos
recordamos do alerta, en-sinado por Romualdo, Dias sobre a importncia da nossa
9
TESTA 2007, p. 31-32
17
habilidade de esquiva frente aos modos branco-ocidentais
10
de anlise. E ele chega
dizendo assim:
Romualdo Dias: Perguntamos a ns mesmos se na universidade
possvel um modo capoeira de interpretao. Um modo capoeira de fazer
mestrado. Estamos diante de um desafio metodolgico, de uma questo de estilo.
Estamos diante da necessidade, como diz Nietzsche, de se abrir para o
intempestivo. Estamos no intensivo das relaes com o outro, com o saber e com
o mundo. Neste trabalho, no podemos nos distrair para no sermos capturados
pelos racionalismos da anlise de contedo do alto do pedestal da arrogncia
acadmica.
11
Neste jogo de dentro, alimentando-nos com as tantas vozes, tramamos aqui a
nossa esquiva frente aos ataques do palavricdio branco-ocidental e sua linearidade
ascensional da produo, muito bem arranjada, nas prateleiras cognitivas e livrescas e
nas gndolas do conceito encrustado das racionalizaes distanciadas. Este modo
branco-ocidental cotidianamente declara guerra s filosofias da carne, da alma, do
corao, da matria, da ancestralidade. E, nesse estado de guerra, tramamos uma
esquiva capoeira no desafio da busca por nosso estilo de interpretao.
Assim, caamos e degustamos de uma orientao que escape das
predominncias racionais e conceituais, que no utilize a palavra como instrumental
destinado distanciar coisas e pessoas, numa obsesso abstrao e ao
distanciamento. Buscamos um modo de flertar com os textos, num sentido matrial
afro-amerndio de palavra, en-sinar e fazer-saber, assentados num modo artista de
estar na vida.
12
Estas filosofias vm abraando a guerra contra os ataques
institucionalizados do palavricdio, epistemicdio
13
e etnoccidio.
Nossa esquiva-contragolpe, nesse dilogo com a universidade, pede um modo
de desfrutar da palavra em sua vida-movimento. Ento, no flerte com o verso e prosa
capoeiras, priorizamos ateno, no ao mapa lineal do conceito substantivo, mas sim
jactncia, pulsao e a circularidade dos verbos e adjetivos. E, assim, podemos
sentir a fora da palavra que vm movimentando e qualificando corporeidades e
ambincias. Alimentando as nossas jornadas interpretativas em contato com as
potncias metafricas das imagens literrias. Ento, lembramo-nos do Maffesoli
quando ele diz:
Maffesoli: Por mais paradoxal que isso possa parecer h um poder da
palavra que corresponde potncia das imagens. Num momento em que domina
10
Quando dizemos da matriz cultural branco-ocidental importa explicar que no desconsideramos as
tentativas da cultura branco-ocidental de inovar-se e romper as clssicas amarras, como bem ocorreu na
alquimia, na filosofia renascentista, no romantismo alemo. No entanto, frisamos aqui a percepo da
hegemonia aristotlico-cartesiana e colonialista de suas heranas em seio brasileiro.
11
Romualdo Dias. Fala registrada na reunio de orientao durante o processo de qualificao.
12
Romualdo Dias. Fala registrada na reunio de orientao durante o processo de qualificao.
13
CARNEIRO, 2005
18
a sensibilidade esttica, um e outro entram em sinergia; o que funda a
metfora.
14
nesta levada imagtica e metafrica que namoricamos com linguagem
imaginante da Capoeira cujo paradoxo complementar entre imagem e palavra
movimenta foras vitais da criao e da tradio enquanto permanncias abertas.
Assim, tomamos a fora da palavra-imagem que descaradamente secreta ou
secretamente descara. Ento, respiramos ares do segredo, dos mistrios da sabedoria,
da escuta pelos sentidos, ao mesmo passo que gingamos com as epistemologias
acadmicas das explicaes conceituas.
Jogo que demanda o princpio feminino ginga, pois que literaturas da Capoeira
no se entregam ao crcere branco-ocidental das denotaes definitivas, conceituais e
dicionricas da palavra, e quase nunca a palavra expressa diz diretamente o que se
quer dizer. Nesse princpio feminino da ginga dos mistrios, esta literatura-capoeira,
movida na alma-palavra e fora-palavra, est emaranhada, justamente, nos modo
artista de existir, exibindo e secretando significaes em suas filosofias da carne, da
matria e da ancestralidade. Assim, um mesmo verso ou expresso tem concepes
flutuantes e movedias de acordo com a alma e as foras de cada momento, de cada
ambincia, de cada jogo, de cada roda.
Nessa levada, percebemos a fora matrial da palavra-capoeira, em seu princpio
feminino da ginga, entre o revelar e o secretar, entre o descaramento e o mistrio, entre
a superfcie e as profundidades, entre a iluminao e o breu. Nessa ginga, podemos
referenciar a matrialidade da prtica crepuscular e da razo sensvel na centralidade
metafrica, proverbial e potica nos modos afro-amerndios de en-sinar e fazer-saber.
E ento, podemos desfrutar de alimentos e caminhos. Y! Que o mundo deu! Y! Que
o mundo d!
14
MAFFESOLI, 1998, p. 157
19
2.1. Da caa: alimentos e caminhos em campo aberto
Y! Que o mundo deu!
Neste jogo negociado, o movimento trajetivo da caa, do desfrute e das tramas
deu-se nas encruzilhadas entre os campos da rea nobre da Universidade de So
Paulo; da periferia urbana da cidade de So Paulo; e da periferia rural da cidade de
Araras no interior de Estado So Paulo. Assim, nos alimentamos da caa: no Grupo de
Capoeira Angola Guerreiros da Senzala com sede na USP; no Il Ax Omo Od,
situado no bairro Cidade Tiradentes, localizado extremo leste da zona leste da cidade
de So Paulo; e na Comunidade-de-terreiro Il Ax de Yans, com sede no Stio
Quilombo Anastcia, situado no Assentamento Rural Araras III extremo leste da zona
leste da cidade de Araras.
J no jogo com as produes da universidade, escolhemos a rea temtica do
imaginrio, pois, para tramarmos um estudo de uma educao matrial afro-amerndia,
necessitamos de um estilo reflexivo menos eurocentrado, cognitivista e materialista
histrico. Assumimos, ento, um lugar numa linhagem acadmica que leva em conta a
fora da mitologia, da ancestralidade, da corporeidade, do campo sensvel e da arte.
Desse modo, transitamos por esta encruzilhada in-tensa e farta na busca por alimentos
e caminhos a compor as nossas jornadas iniciticas.
Uma flor no asfalto: Comunidade Tradicional de Terreiro Il Ax Omo Od
Cidade Tiradentes. Foto: Oubi Ina Kibuku
20
Il Ax Omo Od/ Pai Jair de Od
Esta comunidade nasceu em maro de 1990, liderada pelo Pai Jair de Od,
uma importante referncia nos movimentos polticos-culturais afro-brasileiros na
cidade de So Paulo. Como espao poltico-cultural-religioso, formou-se a Associao
Il Ax Omo Od que abriga diversas aes comunitrias no bairro Cidade Tiradentes.
Dentre elas podemos destacar a alfabetizao de jovens e adultos, os cursos de
costura e moda, de culinria e de pequenos reparos na construo civil. Tambm
ministra atividades formativas voltadas aos direitos humanos, ao estatuto da criana e
do adolescente, ao estatuto do idoso, aos direitos das mulheres e a luta anti-racista e
anti-homofbica.
Outro campo de atuao da associao Omo Od o da sade e segurana
alimentar, em que desenvolve trabalhos direcionados a seguridade alimentar, tanto
nas feiras e casas do bairro como nos conselhos e negociao com o poder pblico. A
comunidade do Il Ax omo Od tambm integrante do Projeto Xir: sade nos
terreiros que se dedica a sade integral das comunidades de terreiro, com ateno
especial voltada a sade mental a sade dos idosos e a preveno de DST-AIDS.
Alm disto, o grupo tambm desenvolve produes artsticas e culturais com o Afox
Omo Od que tem forte participao no carnaval paulistano, tanto na abertura dos
desfiles no sambdromo como nas ruas da cidade, e tambm desenvolve parceria
com a Escola de Samba Prncipe Negro da Cidade Tiradentes.
Esta comunidade tem oferecido banquetes, trilhas e atalhos aos caminhos
adversos de uma comunidade perifrica nos extremos da floresta de concreto e ao
21
Me Silvia de Oy. Foto: Gildean Panikinho/ Me Silvia de Oy e Ogan Oju Ob Edu. Foto:
Rinaldo Teixeira/ Me Silvia de Oy. Foto: Rinaldo Teixeira
Y Slvia de Oy
Meu nome Silvia da Silva, sou Yalorix no Il Ax Omo Od. Moro h 17 anos na
Cidade Tiradentes, porm h 24 anos desenvolvo atividade poltico-culturais neste
bairro. H 30 anos atuo na rea de pesquisa e atuao poltica no Movimento Negro,
no Movimento de Mulheres Negras, no Movimento de Religies Afro-brasileiras e na
Arte-educao Afro-brasileira. Sou diretora da Associao Il Ax Omo Od.
Representante, do estado de So Paulo, no Conselho Nacional de Ekedes e Yalorixs
Negras. Sou oficineira de carnaval e adereos, assim como integro a harmonia na
Escola de Samba Prncipe Negro da Cidade Tiradentes e Escola de Samba Leandro de
Itaquera. Sou uma fundadora e conselheira da Sociedade comunitria, ecolgica,
cultural e Escola de Samba Fala Nego. Coordenei oficinas de carnaval nas Escolas
de Samba: Flor da Penha; Imprio Guaianazes e Leandro de Itaquera; e Bloco
Maravilha, na antiga FEBEM, do qual fui uma das fundadoras e por meio do qual
ensaivamos e levvamos adolescentes em privao de liberdade para tocar e desfilar
nas ruas de So Paulo. Atuei como agente de cultura, coordenadora e coregrafa de
grupos infantis de Dana Afro e de grupos adultos de teatro negro, assim como fui e
sou coordenadora e curadora de exposies de Arte Africana e Afro-brasileira em So
Paulo.
Reverenciamos a comunidade do Il Ax Omo Od, em especial ao Pai Jair de
od, Me Silvia de Oy e ao Ogan Oju Oba Edu pelo amor e dedicao
ancestralidade e comunidade, pela fartuta e oferta de tantos alimentos e caminhos
em meio s adversidades de uma periferia metropolitana.
Pedimos a bena a toda comunidade do Il Ax Omo Od!!!
22
Fecundaes de um campo frtil: a Comunidade-de-terreiro Il Ax de Yans
Comunidade-de-terreiro Il Ax de Yans: Esta comunidade nasceu em 1990, quando
iniciamos atividades no Jardim So Marcos, na cidade de Campinas. Neste perodo tivemos
forte participao na Comisso de Mulheres Negras, colaborando com a luta pela garantia dos
direitos das mulheres negras naquela cidade. Em 1992, mudamos para a cidade de Ja, dando
continuidade ao trabalho, agora em parceria com a Associao Esportiva e Cultural
Amukengu, que j desenvolvia atividades culturais na regio. Nossa atuao fortaleceu a
relao com a ancestralidade, promoveu o reconhecimento e valorizao cultural e colaborou
para a positivao da autoimagem e fortalecimento identitrio da comunidade local.
J em 1994 nos estabelecemos na cidade de Araras, mais especificamente na zona leste,
regio que concentra a maior periferia do municpio. Em julho de 1995, ocupamos juntamente
com famlias de trabalhadores rurais sem-terra, o Horto Loreto de Araras. Nesta atuao
decisiva, assumimos, juntamente com outros companheiros, a liderana poltica do
acampamento. Em 1998 o assentamento foi institucionalmente reconhecido e oficializado. A
partir da fundamos o Stio Quilombo Anastcia, iniciamos a construo do Il Ax, contando
com o apoio da nossa comunidade de terreiro, e de simpatizantes do nosso projeto.
15
23
Stio Quilombo Anastcia. Fotos: Lids Ramos
De composio matrifocal, matriarcal, matrilinear, a Comunidade de Terreiro Il
Ax de Yans trabalha na manuteno de um territrio poltico-cultural de referncias
e de criaes afro-brasileiras, de maneira intergeracional e transdisciplinar. um
terreno voltado formao de crianas, adolescentes, jovens, adultos e idosos,
meninos e meninas, homens e mulheres, isto numa atuao intersetorial de trabalho:
por educao, por sade, por gerao de renda, pelo acesso e respeito terra; pela
produo cultural e pela promoo da igualdade social, racial e de gnero. Neste
caminho, este grupo estreita relaes entre a comunidade assentada na zona rural e a
comunidade da periferia urbana local, ao promoverem aes formativas conduzidas
pelo encontro entre o movimento de mulheres negras, o movimento negro e o
movimento de luta pelo acesso a terra e moradia na cidade de Araras.
Vale destacar tambm que este grupo realiza a Semana da Arte Negra que
acontece anualmente desde 1998. composta por atividades como: apresentaes
24
artsticas, debates, palestras, oficinas e exposies na Casa da Cultura da cidade de
Araras. Nesta mesma perspectiva, tambm organiza anualmente, a Araras Afroconfest
que uma semana de atividades poltico-culturais em memria de Zumbi dos
Palmares no ms da conscincia negra.
No calendrio cultural da cidade de Araras, h dezessete anos, a comunidade-
de-terreiro anualmente se dedica s guas de Oxal: um tradicional cortejo poltico-
religioso homenageando a ancestralidade de matriz africana. Assim, ocupando os
espaos centrais da cidade, dialoga com a populao primando pela liberdade
religiosa e combatendo o racismo direcionado cultura negra.
Outra atividade que frisamos o Projeto Recreativo-cultural Festa de So
Cosme e So Damio e Doum em que promove, anualmente, atividades culturais
como apresentaes artsticas, oficinas de arte em suas diversas linguagens,
contao de histrias, dentre outras aes direcionadas s crianas. Nesse mesmo
sentido de atuao intergeracional, a comunidade-de-terreiro tambm realiza todo ano
os Seminrios de Formao Tefokafumi. Trata-se de uma tenda anualmente montada
no Stio Quilombo Anastcia com encontros temticos de formao como fruns,
palestras, debates, oficinas e manifestaes artsticas afro-brasileiras. Alm disto, esta
comunidade compe o Bloco Afro Omo Ob Kossun dirigido pela matriarca da
comunidade constitudo e produzido por crianas, adolescentes, jovens, adultos e
idosos, meninos e meninas, homens e mulheres.
Importa dizer que, juntamente a estas iniciativas, a Comunidade-de-terreiro Il
Ax de Ians atua nos movimentos voltados Reforma Agrria enquanto liderana na
Omaquesp - Organizao de Mulheres Assentadas e Quilombolas do Estado de So
Paulo; no Sintraf - Sindicato da Agricultura Familiar de Sumar e Regio; e na
Associao Terra Boa dos Assentamentos Rurais de Araras. Aliado a este movimento,
atua fortemente tambm nas demandas do combate ao racismo, atuando como
liderana no Frum Estadual de Mulheres Negras, na Conen Coletivo Nacional de
Entidades Negras, na Unegro Unio de Negros pela Igualdade; e no Cenarab -
Centro Nacional de Resistncia Afro-brasileira.
Essa comunidade maestrada pela matriarca Don Oyacy em companhia do
Tata Quejesse:
25
Me Oyacy. Fotos: Lids Ramos
Don Oyacy
Meu nome Rosa Maria, sou mulher negra zeladora de Vodun e atuo no movimento
negro, e no movimento de mulheres negras, no Estado de So Paulo desde 1982. Sou
a matriarca desta comunidade-de-terreiro. Sou modelista, costureira e cabeleleira com
estilo voltado moda e esttica negra. Tambm sou artes, cantora e compositora; sou
diretora, componho e puxo e enredo do Bloco Afro Omo Oba Kossun. Atuo tambm no
campo da sade trabalhando com ervas medicinais, confeccionando remdios,
medicando e ministrando cursos e oficinas. Sou uma liderana de assentamentos
rurais na cidade de Araras, e sou trabalhadora rural. Nesse sentido, sou scia-
fundadora da Omaquesp Organizao de Mulheres Assentadas e Quilombolas do
Estado de So Paulo. E, sou representante do Cenarb Centro Nacional de
Resistncia Afro-brasileira - do interior do Estado de So Paulo.
26
Me Oyacy e Pai Quejessy. Foto: /Pai Quejessy. Foto: Lids Ramos
Tata Quejessy
Meu nome Quejessy, tambm sou conhecido como professor lvio, pois lecionei
durante vinte e dois anos na rede pblica ensinando Histria. Atuo no movimento negro
do Estado de So Paulo desde 1988, ao mesmo tempo em que atuo, mais
acirradamente desde 1994, como liderana no movimento de luta de pela terra e pela
reforma agrria. Sempre buscando articular o movimento por igualdade racial ao
movimento pela conquista e manuteno de territrio, pois a nossa relao com a terra
e territrio muito mais profunda do que um latifundirio poderia imaginar. Ento,
nessa atuao sou uma liderana nos assentamentos rurais da regio atuando nos
movimentos de agricultura familiar, como tambm nos movimentos antirracistas, pela
liberdade religiosa e pelo reconhecimento e valorizao da cultura negra. Fao parte do
Bloco Afro Omo Oba Kossun coordenando a produo e a harmonia. Atualmente
trabalho como secretrio geral de comunicao da FAFE/CUT - Federao dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar.
Nesta mata com jardim florido e pomar farto de alimento ancestral, poesia e
partilhas sempre iniciticas, profundas, ntimas e coletivas. Pelo amor, pela arte e
pelas ligas entre a famlia estendida, a Me-Terra e a Ancestralidade numa maneira
artista de resistir e festejar.
Pedimos a bena a toda Comunidade-de-terreiro Il Ax de Yans!!!!
27
Ptalas e espinhos do campo: o Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da
Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
Este campo maestrado pelo Contramestre Pingim (Luiz Antnio Nascimento
Cardoso), discpulo de uma das mais importantes referncias da Capoeira Angola:
Mestre Gato Preto (Jos Gabriel Ges, 1929-2004) de Santo Amaro da Purificao.
Contramestre Pinguim foi iniciado na arte da Capoeira na academia do Mestre Pato
em 1982; participou de outros grupos at conhecer o Mestre Gato Preto, em Santo
Amaro da Purificao, Bahia, no inicio da dcada de 90, de quem se tornou discpulo.
Mestre Gato Preto de Santo Amaro da Purificao (1929-2004). Foto: Mestre Milton
28
Mestre Gato Preto e Mestre Zambi. Foto: Mestre Milton
O trabalho do Contramestre Pinguim segue as orientaes deixadas por
Mestre Gato Preto, o que contempla na Capoeira Angola: o Maculel, o Samba de
Roda, a Puxada de Rede, a Dana-afro, a percusso e a confeco de instrumentos.
Nesta orientao mltipla, h mais de 25 anos atua como Mestre, coregrafo,
danarino, msico, poeta, contador de histrias, arteso... tudo naquela maestria
matricial afro-amerndia.
Contramestre Pinguim desenvolve atividades culturais afro-brasileiras na
Universidade de So Paulo desde 1997. O espao fsico utilizado fruto de uma
ocupao realizada por integrantes do Ncleo de Conscincia Negra na USP. E de l
pra c o grupo vem resistindo s recorrentes ameaas de reintegrao de posse por
parte da universidade.
Sede do Grupo Capoeira Angola Guerreiros da Senzala. Foto: Erenay Martins
29
Contramestre Pinguim e Mestre Gato Ges. Foto: Denis Quintal
Contramestre Pinguim, Mestre Gato Ges e Treinel Marcio Folha. Foto: Denis Quintal
30
Contramestre Pinguim e Erenay Martins (Er). Foto: Elis Regina Feitosa do Vale
Sobre as ptalas do campo, tomamos aqui a bena ao Contramestre Pinguim
pela alegria de criana, sabedoria de ngo-vio, e elegncia de guerreiro. Pelas
partilhas iniciticas na fora da poesia, das metforas, dos mistrios e da nossa
ancestralidade: Y! Viva meu mestre! Y! Que me ensinou! Y a malandragem! Y! Da
Capoeira! Y que o mundo deu!
Contramestre Pinguim (Luiz Antnio Nascimento Cardoso);
Meu nome Luiz Antnio Nascimento Cardoso. Iniciei na arte da Capoeira na academia do
Mestre Pato em 1982; participei de outros grupos at conhecer o Mestre Gato Preto em Santo
Amaro da Purificao, Bahia, no inicio da dcada de 90. Dirijo trabalhos de Capoeira Angola e
outras artes negras na Universidade de So Paulo desde 1997 no grupo Capoeira Angola
Guerreiros da Senzala. Trabalho com adolescentes em privao de liberdade, assim como, com
crianas, jovens e adultos da periferia de So. E tambm trabalho com formao de educadores
e com pesquisadores universitrios. Nosso trabalho segue as orientaes deixadas pelo Mestre
Gato Preto de Santo Amaro da Purificao. H mais de 20 anos atuo como coregrafo,
danarino, msico e confeccionador de instrumentos, todas essas atividades relacionadas
cultura negra.
Com este capoeira, para alm de qualquer dissintonia em nossos
posicionamentos, temos um elo vital visceralmente profundo e garboso. Ele me
alimentou e me encaminhou intimidade do ventre-roda da Me-Capoeira. Sua bena
Contramestre Pinguim!
Tomamos tambm a bena ao Mestre Gato Ges de Santo Amaro da
Purificao, sempre ofertando banquetes de alimento e caminhos s nossas passadas
iniciticas.
31
Mestre Gato Ges
Nascido e criado em Santo Amaro da Purificao, Bahia filho mais velho do Mestre
Gato Preto (Jos Gabriel Ges), comeou a aprender Capoeira com seu pai em 1959. Aos 56
anos de idade, dos quais 48 envolvidos com a Capoeira Angola, desenvolve prticas,
pesquisas, divulgaes e representaes, levou a Capoeira Angola a 4 continentes, em mais
de 30 pases.
16
Neste trajeto, desenvolveu cursos e espetculos, comunicando a Capoeira aos
palcos pelo mundo. Tem experincia com o teatro, a dana, a msica e as artes plsticas.
Atualmente uma liderana da Casa do Samba de Roda em Santo Amaro da Purificao,
Bahia.
Nas temporadas intensas das visitas a cidade de So Paulo este mestre nos
alimentou com sua maestria aprumada da musicalidade, das literaturas, da dana e
das malcias do jogo elegante quando topamos com as adversidades na volta ao
mundo. Sua bena Mestre Gato Ges!
Outra ptala deste campo frtil o professor Alab Mrcio Folha, sempre nos
alimentando com seu amor ntimo e profundo Me Capoeira.
Alab Mrcio Folha
Marcio Custdio de Oliveira capoeirista e danarino, discpulo do Contramestre
Pinguim desde 1997. H mais de dez anos trabalha com arte-educao tanto por meio do
poder pblico como de ONGs. Trabalha com adolescentes em privao de liberdade, com
crianas, jovens e adultos nas periferias rurais e urbanas. escritor, desenhista e roteirista.
autor do livro Histrias de Tio Alipio e Kau: O Beab do Berimbau, constitutivo do corpus
desta pesquisa. H mais de dez anos professor-treinel de Capoeira Angola, Maculel, Dana
Afro, Percusso, Samba de Roda e confeco de instrumentos. Na Comunidade-de-terreiro Il
Ax de Yans Alab, professor de Capoeira e mestre de bateria no Bloco Afro Omo Oba
Kossun.
Com este capoeira, um irmo mais velho, temos um elo de vida temperado,
tanto pelo teso das aprontaes travessas, como pela concentrao e rigor na
chamada seriedade pra disciplina e pros fundamentos. Sua bena Alab Marcio
Folha!
E, para completar este jardim cheiroso, temos a parceria de Erenay Martins.
Sempre dando aquela refrescada nas nossas foguetaes guerreiras. E sempre
embelezando o que disseram que era pra ser feio.
16
Trecho extrado da contracapa do CD Capoeira Timbres e Vozes, de autoria deste mestre.
32
Erenay Martins
Meu nome Erenay Martins, meu nome de guerra Er. Desde 2002 sou integrante
neste grupo de Capoeira de linhagem de Mestre Gato Preto de Santo Amaro da Purificao, do
Recncavo Baiano. Minha religio o Candombl. Trabalho especialmente no campo da
educao. Atuo na educao de jovens e adultos, trabalho com formao de professores, sou
educadora em Geografia e em Educao Comunitria. Tambm trabalho com crianas
especialmente na rea de arte-educao com Dana Afro, Maculel e Capoeira. Meu interesse
de pesquisa a noo de tempo-espao unitrio na matriz afro-indgena.
Esta menina, nossa irm mais velha de Capoeira, a cada jogo nos mostra
como e o porqu fazer cara de paisagem em plena guerra declarada. E ento, na
postura e calma de uma nga-via, nos leva a jamais perder a vista e elegncia diante
dos brutamontes enfurecidos.
Alm de todas estas ptalas, aproveitamos para referenciar nossas irms
gmeas, ou seja, que nasceram junto conosco na Capoeira. So elas Priscila Romio
que, com sua postura guerreira, fecha a cara e vai pra cima. Porm, sem perder a
beleza e harmonia dos movimentos. Sempre nos alertando sobre as maldades
gratuitas e nos encaminhando guerra com elegncia. Outra irm que referenciamos
Jackeline Aparecida Romio, com sua postura sedutora e sorridente, inebria e
enfeitia os brutamontes. Sempre nos ensinando o poder feminino do fascnio e do
bote da cobra coral, assim como, a mantermos a galanice mesmo nas situaes
mais adversas.
Alm delas, referenciamos nosso irmo mais velho Paulo Cigano, pela
memria de elefante e esprito cantador, pelas fontes e pontes de alimentos poticos,
pela disposio pra festa lado a lado nos embates. E tambm fazemos referncia ao
nosso irmo gmeo Denis Quintal com seu esprito artista e sereno, nos incita a
sempre manter o prumo e enxergar flores frescas no asfalto quente. E, por fim,
recordamos de nossa irm mais nova de Capoeira, a Aline Ftima, pela dedicao
amorosa e disciplina exemplar. Estas so algumas ptalas deste jardim florido que
partilhamos no dia-a-dia da Capoeira. Sua bena famlia!
J sobre os espinhos, afirmamos que preciso muita ginga elegante para
conviver com pretenso poder de consumo, mando e posse da classe mdia branca
universitria. De modo especial, com o medo e despeito das princesinhas de cristal e
dos brutamontes branco-brasileiros em parceira com a gringaiada deslumbrada. A
treta silenciosa desabrocha no dia-a-dia com aqueles corpos que trazem consigo: seus
complexos de superioridade branca, suas representaes de mandinga na superfcie,
sua marmotagem descarada, seu esprito de palco-holofote, e seus discursos
palestradinhos sobre experincia antropolgica na Capoeira.
33
Como se no fosse o bastante, topamos diariamente com estes universitrios
classe mdia, brancos e gringos, autodeclarando-se guardies de um tal purismo
angoleiro. Eles se dizem da Capoeira de raiz, e tambm do samba de raiz, mas
no conseguem ir alm da superficialidade tcnica, nem de longe desconfiam das
profundidades da Capoeira Me (Angola) alimentando a vida da Capoeira Filha
(Regional). Sendo assim, estes pretensos angoleiros, imbudos em suas cegueiras
ocidentais, acreditam que esto protegendo a raiz ao tentarem exterminar as
folhagens. E assim, declarando guerra Capoeira Regional que desfila forte nas
periferias das cidades.
Deste jeito, fica a impresso de que o branqueamento dos corpos e posturas
na Capoeira Regional, to criticado pelos angoleiros, parecem agora tentar impregnar
a Capoeira Angola que vive pelos bairros nobres e universidades da cidade. Assim,
estes pretensos guardies de um pretenso purismo angoleiro, acabam por tentar
imprimir, nos fundamentos da Capoeira Angola seus complexos de superioridade,
seus classicismos e seus mecanismos racistas e machistas de discriminao. Presos
ao modo branco-ocidentais de conhecimento e de propriedade, eles permanecem
apregados na superfcie iluminada das categorizaes, do humanocentrismo e do
consumo de produto cultural.
Nessa postura contratual e consumista, ao mesmo tempo em que se declaram
guardies da Capoeira de raiz, se dedicam a superficializar e ocidentalizar os
fundamentos capoeiras em suas relaes mestre-discpulo. Eles encontram as
brechas para isto, tanto no princpio inclusivista da Capoeira, quanto mais nos ataques
e abandonos racistas do estado sobre os velhos Mestres. E assim, se aproveitam das
condies econmicas desfavorveis aos negos-vios para invadirem a cena com
seus consumismos, suas sndromes de patro, seus maquinrios e suas merrecas.
S que, para o desespero deles, a filosofia ancestral ensina: cada um com
suas heranas! A herana deles no compra a nossa! A gente sempre soube bem
deles e nunca sabero direito de ns! E, a, quando eles topam com a fora da Me-
Capoeira alimentando suas crias, no compreendem a profundidade desta relao
umbilical e sofrem da impossibilidade de domnio e predao. E ento, direcionam todo
o dio senhorial elegncia guerreira dessas crias-capoeiras em famlia. Da, eles se
vermelham, na prpria mesquinhez, frente fora incomprvel e insubordinvel do
conhecimento ancestral, em profundidade plena com os mistrios dos sentidos.
Alimento ancestral na poesia do silncio, em intimidade com o cho.
Y! A Capoeira! Y! mandingueira! Y! Viva meu mestre! Y! A todos
mestres! Y! Viva minha me! Y! A todas mes!
34
2.2. Y! Da volta ao mundo!
Me-terra, Me-frica, Me-Capoeira:
em busca de concepes matriais afro-amerndias-capoeiras de
saber, de pessoa e de arte
Se com flechas, Nan, ou se com penas
Vem bater palmas pra Cabocla Jurema
Ogum desceu do trono no seu cavalo ligeiro
Juntou-se Yemanj pra sambar neste terreiro
Se com flechas, Nan, ou se com penas
Vem bater palmas pra Cabocla Jurema
Se Ogum guerreiro e Yemanj recebe flores
Juntando o cu e a terra, meu Deus, ai que amores
Se com flechas, Nan, ou se com penas
Vem bater palmas pra Cabocla Jurema
Oxossi rei das matas com sua flecha certeira
Juntou-se a Yans e Xang, rei das pedreiras
Se com flechas, Nan, ou se com penas
Vem bater palmas pra Cabocla Jurema
17
Pra comeo de conversa, reverenciamos aqui a Me-Terra (Pachamama
quchua ou andecy guarani) e Me-frica, que ao mesmo tempo em que so mes,
habitam o ventre-roda-cabaa da sua filha, da me caula: a Me-Capoeira. Nesta
reverenciao temos imagens religadoras e remediadoras da famlia estendida afro-
amerndia
18
mesmo nas paisagens de cortes e rupturas. Nessa levada afro-amerndia
dos sentimentos diaspricos, o lamento, a guerra e a festa se requisitam e se
complementam nos des-locamentos e encontros co-memorativos desta famlia
matrial
19
em que todos so filhos e filhas destas Mes. Nesse sentimento diasprico
de amor filial, convidamos, para abrir esta roda, um mestre a quem chamamos o
filsofo da dispora:
Stuart Hall: A frica [acrescentamos: e a Pachamama) o significante, a
metfora, para aquela dimenso de nossa sociedade e histria que foi
17
Saudando Jurema; cantiga de Maculel entoada por Mestre Natanael
18
Em que todos (ancestrais, animais, vegetais, minerais e todas as formas de existncia) so filhos e
filhas da Me Terra e fazem parte de uma comum-unidade de vida. (MAMANI, 2010; SODRE 1998).
Retornaremos esta noo no decorrer do texto.
19
Comum-unidade regida pela fora matrial, ou seja, pela constituio de um equivalente simblico entre
me, sbia e amante que carrega maestrias religadoras e remediadoras, num exerccio da razo sensvel.
(FERREIRA-SANTOS, 2005a). Retornaremos esta noo no decorrer do texto.
35
maciamente suprimida, sistematicamente desonrada e incessantemente negada
e isso, apesar de tudo o que ocorreu permanece.
20
Nesta teimosia da permanncia, ao caminharmos em visita s concepes
matriais afro-amerndias, nossas passadas impulsionam um esquiva-contragolpe s
dinmicas de poder patriarcal branco-ocidental dono do discurso formatador dos
paradigmas escolarizatrios. Assim, buscamos escapar das amarras deste paradigma
com sua obsesso pela abstrao e fixidez dos conceitos; com sua noo
humanocntrica de indivduo individualizado no mundo; e com seu distanciamento
diagnosticador nas anlises sisudas dos objetos. Neste movimento de esquiva,
tramamos um estilo reflexivo que nos auxilia nesta prxis de flerte e compreenso
dum en-sinar e um fazer-saber matrial afro-amerndio.
Ao falarmos em en-sinar estamos nos referindo lio de Ferreira-Santos sobre
uma educao em que a relao mestre-discpulo acontece numa profundidade de
compromisso de vida. Em que o/a mestre caminha junto com o/a discpulo/a de modo
que este/a encontre e desfrute de sua prpria sina na teia dos saberes e relaes com
a comunidade e ambincia
21
de que fazem parte. Nesse mesmo sentido, numa
segunda leitura, encontramos a noo en-sinar como proposta por Vanda Machado
em suas palavras sobre ensinncias e aprendncias numa matriz africana recriada
no Brasil. E ela chega en-sinando:
Vanda Machado: De fato, o ato de en-sinar na comunidade de terreiro
significa colocar o outro dentro do seu odu, dentro da sua prpria sina, do seu
caminho do seu jeito de ser no mundo do jeito como ele . Entendemos que esta
uma singularidade que merece ser situada dentro do pensamento de matriz
africana [acrescentamos: e indgena]. Estamos falando mais precisamente do
pensamento tradicional africano [e indgena] recriado nas comunidades de
terreiro.
22
neste sentido afro-amerndio de en-sinar, em que a/o mestre aponta, prepara
e orienta os caminhos por onde a/o discpula/o caminhar em sua companhia. nesta
caminhada conjunta que mencionamos um fazer-saber, em que estamos nos referindo
s lies de mestras e mestres da cultura negra sobre uma aprendizagem no linear,
no etapista, no previdente. Uma aprendizagem que pode acontecer antes, durante e
depois da atividade: podemos aprender antes de fazer, podemos aprender no
momento em que estamos fazendo, e, aqui est sua singularidade: podemos fazer e
20
HALL, 2003, p.41
21
Ferreira-Santos (1998, p.37), traz o termo ambincia, e no ambiente, para ressaltar a relao profunda
das pessoas e da comunidade com o entorno, com os elementos da natureza e seus diferentes reinos.
Quando no h essa relao profundamente recproca, ele utiliza o termo ambiente.
22
MACHADO, 2006 p. 22
36
somente depois de muito tempo aprender. E, aqui, lembramo-nos das lies do
Contramestre Pinguim quando, durante os treinos, ele nos dizia:
Contramestre Pinguim: Alegria de viver sem medo de errar! O corpo ainda
est com a lngua grossa e no sabe falar direito! A gente pode muito bem fazer
sem saber. Mas o que no podemos desistir antes de tentar! Primeiro a gente
faz e depois a gente aprende! Tem coisa que a gente faz hoje e s vai aprender
daqui h um, cinco, dez, vinte ou trinta anos.
23
Nessa levada capoeira de en-sinar e fazer-saber, tramamos uma prxis que
nos permite trabalhar com uma concepo de conhecimento enquanto mobilizaes
de alimentos e caminhos, a nos fortalecer e nos orientar. Enquanto uma fora vital em
movimento artista, como criao viva, circulante e dialgica. Conhecimento como uma
fora viva que anterior e posterior nossa existncia, e que nos toma nas sacudidas
em nosso campo sensvel, muito mais do que ns a tomamos. Em outras palavras,
num possvel modo matrial afro-amerndio de saber, parece que somos muito mais
portadores dessa fora do que dominadores e adestradores dela.
Assim, saber, pessoa e arte se constitui mutuamente. Desse modo, no
dividiremos o texto em sesses para cada uma destas noes, pois elas desfilam
emaranhadas umas s outras. A roda est armada, e chega um filho da Me-Terra
semeando o campo aberto para nossa aventura de escutar, sonhar, pensar e
caminhar:
Huanacuni Mamani: Suma istaa: Saber escuchar. En aymara istaa no
slo es escuchar con los odos: es percibir sentir escuchar con todo nuestro
cuerpo: si todo vive, todo habla tambin. (.) Suma Samkaisia: Saber soar.
Partimos del principio de que todo empieza desde el sueo, por lo tanto el sueo
es el inicio de la realidad. A travs del sueo percibimos la vida. () Suma
Amuyaa: Saber pensar. Es la reflexin, no slo desde lo racional sino desde el
sentir; uno de los principios aymaras nos dice: jan piq armtasa chuman thakip
sarantaani (sin perder la razn caminemos la senda del corazn). Suma
Sarnaqaa: Saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe caminar.
Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; caminamos con el
viento, caminamos con la Madre-Tierra, caminamos con el Padre Sol, caminamos
con la Madre Luna, caminamos con los ancestros y con muchos otros seres.
24
E, neste mesmo campo aberto, vem caminando conosco um filho da Me-
Terra-Me-frica, chegando para reg-lo com as guas da criao viva que jorra.
Mestre que nos en-sina a pensar com os sentidos na senda do corao; excita-nos a
sonhar incios, percepes e caminhos. E ento, neste modo artista de en-sinar e
23
Trecho da transcriao da conversa entre Contramestre Pinguim e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP.
24
MAMANI, 2010, p. 47-48 (g.a.)
37
saber-fazer, escutamos com nossa carne, nosso corao, nossos sonhos e nossos
pensamentos as palavras desse Tata Inkince. E ele chega dizendo:
Tata Quejessi: E a arte sempre est presente! Pra ns, existe a arte pra
existir o saber! essencial que exista a vida da simbologia! essencial que exista o
ouvir! Na matriz africana s existe uma forma de aprender, no existe outra, a
forma artista. No livro. E isso confunde. E isso muito conflitante com o saber
eurocntrico. O saber eurocntrico todo centrado em coisas que falaram e que
escreveram, escreveram, escreveram... Para eles, no basta as comunicaes, no
basta voc ver o acontecido. Na matriz africana no. O saber passado
artisticamente pela convivncia, pela oralidade, pela ancestralidade por aquilo que
voc est vendo acontecer, est vendo fazer e est fazendo. No tem outro jeito de
aprender se no for de corpo presente! Pelos sentidos!
25
nesta entoada que, escutando estas palavras, podemos sentir a
aprendizagem como afinaes do campo sensvel, em que aprendemos e ensinamos
pelos sentidos, pelo corpo presente em contato com foras artistas dos saberes em
movimento. Nesta tomada do conhecimento como fora viva em movimento, uma
educao matrial afro-amerndia em muito ultrapassa os pretensos limites tcnico-
institucionais da transmisso de uma dita exatido de representaes mentais com
significados fixos, transferveis, cumulativos e contabilizveis.
Desse modo, aplicamos nossa esquiva aos amordaamentos branco-ocidentais,
primando pela materialidade artista nos modos afro-amerndios de en-sinar e fazer-
saber. Estes modos exigem a fora viva das corporeidades presentes numa disciplina
afetual compondo elos vitais entre mestre e discpulo, numa relao familiar maternal-
filial ou paternal-filial. Um lao de vida. E, por falar em disciplina religando os mltiplos
componentes da pessoa e do saber num filosofia artista, lembramos-nos da conversa
com Alab Mrcio Folha quando ele dizia:
Alab Mrcio Folha: Eu acredito que a pessoa s plena quando ela um
todo. Acredito que a pessoa s vai ser plena de si mesmo... E da vem essa
palavra disciplina, que toda carregada de autoritarismo, de militarismo, a palavra
disciplina. Disciplina, pra muitos, voc estar numa fila olhando pra frente,
obedecendo s ordens. E pra quem gosta da cultura ocidental, se for buscar na
origem etimolgica: ser de si pleno. ser pleno de si mesmo. A fora da
Capoeira est muito na disciplina. Na plenitude do ser humano. E eu acredito que
o ser humano s pleno, quando um todo. Se pleno, tudo! No pode ser em
partes. Pleno o corpo, todo forto e a cabea vazia. Ou outra coisa, voc pode ser
um intelectual e cultuar o corpo, mas ser pobre de esprito. Ento, temos que ser
um todo cabea-corpo-esprito, um todo.
26
25
Trecho da transcriao da conversa entre Elis, Mrcio Folha e Pai Quejessi, realizada no Il Ax de
Yans situado no Stio Quilombo Anastcia Assentamento Rural Araras III, na zona leste da cidade de
Araras - interior paulista
26
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha, realizada na sede do Grupo Guerreiros
de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
38
Nesta levada da disciplina e do exerccio das juntas, assentados num modo
artista de en-sinar e fazer-saber, nos esquivamos do abrao amputador entre o
militarismo estatal e a supremacia crist reinantes no campo da educao
escolarizatria. Portanto, buscamos recursos de esquiva-contragolpe nas aventuras
da caa por imagens de uma educao matrial afro-amerndia em contraposio a
uma educao patriarcal branco-ocidental. Nesses caminhos bandoleiros, desfrutamos
da filiao terica da mitohermenutica de uma educao de sensibilidade que acolhe
nossos caminhos no eurocntricos para tramar os sentidos de um partilha de
conhecimento como criaes continuadas. E assim, podemos dialogar sobre nossas
percepes do conhecimento vivo nas dinmicas da cultura, das tradies e da
criao, enquanto uma continuidade em transformao poitica
27
, uma permanncia
aberta e movedia
28
.
nesta trama que dialogamos numa linhagem acadmica que acolhe modos e
temas menos eurocntricos-racionalistas de produes de conhecimento. Nesta ginga
com a escola acadmica, jogamos na roda hegemonizada por modos e temas branco-
ocidentais, e nos valemos, em nossos floreios, esquivas e respostas, alm de um
modo e tema de estudo academicamente marginalizados, tambm de uma linha de
pesquisa no vista com bons olhos pelos racionalistas-iluministas de planto.
Neste jogo tenso, floramos com modos mitohermenuticos de estudar e compor,
na medida em que nos abre caminhos para, nessa roda branco-ocidental-racionalista,
nos valermos da astcia capoeira em sair pra dentro. E ento, ressaltarmos a fora
da mitologia, da ancestralidade, da arte, da sensibilidade, da imaginao e da intuio
nas vitalidades afro-amerndias da partilha de conhecimentos. Assim, a
mitohermenutica trama caminhos numa educao de sensibilidade que traga consigo
os recursos e trajetos entre a predominncia diurna: da razo e das classificaes; e a
predominncia noturna: dos sentidos, da intuio, dos devaneios e dos mistrios. E
ento, uma educao de sensibilidade que carrega movimentos de uma ginga entre as
predominncias, que traga modos crepusculares de educao sensvel. Pois que esta
ginga crepuscular alimenta e alimentada pelo modo artista de estar no mundo e
partilhar conhecimento numa matriz afro-amerndia.
Nesses elos vitais entre arte, saber e pessoa, percebemos uma educao afro-
amerndia de sensibilidade, uma prtica crepuscular afro-amerndia de fazer-saber e
de en-sinar que no admite ser confinada no racionalismo diurno dos modos
escolarizatrios. A esta tentativa de confinamento, um conhecimento afro-amerndio
vivo e artista, com sua filosofia-capoeira, responderia num canto de lamento:
27
Dispositivos da interpretao, deleite e criativade. (Durand)
28
FERREIRA-SANTOS, 2005 (c)
39
Sem Capoeira
eu no posso viver
sou peixe fora do mar,
passarinho sem voar,
dia sem escurecer
29
Ouvindo este chamado capoeira, floramos com os modos crepusculares de uma
educao de sensibilidade que oferecem os recursos da trajetividade, da recursividade
e da mitopoisis de um saber-pessoa-arte vivo em movimento. Ferreira-Santos traz
esse recurso numa reflexo assentada nos modos do que ele chama de gradiente
holonmico. Enamoramo-nos deste estilo, ao buscamos sentidos matriais afro-
amerndios de pessoa, arte e saber, pela necessidade de nos esquivarmos dos modos
clssicos, branco-ocidentais, cartesianos e racionalistas, da escolarizao.
Floreamos com a mitohermenutica nesta perspectiva de uma razo sensvel
hermesiana, que prima pelas foras dos sentidos e da mitologia nos modos de saber,
o autor traz para a roda o estilo mitohermenutico. Este estilo oferta possibilidades de
uma educao de sensibilidade, assentada nas prticas crepusculares, em que
encontramos a possibilidade tramar com a forma hermesiana de interpretao. Uma
hermenutica que, nos seus modos de saber, temos imagens da vida do mito de
Hermes, como nos conta Ferreira-Santos:
Ferreira-Santos: (...) cujos aspectos, nascidos de sua origem patriarcal
(como filho de Zeus) e matriarcal (filho da ninfa Maya) (...) [Nessa composio,
Hermes exibe a fora da androginia em que:] a linguagem totalizadora feminino-
masculino, est oferecendo o paradigma da hermeneia, ou a interpretao da
vida como dilogo entre a natureza e cultura, noite e dia, devir e ser. (...) [Neste
movimento dialgico Hermes,] o mensageiro dos deuses, era representado pelo
falo (...) era tanto condutor como rei dos mortos (...) era o deus do amor e da
fertilidade o deus dos pacificadores, dos eruditos, intrpretes, dos cozinheiros e
dos alquimistas (...) da tica, da msica, da medicina. (...) Manacorda tambm nos
diz que este tambm um mestre das armas, j que as artes do mdico e
guerreiro so muito relacionadas, at complementares: quem com lana fere, com
remdio cura.
30
Nesta girada hermemutica, podemos ento flertar com as prticas
crespuculares de uma educao matrial afro-amerndia-capoeira. Em que, alimentada
pelo conhecimento ancestral, pela fora das narrativas ancestrais (mito) neste modo
artista de en-sinar e fazer-saber, um modo artista de existncia. Assim, nosso estudo
pede uma hermenutica que reconhea e privilegie as estruturas mticas e
29
Cantiga de Capoeira que sempre ouvimos nas rodas mas de autor, para ns, desconhecido.
30
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 96 (g.a.)
40
arquetpicas nas interpretaes dos modos e redes de saber: pede, ento, uma
mitohermenutica.
31
Nesse reconhecimento, Ferreira-Santos chega pra dizer que:
Ferreira-Santos: Vale ressaltar ento que a noo de mito com a que
trabalhamos a de que se trata de uma narrativa dinmica de imagens e smbolos
que articula o passado ancestral ao presente vivido e abre possibilidades ao devir.
Nesse sentido mais revela do que compreende. Mais auxilia a compreenso do
que explica. (...) o mito tem o mesmo estatuto epistemolgico que a cincia, as
artes e a religio ou a linguagem; todas elas formas simblicas que o ser humano
dispe
32
Neste sentido - tambm processual e movedio de mito, enquanto narrativa
viva em redes articuladora de tempos-espaos diversos - podemos pensar na
coexistncia de tempo-histrico e tempo-mtico na partilha dos saberes. Dada a
centralidade do mito, da ancestralidade e da senioridade nas relaes, geraes e
circulaes de conhecimento. Uma vez que, certa a-historicidade e imemorialidade do
tempo-espao mtico atesta uma existncia tambm a-histrica e imemorial da pessoa
e da cultura como campo de foras em movimento. E, ento, Ferreira-Santos volta pra
dizer:
Ferreira-Santos: Aqui se explicita tambm a noo de cultura com que
trabalhamos. Deixando de lado as definies aristotlicas e cartesianas,
optamos por uma noo mais processual e simblica de cultura como o
universo da criao, (...) [partilha], apropriao e interpretao de bens
simblicos e suas relaes.
33
Assim, considerando - numa educao de sensibilidade - as experincias
numinosas na teia dos saberes em movimento, em redes, na dinmica cotidiana da
cultura, podemos pensar num multiverso
34
afro-amerndio em termos mais contextuais,
relacionais e polissmicos. Do mesmo modo, com esta noo mais processual,
simblica e viva de cultura trabalhamos para compreender nos textos, alm das
categorias e conceitos, os fluxos, refluxos e ressonncias. Nesta caa in-tensa nos
caminhos de uma matrialidade afro-amerndia-capoeira, escapamos de uma
abordagem holstica que, como nos diz Ferreira-Santos, tende :
Ferreira-Santos: (...) reduo simplificadora (quando no simplista) do
paradigma clssico [que] ainda permanece nestas ditas atitudes holistas, pois
reduzem a realidade ao todo homogneo, indistinto, onde a diferena apagada
pelo mercado num grande caldeiro ecltico (no mau sentido) sem dar-se conta
31
FERREIRA-SANTOS, 2004 (a), 2005 (c), 2005 (d), 2006 (b)
32
FERREIRA-SANTOS, 2008, p. 05
33
FERREIRA-SANTOS, 2005a, p.208
34
MAMANI, 2010
41
dos seus nascimentos, de suas fontes, e sem uma convergncia ou conflito de
hermenuticas (...).
35
Nesse sentido, para nosso flerte com modos matriais afro-amerndios de estar
na vida, nos esquivamos das tentativas de captura deste paradigma holista, e
respondemos com o gradiente holmico como proposto por Ferreira-Santos. E ele vem
para nos explicar:
Ferreira-Santos: Holonmico provm do grego holn: inteiro, completo.
Portanto complexo e vinculado. (...)Aqui utilizo o termo gradiente em
substituio ao termo paradigma ao me referir transmutao da racionalizao
clssica em uma racionalidade/sensibilidade hermesiana (holonmica, ou em
termos mais simples: uma razo sensvel)
36
O autor ainda nos diz, nas palavras de Merleau-Ponty, que o gradiente uma
rede que se lana ao mar sem saber o que ela recolher. Sendo assim, flertando com
modos capoeiras de saber, nos valemos desta proposta de gradiente, justamente por
ele carregar esta dilemtica liberdade de operao. E neste carrego, oferece-nos
recursos para movimentos dramticos e crepusculares de esquiva elegante diante das
amarras impositivas de uma operao cega
37
de tanta clareza iluminista diurna, de
uma operao racionalmente distanciada e previsvel, linear e etapista.
Nesse sentido dilemtico, dramtico e crepuscular de estudar, desfrutamos
ento dos princpios basais desta pesquisa-reflexo em direo ao Gradiente
Holonmico: a recursividade, a trajetividade e a mitopoisis., que nos permite
diallogo com modos afro-amerndios saber vivo, da arte viva, da ancestralidade e da
pessoa, todas juntas, num movimento contnuo de foras vitais em liberdade de
operao.
38
Sobre a recursividade, a exemplo deste proponente, referenciamos o termo
como utilizado por Edgar Morin quando ele prope a noo de pensamento complexo.
Ento, chamamos Sanchez Teixeira pra conversa, e ela nos conta que esta
complexidade que carrega:
Sanchez Teixeira: (...) uma lgica recursiva, segundo a qual as relaes
entre as partes de um todo enfrentam o problema da contradio de forma
complementar, concorrente e antagonista, produzindo o que ele chama de unitas
multiplex.
39
35
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 32
36
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 32-33
37
MERLEAU-PONTY, 1975, p. 275-276. Citado por FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 32
38
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 33
39
TEIXEIRA, 1994, p. 275
42
Nesse sentido de unidades mltiplas, percebemos esse gradiente holonmico
nos movimentos recursivos de uma dialtica sem sntese
40
, que, de forma anelar,
reconduz a sntese sua provisoriedade real: o movimento.
41
Deslocando-a de uma
imagem esttica de petrificao de um resultado final, holstico, que somente
detectado aps a batalha entre tese e anttese. Nesta reconduo, nos valemos da
recursividade para um modo matrial afro-amerndio de saber, pois justamente o
movimento da batalha que nos interessa.
Interessa-nos essas imagens circulares, pulsantes e movedias que nos auxiliam
perceber a vida do conhecimento na pessoa e na cultura. Isto numa filosofia ancestral
afro-amerndia-capoeira em que tomamos o conhecimento, pessoa e cultura, como
foras vitais que exigem essa ininterrupta movimentao, anelar e recursiva, entre
foras complementares, antagnicas e concorrentes. Nesta exigncia da ginga,
concebemos estes modos de saber como foras assentadas no conhecimento
ancestral, na corporeidade e na ambincia, enquanto movimento de foras em prticas
crepusculares de existncia complexa
42
.
Nesta movimentao das batalhas e das copulaes, com interesse no contato e
na movimentao, assentadas numa crepuscularidade afro-amerndia, percebemos
imagens recursivas da batalha/namoro entre as foras: do conhecimento vivo, da
pessoa e da matria. Sendo assim, a noo trajetividade nos afeioa justamente por
captar o movimento, a dinmica do fenmeno que engloba as estticas descritivas de
um plo e de outro: tanto no objetivismo como no subjetivismo.
43
Desse modo, este movimento da dinmica viva da pessoa e do saber afro-
amerndio-capoeiras dialoga com a noo durandiana de trajeto antropolgico
enquanto a incessante troca que existe ao nvel do imaginrio entre as pulses
subjetivas e assimiladoras do sujeito e as intimaes objetivas do meio csmico e
social
44
. Nesta perspectiva, Sanchez Teixeira faz meno aos dispositivos poiticos
(da criao, como: smbolos, imagens, regras lgicas, lngua, etc), que destacamos
aqui como um dos componentes da noo extensiva de pessoa. Tais dispositivos so
realizados no trajeto antropolgico, dando sentido prpria existncia em meio aos
dilemas do tempo e da morte. Sendo assim, a autora diz que as obras da cultura, e
ento da cincia, por mais iluministas e racionalistas que se pretendam, abrigam mitos
pessoais e coletivos, assim como os grandes mitos. Abrigam movimentos trajetivos de
fora poiticas aflorado nas e pelas sensibilidades noturnas e crepusculares.
40
MERLEAU-PONTY
41
TEIXEIRA, 1994, p. 275
42
MORIN, 1979
43
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 35
44
TEIXEIRA, 2000
43
Diante disto, a autora se refere a uma concepo de texto enquanto a
materializao de um embricamento entre: os caracteres, a biografia pessoal e a
histria scio-cultural. Sendo assim, ela diz que os textos - tanto literrios como
analticos - so meio mitolgicos - meio cientficos.
45
Neste sentido, tramaremos um
jogo entre esta noo e o corpus gingado da pesquisa, de modo a desfrutarmos de
noes vivas e crepusculares de texto entre: as filosofias solares da cincia e as
filosofias lunares das mitologias. Talvez, incrementando este embricamento tambm
com foras vivas primordiais, a-histricas e naturais. E, ento expandimos este
encruzamento tambm com a presena viva da ancestralidade; com as filosofias da
carne, e com as filosofias da matria.
Nesta perspectiva complexa, trajetiva e recursiva, podemos trazer para o dilogo
Edgar Morin com sua concepo de neguentropia. E ele nos diz que se trata de uma:
Morin: (...) disposio prpria para o sistema auto-organizado complexo
para a vida, no seu sentido mais amplo, englobando tambm o homem e o esprito
para utilizar as foras de desorganizao a fim de manter e desenvolver sua
prpria organizao, para utilizar as variaes aleatrias, os acontecimentos
perturbadores, a fim de aumentar a diversidade e a complexidade.
46
Nesse sentido, a complexidade na trajetividade e recursividade das foras entre:
pessoa, coletividade, ambincia e conhecimento, parecem desfilar nos modos de
saber afro-amerndio. E, assim, d sinais de toda uma movimentao viva, assentada
numa abertura permanente ou numa permanncia aberta da versatilidade crepuscular
da ginga. Dando vida s trajetividades recursivas e complexas no campo de foras da
pessoa-coletivo-ambincia-conhecimento.
Neste gingado trajetivo-recursivo-complexo, muito prprio de uma filosofia afro-
amerndia, podemos vislumbrar este campo ao desfrutarmos tambm do que Ferreira-
Santos chama de mitopoisis. E ele mesmo nos conta, que trata-se de:
Ferreira-Santos: Uma elaborao/construo pessoal (pisis), narrativa e
dinmica de imagens e smbolos (mito) determinada pela invarincia arquetipal, e
desta forma narrativa determinada pela facticidade do mundo em sua relao com
o humano, no deixa de ser uma construo, e portanto, uma elaborao pessoal
e nica (poisis) destas imagens e matrias, na qual h possibilidades de
afirmao do humano, de sua transcendncia. Este entrechoque entre duas foras
antagnicas e complementares, (...) resulta numa permanncia aberta, num
inacabamento primordial.
47
45
TEIXEIRA, 2000
46
MORIN, 1979, p.95-96
47
FERREIRA-SANTOS, 1998, p.38 (g.a.)
44
Nesta permanncia aberta e inacabamento primordial, nestes entrechoques
entre a ascendncia materialista diurna e a descendncia idealista noturna, podemos
dizer que o conhecimento afro-amerndio, como uma fora viva, nos leva
transcendncia crepuscular esquiva aos confinamentos materialistas e idealistas nos
modos acadmicos de tratar das matrizes afro-amerndias.
Nesse flerte com concepes matriais afro-amerndias-capoeiras de saber, de
pessoa e de arte, em que percebemos, como disse o Pai Quejessi, um modo artista de
aprender pelos sentidos, necessitamos desta crepuscularidade, necessitamos do que
Maffesoli chama de razo sensvel. Ele chega nesta roda para nos dizer:
Michel Maffesoli: No h mais que se procurar o sentido no longnquo ou
num ideal terico imposto no exterior ou em funo de um sistema de
pensamento, mas, isto sim, v-lo em ao numa subjetividade comunitria, o que
requer que leve a srio o sensvel, quanto mais no seja para dar-lhe fundamento
racional. Isso se traduz na recusa a opor os fatos afetivos e os fatos cognitivos
mas, em vez disso, reconhecer a dinmica que os une sem cessar. Dinmica em
ao na vida social, dinmica que deve se encontrar, de fato, no ato de
conhecimento.
48
Diante desta recomendao, percebemos a importncia das concepes
matriais afro-amerndias-capoeiras numa dinmica copulativa e incessante dos modos
de saber com corpo, alma e corao. Alimentamos-nos dessa uma educao de
sensibilidade numa partilha de en-sinametos que privilegie este espao trajetivo, de
entre-meio, crepuscular, entre o plo racional e o plo sensvel no dito ato de
conhecimento. Sem que a razo deixe de ser a razo, e nem os sentidos deixem de
ser os sentidos.
O desafio posto est justamente em pervagar na trajetividade e recursiva entre
os plos, de modo que nenhum deles se absolutizem em detrimento do outro. Esta
trajetividade, cursiva, recursiva e ressonante, pede por um exerccio da razo sensvel.
Nesta via, possvel perceber tal crepuscularidade como trao marcante de uma
filosofia latinomediterrnea, como evidenciadas por Ortiz-Oss e Ferreira-Santos e, do
mesmo modo, da filosofia afro-amerndia.
E ento, Ferreira-Santos vem para nos dizer que trata-se de filosofias que
trazem uma vitalidade do complexus na:
Ferreira-Santos: () aplicacin de un pensamiento, cotidianamente,
complejo de ejercicio de conciliacin de contrarios que no se apagan, ni se
diluyen en alguna sntesis hegeliana o marxista. Todo al contrario, mantienen
su tensin constante que es el motor del dinamismo vital, el desafiante ejercicio
de una dialctica-sin-sntesis (como en Merleau-Ponty, Mounier o Ricoeur).
49
48
MAFFESOLI, 1998, p. 196
49
FERREIRA-SANTOS, 2009. p 14
45
Nesta perspectiva das filosofias afro-amerndia e latinomediterrnea, podemos
encontrar uma esquiva frente s obsesses aristotlicas-cartesianas em racionalizar,
sistematizar, separar e incompatibilizar fenmenos da vida cujas in-tensionalidades
so, simultaneamente, confrontveis e conciliveis. E, alm de tudo, interdependentes.
Neste movimento, de considerar as harmonizaes ambguas e tenses neste
dinamismo vital, optamos aqui por utilizar o termo crepuscular. Por este parecer mais
propcio ao estudo de modos de saber que considerem, simultnea, dialgica e in-
tensionalmente, as filosofias solares que, com seu regime diurno so mais tributrias
dos paradigmas fixos, das classificaes, cises e categorizaes - juntamente com as
filosofias lunares que, com seus regimes crepuscular e noturno, primam pela alma,
pelos sentidos, pelas emoes, pela intuio, pela juno e mediao.
50
Posto isto, uma educao de sensibilidade preza por uma partilha crepuscular
que, para alm da razo diurna, reconhea devidamente os sentimentos noturnos,
como a intuio, os devaneios, os sonhos, os desejos de pesquisa, as surpresas e o
deleite, como atributos vitais dos processos de conhecimento. Nesse sentido, o
Ferreira-Santos nos intera de que so as estruturas de sensibilidade, enquanto modos
de organizao e afinao do sistema perceptivo, que, incontestavelmente, do vida e
alimentam o esprito cientfico, no desejo visceral pela busca, pela criao e pelo
deleite dos saberes, consigo mesmo, com os outros e com mundo.
nesta busca visceral, que nos alimentamos da carne da caa de uma
compreenso crepuscular da matriz afro-amerndia e dos seus modos capoeiras de
saber. Capoeira aqui sentida enquanto uma fora matrial afro-amerndia. Com isto,
como j sinalizamos, e convm, de propsito, re-forar: somos impelidos a re-visitar as
abordagens restritamente afrocentradas - que fixam uma origem/herana
exclusivamente africana nos traos da cultura negra no Brasil. Fixao esta, digna de
respeito e compreenso, visto cotidiana resistncia aos ininterruptos ataques
brancocntricos esta matriz.
Posto isto, e reconhecendo a matriz africana como base-me primordial da
Capoeira, como ensinam os velhos Mestres - buscaremos pensar nas proximidades
entre os traos africanos e amerndios nas formas de existncia consigo, com os
outros e com os mundos material e csmico, sensivelmente presentes nas partilhas
capoeiras
51
.Da o apetite em frisar o termo afro-amerndio para referenciar a Capoeira.
50
FERREIRA-SANTOS, 2005 (c)
51
O termo capoeira, neste caso, mencionado como um adjetivo. Vale mencionar novamente aqui, para
esta sesso, que utilizaremos o termo capoeira em trs acepes: quando a inicial maiscula, o termo
Capoeira um substantivo prprio que diz respeito arte, Me-Capoeira; quando com letra
minscula, o termo capoeira diz respeito, tanto ao adjetivo - referenciando a qualidade, o modo
capoeira de ser, estar e fazer-saber e en-sinar - como tambm enquanto substantivo comum -
46
Por outro lado, e com muito mais veemncia, prescindiremos da influncia do
brasileirismo, irradiado das polticas de branqueamento da cultura nacional, que
trabalham por mestiar, mestiar... at embranquecer o adjetivo brasileiro. E, assim,
seguem intentando escamotear a herana matrial afro-amerndia nos smbolos do que
chamam identidade nacional
52
, como acontece com a Capoeira. E, alm do mais,
diante do fato de que, na literatura da Capoeira, em especial nas cantigas em
momentos de Maculel
53
, quando se canta a palavra brasileiro faz-se referncia, e
reverncia, ao ndios, caboclos, ancestrais desta terra, fortemente presentes na
Capoeira.
Neste trabalho, como j alertamos, abriremos mo, portanto, do termo brasileiro.
E, ao invs de tratar a Capoeira, como correntemente vemos, com os qualificativos
brasileira ou afro-brasileira, optamos aqui por adjetiv-la como uma
herana/expresso afro-amerndia, que, em muito, diverge da herana/expresso
branco-ocidental-brasileira reinante na cultura escolar.
Buscamos, ento, uma esquiva ao recorrente argumento sociogrfico,
etnogrfico e historicista branco-ocidentais, e, simultaneamente, chamaremos pra uma
ginga sorrateira, a posio afrocentrada. Visto que, paradoxalmente, comungam de
uma mesma justificativa teoricista de que a presena indgena na cultura negra diz
respeito ao princpio inclusivista dos negros banto, os angolas. Diante disto, jogaremos
aqui em busca das imagens de uma partilha afro-amerndia na Capoeira, de modo a
compreender esses elos vitais, corporais e cosmolgicos dizendo respeito diretamente
prpria atuao da populao indgena em contato in-tensional com a populao
negra. Uma imagem copulativa.
Feitas tais repeties nesse jogo in-tensional, o Berimbau chamou pro p da
roda, e, agora, vamos a outro jogo, mas, desta vez, pra um quebra gereba entre as
heranas. E, como fundamento da roda, sempre marcando nossa pertena nessa
ginga capoeira. Nesta roda propcia a remisso aos ensinamentos de Ferreira-
Santos
54
, sobre a tenso entre as principais caractersticas, um tanto antagnicas,
destas divergentes heranas culturais no seio de um mesmo territrio poltico.
Nesta perspectiva, o autor nos responde sinalizando que a herana branco-
ocidental apresenta uma configurao de ordem oligrquica situada na posse
histrica de grandes extenses de terra ou de riquezas por uma pequena parcela da
populao. Enquanto que a afro-amerndia aparece comunitria (no-oligrquica)
referenciando a pessoa capoeirista, numa androginia que carrega simultaneamente o feminino e o
masculino em sua acepo.
52
MUNANGA, 1999.
53
Dana de guerra, geralmente ao som de atabaque e agog, com basto de madeira (esgrima) nas
mos.
54
FERREIRA-SANTOS, 2005(a), p. 210-211-212
47
baseada na partilha de bens e na preponderncia do bem-estar comunitrio e, depois,
do bem-estar pessoal.
Ademais, ainda neste contexto da diferena, o professor destaca que a tradio
branco-ocidental apresenta caractersticas de ordem individualista estruturada sob a
herana iluminista-burguesa da apologia do indivduo sobre a comunidade ou
sociedade, defesa da liberdade individual e da livre iniciativa. Ao mesmo tempo e
espao em que a tradio afro-amerndia nos oferece uma herana de disposio
coletiva (no-individualista) estruturada sob a herana agrcola-pastoril da
importncia da aldeia (comunidade) e partilha da colheita na defesa afro-amerndia do
aspecto comunal-naturalista.
Alm destes traos antagnicos entre si, o professor ainda assinala que a matriz
dominante pautada por distines de ordem contratualista - estruturada no
formalismo do contrato social iluminista. Enquanto que na matriz latente encontramos
traos de uma ordem afetual-naturalista (no-contratualista) estruturada no
afetualismo das relaes entre as pessoas cujas relaes sociais so originadas da
necessidade pragmtica de sobrevivncia e do afeto gerado pelas relaes parentais
e pelas amizades construdas, na defesa da liberdade, das heranas e da
fraternidade.
55
Esta feio comunitria, coletiva e afetual-naturalista afro-amerndia nos abre
caminhos para perceber uma partilha capoeira de conhecimentos, concebendo
pessoas-capoeiras, famlias-capoeiras, linhagens-capoeiras e palavras-capoeiras. Em
intimidade profunda e misteriosa com a ancestralidade, com o tempo-espao circular e
com a matria. Neste trao no oligrquico, no individualista e no contratualista
podemos perceber a priorizao s foras vitais - da sade e alegria de viver -,
primeiramente, com relao Me-Capoeira e Me-terra, ambincia, e somente
depois, s pessoas, comeando pelas ancis e ancios, crianas e adolescentes, e
por ltimo, os adultos.
Dando-nos sinais de um multiverso no adultocntrico nem humanocntrico das
prioridades comunitrias. Em que a/o capoeirista no proprietrio da roda ou do
territrio, nem muito menos da Capoeira, pelo contrrio: a pessoa-capoeira pertence
ao territrio, Me-terra e Me-Capoeira. Numa relao recursiva de contido-
continente. Assim, noo de pessoa-capoeira destoa do conceito de indivduo
individualizado e aparece como uma fora mltipla em seus componentes, para alm
da prpria corporeidade. Corporeidade que um elemento primordial da constituio
55
FERREIRA-SANTOS, 2005(a), p.210-211-212
48
da pessoa, um elemento com as dimenses sagradas da criao e da expresso, pois,
para uma vida afro-amerndia-capoeira ns somos nossa corporeidade.
Assim, poderamos at substituir o termo pessoa por corporeidade, porm no o
fazemos, justamente porque, aqui, uma noo de pessoa afro-amerndia-capoeira
aparece como uma fora vital que: precede o corpo encarnado, permanece na
corporeidade viva e procede viva aps o corpo retornar Me-Terra. Sendo assim,
este sentido de pessoa se estende ancestralidade, linhagem, famlia estendida,
aos elementos da natureza, determinados animais e plantas e ambincia.
Assim, podemos dizer que uma noo de pessoa-capoeira parece extrapolar
uma noo de corporeidade, visto que uma fora vital de grande durao e extenso
frente pequena durao histrica e aos limites materiais de alcance da corporeidade.
Sendo assim, assumimos o risco em insistir na busca por noo de pessoa-capoeira
enquanto uma fora extensa, multiforme e fundamentalmente coletiva.
Do mesmo modo, a palavra-capoeira destoa da noo individualizante e utilitria
como posta pela matriz branco-ocidental que trabalha por localizar a literatura
enquanto mercadoria cultural com nfase no autor e no produto final. Muito pelo
contrrio, a nfase aqui a prpria fora vital da Capoeira e toda ancestralidade que
ela carrega em seu corpo-roda-voz. Desse modo, parece que a prpria noo afro-
amerndia-capoeira de autoria
56
coletiva, comunitria e no contratualista. Diz
respeito s profundidades da filosofia ancestral e da dimenso sagrada da criao,
fertilidade do ventre da Me-Capoeira.
Bom, voltando ao jogo confrontoso das divergncias, outro trao gritante da
herana patente branco-ocidental a feio patriarcal estruturada sob o domnio
masculino patrilinear em que a figura do pai, do coronel, do Estado e do bispo (ou
padre [e, aqui, aditamos o pastor]) so equivalentes simblicos enquanto que a
herana latente afro-amerndia traceja uma existncia matrial (no-patriarcal) em
que a figura da grande me (mater), da sbia (sophia) e da amante (anima) so
equivalentes simblicos. E o autor ressalta que no primeiro as caractersticas bsicas
so: a separao e distino, o mando, a posse, a vigilncia, o castigo e a impunidade
da arbitrariedade (senso de onipotncia); seu atributo bsico a razo. Enquanto que
no segundo so: a juno e a mediao, a religao, a partilha, o cuidado, as
narrativas e a reciprocidade (senso de pertena); seu atributo bsico o exerccio de
uma razo sensvel
57
.
este trao matrial da matriz afro-amerndia que nos excita, nos alimenta e nos
encaminha aos braos da Me-frica, da Me-Terra (Pachamama) e da Me-
56
ALBUQUERQUE, 2008; BALOGUN, 1997
57
FERREIRA-SANTOS, 2005(a), p.210-211-212
49
Capoeira. Nesse entoada, aqui, o adjetivo capoeira, carrega, por si s, tambm esta
matrialidade em sua composio e expresso qualificativa. Esta matrialidade oferece-
nos recursos para a caa e degustao de um modo capoeira de fazer conhecimento.
E em pleno movimento, simultaneamente, lamentoso e festeiro, de re-mediaes
cotidianas. Movimentos partilhados de re-ligaes recorrentes da pessoa-capoeira
consigo mesma, com a comunidade, com a ancestralidade e com a ambincia das
quais ela pertence. Isto, numa intimidade do cuidado e numa profundidade da juno,
numa sensibilidade comunal de famlia-capoeira no ventre das grandes mes.
Este qualificativo nos incita a flertar com a matrialidade-capoeira numa educao
de sensibilidade no tempo-espao espiralado, mobilizado pelas narrativas ancestrais
(mticas) da palavra-capoeira. Mobilizaes que ofertam impulsos trajetivos entre as
razes ancestrais e histricas, a renovao das folhagens na criao contempornea,
e a proteo e promessa de novas sementes. Assim, percebemos a palavra-capoeira
na ginga da ancestralidade, do presente e do devir num s rodopio.
Diante desta mostra das caractersticas pertencentes s matrizes branco-
ocidentais patriarcais e afro-amerndias matriais, coexistindo no ventre da uma mesma
sociedade, assistimos a um jogo de ataques violentos e esquivas. Em outras palavras,
recorrente toparmos com os, incontveis e inevitveis, conflitos e con-tradies nos
momentos e movimentos de encontro/confronto destas heranas to distintas num
mesmo territrio. Um verdadeiro quebra gereba temperado pela peleja do genocdio
etnocida e epistemicida do primeiro grupo sobre o segundo.
E, por falar em etnocdio epistemicida, chamamos para esta roda a
pesquisadora, professora e feminista negra Sueli Carneiro. Ela atende ao nosso
chamado, e dialogando com os interstcios entre a noo de espistemicdio proposta
por Boaventura Souza Santos e a noo dos dispositivos do biopoder apresentada por
Michel Focault, ela chega para dizer:
Sueli Caneriro: Para ns, porm, o epistemicdio , para alm da anulao
e desqualificao do conhecimento dos povos subjugados, um processo
persistente de produo da indigncia cultural: pela negao ao acesso a
educao, sobretudo de qualidade; pela produo da inferiorizao intelectual;
pelos diferentes mecanismos de deslegitimao do negro como portador e
produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela
carncia material e/ou pelo comprometimento da auto-estima pelos processos de
discriminao correntes no processo educativo. Isto porque no possvel
desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem desqualific-
los tambm, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao faz-lo,
destitui-lhe a razo, a condio para alcanar o conhecimento legtimo ou
legitimado. Por isso o epistemicdio fere de morte a racionalidade do subjugado ou
a sequestra, mutila a capacidade de aprender etc.
uma forma de sequestro da razo em duplo sentido: pela negao da
racionalidade do Outro ou pela assimilao cultural que em outros casos lhe
imposta. Sendo, pois, um processo persistente de produo da inferioridade
50
intelectual ou da negao da possibilidade de realizar as capacidades intelectuais,
o epistemicdio nas suas vinculaes com as racialidades realiza, sobre seres
humanos institudos como diferentes e inferiores constitui, uma tecnologia que
integra o dispositivo de racialidade/biopoder, e que tem por caracterstica
especfica compartilhar caractersticas tanto do dispositivo quanto do biopoder, a
saber, disciplinar/ normalizar e matar ou anular. um elo de ligao que no mais
se destina ao corpo individual e coletivo, mas ao controle de mentes e coraes.
58
Neste jogo tenso do encontro/confronto em meio aos ataques predatrios da
herana patente branco-ocidental sobre a herana latente afro-amerndia, temos
imagens destes ataques epistemicidas a impedir o acesso e permanncia na
escolarizao, a tramar a inferiorizao cultural e intelectual. Alm destes golpes,
tomamos as imagens deste sequestro da razo em duplo sentido, como uma
tentativa atroz de amordaamento da razo sensvel, por meio da perversidade
meticulosa e violenta de controle de mentes e coraes que buscam, justamente,
romper os elos de ligao entre o corpo e coletivo. Imagens da ruptura na mutilao
da pessoa-comunal e da ciso entre corpo-mente-corao-matria.
Neste propsito das segregaes e polarizaes absolutas, estendemos a noo
epistemicdio tambm prpria concepo vivida de conhecimento. Posto que, ao
contrrio da matrialidade afro-amerndia que toma o conhecimento como fora viva
movimentando e sendo movimentada por outras foras num movimento circular,
pulsante e complementar de partilha numa razo sensvel; a hegemonia branco-
ocidental prima por postular um conhecimento morto, objetal, meramente
instrumental, num movimento linear e ascensional de pretenso cumulativa num
racionalismo insensvel. Desse modo, o epistemicdio branco-ocidental tambm fere
de morte a prpria fora vital do conhecimento. E, com ela, as potncias das
religaes e remediaes entre a tradio e a criao, e entre pessoa, comunidade,
matria, ancestralidade e territrio.
58
CARNEIRO, 2005, p 97
51
2.2.a. Imagens dolentes das esquivas
Neste jogo tenso entre matrizes to distintas habitando um mesmo terreno,
encontramos muitas imagens da batalha entre a sensibilidade noturna-crepuscular e
descensional dos modos matriais afro-amerndias fazer-saber e en-sinar diante da
hegemonia da racionalidade diurna e ascensional do patriarcado racista dos modos
branco-ocidentais de escolarizao.
Nesta contenda, temos imagens das dores da amputao herica e diurna nas
memrias e experincias de escolarizao da populao negra. E ento recordamos
de quando, em convesa com a Me Oyacy, assuntamos:
Elis: Na minha passagem pela escola, como aluna e como professora, eu
percebo que os movimentos corporais se reduzem cintura pra cima e o cho
um territrio proibido. So sempre movimentos de ascenso, lineares sempre pra
cima, pra cima, pra cima... Isso me parece uma obsesso. Enquanto que na matriz
afro-amerndia, ao contrrio da escolar branco-ocidental, o poder, a fertilidade, a
prosperidade est no cho. E voltar-se ao cho sinal de prosperidade.
Don Oyacy: O cho pra ns tudo! de onde viemos e pra onde vamos!
Tudo tem que ir pro cho! Pra ns, esse o principal fundamento. A MeTerra
o nosso principal fundamento. a fonte da vida e da fora dos nossos ancestrais.
Mas os ocidentais no compreendem isto e s pensam em subir, em se distanciar
da terra.
59
Nesse sentido, temos imagens das esquivas capoeiras diante da obsesso
branco-ocidental-crist pelo utilitarismo racionalizado e pela linearidade ascensional,
que despreza a carne e o cho, tomando-os como morada dos equvocos, morada do
diabo e morada das impurezas, de toda sujeira e baixeza desprezvel.
E, por falar na escuta de um lamento noturno da carne e da Me-Terra diante
deste descasalamento brochante institudo pela hegemonia ocidental-crist e in-posto
por uma escolarizao racionalista, linear e diurna, relembramos da nossa conversa
com Erenay Martins uma educadora freireana, nossa irm mais velha de Capoeira.
Numa sexta-feira, na sede do Grupo Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ainda
suadas aps a Roda e a semana letiva, sentamos no cho da sala feminina de
trocao de roupa. E ento, nesse clima de intimidade familiar-feminina, assuntamos:
Elis: Tramando com as nossas imagens desses momentos capoeiras de
aprendizado coletivo, familiar e linhageiro, da partilha em roda e em intimidade
com o cho, a gente todo dia se pergunta: quais contribuies que a filosofia da
Capoeira oferece cultura escolar?
Erenay: Primeiro, pensamos na dificuldade em que escola tem em
conceber a Capoeira, porque o primeiro passo dessa contribuio seria anular as
carteiras, cadeiras e fileiras. Porque os princpios fundamentais da Capoeira so:
59
Trecho da conversa transcriada com Me Oyacy, realizada em 2010 no Il Ax de Yans, situado no
Stio Quilombo Anastcia no Assentamento Rural Araras III na cidade de Araras, interior paulista
52
a roda, os ps, as mos e a cabea, todos no cho. Pois nas atividades
especializantes da vida moderna e da escola o ser humano se limita a
movimentao da cintura pra cima, eliminado a comunicao atravs dos
membros inferiores e do cho. Isso a limita a educao de um corpo-completo.
J na Capoeira no temos essa limitao, pois o corpo ganha conscincia
de si sensibilizado, comunitariamente, pelo ritmo e pela movimentao - ao do
movimento: de cima pra baixo e debaixo pra cima; de um lado para outro; de
rotao e translao. E isso na organizao em roda que simboliza a equidade e a
coletividade em um espao-tempo unitrio. Em que a hierarquia organizada pelo
tempo de experincia vivida de cada capoeira em cada linhagem. E ento, a
relao mestre-discpulo mediada pelo ax e no pelo apelo ao autoritarismo
institucional.
60
Nestas topadas com as aes limitadoras da escolarizao, nas suas
obsesses lineares, ascensionais e compartimentalizadora, temos imagens das dores
e rupturas dos retalhamentos para um corpo incompleto, para um corpo insensvel e
desligado da comum-unidade de vida em seus espaos-tempos. Desse modo,
percebemos imagens das mutilaes nos amputamentos etnocidas e epistemicidas,
nos modos contratuais, autoritrios e ultra-racionalizantes das lgicas da assimilao e
do encarceiramento compulsrio nas instituies de um Estado cristo-militarizado.
E, nessas dores e cortes temos imagens do lamento matrial afro-amerndio
sofrendo da predao patriarcal branco-ocidental com seus recalques escolarizatrios
de insensibilizaes de corpos e ambincias. E, por falar do lamento matrial-criana
num territrio de razo insensvel, nos vem a imagem de Fanon quando, escrevendo
da experincia do negro, em primeira pessoa, ele narra cenas das investidas
cientfica-colonialistas dos branco-ocidentais de individualizao e epistemcidio:
Frantz Fanon: Os psicanalistas dizem que para a criana no h nada de
mais traumatizante do que o contato com racional. Pessoalmente direi que, para
um homem que s tem como arma a razo, no h nada de mais neurtico que o
contato com o irracional.(...)
61
Assim, ao meu irracional opunham o racional. A
meu racional, o verdadeiro racional. Todas as vezes jogava um jogo perdido. (...)
O Branco, era claro, resmungava (...) Deixe para l suas pesquisas sobre o
passado e tente se colocar no nosso ritmo. Em uma sociedade como a nossa,
extremamente industrializada, cientfica, no h mais lugar para a sua
sensibilidade. (...)
62
Estas experincias dolentes, de insensibilizao epistemicida, fere em
profundidade os modos matriais afro-amerndios de saber-fazer e ensinar de forma
artista pelos sentidos numa comum-unidade de vida. Nessa imposio brochante do
deixe para l suas pesquisas e tente se colocar no nosso ritmo temos imagens da
60
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Erenay Martins, realizada na sede do Grupo Capoeira
Angola Guerreiros da Senzala situada no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
61
FANON, 1983, p. 98
62
FANON, 1983, p. 109
53
neurose racionalista da escolarizao em que no h mais espaos para a sua
sensibilidade.
E, ento, quando topamos com memrias negras da escolarizao branca,
encontramos uma recorrncia de imagens de amordaamento e amputamento, do
enquadramento institucional branco-ocidental ferindo e amorda;cando as ligas vitais
entre pessoa, comunidade, saber e ancestrailidade afro-amerndias. E, ento,
podemos ouvir com os olhos a alma-palavra de Huanacuni Mamani quando ele solta
seu lamento indgena nas dores da enfermedad provocada pelos ataques branco-
ocidentais do estado colonialista juntinho com o sistema capitalista. Ele nos diz:
Huanacuni Mamani: Estos referentes de vida han propiciado un escenario
de desencuentros y han ido profundizado cada vez ms los abismos entre los
seres humanos y todo lo que les rodea, llevando a la humanidad a un alto grado
de insensibilizacin. Ms all de lograr una mejor calidad de vida, cual fuera la
promesa de la modernidad, la humanidad avanza cada da ms hacia la
infelicidad, la soledad, la discriminacin, la enfermedad, el hambre Y, ms all
de lo humano, hacia la destruccin de la Madre-Tierra.
63
() Es una
desintegracin colectiva que ha anulado la sensibilidad y el respeto po todo que
nos rodea, resultando en una civilizacin muy infeliz y extraordinariamente
violenta, que se ha convertido en una amenaza para s misma y para todas las
formas de vida.
64
Neste sentido agoniante, de insensibilizao opressora imposta pelas lgicas
estatais e mercadolgicas, que fazem da escolarizao uma fonte de imagens de
adoecimento, de infelicidade, de violncia, de discriminao e individualizao. O que
nos faz pensar naquele antagonismo gritante entre as diferentes matrizes culturais
quando consideramos o que uma melhor qualidade de vida.
Nesse sentimento afro-amerndio em meio s enfermidades, podemos dizer de
um lamento diante de toda esta predao branco-ocidental operacionalizada pela
eficcia das articulaes entre eixos de opresso de classe, de raa-etnia, de gnero e
de gerao nos processos escolarizatrios. Esta articulao o magens de uma
melancolia matrial afro-amerndia diante da insensibilizao violentamente
compulsada pelos moldes patriarcais, racistas e adultocntricos na cultura escolar e
da escolarizao.
Importa dizer que escolarizao aqui tratada em dois sentidos, porm
intimamente relacionados. O primeiro diz respeito aos processos e polticas referentes
constituio de uma rede institucional responsvel pelo ensino da leitura, escrita,
clculo e outros contedos escolares. Podemos escutar o lamento frente ao
63
MAMANI, 2010, p.13
64
MAMANI, 2010, p. 34
54
conteudismo branco-ocidental, escutamos as dolncias e rupturas de uma no-
existncia, de um desprezo frio e planejado.
O segundo sentido de escolarizao faz aluso produo e disseminao de
sentidos, representaes, significados e implicaes sociais, culturais e polticas
advindas da especificidade da forma escolar de socializao e da crescente
ampliao da influncia desta para muito alm dos muros escolares.
65
Dentro deste
segundo sentido ainda temos um terceiro: o processo de submetimento de pessoas,
sensibilidades e valores aos imperativos escolares.
66
Aqui, escutamos o lamento
matrial afro-amerndio com seu modo artista e comunal ferido pelos grilhes da
racionalidade insensvel, dos modos adultocntricos, contratuais e individualizantes de
educao compulsria.
Nesta investida patriarcal branco-ocidental, de conteudismos e submetimentos
que ultrapassam as grades da instituio escolar, dialogamos com Faria Filho quando
ele faz a articulao entre escolarizao e cultura escolar. Ele toma como cultura
escolar como:
Faria Filho: (...) a forma como em uma situao histrica, concreta e
particular, so articuladas e representadas, pelos sujeitos escolares, as dimenses
espao-temporais do fenmeno educativo escolar, os conhecimentos, as
sensibilidades e os valores a serem transmitidos, e a materialidade dos mtodos
escolares.
67
Nesta perspectiva, de escolarizao e cultura escolar, chamamos ateno para a
importncia de revisitarmos a cultura escolar enquanto fenmeno dolorosamente
avassalador tambm no campo da educao no escolar. Conversamos com este
autor quando ele afirma que as culturas escolares, em sua potencialidade analtica,
exercem, metodologicamente, a mediao entre os processos de escolarizao
(macro-anlise) e as prticas escolares (micro-anlise).
Nesta ao mediadora, as culturas escolares so embutidas, ao longo do
processo de apropriao, pelos sujeitos escolares, das tradies e culturas
infestadas em cada momento histrico do processo de escolarizao. E, assim,
baseado nesta constatao, o autor explica a dificuldade, ou mesmo impossibilidade,
de mudanas bruscas da cultura escolar. O que permite uma compreenso das
vagarosas variaes e das longas e dolorosas repercusses das experincias
escolares para a populao afro-amerndia.
Nesse movimento, que flertamos com imagens dolentes diante das
experincias e culturas escolares, e ento, do processo de escolarizao. Imagens que
procriam imagens das formas racistas, patriarcais, classistas e adultocntricas, pelas
65
FARA FILHO, 2003, p.02
66
FARIA FILHO, 2003, p.02
67
FARIA FILHO, 2003, p.03
55
quais o discurso pedaggico se constitui como fonte do processo de estatizao do
social e do saber. E, assim, podemos perceber os modos como estas formas buscaram
dar legitimidade escola como espao institucional e oficial de organizao do saber.
Imagens do lamento negro, feminino e criana.
E, por falar neste lamento presente nas memrias escolares, relembramos de
quando a mulher, negra, nordestina, quilombola urbana contempornea, professora,
historiadora, poeta, ativista, pensadora
68
- Beatriz Nascimento, em entrevista para o
livro Fala, Crioulo, de Haroldo Campo, narra imagens dolentes da escolarizao.
Sendo assim, temos a alegria de a convidarmos para esta roda, e ela aceita o nosso
convite contando seu canto de lamento:
Beatriz Nascimento: Na medida em que ela [a sociedade brasileira] impe
na sua cabea que uma sociedade branca, que seu comportamento tem que ser
padronizado segundo os ditames brancos, voc como preto se anula, passa a
viver numa outra vida, flutua sem uma base onde possa pousar, sem referncia e
sem parmetro do que deveria ser a sua forma peculiar (1982:96). (...) Esse
processo costuma ser longo e insidioso e comea j na escola primria. (...) eu,
muitas vezes inventava uma dor de barriga e fugia (...). Acho que muita criana
negra tem esse mesmo problema e por isso que no estuda, muitas vezes no
passa de ano, tem dificuldade na escola por causa de um cero tipo de isolamento
que no facilmente perceptvel. aquela mecnica de educao que no tem
nada a ver com esses grupos de educao familiar, a mecnica da leitura, onde
voc no sabe quem , porque no est nos livros. (Idem, 197)
69
Estas imagens dolentes da ruptura, na anulao de si diante obrigatoriedade de
viver numa outra vida, trazem cenas dolorosas do desligamento da matrialidade
nesta flutuao mrbida e agoniada sem uma base onde possa pousar. Imagens
infelizes do corte profundo pelas navalhas do epistemicdio que produzem o
isolamento e invisibilidade por meio desta mecnica formatada na razo insensvel
da cultura escolar.
Nessa levada banzeira do desligamento, da conteno e do submetimento
epistemicida, podemos ouvir um lamento capoeira diante das injunes da cultura
escolar e da escolarizao. Este processo longo e insidioso que provoca a asfixia e a
invisibilizao dos modos afro-amerndios-capoeiras de fazer-saber e en-sinar, que
impe a interdio deste modo artista de estar na vida. Podemos, ento, escutar uma
cantiga dolente de Capoeira:
De que adianta ter estudo
De que adianta ter estudo, yaya
Se eu posso me comparar
68
CARNEIRO, Sueli. In: Prefcio do livro: Eu sou atlntica: sobre a trajetria de vida de Beatriz
Nascimento, de autoria de Alex Ratts (2007)
69
RATTS, 2007, p.48
56
pois eu tambm sou doutor
na minha arte popular
Eu pego meu berimbau
meu atabaque e meu pandeiro
Eu me jogo nesse mundo
l com esse jeito brasileiro
E vocs que so formado
E dizem que tem educao
s vezes vocs no vm
o que eu presto ateno
Eu vejo criana sendo morta
e jogada no poro
pois elas apanham pra comer
o que voc joga no cho
Pois a minha educao
no foi a escola quem me deu
quem me deu foi a capoeira
Hoje eu agradeo a Deus
Adeus escola meu mano
O, meu mano
Ai meu mano
Adeus escola, meu mano
Meu mestre est me esperando
Adeus escola, meu mano
Berimbau est me chamando
Adeus escola, meu mano...
70
Nesta entoada profundamente machucada, temos imagens dos cortes e dos
religamentos. Imagens da ruptura na recusa quele submetimento e quela anulao,
que fazem coro com imagens da separao das ligas familiares quando o capoeira
abandona a escola se despedindo do seu mano que l ficou tendo que viver uma
outra vida. Nessa retirada, temos, nesta ruptura da fuga, imagens da religao com a
Me-Capoeira quando o poeta d adeus escola e atende ao chamado do Mestre e
do Berimbau. Imagens do lamento e da acolhida matrial afro-amerndia da Me-Terra,
da Me-frica e da Me-Capoeira em meio s dores provocadas pelos longos e
insidiosos ataques retalhadores da escolarizao agindo como aparelho do estado
patriarcal, adultocntrico, cristo e racista.
Nesse jogo violento, temos imagens do desalento negro em meio ao fogo
cruzado do antagonismo gritante e inconcilivel entre a trade matrial afro-amerndia
(das mes-sbias-amantes Terra, frica e Capoeira) em contato/confronto com trade
patriarcal branco-ocidental (estado, coronel e padre/pastor). As imagens desta
contenda revelam uma variao de golpes desferidos pelas prticas escolares. Este
confronto nos impele a perceber que cultura escolar e a escolarizao s podero ser
compreendidas se levarmos em considerao a atuao desta trade branco-ocidental
na forma como se deram/do as apropriaes religiosas (crists) e cientficas na
70
Ladainha composta por Mestre Mo Branca
57
formao do pensamento pedaggico e, ento, na realizao das prticas escolares e
dos processos de escolarizao.
Deste modo, temos imagens do golpe aparelhado desta trade racista e
adultocntrica quando ouvimos em profundidade aquel adeus escola, meu mano.
Nessa entoada, recordamos do fato de que, embora os discursos institucionais e da
legislao considerem as crianas enquanto atores sociais e sujeitos de direitos, a
viso de infncia, como ainda propagada pela cultura escolar e pelo poder da
orientao poltica das organizaes multilaterais
71
, ainda expressam a encrustada
acepo dos Moralistas, da Psicologia e das Cincias Mdicas. Acepo que localiza
nas crianas e nas famlias a falta, a carncia, a incompletude, que as toma como
seres portadores dos germes da epidemia das patologias sociais que deveriam ser
erradicadas.
Nesse sentido, nos esquivamos deste adultocentrismo patriarcal-racista ainda
operante na cultura escolar e dialogamos com a professora Maria Letcia do
Nascimento para conceber a infncia e a criana na sua presena ativa singular, para
alm de uma passividade objetal a ser manipulada e formatada pelas instituies
branco-adultas.
Nesse contexto, nos lembramos de Nascimento quando ela aponta que, no
mbito da produo cientfica, na dcada de 90 surge a Sociologia da Infncia,
extrapolando a confinana do tema aos tradicionais campos da Psicologia, Psiquiatria
e Medicina
72
para considerar o fenmeno social da infncia, concebida como uma
categoria social autnoma, analisvel nas suas relaes com a aco e a estrutura
social.
73
A autora ressalta que, at ento, os estudos da sociologia que abarcavam
questes da criana, influenciados por Durkhein, consideravam a inexistncia fsica e
moral e a incompletude da criana em relao ao adulto.
Nessa perspectiva, a socializao primria e secundria constitua-se enquanto
transmisso de valores, crenas e normas da vida adulta que as crianas
passivamente assimilariam. Essa definio de criana enquanto um vir-a-ser
resultou no apagamento ou marginalizao da infncia como objeto sociolgico
74
,
submetendo o tema Sociologia da Famlia e Sociologia da Educao.
Nossa esquiva a este adultocentrismo, a autora se vale da emerso da
Sociologia da Infncia que rompe com a concepo de socializao das crianas
enquanto assimilao individual e passiva do mundo adulto, e a partir das expectativas
das instituies adultas. Visto que, ao reconhecer o papel ativo e no isolado da
71
ROSEMBERG, 2002
72
NASCIMENTO, 2003
73
SARMENTO & PINTO, 1997
74
NASCIMENTO, 2003
58
criana na produo dinmica da cultura, determina a infncia como um tema de
estudo sociolgico. E Maria Letcia do Nascimento chega pra dizer:
Maria Letcia do Nascimento: Nesse sentido, as crianas merecem ser
consideradas e estudadas pelo que so, pelos seus modos de expresso, por
suas formas de sociabilidade, pelas redes de interao, pelos modos
diferenciados de apropriarem do espao, do tempo e dos recursos, por suas
vises de si mesmas e do mundo em que vivem, pelo que pensam e esperam dos
adultos e do mundo. Emerge a concepo de criana como ator social.
75
Neste modo reflexivo, a caracterizao da infncia deve levar em conta
caractersticas comuns das crianas num determinado perodo e contextos econmico,
poltico e cultural. Desse modo, com o advento da sociologia da infncia o termo
crianas deixa de designar o plural de criana com o significado corrente na Psicologia
remetendo a traos individuais, e passa a significar infncia, enquanto uma categoria
dotada de carter estrutural, singular e passvel de comparaes relacionais e
contextuais. A professora aponta que h fatores sociais especficos, para alm da
classe, gnero, etnia ou cultura, que denunciam a infncia como um grupo
minoritrio (...) com uma situao de excluso da participao plena na vida social
76
.
Neste ponto, dialogamos com esta perspectiva e tramamos uma considerao
ao fato de que, este reconhecimento das crianas como grupo minoritrio, no est
somente para alm dos trs eixos de opresso, mas tambm est visceralmente
emaranhado a eles. Vito que, ainda que esta no participao plena seja um
fenmeno geral, as situaes sociais excludentes de opresso e vulnerabilidade se
agravam ou se abrandam na medida em que as crianas e a infncia comungam
existencialmente da situao social e espao-temporal do seu grupo. Assim, que
ouvimos o lamento matrial-criana em meio s articulaes dos quatro eixos de
opresso: classe, raa, gnero, gerao.
E nesse sentido, este lamento matrial afro-amerndio diante do adultocentrismo-
patriarcal-racista se estende tambm ao lamento ansio, ao lamento jovem. Temos
imagens desta extenso na matrialidade religadora e remediadora. Remediadora tanto
no sentido da mediao reversiva quanto no sentido de remediar as feridas abertas.
Nesta extenso, podemos dizer que o matriailismo afro-amerndio, carrega,
justamente, uma reversibilidade expressa na mobilidade inconstante das idades e das
relaes intergeracionais, o que corrompe a linearidade dos limites etrios quando so
arrebatadas pelas espirais do tempo-espao circular. Em que as foras crianas e as
foras idosas so alimentos primordiais no movimento desta circularidade, enquanto
75
NASCIMENTO, 2003, p. 122
76
NASCIMENTO, 2003, p. 122
59
presenas dotadas de completude e reverncia, de caminhos abertos para a
participao ativa, criadora e recreadora nas ligas matriais das relaes em uma
comum-unidade de vida
77
.Nesse sentido, buscamos imagens da fora matrial capoeira
limpando e religando os cortes da incompletude e da no-existncia presente do vir
a ser.
No entanto, topamos com a permanncia destas mutilaes nos diagnsticos e
prescries branco-ocidentais. Mesmo aps muitas refutaes e rearranjos, ainda
temos, nos discursos e prticas pedaggicas institucionais, a imperiosidade da
perspectiva da carncia cultural com seu determinismo social. Cotidianamente
negociamos com a hegemonia patriarcal-racista do paternalismo no discurso da falta
que informa as lgicas institucionais. Imagens dos discursos salvacionistas,
moralistas-cristo que, diante do direito de proviso, proteo e participao da
criana, tende a privilegiar, ainda que de forma insuficiente, apenas a discusso da
proviso e da proteo. E, ento, esta dinmica de poder expressa a total restrio e
invisibilidade ao direito de participao efetiva da criana nas instncias decisivas dos
poderes que as envolvem.
Esta inobservncia dos direitos tramada pela noo de incompletude em relao
ao homem branco adulto, tambm se estende aos idosos/as, mulheres, jovens e
adolescentes, abrindo caminhos e acolhendo as prticas paternalistas e racistas e nos
espaos pblicos de Educao e, de maneira geral, nas instituies de atendimento.
Nesta abordagem da falta, da incompletude, no-existncia com relao ao adulto
branco-patriarcal que, novamente, ouvimos o canto de lamento: adeus escola, meu
mano.
Nesta entoada, encontramos nas memrias escolares muitas imagens das
feridas abertas e dos hematomas das batalhas entre as esquivas e capturas do
epistemicdio na escolarizao. Temos imagens da operao desta lgica do
colonialismo epistemolgico que, alm de obstaculizar o acesso e a permanncia no
processo de escolarizao e promover o etnocdio, se estender na ao de
amordaamento do conhecimento por meio de uma razo insensvel, tomando-o como
objeto morto, cumulativo, transfervel e arquivvel. O que nos faz lembrar que esta
lgica permanece amparada pelos reducionismos da psicologia cognitiva clssica,
que, apesar de muito criticada, reformulada e revisitada, ainda impera dominante na
discusso sobre cognio e cultura e, assim, nos discursos e prticas escolares
atuais.
77
MAMANI, 2010
60
Diante disto, buscamos nossas esquivas frente aos encrustados pressupostos
neodarwinianos de desenvolvimento, informadores na cincia cognitiva clssica, que
ainda impregna sobremaneira a cultura escolar.
78
Esta impregnao postula a noo
de conhecimento enquanto representaes mentais que habitam a nossa inata
arquitetura cognitiva. Arquitetura esta que seria formada por uma coleo de
mdulos cada qual especializado num tipo de soluo de problemas - que sero
preenchidos por representaes mentais adquiridas em condies ambientais
adequadas. Nesse sentido defende-se uma distino entre psicologia evolutiva e
psicologia manifesta, distino possvel de ser analisada levando em conta as
condies ambientais e a arquitetura evolutiva. A interao entre estas condies e
esta arquitetura produziria o resultado manifesto. Imagens asfixiantes do abrao entre
o determinismo biolgico e o determinismo social.
nesse sufoco epistemicida quepercebemos os discursos pedaggicos e as
prticas escolares carregando ranos da psicologia cognitiva clssica, ao interpretar,
mesmo sem assumir explicitamente, o desempenho escolar neste trnsito: entre o
determinismo biolgico no processo de seleo natural na disposio inata de
formao da arquitetura cognitiva - e o determinismo social - no preenchimento de
condies ambientais adequadas civilidade. Nesta levada de que o crebro
humano suscetvel a representaes compatveis com suas disposies inatas e
que, ento, a cultura seria uma parasita das estruturas cognitivas que somos
enquadrados pelos recorrentes argumentos epistemicidas da carncia cultural.
Este enquadro foi fundamentado pelas impropriedades da Teoria da Privao
Cultural
79
, criada para explicar o chamado fracasso escolar das crianas negras,
indgenas e pobres. Segundo esta corrente explicativa, estas crianas seriam
descendentes de populaes que no valorizam o chamado conhecimento cientfico,
e, somado a isto, viviam em ambientes inadequados ao desenvolvimento cognitivo.
Importa dizer que esta teoria nasceu como resposta presso dos movimentos
multiculturalistas por uma educao escolar anti-racista. E isto no contexto de formao
da psicologia enquanto campo especfico da cincia embasador da psicologia da
educao, e ento do discurso pedaggico. Este pressuposto clssico, ainda
ressonante nas prticas escolares, foi modelado pelo abrao patriarcal-racista entre a
Medicina Legal, a Antropologia Criminal e os Moralistas. Juntos no trabalho de
diagnosticar as patologias sociais que, seriam, digamos, uma espcie de anticorpos
obstaculizadores da epidemiomologia de representaes sociais
80
vlidas para a
78
FREIRE; INGOLD; PATTO; RIZZINI
79
PATTO, 1996
80
INGOLD
61
escolarizao.
81
Neste sentido, o sucesso escolar somente viria a acontecer,
delimitadamente, numa vida com determinadas condies ambientais e arquitetura
cognitiva prescrita por este abrao.
Esta Teoria da Privao ou Carncia Cultural, formulada nos Estados Unidos na
dcada de sessenta, ainda habitando fortemente os fundamentos institucionais, e, de
forma especfica, os fundamentos escolares, prolifera imagens de ataques incessantes
aos arranjos familiares de matriz afro-amerndia. Visto que, esta habitao diz respeito
tambm s representaes patriarcais-racistas construdas sobre as famlias negras,
indgenas e pobres, designadas como deficientes culturais. Nesse sentido, ao
tentarem explicar as causas do chamado fracasso escolar, situaram, e continuam
situando, nas crianas e nas famlias o germe predominante do problema.
82
Nestas interpretaes diante do diagnstico proferido por pesquisas desta
ordem, constatou-se que as famlias das classes mais baixas falham na promoo do
desenvolvimento social e cognitivo das crianas. Visto que no oferecem atividades
cognitivas, biologicamente estimulantes, que favoream a maturao das estruturas
neurais das crianas. O que pode resultar no desvio irreversvel dessas estruturas a
partir do trauma ambiental.
Nestas condies, defende-se que a desorganizao familiar no possibilita o
planejamento do ambiente, o que dificulta ou impossibilita o estabelecimento das
devidas relaes entre a estimulao e os esquemas de aprendizagem. Assim,
percebemos as dolncias das famlias matriais estendidas sendo prognosticadas como
famlias desestruturadas. Este jogo patriarcal-racista dos diagnsticos e prognsticos
postula que a precariedade dos padres de aprendizagem no mbito domstico, como
a falta de uma medida satisfatria entre o excesso e a ausncia de estimulao,
prejudica a capacidade de abstrao e estimula o comportamento indisciplinar na
criana.
83
Segundo autores desta linha terica, os conhecimentos e comportamentos
vivenciados no ambiente familiar deficiente so incompatveis e inteis s atividades
escolares e sociedade contempornea. Uma vez que, de acordo com eles, a
privao psicossocial das famlias advm da disparidade cultural e dos conflitos de
valores entre a subcultura qual pertencem e o sistema scio-cultural mais amplo.
Nesse sentido, defendem que o modelo da privao como resultado do pluralismo
cultural define a matriz cultural do gueto como a manifestao das formas culturais
81
PATTO, 1996; RIZZINI, 2000
82
PATTO,1997
83
KRAMER,1995;VRIOS AUTORES,1997
62
particulares dos grupos tnicos envolvidos; e padres comuns juventude delinquente
das grandes cidades
84
. Na falcia destes autores:
A nfase da escola no planejamento do futuro, num discurso abstrato e
objetivo, na aprendizagem como fim em si mesmo, no respeito pela lei, na
religio oficial e na propriedade privada, nas regras de adequao do
comportamento sexual ou verbal, entra em conflito com os valores da cultura
popular mantida nas reas desprivilegiadas ou privadas.
85
Na hegemonia permanente deste desacerto terico, assumindo esta perspectiva
epistemicida e etnocida, uma das principais intervenes praticada pelos rgos oficiais
decisrios foi a chamada polticas de aculturao. Estas polticas, que nortearam os
programas de Educao Compensatria, aparecem como um antdoto a essa suposta
patologia generalizada pelas\nas famlias, a fim de diminuir e eliminar as disparidades
culturais e suprir as deficincias diagnosticadas.
Dado que, para estes cientistas, uma cultura diferente e oposta, que confronta
com os padres dominantes da classe mdia, inevitavelmente confrontar com suas
instituies. Sendo assim, deve ser minimizada at a eliminao total, salvaguardando
uma sociedade pretensamente higinica e civilizada nos moldes das metrpoles
europias. Esta abordagem traz imagens dos dispositivos do biopoder e do
espistemicdio racista como colocados por Sueli Carneiro.
Neste jogo sujo da carncia cultural, tambm topamos com o lamento das
professoras, pois que somada a esta culpabilizao sistemtica das crianas, jovens e
famlias pelo chamado fracasso escola encontramos tambm, uma linha desta
corrente que postula a culpabilizao das professoras. Esta filiao reflexiva, considera
alm das famlias com sua subcultura, tambm a inadequao das instituies
sociais como uma causa da privao. Diagnosticando tambm na escola e nos
professores as deficincias.
Segundo este diagnstico, as instituies representadas pela classe mdia tm
dificuldades de comunicao e entendimento para com o adulto e a criana deficiente,
ou desconhecem outras maneiras de lhes permitir aprender a respeito dos principais
componentes da sociedade e relacionarem-se com eles.
86
Nesta presuno etnocida
em definir os principais componentes da sociedade, apontam que o fracasso escolar,
trata-se, sobretudo, da falta de xito na alfabetizao. Esta falta aparece, ento, como
um crculo vicioso que resulta da privao precedente e desencadeadora da privao
84
VRIOS AUTORES,1997, p.91
85
VRIOS AUTORES,1997, p.91
86
VRIOS AUTORES,1997, p.90
63
posterior; na medida em que impede a mobilidade ascendente na estrutura escolar e
social.
Outro enfoque dado privao cultural o modelo social estrutural, segundo o
qual a deficincia das famlias privadas reside num sistema social complexo, no qual
(...) a distribuio de recursos, de prestgio e de poder impe sobre alguns segmentos
da populao desvantagens que, por sua vez, relacionam-se com a atividade e o
desempenho cognitivo do indivduo.
87
Segundo este ponto de vista, as famlias so
privadas psicossocialmente enquanto pertencente a um certo grupo da populao, e
no por caractersticas individuais. Como podemos observar na idia da privao
como desvios de condies ambientais timas:
De uma maneira geral, a classe social, a etnia e a renda relacionam-se
com a privao. Estas variveis amplas, entretanto encobrem condies mais
detalhadas do ambiente. (...) Em termos mais amplos, o comportamento da
classe social mais baixa influenciado pela luta direta pela simples
subsistncia, ao passo que o comportamento da classe mdia, que no est
preocupada com esse tipo de luta, est mais voltado para a consecuo de
objetivos mais abstratos.
88
Neste despautrio cientfico, percebemos uma obsesso, ainda operante, em
animalizar, patologizar e criminalizar aqueles no pertencem classe mdia branca
crist. Desse modo, explicam que a competio pelos recursos, a falta de
oportunidades de atuao social e a discriminao tnica e de classe social, sustentam
e mantm - com alto grau de naturalidade cientificamente comprovada - a estrutura
scio-racial hierarquizada. De modo que, como defendem, a restrio s oportunidades
educacionais e ocupacionais, como tambm as experincias de pobreza, violncia e
discriminao, afetam irreversivelmente a capacidade emocional-intelectual das
famlias pobres, criando uma espcie de reincidncia de carncia cultural e
imobilidade cognitiva e social.
Esta corrente terica, ao mesmo tempo em que se presumia um avano para a
superao do determinismo biolgico, abriu caminhos parceria deste com o
determinismo social. E assim, d-se a passagem de concepes genticas para
concepes ambientalistas da inteligncia
89
. Isto em meio s definies evolucionistas,
higienistas e fatalistas do ambiente e das pessoas. Assentadas em doutrinas
classistas, patriarcais e racistas, trabalhando pela estereotipia, patologizao e
criminalizao das populaes afro-amerndias e, posteriormente, os brancos pobres.
E ento, no-brancos e pobres formaram o que chamadaram de classes perigosas.
87
VRIOS AUTORES,1997, p.92
88
VRIOS AUTORES,1997, p.95
89
VRIOS AUTORES,1997, p.95
64
Desse modo, a psicologia cognitiva, embasadora do discurso pedaggico, igualmente
s teorias racialistas europias do sculo XIX, serviu para justificar os modos e
desigualdades educacionais, como por exemplo, o prestgio conferido psicometria e
seus usos segregacionistas.
O fato que, no contexto de ascenso da burguesia iluminista, a existncia
abstrata da igualdade de oportunidades e universalizao dos direitos de um homem
genrico, acabou por resultar no darwinismo social da culpabilizao das vtimas
pelas violncias institucionais direcionadas a elas. No caso, as crianas e as famlias
pobres e no-brancas. A despeito da noo de famlia, quando esta no corresponde
representao da famlia burguesa nuclear em sua privacidade do lar, fatalmente o
adjetivo utilizado desestruturada, inadequada ao bom desenvolvimento da criana.
Nesta perspectiva, a figura materna eleita, pela Antropologia Criminal, Medicina
Legal, pelos moralistas e pelas Damas da Sociedade
90
, a responsvel maior pelo
fracasso escolar das crianas. A idia da me inadequada constantemente faz
menes vida pblica e sexual da me e reitera a m relao dela com a escola. Nas
relaes de poder entre as instituies e os usurios, as mes so, fatalamente,
localizadas pela escola como as principais adversrias para a materializao dos
objetivos aspirados pela escolarizao.
91
Vale lembrar que esta lgica da formao patriarcal-racista-crist da cultura
escolar que tramou meticulosamente a feminizao do magistrio, e assim,
contraditoriamente, permaneceu imperando sobre e por meio dela. Imagens
paradoxais de um universo patriarcal operacionalizado por mulheres.
E, por falar em feminizao do magistrio, nos recordamos do pesquisador em
histria da educao Farias Filho quando ele se pergunta sobre: o papel dos polticos
interessados na instruo e o papel das corporaes mdicas e dos intelectuais que
pensavam a educao. Nesse sentido, tambm se questiona sobre que teria
estimulado as mulheres a assumirem a funo professoral. Nessa inquietao, o
autor identifica neste estmulo um imbricamento entre misso, sacerdcio e magistrio
manifesto no entendimento destas professoras sobre a profisso.
Neste contexto, o magistrio passou a ser operado pelas cooptadas e
cooptadoras damas da sociedade
92
branca-patriarcal-crist. Assim, temos imagens
desta formao do corpo feminino branco docente submetido esta trade patriarcal-
racista-adultocntrica. E, desse modo, podemos perceber, no processo de
escolarizao, a construo de uma idia de educao e de mulher pautada pela
90
RIZZINI, 2000
91
PATTO, 1997; KRAMER, 1995
92
RIZZINI, 2000
65
imagem e orientao das damas da sociedade enquanto militantes fiis do poder
branco-patriarcal-cristo. O que nos faz relembrar das dolncias nas memrias das
experincias escolares entoadas pela pesquisadora, poeta e professora negra Beatriz
Nascimento:
Beatriz Nascimento: Quando eu comecei a mergulhar dentro de mim,
como negra, foi justamente na escola que era um ambiente em que eu convivia
com a agresso pura e simples, com o isolamento, com as interpretaes
errneas, estpidas das professoras (...), a falta de referncias.
93
Estas imagens dolorosas da agresso, do isolamento e da estupidez das
professoras parecem ser uma espcie de reflexo continuado daquela orientao do
magistrio a servio da hegemonia patriarcal-racista nos processos escolarizatrios.
Estas palavras de Beatriz Nascimento - uma pesquisadora, professora de histria e
militante negra assassinada pela onipotncia patriarcal nas mos de um agressor
misgino - incontornavelmente nos trazem tambm as sofrncias nas palavras da sua
contempornea Llia Gonzlez, que assim como Beatriz Nascimento uma
pesquisadora, professora e feminista negra. Vem aos nossos olhos a voz de Llia
Gonzlez quando ela nos conta:
Llia Gonzlez: Em pesquisa que realizamos com mulheres negras de
baixa renda Maria, fala-nos das dificuldades da menina negra e pobre, filha de pai
desconhecido, em face de um ensino unidirecionado, voltado para valores que no
os dela. E, contando seus problemas de aprendizagem, ela no deixava de criticar
o comportamento de professores (autoritariamente colonialistas) que, na verdade,
s fazem reproduzir prticas que induzem nossas crianas a deixar de lado uma
escola onde os privilgios de raa, classe e sexo constituem o grande ideal a ser
atingido, atravs do saber por excelncia, emanado da cultura por excelncia: a
ocidental burguesa.
94
Diante desta alfinetada, podemos somente dizer que este ensino
unidirecionado, operado por um colonialismo professoral, acaba por induzir ou
mesmo obrigar sentimentos de averso e mpetos de rompimento com a cultura
escolar. nesta articulao dos trs eixos de opresso - o tnico-racial, o de gnero, o
de classe, multiplicada pelo eixo de opresso geracional - que vemos nascer, crescer
e se reproduzir o sistema pblico de ensino.
Neste movimento, temos imagens dolentes de uma asfixia afro-amerndia, de
uma populao sufocada pelo abrao triplo e apertadinho entre: o poder estatal de
ordem militarizante; o moralismo cristo; e o racismo dos diagnsticos e prescries
cientficas. De modo a manterem, juntos, a hegemonia do poder branco-patriarcal,
93
RATTS, 2007, p. 49
94
GONZALEZ, 1984, p.06
66
submetendo mulheres, crianas e famlias a um processo escolarizatrio insidioso e
amordaador.
Desse modo,, notamos um profundo lamento sentido na carne, nas feridas
abertas pelo retalhamento das experincias escolares. Ao tocarmos nesta articulao,
alimentamo-nos de um princpio feminino da ginga que en-sinado pela versatilidade
do feminismo negro que, num exerccio da razo sensvel, trama suas esquivas
elegantes s polticas de invisibilizao e anulamento.
Temos imagens feministas negras de esquiva tripla: invisibilidade conferida
populao negra quando se discute classe; invisibilidade imposta mulher negra
quando se discute a questo racial; invisibilidade da mulher negra quando e as
questes de gnero. E, ento, acrescentamos aqui uma esquiva ao adultocentrismo
que confere uma invisibilidade relativa s crianas, jovens e idosos quando se
discutem todas estas questes.
Neste jogo, topamos com a inobservncia dos direitos e com a violncia fsica e
simblica a que so submetidas nossas crianas neste universo racista-patriarcal-
adultocntrico. Violncias e inobservncia substanciadas pela objeo manifesta dos
direitos proteo, proviso e participao das crianas, revelando o carter
paradoxal como elas so consideradas pelas sociedades dos adultos.
95
Ento,
citamos alguns exemplos deste carter contraditrio que mostra que a aprovao da
Conveno dos Direitos da Criana foi uma conquista muito relevante, porm, de l
pra c, no deixou de se agravarem os problemas sociais que determinam as crianas
como o grupo etrio mais sujeito a situaes de opresso e afectao das condies
de vida.
96
Do mesmo modo, a valorizao social das crianas, de modo paradoxal,
inversamente proporcional ao seu nmero relativo na sociedade. Neste mesma
contraditoriedade, s crianas atribudo o futuro da humanidade num presente
opressor que prega sua no-humanidade plena. E esta atribuio de futuro da
humanidade proferida numa dinmica de poder, ao mesmo tempo, humanocntrica e
desumana, o que revela a debilidade e a perversidade das aes polticas
adultocntricas direcionadas s crianas.
Diante disto, temos sentidos fsicos e simblicos de um infanticdio enquanto
aniquilamento das foras vitais crianas, seja no mbito da proviso, da proteo ou
da participao. Este adultocentrismo insiste em manter-se hegemnico na cultura
escolar apesar das produes e discursos de reconhecimento e valorizao da
infncia. Sendo assim, na experincia com a instituio escolar o paradoxo se
95
NASCIMENTO, 2003, p. 122
96
SARMENTO & PINTO, 1997
67
confirma na medida em que se defende uma educao para a emancipao, liberdade
e democracia e, no entanto, confina-se as crianas s estratgias anuladoras de
controle e silenciamento. Bem como, pela valorizao da presena da criana na
escola e o no reconhecimento efetivo da fora de sua existncia que afrontando o
ambiente com sua presena, com sua contribuio ativa no processo cotidiano de
construo de conhecimento.
Outro paradoxo adultocntrico que opera o infanticdio revela-se no fato de que,
ao mesmo tempo em que se condenam comportamentos adultos precoces nas
crianas, tambm condenam e retaliam seus comportamentos infantis. Assim como, a
sociedade patriarcal adulta diz assumir a responsabilidade do ptrio poder pelas
crianas, no obstante, o que temos so imagens do mtrio poder
97
em meio aos
ataques e resistncias nesta dinmica social de poder.
Ento, ouvimos o lamento matrial-afro-amerndio diante das recorrentes
estratgias racistas-patriarcais-adultocntricas de culpabilizao das vtimas pela
opresso e consequente situao social a que so submetidas. Sendo assim, temos o
fato de que, alm das prprias crianas, adolescentes e jovens, fundamentalmente a
figura da me a maior responsabilizada e punida pelas consequncias objetivas e
subjetivas advindas desta opresso estratgica.
Desse modo, ao mesmo tempo em que esta estratgia produz a culpabilizao
da me, no reconhece e mantm o mtrio poder materialmente desprovido do acesso
s condies necessrias pra a proteo e a reverso destas consequncias. Sendo
assim, ao mesmo que substituem a expresso ptrio poder por poder familiar,
temos imagens dolentes dos cortes abertos pela guerra desleal entre mes afro-
amerndias e juzes brancos que, com o poder das marteladas cortantes, no alto do
seu trono branco-patriarcal-racista no raramente mutilam famlias extensas e
propagam imagens de dor e ruptura.
Neste jogo violento, em meio aos ataques da hipocrisia patriarcal-racistas-
adultocntica, podemos ouvir um lamento capoeira ecoando da alma-fora-voz criana
em um canto dolente das feridas abertas pelas navalhas da no proviso, da no
proteo e no participao, na repulsa s instituies adultas, nas dores da memria
escolar.
Ento, l do fundo vem vindo este canto que chega ressoando na ambincia e
ecoando em nossos ouvidos, podemos, ento, escutar:
97
Imagem das batalhas entre o ptrio poder e o mtrio poder ofertada nas discusses realizadas na
disciplina Teoria e Prtica do Estatuto da Criana e do Adolescente na Educao ministrada na FEUSP
pelo professor Dr. Roberto da Silva
68
Yeeeeee!
Quando eu tava l na rua
eu no tinha compromisso
A melhor coisa do mundo
era catar papel no lixo
Com um pedao de sabo
e meleca no nariz
ia correndo l na praa
tomar banho de chafariz
Eu s tinha um compromisso
que era pedir a esmola
Cada dinheiro que eu ganhava
gastava cheirando cola
Eu ficava aborrecido
se mandassem pra escola
Colocava o uniforme
pegava minha sacola
ia pra boca do lixo
ou pro campo jogar bola
Valha-me Deus que dono da terra
Olhai esse povo que estamos em guerra
Valha-me Deus que dono da lua
Olhai as crianas que esto l na rua
Valha-me Deus que dono da terra
Olhai esse povo que estamos em guerra
Valha-me Deus que dono da lua
Olhai as crianas que esto l na rua
98
Nesta entoada banzeira de uma alma-fora-voz criana que ecoa das ruas,
temos imagens dolentes da carne-alma-criana arrebentada nas feridas da fuga e da
guerra solitrias em busca da aparente liberdade da rua e da embriaguez. Imagens da
intimidade da meleca no nariz e do banho no chafariz contraposta imagem de
estranhamento na escusa ao confinamento escolar. E, ento, nesta situao de uma
liberdade em guerra, podemos perceber imagens do poder patriarcal-racista-
adultocntrico que trama e depois criminaliza a infncia em situao de rua e de
evaso escolar, operando a ruptura branco-ocidental das ligas familiares-comunitrias.
Entretanto, aps a destas imagens do corte temos uma procriao de imagens
de um religamento nas paisagens derradeiras do poema. Nelas, podemos escutar o
canto da Me-Capoeira que faz florescer imagens da religao matrial afro-amerndia.
Perceptveis na prece banzeira da invocao profunda s foras divinas num pedido
de socorro, de orientao, de acolhimento e de proteo das crianas nesta situao
de guerra solitria num campo de batalha racista-patriarcal-adultocntrico. Desse
modo, estas imagens tambm carregam uma sensibilidade crepuscular, pois est
ligada tanto sensibilidade herica-diurna na fora guerreira dos caminhos, como
fora mstica-noturna da acolhida protegida, da remediao e religaes das
amputaes ofertadas pela situao de rua e de guerra.
98
Menino de rua cantiga de Capoeira entoada por Eder Jofre de Paula
69
Nessa levada, temos imagens de dor e desalento, expressas tanto pela guerra
na rua como pelas feridas abertas no interior das instituies escolares. nesta
dolncia que percebemos a expresso aborrecida de averso escola e ao mando
adulto que parecem desejar um submetimento da criana. No entanto, o poema
mostra que esta captura no se realiza por completo, trazendo imagens da esquiva em
direo aos caminhos fugazes da embriaguez, juntamente aos caminhos brincantes do
campo de jogo. Assim, voltamos a escutar o verso: adeus, escola, meu mano em
coro afinado com: Eu ficava aborrecido/ se mandassem pra escola. Nesta sintonia
versada, temos imagens de um lamento do cativo.
Nessa levada, as imagens da escola aparecem muito aparentadas com as das
instituies carcerrias, com as do cativeiro. Na medida em que expressam a
perversidade das dinmicas branco-adultas de poder e controle. Em contrapartida, a
criana expressa sentimentos de aborrecimento e repulsa diante destas estratgias de
anulao por meio das mltiplas formas de uniformizaes compulsrias, de restries
ofertadas pela despersonalizao e pelo individualismo. Imagens da escola atuando,
objetiva e subjetivamente, com procedimentos muito prximos aos da administrao
institucional de polticas de conteno e de privao de liberdade.
Desse modo, as instituies pblicas de ensino, seguem aparelhando prticas
racistas-patriarcais-adultocntricas com formaes um tanto militarizadas nos seus
procedimentos organizacionais, e, ao mesmo tempo, com a apropriao
tendenciosamente crist-eurocntrica dos conhecimentos. Temos imagens opressoras
desta concretizao a partir do abrao entre o discurso cientfico ocidental e o discurso
religioso cristo para a explicao de variados fenmenos e relaes pessoais e
sociais. E tudo isto sob conteno da ordem, em silncio, em pronta obedincia.
Entretanto, ainda que recebendo estes incessantes ataques, o silencio
interrompido pelo coro capoeira que canta em festa os desejos e as alegrias de
aprender:
Eu no sei ler yy
Quero aprender yy
um A
um B
um A, um B, um C
Eu no sei ler yy
Quero aprender yy
99
99
Cantiga de Capoeira de domnio pblico
70
2.2.b. Imagens guerreiras e festeiras dos contragolpes
Em meio a estes ataques ininterruptos e institucionalmente aparelhados,
tramamos uma esquiva-contragolpe na busca e no deleite dos modos matriais afro-
amerndios-capoeiras de en-sinar e fazer-saber. Modos que, para desespero da
misso epistemicida, resistem e permanecem vivos na teimosia da vida que pulsa
100
.
Esta imagem da teimosia e da resistncia que nos oferta inmeras situaes de
lamento e de guerra, continuamos nos alimentando das fontes e caminhos abertos de
uma caminhada conjunta.
Assim, vem aos nossos ouvidos a fora-palavra da afro-americana Bell Hooks
citadas pelo pesquisador, professor e militante negro Alex Ratts:
Bell Hooks: (...) a deciso de trilhar conscientemente um caminho
intelectual foi sempre uma opinio excepcional e difcil. Para muitos de ns, tem
parecido mais um chamado do que uma escolha vocacional. Somos impelidos,
at mesmo empurrados, para o trabalho intelectual por foras mais poderosas que
a vontade individual. (1995:465)
101
Neste embalo comunal de foras maiores que nos alimenta e nos empurra para
as caminhadas na mata fechada, em meio aos atraques parasitas e predatrios do
epistemicdio branco-ocidental, que aplicamos as nossas esquivas-contragolpes. E,
nos alimentando das foras da Me-Capoeira, jogamos nesta roda sem carregar o
medo provocado pelo recalcamento e desqualificao intelectual assentados nas
acusaes racistas de um texto no cientfico, militante, essencialista ou sectrio.
Neste jogo tenso com a universidade, chamamos novamente Alex Ratts para
roda. E ele aceita a nossa chamada, trazendo consigo a fora-palavra de Abdias
Nascimento:
Alex Ratts: Reitero que o esforo de reconhecimento. O estranhamento e
o distanciamento, exigidos para se alcanar a suposta objetividade cientfica,
comparecem como experincias controladoras. Fazendo eco a Abdias do
Nascimento (...), no estou interessado no exerccio de qualquer tipo de ginstica
terica, imparcial e descomprometida. No posso e no me interessa transcender
a mim mesmo, como habitualmente os cientistas sociais declaram supostamente
fazer em relao s suas investigaes. Quanto a mim, considero-me parte da
matria investigada. (1978:41)
102
Neste esforo de reconhecimento assumidamente parcial, implicado e
comprometido, numa caminhada conjunta, que traamos imagens do
100
Romualdo Dias anotaes da nossa reunio de orientao no processo de qualificao
101
RATTS, 2007, p. 29
102
RATTS, 2007, p. 19
71
encontro/confronto entre os traos antagnicos e inconciliveis da matriz afro-
amernda e de matriz branco-ocidental num mesmo territrio poltico.
E ento, para evitar possveis confuses da parte dos racionalistas-materialistas
de planto, chamamos para este jogo as palavras do professor, artista e pesquisador
da arte afro-brasileira, Marcelo dSalete. Ele escuta nosso chamado e, com sua arte de
apresentar solues simples para problemas complexos, chega para dizer que:
Marcelo dSalete: No pretendemos recorrer a conceitos essencialistas.
O dilogo entre essas culturas [de um territrio multicultural como o brasileiro]
ocorre continuamente, porm, isso no deixa de evidenciar que elas so
diferenciadas, observadas e sentidas em suas singularidades.
103
Assim sendo, podemos dizer que os fundamentos da Capoeira do sinais da
vida de uma herana matrial afro-amerndia em atuao. Pois que so in-
tensionalmente mobilizados pela afirmao, integridade e complementabilidade da
pessoa, do seu grupo, das foras visveis e invisveis da natureza, e da ambincia que
os envolvem. Isto, numa possvel existncia comunitria (no-oligrquica), matrial
(no-patriarcal), coletiva (no-individualista) e afetual-naturalista (no-contratualista)
em sua filosofia de vida capoeira. Nesta via, buscamos visitar alguns traos da matriz
africana e da matriz amerndia para uma compreenso dos modos de saber matriais
afro-amerndios constitutivos dos atos e elos de conhecimento na filosofia-capoeira.
Nesta perspectiva, referenciamos a Capoeria enquanto uma expresso de vida
da matriz afro-amerndia
104
, e, ento, flertamos com estudos sobre traos culturais
africanos e amerndios. Ciente das diferenas entre estas duas matrizes, como, por
exemplo, na matriz africana, alm e dentro de uma perspectiva alde, temos a
presena marcante, e a afirmao ancestral, de grandes reinados e imprios, de
figuras de grandes rainhas e reis e de grandes populaes. Esta presena da realeza
muito perceptvel nas expresses da cultura negra. J na matriz amerndia, apesar
de alguns imprios como o Inca e o Maia, temos mesmo uma predominncia alde
de uma terra sem males, na formao constante de novas aldeias, evitando uma
possvel desarmonia no equilbrio das foras vitais advindas das superpopulaes.
105
Num modo aldeo, comunitrio e linhageiro de estar na vida. Este encontro e partilha
comunal de linhagens nobres aldes e reais afro-amerndias, so sensveis nas
expresses da cultura negra, da capoeira.
Nesta partilha percebemos semelhanas africanas e amerndias partilhadas
neste encontro confrontoso com a matriz branco-ocidental. Dedicamo-nos, ento,
103
SANTOS, 2009, p.11
104
FERREIRA-SANTOS, 2009
105
CLASTRES, 1978; GOMES & MUNANGA, 2004
72
compreenso de uma matriz afro-amerndia concebida nos entrecruzamentos dos
traos da matriz africana e da matriz amerndia. Carece dizer aqui que, apesar da
grande diversidade cultural dos povos das chamadas frica tradicional
106
e Amrica
indgena
107
, estudos afirmam que existe uma srie de caractersticas comuns entre os
diferentes grupos de cada matriz: uma diversidade singular.
No caso africano, alguns destes traos podem ser percebidos tambm nos
pases no africanos com a presena negra diasprica. E, por falar nesta unidade
mltipla estendida, convidamos para esta roda uma pesquisadora negra que, nos seus
estudos da literatura afro-brasileira e africana, chega para afirmar:
Adriana de Cssia Moreira: Cada um dos grupos tnicos que organizam
as sociedades da poro sul do continente africano possuidor de heranas
culturais prprias, maneiras de viver e trabalhar especficas: contudo, organizam
culturas concretas, no imediatamente perceptveis, que formam uma civilizao.
Dessa forma, a despeito de reconhecer as diferenas internas culturais ao
continente, pode-se tomar como foco de anlise as semelhanas existentes nesse
espao cultural localizado ao sul do Saara uma fisionomia prpria, a que nomeia
por africanidade.
108
neste mesmo caminho - de flertar com as semelhanas internas numa
diversidade singular que atuante e permanente, resistindo aos ataques branco-
ocidentais e aos des-locamentos diaspricos
109
que comungamos com a autora os
sentidos de uma africanidade vvida. Nesta comunho, podemos estender este sentido
de uma fisionomia prpria s matrizes indgenas do continente americano. Desse
modo, exemplo desta noo de africanidade, nos parece possvel tramar sentidos do
que nomeamos por caboclagem. Caboclagem enquanto a expresso de traos
singulares da matriz amerndia que, alm da vida das aldeias, tambm segue
resistindo aos des-locamentos diaspricos em seu prprio continente e podem ser
identificados em espaos urbanos e rurais, fora dos chamados territrios indgenas.
Neste movimento, parece possvel falar concepo africana,
110
em concepo
amerndia
111
e, portanto, em concepo afro-amerndia
112
. Haja sentido que, esta
matricialidade mltipla e singular expressa imagens copulativas entre a africanidade e
a caboclagem, matrizes que comparecem partilhando de uma profundidade ntima e
comunal na tamanha proximidade entre suas concepes. Nesta partilha,
fundamentalmente matrial, entre a matriz africana e matriz amerndia, nos modos de
106
HAMPAT B, 1977, 1982
107
FERREIRA-SANTOS, 2004
108
MOREIRA, 2010, p.33 (g.n.)
109
HALL, 2003
110
HALL, 2003; HAMPAT B, 1977, 1979; MOREIRA, 2010; MUNANGA, 2009
111
FERREIRA SANTOS, 2004a, 2004b; MAMANI, 2010
112
FERREIRA SANTOS, 2009
73
estar na vida da cultura negra que percebemos um sentido de matriz afro-amerndia.
que percebemos uma fora matrial afro-amerndia que vitaliza os modos capoeiras
de existncia nas voltas que o mundo d.
Percebemos a partilha das maneiras artistas de se fazer presente; maneiras
artistas de trabalhar, de estudar, de guerrear, de lamentar e de festejar, de aprender e
ensinar. Nesse sentido arteiro e artista, desfrutamos de literaturas da Capoeira nas
dimenses sagradas da criao mensageira, de um campo de foras,
fundamentalmente matrial, enquanto espao educativo da cultura negra, afro-brasileira
ou negro-brasileira.
113
De modo a pesquisar traos notadamente amerndios e
africanos constitutivos destes modos de en-sinar e fazer-saber
114
as artes de uma
filosofia-de-vida-capoeira.
Assim, a partir do estudo sobre uma frica ancestral - que corresponde a certos
traos da histria e culturas africanas anteriores e durante o trfico negreiro e sobre
uma Amerndia ancestral atuantes, consideramos possvel o desvelamento de muitos
traos culturais africanos e amerndios peculiares da chamada matriz afro-brasileira.
Traos estes que, na maioria absoluta das vezes, como j dissemos, contradizem,
afrontam e secretam diante da herana escolarizatria sensivelmente informada por
uma tradio branco-ocidental.
115
Nesta perspectiva, ao cavucar os modos de saber expressos em literaturas da
Capoeira, importa destacar tambm a necessidade de uma noo de Cultura Negra
para nossa pesquisa. Diante disto, chamamos tambm o professor Muniz Sodr para
esta roda, uma vez que, como um propositor desta noo, apresenta uma reflexo
sobre o processo de reposio cultural no qual podemos visualizar as relaes entre a
herana branco-ocidental e africana (e, aqui, tomamos a liberdade de aditar tambm a
herana indgena) num territrio pretensamente eurocntrico.
Desse modo, podemos nos valer desta noo de traos culturais repostos para
pensar uma noo afro-amerndia dentro do que o autor chama de Cultura Negra. A
despeito desta, convocamos Sodr para nos presentear com suas palavras sobre os
traos centrais da matriz cultural negro-brasileira e seus dilemas junto matriz branco-
ocidental. E ele aceita, nos alertando s esquivas frente ao tratamento ocidental
racionalizado:
Muniz Sodr: Mas preciso deixar bem claro que no se tratou
jamais de uma cultura negra fundadora ou originria que aqui se tenha
instalado para, funcionalmente servir de campo de resistncia. Para c vieram
113
SODR, 1988.
114
OLIVEIRA, 2006
115
FERREIRA-SANTOS, 2005a
74
dispositivos culturais correspondentes s vrias naes e etnias (...) [da] frica
entre os sculos XVI e XIX.
116
Assim, podemos dizer a Cultura Negra brasileira, est para alm da to
renomada funcionalidade - situada de maneira redutora na ordem da sobrevivncia
ou do lenitivo, dando-lhe um carter utilitarista. Diante disto, o autor ressalta que, para
alm desta abordagem, a Cultura Negra carrega, pelos sculos afora, traos matriciais
africanos (e amerndios) em movimento dentro de toda uma ordem cosmognica de
ser/estar no/com: os mundos, os outros (encarnados ou no) e consigo mesmo.
117
O
que est muito, muito alm de um eventual funcionalismo de ordem subsistente.
Sendo assim, o autor nos auxilia na afirmao de que a Me-Capoeira no merece ser
considerada como uma criao concebida, meramente, em funo da opresso
escravagista branco-ocidental.
Fato este quase nunca sensvel s luvas do distanciamento observacional da
cincia herdada pela matriz branco-ocidental. Nesse sentido, Muniz Sodr nos lembra
da atuao senhorial brasileira a fim de: desatrelar os grupos tnicos; estimular o
conflito ente as diferentes etnias africanas bem como entre os pretos e mestios; e
embarrilhar a formao de famlias. Neste contexto, as brincadeiras negras [e
aditaramos aqui as indgenas
118
] eram at certo ponto toleradas pelos senhores e
jesutas que visando dominao integral fingiam fazer vista-grossa e tentavam se
valer delas tanto por implicarem em vlvulas de escape como por acentuarem as
diferenas entre as naes.
119
Assim, podemos inferir que, ao passo em que deveriam servir aos planos
senhoris-cristos do desconchavo entre as pessoas negras e tambm indgenas, as
artes, chamadas brincadeiras, acabavam por favorecer e fortalecer as relaes
familiares e comunitrias afro-amerndias e matriais no seio de uma ordem colonial
crist-eurocentrada. Visto que, tambm nestes momentos das brincadeiras, a
populao negra e indgena re-vivia, de maneira mais ou menos recndita, seus ritos,
seu panteo, seu senso de pertena e de partilha...
E Sodr retorna ao jogo pra dizer:
Muniz Sodr: J se evidencia a a estratgia africana [e amerndia] de
jogar com as ambigidades do sistema, de agir nos interstcios da coerncia
ideolgica. A cultura negro-brasileira emergia tanto de formas originrias
quanto dos vazios suscitados pelos limites da ordem ideolgica vigente.
120
116
SODR, 1988, p.123
117
FERREIRA-SANTOS, 2009.
118
RIZZINI, 2000
119
SODR, 1988, p.123
120
SODR, 1988, p.124
75
Diante disto - da estratgia de se jogar com as ambiguidades - podemos fazer
aluso aos fundamentos Capoeira, de modo especial ao princpio feminino da ginga,
recheados pelo malandreado, pela intuio, pelo disfarce, pelo risco, pelo sotaque,
pelas aparncias, pelo silncio, pelo segredo, pelo floreio.....pela crepuscularidade...
Nesta mumunha da ginga, chamamos Muniz Sodr que traz a chamada
reposio brasileira. Importa explicar que, ao falar nesta reposio cultural, o autor se
refere estritamente s matrizes africana e euro-ocidentais, porm, por nossa parte,
tomamos a liberdade arteira de inserir a matriz indgena neste jogo revolto. Dito isto,
voltemos reposio negro-brasileira.
Muniz Sodr nos conta que no Brasil a ordem original (africana) foi reposta,
sofrendo alteraes em funo das relaes entre negros [ndios] e brancos, entre
mito e religio, mas tambm entre negros e mulatos [e diramos, caboclos] e negros [e
ndios] de umas etnias com o de outras
121
Desse modo, evidencia a originalidade
deste processo de reposio cultural negro-brasileira destacando trs fatores da
trajetria deste grupo na sociedade brasileira:
O primeiro o de viver no estatuto de pertencer a um segmento oprimido da
populao teve de conviver com as exigncias de submisso e de obedincia ao
poder constitudo e teve sua originalidade em criar caminhos de existncia reposta
num jogo duplo e na construo de instituies paralelas.
O segundo a reposio como um continuum africano em territrio brasileiro.
A originalidade deste fator est na sua pletora de diferenas em relao totalidade
ensejada pela ordem africana (...) e ao mesmo tempo, em relao ao movimento
histrico-culturalista das classes dirigentes brasileiras. Assim, ao mesmo tempo em a
populao negra [e indgena] con-vive (pblica, privada e intimamente) com/no
universo das tradies branco-ocidentais, tambm carrega em seu corpo-presena a
memria e o endividamento
122
com a matriz cultural africana (e amerndia). E ento,
nas palavras de Sodr: No interior da formao social brasileira o continuum africano
[e amerndio] gerou uma descontinuidade cultural em face da ideologia do Ocidente,
uma heterogeneidade atuante
123
O terceiro ponto faz referncia manuteno secular de formas essenciais de
diferena simblica na convivncia da pessoa negra [e indgena] com seu grupo e
com as tradies de matriz africana [e amerndia], isto num dado territrio
pretensamente pautado por tradies de matriz branco-ocidental. Em outras palavras,
121
SODR, 1988, p.132 (g.a.)
122
Endividamento entendido aqui como de ordem simblica, Segundo Marcos Ferreira Santos a maior
dvida que temos com a nossa ancestralidade sermos ns mesmos In: FERREIRA-SANTOS, 2005
(a), p. 213
123
SODR, 1998, p.132-133
76
estas formas de diferena simblica so capazes de acomodar tantos os contedos
da ordem tradicional africana [assim como da amerndia] (...) como aqueles
reelaborados ou amalgamados em territrio brasileiro
124
pretensamente branco-
ocidental.
Por exemplo, podemos inferir que no processo de reposio cultural negro-
brasileira, e ento na filosofia da Capoeira, temos as referncias ou sincretismo com
contedos, tanto de ordem tradicional africana e indgena, como de ordem colonial
catlica. Encontramos recorrentemente nos cnticos da Capoeira, alm das entidades
de matriz africana (na figura dos orixs), indgena (na figura dos caboclos) e afro-
amerndia (na figura dos chamados Catios), tambm ouvimos referncias aos santos
catlicos, como Santa Brbara, Senhor do Bonfim, Santo Antnio, So Bento, Nossa
Senhora, dentre outros.
No entanto, diferentemente do motivo catlico da salvao e desfrute do paraso
aps a morte, so os motivos da/na gerao, manuteno e circulao da fora vital
nas redes de saberes e relaes que movem esta cantoria. Ou seja, o contedo
catlico, ocidental, religioso, mas a forma litrgica negra, africana, [indgena e]
mtica
125
Assim, podemos perceber o fenmeno do sincretismo entre entidades afro-
amerndias e catlicas numa ginga entre trs posicionamentos presentes na cultura
negra. O primeiro aquele de resistncia e de repulsa a este fenmeno, considerado
como herana da violncia catlica colonial e inquisidora, substancializada em prticas
de branqueamento da cultura negra e de hierarquizao das entidades. Aqui podemos
encontrar um racismo que se estende at mesmo ao vento, s entidades, em que as
entidades brancas esto no topo de luz enquanto as entidades africanas e indgenas
esto no submundo das trevas. Sendo assim, no raramente encontramos
posicionamentos absolutamente contrrios a esta prtica sincrtica das entidades.
O segundo posicionamento referente ao sincretismo, aquele de ordem
inclusivista, em que as entidades catlicas fazem parte, efetivamente, da rede de
foras vitais que compe as relaes afro-amerndias. Neste posicionamento temos
imagens da partilha e da parceria ativa e comunal entre as entidades catlicas e as
entidades africanas e indgenas. De maneira horizontal e interligada.
O terceiro posicionamento, que percebemos como o mais recorrente, aquele
que localiza a prtica sincrtica como uma arte de engambelar, como, digamos, uma
estratgia da ginga. Este posicionamento localiza o fenmeno, dando-lhe um carter
utilitrio, na arte do disfarce. Nesse sentido, quando a voz enunciada canta os nomes
124
SODR, 1998, p.133
125
SODR, 1998, p.133
77
dos santos e santas catlicas pela boca, a fora-alma-palavra afro-amerndia chama
pelas foras vitais das entidades africanas e indgenas pelo corao. Dizendo de um
modo exemplar: quando a palavra da boca canta Santa Brbara, a alma-fora-palavra
do corao canta Yans; quando a palavra da boca canta Santo Antnio
126
, a alma-
fora-palavra do corao canta Ogum; e assim por diante.
nesta ltima posio que, ntima e pessoalmente, percebemos a ressonncia
sincrtica nos cnticos da Capoeira. Ressonncia que desloca o sincretismo da feio
hegemnica substancializada pelo complexo de superioridade branca que defende um
reducionismo previdente e fatalista de ao e reao: da ao branca seguida de
reao negra. Em outras palavras, desmente a falsa idia de uma atividade de criao
afro-amerndia absolutamente em funo da opresso branco-ocidental.
Num movimento esquivo, podemos desfrutar de uma percepo das formas
matriais afro-amerndias da ginga, dos segredos e mistrios, da mediao e religao,
e criao e recriao. Numa mobilizao comunal e secreta das foras vitais em
profundidade ntima e, como diz Hampat B, sempre remontando unidade
primordial.
Nesse sentido matrial, ao flertar com literaturas da Capoeira, estamos diante do
que Sodr chama de uma cultura negro-brasileira, entretanto, procuramos levantar
alguns traos das duas matrizes culturais que a compe: a africana e a amerndia. E,
assim, como nos auxilia Ferreira-Santos, buscar compreender a co-existncia
territorial da diferena entre elas e a matriz branco-ocidental. Sobre esta diferena
Muniz Sodr, pensando na matriz africana no Brasil, localiza na noo de troca um
princpio fundamentalmente exemplar da dissintonia entre as heranas ocidental e
africana.
O autor nos ensina que na cultura negra [e, acrescentamos, na amerndia
127
], a
troca no dominada pela acumulao linear de um resto (...) porque sempre
simblica e, portanto, reversvel.
128
Sendo assim, esta noo de troca contraria a
ordem linear, ascensional e acumulativa da matriz branco-ocidental em seus modos
oligrquicos e contratualistas de fazer-saber. Dado que as matrizes africana e
amerndia,
129
e ento a afro-amerndia, carregam uma noo matrial e cclica de troca
assentada no movimento espiral de dar-receber-restituir maestrado no trabalho de
gerao, crescimento e irradiao das foras vitais.
126
Explicitamos aqui uma diversidade regional nas associaes sincrticas: apesar de estarmos no
sudeste onde encontramos Ogum associado ao So Jorge, estamos desfrutando de literaturas capoeiras
que trazem consigo os modos baianos de associar Ogum ao Santo Antnio e Oxossi ao So Jorge.
127
FERREIRA-SANTOS, 2004 (a), 2004 (b); YANO, 2009; OLIVEIRA, 2009
128
SODRE, 1988, p.126
129
MAMANI, 2010, MORALES,2008; YANO 2009
78
E, por falar nesta espiral dar-receber-restituir nos remetemos a Sodr que chega
pra firmar o coro:
Muniz Sodr: E a troca simblica no exclui nenhuma entidade: bichos,
plantas, minerais, homens (vivos e mortos) participam ativamente, como
parceiros legtimos da troca, nos ciclos vitais. A isto a ideologia ocidental tem
chamado de animismo porque, apegada a seu princpio exclusivista da
realidade, separa radicalmente a vida da morte e entende a troca simblica
com os outros seres ou com os mortos como uma projeo fantasiosa da
vida.
130
Nesta perspectiva circular e comunal, todos os seres visveis e invisveis da
natureza, dos mundos, possuem e irradiam fora vital, mas essa fora no algo
imanente: preciso o contato de dois seres para a sua formao
131
nesse sentido
afro-amerndio de troca de substncias
132
nas redes de fora vital, que buscamos
compreender a dinmica capoeira dos saberes na construo da pessoa e da cultura.
E nesse sentido do encontro e troca cclica de foras vitais, fazemos questo de
chamar para esta roda o mestre indgena Fernando Huanancuni Mamani. E ele nos
atende dizendo de um importante princpio educativo para um vivir bien segundo os
povos originrios desta terra:
Huanacuni Mamani: Suma Churaa, suma katukaa: Saber dar, saber
recibir. Reconocer que la vida es la conjuncin de muchos seres y muchas
fuerzas. En la vida todo fluye: recibimos y damos; la interaccin de las fuerzas
genera vida. Hay que saber das con bendicin, saber dar agradeciendo por todo lo
que recibimos. Agradecer es saber recibir; recibir el brillo del Padre Sol, la fuerza
de Madre Tierra, fluir como la Madre Agua y todo lo que la vida nos da.
133
Nesse sentido afro-amerndio de troca, podemos perceber a fora vital do
saber em integrao profunda pessoa-arte, comunidade e ambincia. Este princpio,
como disse Muniz Sodr, muito mal interpretado pelos branco-ocidentais que,
obcecados pela irreversibilidade das cises entre vida e morte, entre mundo bitico e
abitico, e entre ser humano e meio ambiente, o reduziram a interpretaes animistas
e fantasiosas. E, ento se desesperam diante da complexidade destas relaes que
no concebem uma existncia e uma verdade nicas e antitticas, posto que se trata
de campos recursivos e reversveis de fora viva em movimento.
Diante disto, uma contribuio para a compreenso acadmica destas trocas
como algo menos abstrato e conceitual, e, assim como, para uma noo de pessoa
menos individualizante e indivisvel, so os princpios do que os etnlogos branco-
130
SODRE, 1988, p. 127
131
SODR, 1988, p.129
132
YANO, 2009, p.51
133
MAMANI, 2010, p.48 (g.a.)
79
ocidentais chamam perspectivismo amerndio. Ento, convidamos o criador desta
noo, Viveiros de Castro, para dizer que as trocas:
Viveiros de Castro: (...) se dispem, a bem dizer, de modo
perfeitamente ortogonal oposio entre relativismo e universalismo (...) no
designam provncias ontolgicas, mas apontam para contextos relacionais,
perspectivas mveis, em suma, pontos de vista. (...) [diz respeito] a uma teoria
indgena segundo a qual o modo como os humanos vem os animais e outras
subjetividades que povoam o universo deuses, espritos, mortos, habitantes
de outros nveis csmicos, fenmenos meteorolgicos, vegetais, s vezes
mesmo objetos e artefatos , profundamente diferente do modo como esses
seres os vem e se vem. (...) Esse ver como se refere literalmente a
perceptos, e no analogicamente a conceitos, ainda que, em alguns casos, a
nfase seja mais no aspecto categorial que sensorial do fenmeno; de todo
modo, os xams, mestres do esquematismo csmico (Taussig 1987:462-463),
dedicados a comunicar e administrar essas perspectivas cruzadas, esto
sempre a para tornar sensveis os conceitos ou tornar inteligveis as
intuies.
134
Neste sentido, podemos ensaiar uma qualidade perspectiva tambm na
atuao das mestras e mestres do esquematismo csmico de matriz africana,
notadamente as yalorixs e os babalorixs com seus saberes e relaes, em
profundidade, nas perspectivas cruzadas, carregam a maestria de tornar sensveis
os conceitos e inteligveis as intuies neste campo de foras que o cotidiano e a
trajetria histrica.
Importa dizer que esta qualidade perspectiva afro-amerndia, em sua
matrialidade, permite uma noo de pessoa que considere as foras e os mundos
animais, vegetais e minerais, bem como as foras invisveis e indizveis do meio
csmico e social. Podemos perceber a vida destas relaes profundas, fazendo da
noo de humanidade algo polissmico, relacional, contextual e extensvel aos outros
animais, ao mundo vegetal, aos elementos da natureza e s foras vitais explicitado
pela agncia fundamental dos xams
135
e dos yuxim
136
(fora vital), bem como das
yalorixs e babalorixs e do ax
137
(fora vital), na vida da dinmica cultural afro-
amerndia.
Nesse sentido, as grandes dicotomias que engendram o princpio de realidade
do Ocidente (morto/vivo, real/irreal, natural/humano, abstrato/concreto, etc.) so
simbolicamente resolvidas, exterminadas.
138
Dando lugar filososfias crepusculares
como lugares de trajeto e entre-meios entre plos considerados antagnicos. Vale
frisar que os chamados plos no deixam absolutamente de existir nas matrizes afro-
134
VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p.115
135
CARNEIRO DA CUNHA, 1998
136
YANO, 2009; SAZ, 2006
137
OLIVEIRA, 2003
138
SODR, 1988, p. 128-129
80
amerndias, mas so considerados e vivenciados de maneira mais matrial e
crepuscular e menos dicotmica (diurnas). E Viveiros de Castro volta para afirmar:
Viveiros de Castro: Como est claro, penso que a distino
natureza/cultura deve ser criticada, mas no para concluir que tal coisa no
existe (j h coisas demais que no existem) (...) prefiro, assim, perspectivizar
nossos contrastes contrastando-os com as distines efetivamente operantes
nas cosmologias amerndias.
139
[e africanas]
Neste movimento de ordem perspectivista, podemos sinalizar uma afronta
predileo cientfica-escolstica em primar obsessivamente pela abstrao dos
conceitos na ordem do pensamento racionalizado sendo assim, o perspectivismo, a
sensibilidade, a intuio e a corporeidade surgem como um risco exatido do
pensamento exclusivamente cerebrino e sistematizvel. Neste sentido contrrio s
exatides dicotmicas, podemos tomar a exemplaridade do corpo, que, como um
significante flutuante
140
que , ocorre como uma afronta ao princpio - aristotlico-
cartesiano-positivista aliado a teologia crist da verdade unvoca e antittica.
141
Nesta nossa esquiva, nos dedicamos a tramar com as filosofias da carne, nos
sentido de carne posto por Foucault quando, refletindo sobre o poder pastoral cristo
no jogo da confisso e da direo espiritual, ele nos de insinuaes da carne:
pensamento, desejos, imaginaes voluptuosas, deleites, movimentos simultneos da
alma e do corpo.
142
neste sentido das insinuaes que falamos na carne aliado a
um sentido de corporeidade que fala, ecoando sua voz tanto para dentro como para
fora de si. E na dimenso da fala como agente vivo da magia, que tomamos as
poesias, as narrativas e os en-sinamentos desta fora-voz da corporeidade vvida,
como fundamentos de uma filosofia da carne.
Da, a nossa esquiva s amarras de uma razo insensvel que so operadas
pelo abrao entre pastoralismo cristo com suas prescries e vigilncias pelo
amordaamento e negao do corpo.
143
Assim como, so operadas pelo racionalismo
cientificista com seus distanciamentos sisudos de anlise, pretendendo-se uma
atividade exclusivamente cerebrina de produo e armazenamento cumulativos de
representaes antitticas e passveis de universalidade.
144
neste movimento esquivo que tramamos a nossa predileo em utilizar o
termo multiverso afro-amerndio, buscando compreender esta multiplicidade movedia
139
VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 116
140
GIL, 2007
141
DURAND, 1994; MAFFESOLI, 1998; FERREIRA-SANTOS, 1998, 2005 (c)
142
FOUCAULT (1998) In: ROCHA & DIAS, 2011, p. 81
143
ROCHA & DIAS, 2011
144
DURAND, 1994; MORIN, 1979, FERREIRA-SANTOS, 1998, 2005c
81
de componentes e fundamentos. Numa lgica crepuscular do terceiro includo
145
, ou
seja, no do isto ou aquilo, mas sim do isto, aquilo e tambm aquilo outro. Tudo
em movimento sempre aberto e incompleto, tecido pelas redes vivas do saber, da
pessoa-comual e da cultura.
Nessa levada, podemos perceber as vitalidades dos saberes e das relaes
capoeiras que, em muito, transcendem os princpios cartesianos, exclusivistas e
historicistas dos modos escolares de conhecer. Ao passo em que, numa matriz afro-
amerndia a ligao umbilical entre as pessoas, os outros seres animais, vegetais e
minerais, e a ambincia, uma ligao matrialmente inicitica e no humanocntrica-
racional. nesse sentido que no nos dedicaremos aqui a uma sociografia ou
historiografia da Capoeira, mas sim s filosofias ancestrais e s filosofias da carne em
histrias capoeiras. Nessa entoada, podemos ouvir as palavras de Hampat B que
chega para dizer:
Hampat B: Na cultura africana [acrescentamos: e indgena
146
] tudo
Histria. A grande Histria da vida compreende a Histria da terra e das guas
(geografia) a Histria dos vegetais (botnica e farmacopia), a Histria dos Filhos
do seio da Terra (mineralogia metais,) a Histria dos astros (astronomia,
astrologia), a Histria das guas e assim por diante. [...] Por exemplo, o mesmo
velho conhecer no apenas a cincia das plantas (as propriedades boas e ms
de cada planta), mas tambm as cincias da terra (as propriedades agrcolas ou
medicinais dos diferentes tipos de solo), a cincia das guas, astronomia,
cosmogonia, psicologia, etc. Trata-se de uma cincia da vida, cujos
conhecimentos sempre podem favorecer uma utilizao prtica. E quando falamos
de cincias iniciatrias ou ocultas, termos que podem confundir o leitor
racionalista, trata-se sempre, para a frica [e amerndia] tradicional, de uma
cincia eminentemente prtica que consiste em saber como entrar em relao
apropriada com as foras que sustentam o mundo visvel e que podem ser
colocadas a servio da vida.
147
Nessa ginga matrial afro-amerndia dos modos de en-sinar e fazer-saber,
percebemos modos libertos do encarceramento das grades curriculares e
enquadramentos institucionais. Assim, nos esquivamos, numa s ginga, tanto das
abordagens idealistas-esotricas como das abordagens materialistas-historicistas.
Esquivamo-nos daquela desnaturarizacin branco-ocidental da pessoa, pois que
desnaturalizadas a pessoa aparece e comparece como escravagista parasitria da
natureza. Isto dentro da lgica individualista do capitalismo somada lgica da
despersonalizao promovida pelo Estado.
E neste jogo, nos esquivamos da obsesso acadmica de que absolutamente
tudinho no ser humano socialmente construdo pelas representaes mentais de
145
DURAND, 1994
146
MAMANI, 2010; FERREIRA-SANTOS 2004a; TESTA 2007, MORALEZ, 2008
147
HAMPAT B, 1982, p.195
82
cada idade histrica. Em que a palavra natureza est sujeita a um linchamento nas
cincias humanas em que o verbo naturalizar, como tambm acontece com verbo
mistificar, mencionado para dizer de uma aceitao acrtica diante da vida dos
esteretipos. Ou ainda, quando no expressa neste mal sentido, a palavra natureza
aparece confinada no campo de uma ecologia humanocntrica que trabalha para
salvar os recursos naturais simplesmente para garantir a vida da espcie humana e
seus descendentes, para manter a ordem tal como est.
E, no raro, esta noo de natureza da ecologia branco-ocidental-
antropocntrica o fundamento que, na ordem do capitalismo e do Estado, permite as
prescries e o ato de legislar na determinao das chamadas reas protegidas.
Impedindo, assim, as relaes comunais com a ambincia ao criminalizar a existncia
humana nestes territrios. Desse modo, ao invs de uma ambincia em comum-
unidade temos que lidar com o meio ambiente apartado, patrimonializado pela lgica
branco-ocidental.
Por falar nas cenas do Estado, com seu aparato militar e punitivo, interditando a
presena humana nas reas protegidas, relembramos de quando Adriana Testa
conta:
Adriana Queiroz Testa: No texto elaborado pelas lideranas guarani e pelo
Oim ipor ma Ore-rek, Jandira, cacique do Teko Yto, descreve a situao da
rea do Jaragu, quando sua famlia chegou l na dcada de 1950, contrapondo-a
situao. O local, inicialmente situado numa regio de mata, onde seus filhos se
banhavam no rio e caavam pequenos animais e pssaros, se contrasta com o
espao atual de recursos naturais limitados e cercado pelos desdobramentos da
expanso urbana. At mesmo a coleta de materiais para artesanato e confeco
de remdios se restringe pela escassez ou pela proibio de utilizar as plantas que
se encontram na rea do parque estadual. Por outro lado, as limitaes visveis
escondem outras dimenses menos evidentes que no permitem aos Guarani
desta terra indgena viverem segundo seu nhande rek (nosso modo de viver),
algo que se expressa nas declaraes das lideranas (...).
148
Neste sentido, a hegemonia branco-ocidental segue embargando os modos
matriais afro-amerndios da cultura de vida, das relaes vitais com todas as formas
de existncia em comum-unidade. Encontramos esta expresso tambm nas
declaraes das lideranas das comunidades-de-terreiro e das famlias de Capoeira,
pois esta predao capitalista seguida de estatizao das matas obstaculizam os
modos afro-amerndios de viver e cultivar a vida e, assim, segue desatinando o
equilbrio, a inter-relacionalidade e a complementariedade dos campos e redes de
foras vitais. Desse modo, percebemos esta atuao branco-ocidental realizar-se por
meio da obsesso ao mesmo tempo pela despersonalizao e pela individualizao da
pessoa desnaturalizada. E isto, por meio de uma noo amordaada de conhecimento
148
TESTA, 2007, p.51 (g.a.)
83
enquanto objeto institucionalizado, enquanto um produto abitico plenamente
transmissvel, compartimentalizado, e afervel.
Diante desta hegemonia, que sofremos os golpes etnocidas e epistemicidas
sobre os modos de viver, en-sinar e fazer-saber em uma matriz afro-amerndia. Posto
que, estes modos so profundamente assentados numa noo comunal da cultura da
vida. Em outras palavras, para alm das relaes humanas sociais e econmicas,
numa matriz afro-amerndia percebemos a resistncia de uma profundidade das
relaes de vida, de uma intimidade nos elos vitais. Assim, notamos relaes
estendidas a todas as formas de existncia, de uma maneira no humanocntrica, no
desnaturalizada e nem individualizante.
Nessa levada, por falar em uma cultura de vida no humanocntrica e no
desnaturalizada, chamamos Mamani pra esta conversa. Ele atende ao nosso chamado
dizendo:
Huanacuni Mamani: Comunidad desde la visin occidental individualista y
antropocntrica, se entiende como la unidad y estructura social. En cambio, desde
la visin de los pueblos indgenas originarios, todo es parte de la comunidad: el
rbol, la montaa, el rio, los insectos, son parte integrante de la comunidad, por lo
tanto comunidad se entiende como la unidad e estructura de vida.
149
nesta estrutura de vida que os modos afro-amerndios de en-sinar e fazer-
saber tem profunda relao com a matria, os elementos e foras da natureza, com o
contato intenso, e com influncias diretas da ancestralidade. Assim, estes modos
extrapolam a idia humanocntrica e abstrata do conhecimento construdo na
estrutura social. Nesse sentido, percebemos que o conhecimento est para alm do
antropocentrismo de um socialmente construdo, pois os elementos e as foras da
natureza, assim como a ancestralidade, intervm sobremaneira nos en-sinamentos e
modos de fazer-saber afro-amerndios.
Estes en-sinamentos carregam a polissemia, a multiplicidade e a intimidade dos
conhecimentos iniciticos alimentados e alimentadores das filosofias da natureza, das
filosofias da carne e das filosofias ancestrais. Nesta entoada, chamamos Muniz Sodr,
que chega junto para que o saber iniciaticamente transmitido distingue-se da
abstrao do conceito porque tambm uma fora viva, associada ao ax e ao muntu
[bem como ao yuxim]. E, desse modo, Os conhecimentos iniciticos passam pelos
msculos do corpo, dependem, ritualizados que so, do contato concreto dos
indivduos (...).
150
Nesta perspectiva, chamamos aqui o mestre africano Hampat B para nos
ensinar sobre os modos iniciticos de ser e saber, dialogando com a perspectiva de
149
MAMANI, 2010, p. 36
150
SODR, 1988, p.129
84
Ferreira-Santos sobre uma velha educao de sensibilidade em que a vida antecede
a reflexo e a recheia.
151
Nessa conversa, percebemos as jornadas das partilhas
iniciticas cujos modos de en-sinar abrigam, de maneira crepuscular:
Hampat B: (...) vrios nveis de significao: um sentido religioso, um
sentido de divertimento e um sentido educativo. Era ento preciso aprender a
escutar os contos, ensinamentos e lendas, ou a olhar o objeto em diferentes
nveis ao mesmo tempo. Nisso consiste de fato a iniciao. a conscincia
profunda do que ensinado atravs das coisas, atravs da prpria natureza e
das aparncias.
152
Nessa entoada, percebemos a profundidade e a intimidade presente nas
partilhas inicitica afro-amerndias com seus modos artista e comunal de fazer-saber e
en-sinar. Maneiras que comparecem nas encruzilhadas das foras vitais irradiadas na
intimidade entre filosofia ancestral, filosofias da carne e as filosofias da matria e da
ambincia. Modos matriais afro-amerndios de partilha inicitica que alimenta e
alimentado pelos elos de vida mestre-discpulo que so vitalizados por uma
aprendizagem pelos sentidos, pela sensibilidade que pulsa.
Assim, podemos gracejar em dizer que rgos decisores no movimento de
fluxo e refluxo de aprendizagens so: o corao, a pele, os trs ouvidos, os trs olhos
e a boca. Ento, podemos dizer que, neste modo matrial e artista de saber-fazer e en-
sinar, uma pessoa sbia aquela que goza de uma sensibilidade estendida. Desse
modo, temos imagens do saber como fora vital em movimento no linear, no
acumulativo e nem irreversvel, mas sim em movimento de circularidade, de pulsao
e de reversibilidade.
E, por falar neste movimento, na profundidade ntima do saber movimentado
pelos elos vitais e pelo encontro vivo com a vida das coisas, atravs da prpria
natureza e das aparncias
153
chamamos Muniz Sodr para o movimento desta roda.
Ele escuta o nosso chamado e nos movimenta contando:
Muniz Sodr: Claro, as aparncias enganam, como atesta o provrbio. Mas
s o fazem porque tem o vigor de aparecer, a fora da dissimulao e de iluso,
que um dos muitos caminhos em que se desloca o ser humano. Aparncia no
implicar aqui, entretanto, em facilidade ou na simples aparncia que uma coisa
d. O termo valer como indicao da possibilidade de uma outra perspectiva de
cultura, de uma recusa ao valor universalista de verdade que o Ocidente atribui a
seu prprio modo de relacionamento com o real, a seus regimes de veridico (...).
As aparncias no se referem, portanto, a um espao voltado para a expanso,
para a continuidade acumulativa, para a linearidade irreversvel, mas hiptese
151
FERREIRA-SANTOS, 2005(b), p.208
152
HAMPAT B, 1977, p.17
153
HAMPAT B, 1977, p.17
85
de um espao curvo, que comporte operaes de reversibilidade, isto , de retorno
simblico, de reciprocidade na troca, de possibilidades de resposta.
154
Nessa levada, podemos perceber os movimentos trajetivos, circulares e
pulsantes do conhecimento como fora vital tecendo e sendo tecido pelas ligas vitais
mestre-discpula/o nas partilhas iniciticas neste sentido, que os modos matriais
afro-amerndios de en-sinar e fazer-saber no concebem o encarceramento linear e
racional de uma verdade nica e antittica. E nesta maneira de conhecimento que
percebemos a fora dos sentidos, das metforas, de um modo artista de criar partilhar
conhecimento na reversibilidade das afinaes entre as filosofias da carne, as
filosofias ancestrais e as filosofias da matria. Assim, podemos sentir o conhecimento
como uma fora viva num campo maior de foras que comum-unidade de vida.
Tendo isto em vista, podemos iniciar uma compreenso sobre a complexidade
das redes de saber e de relaes afro-amerndias-capoeiras, numa conexo mestre-
discpulo, recheada por toda uma diversidade de componentes mobilizadores das
noes vividas de ser gente e do saber (saber como verbo e substantivo). Nesse
sentido, importa destacar uma noo de gente/corpo/famlia (balizados, no caso
caxinau, pelo termo yuda) que designa ao mesmo tempo nosso corpo, nossa carne e
nossos parentes.
Esta noo chega dando possibilidades a uma noo de pessoa-capoeira que
preze pela singularidade mltipla em que somos os nossos corpos, constitudos
tambm por nossa ancestralidade, no corpo dos mundos. Esquivando-nos das noes
individualizantes de homem para, num contragolpe dizer que no apenas temos um
corpo instrumental, individual e indivisvel num mundo nico e num determinado ponto
da linha histrica do tempo.
Nesta perspectiva, nos campo da etnologia amerndia, topamos com pesquisas
acadmicas
155
frisando que, alm das relaes perspectivistas com os mundos
animais, vegetais e minerais, existe uma centralidade da ancestralidade como ponte e
fonte de autoridade e maestria nos processos de gerao e circulao de
conhecimentos. A compor os elos entre almas, corpos, matria e conhecimentos.
Porm, destoamos um pouco desta abordagem acadmica ao desvincularmos a
ancestralidade do princpio exclusivista da ascendncia biolgica e histrica, tomando
a ancestralidade tambm nos seus traos mticos e a-histricos e circulares, para alm
das rvores genealgicas e dos recalques etnolgicos quanto ao termo herana.
154
SODR, 1988, p. 136
155
OLIVEIRA, 2003; MAMANI, 2010
86
Diante de toda uma multiplicidade caracterstica das noes afro-amerndias-
capoeiras de pessoa e de saber, assentadas na fora da ancestralidade, recordamos
de quando o professor Romualdo Dias chega dizendo:
Romualdo Dias: Nessa dinmica capitalista e neoliberal de poder que se
apropria da vida, temos que descer dos nossos pedestais da arrogncia
acadmica e nos voltar ao conhecimento ancestral. (...) Porque na racionalidade
ocidental, o que ns temos adoecimento, guerra tristeza. Ento, ns temos
que buscar no conhecimento ancestral, l que ns vamos buscar referncias
para fazer outros modos de experimentar a educao, buscar modos menos
perversos, sofridos e massacrantes.
156
Ouvindo estas palavras, mais uma vez nos excitamos a uma arte da esquiva e
da resposta a esta racionalidade ocidental, ao flertarmos com os modos afro-
amerndios-capoeiras de criar e partilhar conhecimentos. Modos profundamente
assentados numa filosofia ancestral que carrega este sentido artista na sua ao de
mensageira
157
e re-mediadora. Oferecendo recursos uma esquiva elegante e
festeira, num modo artista de tambm guerrear e se proteger desta predao branco-
ocidental-capitalista. E, por falar em ancestralidade, chamamos para este jogo a
sacerdotisa de matriz africana, educadora e artista Kiusam Regina de Oliveira: E ela
vem palavreando:
Kiusam: Ancestralidade! Palavra que revela e esconde os mistrios
geralmente pronunciados por aqueles que so guardies das memrias e dos
costumes locais e que conseguem manter viva a tradio do mito, da religio, da
filosofia, da arte, da cultura, da esttica, dos espaos sagrados como o terreiro e o
mato; palavra que guarda os princpios do feminino, do masculino, do hbrido e do
coletivo. Palavra que tem o poder de fazer seus descendentes conviverem
harmoniosamente com dois tempos: o passado e o presente.
158
Neste sentido matrial de ancestralidade que cria, protege, alimenta e orienta
nesta ginga de revelar e esconder mistrios que percebemos os sentidos da Capoeira
como uma fora matrial afro-amerndia visceralmente ligada ancestralidade. E nesta
vscera que pulsa, percebemos a vida artista desta filosofia ancestral que em-sina na
poesia do silncio, das metforas, da dana, da rima e da prosa potica. Nesta
entoada com as maestrias ancestrais, pra esta mesma roda, chamamos tambm a
noo de ancestralidade como bem posta por Marcos Ferreira-Santos. E ele vem nos
en-sinando:
156
Trecho transcrito do registro das orientaes no processo de qualificao
157
Verso de uma cantiga de capoeira do Mestre Gato Ges
158
OLIVEIRA, 2008, p. 18
87
Ferreira-Santos: Ancestralidad aqu entendida como el rasgo constitutivo
de mi proceso identitario que es heredado y que va mas all de mi propia
existencia. Por lo tanto, la caracterstica en primera persona reafirma el carcter
personal de esta relacin con el trazo heredado que se suma a los otros factores
formativos en el proceso identitario. As, no se considera la identidad como un
bloque homogneo e inmutable, pero como un proceso abierto y en permanente
construccin en el cual dialogan varios factores determinantes, escogidos o no, en
contraste con la alteridad con que nos relacionamos. La otra faceta de esta nocin
de ancestralidad es que herencia, que puede tambin ser biolgica (pero no
necesariamente), es mucho ms grande y mas durable (la gran duracin histrica)
de que mi existencia personal (pequea duracin). Esta herencia colectiva
pertenece al grupo comunitario a que pertenezco y me ultrapasa. De esta forma,
tenemos con esta ancestralidad una relacin de endeudamiento en la medida en
que somos el futuro que este pasado tena y nos cumple actualizar sus energas
movilizadoras y fundadoras. En un resumo: nuestra deuda con la ancestralidad es
que tenemos que ser nosotros mismos.
159
Nesse sentido de ancestralidade como proposta por Ferreira-Santos, podemos
conceb-la como componente constitutivo das noes de pessoa, saber e arte num
espao-tempo circinado em redes de fora. E numa dimenso de endividamento que
em muito dialoga com a noo de prprio presente numa concepo afro-amerndia
de dono ou mestre. Nesse sentido, uma filosofia ancestral, capoeira, na rede de
saberes e relaes, parece estar assentada e alimentar as vitalidades das relaes de
domnio e maestria, e ento, dos conhecimentos e conhecedoras\es ancestrais
160
.
Vale dizer que a noo de dono visceralmente ligada noo de ancestralidade
fundamental para os modos afro-amerndios, iniciticos, capoeiras de saber. Ento,
dialogando com a universidade, convidamos, aqui, o etnlogo Carlos Fausto que traz
esta noo enquanto uma categoria de anlise etnolgica. E ele diz que a noo de
dono ou mestre:
Carlos Fausto: (...) transcende em muito a simples expresso de uma
relao de propriedade ou domnio. A categoria e seus recprocos designam
um modo generalizado de relao, que constituinte da socialidade amaznica
[e na de matriz africana] e caracteriza interaes entre humanos, entre no-
humanos, entre humanos e no-humanos e entre pessoas e coisas. (...)
procuro imaginar o universo amerndio [e, aditamos: africano] como um mundo
de donos e o dono como o modelo da pessoa magnificada capaz de ao
eficaz sobre esse mundo.
161
Esta noo, recentemente percebida pelos etnlogos, comparece de maneira
primordial e explcita nos modos afro-amerndios de fazer-saber e en-sinar, de estar na
vida. Assim, podemos perceber imagens da partilha afro-amerndia com participao
ativa e fundamental das donas e donos que maestram campos de foras vitais da
natureza. Nesse sentido, temos imagens da partilha africana e amerndia nesta noo
viva de donos e donas como parte da comum-unidade. E ento, por falar em donos,
159
FERREIRA-SANTOS, 2009. p.11 (g. a.)
160
CABALZAR, 2010; YANO, 2009
161
FAUSTO,2008, p. 329 (g.a.)
88
temos o privilgio de chamar o Pai Quejessi para esta roda. Ele atende ao nosso
chamado en-sinando:
Tata Quejessi: Pelo fato de os ocidentais eurocntricos terem uma noo
de propriedade diferente da nossa, eles acham que podem comprar o que
querem. E a, se esquecem, ou no se do conta, de que as coisas pertencem a
algum antes de ser uma pretensa propriedade privada. A matriz africana trabalha
com essa lgica: a mata pertence a algum, a algum vodum ou alguns voduns,
aos caboclos... Se eu for entrar na mata eu devo respeito e reverncia. Eu devo
me valer da mata de forma a manter aquele ciclo em estado harmnico. A mesma
coisa sobre a terra, a gua, o vento, as folhas, o orvalho, os mares, os
oceanos... Se ns vivssemos com a lgica de respeitar esse pertencimento esse
mundo seria outro. Nossa! Que maravilha seria esse mundo! Mas essa lgica
muito complicada pra o eurocntrico entender. Pra ele, s existe um dono, e o
dono o capital. E quem detm o capital se torna dono, mas s durante aquele
tempo que ele tem o capital. Olha s que coisa terrvel: o dono tem vida curta, o
mando tem tempo estabelecido. O pertencimento no! Ele eterno, transcende e
transpassa as geraes, e quanto mais ancestral voc fica mais maestria voc tem
naquilo. Isso muito srio, no como dinheiro que hoje voc tem amanh pode
acabar.
162
Ouvindo estas palavras, podemos perceber o confronto entre as concepes
branco-ocidentais humanocntricas de propriedade e as concepes afro-amerndias
comunais de pertencimento. Assim, relembramos Ferreira-Santos quando ele
caracteriza estes antagonismos entre as matrizes em que a primeira guiada por
modos oligrquicos e patriarcais e a segunda por modos comunais, afetuais-
naturalistas e matriais. E, pra este jogo tenso, entre propriedade oligrquica e
pertencimento comunal, chamamos um filho da Pachamama (Me-Terra): Fernando
Huanacuni Mamani. E ele atende ao nosso chamado, dizendo:
Fernando Huanacuni Mamani: El Vivir Bien no pude concebirse sin la
comunidad. Justamente, irrumpe para contradecir la lgica capitalista, su
individualismo inherente, la monetarizacin de la vida en todas sus esferas, la
desnaturalizacin del ser humano y la visin de la naturaleza como un recurso
que puede ser explotado, una cosa sin vida, un objeto a ser utilizado.
163
Nesse sentido, nos esquivamos aqui da desnaturalizao e individualizao de
um modo antropocntrico e mercadolgico de estar no mundo como sinnimo de
desenvolvimento e de viver bem. Diante disto, como nos indica Romualdo Dias,
podemos fazer referncia ideia do comum como esquiva aos princpios cooptadores
tanto do mercado como do Estado. Ento, chamamos Michael Hardt pra esta
conversa:
162
Trecho da transcriao da conversa entre Elis, Mrcio Folha e Pai Quejessi, realizada em 2011 no
Stio Quilombo Anastcia Il Ax de Yans, em Araras - interior de So Paulo
163
MAMANI, 2010, p.49 (g.a.)
89
Michael Hardt: Devemos examinar outra possibilidade: nem a propriedade
privada do capitalismo, nem a propriedade pblica do socialismo, mas o comum
no comunismo. (...) As idias, as imagens, os conhecimentos, os cdigos, as
linguagens, e mesmo os afetos podem ser privatizados e controlados como
propriedade, mas mais difcil regulamentar sua posse porque eles so muito
facilmente compartilhados e reproduzidos. Estes bens so submetidos a uma
presso constante para escapar s fronteiras da propriedade e se tornarem
comuns.(...) Acrescentaria, alm disso, que o fato de transformar o comum em
propriedade pblica, isto , de submet-lo ao controle e administrao do
Estado, reduz da mesma maneira a produtividade. (...)
Poder-se-ia dizer, em termos bastante gerais, que o neoliberalismo foi
determinado pela luta entre a propriedade privada no somente contra a
propriedade pblica, mas tambm e talvez fundamentalmente contra o comum.
til estabelecer aqui uma distino entre dois tipos de comum, que so ambos
objetos das estratgias neoliberais do capital. (E isso pode servir de definio
inicial do comum). De um lado, o comum designa o planeta e todos os recursos
que lhes so associados: a terra, as florestas, a gua, o ar, os minerais e assim
por diante. (...) De outro lado, o comum remete igualmente, como eu j havia dito,
aos resultados da criatividade e do trabalho humanos, tais como as idias, a
linguagem, os afetos etc. (...) E, de qualquer modo, o neoliberalismo procurou
privatizar ambas as formas do comum.
164
Neste quebra-gereba
165
da matriz afro-amerndia com os princpios branco-
ocidentais de propriedade, podemos dizer que, numa matrialidade afro-amerndia,
existem comuns que so incomercializveis e ininstitucionalizveis, mesmo sob o
ataque ininterrupto do mercado e do estado. Como o caso da fora vital, das donas e
donos e da ancestralidade, que so visceralmente ligadas e, ao mesmo tempo em que
ligam, os dois tipos de comum de que fala Hardt.
Nesta conversa, sobre o sentido de pertencimento afro-amerndio em confronto
direto com o conceito de propriedade branco-ocidental, recordamos dos en-
sinamentos de Frantz Fanon que nos conta cenas da sua esquiva-contragolpe no
confronto com argumentos evolucionistas da cincia branca que insiste em taxar os
povos em comum-unidade com as foras da natureza como primitivos, arcaicos,
animistas e propagadores da magia negra. E assim, do despeito frustrado do branco-
ocidental diante da constatao de que nem tudo se pode comprar, explorar e
capitalizar. Ento, convidamos Frantz Fanon para esta roda. Ele aceita nosso convite,
e nos conta assim:
Frantz Fanon: Eis o negro reabilitado (...) ligando as antenas fecundas do
mundo, jogando no palco do mundo, borrifando o mundo com sua potncia
potica, permevel a todos do mundo. Esposo o mundo! Eu sou o mundo! O
Branco nunca compreendeu esta substituio mgica. O Branco quer o mundo.
Ele o quer todo para si. Ele se considera o senhor predestinado deste mundo. Ele
o subjuga. Estabelece-se entre o mundo e ele uma relao de posse. Mas existem
valores que lhe escapam. Como mgico, eu roubo do Branco um certo mundo,
perdido para ele e os seus. Ento, o Branco deve ter sentido um choque que no
164
HARDT, 2010, p.19
165
Expresso capoeira que traz sentidos de batalha direta.
90
pde identificar, to pouco habituado estava a essas reaes. que alm do
mundo objetivo de terras e de bananeiras ou seringueiras, eu tinha criado com
esmero o mundo verdadeiro. A essncia do mundo era a minha fortuna. Entre o
mundo e eu se estabelecia uma relao de coexistncia. (...) O Branco teve a
dolorosa impresso de que eu lhe escapava, e que levava algo comigo. Ele
revistou meus bolsos. Revisitou todas as curvas do meu corpo. No encontrou
nada. Ora, era evidente que eu possua um segredo.
166
Diante destas palavras, jogamos nesta entoada dos valores que lhe
escapam, nos valendo da contrapartida afro-amerndia do sentido de herana e de
fortuna. Este sentido est assentado nas foras da relao comunal e matrial de
coexistncia com o mundo. Assim como, nas vitalidades do poder da sensibilidade
noturna e crepuscular do segredo, fora esta que anuvia os holofotes da policiao
estatal e capitalista atemorizando-a.
Jogamos, ento, com a matriz afro-amerndia em sua matrialidade da religao
das antenas fecundas do mundo, em sua liberdade de criao num modo artista de
viver borrifando o mundo com sua potncia potica. Religaes e borrifadas estas,
vitalizadas numa relao de amor profundo e intimidade com mundo, esposando-o.
nesse sentido que compreendemos o alerta do Romualdo Dias de que a recuperao
do comum s poder realizar-se por meio da cultura como materialidade e como
campo de foras e visceralmente fundamentada no conhecimento ancestral. Em suas
filosofias comunitrias de inter-relacionalidade e complementaridade de todas as
formas de existncia.
Nesta jogada, podemos ter como uma esquiva, capitalizao e estatizao do
comum, a exemplar experincia boliviana quanto formao de um estado
plurinacional, em que os movimentos indgenas esto levando pra dentro da lgica do
Estado os modos de fazer e a filosofia ancestral Aymara, Quchua e Guarani. Nessa
levada, Romualdo Dias nos diz da formao de polticas pblicas com um vis no
humanocntrico e sim comunal, integrando a natureza, o cosmos, a ancestralidade, o
pertencimento e o sentido do reconhecimento.
E ento, chamamos novamente uma liderana indgena que trabalha no sentido
de uma reinveno do estado
167
por meio dos modos matriais indgenas, assentados
na filosofia ancestral, a transformar os diferentes setores. E, numa esquiva-
contragolpe aos modos ocidentais estatais-mercadolgicos de gesto pblica,
Fernando Huanacuni Mamani nos presenteia dizendo:
Fernando Huanacuni Mamani: Para reconstituirnos en el Vivir Bien, la
educacin es fundamental. Por eso que la educacin comunitaria debe ser
166
FANON, 1983, p. 105-106
167
Romualdo Dias. Fala registrada na reunio de orientao durante o processo de qualificao.
91
restablecida en nuestras comunidades y en toda sociedad. La educacin
comunitaria est basada en un enfoque y principio comunitarios, no implica
solamente un cambio de contenidos, sino un cambio en la estructura educativa.
Esto significa salir de la lgica individual e antropocntrica, para entrar en una
lgica natural comunitaria, salir de una enseanza y evaluacin individuales, para
llegar a una enseanza e valoracin comunitarias, salir del proceso de
desintegracin del ser humano con la naturaleza y reemplazarlo por la conciencia
integrada con la naturaleza, salir de una enseanza orientada a obtener slo
fuerza de trabajo para instituir una enseanza que permita expresar nuestras
capacidades naturales, salir de la teora dirigida por la razn para solo entender y
llegar a una enseanza prctica para comprender con sabidura, salir de una
enseanza que alienta el espritu de competencia y cambiarla por una enseanja
aprendizaje complementaria para que todos vivamos bien y en plenitud.
168
Em contato com estas palavras, podemos sentir uma fresta de ar nesta guerra
de sobrevivncia ao sufoco da predao advinda do triplo abrao apertado: entre o
Estado, o capitalismo neoliberal e a supremacia crist. E, nesta guerra de resistncia,
vamos tramando imagens da partilha matrial afro-amerndia centrada na sua filosofia
ancestral, zelando pelo comum em suas relaes de maestria que vitalizam as ligas da
comum-unidade de vida. Nessa levada, temos a alegria de chamar pra roda,
novamente, as palavras de Fernando Huanacuni Mamani:
Fernando Huanacuni Mamani: Las naciones indgena originarias, desde el
norte hasta el sur del continente de Abya Yala, tienen s su vez diversas formas de
expresin cultural, pero emergen del mismo paradigma comunitario; concebimos la
vida de forma comunitaria, no solamente de relacin social sino de profunda
relacin de vida. Por ejemplo, las naciones ayamara y quechua, conciben que todo
viene de dos fuentes: Pachakama o Pachatata (Padre cosmos, energa o fuerza
csmica) y Pachamama (Madre tierra, energa o fuerza telrica), que generan toda
forma de existencia. Es claro y contundente lo que los pueblos originarios
decimos: si no reconstituimos lo sagrado en equilibrio (Chacha Warmi, Hombre
Mujer), lo espiritual en nuestra cotidianidad, definitivamente no habremos
cambiado mucho si no tendremos la possibilidade de concretar ningn cambio real
en la vida prctica.
169
Nesse sentido, podemos perceber uma educao matrial afro-amerndia
religadora e remediadora da pessoa com toda forma de existncia e do conhecimento
vivo como fluxos, refluxos e ressonncias da fora vital do conhecimento maestrado
em ns pela fora dos donos e da ancestralidade, das Mes e Pais no sentido
cosmognico afro-amerndio, como componentes interligados e decisivos da
constituio da pessoa-capoeira do saber-capoeira e da palavra-capoeira, assentadas
numa matrialidade afro-amerndia em suas mltiplas redes de relaes no
humanocntrica nem idividualizantes. Nesta entoada comunal, matrial e afetual-
naturalista, percebemos a centralidade fundamental das noes de donos e de
168
MAMANI, 2010, p.33
169
MAMANI, 2010, p.33
92
ancestralidade como integrantes e integradores do comum, dos modos iniciticos de
en-sinar e fazer-saber conhecimentos em profundidade.
Deste modo, as noes vivas de ancestralidade e de donas e donos, nos
auxiliam a compreender uma lgica interna formao das hierarquias nos modos
afro-amerndios de saber se relacionar. Isto, para descontentamento dos idealistas de
planto que, da sacada da casa-grande, insistem em afirmar que nas sociedades
indgenas e africanas, e aldes em geral, no existem lderes e autoridades do poder,
e sim uma idealizada horizontalidade absolutamente simtrica de relaes. Talvez por
estarem encabrestados pela viso branco-ocidental da ordem oligrquica, patriarcal,
individualista e contratualista, as formas hierrquicas afro-amerndias passem
despercebidas aos olhos destes estrangeiros deslumbrados.
No entanto, a rigidez do sistema afro-amerndio de hierarquia, e capoeira,
aparece pautada pelas foras vitais do saber, atuantes nas sensibilidades extensivas,
nas vidncias perspectivistas, nas relaes de domnio e maestria e no princpio da
senioridade. Estas foras esto assentadas e so definidas pela centralidade da
ancestralidade enquanto uma fora decisria, organizadora destas relaes
sensivelmente assimtricas. Ento, chamamos para este jogo com a academia, a
etnloga Flora Cabalzar que nos conta que:
Flora Cabalzar: (...) as discusses entre os ndios [e negros, imbudos
em suas matrizes culturais] giram em torno, no exatamente da hierarquia
relativa (pois em geral cada qual reconhece sua posio) ou questo de honra,
mas de poderes vitais, percebida a descendncia como conexo com essas
foras vitais. Vitalidades, em vrias manifestaes, relacionadas
ancestralidade, sempre seriam associadas hierarquia. Hierarquia teria antes
a ver com foras vitais, e apenas secundariamente com status ou honra.
170
Tendo isto em vista, podemos sinalizar o conhecimento, e o conhecimento
ancestral, como fora vital em movimento compondo almas
171
, geraes e mundos.
Nesta concepo afro-amerndia-capoeira de saber (s para relembrar: saber como
verbo e substantivo) podemos pensar numa relao, digamos, gerontocrtica das
redes de conhecimento em pleno processo de manuteno/transformao das
prticas culturais.
A despeito das geraes (no duplo sentido do termo), Flora Cabalzar demonstra
traos das relaes intergeracionais imbricadas no acesso, gerao e circulao dos
saberes e poderes. Neste trabalho, percebemos a centralidade do princpio da
ancestralidade e da senioridade como fundamento da organizao dos
170
CABALZAR, 2010, p. 128
171
como a estrutura de sensibilidade que conforma um estilo de configurao do campo perceptivo, uma
maneira de ser e agir sobre e no mundo com o outro. FERREIRA-SANTOS, 2009, p.03
93
poderes/funes em redes de relaes e modos de saber. Dialogamos com Cabalzar
ao tratar desta rede de relaes em seus fluxos e assimetrias. Trazemos suas
palavras, no movimento de alerta, para o fato de que convm tratar das relaes de
poder/funes:
Flora Cabalzar: (...) em termos de sistema de posies
complementares e hierrquicas, no topo da qual esto os mais velhos, irmos
maiores como conhecedores, e de conhecimentos que deveriam ser
transmitidos de pai para filho. (...) [e, implicada na fora da palavra, numa
antropologia da fala, a autora atenta para os modos] como se d e se percebe
a circulao de saberes, no mbito da agncia dos conhecedores mais velhos
que, justamente, compuseram seus saberes em diferentes lugares e de
distintos modos (sentando com muitos velhos que no seus avs prprios).
172
Entretanto, podemos perceber, num sentido afro-amerndio de
intergeracionalidade, um princpio das geraes (no duplo sentido do termo)
assentado na matrialidade, na circularidade do tempo-espao e na movimentao das
foras vitais. Este princpio extrapola a linearidade da idade cronolgica, e, ento
vemos imploses de pirmides etrias que, em metamorfose, se espiralam no tempo
mtico em momentos de maestria das foras. Assim, a questo das idades so
movedias, contextuais e relacionais, por exemplo, na Capoeira e no Candombl uma
criana pode muito bem ser a irm mais velha de um adulto. As idades se
movimentam de acordo com as habilidades de maestria, com a extenso do campo
sensvel e com a profundidade das relaes junto s foras da natureza.
Essas habilidades da mestria, nos fluxos e refluxos da fora vital, tem profunda
mediao da ancestralidade, e nela, das donas e donos, numa rede de maestria de
foras em intimidade. nesse sentido, de profundidade ntima, e de gerao,
manuteno e irradiao das foras vitais, que falamos na noo de donos. Nesta
maneira comunal, a pessoa-capoeira numa relao intima com as donas e donos da
Capoeira, alimentam as suas habilidades de maestria das foras-capoeiras. Numa
relao crepuscular na prpria carne com os donos e mestres da ancestralidade da
capoeira. Assim, a relao mestre-discpulo constitui e constituda por essa
dimenso sagrada da remediao e da religao comunal das foras matriais afro-
amerndias da Capoeira.
E ento, para desesperos daqueles idealistas deslumbrados que confundem o
princpio afro-amerndio da recepo acolhida, com a idia que, recorrentemente,
ouvimos de que a cultura no tem dono, em que percebemos a defesa dos
reducionismos holistas de que as expresses afro-amerndias tudo cultura popular:
terra de todos e de ningum. Fazemos questo de sublinhar que nas matrizes
amerndia e africana tudo tem dono. Sendo assim, afirmamos que este holismo
172
CABALZAR, 2010, p. 126
94
sinttico branco-ocidental revela o panorama da viso limitada s superfcies, uma
viso, que de to iluminada no alcana s profundidades das relaes de maestria.
E ento, nesta mesma superficialidade que no poucas vezes topamos com
um desvirtuamento da profundidade da relao vital mestre-discpulo em modos
branco-ocidentais de relaes mercadolgicas de bens e servios. As imagens deste
jogo de esquivas e capturas nos levam a memorar as palavras de Me Slvia de Oy
quando ela solta sua alfinetada dizendo:
Y Slvia de Oy: A, na defendida mistura de raas, na dita mistura de
culturas, ningum tem diploma, a parece que so todos iguais. A se valem,
batendo palma pro Ax das cantigas, sem nem saberem o que esto cantando. E
essas cantigas so de quem? Vem da onde? Vem dos donos da Capoeira, que
so os negros com os ndios com toda sua ancestralidade. Por isso que, apesar
de famosa, ela ainda discriminada. Pois se no fosse, a gente no teria apenas
a presena fsica da playboyzada, nossos mestres de capoeira teriam os mesmos
poderes aquisitivos e oportunidades nessa sociedade, do que esses falsos
capoeiras. E ns no seramos apenas folclore no ms de agosto e no ms de
novembro, que quando se diz que discutem a questo das nossas razes. E
ento, os falsos capoeiras acham que fazem Capoeira. E fazem da Capoeira um
objeto de consumo. Fazem da Capoeira, que uma arte to profunda e to
sagrada, uma mera atividade fsica pra enrijecer o bumbum ou ser alternativo. A
Capoeira muito mais que isso! Quando voc v aqueles que se auto intitulam
capoeirista, voc percebe que o que tem de falso capoeira, no brincadeira!
Eles no tm dimenso da profundidade da Capoeira e dos que reinam nela.
173
Diante destas cenas, nos esquivamos dos golpes ocidentais capitalistas, e,
na poesia do silncio
174
, respondemos com uma reverncia s donas e donos da
Capoeira e toda a ancestralidade na sua maestria. A maestria que gera e regenera a
fora vital da Capoeira nas ligas de vida mestre-discpulo e capoeira-capoeirista.
Esta complexidade crepuscular da conhecimento-capoeira vivo, exibe a
dimenso sagrada desta relao mestre-discpulo. Estas ligas de vida nos/dos
conhecimentos, nos auxilia no trabalho de compreender o saber numa dinmica
processual e viva das prticas culturais enquanto permanncias abertas num campo
de foras em movimento. Nesse sentido, vale dizer que os princpios, aqui sinalizados
como afro-amerndios, de senioridade, de ancestralidade, de domnio e maestria, de
perspectivismo e de saber afro-amerndio-capoeira, parecem carregar, alm de uma
comunal e matrial noo estendida de pessoa, de famlia e de arte, tambm uma
noo extensvel, comunal e matrial de educao.
Huanacuni Mamani: El hablar de una educacin comunitaria no implica em
despersonalizar a los estudiantes o anular la evaluacin individual, que tambin es
importante, se trata de comprender que todo est integrado interrelacionado, que
173
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
174
Como diz Contramestre Pinguim em suas aulas e na transcriao da nossa conversa com ele.
95
la es un tejido y en l todos tenemos un lugar. En este sentido los estudiantes no
son aislados, sino seres integrados que son parte esencial de la comunidad. ()
por lo tanto en la educacin comunitaria tambin la evaluacin es comunitaria. La
enseanza-aprendizaje y evaluacin comunitaria nos devolvern la sensibilidad
con los seres humanos y con la vida, y la responsabilidad respecto a todo que nos
rodea.
175
Nessa levada intensa, uma noo extensiva de partilha de saberes, que
extrapola os modos estatais, mercadolgicos e mentalsticos de escolarizao.
Carregam uma educao de sensibilidade na relao in-tensa com a ancestralidade
nas afinaes do campo sensvel. Numa educao na qual a centralidade decisria de
sua ao est assentada no corao e na carne. Carregam modos crepusculares de
saber-vivo, assentados na arte, nas metforas, nos gesto, no silncio, nos mistrios,
nas coisas tambm invisveis e indizveis. Uma educao cclica, como prope
Fernando Huanacuni Mamani:
Huanacuni Mamani: Circular porque, por ejemplo, en nuo tambin le
ensea al maestro; le ensea su alegra, su inocencia, su actuar sin temor, sin
estructuras, una educacin de ida e vuelta, donde ante todo compartimos la
vida.
176
E, alm disso, podemos percebem essa crepuscularidade mesmo quando
estamos diante das atividades mais diurnas como a troca e uso das categorias e
conceitos. E, por falar em categorias e conceitos, lembramo-nos das visitas ao campo
da etnologia amerndia. Nele, encontramos a pesquisa de Joanna Oliveira trabalhando
para compreender as lgicas nativas num sistema mltiplo e descontnuo de modos
classificatrios e de uso das categorias, bem como nos seus modos de transmisso.
Nesta tentativa racional em detectar uma lgica, ela atenta que:
Joanna Oliveira: preciso notar que esses princpios que
fundamentam e organizam as taxonomias nativas esto ligados s mais
diversas dimenses da vida social wajpi, tais como: as concepes
cosmolgicas; a observao minuciosa dos aspectos morfolgicos; os
interesses utilitrios; a percepo sensorial; as relaes sociais e; o prprio
processo de transmisso dos saberes.
177
Vale dizer que, apesar de utilizar a expresso transmisso de conhecimentos
- o que permite, na primeira vista, uma identificao com pressupostos cognitivistas da
epidemiologia das representaes e da educao bancria poderamos
facilmente substituir o substantivo transmisso pelo termo partilha sem ferir os
175
MAMANI, 2010, p. 62
176
MAMANI, 2010, p.64
177
OLIVEIRA. 2006, p. 199
96
fundamentos destes modos. Uma vez que esta autora, ao estudar os modos de
transmisso de saberes, o faz sob pressupostos cognitivistas.
O que sinaliza, talvez, uma necessidade de dilogo entre os campos da
etnologia e o da educao. Assim como, do reconhecimento, pelos iluminados
cientistas sociais, historiadores e filsofos, da educao como campo fundamental da
cincia, passvel de contribuies decisivas para outros campos, aqui no nosso caso,
em especial, com o da antropologia e etnologia.
Entretanto, esse trabalho aparece aqui pelo fato de nos presentear com imagens
textuais sobre um fazer-saber amerndio que, em muito, permite a visualizao, por
nossa conta, de um modo crespuscular de educao de sensibilidade. Assim,
podemos perceb-lo nos movimentos descritivos sobre as situaes de troca e
saberes. E a autora nos conta:
Joanna Oliveira: A vida cotidiana nas aldeias marcada pelos trabalhos
dirios que muitas vezes so feitos de forma coletiva e acompanhado pelas
crianas. Nessas ocasies como se os conhecimentos fossem no s
aplicados s suas finalidades prticas, mas tambm compartilhados e trocados
entre os envolvidos na tarefa. Assim, faz-se necessrio caracterizar esses
trabalhos e empreendimentos coletivos que so momentos de se apreender
fazendo.
178
E, ento, neste jogo tenso de sim, sim, sim, sim, no, no, no, no com a
etnologia amerndia, gingamos com os recursos de uma possvel noo crepuscular e
matrial afro-amerndia de pessoa integrada e extensvel a muitas outras formas
existncia. Desse modo, percebemos um sentido capoeira de reversibilidade e de
recursividade em que pessoa, comunidade, ancestralidade e ambincia se constituem
mutuamente, de maneira crepuscular, em profundidade ntima.
nesse sentido capoeira que tramamos uma compreenso da vida artista,
concreta, multiforme e multimaterial dos saberes em movimento. Movimento que
segue constituindo e sendo constitudo por pessoas em coletivos comunais de vida.
Numa dinmica processual e viva das prticas culturais florescendo nas ligas
criadoras e recreadoras entre pessoas, matria e saberes enquanto permanncias
abertas num campo movedio de foras. De modo a conceber os saberes, assim
como a pessoa, como foras vitais em seus fluxos, refluxos e ressonncias, pulsante
nos corpos dos mundos.
Nesta imagem movedia e pulsante da noo de saber e pessoa, nos
recordamo-nos de quando Vanda Machado nos diz da adoo de um contorno dando
178
OLIVEIRA, 2006, p. 231
97
relevncia pessoa como um ser-sendo.
179
E temos a alegria de chamar esta
educadora, referncia propulsora de pedagogias afrocentradas, para esta roda. Ela
ouve nosso chamado e nos conta de si em sua jornada de pesquisa:
Vanda Machado: Parte desta construo retrata a minha auto-escuta e a
interlocuo das muitas pessoas que existem em mim mesma. Trata-se de
pessoas que na complexidade da suas existncias vivenciam todos os tempos e
todas as minhas idades. Isto o que nos ensina B (1982) quando, fundamentado
em mitos cosmognicos, aponta a iniciao como desvelamento da relao da
pessoa consigo mesma e no universo entre os vivos e os ancestrais.
180
Neste sentido inicitico de pessoa-saber-arte, assentado num modo afro-
amerndio de en-sinar e fazer-saber, flertamos com uma possvel noo afro-
amerndia de pessoa neste movimento mltiplo e nesta complexidade atuante. E por
falar em pessoa como uma unidade mltipla em movimento, convidamos pro jogo a
pesquisadora Ronilda Ribeiro. Ela, com seus estudos sobre os Iorubas, nos diz:
Ronilda Ribeiro: Nas diversas etnias africanas h um sem nmero de
exemplos de concepes a respeito da constituio humana como resultante de
uma justaposio coerente de partes. A pessoa tida como resultante da
articulao de elementos estritamente individuais herdados e simblicos. Os
elementos herdados a situam na linhagem familiar e clnica enquanto os
simblicos a posicionam no ambiente csmico, mtico e social.
Os diversos componentes da pessoa estabelecem relaes entre si e
relaes com foras csmicas e naturais. Alm disso, ocorrem relaes
particularmente fortes entre pessoas, como por exemplo as estabelecidas entre
gmeos ou entre um indivduo e o sacerdote que o iniciou. Cada pessoa,
enquanto organizao complexa, tem sua existncia transcorrendo no tempo e
assim, sua unidade/pluralidade passa por sucessivas etapas de desenvolvimento,
estando todas as dimenses do ser sujeitas a transformaes. Nesse processo
podem ocorrer permutas, substituies parciais e metamorfoses, algumas de
carter definitivo, como as associadas aos processos iniciticos, outras de carter
provisrio, como as sofridas durante certos rituais. Apesar de todas as mutaes a
pessoa reconhece a si mesma e reconhecida como um sujeito permanente ou
seja, sua identidade pessoal conserva-se a despeito da pluralidade de elementos
que a constituem enquanto sujeito (nvel sincrnico) e a despeito das muitas
metamorfoses e estados experienciados ao longo de sua histria pessoal (nvel
diacrnico).
181
Este sentido africano de pessoa, podemos dialogar com Ribeiro, ao falar de
um sentido capoeira de pessoa com seus componentes individuais herdados e
simblicos, que ao mesmo tempo em que singulariza a pessoa a integra em sua
linhagem e ancestralidade como componentes fundamentais.
Nesta perspectiva, de uma compreenso mais relacional, contextual e multiversa
do sentido matrial afro-amerndio-capoeira de pessoa, tomamos como um exemplar a
179
MACHADO, 2006, p.21
180
MACHADO, 2006, p.01 (g.a.)
181
RIBEIRO, 1996, p.21
98
filosofia Banto. Nela, assim como em alguns povos amerndios
182
, no encontramos
um termo ou partcula para a traduo de ser, sujeito ou indivduo. Na filosofia Banto,
h utilizao da partcula ntu, que designa fora, para se referir pessoa.
183
Neste
sentido, bem en-sina nosso professor Kabenguele Munanga, filho da me-frica. Ele
nos conta que, nas sociedades Banto, e em outras sociedades africanas tradicionais,
(acrescentaramos aqui: bem como na matriz amerndia e afro-amerndia) o ser
humano:
Kabenguele Munanga: (...) est integrado num sistema de dinamismo,
de foras que o afetam na realidade mais profunda, em sua prpria existncia.
(...) Comunica sua prpria subsistncia, sua vida e sua fora sua progenitura,
ao seu grupo e a tudo que possui, o que manipula,etc.
184
Nesse sentido extensvel e dinmico, buscamos fugir da mera individuao
pura da pessoa como substncia racional, indivisvel e individual e partir ao encontro
de um modelo da multiplicidade na unidade. E, ento, intentamos uma compreenso
africana desta pluralidade de componentes constitutivas de uma a noo matrial afro-
amerndia de pessoa-capoeira, em que ancestralidade, fenmenos e elementos da
natureza, meio natural, social e csmico so componentes da pessoa. E, ento
convidamos o Pai Quejessi pra roda. E ele joga suas palavras no vento:
Tata Quejessi: Temos que conciliar o eu-mtico com e eu-social. Isto uma
coisa muito complexa, por isso que as pessoas s vezes no entendem. Existe um
eu-mtico real, palpvel, que a gente sente e que a gente v. A gente v
incorporado, a gente v no cotidiano da vida, nas relaes com os acontecimentos
das coisas. E, assim, o mito est sempre se manifestando. A gente tudo aquilo
que a gente carrega, e ento tudo o que a gente necessita, quer e tem, pra gente
se relacionar e vivenciar, pra poder cultuar. A pessoa , realmente, formada
tambm por seus Voduns, Orixs, Inkices, plantas, animais, elementos da
natureza. O vento, o orvalho, o ar. Olha: [inspira fundo e sorri]. muito, muito
recproco! E precisamos difundir! Tem que se fundir! No pode se confundir! Tem
que fundir, unir! Ligar uma coisa a outra! Se no, no tem vida!
185
Ouvindo estas palavras, nesse mesmo sentido, floreamos com uma noo
amerndia de pessoa em que os termos auto-designativos no correspondem a um
substantivo mas sim pronomes coletivos, como um ns
186
. Dando sinais de uma
identidade coletiva abrangente na qual a noo de pessoa ou de gente no se
restringe ao indivduo da espcie humana, estendendo-se ao coletivo, ao territrio,
182
MAMANI, 2010; YANO, 2009
183
OLIVEIRA, 2003
184
MUNANGA, 1984, p.166
185
Trecho da transcriao da conversa entre Elis, Mrcio Folha e Pai Quejessi, realizada no Il Ax de
Yans, no Stio Quilombo Anastcia, situado no Assentamento Rural Araras III - cidade de Araras, interior
paulista.
186
GRUPIONI, 2009; VIVEIROS DE CASTRO, 1996; YANO, 2009
99
aos no-humanos, ao fenmenos naturais. Isto numa maneira crepuscular de ser,
simultaneamente, dentro e para alm da prpria corporeidade.
Assim, tomamos um sentido de matrial afro-amerndio de pessoa enquanto
nosso corpo/ nossa carne/ nossos parentes
187
, afrontando com sua presena no
incessante embate e namoro consigo mesma e com os mundos. Considerada um
importante elo nas tessituras do campo de fora vital, com uma existncia assentada
naquela herana de ordem comunitria (no-oligrquica), matrial (no-patriarcal),
coletiva (no-individualista), afetual-naturalista (no-contratualista).
com estes recursos afro-amerndios que nos esquivamos, num s movimento,
do individualismo e da despersonalizao. Pois uma noo afro-amerndia a pessoa
constituda por esse movimento de foras entre corporeidade, ancestralidade,
conhecimento vivo, matria e ambincia. E nesta entoada mltipla e processual da
construo da pessoa, dialogaremos com nossa linhagem da pesquisa, que considera
a pessoa como uma permanncia aberta num campo de foras.
Nesta perspectiva de uma razo sensvel, podemos vislumbrar trajetos
antropolgicos nos espaos crepusculares de uma educao de sensibilidade. Assim,
esta movimentao da incompletude inconstante da existncia em meio facticidade
dos mundos nos remete noo de jornadas interpretativas. Sendo assim, chamamos
Ferreira-Santos, o proponente desta noo, pra conversa e ele nos atende dizendo
que se trata de:
Ferreira-Santos: () la recursividad
188
entre perodos de introspeccin y
interiorizacin expresos en la tentativa de centramiento y de reconocimiento de
territorios internos; y perodos de afrontamiento y exteriorizacin expresos en la
conquista de nuevos territorios.
189
Esta imagem dos fluxos e re-fluxos dos re-cursos da existncia, em muito
nos auxilia a compreender a prpria dinmica da construo da pessoa e da cultura
em jornadas e trajetos que se nutrem dos alimentos e caminhos ofertados pelos en-
sinamentos das mltiplas e ininterruptas fontes de vida.
Nesse sentido, nos termos afro-amerndios, parece que o conhecimento, como
habitante das coisas e do nosso corpo inteiro nos mundos, clama por uma noo mais
aberta, mltipla e processual, de pessoa. Visto que esta carrega todo um leque de
ingredientes, como, por exemplo, os traos fundamentais de uma coletividade
constitutiva da pessoa, matizada por uma concepo afro-amerndia de
187
YANO, 2009
188
(Edgar Morin) Movimento de circularidade e circulao entre os plos, simultaneamente concorrente,
antagnico e complementar. In: FERREIRA-SANTOS, 2005 (e)
189
FERREIRA-SANTOS, 2009. p.06
100
gente/corpo/famlia referenciando, simultaneamente, uma indissolubilidade entre
nossa carne, nosso corpo, nossos parentes.
190
Nesta perspectiva, diante de todo um leque de componentes que subsiste
numa noo afro-amerndia de pessoa - como, a referida coletividade, a
ancestralidade, os elementos da natureza, animais e plantas resistindo aos ataques
branco-ocidentais do individualismo e da despersonalizao. Assumimos aqui uma
inclinao acadmica para uma noo compreendida aqui a partir do termo
considerado ms cercano de persona: prosopon - entendido como aquel que afronta
con su presencia
191
. Assim, jogaremos com a construo da pessoa como uma
permanncia aberta. E ento, chamamos de novo o professor que nos diz:
Ferreira-Santos: () de la construccin de la persona, en una antropologa
personalista y comunitaria (dimensiones inseparables y de dilogo extremamente
profundo con nuestras propias matrices afro-amerindias) de carcter tensional,
conflictiva, paradoxal (...)En este sentido, la nocin de persona aqu, se caracteriza
como esta construccin cotidiana, provisoria y paradoxal que resulta del embate
entre la pulsin subjetiva en su voluntad de transcendencia y potencia, y la
resistencia concreta del mundo en su facticidad, es decir, la opacidad del mundo a
nuestros deseos y voluntades.
192
neste sentido, do carter tensional, conflitivo e paradoxal da construo
cotidiana da pessoa, que jogamos com a filosofia personalista. E, como alerta o
professor Romualdo Dias, deixando de lado as desventuras propiciadas pelo pior do
catolicismo que aqui deixou as suas marcas profundas, assim como, prescindindo da
ideologia neoliberal de responsabilizao e de falsa autonomia do indivduo
individualizado.
E, alm disso, frisando o carter tenso do nosso dilogo com a produo
ocidental, faremos aqui um recorte do que, para ns, propcio na filosofia
personalista. Valemo-nos, ento, do personalismo com o intuito de expressarmos mais
um entre tantos ingredientes a integrar e movimentar uma noo mltipla e extensvel
de pessoa: o ingrediente trajetivo. Ingrediente este, explcito quando Mounier nos fala
de uma unificao em luta, de uma:
Mounier: Dmarche individual, tramada sobretudo pelo registro da
personalidade, das zonas conscientes s profundezas do inconsciente, por
harmonizar e rearranjar as foras que se desenvolvem em relativa autonomia
sobre um tambm vasto registro.
193
190
OLIVEIRA, 2003; YANO, 2009
191
FERREIRA-SANTOS, 2009, p. 05
192
FERREIRA-SANTOS, 2009, p.05
193
MOUNIER, 1947, P. 591-592. Citado por FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 37
101
Num sentido de ginga das foras, constituindo noes de conhecimento e de
pessoa, a filosofia personalista nos auxilia por manifestar essa dimenso inacabada,
sua abertura para a auto-transformao das relaes que estabelece (...) com a
ambincia(...).
194
E, nesta trajetividade crepuscular das foras, chamamos o autor
para nos contar de sua aposta:
Ferreira-Santos: Minha aposta crepuscular entre os domnios diurno e
noturno dos regimes de imagens arquetipolgicas como resposta antropolgica
mobilizao tensional da construo da pessoa frente ao mundo. Seu correlato
junguiano o processo de individuao.
195
E aprofundando os estudos sobre a alquimia medieval que Jung vai
consolidar a sua noo central de individuao: um processo interno do ser
humano em que, pelo relacionamento com o meio, busca a realizao da
totalidade e seu equilbrio, ou seja, a busca de seu centro, seu Selbst (si-mesmo),
para atingir, no a perfeio, mas a plenitude.
196
Nesta inclinao terica em conceber pessoa, arte e saber como foras vivas em
plenas jornadas interpretativas e trajetos antropolgicos, tramamos um exerccio
crepuscular de uma razo sensvel. E, para tanto, somos levados a dialogar com o
existencialismo francs e com o personalismo, especificamente, para evidenciarmos
neste jogo com a academia, os fluxos e refluxos de foras entre pessoa-saber-arte
como percebemos no multiverso matrial afro-amerndio. E, no fluxo interligativo destas
noes, chamamos as palavras de Mounier sobre uma noo trajetiva de pessoa
muito prxima a imagem da vida de uma levada musical. E ele nos diz:
Mounier: A pessoa no uma arquitetura imvel, ela dura, se
experimenta ao abrigo do tempo. Sua estrutura, a bem dizer, mais semelhante a
um desenvolvimento musical do que a uma arquitetura. No podemos imagin-la
fora do tempo (...). Como um contraponto, ela guarda na sua mobilidade sempre
uma nova arquitetura axial feita de temas permanentes e de uma regra de
composio. (Mounier, 1947, p. 51)
197
Nesse sentido de mobilidade que dura, podemos referenciar noes afro-
amerndias de saber, de pessoa e de arte, que carregam seus temas e suas formas de
compor. Desta maneira, no campo das teorias acadmicas, escapamos de um
humanocentrismo despersonalizado e individualizante tributrios de uma linearidade
prescritiva e previdente na busca da verdade nica antittica e diagnosticvel. E,
ento, para florear essa nossa esquiva-contragolpe, chamamos Fernando Huanacuni
Mamani, que nos atende dizendo:
194
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 37
195
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 61 (g.a.)
196
FERREIRA-SANTOS, 1998, p.81
197
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 64
102
Huanacuni Mamani: Los pueblos indgenas originarios percibimos la
complementariedad, con una visin multidimensional, concebimos ms premisas
que solamente el S y el NO; como por ejemplo Inach o inaj, trminos que en
ayamara hace referencia a un punto de encuentro, de equlibrio central e
integrador. En la complementariedad comunitaria, lo individual no desaparece
dentro la comunidad, sino que emerge en su capacidad natural dentro la
comunidad. Es un estado de equlibrio entre comunidad e individualidad.
198
Na multidimensionalidade deste ponto de encontro, que dialogamos com a
trajetividade personalista e gingamos com a filosofia crepuscular da pessoa-comunal
constituindo e sendo constituda pelos modos artistas de saber e de esta na vida. E,
ento, tramamos imagens das maneiras afro-amerndias-capoeiras de ser/estar
consigo, com o outro e nos/com os mundos, para alm das relaes sociais humanas.
Nesse sentido relacional e mltiplo de pessoa no desnaturalizada e nem
individualizada, que a concepo afro-amerndia de pessoa, para alm de significar
um ser social, oferece sentidos de uma fora integrada a muitas outras. Nesta
perspectiva, temos imagens da partilha afro-amerndia da noo de pessoa, em uma
reversibilidade recursiva. E, para florear esta partilha chamamos novamente pra esta
roda o professor Muniz Sodr. Ele escuta nosso chamado e chega para dizer de uma
noo africana de pessoa que ultrapassa a ordem social e se estende pela ordem
do ritual:
Muniz Sodr: Ordem social Relacionamento de conscincias reguladas
por uma lei racional, no , efetivamente, a mesma coisa que a ordem do ritual.
Veja-se o caso dos bantus: O bantu no um ser sozinho. E no um bom
sinnimo para isso dizer que ele um ser social. No, ele se sente e se sabe
como uma fora vital, como estando em relao ntima e pessoal com outras
foras que atuam acima e abaixo dele na hierarquia das foras. Ele sabe que ele
prprio uma fora vital, capaz de influenciar algumas foras e de se influenciar
por outras. Fora da hierarquia ontolgica e da interao de foras, no existe ser
humano, nas concepes dos bantus. [Placide Tempels]
199
Este sentido africano de pessoa comunga com o sentido indgena expresso por
Mamani, poi que se refere a uma fora integrada numa cultura de vida. Integrao
esta que vitalizada pelas formas ritualsticas das partilhas iniciticas numa comum-
unidade de foras vitais que extrapola as definies exclusivistas e antitticas que
fixam a idia reducionista de que nas nossas relaes tudo socialmente construdo.
Com isto em vista, flertamos com a partilha afro-amerndia no sentido de
perceber as ligas vitais entre pessoa, comunidade e saber enquanto circuitos
contnuos de foras vivas em movimento. Nesta maneira ritualstica de pertencimento
a uma comum-unidade de vida, temos exploses de imagens das inter-relaes
ntimas e profundas entre pessoa, arte e ancestralidade. Expressas pela matrialidade
198
MAMANI, 2010, p.33
199
SODR, 1988, P.131
103
afro-amerndia com seus modos artistas de en-sinar e fazer-saber assentados numa
filosofia-de-vida, numa filosofia crepuscular de uma educao de sensibilidade.
nesta perspectiva matrial, relacional e polissmica de pessoa-comunal, de
saber e de cultura, que tomamos a arte como atividade fundamentalmente re-ligadora
e re-mediadora destas noes vividas numa matriz afro-amerndia. E ento, numa
filosofia-de-vida-capoeira que carrega consigo este modo artista de estar na vida.
200
E, para florear este nosso jogo, convidamos para a roda o mestre africano Hampat
B. Ele nos atende dizendo:
Hampat B: [Na] concepo africana tradicional. [assim como na
amerndia] A arte no se separa da vida. Antes, abrange todas as suas formas
de atividade, conferindo-lhes sentido. (...).L, ao contrrio do que se passa em
nossa sociedade moderna, no existia separao entre o sagrado e o profano.
Tudo se inter-relacionava porque tudo se baseava no sentido profundo da
unidade da vida, da unidade de todas as coisas no seio de um universo
sagrado onde tudo era interdependente e solidrio.
201
Neste sentido profundo da unidade da vida, e diante de toda uma amplitude
e multiplicidade de significados conferidos arte africana
202
e arte amerndia,
203
buscamos compreender a profundidade destas relaes numa maneira matrial afro-
amerndia de educao: a literatura viva da Capoeira. Assim, compreendemos a arte
como um elo fundamental da rede de foras vitais entre pessoa, saber e cultura;
permitindo uma visibilidade das prticas crepusculares numa educao de
sensibilidade prpria s vitalidades afro-amerndias-capoeiras em atuao. Em outras
palavras, destacamos aqui matrizes afro-amerndias em literaturas da Capoeira, de
modo a ensaiarmos uma noo afro-amerndia-capoeira de saber e de pessoa,
sensvel por meio da arte e do modo artista de conhecimento e de ser.
E por falar nessa potncia da arte-capoeira, nos lembramos da fala do professor
Romualdo Dias de que, nesta maneira afro-amerndia artista de existncia e de
resistncia, estamos diante de uma vida que pulsa, de uma teimosia da vida.
Estamos diante da Capoeira como um modo de existncia tanto no campo ontolgico
como no epistemolgico, que nos permite tambm pensar nos elos vitais entre o
reconhecimento e o pertencimento
204
quando falamos da pessoa-capoeira e dos
modos matriais capoeiras de fazer-saber e en-sinar. E que, este circuito vivo de
200
Romualdo Dias. Fala registrada na reunio de orientao durante o processo de qualificao.
201
HAMPAT B, 1977, p.12
202
BALOGUN, 1997; MUNANGA, 1984; HAMPAT B, 1979
203
GALLOIS, 2010; LAGROU, 2002; ALBUQUER QUE, 2008
204
DIAS, Romualdo. Em trechos da transcrio das orientaes no processo de qualificao
104
foras-capoeiras a teimosia da vida que no admite ser apropriada por esta
dinmica de poder que quer nos mediocrizar, o modo artista de estar na vida
205
Assim, percebemos a resistncia viva dos modos matriais afro-amerndios de
fazer-saber e en-sinar, que carregam consigo a alma-fora-palavra afro-amerndia na
potncia dos gestos, das metforas e dos mistrios. Nesse sentido artista de partilha,
percebemos a centralidade do campo sensvel e dos mistrios como fundamentos
primordiais do saber. Em que, tomamos a fora dos segredos como comunicao
capaz de produzir os efeitos de mistrio.
206
Entretanto, para alm da etimologia latina
de secretum, passando ao verbo secernere, que significa separar, colocar parte
antepomos o termo segredo num sentido crepuscular do verbo secretar. No
movimento trajetivo entre o sentido de secreto o sentido de secreo, entre esconder e
desvelar. Imagens crepusculares da intimidade dos nossos lquidos internos, como
nosso suor, nossas lgrimas e nosso sangue. Imagens de um desvelamento secreto.
nesta levada dos mistrios e da sensibilidade estendida que desfrutamos dos modos
artistas de saber-fazer e en-sinar numa matriz afro-amerndia. Assim, percebemos a
potncia dos gestos, das metforas e do silncio, assentada nas partilhas ritualsticas
das diversas foras em uma comum-unidade de vida artista.
E por falar nas partilhas iniciticas em uma vida artista, importa frisar que
estamos referenciando, aqui, a arte da Capoeira enquanto uma herana/expresso
afro-amerndia. O que exige, da nossa parte, o princpio da ginga entre os estudos
sobre a matriz africana, amerndia e afro-brasileira. Neste jogo de trs, assistimos a
Capoeira ser consagrada como uma arte afro-brasileira; sendo assim, buscamos
dialogar com esta noo de arte. E ento, neste movimento, topamos com tamanha
amplitude tambm desta concepo um tanto extensiva polissmica. E assim, mais
uma vez, chamamos o Marcelo dSalete pra roda. E ele vem dizendo:
Marcelo dSalete: Podemos sintetizar as principais tendncias em:
primeiro, arte afro-brasileira produzida por artistas ligados a cultos afro-
brasileiros; segundo, arte afro-brasileira produzida por autores razoavelmente
prximos da cultura negra; terceiro, arte afro-brasileira produzida por autores
que remetem ao universo plstico e social do negro no Brasil. De certo modo
essas so as principais tendncias para se pensar arte afro-brasileira.
Nenhuma delas definitiva.
Pensar em arte afro-brasileira balizar todas essas formas de enxergar
o fenmeno.
207
205
DIAS, Romualdo. Frases transcritas do registro da conversa na reunio de orientao no processo de
qualificao
206
SODR, 1988, p.137
207
SANTOS, 2009, p.10
105
Nesta maestria de baliza, desfrutamos deste sentido polissmico, relacional e
contextual de conceber a arte afro-brasileira. E ento juntamos quele jogo de trs
com este de que nos fala dSalete. E ento, por meio desta juno vemos surgir,
matrialmente, um quarto elemento pra este jogo: formas de enxergar o fenmeno de
uma arte afro-amerndia. Nesse sentido que desfrutamos, nas literaturas Capoeira,
de imagens do movimento da reposio cultural
208
afro-amerndia em dilogos,
negociaes, festas e confrontos. Na teimosia da vida de uma matriz afro-amerndia.
Neste desafio, percebemos um movimento de deslocamento desde arte afro-
brasileira arte afro-amerndia. Este trajeto nos abre caminhos ao desvelamento da
fora matricial africana e amerndia atuando vigorosas e singulares nas redes de
saberes e relaes da Capoeira. nesta atuao, matricial e matrial que as
caractersticas fundamentalmente coletivas, voltadas gerao, manuteno e
circulao do alimento
209
, da fora vital
210
, constituem a arte africana tradicional e a
arte amerndia. E, ento, do vida filha caula: arte afro-amerndia-capoeira.
Nesse sentido matrial e coletivo, a literatura Capoeira, longe de centralizar a
ateno no produto ou na individualidade do artista, como de costume na matriz
branco-ocidental, manifesta a arte como um processo vivo e vivido, mobilizando foras
invisveis e indizveis no seio de uma coletividade constitutiva da prpria noo de
pessoa, de corpo, de tempo, de espao, de matria, de universo. Esta vitalidade,
fundamentalmente matrial e coletiva, constitui e constituda pela vitalidade ancestral
e no-historicista da vida. O que compe uma noo afro-amerndia de arte e
autoria
211
em que as foras da linhagem, da ancestralidade e das donas e donos,
alimentam visceralmente os elos pessoa-arte. Chegando ao ponto, como diz Ferreira-
Santos, de no sabermos mais qual centro irradiador do deleite e das foras da
criao num modo artista de fazer conhecimento e estar na vida.
212
E, nesta ligao, que e as noes de pessoa, de arte e de saber, vividas numa
matrialidade afro-amerndia, com toda uma multiplicidade de contidos-continentes,
parecem escapar s tentativas da amarra empiristas-positivistas
213
de ordem redutora
e distanciada. Na medida em que se re-aconchegam e se re-alimentam na sua
constituio, em suas dimenses sagradas da criao, em sua dimenso material-
vital. E, para nos auxiliar sobre este aconchego pessoa-arte-matria, convidamos
Ferreira-Santos pra esta conversa emparceirada. E ele nos ouve dizendo que:
208
SODR, 1988
209
OVERING, 2006; YANO, 2009; GALLOIS, 2007
210
SODR 1988; OLIVEIRA, 2003
211
ALBUQUERQUE, 2008; BALOGUN, 1997; HAMPAT B, 1977, 1982; GALLOIS 2010
212
DIAS, Romualdo. Em trechos da transcrio das orientaes no processo de qualificao
213
DURAND, 1994
106
Ferreira-Santos: (...) se de um lado temos a sua materialidade concreta
suporte, tela, tinta, massa, palco, vibraes [corpo] que determina a sua
emergncia como obra [e pessoa], de outro, ela possui um campo polissmico,
semntico, significante, textual, sua interpretao, contemplao, participao
do Outro, seu carter esttico e sua realizao simblica.
214
Assim, este autor, com suas palavras, nos auxilia na compreenso de arte e
pessoa como Produto da tenso constante entre a imanncia (facticidade do mundo)
e a transcendncia (possibilidade de afirmao humana) mediado pela minha
corporeidade - vivemos o corpo como substrato para o psico-social-histrico
215
e a-
histrico. O corpo aqui comunga com a noo de pessoa, na medida em que somos
nosso corpo e no somente temos um corpo.
216
Importa fazermos aqui uma ressalva com relao aos tortuosos caminhos da
formao desta corporeidade afro-amerndia. Como aponta Kiusam Regina de Oliveira
que, ao tratar da corporeidade da mulher negra, aponta que a vivncia desta
corporeidade no algo tranquilo e naturalizado, pois quando falamos em corpo-negro
ou corpo afro-amerndio, topamos com uma srie de entraves decorrentes do racismo-
patriarcal com seus padres de hegemonia branca-burguesa-crist.
Esta produo racista de padres corporais em muitos casos pode levar a
pessoa afro-amerndia a internaliz-los e renegar, silenciosamente, a prpria
composio e existncia corporal. Desse modo, ento, a pessoa fica privada de
exercer os poderes corporais em sua dimenso sagrada da criao e expresso,
assim vive a no goz-la e no viv-la intensa e prazerosamente. Nesse sentido, esta
educadora e artista negra chega pra esta parceria nos dizendo:
Kiusam Regina de Oliveira: Dessa forma, o negro pode acordar todos os
dias, sentindo-se expropriado de sua capacidade de agir plenamente, de acordo
com sua vontade, com medo se expor e de decidir a insegurana acaba por
prevalecer, o medo de chamar a ateno numa sociedade onde ser negro,
motivo suficiente para ter a integridade atingida, a inteligncia tolhida e o corpo
ferido.
217
Diante desta imagem aborrecivelmente revolta, relembramos dos baques
sofridos por conta dos aparatados planos de extermnio em operao sobre e
corporeidade afro-amerndia-capoeira. Neste jogo pesado os ataques patriarcais-
branco-ocidentais, com todas suas instituies, verbas, armas e maquinrios, acabam
conseguindo encaixar alguns golpes. E, no desequilbrio do baque os caminhos para
214
FERREIRA SANTOS, 1999.
215
FERREIRA-SANTOS, 1999, p.69
216
MOUNIER, 1973; MERLEAU-PONTY 1992; FERREIRA-SANTOS, 2005 (c)
217
OLIVEIRA, 2008, p. 26
107
alimentar as foras vitais desta corporeidade viva tende ao estreitamento, tendendo a
um enfraquecendo, um adoecimento, um corpo ferido.
Porm, vale frisar, que continuamos sendo nosso corpo mesmo com nossa
corporeidade ferida, numa existncia, mais ou menos, baqueada por este golpe
desequilibrante sobre harmonia primordial das foras vitais, do ax do corpo e de tudo
que ele carrega. Nessa levada, nos recordamos da voz de Frantz Fanon quando ele
nos conta sobre a percepo estendida de si.
Frantz Fanon: De repente, no mais se tratava de um conhecimento de
meu corpo em terceira pessoa, mas em trs pessoas. De repente, ao invs de um,
deixavam-me dois, trs lugares. J no me divertia. (...) Era ao mesmo tempo
responsvel pelo meu corpo, responsvel pela minha raa, pelos meus
ancestrais.
218
Assim, pelo peso dos golpes patriarcais-racistas e desta bagagem tripla que
carregar um corpo afro-amerndio-capoeira
219
, percebemos a demanda de muita ginga
pra alimentar esta vitalidade. Pra atiar uma esquiva elegante e um contragolpe
festeito. E isto em intimidade com o cho, mas nunca por uma queda inerte e
moribunda.
Pois, como bem en-sina os provrbios, metforas e sotaques capoeiras:
escorregar no cair/ um jeito que o corpo d! O que, para desespero dos
predadores, como esquiva-contragolpe, aos eficazes, porm fracassados, planos de
extermnio, podemos viver e flertar com corporeidades que irradiam e carregam
consigo uma vitalidade matricial afro-amerndia.
Deste modo, contradizendo s predaes e dicotomizaes branco-ocidentais,
ainda podemos afirmar que a inteligncia corpo, a alma corpo, ns somos
corporeidade. Corporeidade irrefreada que permite e encaminha a nossa existncia
nos mundos e com os mundos, que abre caminhos vivncia do corpo prprio ou
fenomenal.
220
Caminha: Assim, o corpo vivido uma estrutura significativa que cria
modos de vida transcendendo o determinismo biolgico. por esta razo que
Merleau-Ponty afirma que o corpo vivido considerado uma obra de arte e no
uma estrutura mecnica. O corpo vivido no uma mquina de processamento
de informaes, mas expressividade.
221
Dessa maneira, Merleau-Ponty nos auxilia a compreender os modos como
vivemos o corpo na matriz afro-amerndia. Nesse sentido, no estamos presos a to-
218
FANON, 1983, p. 93
219
Aqui relembramos que o adjetivo capoeira carrega sua androginia simblica ao expressar a unidade
feminino-masculina em sua acepo dotada de matrialidade.
220
MERLEAU-PONTY, 1992
221
CAMINHA, 2009, p. 21
108
somente um pedao de matria vulnervel aos fatos concreto-objetivos, bem como
depredao do tempo tempo linearmente evolutivo e calendrico, como entendido na
matriz branco-ocidental. Pelo contrrio, a matrialidade e o tempo circinado no corpo
vivido expresso trazem a incompletude e eternidade do momento de sua realizao,
assim como na obra de arte.
222
Diante disto, num mesmo terreno poltico e corporal, uma tradio afro-amerndia
que carrega uma noo matrial e circinada de tempo, faz referncia, alm do tempo
histrico, tambm ao tempo a-histrico, ao tempo mtico. Nesta perspectiva, frisamos
que o tempo mtico , ao mesmo tempo, imemorial, passado, presente e devir, e deste
modo, influencia sobremaneira a vida sensvel e a trajetria histrica dos povos.
Imagens da fora cclica entre saber-pessoa-arte gerando e regenerando espaos-
tempos vitais. A respeito desta viradas temporais, sentidas na carne, convidamos as
palavras de Hampat B. E elas chegam mostrando que:
Hampat B: (...)vem-se duas caractersticas importantes do
pensamento histrico africano [e amerndio
223
]: a sua intemporalidade e a sua
dimenso essencialmente social.
Para o africano o tempo no a durao que impe determinado ritmo
ao destino individual; o ritmo respiratrio da comunidade. No um rio que
flui numa nica direo, de uma fonte conhecida a uma foz desconhecida. O
termo tradicional africano abrange e incorpora a eternidade em ambas as
direes. As geraes passadas no esto perdidas para o tempo atual;
continuam a sua maneira, sempre contemporneas e to influentes como
quando viviam, ou at mais.
224
nesta temporalidade in-fluentemente recursiva, tambm regida e justificada
pela a-historicidade e imemorialidade do tempo mtico, que pessoa e arte aparecem
como fontes e pontes dos modos afro-amerndios-capoeiras de fazer-saber e en-sinar.
nesta incorporao da eternidade em ambas as direes, numa presena sempre
contempornea que pessoa e arte carregam o poder de mobilizar as foras do campo
sensvel e da matria, assim como, da ancestralidade, dos donos, do mundo invisvel
e indizvel... do conhecimento como alimentos e caminhos em seu pleno trnsito
espiral de vitalidades. Uma vez que, somos herdeiros de um passado que no estava
encerrado em si mesmo, seno, como jactncia, se abria a um futuro a realizar-se
225
.
nesse sentido que podemos dizer que pessoa, saber e arte, numa matrialidade
afro-amerndia, incontornavelmente, mobilizam as foras vitais, jactantes, do tempo
gerando e re-generando paisagens. E neste movimento o tempo se mantm um
elemento vivido e social (...) o lugar onde o homem pode lutar contra o esgotamento
222
MERLEAU-PONTY, 1975, 1992; FERREIRA-SANTOS, 2000
223
SAZ, 2006
224
HAMPAT B, 1979, p.18 (g. n.)
225
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p.151 (g.a.)
109
e a favor do desenvolvimento da energia vital.
226
E dessa forma, pessoa, tempo e
espao se entrelaam de maneira indissocivel, em unidade profunda, numa noo
matrial afro-amerndia de territrio.
Isto, como j citado, numa ordem mais coletiva (no individualista) ressaltadora
da importncia da aldeia (comunidade) e partilha da colheita na defesa afro-amerndia
do aspecto comunal-naturalista: das relaes com a natureza da paisagem onde se
habita e da estrutura fraterna de sobrevivncias. Bem como numa lgica mais afetual-
naturalista (no contratualista) em que, como j dito, as relaes sociais so
originadas da necessidade pragmtica de sobrevivncia e do afeto gerado pelas
relaes parentais e pelas amizades construdas, na defesa da liberdade, das
heranas e da fraternidade.
227
Nesta levada, chamamos Mamani para nos dizer de uma noo indgena de
territrio que comunga com esta mesma noo na matriz africana.
Huanacuni Mamani: Todos y todo somos parte de la Madre Tierra y de la
vida, de la realidad, todos dependemos de todos, todos nos complementamos.
Cada piedra, cada animal, cada flor, cada estrella, cada rbol y su fruto, cada ser
humano, somos un solo cuerpo, estamos unidos a todas las otras partes o
expresiones de la realidad.
228
() Desde la cosmovisin originaria, todos somos
hijos de la Madre Tierra y el Cosmos (en aymara: Pachamaman Pachakaman
wawapantanwa), por lo tanto, la relacin es de hijo(a) a padre-madre.
229
Nesse sentido, afro-amerndio de territrio, podemos perceber a
complementariedade no humanocntrica na existncia comunitria, j que todas as
formas de existncia fazem parte desta famlia extensa. Nessa levada, percebemos
imagens copulativas entre o Cosmos a Me-Terra e toda sua diversa filharada. Nesse
sentido de intimidade familiar, relembramos da bachelardiana noo de topofilia
230
,
como expressada por Ferreira-Santos, enquanto:
Ferreira-Santos: (...) o sentimento de pertena e/ou freqentao amorosa
a um espao, regio, territrio que est na base do respeito ao equilbrio de suas
foras naturais, ao qual o ser humano se integraria numa concepo mais
harmnica (o que no quer dizer que seja isenta de conflitos)
231
Neste processo vivo de filiao amorosa com a Me-Terra e em harmonia
conflitual, Ferreira-Santos prope a noo de ecossistema arquetpico:
226
HAMPAT B, 1979, p. 21
227
FERREIRA-SANTOS, 2005(a), p. 211-212
228
MAMANI, 2010, p.22
229
MAMANI, 2010, p. 48
230
BACHELARD, 1978
231
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p.134
110
Ferreira-Santos: (...) ou seja, o universo das relaes dialticas e
recursivas entre a ambincia (umwelt) e a corporeidade humana que resulta em
atitudes e significaes subjetivas matriciais, isto , que vo modelar respostas
existenciais comuns que podem ser expressas em uma narrativa ancestral
(mito).
232
Assim, podemos situar uma noo matrial afro-amerndia de territrio em que
ambincia, corpo, ancestralidade e mito fazem parte de uma mesma liga existencial in-
formadora dos modos de en-sinar e saber-fazer os alimentos e caminhos dos
conhecimentos vivos no mundo. Este amor ancestralidade e ao territrio uma
constante nos modos afro-amerndios de en-sinar e fazer-saber, que, em sua
matrialidade complementar e religadora, nos encaminha aos braos da Me-Terra, da
Me-frica e da Me-Capoeira.
Essa acolhida, sempre comunal e em relao profunda com a ancestralidade e
com a matria, gera e regenera paisagens, mexe com o tempo-espao, e,
simultaneamente, abriga e habita a nossa alma. Uma profundidade ntima. Uma
imagem copulativa. Neste feitio, chamamos o filho da Pachamama, Mamani que nos
en-sina:
Huanacuni Mamani: Desde la cosmovisin de los pueblos indgenas
originarios, TIERRA constituye el espacio natural de vida, donde vive la
comunidad, es el lugar sagrado de interaccin, es el centro integrador de la vida
en comn-unidad. Comprende el espacio de arriba (el ter), el espacio en el que
vivimos aqu, el espacio de abajo, es decir, todo lo que est dentro de la tierra, y el
espacio indeterminado, donde moran nuestros ancestros. TERRITORIO se
comprende como el espacio con propia estructura organizativa, segn los usos y
costumbres, tradiciones, idioma, cosmovisiones, principios y valores; donde se
ejercen los derechos y responsabilidades comunitarios, los derechos de
relacin, entre ellos la autodeterminacin sobre el manejo y la conservacin de
los recursos naturales, y el poder poltico y econmico a travs de las autoridades
indgenas originarias en una gestin comunitaria plena.
233
Nesse sentido, uma noo afro-amerndia de territrio, juntamente ao carter
helicoidal do tempo, expressa que, num s tempo, pertencem ao territrio: os
ancestrais (mticos primordiais e histricos), o grupo de seres vivos que nele habita e,
principalmente, os que ainda viro. Aqui, como orienta Romualdo Dias, podemos
perceber uma dinmica afro-amerndia do reconhecimento e do pertencimento em sua
dimenso matrial, comunitria e identitria.
Esta imagem copulativa na profunda intimidade pessoa-
comunal/ancestralidade/Me-Terra caminhos aos tempos e paisagens mticas, sempre
iniciticas e contemporneas em nosso corpo vivido num espao vvido. O que nos
permite perceber os sentidos da filosofia tetra-elementar da imaginao material, no
perspectivismo, no mundo de donos e nas in-fluncias da ancestralidade.
232
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p.134
233
MAMANI, 2010, p.51
111
Sobre estas in-fluncias, neste momento desfrutamos aqui da noo de
arqueofilia (arqu: passado, ancestral) enquanto a paixo pelo que ancestral,
primevo, arquetipal e se revela, gradativamente, na proporo da profundizao da
busca
234
. Nesta levada circular e trajetiva entre o tempo-espao primordial e o tempo-
espao no devir das buscas que Muniz Sodr chega para mandar o seu alerta:
Muniz Sodr: Apenas arkh no deve ser entendida como volta nostlgica
para a um passado (rural, no-tecnolgico, selvagem). Arkh pois tambm
significa futuro (ou Eskaton, o fim) na medida em que se deixe entender como o
vazio que se subtrai s tentativas puramente racionais de apreenso e que, por
isso mesmo, aciona o esforo das buscas.
235
Neste sentido, temos imagens recursivas e circulares da reversibilidade de
foras entre o repouso das origens e as jornadas das destinaes. Trajetos que do
imagens dos elos vitais, em imagens dos elos vitais entre a terra-me, a
ancestralidade, a pessoa-comunal e a famlia estendida. Nessa levada, como nos
indica Romualdo Dias
236
, temos imagens do pertencimento e do reconhecimento.
Assim, nas foras e mistrios de um tempo-espao espiral, percebemos estas
imagens nas curvas de um ciclo contnuo e reversvel entre pessoa, ancestralidade e
territrio. Neste sentido matrial das religaes, numa matriz afro-amerndia tomamos
esta paixo como alimentos e caminhos a movimentar nossas buscas re-cursivas em
profundidade, em que:
Ferreira-Santos: As ressonncias ancestrais no so coincidncias,
mas a fidelidade a um trajeto inicitico de autoconhecimento atravs do
conhecimento do mundo. O percurso envolve uma descida ao centro
desconhecido de ns mesmos (simbolizado em pas dos mortos, gruta,
sonhos, poo, poro) e, depois de refrescada a memria (re-ligados),
retornamos com nossa alma (anima), re-animados, subindo para nossa aldeia
novamente, re-nascidos.
237
Nesse sentido, podemos inferir que a ancestralidade, em sua vigorosidade
numinosa, um alimento base para os caminhos trans-cendentes da constituio da
pessoa e do conhecimento como fora viva de re-ligaes poiticas. Alimento
ancestral percutido (no duplo sentido) que, numa profundidade ntima, melanclica,
amorosa, constituinte e trans-cendente, d sinais de uma trajetividade sagrada
ancestralidade-pessoa-ambincia. Porque diz respeito ao universo da criao e
234
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p.127
235
SODR, 1988, p.19
236
Indicao ofertada durante o processo de qualificao
237
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p. 174
112
mobilizao de foras - visveis e invisveis, tangveis e intangveis, sensveis mas
indizveis. E, nesta maneira de perceber, nos diz o autor que:
Ferreira-Santos: O desafio o combate pela personalizao na sua
realizao humano-divina, no compromisso csmico-social posto pela
memria, amor e criao (Berdaev). Trplice paradoxo constitudo pelo
movente principal (philia) como amor; pelo exerccio da memria como dilogo
intenso com a ancestralidade e a tradio a que se pertence (arqueofilia); e a
poisis como exerccio da criao e emergncia do novo. As trs foras que
permeiam a construo da pessoa so antagnicas, mas ao mesmo tempo,
complementares e simultneas. Somente atravs da philia que se pode ser
fiel tradio com a emergncia do novo (criao).
238
Diante destas palavras, podemos sentir a atuao comunal desta trplice
quando nos entregamos aos cuidados, alimentao e s orientaes da Me-
Capoeira, sempre acompanhada da Me-Terra e da Me-frica com toda a
ancestralidade nos seus ventres. E, com sentimento de amor profundo que a pessoa-
capoeira chama pelo nome da Me e da ancestralidade em suas maestrias-capoeiras.
A este abrao triplo da Me-frica, da Me-Terra e da Me-Capoeira, podemos fazer
referncia volta arquefila e topfila para a nossa maloca querida. E, ento
chamamos Mamani para nos contar:
Mamani: Los pueblos indgenas de la Amazona, agrupados en la
Coordinadora de las Organizaciones Indgenas de la Cuenca Amaznica (COICA),
refirindose al concepto del vivir bien desde su percepcin de la vida, hablan de
Volver a la Maloka. La Agenda Indgena Amaznica seala que volver a la
maloca es retornar hacia nosotros mismos, es valorar an ms el saber ancestral,
la relacin armoniosa con el medio. Es sentir el placer en la danza que enlaza el
cuerpo y el espritu, es proteger nuestras sabiduras, tecnologas y sitios sagrados.
Es sentir que la maloca est dentro de cada hijo del sol, del viento, de las aguas,
de las rocas, de las rboles, de las estrellas y del universo. Es no ser un ser
individual sino colectivo, viviendo en el tiempo circular del gran entorno, donde el
futuro est siempre atrs, es el porvenir, el presente y el pasado delante de uno,
con las enseanzas y las lecciones individuales y colectivas del proceso de vida
inmemorial.
239
Nessa entoada indgena, podemos ver uma inverso e um encurvamento do
tempo-espao linear e enquadrvel. Em que o devir est atrs, pois que no o vemos,
e o presente e o passado esto na nossa frente en-sinando e en-caminhando nosso
olhar para atrs. Este retorno maloka nos diz de um retorno filial aos braos da Me-
Terra, da Me-frica, da Me-Capoeira do Pai-Cosmos que alimentam, orientam e
protegem o nosso modo artista de estar na vida de corpo inteiro, desfrutando das
filosofias da carne, das filosofias ancestrais e das foras da natureza.
238
FERREIRA-SANTOS, 2011, p. 41
239
MAMANI, 2010, p.51
113
Assim, a memria alimenta e alimentada pelo amor ancestralidade; o amor
ancestralidade alimenta e alimentado pela criao; a criao alimenta e
alimentada pela memria; e, assim, num movimento cclico e espiral nos
aconchegamos, sensivelmente, no espao vvido e circular da roda-ventre-cabaa da
Me-Capoeira, da Me-Terra e da Me-frica.
E, assim, esta trplice do amor, da memria e da criao, nesta matrialidade
afro-amerndia, excita-nos ao encontro da constituio mtua da pessoa-comunal, do
saber e da arte em mltiplos componentes ofertados por uma topofilia e arqueofilia.
Estas duas, especficas de um espao-tempo, mtico e crepuscular, que permite a
incorporao da eternidade em ambas as direes. Nesse sentido, encontramos na
arte uma ponte primacial para o exerccio desta trplice movedia de que fala o autor.
E nesta perspectiva de arte enquanto fora vital mobilizadora de foras vitais, que
podemos perceber este compromisso csmico-social em sua materialidade
concreta permitindo infinitas possibilidades de realizao simblica. E ento,
sentimos este compromisso, movido e movedor da memria, amor e criao,
matriciado pelas foras matriais afro-amerndias-capoeira. Foras que abrigam e so
abrigadas pela arte, pela pessoa e pelo saber.
Neste sentido de arte-vida, de saber-vida e de pessoa-comunal, em re-ligaes,
re-animaes e re-nascimentos, que flertamos aqui com a arte de palavrear em sua
dimenso sagrada, das foras e da criao, em experincias numinosas
240
provocadas
pela palavra-capoeira, num multiverso matrial afro-amerndio das tradies orais
241
. Na
concepo africana de palavra viva como posta por Hampat B, tomamos a palavra
como uma das foras que mais age poderosamente sobre as almas humanas em suas
relaes viscerais com a ancestralidade, com o territrio, com os elementos da
natureza e com o saber.
nestas relaes profundas das foras que, assim como Capoeira e capoeirista,
podemos dizer que pessoa e palavra tambm se constituem mutuamente, de forma re-
cursiva e in-tensional. A palavra no sentido africano de fora-palavra
242
e no sentido
amerndio de alma-palavra (nhee) como o prprio ser em florao.
243
E, ento, neste
sentido matrial afro-amerndio de fora-palavra e alma-palavra, percebemos, na fora-
alma-palavra-capoeira, prticas crepusculares de uma educao de sensibilidade que
prima por suas vitalidades poiticas; numa arqueofilia e topofilia assentada numa
filosofia da carne, numa filosofia afro-amerndia de vida-capoeira.
240
Experimentao arrebatadora que, irreprimivelmente, nos leva a outros tempo e espaos (Jung,
Ferreira-Santos)
241
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a)
242
HAMPAT B, 1977
243
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p.178 (g.a.)
114
2.3. Y! Campo de batalha!
Nosso flerte com a fora-alma-palavra da Me-Capoeira
A roda est armada, a bateria est formada, o berimbau chamou pra cho, e o
jogo agora comandado pela materialidade viva da palavra-capoeira
244
. Vida
assentada numa matrialidade afro-amerndia dos sentimentos e sentidos de uma
alma-fora-palavra-capoeira gingando na cabaa-tero-roda da Me-Capoeira, da
Me-Terra e da Me-frica. Palavra malemolente que, em sua versatilidade, vai e vem
assumindo diferentes posies, formas e matrias. Esta pulsao circular da alma-
fora-palavra-capoeira, nos faz relembrar dos en-sinamentos do nosso mestre. Isso
nos d o privilgio de partilhar um floreio palavreado com ele. E ele convida-nos ao
jogo e ao nosso silncio no p do Berimbau. Ento, com o Gunga na mo, solta
aquele seu vozero:
Contramestre Pinguim: O silncio do capoeirista a poesia da
Capoeira! E a literatura vem dessa forma: que a poesia da natureza. poesia
na natureza! A literatura isso! o vento que sopra quando a gente t em
silncio. Mas pra isso leva um tempo, pra gente dominar esse silncio. Porque o
silncio barulho, voc t conversando. (...) A t a literatura, a poesia. T na
natureza! a gente parar pra observar. A letra est l fora, aqui treta!
245
A poesia do silncio. O vento suscita nossa sensibilidade aos segredos e
mistrios da Me-Capoeira. Ouvindo esta maestria, parece que este silncio poeta do
vento, da poesia da natureza, prpria pulsao da alma-palavra e fora-palavra
afro-amerndias no ventre-cabaa-roda da Me-Capoeira.
Em nossa convivncia mestre-discpula encontramos en-sinamentos da
tamanha complexidade da literatura dentro da complexidade ainda maior da fora-
alma-palavra de tantas vozes-capoeiras. Ele nos en-sina que o silncio poesia, o
corpo poesia, a msica poesia, tudo isto faz parte da literatura da Capoeira, ento,
diramos, que prosa tambm poesia e a filosofia ancestral em verso e prosa,
expresso pelo corpo, pelo vento, pela voz do berimbau. Isto na treta do intensivo das
relaes, mltiplas e interligadas, nesta diversidade de foras criadoras, alimentando a
nossa carne e a palavra. Nesta poesia da natureza em que o vento tambm poesia,
podemos sentir tambm a poesia da gua, do fogo, e da terra.
244
.A palavra capoeira neste momento mencionada como um adjetivo.
245
Trecho da transcriao da conversa entre Contramestre Pinguim e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP.
115
Alm desta voz potica tetra-elementar, percebemos tambm as vozes da mata
e da carne
246
que, pessoalmente, as consideramos como possveis quinto e sexto
elementos da natureza. Assim, talvez possamos dizer de uma filosofia hexa-elementar
num multiverso matrial afro-amerndio-capoeira. Mas, por ora, apenas dizemos que,
alm da palavra oralizada e escrita, tambm o intangvel, o invisvel e o inaudvel, e,
assim como a matria e, nela, o corpo, so poesia-capoeira. E, ento, que palavra-
capoeira multi-forme, multi-material e multi-direcional em sua vida-movimento
presente em muitos corpos.
Nesta vitalidade insistematizvel e irracionalizvel. Sentimos que esta palavra
viva tambm carrega o princpio feminino, matrial, da criao, da transformao e da
ginga. Assim como, de um en-sinar e de um fazer-saber pelos sentidos, no campo
sensvel aberto de corpo-e-alma s foras da natureza. Assentada numa cultura de
vida, como nos diz Mamani, em que a pessoa no desnaturalizada nem
individualizada numa estrutura social antropocntrica, mas sim faz parte da famlia da
grande Me-Terra.
E, como filha da Me-Terra, a pessoa irm de todas as outras existncias,
numa relao de profunda complementariedade de foras, assentada no dia-a-dia da
famlia. Ento, nessa re-ligao e re-mediao alimentadas pelo amor filial, a palavra
aqui tambm aparece numa existncia no antropocntrica, no desnaturalizada e nem
individualizada, mas sim como uma fora viva e criadora, que pode ser expressa por
vrias formas de existncia, pois como bem en-sina Mamani: si todo vive, todo habla
tambin.
247
Desse modo, a cadncia da fora matrial da palavra-capoeira vai e vem
secretando e desvelando mistrios, protegendo e alimentando a famlia, movimentando
tempos e paisagens, floreando o cotidiano ntimo e matrial da Me-Terra, Me-frica e
Me-Capoeira em envolvimento com suas crias-capoeiras. Nessa levada, podemos
sentir a tamanha complexidade multvoca da palavra como fora matrial afro-amerndia.
O que poderia levar um crtico literrio clssico a um colapso nervoso. Esta conversa
nos fez relembrar de quando fomos ao mestre para uma reunio de orientao nesta
nossa pesquisa aqui. E, j de cara, ele disse assim:
Contramestre Pinguim: A literatura da Capoeira muita coisa! So os
sotaques, so os jeitos do corpo se expressar, como essas formas de negar, a
nga. Ento, a literatura, so palavras simples que, atravs da sua concentrao,
246246
Em conversa com Mrcio Folha sobre a fora dos elementos, tramamos a carne como um elemento.
Na convivncia com mestras e mestres da cultura negra, percebemos a unidade mltipla da famlia
extensa no desnaturalizada composta pelo povo das guas, povo do fogo, povo do ar, povo da terra e
povo da mata. Este ltimo diretamente associado ao povo da terra, porm carrega uma especificidade
prpria.
247
MAMANI, 2010, p.47
116
desse silncio, ela vem. Sem voc pensar: ai, literatura!. Porque so coisas
que acontecem dentro da aula, da roda, no dia-a-dia. A filosofia da Capoeira o
dia-a-dia! o que a gente t vivendo! Desses elementos simples de falar, mas,
assim, a coisa complexa vem agora a como vai colocar isso em literatura!
Nesta complexidade manifesta da vida, negaciamos
248
na ginga com os riscos
da compartimentalizao ocidental e floreamos com algumas das tantas irradiaes
poticas nesta tamanha multiplicidade da vida na intimidade do dia-a-dia.
Ento, nessa coisa complexa, percebemos que a literatura-capoeira oral e
escrita, em verso e prosa, mora, compe e se alimenta dentro do campo de foras
maior que o da poesia-capoeira, o da fora-alma-palavra-capoeira, num sentido
matrial afro-amerndio de vida. Podemos at traquinar com as imagens: vamos dizer
que a imagem da literatura, oralizada e escrita, na vida artista das/os capoeiras,
aproxima-se imagem crepuscular da pessoa-capoeira. E a imagem da alma-fora-
palavra-capoeira se aproxima imagem crepuscular-noturna da Me-Capoeira.
Sendo assim, referenciamos esta palavra viva, no num sentido burocrtico,
meritoso e individual de autoria, mas sim um sentido matrial e comunal-naturalista de
criao como encontro e destinao de foras. Nesta maneira de perceber a arte de
palavrear, as criaes so, em primeiro lugar, de autoria da Me-Capoeira pulsando
na vida da fora-alma-palavra que, no encontro com a corporeidade-capoeira, procria
literaturas em verso e prosa. Nesse sentido, como j dissemos, num multiverso
amerndio, no se privilegia o autor ou o produto literrio final, mas sim a gerao,
manuteno e irradiao das foras vitais com tudo o que a Me-Capoeira carrega.
Nesta esquiva, tendemos a desindividualizar e desumanocentrizar a noo de
autoria como um dado produto individual e de propriedade intelectual de um indivduo
individualizado e indivisvel situado num mercado cultural. Haja vista de que, uma
noo matrial afro-amerndia de autoria tem profunda movimentao cclica e
comunal, assentada nas filosofias ancestrais, nas maestrias dos donos e donas na
Capoeira; na dinmica sagrada da criao e recreao; e ento, na abertura
permanente do campo sensvel da pessoa-capoeira.
E aqui tomamos a bena Me-Capoeira; s donas e donos da Capoeira; s
maestrias ancestrais da Capoeira; e aos mestres e mestras poetas-narradores em
linhagens linguageiras da Capoeira. E, assim, sentimos encruzilhadas abertas nas
trajetividades da tradio-viva e da criao. Numa imagem copulativa de alimentao
mtua.
Nesta entoada, de luta pela sobrevivncia da palavra frente ao palavricdio
branco-ocidental que prima pela palavra morta, racionalmente instrumental e
248
O termo negaciar mencionado no sentido dado pelo Contramestre Pinguim enquanto uma astcia de
negar o golpe recebido e, ao mesmo tempo, intimar o adversrio a permanecer no jogo.
117
imobilizada em empoeiradas prateleiras dicionricas e cerebrinas. Diante desta peleja,
nosso contragolpe primordial desferido pelos recursos de um sentido matrial afro-
amerndio de palavra viva, de alma-palavra
249
e de fora-palavra
250
. E, como tudo o que
vivo nesta vida, a vida-palavra tambm demanda proteo, alimentos, caminhos e
encontros. Demanda, ento, toda uma sensualidade penetrativa e re-cursiva,
adentrando e emanando nas/das filosofias da carne em intimidade in-tensa com as
filosofias ancestrais e as filosofias da matria. E, assim, segue traando seus
movimentos na recursividade e reversibilidade das curvas, interdependentes e
solidrias, entre tradio e criao.
Nesse sentido, tomamos a palavra viva como alimento e ressonncia desta
fora-vida-filosofia numa imagem de movimentos, simultaneamente, circulares,
ascendente e descendente das tradies orais afro-amerndias, mesmo quando
estamos diante da palavra escrita. Sendo assim, este jogo pede a maestria da palavra-
viva de Amadou Hampat B, filho nascido da Me-frica. E ele atende ao nosso
chamado, dizendo:
Hampat B: A tradio oral a grande escola da vida, recobrindo e
englobando todos os seus aspectos. Pode parecer o caos queles que no
penetram em seu segredo; pode confundir o esprito cartesiano habituado a separar
todas as coisas em categorias bem definidas. Na verdade, o espiritual e o material
no se dissociam na tradio oral (...). ao mesmo tempo religio, conhecimento,
cincia da natureza, iniciao de ofcio, histria, divertimento e recreao, e cada
mincia sempre pode ajudar a remontar Unidade primordial.
251
Caminhando por estas palavras, estamos aqui de peito aberto s mincias da
palavra-capoeira. E, nos caminhos deste remonte primordial, estamos aqui passeando
por um sentido afro-amerndio a palavra: como uma das foras que mais age,
poderosamente, sobre nossas almas e sobre as almas das coisas. Movimentando o
tempo circular na eternidade de ambas as direes
252
, e tambm num movimento
cclico e circular, compondo e recompondo ambincias.
Assim, vislumbramos a palavra-capoeira recobrindo e englobando as
paisagens internas e externas, seja da pessoa-capoeira ou da prpria roda, includa
aqui tambm a grande roda
253
do mundo. Desse modo, percebemos a alma-fora-
palavra, no ventre da Me-Capoeira e no colo da Me-Terra, alimentando e sendo
alimentada pelas ligas da matria e do esprito, como num cordo umbilical segue
gerando e regenerando vitalidades. O que nos leva a flertar tambm com a alma-fora-
249
FERREIRA-SANTOS, 2006; TESTA, 2007; MORALEZ, 2008; MAMANI, 2010
250
HAMPAT B, 1979; MAMANI 2010; RIBEIRO 1996; OLIVEIRA, 2003
251
HAMPAT B, 1979, p.17
252
HAMA e KI-ZERBO, 1979
253
ARAJO, 2004 - Mestra Janja
118
palavra do Berimbau e com a alma-fora-palavra do corpo poeta e narrador. Esta
extenso do sentido de palavra viva abre caminhos para namoricarmos com a
concepo de oralitura e chamar a propositora desta noo para esta roda. Ela ouve
nosso chamado e chega para en-sinar:
Leda Maria Martins: O termo oralitura, da forma como o apresento, no
nos remete univocamente ao repertrio de formas e procedimentos culturais da
tradio lingustica, mas especificamente ao que em sua performance indica a
presena de um trao cultural estilstico, mnemnico, significante e constitutivo,
inscrito na grafia do corpo em movimento e na vocalidade. Como um estilete, este
trao inscreve saberes, valores, conceitos, vises de mundo e estilos. Se a oratura
nos remete a um corpus verbal, indiretamente evocando a sua transmisso, a
oralitura do mbito da performance, sua ncora; uma grafia, uma linguagem,
seja ela desenhada na letra performtica da palavra ou nos volejos do corpo.
Numa das lnguas banto, da mesma raiz verbal (tanga) derivam os verbos
escrever e danar, o que nos ajuda a pensar que, afinal, possvel que no
existam culturas grafas (...).
254
Esta levada da oralitura oferece recursos para tramarmos um sentido extensivo
de texto como tessituras artimanhadas pela fora-alma-palavra com sua potncia
multiforme e multimaterial. nesta extenso que percebemos a profundidade do em-
sinamento do Contramestre Pinguim quando ele nos diz que o nosso corpo ainda est
com a lngua grossa, est aprendendo a falar, e que a poesia da capoeira o silncio
do capoeirista. Este alargamento da noo de palavra tambm nos faz lembrar quando
o Mestre Ad nos conta que o Berimbau, para mim, um mestre, um amigo, meu
companheiro, minha caneta.
Diante destas reminiscncias, percebemos a presena da fora-alma-palavra
nas bifurcaes entre: a letra performtica escrita e vocalizada; os volejos do corpo
e tambm a toada do berimbau. Nesta triplicidade, por nossa conta talvez possamos
incluir na ligao visceral entre os verbos escrever e danar, tambm o verbo tocar
como aes de composio textual que carregam todo um trao estilstico,
mnemnico, significante e constitutivo.
nesta composio multimaterial e multiforme das tessituras que a fora-alma-
palavra em movimento nos convoca s imagens crepusculares, copulativas e trajetivas
do matrialismo na ao simultnea de recobrir e englobar; nas descidas noturnas
penetrar nos seus segredos
255
; e na multiversatilidade dos movimentos criadores e
recreadores desta vitalidade. Nessa via, podemos dizer que, do mesmo modo que
Me-Capoeira e capoeirista, tambm pessoa e palavra se constituem mutuamente, de
forma copulativa, re-cursiva e in-tensional.
254
MARTINS, 2001, p. 84
255
HAMPAT B, 1979, p.17
119
Neste movimento de vitalidades, percebemos, ento, imagens da profundidade
e da intimidade nas partilhas afro-amerndias em seu sentido matrial de existncia.
Nesse sentido, na matrialidade afro-amerndia, o modo artista de en-sinar e saber-fazer
invoca a fora-alma-palavra que se faz presente e circula irradiando as ligas do contido-
continente. Nessa levada, da liga matrial do contido-continente, convidamos Ferreira-
Santos pra conversa, e, nos contando que da matriz amerndia, ele nos diz que esta
relao visceral:
Ferreira-Santos: (...) prope abrir a palavra e entrar dentro dela. Habitar
a palavra: casa primeira, o abrigo do ser, expresso e condio de ser. Palavra
libertria que pode assumir qualquer posio e ajudar o menino a inaugurar
augurar o incio, cantar o mito de origem. Assim, se pode dar s pedras um
costume de flor e florescer nas pedreiras. (...) Retornamos ao Fazer dela, No
apenas dizer como se diz das coisas cotidianas sem muito cuidado nem
ateno, mas, na lio guarantica, re-lembrar que a alma-palavra (nhee) o
prprio ser em florao (poty). Imagem.
256
Assim, a palavra-capoeira vai e vem, tanto artimanhando nossos caminhos,
como tambm nos acolhendo naquele abrigo do ser. Imagens trajetivas e copulativas.
E aqui, relembramos das vozes de Me Oyacy e Me Slvia, indicando a no
coincidncia do fato de as palavras: capoeira e terra, estarem no feminino. Nessa
mesma entoada, aqui desconfiamos que em nada deve ser toa o fato de o
substantivo: palavra tambm estar no gnero feminino.
Nesse floreio feminino, podemos tomar a palavra em sua dimenso sagrada da
criao, da proteo, da vida e da morte, em fim, do poder penetrativo e mobilizante em
outras foras vitais. E, relembrando Ferreira-Santos, pensamos nessa coisa de habitar
a palavra como casa primeira e abrigo do ser, e somos levados s imagens,
femininas, maternas e materiais da palavra viva como fora-alma matrial.
Neste jogo entre relembranas e releituras, suspeitamos que, talvez, possamos
at falar em me-palavra, alm das j ditas alma-palavra indgena e fora-palavra
africana. Desconfiamos, assim, que podemos dizer de uma palavra me, sbia e
amante, gerando e alimentando foras, e, assim, mobilizando a juno e a mediao,
a religao, a partilha, o cuidado, as narrativas e a reciprocidade (senso de pertena);
(...) [e] o exerccio de uma razo sensvel.
257
Dessa maneira, ento, supomos a
possibilidade de tramar um sentido matrial afro-amerndio de palavra. De palavra que
gera, que cria, mas tambm pode matar, que alimenta, que sensualiza, que protege,
256
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p.178 (g.a.)
257
FERREIRA-SANTOS, 2005(a), p. 211
120
que movimenta e encaminha... nesse sentido matrial afro-amerndio de palavra que
falamos, aqui, em palavra-capoeira
258
E, por falar em movimento e caminho, passeamos por uma concepo matrial
afro-amerndia de palavra-capoeira: possuinte do amor, sabedoria, criatividade e poder,
no movimento de ajudar o menino a inaugurar augurar o incio, cantar o mito de
origem. Esta caminhada de retorno e de destinao lembra-nos da tamanha fora das
iniciaes enquanto caminhos e alimentos na intensidade da partilha de vida e, nela, de
conhecimento-vivo. Nessas partilhas, podemos dizer que os movimentos da palavra-
capoeira inauguram, tambm nossos caminhos pelas profundidades interiores, ntimas,
do nosso dentro, da nossa alma. Sendo assim, sentimos que esta fora-alma-palavra-
capoeira augurando o incio, in-augura.
Nessa levada, tomamos tambm a palavra afro-amerndia escrita como palavra-
viva, como uma fora-palavra, uma alma-palavra. Nesse sentido inaugurativo-matrial,
flertaremos aqui com literaturas da Me-Capoeira, numa ginga entre a tradio oral e
as con-tradies escritas. neste campo de foras que flertamos, na escrita
acadmica, com literaturas-capoeiras. nesta casa da escrita campo minado que
trilhamos um modo de namoricar com a palavra num jogo de muitos riscos e os
cuidados diante do que chamamos de palavriccio letrado branco-ocidental, que
escraviza e amordaa a palavra como ferramenta livresca enquanto o ato legtimo de
conhecimento sistematizvel.
Este namoro no porto da dona escola, pede que nos esquivamos dos seus
baldes de gua fria da racionalizao analtica, exige uma destreza para jogarmos,
sem perder a excitao amorosa e penetrante do namoro quente com essas vozes-
capoeiras. No calor do encontro, gingaremos com palavras acadmicas (nem sempre
academizadas) de pesquisadoras/es branco-ocidentais, negras e indgenas.
Neste jogo de dentro, jogo de fora
259
a Capoeira nos en-sina com sua filosofia
ancestral: que a nossa cara: aceitar o desafio com vontade de lutar. E, como
sempre mensageia nossos mestres: O capoeirista no carrega medo e sabe dosar a
coragem. Diante deste desafio pblico, rememoramos do Suma Sarnaqaa
260
:
daquele saber caminar de que nos falou Fernando Huanacuni Mamani, em que
nossa caminhada um movimento in-tenso de todo um povo, em encontros,
penetraes, conflitos e confrontos com a lgica ocidental do mercado e do Estado.
Uma caminhada conjunta de muitos seres e muitas foras em que uno nunca
camina solo (...) caminamos con los ancestros y con muchos otros seres. E, nessa
258
.A palavra capoeira neste momento mencionada como um adjetivo
259
Verso da cantiga de Capoeira Certa vez perguntaram a Seu Pastinha
260
MAMANI, 2010, p.48
121
caminhada, ele tambm nos diz da presena da palavra viva nos modos de fazer-
saber as artes de palavrear:
Huanacuni Mamani: Suma Aruskipaa: Hablar bien. Antes de hablar hay
que sentir y pensar bien, hablar bien significa hablar para alentar, para aportar,
recordemos que todo que hablamos se escribe en los corazones de quienes lo
escuchan, a veces es difcil borrar el efecto de algunas palabras; es por eso que
hay de hablar bien.
261
E este saber falar tambm nos arrebata ao j referenciado Suma istaa:
saber escutar, no somente com os ouvidos, mas com o corpo todo. E ele diz ainda
que si todo vive, todo habla tambin,
262
nesse sentido o corpo, a matria e ambincia
tambm falam. E, ento falamos e escutamos com nosso corpo, com o nosso campo
sensvel aberto e estendido s foras mltiplas da fala. neste sentido que
caminhamos: ouvindo mais e falando menos, pois como nos alerta Contramestre
Pinguim: Temos dois olhos, dois ouvidos e apenas uma boca. Assim, desfrutamos
das palavras em verso nas rodas de Capoeira e no livro, bem como da prosa potica
de mestres e mestras da cultura negra nas rodas de conversa.
E, por falar nesta potncia da palavra viva em contato com nosso campo
sensvel, lembramo-nos do exerccio de uma razo sensvel excitada pela vultuosidade
das metforas. Ento, chamamos Michel Maffesoli para a conversa. E ele,
referenciando o combate de Gilbert Durand contra o iconoclasmo ocidental, vem para
nos dizer que a metfora:
Maffesoli: Diferentemente do conceito, ela no tem pretenses
cientificidade (...) ela auxilia a compreenso sem, por isso, pretender explicao
(...). Em suma, a metfora no indica, de maneira unvoca, qual o sentido das
coisas, mas pode ajudar a perceber suas significaes.
263
(...) Tal sensibilidade
terica, se no formula leis universais e totalmente intangveis, faz sobressair que
a realidade o fato de instantes, ao mesmo tempo eternos e frgeis.
264
Nesse sentido, a metfora um instrumento privilegiado, pois contentando-
se em descrever aquilo que , buscando a lgica interna que move as coisas e as
pessoas, reconhecendo a parcela de imaginrio que as impregna, ela leva em
conta o dado, reconhece-o como tal e respeita suas coibies. (...) isso,
propriamente, que permite ter em mente a sinergia da matria e do esprito, e
elaborar uma verdadeira razo sensvel.
265
Nessa levada sinrgica entre matria e esprito na fora eterna e frgil dos
instantes de vida, nos alimentamos da dimenso sagrada e mobilizadora da criao
literria e seus desfrutes. Tomando desse modo, a literatura da capoeira como uma
261
MAMANI, 2010, p.48
262
MAMANI, 2010, p.48
263
MAFFESOLI, 1998, p. 148
264
MAFFESOLI, 1998, p. 150
265
MAFFESOLI, 1998, p. 152
122
permanncia aberta e trajetiva: entre a tradio milenar protegida e alimentada por
uma arqueofilia e topofilia no cultivo aos cantos ancestrais na dimenso sagrada das
rodas. Este cultivo ancestral, no s permite como tambm alimenta e en-caminha a
liberdade sagrada da criao: a licena para o improviso, o repente, o sotaque...
Este cultivo s filosofias ancestrais assentadas na fora metafrica tambm
alimenta a circularidade do tempo-espao no presente e no devir. Assim, num mesmo
passo, a fora matrial da arte de palavrear, alimenta a memria e filosofia ancestral,
vitaliza o ato eterno e frgil do instante, e provm os mistrios e profundidades da
intuio. Intuio que, assim como a metfora, tem uma fora decisiva na circularidade
e circulao dos modos afro-amerndios de fazer-saber e en-sinar numa matrialidade
artista da existncia. E, por falar em intuio e no modo artista de estar na vida,
retornamos ao Maffesoli, que nos conta da necessidade de:
Maffesoli: (...) considerar que ela [a intuio] participa de um inconsciente
coletivo. Que ela oriunda de um tipo de sedimentao da experincia ancestral,
que ela exprime o que propus chamar de saber incorporado que, em cada grupo
social e, portanto, em cada indivduo, constitui-se sem que lhe d muita ateno.
Retomando um termo sugestivo proposto por Jung, talvez se trate, de um
inconsciente primordial que determina as nossas maneiras de ser, nossos modos
de pensamento, numa palavra, as diversas posturas existenciais que marcam a
vida diria. (...) encontra-se a uma velha oposio entre a explicao e a
compreenso ou entre a analtica e a hermenutica da existncia.
266
Resta, ainda, para que se fique conseqente com o princpio esttico que
estaria em ao no conjunto social, que no mais se separe a arte da vida ou,
antes, para retomar uma frmula comum, que a vida seja vivida, consciente ou
no, como uma obra de arte.
267
Nesse sentido, a ancestralidade, o instante da corporeidade e a intuio do
vida aos caminhos e alimentos da compreenso em uma hermenutica da vida
muito prpria das maneiras artistas de ser, en-sinar e fazer-saber na matriz afro-
amerndia. Assim, neste campo vivo de foras, a circularidade matrial do tempo-
espao, movida pela fora-alma-palavra, em sua potncia intuitiva, metafrica e
proverbial, revela uma afinao ntima com as foras ancestrais. Estas foras
ancestralidade, por sua vez, movem e so movidas, em profundidade, pelas vozes da
pessoa-capoeira e do Berimbau.
Nesse coro, percebemos as ligas da alma-fora-palavra compondo e
recompondo vitalidades poticas na sinergia entre corporeidade, matria e
ancestralidade. E, ento, relembramos do dia em que fomos ao professor Mrcio
Folha para uma conversa sobre literatura-capoeira, e ele nos disse assim:
266
MAFFESOLI, 1998, p. 132
267
MAFFESOLI, 1998, p. 152
123
Folha: Como o tempo e o espao da Capoeira uma roda que gira, um
tempo que t girando continuamente, se no tiver as novas geraes, e se as
novas geraes no tiverem ligadas com o passado, ela vai morrer. E o que vai
ligar isso a palavra falada e cantada do Mestre e a palavra do Berimbau. A voz
do Berimbau e a voz dos Mestres.
268
Neste movimento vivo, circular e pulsante da cultura como materialidade e
campo de foras
269
percebemos uma liga arquefila e topfila assentada na fora da
palavra matrial afro-amerndia-capoeira em sua arte de re-ligar proteger e alimentar a
famlia. So as vozes das pessoas-capoeiras, mestres e mestras e da cabaa do
berimbau, que emanam e so emanadas por esta fora re-ligadora e intergeracional
da ponte ancestralidade-passado-presente-devir, nossa corporeidade e a Me-Terra.
Num movimento espiral e ritmado de uma vida insistematizvel por completo,
incapturvel por completo, indominvel s arquiteturas cognitivas e enciclopdicas de
interpretao antittica; assumimos a aventura de flertar com a literatura da capoeira
em verso e prosa e imagens. Nesse sentido de palavra viva, flertamos com poesias-
capoeiras na prosa escrita e oral transcriada; nos versos de algumas cantigas; com as
vozes das imagens, prosas e versos floreadas na histria em quadrinhos.
270
Neste jogo multifnico, nos atemos, no s explicaes analticas e explicativas
do substantivo conceitual, mas sim fora do movimento dos verbos, dos adjetivos,
das metforas, dos provrbios, dos sotaques
271
, da matria, da imagem e do
imaginrio. Esta fora, no se dedicando funo de explicar, poeticamente auxiliam
nossa compreenso. Este movimento muito caracterstico do modo artista afro-
amerndio de en-sinar e fazer-saber a potica da existncia pessoal-comunal-material.
Assim, flertamos com a palavra viva da Capoeira em suas exploses
imagticas e metafricas: em suas imagens literrias. E, por falar na vida metafrica
das imagens literrias, recordamos de Bachelard quando ele nos conta da linguagem
imaginante:
Bachelard: Para bem sentir o papel imaginante da linguagem, preciso
procurar pacientemente, a propsito de todas as palavras, os desejos de
alteridade, os desejos de duplo sentido, os desejos de metfora. (...) Assim, temos
a oportunidade de devolver imaginao seu papel de seduo. Pela imaginao
abandonamos o curso ordinrio das coisas.
272
268
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha na sede do Grupo Capoeira de Angola
Guerreiros da Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP.
269
Romualdo Dias. Fala registrada na reunio de orientao durante o processo de qualificao.
270
A Histria em quadrinhos da qual nos referimos : Histrias de Tio Alpio e Kau. O Beab do
Berimbau (FOLHA, 2009)
271
indiretas
272
BACHELARD, 2001, p. 03
124
Nesta jogada, de abandonar o curso ordinrio das coisas, que somos
seduzidos pelos desejos imaginantes da alma-fora-palavra. Esta seduo nos impele,
no busca de explicaes, mas sim s tramas das compreenses; no uma
abordagem analtica, mas sim uma hermenutica da vida alimentada pela liberdade
de criao (poisis) em intimidade com a tradio em suas narrativas ancestrais
(mito). da que vem nossa propenso ao dilogo com a linhagem mitohermenutica
de pesquisa que nos oferece a mitopoisis, a crepuscularidade e o imaginrio em uma
educao de sensibilidade.
273
Nesse caminho, como j sinalizamos, temos a mitopoisis, as prticas
crepusculares e o imaginrio que permitem tomarmos o conhecimento, a palavra e a
pessoa como aberturas permanentes, ou permanncias abertas, entre a facticidade do
mundo e as inmeras possibilidades de atividade simblica. Assim, podemos nos valer
da trajeividade entre a racionalidade diurna e a sensibilidade noturna, acompanhadas
da potncia das imagens em movimento.
Nesta levada movedia, percebemos a fora mtica, nos modos afro-amerndios-
capoeiras de saber-fazer e en-sinar, penetrando pelas permanncias abertas entre e a
invarincia dos arqutipos e as muitas variaes culturais. E, assim, temos um modo
artista, e fundamentado na filosofia ancestral, de desfrutar das aberturas permanentes
entre a imaginao e existncia na teimosia da vida que pulsa. Nesse sentido de
maleabilidade vital, Ferreira-Santos nos diz que:
Ferreira-Santos: O inacabamento primordial do humano, antes da
imperfeio ser amaldioada, justamente o que lhe garante a sobrevivncia num
mundo material e simblico que lhe exige plasticidade, adaptaes, assimilaes
criadoras (...) cuja permanncia sua abertura. (...) A existncia e o imaginrio
so, dessa forma, um campo de foras organizativas contraditrias, porm
complementares e simultaneamente concorrentes.
274
Neste campo de foras, podemos conceber a imagem e o smbolo, enquanto a
reunio de uma forma e de um sentido
275
e os seus movimentos, espirando o tempo-
espao afro-amerndio-capoeiras, na fora de uma narrativa mtica. Nesse sentido, nos
valemos da mitohermenutica, para mencionarmos a centralidade dos mitos nos
modos capoeiras de en-sinar e fazer-saber.
Nesta via, por se tratar de uma narrativa dinmica de imagens e smbolos, no
faremos aqui uma colheita, transcriao e compilao de narrativas mticas oralizadas,
nem tampouco recorreremos s coletneas livrescas. Visto que a vida mtica
concebida e presentificada no movimento da partilha dramtica consigo, com os outros
273
FERREIRA-SANTOS, 1998; 2005c
274
FERREIRA-SANTOS, 1998, p.38 (g.a.)
275
FERREIRA-SANTOS, 1998, p.44
125
e com a ambincia, em momentos festeiros, melanclicos e guerreiros. Nesse sentido,
chamamos Ferreira-Santos que nos diz:
Ferreira-Santos: Este confronto, entre a percepo corporal da finitude e
do tempo que escorre sem controle, ser o responsvel pela produo de imagens
e smbolos que se articularo numa narrativa mtica. Da no serem frutferas as
anlises lgicas que se valem de smbolos e imagens mortos, dicionarizados
em verbetes estanques, desprendido de sua dinamicidade, privilegiando ora o
carter extremamente sociolgico e funcionalista das classificaes ora as
redues antropolgicas estruturalistas, ou ainda, igualmente, reducionistas
caricaturas culturalistas.
276
Neste confronto, entre a finitude do corpo e a escorrncia do tempo, temos a
procriao e a potncia das imagens e do imaginrio. Uma vez que, a vida dos mitos
afro-amerndios extrapolam as palavras da boca e do livro, visto que, pela sua
dinamicidade potica prpria, ela est profundamente enraizada no silncio, na
corporeidade, na imagem, na ambincia contextual e redes mticas inter-relacionadas
e complementares.
Desse modo, as narrativas mticas aparecero aqui de forma latente e dispersa,
de modo a minimizar o palavricdio procedente da ruptura branco-ocidental entre os
mitos e a riqueza, profundidade e intimidade nos momentos vivos em que so
declamados, danados, esculpidos, pintados, cantados, sonhados... partilhados.
Nesse sentido, para este jogo, nos esquivamos das lgicas prandianas e
vergetianas de usos e abusos branco-ocidentais dos mitos sistematizados em
coletneas didticas para ingls ver. E, ento, flertamos com a mitologia afro-
amerndia, ao namoricarmos, nas filosofias da carne, com a ancestralidade e os donos
e donas da Capoeira em seus fenmenos poticos da capoeiragem. Desfrutamos da
palavra viva de mestres e mestras da cultura negra, de modo a sentirmos ecoar a voz
da Me-Capoeira, em seu princpio matrial de religao e re-mediao, que acolhe,
alimenta e protege, em sua roda-ventre-cabaa, mistrios e unidades mltiplas de
ao das donas e donos na filosofia ancestral da palavra-capoeira.
Nas narrativas mticas da Capoeira podemos perceber uma diversidade de
vozes da maestria ancestral do povo da mata, do povo da rua, do povo da festa,
do povo da guerra do povo da praia,... ecoando no ciclo e nas pulsaes das foras
re-ligadoras e re-mediadoras entre arte, pessoa-comunal e ancestralidade.
Nesta entoada coletiva, como nos en-sina as mestras e mestres, a famlia da
Me-Capoeira carrega consigo as foras: dos elementos da natureza; dos/as orixs,
inkicis e voduns; dos/as ers; dos caboclos e caboclas; dos marinheiros; das pretas e
pretos velhos; das baianas e baianos; dos catios em geral; dos mestres que se
276
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 43 (g.a.)
126
passaram
277
... de toda uma ancestralidade da qual a pessoa-capoeira constituda e
constitui em sua corporeidade e ambincia.
Tambm temos as vozes de santos e santas catlicas, mas as percebemos no
como substitutivas das figuras dos orixs, como correntemente ouvimos nos discursos
sobre o sincretismo. Estes tendem a reduzir as expresses e os princpios matriais-
inclusivistas da matriz afro-amerndia a um mero resultado da opresso branco-
ocidental. Diferente disto, a presena desses santos e santas, podem transitar entre
participao direta na rede de foras vitais da Capoeira, e a participao indireta na
arte de ludibriar a supremacia crist, na ginga das artimanhas de falar uma coisa com
a boca dizendo outra com o corao-alma-corpo.
Assim, podemos escutar com o corpo inteiro, vozes multfonas e multimateriais
que ecoam mexendo com o tempo-espao, dando vida-alma s artes de en-sinar e
fazer-saber. Alma-fora assentada na ancestralidade e na liberdade de criao, em
comunho com as nossas filosofias da carne - a nossa corporeidade e ambincia.
Nessa levada, que retornamos a uma noo matrial afro-amerndia de autoria
estendida, percebemos autorias ancestrais seculares dos donos e donas,
influenciando tambm diretamente no fazer-saber as artes de versar, criar e florear.
nesse caminho que falamos de autoria da Me-Capoeira nas vozes destas foras
ancestrais que ela carrega em seu tempo-espao mtico.
Nessa busca da conjuno in-tensa pessoa-esprito-Terra, desfrutamos da
multiversalidade da literatura da Capoeira, que no concebe ser analisada
racionalmente e distncia por uma investigao estritamente sociolgica, historicista
ou psicanaltica. Nesta esquiva, primamos pela unidade pessoa-comunidade-esprito
nas ligas da palavra-capoeira viva, e assim, relembramos das lies de Bachelard que
nos oferece uma filosofia tetra-elementar da imaginao da matria. E ento o
convidamos para o dilogo, ele aceita nosso convite e, referenciando Jung, nos conta
sobre o trabalho da alquimia:
Bachelard: (...) sob o termo esprito, ao qual a fsica cartesiana atribuir
realidade objetiva, comea a trabalhar um sonho indefinido, um pensamento que
no quer encerrar-se nas definies, um pensamento que, para no se aprisionar
nas significaes precisas, multiplica as significaes, multiplica as palavras.
278
Nesse sentido, de multiplicaes e procriaes da palavra viva e liberta, para
alm das significaes precisas, desfrutamos de narrativas ancestrais e imagens
poticas da Capoeira, como uma permanncia aberta em multiplicidades. Nessa
entoada, nos apoiamos na mitohermenutica com ateno voltada trajetividade e
277
Que faleceram
278
BACHELARD, 2003, p. 39
127
recursividade entre a materialidade da expresso artstica-filosfica e as infinitas
possibilidades de interpretaes.
Neste movimento trajetivo e recursivo, percebemos a centralidade do imaginrio
assentado na circularidade mtica, na razo sensvel e em prticas crepusculares de
uma educao de sensibilidade. Esta movimentao da procriao de palavras vivas,
que no admitem ser encarceradas em significados e definies estanques, exige,
para alm dos substantivos, nosso flerte com a movimentao dos verbos e dos
adjetivos a tramarem imagens literrias.
Nessa caminhada, somos acompanhados pela mitohermenutica para um
exerccio de compreenso das estruturas mticas e imagens arquetpicas nas
interpretaes das obras literrias. Modo reflexivo este cuja matria de ateno mora
mais nos esquemas verbais e adjetivos do que nos substantivos. O que nos auxilia na
percepo dos fluxos, refluxos e ressonncias, atuantes na dinmica viva e artista de
uma eterna e ininterrupta construo da pessoa-comunal, do saber vivo, da palavra-
capoeira. Imagens trajetivas, recursivas e mitopoiticas.
neste sentido que as contribuies durandianas sobre o imaginrio nos auxilia
neste percurso interpretativo. Este autor nos oferece uma antropologia filosfica que
prima pelas hermenuticas instauradoras. O que nos apoia na esquiva diante da
trade: cientificismo tradicional, materialismo histrico e estruturalismo. De modo a
profundizar e sensualizar nossos desejos e deleites de estudo em afinao com a
filosofia ancestral e com as filosofias da carne numa instaurao dos sentidos.
279
Nesta perspectiva mtica e sensualista do conhecimento, podemos perceber a
relevncia da noo de arqutipo
280
ou schmes arquetpicos
281
como uma espcie de
sistema dinmico e imanente de disposies para aes-emoes em toda sua
diversidade. Podemos tematiz-la por meio da descoberta das imagens arquetpicas,
que so manifestaes figurativas do arqutipo, geradas por meio das gesticulaes
corporais na vida das narrativas mticas e do inconsciente coletivo.
282
Nesse sentido, o
autor identifica as imagens mticas e arquetpicas por meio dos gestos dominantes.
Ento, chamamos Ferreira-Santos para dizer que estas imagens so perceptveis na
gesticulao cultural em seus gestos dominantes:
Ferreira-Santos: O que ele [Durand] denomina gestos dominantes tendo
como hiptese de trabalho uma estreita concomitncia entre os gestos corporais,
279
Marcos Ferreira Santos. Anotaes de aula na disciplina Mitologias: uma introduo
280
FERREIRA-SANTOS, 1998, 2006 (a); JUNG, 2000; DURAND, 1994
281
DURAND, 1994; 1997
282
JUNG, 2000
128
os centros de ativao nervosa e sensorial, e as representaes simblicas da
derivadas de modo recursivo.
283
[Estes gestos dominantes evidenciam o schme corporal] Um schme
sensrio motor o que possibilita um esquema de ao, pois muito distante de ser
fruto de uma represso ou censura, tal como percebe a escola psicanaltica, a
imagem e seu vigor so frutos de um acordo entre as pulses reflexas e o meio,
acordo este que consubstancia o schme. O schme leva dominante reflexa:
uma generalizao dinmica e afetiva da imagem, constitui a factividade e a no
substantividade geral do imaginrio. (Durand, 1981, p.53)
284
Assim, o schme corporal, enquanto substrato gestual que em contato com o
meio encaminham a ao
285
, gera e alimenta as imagens arquetpicas. Estas imagens
geradas e alimentadas, por sua vez, geram e alimentam duas vias de processamento:
a mtica e a racional
286
. Estas duas vias se antagonizam, se requisitam, se
complementam e coabitam nas nossas jornadas interpretativas de uma educao de
sensibilidade, e, ento, num modo matrial afro-amerndio de en-sinar e fazer-saber.
Desse modo temos um movimento in-tenso entre: o movimento gerativo das
imagens arquetpicas; a invarincia do arqutipo; a mobilidade das prticas culturais; e
a permanncia aberta da corporeidade. Esta ginga mltipla procria imagens, alimenta a
imaginao e movimenta o imaginrio. Nessa teia viva das imagens, imaginao e
imaginrio, recordamos de Bachelard quando ele nos diz:
Bachelard: Pretende-se sempre que a imaginao seja a faculdade de
formar imagens. Ora, ela antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas
pela percepo, sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de
mudar de imagens. Se no h mudanas de imagens, unio inesperada das
imagens, no h imaginao, no h ao imaginante. Se uma imagem presente
no faz pensar numa imagem ausente, se uma imagem ocasional no determina
uma prodigalidade de imagens aberrantes, uma exploso de imagens, no h
imaginao. (...) O vocabulrio fundamental que corresponde imaginao no
imagem, mas imaginrio. O valor de uma imagem mede-se pela extenso de sua
aurola imaginria. Graas ao imaginrio, a imaginao essencialmente aberta e
evasiva.
287
Nesta maneira podemos conceber a imagem como potncia da vida
imaginante, e a imaginao como a habilidade de notar, deformar, criar e procriar
imagens. E ento, o imaginrio como os modos de realizao desta habilidade, como
um sistema organizador de imagens, cujo papel fundador o de mediar a relao do
homem com o mundo, com o outro e consigo mesmo
288
Deste modo, o imaginrio
individual est ancorado e inscrito no imaginrio coletivo e vice-versa. Assim como,
283
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 46 (g.a.)
284
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 46 (g.a.)
285
TEIXEIRA, 2000
286
Marcos Ferreira Santos. Anotaes de aula na disciplina Mitologias: uma introduo
287
BACHELARD, 2001, p. 01 (g.a.)
288
TEIXEIRA, 2000
129
simultnea e dialogicamente, o imaginrio est radicado tanto na bio-histria da pessoa
quanto no contexto scio-cultural de sua existncia
289
.
Nesta via, temos esta ao imaginante tecendo as ligas da pessoa-comunal em
contato com a arte, a ancestralidade e a ambincia. nesta teia que percebemos a
fora matrial afro-amerndia da literatura da Capoeira procriando a imaginao literria,
a imaginao falada, aquela que, atendo-se linguagem, forma o tecido temporal da
espiritualidade
290
. Neste exerccio interpretativo das imagens literrias, geradas pela
fora-alma-palavra tecel, no movimento dos verbos e adjetivos, podemos desvelar
imagens mticas e arquetpicas, que so formadas, deformadas e procriadas pelo
imaginrio. Desse modo, dialogamos com o sentido durandiano de imaginrio nas
formas de passear pelas literaturas da Capoeira. Ento, convidamos Ferreira-Santos
para nos dizer:
Ferreira-Santos: O imaginrio ter como matria prima, passvel de ser
analisada, os esquemas verbais (a ao) e os adjetivos (em detrimento dos
substantivos), pois so seus atributos que revelaro a estrutura mtica de
sensibilidade e as possveis constelaes de afinidades: o atributo que qualifica
o substantivo. De outra forma, o trabalho mitocrtico centrado nos substantivos
no passar de racionalizao aristotlica e cartesiana travestida de
imaginria.
291
Dessa maneira, passearemos por caminhos abertos pela alma-fora-palavra
na aventura da caa s sensibilidades mticas em literaturas capoeiras. Nessa trilha,
podemos perceber as imagens mticas e arquetpicas por meio das chamadas atitudes
imaginativas bsicas, que so constitudas pelos regimes de imagens como propostos
por Durand. So eles: o regime diurno e o regime noturno.
O regime diurno de imagens diz respeito estrutura herica do imaginrio na
qual h uma pregnncia das representaes: de luta contra as trevas, a queda, o
tempo e a morte; de uma supremacia da razo humana na transgresso das ordens
divinas; de busca e de domnio de territrios externos; de smbolos antitticos,
luminosos e ascensionais. Nesta estrutura podemos encontrar no schme a dominante
postural, composta por um imaginrio de luta e purificao. Os smbolos
representativos desta dominante reflexa so: a lana, a asa, a luz, o cume,
referenciando um estado de viglia, de prontido armada para o combate.
J o regime noturno de imagens composto por duas estruturas do imaginrio:
a mstica e a dramtica. A estrutura mstica dotada de representaes: da intimidade
e do aconchego como antdotos ou minimizadores do teor trgico da morte e do tempo;
289
TEIXEIRA, 2000
290
BACHELARD, 2001, p. 02
291
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 46 (g.a)
130
da construo de um lugar de harmonia onde a angstia da morte trevosa e negativa
perde lugar idia de morte como sucesso do tempo da vida, como destino da vida,
como acolhimento do esprito. Na estrutura mstica encontramos, em seu schme
corporal, a dominante digestiva, a qual oferece um imaginrio referente ao repouso, ao
refgio, ao envolvimento, s profundidades e intimidade. A simbologia representativa
desta dominante dada pela imagem: da gua, da me, da noite, da morada.
Agora, a estrutura dramtica do imaginrio oferece representaes: de figuras
cclicas (como requisies entre noite e dia); de alternncias entre as faces negativas
(trgicas) e positivas (triunfantes) do tempo e da morte. Nesta estrutura, os feitios
antagnicos, ambguos e simultneos da realidade so reconhecidos, evidenciados e
harmonizados.
292
Nesse sentido, o schme corporal desta estrutura dramtica
encontra-se habitado pela dominante copulativa em sua figurao conciliatria dos
movimentos trajetivos entre as dimenses e intenes da luta e do aconchego.
293
Diante destes dois regimes de imagens: o diurno e noturno; encontramos a
estrutura de sensibilidade crepuscular como proposta por Ferreira-Santos. Nessa
levada, este autor oferece-nos um terceiro regime de imagens, dentro e alm do
noturno e do diurno proposto por Gilbert Durand. Trata-se do nascimento do regime
crepuscular de imagens, para o qual o autor conduz a estrutura dramtica e sua
respectiva dominante copulativa. Nesta perspectiva conciliatria, nos en-sina que o
espao crepuscular um espao-tempo do entremeio, da trajetividade, do pervagar
entre plos distantes, a caminhar.
294
Neste movimento reflexivo, Ferreira-Santos
destaca trs momentos importantes do plano Crepusculrio para o campo da
educao, so eles: o entardecer pedaggico, o amanhecer mtico e a
crepuscularidade ancestral.
O entardecer pedaggico diz respeito ao momento no qual relativizamos o
componente herico e diurno presente na discusso educacional (o embate poltico-
epistemolgico, as espadas conceituais, as bandeiras de luta, as trincheiras tericas)
para preparar o terreno de uma educao de sensibilidade
295
no intensivo e
intempestivo das relaes com os outros e com a ambincia como campo de foras
vitais. J o amanhecer mtico aparece como um momento em que exemplificamos a
utilizao deste arcabouo ou entramado mitohermenutico em situaes e fenmenos
mais particulares e seu dilogo intenso, em especial, com a Arte.
296
Numa relao in-
tensa e ntima consigo, com a criao e o deleite.
292
TEIXEIRA, 2000
293
DURAND, 1994; FERREIRA-SANTOS, 1998; TEIXEIRA, 2000
294
FERREIRA-SANTOS, 2005(d), p. 59
295
FERREIRA-SANTOS, 2008, p. 03
296
FERREIRA-SANTOS, 2008, p. 03
131
E, por fim, a crepuscularidade ancestral figura enquanto um momento que
finaliza o plano da obra com a retomada das noes de ancestralidade como alternativa
de re-ligao e re-leitura (re-ligare e re-legere) da contemporaneidade.
297
Assentado
na matrialidade e circularidade do tempo-espao mtico em que temos as afinaes do
campo perceptivo com as foras ancestrais e os elementos da natureza, em que
sentimos, nas filosofias da carne, o tempo-espao ancestral-passado-presente-devir.
Afeioamo-nos a este estilo reflexivo crepuscular
298
pois que permite
considerar tempos e espaos de trnsito, de circularidade, de territrios difusos por
excelncia. E, ento, constitutivos da prtica educativa abrindo caminhos e
alimentando uma razo sensvel, uma permanncia aberta, uma membrura
(membrana-juntura), um corpo mundo, uma unidade mltipla, um racionalismo potico.
Constituindo, ento, uma educao de sensibilidade em que as filosofias crepusculares
nos instigam a perceber o movimento dos saberes e relaes em plenas jornadas e
trajetos. Pelos caminhos ininterruptos e imprevidentes em meio aos plos e entremeios,
presentes na tenso entre as pulses subjetivas do ser e as intimaes objetivas da
realidade.
Nesse sentido, nos atemos mais avidamente, aqui, s imagens crepusculares,
pois nos oferecem recursos para tematizar noes matriais afro-amerndias-capoeiras
de pessoa-comunal, de fora-alma-palavra, de famlia extensa e de ambincia. Em
outras palavras, flertar com os modos matriais afro-amerndios de fazer-saber e en-
sinar, demanda filosofias crepusculares. Pois, ao invs de binrias e dicotmicas como
so as obsesses diurnas da racionalidade branco-ocidental, as filosofias
crepusculares abrigam, num mesmo cu, dia e noite. Sem que o dia deixe de ser dia,
sem que a noite deixe de ser noite. Desse modo, como nos ensina o orientador,
desfrutamos da euforia serena do crepsculo e da alvorada em que dia e noite se
requisitam, se antagonizam, se complementam, e se realizam como tal.
Nessa levada crepuscular na vida do imaginrio, flertamos com imagens
literrias geradas pela Me-Capoeira e procriada pelas vozes das pessoas-capoeiras
e do berimbau. Assim, temos a crepuscularidade da constituio mtua entre
Capoeira-capoeirista-palavra. E, por falar nesta mutualidade em imagens literrias,
vemos despontar as palavras de Bachelard quando ele nos diz dessas imagens que:
Bachelard: Vivem da vida da linguagem viva. Experimentamo-las em seu
lirismo em ato, nesse signo ntimo com o qual elas renovam a alma e o corao;
essas imagens literrias do esperana a um sentimento, conferem um vigor
especial nossa deciso de ser uma pessoa, infundem uma tonicidade at
mesmo nossa vida fsica. O livro que as contm torna-se subitamente para ns
297
FERREIRA-SANTOS, 2008, p. 03
298
FERREIRA-SANTOS, 1998
132
uma carta ntima. Elas desempenham um papel em nossa vida. Vitalizam-nos. Por
elas a palavra, o verbo, a literatura so promovidos categoria da imaginao
criadora. O pensamento, exprimindo-se numa imagem nova, se enriquece ao
mesmo passo que enriquece a lngua. O ser torna-se palavra.
299
Nessa infuso de tonicidades que seguem vitalizando o mundo, nos dedicamos
s imagens literrias geradas e transfiguradas por esta promoo da alma-fora-
palavra em imaginao criadora. no deleite das imagens e imaginao literrias que
namoricamos com a literatura capoeira. Desse modo, embora ciente da importncia do
tipo instrucional de nomeao e reconhecimento, no nos ateremos biografia da
Me-Capoeira na linha histrica do tempo, nem, desse modo, nos dedicaremos
biografia dos mestres, assim como no nos fixaremos em uma linhagem-capoeira
especfica. Nem tampouco tentaremos encaixar a produo literria da Capoeira no
tempo linear das correntes literrias branco-ocidentais como nos modos escolares.
Nessa sequncia de esquivas, a mitohermenutica oferece a voz de Bachelard
para o dilogo, como um recurso de escape ao exclusivismo destes motes e modos
analticos de crtica literria. Pois, como nos conta seu discpulo, Gilbert Durand:
Durand: (...) [Bachelard] foi o incontestvel pioneiro dessa Nova Crtica,
mais vida do documento (texto, obra de arte) e, especialmente, de seus contedos
imaginrios do que de suas heranas estticas. esse autor das imagens poticas
e literrias dos quatro elementos clssicos (...) [que passa a contrariar uma anlise
literria reduzida ] exclusiva explicao das obras da cultura, por meio das
filiaes histricas e das genealogias dos diversos literatos.
300
Nesse sentido, o autor nos auxilia nesta caminhada pelos versos e prosas da
Capoeira, com uma compreenso literria menos racionalizada, individualizada e
contratualista. Oferecendo recursos para uma levada mais imagtica e elementar, que
considera a fora da matria, do imaginrio, dos devaneios e dos sonhos como atos de
conhecimento. Assim, no seu racionalismo potico de uma filosofia tetra-elementar, o
autor nos auxilia a tramar com a multi-materialidade, a multi-vocalidade e a polissemia
da palavra-capoeira viva na comunidade no humanocntrica e na caminhada conjunta
das quais nos falou Mamani. Podemos, ento, dizer de uma palavra-comunal dotada de
matrialidade no movimento sincrnico entre a filosofia ancestral e a liberdade criadora.
Isto numa intimidade profunda com as foras da natureza em suas mltiplas matrias e
formas de existncia criadora.
Nessa tomada, Bachelard nos auxilia ao sinalizar a relevncia e a resistncia do
devaneio e da sensibilidade frente aos ataques do pensamento objetivo e do plano
histrico que constituem o trabalho cientfico. Pois como ele diz: s se pode estudar o
299
BACHELARD, 2001, p. 03 (g.a.)
300
DURAND, 1994, p.16
133
primeiramente se sonhou
301
e, assim, toda objetividade, devidamente verificada,
desmente o primeiro contato com o objeto.
302
Nesta levada, ele nos oferece, em seu
racionalismo potico, vias mais sensveis e flexveis para flertar com a literatura e suas
imagens no calor excitante dos encontros. E, ento, ele nos diz do movimento em que:
Bachelard: A particularidade do novo esprito literrio, to caracterstico da
literatura contempornea, precisamente mudar de nvel de imagens, subir ou
descer de um eixo que vai, nos dois sentidos, do orgnico ao espiritual, sem
jamais se satisfazer com nico plano de realidade. Assim, a imagem literria tem
privilgio de agir ao mesmo tempo como imagem e como idia. Implica o ntimo e
o objetivo. No de admirar que ela esteja no prprio centro do problema da
expresso.
303
Nessa entoada, nos valemos do dilogo com este autor para mantermos o jogo
com sua liberdade de movimentos e de criao. Assim, desfrutamos das imagens
literrias, procriadas do verso, prosa e desenho em literaturas da Capoeira, nos
valendo da trajetividade crepuscular nesta mobilidade insacivel dos sentidos. Na
fora vital afro-amerndia-capoeira da teimosia da vida que pulsa num modo artista de
estar no mundo.
304
Nesta pegada, percebemos uma educao de sensibilidade, em que as
filososfias crepusculares ressoam nos modos matriais afro-amerndios de fazer-saber
e en-sinar, criar e desfrutar da criao. Este modo artista de existir e se relacionar
aparece assentado em experincias numinosas
305
como experimentao
arrebatadora na qual somos mais vtimas de sua fora do que causadores dela. Em
que, nas manifestaes sensveis das vitalidades, nossas filosofias da carne esto
sob, e sobre, a fora viva das presenas incontrolveis, indizveis e invisveis que nos
levam para outros tempos e espaos. Nesse sentido, Ferreira-Santos apresenta trs
momentos constitutivos desta experincia numinosa quando estamos em contato
direto com as obras da cultura, em especial a msica e a literatura. E, de modo
extensvel, digamos, com os movimentos matriais afro-amerndios de fazer-saber e en-
sinar numa filosofia de vida capoeira que alimenta e alimentada pela alma-fora-
palavra das/os capoeiristas e do berimbau.
O primeiro momento desta numinosidade o da vertigem, em que somos
removidos a perder o controle visual e postural centrado na ascenso, caractersticos
da estrutura de sensibilidade herica (racional e cartesiana), para ressoar em campos
mais vastos ofertados pelos sentidos. Neste momento a viso se obumbra, o corpo se
301
BACHELARD, 1999, p.34
302
BACHELARD, 1999, p.01
303
BACHELARD, 2003, p. 135
304
Romualdo Dias. Fala registrada na reunio de orientao durante o processo de qualificao.
305
FERREIRA-SANTOS, 2000
134
enreda no espao e tempo circulares. A percepo se desfoca; portanto, a prpria
conscincia se altera para um outro estado
306
.
O segundo momento o da voragem, nele, "o ouvinte/partcipe/leitor no
devorado, mas sugado. Ao mesmo tempo, ele prprio traga a experincia.
Indelevelmente marcada no esprito. E, assim, a obra vora a pessoa que, por sua
vez, alimenta-se da mesma experincia. A voz numinosa abrigada e abriga. E este
movimento, de abrigar e ser abrigado, que assinala esta recproca implicao do
produtor e do produzido na vibrao ntima das ressonncias.
307
Nesta levada, Ferreira
Santos nos conta que, neste campo de foras vitais:
Ferreira-Santos (...) a obra, ao ser experienciada, recriada pelos
rgos da sensibilidade que, por sua vez, so amplificados pela experincia. A
voragem assume ares de turbilho numa tempestade que, alm de nos
atemorizar (tremendus terrificus), tambm nos fascina (tremendus fascinans).
308
Diante deste turbilho vortico, nas estruturas de sensibilidade amplificveis, o
leitor/particpie/ouvinte assume uma vulnerabilidade irreprimvel fora dos
significados e sentidos, que brotam em movimentos de vai-e-vem entre ele e a obra,
at o ponto em que j no se distingue o centro irradiador.
309
Neste momento, os
caminhos da sensibilidade se abrem ao terceiro momento constitutivo da experincia
numinosa: o vrtice. Ento, o autor volta para nos dizer que, neste ensejo do vrtice:
Ferreira-Santos: (...) no h mais mediaes. S o contato direto com
o prprio Ser. O confronto ontolgico. O totalmente outro que me reenvia para
dentro de eu mesmo. Da ser a experincia sagrada capaz das converses
(metanias) mais inesperadas.
310
Nesta experincia numinosa, com a amplificao e afinao dos estilos
configuativos do sistema perceptivo, podemos perceber o conhecimento, como atuao
de uma fora da matria, dos significados e sentidos, que, em muito, ultrapassa as
abstraes dos mapas conceituais e da sistematizao cumulativa e enciclopdica. E,
desse modo, ento, incontornavelmente nos excitam s experincias poiticas (da
criao) em movimento, em redes, na dinmica cotidiana das maneiras poticas de
fazer-saber e en-sinar nas socialidades afro-amerndias.
Assim, considerando o ato conhecimento como mobilizaes matriais e artistas
de fora e de criao, podemos perceb-lo como uma dimenso sagrada da existncia
306
FERREIRA-SANTOS, 2000, p.62
307
FERREIRA-SANTOS, 2000, p. 63-64
308
FERREIRA-SANTOS, 2000, p. 64
309
FERREIRA-SANTOS, 2000, p. 65
310
FERREIRA-SANTOS, 2000, p. 67
135
comunal. E, nesse sentido, como toda fora e toda criao precede e procede de um
contato direto, percebemos os modos afro-amerndios de fazer-saber e en-sinar
enquanto uma prtica inicitica de acontecimentos, encontros e destinao.
311
Fato
que nos estimula perceb-lo como alimentos e caminhos pulsando, recursivamente,
nas vitalidades dos nossos corpos e dos corpos do mundo.
Neste vis, das experincias numinosas em contato com a matria, com o
conhecimento vivo e com as imagens literrias, nos valemos da trans-cendncia, como
uma propriedade vital de nossas filosofias da carne. Sendo assim, chamamos a palavra
de Ferreira-Santos, pois importa dizer que, aqui, esta propriedade transcendente:
Ferreira-Santos: (...) no tem a conotao de algo abstrato, ideal, no possui o
valor idealista e espiritualista de eternidade, mas traduz-se na sua mais concreta
acepo como via alternativa intencional, ou in-tensional (como, em parte, em Kant,
Heidegger e Husserl), entre a ascendncia ideacional (predominncia platnico-
idealista) e a descendncia materialista (predominncia das determinaes factuais).
Assim, no se privilegia a ascendncia (a existncia de um ser superior separado do
humano), nem a descendncia (a existncia humana separada do meio csmico-social
que lhe abriga), mas, sim, a trans-cendncia (Ferreira Santos, 1998), ou seja, o carter
recproco da constituio do humano e do Sagrado.
312
Nesta perspectiva in-tensional, de reciprocidade na constituio recursiva
entre saber, pessoa e palavra, pelas encruzilhadas da trans-cendncia, nos
esquivamos da bifurcao reducionista de um idealismo anti-materialista e de um
materialismo anti-idealista. J que, um flerte com modos matriais afro-amerndios de
fazer-saber e en-sinar nos conduz a uma concepo no racionalista nem
humanocntrica de matria e palavra mortas e utilitrias. Nesse sentido, esta trans-
cendncia in-tensional e numinosa constituem os elos vitais entre
matria/alma/inteligncia. E, assim, nos alimentamos das lies bachelardianas sobre a
imaginao da matria, para alm das postulaes psicanalticas e cientificistas sobre
gua, terra, ar e fogo.
Nessa alimentao, caminhamos no jogo de superar o recorte epistemolgico
que preza pela irreconciliao entre: a matria e o esprito; a matria e o pensamento;
o esprito e o pensamento. Assim, nos dedicamos centralidade de uma filosofia tetra-
elementar em intimidade com as filosofias da carne. Intimidade que gera e gerada
pela alma-fora-palavra afro-amerndia-capoeira que segue traando um movimento
inverso que arriscamos chamar aqui de ligas epistemolgicas. Nesse sentido, na
nossa percepo destas amarras sensualistas, convidamos Bachelard para dizer que:
311
BERDYAEV, In: FERREIRA-SANTOS, 2011, p.42
312
FERREIRA-SANTOS, 2000, p.60 (g. a.)
136
Bachelard: Vamos tratar de um problema em que a atitude objetiva
jamais pde se realizar, em que a seduo primeira to definitiva que deforma
inclusive os espritos mais retos e os conduz sempre ao aprisco potico onde os
devaneios substituem os pensamentos, onde os poemas ocultam os
teoremas.
313
Neste jogo desafiador, desfrutamos de imagens literrias da Capoeira no
deleite desta deformao e conduo assentadas na fora viva da matria e da
corporeidade. Fora viva que alimenta e alimentada por este aprisco potico, um
tanto marcante nas prticas crepusculares de en-sinar e fazer-saber da matriz afro-
amerndia, e ento, da filosofia e literria da Capoeira.
Dessa maneira, a poesia dos saberes presente na juventude de nossos
espritos pede uma filosofia crepuscular, haja visto que o verbo, feito para cantar e
seduzir, raramente coincide com o pensamento. (...) [Sendo assim,] Tudo o que a
filosofia pode esperar tornar a poesia e a cincia complementares.
314
Complementao esta, desde sempre, presente e viva nas formas afro-amerndias de
en-sinar e fazer-saber, e assim, na poesia filosfica da alma-fora-palavra da Capoeira.
Nessa levada, a matriz afro-amerndia toma o conhecimento como fora vital menos
cerebrinas, abstratas e racionais, e mais materiais, corporais, vivas e relacionais.
Assentadas em formas artistas, matriais e crepusculares de existir e partilhar.
Alimentando a jovialidade de nossos espritos em confronto-comunho com o esprito
da matria.
Nesta perspectiva, como bem nos estimula Merlau-Ponty, prescindimos de um
pensamento de sobrevo
315
determinado pelo racionalismo hiper, ultra, super-
iluminado, abrindo caminhos percepo das sombras, das profundidades, dos entre-
meios, da fora metafrica e imagtica. E, assim, nos alimentamos dos recheios da
sensibilidade viva em experincias numinosas com os outros, com as coisas, com
ambincia. Experimentando as membruras das filosofias da carne nas paisagens vivas
em movimento constante. E, por falar em membrura e filosofias da carne numa
ambincia movedia, convidamos Merlau-Ponty para esta roda. Ele aceita nosso
convite dizendo:
Merlau-Ponty: No h, portanto, coisas idnticas a si mesmas, que em
seguida se oferecem a que v, no h um vidente, primeiramente vazio, que em
seguida se abre para elas, mas sim algo de que no poderamos sonhar ver
inteiramente nuas, porquanto o prprio olhar as envolve e as veste com sua
carne. (...) Qual esse talism da cor, esta virtude singular do visvel que faz
com que, mantido no trmino do olhar, ele seja, todavia, muito mais do que o
correlato de minha viso, sendo ele que ma impe com a sequncia de sua
313
BACHELARD, 1999, p. 02
314
BACHELARD. 1999, p. 02
315
MERLEAU-PONTY, 1975, p. 276
137
existncia soberana? Qual a razo por que, envolvendo-os meu olhar no os
esconde e, enfim, velando-os, os desvela?
316
Nesta entoada numinosa das filosofias da carne em contato vital com a
matria da ambincia, confabulamos com a lumina profundis
317
de que fala Ferreira-
Santos, em que o sobrevo iluminado no um fim em si mesmo, mas apenas um
ponto de partida para o mergulho crepuscular nas profundidades noturnas das foras
vitais do conhecimento, da partilha, da criao e do deleite. Nesse mergulho, a exemplo
dos modos matriais afro-amerndios de partilha, bastaria um alumiar inconciso de uma
fogueira ou de uma vela posta no cho, para que possamos mergulhar em
profundidade pelas correntezas da paisagem movedia e sombreada destas partilhas
poiticas na intimidade circular de uma roda.
Nessa pegada profunda, ofuscamos a luz da torre para que possamos escutar com
o corpo inteiro os modos mais noturnos e crepusculares de en-sinar e fazer-saber as
artes de palaverar como percebemos na filosofia-de-vida capoeira. Assim, insistimos
nas noes de pessoa-comunal, de saber e de palavra como foras vitais, como
alimentos e caminhos que do vida s nossas jornadas pelos atos e elos artistas de
conhecimento vivo. Desse modo, no nosso namoro com literaturas da Capoeira
desfrutamos de uma educao de sensibilidade de modo a tomar o fazer-saber e os
en-sinamentos como atividades criadoras, recreadoras e interpretativas, vivas em seus
fluxos, refluxos e ressonncias; pelas trajetividades tambm noturnas e crepusculares.
Nesse compasso, prescindimos dos modos historicistas, sociogrficos e
psicanalticos de crtica literria e de anlise de contedo, e buscamos uma prtica de
leitura, no como reconhecimento de sentidos, mas sim como produo de sentidos,
como atividade criadora e recreadora. Assim, nos enveredamos pela linguagem
imaginante da Capoeira numa filosofia crepuscular entre a materialidade textual da
palavra e da imagem e as filosofias da carne com suas infinitas possibilidades de
realizao simblica. Nessa ginga com a alma-fora-palavra capoeira, ouvimos
Ferreira-Santos quando ele nos conta que as jornadas interpretativas permitem:
Ferreira-Santos: (...) descobrir que, antes, durante e depois da Razo
h outras florescncias que garantem a vida (...). Em meio a estas florescncias
descobrimos o imaginrio, o mito, o devaneio potico, a obra literria, as obras
de arte, os monumentos da Cultura: todos a nos contar a verdadeira saga
humana.
318
316
MERLEAU-PONTY, 1992, p.128
317
FERREIRA-SANTOS, 2005 (c), p. 107
318
FERREIRA-SANTOS, 2005 (c), p.47
138
Nessa levada floreada, nos valemos da velha educao de sensibilidade
319
que,
para alm da transmisso cognitivista de representaes mentais, demanda o re-
conhecimento e exerccio destas florescncias. E deste modo, nos excita a flertar com a
alma-fora-palavra da Me-Capoeira, assentada na matrialidade afro-amerndia da
criao e da partilha. De modo que possamos artimanhar nossa esquiva frente ao
palavricdio branco-ocidental para que esta alma-fora permanea florescendo,
incontornavelmente, neste movimento antes-durante-depois de que fala o professor.
neste jardim que flertamos com a oralidade vvida transcriada, com literaturas
da Capoeira em seus poemas cantados e escritos, prosas orais e escritas, e com
desenhos que carregam versos, prosas e imagens. Neste sentido tomamos a fora-
alma-palavra no seu sentido matrial afro-amerndio, tomando como exemplar a figura de
Tio Alpio, na histria em quadrinhos O Beab do Berimbau,
320
movimentando a vida da
tradio oral Este velho mestre ora se aproxima da maestria de um Doma - detentor do
conhecimento global da Tradio como um todo, guardio dos segredos da Gnese
csmica e das cincias da vida, o tradicionalista, geralmente dotado de uma memria
prodigiosa, normalmente tambm o arquivista de fatos passados, transmitidos pela
tradio, ou de fatos contemporneos
321
, tudo isto por meio de uma relao muito sria
e rigorosa com a Palavra.
Ora a pessoa de Tio Alpio se aproxima da fora de um dieli (em bambara) ou
griot (em francs) - este tem certa liberdade para criar, adaptar ou mesmo ironizar, ou
seja, tem considervel liberdade no ato de Palavrear; este grupo se diferencia em
alguns campos de criao, dentre eles podemos localizar o Mestre Tio Alpio na dos
msicos, cantores, danarinos, poetas e contados de histrias. Dielis ou griots que
preservam obras antigas e compem novas. Tambm podemos perceber o Mestre no
cmpo dos historiadores e genealogistas que preservam e contam a histria de lugares,
grupos e linhagens inteiras, como faz Tio Alpio ao contar a histria dos Mestres que
compem sua linhagem.
E no deve ser toa a aproximao sonora entre o Beab do Berimbau e o
Baob
322
do Berimbau. Geralmente os dieli ou griots so pessoas bastante influentes no
grupo social, assim como, so muito importantes em situaes adversas, pois ao
chamar pela histria e pelo nome dos ancestrais, atuam como fontes irradiadoras de
319
FERREIRA-SANTOS, 2005 (c), p.47
320
FOLHA, 2009
321
HAMPAT B, 1982, p.188
322
Baob: rvore sagrada dotada de vigorosa Fora Vital ligada ao Ax nas razes profundas da
ancestralidade, to grande, ou mesmo maior, que ao tronco e copa visveis na atualidade. sombra do
Baob, geralmente se fomenta e fortalece a fora, o ax, dos gestos, das palavras, das filosofias
ancestrais. (Y Slvia de Oy e Don Oyacy)
139
fora vital encorajadora.
323
E assim estendemos esta maestria do Mestre Tio Alpio s
mestras e mestres que aqui co-laboraram na partilha das foras-almas-palavras.
Neste movimento florescente, nossa atividade de leitura criativa e de partilha
no se reduz a um corpo terico, mas necessita dele e o ultrapassa.
324
Dessa forma,
desfrutamos de uma certa liberdade de composio acadmica que permite falarmos
em alma-fora-palavra, em filosofia ancestral, em filosofias da carne, em pessoa-
comunal, em autoria estendida pelo tempo-espao circular do devir-presente-passado-
ancestralidade.
Tudo isto assentado em modos matriais afro-amerndios de fazer-saber e en-
sinar numa maneira artista de estar na vida. Seja em estado de lamento, de guerra, ou
de festa. Nessa trama, pedimos a bena a toda linhagem linguageira da matriz afro-
amerndia, e dentro dela, da Capoeira. E vamos ao cho e tomamos a bena Me-
Terra, Me-frica e Me-Capoeira!
323
HAMPAT B, 1982
324
FERREIRA-SANTOS, 2005 (c), p. 47
140
3. Me, sbia e amante afro-amerndia:
y, a Capoeira! y, mandingueira!
Yeeee!
Capoeira de Angola
Capoeira de Angola
minha vida
meu amor
Quando eu tava em cativeiro
Capoeira me libertou
Quando vivia descrente (colega vi)
Capoeira me deu f
Quando eu jogo Capoeira
Quando eu jogo Capoeira
Eu troco as mo pelos p
Todos gostam de Capoeira
mas nem todo mundo
Mas quem !
Quem sabe quem no !
Olha eu sou capoeira
assim disse o meu Mestre
porque sou minino bom
e que desde de muito cedo
eu aprendi a lio
Na roda de Capoeira
eu no dou meu golpe em vo
Jogando com camar
eu mostro minha educao
Y a Capoeira
Y viva meu Mestre
Y quem me ensino
Y a Capoeira
Y da volta o mundo
Y que o mundo deu
325
Mestre Gato Ges: O meu av, ou os nossos avs, de duas etnias, negra
e indgena, um dizia pro outro: - A gente no sabe como que a gente se
entende. A gente cunvelsa - como eles mesmos falavam, no era conversa, era
cunvelsa - A gente fica olhando um pro outro, escutando o outro falar, como que
diz: eu num t intendendo nada. Mas estavam entendendo tudo! E nunca dizia: -
Pare de falar disso!. Nunca estava enojado daquilo, quer dizer: - Ele sempre
falava, ele sempre falava, ele sempre falava, ele sempre falava e eu sempre
escutava, eu sempre escutava, eu sempre escutava, eu sempre escutava e nada
dizia. De onde veio isso? Das senzalas. (...) E agora a gente fugiu deles e a gente
tem a nossa casa ali. Ento, aqui a gente pode dizer tudo! A gente pode fazer
tudo! A gente pode saltear, a gente pode sapatear, [suspira] a gente pode fazer
tudo! Porque o corpo do capoeira formado de todas essas artimanhas.
326
325
Ladainha de Capoeira Angola compota pelo Alab Marcio Folha
326
Trecho da transcrio da entrevista com Mestre Gato Ges, realizada no ano de 2009, durante as
pesquisas no Projeto Beab do Berimbau. O depoimento do mestre foi colhido e registrado por Marciano
Ventura na cidade de Santo Amaro da Purificao, Bahia.
141
Contramestre Pinguim: A capoeira um esprito feminino! A Capoeira!
arte da seduo, da observao, da criao. Ela uma sabedoria maldosa, a
manha do segredo! Ela A Capoeira! Ela toda uma astcia feminina! Todo um
charme, uma artimanha, uma malemolncia, uma mumunha...
327
buscando caminhos e alimentos nesta astcia e nesta cunvelsa, que
entramos neste jogo amarrado. Jogo que demanda forte o principio da ginga, nessa
roda interpretativa de imagens da Me-Capoeira como uma fora matrial afro-
amerindia. Uma forca de me-sbia-amante, viva, expressa numa matrialidade
africana e amerndia.
Como j dissemos anteriormente, eis o jogo com os adjetivos: capoeira,
matrial e afro-amerndia. Ao mencionarmos a palavra capoeira com a inicial
minscula, alm de fazer meno pessoa capoeirista, tambm a utilizamos para nos
referirmos ao adjetivo capoeira, enquanto um atributo, uma qualidade. Um modo
capoeira de ser, estar e fazer.
Quanto ao substantivo e adjetivo afro-amerindia, num jogo de cumadi rasteiro,
floreamos com a predominancia estritamente afrocentrada defensoras de uma herana
exclusivamente africana ao falar em Capoeira e Cultura Negra. Neste jogo floreado,
em famlia, buscamos imagens da presena e partilha das heranas africanas e
indgenas. Sendo assim, num jogo mais festivo com os termos africano e afro-
brasileiro, entoamos aqui a preferncia pelo adjetivo afro-amerndio.
Nesta mesma roda, agora num jogo alto de quebra gereba, quizombamos com
predominncias branqueadoras, brasileiristas, no sentido de branco-brasileiro. Num
jogo mais confrontoso com os termos brasileiro e afro-brasileiro, nos esquivamos
dos golpes do branqueamento. Assim, saindo para dentro, num contragolpe
sorrateiro, por hora, conduzimos o termo brasileiro para fora desta roda. E seguimos o
jogo floreado com o termo afro-amerindio.
E, para completar a roda, nessa mesma vadiagem, agora num jogo mido, de
bigode amarrado, flertamos com as palavras negro e negra: fazendo referncia
Capoeira, como expresso da cultura negra. Dessa forma, quando falamos, aqui
neste texto, as palavras negro e negra, estamos nos referindo a: negra e negro de
matriz africana, juntamente com negra e negro da terra, de matriz amerndia.
Estamos reverenciando uma forca matrial negra nascida e criada na intimidade do
ventre, das mos e dos olhos da Me-Terra, da me-frica e da Me-Capoeira.
Neste jogo malandreado, de sobe e desce, de guerra e de festa, que trazemos
para esta roda a Me-Capoeira como uma fora matrial afro-amerndia, assentada
numa matrialidade negra.
327
142
E, por falar em matrialidade negra, desfrutamos, aqui, das habilidades de ginga
en-sinadas pelo feminismo negro, ou feminismo afrolatinoamericano, como entoados
por Llia Gonzlez. Nessa jogada, esta feminista negra traz para roda imagens do
encontro das foras femininas amerndias e amefricanas
328
. Juntas, na luta contra as
mazelas do partriarcado branco-ocidental, e na resistncia, fundamentalmente
centrada na fora feminina, da dignidade viva e comunal dos grupos amefricanos e
amerndios.
Nesta juno, soa propcia a utilizao do termo matrial afro-amerndia, j
assentado num sentido feminista-negro. Este termo assumido aqui, numa segunda
leitura, como mencionado por Ferreira-Santos ao en-sinar sobre uma filosofia
latinomediterrnea e uma filosofia afro-amerndia
329
, apontando seu carter matrial e
comunal, em contraposio direta ao carter patriarcal, individualizante e contratual da
herana branco-ocidental. Nesse sentido anti-racista e anti-machista e anti-classista,
essas leituras vem excitando-nos a visitar, na nossa perspectiva negra-cabocla-
feminina, as foras matriais afro-amerndias na cultura negra e em sua Capoeira.
nesta perspectiva de uma filosofia afro-amerndia que destacamos a
caracterstica matrial de sua herana. Como proposto por Ferreira-Santos o termo
matrial refere-se equivalncia simblica na unidade simblica me-sbia-amante
com seu senso comunal de partilha, de cuidado e pertena e re-ligao; em
contraposio ao sentido patriarcal da equivalncia simblica entre o Estado, o coronel
e o bispo/padre/pastor, tributria das cises, do mando e da posse. neste quebra
gereba, que assumimos nosso lado, nos valemos do sentido matrial e comunal para
flertar com a Me-Capoeira. Sendo assim, chamamos nosso irmo mais velho de
Capoeira pra este jogo, e ele aceita dizendo:
Alab Mrcio Folha: (...)Essa coisa da Capoeira ser amante uma coisa
muito sria, porque uma paixo que a gente tem pela Capoeira. Por praticar esta
arte, uma paixo louca como aquela paixo de primeiro amor de adolescente,
sabe? Que a gente sente. (...)No caso, aquela briga por causa de uma mulher,
todo mundo quer se aparecer pra ela, pra Capoeira. Todo capoeirista quer ser o
mais bonito, o mais forto, o mais valento. E isso acaba prejudicando. (...)
Meu Mestre sempre falava que a Capoeira um esprito feminino que cuida
da gente, que nos d carinho e ateno, nos d fora, nos d sabedoria. E a gente
tambm tem que cuidar dela muito bem, como se fosse aquela mulher que a gente
mais amasse. Tem que cuidar dela tambm, com muito carinho, com muita
ateno, com muita sabedoria, com pacincia. Porque (...) com a feminilidade
dela, a Capoeira pe o homem a prova o tempo todo. Pe prova a vaidade, pe
prova a fora, pe prova a sabedoria tambm, a pacincia. Ao mesmo tempo
tambm a Capoeira uma grande me.(...) e a me no gosta de ver os filhos se
batendo, a Capoeira se entristece com isso.(...)
328
GONZALEZ, 1988a, 1988b
329
FERREIRA-SANTOS, 2009
143
Mas tem uma coisa que o Mestre Gato dizia sobre a Capoeira: Angola d,
Angola toma. A Capoeira d tudo pro capoeira. (...) Agora, tem gente que
ingrata, tem gente que muito ingrata consigo mesmo, o que dir com a Capoeira!
Tem gente que perde de vista que a Capoeira uma coisa viva, e que a rasteira
que ele aprendeu a dar, foi a Capoeira que ensinou. E uma hora cai, uma hora
tomba tambm. Porque a prpria Capoeira d essas rastra. A Capoeira d tudo
de bom, mas se a pessoa vacilar, ela toma. Capoeira viva!
330
Aqui, com os caminhos e alimentos ofertados pela matrial, me-sbia-amante
Capoeira, encontramos recursos para uma esquiva feminista negra diante o fogo
cruzado patriarcal-branco-ocidental, que considera as qualidades de me, de sbia e
de amante, como smbolos, indiscutivelmente, concorrentes e inconciliveis. E nesta
discrdia, esse racismo machista trama a imagem feminina negra numa reduo
apenas dois plos absolutos e incomunicveis, o da me e o da amante: falamos aqui
do fogo cruzado entre o esteretipo da me preta e o esteretipo da mulata tipo
exportao. Aqui, o adjetivo sbia passou longe.
Neste confronto, utilizamos como contragolpe, o adjetivo matrial afro-amerndia,
como uma negaa a estas imagens mortas
331
da me preta assensualizada,
desprovida de beleza e de vontade prpria, naturalmente boazinha, submissa e
servial. E da negona e/ou mulata tipo exportao, igualmente servial enquanto
produto disponibilizado ao mercado do sexo extico, do imaginrio ertico colonial
332
da mulher permissiva ao sexo selvagem, animalesca e insacivel. Isto numa
imaginao patriarcal que procria imagens racistas exemplificadas pela famosa
expresso: preta pra trabalhar, mulata pra furnicar e branca para casar
333
.
Neste esquenta banha, com a matrial afro-amerndia, jogamos para derrubar
estas imagens forjadas pelo patriarcalismo branco-ocidental. E, neste mesmo jogo,
mas agora em famlia, gingaremos para desequilibrar as imagens, tambm forjadas
por este patriarcado, no imaginrio dos homens negros. Neste in-tenso, nos valemos
dos recursos da versatilidade do feminismo negro, negociando, nas esquivas e
contragolpes com o racismo do feminismo branco, com o machismo no movimento
negro e capoeirista, e com o machismo racista nos movimentos da luta de classes. E,
aditamos, ainda uma esquiva ao adultocentrismo em todos estes movimentos na
invisibilizao de crianas, jovens e idosos.
nesta ginga guerreira, em afronta aos quatro eixos de opresso de classe-
raa-gnero-gerao, que evidenciamos a centralidade de um imaginrio matrial afro-
330
Trecho da transcriao da conversa entre Alab Mrcio Folha e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP
331
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 43
332
CORBIN, 2009
333
GONZALEZ, 1982;1988b
144
amerndio, assentado, aqui, numa percepo feminina e feminista, negra-cabocla e
capoeira. Sua bena Me-Terra! Sua bena Me-frica!
Estamos aqui gingando para evidenciar esta fora matrial afro-amerndia na
Capoeira, que um territrio hegemonicamente marcado por uma tradio patriarcal
negra-nordestina-perifrica. Sendo assim, alm de imagens diurnas das linhagens -
marcadamente masculinas dos mestres guerreiros de Capoeira - destacamos imagens
femininas, noturnas e crepusculares, da me-sbia-amante Capoeira em suas
maestrias, mistrios, poderes e profundidades. Sua bena, Me-Capoeira!
145
3.1. Yeeeeeeeee! minha me j me dizia...
Me-Capoeira: fora matrial afro-amerndia
Vamos ao cho e tomamos a bena Me-Capoeira! Tomamos a bena s
nossas mes e pais presentes nessa maestria-capoeira: a bena ao povo da rua, ao
povo da mata, ao povo da guerra e ao povo da alegria. Tomamos a bena s
mestras e mestres ancestrais, mestras e mestres deste tempo, e s mestras e mestres
que ainda viro. Tomamos a bena s/aos capoeiristas mais velhas/os s/aos
capoeiristas mais novas/os.
A roda est armada, a bateria est formada. O Berimbau t chamando. O grito
numinoso na cabaa no Gunga chama pra terra, cavuca pra profundidade, mexe com
o tempo-espao e com a carne. A coisa vai aumentando na entrada do Viola, na sua
crepuscular contra-voz harmonizada, chegando pra acirrar esta chamada, esta
descida cadenciada. E, na sequncia, pra nos arrebatar de vez na descida deste vo
em mergulho ancestral, o Violinha solta sua voz festeira cantando junto, passeando
entre os dois irmos dois, vem floreando. Nesta sintonia rtmica, circular, vem
pulsando, vem chamando, vem chamando... e...
Yeeeeeeeeeeeeeeee.....
Don Oyacy: Quando se grita: yeeeeeee! Poderia se gritar qualquer outra
coisa, i... qualquer outra coisa. Mas se grita o qu? O y! Por que y? Qual o
significado do y?
Conhece-se as pessoas na hora em que se abaixa pra rezar a Capoeira. E
pra rezar a Capoeira voc tem que falar com a me. E pra falar com a me, tem
que gritar o y! O y significa me em muchicongo. No muchicongo: me y!
Muchicongo, vocs sabem, uma linhagem da Angola. E, na nossa viso,
as linhagens de Angola esto aqui no pas h mais tempo do que qualquer outra
nao africana. A Angola veio, justamente, com esse tipo de braada, com esse
tipo de correria. o modo que as pessoas tinham de correr e se autodefender.
No era s pra brigar ou pra bater, era um modo de viver e sobreviver. E, para
sobreviver, tem que ser muito astuto!
A, quando voc grita y e comea a jogar, a rastear, voc est junto com a
me, voc est indo pro bero, voc est indo pro brao da me. Voc est
relembrando coisas que voc deixou no passado. Na minha viso, ela
masculina aqui, mas a maestria feminina! E tudo o que envolve nela: a reza, a
dana, a msica... toda feminina! Quando se fala da Me-Capoeira, deram
muitos nomes pra ela em diferentes situaes, e tudo vai indo pelo feminino! E a
a gente vai tecendo situaes: A Capoeira: est no feminino; A Me-Terra: est
no feminino...
334
334
Trecho da conversa transcriada com Me Oyacy, realizada no Il Ax de Yans, situado no Stio
Quilombo Anastcia no Assentamento Rural ArarasIII na cidade de Araras, interior paulista
146
Em meio fora-alma-palavra de fala de me, num noite a luz de velas aps
uma tempestade de vento que desfilou rodopiando e arrebentando os fios da
iluminao ocidental, abrindo caminhos intimidade da roda e do fogo. E, ento,
meia-claridade dando vida aos movimentos e irradiando brilhos noturnos dos olhos,
neste momento rememoramos de uma filosofia ancestral feminina das ruas: as
palavras iluminam, mas nem tanto, como a luz de uma vela, prezando pela vida das
sombras e pelos mistrios da noite. Voltamos conversa com a me Oyacy naquela
noite, em meio s foras de uma ambincia rural assentada no ax e com a famlia
matrial grande mesa. Momentos de alimentao profunda das crianas pela boca da
me.
Imagens de um arrebatamento s noturnas, secretas e sagradas profundidades
do y! E, assim, de in-caminhamento Me-Terra e Me-frica numa in-vocao
acolhida da Me-Capoeira. E, ento, estas mes atendendo ao chamado da filharada,
se fazem presente, e a a gente j no sabe mais que foi ao encontro de quem. Quem
constitui quem. O y, entoado com profundidade ancestral, irradia uma fora
irreprimvel de in-vocao e afirmao da presena desta fora feminina afro-
amerndia em nosso corpo e ambincia. O y chama uma manifestao viva da Me-
Capoeira nos in-caminha intimidade de sua cabaa-tero-roda.
Num princpio feminino da ginga, esta fora aparece pulsante, cclica e contnua,
num movimento, ao mesmo tempo, de chamada, de presena manifesta e de
despedida. Podemos perceber uma descida espiralada s profundidades capoeiras.
Nessa chamada me, temos uma imaginao do lamento, da acolhida, da
intimidade, repouso. Procriando imagens noturnas na sensibilidade. Imagens de um
segredo descarado. E aqui, aps descermos para o interior da paisagem ancestral
com fora da fala da Me Oyacy, agora subimos um pouco, tambm num movimento
espiralado e visualizamos a fora desta me alimentando e protegendo suas crias-
capoeiras englobadas em seu ventre-roda, numa profunda intimidade familiar. E,
nessa meia-subida, na fora religadora do y, podemos ouvir a voz de um filho-
capoeira:
Alab Mrcio Folha: O que o Y da Capoeira? Yeeeeee... um Il. Il
o grito do Orix. Quando o Orix chega, ele d o Il dele. A gente d o Y. O
que significa esse Y? a concentrao de todos! chamar todos pra perto,
significa chamar todos pra junto. a ateno. para que todos tenham ateno
com o que est acontecendo. Pra que a gente esteja todos ali unidos. Mas quando
um capoeira d o Y, como um Il. Mas no uma coisa que todos os
capoeiristas fazem o tempo todo. No uma coisa que cada capoeirista faz
quando chega na roda, d o seu il. No assim. Tem uma hora certa pra fazer
isso.
O que uma negativa de Angola ou uma queda de rim ao p do Berimbau?
um dobali. Dobali o voc deitar pra bater pa. Ento, voc vai bater cabea.
147
Fazer uma queda de rim aos ps do Berimbau, bater cabea pro Berimbau. A
tem muita gente que fica fazendo firula no p do Berimbau. Tem alguns Mestres
que ficam at bravos com isso. Muita gente faz isso, porque a gente se espelha
nos outros, porque a gente v, acha bonito e quer fazer igual. Mas tem coisas que
tem significados profundos que a gente no entende mas copia. A gente no
aprendeu, a gente copiou. Mas depois que voc aprende, voc pode: ou praticar,
porque sabe o que est fazendo; ou no praticar porque voc sabe o que , e
entende que no deve fazer. Tem que ter essa compreenso.
335
Tomando essa fora-palavra presente, no cho de uma casa da Me-
Capoeira, em meio aos corpos femininos dos atabaques e das cabaas, somos
levados, de novo, descida com a Me-Terra para ter com a Me-Capoeira.
Aventuramo-nos a percorrer, num mergulho compassado, e de criana, algumas
profundidades deste corpo Capoeira. Convidando-nos s imagens do chamar pra
junto, pra perto, pra concentrao unida, num trajeto copulativo e descensional das
foras profundas de um abrao da alma-corpo-corao feminino da Me-Capoeira em
suas crias. Um corpo-capoeira feminino, intimamente presente, ainda que no
descarado queles que apenas a sobrevoam.
Esta presena da matrial (me, sbia e amante) Capoeira em seus tantos
mistrios e segredos, mostra-se perceptvel apenas s/aos capoeiras que vo alm de
um pensamento de sobrevoo linear e ascensional. Revela-se quelas/es que fazem-
sabem deixar a corporeidade gritar, expressando suas habilidades e poderes de um
campo sensvel extensvel. Quando o y, o Gunga e toda bateria mexem com o
tempo-espao, expressando sua unidade circular, numa volta ao mundo. A,
irreprimivelmente, numa cadencia meldica com a ancestralidade, com o momento e
com o devir, estamos entregue s espirais do tempo-espao matrial afro-amerndio.
Neste deslizamento circular de um tempo-espao capoeira, temos a imagem vital
da roda em seu princpio feminino de nos arrebatar s profundezas e mistrios, de nos
envolver em fascinao e nos acolher em seu colo interior. Temos a imagem do
ventre-roda da Me-Capoeira acolhendo, alimentando, en-sinando, na profundidade
intima dessa chamada me, no y que alimenta aquela concentrao de toda a
filharada acolhida numa famlia-capoeira matrial. E, por falar de roda em famlia-
capoeira, chamamos pra mais um jogo uma cria da Me-Capoeira, chamamos nosso
irmo-capoeira Mrcio Folha, numa conversa sobre o berimbau mexendo com o
tempo-espao e com as relaes intergeracionais, num movimento circular e pulsante,
ele responde dizendo:
335
Trecho da transcriao da conversa entre Alab Mrcio Folha e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-
brasileiras na USP
148
Alab Marcio Folha: O tempo e o espao da Capoeira a roda. A roda o
universo da Capoeira. Quando a gente senta pra conversar, senta um de frente
com o outro. Quando a gente t junto, se rene um de frente com o outro. Pra
poder olhar um no olho do outro e saber o que o outro est passando, est
sentindo ou o que quer dizer mesmo sem falar. E tambm pra olhar as costas um
do outro, pra se proteger. Ento, o principio da roda, a coisa comea a.
336
nesta paisagem de intimidade, concentrao e proteo, numa famlia-
capoeira, na casa da Me, que falamos em ventre-cabaa-roda da Me-Capoeira.
Falamos de uma relao umbilical entre as crias-capoeiras alimentando-se,
comunalmente, nas guas mornas matriais do interior da placenta-roda da Me-
Capoeira. Esta imagem, dos mistrios profundos na intimidade protegida pelas foras
maternas, nos encaminha, em intimidade com a Me-Terra, ao interior secreto e
feiticeiro de uma cabaa. Ventre primordial da criao.
Nessa levada feminina de uma fora matrial afro-amerndia do ventre-cabaa-
roda, na dimenso sagrada da criao em intimidade com a Me-Terra, relembramos
da palavra escritas da Kiusam Oliveira na sua pesquisa pelo enpoderamento da
mulher negra, corpo, educao, ancestralidade e. Ele palavreia do
Kiusam Regina de Oliveira: (...) o espao sagrado da roda, daquilo que
gera a circularidade de nossas vidas, o encontro com o antepassado, com a
ancestralidade, a volta ao tempo, o incio e o fim, o cu e a terra.
337
Neste levada espiral da roda em sua fora matrial do tempo de mexer com o
tempo-espao na nossa levada memria ancestral, assentada na dimenso criadora
com a matria do presente, abrindo caminhos e en-sinando nossos fazeres-saberes
de devir. A roda um multiverso matrial do tempo mtico, da criao. E, ento
sentimos a circularidade dos muitos incios e muitos fins, sentimos a presena da Me-
Terra, que de onde viemos e pra onde vamos, morada dos nossos ancestrais. E,
desse modo, a circularidade recursiva entre predominncias antagnicas, como entre
trajeto espiralado o cu e a terra. Numa intimidade secreta e multiversa do movimento
de acolhida pelas mes Terra e Capoeira. A Capoeira o mundo, como diz o Mestre
Pastinha, a capoeira tudo o que a boca come. E, ento fazemos referncia s
narrativas ancestrais que contam quando Bar comeu o mundo. Nessa roda
circulante, mensageira e guadi que tambm a vida e a morte, o cu e a terra, fomos
remetidas ao interior da cabaa em intimidade com a me Terra. Como ouvimos
sempre dos mais-velhos, cabaa o Orn e o Ay. o ventre-tero do mundo. E
336
Trecho da transcriao da conversa entre Alab Mrcio Folha e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-
brasileiras na USP
337
OLIVEIRA, 2008, p. 123
149
nessa levada matrial, da Me-Terra com a Me-Capoeira temos a cabaa, como
emanadora das vozes primordiais noturnas da Me-Capoeira, d sinais de todo um
poder feminino, misterioso e circular.
Assim, falamos em ventre-cabaa-roda da Me-Capoeira. A voz do berimbau
uma voz que faz o prprio tempo-espao gingar, rodopiar, subir e descer, jogar pra ali
e jogar pra c. E, assim o faz com a gente com ela penetra e passeia em nossos
corpos. E, ento, por falar das provocaes da voz berimbau, relembramos da nossa
conversa com Me Slvia de Oy, que em meio s esculturas compostas pelo Ogam
Ed Oju Ob e outros artistas, s pinturas, os instrumentos, os tecidos, correrias e
gritarias das crianas, abrigadas no barraco do Il Ax Omo Od, um modo artista de
re-ligar. Nesta ambincia, esta me, contando cenas das polmicas, criadas pela
pretensa supremacia crist, diante da figura do pnis relacionada fora masculina
Exu. Orix festeiro, das filosofias da carne e das ruas, na profundidade ntima das
fertilidades, dos mistrios, dos sentidos, dos riscos, da circulao e da alma-fora-
palavra mensageira. A, nessa movimentao, nos atiamos em ati-la:
Elis: Ouvindo a senhora falar do figurativo de Ex, que o pnis, e que Ex
vida, movimento, fertilidade... E, na presena deste berimbau a ao seu lado, me
veio aquela imagem: tem a beriba e a cabaa! Parece que o berimbau est
dizendo desta vida: a in-tenso entre o princpio masculino da beriba e o princpio
feminino da cabaa. Isto faz algum sentido?
Y Slvia de Oy: Interessante! [ela toma o berimbau nas mos e o acaricia
com os dedos e com os olhos, e segura, com as duas mos, a cabaa] A beriba e
a cabaa! A cabaa! A cabaa, pra ns da matriz africana e afro-brasileira, tem
uma srie de funes de proteo, de alimentao, de fora, de energia da
natureza, de dana, de msica, de vida e morte. dela que sai o som pra fazer o
seu sentimento!
338
neste sentido de foras, de proteo, de alimentao, de vida-morte-
ancestralidade, de arte e de sentimento, que falamos aqui em cabaa-ventre-roda da
Me-Capoeira. o princpio feminino da criao, da durabilidade, dos segredos e da
morte e da cura. Um princpio matrial de poder intimamente relacionado com a Me-
Terra. Nessa intimidade, parece que podemos dizer que uma famlia-capoeira, apesar
de machocntrica na sua superfcie, matrilinear, matriarcal e matrifocal nas suas
profundidades. Pois sentimos que a linhagem, o territrio, a proviso e a proteo
desta famlia so do pertencimento da grande Me-Capoeira. Assim, desconfiamos
que as/os capoeiristas mais pertencem Me-Capoeira, do que a Capoeira pertence a
elas/es. So filhos e filhas da Me-Capoeira. Nesse jogo de pertencimentos, como
disse a mestra Janja, capoeira e capoeirista se constituem mutuamente. Nestes
338
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy, realizada no Il Ax Omo Od,
situado na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
150
momentos ntimos e profundos, nesta recursividade constitutiva, podemos sentir as
afinaes do sensvel se estendem arrebatarem a/o capoeira aos mistrios noturnos
da Capoeira. Puxando-nos descida, em con-versao, penetrao e re-pouso no
calor ntimo de ventre-roda-tero da grande Me-Capoeira.
Nesta descida numinosa, incontornavelmente, aterrissamos na sua pele e
penetramos em sua carne e somos acolhidas por sua alma. Imagens trades de uma
trifurcao, como uma imagem de um ventre com sua encruzilhada irradiadora.
Imagens capoeiras da roda. Imagens da poesia do vento, do movimento na in-vocao
desta fora afro-amerndia me-sbia-amante. Imagens da descida mstica, quando,
em intimidade ancestral com o cho, cantamos o y chamando pela me-frica-me-
Terra-Me-Capoeira nas situaes de lamento-guerra-festa, numa intimidade potica
de famlia adentrando s profundezas da me.
E, por falar em descida e intimidade potica, convocamos para este jogo,
tambm com a nossa linhagem de pesquisa acadmica, o professor Bahelard:
Bachelard: Por ora, assinalamos que todo conhecimento da intimidade das
coisas imediatamente um poema. (...) ao trabalhar oniricamente no interior das
coisas nos dirigimos s razes sonhadoras das palavras (...), juntas, as palavras e
as coisas adquirem profundidade. Os seres escondidos e fugdios esquecem de
fugir quando o poeta os chama pelo verdadeiro nome.
339
nesta arte-vida-capoeira, em re-ligaes, re-animaes e re-nascimentos,
que sentimos a fora de um y cavucando nossos mistrios em intimidade com a me
e com a linhagem. Nesse sentido, tomamos a arte capoeira de palavrear em sua
dimenso sagrada, assentadas num campo de foras e de criao; mobilizando
experincias numinosas
340
de estreitamento de laos na roda-ventre da me de
Capoeira.
Podemos, ento, ouvir a fora feminina da palavra-capoeira entoando suas
inauguraes e assumindo sua fora mtica de movimentar smbolos e imagens,
espiralando o tempo ancestral-passado-presente-devir com todas suas possibilidades.
Vem na sua mumunha, movimentando, numa s catimbada, paisagens de dentro e de
fora: nas nossas jornadas interpretativas e em nossas ambincias. Vem abrindo e
secretando caminhos com sua fora trajetiva, recursiva e mitopoitica.
Neste sentido inaugurativo, retorna aos nossos ouvidos a profundidade do y.
Esta chamada-presena, que in-augura nossos caminhos e alimentos no ventre-
cabaa-roda da Me-Capoeira, vem chamando pra intimidade com a Me-Terra. Nessa
vinda, a palavra viva, ento, nos in-caminha ao trajeto para a acolhida desse colo
339
BACHELARD, 2003, p. 10
340
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a)
151
matrial afro-amerndio. E, nesse caminho, somos profundamente alimentados; somos
um beb desfrutando da profunda intimidade entre: Me-Terra, Me-Capoeira,
capoeiristas e palavra-capoeira. E, no calor deste abrao penetrante do y, da me-
sbia-amante Capoeira em suas crias-capoeiras, degustamos banquetes de imagens
poticas. Somos excitados por uma sensualidade imagtica, a desfrutar de imagens
trajetivas, recursivas e copulativas de um contido-continente. De um tudo-junto-
misturado, como diz dito popular.
Nesta mesa farta, a imaginao crepuscular grita quando sentimos, pela fora de
uma invocao do yeeeee!, a relao copulativa entre as predominncias noturna e
diurna. Numa trajetividade de sobe-e-desce, de y, jogue pra ali, y jogue pra c, faz
pulsar uma recursividade entre a profundidade misteriosa desta fora feminina e a
ascenso s superfcies do campo visvel, onde encontramos um predomnio
masculino. A, com a fora dos alimentos noturnos da me, numa maestria feminina,
temos fora para trafegar pelos caminhos diurnos em companhia da maestria
masculina. Em outras palavras, o alimento secreto da me fortalece e orienta os
caminhos ofertados e partilhados pelos mestres, em sua grande maioria homens.
Neste jogo, percebemos a procriao de predominncias crepusculares na
presena dos corpos masculinos constituindo o corpo feminino da roda. Nesta
paisagem, na imaginao da roda, topamos com uma espcie androginia: uma
crepuscular conciliao dos contrrios na linguagem totalizadora feminino-masculino.
Conciliao esta, que abre caminhos para uma interpretao da vida como dilogo
entre a natureza e cultura, noite e dia, devir e ser.
341
Nesse sentido, para alm do
descaramento da predominncia masculina, damos aqui uma ateno especial s
imagens femininas e andrginas da Capoeira, s imagens de uma profundidade
noturna e de uma recursividade crepuscular: imagens trajetivas e mitopoiticas das
jornadas noturnas-crepusculares entre Me-Capoeira-capoeiristas.
Nesta aventura, nos valemos, ento, mitohermenutica
342
que, como j
dissemos, nos oferece recursos para sinalizarmos as estruturas mticas de
sensibilidade
343
. Assim, percebemos nas imagens e na predominncias noturnas,
cepusculares e diurnas carregando imagens das gesticulaes reflexas, dos schmes
corporais. Nesse modo mitopoitico de leitura, podemos localizar imagens da fora
matrial afro-amerndia em movimento.
Encontramos, ento, um regime noturno de imagens, nessa profundidade dos
momentos em que partilhamos vida no acolhimento da roda-ventre da Me-Capoeira.
341
FERREIRA-SANTOS, 1998, p 96
342
FERREIRA-SANTOS, 2005c
343
DURAND, FERREIRA-SANTOS, TEIXEIRA
152
nesta estrutura mstica que encontramos movimentos de inverso, de habitao no
avesso, no interior. Ento, chamamos Ferreira-Santos pra este jogo, e ele nos
responde dizendo que, neste regime noturno encontramos uma:
Ferreira-Santos: completa inverso da mulher fatal, perigosa, enganadora
e pecadora vista pela estrutura heroica. (...) pois no se trata de vencer a face
escura do tempo e da morte, mas de deixar-se tragar por eles para ganhar o
eterno.
344
Lendo estas palavras, podemos ento, tecer imagens da Capoeira como uma
fora feminina que, alm de reger o lado diurno das guerras e da vida pblica, tambm
rege no lado noturno da acolhida protetora na intimidade. E nessa busca por este lado
noturno, que podemos visualizar os gestos ntimos e internos assentados numa
dominante reflexa digestiva de imagens. Percebemos, na descida Me-Terra para
ter com a Me-Capoeira, este gesto dominante irradiando suas simblicas de
inverso e de intimidade.
345
Nesta descida, vislumbramos imagens do mergulho penetrando o ventre-roda da
Me-Capoeira. Imagens da converso do crepsculo em noite densa. Podemos sentir
uma freada gradual dos movimentos trajetivos, diminuindo lentamente, em intensidade
e velocidade. E, ento, aterrissando devagarinho e se aconchegando na profundidade
ntima do momento mais noturno da noite. Na profundidade mais profunda de um
mistrio, de uma intimidade, de um in-verso. E ento chamamos Ferreira-Santos, que
nos responde dizendo:
Ferreira-Santos: No primeiro caso, o simbolismo da inverso, as imagens
so completamente eufemizantes com suas figuras femininas (maternas) e
feminides ligadas profundidade aqutica e telrica. o alimento que se
absorve em toda sua riqueza, pluralidade e fecundidade indo at as vsceras. O
que o herico v como queda aqui ser percebido como a descida s
profundezas do ventre sexual e digestivo de maneira lenta e gradual.
346
(...)No
segundo caso, o simbolismo da intimidade se faz presente no penetrar nas grutas
e cavernas, a tumba ser o repouso assimilado ao bero, tal como a crislida
abriga a lagarta que se converter em bela mariposa (...).
347
nesta dominante mstica, do regime noturno de imagens da intimidade e da
inverso, que tomamos o y como uma fora inagurativa, que augura inicitica e
intimamente, a nossas jornadas desta descida ao abrigo, s profundidades da Me-
Capoeira. Podemos sentir a fora dos fenmenos de encaixamento, de
344
FERREIRA-SANTOS, 1998, p.132
345
FERREIRA-SANTOS, 1998, p.131
346
FERREIRA-SANTOS, 1998, p 131
347
FERREIRA-SANTOS, 1998, p 133
153
acoplamento
348
, a imagem daquele que engolido, tragado, passando a habitar o
dentro. Podemos nos remeter s lies bachelardianas da imaginao formal e
imaginao material a nos aventurar pela miniaturizao das coisas. E, ao mesmo
tempo, pelo agigantamento de um dentro. J que, nessa descida tragada se viaja
para o interior das substncias em que o pequeno se agiganta e cosmos se
miniaturiza. Assim, nos encontramos enquanto bebs dentro da cabaa-ventre-roda
da grande Me-Capoeira. O que, como diz Bachelard, nos leva a reviver:
Bachelard: (...) uma das funes mais normais, mais regulares das funes
imaginrias: a miniaturizao. (...) Pode-se enunciar como um postulado da
imaginao: as coisas sonhadas nunca jamais conservam suas dimenses, no
se estabilizam em nenhuma dimenso. (...) Aqui se oferece de fato (...) uma
perspectiva invertida que pode ser expressa em uma frmula paradoxal: o interior
do objeto pequeno grande.
349
E, nessa imagem da/o capoeira protegida/o e alimentada/o dentro da cabaa
da Me-Capoeira, cabaa que guarda os mistrios da vida e da morte. Temos sinais
dos poderes imagticos de trans-multi-dimensionar-se, revelados quando o berimbau
mexe com as dimenses do tempo-espao e da pessoa. Nessa chamada do
Berimbau, dentro do ventre da Me-Capoeira, s descidas movedias na intimidade,
chamamos o professor Ferreira-Santos para reforar essa passada noturna e matrial,
e ele responde dizendo:
Ferreira-Santos: Outro ventre materno ser a grande noite escura. (...)
Noite: lugar das ambivalncias, gua espessa que traga o homem ao grande
repouso (nirvana) na harmonia musical do infinito. Ou ento, penetrar na terra
pelas cavernas e grutas, sendas que nos engolem como o suco vaginal. E a
grande imagem mstica por excelncia ser a mulher. atravs do seu smbolo
que se tentar dominar o tempo nesta estrutura que evidencia a ambiguidade do
vnculo (...) amor, tempo e morte.
350
As imagens dessa fora feminina afro-amerndia exige uma revisita imagem
descarada da superfcie diurna, masculina da Capoeira assim primeira vista. Nos
remete a uma visita. num sobrevo descensional e penetrativo nessa superfcie, nessa
concha protetora. Sendo assim, este movimento de adentramento prev a resistncia
concreta da pele masculina, cavucando a carne e o esprito em imagens da fora
feminina, matrial, de corpo tambm presente e vsivel-invisivel. Adentramos na pele da
maestria masculina, de grandes referncias da Capoeira, com uma incontrolvel
vontade criana de passear por dentro das fendas, cavernas e ventres secretos,
348
FERREIRA-SANTOS, 1998, p 131-132
349
BACHELARD, 2003, p. 11-12
350
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 132 (g.a.)
154
femininos, da Me-Capoeira. Nessa coisa das profundezas, chamamos o professor
Bachelard pra essa conversa, e ele diz:
Bachelard: A vontade de olhar para o interior das coisas torna a viso
aguada, a viso penetrante. (...) esta a curiosidade da criana que destri o
seu brinquedo para ver o que h dentro. (...) Mas o que a educao no sabe
fazer, a imaginao realiza seja como for. Para alm do panorama oferecido
viso tranqila, a vontade de olhar alia-se a uma imaginao inventiva que prev
uma perspectiva do oculto, uma perspectiva das trevas interiores da matria.
351
Mas as imagens da profundeza no tem somente essa marca de hostilidade; tem
tambm aspectos acolhedores, aspectos convidativos; e toda uma dinmica de
atrao, de seduo, de apelo ficou um tanto imobilizada pelas grandes foras das
imagens terrestres de resistncia. Nosso primeiro estudo da imaginao terrestre,
escrito sob o signo da preposio contra, deve ser pois ser completado por
estudo, escrito sob a preposio dentro. (...) no buscamos separar totalmente os
dois pontos de vista. As imagens no so conceitos. No se isolam em sua
significao. (...) De fato, pode-se sentir em ao, em muitas imagens materiais da
terra, uma sntese ambivalente que une dialeticamente o contra e o dentro, e
mostra uma inegvel solidariedade entre os processos de extroverso e os
processos de introverso.
352
Entretanto, nesta crepuscularidade gingada do contra-adentrar, intro-versar e
extro-versar, em nossas jornadas interpretativas, cavucamos um tantinho deste cho
fertilizado pelos mestres: homens de muito fundamento. Tomamos a bena aos
mestres e discpulos, no nosso caso pela convivncia e aprendizagem, especialmente
com filhos da linhagem em que se criou Mestre Gato Preto de Santo Amaro da
Purificao, que por sua vez criou o Contramestre Pinguim que meu mestre.
Reverenciamos os grandes capoeiristas, pois, aqui, em relao profunda com a
Me-Capoeira, esses homens, mestres e discpulos, assumem os poderes
fundamentais da membrura
353
: a mesma membrana masculina que nos distancia da
percepo desta natureza feminina, tambm a juntura que nos en-sina a adentrar
nessa chamada s foras femininas da me-sbia-amante, da ginga, mumunha, da
malandragem, da malemolncia, da... Das foras femininas expressas em imagens
vivas e da Me-Capoeira Angola. Nesse jogo farto, mais do que referenciar os
mestres, reverenciamos aqui, mais enfaticamente a minina dos meus olhos, a
matrial, me-sbia-amante Capoeira.
Sendo assim, com recursos desta matrialidade afro-amerindia, brincaremos
nesta roda, visivelmente masculina, maestrada concreta e hegemonicamente por
homens, mestres e discpulos, filhos da Me-Capoeira. No entanto, para alm desta
maestria explcita, flertaremos nesta roda com a maestria profunda e recndita da
matrial Capoeira. Visto que, esta fora matrial , alm de corporalmente, tambm
351
BACHELARD, 2003, p. 10
352
BACHELARD, 2003, p. 02 (g.a.)
353
MERLEAU-PONTY, 1992; FERREIRA-SANTOS, 2005c
155
primordial e essencialmente feminina enquanto fenmeno vivo da natureza. Assim,
mergulhamos em profundidade ntima nesta me que nos guarda, nos alimenta, nos
protege e nos orienta. No entanto, este repouso abrigado exige e prima pela vida da/o
capoeirista. E ento chamamos Bachelard para nos auxiliar, e ele chega dizendo:
Bachelard: ao sonhar com essa intimidade que se sonha com o repouso
do ser, com um repouso enraizado, um repouso que tem intensidade e que no
apenas essa imobilidade inteiramente externa reinante entre as coisas inertes.
354
E neste nosso movimento, de um repouso intenso, de uma frentica
alimentao entre me e filhotes, tambm desfrutamos do repouso frentico da
palavra-capoeira, quando ouvimos a poesia do silncio, quando fazemos poesia sem
precisar falar nem escrever. Nestes momentos, topamos com uma trajetividade
crepuscular do contido-continente Capoeira-capoeirista-palavra.
Entretanto, para alm daquela recursividade andrgina mestre-Capoeira,
sentimos aqui um contido-continente ainda mais profundo, mais ntimo, quando diz
respeito a um contido-continente Me-Capoeira, capoeirista mulher, e palavra. E neste
contido-continente feminino, temos, na literatura da Capoeira, a recorrente imagem da
cobra: dona dos mistrios, da vida e da morte, protegendo o ouro em sua versatilidade
e em seu repouso intenso. A, chega a Me Silvia pra dizer:
Y Silvia de Oy: E a a gente tem essa coisa, enquanto mulher, que: quem
que consegue pensar rpido assim como aquelas cobras que sobem numa
rvore numa rapidez gigante? Quem que consegue voar de uma rvore para
outra como um vento? Algumas qualidades de cobra! Quem que consegue
rastejar seja no gelado, seja no mido, seja na gua, seja no seco, seja no
quente? A cobra! Quem consegue ficar camuflada, como se fosse uma beleza da
vegetao dentro natureza, assim como a mulher se camufla em seus
sentimentos? Quem? Quem? A cobra!
355
Ouvindo isto, nos fortalecemos pela versatilidade da cobra e pela resistncia
da cabaa, enquanto astcias-capoeiras. o que vem nos excitando nesta jornada,
dando sinais de toda uma potncia feminina secreta, em profundidade. De toda
intimidade de uma fora matrial afro-amerndia, na arte feminina dos mistrios; que
fascina e amedronta; que se revela e se camufla; se exibe e se oculta. Assim,
podemos sentir a fora matrial afro-amerndia da ginga. E, ento, temos o privilgio de
chamar para esta roda a alma-fora-palavra capoeira do Mestre Pastinha que nos en-
sina:
354
BACHELARD, 2003, p. 04 (g.a.)
355
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy, realizada em 2010 no Il Ax Omo
Od, situado na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
156
Mestre Pastinha: a Capoeira, no dotada somente de grande poder
agressivo, mas, possui uma qualidade que a torna mais perigosa -
extremamente "maliciosa".
O capoeirista lana mo de inmeros artifcios para enganar e distrair o
adversrio: Finge que se retira e volta rapidamente; deita-se e levanta-se; avana
e recua; finge que no est vendo o adversrio para atra-lo; gira para todos os
lados e se contorce numa "ginga" maliciosa e desconcertante. (...)
O capoeirista sabe aproveitar de tudo o que o ambiente lhe pode
proporcionar.
356
Neste movimento, tomamos a ginga e a malcia como alimento ancestral e carnal
ofertados e reforados pela fora matrial da Me-Capoeira. Nesse sentido, como
astcias femininas, seguem maestrando as foras vitais do risco e do fascnio, dos
mistrios de vida-e-morte, de uma elegncia guerreira e brincante, e das religaes e
remediaes com a ancestralidade.
Tomando esse principio feminino da malcia e da ginga, sapateamos ao som de
mestras da cultura negra. Mais especificamente de vozes de mes de famlia de ax,
haja vista que no Candombl, umbilicalmente ligado Capoeira, o reconhecimento
dessa fora matrial afro-amerndia, por parte da famlia-de-santo, muito mais
explcito e reverenciado do que nas famlias-capoeiras. Ento, chamamos a Kiusam
Regina de Oliveira pra este jogo, e ela, com sua composio freireana sobre o
empoderamento das mulheres negras, chega dizendo:
Kiusam: Na sociedade ocidental, se a mulher convive com o desprestgio
por ser mulher e por conta disso tem de enfrentar o machismo, no candombl de
ketu sua figura extremamente valorizada por ser a mulher que carrega, dentro
de si, a cabaa (o tero) da criao. So as grandes mes, conselheiras, rgidas
nas aes, crebros ativos em prol do bem-estar de sua comunidade.
357
Podemos desconfiar que este reconhecimento da matrialidade se d pelo
volume de mulheres na roda, o que, incontornavelmente, vai nos levando a este
reconhecimento. Por outro lado, na contrapartida masculina, pode ser tambm pelo
fato de que, quando pensamos no Candombl, nos vm a imagem uma casa de
famlia de ax, o princpio feminino da casa noturna, da acolhida e do cuidado. Assim
como, pelas orientaes intensivas no contato direto com a palavra ancestral.
Percebemos, ento a imagem centrada pela figura da casa e me preta como o eixo,
como fora de liga familiar. Relembramos da nossa conversa com o estudo da Kiusam
de Oliveira, quando ela nos conta:
Kiusam Regina de Oliveira: As mulheres africanas [e, acrescentamos: e
mulheres indgenas] portanto, foram capazes de manter, no Brasil, a devoo aos
Orixs [aditamos: e aos Caboclos] como parte do processo de resistncia capaz
356
PASTINHA, 1988, p. 27
357
OLIVEIRA, 2008, p.85
157
de reunir mulheres e homens escravizados em torno de uma nova conscincia
familiar, de uma coletividade no mais formada por laos consangneos, mas por
laos religiosos e espirituais. Esse reencontro dos africanos no Brasil com a forma
ancestral de se organizar scio-poltica e culturalmente a partir da religio,
privilegiando o comunitarismo, garantiu a esses grupos maior segurana e
fortalecimento emocional, necessrios para a sobrevivncia, dentro de condies
extremamente cruis, advindas com a escravido.
358
nesse sentido que falamos de uma fora matrial afro-amerndia,
alimentando, protegendo, alimentando, guerreando, sensualizando a vida e re-ligando
a famlia. Podemos dizer que esta fora matrial que manteve, mantm e manter
viva a fora dos pro-fundamentos da Me-Capoeira e seus capoeiristas, seja da terra e
de Aruanda. Entretanto, dentro desta ambincia matrial afro-amerndia, temos uma
composio hegemonicamente masculina nas linhagens-capoeiras. Apesar, de toda
esta matrialidade, do princpio feminino da roda-ventre-tero da e Me-Capoeira na
Me-Terra, percebemos a reinao da imagem masculina das linhagens. Desse modo,
topamos com a imagem, no da sensibilidade crepuscular-noturna da casa de famlia
de ax centrada na figura matriarca negra, mas sim a imagem da famlia de ax
centrada pela figura do mestre.
Assim, percebemos imagens crepusculares-diurnas da paisagem interna da casa
do mestre e externa das pernadas capoeiristas. Temos aqui uma ligao muito ntima
com as imagens diurnas da guerra, com a rua, com a sensualidade, com a festa, com
a malandragem, com as mumunhas da vida pblica. nessa levada, da imagem
centrada na figura da rua e do mestre como fora de liga familiar, que desconfiamos
que talvez more um dos entraves ao reconhecimento, por parte da tradio patriarcal
perifrica na capoeira, desta matrialidade capoeira e do reconhecimento da presena
feminina nas linhagens.
Diante disto, podemos sentir que a fora matrial capoeira talvez diria aos
capoeiristas: ns, foras femininas e mulheres afro-amerndias, nunca fomos, no
somos, nem nunca seremos, a princesinha de cristal do castelo patriarca a espera do
prncipe heri salvador, pelo contrrio, tomamos a imagem da mulher afro-amerndia,
numa elegncia guerreira, em intimidade com a Me-Terra, em circulao constante,
en-sinando, alimentando, protegendo e libertando nossos heris; e guerreando lado
a lado com eles na rua e nas matas, empunhadas com a reza, o escudo e a espada.
E, ento, nessa recursividade antagnica, concorrente e complementar das entre
foras femininas e masculinas, rememoramos da nossa conversa com Pai Quejessi,
numa tarde quente no Stio Quilombo Anastcia, na presena de alguns de seus filhos
capoeiristas, durante um cafezinho em sua cozinha:
358
OLIVEIRA, 2008, p. 23
158
Elis: Pai Quejessi, nesta minha passagem, como uma bebezinha, na
Capoeira Angola, eu sempre ouo meu mestre dizer que a Capoeira me, que a
Capoeira uma fora feminina. Porm, percebo que, ao mesmo tempo em que
espao de fora-feminina-capoeira, temos uma hegemonia masculina na presena
corporal e nas histrias das linhagens. Esta hegemonia masculina das famlias-
capoeiras, a torna um espao de muitos conflitos e confrontos e provaes
pblicas para as meninas e mulheres capoeiristas, ainda mais agravado pra ns,
mulheres negras e caboclas, que no remetemos imagem frgil e virginal da
cinderela. Somos mulheres de luta e de festa na Capoeira que feminina e num
espao machocntrico.
Tata Quejessi: [sorri, olha para os capoeiras presentes, toma lentamente
seu gole de caf] A Capoeira um espao machocntrico at mesmo porque a
Capoeira me. Talvez se fosse um espao extremamente feminino, a capoeira
no seria to me assim. Eu vou ser franco em dizer, o que eu penso e o que eu
defendo sem medo de ser feliz. [olha para os capoeiristas] No tenho nenhum
problema em achar: nossa, o que ser que vo dizer? Na matriz africana, ns
homens somos muito vulnerveis, frgeis! A verdade essa! Ns, homens, somos
de uma fragilidade incontestvel. Por isso que eu falo que na matriz africana as
mulheres tm poder e os homens tm funo. Na matriz africana, ns no temos o
poder, ns temos a funo. Ns no sabemos lidar com o poder, somos muito
frgeis pra lidar com essa coisa toda de poder. Usando sua terminologia, de que a
Capoeira um espao machocntrico, eu digo que por isso que ela uma
grande me mesmo!
Pois num processo de construo social os meninos aprendem sempre
depois das meninas. Elas aprendem com muito mais facilidade e se desenvolvem
com muito mais propriedade; se tornam independentes muito mais rpido do que
os meninos. Os meninos so muito mais lerdos, eles sempre precisam muito mais
da me. Sabe, muito louco isso, e os meninos tm que entender! Eu falo isto
com a maior tranquilidade. E a, a Capoeira, se voc a v como uma grande me
que en-sina, que protege, que resgata, t a a explicao por ser um espao
machocntrico.
E vou ser franco em dizer, um espao machocntrico tambm pela forma
como a capoeira tem tentado se manter historicamente. A forma que se
estabeleceram as condies para Capoeira se instituir em solo brasileiro, acabou
tornando-a um espao de masculinidade. Ela sempre foi marginalizada, sempre foi
marginal, era um espao machocntrico sim, mas somente para alguns homens,
no era qualquer homem, era para os homens marginalizados.
359
Y Slvia de Oy: Eu responderia a mesma coisa que o Pai Quejessi respondeu.
Porque, diferentemente deste mundo branco-patriarcal, na nossa matriz afro-
brasileira, a mulher que o sexo forte. E s vezes, d at uma bronca, porque a
homarada, por achar que a gente sempre mais forte, mais forte, mais forte, por a
gente ser mulher, eles metem o sarrafo. A eles se aproveitam: porque a mulher
sempre mais forte, ela aguenta, ela suporta. E tambm porque a nossa
recuperao sempre muito mais rpida. A gente se recupera muito mais rpido
dos baques emocionais, espirituais e at fsicos. E a homarada se aproveita.
Nisso, a gente, no fundo, no fundo, bem no fundinho, em algumas situaes, a
gente at gostaria de ser considerada o sexo frgil [gargalhadas], [fecha a cara]
359
Trecho da transcriao da conversa entre Elis, Mrcio Folha e Pai Quejessi, realizada em 2011 no
Stio Quilombo Anastcia Il Ax de Yans, em Araras - interior de So Paulo
159
mas se eles levantarem a voz... hum! [pe a mo na cintura] Eles encontram com
o perigo de um s rodopio! [ginga com o corpo e gargalha]
360
E, ento, ouvindo estas vozes mestras, podemos sentir a fora matrial afro-
amerndia materializada, em atuao relacional e contextual. E naquele sentido de
masculinidade marginalizada de que fala o Pai Quejessi, e no sentido de meter o
sarrafo de que fala Me Slvia, que falamos aqui de uma tradio patriarcal perifrica.
No entanto, nossa esquiva se d pelo sentido de matrial de que a mulher tem o poder,
protege, en-sina e resgata os homens, como disse Pai Quejessi. E tambm pelo
sentido matrial de a mulher ser o sexo forte e ter o poder da recuperao. Nossa
esquiva e contragolpe ao patriarcalismo branco-ocidental e perifrico se d pelos
alimentos e caminhos ofertados pela fora matrial afro-amerndia capoeira.
Uma matrialidade que vem regendo suas foras tanto na casa, como na rua, na
mata, e por toda circularidade dos tempo-espaos ancestrais, histricos e cotidianos.
Nesta circularidade, gingamos na cadncia feminista negra, buscando acompanhar o
compassso dessa atividade vital, comunal e intergeracional do povo de ax. Ele vem
nos dando pistas da fora matrial afro-amerndia e, aqui, travam um jogo, em famlia,
com as passadas capoeiras dos homens mestres e discpulos desta roda.
Aprendemos com mulheres de ax que, com muita elegncia, ofertam imagens de
guerra nos embates da fora matrial afro-amerndia contra os ataques das foras da
pretensa hegemonia branca (masculina e feminina), e da hegemonia masculina negra
( e, atualmente, tambm branca) quando falamos em Capoeira.
neste jogo de dentro que recorremos Me-Capoeira s mes de ax, pois
que so, ancestral, histrica, e cotidianamente matriais em seus territrios. E assim,
nos asseguram a flertar com os sentidos de uma fora matrial afro-amerndia e suas
maestrias na cultura negra. E, neste flerte, desfrutamos de imagens da Me-Capoeira
como uma manifestao desta fora proporcionando recursos para uma esquiva,
guerreira e elegante, frente aos ataques etnocidas
361
, femicidas
362
e epistemicidas
363
a
que somos cotidianamente expostas.
, neste quebra gereba, que gingaremos tambm em famlia-capoeira. Num
jogo situado em espaos machocentricos de uma tradio patriarcal perifrica do
capoeirista sujeito homi e cabra macho. E, nesse bate l bate c, nos
movimentaremos em esquiva aos golpes femicidas de invisibilizao e masculinizao
360
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy, realizada em 2010 no Il Ax Omo
Od, situado na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
361
MUNANGA, 2003; FERREIRA-SANTOS, 2009; CARNEIRO, 2005
362
ROMIO, 2009
363
CARNEIRO, 2005
160
da mulher capoeirista, sempre alcunhada por nomes masculinos, como mulh-homi,
mulh-macho e outros.
Nos valemos, assim, de recursos trajetivos da matrial afro-amerindia nos jogos
de sentidos cotidianamento atacados nas relaes de classe-raca-genero e inter-
geracionais. Recorremos aos alimentos da fora feminista negra paraa vida de um
multiverso nao machocntrico, no brancocentrico e nem adultocntrico. No principio
feminino-capoeira de acolher, proteger e alimentar a diversidade, comunalmente,
dentro da unidade de sua cabaa secreta.
E, nesse sentido, a Me-Capoeira cria, protege e orienta a filharada toda.
Imagens de uma forca matrial afro-amerindia que abraa e movimenta as regncias
femininas, masculinas, infantis, juvenis, ansis e ancestrais; numa tudo num mesmo
corpo, numa mesma carne-famlia-linhagem em profundidade ntima. Seja no lamento,
na guerra ou na festa.
161
4. Lamento, guerra e festa
Peo mame que me veja. Me d licena eu vou jogar, camaradinha!
Yeeeeeeee!
Eu v l o ABC
O ABC da Capuera
O A o aoite
O B a batalha
O C o cativro
O A a alforria
O B banho de sangue
O C Capuerage
O A alegria
O B a brincadra
O C camaradage
O A a Angola
O B o berimbau
O C comunidade
Camaradinha
Y, a Capoeira...
364
Esta ladainha entra na nossa escuta procriando imagens emaranhadas de
lamento, de guerra e de festa. Percebemos esta trade recursiva como uma
ressonncia primordial da matriz afro-amerndia, em todas as expresses da cultura
negra. Nessa levada, na intimidade com uma fora ancestral feminina dos caminhos,
aprendemos que todos os povos so de guerra e de festa, mas j o lamento uma
marca especfica e singular de alguns povos. Podemos sentir que o profundo lamento
ressoa fundo, assim, rasgando na/pela alma somente na expresso de algumas
matrizes culturais, somente daquelas que carregam as dores do ataque e da
resistncia ao cativeiro e aoite, aquelas que carregam os banhos de sangue em sua
memria ancestral. Encontramos uma resistncia afro-amerndia guerreira-festeira
encaminhada e alimentada pela Me-Capoeira na capoeiragem, nas trilhas frutificadas
pelas batalhas, pela alegria, pela brincadeira e pela comunidade.
Diante disto, percebendo a recursividade desta trade como uma constante nas
expresses afro-amerndias de vida. Assim, em meio aos aoites, aos banhos de
sangue, s alforrias, s camaradagens... desfrutamos, nas literaturas-capoeiras, de
um banquete de imagens do lamento, da guerra e da festa. E, nessa mesa farta,
fazemos questo de degust-las, aqui, publicamente, para que no se caia nos modos
branco-ocidentais de ciso linear, irreversvel e de classificao fixa do mundo como
objeto distanciado de anlise. Passearemos por esta trade para aplicamos nossa
esquiva frente lgumas tendncias - presentes tanto no discurso racista como em
364
ABC da Capuera, cantiga composta pelo capoeirista Paulo Cigano
162
alguns antirracistas - em considerar a matriz africana, afro-brasileira e indgena pelos
vieses: ou apenas do lamento; ou somente da guerra; ou exclusivamente da festa.
J que, se entregarmos o jogo a esta ciso exclusivista do modo branco-
ocidental de tratar as coisas, estamos dando um tiro no nosso prprio p. Se nos
fixarmos apenas no lamento, lamento, lamento, podemos cair no gelo brochante da
imagem do colonizado-oprimido-passivo, e nos render ao mergulho fatal no banzo.
Se ficarmos obsessivos unicamente pela guerra, guerra, guerra, corremos o
risco de desviarmos para o esteretipo racista Podemos cair tambm nas acusaes
amedrontadas do esteretipo da/o negra/o e da/o ndia/o agressivas/os, selvagens e
violentas/os. Tambm da idia do povo guerreiro, de um povo que suporta qualquer
peso, que prprio para aguentar sobreviver sob as condies mais precrias. Ou
ainda, o que intimamente pra ns mais triste, perdermos a nossa alegria de viver ao
ficarmos em posio perene de combate, em viglia carrancuda ininterrupta da fria.
Agora, se nos limitarmos exclusivamente festa, festa, festa ficamos vulnerveis
ideia da/o negra/o como mercadoria do entretenimento branco deslumbrado, da
sensualidade permissiva e comprvel do imaginrio ertico colonial, ou mesmo do
esteretipo do negro pai-joo e negra me-joana entregues s falcias da democracia
racial pseudofestiva em que tudo acaba em samba.
Aplicadas as esquivas numa ginga sorrateira, primamos aqui pela re-cursividade
lamento-guerra-festa, caminhando juntinhas numa mesma passada, numa mesma
carne. Sendo assim, ainda que organizamos este texto por meio das predominncias
lamentosas, guerreira e festeiras, consideramos inapropriado, ou mesmo impossvel,
tratar delas de maneira isolada e exclusivista quando estamos flertando com matriz
afro-amerndia.
Desse modo, mesmo nas predominncias, encontramos imagens desta trade
fundamental, acolhida fortalecida pela Me-Capoeira e toda ancestralidade que ela
carrega. Num modo comunal, artista e mandingueiro de lamentar, de festejar, e de
guerrear nos golpes, esquivas e contragolpes nessa grande roda da vida. Neste jogo,
vm aos nossos ouvidos a fora imagtica da voz do Berimbau movimentando este
circuito de foras na circularidade tempo-espacial dos modos matriais afro-amerndios
de fazer-saber, en-sinar e estar na vida. Podemos ouvir esta voz mexendo com o
tempo-espao e artimanhada pelos elos vitais mestre-discpulo alimentados no ventre
da Me-Capoeira. Nos vem as imagens do Mestre Tio Alpio, da criana Kau e do
Gunga, tomados pela fora matrial da Capoeira movimentando circularidade espao-
temporal juntamente com a circularidade lamentosa-festeira-guerreira. Ento, vamos
ao deleite das Histrias de Tio Alpio e Kau:
163
164
165
166
167
Esta sequncia estonteante de exploses imagticas nos leva s foras
numinosas da voz do berimbau penetrando em afinao com nossas filosofias da
carne e nossas filosofias ancestrais. Encaminhando nossa carne ao movimento espiral
do tempo-espao. Movimento que vai e vem movendo, gerando e regenerando a
circularidade recursiva das nossas habitaes nas paisagens ancestrais de lamento,
de guerra e de festa. E, por falar em ciclo lamento-guerra-festa, relembramos da
conversa com a Me Slvia quando ns assuntamos:
Elis: No namoro com a literatura da Capoeira, e com as artes negras em
geral, carregamos sentimentos profundos tanto de lamento, como de guerra e de
festa. Parece que estes trs sentimentos sempre caminham juntinhos.
Y Silvia de Oy: nascer, viver, morrer! So trs! Faz a festa quando
nasce, guerreia na vida e lamenta com a morte! Ou ao contrrio e vice-versa! So
relaes assim! [faz sinal de espiral com a mo] ciclo!
365
Nessa imagem cclica ofertada pela Me Slvia e pelas histrias de Tio Alpio e
Kau, percebemos os trs sentimentos coabitando em nossas filosofias da carne e em
nossa ambincia. Isto de maneira, simultaneamente, antagnica, inter-relacionada e
complementar, num movimento recursivo de foras. Neste circuito, temos presente a
fora matrial da Me-Capoeira com a ancestralidade a proteger, alimentar, e
encaminhar a filharada pelas trilhas vitais das foras do lamento, das foras da guerra
e das foras da festa.
Percebemos este movimento no mergulho numinoso provocado pelo Berimbau
vitalizado nas mos aumentadas, cheinhas de ax, do menino Kau abrindo caminhos
s ressonncias desta alma-fora-voz berimbanzeira que arrebata Tio Alpio a reviver:
os tempos jovens de lamento e guerra de quando era jovem e tinha que lutar com seu
corpo pra defender sua cultura; os tempos infantis de festa: de quando era criana e
vivia enfiado na casa de seu mestre; e os tempos ancestrais de en-sinamentos: de
tempos mais antigos que ele evocando as foras ancestrais, femininas e masculinas,
da Capoeira em suas artes guerreiras de um y, faca de ponta!.
Nessa virada do tempo: agora-juventude-infncia-ancestralidade - desfrutamos
de imagens da memria ancestral de Tio Alpio, atiada pela voz do Gunga,
carregando sentimentos profundos de lamento-guerra-festa. Neste passeio numinoso
365
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy, realizada em 2010 no Il Ax Omo
Od, situado na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
168
pelas sendas do tempo-espao ancestral, percebemos fora matrial da Me-Capoeira
encaminhando Tio Alpio ao ventre Me-frica ancestral. E neste ventre aberto pela
voz numinosa do Gunga, podemos ouvir nas imagens o rufar dos piles, dos tambores
e das batidas do corao de Tio Alpio enternecido pelo sentimento profundo de re-
ligao. Podemos sentir, ento, a fora do ritmo sagrado da criao remontando
unidade primordial. Uma imagem festeira da terra.
Na sequncia, topamos com a imagem da fuga na mata, diante dos ataques
predatrios e parasitas dos escravagistas. Nesta fuga, podemos perceber a presena
das foras ancestrais da mata, percebemos a presena dos donos da mata a orientar
e proteger Tio Alpio na resistncia a esta situao adversa. Uma imagem do lamento
da mata. Aps esta cena, temos imagens da ruptura, imagens da Me-frica beira
mar vendo seus filhos sendo arrancados de seu ventre, abarrotados no cho do
negreiro e sumindo no horizonte de gua e cu. Temos imagens da dor e desespero
nos golpes da captura e nas correntes internas dos pores.
As ressonncias banzeiras das guas do mar estendem suas ondas s guas
vermelhas na terra, ao banho de sangue do aoite, do sadismo e da explorao. As
cenas do trabalho forado, das amarguras canavieiras pra adoar as bocas brancas,
mostram cicatrizes e cortes ensanguentados nas costas pessoa que acompanha Tio
Alpio no trabalho. Nesta imagem aoiteira vem aos nossos ouvidos:
Trabalha negro escravo,
corta cana no canavial.
O corta cana, corta cana,
corta cana, nego velho,
corta cana no canavial
O corta cana, corta cana,
corta cana, nego velho,
corta cana no canavial
Eu tive pai, eu tive me eu tive filha,
mas perdi toda a famlia,
a liberdade e o amor,
E hoje em dia eu s tenho dor e calo,
trabalhando no embalo,
do chicote do feitor.
O corta cana, corta cana,
corta cana, nego velho,
corta cana no canavial
Eu j fui Rei, a minha mulher foi rainha,
pela mata eu ia e vinha,
livre como animal,
Mas hoje em dia, sou como um bicho acuado,
trabalhando acorrentado,
preso no canavial
O corta cana, corta cana,
corta cana, nego velho,
corta cana no canavial
A alma negra nunca foi escravizada,
169
correu menina levada,
brincado no cu de l,
Roubaram o Sol, roubaram a noite e meu dia,
s no roubaram a poesia
que eu trago no meu cantar.
O corta cana, corta cana,
corta cana, nego velho,
corta cana no canavial
Eu sou guerreiro tenho f e tenho crena,
porque me firmo na beno,
que ganhei dos Orixs,
Sou cana forte, sou mem cana caiana,
minha doura de cana,
ruim de me derrubar
O corta cana, corta cana,
corta cana, nego velho,
corta cana no canavial
O nego velho corta cana, corta cana,
corta cana, no canavial, nego velho
366
Esta entoada potica em coro com os quadrinhos carrega exploses de imagens
cclicas e recursivas, imagens crepusculares de lamento-guerra-festa. Imagens
banzeiras do lamento nas dores e cortes. O lamento do nego-velho explorado, do
aoite, da corrente, da priso, do acuamento, da saudade banzeira, da fuga, da
correria mateira. Imagens do lamento nos sentidos do roubo e da predao nas
rupturas dolentes da liga familiar e territorial e ancestral. Imagens do lamento tambm
na dor das religaes mexendo, lavando e fechando as feridas abertas.
E, nesses hematomas da guerra temos imagem das religaes matriais.
Podemos ouvir: sou guerreiro tenho f e tenho crena/ porque me firmo na beno/
que ganhei do Orixs. Imagens da bena que no nos deixa sucumbir na guerra, nem
se entregar na rendio. Como diz Mestre Pastinha: aceitar o desafio com vontade
de lutar. Nessa levada de exploses de imagens da guerra, Tio Alpio vai sendo
levado tambm pelas imagens guerreiras do quilombo e da maloka na resistncia da
vida que ruim de derrubar. Imagens matriais das guerras de resistncia e proteo
do ouro, imagens comunais do confronto direto com as investidas conjuntas do
mercado, estado e supremacia crist.
Imagens das batalhas afro-amerndias a proteger com seu corpo a suas
crianas, a sua cultura, a sua Me. Batalhas que carregam, numa mesma liga, as
imagens hericas da espada, dos faces, das lanas e das flechas, bem como as
imagens noturnas e crepusculares da matrialidade da cobra e da cabaa em sua
proteo do ouro, da vida-e-morte, dos mistrios, das heranas. Num modo
mandingueiro e artista de guerrear, imagens crepusculares da batalha e da intimidade.
366
Corta cana cantiga da Capoeira entoada por Mestre Toni Vargas
170
A imagem da batalha pelo ciclo contnuo da intimidade pessoa-famlia-
ancestralidade traz, alm dos cortes, imagens da religao. Essa religao,
alimentada pelas foras na firmao na beno/ que ganhei dos Orixs temos
imagens festeiras da alma correndo levada, arteira e brincante, da poesia incapturvel
vitalizada pela alma-fora-palavra no canto irradiado. Esta crepuscularidade exibe
marcas profundas e feridas abertas da guerra na alma fundamentalmente brincante,
potica e acolhedora da Me-Terra, da Me-frica, da Me-Capoeira em afinao com
suas crias.
Imagens crepusculares da dor e da regenerao nas foras de religaes da
festa. Dessa religao matrial do retorno, da acolhida, da alimentao partilhada de
foras vitais Podemos ouvir imagens pulsantes e circulares nas ressonncias festeiras
do quilombo, da maloka, do terreiro e da roda. Imagens crepusculares de intimidade e
comum-unidade. Imagens crepusculares das ligas vitais alimentadas pela foras-
ansis e pelas foras-crianas, que, juntas, permitem a continuidade cclica deste
movimento de foras vitais, juntas garantem e estimulam o ciclo contnuo.
Podemos sentir uma intimidade familiar e brincante em proteo da me: da
Me-Terra, da Me-frica e da Me-Capoeira. Imagens festeiras da roda e do cho,
do modo artista de en-sinar, saber-fazer, de estar na vida. Na fora comunal e matrial
do ritmo, da roda e da criao, temos imagens crepusculares na alma-fora-voz que
canta seu lamento e sua guerra na roda em festa.
Esse circuito de foras vivas vai procriando filosofias ancestrais que oferecem
alimentos e caminhos filharada e meio a tantas dores e guerras. Isto num modo
festeiro e artista de en-sinar e fazer-saber em que partilhamos com o corpo inteiro na
fora das metforas e das imagens da dor no corte e do enternecimento na religao
na festa Este enternecimento da religao, com sua ressonncia banzeira, alimenta as
ligas da famlia estendida que faz ecoar a entoada numinosa da alma-fora-voz do
Berimbau em companhia da alma-fora-palavra da Me-Capoeira em suas crias.
E assim vo espiralando as foras do tempo-espao nas nossas filosofias da
carne em re-ligaes com as filosofias ancestrais. Assim, flertamos com a
circularidade crepuscular das narrativas capoeiras de imagens banzeiras, guerreiras e
festeiras.
171
4.1. Narrativas banzeiras:
Suporta a dor de uma ponteira. Recebe golpe de faco...
Meu bisav me falou
Que no tempo da escravido
Era dor muita dor tanta dor
Morriam de dor os negros meus irmos
Dor, dor, dor
O sangue jorra no chicote do feitor
Dor, dor, dor
O negro morre de saudade sem amor
Dor, dor, dor
Dona Isabel sua lei no adiantou
Dor, dor, dor
O negro morre de paris a salvador
Dor, dor, dor
O sangue jorra na caneta do doutor
Dor, dor, dor
A raa negra no nasceu para ter senhor
Dor, dor, dor
Minha alma livre o berimbau me libertou
Dor, dor, dor
367
A famlia est presente, a roda est armada, a bateria est formada, o berimbau
est chamando. As cavucadas lamentosas de um Gunga nos arrebatam ao mergulho
nas sofrncias da Me-frica, da Me-Terra e da Me-Capoeira, procriando imagens
da dor e da regenerao, ao mesmo tempo ntimas e comunais. Esta levada vem
assentada no movimento desta fora matrial afro-amerndia em afinao com as
filosofias da carne nas suas crias e rodas. Assim, reverberam exibindo marcas e
feridas ancestrais que ressoam nas poticas banzeiras da ciso e da religao. Numa
circularidade mtica espao-temporal, podemos ouvir, em roda, uma ladainha comunal
cantada pela voz numinosa do Berimbau ecoando, das profundezas misteriosas de
uma cabaa, a alma-fora-voz de uma me-sbia-amante nos encaminhando s
profundidades ancestrais das nossas dores e revoltas sentidas na carne.
Esta alma-fora-voz do Berimbau irradiando a fora de um lamento matrial afro-
amerndio penetrando em nossa carne, movimentando a nossa alma, fazendo o
tempo-espao girar, acolhe e secreta nossas dores. Secretar no duplo sentido de
intimidade que o termo carrega: as secrees de nossas lgrimas, nosso suor e nosso
sangue; e nossas foras secretas nos mistrios da constituio mltipla da
ancestralidade atuante. Nessa conversa, nos recordamos da voz do Mrcio Folha nos
dizendo:
Alab Marcio Folha: A voz do Berimbau uma voz de lamento. o choro da
me preta vendo seu filho ser arrancado pela mo do feitor. o lamento de
saudade de quem foi arrancado da sua terra natal, da sua famlia. choro de dor
de ser aoitado noite e dia. A voz do Berimbau o sentimento mais profundo do
367
Dor Cantiga de Capoeira entoada pro Mestre Toni Vargas
172
ser humano. Ele traz principalmente esse lado da melancolia, porque ele a voz,
principalmente, dos que j se foram, dos que j se foram. E essa voz dos que j
se foram a mesma voz de ns que estamos aqui hoje. De maneira diferente,
eles passaram coisas semelhantes com as que a gente passa hoje.
368
Nas profundezas da fora um lamento matrial afro-amerndio, temos imagens
penetrantes das dores desse toque in-tenso da Me-Capoeira mostrando e cuidando
das nossas feridas. Imagens noturnas de um lamento ntimo nos toques,
dolorosamente, penetrantes das re-ligaes e remediaes com nosso corpo ancestral
pelas viradas do espao-tempo mtico. A alma-fora-voz matrial do Berimbau, ao
mesmo tempo, expe e secreta, exterioriza e acolhe nosso lamento: de saudade da
terra-me, de nossas dores nas feridas abertas na carne e na alma, no nosso canto
melanclico no sentimento profundo de religao com a ancestralidade.
E ento podemos comungar com imagens ancestrais da voz matrial do
Berimbau, abrindo e fechando nossas feridas, no movimento intenso das religaes e
remediaes. Estas imagens trazem outras, que so quelas ligadas, no somente s
foras ancestrais das pessoas-capoeiras, mas tambm s imagens da ancestralidade
matrial do prprio Berimbau. Percebemos, assim, imagens do encontro e da partilha
de foras ancestrais entre mestre-discpulo-Berimbau nos oferecendo narrativas
ancestrais (mticas) capoeiras vitalizadas pela alma-fora-palavra dos mestres e
mestras que, por sua vez, alimentam a alma-fora-palavra de jovens e crianas
discpulos/as.
Como vemos bem fazer Mrcio Folha ao invocar no som do Berimbau a fala
como agente da magia movimentando foras, acalentando nosso banzo; ele nos diz
que : Por ele ter um som que, ao mesmo tempo em que traz o lamento, o Berimbau
chora pelo capoeira.
369
E, nesse choro comunal no ventre-cabaa-roda da Me-
Capoeira, ouvimos a fora-alma-canto do Berimbau entoada nas Histrias de Tio
Alpio e Kau que, na companhia da criana-capoeira Kau, do Mestre-capoeira Tio
Alpio, chegam neste trio mltiplo nos contando:
368
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha, realizada na sede do Grupo Guerreiros
de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
369
Alab Marcio Folha
173
174
175
176
177
178
A menina cresceu alegre e saudvel sob a acolhida e proteo da alde. J
adolescente, num certo dia, quando ela foi sozinha na beira do rio para se banhar e
buscar gua pura e fresca, percebeu a maldade no ar vindo da presena de homens
estranhos...
179
180
181
182
183
Ento, voltamos quela primeira imagem penetrativa e ntima da alma-fora-voz
banzeira de um lamento matrial cavucando nossa carne, garimpando nossa alma,
evocando nossas foras misteriosas...
184
Contramestre Pinguim: O lamento a Me-frica. O lamento ver sua
amante ser violentada. a me preta ver nascer seu filho e ele ser tirado dela. O
lamento o guerreiro ver sua filha ser levada. O lamento esse! o lamento do
cativo!
370
Neste arrebatamento imagtico, do lado de c do kalunga ou paran, podemos
sentir, na carne da alma afogada em pranto, o canto de lamento ecoando do ventre-
cabaa de um Berimbau que aparece tecendo sua oralitura. Incitados por toda esta
narrativa ancestral, pela vitalidade noturna desta fora-alma-voz, somos levados s
paisagens ancestrais de lamento ntimo e comunal inscrito em nossa corporeidade-
famlia-ancestralidade. Assim, penetramos e somos penetrados pela fora matrial da
cabaa com sua profundidade insondvel dos mistrios da proteo, da vida-e-morte e
da alimentao profunda e remediada de nossos sentimentos de ruptura e de
religao, de dor e de regenerao.
Podemos escutar a Me-frica cantar em imagens da roda comunal acolhendo e
irradiando o ritmo e sagrado da criao e do ciclo. Ressoando matrialmente nas foras
festeiras e banzeiras da gerao, do nascimento e da vida-e-morte, de maneira
simultaneamente ntima e comunal. Temos imagens crepusculares de lamento-festa
na simultaneidade e recursividade entre o choro profundo e o ritmo da roda festeira.
Sentimos esta festa banzeira ou este banzo festeiro, tanto nas imagens do nascimento
da princesa, a dor e choro da me e da filha no colo da Me-gua e nas mos frteis
da parteira en-caminhadora. Como tambm, ressoando nas imagens da roda ritmada
partilhando do lamento feminino da vida-e-morte. Podemos ouvir esta voz dolente que
ecoa da Me-rvore nas dores do sequestro, do estupro, da fuga e da morte violenta e
predatria por mos masculinas.
Nesta levada dolente, ouvimos a fora-alma-voz banzeira do Berimbau
remediando e religando nossa corpo-famlia-ancestralidade em meio s rupturas
femicidas e etnocidas dos ataques senhoris. Ouvimos ecoar do ventre-cabaa da Me-
Capoeira uma oralitura que tece imagens de um lamento profundo, ntimo e intenso
defrontado com os sequestros, estupros, mutilaes, infanticdios, massacres,
amordaamentos, fugas, riscos...
Neste campo de aflio in-tensa, sentimos o lamento ancestral ressoar na
crepuscularidade-noturna das nossas filosofias da carne em intimidade com a Me-
Capoeira, com Me-frica, com a Me-Terra Podemos ouvir estas vozes matriais das
foras da natureza no lamento feminino ecoando da Me-rvore, ancestral do
370
Trecho da transcriao da conversa entre Contramestre Pinguim e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP.
185
Berimbau. Nessa entoada banzeira das vozes ancestrais, lembramos de quando
Contramestre Pinguim nos dizia:
Contramestre Pinguim: Berimbau voz de Egun. Eguns so os mortos,
os nossos antepassados. [toma o berimbau nas mos e, com os olhos fechado,
faz o toque de chamao: ton-ton-ton-ton-ton...]. Ento, voc t em contato com o
Universo, voc t em contato com elementos da natureza. Toda essa fora
africana, a gente t buscando, a gente t invocando.
371
Nesse toque religador, somos arrebatados ela alma-fora-voz das filosofias
ancestrais penetrando nossas filosofias da carne e gerando e regenerando a nossa
ambincia elementar. Neste sentido, quando as mos capoeiras tocam um Berimbau
evocando a alma-fora-voz banzeira ancestral temos imagens noturnas-crepusculares
que conduzem inverso do despeito e temor heroico, diurno, em meio a no
controlabilidade das foras misteriosas da morte, da ancestralidade, do campo
sensvel e dos elementos da natureza.
Neste sentido ancestral, em profundidade, podemos desfrutar de um regime de
noturno de imagens em que, numa dominante postural descensional, rendemos as
espadas hericas e arriamos os escudos diurnos, e nos voltamos ao cho onde moram
as razes e flores desta fora ancestral, misteriosamente noturna. Esta vitalidade en-
sinadora e abrigadora da partilha palavreada alimentando a liga matrial Mestres-
discpulos/as e Berimbau, precisamente a alma que a habita a rvore: alma da me
ancestral
372
. E, assim, podemos sentir as imagens afro-amerndias dos elos vitais
entre a alma-fora-palavra e a imagem matrial da rvore. E, por falar nessa imagem
matrial afro-amerndia da vitalidade dos elos e ligas entre Berimbau-Mestre-discpulo/a
e palavra-rvore-ancestralidade, recordamos de quando Ferreira-Santos nos conta
que:
Ferreira-Santos: O cantor, Orfeu negro, jeliya ou griot, precisamente
aquele que nos lembra nossa origem e ancestralidade, animado pela alma das
rvores mes ancestrais de onde extraem seus instrumentos e tambores.
Nesse sentido, a msica no totalmente humana.
373
Nesse sentido, tambm somos levados s imagens crepusculares da rvore,
entre a ascenso das alturas visveis de seu tronco, galhos e folhagens e a
misteriosidade insondvel de suas razes profundas no ventre da Me-Terra. Imagens
da Me-rvore acolhenso e alimentando sob sua sombra as frutificaes dos pomares
coloridas e cheirosos das narrativas ancestrais. Assim, percebemos imagens de uma
371
Trecho da transcriao da conversa entre Contramestre Pinguim e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP.
372
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p. 175
373
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p. 176-177 (g.a.)
186
dominante postural copulativa, numa filosofia ancestral e tetra-elementar no
humanocntrica, oferecendo smbolos do movimento da seiva circulante entre as
razes profundas da ancestralidade e o devir das flores e folhagens em ciclos de
renovao.
Este movimento copulativo ancestral-passado-presente-devir nas relaes
intergeracionais e inicitica de conhecimentos e pessoas, temos a alma-fora-voz
numinosa do Berimbau para alm de uma humanizao, como expresso das foras
da natureza penetrando na intimidade com a matria e com nossas filosofias da carne.
No a toa que temos sempre recorrente a imagem da Me-rvore nos momentos de
partilha afro-amerndia, nas en-sinaes entre o Berimbau, Tio Alpio, Kau e a Me-
Capoeira.
Ouvimos este lamento banzeiro do Berimbau ecoando da Me-rvore,
protegendo, gerando, regenerando, alimentando, e sendo alimentada, pelo princpio
ancestral da roda, da musicalidade comunal, nos sentimentos profundos e
remediadores da religao. Ouvimos com a carne a alma-fora-voz do Berimbau
banzeiro que vai e vem, arrepiando nossa pele, vibrando nossa alma, fervendo o
nosso sangue, nos envolvendo como crianas aos prantos no colo da me. Essa alma-
fora-voz, num s passo irradiante e penetrante, vai e vem e vai buscando, chamando,
in-vocando, e.....
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....
Don Oyacy: O y o chamado Me para fazermos com ela essa nossa
lamentao. Eu no lamento as chibatadas que levou o meu antepassado. Eu no
lamento! Mas eu choro profundamente pelo que valeu hoje tais chibatadas.
Lamentamos no pela chibata do branco, mas pelo banho de sangue que regou
esta terra pra gente poder estar aqui, hoje, conversando sobre nossas coisas. Por
isso, nosso lamento uma faca de dois gumes: uma lamentao profunda das
percas e ganhas, pois somos um povo muito forte e nossa presena aqui a
prova disto. O nosso lamento uma coisa muito profunda, muito bonita. uma
coisa feminina, porque a mulher que sente, no seu prprio corpo, as dores de
todo mundo: das suas companheiras estupradas, dos seus homens mutilados, das
suas crianas violentadas. O y um modo e um momento de chamar a me para
fazermos com ela esta lamentao intensa e profunda.
374
Llia Gonzlez: No puedo hablar em primera persona del singular, de algo
es dolorasamento comn a millones de mujeres que viven en la regin, me refiro a
las amerndias y a las amefricanas (...).
375
Y Silvia de Oy: O povo africano trouxe a espiritualidade, a sagacidade
daquela coisa do sofrimento mltiplo do negro no navio negreiro. De, de repente,
374
Trecho da conversa transcriada com Me Oyacy, realizada em 2010 no Il Ax de Yans, situado no
Stio Quilombo Anastcia no Assentamento Rural Araras III na cidade de Araras, interior paulista
375
GONZALEZ, 1988b, p.134 (g.a.)
187
voc estar na sua terra, de ser um rei ou uma rainha, e ser trazida pra uma terra
desconhecida como um nada. E, sem querer, acabar invadindo uma terra que j
era de um outro povo. Terra que era dos ndios que aqui tambm estavam sendo
massacrados. Ento, nesse massacre, africanos e indgenas se juntaram num s
cntico de lamento. E, como so raas espertas, pois so as mais antigas do
mundo, se uniram dentro da sua espiritualidade. E aqui ficaram, na sua
ancestralidade, protegendo a Capoeira a nvel de Brasil. Juntas, a ancestralidade
africana junto com a ancestralidade cabocla.
376
Ouvimos estas vozes com a carne da alma, machucada e mergulhada em guas
salgadas. A mar subiu e chegou aos nossos olhos. E, com a vista embaada, nos
vem secretando imagens ntimas e comunais do choro sentido nas percas e ganhas
da vida linhageira. Imagens simultaneamente comunais e ntimas da dor e da
regenerao, das cises e das religaes. Em meio a esta entoada matrial, nas foras
de invocao de um yeeeeeeeeee... a Me-Terra Pachamama e a Me-frica
chamam pelas foras da Me caula: da Me-Capoeira. E ela responde ao chamado
matrial, com seu canto de lamento nascido do ventre-cabaa-roda da Me-Terra. Esta
Me caula vem mandingueira e benzedeira mexendo nas feridas profundas da vida-
e-morte na carne-alma de suas crias. Vem trazendo consigo, na sua alma-fora-voz,
as foras ressonantes da nossa ancestralidade.
Podemos ouvir imagens do lamento do mar. Imagens noturnas da descida aos
pores ntimos do lamento africano nas dores dessa travessia condoda. E nessas
imagens penetrantes de mar e terra, vem, silenciosamente, aos nossos ouvidos,
tambm as vozes de lamento amerndio diante do mesmo mar. De onde pojavam
levas de predadores descontrolados, devastando tudo, matando, violentando e
escravizando. E, deste mesmo mar, tambm por onde chegavam levas e levas de
filhos e filhas arrancadas do ventre da Me-frica. Ouvimos, com a carne, este
lamento do encontro. O lamento da Me-frica e das mes-pretas-ndias num s coro
afinadinho com o lamento da Me-Terra. O lamento desta me presenciando sua
filharada sendo atacada, mutilada, morta e arrastada dentro do seu prprio ventre. E a
me-terra canta seu lamento, acompanhada das outras mes, ao receber, em seu
prprio corpo, rios de sangue e de lgrima, montanhas de corpos, suas filhas e filhos.
Ouvimos ecoar, aos sete ventos, a fora matrial de um lamento diasprico na
unissonncia entre as dores africanas da dispora transatlntica e as dores
amerndias das disporas terrestres daqui. Ouvimos na carne esse lamento afro-
amerndio de vozes, em unidade mltipla, ecoando, unssonas, das profundezas
misteriosas de um ventre-cabaa.
376
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
188
Nesta unissonncia banzeira, sentimos as penetraes espiraladas da Me-
frica, Me-Terra e Me-Capoeira, curandeiras, por dentro das nossas feridas abertas
em carne-viva e sangrando nas dores do corte e da religao. Escutamos as
sofrncias nessa sinfonia mltipla de vozes matriais, tambm os lamentos da Me-Mar
que tem, em sua pele, a memria dos calabouos navegantes e, na penetrao de sua
carne, a memria da desova de corpos negros descartados. Neste lamento marinho,
podemos ouvir:
Navio negreiro
Tumba flutuante
Terra me distante
Dor e desespero
Navio negreiro
Segue a nau errante
Singrando saudades
frica distante
Oua meus cantares
Navio negreiro
Me que perde o filho
Rei perde rainha
Povo perde o brio
Enquanto definha
Navio negreiro
Tumba flutuante
Terra me distante
Dor e desespero
377
Nas profundezas deste lamento banzeiro, do sequestro que arranca o filho dos
braos da Me-Terra e Me-frica, temos imagens penetrantes e ntimas dos trajetos
dolorosos de ida-e-volta, nos movimentos de ruptura e religao com nossa prpria
corporeidade-famlia-ancestralidade. Imagens da chamada cantada Me em meio
dor e desespero nas feridas do aoite, dos embates, das mortes, das violaes e das
mutilaes do corpo-alma-famlia presente e ancestral. Nessa pegada das imagens
dos cortes, da dor, do desespero e do definhamento nos tumbeiros, sentimos o
lamento profundo das perdas.
Nesse sentimento das perdas, podemos escutar o banzo marinho, e o grito do y
na chamada me para ouvir nossos cantares dolentes clamando pela ganhas
banzeiras. Imagens noturnas de um lamento ntimo no colo da Me que mostra e
limpa nossas feridas em carne-viva para, ento, religar essas amputaes. Assim,
nessa acolhida e remediao matrial, nossa carne-alma sangra nas mos curandeiras
da Me-Capoeira, Me-frica e Me-terra. Mes que fazem o tempo-espao girar nas
377
Navio Negreiro - cantiga de Capoeira entoada por Mestre Toni Vargas
189
espirais penetrantes de uma profundidade ntima, no lado de dentro da nossa carne-
viva quente e pulsante.
Nessa lamentao matrial, podemos ouvir a chegada do lamento entoado pela
Me-Mata e Me-Mar a engrossar o coro nessa remediao da filharada neste vai-e-
vem dos cortes e religaes. Ouvimos, ento o lamento marinheiro entoado pelas en-
sinaes afro-amerndias orientando os caminhos mateiros e os com-passos a beira
mar. Nessa levada marinheira de terra, mar e mato, relembramos da voz matrial da
Me Slvia a nos contar sobre os Marinheiros, que fazem parte do povo dono da
Capoeira em suas maestrias:
Me Silvia de Oy: E a, o povo Caboclo e Africano, como no so bobos
nem nada, ensinavam o povo Marinheiro. Mesmo porque a densidade maior da
nossa terra de gua. Era s mar e mato. Quais as estradas que se conhecia?
Nenhuma. Era s o que a gente chama de picadas. Abriam-se picadas dentro do
mato e todos saiam de dentro do mato ou do mar. A maioria morria no mar. E c
pra ns, os Marinheiros tinham que fazer alguma coisa, tinham que aprender as
coisas da terra. J que morreram nela e so parte da nossa ancestralidade.
378
Elis: E, nessas imagens, das picadas abertas nos movimentos de vida-e-morte
entre terra, mato e mar, podemos ouvir com olhos o lamento marinheiro. Podemos
sentir a profundidade do lamento diasprico nas ressonncias do canto (no duplo
sentido do termo) que, em intimidade com a Me-Capoeira, faz ecoar o banzo da
separao brusca, da distncia dolorosa do seu amor e territrio. Nesse lamento
solitrio da ruptura, o Marinheiro capoeira canta:
Eu no sou daqui
Marinheiro s
Eu no tenho amor
Marinheiro s
Eu sou da Bahia
Marinheiro s
De so Salvador
Marinheiro s
O Marinheiro, marinheiro!
Marinheiro s
Quem te ensinou a nadar?
Marinheiro s
Ou foi o tombo do navio
Marinheiro s
Ou foi o balano do mar
Marinheiro s
379
378
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
379
Marinheiro s cantiga de domnio pblico
190
Este cntico de lamento marinheiro, nos leva s imagens do corte brusco e
profundo das ligas afro-amerndias do amor comunal e territorial. Nos leva s imagens
do princpio feminino da ginga no nado balanceado de uma sereia. Remete-nos
imagens femininas dos mistrios da sabedoria mandingueira em meio aos balanos e
tombos da vida. Mistrios da sapincia da cobra, da seria e da cabaa em sua
feminilidade do ciclo de vida-e-morte e da acolhida protegida, dos venenos e alimentos
da sobrevivncia elegante em meio aos ataques da ruptura e do sentimento de estar
s. Aqui nos recordamos de Bachelard quando ele nos diz que amar uma imagem
encontrar sem o saber uma metfora nova para um amor antigo
380
E que:
Bachelard: Amar uma paisagem solitria, quando estamos abandonados
por todos, compensar uma ausncia dolorosa, lembrar daquela [me] que no
abandona... Quando amamos uma realidade com toda nossa alma, porque essa
realidade j uma alma, porque essa realidade uma lembrana.
381
Nesse sentido, podemos sentir na alma o amor imagem do Marinheiro s em
intimidade lamentosa com a Me-Capoeira e a Me-Mar. Nessa entoada marinheira,
tambm podemos ouvir o lamento capoeira clamando pela alma-realidade e alma-
lembrana no retorno ao ventre da Me-Terra diante da Me-Mar. Podemos ouvir as
imagens de uma topofilia na ressonncia apaixonada da terra de onde se . Uma
reverncia a So Salvador, terra que fortemente carrega grande parte da
ancestralidade das maestrias da Capoeira. Da Capoeira beira mar na imagens da
estiva e das rodas praieiras. Imagens de uma arqueofilia capoeira. De um desejo da
acolhida segura no territrio familiar. Ouvimos:
Mar, mar
Eu vou pra ilha de mar
Mar, mar
Maresia beira mar
Mar, mar
382
Neste versado aquoso sentimos os desejos da levada da mar. Mar que leva e
traz sentimentos, memrias e pessoas, tambm ela uma fora feminina de
movimento circular de vai e vem, de vida-e-morte, de transformao das paisagens. A
mar aparece como fonte da religao com a Me-frica e com a Me-Terra num
desabafo em intimidade com a Me-Mar.
Neste desabafo ntimo mora o sentimento de maresia beira mar, no
centramento ntimo nas ondas do carrego de todo um lamento diasprico. Esse
380
BACHELARD, 1997, p.120
381
BACHELARD, 1997, p.120-121 (g.a.)
382
Cantiga de Capoeira de domnio pblico
191
lamento marinheiro nos leva a um outro, quando pedimos acolhida e proteo me
para fortificar nossas braadas com sabedoria pelas correntes tortuosas e mortais
desse mundo. Podemos, ento, escutar:
Minha rainha, sereia do mar
No deixa o meu barco virar
No deixa o meu barco virar
No deixa o meu barco virar
Minha rainha, sereia do mar
No deixa o meu barco virar
No deixa o meu barco virar
No deixa o meu barco virar
383
Nesta clemncia dolorida de chamado Me-Sereia, ouvimos imagens da
inverso dos valores diurnos e heroicos do medo e da fascinao diante da sereia
tragadora. Percebemos o componente heroico arriar sua espada e seu escudo e
chamar pelas foras noturnas, misteriosas e femininas de proteo e sabedoria.
Percebemos a imagem crepuscular no componente diurno de resistncia queda
promovida pelas foras noturnas da sereia que reina, dona, no mar.
Nessa levada crepuscular, temos um chamado pelo princpio feminino protetor
dos trejeitos na sapincia da ginga em cima do barco flutuante, movedio pelas
fronteiras entre a superfcie e a profundeza. Nesta entoada, abandonamos a superfcie
e vamos s profundezas do mar clamar pela me para evitar uma queda moribunda,
solitria e infrtil. Nessa coisa da Me-Mar nos recordamos da imaginao material de
Bachelard nos contando sobre as imagens literrias do amor filial s guas maternais
e femininas. Ele nos diz:
Bachelard: Em suma, o amor filial o primeiro princpio ativo da projeo
das imagens, a fora propulsora da imaginao, fora inesgotvel que se apossa
de todas as imagens para coloc-las na perspectiva humana mais segura: a
perspectiva materna.
384
Nessa fora da linguagem imaginante das foras maternais da gua, a Me-mar
nos seus fluxos e refluxos sege oferecendo a segurana diante das viradas e
provaes do caminho. Assim, tem seu princpio feminino da proteo, da fortificao
e da vida-e-morte. Ento, para um lamento marinheiro, a Me-Mar aparece,
simultaneamente, tanto no risco de morte como na proviso da vida. Nas gingas
destas ondas vitais e mortais da navegao da vida, podemos tambm ouvir:
A canoa virou, Marinheiro
383
Cantiga de Capoeira de domnio pblico
384
BACHELARD, 1997, p.120
192
No fundo do mar
Tem dinheiro
A canoa virou, Marinheiro
385
Nessa virada s profundezas, topamos com imagens do mistrio, das riquezas
secretas escondidas no ventre da Me-Mar. Importa explicitar que falamos aqui de
dinheiro no sentido das foras vitais, pois numa matriz afro-amerndia ele no se refere
a uma acumulao capitalista regida pelo mando e pela posse, mas sim diz respeito
mais um dos tantos meios de proviso e circulao de ax, assentado no princpio
comunal das trocas e da partilha festeira dos alimentos e caminhos.
Ento, neste sentido de dinheiro, do aku, ww, felelb, no ventre da Me-Mar,
o poema procria imagens de intimidade filial-maternal de foras entre marinheiro e
Mar. Em que podemos dizer que, das riquezas profundas s desfruta a filharada em
intimidade penetrativa com ela, somente os que so tragados pelo seu abrao matrial.
Aqui tambm temos o princpio feminino da ginga entre o risco e a acolhida segura e
provedora, pois a mesma Me-Mar que pode muito bem afogar, tambm a que
refresca, alimenta, enriquece, hidrata e lava a nossa alma. E, por falar na fora matrial
da Me-gua amada que nutre, retornamos linguagem imaginante de Bachelard
sobre as guas femininas, quando ele escreve:
Bachelard: A gua um leite quando cantada com fervor, quando o
sentimento de adorao pela maternidade das guas apaixonado e sincero. (...)
Esta valorizao substancial que faz da gua um leite inesgotvel, o leite da
natureza Me, no nica valorizao que marca a gua com um cunho
profundamente feminino. Na vida de todo homem, ou pelo menos na vida sonhada
de todo homem, aparece a segunda mulher: a amante ou esposa. (...) Ao lado da
me-paisagem tomar o lugar a mulher-paisagem. Sem dvida as duas naturezas
projetadas podero interferir e sobrepor-se. (...) Nenhuma viso o convida a isto.
prpria substncia que ele tocou com as mos e os lbios que o chama. (...) S
ento as imagens vm, saem da matria, nascem, como de um germe, de uma
realidade sensual primitiva, de uma embriaguez que no se sabe ainda projetar-
se.
386
Nessa matrialidade da Me-gua, como uma fora de me-sbia-amante, temos
imagens penetrativas pelos mistrios da profundidade feminina. O cntico marinheiro
de conhecimento do fundo do mar, faz ecoar o amor filial e sensual dos seios fartos do
poder femininos que alimenta, protege, enriquece, orienta e sensualiza nossas
passadas navegantes. Na ginga desse lamento marinheiro, guerreiro e elegante que
faz ecoar a chamada ntima s foras da matrialidade das guas, temos imagens dela
na malemolncia do corpo-cauda da sereia cantorina que atemoriza mas fascina, que
385
Cantiga de Capoeira de domnio pblico
386
BACHELARD, 1997, p.131 (g.a.)
193
confunde mas en-sina. Ento, nessa pegada dos en-sinamentos gingados da Me-
Mar, l no fundo, podemos escutar:
Quem te ensinou a nadar?
Quem te ensinou a nadar?
Foi, foi Marinheiro
Foi os peixinhos do mar
Quem te ensinou a nadar?
Quem te ensinou a nadar?
Foi, foi Marinheiro
Foi o balano do mar
Foi, foi Marinheiro
Foi o os balano do mar
E ns,
que viemos de outras terras,
de outro mar
E ns,
Que viemos de outas terras,
de outro mar
Temos plvora, chumbo e bala
Ns queremos guerrear
Temos plvora, chumbo e bala
Ns queremos guerrear
387
Nestas imagens noturnas da suco das guas, temos uma procriao das
imagens femininas de proteo num ciclo contnuo morte-e-vida, assentado no
princpio matrial capoeira da cabaa e da cobra. Ouvimos alma-fora-canto capoeira
na resistncia viva s cises familiares e territoriais e s investidas do epistemicdio
que pergunta quem te ensinou? E se espanta com tamanha sabedoria na perspiccia
da vida diante dos tombos e balanos. Ouvimos a teimosia da vida que pulsa diante
dos ataques do estado e do capitalismo.
388
Imagens da dor nos hematomas da guerra contra os ataques de plvoras,
chumbos e balas dos invasores branco-ocidentais. Porm, num contragolpe afro-
amerndio, vemos a fora matrial da Me-gua provendo seus filhos para a vida,
alimentando-os com os princpios da ginga nas esquivas e contragolpes elegantes
diante das montanhas e penhascos branco-ocidentais. Ouvimos as imagens deste
jogo:
Alab Mrcio Folha: A gua flexvel, ela se adapta. No jogo da Capoeira
Angola uma coisa que, necessariamente, pro jogo fluir, pro jogo acontecer, voc
tem que se transformar em gua. Porque na Capoeira no interessante voc
bloquear movimento, defender os golpes, como nas outras artes marciais, botar a
mo pra defender. Na Capoeira Angola voc sai do golpe. Porque, s vezes, uma
boa esquiva j a queda do adversrio. Dependendo da violncia do prprio
golpe dele, ele j cai sozinho. Ento, voc se move como a gua. E o adversrio
cai sozinho. Porque se voc joga uma pedra pesada no meio da gua, vai
acontecer o qu? Ela vai afundar. Se a pessoa vem com um chute rpido, forte,
387
Quem te ensinou a nadar cantiga de domnio pblico
388
Romualdo Dias. Trecho de fala proferida no processo de qualificao
194
veloz e certeiro, mas voc, no momento certo, aceita e deixa aquele golpe passar
como se entrasse em voc, mas na verdade ele passa por voc e se afunda
sozinho. o que a gua faz.
389
Neste jogo mandingado das filosofias da gua diante da cristalizao de uma
peleja declarada, percebemos imagens banzeiras num movimento gingado de retorno
s profundidades da me. Invocada pelo chamado do y somos por ela fortalecidos e
orientados nos nossos caminhos, de vida-e-morte, de embate e elegncia, tudo numa
mesma rinha. Contornando as montanhas de hematomas, descendo penhascos dos
cortes profundos e desaguando nas guas da religao ntima.
Ento, ouvimos novamente com o corao o movimento trajetivo de uma
sensibilidade herica se curvando s misteriosidades da in-vocao da Me-Mar, da
Me-Mata, da Me-Terra, da Me-frica e da Me-Capoeira. Esta famlia matrial
encontra-se reunida no ventre-roda-cabaa atiada pela alma-fora-voz do Berimbau,
das donas e donos, da ancestralidade afro-amerndia e das pessoas-capoeiras,
podemos ouvir o lamento de um canto comunal da famlia extensa resistindo religada:
Quando eu venho de Luanda
eu no venho s
Quando eu venho de Luanda
eu no venho s
Trago meu corpo cansado,
corao amargurado,
saudade de fazer d
Quando eu venho de Luanda
eu no venho s
Quando eu venho de Luanda
eu no venho s
Eu fui preso traio
trazido na covardia
porque se fosse luta honesta
de l ningum me trazia
Na pele eu trouxe a noite
na boca brilha o luar
Trago a fora e a magia
presente dos orixs
Quando eu venho de Luanda
eu no venho s
Quando eu venho de Luanda
eu no venho s
Eu trago ardendo nas costas
o peso dessa maldade
Trago ecoando no peito
o grito de liberdade
que grito de raa nobre
grito de raa guerreira
389
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha, realizada na sede do Grupo Guerreiros
de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
195
que grito da raa negra
grito de capoeira
Quando eu venho de Luanda
eu no venho s
Quando eu venho de Luanda
eu no venho s
390
Nestas imagens dolentes da ciso e da resistncia religada, temos imagens
crepusculares do lamento noturno diante das covardias diurnas. Imagens das
profundezas ntimas no trajeto do corpo banzeiro que carrega o cansao, o corao
amargurado, a saudade de fazer d, a ardncia nas costas e o peso da maldade.
Mas que tambm traz consigo, nessa caminhada conjunta, a fora e a magia da
ancestralidade africana, o corpo que carrega a fora dos Orixs que juntamente com
os Caboclos e Marinheiros tambm so donos da Capoeira.
Nessa levada mstica e dramtica, dos mistrios das foras ancestrais em
afinao com nossas filosofias da carne, carregamos na pele o negrume sensvel da
noite e trazemos na boca a meia-luz expansiva do luar inspirador. Nesse tom
crepuscular de imagens temos o sentido guerreiro afro-amerndio de uma imagem
herica-mstica, do grito de guerra diurno em unissonncia com as foras noturnas da
ancestralidade. Imagens guerreiras do lamento conjunto numa caminhada conjunta,
em que eu no venho s. Imagens da nossa caminhada com muitos seres, com
muitas foras. Imagens afro-amerndias da pessoa-comunal num grito capoeira
religado, matrial, diurno-crepuscular-noturno.
Nesse grito matrial, temos imagens do lamento da guerra, das marcas profundas
da batalha, das feridas abertas regando o cho. Imagens do lamento das mes em
meio s cruzadas de vida-e-morte, do matar ou morrer imposto filharada que se
obrigada a abandonar a acolhida e a remediao matrial da regenerao e se lanar
aos riscos de novos cortes e de reabertura de velhas feridas. Nessa girada do espao-
tempo as feridas sangram tambm na alma-fora-voz da Me Slvia:
Y Slvia de Oy: E como at hoje! A mulher, a me, chora quando um
filho sai e voc no sabe se ele vai voltar. E o pior ainda, era quando a gente
sabia que ia sair pra defender nossos interesses sem conhecer direito o inimigo. E
quando no voltavam? E quando tinham que se esconder nas caatingas e
capoeiras? Depois de terem acertado de fato o inimigo. E voc sem saber se
estava vivo, se estava morto. A nica coisa que se podia fazer era cantar, era
cantar e cantar! Assim como tem algumas cantigas de lamento nas cantigas de
caboclo, nas cantigas dos ndios, tem as cantigas de lamento na Capoeira, que
uma traduo, em outras palavras, daquelas mesmas cantigas.
391
390
Quando eu venho de Luanda - cantiga de Capoeira entoada por Mestre Toni Vargas
391
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
196
E neste cantar, cantar, cantar, manteve-se viva a alma-palavra e a fora-palavra
matrial afro-amerndia ecoando do ventre-cabaa da maloka e do quilombo. Fez-se
viva a fora matrial da palavra-capoeira como gua que penetra limpando as feridas, e
como vento a chamar pela proteo aos filhos e filhas nas defensivas guerreiras. Fez-
se viva a alma-voz e fora-voz do berimbau, com seu cntico de lamento invocando as
foras ancestrais da Capoeira, que chegam para fortalecer a famlia-capoeira e a
pessoa-capoeira. O Berimbau, dando voz s mes, ou as mes dando voz ao
Berimbau, permite que a famlia-capoeira veja suas feridas e sinta o seu banzo, mas
tambm que se una e se prepare pro que vem, trazendo vivo o facho verde da
esperana. Nesta crepuscularidade trajetiva da guerra em meio s foras matriais dos
cnticos das mes invocando a proteo e a sabedoria ancestral. Temos imagens
crepusculares do lamento na dor e na regenerao, nas perdas e nas ganhas, nas
cises e nas religaes.
Nesta sada compulsria do ventre da maloka quilombola, assentada na fora
matrial da cabaa, da cobra e da sereia com seu princpio protetor, camuflador e de
vida-e-morte podemos ouvir o lamento diante da represso s nossas teimosias da
vida que pulsam mesmo sobre condies extremamente amordaadoras. Podemos
sentir as imagens das perdas tramadas pelos golpes aparatados do Estado
atemorizado. Podemos ouvir um trecho do lamento capoeira diante das investidas dos
samangos
392
:
Na vida tudo acontece
s Deus tem pena de mim
Porque ontem eu sofri tanto
e hoje ainda sofro assim.
Se tu tem problema em casa
no vem resolver aqui
No isso o que o povo gosta
nem tambm o que eu queria
Prenderam o Mestre Limo
na porta da academia
Maltrataram o ngo velho,
algemaram e desceram o pau
No sei se incompetncia
ou erro de um policial
Do jeito que a Terra anda
o mundo est indo mal
Do jeito que a Terra anda
o mundo est indo mal
393
Podemos ouvir o lamento da Me-Terra e Me-Capoeira diante das passadas
traras da covardia nas cenas de violncia policial de um estado patriarcal,
adultocntrico e racista. Podemos ouvir o lamento do Preto-Velho que tambm dono
392
Polcia
393
Na vida tudo acontece cantiga de Capoeira entoada por Mestre Natanael
197
da Capoeira, que alimenta as foras matriais religadoras do nosso corpo-alma-famlia-
ancestralidade. Podemos ouvir o lamento matrial afro-amerndio, a ressonncia
banzeira de uma matriz cultural assentada na senioridade diante do gerontocdio
adultocntrico branco-ocidental.
Nessa levada ressonante, escutamos a dolncia resistente da alma-fora-
palavra afro-amerndia ecoando de uma maestria Boca Rica:
O preto velho
No tempo do cativeiro
Trabalhava o dia inteiro
ia pra senzala matutar
Uma maneira
de domingo no terreiro
Capoeira e suas danas praticar
Negro africano
que de sangue nosso irmo
em terras brasileiras
criou a capoeira
pra sua libertao
E na provncia
quiseram com ela acabar
Mas como o broto da cana
que corta e torna a brotar
Dessa maneira
pelo mundo inteiro
Capoeira vou jogar
394
Neste lamento das dores ancis no trabalho escravo, no cativeiro, na resistncia
viva aos planos de extermnio, temos imagens do canto banzeiro da Me-Capoeira
gerando, regenerando e libertando o corpo-capoeira das suas crias e rodas.
Alimentando a teimosia da vida-capoeira que insiste, que brota e torna a brotar do
ventre-roda-cabaa da Me-Terra provedora.
So muitas as imagens capoeiras que narram as dores nas cenas de violncia
policial e de trairagens internas tramadas pelos feitores e capites-do-mato iludidos
pelas migalhas do poder branco-opressor que transforma um irmo meu num verme
infeliz
395
. Nestas dolncias das traies boicotadoras, nos recordamos da entrevista
de Llia de Gonzalez ao Jornal do MNU quando ela diz:
Llia Gonzlez: Eu vejo os feitores do sistema como uma questo muito
complicada, porque eles so muito sofisticados. Eles esto frente de instituies
poderosas e voc tem que estar muito atento para ver at que ponto voc est no
jogo. Mas voc percebe que muitos companheiros ganham o jogo, se aliam aos
feitores (como aconteceu na nossa histria, para que no se pense que os feitores
agiam sozinhos. Eles tinham seus cmplices tambm), e contribuem para essa
disperso, essa falta de perspectiva, para (...) um programa mnimo de ao.
394
Cantiga de Capoeira entoada por Mestre Boca Rica
395
Verso da msica Jesus chorou composta pelos Racionais MCs
198
Porque no momento em que neguinho me atinge, no est atingindo a uma
pessoinha que a Llia, est atingindo a mulher negra, o movimento que est
sendo atingido. (...) O feitor de hoje o grande aliado que chega e bate nas suas
costas etc. E que, de repente, est vivendo s custas de nossa comunidade, se
dizendo um grande aliado que faz e acontece.
396
Nestas imagens da sofisticao aparelhada dos boicotes internos,
mancomunados com a dinmica patriarcal-racista de poder, podemos escutar o
lamento matrial afro-amerndio diante desta dedicao em prover a disperso e a
falta de perspectiva de resistncia. Nesta entoada, ouvimos um canto dolente da
Me-Capoeira frente s tantas cenas de traies, prises e assassinatos de grandes
mestres e mestras da cultura negra mando do Estado aliado inquisidora
supremacia crist e cincia racista.
Esta trade branco-ocidental segue propagando o imaginrio do negro e do ndio
portadores do mais alto grau de vulnerabilidade e de periculosidade patolgicas que,
quando no se rendem docilmente aos planos de extermnio operado pela hegemonia
branco-patriarcal-crist, so diagnosticados como classes perigosas que devem ser
assimiladas, encarceiradas e/ou eliminadas. Eis as ininterruptas polticas de
branqueamento populao e da cultura nacional, ou, em outras palavras, eis as
ininterruptas aplicaes das polticas de explorao e extermnio das populaes afro-
amerndias. Nessa levada das dores e dos hematomas do conflito, podemos escutar o
som aquoso das correntezas vermelhas de um banho de sangue:
Foi na cidade de Santo Amaro,
Foi na cidade de Santo Amaro
Que nasceu Besouro
temido pelos soldados
porque era valento
Foi na cidade de Santo Amaro
que nasceu Paulo Limo
Jogador de Capoeira
Angoleiro, Mestre bom
Besouro era valente
no respeitava Tenente
nem General nem Capito
Limo era Angoleiro
e de nada tinha medo
Jogava com uma navalha,
uma foice e um faco
Besouro morreu furado
pelo um cabra atraioado
com uma faca de ticum
E Limo morreu cortado
teve o corpo retalhado
Como que se fosse um gado,
para no viver de jeito algum
Os mestres de antigamente
396
GONZALEZ, 1991, p.02
199
era todos eles valentes
Ningum podia duvidar
eles brincavam de Angola
Mas na vadiao da roda
um podia at matar
So histrias da Capoeira
com o sangue africano
que vieram de alm mar
Que vieram de alm mar,
que vieram de alm mar
397
Ouvimos essa cantiga dolente com os olhos mareados pelos lamentos que
vieram de alm mar e pelas revoltas frente covardia amedrontada dos atraioados,
ces de guarda, coronis e herdeiros do patriarcado branco-ocidental. Covardia
amedrontada diante das brincadeiras mandingueiras que traziam a postura altaneira
da navalha matreira e do faco sorrateiro, e no se curvavam diante da pretensa e
fracassada onipotncia branca. E, nesse medo branco despeitado com o poder-
capoeira, com a sabedoria e a vadiao negra, os samangos e senhores se
dedicavam s rupturas pretensamente irreversveis, buscavam recursos para o
extermnio como o corte da faca de ticum e do esquartejamento por temerem os
poderes misteriosos da mandinga do corpo-fechado.
Escutamos os lamentos da Me-Capoeira acolhendo suas crias na passagem
para a ancestralidade. Nessas dores da ciso e do religamento matrial, vem aos
nossos ouvidos a dolncia ntima e remediadora da alma-fora-voz do Berimbau
entoando o toque intenso e profundo da Yuna a invocar e reverenciar os Mestres
ancestrais na ambincia capoeira. Pois, para descontentamento dos planos senhoris
de extermnio, estes Mestres permanecem vivos e ainda mais poderosos no ventre-
roda-cabaa da Me-Capoeira em afinao com nossas filosofias da carne e com
nossa alma-fora-palavra, que vitalizam e religam esta fora familiar estendida.
Bom, deixemos as cenas da batalha para o prximo captulo, e, por ora, ficamos
com a fora penetrante das viradas espao-temporais do toque da Yuna a florear
nossos sentimentos profundos de perdas e ganhas, de desligamentos e religaes, a
re-compor e re-mediar nossas intimidades comunais com a ancestralidade capoeira e
com a Me-Terra abrigadora desta fora.
E por falar em Me-Terra abrigadora, os ataques predatrios e parasitas da
lgica institucional do Estado e do mercado, para variar, seguem ofertando cenas de
lamento afro-amerndio. Permanecem arrancando o choro da Me-frica e da Me-
Capoeira em unissonncia banzeira com as dores da Me-Terra.
397
Filhos de Santo Amaro - cantiga de Capoeira composta por Mestre Limozinho
200
Esta lgica branco-ocidental da posse latifundiria e capitalista da terra, num
senso patriarcal de humanocentrismo desnaturalizado, prev a explorao dos corpos
e territrios para uma acumulao ascensional de recursos naturais a serem
monetarizados. Aqui temos cenas da ciso antagnica e irreconcilivel entre o
pertencimento filial afro-amerndio Me-Terra e a noo de propriedade privada
individualizante e contratualista branco-ocidental da terra morta como fonte de poder
individual, e de explorao mercenarista.
Podemos ouvir o canto de lamento da Me-Terra com sua filharada sofrendo as
investidas da infertilidade branco-ocidental, da degradao predatria e parasita, da
explorao e desmatamento desenfreados. Este canto matrial no leva s imagens do
lamento e regenerao, assentada na fora dos donos e donas, protetores que reinam
sob e sobre as maestrias desta fora matrial das Mes-natureza. Encaminha-nos s
imagens dos en-sinamentos de Tio Alpio com Kau:
201
202
203
Nesse sentido matrial afro-amerndio de comunidade no humanocntrica e no
desnaturalizada, temos imagens do lamento da Me-Terra, da Me-gua e da Me-
Mata diante do ataque predatrio branco-ocidental sem respeito e sem limite. Neste
encontro inicitico entre Tio Alpio, Kau e o Berimbau, em um modo artista de saber-
fazer e en-sinar no adultocntrico nem humanocntrico, encontramos imagens do
lamento destas Mes em meio s infertilidades da ruptura do ciclo e ento da sade
da comunidade da vida. Nesse sentido, desfrutamos de imagens da natureza viva
com seus habitantes e protetores, imagens do respeito e reverncia a este povo
nessa relao comunal em famlia da Me-Terra.
Nessa levada, ressaltamos uma marca afro-amerndia da cultura de vida como
diz Huanacuni Mamani em que uma comunidade vitalizada, no somente por
relaes sociais humanas, mas sim por relaes de inter-relacionalidade e
complementariedade de vida com todas as formas de existncias filiadas Me-Terra.
Podemos ouvir o lamento comunal num s coro de alma-fora-vozes da Me-Terra, da
Me-gua e da Me-Mata, dos seus donos e donas e das suas crias diante da
obsessiva predao branco-ocidental humanocntrica e desnaturalizada.
Nessa levada matrial, comunal e afetual-naturalista, recordamos da nossa
conversa com a Me Oyacy - uma liderana em movimentos de luta pela terra e de
mulheres negras e assentadas -, em que co-laboramos e partilhamos a palavra em
uma ambincia rural e matriarcada por esta Me, no Stio Quilombo Anastcia:
Elis: Pensando nessa predao ocidental e no sufocamento da terra, a me
veio a imagem do lamento dos donos e donas na Me-Terra. uma coisa que os
branco-ocidentais no consideram, no entendem que tudo na natureza tem sua
maestria, tem seus donos e donas. Eles so humanocntricos, acham que o
homem-humano o proprietrio individual de todas coisas. Ento, eu gostaria de
ouv-la sobre essa filosofia de matriz indgena e africana, que afirma a existncia
dos donos e donas das foras da natureza.
Don Oyacy: Hoje, a terra, a nossa Me-Terra, est passando por uma
situao degradante. E justamente por isto! Pelo homem sentir-se o dono, as
consequncias esto a! Porque, pra ns, por exemplo, tem a dona das guas, as
donas do solo, do ar, temos o dono do fogo, os donos de tudo. Cada pessoa que
caminha no cho, pisa na terra, que sente o cho, um fundamento! A Terra o
Aye e o Orun, e, neste meio tempo, acontecem muitas situaes. O norte, sul,
leste e oeste da nossa cabea, a posio astral, ela montada toda na questo da
terra, do cho. O resto, a gente vai adentrando. Precisa de uma folha? A gente
tem que plantar! E reverenciar o dono das folhas e da mata. E por que t
acabando tudo? Mais uma noticia triste que a gente ouve: - Olha, o nosso espao
era, assim, lindo, no que ainda no seja, mas est apertando, esto nos
sufocando! E que espao sufocador que esse? So palcios. Mas e da? Para
ns isto no nada. Voc tem que estar adendado dentro de um processo que a
terra-cho. E isso muito srio!
398
398
Trecho da conversa transcriada com Me Oyacy, realizada em 2010 no Il Ax de Yans, situado no
Stio Quilombo Anastcia no Assentamento Rural ArarasIII na cidade de Araras, interior paulista.
204
Esta seriedade das imagens mostra este antagonismo, j sinalizado, nas
noes de dono, entre o pertencimento comunal afro-amerndio Me-Terra e a
propriedade privada branco-ocidental-humanocntrica da terra. Este antagonismo nos
leva ao lamento da asfixia sofrida pela Me-Terra e as Mes-natureza, ao lamento
entoado pelos donos da mata e toda sua filharada.
Neste mesmo tom, nas Histrias de Tio Alpio e Kau, percebemos com muita
nitidez as imagens da natureza viva. Temos a presena dos animais misteriosos e
femininos como a Dan - cobra protetora e perigosa - e a Coruja - com sua viso
penetrante e perifrica na versatilidade das viradas de 180 graus, dona dos cantos e
segredos da noite. Alm delas, desfrutamos da presena imponente das imagens dos
donos da mata: os Orixs Od - dono da mata, protetor da fauna e dos caadores - e
Ossain - dono das folhas, protetor da flora -; e os Caboclos de Pena e o Caboclo
Boiadeiro em seu cavalo.
Nestas viradas mticas dos donos e donas da mata, em coro com os lamentos da
Me-Terra, ouvimos, de maneira inaugural, a presena e reverncia aos Caboclos e
Caboclas ancestrais desta terra, donos e donas primordiais destas matas. Escutamos
uma cantiga dolente no Maculel:
Tumba Caboclo,
Tumba l e c
Tumba guerreiro
Tumba l e c
No me deixe s
Tumba l e c
Tumba Caboclo
Tumba l e c
Tumba meu Pai
Tumba l e c
No me deixe s
399
E ento, sentimos o princpio da ginga guerreira e comunal, do amor filial s
foras caboclas. No princpio matrial da circularidade pelas curvas do tumba l e c, e
escutamos imagens caboclas de proteo e companhia mestra nas caminhadas
conjuntas pelas flores e espinhos das picadas abertas e a se abrirem. Imagens da
fora matrial da mata que - assim como a fora da cobra, da sereia, da cabaa, da
Me-Capoeira, da Me-gua, da Me-Terra, .... -, simultaneamente, fascina e
amedronta. Podemos ouvir imagens da imponncia descarada e secreta da mata
escura:
Eu vinha pela mata eu vinha
Eu vinha pela mata escura
que beleza,
Tupinamb no claro da lua
Eu vinha pela mata eu vinha,
399
Cantiga de domnio pblico
205
Eu vinha pela mata escura
que beleza,
Maculel no claro da lua
400
Nessas levadas caboclas, percebemos a fora dos mistrios, das belezas e dos
riscos no ventre da Me-Mata. Assim, podemos sentir os princpios femininos da Me-
Terra e da Me-Capoeira abrigando foras misteriosas da fertilidade, da proteo e da
vida-e-morte. Nesse tom crepuscular, as foras matriais de uma mata escura nos
levam s imagens do en-sinar e do fazer-saber pelos sentidos, nas afinaes entre
nossa corporeidade-ancestralidade-ambincia. Numa caminhada comunal entre a
temeridade e a beleza, tanto da mata escura que segreda, como do claro da lua
que des-vela presenas secretas. Imagens do encontro nas dolncias emocionadas da
religao entre nossas filosofias da carne, as filosofias ancestrais e as filosofias da
matria.
Neste cho crepuscular da mata que resiste e sofre as investidas branco-
ocidentais, temos imagens da partilha africana-indgena, da parceria profunda entre
Caboclos e Orixs, donos e donas a nos orientar nos caminhos de fuga em
liberdade, a nos acolher, a limpar nossas feridas, a alimentar nossas regeneraes e a
nos re-encaminhar novamente. Podemos perceber este movimento circular matrial
afro-amerndio nas imagens dos en-sinamentos de Tio Alpio iniciando Kau nas artes
de fazer-saber a Capoeira. Sentimos imagens da palavra artes maestrada e
partilhada durante o trabalho, nas manipulaes comunais e criadoras, com os
elementos e as foras da matria.
Tio Alpio, durante o trabalho conjunto com Kau, de fazer-saber um Berimbau,
vai en-sinando a criana sobre a fora comunal no antropocntrica da natureza viva.
Segue artimanhando en-sinamentos que, por meio das narrativas ancestrais (mito),
desvelam a dimenso sagrada da criao enquanto a arte de mobilizar foras vitais.
Foras que alimentam as ligas entre matria, corporeidade e ancestralidade. Nessa
entoada artista de religaes, podemos ouvir o coro de lamento das vozes da Me-
Terra, da Me-Mata, da Me-gua, da Me-frica e da Me-Capoeira diante da
predao descontrolada do patriarcado branco-ocidental.
Coro este vitalizado pela fora-alma-palavra tecel que movimenta as viradas do
tempo-espao mtico, nos encaminhando s imagens primordiais da ancestralidade
africana. Imagens religadoras de reverncia ao povo das guas e ao povo das matas.
Desfrutamos aqui de algumas cenas da narrativa ancestral sobre os Orixs Ossain e
Od, reverenciados pela maestria capoeira de Tio Alpio em intimidade vital com sua
400
Cantiga de domnio pblico
206
cria-discpulo. Reverncia vitalizada pela fora-alma-palavra do Mestre Tio Alpio e
pela fora-alma-imaginao do Kau, encontro que segue procriando imagens:
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
Estas viradas tempo-espaciais, artimanhadas pela narrativa mtica de matriz
africana, so vitalizadas pelo encontro entre a fora-alma-palavra que carrega e irradia
as filosofias ancestrais procriando imagens em nossas filosofias da carne. Sentimos a
fora matrial afro-amerndia da palavra viva movimentando vitalidades e religando
nossa corporeidade ancestralidade e ambincia, de maneira matrial, comunal e
no humanocntrica nem desnaturalizada.
Nesse sentido, flertamos, numa linguagem imaginante, com imagens literrias da
fora matrial afro-amerndia nestas narrativas ancestrais artimanhadas por Tio Alpio.
Tramamos, em profundidades descaradamente secretas ou secretamente descaradas,
com a fora matrial das Mes: Me-Terra, Me-gua, Me-Mata, Me-frica, Me-
Capoeira... Em movimentos espirais nas acolhidas da dor e regenerao, das rupturas
e re-ligamentos, das re-mediaes cclicas.
Podemos ouvir a matrialidade das guas de Me Oxum socorrendo Od.
Encaminhando-o s filosofias noturnas de reverncia s Mes-Natureza, sem que ele
deixe de ser caador, sem que isto tire dele a maestria da caa e da fora nos
alimentos e caminhos. Podemos tambm ouvir a matrialidade dos ventos da Me
Yans encaminhando as folhas do Pai Ossain para os outros Orixs sem que isto tire
dele a maestria das matas sem que ele deixe de ser dono das folhas. Imagens
crepusculares das foras matriais na separao e religao, na pertena e partilha, na
intimidade comunal.
Nessa levada crepuscular, ouvimos o lamento das guas da Me Oxum diante
da teimosia do Pai Od que, em sua postura herica, diurna, decide rechaar a
sapincia feminina das orientaes e dos cuidados em cumprir os preceitos. Assim,
na inconsequente teimosia masculina, mesmo diante das orientaes femininas da
Oxum e da prpria Me-Natureza, ele insiste em no dar ouvidos e manter sua
deciso herica do domnio e do controle no: eu sei o que estou fazendo. Ento,
irrefreavelmente ele penetra na Me-Mata com sua flecha conquistadora iada nas
mos. E a, mata-a-dentro, a teimosia incoercvel e dominadora de Od afrontada
pela fora matrial protetora, secreta e de vida-e-morte da Me-Mata.
Nesta topada, a imagem masculina, ascensional e herica da flecha diurna
contraposta pela imagem feminina, descensional e circular da Dan (cobra) noturna-
crepuscular - que protege e prima pelas filosofias religadoras e remediadoras da
harmonia nas foras e dos mistrios da natureza. Temos a imagem do embate entre
os domnios diurnos da conquista herica e os domnios crepusculares-noturnos da
proteo e dos mistrios da vida-e-morte.
Neste embate, temos a aparente vitria masculina do componente heroico em
que Od, como bom caador que , aponta e atira sua flecha certeira bem no alvo vital
221
da Dan que aparentemente desfalece. No entanto, esta reinao vitoriosa masculina
dura pouco tempo, at quando Od sai do predomnio diurno dos caminhos
conquistadores e adentra nos predomnios crepusculares e noturnos da acolhida no
interior de sua casa e na penetrao ntima da alimentao na dominante digestiva.
Podemos ouvir o canto de lamento da Dan nas imagens da dor de ser caada e
da regenerao no retorno vida aps ser tragada, mastigada e engolida, ela renasce
inteira e elegante deixando na terra o seu rastro gingado como pista e marca, como
histria pra contar, como um s movimento de mostrar e secretar os caminhos.
Imagens crepusculares, cclicas e trajetivas, da cobra que protetora dos
fundamentos e dona dos mistrios da vida-e-morte.
Esta crepuscularidade da cobra obriga o caador diurno a arriar suas flechas e
se voltar ao cho, a experimentar a morte e ser remediado pelo abrao matrial do colo
e dos feitios religadores da Me Oxum. Temos imagens desta fora feminina no
princpio matrial da paixo, da intuio e da vidncia e que a levam ao mergulho
crepuscular-noturno no ventre da Me-gua para o retorno a casa. Ento, nesta
levada de pressentir e decidir, Oxum, mandingueira que , com sua astcia feiticeira
acolheu, socorreu e revitalizou Od.
Desse modo, esta Yab decide movimentar as prprias foras e artimanhas da
alma-fora-comunicao, mobilizando as ligas entre alma-fora-palavra e alma-fora-
matria para estar em intimidade com o Pai Orunmil. Atendendo ao chamado da Me
Oxum que, na fora de um lamento, clama pela re-vida de Od, Orunmil, dono dos
destinos, no s o revitaliza mas tambm o torna um Orix dono das matas, protetor
da fauna e dos caadores. Nesta levada africaneada, nos recordamos de quando o
mestre da tradio oral e escritor malins Hampat B, nos conta sobre os mistrios
da caa e agricultura:
Hampat B: Suas atividades esto entre as mais antigas da sociedade
humana: a colheita (agricultura) e a caa (que compreende duas caas, uma
na terra e outra na gua) representam tambm grandes escolas de iniciao, pois
no h quem se aproxime imprudentemente das foras sagradas da Terra -Me e
dos poderes da mata, onde vivem os animais. A exemplo do ferreiro de alto -forno,
o caador, de modo geral, conhece todas as encantaes da mata e deve
dominar a fundo a cincia do mundo animal.
401
Este renascimento como Orix deu-se aps Od sentir a fora e a fria da Me-
Mata com seu princpio mortal-e-vital revelado pela fora da cobra protetora, e depois
de ser salvo pelo pressentimento e pela reza feiticeira, num lamento mandingueiro da
Me Oxum. Somente aps sentir em seu corpo, nas suas filosofias da carne, esta en-
401
HAMPAT B, 1982, p. 192
222
sinadora fora matrial da mata, da cobra e da Oxum, que Od pode seguir a sua
sina enquanto dono.
Assim, nesta ltima imagem de Od, narrada por Tio Alpio, podemos v-lo com
uma feio digestiva de concentrao, manuseando a sua flecha diurna erigida para
cima, porm, agora, com seu corpo agachado em intimidade profunda e noturna com a
Me-Terra. Uma postura herico-copulativa-digestiva: uma imagem crepuscular. Nesta
crepuscularidade protetora, temos imagens da intimidade familiar e comunal de um
caador com os animais e com a Me-Mata. Imagem crepuscular, recursividade que
faz de Od o protetor tanto da fauna quanto dos caadores, mantendo vivo o ciclo
trajetivo de foras vitais da Me-Mata que maestrada por muitas foras secretas e
mistrios de vida-e-morte.
neste sentido de vital, de uma relao recursivamente comunal com todas as
formas de existncia, com todas as filhas e filhos da Me-Terra que falamos em
complementariedade e inter-relacionalidade das foras vitais. nessa levada que
dizemos da fora matrial afro-amerndia re-ligadora e re-mediadora nos modos
comunais e artistas de fazer-saber e en-sinar. Modos de estar na vida assentados na
dimenso sagrada da criao e da recreao, nas mediaes e ligas entre as filosofias
ancestrais, as filosofias da carne e as filosofias da matria.
Podemos ouvir o canto de lamento desta matrialidade sensvel diante dos
hematomas, mutilaes e amputaes resultantes dos ataques da patriarcalismo
racional que se dedica ao trabalho de desatrelar, isolar e a amordaar estas juntas
matriais entre pessoa-comunal, ancestralidade (donas e donos) e Me-Terra. Nessa
entoada, escutamos um coro afinado desta trade ressoando as dores das matas, dos
ventos, das guas e da carne, numa esquiva de resistncia predao banco-
ocidental-crist.
Nesta ressonncia temos imagens copulativas e penetrativas entre estes
elementos da natureza. Temos imagens da Me-Terra que, silenciosamente, sorve e
secreta os rios de sangue, suor e lgrimas da filharada. Nesse tom crepuscular de
uma intimidade profunda e comunal, no deixamos de ouvir a poesia do vento
ecoando do lamento da fora-alma-voz da Me-Terra, da Me-frica e da Me-
Capoeira que, numa entoada de lamento-festeiro, canta a remediao, a brincadeira e
a liberdade. E segue in-cantantando as religaes criadoras e recreadoras na vida das
linhagens linguageiras da Capoeira.
Nesta regenerao circular e movedia, numa esquiva-contragolpe capoeira,
ouvimos, l do fundo, desabrochar no crepsculo um lamento guerreiro, amoroso e
filial:
223
Yeeeeeeee....
Talvez
O corao do capoeira
Suporte a dor de uma ponteira
Receba um golpe de faco
Mas ele sabe
Que a dor passageira
E se a vida da rasteira
A gente tem que levantar
s acreditar na liberdade
Ter confiana ter coragem
E estar pronto para amar
E quando o berimbau chama pra roda
Peo a Oxal que me proteja
Peo minha me que me veja
Me d licena eu vou jogar,
Camaradinha
Y, a Capoeira...
402
Esta entoada banzeira nos traz sentimentos fundamentalmente remediadores,
naqueles dois sentidos: do remdio e da mediao. Ouvimos imagens das dores dos
golpes sofridos pelas mos patriarcais-racistas-adultocntricas. E, nestes hematomas
cantados, sentimos imagens da dor na ferida aberta sendo lavada e imagens da dor
nas religaes dos cortes. Imagens da remediao e da religao pelas mos das
Mes gua, Terra, frica e Capoeira. Imagens das ligas vitais do amor filial em
acolhida ancestral que matrialmente remedia, fortalece e orienta pelas caminhadas
conjuntas de resistncia aos tantos cdios. Fora matrial e amor filial que desmantela
as polticas de extermnio e impelem vida que levanta com confiana e coragem,
pronta pro que vem.
Uma resistncia conjunta em que o sentido matrial afro-amerndia compulsa o
sentido de guerreira, numa teimosia da vida que exige as foras de guerra que diz:
Me d licena eu vou jogar. Imagens da resistncia no jogo que continua, e sob da
proteo e da orientao da Me-Capoeira guerreira, Y, a Capoeira que segue
ecoando seu grito de guerra e, assim, encaminhando e alimentando a filharada para
as batalhas de resistncia. E neste quebra-gereba, Me-Capoeira-capoeirista esto
juntas pro que vem neste jogo.
402
O corao de um capoeira cantiga de domnio pblico
224
4.2. Narrativas guerreiras:
quando eu fico zangada, quem pode comigo Deus,
camaradinha!
Peo licena
Que agora eu vou contar
A histria de uma luta
a histria da escravido
Os negros Bantos
eram pegos em Angola
pra c eram traficados
forados a trabalhar
E na Senzala
eles ficavam a ferros
muitos morreram no tronco
de tanto apanhar
Dor, s existia dor
O chicote abalava
, no repique do tambor
Uma luta ento nascia
a esperana chegou
Mas um dia
o feitor se assustou
o nego estava apanhando
e logo se levantou
E comeou a gingar
E comeou a gingar
Negro
Que voc t fazendo? negro?
Feitor maldito!
Agora vou lhe matar
Feitor maldito!
Agora vou lhe matar
Feitor maldito!
Agora vou lhe matar
Com armada e ponteira
Agora vou lhe matar
ee, meia lua e cabeada
Agora vou lhe matar
ee, com o p e com a mo
Agora vou lhe matar
ee, feitor maldito!
Agora vou lhe matar
ee, com a armada
Agora vou lhe matar....
403
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....
Don Oyacy: O y um chamado Me tambm pra se sair pra luta. A
Capoeira o brao que todo mundo correu no passado, pra tentar se olhar e se
enxergar, todo mundo ali, como irmos. Pra poder se sair do capo. o chamado
Me pra se sair e, por exemplo, roubar uma cana pra fazer um caldo pra um
filho. No se podia fazer barulho pra no despertar o sinh e poder tirar um gomo
para torcer no caf ou numa gua e dar pra uma criana beber de madrugada. E,
403
Histria da Escravido cantiga de Capoeira entoada pelo Grupo Muzenza
225
s vezes, pra no morrer, tinha que matar algum sem fazer barulho. Ento, se
saia tambm pra fazer essa lamentao do y no chamado a esta Me para ir
luta. Chamavam esta Me pra ir junto, que a Me-Capoeira.
404
Y Slvia: assim! A Capoeira foi jogada, e ainda hoje , na guerra pra
defender a prpria vida, pra defender sua religiosidade, pra defender sua
comunidade, pra defender seus direitos... A Capoeira foi jogada pra tambm para
isso! Foi jogada pra que seu povo fosse respeitado, de fato, como cidado, como
pessoa. Porque, a nossa fala, os brancos no entendiam, os nossos cnticos, em
lnguas africanas e indgenas, eles no entendiam. E tudo nosso, para o povo
branco, era no pejorativo. E a, com muito medo, eles vinham logo cheios de
armas que a gente no tinha. E ento, pra gente defender tudo o que a gente
carregava e carrega, tudo o que a gente acreditava e acredita, tudo o que a gente
continua carregando e acreditando, foi, e , jogada a Capoeira como arma fatal
mesmo. Como arma! A gente tem uma coisa na Capoeira que diz assim: agora
no quebra-a-gereba!.
405
Contramestre Pinguim: Ento, todos ns temos direitos, s que uns
menos outros mais. E nessa de uns menos e outros mais que vem o conflito. E a
Capoeira canta isto poeticamente como uma forma de protesto. Canta a histria
das guerras. A Capoeira conta tudo isso. A Capoeira no deixa morrer as nossas
histrias de guerra. Elas continuam vivas atravs dessa musicalidade e dessa
poesia, atravs dessa entidade chamada Capoeira.
406
Nesta levada negra matrial de uma oralitura capoeira, que ouvimos um canto
profundo de guerra explodindo na fora-alma-voz da Me-Capoeira guerreira. Assim,
as imagens intimistas do retorno filial aos braos da Me-Capoeira, de um retorno com
as feridas abertas na carne-alma, vo abrindo caminhos s imagens do adventcio no
retorno s batalhas com as feridas religadas. Imagens crepusculares da chamada
noturna Me para, junto com ela, poder se sair capo se lanar sensibilidade
diurna de desafiar as leis institudas e os riscos da guerra.
Nesta entoada, na fora de um y, a chamada e presena desta dona da guerra
impelem s artes matriais de guerrear com justia e elegncia, numa invocao
batalha comunal. Imagens combativas das esquivas e contragolpes no jogo sujo
operado pelas investidas amedrontadas e predatrias do Estado, do mercado e da
supremacia crist. Neste quebra gereba, temos imagens guerreiras da Me-Capoeira,
protegendo, en-sinando, alimentando e impulsionando as esquiva-contragolpes nas
batalhas de resistncia: esse processo de luta e organizao negra [e indgena]
desde a poca da escravido.
407
Nesta pegada da Me-Capoeira nas maestrias das
batalhas de resistentes, chamamos Nilma Lino Gomes e Kabenguele Munanga que
nos do como exemplo de prticas de resistncia:
404
Trecho da transcriao da conversa entre Me Oyacy e Elis, realizada no Il Ax de Yans situado
Stio Quilombo Anastcia no Assentamento Rural Arara III na cidade de Araras no interior paulista
405
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
406
Trecho da transcriao da conversa entre Contramestre Pinguim e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP.
407
GOMES& MUNANGA, 2004, p.69
226
Gomes e Munanga: Insubmisso s regras do trabalho nas roas ou
plantaes onde trabalhavam, os movimentos de ocupao (..) das terras (...),
revoltas, fugas, abandono das fazendas (...), assassinatos de senhores e de suas
famlias, abortos, quilombos, organizaes religiosas, entre outras,(...).
408
Nessas imagens guerreiras da resistncia mltipla, topamos com narrativas
ancestrais sobre uma maneira artista e mandingueira de guerrear. Temos imagens da
Me-Capoeira como arma fatal mesmo. Desse modo, temos o retorno das imagens
diurnas da mulher fatal, sorrateira e perigosa dentro das imagens crepusculares da
Me guerreira que acompanha, alimenta, protege, fortalece, en-sina e constitui a
filharada nas batalhas da vida.
Nesta reversibilidade recursiva das narrativas combativas, temos imagens da
Me-Capoeira guerreira como arma fatal mesmo, seja nas artimanhas silenciosas da
guerrilha, como contou Me Oyacy, ou nas exploses do confronto declarado de
guerra, como narrou Me Slvia. Imagens da Me combativa ecoando o seu grito de
guerra alertando que agora no quebra-gereba, abrindo caminhos e dando incio
vida das imagens da arte da batalha.
Imagens crepusculares que carregam a sensibilidade diurna na ruptura herica
do desafio das normas estabelecidas e da transformao e domnio dos territrios
externos. E tambm carregam a sensibilidade noturna da acolhida mstica, da
alimentao, da proteo, das ligas comunais de vida, do amor matrial e filial. Imagens
guerreiras de religaes, entre o amor capoeira filial e o amor matrial da Me-Capoeira
que, com sua bena, no nos deixa sucumbir na guerra, nem nos entregar rendio.
Imagens da fora matrial guerreira que en-sina o que aceitar o desafio com vontade
de lutar e o fazer-saber a arte de se levantar do tombo antes de tocar o cho. Nesse
sentido crepuscular das imagens guerreiras da Me-Capoeira, temos uma
sensibilidade herica-crepuscular em intimidade com o cho, em intimidade com a
Me-Terra morada dos nossos ancestrais.
Assim, as ressonncias guerreiras da fora matrial afro-amerndia revelam ligas
entre as filosofias ancestrais e as filosofias da carne, que so remediadas pela Me-
Capoeira, Me-frica e Me-Terra orientando, fortalecendo e impulsionando a
filharada pras batalhas de resistncia. As imagens da guerra trazem sentimentos de
amor e da criao em intimidade com os mistrios, com a magia e com a obrigao da
guerra. Obrigao naquele sentido do compromisso de vida com a ancestralidade,
naquele sentido de que a maior dvida que temos com a nossa ancestralidade
408
GOMES& MUNANGA, 2004, p.69
227
sermos ns mesmos
409
. E assim, que se d nossa obrigao de ser guerreira/o nas
batalhas cotidianas da teimosia da vida num territrio poltico que prev nosso
encarceramento, explorao e extermnio.
nesse sentido de resistncia comunal que a sensibilidade herica afro-
amerndia tambm dramtica e mstica, pois ao invs de rechaar os preceitos e
obrigaes com a ancestralidade, justamente o amor filial a ela o que nos leva a
cumprir nossa obrigao, nossa sina, de re-existir. So as foras matriais dos elos
vitais, ntimos e profundos com a ancestralidade, que nos impulsionam pras/nas
batalhas de resistncia, pois como nos en-sina um provrbio da Me-Capoeira: Cobra
pisada morde. Se eu fosse cobra eu mordia.
Nessa levada, nas narrativas das batalhas de resistncia, em intimidade com o
cho e com os mistrios, temos recorrentemente imagens crepusculares da cobra que,
alm de protetoras, so fundamentalmente combativas, fascinantes e fatais. Nessa
reincidncia da cobra nas narrativas de guerreiras, percebemos esta sensibilidade
herica-crepuscular das imagens femininas de uma guerra mandingueira, pelos
campos dos mistrios da proteo e da vida-e-morte. Assim, seguem procriando
imagens do medo, do fascnio e da morte nas narrativas guerreiras. E, por falar numa
sensibilidade herica-crepuscular na fora matrial afro-amerndia de guerra e da
imagem da cobra, nos relembramos da nossa conversa com Me Slvia, quando ns
fomos assuntar com ela:
Elis: Uma vez eu perguntei pro professor Folha se o apagamento da
presena feminina na memria das linhagens de Capoeira no viria do medo que
os capoeiristas tm das mulheres. Um medo parecido com o que os brancos
tinham, e tm, da Capoeira. Esse medo que a gente percebe nas cantigas que
cantadas quando as mulheres esto na roda, sempre relacionadas com imagens
do perigo, da falsidade, do veneno e, ento, com a recorrente imagem fascinante
e mortal da cobra.
Y Slvia de Oy: Cuidado com a cobra que a cobra te pega! [gargalhadas]
Eu no sei o porqu eles fazem essa comparao, cheia de medo, da cobra com
mulher, da mulher com cobra. Por qu? Porque a cobra tem o lado espiritual e tem
o lado animal dela mesma, que j vem da! Olha l, aquela l no escolhe a
vtima! E no existem pernas pra correr dela:
Voc pode cortar a cabea que o rabo dela tem veneno!
Se voc pega na cabea, fique esperto com o rabo!
Se voc pegar o rabo, no se esquea da cabea!
Quero ver o que voc faz com o meio
Porque se ela tiver filhote, o filhote morde!
Puxa de um lado e puxa do outro,
se parte a cobra no meio, e a?
Ela tambm gera,
se tiver filhote, o filhote pega!
Cuidado com cobra,
que ela te pega!
409
FERREIRA-SANTOS, 2005 (a), p. 213
228
Viva ou morta!
Essa cantiga eu no cantei no, hein? [risadas] ! Mas ela cantada pelos
Caboclos! enredo, menina!
Eu me transporto, sabia? Eu me transporto pra essas falas, assim, como se
eu no estivesse falando, como se eu estivesse vivendo mesmo este momento.
Ento, quando eu digo dessa questo da mulher e da cobra como eles, os
homens, falam. Eles falam por medo. Falam que por medo! Porque, ao mesmo
tempo em que eles dizem que a cobra falsa, eles querem trazer isto pra mulher.
E dizem: A mulher falsa como a cobra! Mas no ! [gargalhadas]
que os homens no querem aceitar que assim: fique esperto com essa
mulher porque ela tem a esperteza da cobra! Se chamarem a gente cobra pode
at nos ofender, mas no nos diminui! Ofende porque parece aquela coisa da
falsidade, que no verdade! Enquanto que, na verdade, a esperteza que os
amedronta!
Por exemplo: tem uma cobra verde que voa, quando ela est nas rvores
ningum v. Porque olha e v a rvore, quando ela voa, to rpido que as
pessoas no acreditam que seja uma cobra voando, mas uma cobra voando!
Olha! a mulher! Porque a mulher tem essa singularidade, essa esperteza, essa
inteligncia, essa astcia feminina. por isso tambm que A malandragem!
Ento, eles querem fazer o lado pejorativo da cobra porque ela est l, linda
na dela, e um ser da natureza que morde, que mata, que estrangula. o pavor
da cobra que ao mesmo tempo fascina. Sabe? O fascnio e o medo? Tem o medo
da cobra e o fascnio, porque no existem pernas para correr dela. Quando voc
imagina um dana com cobra, voc v homem danando com cobra enrolada no
corpo? No! Ele no dana com uma cobra enrolada no corpo, mas a mulher
dana com uma espada empunhada nas mos, com arco e flecha empunhados na
mo, com pau de Maculel feito de pau-ferro empunhado na mo. a astcia
feminina de criar e matar em silncio e tambm no quebra-gereba!
410
Nesta entoada feminina negra da palavra co-laborativa partilhada, sentimos o
vigor da fora-alma-palavra que nos transporta viver, em nossas filosofias da
carne, as viradas do tempo-espao circular. Assim, temos imagens da fora religadora
e remediadora que faz pulsar o movimento circular e pulsante das foras vitais.
Imagens da astcia feminina na malandragem da prpria fora-alma-palavra que faz
o tempo-espao pulsar.
Sendo assim, nesta pulsao palavreira, desfrutamos de imagens crepusculares
de uma fora guerreira, alimentada na matrialidade dos mistrios das religaes e
entre o lado espiritual e o lado animal, na aflorao e extenso dos nossos
sentidos. Assim, que seguem desvelando a fora da partilha entre as filosofias
ancestrais e das filosofias da carne, e, ento, a fora do instinto e da intuio nos
modos matriais afro-amerndios de en-sinar e fazer-saber as artes da guerra.
E, nessa coisa do espiritual e do animal, temos o privilgio de chamar para esta
roda a fora-alma-voz do Mestre Gato Ges que ressoa num trecho da ladainha. E o
Mestre, com seu vozero de subir e descer ladeira, aceita nosso chamado e faz ecoar
imagens crepusculares da guerra:
410
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em
2010 no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo. (grifos da autora da
fala)
229
...Guardando o instinto de guerreiro
Pra na hora do aperto se livrar
Ponta p, cabeada de aoite
Boa mira pro alvo no errar,
Camaradinha!
Y, hora hora...
411
Nessa levada, desfrutamos da arte guerreira de en-sinar, fazer-saber, guardar e
revelar a boa mira das esquivas-contragolpes certeiras, sem chance e sem medo de
errar. Imagens pelejantes da Me-Capoeira com seu instinto guerreiro a nos livrar dos
apertos no jogo sujo branco-ocidental. Nesta proteo combativa e en-sinante,
podemos sentir a fora de um y na profundidade ntima da chamada Me-Capoeira
que hora de guerrear. Estas imagens matriais-capoeiras do quebra-gereba, nos
levam a um trecho do corrido que o Mestre Gato Ges sempre traz na sequncia
desta ladainha.
E, com sua maestria do canto capoeira, ele retorna entoando:
L vai p cabeada de aoite
Destreza dramatizao
L vai p cabeada de aoite
Destreza dramatizao
Cada animal
Tem seu golpe fatal
Pra se defender de agresso
Cada animal
Tem seu golpe fatal
Pra se defender de agresso
Jogo limpo...
Y! Jogo limpo
Volta ao mundo
Roda gira-a-a-a
Y, jogo limpo
Volta ao mundo
Capoeira!
412
Nesta cadncia de vozes de Me e de Mestre, sentimos imagens da fora
matrial afro-amerndia no humanocntrica, no machocntrica e no desnaturalizada.
Imagens da Me-Capoeira com seu instinto guerreiro, com seu lado animal-espiritual
que carrega a astcia feminina do bote na ligeireza de um aoite que no se v e
no se tem pernas pra correr dele. Imagens da circularidade trajetiva do p e da
cabea que vo ao cho para a chamada em intimidade com a Me-Terra, Me-frica
e Me-Capoeira, e tambm vo ao ar para o l vai golpe fatal com ligeireza
411
Idia genial cantiga de Capoeira entoada por Mestre Gato Ges
412
Trecho da msica Jogo limpo cantiga de Capoeira entoada por Mestre Gato Ges
230
misteriosa e sorrateira no combate contra o jogo sujo das agresses. Temos imagens
do jogo limpo matrial de resistncia, cadenciado na beleza e no perigo de uma ginga.
Nesta paisagem de beleza e perigo, sentimos a presena da Me-Capoeira na
sua astcia feminina de criar e matar em silncio e no tambm no quebra gereba e
com destreza e dramatizao. Imagens femininas de uma elegncia guerreira:
imagens da malandragem. Dado que, como bem indica Me Slvia, assim como as
palavras capoeira, ginga e terra, tambm no a toa que a palavra malandragem est
no feminino.
Desse modo, temos imagens da malandragem alimentada e en-sinada pela
Me-Capoeira, como a perspiccia feminina da destreza, dramatizao nas artes das
batalhas de resistncia. Nas artes de se manter dignidade de um jogo limpo mesmo
diante das indignaes provocadas pelo jogo sujo da opresso e das tentativas de
extermnio.
Podemos, ento, ouvir as vozes de uma famlia-capoeira que canta em roda:
Capoeira!
defesa e ataque
ginga no corpo
malandragem
O Macull a dana do pau
Na roda de Capoeira
quem comanda o berimbau
Capoeira!
defesa e ataque
ginga no corpo
malandragem
413
Imagens desta fora matrial afro-amerndia que a malandragem que faz o
mundo dar voltas e faz nosso mundo girar. Estas imagens matriais da malandragem
nos levam a relembrar de quando o filsofo da malandragem, Bezerra da Silva, a
canta como uma fora que:
Bezerra da Silva: No deixou a elite me fazer marginal
e depois em seguida me jogar no lixo
414
Nesse tom crepuscular de uma resistncia elegante, temos o princpio feminino
da malandragem nas imagens astcia feminina da ginga na destreza, dramatizao
das esquivas-contragolpes num modo artista e mandingueiro de guerrear. Nesse
sentido matrial afro-amerndia da guerra, podemos sentir a fora das filosofias
noturnas na batalha diurna de resistncia. Imagens que carregam, numa mesma
413
Capoeira cantiga de domnio pblico
414
Se no fosse o samba trecho do samba entoado por Bezerra da Silva
231
carne, simultaneamente, foras aterradoras e irresistveis. Na seduo amedrontada,
ou no medo seduzido, de uma dana guerreira ou de uma guerra danante. Trazendo
tanto as imagens crepusculares, circulares e descensionais, da cobra que se enrola,
como tambm imagens diurnas da espada e do pau-ferro de Maculel. E, ento,
nessa pegada, completa o encontro desta circularidade em descenso com esta
linearidade em ascenso cortante, que, juntas, se irmanam na imagem crepuscular do
arco-e-flecha em punho feminino, na seduo atemorizante de uma dana guerreira,
de um jogo de Capoeira, de uma roda de Maculel.
E, por falar em dana de guerra e no Maculel como uma expresso afro-
amerndia de matriz africana, e que como en-sina Mestre Gato Preto e seu discpulo
Contramestre Pinguim, uma fora fundamentalmente guerreira e parte constitutiva
da Capoeira. Nestes en-sinamentos linhageiros, lembramo-nos de quando nosso
Mestre Gato Ges, filho do Mestre Gato Preto, ofereceu-nos um material de pesquisa:
dois livros sobre o Maculel que esto arquivados na biblioteca da Casa do Samba de
Santo Amaro da Purificao. Neles, encontramos imagens africanas do nascimento do
Maculel e imagens afro-amerndias de sua jornada em terras brasileiras:
Zilda Paim: Contavam os escravos, com especialidade [Mestre e Pai-de-
santo] Ti-Ajou: Para a gente de Mali, isto era uma luta de paus. Tnhamos uma
nao inimiga, e sempre entrvamos em lutas. Esta nao era a dos MACUAS. L
um pedao de madeira rolia a gente chamava de LEL. Armados de Lels ns
atacvamos os Macuas, ou os recebia, quando eles pisavam em nossas terras.
Dizamos: esperar Macuas com lels. Da ficamos chamando Maculel.
(...) Logo foi proibido, pois achavam que iriam causar grandes prejuzos e
apresentaria perigo para a lavoura e economia da regio e para a Ptria.
415
Nesta narrativa ancestral de imagens guerreiras da matriz africana concebendo
o Maculel que comparece vigoroso, sedutor e atemorizante, resistindo aos golpes da
restrio amedrontada do Estado, do mercado e da pretensa supremacia crist.
Nesta levada das imagens guerreiras do nascimento e vida do Maculel, nos
encaminhamos a outro livro, composto por Maria Mutti, no qual encontramos a
transcrio de entrevistas com o Mestre Pop e o Mestre Vav Mo de Ona. E,
ento, nos embrenhamos na fora-alma-palavra de Mestre Pop de Santo Amaro da
Purificao, quando em entrevista realizada em 1968 pelo Grupo Folclrico Oxal, ele
nos oferece imagens inaugurativas do Maculel com toda uma seduo guerreira, na
astcia da malandragem de uma dana que luta e de uma luta que dana:
415
PAIM, 1999, p. 18-19
232
POP: Que eu me lembre, o Maculel chegou da Costa da frica, pelos escravos que
aqui chegaram, Santo Amaro tinha muito engenho, por causa dos canavi que a terra dava
(massap) e muitos escravos desceram aqui pra trabalhar nos canaviais e nos engenhos.
(...)
OXAL: E o Maculel para o senhor, quando comeou?
POP: Foi com o grupo dos Pretos Velhos, escravos Mals, livres, j no tinha mais
escravido nessa poca. Eles se reuniam a noite, me lembro bem de Joo Ole, Tia J e Z do
Brinquinho. O ano direitinho no sei no, mas sei que tempos depois da escravido, eles j
eram livres. Mas quem botou o brinquedo na rua foi eu mesmo.
(...)
OXAL: Pop, o que MACULEL? dana ou luta?
POP: E eu separo? Maculel dana e luta ao mesmo tempo, defesa e ataque
misturado ao ritmo ngo (definio de Pop, sempre que falava no ritmo do maculel). (...)
OXAL: Como acha o senhor que os escravos naquela poca lutavam MACULEL?
POP: Disfarando a luta na dana, se um feitor aparecia na senzala dinoite, pensava
que essa era a maneira de adorao aos deuses da terra deles, as msicas africanas, no
dava pra eles entender o que cantavam.
OXAL: E o senhor sabe o que as msicas do maculel cantadas em africano dizem?
Eu pergunto porque j ouvi o seu grupo cantando em africano.
POP: Eles pediam fora e agilidade naquela dana, para quando chegasse o dia deles
se libertarem. Algumas eu ainda sei e ensinei para os meninos, as outras eu esqueci. Ns aqui
cantamos msicas de candombl de caboclo. E tem as msicas de chegada e de sada, que
a gente faz. O povo aplaudia muito e a gente queria agradecer. Quem fez mais msicas no
grupo foi Vav meu filho.
416
Estas imagens do nascimento do Maculel no ventre da Me-frica, seguida das
imagens de sua jornada partindo da costa africana viagem transatlntica at a
chegada s terras do massap de Santo Amaro. E, aqui, acolhida pela Me-Terra,
temos imagens da partilha afro-amerndia nos cnticos de candombl de Caboclo.
Nessa levada, nos encaminhamos alma-fora-palavra do Mestre Vav de
Pop (no Maculel), Vav Me de Ona (na Capoeira) Vav bom de Samba (na
roda dos sambistas do Trapiche de Baixo)
417
- em entrevista concedida
pesquisadora Maria Mutti:
Ma. MUTTI: Vav, quando foi que voc comeou a danas Maculel?
VAV: Em 1946, meu velho pai Pop, reuniu os meninos, eu falo dos meus irmos, e
alguns amigos da gente, sua sobrinha finada Agog, sua irm Aleluia e na frente l de casa na
Rua da Linha, ensinou o brinquedo pela primeira vez. (...) E ainda tem mais mulher nessa
histria, a mulher do finado Pop mesmo dana direitinho, a minha tambm dana. (...)
Ma MUTTI: E a sua opinio sobre esse maculel de faco danado em Salvador, qual ?
VAV: No gosto no, vou dizer porque o maculel, segundo os conhecimentos de
Pop, africano porque ele aprendeu o folguedo com os negros Mals vindos da Costa da
frica. E escravo no tinha vez pra ficar com faco na mo na hora de ir dormir, que era a
nica hora que eles ensaiavam para adestrar o corpo ao ritmo da msica. Se escravo pudesse
lutar maculel de faco, no existia escravido, pois o faco dava conta do feitor h! H! H!
Essas mudanas impossveis eu no gosto no. (...) Pop j dizia, criar msicas de acordo
com o maculel pode, mas mudar seus passos e suas Grimas
418
no.
(...)
Ma MUTTI: Se voc comeou no grupo tocando bateria, como que voc dana to
bem a ponto de Pop lhe nomear chefe?
416
MUTTI, 1978, p. 09-10
417
MUTTI, 1978, p. 21
418
Pau de Maculel
233
VAV: Isso tem histria pra contar. Eu tinha um fraco danado pela capoeira, e meu pai
achava que eu era muito novinho pra apanhar, e a eu fug para Salvador aprend com Ona
Preta e Mestre Pastinha. Com pouco tempo, voltei pra Santo Amaro como capoeirista bom, fiz
questo de voltar em dia de festa, pois sabia que a turma devia danar na praa, foi dito e
certo, quando cheguei soube que os meninos estavam no adro da igreja se apresentando. L
na festa fechei o tempo, derrubei trs, um de cada vez, n, mas foi um atrs do outro, caindo
l, a meu velho (Pop) me disse, de hoje em diante voc no toca mais na bateria do
Maculel, vai pra roda danar que seu corpo tem mais molejo. E da pra c, so 31 anos de
maculel, danando como ele me ensinou, j inventei algumas msicas, mas na dana, no p
dos meninos no se bole.
Ma MUTTI: J que voc, Vav, fez parte da bateria e quem mais sabe sobre as
msicas e autenticidade de seu toque, cante algumas e fale delas, caso tenha histria pra
contar.
VAV: pra agora mesmo (E PEGOU O ATABAQUE E DEU UM SHOW MEUS
SENHORES) o Maculel tem poucos cnticos ensinado por Pop. Algumas so do candombl
de caboclo, que foram introduzidas pro mim no maculel, porque quando o maculel foi rua
pela primeira vez levado por meu pai, botou um presente no mato e outro nas guas. O que
passou a ser obrigao do Maculel Tradicional de Santo Amaro, dar um presente todo ano ao
mato. por isso que cantamos por exemplo, essa msica:
TUMBA CABCO
TUMBA L E C
TUMBA GUERREIRO
TUMBA L E C
AH! EU SOU COBRA DO MORRO
TUMBA L E C
SOU CABCO MINEIRO
TUMBA L E C
VAV: Logo que chegava na rua, cantava uma msica africana que fala em Deus, AB.
No tempo de Pop, quando a gente chegava na Praa da Purificao ele logo cantava assim:
Quando eu cheguei
Com todo meu pesso
Vamos todos a saud
Os pesso que aqui est
VAV: E essa que eu vou cantar agora a principal do Maculel:
Sou eu, sou eu,
Sou eu, Maculel sou eu Bis
Ns caboco do Mato Grosso
Somos sucena da mata re
Sou eu, sou eu,
Sou Maculel, sou eu
quem vem de longe, faz fora
Faz fora, para curar
Sou eu, sou eu,
Sou Maculel, sou eu
Eu jogo a corda e dou o n
Maculel o de Pop
Sou eu, sou eu,
Sou Maculel sou eu
419
Nessa conversa, podemos sentir a fora das imagens guerreiras, na matrialidade
afro-amerndia do ritmo e da roda, no encontro entre a Me-frica, a Me-Terra e a
419
MUTTI, 1978, p.21-24 (g.a.)
234
Me-Capoeira. Imagens desta remediao e religao matrial nas esquivas-
contragolpes aos ataques predatrios e parasitas do patriarcado-cristo-branco-
ocidental. Imagens da intimidade da roda dinoiti e da profundidade das foras-almas-
vozes do corpo, dos instrumentos, das grimas e dos cantos, em sintonia compassada.
Imagens guerreiras de uma roda de Maculel, imagens das foras africanas que
chegam e saldam as foras indgenas que aqui esto, formando uma fraternidade
guerreira. Nessa levada, podemos ouvir a voz do Contramestre Pinguim que ao abrir a
roda de Maculel, invoca todos ao cho para a louvao aos donos da terra:
Vamos todos a louvar
A nossa nao brasileira
Salve, o Maculel, ora meu Deus
Que nos livrou do cativeiro
Vamos todos a louvar
A nossa nao brasileira
Salve, o Maculel, ora meu Deus
E todo povo guerreiro
420
Nessas levadas do Maculel podemos sentir o encontro das diferentes naes
africanas com a chamada nao brasileira, que no candombl de Caboclo diz
respeito matriz indgena, s foas indgenas ancestrais, donos, desta terra. Assim,
percebemos imagens transtnicas de uma fraternidade guerreira: imagens do
quilombo continuado.
E, nesse caminho afro-amerndio, podemos sentir, na fala de Mestre Pop, a
profundidade dos cantos africanos invocando fora e agilidade nas batalhas por
liberdade. E, nessa invocao, percebemos as imagens capoeiras da malandragem,
na ginga da seduo danante que fazia com que o feitor acreditasse que era a
maneira de adorao aos deuses da terra deles. Assim como, temos imagens da
malandragem na mandinga das profundezas, nos mistrios da poesia de invocao de
foras africanas que no dava para eles entenderem.
Neste mesmo jogo malandreado, podemos ouvir a fora da louvao e da
partilha com a matriz indgena e, ento, temos imagens do povo guerreiro da mata.
Imagens de uma fora herica-crepuscular que resgata e alimenta, que nos livrou do
cativeiro e faz fora para curar, numa matrialidade guerreira. E, nessa entoada
cabocla, ouvimos imagens da malandragem do tumba l c invocando a fora e a
agilidade no movimento de vida, como a ginga perspicaz da cobra do morro que, em
intimidade com o cho, dona do ciclo contnuo nos mistrios da vida-e-morte, sabe
subir e descer, ficar invisvel ou seduzir com sua presena, fazendo com que no se
420
Cantiga de domnio pblico entoada por Contramestre Pinguim
235
tenha pernas pra correr dela. Na astcia de saber se esquivar do perigo ou ser o
prprio perigo ao aplicar seu golpe sorrateiro, numa elegncia guerreira.
Assim, desfrutamos de imagens da fora matrial e filial afro-amerndias, juntas,
numa caminhada comunal e resistente pelas trilhas de um mato grosso. E, nessa
levada das imagens guerreiras da Me-Capoeira como fora matrial afro-amerndia
que carrega o Maculel em seu ventre-roda-cabaa, e em afinao ancestral com o
povo guerreiro da mata, nos recordamos de quando Me Slvia de Oy nos conta:
Y Silvia de Oy: Os Caboclos so essa fora que vm dos ndios, que o
povo que reina nesta terra, e que j reinavam antes. E que regem na Capoeira!
Mesmo porque, os caboclos, os ndios, j praticavam uma certa Capoeira sem
esse nome Capoeira.
At porque quando voc fala: Capoeira. Capoeira mato. Olha, eu entrei
naquela Capoeira e no consegui sair. Ento, voc entrou numa mata fechada,
numa Capoeira, e no consegui sair. Mas, de repente, voc conseguiu uma
brechinha. Nessa minha fala voc vai imaginando voc jogando a Capoeira. Voc
entrou numa Roda, entrou numa Capoeira, num mato denso. A voc tem um
adversrio, que achar uma brecha pra sair dessa Capoeira sem destruir a
natureza, que naquele momento a sua inimiga, e sem se destruir, pois voc est
presa ali. Ento, voc consegue abrir uma brecha e sair. A, vai depender se,
naquela Capoeira, voc vai deixar essa brecha aberta pra quem vem atrs de
voc passar, ou se voc vai deixar essa brecha fechada pra quem vier atrs ter a
mesma dificuldade que voc teve pra achar.
A voc v, imagina assim: os ndios, quando eles esto em guerra, em luta,
que eles comeam a correr com arco e flecha na mo. As passadas que eles do,
se voc mentalizar e colocar uma cantiga da Capoeira ou de Maculel, voc vai
ver que eles esto danando sem estar cantando. E, quando eles vo mirar a
flecha, ou seja l a arma que eles estiverem usando, que to mortal quanto bala
de revlver, mas mano a mano. E quando eles armam a flecha, pra eles mirarem
onde tem que mirar, eles se movimentam. Eles vo se movimentando num
balano de corpo pra ver onde que acerta legal. Eles no fazem como os brancos
que quando vo atirar miram sem se balanar, pois, se balanar, eles erram. O
ndio no, o caboclo no, o negro no, pra ele acertar ele tem que ter ginga, tem
que balanar o corpo, porque mira de um lado, mas acerta do outro. E isto uma
astcia feminina, e isto uma astcia feminina!
421
Nessa levada feminina, desfrutamos de imagens matriais afro-amerndias de um
esprito guerreiro caador em movimento pelas caminhadas mateiras. Imagens de
habilidades noturnas-crepusculares da ginga, das esquivas-contragolpes, da caa ao
alimentos e caminhos, esquivando-se dos predadores e parasitas presentes. E,
nessas passadas mateiras, temos imagens do amor filial expresso pelos filhos da
mata re em intimidade profunda com a fora matrial da Me-Mata rainha. Mata re
que aparece dona dos mistrios da vida-e-morte, dona dos alimentos e caminhos, que
comparece en-sinando, fortalecendo e protegendo sua filharada nas batalhas de
resistncia. Nessa pegada crepuscular, das foras combativas-protetoras do povo
421
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
236
guerreiro da mata re no Maculel, sentimos imagens matriais afro-amerndias de uma
fraternidade guerreira assentada numa comum-unidade de vida.
Nesse sentido, temos imagens de um jogo limpo, na postura de seguir as
jornadas sem se destruir sem destruir a mata e, de preferncia, sem destruir o
adversrio. Uma vez que os cdios no comparecem como elemento e meta numa
filosofia matrial afro-amerndia. Muito pelo contrrio, pois percebemos, como elemento
e meta desta matrialidade, a harmonia das foras naquela comum-unidade de vida.
neste sentido que percebemos o princpio inclusivista da Capoeira de que fala o
Contramestre Pinguim.
Sendo assim, este antagonismo que ressoa na fora-alma-voz da Me-Capoeira-
capoeiristas, ponte e fonte de muitas imagens das batalhas de resistncia afro-
amerndia. E nestas imagens das batalhas diretas, quando fecha e tempo e estoura o
quebra-gereba, temos o antagonismo entre o componente heroico-diurno branco-
ocidental, com seu modo racional, esttico, linear e distanciado de guerrear, em
contraposio ao componente heroico-crepuscular afro-amerndio, com seu modo
sensvel, gingado, circular e achegado de guerrear, no mano a mano. E, por falar
nesta distino dos fundamentos guerreiros, lembramo-nos de quando o professor
Muniz Sodr, fazendo uma crtica aos exageros cinematogrficos da ttica indgena de
aproximao com o inimigo branco nas cenas de confronto, nos conta:
Muniz Sodr: Da dificuldade de entender esse comportamento, podem
surgir esteretipos racistas do tipo loucos sanguinrios, brutos pouco
inteligentes, etc. Na realidade, para certas tribos norte-americanas que
ritualizavam a guerra, aproximar-se do inimigo, quase toc-lo, enfim, desafi-lo,
podia ser to importante como infligir-lhe a derrota. A bravura do guerreiro no se
media apenas pela morte do outro, mas pela capacidade de jogar com a prpria
vida, desafiando a sua prpria morte. Ou seja, o guerreiro no produzia
simplesmente a morte do inimigo (como acontecia com os atiradores de rifle,
garantidos pela segurana a distncia) mas dividia com ele, tornado parceiro do
risco, a possibilidade de morrer.
422
Nessa levada da diferena dos fundamentos, podemos perceber imagens afro-
amerndias guerreiras de responder ao desafio desafiando, num jogo limpo de
perguntas e respostas, na circularidade das esquivas-contragolpes na partilha do
risco. Isto numa caminhada comunal pelo tempo-espao circular, em afinao com as
filosofias ancestrais, as filosofias da carne e as filosofias do devir. Assim, desfrutamos
de imagens das batalhas de resistncia pela vida do ciclo contnuo, assentadas na
vitalidade do movimento, do ritmo, do campo sensvel estendido, da partilha nos
mistrios de vida-e-morte. Em que desafio de viver um modo artista de guerrear.
422
SODR, 1998, p. 154 (g.a.)
237
Nesse sentido, nas narrativas das batalhas capoeiras, temos sempre o retorno
das imagens de uma maneira mandingueira de guerrear, de um componente heroico-
crepuscular. Sendo assim, por falar em Me-Capoeira mandingueira-guerreira,
chamamos para esta roda o heri-crepuscular exemplar da famlia-capoeira: o Mestre
Besouro Preto de Mangang. A quem, em reverncia, nos dedicaremos. Mestre que
segue vivo procriando narrativas de uma maneira mandingueira e artista de guerrear.
E ele chega pra nos dizer deste princpio feminino da mandinga quando Marco
Carvalho, dando voz ao personagem em primeira pessoa, nos diz:
Besouro: Mandinga est na fala ou na sola de um p. O que sempre me
valeu foi a intuio. Mandinga a arte do tino justo no improvvel.
423
Estas imagens noturnas e crepusculares da mandinga como uma astcia de
fazer-saber as esquivas-contragolpes na arte de guerrear. Arte vitalizada pelos en-
sinamentos que se alimentam e se encaminham na fora da intuio, do mistrio, da
ancestralidade. Foras de guerra que, ao mesmo tempo em que voc olha e no
v, voc no tem pernas pra correr dela. Uma fora irresistvel que est l, linda na
dela, mas que, se pisada, pra na hora aperto se livrar ela tem o seu golpe fatal, e,
seja no silncio do bote ou na arrelia do quebra-gereba estourado, ela morde, mata e
estrangula. nesse sentido, dizemos que no a toa que a palavra mandinga
tambm est no feminino.
Desse modo, tomamos a mandinga como uma fora matrial afro-amerndia que,
na sua crepuscularidade, uma fora de religao e de remediao que protege,
fortalece en-sina, tanto na intimidade como no estranhamento do combate. Imagens
crepusculares da reversibilidade, recursividade e trajetividade entre o princpio
combativo e o princpio protetivo da Me-Capoeira guerreira e mandingueira.
Imagens da fora matrial guerreira, comunalmente irradiada pela Me-Terra,
Me-frica e Me-Capoeira, constituindo e sendo constituda pelas ligas profundas da
intimidade entre as foras matriais e o amor filial, Imagens da Me-Capoeira
remediando a intimidade entre as filosofias ancestrais e nossas filosofias da carne,
compondo e recompondo ambincias. Nessa batida, ouvimos pulsar este chamado
Me guerreira pela alma-fora-voz de um filho-capoeira:
Me Capoeira,
tu que vieste da frica
no sangue do teu filho negro
(...)
Me Capoeira,
423
CARVALHO, 2002, p. 69
238
tu que fez muitos deuses:
Ganga Zumba, Zumbi...
que por necessidade de liberdade
construiu e morreu no Quilombo.
(...)
Me Capoeira
tu que nos deu o berimbau
como teu filho mestre
para ter base no canto e na luta.
Me Capoeira
no sei se na frica
ou no Qulombo dos Palmares,
mas h aqui um povo
que se sente honrado
424
Estas imagens femininas da Me-Capoeira mandingueira nas batalhas de
resistncia, carregam consigo as imagens herica-crepusculares do quilombo e,
dentro delas, imagens femininas e andrginas da Me-Capoeira-capoeiristas numa
relao contido-continente. Assim, nas narrativas guerreiras temos a recorrncias de
imagens da fora filial herica-crepuscular de Zumbi dos Palmares e de Mestres
guerreiros, todos feitos pela Mae-Capoeira. Imagens das revoltas negras sob a
proteo e os en-sinamentos dos donos e donas da guerra. Imagens da fora matrial
quilombola da religao, da mediao, da arqueofilia e da topofilia, da pessoa-comunal
e do saber como fora vital, tudo numa comum-unidade de vida.
Predominncias crepusculares da guerra comunal com princpios,
simultaneamente, protetivos noturnos e combativos diurnos-crepusculares, na teimosia
resistente da pulsao cclica, na profundidade e intimidade, destas ligas vitais. Assim,
temos imagens quilombolas numa maneira mandingueira, matrial e comunal, de en-
sinar e fazer-saber as artes da guerra num tempo-espao circular.
Nesta circularidade matrial do tempo-espao comunal, temos imagens guerreiras
do Quilombo se estendendo desde frica, Brasil escravista, ps-abolio, e
contemporaneidade, se estendendo por ambincias rurais, urbanas, simblicas, e
tambm das nossas paisagens internas na memria ancestral. E, por falar em
memria ancestral, temos imagens guerreiras nas narrativas sobre a origem africana
do quilombo j nascendo num contexto subversivo de desvio do sistema de linhagens
matrilineares ou patrilineares comandadas pelo homem mais velho da gerao mais
antiga.
Nesse sentido, o professor Kabenguele Munanga nos oferta uma narrativa
ancestral do quilombo, localizando suas origens no grupo ambundo de nome Libolo,
cuja morada era ao sul do rio Cuanza e a organizao social girava em torno do poder
424
Trechos do poema Razes de Angola declamado por Mestre Natanael ao som do Berimbau tocando o
toque de angola pra ladainha, bem lento e profundo, abrindo a roda numa chamada Me.
239
no mais fundado nas relaes de parentesco perptuo, mas sim numa fraternidade
militar praticada por um grupo guerreiro disciplinadssimo, formado hegemonicamente
por jovens de diferentes linhagens unidos pelos ritos iniciticos. Tal exrcito levava o
nome de quilombo, palavra de origem umbundo (lngua falada pelo povo ovimbundo)
que, no sculo XIX, significava campo de iniciao. Nessa levada, chamamos
Munanga que chega para nos contar sobre a concepo
425
do quilombo:
Kabenguele Munanga: No moderno umbundo padro tem-se a palavra
ocilombo, que se refere ao fluxo de sangue de um pnis recm circundado, e
ulombo, que designa um remdio preparado com o sangue e o prepcio dos
iniciados no campo de circunciso, e que usado em alguns ritos no
especificados. A raiz lombo, que constitui a base de todas essas palavras,
identifica a palavra quilombo como sendo unicamente ovimbundo, uma vez que
contrasta com a palavra cokue e mbundu para as cerimnias de circunciso:
mukanda.
426
O professor Kabenguele nos conta que de fato o povo ambundo participao
decisiva no nascimento e amadurecimento do quilombo africano. Diz que esta
formao original foi predominantemente jovem e masculina e, sobretudo, transtnica,
pois contou com a participao de vrios povos bantos habitantes da regio que
atualmente chamamos de Angola e Zaire, dentre eles o povo ovimbundu, o povo
kongo, e principalmente, como conta as narrativas ancestrais de origem do quilombo,
o povo lunda e o povo imbangala.
O professor conta que se tratava de uma fraternidade guerreira, com uma
formao subversiva e nmade assentada nos elos iniciticos que formavam,
digamos, uma nova forma linhagem, uma linhagem multitnica em constante
movimento de afronta s formas linhageiras assentadas no territrio fixo e no
parentesco. Esta formao nos traz imagens crepusculares do componente diurno de
afronta, de conquista e explorao de novos territrios, juntamente com o componente
noturno da intimidade e profundidade do sangue religador e remediador nos elos vitais
iniciticos. Imagens crepusculares e diaspricas de uma fraternidade guerreira.
A histria do quilombo africano merecia muitas e muitas pginas de pesquisa, o
que no caberia neste despretensioso escrito, portanto, fiquemos por aqui apenas com
sensaes provocadas pela crepuscularidade das imagens guerreiras da Me-frica
ancestral quilombola.
Neste mesmo caminho, desfrutamos destas imagens de uma fraternidade
guerreira nos quilombos brasileiros tambm nas pesquisas de Clvis Moura
427
quando
425
A palavra concepo no duplo sentido do termo
426
MUNANGA.1995/96, p.60 (g.a.)
427
MOURA, 1981, 1981a
240
ele nos traz paisagens da organizao militar quilombola nas esquivas-contragolpes
s investidas do estado escravagista. Entretanto, aqui, temos imagens desta
fraternidade transtnica, porm, com a presena feminina inclusive nos espaos de
chefia; com uma composio mais intergeracional e variada entre a nomadia e o
territrio fixo. que os elos no so maestrados pelo sangue inicitico, mas sim pela
necessidade de resistncia privao de liberdade, e de religao com a dignidade e
a vitalidade das ligas familiares estendidas.
Ainda nesta trilha, percebemos um movimento de extenso do sentido de
quilombo aps a abolio da escravatura at os dias atuais. Nesse sentido, o
professor Alex Ratts nos oferece imagens desta extenso para alm da resistncia ao
sistema escravista. Assim, nesta pegada dos desdobramentos, traz imagens dos
quilombos urbanos e dos chamados remanescente de quilombos. E passa tambm a
conferir sentidos quilombolas s religaes da famlia negra estendida na manuteno
das foras vitais por meio do reconhecimento e do pertencimento a uma matriz cultural
assentada na ancestralidade. Nessa levada, Ratts faz raiar esta polissemia extensvel
na noo, digamos, de quilombo continuado como posta por Beatriz Nascimento.
Esta pesquisadora, que dedicou mais vinte anos de suas pesquisas temtica
tecendo crticas tradio historiogrfica que reduziam o tema descrio das
formas arcaicas de organizao negra no perodo escravista e a uma exclusividade
da forma como se deu em Palmares. Desse modo, a cincia branco-ocidental segue
produzindo uma invisibilizao redutora sobre a extenso polissmica dos significados
de quilombos, assim como sobre a diversidade das formas como os quilombos
compareceram em territrio brasileiro.
Sendo assim, Beatriz Nascimento, na sua esquiva-contragolpe ao exclusivismo
acadmico, oferece imagens polissmicas, multiformes e movedias do quilombo:
como instituio africana
428
, como instituio no perodo colonial e imperial no
Brasil
429
e como passagem para princpios ideolgicos.
430
nas encruzilhadas desta trade que sentimos as imagens circulares e
pulsantes do quilombo vivo como entoadas pela fora-alma-palavra da Me-Capoeira
em intimidade com a Me-Terra e com a Me-frica. E ento, Beatriz chega nesta
roda nos dizendo que quilombo tambm uma terra-me imaginada, e, ento,
chamada por Alex Ratts, a autora solta sua fora-alma-palavra neste jogo e nos en-
sina:
Beatriz Nascimento: Quilombo uma histria. Essa palavra tem uma
histria. Tambm tem uma tipologia de acordo com a regio e de acordo com a
428
Beatriz Nascimento. In: RATTS, 2007, p.117
429
Beatriz Nascimento. In: RATTS, 2007, p. 119
430
Beatriz Nascimento. In: RATTS, 2007, p. 122
241
poca, o tempo. Sua relao com o seu territrio. (...) A terra meu quilombo.
Meu espao meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando eu estou eu
sou.
431
Nesta entoada feminina negra, sentimos que a Me-Capoeira carrega o
quilombo como um campo de foras, na reversibilidade e recursividade do tempo-
espao circular em afinao com o encontro entre as foras das nossas filosofias da
carne e filosofias ancestrais. E, na circularidade daquelas encruzilhadas e deste
encontro de foras que a noo de quilombo comparece de maneira extensiva e
polissmica nas imagens literrias da alma-fora-palavra capoeira.
E, nesta mesma movimentao, a Me-Capoeira tambm vai procriando a vida
das imagens guerreiras de Zumbi dos Palmares. Imagens estas tambm assentada na
reversibilidade daquela trade e do encontro entre pessoa-comunal, Me-Terra e
ancestralidade num tempo-espao circular. nesse sentido que sentimos a Me-
Capoeira e o filho quilombola chegarem juntos Me-Terra quando ouvimos a
profundidade de uma salva entoando: Y, viva Zumbi! Neste tom, sentimos a
ressonncia da fora dos donos e donas nas maestrias de uma fraternidade guerreira.
Imagens da Me-Capoeira dona da guerra, vitalizando e sendo vitalizada pela fora
quilombola continuada de Zumbi dono da guerra.
Nesta maestria dos donos e donas da guerra, podemos ouvir a fora-alma-voz
matrial afro-amerndia da Me-Capoeira cantando Zumbi como esta fora quilombola
continuada e contnua a compor paisagens internas e externas, pervagando pelas
voltas comunais do tempo-espao circular. Nessa levada matrial, relembramos da
profundidade de uma prosa potica entoada pela fora-alma-voz feminina negra de
Beatriz Nascimento em reverencia esta fora guerreira chamada Zumbi:
Beatriz Nascimento: Para ti comandante das armas de Palmares. Filho,
irmo, pai de uma nao. O que nos destes? Uma lenda? Uma histria? Ou um
destino? rei de Angola, Jaga, ltimo guerreiro palmar. Eu te vi Zumbi. Nos
passos e nas migraes diversas dos seus descendentes. Te vi adolescente sem
cabea e sem rosto nos livros de histria. Te vejo mulher em busca do meu eu.
Te verei vagando, estrela negra. luz que ainda no rompeu. Eu te tenho no
meu corao. Na minha palma de mo. Verde como palmar. Eu te tenho na
minha esperana. Do tempo que h de vir.
432
nesta levada de Zumbi como uma fora herica-crepuscular que ainda no
rompeu, que habita nossas filosofias da carne na nossa mo e nosso corao, que
que impulsiona nossa destinao numa comum-unidade de vida pelo tempo-espao
circular. Uma fora matrial feminina-masculina que vitaliza nossos modos de nos fazer
431
Beatriz Nascimento. In: RATTS, 2007, p. 121
432
Beatriz Nascimento. In: RATTS, 2007, p.76
242
presente, em afinao com as filosofias ancestrais, nossa corporeidade e com o
tempo que h de vir.
neste mesmo sentido, de uma fora que movimenta, comunalmente, as
nossas destinaes guerreiras pela circularidade tempo-espacial, que a Me-Capoeira
tambm canta pela fora herica-crepuscular chamada Besouro Mangang ou
Besouro Preto. Podemos, ento, ouvir a pulsao desta fora quilombola continuada
tecendo ligas da fraternidade guerreira nas famlias-capoeiras. Ouvimos:
No estado da Bahia
Existia um cidado
Era muito respeitado
E todo mundo ouviu falar
No Besouro Mangang
E todo mundo ouviu falar
No Besouro Mangang
E todo mundo ouviu falar
No Besouro Mangang
433
Em Santo Amaro
Pelas bandas da Bahia
Besouro era falado
pela sua valentia
Negro valente,
era forte com touro
Usava brinco de ouro
leno preso no pescoo
Trazia seu berimbau
e uma navalha no bolso
Besouro Preto
foi falado na Bahia
Temido em Santo Amaro
pela sua valentia
Besouro , Besouro ah
Besouro Preto,
Besouro de Mangang
Besouro , Besouro ah
No mundo inteiro
No h que no ouviu falar
Besouro , Besouro ah
Besouro Preto
Quero ver tua mandinga
Besouro , Besouro, ah
Besouro Preto
Tem fora no seu cantar
Besouro , Besouro, ah
Besouro Preto
Besouro de Mangang
434
Esta entoada uma, dentre muitas e muitas cantadas pela Me-Capoeira
guerreira, reverencia ao seu filho-capoeira Besouro. Ele comparece como uma fora
433
Todo mundo ouviu falar cantiga de domnio pblico
434
Besouro Preto cantiga entoada por Mestre Mo Branca
243
quilombola continuada e contnua, a proteger, en-sinar e impulsionar a famlia-
capoeira pelas maestrias guerreiras nas batalhas de resistncia, nas esquivas-
contragolpes ao racismo patriarcal do abrao triplo entre o Estado, o mercado e a
supremacia crist. Numa maneira comunal e mandingueira de guerrear.
Nesse jogo, convidamos a voz literria em primeira pessoa de Besouro, como
desenhada por Marco Carvalho, dando imagens da fora matrial guerreira naquele
tino justo do improvvel em que figura a presena subversiva de Besouro Mangang.
Ele aceita nosso convite e nos conta no conto chamado Mangang:
Besouro: O gringo conversava com o padre na sombra das rvores do quintal de
Amlia. E no meio da conversa ele, que era um homem estudado, disse que um besouro, fosse
pelas leis da fsica ou qualquer outra raa de lei, era um bicho que tinha tudo para no voar,
muito pelo contrrio... e que, no entanto, voava gracioso e veloz. Foi a que eu me afeioei de
ser um mangang pela vez primeira. Quase endoideci de louvar e cumprir preceito nos dias
seguintes para aprender a arte daqueles bichinhos. Pois que ento era pelas asas de um
besouro que se elevava o improvvel, por cima das sobrancelhas espantadas do padre um
bichinho de nada assim desafiava a f do gringo na cincia (...) que avoava suas volutas o
inusitado, afrontando o bom senso. (...)
Pois foi distrado da vida, de ainda dar asa a esse encanto, que anos mais tarde vinha
descendo a estrada do Maracangalha pela minha mo direita. Esbarrava por onde o mato era
uns dois palmos mais alto que o cho, a modo de me esconder logo, antes de precisar virar
planta se a jagunada de [coronel] Noca de Antnia mais os morcegos do delegado Veloso
viessem mesmo pra me dar caa. De fato quiseram me surpreender na encruzilhada, e quase
que conseguiram se no tivesse eu mais surpreendido eles na montagem da tocaiao. Tanto
distrado que eu estava que nem deu tempo de proferir por inteiro a encantao que tio Alpio
me ensinou para uma ocasio dessas. (...)
Corri na direo deles gritando e na certeza que o filho de Ogum que eu era no haver
de morrer por nenhum ferro que eles tateassem nos seus embornais no. Nem figurei o tempo
que levou aquilo, s sei que a cada mais que eu corria ia ficando tanto e tanto leve e a
escapada menos improvvel. Quando assustei, j voava livre sobre os praguejamentos
espantados dos cabra ruim de Noca de Antnia. Antes que se dessem pelo que ocorreu, eu j
voava solto. Besourava. Mangang voador. Nunca me abusei desse dom. Mas escolhi o olho
esquerdo de Noca e ardi at ele inchar. Fiz isso para que soubessem que sou o esprito
daquele um que ferroa os beios dos bezerros novos que ainda no aprenderam a no focinhar
o verde de certas moitas na seca. Se assuntem. Quem mandou perseguir um protegido?
435
Nessas entoadas em verso e prosa, as narrativas guerreiras capoeiras trazem
imagem da Me-Capoeira, e suas donas e donos da guerra, protegendo, fortalecendo
435
CARVALHO, 2002, p. 53
244
e en-sinando Besouro Mangang - ou tambm conhecido como Besouro Cordo de
Ouro, ou Besouro Preto de Santo Amaro da Purificao nas artes mandingueiras de
resistir e guerrear por justia, por respeito e pela sua vida e dos seus. Nesta maneira
mandingueira do combater, em afinao com as foras ancestrais e com os segredos
da transformao e do invisvel, podemos ouvir o zum, zum, zum das batalhas
capoeiras nas esquivas e afrontas ao abrao triplo entre o Estado militarizado, a
supremacia crist e as verdades antitticas do racionalismo cientfico.
Nesta levada, ouvimos, ento, o zum, zum, zum das heranas de Besouro
ecoando nas foras mandingueiras da guerra, seja no silncio da guerrilha ou no
estouro declarado do quebra-gereba. Podemos, assim, ouvir a alma-fora-palavra
Capoeira reverenciando as foras ancestrais guerreiras de Besouro capoeira:
Chefe de polcia
O barulho est formado
Tem uma cara l na praa
Batendo nos teus soldados
Tenente saiu correndo
Capito est desmaiado
E o cara continua
batendo nos teus soldados
Seu Cabo se endireita
no me cause confuso
Como pode um homem s
bater em um batalho?
Esse cara diferente
No se pode segurar
Ele assim como a gente
Mas vem l de Mangang
Por favor traga reforos
Se puder uma guarda inteira
Ele filho do demnio
Besouro Capoeira
Zum zum zum, Besouro Mangang
Bateu na polcia, na polcia militar.
Zum zum zum, Besouro Mangang,
Bateu na polcia de soldado a gener
436
Besouro Preto
Besouro Preto, danado
Besouro Preto, malvado
Besouro Preto danado
Besouro Preto
Besouro Preto, danado
Besouro Preto, malvado
Besouro Preto danado
437
Neste zum zum zum de um quebra-gereba pblico, desfrutamos do componente
herico-crepuscular da Capoeira na figura exemplar de Mestre Besouro Mangang.
436
Besouro Mangang cantiga de domnio pblico
437
Besouro Preto danado cantiga de domnio pblico
245
Imagens da invocao deste guerreiro mandingueiro afrontando o bom senso
daquela trade branco-ocidental com seus acapangados maquinados. E, nesta afronta
temos imagens do medo e demonizao racista de tudo aquilo que: o estado no
consegue controlar, a supremacia crist no consegue encordeirar, e a cincia branco-
ocidental no consegue explicar.
E, ento num universo humanocntrico estatizado-cristo-racionalista, temos
imagens do medo patriarcal-racista que se expressa pelas investidas de
encarceramento e de extermnio do que pra eles indominvel e atemorizande.
Assim, desfrutamos de imagens do medo e frustrao branco-ocidental despeitada
pelas malfadaes dos planos aparatados, contrariados pela teimosia matrial afro-
amerndia da vida que pulsa vigorosa e resistente.
Neste movimento, convidamos para a roda a fora-alma-palavra de Muniz Sodr,
que dando voz a uma velha me-de-santo no livro Santugri: histrias de mandinga e
capoeiragem, chega para nos contar de mais um feito subversivo de Besouro
Mangang contrariando e demolindo tradies patriarcais-racistas da casa-grande, do
coronelismo escravocrata pretensamente onipontente. Podemos, ento, nos
emaranhar das imagens guerreiras:
Um narrador: Embora jamais tenha sabido exatamente de que morreu Besouro, o
administrador Cosme assistiu cilada. Foi ele mesmo quem a organizara, a pedido do doutor
Zeca, pai de Nenem, que tinha apanhado de Besouro. Histria conhecida: o capoeira tinha
mania de tomar o partido da gentinha contra a polcia. Brigava com donos de engenhos e
fazendas. Permanece acesa nas memrias a feita em que ele arrumou trabalho na usina
Colnia, cujo dono, doutor Abreu, se lhe desse na veneta, dizia a esse ou aquele empregado,
no dia do pagamento, que o salrio havia quebrado para So Caetano. Reclamar era pior: o
atrevido terminava amarrado a um tronco e surrado com cip-caboclo. Era o tipo de hbito que
dava orgulho a fazendeiro, era motivo de conversa nos sales, era o que se chamava a
tradio do doutor Abreu. Besouro terminou com ela. J na palavra Caetano, segurou o
doutor Abreu pelo cavanhaque, moeu-lhe os ossos de pancada e obrigou-o a pagar.
Como tolerar uma ousadia dessas? Besouro era mesmo um inimigo dos cristos, das
leis, da polcia, dos proprietrios, ningum poderia chorar por ele.
438
essa levada de uma presena afrontosa que, arrebentando o sentimento
senhoril de posse e mando, de onipotncia e impunidade, segue procriando foras
guerreiras de uma atitude quilombola continuada. Assim, nas procriaes desta
narrativa ancestral, ofertando imagens do contragolpe na insubordinao justa e
438
SODR, 1988a, p.20
246
explosiva diante dos ataques parasitas. Imagens que trazem aos nossos ouvidos a
fora-alma-voz capoeira cantando assim:
me d meu dinheiro
me d meu dinheiro, valento
Me d meu dinheiro, valento
Que no meu dinheiro
ningum pe a mo
me d meu dinheiro
me d meu dinheiro, valento
Que no meu dinheiro ningum pe a mo
me d meu dinheiro
me d meu dinheiro, valento
Que eu dou uma rasteira
E te ponho no cho
me d meu dinheiro
me d meu dinheiro, valento
Voc no conhece o meu esporo
Oi me d meu dinheiro
Ou eu lhe jogo no cho...
439
Nesta entoada, podemos ouvir a alma-fora-voz capoeira invocando e
reverenciando as foras guerreiras alimentadas, protegidas e encaminhadas pela
Me-Capoeira. Sendo assim, percebemos a presena herica-crepuscular de Mestre
Besouro tomando partido de sua gente contra a polcia, contra os proprietrios e
herdeiros, e contra a alegada supremacia crist. Ofertando paisagens de afronta,
desmobilizao e desmoralizao pblicas do complexo de superioridade branca-
patriarcal. Assim, desfrutamos de imagens deste filho querido de Ogum e da Me-
Capoeira que so dono e dona das artes da guerra. E ento, podemos sentir que este
filho, ao se passar para ancestralidade, torna-se ele prprio um dos donos da guerra
que a Me-Capoeira guerreira carrega consigo, em seu ventre-roda-cabaa. Desse
modo, nas afinaes capoeiras com as foras ancestrais, este heri-crepuscular segue
regendo nas batalhas de resistncia.
Imagens da fora matrial de proteo e combate, nas religaes e remediaes
de uma fraternidade guerreira, de um quilombo continuado. E, ento, a fora de
Mestre Besouro segue viva protegendo os seus e combatendo por justia, numa
maneira comunal, mandingueira e artista de guerrear. Nessa mesma levada,
convidamos o retorno de Muniz Sodr para esta roda, com a nossa vontade de mais
uma narrativa guerreira irradiada pela fora de Besouro Preto. Podemos, ento,
desfrutar:
439
Me d meu dinheiro cantiga de domnio pblico
247
Uma velha me-de-santo: De idade, s 27, mas tinha na cabea tempo de se perder a
conta. Besouro, amigo, era passado, era presente, era futuro, tinha estofo de ancestral. (...) Era
besouro sim, besouro mangang, esse bichinho que fura cerco e desaparece na hora certa.
Qundo os adversrios eram muitos e a briga favorecia o outro lado, Besouro sempre dava um
jeito, sumia. Se j vi? Sim senhor, e no vejo motivo para espanto, pois o homem era filho
querido de Ogum. (...) Tinha muito orgulha da gente negra. Polcia que no valia nada, no
passava de morcego. Ainda me lembro: um praa que bebia num bar do Largo da Santa Cruz
maltratou um mendigo. Besouro tomou-lhe a arma e o fez beber de vez meia garrafa de
cachaa. Confuso armada: o morcego contou tudo ao cabo, que reuniu dez homens com
ordem de levar vivo ou morto o ofensor. Pelo menos tentaram. Encostando-se na cruz, bem no
meio do largo, Besouro abriu os braos e disse que no se entregava. Violenta fuzilaria, ele
estendido no cho at aproximar-se o cabo, para levar uma rasteira de mestre, perder a arma e
o controle sobre a coragem do resto da tropa. Besouro saiu cantando: Vo brigar com
caranguejo/ que bicho que no tem sangue...
Como morreu, no sei, mas foi, isso sim, inimigo dos cristos, das leis, da polcia, dos
proprietrios, dos herdeiros. No era gente que chorasse por ele.
440
Esta contao, vitalizada por uma fora-alma-palavra matrial, nos d sentidos da
presena de Besouro que quando, antes mesmo de se passar
441
, era passado, era
presente, era futuro, tinha estofo de ancestral. Assim, o percebemos como uma fora
vital que faz o tempo-espao girar pelas curvas do compasso afinado entre as
filosofias da carne, as filosofias ancestrais e as filosofias da matria, acolhidas no
ventre-roda-cabaa da Me-Capoeira. Neste mote, esta entoada das arrelias
guerreiras de Besouro em prosa nos leva a passear por esta mesma levada de
imagens na poesia e desenho das Histrias de Tio Alpio e Kau
442
:
440
SODR, 1988a, p.21-23
441
falecer
442
FOLHA, 2009
248
249
250
251
252
A presena de Besouro, oferta sentidos guerreiros de todo um povo nas batalhas
comunais de resistncia afrontosa e apurada. Imagens matriais de um jogo limpo na
fora da destreza, dramatizao que no se tem pernas pra correr dela e nem atrs
dela. Imagens de uma elegncia guerreira nesta esquiva-contragolpe capoeira ao jogo
sujo aparelhado do estado militar-racista-cristo.
Nesta entoada potica-imagtica, podemos ouvir ressonncias da Me-
Capoeira-capoeirista num modo artista e mandingueiro de guerrear em intimidade com
o cho e com as foras ancestrais. Estas narrativas da Me-Capoeira guerreira,
constituindo e constituda pelo seu filho Besouro, nos levam s imagens das ligas
vitais entre Capoeira-mestre-discpulo com seu modo artista de en-sinar e saber-fazer
as artes afro-amerndias da guerra de resistncia. Imagens de uma elegncia
guerreira com coragem e sabedoria aprendida na convivncia, de corpo presente
com grandes maestrias capoeiras, de maneira mais ntima e profunda com a maestria
de Mestre Tio Alpio de Santo Amaro da Purificao.
Nessa levada da intimidade e profundidade dos elos vitais entre Capoeira-
mestre-discpulo, podemos sentir a matrialidade na fora e nos mistrios desta liga
resistente. Assim, estas narrativas guerreiras, que vem desvelando um componente
heroico-crepuscular da Me-Capoeira em Besouro, cantadas em verso e desenho, nos
levam s contaes combativas tambm em prosa. Nessa via, tomamos os en-
sinamentos ao Kau no ltimo quadrinho, como uma trilha que encaminha-nos
prpria voz de Besouro fazendo ecoar as imagens guerreiras da fora da liga de vida
entre ele e seu Mestre, como tramada por Marco Carvalho no conto Tio Alpio
443
:
Besouro: Tio Alpio me ensinou de tudo um muito. Com a calma do parteiro dos anos
que a eternidade quem engendra. Ele era um negro, daqueles que olharam bem no fundo do
olho da maldade e viram a nica forma de sair vivo de l. A Capoeira a arte do dono do corpo
e de outros tantos. (...) Mundo e gentes muitas tm mandinga, corpo tem poesia, pssaro tem
bico. Capoeira tem ax. Meu pai e meu mestre me ensinou. E isto no pouca coisa. (...)
Naquela tarde, ento, eu estava era muito aceso de novidade. Tio Alpio tinha dito no dia
antes, com sua fala mansa e firme de pai dos segredos que ele sempre era, que naquele dia
queria me ensinar uma coisa de muito importante. (...)
Tio Alpio era j velho quando conheci ele, mas parece ter sido assim desde sempre.
Andava leve, pisando macio no cho feito bicho gato. Ningum nunca percebia ele chegar. Eu
nem notava, por tanto que quisesse, de que lado tinha vindo. (...) Tio Alpio meu pai e meu
mestre que foi e que era, me fez o filho querido dos segredos, me iniciou nas artes, na
mandingada, no corao da maldade, na poesia do corpo, nas lendas dos antigos, e na
capoeira. Ele sabia bem por dentro o passado, e falava do futuro como quem com saudade.
443
CARVALHO, 2002
253
(...). O mestre reinava na cincia do ser vento quando no tinha vela, e tambm na de
ser vela quando o mundo era do vento. Mas ningum que ele assim no quisesse no via ele.
Tio Alpio me ensinou. Escapava sempre. (...)
Muitas histrias contavam sobre ele, mas ningum sabia da histria certa de tio Alpio.
De como entrou e saiu com vida da revolta dos mals, no Salvador. Ele no gostava muito de
falar disso no, mas pra mim contou uma vez. Disse que morreu muita gente naquela briga boa
dos diabos e nos dias seguintes. Contando os que foram castigados mais tarde com vergasta
no lombo e sal para ficar pior de sarar, mais os que foram presos e os que fugiram, foi para
mais de cinco mil almas envolvidas no segredo trado e na guerra. (...)
Foi s quando, [depois de muito esperar por tio Alpio] j resolvido de ir, abaixei pra
pegar o embornal e a boladeira, s bem no meio dessa hora que tio Alpio desvirou,
finalmente, planta de folha, toco, raiz e mais as areias e rolinha e me disse, suavemente, como
quase sempre, que o desistir no parte da lio do esperar. (...) Tinha aprendido a esperar.
Puxei o primeiro corrido da roda do dia seguinte. Quem sabe esperar sabe que no precisa
esperar sempre. (...)
Pude perceber o todo, o sempre e o antes da presena dele entre as folhas, as luzes e
os bichos. Ele j tinha chegado muito em antes da rolinha, do pr-do-sol, ou da sombra fresca
do tamarindeiro. Tio Alpio era, foi e ancestral. Egum baba.
444
Esta prosa potica, nos leva s imagens da profundidade e da intimidade nas
ligas de vitais Capoeira-mestre-discpulo. Do-nos imagens no humanocntrica desta
liga, imagens remediao e da religao das relaes ntimas de vida entre filosofias
da matria nos elementos da natureza, as filosofias ancestrais e as filosofias da carne,
juntas na partilha das foras vitais do conhecimento. Imagens matriais de uma maneira
mandingueira de en-sinar e fazer-saber as artes da guerra.
Nessas imagens, sentimos o saber vivo na fora dos donos, da poesia do corpo,
da metfora, do silncio, do segredo, da reversibilidade verstil das formas e matrias.
Tudo isto em afinao com o campo sensvel estendido numa comum-unidade de vida
nas relaes profundas e ntimas de uma famlia estendida que, alm de da filiao
linhageira entre mestre-discpulo, se estende ancestralidade, aos bichos, plantas,
elementos da natureza e aos conhecimentos.
Nesse sentido, a famlia estendida acolhe e alimenta e en-sina nosso campo
sensvel a estender-se. Sendo assim, temos imagens desta religao e remediao
pelos caminhos das batalhas. Imagens da sensibilidade noturna do corpo poeta na
versatilidade da transformao e do visvel-invisvel, imagens do movimento peculiar
de Ex, o dono do corpo que protege, en-sina e impulsiona a destreza das esquivas-
contragolpes pelos caminhos adversos da guerra. Imagens da sensibilidade noturna
444
CARVALHO, 2002, p. 24-30
254
do terceiro ouvido que ouve os en-sinamentos da filosofia da matria e da alma-fora-
voz ancestralidade mestra. Imagens da sensibilidade noturna do terceiro olho que
olha no fundo do olho da maldade e v a nica forma de sair vivo de l. Imagens
crepusculares das batalhas de resistncia.
Esta contao traz imagens da Me-Capoeira guerreira remediando e religando
o campo pessoal-comunal nas guerras, nas revoltas negras envolvendo milhares de
almas. E, assim, segue en-sinando sobre a esperana e os modos de saber-fazer as
esquivas-contragolpes s ciladas da predao branco-ocidental. E, por falar em saber-
fazer as esquivas-contragolpes numa maneira artista e mandingueira de guerrear em
afinao com as filosofias ancestrais, nos recordamos das narrativas guerreiras do
Mestre Besouro Mangang contadas em prosa e em primeira pessoa no conto que
nome Cilada:
445
Besouro: Vinha ouvindo o silncio pelo caminho-de-l-vai-um que cortava pelo pasto, e
que facilitava a gente chegar mais depressa na estrada, num largo antes do cruzeiro, que
ficava bem na encruzilhada, por onde todos tinham que passar no caminho de volta para Santo
Amaro. O p pisando leve no cho para nem espantar passarinho, a cabea nos peitos de
Doralice. Naquela hora, quando o sol j deitou mas ainda tem aquele restinho de luz, porque a
noite ainda no puxou a coberta, era normal de estar ouvindo alguma algazarra dos
passarinhos nos altos das rvores, ajeitando pouso, lugar de dormir, mas no. Quase tarde,
ento estranhei o silncio. Estanquei. Alguma coisa piscou rpido e azulado l para os longes
das moitas, j perto do cruzeiro. Estranhei. Podia ser vaga-lume. No, no podia, duvidei. (...)
Tinha que me zelar. Aquele brilho bem podia ser do cano de alguma arma dos homens do
coronel, ou o brilho dos olhos do coisa-ruim. Ou os dois, quem haver de saber. Tinha que me
zelar. Podia ser uns quinze ou mais espalhados pelo mato, no sei. Muita ousadia. Deitei de
mansinho, de barriga no cho, que como cobra anda pra no fazer barulho. Mas no andei,
no, que homem no cobra, apesar de uns terem at veneno. Esperei chegar a noite ali
naquele silncio sem passarinho. (...)
A noite veio sem estrelas e sem vaga-lumes, mas com rudos estranhos, de homens
apreensivos, espantando muriocas, quebrando gravetos, coraes batendo. Mais e mais
barulho se faz quando se quer fazer silncio. Sei notar. Situao difcil pra eles tambm. Quase
tive pena, mas nem no tive, que eu no era tambm passarinho. Escolhi um, depois de muito
esperar, e fui chegando com todo o cuidado para no fazer barulho, que eu no era cobra nem
gato naquela hora. Este um s me notou quando j era tarde, nem teve tempo de fazer alarde,
avisar ningum. Tirei ele de combate. Botei s pra dormir, nem tirei a arma dele. No matei
no, que nunca fui de matar ningum assim sem mais, sem preciso. Tirei foi seu surro de
couro gasto e vesti nele meu melhor palet (...). Vesti seu surro pra me proteger da noite e de
outras coisas traioeiras, e sentei quieto na frente dele. Esperar arte. Silncio de tocaia
445
CARVALHO, 2002
255
grande e pesa no ar. (...) Fica aquilo apertando o corao. Ele demorou pra acordar. Esperar
arte. Acordou dodo da pancada que levou, que eu no boto homem pra dormir com cantiga, j
se sabe. Balanou a cabea, esfregou os olhos e a, ento, deu por mim. No sei se do susto
ou da dor. Sei que gritou, deu alarme, e correu procurando um claro naquele breu. Tambm
corri, que at gato que, todos sabem tem sete vidas, corria numa hora destas. S que corri pro
outro lado, no rumo da cidade. Enquanto corria, vi passar por mim dois, trs, dez, sei l, no
fiquei pra contar. E ningum me notou quando passaram por mim atirando, gritando ordens, na
inteno que estavam daquele meu palet que vesti no peste. Ainda foi muito p pum que ouvi
enquanto tomava distncia da confuso.
Cheguei em casa antes do sol, a roupa suja de barro seco, a alma limpa como os lenis
que a av botava para quarar sobre as abobreiras.
446
Esta levada dos caminhos, das encruzilhadas das batalhas crepusculares de
resistncia, ofertam imagens da maneira mandingueira de guerrear, jogando limpo nas
esquivas-contragolpes ao jogo sujo do Estado-coronel. Neste jogo, sentimos a
centralidade das habilidades do campo sensvel que sabe do vuco-vuco da natureza
que atinge seu pico movedio no tempo do crepsculo e, ento, avisado pela
intimidade com a natureza, sente o peso do silncio de uma tocaia. E, por falar em
sentir o peso do silncio de uma tocaia, neste contexto da prosa podemos parar para
ouvir:
! Na hora do aperto, na hora que o bicho pega, que o couro come: o capoeira tem que
usar, alm do seu corpo, a sua agilidade, asua mandinga, a sua reza forte.
Era uma noite sem lua,
Era uma noite sem lua,
Era uma noite sem lua
, era uma noite sem lua
e eu tava sozinho
Fazendo do meu caminhar
o meu prprio caminho
Sentindo o aroma das rosas
e a dor dos espinhos
Era uma noite sem lua,
De repente, apesar do escuro
olha eu pude saber
Que havia algum me espreitando
sem que ter nem porqu
Era hora de luta e de morte
matar ou morrer!
Era uma noite sem lua...
A navalha passou me cortando
era quase um carinho
Meu sangue misturou-se ao p
e as pedras do caminho
Era hora de pedir o ax
446
CARVALHO, 2002, p.14, 15 e 16
256
para o meu orix
E partir para o jogo da morte,
perder ou ganhar!
Era uma noite sem lua...
Dei o bote certeiro da cobra
algum me guiou
Meia lua bem dada,
a morte!
E a luta acabou!
Era uma noite sem lua...
Eu segui pela noite sem lua
Estourando a algibeira
No fcil acabar com a sorte
de um bom capoeira!
Era uma noite sem lua...
Se voc no acredita
me espere num outro caminho
E prepara bem sua navalha
Eu no ando sozinho!
447
Nestas narrativas em verso e prosa, percebemos as astcias de uma
sensibilidade noturna nas artes de guerrear. Temos imagens crepusculares da fora
matrial de uma fraternidade guerreira que mostra o invisvel, guia os contragolpes e
no deixa que a filharada ande sozinha pelos caminhos adversos. Nesse sentido,
podemos sentir a profundidade da escuta do silncio e do movimento silencioso em
intimidade com as foras da natureza e com o cho. Imagens da sagacidade do gato e
da cobra. O gato, na destreza felina da caminhada elegante na arte de ver e no ser
visto, de notar sem ser notado. A cobra, no silncio do movimento sorrateiro e na
infalibilidade do bote certeiro, uma fora que no se v e no se tem pernas pra correr
dela, numa astcia que derruba bicho grande com abarriga no cho.
Nesse caminho, temos imagens do componente herico-crepuscular deitando de
mansinho na terra, tendo como recurso seu prprio campo sensvel em alerta e seu
corpo poeta versando a guerra. Temos a imagem do heri-noturno que se faz sensvel
e invisvel e que sabe a arte da espera, pois como bem en-sinou seu mestre pai dos
segredos: olhar no fundo do olho da maldade e escapar sempre.
Esta esquiva-contragolpe guerreira de resistir com a alma limpa, oferta
imagens da afinao entre as filosofias da carne, em sua sensibilidade estendida, e as
foras da natureza na poesia do silncio. Esta afinao nos leva s imagens do conto
chamado Magia
448
, em que temos esta afinao tambm estendida s filosofias
ancestrais dos donos e donos da guerra e dos caminhos. Podemos, ento, desfrutar
de mais algumas cenas de esquivas-contragolpes capoeiras s ciladas do Estado-
coronel com seus acapangados:
447
Noite sem lua cantiga de Capoeira entoada por Mestre Toni Vargas
448
CARVALHO, 2002
257
Besouro: (...) Um capoeira quando bom caminha maciinho dentro dela [da sombra], na
sua direo, no seu sentido, para no ser notado, e age depressa mesmo, bem depressinha,
sem dar tempo de a sombra acompanhar gesto nenhum no. Tudo isso fui aprendendo assim,
no remanso, na vivncia, no cada dia. Por isso esperei aquele tanto pela hora certa e me
escafedi. Os morcegos do delegado Veloso vieram atrs, no encalo, mas minhas pernas j
tinham ganhado o cho da estrada. Fui. (...) pensei rpido que os morcegos no iam desistir
assim to fcil e j deviam vir vindo logo atrs e ento adentrei fundo no bananal que ladeava a
estrada.
(...) Ento fui me encantando de ficar ali no meu quieto, paradinho, de p, sem falar nem
respirar (...). Porque era preciso, nem reza forte como a ocasio requisitava no podia proferir
em voz alta. S repetia das orelhas pra dentro a invocao que conhecia do dono do ardil, o
que mata um pssaro ontem com a pedra que atirou hoje. Laroi. E ele ventou nas folhas da
bananeira a rezao de fechamento que faz sempre os meus inimigos terem ps que no me
alcanam, mos que no me tocam e olhos de no me ver. E quantas sejam sempre facas e
espadas, sou filho de Ogum e todas se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se
arrebentem sem o meu corpo amarrar, e assim me vestiu com suas roupas e as suas armas
porque sou filho do senhor da guerra. E fiquei assim nessa f durante tanta, mas tanta raa de
tempo que eles, os jagunos e morcegos, entraram, vasculharam cada palmo do bananal e
saram sem nem se dar por mim. Um homem como eu tem artes.
(...) Foi ele [o coronel] que deu a ordem. Que cada homem voltasse e procurasse
bananeira por bananeira, que ele no haver mesmo de arredar o p dali enquanto no
pusesse as suas mos no meu abusamento de ter lixado a cara de seu homem-tenente. Foi a
que ele mentiu. Falou bestagem. Porque verdade que capoeira no arte de se fazer o que
ningum espera na hora que no t contando? J no disse? Ora ento. Quando procuram
homem melhor a gente ser bananeira. Isso eu j sabia. Mas quando procuram bananeira
ento melhor a gente virar homem de novo. Foi assim que foi. Eu desvirei homem de novo no
meio da jagunada e fui logo saindo do bolo sem correr nem andar depressa pela estrada afora
para no despertar suspeitamento. Noca de Antnia, se fosse um homem mesmo de palavra,
ainda havera de estar l at hoje me procurando ento. Mas nem.
449
Nesse caminho, sentimos a fora de uma fraternidade guerreira nas imagens da
caminhada comunal assentadas pelas ligas ntimas e profundas do amor filial, da
famlia extensa pelas foras ancestrais. Imagens crepusculares das batalhas de
resistncia, imagens matriais da Me-Capoeira que carrega as foras da proteo e
dos en-sinamentos ancestrais em afinao com nossas filosofias da carne no
remanso, na vivncia, no cada dia. Uma caminhada conjunta em intimidade com as
filosofias noturnas da terra, do vento, das sombras, nos mistrios da maestria
449
CARVALHO, 2002, p. 103-107
258
mandingueira da arte de guerrear, nos mistrios da astcia da ginga na malandragem
da arte de pisar maciinho, de virar e desvirar, e de furar o cerco.
Assim, em meio s foras dos en-sinamentos e protees das Mes e Pais,
donas e donos, temos imagens da fraternidade guerreira na parceria ntima e profunda
da maestria dos caminhos e da guerra. Imagens da Me-Capoeira que chama e
carrega as foras ancestrais dos donos dos caminhos, da guerra e do corpo, que vem
remediando a filharada numa jornada comunal no cada dia das batalhas de
resistncia ao jogo sujo do patriarcado branco-ocidental.
Neste quebra-gereba, a Me-Capoeira procria imagens crepusculares das foras
guerreiras de Exu. Uma fora guerreira que alimenta, protege e en-sina Imagens do
dono do movimento, das artes da ginga, da versatilidade, das filosofias da carne, do
tino justo no improvvel, das maestrias da esquiva-contragolpe numa elegncia
guerreira. Imagens capoeiras do dono do ardil. Nesta levada nos recordamos da
nossa conversa com Me Slvia quando, nos contando sobre os donos, os que reinam
na Capoeira, ns assuntamos:
Elis: Nessa coisa das douras e amarguras do mundo nas nossas
caminhadas. Ser que ser tudo o que boca come no quer dizer do prprio
mundo com seus vrios sabores? Nele, possvel uma imagem mundana das
ruas, das estradas, da vida pblica, e da, de imagens da parceria entre Ogum e
Ex regendo na Capoeira, que, como diz Mestre Pastinha, tudo o que boca
come?
Y Slvia de Oy: Ex, que tambm um elemento da natureza, um
donos, dos que reinam, dos guardies da Capoeira. Ela traz ela nos seus ps,
mos e cabea! ele quem rege o comeo e o fim! . Ele est no mundo todo, ele
est no mundo inteiro! Alis, neste universo todo! E visto de vrias formas! A
vem os Exus! Cada um com o seu nome, com a sua qualidade, que protege, sim,
os capoeiristas. E que, assim como na capoeira, voc nunca sabe o que pode vir
dessa fora, por isso temos que caminhar com justia e sabedoria. Ex est em
todos os lugares, ele cuida das estradas, dos caminhos... Ele o lado amor e
dio. Ex amor e dio! E ns tambm somos meio isso! Essa relao amor-dio,
que tambm tem na Capoeira quando a gente est jogando: Eu te amo, mas sinto
muito, vou derrubar voc. Ou: Eu no gosto de voc, mas vou brincar contigo
agora! a histria da vida! E Ex a histria da vida! Ex a vida, Ex o incio!
Ex o comeo de tudo!
450
Nessa levada, temos imagens crepusculares da fora herica-crepuscular desse
dono que reina nas maestrias das foas capoeiras. Dono da prpria trajetividade
entre predominncias consideradas opostas e inconciliveis, como a amor e o dio, a
guerra e a festa, o feminino e o masculino, o comeo e o fim, dentre outras. Nesse
sentido, podemos sentir a presena deste elemento da natureza na vida comunal das
foras ancestrais presentes na roda-ventre-tero da Me-Capoeira e, assim, nas
filosofias da carne de sua filharada. Nesta presena, temos imagens de Exu
450
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
259
movimentando as foras vitais do saber-fazer capoeira por todo nosso territrio
corporal, pelos ps, mos e cabea.
Desse modo, o carregamos em nossa corporeidade, em nossa pessoa-comunal
e somos por ele carregados nos caminhos adversos e bandoleiros da grande roda, do
mundo. Assim, este dono do ardil comparece na maestria de gerar, proteger e
movimentar as foras vitais que do as ligas da famlia extensa, da comum-unidade de
vida. Imagens das foras, simultaneamente, protetoras e combativas nas situaes
adversas das batalhas de resistncia. Imagens da fraternidade guerreira, num modo
capoeira, mandingueiro e elegante, de guerrear.
Nesse sentido, a temos as imagens de Ex - uma fora muito temida e odiada
pela pretensa supremacia crist nas narrativas capoeiras das batalhas como dono
de todos os caminhos e trajetos de todas as foras vitais, como dono da mestria
festeira-guerreira, dono do corpo, dono da maestria mandingueira da malandragem, da
ginga, dos mistrios e surpresas Assim, temos Ex como uma das foras que reinam
nas ligas vitais Capoeira-capoeirista. Como uma fora que movimenta, de maneira
circular e contnua, as vitalidades na caminhada comunal de uma fraternidade
guerreira, seja no silncio da guerrilha ou no estouro do quebra-gereba, seja na roda
de Capoeira ou nas rodas do mundo. Em que a Capoeira tudo o que a boca
come.
E, por falar nisto - em Capoeira, Ex e tudo o que a boca come - recordamo-
nos de quando assistimos ao filme Dana das Cabaas Ex no Brasil
451
. Nesta
assistida, deixamos de fora os tropeos redutores de uma classificao branco-
ocidental, como, por exemplo, a mencionada pelo socilogo Reginaldo Prandi de que
Ex um diabo que se pode domesticar, e nos embalamos ao encontro das narrativas
ancestrais contadas por uma Me-mestra de terreiro.
Desfrutamos, assim, de imagens deste Orix guerreiro vitalizadas pela fora-
alma-voz de Me Sandra, uma nga-velha que nos d sentidos de Ex em sua
vigorosidade soberana, na maestria do movimento de foras por todos os caminhos do
mundo. Mundo que tudo o que a boca come. Podemos, ento, ouvir com os olhos:
Iy Sandra Medeiros Epega: Olodumare determinou que Obatal daria filhos a todos.
Imediatamente Orunmil e sua esposa chegaram na casa de Obatal e disseram:
- Queremos um filho!
Obatal disse:
-No esto prontos.
Orunmil disse:
- E aquele que esta na porta?
Obatal disse:
- Eu no recomendo.
451
Dana das Cabaas Ex no Brasil. Direo Kiko Dinucci, 2006.
260
E disseram:
- No? Queremos! Queremos! Queremos!
Obatal disse:
- Muito bem, ponham a mo sobre aquele que est na porta, vo pra casa e faam amor.
E assim fizeram. Onze meses depois nasceu a criana. E quando a criana nasceu ela veio
cantando. Ela cantava:
- Minha me eu quero comer.
A me achou estranho, e disse:
-O que voc quer comer?
E ele disse:
- Todas as aves.
Orunmil trouxe todas as aves do mundo, e ele comeu. No dia seguinte ele acordou
cantando:
- Minha me eu quero comer.
A me perguntou:
- O que voc quer comer?
E ele disse:
-Todos os animais.
Orunmil foi, e trouxe os animais. No outro dia ele quis as razes. No outro dia ele quis as
frutas. No outro dia ele quis os peixes. Orunmil se preocupava muito, muito. Consultou o
orculo - Orunmil o Orix, If o orculo, o sistema de adivinhao - Consultou o orculo e
foi dito a ele, faa eb, faa oferenda. Ele fez uma oferenda que continha uma espada de
cristal e foi dito a ele:
- Ponha a espada de cristal na cintura.
No sexto dia a criana acordou cantando:
- Minha me eu quero comer.
A me disse:
- Mas no h mais o que comer.
E ele disse:
- Eu quero comer voc.
E a me se deixou devorar alegremente.
- No stimo dia a criana acordou cantando:
-Meu pai eu quero comer.
E o pai disse:
- Comer o que?
Ele disse:
- Comer voc.
O pai tirou do cinto a espada de cristal e cortou a criana, Ex, em 201 pedaos. Um dos
pedaos se transformou novamente em Ex e pulou para o outro Orum - ns temos nove
planos no Orum, bom, nove planos -, pulou para o outro. Pelo buraco aberto Orunmil o
seguiu. Aquele pedao que se transformou novamente em Ex foi cortado por Orunmil
novamente em 201 pedaos. Isso aconteceu nos nove Oruns. Na ultima vez que Orunmil
puxou a espada pra cortar, no havia mais pra onde fugir, e Ex disse:
- Pai, vamos negociar?
E negociaram. Ex vomitou a me, os peixes, as aves, os animais, vomitou as frutos, tudo
aquilo que ele havia comido, as razes... E voltaram ao Orum, ao plano original, Ilu Ay.
E foi dito a Ex:
- O que voc quer?
Ele disse:
-Eu quero tudo o que a boca come. Tudo aquilo que os seres humanos comerem, cada coisa
que os seres humanos comerem eu quero um pedao, eu como tudo.
E foi dito:
- Muito bem.
E foi dito:
-E voc vai cuidar do qu?
Ele disse:
- Eu vou cuidar disso, eu cuido da comida, eu levo a comida, eu levo a oferenda, seja ela qual
for, para todos os Orixs eu levo a oferenda.
Orunmila disse a ele:
- E os seus pedaos que ficaram por todos os planos do Orum?
261
Ele disse:
- Se transformaro em altares, onde os seres humanos iro me adorar.
E isso Ocut Iangy, a pedra de Iangy que nada mais que laterita, a terra fossilizada, a
primeira representao de Ex.
Ex, e todos os orixs em geral, so foras da natureza. A Ex cabe o qu? O comando de
todos os caminhos do mundo, ele chamado de Orix On, Orix Orit, o Orix dos caminhos
e o Orix das encruzilhadas. Onde dois caminhos se cruzam, ali mora Ex! Ex o principio de
tudo. Sem Ex nada se faz. Ns dizemos: Ex come, Orix come. Orix no come sem Ex.
452
Ao tragar o mundo, percebemos imagens de Ex como dono do mundo, das
foras mundanas. E, assim, imagens da intimidade profunda mundo-corpo, das
maestrias dos alimentos e caminhos em movimento entre e pelas vrias formas de
existncia e, dentro delas, as nossas filosofias da carne. E nesta gestualidade
tragativa da boca, sentimos a degustao dos vrios sabores do mundo formando as
ligas, simultaneamente, do contido-continente e das membruras entre o corpo vivido e
as outras foras na ambincia. Imagens crepusculares do trajeto penetrativo do mundo
no corpo, por uma boca que engole mas no devora, no tritura e nem digere.
Desse modo, aqui, o verbo comer diz respeito no dominante postural
digestiva do repouso, mas sim s imagens copulativas do movimento. Movimento que
de maestria de Ex, em outras palavras, Ex dono do movimento, que vai e vem
regendo a reversibilidade e a recursividade dos campos de fora de uma comum-
unidade de vida. nesta pegada, dos mistrios deste movimento de foras, que
sentimos a imagem da Me-Capoeira como tudo o que a boca come.
Nesse sentido, percebemos a Me-Capoeira carregando, em seu ventre-roda-
cabaa, esta fora ancestral do movimento. E ento, tambm temos Ex como dono
da Capoeira. Assim, nas narrativas guerreiras impulsionadas pela fora de Besouro,
desfrutamos de muitas imagens, simultaneamente, guerreiras e remediadoras, desta
fora Ex que protege, fortalece e excita, en-caminhando a pessoa-comunal pelos
alimentos e caminhos nas batalhas. Imagens desta fora das ruas, das encruzilhadas,
da vida pblica, e, fundamentalmente, da luta. Nessa via, por falar nestes fundamentos
da luta, chamamos pela escrita de Muniz Sodr que nos conta:
Muniz Sodr: Nas relaes dos homens com os orixs, destes entre si, dos
animais com os homens, do princpio masculino com o feminino, h sempre a
dimenso de luta (ij, em nag). Na verdade, as coisas s existem atravs da luta
que se pode travar com elas (Exu, orix responsvel pela dinamicidade das
coisas, tambm chamado de Pai da Luta). Ne a violncia ou a fora das
armas que entram em jogo aqui (a guerra um aspecto pequeno e episdico da
luta), mas as artimanhas, a astcia, a coragem, o poder de realizao (ax)
implicados.
A luta o movimento agonstico, o duelo, suscitado por uma provocao
ou um desafio. (...) A luta o que pe fim imobilidade: todos (orixs, humanos,
452
Y Sandra Medeiros Epega .Trecho transcrito do filme Dana das Cabaas Ex no Brasil
262
ancestrais, animais, minerais) so obrigados a responder imediatamente,
concretamente, ritualisticamente, s provocaes, aos desafios, e assim darem
continuidade existncia.
453
Nesta levada, da luta em movimento, que percebemos imagens profundas nos
mistrios da intimidade entre Ex e seu protegido Besouro, juntos, respondendo
imediatamente, concretamente, ritualisticamente s provocaes. Em meio aos en-
sinamentos de uma destinao guerreira, Besouro alimentado por esta fora
ancestral que maestra as artimanhas, a astcia, a coragem, o poder de realizao
(ax) implicados. E, assim, dando continuidade existncia nas voltas que o mundo
d, na reversibilidade e recursividade das foras no tempo-espao circular.
Neste compasso com as foras dinamizadoras de Exu, podemos nos emaranhar
com a versao de uma literatura de cordel ofertando imagens desta dinamicidade nos
modos de en-sinar e fazer-saber as artes guerreiras da Me-Capoeira. Podemos,
ento, convidar o capoeirista cordelista Lobisomem, para desfrutamos com ele das
Histrias e bravuras de Besouro, o valente capoeira. E ele aceita nosso convite
versando:
Vou falar de um personagem
Da histria da capoeira
Muitos ainda duvidam
Se a histria verdadeira
Desse homem batizado
Manuel Henrique Pereira
(...)
Nas rodas de capoeira
O seu nome muito cantado
Fora das rodas tambm
Ele sempre lembrado
Como um grande capoeira
Que tinha o corpo fechado
(...)
No tempo em que Besouro
Era apenas um menino
Um dia houve o encontro
Traado pelo destino
Do velho africano Alpio
E aquele rapaz franzino
(...)
Tio Alpio era um negro
De muita sabedoria
Que ensinou para Besouro
Bastante do que sabia
E tudo o que ele ensinava
Besouro sempre aprendia
Aprendia os segredos
Da velha capoeiragem
Os mistrios desta arte
A malcia, a malandragem
453
SODR, 1988, p. 143-144
263
As mandingas, artimanhas
A destreza e a coragem
Dentro dos canaviais
No meio das plantaes
Besouro ouvia atento
A todas essas lies
Do jogo da capoeira
Das facas e oraes
454
Nesta levada cordelista, podemos sentir a fora das ligas vitais mestre-discpulo
em meio s foras da destinao guerreira, dos mistrios e segredos da Me-
Capoeira. Mistrios que carregam a fora da mestria da luta, nas astcias da malcia,
da malandragem, das mandingas e artimanhas. Na levada crepuscular do faco e da
orao, da destreza e da coragem. Estas imagens do componente heroico-
crepuscular, nos mistrios e movimentos de luta, nos do dimenses daquela
intimidade matrial-filial entre Ex e Besouro, como recorrentemente encontramos nas
narrativas capoeiras em verso e prosa.
Esta intimidade profunda nos levou a estranhar aquela cena do filme Besouro,
em que o personagem principal est na feira e entra em confronto com Ex como se
no o conhecesse. Isso no bastasse, nos assombramos com o comeo e o desfecho
desta cena. Ela comea com o personagem Chico chutando uma oferenda de Exu o
que um tanto suspeito, pois at mesmo no livro em que o filme foi inspirado, conta-
se que Chico, injuriado da vida, apenas resolve entrar sem pedir licena ao dono da
rua. E nos indignamos com o desfecho da cena em que Exu exige reverncia dando a
entend-la como uma forma obrigar uma atitude de submisso por parte de Besouro.
E, pra piorar temos a fala do personagem Besouro dizendo que o Mestre tio
Alipio era um homem de bem e, portanto, no poderia ter relaes com Ex. E, como
se no fosse o bastante, temos um despropsito na fala do personagem Ex,
reprimindo o sentimento de orgulho e vaidade e, ento, culpabilizando Besouro pela
morte do seu prprio Mestre, E, por fim, pra fechar com chave de marmota, quando
Besouro d por si, est sozinho, cercado pelos acampagados do Estado-coronel. na
esquiva a estes modos branco-ocidentais-cristos de tratar dos conhecimentos afro-
amerndios, como topamos nas produes do mercado cultural, que trazemos
imagens da cena da feira como contada no livro inspirador do filme:
Besouro: Dia de feira dia de cheiros e encantamentos. (...) Havia nestes dias que se
pedir licena em antes de montar as barracas (...). Foi justamente isso que Chico Feio no fez
naquele dia, vexado que estava com o peso dos peixes em seu balaio. Fio o seu erro.
454
LOBISOMEM, 2006, p.03, 05 e 06
264
O homem magrssimo baixou j no fim da feira. (...) E j chegou criando caso (...). At
que se enganchou em Chico Feio, o da barraca do peixe. Arengou com o barraqueiro o justo e
o injusto, tanto se lhe dava, s no tento de caar o ponto fraco de Chico. Nem tanto pelo
estranho, que vi logo que sabia se defender, mas pelo meu compadre, resolvi me meter. (...)
Tinha que defender ele, sim senhor, porque j se adonava dele uma indignao justa mas
perigosa, a de responder os provocamentos do estranho. Enfrentar aquele um assim sem
magia era pura imprudncia. Compadre Chico precisava de ajuda. E era minha obrigao.
Precisava parar ele de qualquer jeito que fosse.
Duas porradas bem dadas. S isso. Foi o que bastou pra eu botar por terra qualquer
imprudncia de Chico Feio. (...) Mas no foi coisa feia pra machucar no. Foi uma porrada de
amansar s. Quase um carinho. (...) Gente minha eu protejo nem que seja em baixo de
porrada. Com aquele um do gorro de bico ningum devia se meter no. Fiz isto tambm porque
j tinha notado com o outro olho que o delegado e seus acapangados j vinham bem vindo (...)
j na inteno de Chico e do homem vestido de preto e vermelho (...). Comprei logo o jogo com
o perna comprida e ele me olhou no olho. (...) Agora o assuntamento era com o senhor de
todos os caminhos, o travesti do tempo, o enganador. O que comanda o passado com as artes
que ainda vai aprontar.
Meu Ogum s vezes vem s pelo arame esticado na verga onde se amarra a cabaa pra
encantar mandinga forte. De modo que bastou o berimbau de Quincas tocar (...) me
esparramei nas artes. Mas tudo no respeito, sem relar mo nem p no estranho. A capoeira
dele tambm era grande. Coisa poderosa arte de meu Deus. (...) Tudo isso era a capoeira
mais encantante que jamais joguei em qualquer tarde da vida. Mas atentei no delegado s o
instante de no perder o olho no p esquerdo do enganador. Foi o que bastou. Distra. Meu
olho errou o p do estranho umas duas vezes e ficou rindo com seus dentes dourados todas as
outras maldades que poderia fazer antes de terminar a briga. No me fez porque simpatizou
com minha ousadia, ou reconheceu o Ogum que me protege. Quem vai saber.
S sei que foi bem nessa hora que o delegado Veloso surgiu de repente. O home da
argola no nariz se esmerava e esmerava nas suas artimanhas. Ningum pode querer dar o
bote sem pagar jus cobra. E eu j arrastava a barriga no cho naquela hora. Foi assim que o
olho do encantado combinou tudo com meu umbigo. Ele abriu, ento, espao pra o delegado
ficar no meio da roda. (...) Como j tinha alinhavado tudo mais com o homem de vermelho e
preto, foi s costurar e cumprir. Puxamos, quase juntos, perna por perna do delegado. Cada
um puxou uma. Depois foi que avoei besouro no meio dos olhos da capangada. O homem da
argola no nariz ria de novo seu riso fino e debochado. (...) Acho que foi s de prazer que
resolveu acabar de exemplar os homens do delegado Veloso surrando todos em meio a uma
prodigiosa multiplicao de mos e de ps. (...) Depois amarrou, no sei como, todos eles com
os arreiamentos e rdeas da barraca dos couros. Ento sumiu numa nuvem de fumaa (...).
455
455
CARVALHO,2002, p.69-75
265
Nesta prosa potica, podemos desfrutar de imagens da fora matrial protetora-
combativa de Besouro quando ele dia: Gente minha eu protejo, nem que seja em
baixo de porrada. E, nesta mesma levada crepuscular do cuidado e da luta,
percebemos da intimidade profunda entre Ex e Besouro, numa ligao umbilical no
ventre-cabaa da Me-Capoeira. E, nesta liga vital, umbilical, temos imagens da
parceria ntima no encantamento de um jogo mandingado, em que ouvimos a voz-
capoeira cantar:
P de galinha no mata pinto
Olha o jogo do mestre com o minino
456
Nesta maestria do jogo maliciado e respeitoso, a parceria ntima em famlia se
lana, numa elegncia guerreira-festeira, ao desafio com o adversrio. Assim, nesse
clima brincante do combate maliciado na vida pblica, temos imagens da fraternidade
guerreira astuciada nas malandragens da batalha artimanhada. Imagens desta
artimanhao malandra no embate, partilhada na profundidade dos mistrios da
intimidade nesta comunicao umbilical, movimentada na extenso dos sentidos, na
poesia do silncio, na harmonia do compasso entre as filosofias ancestrais e as
filosofias da carne. E assim, juntos, so excitados a responderem, imediatamente,
concretamente, ritualisticamente, s provocaes, aos desafios, e assim darem
continuidade existncia. Numa maneira comunal, artista e mandingueira de lutar na
guerra.
E, por falar nesta crepuscularidade da luta na guerra, percebemos que as
narrativas ancestrais das foras de Besouro Preto, trazem imagens tambm desta
fraternidade guerreira entre Exu, dono da luta, e Ogum dono da guerra, ambos donos
dos caminhos e que comparecem protegendo, en-sinando e fortalecendo o minino
nas esquivas-contragolpes da arte de desafiar os ataques predatrios do patriarcado
branco-ocidental. Assim, temos sempre o retorno da fora matrial protetora-combativa
na presena paterna de Ogum em meio aos estouros do quebra-gereba. Imagens
crepusculares do amor matrial-filial entre pai e filho no ventre-cabaa da Me-
Capoeira.
Nesse ventre-cabaa, temos presente a fora desta liga pai-e-filho que responde
s provocaes numinosas do berimbau. Imagens da invocao e presena do pai,
afloradas pelo arame esticado na verga onde se amarra a cabaa pra encantar
mandinga forte. Assim, estas provocaes inauguram a luta e a afinao entre as
filosofias da matria, as filosofias ancestrais e as filosofias da carne. Nesse sentido,
lembramo-nos da nossa conversa com Folha quando ele nos diz:
456
Verso da cantiga P de galinha no mata pinto de domnio pblico
266
Alab Marcio Folha: O berimbau o que anima o jogo da Capoeira, essa
brincadeira que , nos nossos momentos, entre a gente, um momento de festa, de
diverso. Mas que tambm de preparao pra se defender, se preparar pra
guerra. Se preparar pra luta e se prepara pra enfrentar qualquer dificuldade, no
somente a luta fsica. s vezes, num momento de fome, o fato da gente estar
unido, a famlia unida, tocando seu Berimbau, cantando junto, ajuda a segurar a
onda. Por que o corpo est sentindo necessidade, mas essa unio em torno desse
instrumento, que tem uma voz ancestral, fortalecia e continua fortalecendo.
457
nessa entoada, de resposta imediata, concreta e ritualstica s provocaes
numinosas do berimbau pelo tempo-espao circular, que a Me-Capoeira segue
procriando imagens da intimidade e profundidade de uma famlia estendida em plena
fraternidade guerreira-festeira. Assim, temos imagens do fortalecimento das ligas vitais
da famlia-capoeira, entre mestre-discpulo, entre pai-filho, Besouro e Ogum, donos da
guerra, juntos numa caminhada comunal pelas maestrias capoeiras. Aqui,
reverenciamos o filho Besouro e o pai Ogum, orix que dono exemplar da Capoeira.
E, ento nos encaminhamos s Histrias de Tio Alpio e Kau, quando, em meio
s filosofias da matria no trabalho conjunto mestre-discpulo da arte de se en-sinar e
fazer-saber um berimbau, Tio Alpio nos conta:
457
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha, realizada na sede do Grupo Guerreiros
de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
267
268
269
270
271
Nessa levada crepuscular da vigorosidade matrial capoeira, temos a fora-alma-
palavra do Mestre vitalizando a narrativa mtica pelas curvas dos elos vitais Mestre-
discpulo e tecida em meio ao trabalho co-laborativo de criao de um berimbau.
Imagens da reversibilidade e recursividade da luta entre as foras da matria e as
foras da corporeidade, no ritmo circular e pulsante da criao. Nesse sentido, nos
encaminhamos s concepes gestadas da Me-frica e da Me-Terra, em que a
multiplicidade das funes artesanais correspondia multiplicidade das relaes que
o humano pode ter com o universo.
458
Nesse compasso rtmico no movimento
relacional temos, esta narrativa mtica de matriz africana sobre a criao da forja do
ferro nas destinaes guerreiras de Ogum, nos embala flertar com a palavra de um
filho da Me-frica sobre o sentido de ser ferreiro na frica tradicional:
Hampat B: Uma por uma, todas as foras de vida ativas ou passivas
que agem no universo esto simbolizadas em cada ferramenta ou instrumento da
ferraria. (...) Portanto, em sua oficina-santurio o ferreiro africano tradicional tem
conscincia de no s efetuar um trabalho ou fazer um objeto, mas de reproduzir,
de forma analgica e oculta, o ato criador inicial, e participar assim do prprio
mistrio da vida.
459
Assim como a atividade do ferreiro, as outras atividades artesanais tambm so
atos sagrados, caminhos de iniciao, sendo, cada uma delas, o veculo de um
conjunto de conhecimentos secretos, transmitidos pacientemente de gerao a
gerao
460
Por exemplo, assim como a arte do ferreiro est relacionada ao elemento
terra e fogo e s transformaes da matria no compasso sagrado da criao, est
ligada: a arte do tecelo ao mistrio do ritmo, dos nmeros e da cosmogonia; a arte
da madeira ao conhecimento sobre os segredos das guas, ervas e vegetais; a arte
da palavra aos mistrios da ligao matria-esprito e visvel-invisvel.
461
nesta comum-unidade de vida artista num campo de foras vitais, que temos
imagens crepusculares de Ogum, que , ao mesmo tempo, uma fora de guerreira e
uma fora de amor paternal, uma fora de criador e de mestre. Nas maestrias de en-
sinar e fazer-saber as artes da metalurgia, da agricultura, das transformaes, dos
caminhos, e as artes do faco, da espada, das armas e escudos de guerra.
Este banquete de imagens em Histrias de Tio Alpio e Kau oferta ingredientes
de um componente herico-crepuscular em afinao noturna com a ancestralidade e
com a Me-Terra e tambm em movimentos diurnos de conquista e descoberta.
Imagens crepusculares de uma narrativa que comeam com uma sensibilidade
458
HAMPAT B, 1977, p.18
459
HAMPAT B, 1977, p.12
460
HAMPAT B, 1977, p.12
461
HAMPAT B, 1977, p.14
272
noturna do guerreiro que se curva em intimidade com a Me-Terra e os en-sinamentos
ancestrais, e terminam com a expresso diurna do guerreiro audaz e resoluto abrindo
caminhos, destemidamente, com sua espada em riste. Percebemos este trajeto no
num movimento linear e ascensional, mas sim como imagens de um trajeto cclico
pelas curvas da recursividade e da reversibilidade. E, nessa conversa, lembramo-nos
de quando Folha nos conta:
Alab Mrcio Folha: Ogum o patrono da Capoeira. o smbolo maior do
Orix guerreiro, do Orix da guerra. E que foi e cultuado no Brasil principalmente
por esse lado guerreiro, mas os outros lados que ele tem: o de agricultor, de
caador... so pouco falados. Essas outras qualidades de Ogum so pouco
faladas porque no Brasil ele, necessariamente, teve que ser cultuado como
guerreiro, pra proteger os filhos nos momento de guerra. Em pocas de guerra, de
escravido, de sofrimento. E a mesma coisa aconteceu com a Orix Yans.
462
Nesse caminho, nas narrativas guerreiras da Capoeira, como nas incontveis
histrias de Besouro temos recorrentemente as foras combativa-protetoras da
presena paterna de Ogum e da presena matrial de Yans com a qual flertaremos
mais adiante. Neste momento, nos dedicamos a perceber o retorno da presena
crepuscular de Ogum como orix guerreiro dono da Capoeira, comandando a abertura
dos caminhos e a preciso dos movimentos. Uma presena que, emanando as foras
da coragem, da determinao e da disposio pra responder aos desafios, faz da
necessidade de esquiva-contragolpe uma construo comunal das artes de uma
destinao guerreira.
Nesse sentido, temos o orix Ogum como dono da maestria das artes da guerra,
protegendo e fortalecendo a filharada na obrigao das batalhas comunais de
resistncia. Nesta conversa, vem aos nossos ouvidos a fora-alma-voz capoeira que
vem cantando assim:
...Estendeu a mo, e no cumprimento
Um p no peito logo levou
, mas subiu do cho que nem corisco
Pra confirmar o que havia dito
Capoeira neste dia,
lutou tudo o que sabia
mas se no lutasse perdia
O amor do peito de Maria
Moa do seu corao
Jogou no ar e no cho
Fez diabruras do co
rezando uma orao
Ele homem de corpo fechado
, mas no teme ferro da matar
Ogum seu padrinho
guerreiro no cu e guarda na lua
462
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha, realizada na sede do Grupo Guerreiros
de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
273
E na terra seu peito de ao
E faca de ponta no fura
Y, viva meu Deus...
463
Nessa levada temos as imagens da Me-Capoeira amante na resposta aos
desafios postos pelo amor de uma mulher. Podemos, aqui, estender este amor, para
alm do amor convencional homem-mulher, s paixes da luta pela resistncia da
partilha amorosa com a Me-frica e a Me-Terra. Nesta entoada agonstica, assim
como nas narrativas sobre Besouro, podemos sentir a vitalidade de um heri-
crepuscular nas filosofias lunares do guardio e nas filosofias solares destemidas.
Imagens fora combativa-protetora de Ogum que fecha o corpo nas esquivas aos
golpes de bala e de faca e que abre caminhos aos movimentos no ar e no cho.
E, por falar nestas imagens guerreiras da proteo e do combate pelos caminhos
deste mundo que tudo o que boca come, podemos at ouvir Me Silvia dizendo:
Y Silvia de Oy: Ogum o orix que mais reina na Capoeira. Ogum o
orix que protege as pernas! E o que que o capoeira mais usa? As penas! Ogum
o orix que protege e d fora pra gente estar na guerra neste mundo que
amargo e doce! Coisa que voc come e que amarra na boca, mas voc
obrigada a engolir! Tem uma comida de Ogum que o inhame com dend. Voc
j comeu? Mas tem que engolir! Mas tem que engolir! Ela d fora! Tem que
engolir! Mas o inhame na torta, na comida temperada, fica uma delcia de comer!
So todos de Ogum!
464
E nestas douras e amarguras dos caminhos e das destinaes, temos imagens
de Ogum e Besouro como foras que guerreiam e que tambm acolhem, alimentam e
en-sinam. Imagens da maestria de Ogum que descobre, cria e en-sina seu povo a
desfrutar da metalurgia. E de Besouro nas imagens do amor filial e da sensibilidade
aprendiz como discpulo do Mestre Alpio. Alm das imagens do Besouro combatente
e do Besouro discpulo, temos tambm imagens de Besouro como Mestre que en-sina.
Nessa entoada, podemos, com nossa imaginao, at ouv-lo cantar:
Sou discpulo que aprende
Sou mestre que d lio
Na roda de Capoeira
Nunca dei meu golpe em vo
Camaradinha...
Y, a Capoeira
Y, a Capoeira camar
Y mandingueira...
463
Trecho da cantiga Capoeira jurou bandeira entoada por Mestre Suassuna
464
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
274
Nessa levada, sentimos a profundidade da liga mestre-discpulo na intimidade de
compor um mesmo corpo, um mesmo gesto, um mesmo modo de en-sinar e fazer-
saber as artes da capoeiragem. Naquela maneira circular das partilhas iniciticas
assentadas na afinao entre as filosofias da carne, as filosofias ancestrais e as
filosofias da matria, numa comum-unidade de foras vitais. Estas relaes umbilicais
mestre-discpulo se espalham nas relaes capoeiras consigo mesmo, com o Mestre
ou Mestra, com a linhagem e com as donas e donos. Importa dizer que tomamos
tambm os ancestrais das linhagens como donos e donas da Capoeira. Assim, nesta
comum-unidade de foras vitais, temos imagens de uma partilha inicitica com seu
modo mandingueiro e artista de en-sinar e fazer-saber as artes da luta e da guerra.
Nesse sentido, sentimos a Me-Capoeira carregando e alimentando em seu
ventre-cabaa esta comum-unidade que responde ao ritmo e ao sabor da Me.
Assim, nas narrativas guerreiras, reverenciamos a presena do Mestre Besouro e de
seu discpulo Mestre Cobrinha Verde. Mestres ancestrais da nossa linhagem de
Capoeira que so protagonistas de muitas histrias nas batalhas de resistncia.
E eis que chega o prprio Mestre Cobrinha para nos contar:
Mestre Cobrinha Verde: Besouro, meu mestre, comeou a me ensinar a
capoeira quando eu ainda tinha 4 anos de idade. O pai de Besouro chamava-se
Joo, apelidado de Joo Grosso, a me Maria Haifa. Maria Haifa era minha tia.
Besouro era meu primo carnal e meu irmo de criao.
Naquela poca, Besouro ensinava capoeira aos alunos escondido da
polcia, porque a polcia perseguia muito. No dia que estava aperriado quando a
polcia vinha pr acabar, ele se revoltava, andava os alunos fugirem e dava testa
polcia sozinho.
Eu ento me criei naquele meio.
465
Meu apelido, Cobrinha Verde, quem botou foi o prprio Besouro, meu
mestre. Porque eu era muito veloz. Eu era to ligeiro que um dia ele me botou no
quadro pr jogar facas em mim, pr ver se eu sabia me defender. Eu peguei as
facas 2 vezes.
Quando Besouro ensinava seus discpulos e via que o aluno estava
preparado, ele fazia esta experincia: se fechava numa sala com o discpulo,
metia a mo num punhal e dava outro ao discpulo e dizia: vamos trocar facas com
uma toalha amarrada na cintura dos dois, pr no fugir um do outro.
466
Neste proseado, Mestre Cobrinha Verde oferta imagens protetoras-combativas
de Besouro. Temos imagens da intimidade familiar, da sensibilidade da relao de
maestria com as crianas. Imagens da intimidade no en-sinamento em segredo que
nos levam imagem matrial da famlia-capoeira nas profundidades do ventre-cabaa
da Me-Capoeira. E, nesta mesma narrativa, temos imagens do estranhamento na
exploso pblica do quebra-gereba. Uma na proteo combativa expressa quando
mandava os alunos fugirem e dava testa polcia sozinho. Estas imagens, da tenso
465
Mestre Cobrinha Verde. In: SANTOS, 1991, p. 12-13
466
Mestre Cobrinha Verde. In: SANTOS, 1991, p.16
275
e da intimidade nos modos secretos fazer-saber e en-sinar, em prosa nos levam a
escutar, em verso, cenas de tempos de perseguies, prises e assassinatos de
Mestres e capoeiras. Escutamos:
Aqueles homens praticavam
Capoeira em silncio
Homens de grande envergadura
Conhecedor de fundamentos
Mas por ali nunca se viu
Filho ou neto de escravo acadmico
No existia academia,
O lugar onde se aprendia
Era escondido nos fundos dos quintais
Mestre tomava a lio
Com o tempo...
Com tempo pro discpulo dizia:
Voc j pode fazer um berimbau!
Veja como vai fazer
Porque nem todo mundo pode ver
Se um samango te pegar
Eu no sei o que vai ser de voc
Veja seu jeito de andar
Que pra ningum desconfiar
Filho de cativo
m defamado pra danar
Tenho f no Senhor do Bonfim
Que um dia isso vai mudar
E todo mundo vai poder livremente;
Nossa Capoeira jogar
Camarada...
467
nesta levada da intimidade dos fundos dos quintais e dos en-sinamentos das
esquivas-contragolpes aos samangos na sada aos caminhos da vida pblica. , neste
caminho da necessidade de esquiva que tramamos o cuidado no jeito de andar. E
nesta mesma trilha que tramamos o contragolpe na atitude de dar testa polcia.
Imagens do princpio feminino da ginga, da mandinga, da malandragem e da luta.
Temos imagens da partilha inicitica tambm na identificao do tempo pra fazer
um berimbau. Berimbau que comparece nas narrativas guerreiras como arma, tanto no
sentido do poder de invocao das foras ancestrais da guerra, como no sentido
mesmo da lana e da espada. Assim, temos imagens do segredo e da intimidade nas
relao berimbau-capoeirista em meio s necessidades impostas pelos desafios na
destinao guerreira.
Nesta pegada das necessidades na destinao guerreira, podemos perceber as
imagens dos modos de fazer-saber e en-sinar s artes de guerrear assentada na
coragem e na fora comprometidas com a continuidade da existncia, e ento, sem
ter como fugir ou se negar ao desfio. Assim, como nos conta Mestre Cobrinha Verde
467
Noutra era cantiga entoada por Mestre Gato Ges
276
quando seu Mestre Besouro dizia: vamos trocar facas com uma toalha amarrada na
cintura dos dois, pr no fugir um do outro, temos imagens desta necessidade
guerreira nos modos capoeiras de fazer-saber e en-sinar.
Nesse caminho das destinaes guerreiras, Mestre Cobrinha retorna pra soltar
sua alma-fora-palavra nos contando de seus modos fazer-saber, en-sinados por
Besouro, as artes da guerra de resistncia. Assim, conta-nos da sua prpria
caminhada:
Mestre Cobrinha Verde: O meu mestre verdadeiro era Besouro mas eu
aprendi com muitos mestres l em Santo Amaro. Vou dar o nome de um por um:
Mait (que gozou at de um samba com o nome dele), Licur, Joit, Dend,
Gasolina, Siri de Mangue, Doze Homens, Esperidio, Juvncio Grosso, Espinho
Remoso, Neco Canrio Pardo. Alis, Neco Canrio Pardo foi meu mestre de jogar
faco. O meu mestre de jogar navalha no cordo, nas mos e nos ps foi Tonha,
apelidada de Tonha Rolo do Mar. uma mulher. Ainda viva e anda de faco na
mo. Mora em Feira de Santana, no Tomba.
Fui crescendo... quando chegaram os meus dezessete anos, dei pr dar
testa polcia. Chegou ao ponto, de com dezessete anos ter tido uma briga muito
feia com ela. Eu era muito odiado pela polcia porque no me entregava.
Existia em Santo Amaro um delegado chamado Veloso. O velho Veloso. Era
av de Caetano Veloso e Maria Betnia. S andava com dois ordenanas. Um de
um lado, e um outro do outro. Usava uma bota perneira e andava com redengue.
Qualquer coisa, ele como delegado, batia em qualquer um no meio da rua. Ele
no me conhecia, mas andava me procurando.
Um dia eu vinha de um samba em Catol. Quando chego embaixo de uma
amendoeira, na margem do rio, passo por ele, o coronel Veloso. No sei se foi
Barauna ou Tamborete, ordenanas dele, quem me apontou. A ele deu psiu.
rapaz, venha c! E a eu guentei. voc que o Cobrinha Verde, o valento
daqui, que anda dando na polcia?
- Eu no sou valento no: nunca matei, nunca desonrei, no posso ser
valento. A ele disse: se prepare pr apanhar. A ele meteu a mo no redengue.
Quando arrancou o redengue, meti a mo no dezoito polegadas (o faco que eu
andava aqui por dentro) e dei um panao de faco nele. Ele aterrissou, os dois
odenanas entraram... Eu escureci os dois. Correram. Dei no delegado da panao
de faco que deixei ele mole, mas sem nenhum arranho.
468
Assim, temos imagens da Me-Capoeira secretando e desvelando
conhecimentos num modo mandingueiro de en-sinar e fazer-saber as artes da luta e
da guerra. Tomamos a mandinga como uma fora matrial, multiforme e multimaterial,
que pode estar na fala ou na sola de um p, alimentando as artes da esquiva-
contragolpe na necessidade de uma destinao guerreira em no se entregar ao
inimigo. Nesta afronta, temos imagens da astcia malandra de responder ao jogo sujo
com as artimanhas de um jogo limpo, sem se destruir e sem destruir o inimigo. Numa
elegncia guerreira.
Nessa levada, temos imagens guerreiras de besouros e cobras verdes que,
contrariando o racionalismo cientfico-cristo, ambos teimam em surpreender pelo vo
imprevisto, inexplicvel, irreprimvel. E, assim, percebemos esta arte do tino justo no
468
Mestre Cobrinha Verde. In: SANTOS, 1991, p. 12-13
277
improvvel habitando as filosofias da carne e as filosofias ancestrais em afinao com
filosofias materiais da terra e do vento, do ar e do cho.
E, por falar neste princpio feminino da mandinga, reverenciamos a presena da
Mestra Tonha Rolo do Mar que oferta imagens da herona-crepuscular dona da
mestria feminina na destreza de jogar navalha no cordo, nas mos e nos ps.
Imagens desta maestria na destreza e dramatizao de um golpe sorrateiro e certeiro,
que, assim como a astcia feminina da cobra, o inimigo olha e no v, e no tem
pernas pra correr dele. Nesse sentido, nas narrativas guerreiras da Capoeira temos
ressonncias de imagens das foras femininas da guerra, tanto no confronto externo
com o patriarcado branco-ocidental, como no confronto interno com a tradio
machocntrica na Capoeira.
Nessa pegada feminina, nos recordamos da nossa conversa com a artista e
feminista negra Me Slvia de Oy, quando, em meio ao fuzu das mulheres com as
crianas se movimentando no barraco, eu assuntei:
Elis: Buscando desfocar um pouco da viso masculina das coisas, seja a da
academia na viso do patriarca branco, ou mesmo na Capoeira da viso
masculina negra. Estamos aqui buscando outras maneiras de tramar um estudo,
buscando sentidos femininos afro-amerndios pra flertar com o tema da educao
e com imagens da Capoeira. Num sentido que pretende ir se distanciado daquele
do patriarca, e vir se aproximando dos sentidos da me-preta e da me-ndia. E
nesse caminho, parece que a Capoeira a prpria me, e parece que a famlia de
capoeiristas pertecem me Capoeira. nessa coisa de pertencimento, que a
gente se lembra das donas e donos numa relao, no de propriedade como a
dos brancos, mas de maestria sobre as coisas. Ento, ser que a gente pode dizer
que a Capoeira uma maestria feminina?
Y Slvia de Oy: Sim! E essa maestia feminina da Capoeira a prpria
astcia feminina da ginga, da malandragem de virar pra um lado e acertar no
outro, do movimento constante. E por isso que eles chamam a mulher em si,
eles chamam a gente de falsa. Tem aquele dito: no mexa com a mulher porque
ela falsa! Isso uma coisa nossa que assusta e encanta os homens! E quem
ensinou o ndio a ter essa astcia? Assim como o negro? So as mulheres! E tem
mais! Quando os homens ndios e negros iam pra guerra, ficavam as mulheres e
as crianas. Cabia mulher, enquanto o pai est l na luta, ensinar o filho a lutar e
a caar. A mulher ia caar, lutava pra proteger sua aldeia e faziam as festas para
trazerem seus homens inteiros de volta. E a mulher ndia, negra, africana, cabocla,
pela nossa habilidade do sexto sentido, pela habilidade da autodefesa, pela
habilidade de recuperao. Pela necessidade que a gente tem que jogar o corpo
pra l e pra c, pois a gente teve que ter, enquanto mulher negra e ndia, muita
ginga nesta vida. E isto desde nossa ancestralidade, pra hoje a gente estar aqui.
Ento, essa ginga que a mulher negra e ndia tm pra levar a vida, pra cuidar das
coisas, pra conseguir, em vinte e quatro horas, ser mltipla: o jogo da
Capoeira!
469
Nessa prosa, podemos ouvir a alma-fora-voz matrial afro-amerndia ecoando
seu grito feminino de guerra nas lutas ininterruptas contra as investidas predatrias do
469
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo (grifos da autora da fala)
278
patriarcado branco-ocidental cristo. Nesta levada tomamos a Me-Capoeira como
fora exemplar de uma sensibilidade herica-crepuscular, como dona da luta e da
guerra, como fora combativa-protetora. Assim, como me-sbia-amante, dona dos
mistrios de vida-e-morte, temos a imagem da fora feminina que acolhe, protege,
cuida, alimenta e en-sina, ao mesmo tempo em que desfrutamos de imagens da fora
feminina que seduz, que ludibria, que guerreia, e que mata.
E, por falar nesta fora matrial afro-amerndia nos en-sinamentos guerreiros da
luta, do sexto sentido, da regenerao e da versatilidade, nos recordamos de quando
Me Slvia nos presentea com imagens guerreiras-festeiras do Marinheiro em afinao
com estas foras:
Y Slvia de Oy: Foi com os caboclos e com os negros que os Marinheiros
aprenderam a ginga. Um capoeirista da ancestralidade da marinha Martim
Pescador. Tomava uma boa cachaa, andava com um punhal entre os dedos que
ningum via. E gingava na areia, com uma garrafa de cachaa na mo, bebendo.
E s usava as pernas, na Capoeira, e derrubava todo mundo. Ele no podia usar
os braos porque ele no queria matar ningum com o punhal, e na outra mo ele
tinha que beber! Ento era s nas pernas! E quem ensinou Martim Pescador foi
uma ndia, uma mulher. E o resto da histria o que a gente chama de
fundamento. E hoje tem alguns que dizem assim: Ele era almirante das foras
armadas brasileiras! No! Ele no era das foras militares brasileiras! Ele era um
marinheiro que vivia no meio dos negros e dos ndios. E que os brancos no
gostavam dele, pela influncia dele muito ligada com as caboclas e com as
negras. E ele um dos protetores da Capoeira.
470
Nessa levada do en-sinamentos matriais afro-amerndios da versatilidade e da
ginga sempre buscando um jogo limpo, que podemos ouvir uma alma-fora-voz
marinheira ecoar:
A mar subiu
Desce mar
A mar desceu
Sobe mar
de mar, de mar
Vou pra ilha de mar
de mar, de mar
471
Nesse sobe e desce da mar com seu poder de versatilidade em afinao com
as foras femininas afro-amerndias, podemos sentir esta maestria matrial como a
prpria astcia feminina da ginga, como bem nos disse Me Slvia. Isto nos leva a
reverenciar as astcias da prpria Rainha Nzinga de Matamba que, por mais de
quarenta anos, lutou e resistiu aos ataques dos colonizadores escravagistas
portugueses. Esta rainha, contempornea de Zumbi, meticulosamente atravancou a
470
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
471
A mar subiu cantiga de domnio pblico
279
ocupao colonial em seu territrio e a escravizao do seu povo, assim como
obstaculizou penetrao portuguesa para o interior.
Nessa peleja, como grande estrategista, vai formando alianas com outros
reinados e negociando diretamente com a corte portuguesa, sempre defendendo a
devoluo dos territrios ocupados e o fim do trfico negreiro. Como condio para
obter uma certa confiana portuguesa que facilitaria a negociao, Nzinga aceitou ser
batizada no catolicismo recebendo o nome de Anna Souza. Nesta negociao, a corte
portuguesa, encantada com a eloquncia e imponncia de Nzinga assina o tratado de
paz. Porm, atribuindo este encantamento foras sobrenaturais e com a inteno de
comercializar com o jaga do Cassange no interior, a corte portuguesa no cumpriu
com o tratado. Desse modo, Nzinga renega publicamente o nome e a f catlica se
aliando aos guerreiros quilombolas jagas do Oeste e se iniciando nesta fraternidade
guerreira.
Apesar das investidas portuguesas para neutralizar o poder de Nzinga, como,
por exemplo, o sequestro e priso de suas irms Cambu e Funji. Neste ataque Funji
foi executada e Cambu ficou por dez anos presa, sendo posteriormente resgatada por
Nzinga aps longas negociaes. No entanto, resistindo aos mais variados golpes do
jogo sujo portugus, Nzinga permanece como rainha at os 82 quando falece em
1663, deixando seu legado a sua irm Cambu que deu continuidade s batalhas de
resistncia em Angola e Matamba.
472
nesse sentido, das esquivas-contragolpes na batalha contra as investidas
predatrias do jogo sujo das invases coloniais europeias e da escravizao de
negros e negras da Me-frica e da Me-Terra, que a Me-Capoeira reverencia a
quilombola astcia feminina da ginga. Nessa levada, temos imagens da Me-Capoeira
e das capoeiristas como uma fora que encanta e assusta que luta e protege, dona
do movimento constante. Uma fora que se multiplica respondendo aos desafios
impostos para manter a existncia da comum-unidade de vida.
Nesse sentido temos imagens quilombolas da luta feminina pela proteo do
territrio, das mulheres, crianas, ansio e ansis, e, ento pela proteo do ciclo
contnuo da vida e das foras vitais do conhecimento. Imagens da cobra protegendo o
ouro e da cabaa protegendo os mistrios nos levam s imagens da fora matrial afro-
amerndia protegendo sua comunidade e suas tradies. Imagens matriais de uma
fraternidade guerreira. Imagens femininas de uma destinao guerreira. E, por falar
em fora feminina de guerra, nas narrativas capoeiras das batalhas encontramos a
presena da orix Yans, yab
473
dona da guerra dos ventos e tempestades, que tem
472
LOPES, 1988; SERRANO, 1995/96
473
orix feminina
280
o estouro de uma bfala e a elegncia e leveza de uma borboleta. E ento,
convidamos sua filha, Me Slvia de Oy que retorna nos contando:
Y Silvia de Oy: Tem uma fora feminina que tambm reina nas rodas e
sobre as capoeiristas e os capoeiristas. E no tem um elemento da natureza que
tenha mais ginga pra saltar, pra elevar braos e pernas do que o vento. E numa
cantiga suave, que s escuta quem tem o ouvido sensvel pro vento. E no
importa se ele seja uma brisa ou um vento forte, um furaco, uma tempestade,
quem tem uma sensibilidade para essa ancestralidade que reina os ventos, j
escutou. a Yans! A orix Yans que reina, dentro da natureza, nos ventos, nos
raios e nas tempestades. E protege as capoeiristas e os capoeiristas, o povo da
Capoeira. Os capoeiras e as capoeiras que so o povo da rua!
E Yans famosa, nas histrias, nos seus escritos, na sua histria passada
na ancestralidade de pai e me pra filhos, de filhos pra pais, e assim
consecutivamente, porque ela foi l na frente e guerreou. Ela foi e fez, ao lado de
todos, de Ex a Oxal. Mas menos com Oxal, porque tem toda uma... [risadas,
balana o corpo]... afinal, o homem ansio todo de branco... Mas, com todos os
abors
474
em todas as lutas e guerras, usando a fora-capoeira, a fora do manejo
do alfanje, que a arma de Yans, no disfarce e na sutileza. Como um bfalo,
mas numa sensualidade e numa beleza de conseguir derrubar, s num rodopio,
todos eles de uma vez.
E num rodopio! Um rodopio! Em que voc vai na dana pra l e pra c,
escorrega no cho, finge que cai mas no cai, levanta, gira de novo e derruba! A
voc traz pra imaginao, voc imagina essa mulher que tambm um elemento
da natureza e, ao mesmo tempo trazendo pra questo da luta, da prtica, da
ginga, dos golpes da Capoeira... e sem perder a elegncia. Porque tem uma coisa:
quem joga Capoeira no pode perder a elegncia! No pode perder a elegncia,
no pode fazer cara feia e no pode fazer golpe de qualquer jeito no! Porque a
estraga o negcio! uma dana! Voc tem que lutar, voc tem que derrubar o seu
adversrio, mas com a elegncia feminina! A Capoeira a nica atividade de luta
que voc no pode perder aquela coisa da elegncia, da ginga, e voc pode criar
improvisar. E tem mais, hein:
Escorregar no cair
um jeito que o corpo d
Escorregou, caiu
levanta depressa que ningum viu
Sorri e continua!
Mas fica atenta!
Porque tem sempre um adversrio do lado
querendo te pegar pelas costas.
Ento, a capoeirista tem que girar cento e oitenta graus. como um bal da
natureza, porque a Capoeira vem da natureza. Se a Capoeira vem dA natureza,
vem dA roda, dA ancestralidade, se ela passada de ME Capoeira para filhos -
porque homem sozinho no tem pacincia pra ensinar criana, o homem acha que
a criana j tem que saber na primeira fala, quem tem a pacincia a mulher.
E se ela uma luta A luta, A ginga, A dana e tambm, e, por mais que
os homens no queiram, ela A sensualidade. Ela toda uma... [movimenta o
corpo sensualmente]. E ela A morte tambm! Se ela tudo A, como que ela
pode ser masculina? Ela tudo A! De O s Os mestres! Porque eles apagam
da memria a histria das mulheres que foram grandes mestras capoeiristas.
475
474
orixs masculinos
475
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo. (grifos da autora da fala)
281
Nesta pegada, podemos sentir a fora matrial afro-amerndia no princpios
femininos da roda-ventre-cabaa, da me-natureza, da sensibilidade noturna da
ancestralidade, da ginga, da luta, da dana, da sensualidade, da morte, e,
adicionamos, da vida, da mandinga, da malandragem, da elegncia e da pacincia.
Uma fora alimentada e protegida por Yans, yab dona da Capoeira, dona guerra e
da festa, dona da vida pblica guerreando ao lado de todos os orixs e aprendendo os
poderes de todos eles, dona do movimento constante.
Nesta movimentao, nos recordamos da nossa conversa com Folha, quando
em meio s cabaas e atabaques, ele nos conta:
Alab Mrcio Folha: Yans uma ancestral feminina que est ligada
diretamente a todos os elementos da natureza. Yans diretamente ligada
chuva pois ela os raios e os ventos. Ela ligada ao vento, gua, por conta da
chuva, mas tambm ao rio, pois, se eu no me engano, o Rio Niger, na frica,
cultuado como o rio de Yans. E ela tambm o fogo, o raio das tempestades. E
tambm a terra, pois ela teve a sua transformao como bfalo. E tambm
borboleta que o vento.
Elis: E a a gente pode pensar no princpio da ginga? De bfalo a borboleta,
de borboleta a bfalo?
Alab Mrcio Folha: . Na malandragem da transformao, da
sobrevivncia. O princpio da ginga. Agora, o princpio da ginga de Yans
fundamentalmente o princpio do vento.
476
Nesse sentido, podemos sentir esta fora ancestral feminina regendo nas
narrativas capoeiras com seu princpio fundamental do vento, na brisa faceira de um
borboleta ao estouro da tempestade de um quebra-gereba na fria incontrolvel de
uma manada de bfalos. Nesse sentido, temos um componente heroico-crepuscular
desta fora em seu princpio combativo-protetivo, que afronta, seduz e amedronta o
heri-diurno masculino.
E nesta proteo combativa, temos esta fora que protege sua filharada dos
ataques predatrios do patriarcado branco-ocidental cristo. E, que de maneira mais
especfica, protege as mulheres afro-amerndias, tanto destes ataques externos como
dos ataques internos de uma tradio patriarcal perifrica. E, assim na astcia
feminina da viso perifrica que percebe tudo girando cento e oitenta graus e que
responde aos desafios impostos pelas investidas machistas-racistas na fora guerreira
de numa sensualidade e numa beleza de conseguir derrubar, num s rodopio, todos
eles de uma vez. Imagens de uma elegncia guerreira. Imagens de uma fraternidade
guerreira feminina.
Nesse caminho, encontramos imagens das batalhas femininas de resistncia no
interior do ventre-roda-cabaa da Me-Capoeira. Nesse sentido, convidamos a alma-
476
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha, realizada na sede do Grupo Guerreiros
de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
282
fora-palavra de Me Oyacy e de Me Silvia que chegam exibindo imagens deste
combate interno:
Don Oyacy: Quando a gente mulher e est numa roda de Capoeira, a
gente demonstra toda nossa ousadia. Pra uma mulher entrar na roda de Capoeira
e trocar um a, trocar golpes com um homem, ela vai sempre indo num... [faz sinal
de corte, de faco, com a mo] pra mostrar mesmo quem ela . E o homem, por si
s, ele j usa um tom de superioridade como autodefesa, mas na brincadeira.
Quando com a mulher, vai tirando uma, vamos dizer assim.
Ele no respeita a mulher que est ali jogando com ele. Aquela histria de
que a mulher sempre mais frgil: o que que ela est fazendo aqui?
Principalmente se ela demonstra, jogando, que ela boa. Ento, todos querem
jogar com ela. Mas para qu? Para fazer um teste. E um teste coletivo s vistas
de todos. Porque a, se voc consegue pegar um cara, num toque que voc der
nele e ele der uma caidinha: ele no poderia cair!. E isso incomoda! E outros vo
quere ver o porqu e at onde voc chega ali.
477
Y Silvia de Oy: Quando a gente desce no p no berimbau pra jogar de
igual pra igual com um homem, a gente logo percebe a insegurana masculina.
Porque a mulher capoeira intimida os homens. Eles ficam na preocupao: ser
que eu vou machucar ela? Ela frgil! Ou ento: e se ela me derrubar? Fica
frgil mim e pros outros homens que vem atrs. E a mulher que capoeirista de
verdade no tem isso, no tem essa insegurana, ela vai pro jogo e encara!
478
Nessa levada feminina de imagens, podemos at gracejar e sentir a imagem do
faco nas mos da Mestra Tonha Rolo do Mar abrindo caminhos chegada das
mulheres capoeiras. Podemos sentir imagens da luta entre as filosofias diurnas e as
filosofias notunas, podemos sentir a pulsao e a trajetividade deste campo in-tenso
de foras. Imagens do jogo, da luta, da chamada do desafio, imagens da presena
feminina na roda que, por si s, j afronta com sua prpria presena. Imagens da
entrada na roda dando sentidos herico-crepusculares das imagens do faco em
punho feminino, da mulher em movimento conquistando territrios pra mostrar mesmo
quem ela numa elegncia guerreira naquele sentido quilombola de Beatriz
nascimento dizendo onde eu estou e estou, onde eu estou eu sou.
A esta entrada feminina temos imagens da resposta herica masculina, que, na
sua sensibilidade herica diante de presena que afronta, tenta escamotear sua
tenso utilizando como escudo aquele tom de superioridade, aquela coisa de: est
tudo sob meu controle. Nesse desafio pblico ao controle e postura ascensional do
componente herico-diurno, temos imagens da luta e da guerra entre os princpios
masculinos e femininos dentro da roda-ventre-cabaa da Me-Capoeira.
Nesse interior, sentimos o calor do dend no furor de um desafio pblico.
Podemos perceber que a tenso feminina nos desafios provocados por este teste
coletivo s vistas de todos j uma resposta provocaes de uma tenso
477
Trecho da conversa transcriada com Me Oyacy, realizada em 2010 no Il Ax de Yans, situado no
Stio Quilombo Anastcia no Assentamento Rural ArarasIII na cidade de Araras, interior paulista.
478
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
283
masculina diante daquela presena que afronta, que seduz e atemoriza. Nesse jogo
in-tenso, notamos o temor heroico diante dos mistrios de vida-e-morte, de ascenso-
e-queda. Sentimos imagens uma tenso geral da fraternidade masculina capoeira que,
sempre em alerta na sua virilidade vaidosa, como um bom capoeira, tem que passar a
segurana e a ordem para os outros componentes desta fraternidade.
E ento, nessa chamada ao desafio pblico podemos perceber a tenso do
capoeirista entre vigilncia masculina e a presena feminina. Nesta tenso, temos
imagens do temor do componente herico diante da capoeirista que at se vale desta
tenso masculina, pois no tem essa insegurana, ela vai pro jogo e encara!. Nessa
pegada, podemos at ouvir os capoeiras cantarem:
Essa cobra morde
Senhor So Bento
Cuidado com a cobra
Senhor So Bento
Ela venenosa
Senhor So Bento
Essa cobra morde..
479
Sentimos o temor heroico de toda a fraternidade masculina diante daquelas
imagens femininas daquela fora do tino justo no improvvel em que uma menina
criana, sem fazer fora, derruba sorrindo dois, trs brutamontes. Imagens do temor
heroico diante de uma fora incontrolvel e desordeira. Uma fora que est l, linda na
dela, mas que, num s rodopio do vento, pode ficar invisvel ou exibida, e deixar o
heri linear e ordeiro sem ter pernas pra correr dela.
Nesta inebriao provocada pelas foras femininas no ventre-roda da Me-
Capoeira, podemos sentir imagens do desiquilbrio na postura herica vigilante quando
percebemos imagens de um tonteamento masculino na confuso das imagens entre a
mulher frgil e a mulher fatal. No sentimento do medo herico de se inebriar e
perder o controle, do pavor heroico queda pblica, ainda mais se a queda da
ascensionalidade linear masculina vier num golpe circular de uma fora feminina num
corpo feminino, em intimidade com a terra e com o vento.
Neste esquenta-banha, a fraternidade masculina responde ao desafio
construindo e mantendo os entraves da invisibilizao das mulheres capoeiras.
Assim, este machocentrismo na Capoeira quando, incontornavelmente, tem que
responder ao desafio, no conseguindo silenciar sobre a presena feminina no jogo,
passa nomear e adjetivar as mulheres com sentidos masculinos. Pois como nos diz
My Oyacy: Ento, a Capoeira, pra ns, me, mas o machismo, os ternos de linho
479
Cuidado com a cobra cantiga de domnio pblico
284
da poca, nunca ia deixar as mulheres se sobressarem na histria. E, como at hoje
existe, deram nomes de homem para as mulheres.
Como bem podemos ouvir nesta cantiga:
Que mul essa?
Maria-Home!
Aprendeu Capoeira
e bateu em dez homens
Que mul essa?
Maria-Home!
Aprendeu Capoeira
e bateu em dez home
480
Nesta entoada, apesar da nominao masculina, podemos visualizar imagens
da humildade aprendiz e da imponncia mestra de uma elegncia guerreira da fora
feminina que num s rodopio derruba dez homens. Nesse sentido, nos lembramos
de quando Me Silvia nos pergunta: Por que ser que para os homens capoeiras a
gente tudo Maria? E, na sequncia, nos recordamos de quando Me Oyacy
questiona: Na Capoeira, a mulher que bate de frente e joga de igual pra igual com os
homens vai ter um apelido masculino, vai levar um nome de menino. Por qu?.
Nestas indagaes, podemos ouvir o grito de guerra da Me-Capoeira respondendo
s investidas femicidas na Capoeira, respondendo aos ataques machistas de
invisibilizao e masculinizao das mulheres em seu ventre-roda feminino.
Assim, ainda que seja nesta coisa de mulher e Maria aparecerem como
sinnimos, podemos ouvir um coro feminino cantando a presena guerreira de uma
mulher na roda:
Dona Maria do Camboat
Ela chega na venda
E j manda bot
Dona Maria do Camboat
Ela chega na venda
E comea a brigar
Dona Maria do Camboat
Ela chega na venda
E d salto mortal
481
Dona Maria que faz o bamb
Ela chega na venda
e comea a ging
Dona Maria que faz o dend
Ela chega na venda
e j manda descer
482
480
Maria-homem cantiga entoada por Mestre Bigo
481
Dona Maria do Camboat cantiga de domnio pblico
482
Dona Maria cantiga entoada por Mestre Bigo
285
Nesta entoada, podemos a sentir a fora matrial afro-amerndia que chega
guerreando na vida pblica das trocas e alimentos. E, nesta chegada, sentimos a fora
matrial circular do vento quando imaginamos este movimento do salto mortal. Um
movimento salteado dotado de destreza sedutora e tambm de perigo e temor, numa
beleza mortal da maestria feminina nos mistrios de vida-e-morte. Nesse sentido,
percebemos a presena da fora combativa-protetora da dona dos ventos. E, neste
mesmo movimento, esta fora tambm comparece dona do fogo na maestria do dend
e do bamb
483
com sua fora vital de um lquido quente que aquece e tempera, mas
que tambm queima e pode se tornar indigesto.
Nesse, sentido, nas narrativas capoeiras temos a presena do dend como a
maestria da mandinga nos mistrios da guerra e da festa. Assim, temos a imagem da
Dona Maria como uma fora capoeira feminina que chama e desafia ao movimento da
ginga, da briga, da entrega quando mandar bot, e do reconhecimento e respeito s
filosofias noturnas quando mandar descer.
Nessa levada da exigncia ao reconhecimento e respeito, nos lembramos de
quando, no meio da conversa sobre as esquivas-contragolpes aos ataques internos da
tradio patriarcal na Capoeira, Me Slvia de Oy, sorrindo, solta esta cantiga
ancestral:
Capoeira toma sentido
Capoeira toma sentido
Seno vou lhe derrubar
Seno vou lhe derrubar
Eu sou filha de Yans
E meu pai um Paj
Eu tenho sangue de guerreira
Se voc no bota uma f
Vou lhe dar rabo-de-arraia
Pra voc se aprumar!
Esta entoada nos encaminha s imagens da fora matrial afro-amerndia en-
sinando o heri-diurno a arriar seu escudo e sua espada que guardam o sentimento de
onipotncia e, assim, tomar sentido e a botar f nas foras de um sangue de
guerreira. Entretanto, esta mesma fora que en-sina pelo alerta pode en-sinar pelo
sacode. Visto que, se este heri insistir na postura diurna da descrena, o en-
sinamento vir na fora circular do vento, num rabo-de-arraia que o levar
incontornavelmente ao cho, que o far descer do seu pedestal de arrogncia
masculina e se aprumar em afinao com as foras de uma elegncia guerreira
feminina.
483
Borra de dend
286
Nesta levada do quebra-gereba das foras herica-crepusculares femininas
fazendo o heri-diurno se aprumar, vem aos nossos ouvidos a fora-alma-voz do
filsofo da malandragem Bezerra da Silva quando ele canta:
Eu j vi um valente sofrer,
J vi um valente chorar,
Vi um valente correr
E tambm vi um valente apanhar.
Ainda vi um valente na boca do boi
E vou contar como foi.
Eu j vi um valente perder pra Maria,
Maria sabe brigar!
At cabeada solta
A exibida sabe dar
Ela d dourado, banda jogada,
D rabo-de-arraia e corta-capim.
A sujeita quando briga
Cantando ainda diz assim:
Piriri pe a faca de cortar
Piriri pe a faca de cortar
Olha, muleque voc toma sentido
Porque a capoeira vai te ganhar
Piriri pe a faca de cortar
Piriri pe a faca de cortar
Mas muleque, toma sentido
Capoeira vai te pegar!
484
Nesta entoada, sentimos o alerta masculino diante das malcias guerreiras na
maestrias da circularidade e destreza nos golpes, na versatilidade do vento e na
segurana da terra. Posemos perceber o pavor do valente recebendo, num s gole, a
fora sorrateira de um bote e a fora explosiva de um furaco como resposta
feminina. Nesse sentido, sentimos um desequilbrio na fraternidade masculina que
treme ao ver um dos seus heris ser tragado pela boca do boi
485
levado por uma fora
feminina que, inevitavelmente, o obriga a fazer tudo aquilo que um heri-diuno mais
repudia e teme: ser apanhado, chorar, sofrer, apanhar e correr.
Neste presta ateno, podemos desfrutar de imagens femininas da elegncia
guerreira com seu modo artista de guerrear. Podemos perceber o princpio feminino da
destreza e dramatizao dos golpes que e exibida sabe dar. E, sem perder a
elegncia na luta nos d imagens de um jogo limpo pois que ainda en-sina alertado o
adversrio a tomar sentido. Imagens da maestria guerreira em fechar o tempo e,
484
Valente na boca do boi cantiga entoada por Bezerra da Silva
485
Estar na boca do boi tem os sentidos de: estar em maus lenis; ficar mal falado, desmoralizado; ou
estar em meio a muitas dificuldades
287
publicamente, ir desmontando os pilares hericos da onipotncia masculina
pretensamente inabalvel.
nesse sentido que, nas batalhas internas entre as foras masculinas e
femininas nas famlias-capoeiras, percebemos uma aproximao deste temor e desta
tenso masculina na Capoeira, com o temor e tenso do patriarcado branco-ocidental
diante da prpria Capoeira. E, ento, tambm percebemos esta aproximao nos tipos
de respostas, ou seja, nas investidas dos capoeiristas homens em neutralizar ou
mesmo exterminar o poder e presena feminina na Capoeira. Nesta resposta, nos
esquivamos a esta invisibilizao e masculinizao das mulheres capoeiras, quando
partilhamos da alma-fora-palavra da Me Silvia e da Me-Oyacy:
Y Slvia de Oy: Voc conhece alguma mestra de Capoeira dentro da
histria da Capoeira contada pelos mestres?
Ento, tivemos muitas! Por exemplo, Aqualtune era capoeirista, as mulheres
quilombolas eram capoeiristas. Mas nas rodas e nos livros no se fala. Dandara
jogava capoeira. Porm, quem escreve e conta a histria coloca sempre as
mulheres somente apoiando a luta dos seus homens. Ou cuidando da ferida dos
seus homens. Quando colocam lutando, no na frente dos seus homens. , no
mximo, do lado, como apoio, mas no na frente. E, quando o homem estava
ferido, cansado, como o dedo doendo, no contam que alm da cuidar das
feridas dos homens ainda elas foram l na frente e derrubaram tantos e tantos
homens.
E os homens capoeiras no contam que por medo. Por causa da agilidade
feminina, do manuseio, e da ginga e da sensualidade. uma coisa feminina que
faz com que os homens fiquem inebriados com os rodopios das saias. Hoje que se
usa muita cala comprida. Mesmo na Capoeira as mulheres no usavam cala,
quem usava cala eram os homens. Voc tinha que ter aquele enrosca saia,
desenrosca na rodada, e tal, como as cantigas contam.
486
Don Oyacy: Na realidade, na Capoeira, a questo da maestria vem da
mulher. Vocs j ouviram falar da Maria Valado? Da Maria Papo de Rola? Olha
s os nomes que foram dados para as mulheres na roda de Capoeira! isso que
eu falo: tinha que se vestir do qu pra jogar Capoeira? De homem! S que esta, a
Papo de Rola, ela no vestia cala! Eu lembro, minha av contava, que ela vestia
saia de ciranda e amarrava e dava um n, amarrava um pano al funfun aqui [no
peito] e assim ela jogava. Ela tem histria! Ela morreu bala de cartucheira,
porque no tinha como pegar essa mulher! E uma mulher que a gente no ouve
falar dela, s alguns ngo-vio que falam.
Meu pai sempre falava, quando a gente estava fazendo arte ele j chamava
a gente pelo nome delas. E o povo perguntava: - Mas quem essa? Ele
respondia: - Ah, uma histria a! Ento, a gente precisa chegar nas rodas de
Capoeira e contar essas histrias, pois o machismo imperou nas rodas e hoje no
se fala delas.
487
Neste sentido, podemos sentir o despeito heroico diante do esprito arteiro e
desordeiro que desequilibra, seduz e atemoriza a linearidade ordinria das coisas.
486
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
487
Trecho da conversa transcriada com Me Oyacy, realizada em 2010 no Il Ax de Yans, situado no
Stio Quilombo Anastcia no Assentamento Rural ArarasIII na cidade de Araras, interior paulista.
288
Esta prosa feminina oferece imagens capoeiras das mulheres quilombolas, como
Aqualtune, uma princesa do Congo que comandava exrcitos de mais de dez mil
homens. Conta-se que ela foi capturada, escravizada e estuprada chegando grvida
em Recife. E, nos ltimos dias de gravidez liderou uma fuga coletiva para o Quilombo
dos Palmares. Chegando l foi reconhecida e reverenciada e ento passou a participar
da liderana do quilombo.
Seus filhos Ganga Zumba e Gana Zona, seguindo seus en-sinamentos tornaram
chefes no quilombo, e sua filha mais velha de nome Sabina a me que gerou Zumbi.
Nessa levada, podemos imaginar as imagens desta fora feminina em movimento
tecendo a continuidade da fora quilombola. Podemos imaginar esta presena
capoeira nas esquivas-contragolpes ao patriarcado branco-ocidental. Esta prosa
tambm nos traz imagens capoeiras de Dandara. Conta-se que foi uma grande
guerreira palmarina, participando tanto da construo de estratgias de ataque e
defesa como liderando batalhas diretas, guerreando frente a frente com o inimigo.
488
E nesta levada, nos esquivamos do femicdio na Capoeira e temos imagens
deste quilombo continuado na presena guerreira das chamadas mulheres valentes da
Capoeira. Temos imagens das capoeiras Aqualtune, Dandara, Maria Valado e Maria
Papo de Rola num modo mandingueiro e artista de guerrear. Na astcia feminina
daquele enrosca saia, desenrosca na rodada em que num s rodopio derruba todos
os inimigos de uma s vez. E, por falar nessas capoeiristas guerreiras, nos lembramos
de quando Mestre Canjiquinha nos conta em prosa e Mestre Limozinho em verso:
Mestre Canjiquinha: As retadas:
MARIA DOZE HOMENS Assim chamada porque brigou com 12 homens
(doze soldados de polcia) na Baixa dos Sapateiros. Morava na Sade.
MARIA AVESTRUZ Morava na boca do rio.
PALMEIRO Matou Pedro Porreta (capoeirista valento). Morava na rua
Vinte e Oito de Setembro.
489
Eu sou angoleiro
Eu s l de Santo Amaro
Eu sou angoleiro
Da Purificao
Eu sou angoleiro
Da Terra de Mestre Gato
Eu sou angoleiro
Besourinho, Mestre Limo
Eu sou angoleiro
Terra de Cobrinha verde
(...)
De Maria dos Anjos
Eu sou angoleiro
E Maria Salom
488
http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br
489
CANJIQUINHA, 1989, p. 29
289
Eu sou angoleiro
Uma morava no Bonfim
Eu sou angoleiro
No tinha medo de ningum
Eu sou angoleiro
A outra tambm valente
Eu sou angoleiro
Morava na Ponte do Vintm...
490
Nesse prosa, reverenciamos estas donas da Capoeira desfrutando de imagens
de uma intimidade profunda entre Me-Capoeira e suas filhas capoeiristas. Imagens
de uma parceira ntima e comunal nas batalhas de resistncia internas, com os
homens de seu grupo, e externas com os acapangados, os coronis e os guardies da
supremacia crist. Podemos sentir a fora combativa-protetora da Me-Capoeira
carregando em seu ventre as afinaes entre as foras ancestrais femininas da guerra
e as filosofias da carne feminina em meio aos desafios de uma destinao guerreira.
Imagens da fraternidade guerreira feminina num campo de foras patriarcais diversas.
Nesse sentido, nas imagens desta parceira feminina afro-amerndia nas batalhas
externas, vem aos nossos ouvidos o grito de guerra da Me-Capoeira diante das
investidas branco-ocidentais de criminalizao, patologizao e invisibilizao da fora
matrial afro-amerndias nas lutas por liberdade. Podemos, ento, ouvir:
(Cdigo Penal da Repblica dos Estados Unidos do Brasil, Decreto nmero 847 de 11 de
outubro de 1890, Captulo 13: Os vadios e capoeiras
Artigo 402, fazer nas ruas ou praas pblicas exerccios de agilidade e destreza corporal
conhecido pela denominao "capoeiragem"; andar em correrias, com armas ou instrumentos
capazes de produzir leso corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaando pessoa
certa ou incerta ou incutindo temor de algum mal.
Pena: priso celular de dois a seis meses
Pargrafo nico: considerado a circunstncia agravante pertencer o capoeira a algum
bando ou malda; ao chefes ou cabeas, se impor pena em dobro)
Yeeeeee....
Dona Isabel que histria essa?
Dona Isabel que histria essa?
de ter feito abolio?
De ser princesa boazinha
que libertou a escravido?
Eu t cansado de conversa,
t cansado de iluso
Abolio se fez com sangue
que inundava este pas
Que o negro transformou em luta
cansado de ser infeliz
Abolio se fez bem antes
e ainda h por se fazer agora
Com a verdade da favela
e no com a mentira da escola
Dona Isabel chegou a hora
490
Eu sou angoleiro - cantiga entoada por Mestre Limozinho
290
de se acabar com essa maldade
De se ensinar aos nossos filhos
o quanto custa a liberdade
Viva Aqualtune, rainha negra
que fez-se herona em Palmares
491
Viva a cultura desse povo
a liberdade verdadeira
Que j corria nos Quilombos
e j jogava Capoeira
Camar...
492
Nessa entoada, podemos sentir o temor do patriarcado racista-cristo diante
desta fora matrial afro-amerndia guerreira que teima em correr e reinar pelos
caminhos pblicos das praas e ruas, assim como na intimidade secreta no fundo dos
quintais. Imagens crepusculares das batalhas de resistncia. Nesse sentido, podemos
ouvir o canto de guerra da Me-Capoeira em meio aos ataques genocidas, entocidas e
epistemicidas operados pelas dinmicas de poder branco-ocidental. E nessa voz,
ouvimos o estouro da guerra entre a verdade da favela e a mentira da escola.
Neste quebra gereba temos imagens do confronto com os ataques do discurso
pedaggico escolar. E neste jogo, nos esquivando das armadilhas de uma supremacia
crist, patriarcal e racista. Assim, na perspiccia da ginga de uma cobra e de uma
sereia, vamos escapando, como um fio de gua, deste entroncamento, deste sufoco
em estar amarrotados por aquele abrao triplo militar-mdico-padre/pastor, que impe
prticas um tanto femicidas, epistemicidas e etnocidas na cultura escolar.
Nessa tenso da luta, temos imagens da fora matrial afro-amerndia em
contraposio queles fundamentos da teoria da carncia cultural. Nesse sentido,
temos como arma nesta luta, o fato de que, diante de todo aquele infortnio poltico-
terico, pesquisadores integrantes do Movimento de Educao Multicultural nos
Estados Unidos terra natal desta teoria fortemente aplicada no Brasil - , j nos anos
1970 refutavam esse quadro terico. Tal movimento evidenciou a insustentabilidade
terica dessa produo cientfica, como dos seus programas educativos. Pelo fato de
que, alm de no definirem o problema, to-pouco apresentam solues satisfatrias,
dado seu cunho racista e reducionista. E, desse modo, atestaram a ausncia de
alteraes significativas no desempenho escolar das crianas negras e imigrantes no
decorrer destas polticas.
Nesta resposta, podemos sentir a fora dos ps, faces e navalhas da Me-
Capoeira trucidando este discurso da carncia cultural. Nessa guerra, utilizamos como
recurso a interpretao desta corrente multiculturalista que declara guerra a essa
abordagem da deficincia cultural. Diante dos ataques desta abordagem patriarcal-
491
Na forma original: Viva Zumbi nosso rei negro/ que fez-se heri l em Palmares
492
Dona Isabel cantiga entoada por Mestre Toni Vargas
291
racista-crist que teima em considerar as crianas e suas famlias como integrantes de
um grupo desprovido de integridade cultural, como se este fenmeno fosse possvel. A
Me-Capoeira responde apontando a limitao insensvel desta corrente, e reitera que
a escola hegemnica, tomada pelo discurso da falta e defensora de uma nica,
exclusiva e reduzida base cultural para a tarefa de escolarizao, desconsidera
sistematicamente o que as crianas trazem consigo de conhecimento e de
potencialidades dos seus lares.
Nesta perspectiva, a fora matrial afro-amerndia trama seu contragolpe em
afinao com os defensores da educao multicultural quando eles apontam para a
fragilidade do conceito reduzido de experincia defendido pela Teoria da Privao
Cultural, e para a atrocidade de suas consequncias psicolgicas e educacionais.
Neste jogo, Boykin destaca a importncia de consideramos o estado psicossocial da
criana negra, que, segundo ele, est habitado por trs dilemas incompatveis e
contraditrios: a experincia vivida na cultura hegemnica; a experincia de pertencer a
um grupo oprimido; e a experincia vivida na cultura de seu grupo.
493
nesta trade que temos ressonncias banzeiras, guerreiras e festeiras nas
narrativas capoeiras. E, neste confronto com o cognitivismo de uma razo insensvel,
prescrito pelo patriarcado racista-cristo e impregnado na cultura escolar, temos a
predominncia das imagens banzeiras e guerreiras em meio aos desafios impostos por
estes dois primeiros dilemas. Nesse sentido, nos alerta o professor Ferreira-Santos:
Ferreira-Santos: En el caso concreto de Latinoamrica, hay aun el
problema que se agrava con el colonialismo epistemolgico. (...) que atraviesa
todas las camadas sociales y dimensiones culturales de nuestra realidad, en el
sentido de menospreciar nuestros ancestros afro-amerindios y las huellas que
tenemos estampadas en el rostro, en las actitudes, a circular en nuestra sangre
y constituir nuestra alma. No dir de la alma con su sentido religioso-
institucional, pero como la estructura de sensibilidad que conforma un estilo de
configuracin del campo perceptivo, una manera de ser y actuar sobre y en el
mundo con el otro.
494
Nesse caminho, podemos sentir imagens da Me-Capoeira respondendo a
estes ataques com seu modo mandingueiro e artista de en-sinar e fazer-sabe as artes
batalha de resistncia aos aparatados planos de extermnio. E, assim, na sua elegncia
guerreira segue carregando, naquele campo comunal de foras, as sapincias vivas em
movimento, de corpo, alma e corao, por tempos-espaos diversos. Neste modo
matrial capoeira de alimentar e mobilizar o conhecimento como uma fora viva em meio
aos citados dilemas da experincia.
493
BOYKYN, 2004
494
FERREIRA-SANTOS, 2009, p.03
292
Sendo assim, resistindo aos ataques predatrios, a Me-Capoeira segue
gerando regenerando tambm os conhecimentos como uma fora viva religadora e
remediadora das ligas de uma comum-unidade de vida. Nesse sentido, o
conhecimento, igualmente ancestralidade, de grande durao frente nossa
pequena durao da carne. Assim, temos imagens circulares e pulsantes desta fora
vital que pervaga nas curvas do tempo-espao comunal. Imagens da matriais afro-
amerndias de uma fora protetora e combativa que vai tecendo seus en-sinamentos.
E, assim, vai movimentando esta fora-conhecimento que segue religando e
remediando as afinaes entre as filosofias da carne, as filosofias ancestrais e as
filosofias da matria.
Assim, num jogo limpo, a Me-Capoeira responde ao jogo sujo dos golpes da
abordagem da carncia cultural ainda encrustada na cultura escolar. Responde
exibindo sua elegncia guerreira na mestria da vitalizao comunal desta fora-
conhecimento nas partilhas iniciticas, em que o saber-fazer comparece in-
tensionalmente na circularidade e no intempestivo das experincias numinosas nas
quais somos mais vtimas da sua fora do que dominadores, causadores e detentores
absolutos dela. Nessa levada da circularidade de um campo de foras, a maestria
capoeira responde dizendo que somos mais pontes e fontes desta fora-conhecimento
do que meros depositrios de contedos cumulativos. Em outras palavras, somos mais
mobilizadores desta fora viva do que simples hospedeiros de uma epidemiologia
cerebrina de representaes.
Neste sentido, as ligas vitais Capoeira-mestre-discpula/o exibem a vitalidade
dos modos matriais afro-amerndios de en-sinar e fazer-saber. Um modo artista e
mandingueiro que movimenta a fora-conhecimento. E esta, por sua vez responde s
provocaes se movendo em seus dos fluxos e refluxos nas redes da comum-unidade
de vida. Isto em movimentos circinados e pulsantes, que na destreza e na fora de um
rodopio desestabiliza a racionalidade herica branco-ocidental que defende a ordem e
a previsibilidade e o controle sobre o movimento.
Nesse sentido, a Me-Capoeira, na circularidade da fora matrial alimentando e
movimentando o conhecimento vivo, numa girada de vento desequilibra a ordenaao
linear e ascensional do conhecimento como pilhas de pacotes de representaes
mentais estticas, compartimentadas e cumulativas. Neste jogo, podemos perceber
imagens das famlias matriais capoeiras exibindo a experincia das noes mais vivas
e processuais de saber como uma vitalidade que transcende as prateleiras da dita
arquitetura cognitiva dentro de nossos crnios. E, assim, as famlias capoeiras procriam
concepes de conhecimento (no duplo sentido do verbo conceber) que no se rendem
a esta compartimentalizao crebrocntrica e um tanto determinista.
293
Neste quebra-gereba com a cultura escolar, temos imagens da Me-Capoeira
desafiando os tericos ao jogo. O jogo comea com a maestria capoeira de se esquivar
do golpe heroico-diurno. Quando a produo branco-ocidental suscita um movimento
linear, ascensional e distanciado, a Me-Capoeira responde que o conhecimento uma
fora viva que, em afinao com nossas filosofias da carne, nas partilhas iniciticas
assume a sua circularidade e sua multidirecionalidade na eternidade de todas as
direes. Nestas curvas da arkh, os modos capoeiras de en-sinar e fazer-saber
permanece carregando uma noo vivida de pessoa-comunal e de conhecimento como
foras vitais, iniciaticamente partilhadas nas afinaes entre as filosofias da carne, as
filosofias ancestrais e as filosofias da matria. E ento, neste movimento circular e
pulsante, o conhecimento vitalizado na inter-relacionalidade das foras numa comum-
unidade de vida.
Nesse jogo, percebemos imagens da Me-Capoeira nas batalhas para alimentar
e proteger a vida das ligas nas partilhas iniciticas. E ento, nas esquivas-contragolpes
aos modos ocidentais da razo insensvel, os modos capoeiras aparecem concebendo
o conhecimento como uma relacionalidade in-tensa e carnal, e no um esforo
puramente intelectual e pr-definido. Sendo assim, os modos matriais afro-amerndios
no humanocntricos de conceber o conhecimento estende esta in-tenso relacional
para todas as formas de existncia que habitam e so filhas da Me-Terra.
Diante deste carter contextual e relacional dos conhecimentos, fazemos coro
com Ferreira-Santos quando ele traz a noo de ambincia para se referir a esta
realizao relacional e comunal, em que as paisagens externas no so meros objetos
a receberem passivamente as aes humanas, mas sim participam ativamente deste
processo realizador num campo inter-relacionado de foras. Numa imagens
crepuscular, copulativa, entre paisagens externas e nossas paisagens internas.
495
Nesse caminho, a Me-Capoeira exibe a vitalidade de suas partilhas iniciticas
pois permite conceber um carter mais vivo e processual do conhecimento, para alm
de execuo de projetos pr-estabelecidos. Posto que tomamos o conhecimento como
uma fora movimentada no decorrer das diversas prticas em uma comunidade de
vida. Assim, o encontro das foras se d no decorrer da caminhada, se d nas jornadas
interpretativas
496
na qual o movimento da pessoa-comunal em busca de um en-
sinamento responde s contnuas intimaes da ambincia. O que pede a fora dos
sentidos, a criao de estratgias, as prticas de improviso, as muitas versatilidades...
Numa idia mais material e artista e menos abstrata, rgida e mentalstica de
conhecimento.
495
FERREIRA-SANTOS, 1998
496
FERREIRA-SANTOS, 2005c
294
Nessa via, os modos matriais afro-amerndio de en-sinar e fazer-saber aplicam
seu contragolpe aos modos escolares de transmisso de contedos. E mostram que o
processo de construo de conhecimentos no um dispositivo computacional na
nossa cabea, mas sim nossas afinaes com a materialidade e os mistrios do
mundo. No um atributo meramente cerebrino, mas est pulsante nos corpos das
pessoas, da matria e das relaes. No se trata de conhecimento que nos foi
sisudamente comunicado, mas sim de uma intimidade profunda e artista das partilhas
iniciticas de foras vitais.
Nessa levada, na batalha contra o racionalismo branco-ocidental nas prticas
escolares, temos imagens da Me-Capoeira comungando Nessa pegada, percebemos
a batalha da fora matrial afro-amerndia contra as dicotomizaes branco-ocidentais.
Imagens desta fora guerreira que resiste religando, remediando e regenerando as
ligas vitais da corporeidade que aprende, en-sina e vive seus maneiras de fazer-saber
assentadas na extenses do campo sensvel dentro de um campo de foras.
E, por falar nesta circularidade dos modos de fazer-saber e en-sinar pelos
sentidos temos imagens do confronto capoeira idia escolar de cpia no como
transcrio automtica de contedo mental de uma cabea para outra, como prope a
idia de proliferao ou epidemiologia das representaes. Nesta esquiva capoeira,
temos imagens do contragolpe capoeira exibindo a repetio como movimentao de
foras no ritmo sagrado da criao que nos leva s experincias numinosas em contato
com a fora-conhecimento.
Nesse sentido, percebemos a Me-Capoeira fazendo coro com o autor dizendo
que a repetio no diz respeito quela herana jesutica ou cognitivista da fixao
definitiva do contedo na prateleira cognitiva, mas sim faz referncia a uma espcie de
criao continuada
497
, de retraar um mesmo caminho por trilhas diferentes em
companhia e orientado por outra pessoa mais experiente. Desse modo, os modos
matriais afro-amerndios de en-sinar e fazer-saber responde fixao obsessiva de
contedos com as esquivas-contragolpes na vitalidade do sentido criador e recreador
do conhecimento vivo num campo de foras vivas.
Nesse movimento, referenciamos este filsofo nordestino que h tempos
trabalhou, e in-diretamente continua trabalhando, por implodir os pressupostos
cognitivistas de transferncia de contedos. Nesta perspectiva, h algumas dcadas
Paulo Freire chamou esta replicao de transcrio automtica como prtica de uma
educao bancria. Nesta conversa, convidamos a fora-alma-palavra de Paulo Freire
pra esta roda. Ele escuta nosso cahamado e chega para nos dizer que nesta prtica:
497
FERREIRA-SANTOS, 2000, p. 62
295
Paulo Freire: A palavra (...) se esvazia da dimenso concreta que devia ter
ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Da que
seja mais som do que significao e, assim, melhor seria no diz-la..
498
Nesse movimento, podemos sentir a Me-Capoeira em comunho com Paulo
Freire tramando suas esquivas-contragolpes aos modos branco-ocidentais de
educao bancria que intenta transformar o aprendiz em vasilhas, em recipientes a
serem enchidos pelo educador. Quanto mais vai enchendo os recipientes com seus
depsitos, tanto melhor o educador ser. Quanto mais se deixam docilmente encher,
tanto melhores educandos sero.
499
E neste quebra-gereba, temos imagens das esquivas da Me-Capoeira fazendo
coro com Paulo Freire quando ele en-sina que nesta distorcida viso da educao, no
h criatividade, no h transformao, no h saber. E, ento, podemos perceber
imagens dos modos capoeiras de conhecimento se aliando aos modos freireanos no
movimento de contragolpe a este amordaamento. Assim, juntos, defendem uma noo
vital e pulsante de conhecimento, pois como bem diz Paulo Freire: S existe saber na
inveno, na reinveno, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens
fazem no mundo, com o mundo e com os outros.
500
Neste jogo, temos imagens da Me-Capoeira e de Paulo Freire convidando
Ferreira-Santos a comungar desta fraternidade guerreira que responde aos ataques
amordaadores da razo insensvel branco-ocidental. Aceitando o convite, Ferreira-
Santos exibe o seu jogo em movimentos crepusculares, e a Me-Capoeira faz coro
com ele nas prticas de uma educao de sensibilidade que prima pela vitalidade do
conhecimento nas teias de uma razo sensvel, de corpo, alma e corao, em plena
vida das nossas relaes consigo, com os outros e com as ambincias.
501
Assim, este
coro entoa o conhecimento, no como um contedo adquirido, mas sim como uma
fora vital que gerada e regenerada, circular e continuamente, de modo relacional e
contextual numa comum-unidade de vida.
nesta circularidade que a partilha inicitica vitaliza e vitalizada pelas ligas
vitais mestre-disicpula/o. Nesse sentido, dialogamos com esta noo de habilidade nos
esquivando das noes de capacidade e competncia. Entretanto neste jogo
mantemos nosso movimento com uma noo de maestrias de fora-conhecimento num
multiverso no humanocntrico e comunal, em que a filiao ntima com os dons e
donas, com a ancestralidade, com os elementos da natureza e com determinados
498
FREIRE, 1987. p.33
499
FREIRE, 1987. p.34
500
FREIRE, 1987. p.33
501
FERREIRA-SANTOS, 2005c
296
animais em afinao com as filosofias da carne-alma vo movimentos alimentos e
caminhos para que tracemos a nossa sina nesta rede de foras em meio diversidade
dos campos. nesta levada que flertamos com as mestrias guerreiras nos modos
capoeiras de fazer-saber e en-sinar as artes da luta e da guerra razo insensvel e
excessivamente iluminada que, sem viso noturna e desencorpada, tramam seus
golpes epistemicidas fora-conhecimento matrial afro-amerndia.
Neste campo de batalha, a Me-Capoeira exibe seus rodopios na esquiva-
contragolpe a estes golpes incessantes, teimando em seguir alimentando, protegendo e
encaminhando os elos de vida mestre-discpula/o. Assim, temos imagens da Me-
Capoeira abrindo e mostrando caminhos pelos quais a famlia-capoeira dever seguir
com suas prprias pernas. neste sentido, que sentimos os modos capoeiras de en-
sinar e fazer-saber comungando com a criatividade de Ferreira-Santos sobre a
experincia de en-sinar enquanto conjuntos mltiplos de orientaes mestras para que
o iniciante viva poiticamente a sua prpria sina na rede de saberes e relaes.
502
Nessa levada, de uma fraternidade guerreira nas batalhas de resistncia aos
golpes epistemicidas da escolarizao, que percebemos imagens da Me-Capoeira
florando no jogo com o movimento das filosofias afro-amerndias
503
e latino-
mediterrneas
504
. Neste jogo, primando pelas ligas vitais da famlia-capoeira, faz coro
com Ferreira-Santos quando ele diz que nestas filosofias:
Ferreira-Santos: () podramos destacar la recurrencia del humanitas
(personalismo latino) como afirmacin de la potencialidad humana (correlato del
anthropos griego) que se actualiza en la existencia concreta, pero siempre
dependiente de un encuentro inicitico con un iniciador(a) que, de manera
maiutica (paridera), auxilie la persona a exteriorizarse y realizarse en su propia
bsqueda, que ayude a dar a la luz en un segundo nacimiento.
505
Nesse sentido parideiro e inaugurativo das partilhas iniciticas tomamos os
modos matriais afro-amerndios de conhecimento como fora circular e pulsante.
Vitalizada nas imagens copulativas e trajetivas deste encontro em que temos imagens
mais vivas de uma educao em que educador e educando en-sinam, mutuamente, um
ao outro nas jornadas comunais da experincia vvida. Assim, tomamos as maestias da
percepo como a vida da corporeidade com suas filosofias da carne em afinao com
as filosofias ancestrais e as filosofias da matria, juntas, na dinmica comunal e
sagrada da criao. Numa relao comunal e de luta com os outros e com ambincia.
502
FERREIRA-SANTOS 2005 (c)
503
FERREIRA-SANTOS, 2005 (a), 2006 (a), 2009
504
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), 2009
505
FERREIRA-SANTOS, 2009, p.13
297
Assim, uma noo matrial afro-amerndia de aprendizagem declara guerra noo
escolarizada de uma mente dentro de um corpo.
Nessa levada, temos imagens da Me-Capoeira floreando com este sentido de
que conhecer imanente vida do conhecedor por meio da sua presena enquanto
ser-no-mundo, um que a cognio um processo em tempo real. No entanto, temos
imagens de uma esquiva capoeira quando encontramos, nos discursos branco-
ocidentais da etnografia, a recomendao para os antroplogos que se dedicam a
estudar a dinmica da cultura de que, em vez de falarem em conceitos e categorias,
eles deveriam se ater aos fluxos e ressonncias.
506
Nesta esquiva, podemos tramar uma ingens da Me-Capoeira respondendo que
podemos prescindir da lgica excludente do ao invs e nos atermos a um modo mais
inclusivo do como tambm. Em outras palavras, ela responderia assim: devemos sim
nos ater s categorias e conceitos como tambm, de maneira no menos incisiva,
atentarmos aos fluxos, refluxos e ressonncias nas redes de saberes e relaes
percebidas.
Nesta esquiva-contragolpe, percebemos a Me-Capoeira convidando a esta
dinmica copulativa e incessante destas duas predominncias nos modos de fazer-
saber e en-sinar com corpo-alma-corao, numa caminhada conjunta com a famlia
estendida, a ancestralidade e as ambincias. Neste movimento estes modos capoeiras
floreiam com as prticas de uma educao de sensibilidade numa partilha de en-
sinamentos que privilegie o movimento neste tempo-espao de entre-meio, na in-
tenso dos campos de foras. E, ento, se irmanam com esta filosofia crepuscular que
prima por este movimento copulativo entre a sensibilidade diurna do plo racional e a
sensibilidade noturna do plo sensvel nos atos sensualistas da fora- conhecimento.
Assim, os modos capoeiras de partilha primam pela vitalidade contnua desta
luta num jogo limpo, sem se destruir e sem destruir o adversrio, sem que a razo
deixe de ser a razo, e nem os sentidos deixem de ser os sentidos. Em que um desafie
o outro na nossa sina desafiadora em pervagar na trajetividade recursiva entre os
plos, de modo que a existncia de um no seja a morte do outro. Neste jogo,
percebemos a Me-Capoeira alimentando e movimentando esta trajetividade, cursiva,
recursiva e ressonante, num exerccio da razo sensvel, das filosofias crepusculares.
E nesta vitalidade que temos imagens da Me-Capoeira alimentando e
protegendo e acompanhando a filharada nas batalhas de resistncia aos golpes
epistemicidas da escolarizao como prtica civilizatria prescrita pelos moldes
patriarcais-racistas-cristos de conceber as formas de troca e as interpretaes do
506
INGOLD, 2010
298
conhecimento. Nesse sentido, temos imagens combativas-protetoras da Me-Capoeira
em sua fraternidade guerreira, fundamentalmente, feminina negra, batendo de frente
com os aqueles quatro articulados eixos de opresso e, assim, exibindo suas esquivas-
contragolpes nas batalhas antirracistas, anti-machistas, anti-classistas e anti-
adultocntricas.
Neste campo de batalha, iniciamos o jogo ouvimos as dolncias guerreiras
matriais afro-amerndias em meio s opresses de gnero operadas pelos poderes
patriarcais branco-ocidentais. Desse modo, temos imagens desta fraternidade
guerreira chamando Joan Scott pro jogo quando ela apresenta o conceito de gnero
como categoria, fundamentalmente, relacional e contextual que abarca questes
histricas e contemporneas sobre a desigualdade nas relaes entre homens e
mulheres, sensvel na disposio dos poderes/funes na organizao da dinmica
social.
Neste dilogo, Scott afirma que gnero uma categoria de anlise sociolgica e
histrica que permite compreender as relaes que determinam desigualdades a partir
da diferena sexual. Relaes que postulam, prescrevem e fiscalizam a aplicao
hierrquica dos significados das diferenas corporais e, assim, implicam numa
organizao social a partir delas. A autora alerta que estes significados no so
absolutos e universais, mas sim contextuais e culturalmente relativos. No entanto, tm
como ponto comum a produo e a imposio de padres - de masculinidade e
feminilidade, de maternidade e paternidade, de heterossexualidade normativa, de
casamento e famlia - que so embutidos por meio de relaes que se mantm atravs
da opresso e desigualdade.
Nesse caminho temos imagens da Me-Capoeira floreando com a noo de
gnero como uma noo fundamentalmente relacional que impulsiona uma esquiva
aos ataques machistas e femicidas do patriarcado. Assim, podemos perceber a
esquiva-contragolpe capoeira na expresso altiva da matrialidade dos modos afro-
amerndios de en-sinar e fazer-saber. E nesta matrialidade ouvimos o grito de guerra
da fraternidade guerreira feminina afro-amerndia nas esquivas-contragolpes aos
ataques opressivos advindos do patriarcado branco-ocidental e tambm do patriarcado
perifrico afro-amerndio com outras nuances e especificidades.
Neste quebra-gereba, floreamos com o feminismo branco-ocidental que prope
esta noo de gnero, porm este floreio tem suas limitaes e o jogo vai ficando
tenso na medida em que a fraternidade guerreira feminina afro-amerndia vai tendo
que aplicar suas esquivas-contragolpes s opresses de classe, de raa e at mesmo
de gnero desferidas por um padro branco de feminilidade e de feminismo. Sendo
assim, neste campo minado de batalhas mltiplas, temos imagens da fora matrial
299
afro-amerndia-capoeira tendo que dar aquele giro de cento e oitenta graus, pois os
ataques vm de todos os lados. Assim, a matrialidade capoeira se esquiva pretensa
universalidade das categorias de gnero e de classe, convidando para a roda um jogo
floreado com as feministas negras.
Nesse sentido, podemos imaginar imagens da Me-Capoeira fazendo uma
chamada Llia Gonzles para compor roda. E ela, aceitando o convite, chega se
emparceirando nos movimento de esquiva-contragolpe dizendo que no feminismo
branco:
Llia Gonzlez: As categorias utilizadas so exatamente aquelas que
neutralizam o problema da discriminao racial e, consequentemente, o do
confinamento a que a comunidade negra est reduzida. A nosso ver, as
representaes sociais manipuladas pelo racismo cultural tambm so
internalizadas por um setor que, tambm discriminado, no se apercebe que, no
seu prprio discurso, esto presentes mecanismos da ideologia do
branqueamento e do mito da democracia racial.
507
Nesta pegada, ouvimos o vuvo-vuco das batalhas femininas afro-amerndias
diante das investidas racistas operadas, simultaneamente, pelo feminismo branco e
pelo patriarcado branco-ocidental. E, ento temos imagens da fraternidade guerreira
feminina negra nas batalhas contra as opresses raciais em meio luta contra as
opresses de gnero. Imagens das guerreiras da presena feminista negra nas
relaes com as prticas feministas branco-ocidentais. Nesse compasso de imagens
combativas, Llia Gonzles exibe seus movimentos neste jogo:
Llia Gonzlez: No meio do movimento das mulheres brancas, eu sou a
criadora de caso, porque elas no conseguiram me cooptar. No interior do
movimento havia um discurso estabelecido com relao s mulheres negras, um
esteretipo. As mulheres negras so agressivas, so criadoras de caso, no d
para a gente dialogar com elas etc. E eu me enquadrei legal nessa perspectiva a,
porque para elas a mulher negra tinha que ser, antes de tudo, uma feminista de
quatro costados, preocupada com as questes que elas estavam colocando.
508
Neste quebra-gereba feminino, temos imagens de uma fraternidade guerreira
feminina afro-amerndia dialogando nas esquivas-contragolpes aos ataques
epistemicidas com recorte racial propiciado por um exclusivismo no sentido de ser
mulher feminista. Um exclusivismo centrado nos sentidos e questes de uma
feminilidade branca que confronta com sentidos e questes postas pela feminilidade
negra. Neste confronto, como nos conta Llia Gonzlez, temos imagens de um
complexo de superioridade branca despeitada, que, no suportando a fora da
presena feminina negra que afronta, argumentam que esta presena afrontosa o
507
GONZALEZ. 1982, p. 100
508
GONZALEZ, 1991, p.03
300
resultado de uma expresso feminina negra segregacionista de uma arrogncia
indialogvel. Ao mesmo tempo, contraditoriamente, defendem que esta afrontosidade
advm do complexo de inferioridade sentido pelas mulheres negras, produzindo,
assim, o esteretipo da negra ressentida e negra agressiva e que tambm.
Aqui, temos uma exploso de imagens femininas negras guerreiras que no
concebem esta cooptao. Nesse sentido podemos perceber imagens da Me-
Capoeira, convidando Kia Cadwell que vem de longe para afirmar este coro:
Kia Caldwell: O trabalho poltico e acadmico das feministas negras no
Brasil destaca os modos como discursos universalizantes influenciaram a maioria
dos estudos sobre mulheres brasileiras. Vrias feministas negras mostraram que a
falta de ateno relao entre a dominao racial e a de gnero escondeu a
cumplicidade de mulheres brancas com o seu privilgio racial e reforou o status
subalterno das mulheres negras.
509
Nessa pegada dos movimentos, temos imagens da fraternidade guerreira
feminina afro-amerndia fazendo coro com a autora quando ela afirma que a ateno
dada pelo feminismo nica e exclusivamente ao gnero como fonte de opresso que
atinge as mulheres, dificulta o estabelecimento de relaes entre o sexismo e as
outras formas de opresso; recusa outras facetas constitutivas da identidade da
mulher; desconsidera as diferenas e desigualdades entre as mulheres; invisibiliza a
definio de ser mulher em relao s mulheres de outras raas, etnias, classes e
culturas; impede a anlise de como o privilgio de ser branca atua na vida das
mulheres brancas.
Nessa pegada, temos imagens do movimento de esquiva-contragolpe tramado
pela fraternidade guerreira afro-amerndia feminina questionando os paradigmas
unitrios de gnero - desenvolvidos nos anos 60 e 70 pelas mulheres brancas de
classe mdia - ao reivindicar uma nova forma de conceber o sentido de ser mulher.
Um sentido que leve em considerao aspectos como raa, etnia, classe social,
sexualidade e idades. Tais questionamentos trouxeram tona as influncias que
fatores histrico-culturais exercem no processo de formao das identidades e
experincias sociais das mulheres. Assim como levou as feministas no brancas a
refletirem sobre as desigualdades entre as mulheres. E assim, a partir de suas
prprias experincias de opresso, re-siginficarem o que gnero e o que ser
feminista.
Neste quebra-gereba antirracista, percebemos imagens da fraternidade guerreira
negra feminina em tenso combativa com a fraternidade feminina branca. Assim, num
movimento de esquiva-contragolpe, esta fraternidade feminina negra vai indo ao
509
CALDWELL. 2000, p.02
301
encontro de um jogo floreado com a fraternidade masculina negra. De modo que,
juntos, identificados pela opresso racial, tramam suas esquivas-contragolpes s
incessantes prticas racistas.
Assim, temos imagens da Me-Capoeira na ginga do processo identitrio em luta
incessante. E, ento, nesta ginga, convida Stuart Hall ao jogo. Ele aceita o convite
respondendo:
Stuart Hall: O fato de que projetamos a ns prprios nessas identidades
culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores,
tornando-os parte de ns, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos
com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural.(...) A
identidade torna-se uma celebrao mvel: formada e transformada
continuamente em relao s formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. (...) Dentro de ns h
identidades contraditrias, empurrando em diferentes direes, de tal modo que
nossas identificaes esto sendo continuamente deslocadas.
510
Ainda nesta levada dos movimentos de uma permanncia aberta compondo as
jornadas do processo identitrio, temos imagens da Me-Capoeira abrindo o jogo para
chamar a presena de um filho da Me-frica, o professor Kabenguele Munanga, que
escuta o chamado e chega nos contando:
Kabenguele Munanga: Essa identidade, que sempre um processo e no
um produto acabado, no ser construda no vazio, pois seus constitutivos so
escolhidos entre os elementos comuns aos membros do grupo: lngua, histria,
territrio, cultura, religio, situao social etc. Esses elementos no precisam estar
concomitantemente reunidos para deflagrar o processo, pois as culturas em
dispora tm de contar apenas com aqueles que resistem, ou que elas
conquistaram em seus novos territrios.
511
Neste jogo agonstico da identidade diasprica, temos imagens da Me-Capoeira
floreia com Munanga que discute o conceito de racismo, como categoria de anlise
sociolgica, e, assim, procura entender o fenmeno social no qual a pessoa
classificada hierarquicamente segundo caractersticas fsicas - tais como: tipo de
cabelo, cor da pele, traos faciais, culturais e lingusticos - com objetivo de obter e/ou
manter privilgios de um grupo sobre outro grupo da sociedade.
Nesta levada, a fraternidade guerreira negra feminina faz coro com o autor
quando ele alerta para o fato de que, embora o conceito de raa tenha sido superado
na concepo biolgica de diferenciao de grupos genticos, existe, de fato, a
permanncia da experincia do racismo. Isto posto, o autor localiza o racismo como
uma ideologia de opresso que permanece utilizando uma lgica criada dentro da
concepo de raas hierarquicamente posicionadas na sociedade. Nesta levada
relacional o termo raa indica uma construo social que persiste em nossas
510
HALL, 2005, p.12-13
511
GOMES & MUNANGA, 2004, p.14
302
sociedades, recriando e conservando desigualdades que podem ser observadas em
diversas esferas da vida privada e pblica com nuances especficas observveis para
cada sociedade.
512
Nesta construo temos imagens da ginga matrial afro-amerndia nas esquivas-
contragolpes ao fenmeno global do racismo. Imagens de um quebra-gereba diante
dos trs elementos desta construo: o racismo, o preconceito racial e a discriminao
racial. O racismo aparece como construo e permanncia de uma ideologia racista
fundada numa doutrina cientfica ou filosfica. O preconceito racial apresenta-se como
uma disposio afetiva imaginria assentada na crena da inferioridade dos negros em
relao aos brancos. Disposio observvel nas relaes interpessoais. E a
discriminao racial comparece como comportamento coletivo observvel nas
desigualdades da estrutura organizacional da sociedade.
Nestes ataques, de um jogo sujo que trafega entre a explorao e o extermnio
tanto no mbito fsico como simblico, estes trs elementos esto visceralmente
interligados. Na medida em que para uma sociedade operacionalizar a discriminao
racial preciso que ela tenha preconceito (disposio, atitude) e uma doutrina
legitimadora (racismo). Nesse sentido, a luta legal contra o racismo somente pode
atingir a discriminao racial concretizada na estrutura social, pois apenas a educao
pode atingir o preconceito racial, e mesmo assim indiretamente, j que a escolarizao
se baseia na racionalidade prpria da ideologia racista.
Diante disto, podemos ouvir o grito de guerra de uma fraternidade guerreira
afro-amerndia feminina que trama suas esquivas-contragolpes ao sufocamento deste
abrao triplo. Nessa levada, temos imagens das foras matriais protetoras-combativas
que teimam em vitalizar as ligas da famlia estendida nas batalhas contra o
epistemicdio racista nas experincias escolares. Nesse sentido, esta fora reverencia,
fundamentalmente, o movimento de mulheres negras que, na sua multiplicidade de
formas e componentes, comparece nas batalhas por uma educao antirracista.
Nessa levada, numa maneira comunal de conceber a pessoa, referenciamos, de
modo especial, as imagens guerreiras de Petronilha Beatriz Gonalves da Silva que
conquistando territrios, foi uma fora feminina negra decisiva histrica promulgao
da lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de histria e cultura
africana e afro-brasileira na educao bsica. E, assim, abrindo caminhos
promulgao da irm caula: a lei 11.645/08 que estabelece a obrigatoriedade do
ensino de histria e cultura afro-brasileira e indgena. O que fortalece os antigos e abre
512
MUNANGA, 1998; 1999; 2003
303
novos caminhos a uma matrialidade afro-amerndia dando outros sentidos, sabores e
texturas s experincias escolares.
Imagens da fraternidade guerreira feminina afro-amerndia que, por um
momento, arria as espadas, escudos e guardas, limpam as feridas da batalha, se
embeleza e toma as taas nas mos para brindar em roda suas vitrias.
304
4.3. Narrativas festeiras:
Eu vim aqui foi pra vadiar, vadeia, vadeia, t vadiando!
Venha jogar Capoeira, venha!
Menino manhoso
Olha, venha brincar
Venha jogar Capoeira, venha!
Olha venha pra Roda
Brincar, camarada! (Refro)
Venha jogar Capoeira, venha!
Convite pra gente de todo lugar
Venha de qualquer
Canto do universo
Corao aberto
Venha vadiar
(Refro)
Venha jogar Capoeira, venha
Brincar com arte, energia e prazer
Um jogo de paz s felicidade
Escondendo a maldade
Buscando o lazer
(Refro)
Venha jogar Capoeira, venha
Menino manhoso
Olha venha brincar
Venha jogar Capoeira, venha
Olha venha pra Roda
Brincar, camarada!
Venha jogar Capoeira, venha!
513
Yeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Don Oyacy: O y! um modo e um momento de chamar o nome dela: -
Me! Eu vou l e vou me expressar! Vou fazer algo que vai me fazer bem! E eu
tenho que desabafar! A Capoeira uma brincadeira com a permisso, proteo e
participao da Me. Ela feminina.
Ento, se pede a bena, no y, me pra poder comear o jogo. E a, o
nosso respeito pela Capoeira Angola, porque uma Capoeira que voc faz,
literalmente, no cho. uma Capoeira que se faz no cho, voc dorme jogando:
- Ah, aonde voc vai?
- Vou ninar, vou brincar! Vou vadiar!
Naquele tempo vadiar era o qu?
- Ah, esse menino s fica andando pra l e pra c aprontando!
514
513
Venha jogar Capoeira cantiga composta por Mestre Gato Ges
514
Trecho da conversa transcriada com Me Oyacy, realizada em 2010 no Il Ax de Yans, situado no
Stio Quilombo Anastcia no Assentamento Rural ArarasIII na cidade de Araras, interior paulista.
305
Y Slvia de Oy: Haviam capoeiras e mestres que, quando iam para a
Capoeira, traziam nas suas coisas uma cabaa pequenininha. E dentro dessa
cabaa tinha o qu? Os segredos da proteo!
Pra que o capoeira no mate!
Pra que o capoeira no morra!
Pra que o capoeira seja respeitado!
Pra que o capoeira respeite!
Pra que o capoeira no faa da Capoeira
um instrumento de agresso!
Pra que o capoeira jogue a Capoeira na rua
para trazer a festa, a alegria, o aplauso!
Coisas que os mestres antigos, e que hoje j se passaram, sempre
trouxeram consigo. Estes segredos, o patu, e dentro desse patu sempre tinham
sementes. E uma das sementes aquela retirada da cabaa pra fazer o berimbau.
A cabaa o lado fora. Pra passar o berimbau de um mestre para um discpulo,
quando o mestre cufa
515
, a cabaa tem que ser muito bem utilizada, guardada e
cuidada. E dentro desta cabaa guardada ficam os fuxicos da ancestralidade. A
cabaa o lado fora, o lado mstico, o lado mistrio da Capoeira. a cabaa que
transporta a cantiga da festa.
516
Contramestre Pinguim: A festa o relacionamento de tudo isso: das
crianas, dos elementos, da ancestralidade, da poesia. Porque se for s ter
conflito, se for s ter esse relacionamento tenso, no haver festa. Ento, a festa
vem pra amenizar todo esse...[com expresso de dor faz movimentos circulares
com as mos na regio do peito], pra gente sair desse lamento, desse conflito. E
mostrar que, no meio de toda essa guerra, tem que ter uma parte de festa. Tem
que ter uma brincadeira. A festa, ela ... hhh! o conjunto de tudo isso!
A festa a recreao pra quebrar esse... [faz expresso de agonia e
assopra]. Ento, a festa tem que ter todo um ritual. A festa um ritual. um ritual!
Tem o ritual do lamento e da guerra. A, tem o ritual da festa. de onde vem a
confraternizao, onde vai quebrar todas essas energias do sofrimento e do
conflito. E vem tirar a gente dessa coisa... [faz sinal de contrao] e levar a gente
pra outro... [abre os braos]. Levar a gente pra outro ligamento com o universo. A
festa essa coisa ligada com o universo, com a natureza. Momento de
brincadeira, de descontrao. Das comidas, das bebidas. De uma coisa que faz
voc viajar nessa coisa material. Ento, a festa um ritual de tudo isso. E a tem
vrios tipos de festa.
A festa da Capoeira. A festa Roda da Capoeira tem o seu relacionamento
diferente. Quando voc est tocando os instrumentos, os trs berimbaus, os
pandeiros, voc t... [ginga o corpo e faz sinal de chamando]. A, vem essa
vadiagem, essa coisa malandreada, porque um vcio corts. Pego essa palavra
dos velhos mestres, dos velhos africanos, como do Mestre Pastinha. um vcio
corts, uma coisa vagabunda, todos ns carregamos essa coisa vagabunda. A
dana, a arte marcial capoeirista uma coisa cortesa, uma coisa vagabunda.
um momento seu.
517
Nessa entoada, podemos sentir imagens protetoras-festeiras da Me-Capoeira
arteira. Percebemos imagens crepusculares entre uma profunda intimidade familiar e
as aventuras das aprontaes rueiras. Neste movimento, temos o sentimento de
alegria da Me-Capoeira nas feridas religadas e remediadas em afinao com as
foras-crianas. Imagens da filharada ninando no colo da Me-Terra, da Me-frica e
515
Morre; falece
516
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy, realizada em 2010 no Il Ax Omo
Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
517
Trecho da transcriao da conversa com Contramestre Pinguim, realizada em 2010 na sede do Grupo
Guerreiros de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
306
da Me-Capoeira. E ento, desfrutamos de imagens crepusculares da filharada-
capoeira que, ao mesmo tempo em que aparece andando pra l e pra c aprontando
na rua, tambm se revela na intimidade da proteo ninando dentro do ventre-cabaa
da Me.
Nessa levada, temos sinais de uma sensibilidade noturna na imagem da cabaa
como uma vitalidade feminina que carrega o lado fora, o lado mstico, o lado mistrio
da Capoeira, que segue vitalizando as curvas tempo-espaciais e transporta a cantiga
da festa
518
. Assim, o ventre-cabaa da Me-Capoeira comparece alimentando,
religando e protegendo as ligas vitais de uma fraternidade festeira na descontrao
do corpo ferido e guerreiro que se deixa levar para outros ligamentos com o
universo.
519
Esta fora em ritual de festa exibe imagens co-memorativas do
encontro, sempre inicitico, ritualstico e artista, de foras entre as filosofias ancestrais,
as filosofias da matria e nossas filosofias da carne. Nestas imagens festeiras, de um
ritual de tudo isso
520
, vem aos nossos ouvidos a fora-alma-palavra-capoeira
cantando suas poesias em festa:
(O ritual mgico, do ax, uma energia que a gente sente mas no pode descrever)
Quem comanda o ritual
Quem comanda o ritual
Quem comanda o ritual
o toque dolente
de um bom berimbau
Quem comanda o ritual
Quem comanda o ritual (coro-refro)
Quem comanda o ritual
um saber muito antigo
um saber ancestral
(coro-refro)
Quem comanda o ritual
o ax, a fora
a beleza, o astral
(coro-refro)
Quem comanda o ritual
a unio de todos
De todo o pessoal
521
518
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
519
Contramestre Pinguim
520
Contramestre Pinguim
521
O ritual cantiga de Capoeira entoada por Mestre Toni Vargas
307
(O ritual garante o Ax! Traz o Ax l do fundo, l de dentro da gente, l da
ancestralidade da Capoeira. O Ax desse terreiro, rapaziada, vem do fundo do cho!)
O ax desse terreiro
Vem do fundo do cho
Ele entra no p
Vai no corpo todo
At o corao
O ax desse terreiro
Vem do fundo do cho (coro)
522
Estas foras-almas-palavras de mes e mestres nos do dimenses das
ressonncias, fluxos e refluxos crepusculares da festa. Podemos sentir a vitalidade
religadora e remediadora da Me-Capoeira que faz ecoar do seu ventre-cabaa um
toque dolente que mexe com o tempo-espao e vitaliza as ligas alimentadas pelo
saber ancestral, pelo ax, pela a fora, pela a beleza e alegria.
Nesse sentido, temos imagens crepusculares de uma festa guerreira e de um
lamento festeiro que nos levam aos sentidos dados pela Me Oyacy quando ela en-
sina sobre o lamento da ganha. Nas dores e coceiras da religao das feridas em
cicatrizao, na unio em co-memorao pela prpria existncia que co-mandada
pela rede de foras de uma famlia extensa, numa maneira comum-unitria de resistir
e festejar. Assim, podemos imaginar o ventre-cabaa da Me-Capoeira que segue
transportando
523
os fuxicos da ancestralidade afro-amerndia pelas curvas festeiras
dos elos vitais mestre-discpula/o respondendo aos desafios da existncia com toda
manha de mandingueiro, com a alegria daquela coisa vagabunda, daquela
elegncia cortesa.
E ento, temos imagens desta fora matrial afro-amerndia em movimento, que
movimenta que movimentada pelas provocaes numinosas de um ritual que
garante o ax. Neste caminho, temos imagens trajetivas, circulares e pulsantes de
um campo de foras que vem l do fundo, l de dentro da gente, l da ancestralidade
da Capoeira, vem do fundo do cho. Neste movimento de vitalidades, encontramos
sentidos matriais afro-amerndios no campo co-mandado pela Me-Capoeira em
famlia, fazendo da recorrncia do verbos ser e ir uma fonte de sentidos que emanam
um modo festeiro e mandingueiro de existncia da pessoa-comunal e da famlia
estendida em intimidade festeira com a Me-Terra, a Me-frica e a Me-Capoeira.
Nesta levada dramtica, temos a dominante noturna do acolhimento matrial, da
segurana de ninar no colo da me. E esta dominante noturna tambm oferece
sentidos crepusculares do trajeto e do ritmo por meio de imagens desta me-sbia-
522
O Ax desse terreiro trecho da cantiga entoada por Mestre Toni Vargas
523
Y Slvia de Oy
308
amante que trans-porta a famlia-capoeira com sua alma-fora-voz pelo tempo-espao
circular. Nesse sentido, temos a sensibilidade noturna no ninar no interior do ventre-
cabaa da Me-Capoeira e da Me-Terra, e tambm imagens circulares e penetrativas
entre a proteo e o risco, entre o colo e a rua.
Nesse sentido, podemos perceber nas narrativas festeiras a predominncia de
uma sensibilidade crepuscular nos movimentos verbais dramticos e copulativos do
vai e vem, do matar e morrer, do leva e trazer, do abrir e fechar, do ninar e brincar, do
vadiar e aprontar, de segredar e desabafar. Assim como, percebemos uma
sensibilidade crepuscular nos movimentos adjetivos de um modo capoeira, ancestral,
mandingueiro, misterioso, forte, imprevisvel, manhoso, vadio, corts, vagabundo,
brincalho. Movimentos capoeiras que compem, publicamente, a singularidade
ntima-comunal de um momento seu em uma comum-unidade de vida.
Nesta ginga, temos imagens crepusculares da pessoa-comunal e da famlia
extensa em movimentos circulares e pulsantes entre as imagens noturnas da proteo
matrial e da intimidade, abrindo caminhos e coabitando com as imagens diurnas-
crepusculares da movimentao na vida pblica. Desse modo, percebemos imagens
protetoras-festeiras da Me-Capoeira que comparece, na fora do y, pra que a
famlia-capoeira permanea em seu ventre-roda e em movimento vital pelas ruas. E,
nessa relao umbilical, para viver sem matar, sem morrer e sempre trazendo e
partilhando alegrias nas religaes e remediaes protetoras-festeira da famlia
extensa.
Essa crepuscularidade, da proteo e do movimento de religao e remediao
do matrialismo da cabaa, tambm nos remete ao movimento cclico da fora matrial
da cobra regendo os mistrios deste ciclo contnuo e respondendo comunalmente aos
desafios da existncia. E ento, tambm temos imagens festeiras da cobra na
maestria da proteo, do retorno e dos mistrios da vida-e-morte. Neste momento,
chega Me Slvia para nos contar:
Y Silvia de Oy: Tem todo um lado religioso da cobra, tem em algumas
cantigas de Capoeira que falam de Bessm, de Oxumar. Nas religies de matriz
africana Bessm um orix representado pela cobra, A cobra que tem A
natureza fmea que significa o ciclo do princpio-e-fim. E que tambm o arco-ris,
tambm representado pelo arco-ris. E dizem que no fim do arco-ris tem um
pote de ouro, e que esse ouro protegido. Por quem? [risadas] Pelas cobras!
Agora, trazendo pra nossa atualidade, mesmo nesse mundo de consumo,
quem que tem que fazer toda a economia dentro de uma casa? Quem que
pega aquele minguado, vai na feira e tem que trazer tudo? Tem o pote de ouro, e
ns temos o potinho do dinheiro. E somos ns que temos que proteger e defender
este dinheiro e, com ele, fazer a nossa casa funcionar. Fazer a vida dos homens
funcionar. o arco-ris da vida! Ns somos esse arco-ris da vida! E que tambm
a cobra, que tambm Bessm, cobra e arco-ris. E a proteo voltada tambm
309
pra essa questo da Capoeira! E que lindo demais! Porque o arco-ris, a cobra e
a Capoeira so lindas demais! Porque a mulher linda!
Elis: Estas imagens femininas, de uma beleza indominvel do arco-ris
ligado ao pote de ouro, juntamente com a imagem da cobra protegendo o ouro. E
desse ouro da vida que faz a vida da comunidade funcionar, trouxe aquela
imagem, que a senhora contou uma vez, das mulheres protegendo o ouro. Ouro
que a vida das tradies, a vida das crianas, dos mais velhos, de todo mundo.
E protegendo a vida dos homens, mesmo enquanto eles esto na guerra.
Y Silvia de Oy: isso mesmo! Cuida dos mais velhos, protege e orienta
as crianas, as outras mulheres, os homens e a cultura. O ouro ali!
524
Nessa levada, sentimos nas narrativas festeiras a fora matrial afro-amerndia de
religao, de remediao, de acolhida e de caminhada conjunta no tempo-espao
circular. Imagens protetoras-festeiras da Me-Capoeira que carrega a beleza profunda
e ntima da cobra protegendo e dinamizando as ligas vitais do relacionamento de tudo
isso: das crianas, dos elementos, da ancestralidade, da poesia
525
. Relacionamento
profundo, expresso na harmonia compassada das afinaes entre as filosofias
ancestrais, as filosofias da matria e nossas filosofias da carne. Assim, percebemos o
matrialismo no brilho e na beleza do arco-ris da vida e do ouro ali que seguem
tecendo este relacionamento mltiplo pelos caminhos e alimentos festeiros.
Nessa religao e remediao matrial da figura cclica e protetora da cobra,
percebemos imagens protetoras-copulativas da Me-Capoeira protegendo,
constituindo e sendo constituda pela filharada-capoeira. E nos recordamos tambm
de quando a Me Oyacy nos no nos deixa esquecer que tambm temos a cobra
fmea, a orix Eu. Yab que vive na mata, que dona da chuva, das nuvens guas
escuras, dona dos mistrios e da maestria de foras do ciclo das guas.
Nesta entoada das foras cclicas que renovam e refrescam, temos imagens
protetoras-festeiras da cobra, pote de ouro e do arco-ris. E nesta proteo festeira,
temos imagens da fora matrial afro-amerndia exibindo e secretando o brilho e beleza
nas ligas vitais num tempo-espao circular, quilombola e malokeiro em festa. Nessa
movimentao, temos imagens crepusculares da pessoa-comunal como um campo de
foras in-tensas assentadas na reversibilidade e recursividade de imagens que
expressam simultaneamente sentidos co-memorativos de uma intimidade profunda e
de uma vida comunal.
Deste espao trajetivo, circular e pulsante nos vem imagens desta pessoa-
comunal afro-amerndia carregando consigo muitas foras e formas de existncia: as
regncias dos elementos da natureza, de outros animais, do mundo mineral e das
524
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
525
Contramestre Pinguim
310
foras ancestrais. Foras que ressoam em nossas filosofias da carne e constituem a
pessoa-capoeira. Nesta levada das ressonncias, temos imagens protetoras-festeiras
da cobra, da cabaa e da roda, que envolvem sob sua proteo esta movimentao de
foras. Desse modo, percebemos imagens festivas desta maestria feminina da
proteo, do mistrio, da mandinga, da artimanha de fazer a vida funcionar e
proteger o ouro ali
526
.
Esta imagem da proteo matrial da cobra, da roda e da cabaa nos impele a
mergulhar pelas paisagens do interior desta proteo. Neste mergulho, temos imagens
do calor e refresco das festas, das foras-crianas protegidas e brincantes que, sob a
proteo circular e matrial da Me-Terra, da Me-frica e da Me-Capoeira, solta sua
alma-fora-voz minina que diz: Me! Eu vou l e vou me expressar!, Vou ninar, vou
brincar! Vou vadiar!
527
. E assim, dentro desta temos imagens copulativas do encontro
festeiro entre as ressonncias ancestrais, da matria e da carne. Numa comum-
unidade viva em festa.
Neste ressonar, podemos perceber o heri diurno se curvar aos mistrios e
profundidades noturnas e crepusculares que o leva a viajar nessa coisa material e
experimentar outro ligamento com o universo
528
, numa maneira artista, no
humanocntrica, no machocntrica, no adultocntrica e no desnaturalizada de
viver e co-memorar a vida. Assim sentimos imagens pblicas e ntimas da
harmonizao de foras mltiplas em uma pessoa-comunal, em uma famlia
estendida, em uma comum-unidade de vida. Imagens de um modo artista e
mandingueiro de viver e celebrar as foras, os mistrios e a fraternidade festeira de
vida-e-morte. Um vcio corts: uma elegncia festeira.
Nesse modo no adultocntrico, no machocntrico, nem humanocntrico de
celebrao do ciclo contnuo, nos recordamos de quando Me Slvia de Oy oferece
imagens festeiras da materialidade das religaes e retornos do quilombo
529
e
maloka
530
ancestrais continuados.
Y Silvia de Oy: Quando nossos ancestrais negros e ndios, homens e
mulheres jovens e adultos, iam guerrear, iam pras lutas de sobrevivncia, ficavam
os idosos, com sua sabedoria, as mulheres, tambm com sua sabedoria e
experincia, e as crianas. Cabia ento, ficarem se preparando para as festas. As
festas pra chegada das vitrias. E a festa pra poder enterrar os seus mortos. E
todas elas com muitos cnticos! Ento, quando voltavam vitoriosos, quem que
tinha a energia ali contida? E a disposio vinda nos ensinamentos, vinda na
sabedoria dos mais-velhos e mulheres? E quem que tinha a jovialidade pra
poder cantar, danar e recepcionar? De fazer toda aquela anarquia pra
526
Y Silvia de Oy
527
Don Oyacy
528
Contramestre Pinguim
529
Beatriz Nascimento. In: RATTS, 2007
530
MAMANI, 2010
311
recepcionar os que voltaram vivos ou no? Eram as crianas! Com suas
traquinagens e travessuras! So elas que do o brilho do sangue novo! a festa!
As crianas, para ns, em todas as circunstncias, elas so a festa! Num
momento de tenso voc tem a criana! Na nossa matriz africana e indgena no
tem como desvincular do mundo, da natureza: a sabedoria da ancestralidade, a
experincia da anci e ancio, a tenacidade feminina e o esprito da criana.
531
Nesta entoada das narrativas ancestrais temos imagens remediadoras da Me-
Terra e das foras-crianas em religaes festeiras. Imagens do retorno e da
regenerao numa acolhida festeira no colo da Me e nas traquinagens e
travessuras do esprito criana. Nesse sentido, as imagens da festa ressoam imagens
da guerra, em que percebemos imagens femininas afro-amerndias nas paisagens do
embate direto tanto no campo de batalha como em casa nas guerras de resistncia na
proteo alde e nos cuidados com as ancis e ancios, com as crianas e com as
tradies. Imagens femininas da cobra protegendo o ouro ali. Imagens da fora
matrial afro-amerndia respondendo, aos desafios com uma afronta festeira, e
mantendo viva a existncia do ciclo contnuo vida-e-morte e princpio-e-fim entre as
foras-ancis e as foras-crianas.
Assim, podemos sentir imagens combativas-festeiras da Me-Capoeira que
alimenta e protege essa vinculao vital entre as foras ancestrais, ancis, femininas e
crianas. Vinculao que segue tecendo a sabedoria, a experincia a sagacidade e o
esprito da pessoa-comunal numa comum-unidade de vida, numa famlia estendida em
que todos so filhos e filhas da Me-Terra, da Me-frica e da Me-Capoeira.
Imagens copulativas da me-sbia-amante Capoeira arteira, juntamente com
amor filial da famlia-capoeira, co-memorando acontecimentos, encontros e
destinaes
532
festeiras. neste sentido co-memorativo que temos imagens festivas
de uma esquiva-contragolpe aos modos patriarcais de domnio e, assim, percebemos
a fora matrial afro-amerndia religando e remediando os fluxos, refluxos e
ressonncias de uma fraternidade festeira em territrio adverso.
Nessa via, temos imagens diaspricas da festa, podemos perceb-las incitadas
por Hall quando ele nos conta sobre os des-locamentos
533
, comungamos deste sentido
com imagens crepusculares que expressam, simultaneamente, uma sensibilidade
diurna na ruptura e no movimento e uma sensibilidade noturna nos realocamentos
quilombolas e malokeiros. Imagens crepusculares de um lamento-festeiro que trazem
as dores da ruptura na intimidade co-memorativa dos re-encontros.
531
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
532
BERDYAEV, In: FERREIRA-SANTOS, 2011, p.42
533
HALL, 2003.
312
Nessa sensibilidade diasprica, percebemos sentimentos de topofilia e
arqueofilia maestrados no pela ptria amada, mas sim pela mtria amada e ftria
amada numa comum-unidade matrial afro-amerndia de vida. No por um ptrio poder
do conhecimento amordaado, da pessoa individualizada, da terra e da palavra
mortas, mas sim pelo mtrio poder e ftrio poder
534
. Poderes que permanecem
alimentando, protegendo e encaminhando as foras tecels e arteiras que tranam,
esculpem e colorem as ligas vitais de uma famlia estendida, de uma fraternidade
festeira.
Assim, nas narrativas festeiras, desfrutamos de imagens festivas do amor
matrial-filial-fatrial nas co-memoraes quilombolas e malokeiras pela partilha desta
herana e destinao dolente-guerreira-festeira. Isto num modo festeiro e artista de re-
existir e se des-locar nas voltas que o mundo d. Nesse sentido, temos imagens de
uma fora matrial afro-amerndia criana traando sua esquiva-contragolpe festeira
aos ataques machocntricos, adultocntricos e brancocntricos da racionalidade e do
domnio. Imagens da Me-Capoeira criana e sua famlia-capoeira brincante,
maestrando filosofias ancestrais da alegria nas partilhas iniciticas, no encontro
festeiro dos caminhos e da alimentao conjunta. Imagens da alegria compartilhada
numa comum-unidade continuada.
Nestas imagens quilombolas e malokeiras da festa, temos o alimento da alegria
ofertado pelas foras-crianas da Me-Capoeira no ventre-roda-cabaa da Me-Terra.
Imagens da Me-Capoeira caula, minina, brincando no cho, no ritmo e na alma-
fora-palavra, flertando nas ligas tais entre as filosofias ancestrais, as filosfias da
matria e nossas filosofias da carne. E assim, num momento de tenso voc tem a
criana
535
destensionando o corpo ferido e guerreiro, garantindo a alegria de viver e a
continuidade das nossas coisas.
Nesta afinao com as foras-crianas que do o brilho do sangue novo
536
,
temos imagens festeiras do corpo livre e regenerado cantando com sua alma-fora-
voz na cadncia da pulsao do ritmo sagrado da criao e na circularidade do tempo-
espao comunal. Em que percebemos as foras travessas e traquinas de uma
sabedoria brincante que tem a maestria de quebrar a tenso do lamento e do
confronto, abrindo caminhos s cores e ao brilho da festa comunal, e alimentando as
ligas vitais da famlia extensa. Nessa embolada, ouvimos imagens co-memorativas
534
FERREIRA-SANTOS. Em aula na disciplina Olho e a Mo: Antropologia de Uma Educao de
Sensibilidade; no primeiro semestre de 2010.
535
Y Silvia de Oy
536
Y Silvia de Oy
313
daquela trade: amor, memria e criao
537
. Imagens da Me-Capoeira como uma
fora-criana arteira.
Nessa paisagem das traquinagens e travessuras, nos recordamos de quando a
Me Slvia nos d imagens do povo da festa que reina na Capoeira. E ento, vem
aos nossos ouvidos a alma-fora-palavra desta Y nos contando que os/as Ers
tambm so donos e donas da Capoeira:
Y Slvia: Os Ers, que so os orixs na forma de criana, tambm reinam
na Capoeira e protegem o povo da Capoeira. Quando eu digo que os Ers regem
na Capoeira, a gente pode ver pela ingenuidade aparente dos capoeiristas. Voc
pode observar que a maioria, ou todo capoeirista, tem uma ingenuidade no olhar,
tem uma humildade no olhar. So os famosos tadinhos [risadas], mas ti mete!
Mexe com uma criana pra v! [risadas] Mexe com os Ers! [risadas] Ns sempre
dizemos assim, dentro da religiosidade: tome cuidado com os Exs e com os
Ers! o adulto e a criana da festa! Voc nunca sabe o que vem desses dois!
Porque a criana imprevisvel! A festa com muita criana tem sempre alguma
quizumba! A criana mais quieta aquela que voc tem que ficar de olho: alguma
coisa ela est maquinando! E a mais alegre e bagunceira: alguma coisa ela j
aprontou [risadas]! E ns batemos palmas! A gente acha tudo lindo! E a, voc faz
essa relao com a Capoeira: a alegria a beno da Capoeira!
Uma criana, quando nasce uma alegria, uma felicidade! que, da forma
em que a gente vive hoje, a gente no sente muito isso, mas quem traz ainda a
coisa l da mata, dos ndios, dos guerreiros, dos negros, africanos, do povo
caboclo... a vinda de uma criana uma festa de uma semana. So to
abenoadas que muita dana, muita comida, muitos cnticos.
a alegria! Criana alegria! Alis, a festa da criana, a festa dos Ers, a
nica esperana que a gente ainda tem de que a nossa histria, a nossa cultura, a
nossa ancestralidade, as nossas narrativas... ainda vo continuar! a nica
certeza que a gente tem! , nas festas, a continuao do que a gente faz! pra
elas que temos que passar! E elas querem aprender! Porque os Ers, Cosme e
Damio j sabem! E, enquanto a gente conseguir perpetuar essa histria da festa
da crianada, a nossa histria, a nossa existncia estar preservada! A hora que
conseguirem acabar com isso: a a nossa histria tambm acabou! Porque a s
vai ter livro! A, vai ter os doutores, mas e da? por isso que a gente tem as
nossas festas e nossa importncia dada s crianas: pra manter a vida das
nossas coisas. Porque as doenas que pegam qualquer pessoa do mundo, e que
afetam a memria, tambm pegam a ns, que somos pessoas privilegiadas pela
natureza [risadas]! Privilegiadas pela sabedoria ancestral que nenhum livro tem e
nem poder ter!
538
Nesta entoada, temos imagens da Me-Terra e Me-frica acolhendo e
protegendo as traquinagens e travessuras da Me caula: da Capoeira minina que
brinca, oferta e partilha a alegria em continuar vivendo. Respondendo com alegria aos
desafios da existncia. Imagens da Me-Capoeira carregando em seu ventre-roda-
cabaa as foras-crianas na maestria da festa, da quizumba, do fuzu festivo. Assim,
temos imagens dos Ers e Exus como donos da Capoeira, regendo nas mestrias da
alegria, do ardil e das aprontaes. Imagens de uma malandragem brincante e uma
537
BERDYAEV, In: FERREIRA-SANTOS, 2011
538
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo
314
malcia brincalhona. Imagens festeiras da maestria do povo da festa abenoando,
provendo e alimentando a alegria de viver, a alegria e o desejo de fazer-saber, pois a
alegria a beno da Capoeira.
Nessa co-memorao da beno, podemos sentir a fora das ressonncias
festeiras na continuidade da vida nas partilhas iniciticas. E, ento temos imagens do
conhecimento como uma fora viva arteira e no adultocntrica que segue religando e
remediando, com os temperos da alegria, os elos vitais entre as filosofias da carne, as
filosofias ancestrais e as filosofias da matria. Alimentando, protegendo e irradiando
as vitalidades matriais afro-amerndias.
Nesse caminho, temos imagens da imprevisibilidade, no como um problema a
ser resolvido, dominado e exterminado, com objetivo de reverso ao racionalismo
previdente. Pelo contrrio, tomamos a imprevisibilidade como uma qualidade de
sabedoria e respeito aos mistrios de uma comum-unidade no humanocntrica nem
desnaturalizada. Assim, percebemos uma sensibilidade crepuscular do imprevisto
como a astcia da ginga, que acolhe o risco e a faceirice, exibindo, com uma
elegncia festeira, as riquezas do intempestivo nas relaes de vida. Isto num modo
brincante de en-sinar e fazer-saber a nossa histria, a nossa cultura, a nossa
ancestralidade, as nossas narrativas.... assentado numa maneira artista e brincante
de manter a vida das nossas coisas, de manter vivo campo de foras das ligas vitais.
Nesta levada dos mistrios do imprevisto e da luta para dar continuidade
prpria existncia, temos imagens da famlia-capoeira respondendo com uma
elegncia festeira aos desafios etnocidas e epistemicidas operados pela racionalidade
racista e adultocntrica da matriz branco-ocidental. Assim, percebemos as esquivas-
contragolpes matriais afro-amerndias em afronta aos ataques desta razo insensvel
que simbolizada pela figura sisuda dos doutores e pela funo racional e depositria
dos livros.
Neste jogo tenso, nos recordamos do filme Pastinha! Uma vida pela Capoeira
quando Mestre Curi contraria a pretensa hegemonia da palavra escrita escolarizada
reduzida forma livresca do saber, que considerada como meio exclusivo de
preservao e validao de conhecimento. Nesta esquiva, o Mestre aplica seu
contragolpe en-sinando que o conhecimento capoeira vivido est em nosso corpo, faz
parte da pessoa e da comunidade. E, por isto, infinito e permanente, pois que no
possvel roub-lo e nem desmaterializ-lo como pode muito bem ocorrer com o papel,
a escrita e os livros.
Neste contragolpe, temos imagens da relao profunda e ntima da pessoa-
comunal afro-amerndia com a arte e a fora-alma-palavra arteira tecendo as
315
vitalidades do amor, da memria e da criao
539
. E, assim, percebemos alma-fora-
palavra afro-amerndia confrontando e resistindo ao pretenso exclusivismo
escolarizatrio do conceitualismo na palavra amordaada pela racionalidade branco-
ocidental. Nesse jogo, lembramo-nos de quando um mestre africano da tradio oral
nos conta:
Hampat B: E, pois, nas sociedades orais que no apenas a funo da
memria mais desenvolvida, mas tambm a ligao entre o homem e a Palavra
mais forte.
L onde no existe a escrita, o homem est ligado palavra que profere.
Est comprometido por ela. Ele a palavra, e a palavra encerra um testemunho
daquilo que ele . A prpria coeso da sociedade repousa no valor e no respeito
pela palavra. Em compensao, ao mesmo tempo que se difunde, vemos que a
escrita pouco a pouco vai substituindo a palavra falada, tornando -se a nica prova
e o nico recurso; vemos a assinatura tornar -se o nico compromisso
reconhecido, enquanto o lao sagrado e profundo que unia o homem palavra
desaparece progressivamente para dar lugar a ttulos universitrios convencionais.
Nas tradies africanas (...) a palavra falada se empossava, alm de um
valor moral fundamental, de um carter sagrado vinculado sua origem divina e
s foras ocultas nela depositadas. Agente mgico por excelncia, grande vetor
de foras etreas, no era utilizada sem prudncia.
Fundada na iniciao e na experincia, a tradio oral conduz o homem
sua totalidade e, em virtude disso, podese dizer que contribuiu para criar um tipo
de homem particular, para esculpir a alma africana [acrescentamos: e a
indgena
540
].
Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano do homem e da
comunidade, a cultura africana [e indgena] no , portanto, algo abstrato que
possa ser isolado da vida. Ela envolve uma viso particular do mundo, ou, melhor
dizendo, uma presena particular no mundo um mundo concebido como um
Todo onde todas as coisas se religam e interagem.
541
nesta levada da fora matrial afro-amerndia que alimenta as ligas vitais entre
a pessoa-comunal e a fora-alma-palavra, que temos imagens religadoras e
remediadoras da centralidade da foras-crianas dando vida, cores e brilhos s
jornadas do conhecimento ancestral vvido que nenhum livro tem e nem poder ter.
neste sentido que temos imagens co-memorativas do desfrute dos privilgios da
natureza ofertados pelos en-sinamento ancestrais que permitem a vida das religaes
e interaes de tais jornadas comunais.
Vida esta, assentada na alegria de saber-fazer e en-sinar, e, ento, na alegria
das ligas vitais mestre-discpula/o tecendo as bnos das partilhas iniciticas numa
comum-unidade de vida matrialmente alimentada por aquela trade do amor, memria
e criao. Imagens festeiras do conhecimento vivo e brincante pelos campos abertos e
comunais de foras entre as filosofias ancestrais, as filosofias da matria e as
filosofias da carne.
539
BERDAEV, In: FERREIRA-SANTOS, 2011
540
FERREIRA-SANTOS 2006a; MAMANI 2010; MORALES 2008; TESTA 2007
541
HAMPAT B, 1982, p. 168-169 (g.a.)
316
Nesse sentido, desta afinao alimentando e sendo alimentada pela fora-alma-
palavra, nos recordamos de quando o Contramestre Pinguim nos en-sina:
Contramestre Pinguim: Eu uso as palavras do Mestre Gato Preto: so 180
golpes, 180 contragolpes. So 25 letras e de cada letra voc tem que formar no
sei quantas formas, quantas frases. De um movimento, voc tem que fazer 10 e
criar mais um seu. E ento, esse lado espiritual que voc , e que a gente tem que
fortalecer, est dentro do universo criativo da Capoeira. Ento, a cultura negra e a
Capoeira esto em constante movimento, esto em [faz movimento de pulsao
com as mos]. A cultura e a Capoeira ainda so uma menina. um esprito
moleque, um esprito brincalho. No um velho. A Capoeira no um esprito
velho, um esprito novo, ativo, est sempre buscando alguma coisa, t vivo [faz
movimento de pulsao com o corpo e assopra]. E ela quer o contato com o ser
humano, com a natureza.
542
Diante destes em-sinamentos, podemos sentir a fora do movimento e da
criao irradiando e sendo irradiada pelo esprito moleque e brincalho da Me-
Capoeira que faz do conhecimento vivo e da alma-fora-palavra uma fora circular e
pulsante a compor nossos corpos e ambincias.
Essa composio em constante movimento, sempre buscando alguma coisa
e que quer o contato com o ser humano, com a natureza, oferece imagens profundas
e ntimas da relao contido-continente entre a Me-Terra, a Me-Capoeira, a famlia-
capoeira e a pessoa-capoeira. Nesta profundidade ntima, mas que trajetiva, circular
e pulsante temos imagens da fora matrial afro-amerndia brincante, dando vida s
festas comunais entre nossas filosofias da carne e as filosofias ancestrais e da
matria.
Nesse jogo, temos imagens deste reconhecimento e pertencimento capoeira
vitalizados na arte de, simultaneamente vitalizar as heranas ancestrais e mobilizar as
foras da criao. Assim, o Contramestre Pinguim nos d imagens da pessoa-
capoeira-comunal que carrega a fora espiritual que ela , e que tem que ser
fortalecida, pois est dentro do universo criativo da Capoeira. E imagens desta
movimentao constante da cultura negra e da Me-Capoeira mininas que seguem
traquinando na teimosia da vida intempestiva que pulsa. Em que, de um movimento,
voc tem que fazer dez e criar mais um seu, criando, alimentando e protegendo as
ligas vitais do reconhecimento e da pertena, assim como, da tradio e da criao.
Neste caminho das religaes e remediaes arquefilas e topfilas, podemos
perceber as filosofias da carne ressoando, com sua fora-alma-voz, na criao,
alimentao e pulsao de vida de um corpo poeta e comunal ninando no colo da
Me-Terra e aprontando no ventre-cabaa-roda da Me-Capoeira. Uma potica da
542
Trecho da transcriao da conversa entre Contramestre Pinguim e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP.
317
carne que vitaliza as heranas ancestrais e, assim, permanece criando,
compartilhando e dando sentido prpria existncia. Nesse caminho mtico e carnal,
podemos sentir ressonncias festeiras do corpo poeta cantando, com sua fora-alma-
voz, as poesias ancestrais e os seus versos de improviso.
Assim, temos imagens festivas de um repente, de um desafio versado dos
corpos que dialogam num jogo de Capoeira. E, nesta vitalidade, percebemos o corpo
versando as filosofias da carne que vo espiralando e sendo levadas pelas curvas do
tempo-espao circular que tece os elos vitais entre tradio e criao. Nessa pegada,
nos lembramos de quando a professora Leda Maria Martins, falando sobre a
performance no tempo espiralar, nos conta que nesta circularidade:
Leda Maria Martins: O corpo um portal que, simultaneamente, inscreve e
interpreta, significa e significado, sendo projetado como continente e contedo,
local, ambiente e veculo da memria.
543
nesse mesmo sentido, que a danarina professora Inaycira Falco dos Santos
nos oferece imagens do corpo criativo e imaginativo que permite tomarmos as
matrizes corporais como ligaes entre a memria e a criao na sua
expressividade.
544
Nesta via, temos imagens crepusculares deste portal como um
campo de foras, como uma permanncia aberta influenciando e sendo influenciada
pelos outros campos da comum-unidade de vida. Assim, desfrutamos de imagens do
corpo-capoeira poeta emanando e sendo emanado pelas filosofias carne, e, assim,
percebemos as narrativas mticas corporais espiralando o tempo-espao ancestral-
passado-presente-devir.
Desse modo, podemos flertar com ressonncias crepusculares do corpo festeiro
no movimento trajetivo entre o deleite das heranas ancestrais e a liberdade da
criao continuada. E ento, percebemos o corpo poeta, filsofo da carne, dando
prosseguimento vida desta fora matrial afro-amerndia em comum-unidade. Temos
a alma-fora-voz das filosofias da carne que, alm das ressonncias banzeiras e das
foras guerreiras, carregam a vitalidade remediadora de um esprito moleque, um
esprito brincalho que co-memora as partilhas de vida. Imagens festeiras do corpo
capoeira narrador em verso e prosa, tramando as filosofias da carne em religaes
comunais com outros corpos, com as filosofias ancestrais e com as filosofias da
matria.
Nesse sentido, temos imagens da alegria no modo artista de fazer-saber e en-
sinar pelo campo sensvel estendido, em que o conhecimento como fora vital habita
543
MARTINS, 2002, p.89
544
SANTOS, 2006
318
todas as partes do nosso corpo e da nossa ambincia, na inter-relacionalidade
complementar de uma comum-unidade de vida. Nessa levada, lembramo-nos de
quando Me Slvia nos conta de uma aprendizagem vvida de corpo presente:
Y Slvia de Oy: como se diz na Capoeira: eu te ensinei a ler e a escrever,
mas no te ensinei o saber! Se quiser saber, venha aprender! Ler e escrever fcil
de ensinar, agora, saber o que leu, saber o que escreveu, s pra quem viveu!
Ento, a histria que a gente viveu, dos nossos antepassados, que foi passando,
passando, passando... est viva. Por exemplo, a minha cultura e a minha
religiosidade no folclore, como a Capoeira no folclore! A Capoeira um estado
de esprito! Ou o esprito no estado das pessoas [risadas]! A, depende de como que
ela quiser te abraar! Por exemplo, no se pode aplicar outras modalidades de luta
em qualquer lugar, mas eu pratico a Capoeira onde eu estiver! No s no jogo da
roda, mas eu posso brincar, cantar e viver a filosofia da Capoeira quando eu bem
entender e onde eu bem quiser!
A Capoeira como Ex que est em todos os lugares. ele que cuida das
estradas, dos caminhos... Ele o lado amor e dio. Ex amor e dio! E ns tambm
somos meio isso! essa relao amor-dio, que tambm tem na Capoeira quando a
gente est jogando: eu te amo, mas, sinto muito, vou derrubar voc. Ou: eu no
gosto de voc, mas vou brincar contigo agora! a histria da vida! Voc nunca sabe
o que vai vir dela. E Ex e a Capoeira so a histria da vida! Ex a vida, Ex o
incio! Ex o comeo de tudo!
545
Assim, temos imagens festeiras das partilhas iniciticas com seu modo artista de
fazer-saber e en-sinar. Modo afro-amerndio em que temos a sensibilidade diurna da
tcnica em ascenso e a sensibilidade noturna dos mistrios da sabedoria em
mergulho pelas profundidades. Nesta movimentao, podemos perceber a
centralidade do campo sensvel estendido numa maneira de fazer-saber e partilhar
centrada no calor da vida, na intimidade entre as filosofias ancestrais, as filosofias da
matria e as filosofias da carne. E esta intimidade se faz presente na circularidade
tempo-espacial vivida pela pessoa-comunal. Em que vivemos em nossa carne a
nossa histria dos nossos antepassados, ao mesmo tempo em que nossos
ancestrais tambm vivem e participam ativamente das nossas jornadas e destinaes.
Nesta perspectiva, com o auxlio da fora-alma palavra da Me Slvia, tomamos
a histria e presena dos nossos ancestrais, assim como a Capoeira, enquanto uma
fora viva que gera e regenera filosofias de vida. Como uma fora que carregamos em
nossos corpos, em nossas filosofias da carne enquanto um estado de esprito! Ou o
esprito no estado das pessoas [risadas]! A, depende de como que ela quiser te
abraar!. Nessa levada, temos imagens da Me-Capoeira arteira como uma fora que
comparece movimentando e sendo movimentada pela comum-unidade capoeira em
suas ambincias, nas curvas carnais, topfilas e arquefilas da circularidade tempo-
espacial.
545
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
319
E, por falar neste abrao da me-sbia-amante Capoeira que potege, movimenta
e faz vida da comum-unidade funcionar, vem aos nossos ouvidos a alma-fora-palavra
capoeira que chega cantando:
(Apesar de muitas vezes eu no ter pra onde ir, a Capoeira me leva e me traz)
Eu estava na vida
Capoeira me levou
E nas voltas do mundo
Me fez ser quem eu sou
Capoeira me leva,
Capoeira me traz
Capoeira destino
O que ela quer ela faz
Capoeira me leva,
Capoeira me traz (coro)
Capoeira mandinga
, de muito tempo atrs
Capoeira me leva,
Capoeira me traz
Capoeira t no mundo
Quem diria meu rapaz
Capoeira me leva,
Capoeira me traz
Capoeira amor,
harmonia e paz
Capoeira me leva,
Capoeira me traz
Quando a vida d n
A Capoeira desfaz
Capoeira me leva,
Capoeira me traz
Capoeira o saber
Quem vem dos nossos ancestrais
Capoeira me leva,
Capoeira me traz
Capoeira a rasteira
Derrubando o capataz
Capoeira me leva,
Capoeira me traz
Capoeira destino
O que ela quer ela faz
320
Capoeira me leva,
Capoeira me traz...
546
Nesse sentido, percebemos imagens dramticas da Capoeira na volta ao mundo
e da famlia-capoeira em suas partilhas sempre iniciticas, inaugurativas, nos comeos
e recomeos dos caminhos. Nos encontros e destinaes guerreiras-festeiras em
nossos des-locamentos diaspricos. Nessas jornadas, percebemos uma sensibilidade
crepuscular nos trajetos circulares e pulsantes entre a proteo matrial e a
movimentao dos des-locamentos que constituem da pessoa-capoeira nas voltas do
mundo.
Nesse sentido das des-locaes de foras que levam e trazem outras foras,
relembramos das palavras da Me Slvia ofertando imagens das maestrias capoeiras
da fora Exu nas lutas festeiras. Luta que a prpria existncia viva enquanto uma
fora em movimento. Assim, temos a presena de Exu no ventre-roda-cabaa da Me-
Capoeira movimentando foras da esquiva-contragolpe e das vadiaes brincantes
nas nossas destinaes guerreiras-festeiras, nas nossas aprontaes rueiras.
Nessa movimentao da carne, dos caminhos e encaminhamentos, sentimos
imagens desta fora Exu que reina na Capoeira carregando, alm de seu princpio
masculino, tambm o princpio feminino na presena da Legbara, que comparecem
numa mestria conjunta nesta fraternidade guerreira e festeira, enquanto dona e dono
da luta, da festa do movimento e do corpo, maestrando as filosofias da carne no
intempestivo da vida. Uma fora intempestiva, ardilosa, que a prpria vida. Uma
fora que leva e traz foras, que mobiliza a pulsao e a circularidade dos elos vitais
entre o alimento ancestral e as destinaes linhageiras da criao e recriao.
assim, no calor da excitao das vitalidades, que ouvimos a imagem de que
Ex a vida. o incio!. Neste caminho, temos, ento, o retorno do incio naquele
sentido inaugurativo e in-augurativos das partilhas iniciticas nas jornadas de foras
vitais carne-matria-ancestalidade-destinaes. Assim, temos imagens de Ex como
uma fora que comparece vitalizando a circularidade in-tensa das foras inter-
relacionadas e comum-unitrias. Desse modo, percebemos esta fora mensageira,
religadora e remediadora, que, maestrando a pulsao, a reversibilidade e
recursividade da vida em seus incios, maestram os caminhos e impulsos iniciticos
nos movimentos e jornadas das foras vitais.
Desse modo, temos imagens crepusculares da luta entre foras,
simultaneamente, antagnica e complementares da relao amor-dio de uma vida
in-tensa na multiplicidade de relaes. E assim, podemos perceber a Me-Capoeira,
546
Capoeira me leva - cantiga entoada por Mestre Toni Vargas
321
carregando as maestrias de Exu quando marca presena em todo lugar no mundo,
que aparece como uma fora matrial afro-amerndia que, ao mesmo tempo em que
o amor/ harmonia e paz, tambm a rasteira/ Derrubando o capataz. nesse
sentido crepuscular, de foras que antagonizam, se requisitam e se complementam,
exigindo a malemolncia e a malandragem do princpio feminino da ginga.
Nesta maneira mandingueira de fazer-saber e en-sinar as artes estrategistas,
temos imagens deste matrialismo travesso de me-sbia-amante nas esquivas-
contragolpes pelos caminhos, movimentando o ciclo contnuo de vitalidades
remediadoras. Nesta ginga de remediar e mediar, a Me-Capoeira comparece em
protetoras-festeiras de Quando a vida d no e A Capoeira desfaz. Imagens de uma
fora incontornvel, in-tensa e intempestiva que o destino/ O que ela quer ela faz,
pois como diz a Me Slvia, A, depende de como que ela quiser te abraar!.
Nessa levada de uma fora intempestiva, a me-sbia-amante Capoeira,
carregando em seu ventre-roda-cabaa as maestrias de Exu, exibe imagens de uma
vitalidade dona do movimento, dos caminhos e do corpo nos imprevistos da histria e
do devir da vida intempestiva. Nesta movimentao, esta fora comparece no ventre-
roda-cabaa da Me-Capoeira na maestria da recursividade e reversibilidade visceral
entre luta e festa.
Nessa relao misteriosa, indominvel e imprevidente, percebemos a imagem do
heri diurno, racionalista e humanocntrico, curvar-se na circularidade pulsante da
ginga fascinante, sorrateira e estrategista da fora matrial capoeira. E ento, temos
imagens crepusculares na elegncia festeira de Exu que en-sina o modo capoeira de
sorrir pro inimigo e a aceitar o desafio com vontade de lutar. E que, juntamente com
os Ers e as Ers, so os donos e donas da festa, da gargalhada e do ardil. Assim,
en-sinam a famlia estendida a se divertir na luta e a lutar se divertindo, respondendo,
com festa e elegncia aos desafios da existncia. E, nesta mestria festeira da luta,
lembramo-nos daquela expresso capoeira que diz: voc no faz zangado o que eu
fao brincando
547
.
Nessa levada, como uma coisa puxa outra, vem aos nossos ouvidos a palavra-
capoeira travessa que canta:
R, r, r, r!
Eu vou rir de voc!
R, r, r, r!
Eu vou rir de voc!
R, r, r, r!
Eu vou rir de voc!
548
547
Expresso capoeira de domnio pblico
548
Cantiga de domnio pblico
322
Nessa levada percebemos esta maestria das foras in-tensionais tecendo as
ligas da comum-unidade de vida. Assim, temos o retorno do sentido da Capoeira como
tudo o que a boca come, nas amarguras e douras, e nas surpresas do recheio pelos
caminhos curvos da volta ao mundo, na volta que o mundo deu, na volta que o
mundo d. E neste intempestivo da vida de uma festa guerreira, ou de guerra
festeira, que nos recordamos da arte de viver os riscos, os imprevistos e a ginga dos
sotaques dentro do ventre-cabaa-roda da Me-Capoeira. E novamente vem em
nossos ouvidos a nossa conversa com a Me Slvia quando assuntamos:
Elis: Nessa coisa indominvel e misteriosa dos sotaques nas festas, a
gente percebe a palavra movimentando o tempo, a paisagem e os estados de
esprito, no percebe?
Y Slvia: isso mesmo, minina! Vou te dar um exemplo: h muito, muito
tempo atrs, uma certa mulher, chamada Sete Saias, puxava uma cantiga assim:
Eu no vou na sua casa
pra voc no vir na minha
Sua boca muito grande
vai comer minha farinha!
A, algum tinha que responder:
Mas eu no vou na sua casa
porque eu no sei chegar l
Mas pra eu saber o caminho
eu mando meu sabi!
A vai:
Sabi que em sua casa canta
na minha no vai cantar
Da minha farinha voc no come
mas eu como do seu ju!
um sotaque cantado pelo povo Caboclo, Baiano, Exu... cantado pela
nossa ancestralidade! E que cantado na Capoeira! A, a pessoa que no sabe a
histria, no sabe das presenas, no sabe o porqu destas cantigas, apenas
percebe: -Ai, um desafio, ento eu vou pra cima! Mas sabe l o que significa?
Pode ser que, de repente:
Um vai comer da farinha,
outro no quer comer da outra farinha,
E vai o sabi
e os dois juntos vo pra mesma cabaa
comer o ju!
[risadas] E a que est a diferena entre o ler e escrever e o saber!
Tem que viver pra aprender!
549
549
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
323
Nesta girada festeira das voltas que o mundo d, ofertam sentidos da vida
intempestiva nas remediaes dos mistrios, da fora metafrica, das religaes entre
fora-alma-corpo e fora-alma-voz mobilizando as foras ancestrais e as foras da
matria. Nessa levada, temos imagens da palavra-capoeira que carrega consigo os
princpios femininos da ginga, da malandragem e da malcia nos desafios festeiros. E,
assim, esta fora-alma-palavra comparece maestrando o jogo, movimentando
filosofias ancestrais, da matria e da carne nas curvas do tempo-espao intempestivo,
na volta ao mundo. Nesse sentido, podemos perceber a palavra-capoeira como esta
fora viva que carrega maestrias do ardil, do movimento, dos caminhos e,
fundamentalmente, da luta e da festa.
Nesse sentido, percebemos a palavra-capoeira mensageira na luta do jogo,
tramando suas esquivas-contragolpes e floreios, gerando e regenerando relaes e
paisagens. Neste jogo, temos imagens da famlia matrial da Me-Capoeira
respondendo aos desafios da existncia num modo mandingueiro e festeiro de lutar na
vida, de fazer-saber, en-sinar e partilhar foras vitais.
Nessa levada, podemos perceber o ventre-cabaa da Me-Capoeira que trans-
porta a intimidade comunal de uma famlia extensa em festa. Assim, temos imagens
da famlia-capoeira unida nas profundezas do ventre-cabaa-roda comendo o ju,
sendo alimentada em festa pela Me-Capoeira. Imagens co-memorativas de um modo
festeiro de responder aos desafios da existncia, na intimidade comunal e misteriosa
de uma fraternidade festeira que afronta com sua presena.
Nestas jornadas arteiras de alimentao conjunta, podemos retornar quele
primeiro poema que abre esta sesso das narrativas de festa, quando Mestre Gato
Ges canta: Brincar com arte, energia e prazer/ Um jogo de paz s felicidade/
Escondendo a maldade/ Buscando o lazer. Nesse sentido, percebemos uma
sensibilidade crepuscular da recursividade e reversibilidade da luta co-memorativa
tecendo as jornadas entre ambincias comunais e paisagens in-ternas. Desse modo,
percebemos a fora matrial afro-amerndia da Me-Capoeira. Me que protege e
oferta alimentos e caminhos nas religaes e remediaes da famlia-capoeira nas
voltas do mundo que tudo o que a boca come.
Nessa levada de responder com festa s douras e apimentaes da vida, vem
aos nossos ouvidos a alma-fora-palavra do Contramestre Pinguim quando ele nos
conta:
Contramestre Pinguim: E vem a coisa da vadiagem e da vagabundagem.
E a Capoeira no uma vagabundagem inocente, uma dana maliciosa. A
Capoeira uma dana maliciosa. E essa dana maliciosa tem que se expressar.
Mas de que forma? uma dana expressiva. defesa e depois ataque. Ela nunca
ataque e depois defesa. defesa! Por isso, tem essa coisa da nga, eu ngo:
-Ai, no, meu sinh!
324
Voc vai apanhar!
Eu no...
Nunca, quando o cara vai te bater, ele acha que voc vai reagir. A tendncia
achar que voc vai se humilhar pra apanhar. Ento, nessa treta, esse
relacionamento se misturou. Mas Capoeira no uma luta de ataque, de
agresso. Mas s que misturou as coisas na necessidade de defesa. A Capoeira
no agresso, defesa. Ela uma brincadeira muito sria, uma sabedoria
maliciosa. um esprito brincalho, uma coisa vadia, cortesa. Uma brincadeira de
criana. A Capoeira alegria de viver!
550
Neste jogo degustamos das douras e amarguras do intempestivo da vida que
pulsa em luta festeira, alimentada pela alegria de viver. Dessa forma, percebemos
exploses de uma sensibilidade crepuscular nas imagens frenticas da treta que
misturou as coisas. Neste frenesi, podemos flertar com paisagens internas e
externas da luta, do jogo in-tenso, de uma astcia feminina na elegncia guerreira
que trama suas esquiva-contragolpe num modo artista de resistir. Imagens da
resposta festeira e imprevista na perspiccia do aoite e na beleza fascinante da
destreza e dramatizao.
Assim, podemos degustar da crepuscularidade de uma luta brincante e maliciosa
de uma brincadeira muito sria, de um esprito corts e perigoso, do contragolpe e da
nga. Imagens matriais da ginga, da mandinga e da malandragem nesta proteo
festiva no cuidado em manter a existncia, na defesa comunal da alegria de viver.
E ento, temos imagens festeiras da batalha num sentido protetivo-festeiro de
uma alegria ntima e comunal, de quando vem aquela coisa da vadiagem, da
vagabundagem e somos arrebatados pelas provocaes numinosas de um esprito
brincalho, uma coisa vadia, cortesa. Uma brincadeira de criana. Dessa maneira,
podemos sentir imagens desta fraternidade festeira em uma famlia estendida religada
e remediada pelas partilhas iniciticas, num modo mandingueiro de fazer-saber e en-
sinar as artes da proteo e da festa em uma comum-unidade de vida.
Assim, desfrutamos de imagens comum-unitrias da fora matrial-afro-
amerndia maestrando, com sua malcia festeira e intempestiva, suas esquivas-
contragolpes aos ataques racistas e etnocidas tramados pela pretensa hegemonia
patriarcal-branco-ocidental. E, neste quebra-gereba, percebemos imagens do princpio
feminino e criana da mandinga, da malandragem e da ginga, na maestria dos
mistrios, do ardil, das foras metafricas, do campo sensvel estendido, do risco e do
fascnio, da recuperao e da transformao, de uma elegncia maliciosa e festeira.
Nesse sentido, temos imagens da famlia-capoeira respondendo aos desafios da
existncia com uma afronta festeira, num modo mandingueiro e artista de resistir. E,
550
Trecho da transcriao da conversa entre Contramestre Pinguim e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP.
325
assim, permanecer tecendo, com alegria de viver, nas religaes com a fora da
disposio e do desejo de criana, a sabedoria ancestral e anci e a perspiccia
feminina, as ligas vitais de uma comum-unidade matrial de vida. Nesta persistncia
vvida, a prpria a alegria de viver por si s j comparece como uma afronta, como
um desacato ao plano de extermnio e/ou aculturao tramado pela razo insensvel
eurocentrada.
Assim, nesse afrontamento festeiro, temos, num contragolpe afro-amerndio, a
expresso co-memorativa das ligas vitais religadas e remediadas, festejando dentro do
ventre-cabaa-roda da Me. Assim, percebemos uma sensibilidade crepuscular nas
imagens diaspricas-festeiras. Nessa percepo, encontramos sentidos travessos da
luta que exibe imagens tanto da ruptura e da dolncia em um antagonismo
inconcilivel entre dispora e alegria; como tambm expressa imagens da religao e
da remediao em uma complementariedade e requisio entre dispora, guerra e
festa. Nesse sentido diasprico-festeiro das religaes e remediaes desfrutamos de
imagens copulativas desse des-locamento no cruzamento dos caminhos, no encontro
ntimo e comunal de uma da famlia estendida dentro da roda-ventre da Me-Terra, da
Me-frica e da Me-Capoeira.
Estas imagens festeiras da maloka e do quilombo continuado, de uma comum-
unidade co-memorando as religaes vitais do encontro, traz aos nossos ouvidos a
fora-alma-voz da famlia-capoeira em festa cantando assim:
s vezes me chamam de negro
Pensando que vo me humilhar
Mas o que eles no sabem
que s me fazem lembrar
Que venho daquela raa
Que lutou pra se libertar
Que criou o Maculel
E acredita no Candombl
Que tem sorriso no rosto,
a ginga no corpo
e o samba no p
E que tem sorriso no rosto
a ginga no corpo
e o samba no p...
Perguntei ao camar: o que meu?
O que meu? Irmo!
, meu irmo do corao
O que meu? Irmo!
Camar o que meu?
O que meu? Irmo!
, meu irmo do corao
O que meu? Irmo!
551
551
s vezes me chamam de negro cantiga entoada por Mestre Ezequiel
326
Nessa levada, podemos ouvir imagens daquela esquiva-contragolpe, numa
afronta festeira s tentativas racistas de humilhao e desintegrao familiar, de
amordaamento das ligas vitais de uma famlia estendida, de uma comum-unidade de
vida. Neste jogo tenso, relembramos da Frantz Fanon quando percebemos o ataque
racista que menciona o corpo negro em terceira pessoa, e, ento sentimos a
esquiva-contragolpe capoeira exibindo, com exuberncia, o corpo negro em trs
pessoas: na reponsabilidade de manter a religaes e remediaes das foras vitais
do prprio corpo, da prpria raa e da ancestralidade.
Nesta responsabilidade alimentada pelo materialismo das religaes e
remediaes, temos imagens matriais da astcia feminina afro-amerndia da ginga
quando o ataque racista prev a humilhao e tem como resposta a co-memorao, o
amor e a criao. Quando o ataque racista intenta a desintegrao, tem como esquiva-
contragolpe as religaes e remediaes das foras ntimas e comunais de uma
fraternidade guerreira-festeira que permanece. Neste jogo tenso, encontramos uma
fraternidade matrial afro-amerndia que co-memora: as ligas profundas de uma famlia
estendida que perdura no reconhecimento e pertencimento dessa irmandade vvida; a
fora daquela raa que lutou pra se libertar; a beleza do sorriso no rosto e destreza
da ginga no corpo; e a elegncia guerreira na resposta festeira aos desafios da
existncia, com a malcia brincalhona e mandingada de um samba no p.
E, por falar nesta fora, beleza, destreza e malcia expressadas na fora
metafrica de um samba no p, retornamos s imagens de um corpo poeta tramando
suas filosofias da carne, de um corpo poeta que sabe dizer no p. Neste retorno,
percebemos os movimentos desta trama no entrecruzamento de caminhos, religados e
remediados, entre a fora-alma-corporeidade, a fora-alma-palavra e a fora-alma-
ancestralidade. Isto na proteo circular de um ventre-cabaa-roda e no ritmo sagrado
da criao, e, assim, na intimidade profunda do amor filial com a Me-Terra, a Me-
frica e Me-Capoeira.
Essa levada concntrica do encontro ntimo e comunal da famlia-capoeira,
maestrado na sensibilidade protetora-festeira deste abrao matrial e circular, nos
encaminha s exploses de imagens matriais nas religaes e remediaes festeiras
de um Samba de Roda. E, por falar desta predominncia matrial que integra o
multiverso da Capoeira, convidamos para esta roda festiva a fora-alma-palavra de
sambadeiras e sambadeiros do recncavo baiano terra-me ancestral da Capoeira
me que carrega em si o Maculel e o Samba de Roda.
327
Alva Clia Medeiros: O samba na verdade a gente sabe que de origem
africana, os escravos quando eles vieram trouxeram seus anseios, seus desejos,
tradies, ideais. E na verdade no morreu, continuou.
552
Duzinho: [No samba de roda] voc v que algumas msicas so cantigas
de roda, a gente canta at algumas msicas que so entoadas dentro dos
terreiros pelos caboclos (...) e at a gente faz trovas tambm, poesias, versos.
Ento pra mim uma mistura de ideais, de culturas, uma mistura de um saber, um
saber que s o prprio nativo da criao do samba que sabe sentir isso a.
553
Dalva Damiana de Freitas: O samba a vida, a alma, a alegria da
gente (...) lhe digo, eu estou com as pernas travadas de reumatismo, a presso
circulando, a coluna tambm, mas quando toca o pinicado do samba, eu acho que
eu fico boa, eu sambo, pareo uma menina de 15 anos.
554
Alva Clia Medeiros: O samba de roda, pra mim, algo espontneo, algo
que mexe com o corao, mexe com o corpo, mexe com a mente, mexe com toda
a estrutura nossa.
555
Nesta movimentao, podemos sentir predominncias de uma sensibilidade
crepuscular nas imagens copulativas das partilhas na tradio e criao, na velhice e
jovialidade, na unidade mltipla, na razo sensvel. Desse modo, percebemos uma
dominante postural copulativa na relao profunda do conhecimento como fora viva
em contato com a sensibilidade extensiva da pessoa-comunal. Isto, numa maneira
artista de fazer-saber e partilhar vitalidades.
Nesse sentido, so as narrativas festeiras que exibem, de maneira mais
descarada, imagens da religao e da remediao matrial afro-amerndia tecendo os
elos da maloka e do quilombo continuados. Nesta teia co-memeorativa dos encontros
e partilhas iniciticas que pessoa, arte, conhecimento e cultura aparecem como
foras vivas comunais, como estruturas mveis e movedias que configuram uma
permanncia aberta assentada na topofilia e na arqueofilia de um espao-tempo
espiral.
Nessa sensibilidade extensiva que constitui uma abertura permanente, temos
imagens do heri diurno e racionalista se curvando regncia matrial, noturna e
crepuscular, de uma fora intempestiva, afrontosa e brincante, que a vida, a alma,
a alegria da gente. Uma fora desordeira, travessa, que, com suas estripulias mexe
com o corpo, mexe com a mente, mexe com toda a estrutura nossa. E nesse
remelexo de foras, tem as habilidades nesta maestria, no quem sabe apenas
conceituar, descrever e explicar, mas sim quem sabe sentir isso a e contrariando as
552
Sambadeira do Samba de Roda Recncavo Baiano So Francisco do Conde BA. In: IPHAN,
2006, p. 72
553
Manoel Domingos da Silva, sambador conhecido como Duzinho do Samba Chula de Teodoro Sampaio
Recncavo Baiano BA. In: IPHAN, 2006, p. 72
554
Sambadeira do Samba de Roda - Recncavo Baiano Cachoeira BA. In: IPHAN, 2006, p.57.
555
Sambadeira do Samba de Roda Recncavo Baiano So Francisco do Conde BA. In: IPHAN,
2006, p. 56
328
linearidades e dicotomias da razo insensvel branco-ocidental e exercitando as juntas
e curvas nas partilhas afro-amerndias de vida.
Neste regime revolvido de imagens, nas narrativas festeiras percebemos, de
modo mais exuberante, uma pregnncia expansiva do movimento circular, pulsante e
trajetivo dos elos vitais de uma comum-unidade de vida. nas imagens da roda em
festa que temos picos orgsticos do materialismo afro-amerndio-capoeira perceptveis
na redundncia das imagens copulativas entre foras vitais. Imagens crepusculates da
in-tenso e harmonizao de foras, da trajetividade e profundidade dos elos no
campo in-tenso de foras entre a carne, a ancestralidade e a matria. Ligas que
aparecem vitalizadas na intimidade comunal das partilhas iniciticas, no encontro co-
memorativo de uma famlia estendida em que todos so filhos da Me-Terra, da Me-
frica e da Me-Capoeira.
Nessa levada co-memorativa da matrialidade travessa, vem aos nossos ouvidos
a alma-fora-voz da famlia-capoeira cantando a chegada comunal para vadiar:
Dona da casa,
me d licena
Dona da casa,
me d licena
Me d seu salo
para vadiar
me d seu salo
para vadiar
me d seu salo
para vadiar
Cheguei, cheguei!
Eu cheguei
cheguei agora
Cheguei, cheguei!
Eu cheguei
cheguei agora
Cheguei, cheguei!
Eu cheguei
cheguei agora
Eu cheguei com Deus
E Nossa Senhora
Cheguei, cheguei!
Eu cheguei
cheguei agora
Eu aqui no samba
eu cheguei agora
Vou batendo o meu pandeiro
Eu vou tocando a minha viola
Eu aqui no samba
eu cheguei agora
Vou batendo o meu pandeiro
Eu vou tocando a minha viola
329
Eu vim aqui foi pra vadiar
Eu vim aqui foi pra vadiar
Vadeia, vadeia,
T vadiando
Eu vi a pomba na areia
Vadeia, vadeia, vadei...
556
Nesta levada da vadiao, somos levados a retornar quelas imagens, ofertadas
pela Me Oyacy, pela Me Silvia e pelo Contramestre Pinguim, de uma brincadeira
com a permisso, proteo e participao da Me
557
para trazer a festa, a alegria, o
aplauso!
558
; para abrir os caminhos por onde vem essa vadiagem, essa coisa
malandreada de um esprito moleque, um esprito brincalho que est sempre
buscando alguma coisa, t vivo.
559
Nesta levada travessa, desfrutamos de imagens festeiras da pessoa-comunal
tanto na particularidade das paisagens internas desta vadiagem que um momento
seu
560
ressoando nas filosofias da carne. Como tambm imagens da famlia estendida
que so ressonncias das muitas foras que compe esta ambincia circular no
relacionamento de tudo isso: das crianas, dos elementos, da ancestralidade, da
poesia
561
. Nesta particularidade comum-unitria, tomamos a pessoa, o conhecimento
e a ambincia da casa-ventre-roda como permanncias vvidas; tecidas por uma
dominante copulativa entre a sabedoria da ancestralidade, a experincia da anci e
ancio, a tenacidade feminina e o esprito da criana
562
.
Nesta tessitura, podemos perceber, na movimentao dos verbos ser, ir e vir,
trazer e buscar, imagens desta intimidade comunal mesmo que conjugado em primeira
e em terceira pessoa do singular. O que insinua uma singularidade mltipla, da pessoa
como uma fora singular que caminha in-tensamente acompanhada por muitas outras
foras. Nessa caminhada conjunta, temos imagens co-memorativas dessa coisa
cortesa de pedir a bena Me pra poder comear o jogo de pedir licena Dona
da casa para inaugurar a brincadeira.
Uma elegncia mandingueira da pessoa-comunal arteira que tem a arte de
saber chegar, que pisa maneiro, que pisa devagarinho, que respeita as
profundidades noturnas dos mistrios da volta ao mundo, pois aprendeu que quem
556
Sequncia de cantigas de Samba de Roda do recncavo baiano domnio pblico
557
Don Oyacy
558
Y Silvia de Oy
559
Trecho da transcriao da conversa entre Contramestre Pinguim e Elis, realizada em 2010 na sede do
Grupo de Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, ou seja, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes
Afro-brasileiras na USP.
560
Idem
561
Idem
562
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
330
no sabe andar, pisa no massap e escorrega.
563
E, ento, conhecedora dos
fundamentos, reverencia as foras femininas que regem aquele cho e que do a
bena para a vadiao com a permisso, proteo e participao da dona da casa,
dona do salo, dona do terreiro, dona do lugar. Assim, temos imagens noturnas-
crepusculares da famlia-capoeira vadiando no interior de um ventre-roda-cabaa,
exibindo sentidos protetivos-festeiros do refgio, do enraizamento e do repouso seguro
dentro da casa-roda-quilombo-maloka.
Nesta exibio circular em intimidade com a Me-Terra, recordamos de quando
Bachelard nos fala da imaginao material do elemento terra, que carrega, justamente,
estes sentidos noturnos do acolhimento e do aconchego.
Bachelard: A casa, o ventre, a caverna, por exemplo, trazem a mesma
grande marca da volta me. (...) Os valores onricos tornam-se cada vez mais
estveis, cada vez mais regulares. Todos eles visam ao absoluto das potncias
noturnas, das potncias subterrneas
564
; vida subterrnea que , para tantas
almas, um ideal de repouso.
565
[No entanto, como j dissemos, trata-se de] um
repouso enraizado, um repouso que tem intensidade e que no apenas essa
imobilidade inteiramente externa reinante entre as coisas inertes, [Mas sim, diz
respeito s potncias que nos arrebatam para] a seduo desse repouso ntimo e
intenso.
566
Nesse sentido, desfrutamos de imagens femininas e noturnas do interior da
casa-ventre-roda da Me-Terra, da Me-frica e da Me-Capoeira. Bem como temos
imagens crepusculares das ligas vitais do amor matrial-filial em uma comum-unidade
de vida em festa. Neste repouso ntimo e intenso retorno me-sbia-amante para
vadiar em famlia, num jogo festivo, e, de maneira mais gritante, num samba de roda
que temos exploses de imagens do amor filial-matrial e do ciclo contnuo.
Nestas ligas da famlia-capoeira, percebemos uma dimenso ntima e intensa da
roda, do ninar e brincar no colo da Me-Terra. Nessa percepo, tomamos imagens da
famlia-capoeira situada no interior da cabaa e dentro do pote de ouro protegido pela
cobra. Em que a religao e remediao circular e pulsante da umbigada marcando o,
das entradas e sadas no centro e na superfcie da roda. O que nos d imagens
matriais do ciclo contnuo entre tradio e criao, sob os mistrios da proteo
circular da cobra e da cabaa provendo a existncia como uma permanncia aberta.
Neste caminho, dos trajetos reversveis e recursivos entre o corao e a pele da
roda, temos imagens de uma membrura
567
em que a famlia-capoeira ,
simultaneamente, o mago e o revestimento, a juntura e a membrana da roda, Dando
563
Expresses capoeiras de domnio pblico e que aparecem recorrentemente nas cantigas
564
BACHELARD, 2003, p. 10
565
BACHELARD, 2003, p. 04 (g.a.)
566
BACHELARD, 2003, p. 04 (g.a.)
567
MERLAU-PONTY. In: FERREIRA-SANTOS, 2005c
331
imagens copulativas da ligao umbilical Capoeira-capoeiristas e mestre-discpula/o
como suas ligas vitais mergulhadas no repouso ntimo e in-tenso das guas maternas
e do aconchego subterrneo. Assim, temos imagens da fora matrial afro-amerndia
na roda viva, constituindo, num s movimento, tanto a vida da semente quanto a
vitalidade da placenta. Nesta recursividade e reversibilidade pulsante, podemos
perceber uma esquiva-contragolpe matrial afro-amerndia que exibe a suas
sinuosidades curvilneas diante dos golpes patriarcais-branco-ocidentais que intentam
o exclusivismo das imagens lineares, etapistas e ascensionais da racionalidade diurna,
temos imagens circulares de uma espiral descensional que expressa uma feminina
sensibilidade crepuscular e noturna.
Nesta proteo matrial, desfrutamos de imagens femininas da roda-protetora-
festeira. Aparecendo na resistncia transportadora de uma cabaa e na beleza e o
fascnio emanado nas imagens da cobra e da sereia. Essa crepuscularidade, da
movimentao curvilnea da cobra e da sereia, nos do sentidos de uma recursividade
e reversibilidade entre: a segurana da proteo; e o ardil nos temores do fascnio.
nesta reversibilidade recursiva que percebemos as imagens de respeito e reverncia
s foras femininas donas dos mistrios da mandinga.
nesse reconhecimento que encontramos sentidos crepusculares entre o temor
diurno da queda e a intimidade noturna com o cho como expressos no verso capoeira
que diz que: quem no sabe andar, pisa no massap e escorrega. Nessa levada de
uma cautela sensvel aos mistrios da Me-Terra que ressoam nas filosofias da carne
e na ambincia, lembramo-nos de quando Marco Carvalho nos conta:
Besouro: Capoeira leveza e pandeirada. Sou criatura que insisti por viver
o diverso e o enviesado. Sou homem e sou Besouro. Mangang voador e para
mim avoar no falsear com o seguro. (...) Mas que samba tambm avoa, s que
mesmo do batuque que sabe. Sei rima e sei mandinga porque samba tambm
pode ser demanda, meu camarado.
568
Era cobra no samba. E no ofcio de cobra encantar passarinho?
Acompanhe. (...) Ia chegando e rejuntando gente. (...) E a gente se esgueirava
pelas vielas, pisando o cho com indolncia e pirraa. Gingando e fazendo
visagem, at se achegar nos becos e vendinhas. (...) Todo mundo no fino da
fatiota. (...) Gente de alta nomeada misturada com valentes, farsantes e
transeuntes. Tarde da noite assim. Mas vem a hora em que o samba quando a
alma da gente coa com os dedos as cordas de um cavaquinho e quase chora
uma alegria de menino. Mas quase s. Porque samba tambm desafio,
marreao, revide. Quem no gosta de quiabo no frequenta caruru. Eu, hein?
569
O samba, meu mano, dono do corpo. E quem aprendeu com tio Alpio a
arte do segredo sabe respeitar encanto. (...) Mas o senhor me creia, a alma do
samba feita de barro e desatino. (...) Aprendi a pisar mundo na cadncia
remanhosa dele com o mesmo p que andei na capoeira.
570
568
CARVALHO, 2002, p. 87
569
CARVALHO, 2002, p 91
570
CARVALHO, 2002, p. 88
332
Besouro nos conta de imagens festeiras dando sentidos da vadiao como
aquele repouso ntimo e in-tenso no colo da Me-Terra que morada dos nossos
ancestrais, lugar de onde viemos e pra onde vamos. Em suma, este respeito e
reverncia aos segredos da mandinga, ou, em outras palavras, s foras
intempestivas que so donas da maestria dos mistrios de vida-e-morte e do ciclo
contnuo, oferta imagens de uma sensibilidade feminina crepuscular-noturna. Uma
fora matrial que faz o heri diurno ser arrancado de sua postura de viglia ascensional
na segurana de uma pretensa onipotncia. Assim, o leva a perder a sensao
humanocntrica, machocntrica e adultocntrica que se dedica racionalizao e
absolutizao de um poder de controle, domnio, mando e posse. E, ento, esta fora
matrial afro-amerndia o arrebata, incontornavelmente, ao mergulho espiralado de uma
provocao numinosa em profundidade.
Neste jogo in-tenso, sentimos imagens da Me-Capoeira e suas filhas numa
levada travessa, caoando do temor masculino defronte ao ardil feminino. Nesta
paisagem podemos visualizar da fora matrial que graceja face ao sufoco do heri
agoniado se curvando terra e girando cento e oitenta graus diante de uma fora
feminina que no se v e no se tem pernas pra correr dela. nesse sentido, da
traquinagem feminina capoeira de responder com festa e elegncia aos desafios da
existncia, que ouvimos:
Samba do mulher
mulher
Mulher cabea de vento
Juzo mal governado
Assim como Deus no mente
Mulher no fala a verdade
Samba do mulher
mulher
571
E o carinho da mulher
Mata o homem
E o carinho da mulher
Mata o homem
T com raiva de mim?
Eu no, meu bem!
572
Minha me j me dizia
Que mulher matava homem
Agora acabei de crer
Quando no mata consome
571
Trecho de cantiga de Samba de Roda de domnio pblico
572
Trecho de cantiga de Samba de Roda de domnio pblico
333
Eu no falo de mulher
Porque dela eu sou nascido
Eu no quero que ele diga
Que eu sou mal agradecido
Minha me chama Maria
Moradeira de Inaj
No meio de tanta Maria
No sei minha me que , camaradinho
573
Diante destas investidas que jogamos com imagens de cantigas consideradas
por algumas capoeiristas como cones da expresso machista na literatura da
Capoeira. Neste jogo feroz, temos imagens da esquiva-contragolpe feminina afro-
amerndia diante das investidas da tradio patriarcal perifrica em negativar e
subjugar a presena feminina pelo temor intempestividade desta fora. No entanto,
percebemos que este machocentrismo, ao mesmo tempo em que carrega sentidos
aversivos do medo, traz consigo expresses do fascnio, que so reverenciais e
respeitosas, porm assentadas neste mesmo medo.
Nesta levada matrial do temor, respeito e reverncia masculina s foras
femininas, nos faz lembrar que temos tambm expresses frenticas de uma paixo
avassaladora, e ao mesmo tempo, de um enternecimento distenso do amor filial
envolvido pelo poder matrial que gera e permite a vida da vadiao brincante. Assim,
temos imagens de um sentimento in-tenso e irreprimvel, e por isto, atemorizantes, dos
capoeiristas em relao s foras femininas intempestivas de me-sbia-amante
capoeira.
Nesse sentido, nas narrativas festeiras temos imagens do medo e do fascnio
emanadas pela fraternidade patrilinear quando defronta com a elegncia festeira do
mtrio-poder feminino que pisa de mansinho, com indolncia e pirraa por territrios
adversos nas lutas dentro roda-ventre-cabaa da Me-Capoeira. Nesse caminho
travessuras, quando os golpes de uma expresso machocntrica canta: mulher
cabea de vento/ juzo mal governado querendo dizer de um dficit de inteligncia da
mulher em relao ao homem; as esquivas-contragolpes femininas-matriais
respondem com imagens do vento enquanto uma fora verstil, indominvel e
intempestiva. Nessa versatilidade, nos excitamos a tramar com os sentidos que a
palavra vento pode trazer numa possvel oralitura capoeira.
Numa concebvel oralitura afro-amerndia, podemos ouvir-ler-sentir a poesia do
vento em verso e prosa, e tramar com as imagens da participao direta da
ancestralidade nas partilhas iniciticas. Neste modo matrial de fazer-saber e en-sinar
as lies do vento, temos imagens do vento como expresso do movimento vivo de
573
Trecho de cantiga de Capoeira de domnio pblico
334
muitas foras e, fundamentalmente, como expresso prpria da ancestralidade que se
revela, poeticamente presente, nas corporeidades e ambincias.
Assim, temos imagens da me-sbia-amante Capoeira que, com sua elegncia
festeira-guerreira, responde aos ataques denunciando que o dficit est justamente no
confinamento razo diurna que de to iluminada no consegue partilhar do frenesi e
dos mistrios de uma sensibilidade crepuscular, das vitalidades de uma razo
sensvel. E ento, menos ainda, consegue alcanar a intensidade das profundidades
secretas nas fendas, fissuras e barrocas. Isto feito, em sua elegncia festeira-guerreira
de me-sbia-amante ela anuncia uma queda crepuscular do heri diurno, mostrando
que no est presa s amarras absolutistas da racionalidade diurna da razo que
pretende governar os juzos.
Pelo contrrio, como uma fora circulante e palpitante que , ela engloba e
recobre tanto esta sensibilidade quanto as sensibilidades crepusculares e noturnas do
matrialismo. Assim, ela indica que a arte de fazer-saber da maestria de quem sabe
sentir, de quem no se rende ao distanciamento de um pensamento de sobrevo
574
e se lana aos mergulhos espirais do ciclo contnuo nas nossas jornadas
interpretativas. Nesta movimentao no retilnea e nem uniforme entre a impresso e
a expresso, esta me-sbia-amante afro-amerndia, em seu contragolpe certeiro
anuncia e en-sina pra famlia-capoeira os meios de descobrir que, antes, durante e
depois da Razo h outras florescncias que garantem a vida.
Nesta embolada, temos imagens de uma predominncia feminina co-mandando
o jogo. Em que as maestrias matriais do campo sensvel estendido e assentado num
modo afro-amerndio de fazer-saber, en-sinar e partilhar, pelos sentidos, o
conhecimento como fora vital numa razo sensvel de corpo presente e em
intimidade com presena viva da ancestralidade e da materialidade. Esta sensibilidade
estendida acaba por permitir um alargamento dos sentidos de vento e de mal
governado. De modo a fazer referncia a um espao-tempo de presena e
movimentao de foras insubordinveis. Foras matrialmente maestradas pela arte
da mandinga e pela astcia feminina da malandragem que trama desatinos travessos
no tino justo do improvvel.
neste quebra-gereba traquinas que cavucamos narrativas festeiras de modo a
mergulhar em ressonncias de um campo aberto de foras metafricas. Esta entrega
carnal do mergulho oferece imagens trajetivas, re-cursivas e estonteantes de um jogo
in-tenso e ntimo, pois que a festa da comum-unidade capoeira maestrada por uma
574
MERLEAU-PONTY, 1992
335
famlia matrial composta por linhagens patrilinares. Assim, temos imagens festeiras
desta fora matrial no crepsculo de uma sensibilidade combativa-protetora.
E, nesse caminho percebemos as esquivas-contragolpes femininas diante da
invisibilizao e da desmoralizao da mulher. Nesta maneira, quando ouvimos: no
meio de tanta Maria, minha me no sei quem e mulher no fala a verdade,
sentimos o contragolpe de imagens na presena de uma fora matrial que secreta,
que no nos deixa saber racionalmente quem e como ela . Uma fora intempestiva
dona da maestria dos mistrios, dos encantos, dos fundamentos, das in-pulses da
carne, da ancestralidade e da matria.
Nessa levada matrial das foras misteriosas e incontrolveis, temos imagens do
temor masculino-herico em meio s foras insubordinveis e irreprimveis como a
dos vendavais, dos terremotos, das guas violentas e das chamas vorazes. E, ento,
percebemos imagens do medo e do fascnio indominveis diante da fora impetuosa
de uma tempestade, dos mistrios de vida-e-morte e do intempestivo das
reversibilidades.
Nesse sentido, podemos aproximar imagens desta fora matrial aos princpios
da gerao e da vida-e-morte de uma cabaa. O que nos faz recordar de quando Me
Slvia de Oy nos conta:
Y Silvia de Oy: A semente da cabaa triturada e bem preparada, como
fazem os indgenas, transformada em veneno e colocada na ponta da flecha pra
amortecer o inimigo. No era simplesmente para matar! Era pra deixar o inimigo
meio mole... pra matar depois [risadas]! [E canta dando risadas]
Tem pena dele
So Benedito
Tenha d
Ele filho de Zambi
So Benedito
Tenha d!
No ? melhor assim [risadas]! Ento, a semente da cabaa amortece
para a morte, mas tambm curativa.
575
Nesta levada flecheira, podemos tomar esta fora que no se deixa ser vista,
que no se tem pernas pra correr dela e que amolece pra matar ou para curar como
uma expresso de poder e potncia do matrialismo afro-amerndio. Nesse caminho,
temos imagens da racionalidade diurna sendo invadida pelo veneno que vai
ofuscando e espiralando as ambincias internas e externas.
Nessa invaso, temos imagens circulares e descensionais da sensibilidade
crepuscular na agonia do heri diante do que mais teme: a queda. Ao ser tragado pelas
foras numinosas matriais afro-amerndias, ele arrebatado s experincias
575
Trecho da transcriao da conversa entre Elis e Me Slvia de Oy (Silvia da Silva), realizada em 2010
no Il Ax Omo Od, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade de So Paulo.
336
vertiginosas que o atemoriza e envolve. Neste momento, ele devorado e impelido a
perder o controle visual e postural centrado na ascenso, a viso se obumbra, o
corpo se enreda no espao e tempo circulares.
576
E ento, tomado pela espiral da
fora matrial afro-amerndia ele desarmado e obrigado a assumir o tombo. E esta
queda pode ser aquela moribunda e mortal, como tambm pode ser aquela queda
curativa. Uma queda ntima e in-tensa do heri que se curva no reconhecimento
reverencial s foras femininas crianas e ancis.
Neste abocanhamento numinoso, temos imagens mandingueiras desta segunda
queda quando o heri diurno rendido e sugado pelas foas matriais afro-amerndia.
Assim, ele vorado pelos movimentos giratrios e rasteiros das foras crepusculares
e noturnas. E, ento, por sua vez ele traga e tragado pela experincia, ele
arrebatado pelas maestrias femininas da malcia, da manhosidade e intempestividade
do bote e da ginga. Neste turbilho de temor e fascnio, temos imagens copulativas da
Me-Capoeira constituindo a pessoa-capoeira num vai-e-vem circular e pulsante de
foras at o ponto em que j no se distingue o centro irradiador.
577
Nesta situao, percebemos uma passagem para o momento numinoso do
vrtice, em que o heri, devorado e sugado, enlevado pelas foras matriais, como
quando se deixa ser levado pelas guas calmas ou por um vo festivo. Nessa
levada, temos imagens crepusculares-noturnas do campo sensvel amplificado em
afinao com as foras matriais afro-amerndias. Assim, podemos flertar com imagens
da Me-Natureza e da Me-Capoeira que seguem tecendo as artimanhas
mandingueiras dos fluxos, refluxos e ressonncias como as correntezas da gua, do
vento, da terra e do fogo que, num s movimento, englobam, recobrem e transportam
outras foras.
Neste envolvimento ntimo e in-tenso que temos imagens copulativas do
contido-continente entre Me-Capoeira e famlia-capoeira. Em que temos uma
reverso do temor herico aos mistrios, a queda e a morte diante da
intempestividade de uma fora misteriosa que gera, que mata e que cura. Esta
reverso se d em direo a uma entrega destemida e irresistvel aos poderes e
encantamentos matriais afro-amerndios, abrem caminhos s imagens festeiras da
queda e da rendio. O que permite desfrutarmos das imagens do gozo e das delcias
no encanto da cobra ou no canto da seria.
Neste regalo sensualista, podemos ouvir a alma-fora-palavra capoeira que
canta:
Sereia, criatura linda
576
FERREIRA-SANTOS, 2000, p.62
577
FERREIRA-SANTOS, 2000, p. 65
337
Que encanta os homens assim
Sereia, criatura linda
Que encanta os homens assim
Cantando na beira do mar
Forando eles pararem
Cantando na beira do mar, oioio
Forando eles pararem
sereia, serei
sereia, serei
Pela doura do teu cantar
Eu me vejo obrigado a parar
Pela doura do teu cantar
Eu me vejo obrigado a parar
sereia, serei
sereia, serei
Num dia de lua cheia
Tava sentado junto ao mar
Quando de longe eu ouvi
O canto de uma serei
sereia, serei
sereia, serei
Pela doura do teu cantar
Eu me vejo obrigado a parar
Pela doura do teu cantar
Eu me vejo obrigado a parar
sereia, serei
sereia, serei
Eu sou filho de Ogum
Sobrinho da Yemanj
Tanto faz eu t na terra
T nas gua ou t no ar
sereia, serei
sereia, serei
Pela doura do teu cantar
Eu me vejo obrigado a parar
Pela doura do teu cantar
Eu me vejo obrigado a parar
sereia, serei
sereia, serei
O canto doce alucina
faz minha mente rolar
Ouvindo o som do atabaque
Sentado na beira mar
No sei se vou ou se fico
No canto de uma serei
338
sereia, serei
sereia, serei
A onda que traz alegria
Que leva a tristeza pra l
No gingado traz euforia
Feito uma onda no mar
Eu ouo o canto da sereia
Eu t na beira do mar
sereia, serei
sereia, serei
Pela doura do teu cantar
Eu me vejo obrigado a parar
Pela doura do teu cantar
Eu me vejo obrigado a parar
sereia, serei
sereia, serei
578
Nesta levada simultaneamente terna e intensa, temos imagens festeiras das
afinaes entre as filosofias da carne, as filosofias da matria e as foras matriais afro-
amerndias. Nessas afinaes percebemos a maestria feminina nos encaminhamentos
para as profundidades, nos adentramentos pela espiral numinosa do tempo-espao
circular. Desse modo, desfrutamos de imagens da malcia brincalhona e protetora que
tem o poder de obrigar rendio pelos en-cantos da doura que alucina fazendo a
mente rolar nas ondas que trazem alegria e levam a tristeza pra l. Nestas imagens
protetoras festeiras da entrega a um amor matrial-filial, temos imagens copulativas das
foras que se requisitam e se complementam.
Nessa afinao, percebemos a queda ntima e in-tensa nos braos e graas da
me-sbia-amante. Nesta queda, as imagens do risco, do medo e da morte vo
perdendo lugar para as imagens da fascinao, da intimidade, do amor terno e da
paixo irreprimvel, da entrega distensa. Nesse sentido, como um canto da sereia a
alma-fora-voz da Me-Capoeira irradiada de uma cabaa tem a maestria de cavucar
a nossa carne-alma-ancestralidade e nos arrebatar s espirais numinosas de um
tempo-espao co-memorativo.
Assim, podemos tramar imagens da Me-Capoeira poeta tecendo suas oralituras
matriais afro-amerndias. E, por falar em oralitura, convidamos Leda Maria Martins
para esta roda. E ela chega para nos contar:
Leda Maria Martins: A palavra vocalizada ressoa como efeito de uma
linguagem pulsional do corpo, inscrevendo o sujeito emissor num determinado
circuito de expresso, potncia e poder. Como sopro, hlito, dico e
578
Sereia - Cantiga de Capoeira entoada por Mestre Natanael e Mestre Limo
339
acontecimento, a palavra proferida grafa-se na performance do corpo, lugar da
sabedoria. Por isso, a palavra, ndice do saber, no se petrifica num depsito ou
arquivo imvel, mas concebida cineticamente. Como tal, a palavra ecoa na
reminiscncia performtica do corpo, ressoando como voz cantante e danante,
num sintaxe expressiva contgua que fertiliza o parentesco entre os vivos, os
ancestrais e os que ainda viro nascer.
579
Nessa perspectiva, flertamos com imagens festeiras e sensualistas em que a
fora-alma-palavra concebida (no duplo sentido de concepo) como poder,
potncia e alimento, e, assim, partilhada numa intimidade comunal de foras. Desse
modo, esta fora comparece nas maestrias dos mistrios da reversibilidade e
recursividade entre tradio e criao, exibindo a pessoa-comunal como
simultaneidade da presena e da pertena
580
. O que nos leva a identificar sentimento
arquefilos e topfilos do amor filial alimentado pela alma-fora-palavra capoeira.
Nesse caminho linguageiro das religaes e remediaes festeiras entre nossas
filosofias da carne, as filosofias ancestrais e a Me-Terra, podemos dizer que a fora-
alma-palavra, alm de cintica, tambm cenestsicamente concebida, pois que o
corpo um texto que, simultaneamente, inscreve e interpreta as poesias co-
memorativas de uma comum-unidade de vida em festa.
neste tempo-espao simultaneamente ntimo e comunal que temos uma
recorrncia imagens festivas do ventre-roda-cabaa, que exibem a fora e a beleza
das religaes e remediaes entre as filosofias ancestrais, as filosofias da matria e
nossas filosofias da carne. Nesta tessitura circular e pulsante das ligas, a fora-alma-
voz da poesia cantada e percutida alimenta os versos e rimas de um corpo poeta
festeiro, que responde s provocaes numinosas com seus versos. E, ento, numa
elegncia traquinas, segue co-memorando a prpria existncia com a malcia e
malandragem da alegria de viver, da traquinagem de vir ao mundo para vadiar.
Estas incurses festeiras da intimidade comunal nos permitem perceber imagens
co-memorativas de uma partilha inicitica que faz do conhecimento esta fora vital que
tem que passar pelos msculos do corpo
581
, pois que entra no p vai no corpo todo
at o corao
582
e ressoa nas filosofias da carne, da ancestralidade e da matria. Isto
num modo mandingueiro, traquinas e artista de saber. Em que se en-sina e aprende
pelos sentidos, de corpo presente
583
na partilha ntima e comunal dos abrigos,
caminhos e alimentos.
Nesta levada co-memorativa, os momentos copulativos da partilha so
alimentados pela alma-fora-voz da Me-Capoeira mexendo com tempo-espao e
579
MARTINS, 2001, p. 81-82
580
MARTINS, 2001, p.83
581
SODR, 1988, p.129
582
Verso cantado por Mestre Toni Vargas na cantiga O ax desse terreiro
583
Tata Quejessy
340
ressoando em nossas filosofias da carne. O que nos leva a lembrar daquelas imagens
ofertadas pelas Histrias de Tio Alpio e Kau em que Tio Alpio arrebatado pelas
provocaes numinosas do berimbau tocado com profundidade, amor e concentrao
pelo menino Kau.
584
Isto nos impele a retornar para as paisagens desta viagem pelo
tempo-espao circular, mas agora ressoando na carne do menino Kau que ,
igualmente, arrebatado pela numinosidade do berimbau tocado pelo mestre. Ento,
quando a criana pergunta ao mestre: e o berimbau fala por acaso?
585
prpria
me-sbia-amante Capoeira que responde na alma-fora-voz de um berimbau:
584
Sequncia de imagens exibida da pgina 63 a 66
585
FOLHA, 2009
341
342
343
344
345
346
347
348
Imagens dos elos misteriosos e profundos das partilhas iniciticas entre Me-
Capoeira, mestre e discpulo. Estas imagens exibem a fora de uma intimidade
comunal que est, descaradamente, assentada nas espirais numinosas do tempo-
espao circular. E, ento, exprimem despudoradamente a fora sensualista das
afinaes entre filosofias ancestrais, filosofias da matria e nossas filosofias da carne.
Nessa levada, temos uma exploso de imagens ntimas e intensas da alma-
fora-voz da Me-Capoeira movimentando o tempo-espao espiral e pulsante. E,
ento, trans-portando sua filharada pelos caminhos inter-relacionados e curvilneos do
tempo-espao ancestral-passado-presente-devir, ela vai constituindo as ligas de uma
intimidade comunal movidas pela fora arquefila e topfila numa comum-unidade
matrial afro-amerndia de vida.
Nesse rumo espiral, podemos tramar imagens da fora numinosa da alma-fora-
voz da Me-Capoeira mexendo com o tempo-espao e estendendo o campo sensvel
de sua filharada. E assim, esta alma-fora-voz irradiante aparece carregando consigo a
voz de um povo expressada nas notas de um instrumento mgico, tocado pelas mos
de um grande mestre. E neste carregar visceral que as imagens festeiras aparecem
na sua crepuscularidade mais in-tensa, pois que na intimidade comunal de um ritual
consensual, catrtico e transgressor da festa
586
, que a famlia-capoeira canta suas
profundidades dolentes, guerreiras e festeiras.
neste sentido que tomamos o berimbau como uma fora parteira, dizendo de
outro jeito, como uma fonte e ponte de expresso da alma-fora-voz da Me-Capoeira
com toda a ancestralidade que ela carrega. Desse modo, flertamos com imagens do
movimento brincante da alma-fora-palavra-capoeira que, semeada pelo ventre-cabaa
de um berimbau, vai ressoando nas aberturas contnuas das nossas filosofias da carne
em nossas ambincias ntimas e comunais. Isto, na recursividade e reversibilidade
copulativas, excitadas pelo ritmo sagrado da criao que faz com que a numinosidade
do retorno tome a repetio cclica como um movimento:
Ferreira-Santos: da ordem da criao continuada. criar novamente, dar
vida novamente obra, parir filhos que nos do luz a ns mesmos, num ato
increador (Berdyaev, 1957): prenuncia, anuncia e apresenta perpetuamente. (...)
Da o mundo desta repetio nos remeter ao tempo primordial.(...) A circularidade
desta repetio a mesma do tero, do ovo primordial, da cpula celeste, do
interior da gruta... Espao circular do tempo rtmico vertiginoso.
587
Nesta fremitao carnal, material e circular, esta fora-alma-voz revela-se como
uma dona da remediao e religao dos caminhos e alimentos entre a fora da
586
FERREIRA-SANTOS, 2004b
587
FERREIRA-SANTOS, 2000, p. 62
349
ancestralidade, a intensidade vvida do presente e os mistrios das destinaes no
devir.
nesta espiral matrial que percebemos que a Capoeira infinita, pois ela
abrange e incorpora a eternidade em ambas as direes
588
. Esta abrangncia
incorporada oferece imagens ntimas das profundezas do ventre-cabaa da Me-
Capoeira que traquina com os mistrios do tempo. Nessas travessuras, temos imagens
da malcia brincalhona da fora-alma-voz da Me-Capoeira minina que, brincando com
as aparncias, encaminha-nos s profundidades secretas. Nessa traquinagem, ela
oferece sua filharada-capoeira a sensao de que l dentro parece que o tempo no
passa, e, no entanto, como num bote de cobra coral, ela nos arrebata ao turbilho e
aconchego das espirais misteriosas de um tempo-espao mtico.
Este giro numinoso excitado pela alma-fora-voz da Me-Capoeira que, num
s golpe de verso, desperta na memria ancestral de [Tio Alpio e] Kau um gigante
adormecido, herana de seus antepassados,
589
ao mesmo tempo em que en-sina as
maestrias da malandragem e da ginga na arte de improvisar conforme a necessidade
e sempre enxergar um passo a frente. Nessa brincadeira muito sria a Me-Capoeira
vai espichando o campo sensvel da filharada enquanto articula o passado ancestral
ao presente vivido e abre possibilidades ao devir
590
Nessa levada da sensibilidade extensa, temos imagens da entrega dramtica e
mstica ao turbilho e aconchego das foras matriais capoeiras. Visto que, em contato
com alma-fora-voz da Me-Capoeira, temos imagens crepusculares de um mergulho
fascinado, e, simultaneamente, de um voo festivo em que a pessoa-capoeira que
arrebatada, no domina o esprito e deixa a capoeira levar. E, nesta mesma
enlevao, a imagem daquele tragado pela experincia, e, muito ao contrrio do
herico que receia a experincia nova, o mstico mergulha nela, eufemizando o
temor.
591
Desse modo, percebemos imagens festeiras da filharada-capoeira sendo
transportada no aconchego, gozo e segurana do ventre-roda-cabaa da me-sbia-
amante, ninando e vadiando no colo da Me-Capoeira.
Nesta levada sensualista, temos imagens festeiras de uma intimidade comunal
em que Me-Capoeira minina brincando com sua famlia-capoeira. nesta levada
brincante que o toque de angola traz liberdade, fazendo a filharada-capoeira sonhar
acordada, como se andasse descalo em solo africano, brincando com outras crianas
sem preocupao, sem medo e voa em paz. As imagens deste voo aconchegante e
distenso, atiado pele companhia sensualista da alma-fora-voz da Me-Capoeira,
588
HAMPAT B, 1979, p.18
589
FOLHA, 2009, p. 05
590
FERREIRA-SANTOS, 2008, p. 05
591
FERREIRA-SANTOS, 1998, p. 351
350
podemos aproximar esta fora ao canto da sereia, ao fascnio da cobra e ao veneno da
cabaa. Assim, podemos desfrutar de imagens desta poder matrial que arrebata, vora e
enleva a pessoa-famlia-capoeira.
Nessa pegada sensualista, ntima e comunal, incontornavelmente vem aos
nossos ouvidos uma fora-alma-palavra-capoeira que canta assim:
Voar em paz
Me leva Capoeira
Pra contigo dar a volta ao mundo
Praticar tua ao de mensageira
Voar em paz (me leva...)
Me leva Capoeira (coro)
Unindo naes e etnias
Elevando a cultura brasileira
Voar em paz (me leva...)
Me leva Capoeira
Teu universo solidrio
Teu aperto de mo s franqueza
Voar em paz (me leva...)
Me leva Capoeira
Braos abertos, corpo fechado
Mantendo sua arte mandingueira
Voar em paz (me leva...)
Me leva Capoeira
Pra ginga que te livra dos conflitos
Unio a tua fortaleza
Voar em paz (me leva...)
Me leva Capoeira
Pra contigo dar a volta ao mundo
Praticar tua ao de mensageira...
592
So tantos corpos
Girando no espao
Mentes, idias invenes!
Capoeira com seu rico gingado
Mestres, professores e lies!
Jogo, sabedoria, vozes de Gungas
Cantos, contos, harmonia
Associando vibraes!
Jogo, sabedoria, vozes de Gungas
Cantos, contos, harmonia
Associando vibraes...
593
Zune, deixa zunir
Voz do Gunga tem magia
Zune, deixa zunir (coro)
Comanda a sonoplastia
Zune, deixa zunir
592
Me leva Capoeira cantiga composta por Mestre Gato Ges
593
Rico Gingado - cantiga composta por Mestre Gato Ges
351
, voz do Gunga busca longe
Zune, deixa zunir
Quem sente o toque no esconde
Zune, deixa zunir
Entre eles tem viola
Zune, deixa zunir
Que tambm tem uma corda
Zune, deixa zunir
Voz do Gunga completou
Zune, deixa zunir
O que carapinhas criou
Zune, deixa zunir
Voz do Gunga emocionante
Zune, deixa zunir
Da Capoeira sou amante
Zune, deixa zunir
Voz do Gunga emocionante
Zune, deixa zunir
E da Capoeira sou amante!
Zune, deixa zunir
594
Toca menino este Gunga
Que tem muita gente
Querendo escutar
E eu,
que tambm sou do brinquedo
Quando escuto um Gunga
Quero vadiar
Quando escuto um Gunga
Quero vadiar (coro)
Quando escuto um Gunga
Quero vadiar
Uma Angola mida
Quero vadiar
um Deus nos acuda
Quero vadiar
Um jogo de dentro
Quero vadiar
Soltar barravento
Quero vadiar
Uma Santa Maria
Quero vadiar
Faz lembrar da Bahia
Quero vadiar
Quando escuto um So Bento
Quero vadiar
, Santo Bento
Quero vadiar
594
Zune, deixa zunir - cantiga composta por Mestre Gato Ges
352
, Santo Bento
Quero vadiar
595
neste mergulho avoado ou neste voo em profundidade que notamos a fora-
alma-voz da Me-Capoeira, irradiada pela cabaa de um berimbau, arrebatando a
filharada-capoeira que, ento, voa no tempo, no mistrio desse toque e no em vo
o seu corpo arrepiado. nesse embevecimento in-tenso, que temos esta alma-fora-
voz envlevado a famlia-capoeira numinosidade do ritmo sagrado da criao, como
um toque conjunto de atabaque e o socar feminino do pilo.
Neste arrebatamento circular e pulsante, a famlia-capoeira tomada por foras
brincantes que a leva aos impulsos incontornveis das filosofias da carne. E nessa
excitao de um zune, deixa zunir que temos imagens de uma entrega mstica e
dramtica da pessoa-capoeira s provocaes numinosas da fora-alma-palavra da
Me-Capoeira. E, ento, a filharada se deixa levar pela Me para, em sua companhia,
dar a volta ao mundo e, assim, junto com ela praticar sua ao de mensageira.
Nesse sentido percebemos imagens de uma partilha festeira co-memorando as
maestrias do movimento de foras vitais entre a famlia-capoeira, pois seu universo
solidrio.
Nesta levada, a Me-Capoeira, comparece ofertando alimentos e caminhos
filharada pelas religaes e remediaes umbilicais de uma famlia estendida, de uma
comum-unidade de vida cuja a unio sua fortaleza. Neste sentido comum-unitrio
das partilhas festeiras, temos imagens da Me-Capoeira levando sua filharada pela
voz do Gunga que tem magia e poder de in-augurar destinaes festeiras s
espirais crepusculares e noturnas de uma intimidade comunal em festa.
neste arrebatamento que vem a coisa da vadiagem e da vagabundagem
596
,
e ento, temos imagens da vadiao como aquele repouso ntimo e intenso nas
travessuras, traquinagens e aprontaes comunais em famlia. Nestas aprontaes
comunais percebemos uma sensibilidade crepuscular na vadiao que no uma
vagabundagem inocente, mas sim uma sabedoria maliciosa. Nesta brincadeira
muito sria, temos imagens da famlia-capoeira brincando com braos abertos, corpo
fechado, mantendo sua arte mandingueira pelos riscos e fascnios de uma dana
maliciosa. E, assim, carrega a maestria de responder aos desafios da existncia na
ginga que te livra dos conflitos e abre caminhos para uma vadiao num jogo limpo
em que o aperto de mo s franqueza.
Neste caminho, a Me-Capoeira vai soltando sua alma-fora-palavra na voz no
Gunga e, assim, vai levando sua filharada-amante s voltas de um tempo-espao
595
Quero Vadiar cantiga de capoeira composta por Mestre Gato Ges
596
Contramestre Pinguim
353
circular, pois quem sente o toque no esconde. Desse modo, esta alma-fora-voz
emocionante comparece vitalizando religaes e remediaes do campo fecundo de
foras entre as filosofias da matria, as filosofias ancestrais e as filosofias da carne. E
assim, vai alastrando suas pregnncias pelos corpos e ambincias no tempo-espao
circular. nesta fecundao que tomamos a palavra toque no duplo sentido do verbo
tocar.
Neste roar de foras enebriadoras, temos imagens sensualistas da pessoa-
capoeira sendo tocada e excitada pelas provocaes numinosas de um toque
penetrante e pulsante mexendo com nossos impulsos e desejos irreprimveis. Este
duplo sentido de toque abre caminhos para traquinarmos tambm com o duplo sentido
do substantivo canto, o que nos permite dizer de uma topofilia arquefila em que a
fora-alma-voz da me-sbia-amante Capoeira nos encaminha intimidade comunal
de um ventre-roda-cabaa, de uma maloka em festa, de um quilombo continuado.
Nesses sentidos de toque e de canto, a alma-fora-voz da Me-Capoeira exibe
aquela ligao visceral entre o corpo e a palavra e o territrio. Assim, temos imagens
da intimidade comunal festeira que revela movimentos copulativos entre a msica, a
literatura e as nossas oralituras corporais. Desse modo, a fora do canto e do toque,
como foras circulares que so, aliciam e penetram nosso corpo, e assim, nos,
envereda ao voo em profundidade, num mergulho avoado pelas espirais do tempo-
espao circular.
E ento, neste embevecimento, somos removidos das paisagens ordinrias e
do tempo linear e calendrico:
Ferreira-Santos: tal qual o crculo hermenutico em que no sabemos se
o intrprete que constitui ou extrai sentidos e significados do texto ou se so os
sentidos e significados que constituem o ser do intrprete, a construo musical
circular nos introduz no turbilho voraz do tempo primordial. Quando nos damos
conta, a experincia musical, ao finalizar e continuar apenas na ressonncia da
caixa torcica do esprito, permite-nos voltar ao tempo cotidiano e cronolgico.
597
Nessa levada ntima e intensa, o toque copulativo entre a alma-fora-palavra e o
corpo poeta mobiliza as espirais irresistivelmente sedutoras do tempo-espao mtico.
Diante desta dominante do gozo fascinado, nos recordamos de quando Contramestre
Pinguim diz que desta numinosidade festeira que nos leva a viajar nessa coisa
material tecendo outros ligamentos com o universo. Desse modo, temos imagens co-
memorativas de uma intimidade comunal no movimento circular e pulsante dos fluxos e
597
FERREIRA-SANTOS, 2000, p.59
354
refluxos espao-temporais da nossa ancestralidade em contato intenso com as
maestrias da matria da carne.
598
Sendo assim, essa co-memorao ancestral, material e carnal, numa
intensidade ntima e ressonante de foras, nos impele s curvas do tempo-espao
mtico. E ento, nos permite perceber uma configurao catrtica mitopoitica
constitutiva das experincias numinosas. Em que a narrativa mtica ressoa na
estrutura de sensibilidade do ouvinte/partcipe/leitor
599
que, por sua vez, ressoa em
voos, mergulhos e rimas de um corpo poeta copulativo. Nessas religaes e
remediaes sensualistas, podemos dizer que esta espiral mtica vitaliza as relaes
entranhveis entre as filosofias da carne, as filosofias ancestrais e as filosofias da
matria.
Assim sendo, preferimos chamar este momento perceptivo de crculo
mitohermenutico, justamente por carregar esta configurao fremitante e ressonante
do vigor mtico que se insinua alimentando e sendo alimentado pela recursividade e
reversibilidade entre as heranas ancestrais e a liberdade de criao e recreao. Isto
na versatilidade das oralituras-capoeiras dotadas da fora de nos arrebatar ao
mergulho flutuante pelas espirais do tempo-espao ancestral-passado-presente-devir.
Neste movimento, podemos sentir, em nossa carne, aquela mobilizao in-
tensa do tempo-espao ntimo, comunal e circular compondo e recompondo
ambincias. Dessa maneira, com o campo sensvel estendido, envolvemos as
ambincias com a carne de nossos olhos
600
e, ento, somos por elas envolvidos numa
relao copulativa e recursiva. Nesta recursividade, a ambincia viva ressoa no corpo
poeta que toca e canta seus versos na intimidade comunal de uma comum-unidade em
festa. Nesse sentido, podemos at tramar com uma possvel gesticulao cultural
matrial afro-amerndia.
E, por falar em gesticulao cultural, convidamos a fora-alma-palavra de
Ferreira-Santos que nos en-sina que: esse gesto, portanto, mais que uma expresso,
a prpria corporeidade
601
:
Ferreira-Santos: Essa corporeidade, esse n significativo vivido, do
cruzamento da carne do mundo com minha prpria carne, sinaliza o carter
dinmico da cultura como processo simblico. Percebemos, ento que a base
imaterial da cultura, de maneira paradoxal, uma base corporal, assim como nos
cantos populares ou iniciticos, na base rtmica do canto de pilo, no ritmo das
pernas e braos da dana comunitria: amenizar a arte da vida desse socar de
598
Referente ao contedo da entrevista.
599
FERREIRA-SANTOS, 2000, p.59
600
MERLEAU-PONTY, 1992
601
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p.143
355
palavras, ritmadas no canto, na organizao do tempo, na comunicao das
almas.
602
Estas encruzilhadas carnais, assentadas num campo crepuscular de foras,
abrem caminhos para uma penetrao ressonante da imagem mtica nas nossas
filosofias da carne. Nesta relao ntima e intensa, a imagem mtica segreda e sugere
por trs do escancaramento, e, assim traz sua carga ertica, sua sensualidade. O
que arrebata a pessoa a sair de si e a entrar em si evocando foras antepassadas.
No movimento increador da imagem que seduz, que confidencia, que abre hipteses
e fendas
603
e, ento, incontornavelmente ressoa nas rimas e prosas de um corpo poeta
roando suas foras com as foras da matria e da ancestralidade.
Assim, podemos perceber que, na constituio mtua entre Me-Capoeira,
famlia-capoeira e pessoa-capoeira, tudo fala, tudo tem voz, tudo procura nos
comunicar um jeito de ser misteriosamente fecundo.
604
Cada gesto, cada palavra, cada
obra da mo
605
, em fim: cada ato criador tem o poder de desencadear foras visveis
e invisveis, capazes de agir profundamente sobre a alma humana.
Nesta pulsao vital, de nossa incompletude em movimento in-tenso, somos
uma permanente abertura entre a facticidade e materialidade do mundo e nossas
infinitas possibilidades de realizao simblica. Nesse sentido, a fora-alma-voz do
Gunga, cavucando a carne e constituindo pessoas e famlias, permite tomarmos a
msica, como exemplar obra de arte que nos atesta sua inconcluso enquanto arte em
obra, contnua abertura muito prxima da prpria construo da pessoa. Desse modo,
podemos dizer que, num matrialismo afro-amerndio, a filosofia de vida capoeira
concebe que a arte um prolongamento da vida por estar impregnada por uma vida
que lhe prpria.
606
Assim, nas narrativas festeiras, temos imagens da me-sbia amante Capoeira
menina vitalizando as ligas entre as filosofias da carne, as filosofias da matria e as
ressonncias ancestrais. Nesta ressonncia, temos imagens da partilha co-memorativa
e carnal que faz do tempo-espao circular um dos muitos componentes constitutivos da
da arte e da pessoa-capoeira. A respeito desta constituio mtua e mltipla, podemos
desfrutar destas imagens nas Histrias de Tio Alpio e Kau:
602
FERREIRA-SANTOS, 2006 (a), p. 143
603
ROSA, 2009, p.73
604
AMPT B, 1977, p.12
605
AMPT B, 1977, p.12
606
BALOGUN, 1997
356
357
358
359
Neste compasso de uma partilha festeira em intimidade comunal, podemos
sentir a fora matrial da Me-Capoeira religando e remediando uma comum-unidade
de vida capoeira que co-memora a alegria de viver. Nesta pegada, a Me-Capoeira
solta sua alma-fora-palavra na voz do Gunga que busca longe, que ressoa nas
espirais numinosas, tocando o tempo-espao ancestral ao cantar em verso e toque
uma co-memorao ntima e comunal a existncia vvida de Aruanda. Desse modo,
Me-Capoeira expressa toda uma reversibilidade e recursividade entre os sentimentos
de arqueofilia e topofilia, pois que carrega em seu ventre-roda-cabaa um sentido de
territrio ancestral chamado Aruanda. Assim, quando a alma-fora-palavra da Me
chama, Os ancestrais cantam e jogam felizes a Capoeira Angola de Aruanda.
Nesta chamada ntima e comunal, temos imagens festeiras de um sentimento,
simultaneamente, topfilo e arquefilo, em que alma-fora-palavra capoeira canta, em
verso e toque, um amor profundo a este tempo-espao ancestral abrindo caminhos s
alegrias do devir. E nesta cantoria encontramos sentidos co-memorativos de vida-e-
morte que nos permite at ouvir: quando eu morrer no quero choro nem vela\ quero
um Berimbau tocando na porta do cemitrio
607
. Nesta escuta, recordamos de quando
Me Silvia de Oy nos conta que, numa matriz afro-amerndia, fazemos festa quando
se nasce, quando se vive e quando se morre.
Nessa maneira de conceber a passagem da pessoa para a ancestralidade,
temos sentidos dolentes-festeiros em que a Me-Capoeira comparece fecundando a
eternidade de ambas as direes. E, assim, expressando o sentido protetivo-festeiro
da roda em que pessoa-comunal, ancestralidade e territrio se constituem
mutuamente no ventre-cabaa da Me-Terra e da Me-Capoeira.
Desse modo, ancestrais, mestre e discpulo voam-mergulham juntos nos
alimentos e caminhos ofertados em profundidade pelo ventre-cabaa da Me-Capoeira,
e assim, esto visceral e umbilicalmente ligados numa partilha de vida. E, nestes elos
vitais em profundidade ntima e comunal, podemos dizer que ancestrais, mestre,
discpulo se constituem mutuamente e so mutuamente constitudos pela me-sbia-
amante Capoeira. Neste movimento re-cursivo de contido-continente, podemos
visualizar uma dominante postural copulativa entre as filosofias ancestrais, as filosfias
da carne e as filosofias da matria.
Ainda neste regime de imagens crepusculares, podemos perceber as sapincias
vividas dos mestres (ancestrais, Gunga e Tio Alpio) correndo junto criana (Kau) no
beab in-augurativo das primeiras passadas capoeiras. Isto numa jornada inicitica,
coletiva e mltipla com aqueles vrios nveis de significao entre o religioso, o de
607
Quando eu morrer trecho de cantigade domnio pblico em que encontramos uma diversidade de
variaes.
360
divertimento e o educativo, por meio das permanncias abertas do corpo inteiro, das
estruturas de sensibilidade in-tensionalmente em contato com a ancestralidade, com os
outros, com as coisas, com as voltas que o mundo d.
Nesta perspectiva, a Me-Capoeira, o mestre e o discpulo carregam consigo e
toda a ancestralidade da qual pertencem.
608
Ancestralidade que alimenta e
alimentada pela Me-Capoeira que fala por meio da alma-fora-voz do Gunga nas
mos ancis/bebs do mestre e do discpulo. E assim, segue ofertando caminhos
crepusculares que os conduzem a vivenciar paisagens ancestrais, por tempos e
espaos diversos. Visto que, conduzidos pela msica e literatura da alma-fora-
palavra da Me-Capoeira, tanto a criana como o mestre visitam tempos-espaos
espirais e primordiais da ancestralidade capoeira.
Nesta visita ntima e comunal a tempo-espaos ancestrais, podemos perceber
que a versatilidade tempo-espacial circular numa matriz afro-amerndia permite uma
versatilidade intergeracional circular na famlia-capoeira. Assim, tambm as idades
aparecem como uma abertura permanente movendo-se pelos re-cursos da experincia
numinosa e das tessituras relacionais. Nesse movimento, mestre e discpulo re-vivem
memrias ancestrais e, assim, so dotados de uma experincia que se aproxima a do
ser idoso.
Ao mesmo tempo, podemos observar que o mestre Tio Alpio, um idoso para
ns, diante dos mestres ancestrais da Capoeira considerado e referenciado como o
menino Alipinho. Sendo assim, podemos perceber a reversibilidade e a recursividade
entre velhice e infncia que aqui tambm se entrecruzam de maneira matrial, no
adultocntrica, circular e movedia. E, por falar nesta reversibilidade recursiva das
idades como nos conta Folha:
Alab Marcio Folha: Eu, quando estou prximo do Pinguim, sou um menino.
E era assim que ele era tratado pelo Mestre Gato: Ah, esse menino aqui o
Pinguim... Tratava como um menino. E ele, o Pinguim, se comportava tambm
como um menino. Ele se tornava uma criana quando estava perto do Mestre Gato
Preto. E ns, ento, ramos beb! Ao mesmo tempo em que, quando o mestre
Gato Preto falava dos mestres dele - que eram grandes mestres - parece que ele
tambm se tornava uma criana.
609
Nesta levada, podemos perceber as relaes intergeracionais numa imagem
circular e extensvel em movimento contnuo. Assim, percebemos uma recursividade e
reversibilidade entre velhice e infncia religadas e remediadas pela fora matrial afro-
amerndia. Isto nas imagens de uma partilha festeira em que a famlia-capoeira
608
FAUSTINO, 2006
609
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha, realizada na sede do Grupo Guerreiros
de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP.
361
responde aos golpes machocntricos e adultocntricos com um sentido feminino-
ancio-criana da dimenso, fundamentalmente, misteriosa e brincante nos modos
capoeiras de en-sinar, fazer-saber e compartilhar.
Neste sentido de uma partilha festeira, podemos perceber uma sensibilidade
crepuscular-noturna que rechaa a polarizao diurna da obsesso branco-ocidental
pela racionalizao da tcnica como meio e fim em si mesma. E nesta filosofia noturna,
de chamar pelas foras misteriosas da alegria e deix-las penetrar nas nossas filosofias
da carne, percebemos as ressonncias ancestrais transcenderem em filosofias
crepusculares, dando sinais de um exerccio da razo sensvel. Como podemos
perceber na imagem em que: Kau toca empolgado, de olhos fechados, e sente
aquele arrepio subir a espinha dos ps cabea. Ele no quer abrir os olhos, ele no
quer ver nem falar, s sentir aquela fora.
Desse modo, temos imagens crepusculares das partilhas festeiras como uma
brincadeira muito sria que alimenta e d caminhos alegria de viver e reviver o
amor, a memria e a criao enquanto foras recursivas fundamentais filosofia de
vida capoeira assentada nesta dimenso intergeracional circular e movedia das
afinaes entre as filosofias ancestrais, as filosfias da matria e as filosofias da carne.
Nessa levada, temos imagens de uma teimosia festeira da vida que pulsa na
permanncia de uma comum-unidade matrial afro-amerndia palpitando num ambiente
patenteado pelo patriarcado branco-ocidental de ordem violentamente eurocntrica,
adultocntrica e femicida. Diante disto, temos imagens das esquivas-contragolpes
matriais afro-amerndias na permanncia viva da famlia-Capoeira matrialmente
orientada e alimentada pelo amor, pela memria e pela criao.
Assim, temos imagens de uma resposta festeira aos desafios da existncia
diante das tesouras diurnas de uma filosofia institucional machocntrica, adultocntrica e
brancocntrica, cuja definio de famlia, de maneira unvoca e antittica, diz respeito
quele arranjo nuclear, biolgico e privado; formatado pelo patriarcalismo cristo como
famlia estruturada. E ento, podemos encontrar na famlia-capoeira uma esquiva-
contragolpe a esta reduo diurna que impregna a cultura escolar e forja um pretenso
conflito mortal entre famlia estruturada versus famlia desestruturada, pois a famlia-
Capoeira:
Mestra Janja: Como na maioria das organizaes culturais-religiosas de
matrizes africanas, enquanto comunidades de pertencimento, seus [da Capoeira
Angola] cdigos estruturantes, entendidos como fundamentos, encontram-se
atualizados pela transversalidade de uma identidade mais prxima, primria, ainda
que inserida num tronco e/ou numa rede. Ou seja, se angoleiro de determinado
grupo e discpulo de determinado mestre, para a partir da reconhecer-se irmo,
primo, sobrinho, etc. de determinado mestre/organizao, numa aluso famlia
mais ampla, a exemplo da chamada famlia de santo (...) cada comunidade
regulamenta o entendimento que faz dos fundamentos, e o seu uso na constituio e
362
manuteno desta identidade autnoma , de certa forma, apresentado como um
dos exerccios da prpria diversidade dentro da unidade.
610
Nesta maneira de responder aos planos de extermnio com a formao de
famlias extensa, podemos percebem imagens crepusculares e copulativas de uma
"diversidade dentro da unidade perceptvel no multiverso da Capoeira. E neste
sentido de famlia-capoeira que a pesssoa-comunal parece ser constituda por:
elementos individuais (a singularidade relacionada ao destino), herdados (a
localizao na linhagem) e simblicos (a localizao no ambiente mtico, csmico e
social).
611
A estes se somam elementos atribudos, como o nome. Num certo momento
de conhecimento na vivncia da capoeiragem, a pessoa recebe um nome de Capoeira.
E, por falar nas nomeaes capoeiras, nos recordamos de quando Marco
Carvalho nos conta:
Besouro: O nome a primeira imposio que a pessoa recebe pelas fuas
adentro (...). Ter um apelido resistir. (...) E os apelidos so tanto assim um resumo
como, s vezes, s o comeo da histria daquele um que atende por aquele nome
carinhoso, engraado ou esquisito. Mas j pem um respeito, do uma medida, um
sinal. o nome conquistado com esforo ou por merecimento, no coisa herdada
no. mais. No sobrenome. Sei de muitos casos. Ter apelido muitas vezes
melhor do que ter s o nome, porque se ningum no assina apelido em papel de
escritura nem em cartrio, nem quando os morcegos procuram, s porque a,
pelas convenincias, a gente s se sabe pelo nome, como cidado de respeito, mas
quando preciso mesmo, quando as coisas ficam quentes e os morcegos vm com
a cavalaria, a gente s se reconhece pelo escorregadio dos apelidos. (...) Todo
mundo sabe. Na capoeira lei todo mundo ter um nome de f.
612
Desse modo, tambm o nomeao est permeada por um modo mandingueiro
na malandragem da ginga entre secretar e descarar no escorregadio dos apelidos. Em
que o nome segue o modelo pluralidade na unidade, pois ao mesmo tempo em que
exprime a questo de diferenciao do indivduo, o insere na comunidade que o
identifica ou que no deve o identificar.
Nesse sentido misterioso e travesso de pessoa-comunal, e numa referncia
quela famlia ampla fundamental, podemos tomar a imagem crepuscular da Roda como
as guas placentas no ventre-cabaa da Me-Capoeira envolvendo e constituindo a
pessoa de seus filhos-amantes. Desse modo, tambm podemos sentir esta intimidade
profunda das guas na lgrima que escorre dos olhos de Tio Alpio. Assim, podemos
perceber as uma reversibilidade e recursividade entre segredar e secretar, pois os
momentos em que exibimos a nossa secreo so de profunda de intimidade
613
.
610
ARAJO, 2004, p. 37 (g. a.)
611
RIBEIRO, 1996
612
CARVALHO, 2002, p.31-32
613
FERREIRA-SANTOS. Anotaes de aula, 2010.
363
Nesta perspectiva, os elos vitais ancestralidade-mestre-discpulo parecem estar
recheados por aqueles vrios nveis de significao atuando solidria e
interdependente na manuteno e semeio das foras vitais da natureza e do amor
recursivo ancestralidade. Numa comum-unidade de vida que responde com festa aos
desafios da existncia. Pois, como nos conta Folha: Os ancestrais cantam e jogam
felizes a Capoeira Angola de Aruanda, Quando os ancestrais se alegram fica tudo
odara*. Uma rvore no dar frutos nem ramificar se no tiver vivas suas razes.
Nessa levada, temos imagens de uma partilha festeira co-memorando a
permanncia viva dos elos comum-unitrios. Esta in-tenso de foras vitalizadas na
potica dos en-sinamentos alimenta a vitalidade do campo e, assim, fecunda uma
arqueofilia florescente nos jardins de uma topofilia viva. E dessa forma, tempo-espao,
mat[eria, pessoa e ancestralidade, se entrelaam de maneira circular e recursiva.
Dessa maneira, podemos traquinar com as imagens tramando um sentido de
que a Me-Terra e a Me-frica so progenitoras da Me-Capoeira. E esta filha, me
caula, por sua vez, constitui sua famlia extensa. Assim, nessa levada copulativa [e
que notamos a Me-Capoeira e a famlia-capoeira se constituindo mutuamente numa
comum-unidade de vida arquefila e topfila. Uma imagem crepuscular em que as
foras traquinas da Me-Capoeira, como uma criana aventureira que carrega em si a
tenacidade feminina e a sabedoria ancestral, penetra e brinca com o campo sensvel
estendido da filharada-capoeira em festa ntima e comunal.
Sendo assim, uma concepo afro-amerndia de arqueofilia e topofilia, numa
filosofia de vida capoeira, parece afrontar a noo de propriedade oligrquica, patriarcal,
individualista e contratualista como tributada pela herana branco-ocidental. Assim, esta
levada reversvel e recursiva do amor ancestralidade e amor ao territrio abre
caminhos vivncia de uma noo pertencimento para alm e aqum da idia branco-
ocidental de propriedade. Uma vez que, no matrialismo afro-amerndio, esta noo
aparece com um sentido de ordem comunitria, matrial, coletiva e afetual-naturalista na
necessidade pragmtica de sobrevivncia e do afeto gerado pelas relaes parentais e
pelas amizades construdas, na defesa da liberdade, das heranas e da fraternidade.
614
Ento, podemos inferir que - igualmente ao carter helicoidal do tempo
pertencem ao territrio, num s tempo: os ancestrais (mticos e histricos), o grupo de
seres humanos encarnados e, principalmente, os seres que ainda viro; alm dos seres-
fora minerais, animais e vegetais. Uma imagem arquefila e topfila nas teias de uma
sensibilidade crepuscular.
614
FERREIRA-SANTOS, 2005 (a)
364
Nesta perspectiva copulativa de uma famlia extensa no tempo-espao espiral da
Capoeira, podemos perceber a roda nos crculos do cuidado e da partilha silenciosa,
ntima e comunal. E, por falar numa arqueofilia e topofilia do ventre-cabaa-roda da
me-Capoeira, Folha chega para nos contar:
Alab Marcio Folha: Porque ali, quando a gente forma uma roda de
Capoeira, aquele o nosso universo, o nosso mundo. E o capoeira sempre quer
estar no seu mundo, quer estar entre os capoeiras, quer estar jogando Capoeira.
E quando o capoeira no est na roda, tudo o que ele pensa Capoeira. E
quando ele vai pra roda, no s de jogo, mas numa roda de capoerista, a ele se
fortalece! A ele mais ele, mais capoeira, por estar junto, nessa unio, a
famlia, a famlia-Capoeira.
615
Nesta entoada, percebemos imagens protetoras-festeiras da filharada-capoeira
dentro do ventre-roda-cabaa da Me-Capoeira. Assim, podemos perceber uma
movimentao in-tensa na trajetividade de foras vitais que tecem os elos de uma
comum-unidade matrial, arqueoflica e topoflica de vida. Nessas paisagens festeiras de
uma intimidade comunal, podemos sentir a me-Capoeira ressonando numa filosofia de
vida, num modo mandingueiro de estar na vida e co-memorar a alegria de viver. E,
ento, temos o retorno das imagens festeiras da maloka, do quilombo continuado e da
pessoa-comunal que carregada e carrega a Me-Capoeira em suas filosofias da carne
e em sua fora-alma-palavra.
Nesse sentido, percebemos uma predominncia da sensibilidade crepuscular
nos sentidos matriais afro-amerndios de tempo-espao espiral, de pessoa-comunal e de
relaes intergeracionais em movimentos pulsantes, circulares contnuos. Na imagem
crepuscular da volta ao mundo, nas voltas que o mundo deu, nas voltas que o mundo
d. E, como disse Folha:
Alab Marcio Folha: Como o tempo e o prprio mundo giram, esse o nosso
mundo, o mundo gira, est sempre girando... [faz movimentos de espiral com o
dedo] E quando gira, aquele mesmo ponto vai, faz todo o crculo e volta pro mesmo
lugar onde estava, depois vai de novo e volta pro mesmo lugar, e vai de
novo...Ento, contnuo, t sempre girando, girando e girando, uma coisa que no
para.
616
E, ento, nesta coisa que no para, nesta circularidade espiralada e contnua,
persistiremos nessa nossa arte da caa por alimentos e caminhos. Assim, tomamos a
centralidade da alimentao e do movimento como fundamentais a esta relao
profunda com a matria e a partilha ntima e comunal. Ento, temos imagens festeiras
e copulativas da exploso dos encontros intensos entre as filosofias ancestrais, as
615
Trecho da transcriao da conversa com Alab Mrcio Folha, realizada na sede do Grupo Guerreiros
de Senzala, no Ncleo de Extenso e Cultura em Artes Afro-brasileiras na USP
616
Idem.
365
filosofias da mateira e as filosofias da carne. Assentada num espao-tempo circular
temperado pelas provocaes numinosas do ritmo sagrado da criao em companhia
da alma-fora-palavra da Me-Capoeira. Isto na reversibilidade recursiva da pulsao
entre as reminiscncias e a criao. Nas partilhas festeiras dos alimentos e nos
cruzamentos dos caminhos. No A B C das partilhas sempre iniciticas:
O A a alegria
O B a brincadeira
E o C camaradagem
617
617
Cantiga entoada por Paulo Cigano
366
5. Impresses derradeiras:
Y! hora hora Y! Vamos embora!
Neste momento ficamos apenas com sentidos mitohermenutico, numa razo
sensvel, de que as bifurcaes e trilogias acompanharam todo este percurso, como por
exemplo:
1. Me-Terra, Me-fica e Me-Capoeira;
2. O lamento, a guerra e a festa;
3. Filosofias ancestrais, filosofias da carne e filosofias da matria;
4. Matrial: me, sbia e amante,
5. A cobra, a cabaa e a sereia;
6. Filosofias diurnas, noturnas e crepusculares;
7. O amor, a memria e a criao;
8. Acontecimentos, encontros e destinaes;
9. Histria e cultura africana, afro-brasileira e indgena;
Nestas encruzilhadas das trades, continuaremos nossa pesquisa sobre esta
alma-fora-arte afro-amerndia com a nsia de cavucar e fecundar as tantas frteis
terras que a literatura da Capoeira tem a fecundar nos modos de en-sinar, fazer-saber e
partilhar a Histria e Cultura Africana, Indgena e Afro-brasileira nas escolas. Uma vez
que, a Me-Capoeira, como j dissemos, carrega no seu ventre-cabaa-roda, na
eternidade de sua realizao, toda a histria do seu povo, toda a sua ancestralidade,
todo um devir...
Pois, como diz Mestre Gato Preto: Capoeira no para! e Mestre Pastinha: Seu
princpio no tem mtodo e seu fim inconcebvel ao mais sbio dos mestres
Y! hora! hora!
Y! Vamo embora!
Yeeeeeeee.......
367
6. Referncias Bibliogrficas:
ALBUQUERQUE, M. A. dos Santos. O dom e a tradio indgena kapinawa: ensaio sobre
uma noo nativa de autoria. Religio e sociedade. Vol. 28/2. 56-79, 2008.
ALEIXO, Jociara Keila da Silva. Reconstruo histrica da luta pela terra no Assentamento
Rural Araras III e seu processo educacional. Monografia. Pedagogia da Terra. UFSCar, So
Carlos, 2011.
ARAJO, Rosngela Costa. I, viva meu mestre! A Capoeira Angola da 'escola pastiniana'
como prxis educativa. So Paulo: FEUSP, Tese de doutoramento 2004.
BACHELARD, Gaston. A gua e os sonhos: ensaio sobre a imaginao da matria. So
Paulo: Martins Fontes, 1997.
__________________. A potica do espao. So Paulo: Abril Cultural, Coleo Os
Pensadores, 1978.
__________________. A psicanlise do fogo. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
__________________. A terra e os devaneios do repouso: ensaio sobre as imagens da
intimidade. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
__________________. O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginao do movimento. So
Paulo: Martins Fontes, 2001.
BALOGUN, Ola. A escultura dos signos. Na obra do artista africano, uma viso coletiva
do mundo. O Correio da Unesco. Rio de Janeiro, ano 05, n. 07, julho de 1997.
BOTELHO, Denise Maria. Educao e Orixs: processos educativos no Il Ax Mi Agba.
Tese (Doutorado), So Paulo, FE-USP, 2005.
BOYKIN, A. W; ALLEN, B. A. Cultural Integrity and Schooloing outcomes of African
American Children from Low-Income Backgrounds. In: PUFALL, Peter B; UNSWORTH,
Richard P. Rethink childhood. New Brunswick; Rutgers University Press, p. 57-91, 2004.
BRAUNSTEIN, Florence & PPIN, Jean-Franois. O Lugar do Corpo na Cultura Ocidental.
Lisboa: Instituto Piaget, 2001.
CADWEL, Kia Lilly. Fronteiras da diferena: raa e mulher no Brasil. Estudos Feministas.
Ano 08. Fevereiro de 2000.
368
CALDAS, Alberto Lins. Transcriao em Histria Oral. Revista do Ncleo de Estudos em
Histria Oral USP. So Paulo, Vol. 01, n.01, p. 71-80, 1999.
___________________. Interpretao e Realidade. Caderno de Criao, UFRO/Dep. de
Histria/CEI, n. 13, ano IV, Porto Velho, setembro, 1997.
CAMINHA, Iraquitan de Oliveira. Corpo vivido e corpo pulsional: um dilogo entre Merleau-
Ponty e Freud. In: BARROS, Neuma; ____________ & ALMEIDA, Ronaldo Monte (orgs)
Narrativas do corpo. Textos de psicopatologia fundamental. Joo Pessoa: Editora Universitria,
2009.
CABALZAR, Flora F.S. Dias. Saberes enredados, poderes abrandados. In: At Manaus, at
Bogot: os Tuyuka vestem seus nomes como ornamento. Tese de Doutorado - Departamento
de Antropologia FFLCH/USP, Cap.3. 187-293, 2010.
CARNEIRO, Sueli. A construo do outro como no-ser como fundamento do ser. Tese de
Doutorado em Filosofia da Educao, USP, 2005.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Pontos de vista sobre a floresta amaznica: xamanismo
e traduo. Mana 4/1, p.7-23, 1998.
CARVALHO, Marco. Feijoada no paraso: a saga de Besouro, o capoeira. Rio de Janeiro:
Record, 2002.
CLASTRES, Hlne. Terra Sem Mal. So Paulo: Editora Brasiliense. 1978.
CORBIN, Alain. O encontro dos corpos. In: _______; COURTINE Jean-Jacques &
VIGARELLO Georges. Histria do Corpo. (vol. 2 Da Revoluo Grande Guerra) Petrpolis,
RJ: Editora Vozes, 2009.
COURTINE Jean-Jacques & VIGARELLO Georges. Identificar: traos, indcios e suspeitas.
In: CORBIN, Alain; ________, _________ Histria do Corpo. Petrpolis, RJ: Editora Vozes, (vol.
3: As mutaes do olhar. O sculo XX), 2009.
DURAND, Gilbert. As Estruturas Antropolgicas do Imaginrio. So Paulo: Martins Fontes,
1997.
_______________. LImaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de limage. Paris:
Hatier, 1994. (traduo: Jos Carlos de PAULA CARVALHO e reviso tcnica de Marcos
FERREIRA-SANTOS)
ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. So Paulo: Perspectiva, 2007.
369
____________. O sagrado e o profano. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
FANON, Frantz. Pele negra, mscaras brancas. Rio de Janeiro: Fator, 1983.
FAUSTINO, Oswaldo. Com a palavra: os contadores de histrias. In: ARAJO, Emanoel
(curador). Projeto Negras Palavras. sombra do Baob. So Paulo: Museu Afro Brasil. 2006.
FAUSTO, Carlos. Donos demais: maestria e domnio na Amaznia. Mana, vol.14/2, 329-366.
2008.
FERREIRA-SANTOS, Marcos. Ancestralidade e convivncia no processo identitrio: a dor
do espinho e a arte da paixo entre Karab e Kiriku. In: SECAD/MEC. (Org.). Educao anti-
racista: caminhos abertos pela Lei Federal n.o 10.639/03. 1 ed. Braslia: Edies
MEC/BID/UNESCO - Coleo Educao para Todos, v. 1, 2005.(a)
_________________________. Arqueofilia: o vestigium na prtica arqueolgica e
junguiana. In: Marcos Callia; Marcos Fleury de Oliveira. (Orgs.). Terra Brasilis: pr-histria e
arqueologia da psique. So Paulo: Paulus, p. 125-182, 2006.(a)
_________________________. Arte-Educao, Imaginrio & Comunidade: as faces de um
mesmo rosto. Cadernos de educao, Cuiab, v. Edio, n. Especial, 2005.(b)
_________________________. Arte, Imaginrio e Pessoa: Perspectivas Antropolgicas
em Pesquisa. In: Maria Ceclia Sanchez Teixeira; Maria do Rosrio Silveira Porto. (Org.).
Imagens da Cultura: Um Outro Olhar. 1 ed. So Paulo: Pliade, 1999.
_________________________. Cantiga leiga para um rio seco: mito e educao.
Suplemento Pedaggico APASE (So Paulo), Aprendizagem e Escola, ano IX, n.o 23, abril de
2008.
_______________________. Crepusculrio: conferncias sobre mitohermenutica &
educao em Euskadi. So Paulo: Editora Zouk, 2a. ed., 2005.(c)
_______________________. Crepsculo do Mito: Mitohermenutica e antropologia da
educao em Euskal Herria e Amerndia. So Paulo: FEUSP, tese de livre-docncia. 2004.
(a)
_______________________. Fiestas & Educao Ancestral em Amerndia: um exerccio
mitohermenutico. In: Lucia Maria Vaz Peres. (Org.). Imaginrio: o "entre-saberes" do arcaico
e do cotidiano. Pelotas: Editora da Universidade Federal de Pelotas, p. 39-69, 2004. (b)
______________________. Fundamentos Antropolgicos da Arte-Educao: por um
pharmakon na didaskalia artes. So Paulo: Revista @mbienteeducao, 2011.
_______________________. Matrices de la persona afro-amerndia: escritura como obra
de vida. Cali: Universidad de San Buenaventura Cali, Maestra en Educacin Desarrollo
Humano, 2009.
370
______________________. Mitohermenutica de la creacin: arte, proceso identitrio y
ancestralidad. In: Marin Lpez Fernndez-Cao. (Org.). Creacin y Posibilidad, Aplicaciones
del arte en la integracin social. Madrid: Editorial Fundamentos, 2006 (b).
______________________. Msica & Literatura: O Sagrado Vivenciado. In: Porto; Sanchez
Teixeira; FERREIRA-SANTOS & Bandeira. (Org.). Tessituras do Imaginrio: Cultura &
Educao. 1 ed. Cuiab: Edunic/Cice, 2000.
______________________. O Espao Crepuscular: mitohermenutica e jornada
interpretativa em cidades histricas. In: Danielle Perin Rocha Pitta. (Org.). Ritmos do
Imaginrio. Recife: Editora Universitria UFPE, p. 59-99, 2005. (d)
_______________________. Prticas Crepusculares: Mytho, Cincia & Educao no
Instituto Butantan Um Estudo de Caso em Antropologia Filosfica. FEUSP, Tese de
doutoramento, 1998.
_______________________. Uma perlaborao do sujeito: subjetividade, arte & pessoa.
In: Maria de Lourdes Manzini-Covre. (Org.). Mudana de sentido, sujeito(s) e cidadania: novos
paradigmas em cincias sociais. So Paulo: Expresso e Arte Editora, 2005. (e)
FILHO, Luciano Mendes de Faria. O processo de escolarizao em Minas Gerais: questes
terico-metodolgicas e perspectivas de anlise. In: FONSECA, Thais N. de Lima e; VEIGA,
Cynthia Greive. Histria e historiografia da educao no Brasil. Belo Horizonte: Autntica, 2003.
FOLHA, Mrcio. Histrias de Tio Alpio e Kau: O Beab do Berimbau. So Paulo:
CicloContnuo, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
____________. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios prtica educativa. So
Paulo: Paz e Terra, 1996.
GALLOIS, Dominique T. Gneses wajpi, entre diversos e diferentes In: Revista de
Antropologia, vol. 50, n. 1, 2007.
___________________. Kusiwar, entre donos, detentores e usurios. Com.ABA.ms, 2010.
GOMES, Nilma Lino; MUNANGA, Kabengele. Para entender o negro no Brasil de hoje:
histria, realidades, problemas e caminhos. So Paulo: Global, 2004.
GONZALEZ, Llia. As amefricanas do Brasil e sua militncia. In: Maioria Falante, n.7
(maio/jun.), 1988a.
_______________. Por um feminismo afrolatinoamericano. Revista Isis Internacional, n. 8
(out), 1988b.
371
_______________. A Mulher Negra na Sociedade Brasileira. In: LUZ, Madel. Lugar da
Mulher: estudos sobre a condio feminina na sociedade atual. Rio de Janeiro: Graal Editora,
1982.
_______________. Mulher Negra. Verso, com algumas modificaes, da comunicao The
Black Womans Place in the Brazilian Society, apresentada na 1985 and Beyond: A National
Conference promovida pelo African-American Political Caucus e pela Morgan State University:
Baltimore, 9-12/agosto, 1984.
_______________. Llia Gonzlez uma mulher de luta. Entrevista concedida ao MNU
Jornal, (19) 8-9 (maio /jul.), 1991.
GRUPIONI, Denise Fajardo Comparando taxonomias sociais, investigando noes de
gente Paper apresentado na VIII RAM, Buenos Aires, 2009.
GIL, Jos. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relgio Dgua Editores, 2007.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. 10a ed. Rio de janeiro: dp&a; 2005.
__________. Da Dispora: identidades e mediaes culturais. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2003.
HAMA, Boubou & KI-ZERBO, Joseph. Tempo mtico e tempo histrico na frica. In: O
Correio da UNESCO, ano 7(10/11):12-16, Rio de Janeiro, 1979.
HAMPAT B, Amadou. A palavra, memria viva na frica. In: O Correio da Unesco, ano
7(10/11):17-23, Rio de Janeiro, 1979.
____________________. frica. Um continente artstico. In: O Correio da Unesco, ano
5(7):12-17, Rio de Janeiro, 1977.
____________________. A Tradio Viva. In: KI-ZERBO, J.(coord.) Histria Geral da frica;
metodologia e pr-histria da frica. So Paulo: tica/Unesco, Vol. 01, 1982.
HARDT. Michael. O comum no comunismo. Disponvel em:
http://www.universidadenomade.org.br/userfiles/file/O%20Comum%20no%20Comunismo.pdf.
2010.
INGOLD, Timothy. Da transmisso de representaes educao da ateno. Educao,
Porto Alegre. Vol.33/1. 6-25. 2010.
IPHAN. Samba de Roda do Recncavo Baiano. Braslia, DF: IPHAN Dossi IPHAN: 4.
2006.
JUNG, C. G. Os arqutipos e o inconsciente coletivo. Petrpolis: Vozes, 2a Ed. 2000.
372
KRAMER, Sonia. A poltica do pr-escolar no Brasil: A arte do disfarce. So Paulo: Cortez,
1995.
LAGROU, Elsje. O que nos diz a arte kaxinawa sobre a relao entre identidade e
alteridade? In: Mana, vol.8 no.1, 2002.
LIMA, Srgio. O Corpo Significa. So Paulo: EDART. 1976.
LOBISOMEM. Victor Alvim Itahim Garcia. Histrias e Bravuras de Besouro, o valente
capoeira. Rio de Janeiro: Abad Edies, 2006.
LOPES, Nei. Bantos, Mals e Identidade Negra. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 1988.
MACHADO, Vanda. queles que tm na pele a cor da noite: ensinncias e aprendncias
com o pensamento africano recriado na dispora. Salvador: UFBA, Faculdade de
Educao, Tese de doutorado, 2006.
________________. Il Ax: vivncias e inveno pedaggica crianas do Afonj.
Salvador: EDUFBA/SMEC, 2002.
MAFFESOLI, Michel. O Elogio da razo sensvel. Petrpolis: Vozes, 1998.
MAMANI, Fernando Huanacuni. Vivir Bien/Buen vivir. Filosofas, polticas, estrategias e
experiencias regionales. Peru - Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indgenas
CAOI, 2010.
MANDINGO, Fbio. Salvador Negro Rancor. So Paulo: Ciclocontnuo, 2011.
MARTINS, Leda Maria. Afrografias da memria. So Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte:
Mazza Edies, 1997.
___________________. A oralitura da memria. In: FONSECA, Maria Nazareth Soares. Brasil
Afro-brasileiro. 2 ed. Belo Horizonte: Autntica, 2001.
___________________. Performance do tempo espiralar. In: RAVETTI, G. e ARBEX,
M.(orgs.). Performance, exlio, fronteiras: errncias territoriais e textuais. Belo Horizonte: FALE-
Faculdade de Letras da UFMG, 2002.
MEIHY, Jos Carlos Sebe Bom. Manual de Histria Oral. 5 Edio. So Paulo: Loyola, 2005.
MENTORE, George. O triunfo e a dor da beleza: comparando as estticas recursiva,
contrapontstica e celular do ser. Revista de Antropologia. So Paulo: USP. Vol. 49/1. 465-
499. 2006.
373
MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visvel e o Invisvel. So Paulo: Perspectiva, 3ed, 1992.
________________. O olho e o esprito. So Paulo: Coleo Os Pensadores, p. 275-301,
1975.
MICHEL-JONES, Franoise. A noo de pessoa. In: AUG, Marc (e outros). A construo do
mundo: religio, representaes, ideologia. Lisboa: Edies 70, 1974.
MINISTRIO DA EDUCAO. Parmetros Curriculares Nacionais: Histria. Secretaria de
Educao Fundamental 3. ed Braslia: A Secretaria, 2001.
MOLINA, Thiago dos Santos. Relevncia da dimenso cultural na escolarizao de
crianas negras. So Paulo: FEUSP. Dissertao de Mestrado, 2011.
MORALES, Patrcia Perez. Espao-tempo e ancestralidade na educao amerndia:
desdobramentos de Paulo Freire em Chimborazo, Ecuador. So Paulo: FE-USP, tese de
doutorado. 2008.
MOREIRA, Adriana de Cssia. Africanidade: morte e ancestralidade em Ponci Vicncio e
Um rio chamado tempo e uma casa chamada terra. So Paulo: FFLCH/USP, Departamento
de Letras Clssicas e Vernculas - Literaturas de Lngua Portuguesa. Dissertao, 2010.
MOUNIER, Emmanuel. O Personalismo. So Paulo: Martins Fontes, 1973.
MOURA, Clvis. Os quilombos e a rebelio negra. So Paulo: Brasiliense, 1981.
_____________. Rebelies da senzala: quilombos, insurreies, guerrilhas. So Paulo:
Livraria Editora Cincias Humanas. (1 Ed. 1959). 3 Ed. 1981.a
MUNANGA, Kabenguele. Aspectos do casamento africano. In: Revista Ddalo(23): 163-170,
So Paulo, MAE/USP, 1984.
__________________. Negritude: Usos e Sentidos. 2a ed. So Paulo, tica, 1986.
__________________. Origens africanas do Brasil contemporneo: histrias, lnguas,
culturas e civilizaes. So Paulo: Global, 2009.
__________________. Origem e histrico do quilombo na frica. In: Revista USP. Dossi
Povo Negro 300 anos. So Paulo, n 28, dez/fev 1995/96.
__________________. Rediscutindo a mestiagem no Brasil: Identidade Nacional versus
Identidade Negra. Petrpolis, RJ: Vozes, 1999.
__________________. Teorias sobre o racismo. In: Hasenbalg, Carlos; Munanga, Kagangele;
e Schawarcz, Llia. Racismo: perspectivas para um estudo contextualizado da sociedade
brasileira. Niteri, RJ: EDUFF, 1998.
374
___________________. Uma abordagem conceitual das noes de raa, racismo,
identidade e etnia. In. Palestra proferida no 3 seminrio Nacional de Relaes Raciais e
Educao. Rio de Janeiro: PENESB, 05/11/2003.
MUTTI, Maria. Maculel. Bahia: Secretaria Municipal de Educao e Cultura Salvador, 1978.
NASCIMENTO, Maria Letcia B. P. A criana como objeto de estudo sociolgico: a
emergncia da sociologia da infncia. So Paulo: FEUSP/SEE/Fundao Vanzolini, 2003.
OLIVEIRA, Eduardo de. Cosmoviso Africana no Brasil: elementos para uma filosofia
afrodescendente. Fortaleza: LCR Ibeca, 2003.
OLIVEIRA, Joana Cabral de. A dinmica dos saberes: uma etnografia dos modos de
transmisso. In: Classificaes em cena. Algumas formas de classificao das plantas
cultivadas pelos Wajpi do Amapari. Dissertao USP. (Cap.5. 236-259.), 2006.
OLIVEIRA, Kiusam Regina de. Candombl de Ketu e educao: estratgias para o
empoderamento da mulher negra. So Paulo: FEUSP. Tese Doutorado, 2008.
ORTIZ-OSS, Andrs. Amor y Sentido: una hermenutica simblica. Barcelona: Editorial
Anthropos. 2003.
_________________. Sensus (razn afectiva) por una filosofa latina. Anthropos
Venezuela, ao XVI, 2, 31. 1995.
OVERING, Joana. 2006. O ftido odor da morte e os aromas da vida. Potica dos saberes
e processo sensorial entre os Piaroa da Bacia do Orinoco. Revista de Antropologia.
Vol.49/1.
PAIM, Zilda. Relicrio Popular. Secretaria da Cultura e Turismo. Salvador:Empresa Grfica da
Bahia, 1999.
PASTINHA, Vicente Ferreira. Capoeira Angola Mestre Pastinha. Salvador: Fundao cultural
do Estado da Bahia. 3 ed 1988.
PATTO, Maria Helena Souza (org). Introduo psicologia escolar. So Paulo: Casa do
Psiclogo, 1997.
_____________________. Privao cultural e Educao Pr-primria. Rio de Janeiro:
Livraria
Jos Olympo Editora, 1973.
375
RATTS, Alex. Eu sou atlntica: sobre a trajetria de vida de Beatriz Nascimento. So
Paulo: Imprensa Oficial do Estado de So Paulo/ Instituto Kuanza, 2007
____________. (Re)Conhecer Quilombos no territrio Brasileiro. In: FONSECA, Maria N. S.
Brasil Afro-brasileiro. Belo Horizonte: Autntica, 2000.
REGO, Waldeloir. Capoeira Angola - ensaio scio-etnogrfico. Salvador: Editora Itapoan,
ilustraes de Hector Jlio Paride Bernab (Caryb),1968.
REIS, Letcia Vidor de Sousa. O mundo de pernas para o ar: a capoeira no Brasil. So
Paulo: Publisher Brasil, 2a Ed. 2000.
RIBEIRO, Ronilda Yakemi. Alma africana no Brasil. Os Iorubs. So Paulo: Oduduwa, 1996.
RIZZINI, Irma (org.). Crianas desvalidas, indgenas e negras: cenas da Colnia, do
Imprio e da Repblica. Rio de Janeiro: USU Ed. Universitria, 2000.
ROMIO, Jackeline Aparecida Ferreira. Mortes femininas violentas segundo raa/cor.
Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Cincias Humanas.
Dissertao de mestrado, 2009.
ROSA, Allan Santos da. Imaginrio, corpo e caneta: matriz afro-brasileira em educao de
jovens e adultos. So Paulo: USP, Dissertao (mestrado). Programa de Ps-graduao em
Educao da Universidade de So Paulo, 2009.
ROSEMBERG, Fvia. Organizaes multilaterais, estado e polticas de educao infantil.
Cadernos de Pesquisa (Fundao Carlos Chagas), So Paulo, n. 115, p. 25-64, 2002.
SEZ, Oscar Calavia. O nome e o tempo dos Yaminawa. So Paulo: UNESP: ISA; Rio de
Janeiro: NuTI, 2006.
SANTOS, Inaicyra Falco dos. Da tradio africana brasileira a uma proposta pluricultural
de dana-arte-educao. Tese de doutorado. Faculdade Educao/USP:1996.
SANTOS, Marcelino dos. Capoeira e Mandingas: Cobrinha Verde. Salvador: A Rasteira,
1991.
SANTOS, Marcelo de Salete. A configurao da curadoria de arte afro-brasileira de
Emanoel Araujo. So Paulo: SP, Dissertao USP - Programa de Ps-graduao
Interunidades em Esttica e Histria da Arte, 2009.
376
SARMENTO, M.; PINTO, M. As crianas e a infncia: definindo conceitos, delimitando o
campo. In PINTO, M.; SARMENTO, M. (coord.). As Crianas: Contextos e Identidades. Braga.
Centro de Estudos da Criana da Universidade do Minho, 1997.
SCOTT, Joan. 1995. Gnero: uma categoria til de anlise histrica. Educao & Realidade.
Porto Alegre, vol. 20, n 2,jul./dez. 1995.
SILVA, Petronilha Beatriz Gonalves da. (Relatora) et all. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educao das Relaes tnico-Raciais e para o Ensino de Histria e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. Parecer 003/2004 do Conselho Nacional de Educao. 2004
SODR, Muniz. A verdade Seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. 2ed. Rio de
Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1988.
__________. O Terreiro e a Cidade: a forma social negro-brasileira. Petrpolis: Vozes,
1988.
__________. Samba. O dono do corpo. Rio de Janeiro: Codecri, 1979.
__________. Santugri: histrias de mandinga e capoeiragem. Rio de Janeiro: Jos Olympio,
1988a.
TEIXEIRA, Maria Ceclia Sanchez. Discurso Pedaggico Mito e Ideologia - o Imaginrio de
Paulo Freire e de Ansio Teixeira. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.
TESTA, Adriana Queiroz. Palavra, sentido e memria: educao e escola nas lembranas
dos Guarani Mby. So Paulo: FEUSP. Dissertao de Mestrado, 2007.
VRIOS AUTORES. Conceito de privao e desvantagem. In: PATTO, Maria Helena Souza
(org.). Intoduo psicologia escolar. So Paulo, Casa do Psiclogo, 1997.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Os pronomes cosmolgicos e o perspectivismo
amerndio. Mana, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, Oct. 1996.
WENECK, Jurema, MENDONA,Maisa e WHITE, Evelyn C. (orgs.).O livro da sade das
mulheres negras: nossos passos vm de longe. Rio de Janeiro: Pallas: Criola, 2000.
YANO, Ana Martha Tie. A fisiologia do pensar. Corpo e saber entre os Caxinau. So
Paulo: SP, Dissertao USP - Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social, 2009.
Textos orais:
377
A Capoeira me-sbia-amante: pessoa, matria, ancestralidade e lamento, guerra e festa.
Transcriao da conversa entre Alab Mrcio Folha (Mrcio Custdio de Oliveira) e Elis Regina
Feitosa do Vale. So Paulo, Grupo Capoeira Angola Guerreiros da Senzala, 2009.
Cultura negra e cultura escolar: o que o corpo da maestria capoeira diria ao corpo
docente escolar? Transcriao da conversa entre Erenay Martins e Elis Regina Feitosa do
Vale. Na sede do Grupo Capoeira Angola Guerreiros da Senzala; Butant, So Paulo SP,
2009.
Literatura da Capoeira: matria, ancestralidade e lamento, guerra e festa. Transcriao da
conversa entre Contramestre Pinguim (Luiz Antonio Nascimento Cardoso) e Elis Regina Feitosa
do Vale. Na sede do Grupo Capoeira Angola Guerreiros da Senzala; Butant, So Paulo - SP,
2009.
Me-Capoeira, donos e donas, e a fora matrial afro-amerndia. Transcriao da conversa
entre Me Slvia de Oy (Silvia da Silva) e Elis Regina Feitosa do Vale. No Il Ax Omo Od;
Cidade Tiradentes, So Paulo - SP, 2010.
Me-Capoeira, Me-Terra e ancestralidade. Transcriao da conversa entre Don Oyacy
(Rosa Maria V. Da Silva) e Elis Regina Feitosa do Vale. No II Ax de Yans; Araras SP
2010.
Modos matriais afro-amerndios de en-sinar e fazer-saber. Transcriao da conversa entre
Tata Quejessy (Elvio Aparecido Motta) e Elis Regina Feitosa do Vale. No II Ax de Yans;
Araras-SP - 2010.
O Beab do Berimbau. Transcrio da conversa entre Mestre Gato Ges e Mestre Ad;
registrada por Marciano Ventura e com roteiro elaborado por Mrcio Folha. Em Santo Amaro da
Purificao BA, 2009.
Você também pode gostar
- Cora Conto Sertanejo Revista Nova Sao Paulo 1931 BibliotecaDocumento12 páginasCora Conto Sertanejo Revista Nova Sao Paulo 1931 BibliotecaIsaac ChileseAinda não há avaliações
- Lendário - Contos Fantásticos Da Amazônia (Yara Cecim)Documento114 páginasLendário - Contos Fantásticos Da Amazônia (Yara Cecim)cfts94Ainda não há avaliações
- Saramago Discursos de EstocolmoDocumento9 páginasSaramago Discursos de EstocolmoTim RodriguesAinda não há avaliações
- HISTÓRIA MALCONTADA e FITA VERDE NO CABELODocumento2 páginasHISTÓRIA MALCONTADA e FITA VERDE NO CABELOManoela WolffAinda não há avaliações
- SARAMAGO Jose - Discursos de EstocolmoDocumento24 páginasSARAMAGO Jose - Discursos de EstocolmoViviane V CamargoAinda não há avaliações
- Uma história de família e origensDocumento3 páginasUma história de família e origensSérgio PratasAinda não há avaliações
- Famba Te KuzaDocumento60 páginasFamba Te KuzaJoaquim MorgadoAinda não há avaliações
- Contos Mia Couto PDFDocumento4 páginasContos Mia Couto PDFPaulu D. RosárioAinda não há avaliações
- Crônicas Campestres de Raphael ReysDocumento93 páginasCrônicas Campestres de Raphael ReysShimada Coelho ShimmyAinda não há avaliações
- Sangue da avó manchando a alcatifaDocumento2 páginasSangue da avó manchando a alcatifaKleyton PereiraAinda não há avaliações
- A Afilhada - III - WikisourceDocumento36 páginasA Afilhada - III - WikisourceCharles Ribeiro PinheiroAinda não há avaliações
- A Dança Dos OssosDocumento13 páginasA Dança Dos OssosLuis CostaAinda não há avaliações
- Lendas do sertão nordestinoDocumento17 páginasLendas do sertão nordestinoDiogenes MacielAinda não há avaliações
- Confissões de um Bode AdolescenteDocumento14 páginasConfissões de um Bode AdolescenteazanagaAinda não há avaliações
- À Volta Da FogueiraDocumento2 páginasÀ Volta Da Fogueira9685650Ainda não há avaliações
- A história de Inhabané contada por Mãe MariaDocumento96 páginasA história de Inhabané contada por Mãe MariaAlexsander RibeiroAinda não há avaliações
- O Encontro das CarpideirasDocumento61 páginasO Encontro das CarpideirasKk42b100% (3)
- PRATA, Antonio - Nu, de Botas PDFDocumento92 páginasPRATA, Antonio - Nu, de Botas PDFPedro Miranda100% (1)
- Contos Para Rir e Assustar 2ª Volume: 2ª VolumeNo EverandContos Para Rir e Assustar 2ª Volume: 2ª VolumeAinda não há avaliações
- Crônica de Uma NamoradaDocumento173 páginasCrônica de Uma NamoradaVitoria RoqueAinda não há avaliações
- O Nosso Reino - Valter Hugo MaeDocumento141 páginasO Nosso Reino - Valter Hugo MaeJaniheyre Ribeiro costaAinda não há avaliações
- Esmeralda Ribeiro: LITERAFRO - WWW - Letras.ufmg - Br/literafroDocumento8 páginasEsmeralda Ribeiro: LITERAFRO - WWW - Letras.ufmg - Br/literafroZid SantosAinda não há avaliações
- Mistério: Contos E Lendas De Bom Sucesso - MgNo EverandMistério: Contos E Lendas De Bom Sucesso - MgAinda não há avaliações
- Quase Tudo (Danuza Leão)Documento226 páginasQuase Tudo (Danuza Leão)HelioNascimentoSantos100% (1)
- Memorias de Marta Júlia Lopes de AlmeidaDocumento210 páginasMemorias de Marta Júlia Lopes de AlmeidaSandy Falcão0% (1)
- Recortes da infância de Lycio NevesDocumento26 páginasRecortes da infância de Lycio NevesPablo Guarani KaiowáAinda não há avaliações
- A Cidade Dorme - Luiz RuffatoDocumento110 páginasA Cidade Dorme - Luiz Ruffatosimaria cissa100% (1)
- REFLEXÕESDocumento4 páginasREFLEXÕESassuncaohrAinda não há avaliações
- Dicas de PortuguêsDocumento6 páginasDicas de PortuguêsMario TakegumaAinda não há avaliações
- Aulas Docs QconcursosDocumento3 páginasAulas Docs QconcursosMario TakegumaAinda não há avaliações
- Assedio Moral e Saude MentalDocumento11 páginasAssedio Moral e Saude MentalMario TakegumaAinda não há avaliações
- Aula de Enquadramento ComposiçãoDocumento57 páginasAula de Enquadramento ComposiçãoMario TakegumaAinda não há avaliações
- Código de Ética da PsicologiaDocumento20 páginasCódigo de Ética da PsicologiaLuis AugustoAinda não há avaliações
- Conhecimento Específico para PsicólogoDocumento4 páginasConhecimento Específico para PsicólogoMario TakegumaAinda não há avaliações
- Aula de Enquadramento ComposiçãoDocumento57 páginasAula de Enquadramento ComposiçãoMario TakegumaAinda não há avaliações
- TeseDocumento269 páginasTeseMario TakegumaAinda não há avaliações
- 1281160Documento32 páginas1281160Mario TakegumaAinda não há avaliações
- Ed Abertura Mga Serh 021Documento21 páginasEd Abertura Mga Serh 021Mario TakegumaAinda não há avaliações
- Entornos Dos ProcessosDocumento5 páginasEntornos Dos ProcessosMario TakegumaAinda não há avaliações
- Arte Poética - AristótelesDocumento53 páginasArte Poética - AristótelesJoão AmadoAinda não há avaliações
- História da capoeira dos séculos XVI a XXDocumento6 páginasHistória da capoeira dos séculos XVI a XXAndréia da Vitória - JaguaraAinda não há avaliações
- Capoeira - Do Crime À LegalizaçãoDocumento13 páginasCapoeira - Do Crime À LegalizaçãoOctávio MangabeiraAinda não há avaliações
- A imortalidade de Besouro PretoDocumento6 páginasA imortalidade de Besouro PretoFelipeDECerqueiraCesarAinda não há avaliações
- Capoterapia traz benefícios físicos, sociais e emocionais para idososDocumento2 páginasCapoterapia traz benefícios físicos, sociais e emocionais para idososChrystian SilvaAinda não há avaliações
- Tecnicas de Desenvolvimento Da Capoeira PDFDocumento14 páginasTecnicas de Desenvolvimento Da Capoeira PDFAlanAinda não há avaliações
- Conhecimentos Tradicionais Matriz Afro-Brasileira Ensino CienciasDocumento14 páginasConhecimentos Tradicionais Matriz Afro-Brasileira Ensino CienciasEliseteFrançaAinda não há avaliações
- Proposta Curricular de CapoeiraDocumento6 páginasProposta Curricular de CapoeiratassidarejaneAinda não há avaliações
- A reviravolta inesperada de BartolomeuDocumento7 páginasA reviravolta inesperada de BartolomeuOsairManassanAinda não há avaliações
- I Encontro Nacional Capoeira Brasil Araguaina - ToDocumento8 páginasI Encontro Nacional Capoeira Brasil Araguaina - ToAilane Camila S. PereiraAinda não há avaliações
- LIDO - Simão, João Paulo - Música Corporal e o Corpo Do SomDocumento93 páginasLIDO - Simão, João Paulo - Música Corporal e o Corpo Do Somamanda199Ainda não há avaliações
- Capoeira Lyrics IndexDocumento20 páginasCapoeira Lyrics IndexGiovanni SilvaAinda não há avaliações
- Capoeira Angola: ensaioDocumento436 páginasCapoeira Angola: ensaioMarco Alexandre Serra100% (2)
- O que é o frevoDocumento2 páginasO que é o frevoElber Costa Lourenço80% (10)
- BasqueteEF1ZigueZagueDocumento9 páginasBasqueteEF1ZigueZagueHelio VieiraAinda não há avaliações
- Roda Saberes Dos Saberes Do Cais Do ValongoDocumento61 páginasRoda Saberes Dos Saberes Do Cais Do ValongoStephanie AlbuquerqueAinda não há avaliações
- O instrumento do samba BerimbauDocumento11 páginasO instrumento do samba BerimbauSuzanne LopesAinda não há avaliações
- 1º Fasciculo Coleção Literária BesouroDocumento16 páginas1º Fasciculo Coleção Literária BesouroAline LeãoAinda não há avaliações
- Culturas em movimentoDocumento276 páginasCulturas em movimentoNielliLayaneAinda não há avaliações
- Capoeiragem na AlemanhaDocumento238 páginasCapoeiragem na AlemanhaFabio Araújo FernandesAinda não há avaliações
- O Apostolo Paulo Conta Os Devaneios Da Cidade de SantosDocumento601 páginasO Apostolo Paulo Conta Os Devaneios Da Cidade de SantosAnonymous q6XLc1WUwfAinda não há avaliações
- Capoeira Angola Resistência e Arte-FestasDocumento48 páginasCapoeira Angola Resistência e Arte-FestasBeatriz Zanardi de SouzaAinda não há avaliações
- Pangéia' e o 'PangeísmoDocumento34 páginasPangéia' e o 'PangeísmoromeubarillariAinda não há avaliações
- CapoeiraDocumento138 páginasCapoeiraEliana MartínezAinda não há avaliações
- Capoeira Angola Saberes Valores e Atitudes Na Formação Do MestreDocumento251 páginasCapoeira Angola Saberes Valores e Atitudes Na Formação Do MestreBeatriz Zanardi de SouzaAinda não há avaliações
- Eu Sou CapoeiraDocumento4 páginasEu Sou CapoeiraRose SantosAinda não há avaliações
- Capoeira em 40Documento13 páginasCapoeira em 40Salvatore Esquilo LaconiAinda não há avaliações
- Beneficios Psicofisiologicos Da CapoeiraDocumento60 páginasBeneficios Psicofisiologicos Da CapoeiraAnonymous JqBgcjTMAinda não há avaliações
- Navalha Nao Corta SedaDocumento22 páginasNavalha Nao Corta SedasanpestanaAinda não há avaliações
- História Da CapoeiraDocumento2 páginasHistória Da CapoeiraLuiz Santos100% (2)