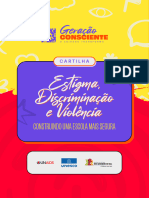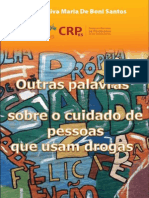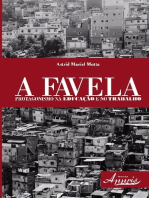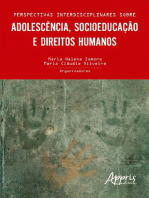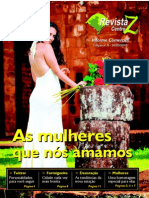Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tratamento Comunitário Manual de Trabalho 1
Enviado por
Marcos Antonio PerazzoDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tratamento Comunitário Manual de Trabalho 1
Enviado por
Marcos Antonio PerazzoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
EFREM MILANESE
(PhD, Psicologia, Universidade de Paris V, Faculdade de Cincias Humanas,
Sorbonne), Psicanalista; desde 1989 acompanha o processo descrito neste livro.
TRATAMENTO
COMUNITRIO
Manual de Trabalho I
Conceitos e Prticas
Efrem Milanese
2 Edio
So Paulo
Instituto Empodera
2012
Dados Catalogrfcos
Tratamento Comunitrio: manual de trabalho I, 2012.
316p.
1. Redes. 2. Incluso. 3. Drogas. 4. Interveno. 5. Mitos. 6. Comunidade. 7.
Representao social.
ISBN:
INFORMAES DO LIVRO
Autor
Efrem Milanese
Editor/Coordenador
Raquel Barros
Diagramao
Ariane Chiebao
Ilustrao
Jones Alves
Tradutores
Manuel Coll e Maysa Mazzon
Corretor Ortogrfco
Fernando Orrr
Marta Volpi
Tiragem
2.000 exemplares
Venda Proibida. Todos os direitos desta edio reservados SECRETARIA NACIONAL DE
POLTICAS SOBRE DROGAS - SENAD. Nenhuma parte deste material poder ser reproduzida,
transmitida e gravada, por qualquer meio eletrnico, por fotocpia e outros, sem a prvia
autorizao, por escrito, da Secretaria Nacional de Polticas sobre Drogas.
TRATAMENTO
COMUNITRIO
Manual de Trabalho I
Conceitos e Prticas
Efrem Milanese
2 Edio
So Paulo
Instituto Empodera
2012
com satisfao que a Secretaria Nacional de Polticas sobre Drogas SENAD, do
Ministrio da Justia, apresenta a publicao Tratamento Comunitrio, resultado do
esforo e da parceria de diversas instituies da sociedade civil para o enfrentamento dos
problemas relacionados ao consumo de lcool, crack e outras drogas no mbito comunitrio.
Desde 2003, esta Secretaria vem apoiando e valorizando boas prticas protagonizadas
pela sociedade civil, por reconhecer a importncia da atuao dessas instituies para a
implementao das diretrizes previstas na Poltica Nacional sobre Drogas - PNAD. sabido
que a abordagem do tema complexa e demanda a unio de esforos de todos Governo
e sociedade - na busca de solues que promovam respostas efcazes aos desafos impostos
pelo tema drogas e suas diversas interfaces.
Algumas das respostas necessrias para o enfrentamento do problema das drogas
esto nas diversas redes de proteo, formais e informais, existentes nas comunidades e
a integrao entre elas. Essas redes so destacadas pelo seu alto potencial mobilizador e
sua capacidade de transformar comunidades inteiras, criando sistemas de proteo e de
ateno aos usurios, dependentes de drogas, assim como seus familiares, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida dessas populaes.
As aes fundamentadas na metodologia denominada Tratamento
Comunitrio trazem a perspectiva de integrao e valorizao das aes comunitrias
no mbito das redes sociais e buscam dar visibilidade s metodologias construdas
em conjunto com a comunidade, e no apenas impostas ela.
Assim, este livro um exemplo de como a integrao de experincias e boas
prticas podem se transformar em modelos de ao que valorizem o saber local e
forneam, apoio aos profssionais que atuam em intervenes voltadas aos usurios
de lcool, crack e outras drogas.
Esperamos que os contedos aqui apresentados possam servir de inspirao
para a disseminao de aes semelhantes em outros municpios brasileiros.
Boa leitura a todos!
Secretaria Nacional de Polticas sobre Drogas SENAD
Ministrio da Justia MJ
PREFCIO
Dedico este livro a Magma, Solis e Neva.
So os nomes inventados de personagens verdadeiros: duas pessoas e uma
comunidade.
Magma, Solis e Neva so atores comunitrios, aqueles com os quais iniciamos
a aprender.
Eles representam todas aquelas pessoas, organizaes, instituies,
comunidades e redes com nomes e sem nomes, que nos acompanharam em todos
estes anos. Eles so as pessoas destas pginas, os que deram sentido suas palavras...
DEDICATRIA
Efrem Milanese
INTRODUO............................................................................................ 13
TRATAMENTO COMUNITRIO: UM POUCO DE HISTRIAS E CONTOS ......................... 19
CAPTULO 01
O ENCONTRO COM A COMUNIDADE ............................................................... 63
CAPTULO 02
AES DE CONSTRUO O DISPOSITIVO SEGUNDA PARTE .................................... 97
CAPTULO 03
CONSTRUO DO CONHECIMENTO, CONSTRUO DO DISPOSITIVO ........................ 129
CAPTULO 04
A COMUNIDADE E SEUS SERVIOS ................................................................ 193
CAPTULO 05
TRATAMENTO COMUNITRIO: CONCEITOS E MTODO ........................................ 263
CAPTULO 06
NDICE
13 TRATAMENTO COMUNITRIO | INTRODUO
Comunidade, rede e parceria so os temas que permeiam este manual,
hora como pano de fundo, hora como atores e hora como contexto, valorizando e
facilitando as iniciativas de baixo para cima, tticas e estratgicas.
um manual que respeita a complexidade do uso de droga, integra teoria e
prtica e convida a uma leitura proativa atravs de sugestes simples, claras e, ao
mesmo tempo, recheadas de contedos para refexo.
Trata-se, ento, de um manual que inaugura a sintonia entre tratamento,
preveno, reduo de danos e reinsero social, atravs de uma prtica de rede, de
investigao, de respeito diversidade e da criao de um sistema de proteo ao
usurio no seu processo de desvinculao com a droga.
Prope abandonar a viso da cura como algo que deve acontecer entre
muros e incluir a comunidade como ator desse processo entendendo assim a cura
como: ... uma forma de governana, de superao, de acompanhamento da experincia
de sofrimento por um indivduo, por grupos e redes (em outras palavras, pela esfera social
da comunidade, sem distanciar nenhum ator de outro)... (Efrem Milanese).
Neste sentido, a comunidade deixa de ser um espao fsico para ser um espao
frtil de relao, diversidade, proteo e soluo.
Convido todos a buscarem neste manual o contedo a partir de sua
necessidade e referncia, pois no se trata de um passo a passo a seguir, mas sim,
conceitos para refetir, experincias para confrontar, paradoxos para entender e
disparador para criar.
Boa leitura!
Raquel Barros
Empodera, Lua Nova, RAISSS Brasil
APRESENTAO
14 TRATAMENTO COMUNITRIO | INTRODUO
15 TRATAMENTO COMUNITRIO | INTRODUO
Como diz o manual, sua historia a histria dos atores que o produziram, das
relaes que souberam construir, fortalecer e manter e das experincias descritas
aqui. Um de seus aspectos relevantes que estas experincias foram realizadas todas
na Amrica Latina por latino-americanos e latino-americanas. um conto de alianas
de parcerias e de redes, de protagonismo local e regional, de articulaes entre
atores da sociedade civil e de atores governamentais. Estas experincias podem ser
resumidas em algumas etapas.
A primeira no Mxico (1989), quando algumas organizaes da sociedade civil
e uma universidade celebram um primeiro encontro dedicado a tentar entender
o fenmeno das drogas. A proposta : focalizar na preveno e na reabilitao,
produzindo um modelo que articulasse os dois aspectos.
A segunda (1989-1994) no Mxico, com a participao de cinco organizaes:
Hogar Integral de Juventud, Cultura Joven, CEJUV, Caritas Arquidicesis de Mxico e
Reintegra. Despois de quatro anos de formao e experincias no trabalho de rua e na
comunidade teraputica, em nome de todos, a Hogar Integral de Juventud apresenta
um projeto para a Unio Europeia que o avalia positivamente e aceita apoi-lo
fnanceiramente. Os eixos deste projeto de investigao so a investigao na ao,
preveno na comunidade local e no tratamento em comunidade teraputica, alm
da reinsero social e profssional, a formao e a capacitao de recursos humanos
1
.
A terceira (1995) inicia a implementao das aes do projeto apoiado pela
Unio Europeia. Outras organizaes no Mxico se unem a esta iniciativa participando
principalmente na formao e na capacitao. Em 1997, estas organizaes eram 18
e iniciaram a dar forma quela que, mais tarde, seria chamada de Rede REMOISSS.
Em 1998, comeam a associar-se a esta iniciativa organizaes da Guatemala, El
Salvador e Costa Rica. Em 1999, comeam a participar organizaes do Panam, Chile,
Nicargua e Colmbia. Em 1996, a Caritas Alem comea a apoiar fnanceiramente
e com assessoria tcnica esta iniciativa no Mxico e nos pases que participam. Seu
1 Nesta fase e em algumas fases seguintes, a formao dos recursos humanos
apoiada por um pequeno grupo de assessores externos: Brigitte Lafay (Frana), Roberto
Merlo.
INTRODUO
16 TRATAMENTO COMUNITRIO | INTRODUO
apoio segue at os dias de hoje.
Hoje a continuidade deste apoio foi um dos fatores mais importantes para a
produo de um modelo comum (chamado ECO2) e de tantas e diversas experincias
e abordagens especfcas em cada pais e nas comunidades locais.
A inovao desta terceira fase foi ter introduzido a reduo de danos entre os
eixos do trabalho. Esta deciso mudou profundamente a proposta do tratamento na
rea de drogas e foi a premissa indispensvel para renovar a perspectiva do trabalho
comunitrio na rea de drogas. Entre seus efeitos, um dos mais importantes foi ter
introduzido o tema drogas no marco conceitual mais amplo da excluso social.
A quarta (1997-2001), poderia ser chamada de etapa das redes e dos centros
de formao. Cada organizao local desenvolve redes locais (o trabalho na rea de
drogas necessita de cooperao articulada e organizada). Nasce a rede mexicana e a
partir desta rede nasce o centro de formao (CAFAC). Todos os partners (organizaes)
entenderam que suas diversidades, suas histrias, identidades e culturas profssionais
e seu capital social necessitavam de autonomia e interconexo, de marcos comuns
fexveis e, ao mesmo tempo, de um terreno para construir junto conhecimento,
experincia, alianas e incidncia poltica. Este processo de pensamento e de
dilogos, suportado em fases comuns de formao, deu vida ao modelo chamado
ECO2. Nesta fase, alm da ajuda da Caritas Alem, os partners contaram com o apoio
de BMZ (Alemanha).
A quinta (2000-2007), pode-se dizer que a fase do desenvolvimento do
Tratamento Comunitrio. Nesta fase comeam a participar desta iniciativa partners
do Haiti, Brasil e Honduras. Em 2001, com o apoio da Caritas da Alemanha, da
BMZ, da Unio Europeia e da Unesco e em aliana com DOH (Deutsche Order
International), desenvolve-se a experimentao que foi chamada de Tratamento
Comunitrio. uma iniciativa que rene partners da Amrica Latina (Mxico, todos
os pases da Amrica Cental, Colmbia, Brasil, Chile, Haiti) e da sia (Afeganisto,
Paquisto, Nepal, Sri-lanka, ndia, Bangladesh, Malsia, Tailndia e Camboja
2
). Desta
maneira, a experincia da Amrica Latina se interconecta com a da sia dando vida
a uma forte aliana sul-sul.
Entre os resultados visveis desta fase encontram-se: (1) o desenvolvimento
na Amrica Central, Brasil, Chile, Haiti e Colmbia dos centros de formao e das
redes locais (nvel nacional); (2) o fortalecimento institucional dos partners locais; (3)
um marco comum para o tratamento comunitrio inspirado em ECO2 (descrito em
um manual publicado); (4) uma rede latino-americana (RAISSS); (5) uma avaliao
2 Nesta iniciativa, estes pases foram apoiados e assessorados por DOI (Deutsche
Order International).
17 TRATAMENTO COMUNITRIO | INTRODUO
cientfca do Tratamento Comunitrio (processos, resultados e impactos, realizada em
cooperao com a UNESCO e a Caritas Alem).
A sexta fase (2007-2012) , talvez, a etapa do fortalecimento, da inovao e
da transformao. Nesta etapa, outros parceiros comeam a participar (Argentina,
Bolvia e Peru) e, graas rede da Caritas Alem e ao seu apoio, alguns elementos do
Tratamento Comunitrio inspiram iniciativas autnomas no Afeganisto, Bangladesh,
ndia e Indonsia.
Uma caracterstica da sexta fase a articulao das redes com as polticas dos
estados baseadas nos princpios da democracia. Esta articulao leva a resultados
satisfatrios em quase todos os pases envolvidos e particularmente signifcativos no
Mxico, Costa Rica, Colmbia, Brasil e Chile.
Este manual tem suas razes em toda esta histria, uma vez que refete
principalmente as experincias feitas durante esta sexta fase e abre a perspectiva
para uma fase futura.
O segredo desta experincia que ns, os parceiros, aprendemos e seguimos
aprendendo a buscar mais em ns mesmos e a valorizar as pequenas experincias que,
integradas, podem se transformar em um modelo de ao e apoiar os profssionais na
busca da melhoria da qualidade de vida de usurios de drogas, como o caso deste
manual.
Estas organizaes desenvolvem, concomitantemente, aes de Tratamento
Comunitrio desde 2002 e constituem projetos pilotos que foram avaliados e
acompanhados durante esses anos e os quais forneceram os exemplos para a
elaborao deste Manual. So eles:
- Amerlca Latlna:
Brasil
Associao Reciclzaro: atua com moradores de rua, oferecendo albergue e
gerao de renda atravs da reciclagem.
Associao Lua Nova: desenvolve trabalho com mulheres e mes usurias de
drogas, oferecendo residncia teraputica, gerao de renda, construo de moradia
e aes de articulao comunitria.
Instituto Empodera: Centro de Formao que dissemina no Brasil o Tratamento
Comunitrio.
Associao Pode Crer: desenvolve aes de reduo de danos.
O Amor a Resposta: atua em ambiente comunitrio oferecendo ateno a
usurios de drogas e seus familiares em Teresina-PI.
SPM: atua com pessoas em situao de vulnerabilidade na cidade de Bayeux,
na Paraba.
18 TRATAMENTO COMUNITRIO | INTRODUO
Colmbia
Corporacin Viviendo: centro de formao que disseminou o Modelo Eco2 e o
Tratamento Comunitrio na Colmbia.
Fundacin Procrear: atua com profssionais do sexo e travestis e prope ateno
bsica, informao e aes de direitos humanos.
Samaritanos de la Calle: organizao que atua com moradores de rua
oferecendo acolhida institucional, educao e profssionalizao.
Rede 30-Consentidos: Organizao que atua com crianas e pessoas em
situao de vulnerabilidade em Bucaramanga.
Costa Rica
Humanitas: com uma histria reconhecida de ateno ao portador do vrus HIV,
oferece moradia em abrigo e formao em direitos humanos.
Chile
EFAD: Centro de Formao que dissemina o modelo Eco2 no Chile, assim como
prope prticas de Tratamento Comunitrio.
El Salvador
PASSOS : que implementa em San Salvador e regio um forte trabalho de rede
de experincias de Tratamento Comunitrio.
Guatemala
Caritas Quiche: apoia pessoas em situao de vulnerabilidade, implementa o
modelo do Tratamento Comunitrio e administra uma comunidade teraputica para
usurios de drogas.
Haiti
Foyer Caritas San Antonie: trabalha com crianas de rua, de comunidade e
mantm um lugar de acolhida e reinsero das crianas em escolas e nas famlias.
Honduras
Pastoral Penitenciria da Diocese de San Pedro Sula: Atua no crcere de
San Pedro Sula com as pessoas em situao de privao de liberdade, oferecendo
educao, acompanhamento religioso e profssionalizao.
Mxico
Centro Caritas de Formao: Centro de Formao (CAFAC) apoia os processos
locais em alguns pases e, atualmente, segue apoiando a Rede Mexicana (REMOISSS)
e outras organizaes mexicanas, colaborando em iniciativas de formao com
universidades e Estado.
Hogar Interal de Juventud: organizao piloto desta aventura desde 1989.
Segue no trabalho utilizando a proposta do Tratamento Comunitrio.
19 TRATAMENTO COMUNITRIO | INTRODUO
Panam
Pastoral Social da Diocese do Panam: promove formao e capacitao e
trabalho de Tratamento Comunitrio em comunidades marginalizadas.
ACUN (Accion Cultural Ngobe): promove atividades de Tratamento Comunitrio
com populaes indgenas na cidade do Panam e na Comarca Ngobe.
sia
DSSS-Imphal (Manipuri, ndia), Baraca (Caritas Bangladesh, Bangladesh), Caritas
Medan (Medan-Indonsia): desenvolvem projetos autnomos e se inspiraram para
algumas de suas estratgias no Tratamento Comunitrio produzido pelos partners
latino-americanos, enriquecendo-as com sua prpria cultural local e profssional.
Efrem Milanese
Assessor da Critas Alem
20 TRATAMENTO COMUNITRIO | INTRODUO
21 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
TRATAMENTO COMUNITRIO:
UM POUCO DE HISTRIAS E CONTOS
Captulo 01
22 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
ndice do captulo
Tratamento Comunitrio: Um Pouco de Histrias e Contos ...........................00
Dois movimentos e muitas variantes ...........................................................................00
Os Casos Extraordinrios ................................................................................................00
Comunidade, Primeira Abordagem
Tratamento Comunitrio: Conceitos Iniciais
Tratamento Comunitrio
Da Comunidade e do Territrio
Comunidade, Territrio, Excluso Grave, Alto Risco
Comunidade de Alto Risco
Como entrar na Comunidade?
Sofrimento Social
Excluso Social
De onde vem este conceito?
Excluso: Carncia, Desigualdade, Incorporao
Tratamento Comunitrio: Primera Abordagem
Para que serve o Tratamento Comunitrio?
O Incio do Tratamento Comunitrio
Construir uma Equipe Inicial, uma Rede Operativa
Iniciar Um Processo de Formao Comum
Realizar uma capacitao de base
Produzir Perfs Operativos Diferenciados
Os Atores Da Equipe
Agentes Comunitrios Pares
Educadores de Comunidade e de Rua
Gestor de Casos
Coordenador de Gestor de Caso
Agente de Rede
Coordenador de projetos
Supervisor/Assessor Externo
Administrador
Operadores Especiais
Produo Do Modelo Organizativo
Identifcao Da Comunidade Local (Territrio)
23 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Pode-se pensar que o fato de trabalhar com pessoas que precisam de
ajuda seguiu, durante os sculos, dois movimentos opostos entre si e muitas
modalidades intermedirias entre eles.
O primeiro movimento foi aquele de considerar pessoas no normais (esta
j uma palavra cheia de sentido e de confitos) como, por exemplo, aqueles que
infringem a lei, as prostitutas, as bruxas, os pobres, os estrangeiros, as pessoas
homossexuais, aqueles de outra religio, de outra lngua, de outra cor de pele, de
outro partido poltico, de outra cultura, aqueles que no se vestem como todos,
aqueles que usam droga, os loucos, aqueles que tm doenas transmissveis etc.,
e fech-los em qualquer lugar: priso, manicmio, ilhas, navios, cidades muradas,
subterrneas, espaos na cidade dos quais no se pode sair (comunidades
marginais) e todas as modalidades que a histria produziu (Foucault, 1975). Uma
modalidade derivada desta foi eliminar, expelir as pessoas das cidades (criao
de bidonville e zonas de excluso). Aconteceram, ento, dois processos: trancar e
expelir. Trancar e expelir so modalidades de base de excluso.
Um dos exemplos mais conhecidos foi a criao do leprosrios: Na baixa
idade mdia, havia no mundo cristo 19.000 colnias de leprosos (Foucault, 1972).
Estas estruturas fechadas, uma verdadeira estratgia de priso e isolamento, se
conservaram no tempo at serem utilizadas as internaes dos loucos, dos herticos,
dos criminosos e dos libertinos (Foucault, 1972 e 1975) (Milanese, 2011b, p. 1-2).
TRATAMENTO COMUNITRIO:
UM POUCO DE HISTRIAS E CONTOS
Dois movimentos e muitas variantes
24 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
O segundo movimento foi aquele de manter as pessoas dentro das
comunidades nas quais viviam (Folgheraiter, 1994), (Milanese, 2008). Este
processo bifurca em duas direes diversas. De um lado, corresponde ao modo
de administrar a diversidade nas populaes primitivas (uso este adjetivo
porque evidencia a originalidade e o signifcado histrico, tendo perdido a
conotao negativa que lhe foi atribuda na modernidade).
Nos povos primitivos, a criao mstica e ritual tinham, entre os seus
objetivos, tambm aquele de conservar dentro da comunidade os seus
membros. Era ento um processo complexo de construo da identidade e,
quando necessrio, de reparao (teraputica) da mesma.
Depois existe o segundo processo mais recente, e quase uma resposta
aos excessos do fechar e expelir e a suas consequncias (excessivo crescimento
de respostas institucionais, custos, enrijecimento das regras de acesso, aumento
da distncia entre as pessoas, os servios e as instituies, escassos resultados,
efeitos negativos sobre as pessoas - sejam aquelas presas ou aquelas que
cuidavam delas). Podemos chamar este movimento de comunitrio mesmo
que este termo tenha muitssimas defnies possveis e as prticas que se
inspiram nestes termos so tambm infnitas.
Os Casos Extraordinrios
Existem tambm combinaes das duas estratgias. Neste caso, um
dos exemplos mais conhecidos tem sido a experincia do Povo de Gheel, em
Bruxelas, Blgica, entre 1700 e 1800.
Neste caso, v-se como uma comunidade local (uma cidadezinha) cuida
25 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Histrias e Contos de Gheel
Em 1803, o senhor Pontecoulani, na poca prefeito de Djle, do qual Bruxelas
era capital, mandou transportar Gheel os loucos que estavam presos em Bruxelas.
Vejam como era o argumento deste gestor, pela exposio da situao poltica, do
departamento de Djle, o primeiro germile do ano 15. Os loucos eram arrebanhados
outras vezes (de novo) em Bruxelas, em um local reservado e insalubre, e que os
incmodos bastavam para tornar incurvel a doena que lhes tinham trazido at
ali. Esta responsabilidade, acreditem, ao mesmo tempo um dever da humanidade
e uma obrigao da minha funo, adotando, com relao a estes infelizes, um
refgio recomendado de prsperos sucessos dos bons resultados desta experincia.
Informado que a cidade de Gheel, no Estado de Two Neihes, era um asilo aberto para
esta doena, depois de entrar em acordo com o Prefeito daquele departamento,
transportei os loucos do hospital de Bruxelas para Gheel, onde vivem em liberdade,
o que no exclui a cura que exige o seu estado de sade. Os comissrios e delegados
do Conselho Geral dos Hspedes iro, periodicamente, nos lugares para verifcar se
est se cumprindo o contrato e se os habitantes que assumiram os infelizes, esto
tratando deles.
De fato, em 1805, os loucos presos nos hospcios de Bruxelas, foram
transportados a Gheel, de modo que restou em Bruxelas um pequeno nmero
que estava esperando para ser transferido. E, diga-se de passagem, o lugar onde
estavam era insalubre.
impossvel, disse o senhor Herhouhle na Estatstica do Estado de Two
Neihes, publicada em 1804, de passar em silncio uma singularidade da cidade
de Gheel, que faz parte do Circundrio de Thurunhot. Gheel uma colnia de
loucos que so enviados ali de todos os ngulos do Estado e dos Estados vizinhos.
Estes infelizes esto aposentados na casa
dos habitantes, passeiam livremente,
comem com seus cicerones e dormem
em suas casas. Se fazem algo em excesso,
colocam-se neles ferros nos ps, que no
possvel sair. Este estranho comportamento
, h tempo imemorvel, o nico recurso
dos habitantes de Gheel; nunca se ouviu
que tenham acontecido inconvenientes.
[Omodei, 1822]
Este exemplo, historicamente bem
conhecido, sublinha o fato de que para
cuidar no necessrio prender e
que o ato de cuidar sem prender pode
produzir uma reduo do impacto
dos limites e um fortalecimento das
oportunidades.
de centenas de pessoas que foram jogadas l pelas autoridades e como esta
cidadezinha, com a sua vida cotidiana, se transforma em um dispositivo de
conteno (pelo menos de conteno) destas pessoas. Aos habitantes desta
cidade pedia-se para assinar um contrato no qual se estabelece que, por uma
certa quantia de dinheiro, eles deveriam dar aos loucos alguns servios bsicos:
26 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
alimentao, uma cama para dormir, a possibilidade de mover-se livremente
dentro da cidade e conteno fsica quando perdiam o controle de si.
Parece, aqui, que Gheel no s um lugar onde se descarregam lixos
da sociedade, mas um lugar no qual as pessoas podem curar: alimentos sadios,
ar pura, exerccio habitual, toda a aparente liberdade garantem que a maior
parte se cure.
Vocs no sabem, disse o senhor Jouy, () que no Estado de Two Neihes
existe uma cidade denominada Gheel, onde os habitantes so loucos, mas loucos
com toda a fora da palavra, e que gozam, sem inconveniente, de liberdade como
os outros cidados. quase meio sculo que um magistrado de Anversa (o senhor
de Poutcoulant), penetrado do mal que resultavam os loucos para encontrar-se
um hospital, obtm do Governo a permisso de transport-los para cidade de
Gheel, e de distribuir-lhes para os habitantes, aos quais se dar uma pequena
penso para indenizar-lhes as despesas que tero com o tratamento que iro fazer
a estes infelizes. A escolha desta pequena cidade no foi por acaso. Situada em
meio a uma vasta charneca que a circunda de todas as partes, fcil de controlar,
e dois ou trs homens bastam para cuidar dos loucos, e dos campos eles podem ser
chamados para estar com seus hspedes na hora do almoo e no fnal da tarde.
Alimentos sadios, ar puro, exerccio habitual, toda a aparente liberdade, este o
regime que se prescreve a eles, e ao qual se deve a cura at o fnal do ano. [Omodei,
1822]
27 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Antes de nos aproximarmos do tema Tratamento Comunitrio,
buscaremos ter uma primeira ideia, somente inicial, do que entendemos por
comunidade.
Este s um conceito para comear a pensar, at que chegamos a um que
facilita o nosso trabalho de Tratamento Comunitrio. Esta abordagem tem, sem
dvida, algumas vantagens: (1) prope alguns critrios para identifcar os limites
dos conceitos, (2) trata o conceito como se fosse um objeto, isto , presume
que ao conceito de comunidade corresponde uma comunidade na realidade;
(3) estabelece uma conexo entre o conceito de comunidade e os conceitos ou
processos de participar e compartilhar, (4) fca menos preciso quando se fala do
A palavra comunidade vem do latim communitas, atis. As comunidades
podem ser defnidas, por exemplo, em funo dos laos de parentesco, localizao
geogrfca, interesses polticos, crena religiosa, composio tnica ou racial
e caractersticas fsicas ou defcincias psiquitricas compartilhadas por uma
coletividade. O sentimento de comunidade foi descrito como uma vivncia de
pertencer unidade, a conscincia de que o intercmbio e benefcios mtuos
se originam no pertencimento a um corpo comum a presena de um esprito
alimentado por experincias compartilhadas. O conceito de comunidade est
associado mais comumente com o correspondente a um conjunto de pessoas que
compartilham um determinado espao geogrfco (por ex. um vizinho); mesmo
assim, no contexto da sade pblica, nas comunidades s quais so dirigidas as
intervenes, constituem-se tambm outros tipos de coletividades, como escolas,
fbricas ou clubes sociais. O conceito de comunidade engloba no somente o
conjunto de pessoas que a formam, como tambm as complexas relaes sociais
que existem entre seus membros, o sistema de crenas que professam e as normas
sociais que as regem. Mesmo que pudesse ser atrativo caracterizar as comunidades
em diferentes tipologias, tent-lo poderia desvirtuar a unicidade de cada uma delas
e enrascar as diferenas que as caracterizam. Por isso, a apreciao da singular
complexidade de cada comunidade essencial para a compreenso de que as
pessoas tomam decises que afetam a sade e o bem estar. (Rodrguez, 2009, p.
71), (Sweetland & Cohen, 2009, p. 71) [Citaes dos artigos: (Heller, 1989), (McMillan,
1966), (Tonnies, 2001), (Chavis & Wandersman, 2002)]
COMUNIDADE, PRIMEIRA ABORDAGEM
Um conceito para comear a pensar
28 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
sentimento de comunidade terminando no espiritual para mencionar um
pouco mais adiante a necessidade de um diagnstico por prioridades (ibid. 75-
76), (5) sugere no caracterizar as comunidades dentro de tipologias porque isso
faria perder sua originalidade como se ter um metro para medir o tamanho
dos objetos os fzesse todos iguais e no servisse para ressaltar as diferenas.
Talvez, neste caso, o aspecto mais relevante para o Tratamento
Comunitrio e sua abordagem a primeira frase destes autores:
As comunidades podem ser defnidas, por exemplo, em funo
dos laos de parentesco etc.. Esperava-se aqui, ao invs de se dizer
a comunidade pode ser defnida pelos laos de parentesco,
que os autores tivessem dito a comunidade pode ser defnida
pelos administradores de uma cidade, pelos lderes de opinio
de um grupo de vizinhos, por um lder iluminado que fundou
uma coletividade etc.. Isto , esperava-se que fossem indicados
os atores que constroem a comunidade e no as caractersticas
da comunidade independente de quem a produz. Por que isto? Porque quanto
mais proximidade existe entre o conceito e a realidade, menos probabilidade se
tem que os conceitos se encontrem desarticulados do contexto no qual nascem,
e menos probabilidade se tem que a ao social que se quer implementar seja
percebida como perigosa, um fator de risco. Isto no quer diminuir a importncia do
papel (funo, dizem os autores deste artigo) dos investigadores profssionais e dos
expertos, a no ser evidenciar que os atores que produzem os conceitos so os que
defnem os critrios. No se trata de construir um conceito do que comum (a base
do com-unitrio) excluindo alguns atores (seria muito contraditrio), e no tem mais
sentido excluir os investigadores e expertos dos membros de uma coletividade da
qual se quer entender os aspectos comunitrios.
A concluso desta primeira abordagem que podem existir conceitos de
comunidades tantos quantos so os atores que as defnem e, que para poder
falar de comunidade (elementos em comum), deve-se ter algumas formas de
que algo seja efetivamente em comum. Reunir atores de uma comunidade
para produzir alguns critrios comuns para ter uma ideia da identidade dessa
comunidade uma maneira concreta para construir comunidade, construir
algo comum. Esta a perspectiva do
Tratamento Comunitrio, iniciando
com o diagnostico: trabalhar com os
atores das comunidades.
A participao ativa dos atores da
comunidade na produo dos conceitos
de comunidade enriquece os conceitos
e as perspectivas que estes sugerem.
29 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
TRATAMENTO COMUNITRIO: CONCEITOS INICIAIS
Tratamento Comunitrio
O Tratamento Comunitrio entendido como um conjunto de aes,
instrumentos e prticas organizados em um processo, cujo objetivo
promover a melhoria das condies de vida das pessoas que abusam de
drogas e vivem em uma situao de excluso social grave.
Esta abordagem atua, tambm, na melhoria das condies
de vida na comunidade local na qual os consumidores de
drogas moram. O Tratamento Comunitrio acompanha,
tambm, as pessoas que desejam superar a dependncia de
drogas usando um processo comunitrio criado com este
propsito.
O Tratamento Comunitrio prope que o trabalho seja
desenvolvido dentro da comunidade onde o indivduo vive,
no o retirando do ambiente em que ele se desenvolveu,
mas promovendo aes que melhorem este ambiente, modifcando, com
diferentes graus de intensidade, as redes de relacionamento deste indivduo
com os demais membros da comunidade, onde institucionalizar o paciente
no necessrio. Esse trabalho desenvolvido em parceria com a prpria
comunidade, junto com ela e por meio dela.
Da Comunidade e do Territrio
Nesse processo, a comunidade entendida como comunidade local, isso
signifca que a existncia de um territrio um elemento fundamental deste
tipo de organizao social. Ento, quando nos referimos a uma comunidade,
dizemos que ela consiste em um sistema de redes que constroem e animam
um territrio. Por consequncia, um territrio um produto de uma rede de
atores sociais (pessoas, lderes de opinio formais e no formais, organizaes
da sociedade civil, instituies etc.) e se caracteriza a partir de um espao
geogrfco, uma ou mais linguagens, processos organizativos, funes sociais,
confitos e suas solues, interesses, cultura etc. (Massimi, 2001, p. 24).
30 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Comunidade, Territrio, Excluso Grave, Alto Risco
Existem comunidades que produzem situaes de grave excluso
(uma comunidade urbana uma cidade produz territrios de alta
vulnerabilidade, zonas marginais, favelas etc.). Chamamos situaes
de alta vulnerabilidade ou alta excluso aqueles contextos territoriais
de vida cotidiana nos quais se observam: 1- dinmicas e processos de
extrema pobreza ou empobrecimento; 2- nveis escolares muito baixos ou
inexistentes com processos de afastamento da educao formal; 3- falta de
trabalho ou de trabalho digno; 4- formas precrias de sustentao (trabalho
ocasional, mal retribudo, margem da lei ou em clara violao da lei); 5-
graves processos de violncia comunitria (violncia fsica e psicolgica,
segregao, guerrilha, guerra); 6- vida na rua e da rua; 7- explorao sexual
e doenas transmitidas pela via sexual, HIV-AIDS; 8- deslocamentos e
migraes foradas; 9- impossibilidade de acesso aos servios bsicos de
sade, educao, segurana e proteo social.
Comunidade de Alto Risco
O conceito de excluso grave permite identifcar tambm o conceito de risco
e de alto risco. Para ns, estritamente no campo das drogas, uma comunidade
de alto risco um territrio no qual se do os seguintes fenmenos: 1- vida de
rua, 2- prostituio e explorao sexual, 3- venda de drogas na rua ou em lugares
reconhecidos pelos atores comunitrios, 4- grave insufcincia de servios bsicos
de sade, educao, trabalho, segurana, cultura e 5- o territrio se encontra
controlado por gangues.
Em territrios/comunidades nos quais existem
estes processos e dinmicas, a probabilidade de que uma
pessoa se envolva em uma ou mais delas (as dinmicas de
drogas entre elas) muito elevada. Uma vez que o risco
entendido como uma probabilidade de ter consequncias
negativas em um certo contexto ou processo, pode-se dizer
que as caractersticas que mencionamos fazem com que a
probabilidade de ter consequncias negativas seja muito
elevada. Por isso as chamamos comunidades/territrios de
alto risco.
31 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Como entrar na Comunidade?
Como entrar em uma comunidade? Quais so as portas de entrada nas
comunidades?
O abuso de lcool e drogas, HIV-AIDS, DST, vida na rua, pobreza e
violncia extrema so possveis portas de entrada nos contextos de sofrimento
social, psicolgico, fsico e cultural da comunidade. Todavia, isto signifca que
existem outras portas (evaso escolar, infraestrutura urbana) e todas permitem
o acesso a esse territrio especial que so as comunidades de alto risco.
Por meio do trabalho de campo, da experincia refetida, transitou pouco
a pouco de um enfoque baseado em situaes especfcas de sofrimento social
(droga, vida de rua) at uma categoria ou um olhar mais amplo: o enfoque da
excluso social da qual essas formas so manifestaes especfcas.
Por consequncia, a abordagem excluso social chamada Tratamento
Comunitrio, mesmo focando em problemas especfcos do consumo
problemtico de drogas e de suas consequncias daninhas, busca interconectar
esse fenmeno com outros de maneira que, na medida do possvel, sejam
atendidas tambm as causas que os produzem.
Sofrimento Social
As organizaes que iniciaram a desenvolver o Tratamento Comunitrio
nos anos 80 trabalhavam, quase que exclusivamente, focando o tema da
droga. Nos anos 90, incluram entre as preocupaes do seu trabalho tambm
todas as situaes crticas associadas ao consumo de drogas. Chegaram, assim,
a construir outro espao semntico que lhes servia a organizar toda esta
complexidade: o tema da excluso/incluso social. Entre os temas de excluso
e do sofrimento social tem fortes interconexes e interrelaes, a ponto de se
pensar que o segundo consequncia da primeira, que o sofrimento social d
visibilidade nos processos de excluso e que no poderia existir sofrimento
social sem que a excluso social o produzisse.
Por que falamos de sofrimento social e no de enfermidade social
ou patologia social? Qual sentido damos ao
termo sofrimento social?
Se focssemos nossa abordagem em
enfermidade social (mesmo que colocssemos
Ver no captulo sexto a
explicao mais detalhada do
tema do sofrimento social.
32 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
o adjetivo social) ou na patologia (tambm, neste caso, com o adjetivo social),
fcaramos no mbito dos processos de sade/enfermidade e acabaramos falando
de medicina social, como se se tratasse exclusivamente de um problema tcnico no
mbito de uma cincia especfca (medicina e, em alguns casos, psicologia), que de
adjetivos tm muitos. Obviamente, medicina e psicologia so palavras importantes
neste discurso, mas no parece que estas palavras constituam o eixo do discurso.
Como diz E. Renault: Desde uns quinze anos () o tema do sofrimento
social foi progressivamente difundido nos espaos pblicos e tambm no
mbito das cincias sociais. Ao mesmo tempo, este tema comeou a dar vida
s perguntas e debates que se relacionam com os desafos
da sociologia (...), da psicologia (...), e da poltica (...) (Renault,
2008, p. 13)
Ento, adotar a viso de sofrimento social no signifca
jogar com a terminologia, mas sim (1) visibilizar que existem
experincias e processos de mal estar que no so
enfermidades e que se enrazam nas formas e nos processos
da vida social, (2) que estas formas de mal estar esto
enraizadas no tema das desigualdades e, por consequncia da
justia, no se tratam, ento, de enfermidades de rgo, e sim de formas de mal
estar relacionadas com o acesso, o compartilhamento e a participao aos bens
(materiais e no materiais/simblicos, naturais e transformados ou produzidos por
seres humanos), (3) que as formas de participar/compartilhar/aceder aos bens
pode produzir uma etiologia e uma nosografa especfca, (4) que, por meio
do governo das formas e dos processos de participar/compartilhar/aceder,
podem-se governar os processos de produo de mal estar, sua transformao em
enfermidades (dominao/controle), ou sua transformao em crtica da poltica e
mudana.
Na literatura (Renault, 2008, p. 203-301),
alguns autores sugerem que o conceito de
sofrimento social possa ser dito em quatro
modelos. O primeiro o modelo da economia
poltica clssica. O segundo o da medicina
social, que ocupou, sem sentido, os espaos deixados por essa cincia social que
chamamos de economia poltica. O terceiro aquele que marca as investigaes
iniciadas por Durkheim, que identifca entre as fontes da patologia social, os
transtornos do mundo normativo (Renault, 2008, p. 253). O quarto modelo
aquele que se inspira na teoria psicanaltica e psicodinmica. A aproximao
Pode-se pensar que o
sofrimento social o sintoma
da excluso social.
33 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
freudiana baseia-se na distino entre diferentes fontes do sofrimento e a distino
entre um sofrimento normal e um anormal. Entre as fontes do sofrimento, Freud
menciona trs: a potncia enorme da natureza (ver, por exemplo, os desastres
naturais), a caducidade do nosso corpo e as defcincias dos princpios que
regulam as relaes na famlia, no Estado e na sociedade. Quando falamos neste
texto de sofrimento social, referimo-nos, sobretudo, s formas de sofrimento
que tem sua origem no terceiro fator mencionado por Freud.
Excluso Social
Um ltimo conceito preliminar que ajuda a entender a posio
e as origens do Tratamento Comunitrio aquele da excluso social.
Conscientes de que no existe um s conceito, e sim um espao
semntico de conceitos, adotamos um pedao da literatura para
poder construir, a partir disso, um espao semntico que nos sirva para trabalhar.
De onde vem este conceito?
Vejamos primeiro de onde vem este conceito e como se transformou no
tempo. Seguindo as sugestes de Obradors e outros (Obradors, Garca, & Canal,
2010, p. 26) foi a descoberta de que tambm as sociedades opulentas tinham
pessoas e grupos em estado de extrema pobreza e excluso dos servios do Estado,
que se encontra na origem deste conceito. A segunda descoberta foi avaliar qual o
peso que as decises polticas tiveram em determinar esses fenmenos.
A partir destas refexes iniciais, formuladas por atores sociais
principalmente do mundo acadmico, chegou-se a uma primeira aproximao
do conceito de excluso social: A excluso social um produto dos processos
de diferenciao, distino e estratifcao comum a toda organizao social
hierarquizada que se pde constituir ao longo da histria da humanidade.
por isso que, apesar de sua recente popularizao, a noo de excluso social
nos estudos das cincias sociais tem uma trajetria relativamente dilatada
(Elias, 1993) (Elias, 1965) (Foucault, 1975), (Parkin, 1974).
A partir daqui se especifcaro alguns aspectos da excluso, como a
caracterstica de falta, de limite, de desvantagem, que implicam um estado
quase passivo das pessoas excludas e no falam dos processos ativos de expulso.
Mas, nas ltimas dcadas, este conceito foi permeando os decisores das polticas
34 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
pblicas. Isso produziu no apenas uma tomada
de conscincia, mas, tambm, o estabelecimento
de polticas chamadas de incluso. Isto , pelo
menos, inicialmente. As polticas de incluso social
aparecem como um processo de cima para baixo.
O elemento que muda esse tipo de processo ,
entre outros, o surgimento do chamado Terceiro
Setor (as organizaes da sociedade civil).
Excluso: Carncia, Desigualdade, Incorporao
Entre os conceitos de excluso social mais conhecidos temos, em
primeiro lugar, o conceito de excluso social vinculado carncia de recursos
materiais em certos nveis de condies de vida. Diante de um conceito
deste tipo, pode-se pensar que as respostas mais adequadas consistem em
proporcionar os recursos. A lgica desta deciso que superamos o problema
da falta de recursos, dando os recursos. Na realidade, as coisas no sucedem
assim. Entregar os recursos signifca reforar relaes de dependncia, isto ,
substituir uma carncia por outra: recursos na troca de dependncia.
Em uma segunda perspectiva (excluso como desigualdade), a excluso
social se identifca como uma consequncia ou efeito de certas relaes de
desigualdade em diferentes contextos: escola e formao profssional, mbito
do trabalho, polticas de bem estar e proteo social (com consequente relao de
dependncia at estas ltimas), cultura, etc. Neste caso, se falamos de estratgias
de incluso/insero, referimo-nos quelas abordagens que reduzem as
desigualdades e as relaes de dependncia. como se esta perspectiva tivesse
a fnalidade de corrigir os efeitos negativos das respostas primeira (de excluso
como carncia). Entende-se que esta segunda abordagem implica diretamente
os decisores polticos e econmicos e seus interesses.
O tema da incorporao se foca em uma estratgia sugerida
para contrastar e reduzir os efeitos das dinmicas excludentes.
Neste caso, a excluso social se entende como uma problemtica
que pode ser superada em grande parte mediante incorporao
de todos os setores da populao nas estruturas produtivas e da
economia formal. Esta perspectiva v no trabalho a soluo para
todos os males e para todos os atores, e tambm aqueles que no
podem trabalhar, que no podem ser produtivos.
Ver no captulo sexto uma
referncia mais detalhada do
tema da incluso/excluso
social. Apresenta-se aqui,
no captulo primeiro, uma
breve introduo que permite
entender o planejamento geral
do Tratamento Comunitrio.
35 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
TRATAMENTO COMUNITRIO: PRIMERA ABORDAGEM
Para que serve o Tratamento Comunitrio?
Para que serve o Tratamento Comunitrio? Em termos simples, o
Tratamento Comunitrio serve para todas essas pessoas, famlias, grupos para
os quais os tratamentos institucionalizados no deram os resultados esperados,
ou nos quais estes no so adequados, ou nos quais as pessoas no desejam,
no querem ou no podem encontrar respostas s suas necessidades em uma
instncia institucionalizada.
Esta proposta tem consequncias. A primeira que o Tratamento
Comunitrio no uma panaceia; a segunda que no substitui outras formas
de tratamento; a terceira que se insere em um contexto de respostas para
garantir uma maior cobertura e, s vezes, maior aderncia a outras formas de
tratamento (ver, por exemplo, a articulao entre Tratamento Comunitrio e
servios de reduo de danos, incluindo protocolos com remdios substitutos
etc.); a quarta que comunitrio no signifca no individual, no familiar,
no grupo, e sim a articulao e a integrao destas abordagens que
continuam vlidas em um dispositivo que inclua toda a comunidade.
O que ns esperamos ao implementar um processo de Tratamento
Comunitrio? Ns esperamos, fundamentalmente, duas ordens e efeitos. O
primeiro, que podemos chamar de efeito estratgico, incidir na organizao das
comunidades de maneira que aumentem as dinmicas de incluso em relao s
de excluso (chamamos a este primeiro resultado de construo de um dispositivo
de base). O segundo contribuir para gerar respostas para as pessoas, grupos ou
comunidades que se encontram na condio de excluso grave, em particular por
situaes relacionadas com o consumo problemtico de drogas.
Para as pessoas que consomem drogas de maneira problemtica,
suas famlias ou grupos de pertencimento ou comunidades, o propsito do
Tratamento Comunitrio ser uma oportunidade, um espao para participar e
compartilhar, para que estes atores recuperem a capacidade de sonhar, como
primeiro passo, at o conhecimento de si mesmo e, ento, de mudana e
melhoramento em suas vidas.
Os objetivos gerais do Tratamento Comunitrio podem ser considerados
como fases de um caminhar no linear, realizado, em parte, por caminhos que
existem e, em parte, por caminhos que se devem fazer existir, por caminhos
36 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
que sempre se cruzam com outros e tambm consigo mesmos. O Tratamento
Comunitrio um espao no qual as pessoas, grupos ou comunidades do
sentido e ordem a este caminhar. Os objetivos deste caminhar so:
Deter o agravamento dos
processos destrutivos, os que so
promovidos de fora e os que so
promovidos de dentro. Deter o
agravamento no signifca que estes
processos desapaream, mas sim
que no piorem. Se falamos, por
exemplo, de condutas ou estilos de
vida de risco, o que se busca que
estes no piorem: que se detenha o
incremento do consumo de drogas,
de condutas sexuais de risco, assim
como de relaes perigosas (violncia
manifesta, roubo, vida na ilegalidade,
etc.), quer dizer, que a situao de
dor e sofrimento no continue se
agravando.
Aumentar a segurana. Busca-
se, tambm, incrementar a segurana
das condutas de risco que existem.
Dizendo isto, afrma-se tambm que,
neste momento, no se busca remover
as condutas de risco, e sim diminuir o
risco nas condutas. Os exemplos mais
conhecidos so: no misturar drogas,
no utilizar substncias das quais
no se conhece a composio, usar
agulhas novas, usar lquido de soluo
estril, usar preservativos nas relaes
sexuais, lavar-se periodicamente,
comer regularmente, no participar
de eventos onde exista violncia
fsica, etc. Mesmo assim, o aumento
da segurana relacionada com as
Os limites do Tratamento Comunitrio.
Como todas as abordagens, tambm
o Tratamento Comunitrio tem seus
limites e por isso no substitui outras
formas de abordagem, mas tem que
articular com elas e vice-versa, s vezes,
integrar-se com elas e vice-versa.
Uma comunidade local no uma
entidade social ideal, ali tambm tem
marginalizao, excluso, expulso,
violncia, indiferena, infnitas formas
de abandono.
Em uma comunidade local no h
somente recursos e solues, h
tambm problemas e oposies,
resistncia troca e persistncia.
Os atores de uma comunidade local no
sabem tudo. Mesmo sabendo muito,
mais do que se pode supor, no desejam
saber de tudo, participam nos processos
de ocultamento e invisibilidade.
As equipes que participam das
realizaes deste tipo de abordagem
podem adotar uma posio ideolgica
que os leva a negar os processos
resistentes, persistentes e destrutivos
das comunidades (sociologizao
do Tratamento Comunitrio),
encontrando-se, como consequncia,
viver situaes de Burn Out. (Di Fiorino,
1988, p. 43)
s vezes, as pessoas (por exemplo,
consumidores de drogas com
transtornos de personalidade)
necessitam de lugares que os protejam
de outros atores comunitrios,
necessitam de um refgio, de proteo
necessria para quem est vivendo
uma experincia diferente. Um lugar
no qual uma pessoa diferente pode
viver sua diferena sem limitaes e
que possa aprender a conviver com sua
diferena. (Di Fiorino, 1988, p. 23)
37 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
condutas de risco signifca, tambm, encontrar novas formas na resoluo de
confitos entre atores comunitrios, encontrar formas para conter os efeitos da
estigmatizao e da marginalizao, promover novas formas de vida social, de
relaes comunitrias amigveis baseadas em uma relao justa.
Melhorar as condies de vida por meio da reduo ou diminuio
das condutas de risco e de suas consequncias. Neste caso, busca-se superar
os contextos e as condutas de risco. Aqui, a diminuio das modalidades
violentas e excludentes de resoluo das diferenas/confitos comunitrios
objetivo explcito como so (a nvel individual) diminuir o uso de substncias,
a quantidade e tipo de condutas de risco (sexuais, relacionais, confitais, etc.)
e estilos de vida de risco (vida de rua e na rua, participao em grupos de alto
risco, modifcao da rede subjetiva comunitria).
Melhorar as condies de vida por meio de propostas de vida, a nvel
individual, familiar, de grupo e comunitrio de maneira que sair do consumo
problemtico de drogas no seja ir at o nada, mas sim a uma vida com sentido
(participao social, atividades produtivas etc.).
Deixar o consumo de drogas? O Tratamento Comunitrio promove
fundamentalmente que as pessoas consigam amadurecer uma posio no
destrutiva em relao s drogas. Esta posio pode tomar aspectos diferentes.
Em alguns casos, no necessrio deixar de consumir, em outros, sim, de outra
maneira a vida seria invivvel.
O Incio do Tratamento Comunitrio
O incio do processo do Tratamento Comunitrio depender do ponto
no qual se encontram aqueles que pretendem implementa-lo. Por exemplo,
pode ser uma organizao presente em uma comunidade de alto risco que
trabalha com usurios de drogas com um modelo institucionalizado, ou que
faz unicamente preveno nas escolas, ou um grupo informal interessado em
fazer algo, ou um grupo conectado com atividades de uma igreja ou escola,
ou uma pessoa interessada e comprometida, um lder poltico... Cada um destes
j tinha iniciado seu trabalho social. Por isso, o Tratamento Comunitrio (TC)
no procura suspender a ao que se est implementando, nem substitu-la.
Isso depende das condies iniciais de cada ator e das estratgias que se quer
desenvolver. Chamamos esta modalidade de adotar o Tratamento Comunitrio
38 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
de investigao na ao, indicando, com isto, que essa abordagem busca se
articular com o que j existe, no necessariamente substitu-lo. A expectativa
que o existente e o TC possam construir espaos comuns, enriquecer-se e
transformar-se reciprocamente.
Alguns passos do processo, contudo, devem ser indicados:
- construlr uma equlpe,
- lnlclar um processo de formaao comum,
- reallzar uma capacltaao de base,
- produzlr pers operatlvos dlferenclados,
Investigao na ao e situao inicial
Entre os atores histricos que desenvolveram a aproximao ao comunitrio, deram-se
diferentes situaes iniciais.
Lua Nova (Sorocaba) j atuava na cidade com uma comunidade teraputica para mes e
flhos e implementava aes de reduo de danos.
Reciclzaro (So Paulo) administrava casa de acolhida para idosos moradores de rua com
transtornos psquicos, casas de acolhimento para adultos de ruas e para mulheres com HIV,
organizando atividades de reciclagem.
Procrear (Bogot) era uma organizao que atendia mulheres no momento do parto.
Decidiram adotar o Tratamento Comunitrio como oportunidade de trocar radicalmente
seu contexto de atividade.
Hogar Integral da Juventude (Mxico D.F) era uma comunidade teraputica para jovens
consumidores de drogas, tinham atividades de ruas nas comunidades marginalizadas.
Foyer Caritas Saint Antoine (Haiti) possua uma casa de acolhimento para as crianas
de rua com atividades de reintegrao familiar, inserindo-as em escolas e capacitao
profssional.
Consentidos (Colmbia) iniciou com a proposta de Tratamento Comunitrio.
Humanitas (Costa Rica) iniciou como comunidade de acolhimento para pessoas que
vivem com HIV.
EFAD (Chile) iniciou como centro de formao e sucessivamente adotou o Tratamento
Comunitrio.
Samaritanos de la Calle (Cali, Colmbia) era uma organizao que promovia a assistncia
bsica populao de rua.
Caritas Quich (Guatemala) inicialmente administrava uma comunidade teraputica.
Pastoral Social Arquidiocesis de Panama (Panam) inicialmente era dedicada
formao e preveno nas comunidades locais.
Pastoral Penitenciaria San Pedro Sula (Honduras) trabalhava no presdio da cidade com
programas de preveno e reabilitao.
Passos (San Salvador, El Salvador) iniciou como centro de formao e capacitao.
Baraca (Dhaka, Bangladesh) era uma comunidade teraputica clssica.
DSSS-Imphal (Manipuri, India) iniciou-se com um projeto comunitrio concebido
maneira clssica.
Caritas Medan (Indonesia) inicialmente trabalhava no marco da preveno clssica.
39 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
- produzlr um modelo organlzatlvo,
- ldentlcar a comunldade local (terrltorlo).
As primeiras quatro aes devem ser desenvolvidas no mesmo perodo.
O modelo organizativo e a escolha da comunidade so produtos fnais da
primeira fase do processo.
No necessrio que todos os passos/aes previstas antes de iniciar
o processo sejam completamente alcanados. necessrio que todos
tenham sido iniciados, que a equipe tenha sido claramente constituda, que
o modelo organizativo tenha sido consensado e a comunidade local tenha
sido escolhida.
Veremos mais adiante, pormenorizadamente, cada uma das etapas desse
processo.
Construir uma equipe inicial, uma rede operativa
O processo de construo de uma equipe segue dois eixos
simultaneamente: identifcar e escolher as pessoas em funo de uma
identifcao operativa, ou seja, que trabalhem na mesma rea, tenham
conhecimentos prvios, etc. e, ao mesmo tempo, misturar pessoas com
profsso escolarizada (formal) e pessoas com experincia profssional no
campo (formao por meio da experincia).
Os atores. Iro compor a equipe os profssionais da rea da sade pblica
e trabalho social que tenham experincia na rea da preveno e reinsero,
alm de operadores (educadores, ou, de forma genrica, aqueles que
participam do projeto), que sejam ex-pares (aqueles que completaram, com
resultados positivos, o processo de reabilitao) e pares (que tenham as mesmas
caractersticas da populao alvo do
projeto).
O objetivo dessa formao
construir uma rede operativa
para poder formar uma equipe.
A rede operativa composta por
todas as pessoas que participam na
realizao das diferentes tarefas do
projeto e das relaes entre estas,
independentemente de serem
membros da equipe ou no.
Qual a diferena entre a equipe e uma
rede operativa? A equipe formada por
pessoas que a compe e a dinmica
relacional. A rede operativa composta
das pessoas que formam a equipe e de
todos os ns que cada membro da equipe
tem construdo na comunidade. Podemos
dizer assim que uma rede operativa uma
rede de redes, composta por todas as redes
subjetivas comunitrias dos membros da
equipe (ver mais adiante o conceito de
rede subjetiva comunitria).
40 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Boas Prticas e Difculdades
Desde o incio, importante que se estabelea uma refexo sobre as
diferentes funes e tarefas de cada membro dentro da equipe, impedindo
que haja processos fusionais, onde os limites e extenses de cada funo
deixam de ser respeitados.
Tambm fundamental a criao de um espao crtico, no qual as
motivaes de tipo ideolgico e de identifcao encontrem uma causa
produtiva e um sentido de equipe. Este o resultado de um processo de
formao comum. importante que todo esse processo seja acompanhado
por um supervisor externo.
Os operadores pares, aqueles que mantm as mesmas caractersticas
da populao alvo do projeto, necessitam de uma forte estrutura de equipe,
capaz de contenes, elaborao de atitudes e condutas de bloqueio etc., uma
vez que ainda no superaram as condies de sofrimento social, utilizao
intensiva de drogas, violncia extrema etc. So encontradas difculdades para
se trabalhar em equipe com um usurio de drogas ativo, ou com uma pessoa
gravemente excluda.
Dentro do processo de construo da equipe, h tambm as difculdades
de se enfrentar os cimes recprocos entre os profssionais que cursaram carreira
acadmica (mdicos, psiclogos, etc.) e os operadores no profssionais, em
funo das diferenas de linguagem e de salrios.
Iniciar um processo de formao comum
A constituio da equipe exigir uma formao especfca para a atuao
no Tratamento Comunitrio. O processo de formao a melhor forma de
identifcao dos membros de uma equipe, ressaltando que os melhores
resultados so obtidos com uma formao contnua, quando se utiliza um
dispositivo dedicado unicamente formao das pessoas.
A formao comum busca produzir e levar a todos um
estilo de trabalho, uma atitude para a tarefa, os objetivos e
a relao no interior da equipe com aqueles que sero os
benefcirios fnais das aes, produzindo, dessa forma, uma
cultura organizativa.
Esse processo de formao comum realizado mediante
um encontro semanal de uma hora e meia, na qual se fala de
objetivos e fnalidades, de modelo organizativo, atitude e
41 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
estilo de relao com as tarefas, as funes,
os membros da equipe e a comunidade.
Essa formao comum deve atingir a
Rede de Recursos Operativos, que participam
na realizao das diferentes tarefas do
projeto e de seus objetivos institucionais.
Convm que a maioria dos participantes
possua experincia direta de trabalho na
rea e perfl de formao profssional formal.
Recomendaes
O grupo, contudo, sempre aberto
entrada e sada de participantes, sendo
que, caso ele se mostre fechado, sem o
turn over
1
, sem movimento de entrada
e sada de membros, admisses e
desligamentos, demonstra um sintoma de que algo no est funcionando na
cultura organizacional.
A escolha da pessoa que acompanhar a formao da equipe deve ser
feita obedecendo aos critrios da abstinncia e neutralidade, ou seja, esta
pessoa no deve ter outros tipos de relaes com a equipe ou a instituio.
Desde o incio da formao, deve-se buscar uma atitude individual e de
equipe centrada nas necessidades dos benefcirios fnais, atitude sem a qual
a formao dos membros da equipe permanece margem de seus objetivos.
Durante a formao comum, convm que sejam desenvolvidas atividades
de trabalho de grupo autocentrado, ou seja, sobre motivaes, expectativas,
relaes, representaes relativas prpria equipe, balanceadas com atividades
de trabalho em grupo com contedos externos s experincias do prprio
grupo, formados por estudos de modelos organizativos, de experincias
tomadas da literatura, visitas a outras experincias, participao em eventos
culturais e cientfcos, entre outras.
Difculdades e Desafos
No processo de formao comum do grupo, algumas difculdades so
encontradas, como a heterogeneidade de experincias e linguagens, de
1 Porque algo no est funcionando? Exatamente porque a cultura organizacional deve
estar alinhada, deve existir coerncia nas aes, integrao, articulao: uma engrenagem.
Cultura organizacional/Cultura profssional:
A cultura organizacional est constituda
pelos valores ticos, os conceitos e
estruturas de referncias flosfcas, os
mtodos, os instrumentos, as prticas de
trabalho de uma organizao ou de uma
equipe e de suas relaes entre todos
os atores que a integram, incluindo os
produtos destas relaes.
Modelo operacional:
O modelo operativo/organizacional um
dos elementos da cultura operacional/
organizacional de uma entidade. O
modelo organizacional descreve funes,
tarefas, responsabilidades e articulaes
entre os atores do modelo, enquanto
atores do modelo.
42 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
pertencimentos culturais (diferenas de culturas), expectativas e necessidades
dos membros, motivaes aparentes e no manifestadas, por exemplo.
Uma das dinmicas do grupo durante sua fase de constituio que
tem a tendncia a se fechar, no permitindo o ingresso de novas pessoas ou
excluindo as que no conseguem (ou no querem) adaptar-se s regras que o
grupo constri para poder se constituir.
Outros problemas que devem ser enfrentados so as formas de
discriminao que podem advir das diferenas entre os profssionais com
formao especfca, como psiclogos, mdicos, trabalhadores sociais etc., em
relao queles que no tenham a profsso formal. Por outro lado, os operadores
que se formam atravs da experincia tm a tendncia de discriminar aqueles
que no tenham tido a experincia direta no campo ou no tenham sido pares.
Quando se inicia um processo de formao comum difcil encontrar
desde o inicio o lugar da comunidade como ator do processo. A comunidade
no ator do processo somente atravs da participao de alguns de seus
atores nas atividades de formao. necessrio encontrar outras formas (incluir
nos temas e dinmicas de formao, festas comunitrias, acontecimentos da
vida civil, etc.) que, pouco a pouco, ampliem a relao entre atores da equipe
e membros da comunidades.
Realizar uma capacitao de base
Finalidade
O principal objetivo da realizao da capacitao de base produzir
um marco comum de conceitos, conhecimentos, prticas e linguagens, onde
devem ser defnidas, com clareza, as necessidades de capacitao individuais
do grupo e da Rede Operativa.
Sugesto de metodologia
Para implementar a capacitao de base, pode-se adotar uma estratgia
parecida na que se utiliza o SIDIEs. No momento no qual se estabelece um plano
de trabalho para a capacitao de base necessrio, tambm, um conjunto de
temas, argumentos, conhecimentos, competncias que sejam objetos desta
capacitao. Estes temas/argumentos teriam que se organizar de maneira que
respondam, pelo menos, a dois critrios: resgatar e respeitar o conhecimento
existente no tema de tratamento do uso de drogas (inclusa a componente
comunitria) e resgatar e respeitar o papel dos atores comunitrios. A
43 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
pergunta : como se obtm
estes temas? A sugesto que
se d uma primeira descrio da
abordagem de ECO2 e recolher
a temas geradores (Milanese,
Merlo, & Lafay, 2001, p. 93ss). Os temas geradores so considerados geradores
porque tm a funo de fazer pensar, de planejar algumas perguntas que
favorecem a construo coletiva do conhecimento da comunidade e por meio
deste processo a construo de competncias e capacidades, de conhecimentos
necessrios para a ao (o Tratamento Comunitrio) (Milanese, 2009).
Para respeitar os critrios que se mencionou em pargrafos acima,
resulta til distinguir entre dois tipos de temas geradores: os temas geradores
induzidos e os temas geradores espontneos.
O primeiro grupo de temas o resultado da experincia dos membros da
equipe, de sua formao profssional, do estudo de fontes secundrias sobre a
vida na comunidade, etc. Estes so chamados temas geradores induzidos porque
so temas que a equipe prope que sejam inclusos no plano de formao.
No segundo grupo se encontram temas que so propostos pelos atores
comunitrios. Neste ponto, encontramo-nos com duas perguntas: quais atores
comunitrios e como so coletadas as informaes que permitem identifcar
os temas?
Para responder a
primeira pergunta, podem-
se percorrer pelo menos
dois caminhos: o primeiro
proceder construo
de uma rede operativa,
o segundo iniciar a
evidenciar a rede de lderes
formais e informais na
comunidade. Dissemos
que a rede operativa est
composta pelos membros
da equipe e por ns que
compomos a rede subjetiva
comunitria de cada um
deles. Por outro lado, a rede
O SIDIEs (sistema de diagnstico estratgico)
uma ferramenta tpica da proposta de
Tratamento Comunitrio e ser descrito
detalhadamente no captulo 4 deste livro.
Eco2. Este modelo para construir modelos (uma ferramenta
que serve para construir outras ferramentas) nasceu porque
diversas organizaes que trabalhavam em diferentes reas
do sofrimento social tinham entendido que, para garantir
continuidade, sustentabilidade (poltica, metodolgica,
tcnica) e qualidade no seu trabalho, tinham que se aliar e
comear a trabalhar em rede. O primeiro passo consistiu em
construir uma linguagem comum mnima, de forma que
possam se entender entre si; sucessivamente, esclareceram
quais eram os elementos constituintes desta ferramenta
(conceitos, teorias, mtodos, etc.) e, sobretudo, como estas
diversidades podiam se articular e, em alguns casos, se
integrar sem se confundirem.
Daqui vm as decises de adotar a teoria de sistemas, da
complexidade, de representaes sociais, de redes, etc.
Adotaram-se estas porque pareceram as mais respeitosas
das diferenas e as que davam as maiores garantias de poder
produzir formas de trabalhar juntos (estes sim so os modelos,
como, por exemplo, o Tratamento Comunitrio). (Machin,
Velasco, & Moreno, 2010).
44 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
de lderes de opinio pode se diferenciar em dois tipos distintos de redes. O
primeiro a rede de lderes de opinio formais que est constituda pelos
lderes formalmente reconhecidos pertencentes comunidade e as relaes
que os vinculam. O segundo a rede de lderes de opinio no formais,
quer dizer, pessoas que os habitantes da comunidade consideram lderes de
opinio por certas razes ou por determinados assuntos.
Como veremos, a construo da rede de lderes de opinio, em particular
informais, uma das tarefas principais da construo de um dispositivo
comunitrio. Por esta razo, sugerimos no abordar este tema na fase de
capacitao de base para deix-lo a uma fase sucessiva.
Sugere-se, ento, proceder integrando um grupo de trabalho no qual se
encontram os membros da equipe inicial e alguns ns de sua rede subjetiva
comunitria (no estado em que esta rede subjetiva comunitria se encontre).
Neste caso, a meta ter um grupo no qual, contando os membros da equipe
e membros das redes subjetivas comunitrias, se possa contar com umas 20
pessoas.
O segundo passo deste processo
identifcar um certo nmero de
temas geradores induzidos e alguns
espontneos.
Os temas induzidos derivam da
experincia e da investigao na ao,
implementada desde 2002. Entre estes
temas, podem-se incluir os seguintes:
comunidade, comunidade local,
redes (conceito e alguns processos
de construo e fortalecimento de
redes), grupos (conceitos e alguns
processos de construo e gesto de
suas dinmicas), sofrimento social
(consumo de drogas, violncia na
comunidade, violncia nas famlias), desvio social, minorias ativas, sistema de
diagnstico estratgico, excluso social (na famlia, na escola, na vida produtiva,
na sade, na cultura etc.), persistncia, resilincia, empoderamento social,
capital social, preveno, reduo de danos, reabilitao, cura, integrao
social, trabalho de rua, trabalho de comunidade, profssionalizao/perfl
profssional, trabalho na equipe, avaliao, etc.
Limites da abordagem aos temas geradores
utilizando a rede operativa. Sendo a rede
operativa uma construo social que est
baseada nas relaes amigveis que um operador
pode ter com membros de uma comunidade na
qual trabalha ou pretende trabalhar, esta rede
est infuenciada por este tipo de relaes e pode
constituir uma inclinao na identifcao dos
assuntos geradores espontneos. Por outro lado,
no existe uma rede que no esteja infuenciada
pelo tipo de relaes entre seus ns (sem relaes
no existe rede). Por consequncia, essencial
que sejam esclarecidas as relaes (pelo menos
aquelas que ofcialmente defnem a razo pela
qual essas pessoas esto includas nessa rede)
entre os ns que constituem essa rede.
45 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Os temas geradores espontneos podem ser obtidos seguindo diferentes
caminhos: (1) um grupo focal com os ns das redes subjetivas comunitrias dos
membros da equipe, (2) uma entrevista informal semi-estruturada feita com
pessoas que se encontram durante uma ao de vinculao na comunidade.
Entre as perguntas, seja no caso do focus group ou uma entrevista
semi-estruturada, podemos encontrar as seguintes: quais so as coisas das
quais se fala com maior frequncia nestes dias na comunidade? Quais so
os temas frequentes? Quais so as maiores preocupaes dos habitantes da
comunidade?
Como se observa, as perguntas tambm tm a fnalidade de ter o campo
dos temas mais aberto, de maneira que seja possvel: (1) ter uma ideia do que
h no discurso dos habitantes da
comunidade (no somente problemas,
mas tambm interesse), (2) ter um
mapa dos temas que os preocupam e
integr-los no mapa maior dos temas
que caracterizam seu discurso, (3)
encontrar os temas geradores induzidos
no discurso da comunidade.
A capacitao de base ,
tambm, um processo de aproximao
da equipe com a comunidade no qual,
at agora, se relevaram dois aspectos: (1) o incio da constituio de uma rede
subjetiva comunitria que sirva como base para a construo da rede operativa,
(2) a aprendizagem, por parte da equipe, da linguagem da comunidade, que
o meio de comunicao mais prximo ao campo semntico das pessoas da
comunidade.
Recomendaes e Desafos
Esse processo de capacitao deve ser desencadeado em funo das
necessidades do projeto. Para o processo de capacitao, prope-se um
encontro semanal de uma hora e meia, na qual se estudam os conceitos, as
prticas, mtodos e processos de trabalho na comunidade.
De acordo com os perfs profssionais de cada membro do grupo, devem
ser desenvolvidos processos individualizados de capacitao.
Ressalta-se que so obtidos melhores resultados mantendo a capacitao
separada da formao e centrada na tarefa, bem como so melhores os
Temas geradores espontneo: Na medida em
que isto seja possvel, resulta til registrar as
respostas das pessoas reproduzindo felmente
a sua linguagem (palavras, frases, sintaxes).
Isto permite uma ancoragem dos assuntos
geradores induzidos em uma linguagem mais
compreenssvel e, mais tarde, ter um material
original para a construo de um instrumento
de avaliao do desenvolvimento das
representaes sociais sobre estes assuntos.
46 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
resultados quando so determinadas algumas unidades de capacitao
comuns e outras separadas por tipo de conhecimento e tipo de tarefa.
Outro aspecto importante a se ressaltar que uma boa avaliao de
conhecimentos e capacidades existentes nos membros do grupo, bem como de
necessidades de capacitao, evita que se incorra no equvoco de se imaginar
que todos comeam do zero, uma vez que muitos membros que integram a
equipe j possuem, em variados graus de intensidade, conhecimentos pontuais
sobre a formao e capacitao pela qual esto passando.
Dentro do processo de capacitao de base, algumas difculdades so
particularmente frequentes, sendo tendncias que precisam ser desmistifcadas.
Por exemplo, entre os operadores sociais, pode haver uma cultura afetiva, em
que se acredita em premissas como s o amor salva. Por outro lado, entre os
profssionais formais, a cultura tcnica se sobressai com frequncia, onde se
acredita que somente o conhecimento e a competncia profssional podem
resolver os problemas.
Dentro do processo de capacitao de base observa-se, tambm,
a tendncia dos operadores que so mais experientes na rea de tentar
fazer prevalecer seus conhecimentos e competncias (ou de seu modelo
institucional), em detrimento daquele marco comum que se tenta estabelecer.
J entre os operadores ex-pares, existe a tendncia em propor seu prprio
processo pessoal como modelo para todos os demais.
Outra tendncia observada entre os profssionais formais a resistncia
frente possibilidade de realizar suas tarefas em dispositivos profssionais
no formais. J os operadores ex-pares, que no so profssionais formais,
encontram resistncia necessidade de formalizar processos de trabalho
mediante a utilizao de instrumentos comuns, como escrever e comunicar
aos demais membros do grupo acerca de seu prprio trabalho.
Propostas de Formao de Base
Para facilitar o trabalho de refexo e de planejamento da equipe,
veremos alguns temas induzidos de formao inicial. Buscamos aqui colocar
uma lista de assuntos que foram propostos nos ltimos dez anos pelas equipes
e as redes operacionais de todos os partners que foram desenvolvendo o
Tratamento Comunitrio. Distinguem-se os assuntos em dois grandes grupos
(cham-los categorias seria exagerado) com as seguintes advertncias:
(1) cada um dos assuntos propostos (assuntos induzidos) pode ser localizado
na categoria teorias e conceitos ou mtodos e ferramentas de trabalho;
47 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
(2) se os identifcamos em uma ou em outra das categorias , por
consequncia, uma sugesto sobre como trabalhar estes assuntos durante a
formao inicial. No primeiro caso (enfoques nas teorias e nos conceitos), busca-
se um esclarecimento dos conceitos que se utilizam e das razes tericas das
quais procedem. No segundo caso, sugere-se uma abordagem mais prtica
de forma que alguns instrumentos possam ser introduzidos (fcha de primeiro
contato, avaliao de fases e processos, questionrio da avaliao do Tratamento
Comunitrio) sem dedicar tempo para uma capacitao detalhada em todos
eles. Um bom resultado, neste caso, seria um conhecimento do SIDIEs (pelo
menos geral), o uso da fcha de primeiro contato e da fcha de seguimento de
processos individuais em comunidades locais (incluindo o dirio clnico).
Enfoques nas teorias e nos Conceitos
Como destacamos em cada um dos assuntos mencionados, no se
trata aqui de se aprofundar ou detalhar cada um deles, seno de construir
um primeiro mapa conceitual que permita s pessoas da equipe e da rede
operativa iniciar o dilogo utilizando alguns elementos da linguagem comum
que sirva, tambm, para poder comunicar as diferenas entre os pensamentos.
Abaixo encontra-se os principais temas:
- Tratamento Comunitrio (conceitos de base e os cinco componentes);
- Reduo do dano (conceito, elementos de histria e prticas de base);
- tica e profsso (tica do trabalho na rea das drogas e no Tratamento
Comunitrio);
- Teoria do desvio (conceitos de base, uma introduo);
- Representaes sociais (conceitos de base, uma introduo);
- Minorias ativas (introduo ao conceito de base);
- Famlia e grupos (diferenciao entre famlias, grupo e suas principais
dinmicas, introduo);
- Complexidade e teoria de sistemas (primeira aproximao aos conceitos
e seus vnculos com as prticas);
- Abordagem psicodinmica individual e a vida de grupos (introduo:
defesas psquicas e dinmicas nos grupos);
- Comunidade e vida cotidiana (conceito de comunidade no Tratamento
Comunitrio e abordagem vida cotidiana, introduo);
- Marco legal do consumo e produo de drogas (introduo);
- Sade pblica (conceitos de base e lugar do Tratamento Comunitrio
no marco da sade pblica);
48 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
- Direitos humanos (histria e conhecimento dos direitos, introduo);
- Perspectiva de gnero (conceito e algumas prticas, introduo);
- A excluso/incluso social (vulnerabilidade, risco, marginalidade,
estigma);
- Polticas nacionais sobre drogas e excluso (introduo);
- As drogas e sua produo, comrcio e consumo (conceitos de base,
enunciado dos tratados internacionais).
Enfoque nos mtodos e as ferramentas de trabalho
Nesta fase do processo, os mtodos e as ferramentas so menores na
medida em que alguns deles so, tambm, os resultados do processo de
capacitao da equipe e de formao dos perfs profssionais propostos na
sesso precedente. Segue abaixo elenco de temas para esta fase:
- Gesto de recursos para projetos sociais (introduo ao conceito e as
prticas);
- SIDIEs (Sistema de Diagnstico Estratgico - enunciado dos seus passos
para preparar a equipe e a implementao na fase seguinte);
- O trabalho com redes (conceitos de base);
- Tratamento Comunitrio (alguns detalhes sobre os cinco componentes,
elementos prticos);
- Trabalho comunitrio e territrios comunitrios (exemplos de trabalhos
comunitrios);
- O trabalho com grupos (exemplo de trabalho com grupos);
- Investigao na ao (descrio introdutria do processo);
- Centros de baixo limiar/escuta/drop in;
- Avaliao (objetivos e exemplos).
Produzir Perfs Operativos Diferenciados
Produo de perfs profssionais: Boas Prticas
A produo de perfs profssionais diferenciados se dar no marco da
capacitao e da formao, que so os dois momentos vistos anteriormente,
e objetiva criar os perfs profssionais de base para se iniciar o projeto,
trabalhando-se com os membros da Rede Operativa. A meta deste momento
da formao da equipe desenvolver os perfs profssionais mais apropriados
execuo das tarefas e funes.
49 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
interessante que nesse processo sejam produzidos perfs profssionais,
entre os quais existam reas de interconexo, e que se
diferenciem, com clareza, as competncias e conhecimentos
(que formam o perfl profssional), e a funo organizativa do
projeto (estabelecer claramente a diferena entre a funo
executiva e a de coordenao).
Ter perfs operativos que tenham reas de
interconexes o que permite s equipes trabalhar junto
e desenvolver pensamentos em comum, isto , formar uma
equipe. A eleio das reas de interconexo pode seguir
o mesmo processo pelo qual se escolheram/elegeram os
temas geradores (induzidos e/ou espontneos).
Observa-se que a funo de coordenao
adquire mais efccia quando a pessoa que a executa
tem preparao profssional formal (com titularidade
acadmica), continuidade na experincia de trabalho
na rea de excluso social grave, identifcao com
os objetivos e fnalidades do projeto, formao
e experincia na gesto de equipes, alm de
identifcao crtica com a cultura organizativa da
instituio que desenvolve o projeto.
Produo de perfs profssionais: Difculdades
O processo de produo de perfs profssionais diferenciados encontra
algumas difculdades que devem ser enfrentadas com cuidado, sob o risco de
produzir uma fragmentao to grande que se desarticule o projeto, a equipe
e a relao com os benefcirios. Por exemplo, possvel que haja a tendncia
de um membro tentar utilizar seu perfl como elemento de poder pessoal e
fonte de privilgios.
O desencadeamento de uma rigidez operativa e ausncia de fexibilidade
pode ser outro efeito a ser enfrentado na produo de perfs profssionais. Nas
equipes novas, que esto se formando, observa-se, tambm, a tendncia de
estigmatizar as diferenas entre os perfs como se fosse um ataque coeso
do grupo (efeito de fuso).
Outras difculdades observadas e para serem superadas so a tendncia dos
profssionais formados em encontrar difculdades para aceitar tarefas no inscritas
no seu modelo profssional e funes no correspondentes a seu status, bem como
50 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
os operadores no profssionais encontrarem difculdades em aceitar a possibilidade
de aprender de outras formas que no sejam unicamente a experincia direta.
Os atores da equipe
Veremos agora algumas caractersticas dos membros da Rede de
Recursos Operativos detalhadamente, formada pelos Agentes Comunitrios
Pares, Educadores de Comunidade e de Rua, Case Manager, Coordenador
de Case Manager, Agente de Rede (Network Manager), Coordenador
de Projeto, Supervisor/Assessor Externo, Administrador e, por fm, os
Operadores Especiais.
Agentes Comunitrios Pares
Perfl
Os Agentes Comunitrios Pares so os membros da equipe que possuem
as mesmas caractersticas da populao alvo do projeto, sendo participantes
dos benefcirios fnais do programa.
No contexto do Tratamento Comunitrio, uma das primeiras
caractersticas que um operador par pode ter ser membro da comunidade
local na qual trabalha. Em um momento sucessivo, se a equipe e a rede
operativa acolhem a demanda dos lderes locais ou da populao a se
trabalhar, tambm integrando no projeto as populaes especfcas (pessoas
com HIV, consumidores problemticos de drogas, mulheres que trabalham na
rua, etc.), ento ser par signifca, tambm, ser membro de um destes grupos.
Esses grupos se convertem em grupo meta do projeto de ao social e da
comunidade como ator protagonista.
Tarefas
Graas a essa caracterstica, sua funo (tarefa, que fazer e fazer fazer)
auxiliar os outros membros da equipe no conhecimento da comunidade
local e dos membros do grupo meta, bem como distribuir informaes sobre
sexo seguro, uso seguro de drogas, HIV-Aids, DSTs (doenas sexualmente
transmissveis), etc. A tarefa exige o estabelecimento e a manuteno do
contato com os pares do seu grupo meta, alm de participar de reunies de
trabalho em equipe e com a gente da comunidade.
51 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Boas Prticas
necessrio que os Agentes Comunitrios Pares tenham estado em
contato diretamente com o lder da equipe que est se formando, alm de no
ter graves pendncias judiciais. Embora a escolaridade no seja necessria, til
que saibam ler e escrever, sendo que, quanto mais alto o nvel de escolaridade,
mais complexa poder ser a tarefa assumida.
Deve-se ressaltar que os Agentes Pares podem ser membros permanentes
da equipe, sob a condio de que aceitem viver um processo de melhoramento
de suas condies de vida (enquanto sua situao de par). Aps um processo
de formao e capacitao, os Agentes Pares podem ser excelentes guias de
rede e de casos, mas precisam de um acompanhamento permanente, de forma
que a tarefa no se torne uma fonte de estresse ou seja utilizada de maneira
imprpria.
No nvel da Capacitao (saber e conhecer), os Agentes Comunitrios
Pares precisam dos primeiros socorros (saber curar uma ferida, um abcesso,
reconhecer uma overdose e saber o que fazer, conhecer os efeitos das drogas
52 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
ilcitas mais usadas, saber limpar seringas e agulhas), sobre uso seguro de
drogas, preveno de HIV-AIDS e DSTs. Tambm necessrio o preenchimento
de uma fcha de primeiro contato.
Educadores de Comunidade e de Rua
Perfl
O perfl de Operador de Comunidade e de Rua pode ser considerado
uma evoluo do trabalhador de rua e do operador que trabalha no
desenvolvimento comunitrio. Estas duas vertentes, ou componentes deste
perfl, tornam evidente como o trabalho no marco do Tratamento Comunitrio
implica, tambm, em proceder no sentido de desenvolvimento comunitrio.
Pode-se dizer que, por meio deste perfl profssional (entre outros, no
exclusivamente), inicia-se a tomar em considerao o fato do ponto de vista
da ao social, o fato de ter fontes sociais para o sofrimento e que h, ento,
sofrimento social.
Por outro lado, falar de Operador de Rua e de Comunidade (ou vice versa)
signifca superar o conceito de operador de rua e trabalhador de rua para
tomar conscincia de que as ruas so um dos lugares da comunidade e, por
isso, no so, necessariamente, nem lugares de abandono e perdio e nem
mesmo lugares de redeno e salvao. So lugares de vida da comunidade
nas quais se constroem alianas e confitos, recursos e difculdades. So
lugares de ao social. (Ver Capitulo 5,
Os territrios comunitrios: esquinas,
ruas, parques etc.).
Tarefas
Os Educadores de Comunidade
e de Rua possuem, como tarefa, o
planejamento, organizao, gesto
e controle da vida cotidiana em
assembleias comunitrias. Tambm
so responsveis pelo manejo de
grupos centrados na tarefa que
devem desenvolver, em particular na
soluo de problemas e mediao
de confitos. Compe parte das
tarefas do Educador Comunitrio a
53 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
gesto de situao de crises de relacionamento ligadas vida cotidiana, tanto
individualmente como em grupo, bem como a construo, gesto, avaliao
de processos de preveno e tratamento individuais e de grupo, e o trabalho
de rua. Complementam sua tarefa a organizao, manejo, acompanhamento
e avaliao de grupos de autoajuda, tanto quanto a gesto de grupos-equipe
para a organizao da vida cotidiana: horrios, tarefas, tempos, recursos, etc.
Boas Prticas
Por serem essas suas atribuies principais, exige-se do Educador
de Comunidade e de Rua que tenha trabalhado como operador (como
profisso formal ou no) em programas de preveno ou tratamento (um
ano) com superviso e controle externo. Pode se tratar de uma pessoa que
trabalhou como agente par, operador ex-par, coordenador de programa ou
especialista.
Dadas s atribuies dos Educadores de Comunidade e de Rua, observa-se
que til uma formao (licenciatura) em humanidade, sendo ideal a formao
em cincias da educao ou trabalho social, com ofcinas de animao, teatro,
artes plsticas, msica, jogos, esportes, etc. No caso de operadores formados
atravs da experincia, til apoi-los para que completem um processo
escolar formal, ou adquiram conhecimentos e competncias equivalentes.
importante que os Educadores de Rua tenham uma boa capacidade em
formalizar processos de comunidade e de rua, ou seja, que tenham uma viso
organizada de conjunto. Neste caso, por processo pode-se entender coisas
muito simples: por exemplo, construir e formalizar um processo de primeiro
contato e de manuteno do contato com as pessoas que vivem na rua, ou
com uma gangue, ou com a famlia, ou o caminho da organizao de um grupo
de pares na comunidade, ou a organizao de festas, etc. Um operador faz
atividades durante todo o dia, a diferena entre implementar essas atividades
sem ter um mapa mental (este um processo formalizado) do que faz, e ter
este mapa, signifca que ele sabe em cada momento onde se encontra, pode
comparar experincias e casos, ter um ponto mental de referncia, em outras
palavras: no se perder e, se se perder, poder se reencontrar. A capacitao
formal, unida experincia do educador, facilita essa caracterstica.
Ressalta-se, ainda, que o indivduo que tem experincia como Educador
de Rua e de Comunidade, geralmente tem a melhor base para operar como
Gestor de Casos (case manager).
54 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Gestor de Casos
Perfl
Um Gestor de Casos um
profssional que tem a capacidade
de produzir e implementar uma
estratgia que harmonize e articule
todos os recursos da famlia, grupos,
etc. para encontrar respostas s suas
necessidades. Por isso, este operador
necessita saber diagnosticar
necessidades e recursos, organiz-
los em uma estratgia que reduza
as alergias e incremente a sinergias,
sendo o ponto de referncia para as
pessoas que pedem ajuda.
Recomendaes e boas prticas
A construo, fortalecimento
e gesto de uma rede subjetiva
comunitria uma das tarefas
do Gestor de Casos. Uma rede
subjetiva comunitria formada
por um conjunto de pessoas e suas
interconexes, com as quais o gestor, na
comunidade na qual trabalha, possui
relaes amistosas. Essa rede contribui
para construir, na comunidade, o seu
contexto de segurana.
A construo e fortalecimento de
uma Rede Operativa tambm faz parte das atribuies do Gestor de Casos.
Outra tarefa do Gestor de Casos participar na construo, fortalecimento
e manejo da Rede de Recursos Comunitria (RRC), defnida como um conjunto
de atores (pessoas, grupos, instituies ou organizaes) e suas conexes, que
so diretamente contatadas pelos operadores no percurso de seu trabalho de
preveno com a comunidade. Pouco a pouco, esses atores so integrados
entre os aliados que podem ser ativados para a gesto de casos, de situaes
polticas, culturais, etc. Deve-se ressaltar que a construo de uma rede de
55 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
recursos comunitrios uma premissa indispensvel para a reduo do dano e
um produto do trabalho de preveno.
O Gestor de Casos tambm responsvel por:
(1) estabelecer e manter o contato com os benefcirios fnais,
diretamente na comunidade local, por meio de trabalho de rua;
(2) visitar as famlias e lugares de vida e trabalho da comunidade;
(3) coletar as informaes necessrias junto ao benefcirio par;
(4) defnir, juntamente com este, um programa de ao;
(5) participar das reunies da equipe para desenvolver as discusses dos
casos e estabelecimento de acordos operativos sobre programas de ao
com os benefcirios;
(6) executar as aes previstas nos programas individuais ou grupais de
ateno (motivar, apoiar, acompanhar, aconselhar, pensar, fazer e estar
com, entre outras);
(7) avaliar, junto com a equipe, o desenvolvimento dos programas e das aes;
(8) participar na reviso de programas etc.;
(9) coletar, sistematizar e discutir as informaes relacionadas com os casos;
(10) usar os instrumentos de coleta das informaes e da sistematizao
das experincias.
necessrio que o Gestor de Caso tenha trabalhado como educador de
comunidade e educador de rua, em programas de preveno ou tratamento
(um ano) com superviso e controle externo. Em matria de escolaridade,
interessante que o Gestor de Casos tenha o segundo grau, ou equivalente,
como nvel mnimo. Ressalta-se que a qualidade do Gestor de Casos depender
da sua Rede Subjetiva Comunitria, da sua Rede Operativa, todos os elementos
j defnidos anteriormente.
Nota-se que os educadores pares e ex-pares, com uma grande experincia
na equipe (de pelo menos um ano e com participao em processos de formao
e capacitao), tornam-se excelentes gestores de casos. interessante que todos
os membros da equipe, inclusive o coordenador, tenham oportunidade de
realizar uma experincia prtica com gerenciamento de caso. Esta experincia
permite e promove o crescimento pessoal e profssional dos membros da equipe.
Coordenador de Gestor de Caso
Perfl
O Coordenador dos Gestores de Casos coincide, em parte, com o perfl
conhecido como coordenador da equipe, mas somente em parte. No caso do
56 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Coordenador dos Gestores de Casos, este sabe que sua tarefa no se estende
somente coordenao das atividades e dos processos geridos pelos gestores
de casos. Deve, tambm, atuar na interao com a rede operativa (quer dizer,
o conjunto de redes subjetivas e operativas comunitrias de cada um dos
gestores de caso).
Tarefas e boas prticas
Cabe ao Coordenador de Gestores de Casos a construo, o fortalecimento,
a manuteno e a conduo da Rede de Recursos Comunitrios, lembrando que
esta entendida como o conjunto de
atores (pessoas, grupos, instituies
ou organizaes) e suas conexes
que so diretamente contatados
pelos operadores no percurso de
seu trabalho de preveno com
a comunidade. Ao coordenador,
tambm cabe conhecer e controlar
todos os programas do gestor de
caso, sendo muito interessante que
ele seja, tambm, um gestor de caso
ou um educador de comunidade e
de rua em ao. Alis, exige-se, como
experincia, que o coordenador
tenha trabalhado como educador da
rua e da comunidade, ou como gestor
de casos, pelo perodo de, ao menos,
dois anos.
A tarefa do Coordenador de
Gestores de Casos tambm se estende
para a criao de sinergia entre casos
e recursos e para o acompanhamento
dos gestores de caso que estejam
na fase de planejamento, execuo
e avaliao dos programas de
Tratamento Comunitrio (individuais, de grupo etc.).
Quando existem recursos fnanceiros e humanos, convm diferenciar as
tarefas do coordenador de gestores de casos das de coordenador de projeto.
57 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Agente de Rede
Perfl
O perfl do Agente de Rede (network manager) pode ser entendido como
um perfl em si ou como uma tarefa que pertence a todos os perfs. Sendo
que nos encontramos no marco do Tratamento Comunitrio e o conceito de
comunidade que descobriremos ser a comunidade um sistema de redes,
o fato de trabalhar em/com redes uma tarefa de todos os operadores e de
todos os atores que participam no processo (tambm aqueles s que chamamos
benefcirios).
No obstante, em programas ou projetos de alta complexidade
(com fguras profssionais mltiplas, servios e entidades diferentes, etc.) a
articulao das redes pode ser considerada uma tarefa especfca que d lugar
a um perfl profssional especfco. Neste caso, pode ser um perfl integrado
ao do coordenador de projetos (project manager) ou ao perfl do diretor da
organizao ou entidade que implementa o programa ou projeto.
O que deriva desta colocao que a tarefa de Agente de Rede seja
considerada de baixo para cima (desde a rua at aos diretores das instituies),
ou de cima para baixo, sempre uma tarefa de interconexo e articulao
poltica/tcnica.
Tarefas
Dentro da composio de uma
equipe que efetuar um Tratamento
Comunitrio, o Agente de Rede deve
ter a capacidade de construir, manter,
fortalecer, dirigir e avaliar redes
subjetivas, redes operativas, redes
de recursos comunitrios, redes de
lderes de opinio e minorias ativas.
Exige-se, como nvel mnimo
de escolaridade, que o Agente de
Rede tenha licenciatura e formao
em teoria e prtica de redes sociais.
fundamental que ele tenha experincia
de educador de comunidade e de
rua, gestor de casos, coordenador de
gestores de casos ou experincia na
58 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
gesto de protocolos operativos (por exemplo, protocolos de primeiros socorros
para overdose de drogas, para a gesto de programas de metadona), bem como
conhecimento da teoria de redes, da sua aplicao s redes sociais e de anlise
de redes. O agente de rede uma fgura importante para as fases iniciais de
construo de redes, especialmente nos momentos de avaliao e anlise.
Coordenador de projetos
Perfl
O Coordenador de Projeto (project manager) a pessoa que tem como
responsabilidade reunir, organizar, fortalecer, motivar, monitorar todos os
recursos (humanos, materiais e no materiais) que contribuem ao sucesso dos
objetivos do projeto ou do programa, e avaliar seus resultados e impacto.
Tarefas
Cabe ao Coordenador de Projeto:
(1) construo, fortalecimento e gesto da rede de recursos comunitrios;
(2) seleo, induo, administrao e controle da equipe;
(3) planejamento de projetos e pesquisas de fundos (recursos fnanceiros);
(4) gesto de grupos com fnalidade organizativa e de manuteno do
dispositivo de trabalho;
(5) organizao, gesto e avaliao de programas;
(6) gesto e coordenao de equipes de trabalho;
(7) avaliao da qualidade de todo o projeto.
Dadas s caractersticas da tarefa que o Coordenador de Projeto
desenvolve, necessrio que ele tenha uma experincia mnima de dois anos
em postos de coordenao de equipes, projetos, programas ou servios. Ter
trabalhado em equipe com superviso externa por, pelo menos, dois anos,
tambm uma caracterstica desejvel, assim como possuir dois anos de
experincia em planejamento de programas, pesquisas de recursos fnanceiros
e seleo de recursos humanos. necessrio ter conhecimentos para o manejo
de informtica de base (como processadores de texto, folhas de clculo,
internet, programas de apresentao, etc.).
desejvel que, no nvel da escolaridade, o Coordenador de Projeto
tenha licenciatura (de preferncia em humanidades), alm de capacitao
em administrao. Ressalta-se que, nos casos em que seja indispensvel a
acumulao de tarefas e responsabilidades (operativas e de coordenao, por
exemplo), importante deixar isso transparente para a equipe.
59 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Supervisor/Assessor Externo
A tarefa do Supervisor/Assessor Externo
supervisionar e desenvolver o acompanhamento
da equipe. recomendvel que o supervisor no
tenha nenhuma outra tarefa ou responsabilidade
de nenhum tipo na equipe ou na organizao que
supervisiona. Deseja-se que seja um profssional com
experincia em assessoria de processos, equipes,
instituies na rea da sade pblica, com educao
formal e informal. Tambm desejvel que tenha
experincia profssional supervisionada na rea
da excluso social grave, ter realizado o manejo de
programas, instituies, equipes ou projetos.
Em nvel de capacitao, exige-se
uma formao acadmica em psiquiatria,
psicologia, sociologia, antropologia, servio
social, pedagogia ou equivalentes. Tambm
interessante que o supervisor realize algumas
aes formativas. O respeito ao princpio de
abstinncia uma prtica desejvel.
Administrador
A funo do Administrador dentro da equipe que aplicar o Tratamento
Comunitrio vincula-se, estreitamente, sobrevivncia fnanceira da iniciativa,
uma vez que as organizaes que manejam esses tipos de projetos tm
constantes problemas de autonomia econmica e fnanceira (sustentabilidade).
importante que o Administrador tenha cultura de empresa e experincia em
gesto de fundos e manejo de servios ou microempresas produtivas.
Por essa razo, ele necessita ter, em nvel de escolaridade, a formao em
administrao ou equivalente. importante que o Administrador tenha dois
anos de experincia em administrao de ONG, em projetos de sade pblica
ou sociais. Tambm aprecivel que se faa a distino clara do papel do
diretor ou coordenador operativo do rol das atribuies do Administrador.
Operadores Especiais
Perfl
O corpo de operadores especiais composto por mdicos, psiclogos,
Dispositivo de trabalho
Este um conceito central no
Tratamento Comunitrio e em todas
as formas de tratamento. s vezes,
utiliza-se a palavra set ou setting
(que signifca palco).
O dispositivo o conjunto de recursos
que participam na realizao do
Tratamento Comunitrio (set).
Quando a estes recursos (pessoas,
materiais, instrumentos de trabalho,
fundos etc.) se adicionam os
conceitos, as teorias e as hipteses
que os operadores utilizam para
explicar os fenmenos com os
quais trabalham, o que pretendem
fazer, como fazem e os resultados
que esperam ter, ento se fala de
setting.
Set e setting podem ser
considerados dois componentes do
dispositivo.
60 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
socilogos, psiquiatras, advogados,
antroplogos, trabalhadores especializados
em sade pblica, em desenvolvimento
da comunidade, etc., que participam no
projeto respondendo s demandas do
coordenador, da equipe e do projeto. Eles
no so elementos permanentes na equipe.
Boas prticas e tarefas
muito til estabelecer e manter uma
estreita conexo entre a equipe que aplica
o Tratamento Comunitrio e o Operador
Especial, sem que estes dirijam, contudo, o
trabalho da equipe.
Sendo assim, bastante produtivo,
num Drop In, pedir aos Operadores
Especiais, assessorias e intervenes
pontuais focadas nas aes ou nos
programas especfcos e limitadas no
tempo, sem, contudo, atribuir a eles a
responsabilidade do desenvolvimento
desses programas.
As tarefas dos Operadores Especiais
so a capacitao inicial e contnua dos recursos operativos (pessoas e suas
conexes que participam no cumprimento dos objetivos institucionais do
projeto), alm do planejamento e monitoramento de aes ou programas
especfcos relacionados com sua especialidade, bem como a execuo de
aes relacionadas com sua especialidade.
O administrador das organizaes que implementam o Tratamento
Comunitrio no somente uma pessoa que tem as contas em perfeita ordem,
mas o ator que permite a aplicao do quinto componente do Tratamento
Comunitrio: trabalho e/ou ocupao. Neste sentido, um membro da equipe e da
rede operacional que entende de atividades produtivas, de como est organizado
o mundo de trabalho, que tem uma rede subjetiva nesse contexto, pois essa rede
subjetiva um dos recursos de todo o projeto.
61 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Vimos detalhadamente cada um dos componentes da equipe que
desenvolve um trabalho de Tratamento Comunitrio, bem como esmiuamos
o perfl, a capacitao e a tarefa de cada um deles. Agora, veremos a produo
de um modelo organizativo e a identifcao da comunidade local (territrio)
onde os trabalhos sero desenvolvidos, que so passos fundamentais para o
desenvolvimento do projeto de Tratamento Comunitrio.
Produo do modelo organizativo
Conceito
Ter um modelo organizativo como ter um mapa de uma cidade. Isto, por
um lado, signifca ter alguns elementos para conhecer de onde nos encontramos,
os caminhos que podemos recorrer
para ir de um lugar a outro, onde
se encontram as pessoas que
constituem a nossa rede subjetiva,
a nossa rede operativa, a rede de
recursos comunitrios e, tambm,
quais so os caminhos que alargam
o caminho, os caminhos sem sada,
as praas para descansar e as vias
rpidas onde no se pode parar
mesmo que se queira.
Ter este mapa importante.
Este mapa um dos produtos da formao da equipe tambm importante.
Como importante que todos os membros da equipe e da rede operativa
tenham um mapa para mover-se nesta comunidade/dispositivo, que toma
forma por meio da capacitao.
Descrio
A produo de um modelo organizativo objetiva o estabelecimento
de uma ordem que d efcincia e efccia ao do projeto que ser
implementado. necessrio que, na fase de capacitao, sejam dedicadas
algumas sesses de trabalho para o estudo de modelos organizativos em
projetos anlogos, bem como seja realizada uma ofcina dirigida por um
operador especial para se desenhar uma proposta de modelo organizativo. A
meta deste trabalho ter um modelo organizativo discutido, consensuado e
aceito pela direo do projeto ou da ONG que o realiza, sendo o foco dessas
Drop in: Um drop uma entidade de
trabalho de baixo limiar de acceso.
Geralmente trata-se de uma pequena
estrutura (um quarto com banheiro e uma
sala para encontros), com uma equipe de
operadores (de rua, de comunidade e de
pares em particular). uma das ferramentas
de base do Tratamento Comunitrio e,
em particular, do componente chamado
assistncia bsica, que inclui a reduo
dos danos e a minimizao dos riscos.
62 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
discusses a prpria Rede de Recursos Operativos.
O momento ideal para se iniciar a elaborao do tema
do modelo organizativo na prpria fase de formao e
capacitao da equipe. Tambm til introduzir, no modelo
organizativo, um documento escrito no qual se indiquem
critrios ou elementos de um cdigo de tica de ao
(regimento interno).
A ausncia de um modelo organizativo claro cria
confuso nas funes, agressividade entre os operadores e
a quase impossibilidade de mediao de confitos. Nas fases iniciais de um
projeto que seja inovador, um dos procedimentos comuns do grupo negar a
diferena entre as funes, responsabilidades e tarefas, por isto, ter um modelo
organizativo ajuda a manter as diferenas e a articul-las.
No processo de produo de um modelo organizativo, existem aspectos
que devem ser salientados, pois so comuns nessas iniciativas.
Por exemplo, apostar no princpio ideolgico da paridade
de autoridade e responsabilidade, produz uma massa de
no ditos, que atrapalha os processos de ao e bloqueia
processos de esclarecimento na relao dos membros da
equipe. Negar a dimenso institucional do projeto conduz
a atitudes irresponsveis, bem como sublinhar unicamente
o aspecto institucional, conduz a atitudes de dependncia
passiva e indiferena cultura organizacional. So equvocos
e posturas que devem ser evitados durante a produo de um
modelo organizativo que busque ordem, efccia e efcincia ao do projeto.
Recomendao
A produo de um modelo organizativo consiste em um trabalho de
abstrao importante. possvel que os elementos da equipe que tm mais
familiaridade com estes processos intelectuais se apropriem
do discurso e produzam modelos utilizando linguagens e
tipos de abstraes que no podem ser entendidos por todos.
Um mapa que contm smbolos e referncias que
no todos podem entender, no serve para todos, uma vez
que, um requisito do modelo operativo que todos possam
entender e todos possam utilizar.
63 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
Identifcao da comunidade local (territrio)
Conceito
Trabalhar em uma comunidade pode ser bvio, mas no bvio quando
se trabalha com a representao de si como se fosse um missionrio - quer
dizer que recebeu uma misso para cumprir, independentemente do que
pensam os habitantes de uma comunidade, ou tem que cumprir com sua
misso porque esta fundamentalmente boa e justa.
Identifcar a comunidade local em/com a qual trabalhar , pelo contrrio,
uma tarefa complexa: deve-se tomar em considerao numerosos elementos,
entre os quais, o parecer das redes que constituem a comunidade, a animam,
a organizam etc.
Objetivo e processo
O objetivo principal, neste momento, identifcar a comunidade local
onde se pretende desenvolver as aes do Tratamento Comunitrio, tendo em
vista a defnio de um territrio onde se iniciar o trabalho.
Existem diferentes motivos e maneiras de se escolher a comunidade
onde se vai trabalhar. Um dos motivos de escolha baseia-se no fato de um ator
comunitrio, ou poltico, manifestar uma demanda de maneira explcita para
aquele territrio. Outro motivo a equipe operativa ter um contato anterior
com atores dessa comunidade ou porque a comunidade responde a critrios
de alto risco e vulnerabilidade. Por fm, outro motivo que leva escolha de
dada comunidade que a organizao que pretende realizar o projeto est
presente em seu territrio, ou nele desenvolve outros tipos de aes.
Boas Prticas
Entende-se neste ponto que a constituio de uma equipe inicial deve ter
em conta a comunidade na qual se ir trabalhar, isto signifca que a constituio
da equipe inicial e a identifcao da comunidade na qual se ir trabalhar tem
que dar-se, na medida do possvel, simultaneamente. Se este processo no
implementado adotando este critrio de simultaneidade, no ser possvel
proceder desde a constituio da equipe at a construo da rede operativa. E,
sendo que a rede operativa o motor da capacitao inicial, no ser possvel
capacitar, construir perfs profssionais e modelos organizativos. Isto signifca
no estar em condio de ter os elementos mnimos de um dispositivo inicial
para a ao social.
64 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
positivo incluir, na capacitao da equipe, estudos de antropologia
urbana e sociologia, em um nvel bsico, da cidade ou regio na qual se
pretende realizar o projeto, bem como, a partir de dados sociolgicos e
antropolgicos, produzir um conjunto de critrios observveis e objetivveis
para a escolha da comunidade local. Dentro desse processo de eleio da
comunidade, necessrio equilibrar as necessidades institucionais e das
organizaes executoras com critrios objetivos de escolha.
So bons os resultados obtidos quando se defne, inicialmente, um
espao reduzido e congruente com os recursos que se tem, bem como
quando se defne uma comunidade no interior da qual, ou perto dela, existam
outros atores sociais com os quais se pode estabelecer uma eventual aliana
operativa. Agindo dessa forma, incrementa-se a percepo de segurana
pessoal, diminuindo, tambm, o sentimento de impotncia operativa.
Dentro do rol das difculdades encontradas para a escolha da comunidade,
est o fato de essa escolha poder responder a necessidades institucionais
(visibilidade, execuo de projetos diversos, etc.) sem que haja demandas ou
problemas reais. A escolha da comunidade tambm pode responder a linhas
fnanceiras que no correspondem s necessidades demonstradas.
Outro problema que deve ser enfrentado a possibilidade de se escolher
uma comunidade onde trabalhar que apresente caractersticas que excedam a
Fonte: Ministrio da Sade /Lua Nova, 2011
65 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
capacidade real de realizao da equipe, ou por ser demasiadamente extensa,
ou apresentar demasiados riscos. Tambm se pode dar uma excessiva oferta
de servios em uma mesma comunidade local, criando dependncias dos
programas, desvirtuando, assim, os objetivos do Tratamento Comunitrio.
66 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO PRIMEIRO
67 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
O ENCONTRO COM A COMUNIDADE
Captulo 02
68 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
ndice do captulo
O Encontro com a Comunidade................................................................00
De onde vem a demanda da Ao Social .......................................................................00
Entrar, Encontrar, Estar Na Comunidade
Encontrar Na Comunidade
Redes: Portas Principais de Entrada em uma Comunidade ..........................................00
Conceito de Rede: Primera Aproximao
Lderes de Opinio: Primera Aproximao
Redes de Lderes de opinio e excluso grave
Construir Um Dispositivo Para A Ao Social (Primeira Parte)
Dispositivos Para O Tratamento Comunitario
Construir Um Dispositivo Para A Mudana
Trabalho De Rua E Comunidade
O conceito e os objetivos
Os produtos
Recomendaes, boas praticas e riscos
Aes De Vinculao
Conceito, objetivos e processos
Difculdades
Boas Praticas e lies aprendidas
Aes organizativas
Conceito, objetivo e processos
Recomendaes, Difculdades e Boas Prticas
Aes na rea da sade
Conceito, Objetivos e processos
Recomendaces, difculdades e boas prcticas
Aes e processos de educao no formal
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difcultades e boas praticas
Animao e iniciativas culturais
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difculdades, lies aprendidas
Aes de assistncia imediata
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, boas prticas e difcultades
69 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
Entrar, Encontrar, Estar Na Comunidade
De que forma acontece o encontro entre a comunidade e
o Tratamento Comunitrio? Esta pergunta pode ser formulada
de uma maneira diferente, permitindo ver outro aspecto deste
processo: de que forma o Tratamento Comunitrio orienta o
encontro de uma equipe ou de uma rede operativa com uma
comunidade?
Esta segunda formulao evidencia que o Tratamento Comunitrio
pode constituir uma forma de concretizar um primeiro encontro entre
uma comunidade e uma equipe, ou pode constituir uma nova forma de
promover o encontro entre uma comunidade e uma equipe que j se encontra
trabalhando. Neste segundo caso, trata-se de replanejar o fuxo das relaes
entre comunidade e equipe de trabalho.
Em ambos os casos, para entrar na comunidade, sugere-se que haja, por
parte de atores dessa comunidade, uma procura por ajuda. essa procura
por ajuda que permite que se construa um encontro com sentido. O primeiro
contato que se estabelece com uma comunidade importante, podendo ser o
incio de uma histria de amor. Em alguns casos, a instituio ou a equipe que
deseja implementar o Tratamento Comunitrio encontra-se desenvolvendo
atividades na comunidade h anos, como indica o exemplo seguinte:
O ENCONTRO COM A COMUNIDADE
De onde vem a demanda da ao social?
[Exemplo 1] Quando comeamos o Tratamento Comunitrio ramos
uma pequena equipe que fazia uma atividade de recuperao escolar para umas
crianas do colgio. Eu era, at ento, um universitrio e essa era minha prtica.
Ns coordenvamos uma pequena ONG que fazia, tambm, outras atividades
no interior do colgio de onde vinham as crianas. A ONG j estava situada ali
h alguns anos, tinha sido chamada pela diretoria da escola. Os resultados no
eram ruins, no entanto, procurvamos uma maneira para vincular as famlias das
crianas. Na realidade, estvamos satisfeitos com o que fazamos, mas, ao mesmo
tempo, desejvamos ver se era possvel fazer mais. [Colmbia 2.1]
70 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
Neste caso, esta pequena equipe j era um dos atores dessa comunidade.
Havia sido chamada por outro ator da comunidade com uma solicitao
precisa. Seu contato com o Tratamento Comunitrio modifcar sua relao
com a comunidade, dando vida a um encontro renovado.
A sntese disto : atravs da resposta a um pedido de ajuda que acontece
o encontro entre uma equipe (ator social) e uma comunidade e, atravs desse
encontro, que o pedido de ajuda pode encontrar respostas que conduzem a
outros pedidos. Este parece ser o sentido deste breve exemplo.
Outros tipos de atores que podem deixar explcita uma demanda de
interveno social, so os atores pblicos, os que defnem as polticas que
orientam e constroem a vida cotidiana das comunidades. O exemplo a seguir
parece ilustrar este aspecto.
[Exemplo 2] Reestruturao urbana seu nome. O prefeito convocou a
todos os chefes de departamento para nos informar que a zona de prostituio iria
ser remodelada e transformada em um centro histrico digno de nossa bela cidade.
Estvamos todos presentes: o chefe da polcia, outros de palet e gravata que
tambm parecem policiais, o chefe da rea de sade, o representante do prefeito,
o representante dos comerciantes, e todos os outros. O problema era como tirar as
pessoas dali, no a todos, obviamente, e sim as prostitutas de rua, os transexuais, as
crianas de rua. Quando se discutiram planos concretos, foi adotada a estratgia de
ir visitar a zona, saber algo sobre as pessoas, falar com o representante do prefeito,
com a polcia do bairro. Demoramos algumas semanas e, no fnal, foram os
policiais que indicaram uma ONG que podia comear a fazer um reconhecimento
da zona e produzir algumas ideias sobre como intervir. [Colmbia 2.2]
Esta uma tpica demanda de ajuda chamada de cima para baixo.
Provavelmente, nenhum dos presentes convocados a essa reunio participaram
diretamente nas decises que defniram essa poltica. No entanto, todos eles,
por fazerem parte das instituies desta cidade, esto comprometidos em
dar respostas prticas a essas indicaes polticas, cada um do seu ponto de
vista (conhecimento e habilidades) e levando em considerao as posies dos
outros. Neste caso, diz-se que as decises polticas tm que ser baixadas
comunidade.
No exemplo 3, a demanda vem diretamente dos vizinhos de um bairro
marginalizado e dirigida equipe de uma organizao que faz assistncia
mdica bsica.
71 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
[Exemplo 3] Na metade de 2003, perguntaram se tnhamos interesse em
utilizar uma pequena clnica mvel para prestar servios mdicos de primeiros
socorros em um bairro marginalizado. Efetivamente, era interessante sair do
consultrio e das atividades rotineiras da nossa organizao, e o bairro nos
interessava. Falamos com os representantes dos vizinhos que nos disseram que
podamos falar sobre isso. E assim comeou a histria. Agora, a clnica mvel
no existe mais, foi emprestada outra organizao que trabalha em outro
bairro. Foi um incio perfeito para comear a estar aqui com o povo. [Colmbia
2.3]
Dessa iniciativa, nasce um projeto que produz um profundo impacto na
organizao que o executa. Um dos elementos desse impacto a transformao
da organizao em um ator dessa comunidade.
O quarto exemplo um dos mais frequentes. O pastor pode ser
considerado um lder de opinio formal em uma comunidade. Neste caso,
atravs dele vem a demanda de implementar uma ao social.
[Exemplo 4] O pastor no buscou palavras gentis: ao redor daqui tudo
uma grande..., comentou. A igreja est bonita e segura, mas em pouco tempo nos
assaltaro na sada. Deve existir uma forma de conviver com eles, falou, indicando
com a cabea e parte do olhar o povo que se entrevia na praa, sentado nas
varandas da entrada da igreja. [Mxico 2.1]
A motivao da demanda inicial pode ser das mais diversas. Esta tem que
ser recordada porque a demanda inicial ser o assunto implcito que governar
a ao social durante muito tempo, at o momento no qual a equipe ou a rede
operativa no ter a possibilidade de refetir sobre as razes pelas quais esto
trabalhando ali, naquele lugar, fazendo o que esto fazendo.
Encontrar na Comunidade
O quinto exemplo o mais frequente de todos. Uma
pessoa pede ajuda a algum de quem ouviu falar. Neste
caso, s depois sabero que a pessoa que pede ajuda um
lder de opinio no formal. Ele apresenta uma demanda
clara, urgente. uma das portas de entrada em uma
comunidade.
72 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
[exemplo 5] Pedro entrou no meu escritrio sem pedir licena, entrou,
se sentou e comeou a falar sem olhar para mim. J estava me incomodando
porque tinha muitas coisas para fazer. No era alto, era mais baixo do que alto
e muito forte, no gordo, forte. Depois, quando tive a oportunidade de olh-
lo nos olhos, vi que tinham um tom caf intenso, eram pequenos e olhavam
sem temor e com respeito. Olhava reto, para isso moveu o corpo e ficou bem
de frente. Falou-me do bairro de que vinha e dos seus dois filhos - dois filhos,
me disse. Falou-me do primeiro que mataram h alguns dias e do outro que
matariam ainda esta semana. sexta, pensei, e o imaginei j morto. No bairro
desse homem no matam nem sbado nem domingo e, se caso acontece, no
so eles os matadores e sim alguns idiotas que vm de fora e so motivados
por guerras de amor e no por marcar territrio ou curar feridas. Seus filhos
seriam mortos para curar feridas de honra e poder.
Perguntou-me se eu queria ajudar. No falei nada. Estava muito
bem no bairro onde estava trabalhando e ir at l no era uma ideia muito
saudvel. Venha para a minha casa, - falou fale com meu filho. Garanto
que, ao senhor, no iro fazer nada. Se o convencer a ir para algum outro
lugar, talvez eles esqueam depois de alguns meses, ou matem a outros, assim
eles perdem a raiva e ele fica com sua vida. No estava me implorando, no
estava pedindo nada. Tinha mais a impresso que estivesse me convidando.
Ali eu o olhei nos olhos. Foi nesse momento que ele se posicionou de frente
e pude ver diretamente os olhos. Olhava-me sem piscar, no tinha medo.
Parecia mais um desespero sem limites, no era impotncia, era algo diferente
que no entendi no momento. Depois, s depois de meses, entendi o sentido
desse olhar. Era a vontade de se opor vingana que estava nascendo dentro
dele. Nada a ver com o temor do outro, tudo a ver com o temor do desejo
de matar o que estava nascendo nele mesmo. Era sexta-feira e eram duas da
tarde. Fui com ele. [Mxico 2.2]
Neste exemplo esto presentes elementos diferentes em relao aos
anteriores. Aqui aparecem as emoes: uma relao entre duas pessoas
(ainda que cada um deles esteja interligado com seu papel formal e no formal):
em que est nascendo aqui uma das pessoas que pede ajuda para si. Este
tambm um assunto que ter de ser elaborado sucessivamente, porque cada
porta de entrada tem seu sentido. Aqui, encontramo-nos em um processo que
podemos chamar de baixo para cima.
O exemplo seis serve para ilustrar o primeiro contato entre um futuro
educador (futuro educador de rua, neste caso) e uma comunidade, a comunidade
na qual ele trabalhar por alguns anos.
73 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
[Exemplo 6] Cheguei comunidade s nove da manh. O coordenador me
havia pedido que chegasse s nove: Venha para a comunidade s nove, como se
a comunidade fosse seu nome. Na realidade, no era isso; tambm no achei que
se tratasse de uma comunidade. Entrei pelo lado da avenida com as prostitutas que
j estavam trabalhando. Comeam cedo, pensei, mas vi seus olhares e seus corpos
cansados, e pensei que ainda no acabaram a noite. O coordenador me havia dito
que estaria esperando na esquina do parque mais perto da igreja e percebi que
tinha entrado no lado errado. No que tivesse um lado correto e um errado, que
para chegar at a esquina onde tnhamos combinado, teria que atravessar todo
o parque, e estava cheio de lixo, de pessoas dormindo, crianas perambulando,
de cachorros, de comida jogada na grama. Fiquei com uma sensao entre nojo
e temor. Na realidade, no sabia aonde colocar os ps e, tambm, se realmente
queria coloc-los nesse lugar. Ento, virei para a esquerda aonde havia uma grande
loja, achei mais limpo e mais seguro do que ir para o lado oposto. Fui por ali, mas
sentia uma centena de olhos em cima de mim e os passos fcaram pesados. Esses
150 metros fzeram crescer a paranoia. Na esquina, ningum me esperava alm
de um cachorro que cuidava de uma mulher com duas crianas, ambos dormindo
no fundo, com a porta fechada da igreja. Nem o cachorro me olhou, acredito. Na
realidade, alm de crianas perambulando e uma senhora com uma jarra sentada
a uns metros, no havia movimento a essa hora e eu fquei pensando que diabos
estava fazendo ali. [Mxico 2.3]
Neste caso, tambm se trata de um primeiro encontro, de uma maneira
de entrar na comunidade. Este operador relata no seu dirio de campo aquilo
que observa e aquilo que sente enquanto se encontra com esse mundo:
observao e emoo encontram-se vinculadas entre si e desembocam nessa
pergunta: O que estou fazendo aqui? O que me trouxe aqui?
Se a demanda de um ator comunitrio pode ser a porta de entrada em uma
comunidade, entender o sentido dessa demanda a maneira de ultrapassar seu
limiar e, defnitivamente, entrar, comear a estar ali. Entende-se, desta maneira,
como uma ao social pode ser uma ao que tem um sentido explcito,
intencional (pelo menos um), ainda que no exclua a possibilidade de ter,
tambm, mais de um sentido e que todos eles sejam conscientes, intencionais. A
porta de entrada na comunidade e como se ultrapassa esse limiar, o primeiro
passo para desvelar o sentido da ao social comunitria na sua construo. Por
isso, a porta de entrada importante, j que constitui um sentido em si.
O exemplo 7 a sntese de algumas recomendaes para entrar na
comunidade, formuladas por um dos parceiros que desenvolveu o Tratamento
Comunitrio.
74 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
Esta equipe sugere um contato com um ator comunitrio: um jovem ou uma
senhora que conhece bem o bairro. Como poder ser visto mais pra frente, trata-
se de estabelecer um contato pessoal e direto com os lderes de opinio dessa
comunidade, com aqueles que a conhecem e podem nos ajudar a estabelecer
contato com outras pessoas signifcativas no interior dessa comunidade.
Redes: portas principais de entrada em uma comunidade
No caso de um ator que estabelece um contato com
uma comunidade pela primeira vez, ou no caso de um
ator que j se encontre na comunidade h algum tempo,
o Tratamento Comunitrio sugere que entre ou renove a
entrada na comunidade atravs do encontro com a rede
dos lderes de opinio no formal e, sucessivamente,
tambm formal. Por qual motivo?
Encontramos aqui dois conceitos que nos
acompanharo durante todo este trabalho: o conceito de
rede e o conceito de lder de opinio.
Conceito de rede: primeira aproximao
Quando se utiliza o conceito de rede, uns se referem s interconexes que
existem entre duas ou mais entidades (podem ser pessoas, organizaes, tambm
[exemplo 7]
Critrios para uma boa entrada na comunidade
Para uma boa entrada na comunidade, necessrio que se faa, antes, um mapeamento do local
com o auxlio de algum membro da comunidade, que pode ser um jovem ou uma senhora que
mora h anos nesta rea. (...) Um traje adequado, simples, ter um olhar discreto, dar um bom dia.
No se deve bater de porta em porta em uma comunidade que sofre riscos com a polcia, no se
tira fotos dos locais e das pessoas antes que se crie um vnculo (uma confana do morador com
voc).
No se assustar ao ver cenas fortes, crianas usando drogas, violncia, entre outras coisas que
acontecem no dia-a-dia. Tambm no se leva muito dinheiro e no se deve fcar olhando as pessoas
de cima a baixo. No aparente ser melhor do que os outros, sejam iguais, porque na verdade somos
iguais, apesar da condio de vida, todos tm oportunidades, talvez uns j tiveram mais cedo, para
esses outros, quem pode dar somos ns. [Brasil 2.1]
75 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
objetos, etc.). Na linguagem das redes, as entidades que constituem uma rede
so chamadas ns. O enfoque, ento, no tanto nas caractersticas dessas
entidades, mas sim nas caractersticas das relaes que estas entidades possuem.
Se aceitarmos este primeiro aspecto, observaremos, tambm, que as redes tm
outras propriedades: uma delas que a rede funciona. Isto tem dois sentidos: o
primeiro a tendncia de reproduzir a sua estrutura (a forma com a qual as pessoas
esto organizadas ou, dito de outra maneira, a forma com a qual as pessoas esto
relacionadas). Veja, por exemplo, a estrutura de uma famlia: esta sempre a
mesma e se reproduz de gerao em gerao com poucas mudanas. A segunda
que uma rede tem a capacidade para produzir tambm os elementos (ns). Diz-
se que um n de uma rede o produto da relao de pelo menos dois outros
ns. Por exemplo: as relaes em um sistema social produzem outras relaes
(este o efeito rede). Estas relaes no so todas iguais, h relaes que incluem
muitos ns (por exemplo, em uma sala de aula) e outras com poucas pessoas
(aquelas entre amigos ntimos). No primeiro caso, falamos de relaes
de centralizao baixas, enquanto no segundo caso, as relaes so
altamente centralizadas. No primeiro caso h ns com muitas relaes
e outros com muito poucas (ou ns marginais). Na anlise das redes os
conceitos de marginalidade e centralizao esto relacionadas com os
conceitos de poder em uma rede, e os ns com maior centralizao
(relaes mais entrelaadas) so considerados os de maior poder.
No marco da proposta Eco2, uma rede
social consiste em um campo de relaes
que as pessoas estabelecem em um
determinado espao e tempo. Neste
espao de encontros, as pessoas constroem
sua identidade e so reconhecidas pelos
demais em seu prprio contexto. Se esta
suposio verdadeira, ento, tambm,
pode-se pensar em uma rede social
como um sistema autopoitico (que se
autorreproduz), o qual reproduz no
somente sua estrutura, mas, tambm, seus
elementos. Por esta razo, os elementos
(os sujeitos) no tm uma existncia
independente uns dos outros, eles so o
produto do sistema. (Traduzido livremente
de Machin, Velasco, & Moreno, 2010:111).
!
"
#
$
!%
&
'
!(
!'
!)
!!
)%
))
)!
)(
)' !$
!#
!*
!&
!"
!)
%
!!
)
*
76 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
Lderes de opinio: primeira aproximao
O lider de opinio um papel social fundamental, em particular quando este
lider no formalmente reconhecido, quer dizer quando no foi eleito por um
cargo pblico (prefeito, representante do bairro, por exemplo). Dizemos que um
lder de opinio uma pessoa que tem poder de exercer infuncia sobre a opinio
de outra pessoa. Uma opinio o que uma pessoa pensa no momento no qual
toma uma deciso, uma deciso de qualquer tipo (pode ser um pensamento bem
articulado e consciente, uma fantasia, uma emoo conectada a um pensamento
no totalmente consciente, etc.). Ento, um lder de opinio uma pessoa que pensa
e, com o seu pensamento, exerce uma infuncia em outra pessoa no momento
que esta outra pessoa tem de tomar uma deciso. Esta infuncia pode ser direta
(explcita) ou indireta (implcita), consciente ou inconsciente. direta quando o lder
de opinio manifesta de maneira explcita sua opinio ao outro (mesmo que esta
manifestao tenha a inteno de infuenciar o outro ou no). indireta quando
o outro que utiliza a opinio do lder de opinio sem que este seja questionado. A
infuncia consciente quando o lder de opinio, intencionalmente, quer utilizar
sua opinio para infuenciar o outro ou quando este outro, intencionalmente,
procura ou utiliza a opinio de outro para orientar sua ao ou deciso.
Os tipos de liderana mencionados na tabela so s alguns dos exemplos
Alguns tipos e signifcados da funo de liderana
Nome Signifcado
Direto (explicito) Quando Antnio exerce sua infuncia sobre Belem de maneira
explcita, visvel, observvel
Indireto (indireto) Quando Antnio exerce sua infuncia sobre Belem sem que isto
seja explcito, visvel, observvel.
Consciente
(intencional)
Quando Antnio consciente que est exercendo sua infuncia
sobre Belem.
No Consciente (no
intencional)
Quando Antnio no consciente que est exercendo sua
infuncia sobre Belem
Formal Quando o papel de liderana tem um reconhecimento pblico
formal: prefeito, conselheiro, diretor da escola, polcia, doutor etc.
No formal Quando o papel de liderana no tem conhecimento ofcial (o
vizinho ao qual se pede conselho quando tem que tomar uma
determinada deciso)
Unilateral Quando Antnio infuencia Belem e Belem no infuencia Antnio
Recproca Quando Antnio infuencia Belem e infuenciado por Belem
77 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
de lideranas existentes e podem
combinar-se entre eles, por exemplo:
uma pessoa pode ser um lder que
exerce sua liderana de maneira direta,
inconsciente, no formal e unilateral.
Este tipo de liderana faz lembrar uma
pessoa com caractersticas narcisistas.
Esta anotao permite, ento, conectar o
conceito de liderana com o conceito de
personalidade e estabelecer uma relao
entre o conceito de personalidade e o
campo de relaes que a produzem,
permitem, favorecem, toleram etc.
Estabelece-se, assim, uma relao entre
o campo das relaes entre os ns
(redes), o campo das lideranas, aquele
das personalidades e, enfm, aquele do
comportamento ou de estilo de vida (o
fato de viver como excludo, de consumir drogas, etc.).
Tambm compreensvel que, em uma comunidade local, possa existir mais
de um lder de opinio (em geral so mais de um) e que estes lderes de opinio
estejam interligados uns com os outros (isto , constituem uma rede). Como recorda
Julia Haroka (Stanford University Department of Civil Engineering), tambm em
organizaes grandes e complexas existe um pequeno nmero de indivduos
que podem ter uma infuncia nos processos decisrios dos outros e que, por
consequncia, podem ter uma infuncia na difuso de certas maneiras de pensar
(opinies) (Tornatzky & Fleisher, 1990, p. 19).
Redes de lderes de opinio e excluso grave
Partindo ento do estudo das comunidades locais
com o uso do conceito de rede, entendeu-se como os
fenmenos de excluso social sejam os produtos das
redes de lderes de opinio, que do vida e organizam uma
determinada comunidade. Dito com mais clareza: em uma
comunidade local no haveria consumo de drogas se os
lderes de opinio que, com suas relaes contribuem para
Um papel-chave identifcado na investigao
sobre a difuso de opinies e inovaes
aquele do lder de opinio. Pode-se pensar que
um lder de opinio pode ser considerado um
lder no formal (Rogers & Agarwala-Rogers,
1976), e este se defne como um indivduo que,
com frequncia, infuencia as atitudes e os
comportamentos dos outros (Rogers & Kincaid,
1981). No s a habilidade tcnica que faz
de um indivduo um lder de opinio, mas,
tambm, o fato de que, para ele, existe confana
na medida em que representam as normas
do grupo (Leonard-Barton & Kraus, 1985). Por
outro lado, os lderes de opinio podem ser
considerados como se fossem brokers sociais,
quer dizer, pessoas que transferem informao
e relaes superando os limites (barreiras) das
redes e dos sistemas. Neste sentido, no so
lderes que esto em cima dos outros (no so
lderes pela sua forte centralidade), e sim lderes
que esto entre os indivduos [Burt, 1999].
Adotar uma tica de redes
signifca que os atores que
normalmente so chamados
grupos target ou benefcirios
fnais (consumidores de drogas,
crianas de rua, trabalhadoras
do sexo, mes consumidoras
de drogas com crianas etc.)
podem ser consideradas
tambm como redes e no
como indivduos ou grupos
separados de seu contexto ou
campo de relaes.
78 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
constituir essa comunidade, no o permitissem, o favorecessem ou intencionalmente
o produzissem. Podemos chegar at ao ponto de dizer que nenhum fenmeno
social acontece em uma comunidade local sem que seja a expresso de pelo menos
um lder de opinio e de sua rede subjetiva (constituda pelas pessoas que esto
interligadas a ele e que consideram sua opinio como importante deixam-se
infuenciar pela sua opinio). por esta razo que a entrada na comunidade pela
porta dos lderes de opinio (em particular os no formais) e de sua rede (suas redes)
considerada como caminho principal para o conhecimento da comunidade e para
a implementao de aes sociais que tenham sentido para a comunidade.
Quando observamos os projetos sociais, constatamos que a prtica
predominante enfocar a interveno quase sempre nos grupos-meta, os chamados
benefcirios fnais dos projetos ou dos programas: dependentes, mulheres, crianas
de rua, etc. Isso corresponde, ao mesmo tempo, s necessidades e polticas das
instituies fnanciadoras (sejam estas pblicas ou privadas, locais, nacionais ou
internacionais) e tambm a uma certa cultura que percebe os fenmenos sociais
como isolados dos contextos nos quais originam-se ou manifestam-se, como se
todas as causas e as consequncias se limitassem s fronteiras dos indivduos ou dos
chamados grupos de risco.
Uma das consequncias desta cultura que as equipes que trabalham no
campo so orientadas a iniciar suas atividades focalizando nos grupos-meta, que se
convertem na principal porta de entrada nas comunidades locais e na justifcativa
principal da ao social, aquela pela qual tem que demonstrar efccia, efcincia e
resultados. Que os grupos-meta so um dos atores fundamentais dos processos de
ao social quase bvio. No entanto, eles no so os nicos atores e, com frequncia,
no so os atores que tm mais peso na produo de sofrimento social. Por isso, faz-se
oportuno enfocar a ao a partir do mais amplo contexto da sade pblica, que ainda
no sufciente; necessrio que o horizonte dos direitos seja estendido mais alm
do alcance da sade pblica. Por outro lado, o trabalho
com redes - e especialmente o trabalho com redes de
lderes de opinio - se insere nos equilbrios do poder no
interior de uma comunidade. Por essa razo, pode ser
percebido como uma ameaa por parte dos mesmos
lderes. Resulta como consequncias facilitadoras e
confortveis para todos entrarem na comunidade pela
porta dos grupos-meta.
Supe-se que nem sempre possvel entrar na
comunidade pela via principal dos lderes de opinio e de
Quando se trabalha em
comunidades locais de alto risco
e alta vulnerabilidade, s vezes
no possvel entrar pela porta
que desejamos. Pode-se, nesses
casos, utilizar a porta que a
comunidade abre (os grupos-meta,
por exemplo), sabendo que o mais
cedo possvel teremos que chegar
a estabelecer um contato com as
redes que constroem e estimulam a
vida e a cultura comunitria.
79 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
suas redes. Entretanto, isso no libera os operadores da tarefa de construir, em pouco
tempo e com escassos recursos, as relaes-rede indispensveis para iniciar o trabalho
e, atravs destas, obter as informaes essenciais para planejar. Entende-se que, s
vezes, impossvel entrar nas comunidades pela porta das redes, e s fca aberta a
porta dos grupos-meta. Trata-se de uma porta que se pode cruzar sabendo que, se
no queremos continuar fortalecendo o jogo da persistncia e fcarmos constringidos
no micro mundo da excluso social, teremos que encontrar outras portas.
Construir um Dispositivo
Para a ao social (primeira parte)
O objetivo geral da fase de entrada na comunidade local
construir um dispositivo que permita trabalhar.
O dispositivo que se constri est composto por um
conjunto de redes e suas culturas, um conjunto organizado
de recursos locais (humanos e materiais) e uma base fsica
que concretiza a presena ativa do projeto nessa comunidade
(centro de escuta, centro de baixo limiar, a presena de territrios
comunitrios, etc.).
Dispositivos para o Tratamento Comunitrio
O consumo de drogas, a excluso e as estigmatizaes so possveis porque
existe um contexto exato que o produz,
que o favorece ou que o permite. Sem
este contexto, esses fenmenos no
seriam possveis. A hiptese sobre a
qual se baseia o tratamento comunitrio
que, se h contextos que produzem
os fenmenos de sofrimento social,
tem que ser possvel tambm construir
contextos que permitam reduzir,
conter ou diminuir sua infuncia. Na
linguagem do tratamento comunitrio,
mais amplamente na linguagem da
Na estrutura de um trabalho clnico, utiliza-se
uma palavra inglesa que permite diferenciar os
dois aspectos constituintes de um dispositivo.
Denominam-se set todos os elementos materiais
do dispositivo (lugar, estrutura fsica, equipamento,
vrios materiais para o trabalho, os recursos
humanos, etc.). Utiliza-se a palavra setting para
indicar os aspectos culturais: conceitos utilizados,
teorias implcitas para explicar os fenmenos (por
exemplo, para explicar a farmacodependncia),
os mtodos de trabalho e suas explicaes
(metodologia), as tcnicas e as prticas, os
programas de trabalho, etc.
80 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
reabilitao e do tratamento, temos o costume de chamar o contexto
do tratamento de dispositivos. Um dispositivo de preveno ou
tratamento composto por diferentes elementos: (1) as redes
comunitrias (incluindo os lderes de opinio no formais) e sua
cultura (os conhecimentos e competncias que eles tm sobre
preveno e reabilitao, sendo estas aprendidas atravs da vida
cotidiana (informalmente) ou tenha sido o resultado de processos
formais de treinamentos); (2) uma equipe, uma rede operativa, uma
minoria ativa; (3) uma base no territrio (um centro de baixo limiar, um
drop in, um territrio comunitrio, um centro de escuta, etc.); (4) um equipamento
mnimo para implementar as aes e; (5) um programa de trabalho com algumas
atividades (o fato de trabalhar a nvel no formal no signifca que o planejamento
no tenha que ser muito formal).
A construo, manuteno, a transformao do dispositivo constituem uma
atividade constante do tratamento comunitrio. importante tomar conscincia
destas caractersticas do dispositivo: nunca est acabado defnitivamente, dinmico,
sua funo servir de cenrio, de contexto para que cada ator possa jogar sua pea
e atravs disto entender-se e entender aos outros. So estes encontros entre atores e
suas histrias, nesse dispositivo, com essa cultura, esses valores que produzem uma
mudana (se necessrio) ou que reforam e do continuidade aos comportamentos,
s atitudes, s emoes e s representaes (quando isto oportuno).
Construir um dispositivo para a mudana
Uma parte do tratamento comunitrio consiste em construir, de maneira
participativa, o dispositivo para o tratamento. E atravs da participao neste
processo que a comunidade conhece, aprende, torna-se competente e capaz e
implementa aes de tratamento comunitrio. Este processo de trabalho chamado
investigao na ao. A proposta de investigao na ao espera que a equipe entre na
comunidade construindo o dispositivo, de maneira participativa, atravs da ao. Isto
vlido, tambm, para as equipes que esto trabalhando no territrio desde antes do
incio do tratamento comunitrio, o qual exige, com efeito, um dispositivo que tem que
construir-se intencionalmente. Os elementos indispensveis para ter um dispositivo
so: os atores, os conhecimentos, as atividades para produzir os conhecimentos, as
atividades que os conhecimentos produzidos sugerem aplicar (o programa), os recursos
materiais para produzir o conhecimento e as aes do programa. A participao de
atores comunitrios e de recursos comunitrios em cada um destes elementos um
81 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
dos fatores que permite que este tipo de abordagem seja chamada de comunitria.
Existem modalidades de trabalho de investigao na ao que tiveram
resultados positivos em termos de construo de um dispositivo para o
tratamento comunitrio.
Entre elas:
1 O trabalho de rua e da comunidade
2 As aes de engate (vinculao)
3 O trabalho com redes
4 As aes de construo do conhecimento
Estas aes constituem um sistema, isto signifca que interrelacionam-
se e infuenciam reciprocamente ainda que, por razes prticas, possam ser
aplicadas em momentos diferentes. Sugere-se, no entanto, considerar que
sendo estas aes um sistema, seria recomendvel a execuo simultnea.
Proceder com simultaneidade permite um respeito maior pelo fuxo da
vida comunitria e aproxima-se mais da maneira com a qual se constri o
conhecimento no nvel da vida cotidiana.
Trabalho de rua e comunidade
O Conceito e os Objetivos
O trabalho de rua em uma comunidade de alto risco o
instrumento principal de construo comunitria e de construo
participativa do conhecimento. Este diferencia-se das outras aes
sendo, na realidade, a base sobre a qual estas se apoiam. A rua
tambm a porta de entrada em uma comunidade: onde os habitantes podem
nos olhar, observar, estabelecer um contato conosco e ns com eles.
um lugar de distncias e intimidades, lugar onde se encontram os
corpos e suas linguagens, onde nascem as simpatias e as hostilidades. A rua
o cenrio da transformao ou da persistncia, a rua o lugar mais comum
que uma comunidade tem. Por isso, entrar pelas ruas tambm uma maneira
de participar e compartilhar, uma maneira de comear a estar ali.
O exemplo 8 pode constituir uma sntese das razes e modalidades de
execuo do trabalho de rua. Talvez no inclua tudo o que pode-se fazer e nem
respeite uma lgica formalizada, mas descreve o que acontece no trabalho
cotidiano, descreve a ordem natural das coisas, ilustra como os objetivos se
misturam (estabelecer contatos, solicitar informaes, ter uma atitude que
82 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
respeite as linguagens comunitrias, identifcar lderes, fazer diagnsticos,
etc.), fala de emoes, de estilos de interpretao, do papel do educador.
O principal objetivo do trabalho de rua conhecer a comunidade, ser parte
dela, contatar e manter esse contato com todos os habitantes das comunidades,
incluindo aqueles do grupo-meta, ou seja, os benefcirios fnais. Esse trabalho
uma das modalidades de contatar as pessoas, e nesse encontro nascem as relaes.
As relaes so um elemento fundamental do dispositivo, as relaes animam
o dispositivo. Ou seja, pode-se afrmar que o trabalho de rua consiste em viver a
comunidade local desde a rua.
Os Produtos
O trabalho de rua tem alguns
produtos tpicos, essenciais para o
tratamento comunitrio. O principal
produto a relao direta com todas
as pessoas que vivem na comunidade
e com os grupos mais excludos. A
partir destas relaes, e graas a elas,
se constroem outros produtos:
- a rede sub[etlva comunltarla do
operador;
- a rede operatlva,
!
"
#
$
!%
&
'
!(
!'
!)
!!
)%
))
)!
)(
)' !$
!#
!*
!&
!"
!)
%
!!
)
*
[exemplo 8]
Critrios para uma boa entrada na comunidade
Para uma boa entrada na comunidade necessrio que se faa antes um mapeamento do
local com o auxlio de algum membro da comunidade, que pode ser um jovem ou uma senhora
que mora h anos nesta rea. Em seguida, atravs dos dados coletados pela equipe, deve-se
fazer um levantamento das problemticas encontradas, habilidades e potencialidades. O mais
aconselhvel sempre comear pela parte boa, pelo que a comunidade mais gosta, pela msica
que mais se oua nos fnais de semana, os acessos, a assistncia que tem, os locais que mais fcam
pessoas conversando, at mesmo saber quem so os amigos e os inimigos daquela comunidade,
para que a equipe crie uma estratgia para trabalhar com os dois perfs de pessoas que h.
Um traje adequado, simples, ter um olhar discreto, dar um bom dia. No deve-se bater de
porta em porta em uma comunidade que sofre riscos com a polcia, no tira-se fotos dos locais
e das pessoas antes que crie-se um vnculo (uma confana do morador com voc).
No assustar-se ao ver cenas fortes, crianas usando drogas, violncia, entre outras coisas que
acontecem no dia-a-dia do Canta Sapo. Tambm no leva-se muito dinheiro e no deve-se
fcar olhando as pessoas de cima a baixo. No aparente ser melhor do que os outros. Sejam
iguais, porque na verdade somos iguais, apesar da condio de vida, todos tm oportunidades,
talvez uns j tiveram mais cedo, para esses outros, quem pode dar somos ns. [Brasil 2.2]
83 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
- a rede de recursos comunltarlos,
- a rede de lideres de oplnlao,
- as mlnorlas atlvas.
Com estes produtos possvel executar aes de tratamento comunitrio
(iniciando com a aplicao do SIDIEs) e, executando aes de tratamento
comunitrio, possvel conseguir, manter, reforar e alimentar esses produtos.
Recomendaes, boas prticas e riscos
Ressalte-se que um trabalho de rua de poucas horas dirias mais efcaz
do que muitas horas em apenas uma ou duas vezes por semana.
Durante esse processo, necessrio contatar as organizaes e grupos
que trabalham na rua, contatar os donos de negcios, lojas, etc., ou seja, todos
aqueles que, de alguma forma, vivem e recebem pessoas que vm da rua.
Devemos ressaltar que os comerciantes so um grupo-meta especial.
oportuno iniciar o trabalho de rua utilizando uma aliana com outros
atores ou sujeitos que j estejam fazendo um trabalho similar. Tambm
importante que seja escolhido um territrio limitado, que deve ser ampliado
muito lentamente, utilizando, para isso, uma estratgia de rede. O incio do
trabalho por meio da construo de uma rede subjetiva comunitria permite o
desenvolvimento de maior segurana, uma vez que o trabalho de rua implica
a presena do operador em zonas de alto risco. essencial que os atores
comunitrios saibam qual o sentido da presena dos educadores na rua.
Inicialmente, o trabalho de rua no possui um dispositivo de ao, o que
pode levar falta de clareza sobre o que deve-se fazer. O ponto aqui que,
normalmente, quando inicia-se um trabalho em uma comunidade, o educador j
tem uma tarefa a fazer ali. O trabalho de rua no tem uma tarefa especfca, e sim,
a de encontrar e construir relaes. isto o que pode criar confuso no comeo.
necessrio que, durante esse trabalho, seja mantida a tica na
comunidade, sob o risco de focalizar-se unicamente nos benefcirios fnais,
esquecendo-se de todo o resto da comunidade. Isso corresponderia a uma
institucionalizao da rua.
Aes de vinculao
O relato a seguir (exemplo 9) uma experincia concreta de uma
atividade que originalmente no era uma atividade de vinculao, mas que
pode ser utilizada como tal, porque satisfaz todos os objetivos e o conceito
84 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
de uma atividade de vinculao. Nos fragmentos que apresentam-se abaixo,
pode-se entender bem qual a aposta deste tipo de atividade. A atividade
consistiu-se em um trabalho comunitrio de limpeza de uma de suas reas.
Trata-se de um fragmento complexo onde cruzam-se atividades, motivaes,
nveis e resultados diferentes. Na seo que segue, onde encontram-se os elementos
conceituais das aes de vinculao e seus signifcados (objetivos, contedos, etc.)
podemos encontrar elementos que nos ajudam a ler esta complexidade.
Conceito, Objetivos e Processos
Depois de ter estabelecido o primeiro contato com os atores comunitrios e
com as pessoas, necessrio que esse contato fortalea-se e mantenha-
se no tempo. Em outras palavras, necessrio que esse contato se
transforme em relao e, se possvel, em relao de trabalho. Esta a
fnalidade das aes de vinculao: fortalecer o o contato estabelecido,
comear a construir um sentido e um contedo comunitrio (transformar
a ao pessoal em sentido comunitrio).
Um dos produtos das relaes de vinculao (seu produto
talvez mais importante) favorecer, fortalecer, manter, alimentar a
Mobilizao e Cidadania: Mutiro de Limpeza
[exemplo 9] Foram conversar com o proprietrio da casa de show que possui um carro de som. M. e R.
fzeram o contato com o poder pblico.
P. e L. organizaram o grupo dos meninos e meninas do projeto social. R. tambm fez contato com uma
jornalista que conseguiu a matria, no intuito de uma nova nota jornalstica no jornal local.
Impacto Social (afrmaes dos habitantes do bairro): T precisando mesmo: um absurdo as pessoas
jogarem lixo no Parque Ambiental!. Gente que faz isso raro. Achei bonita a atitude. Essa pessoa est
bem disposta. Boto f nele!. Eu que no vou limpar nada. Isso trabalho pra Prefeitura!. O bairro
estava precisando de gente como essa: disposta a conscientizar. Aqui em frente de casa, s vezes, tem um
cheiro horrvel. Lixo que jogam sem necessidade. O carro passa 3 vezes por semana!.
Avaliao da equipe e dos participantes: a parceria com o poder pblico enriqueceu nosso Mutiro
da Limpeza. Os meninos do projeto social esto muito interessados em contribuir para a execuo das
tarefas. Perguntam antecipadamente como podero contribuir para a prxima tarefa. Um funcionrio
do supermercado veio tambm participar do nosso mutiro.
As crianas acolheram melhor a nossa proposta, unindo-se a ns durante o mutiro. Alguns adultos
acolheram com indiferena. Amanh estar tudo sujo de novo, no adianta.
Um resultado: a Comunidade est percebendo que tem gente interessada no bem-estar de todos
e esto atuando para isso. E acredita que so educados, simpticos, pacientes para conscientizar. As
crianas esto entendendo melhor a importncia de manter as ruas limpas, no jogando lixo nenhum
no cho. [Brasil 2.3]
85 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
participao comunitria. No trata-se
s da participao nas atividades do
projeto, e sim de uma posio perante
ao que acontece na comunidade:
vencer a indiferena em relao as
difculdades da comunidade e de
alguns de seus atores.
As aes de vinculao so um
dos instrumentos privilegiados de
trabalho na investigao na ao e, por
consequncia, constituem a base do
trabalho de diagnstico comunitrio
(veja mais adiante a descrio de SIDIEs).
O objetivo imediato destas aes
realizar aes concretas de preveno
ou assistncia imediata, direcionada
a toda comunidade ou parte dela, ou a pessoas ou grupos pertencentes ao
grupo-meta, com o fm de melhorar suas condies de vida.
Pode-se alcanar este objetivo atravs da realizao das seguintes aes:
- Aes organlzatlvas. Lxemplo: fortalecer um grupo lnformal que dese[a
tornar conhecida sua posio a respeito de um assunto de utilidade
para a comunidade, organizar uma mesa de encontro e debate sobre
argumentos da vida comunitria, abrir um centro de baixo limiar;
- Aes na area da saude. Lxemplo: a[udar as pessoas a obter um reglstro
no Sistema Nacional de Sade;
- Lducaao nao formal. Lxemplo: organlzar teatro de rua no qual expllca-
se o uso correto do preservativo ou os riscos relacionados ao uso de
drogas;
- Anlmaao e aes culturals. Lxemplo: organlzar uma festa comunltarla
ou contribuir para as organizaes de festas comunitrias;
- Aes de asslstencla lmedlata. Lxemplo: partlclpar da llmpeza do
parque para que as crianas possam utiliz-lo para brincar, colocar um
banheiro pblico para os moradores de rua.
As atividades de vinculao tm um objetivo ttico, imediato, e um
objetivo estratgico de fundo. Porm, a longo prazo, tem que comear a
conseguir resultados desde o princpio. O objetivo ttico fazer, junto com a
comunidade ou com alguns de seus membros, algo que seja concretamente ou
[exemplo 10] Ao saber que a me de quatro
jovens havia esfaqueado o ex-marido e pai das
crianas e fazia intenso uso de crack, procurei,
com consentimento do Sr. H., o Conselho Tutelar e
solicitei ajuda para matricular as crianas na escola.
Todavia, sem resposta deste Conselho, procuramos
o Conselho Municipal dos Direitos da Criana e
do Adolescente e fomos orientados a apresentar
uma queixa na Vara da Infncia e Juventude, mas
no foi necessrio, pois o Conselho Tutelar visitou
a ocupao e, um ms depois, mes comearam
a fazer a matrcula das crianas nas escolas do
bairro. O fato acima, nos remeteu a mais uma
ao de vinculao, pois precisamos organizar as
famlias e conscientiz-las sobre a importncia da
participao na escola e condicionar a matrcula
ao atendimento no Ponto de Cultura inscrio nas
escolas. [Brasil 2.4]
86 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
simbolicamente til para a comunidade, de imediato. O objetivo estratgico
construir e fortalecer relaes que conduzam a construo de redes, sendo que
estas so o fundamento do dispositivo do Tratamento Comunitrio. Os objetivos
tticos sem os objetivos estratgicos so considerados assistencialismo cego.
Os objetivos estratgicos sem os objetivos tticos so como semear fumaa e
neblina (smog, diziam os ingleses).
Difculdades
As aes de vinculao so necessrias. importante que sejam
utilizadas para abrir o campo da ao e no para fech-lo. Isto acontece quando
concentramos todos os esforos unicamente na sua execuo.
As aes de vinculao podem focalizar a ao da equipe exclusivamente
sobre necessidades imediatas do grupo-meta, fazendo-a perder a dimenso
comunitria.
Podem ser tipicamente assistencialistas e, por consequncia, produzir
dependncia passiva.
Boas prticas e lies aprendidas
Realizar as aes de vinculao em aliana com outros atores comunitrios
(outra instituio e organizao, lderes formais ou informais, etc.).
As aes de vinculao so
uma excelente ocasio para construir
alianas com outros parceiros
(partners) na comunidade e com
outros atores comunitrios.
Favorecer sempre a
participao do maior nmero e da
diversidade mais alta possvel de
atores comunitrios.
Identifcar aes exatas,
pontuais, em resposta s demandas
manifestadas e utilizar o trabalho de
rua para identifcar estas demandas.
Os melhores resultados
obtm-se quando, em uma mesma
ao de vinculao, so encontrados
aspectos organizativos, de educao
[exemplo 11] A Madrugada Ativa.
Iniciamos, no ms de Janeiro de 2010,
uma parceria com o Poder Pblico, atravs
da qual desenvolvamos nossas atividades
nos Territrios Jovens, em dois bairros.
Atravs desta parceria, uma vez por ms,
a equipe promove a Madrugada Ativa,
com aes de cultura, lazer e esporte que
ocorrem s sextas-feiras, no perodo das
22h00 s 03h00 da manh. Tal atividade
tem a inteno de diminuir o uso de drogas
entre jovens de comunidades vulnerveis,
promovendo espaos saudveis de
divertimento.
A participao dos jovens daqueles bairros
era muito grande. Tambm realizvamos
as atividades de cinema, torneios de truco,
torneios de futebol, aulas de hip-hop, aulas
de ax, teatro de rua, todas voltadas aos
jovens e adolescentes das comunidades.
[Brasil 2.5]
87 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
no formal, de sade, assistncia imediata e animao sociocultural.
O resultado (produto) das aes de vinculao importante. Entretanto,
seu impacto (permanncia do efeito no tempo e produo de outros efeitos)
depende da qualidade do processo.
til que os benefcirios das aes de vinculao paguem por elas,
ainda que seja de maneira simblica ou atravs de servios comunidade.
As aes de vinculao no tm que ser realizadas s nas fases iniciais
de um projeto ou programa, e sim, periodicamente e repetidamente. A
necessidade de repetir devido ao fato que a participao comunitria um
resultado muito difcil de se conseguir, e a motivao para participar no
constante, vive fases que se alternam com altos e baixos.
Aes Organizativas
Um exemplo das aes organizativas pode ser a poltica de drogas
desenvolvida em um municpio brasileiro. Neste caso, considera-se que a
comunidade local corresponde dimenso de todo o municpio cidado.
Conceito, objetivo e processos
O sentido das aes organizativas contribuir para que os atores
comunitrios adotem formas organizadas de resposta s suas necessidades
ou problemas. Isto implica que, por um lado, reconheam-se e valorizem-se
as respostas que as comunidades locais esto produzindo e que enriquea-
se atravs de formas organizativas,
permitindo a articulao entre
atores, criando sinergias e alianas.
Isto , ter um campo comum
e organizado de respostas. A
fnalidade destas atividades pode
ser a organizao da demanda e
dos recursos comunitrios para
produzir um encontro maior entre a
demanda e oferta de servios.
Com respeito ao processo
de implementao, as aes
organizativas, como todas as
outras aes de vinculao, tm
Relaes
internacionais
Coordenadora
Tecnica Executiva
Tratamento Comunitrio
Consultrio de Rua
Tenda
Comunidade
Administrao
Secretrio
Gestor
da Informao
Coord. do Abrigo
Coord. da Repblica
Coord. da gerao de Renda
Coord. Creche
Finanas
RH
Presidencia
88 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
[exemplo 12] Poltica De Drogas
A poltica de drogas foi desenhada com base na proposta do tratamento comunitrio, isto , buscou conhecer as
redes e servios existentes no municpio e criou uma interao entre elas. Uma atuao articulada e complementar
que atuara em 10 bairros da cidade.
Os princpios fundamentais
1- Frequncia e permanncia: nos 10 bairros sero desenvolvidas atividades dirias por no mnimo 3 horas e estas
se repetiro.
2- Investigao: durante o processo de atuao, uma ouvidoria atuar para conhecer o diagnstico da cidade, no
que diz respeito s demandas, comportamentos e propostas.
3- Atuao em sistema e no atravs do servio: os servios, projetos e instituies so elementos da proposta que
devem se articular com as redes comunitrias, as redes operacionais e as redes subjetivas dos usurios.
4- Recursos: todas as situaes, grupos, instituies, sero transformadas em recursos fazendo assim um processo
gil de transformao.
5- Diversidade no grau de exigncia dos servios: oferecendo-se, assim, a possibilidade de maior aderncia da
populao de usurios do servio.
6- Acompanhamento integrado de casos: trs ou mais instituies e grupos comunitrios faro o acompanhamento
dos casos, ampliando, assim, a possibilidade de sucesso e diminuindo a resistncia dos usurios.
Objetivos Estratgicos
Sensibilizar e mobilizar todos os atores sociais envolvidos;
Reconhecer, formar e fortalecer as redes;
Articular os atores sociais, os recursos e servios comunitrios;
Oferecer oportunidades para que os indivduos que usam drogas encontrem alternativas para a redefnio do seu
projeto de vida e melhoramento da qualidade de vida;
Acompanhar e avaliar todas as intervenes atravs do gerenciamento integrado.
Atores da poltica
Equipe Volante: equipe que circula entre todas as comunidades e tem como principal funo a escuta e o diagnstico.
Equipe Local: so os atores da comunidade e atuam como base para a proposta de ateno comunitria.
Equipe de Apoio: so as instituies que j existem no municpio como Comunidades Teraputicas, CAPS AD,
ambulatrios, hospitais, etc.
Atividades:
Mapeamento e articulao entre redes.
Consultrio de Rua: realiza uma rotina de atividades e intervenes psicossociais e educativas na rua, junto aos
usurios de drogas. Distribuem preservativos, cartilhas e material instrucional.
Escuta-Tenda: uma tenda montada em cada comunidade com psiclogo e assistente social, duas vezes na semana
para escuta local.
Redutores de danos: grupo de redutores que desenvolvem atividades de acolhida e informao a usurios de drogas.
Teatro: grupo de teatro que atua nas comunidades e nas escolas.
Atuao Interdisciplinar: Comit Gestor
Um grupo intersecretarial receber uma formao em gesto integrada de casos e, a partir deste momento, passar
a desenvolver atividades de superviso do trabalho da rede.
Fases da implementao
Fase 1: formao dos atores locais, volantes e apoio
Fase 2: mapeamento e diagnstico comunitrio
Fase 3: mobilizao e integrao de atores
Fase 4: atividades da equipe volante
Fase 5: implantao das tendas-escuta
[Brasil 2.6]
89 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
objetivos tticos e objetivos estratgicos. No exemplo reproduzido no incio
desta seo, pode-se considerar que o objetivo ttico executar aes de
tratamento comunitrio no municpio. O objetivo estratgico construir uma
rede de recursos comunitrios, na qual se incluem os setores institucionais
(setor pblico), as instituies da sociedade civil e os recursos comunitrios
no enquadrados em entidades institucionalizadas (os cidados com
conhecimento, habilidades, capacidades, vontade e motivao para trabalhar
de maneira organizada).
Recomendaes, Difculdades e Boas Prticas
Em geral, difcil encontrar uma comunidade local na qual no exista
nenhuma forma de resposta organizada (instituies pblicas ou organizaes
da sociedade civil). Aquilo que menos frequente encontrar que existam formas
organizadas de resposta dos grupos mais excludos e expostos situaes de alto
risco. Ainda menos frequente encontrar experincias e modelos de resposta
nos quais encontrem-se associados e aliados atores das instituies do Estado,
das organizaes da sociedade civil e dos grupos de populaes excludas. O
problema que enfrentamos sempre o mesmo: combinar processos de cima
para baixo com processos de baixo para cima.
Em consequncia, pode-se pensar que uma das formas para produzir
estas sinergias pode ser: (1) construo da rede de recursos comunitrios
(ver mais adiante a seo sobre redes); (2) formalizao de agrupamentos de
pessoas excludas que existem na comunidade; (3) encontro entre grupos de
excludos e prestadores de servios.
A organizao das populaes excludas um passo necessrio na
construo de um dispositivo de tratamento comunitrio. O fato que estas
populaes no estejam organizadas uma das caractersticas de base de
serem excludas. O fato de poderem organizar-se permite que o encontro
entre demanda de servios e oferta se d em um nvel de igualdade, e no de
dependncia assimtrica.
Neste trabalho de organizao local, prudente levar em considerao
algumas difculdades. Os territrios de alto risco so tambm territrios de
alta organizao local (ainda que isto possa no aparecer); no entanto, esta
organizao responde aos interesses de poucos lderes locais. impossvel
produzir uma organizao sem produzir liderana. importante que os
educadores utilizem sua liderana para favorecer o processo, no para
apoderar-se dele.
90 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
Boas prticas observadas:
- Se a organizao de grupos informais baseia-se em prticas concretas,
necessidades claras, manifestas, alcanveis, etc., mais provvel que os
resultados sejam positivos.
- Combinar trabalho organizacional com trabalho de educao no
formal permite que as pessoas entendam o sentido da organizao que se
constri e estejam conscientes de seu impacto nos resultados das aes.
- Articular estes tipos de aes com o SIDIEs e vice-versa. Quando
criam-se organizaes novas, estas encontram resistncias e oposies de
organizaes antecedentes. O papel da equipe de mediao e apoio para
fortalecer sinergias e diminuir o impacto dos narcisismos dos atores locais
(necessrios na fase de formalizao, mas danoso na fase de interconexo com
outros atores locais).
Constataes: o trabalho organizativo indispensvel e toma muito
tempo. Os melhores resultados obtm-se quando, em uma mesma ao de
vinculao, encontram-se aspectos organizacionais, de educao no formal,
de sade, assistncia imediata e animao sociocultural.
Aes na rea da Sade
Reproduzimos uma ao de vinculao na rea da sade: a distribuio
de preservativos em uma comunidade local de trabalho sexual.
[exemplo 13]
Objetivos: Distribuio de preservativos durante a semana. Educar os usurios sobre
o uso e o cuidado que se deve ter com o preservativo. Trabalho de rede para favorecer
o abastecimento de preservativos. Distribuio de folhetos informativos e materiais
educativos na rea da sade sexual.
Descrio do processo: So distribudos preservativos (quatro por pessoa), duas ou trs
vezes a semana, entre 10 e 15 usurios de drogas por vez. Usa-se um registro de cada usurio
a quem se d preservativos com seu nome, idade, sexo, quantidade de preservativos, data
e assinatura. Tm-se convnios com o Poder Pblico, que fornece os preservativos. Faz-
se uma ofcina sobre o uso correto do preservativo. So distribudos folhetos, os quais
informam o cuidado e o uso correto do preservativo e preveno de DST.
Grupo-meta: Pessoas gravemente excludas, consumidoras de drogas, que moram na rua
ou em risco de rua, que tm relaes sexuais em contextos de risco, sem proteo e sob o
efeito de drogas.
Difculdades: No trabalho de preveno universal, indicada e seletiva de DST e HIV,
a distribuio de preservativos difculta-se pela falta de fornecimento por parte das
instituies encarregadas. Estas instituies tambm padecem da falta de preservativos de
91 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
distribuio gratuita.
Boas prticas: Distribuir preservativos duas vezes por semana. Vinculao com instituies
que os forneam. Fazer esta atividade de maneira constante e rotineira e estabelecer, aos
usurios, tambm o hbito do uso do preservativo.
Lies aprendidas: No trabalho com pessoas em situao de vulnerabilidade social, com
consumo de drogas, as atividades sexuais so muito contnuas, principalmente entre os
jovens. Portanto, a distribuio de preservativos contnua deve ser acompanhada de uma
investigao, acompanhamento e educao sobre a sexualidade.
[Mxico 2.4]
Conceito, objetivos e processos
O principal objetivo das aes de vinculao nessa rea melhorar as condies
de sade das pessoas gravemente excludas e expostas a altos riscos, particularmente
crianas e mulheres. E justamente pelo trabalho de rua que se identifcam quais
as necessidades mais importantes desse pblico. importante ressaltar que, nesse
processo especfco, devem ser desenvolvidas aes, mesmo que no identifcadas
nas demandas explcitas da populao excluda como, por exemplo, preveno de
HIV-AIDS, preveno de DSTs (doenas sexualmente transmissveis), orientao sobre
uso seguro de drogas, sexo seguro, autoproteo contra abuso sexual (menores e
mulheres) e orientao para alimentao, em particular para as crianas.
Recomendaces, difculdades e boas prticas
importante, nesse percurso, ter uma assessoria mdica ou de enfermaria,
assim como possuir uma conexo direta e efcaz com um centro de sade ou
hospital prximo. Recomenda-se, tambm, articular esses tipos de ao com o
SIDIEs e vice-versa.
indispensvel que os educadores tenham um conhecimento tcnico de
bom nvel (no especializado necessariamente) sobre HIV-AIDS, DSTs, prtica de
sexo seguro, drogas (tipos, efeitos, uso seguro), primeiros socorros, consequncias
psicolgicas de abuso sexual grave e violncia
grave (especialmente contra mulheres e
menores), bem como de gesto de situaes
ps-traumticas. Tambm necessrio ter um
equipamento mnimo de auxlio sade como
desinfetantes, algodo estril, preservativos,
gua destilada, seringas, gazes, curativos, etc.
As aes de vinculao na rea da sade
encontram difculdades comuns, como
vencer as resistncias culturais, ideolgicas,
92 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
psicolgicas para certas formas de ajuda preventiva (assistncia e educao).
Tambm comum encontrar difculdades para ter-se uma colaborao efcaz e
efciente por parte de instituies ou atores de sade locais.
Percebe-se, nesse campo, que quando se resolve a situao de emergncia
na qual a pessoa est inserida, ela tem a tendncia de voltar situao de risco.
Por esse motivo, essencial articular a ao na rea da sade com um processo de
educao bsica. Deve-se atentar para que as aes nessa rea no modifquem
a estratgia de trabalho da equipe, produzindo um descolamento da inteno
original, que o fator educativo (educao no formal). Por esse motivo,
fundamental que sejam defnidos claramente os limites das aes de assistncia.
As aes de vinculao na rea da sade envolvem servios que so
essenciais para a melhoria e manuteno da qualidade de vida das pessoas
gravemente excludas ou em situao de violncia extrema.
As palestras sobre diversos temas de sade, realizadas pela equipe de trabalho,
visam garantir o acesso da comunidade informao, preveno e sensibilizao da
demanda. Tambm podem ser realizadas terapias em grupo sobre lcool e drogas,
bem como implantados grupos de autoajuda, onde tambm so realizadas, pelos
parceiros, outras aes de sade como aferio de presso, exames de diabetes, etc.
As aes na rea da sade demonstram timos resultados, como
aumento no uso de preservativos por parte da comunidade em decorrncia da
acessibilidade e boa adeso das pessoas s palestras e aos grupos. desejvel que
sejam fortalecidas as aes em conjunto com o Poder Pblico e universidades,
bem como o acompanhamento conjunto de casos de sade complexos.
Aes e processos de educao no formal
Apresenta-se, aqui, uma atividade de educao no formal que pode ser
utilizada como atividade de vinculao em uma comunidade local. uma boa
prtica de aprender a empreender fazendo uma atividade produtiva em uma
comunidade aberta.
[exemplo 14] Gerando Renda
Conceito: Incluso social abrange, tambm, incluso econmica. importante que
se reconheam as habilidades e potencialidades individuais e comunitrias, a capacidade
destas potencialidades articularem com as potencialidades do outro e com os recursos
comunitrios. A incluso econmica inicia-se no processo de reconhecimento de habilidades e
na concretizao desta habilidade atravs de um servio ou um produto. Gerar renda poder
perceber que sua habilidade tem valor para outros.
93 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
Processo: A tarefa consiste em realizar uma ao empreendedora de gerao
de renda criada pelos prprios participantes. A atividade dever ser planejada e
executada durante uma semana e dever, alm de gerar renda, ter impacto social e
ambiental no bairro.
As experincias: Combinamos realizar um bazar e um bingo. Nosso amigo
L., dono da sapataria, nos ofertou muitas sandlias. Nossos amigos R. e J. tambm
doaram algumas roupas e sapatos. A equipe foi logo ao bairro, perguntar se o pessoal
aceitava fazer o evento no meio da rua, utilizando a calada da frente de algumas casas.
Todo mundo acolheu. Combinamos com o C. para ver a iluminao e com o DJ para
ajudar no som. A L. tentou conseguir tocadores para que as cantoras cantassem, mas
acabamos sem ter msica ao vivo, porque no dia teve um velrio bem pertinho. Por este
motivo, adiamos. Os meninos do Projeto se prontifcaram a divulgar e vender os cartes
de bingo. A ONG levou as cadeiras, TV para passar ao pessoal a apresentao da tarefa,
com DVD, caixa de som e microfones. Pedimos emprestadas as peas para gritar o bingo.
Esta atividade nos ajudou. [Brasil 2.7]
Conceito, objetivos e processos
O objetivo dessas aes realizar breves processos de educao
no formal em reas de necessidades defnidas junto com os membros da
comunidade ou de um de seus grupos: jovens, mulheres, idosos, etc., devendo
ser articuladas a partir de solues ou respostas concretas s necessidades
deste grupo.
A partir da identifcao de uma necessidade especfca, inicia-se a
construo participada de um processo de educao no formal, por meio de
jogos, animaes, teatro, vdeos, discusses, dilogos, visitas guiadas, etc., e de
instrumentos como panfetos, fotos, materiais para explicar e ilustrar situaes
e casos, etc. necessrio manter uma avaliao constante durante o processo
e ao fnal dele.
Recomendaes, difculdades e boas prticas
Deve-se utilizar o trabalho de rua e a relao informal como uma estrutura
privilegiada da educao no formal, bem como levar em considerao problemas
ou situaes concretas, bem defnidas, limitadas e observveis. A experincia ou
iniciativa deve ser difundida para outros atores da mesma comunidade. muito
interessante que os benefcirios fnais do processo participem diretamente da
fase de planejamento e de construo do processo e dos instrumentos utilizados,
alm de se deixar sempre os resultados positivos muito evidentes para todos.
Essas aes devem ser articuladas com o SIDIEs e vice-versa.
Devemos deixar claro que na educao no formal (que tem relao
com o dispositivo), o mtodo e a linguagem tm resultados positivos se
94 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
respondem a uma necessidade imediata, atual e bem defnida da pessoa ou
a uma ao que ela est fazendo naquele momento. Deve-se observar que os
benefcirios fnais esto mais acostumados a receber ajuda do que a participar
da construo de respostas, assim como as equipes esto mais acostumadas
a dar respostas do que trabalhar junto com os benefcirios fnais e, com
eles, encontrar as respostas. O ideal que a resposta seja encontrada nessa
interao entre equipe e benefcirios fnais, impedindo que a avaliao das
necessidades educativas da comunidade seja o produto da leitura da realidade
feita exclusivamente pela equipe.
Tambm notvel que os operadores com alto grau de formao
profssional podem ter tendncia a formalizar os processos e dispositivos
utilizados na educao no formal, prejudicando o alcance da realizao desta.
Algumas aes de educao no formal devem ser desencadeadas
incentivando a aprendizagem atravs da utilizao de espaos cotidianos,
melhoria da autoestima, facilitando o acesso informao e cultura, diminuindo
o analfabetismo, despertando competncias e habilidades, incentivando a
leitura e o retorno escola formal, entre outros benefcios.
So aes de educao no formal que podem ser aplicadas: ofcinas de
capacitao e reaproveitamento de materiais reciclveis, cursos de panifcao,
palestras scio-educativas, rodas de conversas, reunies com grupos, ofcina
de rdio, jornal mural, cruzadinha, bibliotecas e revistecas, aulas para incluso
digital, aprendizado no formal em atividades domsticas e educao ldica
em brinquedotecas.
Na rea das aes de educao no formal, encontramos tambm
problemas que precisam ser enfrentados, como a difculdade para sensibilizar
os membros da comunidade a participarem das atividades, difculdades
para conseguir recursos para manter as aes e difculdades para envolver
educadores nesse processo.
Animao e iniciativas culturais
Conceito, objetivos e processos
As atividades culturais so o contexto no qual se
pode ver como uma comunidade vive o que efetivamente
comum, o que pode ser posto em comum, aquilo que faz
desse agrupamento de pessoas uma comunidade. O que
tem em comum? Rituais, mitos, contos, representaes de
si e de outros, possibilidades admitidas de transgresso,
95 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
transgresses no permitidas na vida cotidiana, valores, antivalores, sentidos
e sem sentidos, o prazer e suas formas, tambm a dor e suas formas, tristeza
e gozo, os dramas, a inimizade e a amizade, a excluso, a estigmatizao, a
incluso e a cura, o gnero e suas diferenas, a sexualidade, os corpos, seus
desejos e seus temores, o nascer, viver e morrer, o que transcende o cotidiano
e o imediato, o simblico. As celebraes culturais (festas e rituais religiosos
e civis, de gangues, grupos ou redes, ou de toda a comunidade, etc.) so as
maneiras principais de fazer as comunidades ou de mud-las, se necessrio.
Por esta razo, o motivo (objetivo) principal das atividades culturais
construir, manter, fortalecer, curar e sanar a comunidade. Se falamos de
tratamento comunitrio, ento as formas culturais da celebrao, dos rituais e
dos jogos religiosos e civis podem ser as terapias mais indicadas.
A equipe e a rede operativa podem viver estes processos de duas formas.
A mais simples participar ativamente da implementao das atividades
culturais, recreativas, etc., que cada comunidade local tem, sendo estas
realizadas junto s famlias, ao bairro ou a comunidade inteira. Atravs da
participao nestas atividades, os membros da equipe e da rede operacional
so reconhecidos. Eles constroem sua identidade como pertencentes a essa
comunidade e, talvez, como lderes no formais da mesma. A mais complexa
a de propor atividades culturais e recreativas. Isto pode ser possvel desde o
inicio, no entanto, mais indicado primeiro participar da vida da comunidade
antes de propor este tipo de atividade.
Recomendaes, difculdades, lies aprendidas
interessante, como componente do processo, que sejam promovidas
formas de animao (como teatro de rua, jogos, etc.), por meio das quais se
proponha a elaborao de alguns dos temas populares identifcados na
cultura daquela comunidade (como a relao homem x mulher, educao das
crianas, abuso de lcool e outras drogas, etc.).
Tambm interessante que membros do grupo-meta (benefcirios
fnais) sejam includos no planejamento e na realizao dessas iniciativas, que
devem ser experincias de educao no formal.
Temas emergentes e fortes na vida comunitria, como a morte, o
nascimento, a famlia, a violncia, a relao com instituies, so veiculados por
processos de elaborao cultural comunitria, dos quais importante participar.
Esses temas e formas de elaborao devem ser elementos essenciais de iniciativas
de animao propostas pela equipe (como teatro popular, por exemplo).
96 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
importante articular esses tipos de aes de animao e demais
iniciativas culturais com SIDIEs e vice-versa.
Observamos que a equipe profssional pode ter freios ideolgicos
ou preconceitos exagerados em relao s formas culturais populares,
prejudicando a capacidade da equipe de absorver os elementos culturais daquela
comunidade e a implicao destes elementos nos processos de animao.
Essas aes de animao e cultura podem ser, por exemplo, festividades
culturais tpicas, cujo objetivo fortalecer a cultura popular, como festa junina,
dia das mes, Natal, etc., ou atividades de entretenimento de cunho educativo,
como, por exemplo, cruzadinhas, sesses de flme, grupos de msica, dana,
teatro, jogos, etc.
A participao em campeonatos, visitas a musicais e teatros, o incentivo
espiritualidade e comemorao de datas especiais so, tambm, formas
de ao cultural que podem ser incentivadas. Nesse processo, interessante
trabalhar conceitos de maneira ldica, buscar a ampliao do acervo cultural
e o resgate da prpria cultura. H difculdades que precisam ser superadas,
como, por exemplo, incentivar a comunidade a participar das aes culturais,
bem como articular o grupo com a comunidade local para o desenvolvimento
de aes de animao cultural.
Aes de assistncia imediata
[exemplo 15]
Quatro vezes por semana vem uma organizao da igreja crist que, h
anos, entrega comida aos habitantes de rua na comunidade. Eles fcam ali na
esquina, os habitantes da rua chegam, fazem fla e recebem sua comida. Depois
de meia hora, vo embora. Mais tarde, na grama do parque, ao redor das rvores
ou diretamente no cho da rua, h pratos meio vazios, comida jogada no cho.
Os vizinhos reclamam faz tempo. Pensamos em nos reunir com essa organizao
e falar sobre o assunto. Concordamos com eles que eles garantiam a comida e ns
garantamos que os habitantes da rua pudessem lavar as mos antes de comer,
que recebessem comida os que efetivamente precisassem e que, pouco a pouco,
no houvesse desperdcio de comida. amos, tambm, procurar umas bolsas para
recolher o lixo, de maneira que o parque fcasse limpo. Enquanto os habitantes
estavam na fla, esperando sua vez, tnhamos a possibilidade de falar com eles, de
saber sobre sua condio, de convid-los ao centro de baixo limiar e de informar
sobre as atividades que fazamos. Foi um bom acordo. Esta atividade transformou-
se em um momento no qual a comida era uma coisa necessria e, ao mesmo tempo,
um pretexto para fortalecer o trabalho de rua e o contato com as pessoas da rua e
toda a comunidade. [Mxico 2.5]
97 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
Conceito, objetivos e processos
Em todas as comunidades de alta excluso e vulnerabilidade existem
necessidades urgentes que tm que ser atendidas de forma efcaz. Estas
necessidades precisam tambm da resposta imediata. Quando falamos de
atividades de assistncia imediata, referimo-nos a este tipo de necessidade
que esto aos olhos de todos.
Constatamos, por outro lado, que estas necessidades s vezes so
atendidas. No entanto, a maneira com a qual so atendidas produz efeitos
colaterais que, em vez de resolver a necessidade, criam outras. A consequncia
que no se trata somente de enfrentar e dar respostas claras e efcazes a
estas necessidades, mas tambm evitar produzir efeitos colaterais que levam
s outras necessidades, s quais tem que responder.
s vezes, o simples desejo de ajudar uma iluso que cria outras iluses.
O desejo de ajudar deve ter uma base slida na rede de recursos comunitrios.
Recomendaes, boas prticas e difculdades
A melhor forma de ajuda imediata a presena, a escuta, a disponibilidade
de ajudar, a busca conjunta de uma resposta entre a equipe e o benefcirio fnal.
Contudo, em alguns casos, difcil distinguir entre a necessidade real e a necessidade
fctcia. Quando se identifca uma necessidade real, deve-se buscar orientar e
informar a pessoa portadora dessa necessidade, fortalecendo uma relao com ela, e
acompanhar o processo de forma que a necessidade daquela pessoa (sua demanda)
encontre uma resposta. A ao deve ser completada com um acordo verbal de se
manter o contato. Deve-se tomar cuidado para que as aes de assistncia imediata
no produzam ou reforcem o assistencialismo e a dependncia passiva.
Na fase inicial das aes
de assistncia imediata, deve-
se privilegiar o uso de recursos
comunitrios, mais do que de
recursos prprios.
O atendimento das
necessidades emergenciais
deve sempre ser encarado
como apenas uma etapa
de um processo mais
amplo. Vemos que algumas
necessidades dependem de
98 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEGUNDO
aes mais amplas e de respostas atravs de polticas pblicas, pelas quais se
devem trabalhar.
interessante que algumas alternativas sejam construdas em conjunto com
os benefcirios fnais das aes. Esse ato pode impedir que ocorra acomodao
dos benefcirios na busca de respostas a problemas do dia-a-dia. Em muitos casos,
eles percebem as aes, equivocadamente, como favores, e no como direitos.
Bibliografa
Burt, S. R. (1999, November). The social capital of opinion leaders. Annals
of the American Academy of Political and Social Science.
Rogers, E. M., & Agarwala-Rogers, R. (1976). Communication in
Organizations. New York: The Free Press.
Tornatzky, L. B., & Fleisher, M. (1990). The process of technological
innovation. Lexington MA: Lexington Books, Heath and Company.
99 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
AES DE CONSTRUO DO DISPOSITIVO
SEGUNDA PARTE
Captulo 03
100 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
ndice do captulo
O Encontro com a Comunidade................................................................00
De onde vem a demanda da Ao Social .......................................................................00
Entrar, Encontrar, Estar Na Comunidade
Encontrar Na Comunidade
Redes: Portas Principais de Entrada em uma Comunidade ..........................................00
Conceito de Rede: Primera Aproximao
Lderes de Opinio: Primera Aproximao
Redes de Lderes de opinio e excluso grave
Construir Um Dispositivo Para A Ao Social (Primeira Parte)
Dispositivos Para O Tratamento Comunitario
Construir Um Dispositivo Para A Mudana
Trabalho De Rua E Comunidade
O conceito e os objetivos
Os produtos
Recomendaes, boas praticas e riscos
Aes De Vinculao
Conceito, objetivos e processos
Difculdades
Boas Praticas e lies aprendidas
Aes organizativas
Conceito, objetivo e processos
Recomendaes, Difculdades e Boas Prticas
Aes na rea da sade
Conceito, Objetivos e processos
Recomendaces, difculdades e boas prcticas
Aes e processos de educao no formal
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difcultades e boas praticas
Animao e iniciativas culturais
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difculdades, lies aprendidas
Aes de assistncia imediata
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, boas prticas e difcultades
101 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Conceito
Ao entrar na comunidade, necessrio criar um cenrio
de segurana mnima onde se possa trabalhar, pois, em
situaes de extrema excluso, violncia grave, pobreza,
organizao social baseada em processos de resilincia e sobrevivncia, pode ser
impossvel iniciar aes que garantam a segurana do prprio operador, da pessoa
ajudada da comunidade e dos resultados.
Este cenrio de segurana mnima uma das caratersticas fundamentais
daquele produto que chamamos dispositivo ou set, em referncia a um
conjunto de elementos que permitem a resposta da pergunta: com quais recursos
o operador pode fazer o que deseja fazer, fcando seguro ele e as pessoas com as
quais ele vive, a experincia do fazer juntos?
O trabalho na comunidade foi iniciado porque nenhuma organizao
ou instituio pode resolver sozinha os problemas que se encontram em
uma comunidade. O tratamento comunitrio parte do princpio que s com a
participao da prpria comunidade e com seus recursos, possvel melhorar
algumas de suas situaes e suprir, de forma positiva, algumas de suas necessidades.
Na proposta do tratamento, se considera a comunidade como um
conjunto de redes que se interrelacionam, tambm, como um sistema. So
essas redes e suas lgicas de interrelaes que compoem os principais recursos
de uma comunidade, o seu dispositivo.
O tratamento comunitrio tratar de construir um conjunto de redes que
permitem que as aes em prol da melhoria da comunidade sejam realizadas,
e apresentem no s resultados positivos para os benefcirios imediatos, mas
tambm para toda a comunidade. A existncia de um dispositivo que funcione o
primeiro resultado e o primeiro impacto na comunidade.
Boas prticas
Entendemos que as redes so os fundamentos do dispositivo de trabalho,
da mesma forma que elas foram fundamentais no dispositivo de produo do
O ENCONTRO COM A COMUNIDADE
Um dispositivo seguro
102 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
sofrimento social, da excluso em todas as suas formas.
oportuno considerar as redes comunitrias que constituem o dispositivo
do tratamento como se fosse nossa casa. Nossa casa tem que ser limpa e
reorganizada todos os dias. Todos os dias temos que fazer, pelo menos, uma
ao de limpeza e reorganizao. Pelo menos arrumar a cama, os pratos onde
comemos. E, pelo menos uma vez por semana, varrer o cho, lavar a roupa.
Fazer essas aes da vida cotidiana permite que nossa casa seja acolhedora,
fcil de viver, um lugar onde possamos receber os nossos amigos e amigas,
fazer festas e viver o nosso dia-a-dia.
A nossa casa feita de materiais que podem ser afetados pela chuva, o
calor e o frio e, tambm, pelo nosso descuido. s vezes necessrio reparar as
coisas que se quebram. Se uma gota de gua cai do teto e no controlamos
imediatamente, em poucos dias se transforma em um jato que inunda tudo
e o desastre maior. Temos que subir no teto, ver qual o problema, trocar o
telhado se for necessrio. E temos que trocar rpido.
Quando nasce um flho, necessrio acrescentar um quarto, dividindo
em dois o j existente, reorganizando os espaos e redistribuindo os
equipamentos (mesas, cadeiras, camas, etc.). Nossa casa no um objeto fxo,
viva, dinmica, embora s vezes se mexa lentamente.
As redes que constituem nosso dispositivo de trabalho so como a
nossa casa: precisam de cuidados cotidianos e cuidados adicionais, precisam
ser limpas, reorganizadas e, quando se quebram, so necessrios repararos
e, quando for preciso, devemos reestrutur-las, modifc-las ou produzir
novas. Este o nosso trabalho de todos os dias: cuidar, proteger, fortalecer,
desenvolver e reparar o dispositivo de trabalho.
Quais redes
Mencionamos que as redes so construdas desde o momento em que
colocamos o primeiro p na comunidade. Este ser o sistema de alianas que
favorecem e fortalecem as aes concretas de servios prestados pelos operadores
aos benefcirios fnais (grupo-meta). A construo do dispositivo/rede deve seguir
alguns passos que sero convenientes respeitar na ordem que se ilustrar daqui
a pouco. Ao mesmo tempo til levar em considerao, como observamos em
outros momentos, que as coisas na vida real do trabalho comunitrio acontecem
todas ao mesmo tempo, ento pode ser difcil respeitar os passos do processo.
103 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Por esta razo, ainda que a recomendao de continuar o proceso segue
sendo vlida, recomenda-se tambm saber adaptar-se fuidez dos contextos
de vida. Porque esse rio corre pela sua prpia fora e ns temos que aprender
a navegar no seu leito.
A consequncia que os passos do processo que ilustraremos so um
mapa mental que serve aos operadores para orientarem-se no seu trabalho,
para reorganizar os contatos, as relaes e dar um sentido em funo do
dispositivo que necessrio produzir para poder trabalhar.
No momento que falamos de redes nos referimos a cinco, dentre elas:
- A rede sub[etlva comunltarla
- A rede operatlva
- A rede de recursos comunltarlos
- A rede de lideres de oplnlao nao formals
- A mlnorla atlva.
Neste captulo temos presente alguns elementos do processo que
conveniente seguir para construir estas redes, deixando a descrio detalhada
dos exemplos para os captulos seguintes deste livro e tambm no livro sobre
ferramentas de trabalho.
Advertncias
necessrio enfatizar que uma comunidade um cenrio vivo, com
atores que ocupam a cena e que no esto, necessariamente, esperando a
entrada de novos atores, sendo que esses ltimos podem ser identifcados
como ameaa pelos primeiros. s vezes, a necessidade de segurana da equipe
pode produzir alianas com redes que acabam desvirtuando ou bloqueando
o processo, impedindo o contato da equipe com outros tipos de redes, sendo
este um problema que deve ser enfrentado.
Porque redes e no grupos? Qual a diferena?
Trabalhar com redes no uma estratgia recente. Na realidade, esta
ideia comeou na metade dos anos 30, h quase noventa anos.
Por qual motivo comearam a trabalhar com redes? Porque as pessoas
que estavam estudando os fenmenos sociais e que tratavam de aplicar aes
sociais (por exemplo, nas grandes migraes da poca) perceberam que havia
fenmenos nos quais estavam envolvidos grupos de pessoas que no podiam
104 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
ser chamados grupos. Eram demasiadamente
instveis, em constante movimento, sua dimenso
aumentava e diminua, mas suas relaes
pareciam ser mais constantes, como se fossem
as relaes para ter juntas as pessoas e no as
pessoas relacionando-se para poder estar juntas.
Os mundos dos quais trabalha o tratamento
comunitrio so mais parecidos aos mundos
que estudavam os antroplogos da escola de
Manchester que produziram, nas cincias sociais,
os conceitos, as teorias e os mtodos que eles
mesmos chamaram social networks (redes
sociais). Trata-se de mundos nos quais as pessoas
vo e vem continuamente, movem-se entre
espaos e mundos culturais diferentes, cidades, povos e esto envolvidos em
mundos de relaes interpessoais em mutao, interligadas e contraditrias.
Essas pessoas desenvolvem muitas funes que atravessam diferentes grupos
e instituies e se estendem em diferentes reas do social e pela ausncia
de referncias e critrios homogneos de comportamento combinam-se de
maneira sempre diferente, com frequncia, entre confitos. (Piselli, 2001, p. xii).
Entre os aspectos relevantes da
investigao sobre redes mencionam-
se dois aqui: (1) ter introduzido a anlise
situacional que colocou no centro
da cena os elementos contextuais e
no exclusivamente o micromundo
do indivduo; (2) considerar a pessoa no somente por suas caractersticas
individuais mas sim, levando em considerao um contexto de relaes que
contribuem para defnir sua identidade social (status e papel).
Assim, se o primeiro passo foi transitar das caractersticas estveis (sexo,
idade, etc.), as caractersticas mais dinmicas da vida social, o segundo foi
colocar o foco no campo das relaes entre as pessoas.
Trabalhos pioneiros de investigao feitos por Barnes (Barnes, 1954) e
por Bott (Bott, 1957) levaram a alguns descobrimentos e a adoo de conceitos
que seguem vlidos nos nossos dias.
Entre os descobrimentos, estudando o dispositivo das relaes no
municpio de Bremnes (Finlndia), Barnes descobriu que no era possvel
O conceito de rede nasceu
porque os conceitos de grupo,
de etnia, de tribo, de aldeia, de
comunidade, tpicos da produo
intelectual da corrente estrutural
funcionalista do incio de 1900 e
as precedentes, no permitiam
descrever fenmenos sociais
complexos como os resultantes
das urbanizaes intensivas e do
nascimento das metrpoles. O
conceito de grupo era til, contudo
tinha grandes limitaes (Mair,
1965), (Piselli, 2001) [Ponto de
refexo 3.1]
No captulo 6 deste livro encontra-
se a elaborao conceitual mais
detalhada do tema de redes.
Referem-se os autores deste texto.
105 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
descrever completamente o
fuxo da vida social utilizando
exclusivamente os critrios
clssicos (pertencimento
geogrfco, atividade
produtiva, educao, etc.), e
sim, era necesrio recorrer a
outro ponto de observao.
Existe tambm um terceiro
campo de observao. o
campo (feld) que no tem
nem unidade nem fronteiras
e tambm no apresenta uma
organizao de coordenao.
Este est constitudo pelos
vnculos da amizade e conhecimento que cada um, crescendo na sociedade,
uma parte herda e, na maioria das vezes, constri sozinho. Alguns destes
vnculos envolvem membros da famlia.
Os elementos destes campos sociais no so fxos, sendo que formam-
se continuamente novos vnculos e vnculos antigos so abandonados ou
interrompidos. Encontro til falar dos campos sociais deste tipo, como de
redes. Barnes chamara este campo de rede e o defne da seguinte maneira:
A ideia que tenho a de um conjunto de pontos, alguns dos quais unidos por
linhas. Os pontos da imagem representam os indivduos, s vezes tambm os
grupos, enquanto as linhas ilustram quais pessoas interagem com as outras.
Naturalmente podemos pensar no conjunto da vida social como um processo
capaz de gerar uma rede deste tipo. A
imagem da rede como um conjunto de
pontos interconectados, alguns deles
por linhas que indicam a existncia
de uma conexo (ao qual pode dar o
sentido que deseja), est formada de
uma vez por todas.
Outra descoberta foi que: Pela
sua constituio, uma rede no tem um
chefe e, na maneria em que eu utilizei
o termo neste trabalho, a rede no tem
Uma rede no tem fronteiras, porque atravs
das relaes de amizade inclui aos amigos dos
amigos e aos amigos dos amigos dos amigos e
aos vizinhos dos vizinhos. A consequncia que,
quando falamos de redes e que estudamos as
redes, na realidade sempre estamos falando de
uma parte delas, uma parte muito pequena.
Dizem os estudiosos que cada um de ns com
seis passos (seis vizinhos, um depois do outro)
pode contatar qualquer outra pessoa no planeta.
Muitas experincias provaram que assim. Isso
para dizer que uma rede, na realidade, no tem
fronteiras. [Ponto de refexo 3.2]
106 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
nem mesmo um centro ou fronteiras. Pensado desta maneira, a rede de cada
pessoa a percepo de ser o centro de sua rede de amizades. Cada pessoa,
atravs da rede, pode ter uma experincia direta de poder que no nega o
poder dos outros. Esta experincia de centralidade e de poder, essencial para a
construo da identidade na sua dimenso individual e social, possvel porque
no tem chefe e sim todos tm a experincia de ser o chefe. possvel dizer
que a rede pensada por Barnes o que permite e favorece a experincia do
protagonismo ou da participao protagonista de todos que pertencem rede.
Elizabeth Bott, por outro lado, trabalhando no longe de Londres (na
Inglaterra), estudou o impacto das relaes de amizade e de vizinhana na
conservao dos papeis no interior do casal. Ela observava que, quando as famlias
imigravam do campo cidade, em algumas delas tinha uma forte evoluo nos
papeis e em outras no, ou muito menos. Em algumas, por exemplo, marido
e mulher faziam conjuntamente muitas aes (lavar, limpar, ir ao mercado,
cuidar dos flhos, etc.). Em outras famlias, os papeis eram claramente defnidos
(tradicionalmente) com pouca integrao entre marido e mulher.
Bott esclareceu que este fenmeno era conectado com a riqueza das redes
de amizades e de bairros que as pessoas tinham quando se assentavam na nova
situao (na cidade). Quando sua rede social era extensa (muitos amigos e vizinhos)
e quando era densa (muitas relaes entre todos), o nvel de integrao de papeis
era muito elevado, nos outros casos era menos. Esta era a nica explicao que dava
conta em maneira exaustiva de todas as observaes feitas. Outras abordagens: por
classe social, por rendimentos, por idades, por gneros, por lugares de procedncia
no eram sufcientes para explicar a evoluo dos papeis no interior dos casais.
Estas investigaes provaram, no somente que o tema de redes era
pertinente no estudo dos fenmenos sociais, seno que permitia entender
processos que no podiam ser entendidos de outra maneira. O tema de redes
transformou-se, ento, num dos instrumentos privilegiados de trabalho para
todos aqueles que pem no centro do palco as relaes entre as pessoas.
Comunidade local e redes
Fundamento de um conceito de comunidade
O estudo das redes favoreceu tambm que se abordasse o tema da
comunidade de uma forma que integrasse olhares baseados no pertence
territorial, a sistemas de valores, tradies, estilos de vida, etc. (os elementos
que constituem o andaime clssico do conceito de comunidade) e, ao mesmo
107 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
tempo, acolhesse as sugestes que derivavam das investigaes sobre redes.
O ponto de partida o conceito de comunidade que utilizamos: Quando
falamos de comunidade local, na sua mais simples defnio, nos referimos a um
conjunto de redes sociais que defnem e estimulam um territrio delimitado por confns
geogrfcos (Milanese, 2009b, p. 28). Como ilustramos neste texto, os elementos
centrais deste conceito so: (1) um conjunto de redes (que vimos ser um dispositivo
sistmico), que (2) defnem um territrio, isto , que do uma forma original e dinmica
ao local (vimos ilustrando as atividades de vinculao, como pequenas redes podem
promover grandes movimentos no interior das comunidades) (3) e que o animam, isto
, contribuem para construir sua cultura (no sentido mais amplo: material e simblico),
(4) a estes trs aspectos se acrescenta um quarto: que as redes so, por defnio,
abertas e fexveis e, por esta razo, a comunidade local tambm aberta e fexivel.
A prtica do SIDIEs (Sistema de Diagnstico Estratgico) se baseia neste
conceito e inicia com a identifcao dos lderes de opinio da comunidade e das
interconexes que eles tem entre s, quer dizer, identifca-se o ator comunitrio
mais importante, aquele que constri e mantm viva a comunidade.
Foi seguindo esta orientao que se identifcaram, entre outras, as duas
redes sociais fundamentais. Pode-se dizer que estas correspondem, quase, s
redes primrias pelos indivduos.
A primeira a rede de lderes de opinio formais (referentes a grupos,
organizaes e instituies) por um lado; a segunda a rede de lderes de opinio
no formais, cidados que no tem um cargo formal mas exercem uma funo de
liderana (infuncia social) em mltiplas situaes da vida cotidiana da comunidade. A
observao evidenciou como estas duas redes estejam estreitamente interconectadas
e que sejam os principais construtores da comunidade entendida como sistema
de redes (Milanese 2009b: 82). O trabalho com estas duas redes constituiu um dos
eixos centrais da aproximao comunitria seja ele direcionando o tema de drogas
ou a outros assuntos relacionados a este, ou o tema de excluso social ou a vida
poltica. As redes de lderes de opinio informais revelaram-se particularmente
teis no sentido que constituem um bom equilbrio entre necessidades de
continuidade e necessidades de mudana, entre relaes determinadas por fatores
estruturais e relaes fudas e bem representam os critrios de multicentralidade e
multipertencimento, tpicas da aproximao de redes.
Um ltimo aspecto relacionado com as redes, a introduo dos
conceitos e das prticas chamadas trabalho com redes e terapia de redes.
Sendo que nos localizamos no marco do tratamento comunitrio com
um enfoque sobre o tema da dependncia de drogas, se explorou e adotou a
108 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
abordagem de redes tambm para implementar processos de cura. Chegou-
se, desta maneira, adoo do termo e dos processos chamados terapia de
redes ou terapia com redes. Como se pode entender no se criou nada,
sendo que estes termos e as prticas subjacentes tinham sido introduzidos
no trabalho desde algumas dcadas, ainda que no se tenha encontrado na
literatura sua aplicao a contextos comunitrios. Sua aplicao se enfocava
mais a casos individuais, de famlias ou de grupos muito pequenos. (Bertrando
& Tofanetti, 2000), (Galanter, 2001), (Speck R. , 1967), (Speck R. A., 1974).
Utilizando os conceitos e as indicaes metodolgicas dos autores que tinham
prtica desta abordagem foi possvel produzir alguns protocolos e processos de
trabalho nos quais se considerava no somente o caso individual e sua famlia, mas
sim as redes subjetivas (redes subjetivas comunitrias como veremos dentro de
algumas linhas), as redes operativas e as redes de recursos comunitrios.
Rede subjetiva comunitria
Maria uma operadora que trabalha numa comunidade local. Utiliza-se
o processo de construo de sua rede subjetiva comunitria para descrever
alguns aspectos tcnicos para estud-la, entend-la e pod-la utilizar no
trabalho de campo.
Esta fgura representa um dos desafos do trabalho de redes: fazer visvel o
invisvel. Sucessivamente ter que aceitar outro desafo: fazer compreensvel o visvel.
!
"
#
$
!%
&
'
!(
!'
!)
!!
)%
))
)!
)(
)' !$
!#
!*
!&
!"
!)
%
!!
)
*
Figura 3.1
109 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Conceito
A rede subjetiva comunitria est constituda por todas as pessoas com
as quais um educador considera ter relaes amigveis (no necessariamente
amigos) e que supem ter uma relao amigvel com ele.
O conceito de rede tem algumas implicaes: a primeira que uma
rede subjetiva est composta de pessoas que vivem na comunidade na qual o
educador est trabalhando (no de instituies ou outras entidades); a segunda
que no necessariamente certo que todas as pessoas com as quais um
educador tem relaes amigveis considerem ter relaes amigveis com ele,
desta forma o conceito de rede subjetiva pode interligar-se com o conceito de
transferncia. A terceira implicao que admitindo que todos os membros da
rede subjetiva comunitria de um educador tenham relaes amigveis com
ele, no to evidente que todos eles tenham, uns com os outros, relaes
amigveis, mais provvel que no.
Sendo que foi dito que a rede subjetiva comunitria um dos fatores de
proteo mais efcazes no trabalho em comunidades de alto risco, melhor
ter alguns elementos para saber qual o nvel de confitualidade potencial nas
redes subjetivas que um educador possui e poder trabalhar com ele.
Como se constri a rede subjetiva comunitria
A modalidade mais indicada para construir uma rede subjetiva
comunitria em uma comunidade atravs das relaes pessoais e diretas
com outras pessoas, e o contexto mais apropriado atravs da participao na
vida comunitria. Como possvel supor, o trabalho de rua, a atividade que
oferece maiores possibilidades de desenvolver uma rede subjetiva comunitria.
Veja este fragmento do dirio de campo que Maria escreveu.
27 de Novembro de 2007. Estive na comunidade pela primeira vez. Quem
me acompanhou foi Marcos, um amigo que no pertence comunidade, mas tem
bons amigos ali. Me convidou para comer um lanche na lanchonete de seu amigo
Ren. Eu o achei muito simptico. Marcos disse a ele quem eu era e o trabalho que
estava comeando na instituio. Ren me deu as boas vindas. Ficamos contando
piadas e fazendo brincadeiras. Nos despedimos e fui com Marcos visitar sua ex
namorada, Lola. Eu perguntei se era conveniente e ele riu. No parecia muito
seguro de si. Chegamos junto com Lola, que mora a uma quadra da lanchonete do
Ren. Lola trabalha como ajudante em um brech. Quando viu Marcos, se virou e
comeou a mexer nas coisas como se no o tivesse visto. Marcos no desistiu, me
olhou de canto de olho e depois cumprimentou sua ex de um jeito alegre. Esta, sem
se virar, soltou um palavro e dois insultos. Melhor irmos, disse Marcos, voltarei
mais tarde. Fomos no Siro. Siro um rapaz simples que ajuda seu pai numa barraca
110 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
de comida. Cumprimentou Marcos alegremente e, quando soube que eu estava na
equipe da associao, me disse: que bom, um cliente a mais, todos vem aqui de vez
em quando fazer um lanche. Quando fomos embora me deu um sincero aperto de
mo e disse: volte logo... para o lanche tambm e riu. [Colombia 3.1]
Maria fez um bom treinamento e sabe que importante lembrar os
nomes e o papel social das pessoas. De volta para o escritrio do projeto, pega
uma folha de registro da rede que parece na tabela 3.1, e escreve os nomes das
pessoas com as quais pensa ter uma relao amigvel.
Tabela 3.1. Folha de Registro
# Nome Sexo Idade Data de Reunio Funo Social Parentesco
1 Maria F
2 Ren M 27/11/07 Dono de uma lanchonete Nenhum
3 Siro M 27/11/07
Ajuda num posto de
comida
Nenhum
4
5
6
...
Como possvel ver, na lista existem dados que ainda no esto
preechidos (as idades das duas pessoas encontradas), estas informaes sero
escritas quando for possvel possu-las. Esse vazio na folha de registro faz
lembrar a Maria que tem que continuar procurando informaes.
Esta lista, como foi dito, dinmica, toda para verifcao, no entanto,
muito til t-la porque no possvel ter tudo na memria e dentro de um ano
Maria haver esquecido muitas destas informaes porque algumas pessoas
tero ido embora, com outras a relao no ser to amigvel e, certamente,
se Maria decide fazer outro trabalho em outro lado da cidade, bom que a
equipe saiba quais eram as pessoas que faziam parte da sua rede subjetiva
comunitria.
111 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Tabela 3.2 Folha de Registro
# Nome Sexo Idade Data de Reunio Funo Social Parentesco
1 Maria F 23 Nenhum
2 M 27 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum
3 M 28 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum
4 F 33 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum
5 F 37 21/03/07 Coord. da Equipe Nenhum
6 M 19 21/03/07 Operador Par Nenhum
7 F 22 13/01/08 Prostituta/Drogas Nenhum
8 F 47 17/02/08 Prostituta/Drogas Nenhum
9 F 18 22/12/07 Aj. Vendedora Nenhum
10 M 60 22/12/07 Vizinho Nenhum
11 F 21 03/12/07
Estudante
Universitria
Nenhum
12 F 34 01/02/2008 Vendedor de rua Nenhum
A rede subjetiva comunitria dos operadores de um projeto o seu capital
social, e o capital social de toda a equipe. Atravs do trabalho de rua e participando
das atividades do projeto, Maria continua enriquecendo sua rede de pessoas com
as quais tem relaes amigveis. Depois de alguns meses ela observa que j no
acrescenta com frequncia nomes a esta lista. Ento comea a completar todas as
informaes ao fazer, com seus companheiros de equipe, a anlise de sua rede. O
exerccio que faremos logo a seguir apresentado de forma resumida, serve somente
para dar um exemplo de como proceder e do sentido que tem este processo.
A primeira operao consiste em colocar a informao recolhida em
um diagrama de rede. O diagrama
mais simples aquele que se pode
ver a seguir. Este diagrama est feito
em quatro crculos concntricos. O
primeiro crculo (o mais interno) o
crculo de Maria, o qual chama-se o
crculo ou a posio de ego, por este
motivo, as vezes, esta rede chama-
se ego-rede. No segundo crculo
encontramos a rede dos ns 4, 7 e 3.
Chamam-se ns todos os elementos
de uma rede.
!)
!
"
#
$
!%
&
'
!(
!'
!!
)%
))
)!
)(
)' !$
!#
!*
!&
!"
!)
%
!!
)
*
Figura 3.2
112 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Para facilitar o exerccio no foram reproduzidos os nomes e sim os nmeros.
Neste crculo Maria colocou as pessoas com as quais tem relao mais amigvel
entre todas as da lista.
No terceiro crculo encontram-se os ns 10, 2, 6 e 12. Estes ns so as
pessoas que Maria considera ter relaes prximas, mas no tanto como as do
segundo crculo.
No quarto crculo encontram-se os ns 8, 11, 5 e 9. Estas so as pessoas com
as quais Maria considera ter relaes amigveis, mas no to amigveis como
as do terceiro crculo e muito menos como as do segundo crculo. A Literatura
na rea de relaes de amizade ensinou que estas so bastante constantes
no tempo, ver fgura 3.3, (isto no quer dizer que permanea para sempre, no
entanto tem uma certa continuidade). Por este motivo, vale a pena que Maria
tenha alguns critrios para ter uma conscincia mais clara do que acontece
com sua principal rede de trabalho na comunidade, assim evita deixar-se levar
muito ou exclusivamente pela sua intuio e seu instinto. Agora, com a ajuda da
equipe, Maria trata de responder outra pergunta importante: quais dos ns de
sua rede tm relaes amigveis com os outros ns de sua rede? Difcilmente
Maria pode responder sozinha a esta pergunta, a ajuda dos outros membros
da equipe que trabalham nessa comunidade h mais tempo indispensvel.
Comea a interconectar a todos os ns de sua rede subjetiva comunitria e
consegue outra rede (ver ilustrao). possvel ver as interconexes entre os
ns da rede de Maria. O que Maria pode observar imediatamente que em sua
rede h outro n (o nmero 4) que representa um colega, membro da equipe,
que tem quase tantas interconexes quanto ela.
uma informao importante, ver fgura 3.4. O que observa-se tambm
que nesta rede nem todos esto interconectados com todos. Ento,
possvel pensar que Maria necessita contar com a aliana entre seus amigos
na comunidade para poder implementar uma ao. Tem muito trabalho por
fazer. Nas redes deste tipo, nem sempre vlido pensar que meus amigos so
amigos de meus amigos, nem mesmo vlido pensar que os amigos de meus
amigos sejam meus amigos.
113 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Tabela 3.3 Folha de Registro
# Nome Sexo Idade Data de Reunio Funo Social Parentesco
1 Maria F 23 Nenhum
2 M 27 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum
3 M 28 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum
4 F 33 21/03/07 Operador da Equipe Nenhum
5 F 37 21/03/07 Coord. da Equipe Nenhum
6 M 19 21/03/07 Operador Par Nenhum
7 F 22 13/01/08 Prostituta/Drogas Nenhum
8 F 47 17/02/08 Prostituta/Drogas Nenhum
9 F 18 22/12/07 Aj. Vendedora Nenhum
10 M 60 22/12/07 Vizinho Nenhum
11 F 21 03/12/07
Estudante
Universitria
Nenhum
12 F 34 01/12/07 Vendedora de rua Nenhum
13 M 21 15/01/08
Estudante
Universitria
Nenhum
14 F 32 01/12/07 Polcia Nenhum
15 F 32 04/01/08 Polcia Nenhum
16 F 67 04/01/08 Dono de um prostbulo Nenhum
17 M 58 27/11/07 Dono de uma Lanchonete Nenhum
18 M 17 27/11/07 Aj. de lanchonete Nenhum
19 M 20 09/01/08 moradora de rua Nenhum
20 M 21 11/12/07 moradora de rua Nenhum
21 M 19 02/02/08 Vendedor de drogas Nenhum
22 F 56 01/02/08 Vizinha/me da comunidade Nenhum
23 F 47 24/12/07 Vizinha/me da comunidade Nenhum
24 F 38 17/11/07 Vizinha/trab. social Nenhum
25 F 52 17/11/07 Vizinha/ ajuda na igreja Nenhum
26 F 32 23/01/08 Irm de congregao local Nenhum
Observando sua rede, Maria comea a pensar que tenha que ajudar o n
3 (um companheiro de equipe) a interconectar-se com alguns de seus amigos
ou pelo menos a tentar entender porque nenhum de seus amigos amigo
de seu colega. Fazendo este exerccio de perguntas a respeito da presena ou
ausncia de relaes amigveis, Maria comea a ter uma ideia mais clara das
caractersticas de sua rede e tambm o que tem que fazer para fortalec-la.
Este o cuidado cotidiano que Maria deve ter para seu dispositivo principal.
Sempre trabalhando com a equipe Maria explora outros aspectos de sua
114 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
rede que ela no havia percebido imediatamente. Seus colegas a fazem enxergar
como os ns de sua rede tem de fato relaes amigveis com outras pessoas
na comunidade. Maria descobre, desta forma, que sua rede pode alcanar at
26 ns. Tambm, neste caso, prudente pensar que no necessariamente os
amigos de meus amigos tambm so meus amigos, no entanto o fato que as
pessoas com as quais Maria est conectada por uma relao amigvel tenham
relaes amigveis com outras pessoas potencialmente um recurso muito
importante para Maria. possvel ver que dentro desta rede mais ampla h
estudantes universitrios, policiais, ambulantes, vizinhas com diferentes
funes sociais, um vendedor de drogas, uma religiosa.
um mundo feito com muitas diferenas, heterogneo, ver fgura 3.5. Este
um ponto forte desta rede, sua heterogeneidade. Redes muito homogneas
tm a tendncia a fechar-se, a transformar-se em grupos quase formais e
perdem sua fexibilidade, sua capacidade de adaptar-se a situaes fudas, a
situaes que tem um alto grau de turbulncias como so as comunidades de
alto risco. Sempre com a ajuda da equipe, Maria inicia a interconectar entre
eles todos os ns de sua rede mais extensa.
O resultado possvel ver na Figura 3.5. Esta uma rede muito
diferente da que foi vista antes. Veja por exemplo o n 5 (a coordenadora da
equipe) que antes parecia isolada, agora observa-se que tem um alto grau de
interconexes com os membros da rede estendida de Maria, um dos ns
mais importantes.
A pontencialidade principal desta rede que Maria est a somente dois
passos de um mundo de relaes amigveis possveis, sufciente que utilize
as relaes amigveis que tem com os ns de sua rede subjetiva comunitria.
Estar a dois passos signifca estar a duas fechas de distncia. Esta uma das
potencialidades das redes, esta potencialidade que permite gerar segurana,
gerar dispositivos de tratamento.
Os passos de construo da rede subjetiva comunitria podem ser
resumidos da seguinte forma:
1. primeiro passo: atravs do trabalho de rua, da participao na vida
comunitria encontram-se pessoas e se estabelecem relaes.
2. segundo passo: relatado na folha de registro da rede subjetiva
comunitria os nomes das pessoas, seu sexo, idade, a data na qual se estabeleceu
o primeiro contato, o papel social e a relao de parentesco (quando existir).
3. terceiro passo: depois de um perodo de dois ou trs meses e quando
se observa que a lista tende a estabilizar-se (diminuem signifcativamente os
115 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
novos contatos), com a ajuda da equipe feita a anlise da
rede subjetiva comunitria.
4. quarto passo: recomenda-se que uma avaliao da
rede subjetiva comunitria seja realizada, em mdia, uma
vez a cada seis meses. Se esta prtica parte da rotina da
equipe, feito com mais agilidade e leva menos tempo.
Lembra-se a este propsito que o cuidado das redes como
o cuidado de sua prpria casa.
Rede operativa
Conceito
A rede operativa est constituda pelos membros da equipe e suas relaes.
Quais relaes? As relaes internas entre os membros da equipe e as
relaes que os membros da equipe tm: (1) cada um com os ns de sua rede
subjetiva comunitria que participam na implementao de atividades do
programa ou projeto, (2) cada um com os ns da rede de recursos comunitrios
que participam na aplicao de atividades do programa ou do projeto.
Este conceito tem a fnalidade de evidenciar alguns elementos do tratamento
em geral e do tratamento comunitrio, em particular. O primeiro, se observarmos
uma rede operacional trabalhando, aquilo que efetivamente vimos uma equipe
trabalhando; neste caso estamos observando um set (que a parte material de
um dispositivo). No entanto, se consideramos o setting dessa equipe (quer dizer
os conceitos, as ideias, as representaes, etc.) acessamos a um mundo no visvel,
no necessariamente concreto e sim simblico. E nesse mundo encontram-se
as razes conceituais e o ambiente no qual se fundamenta a cultura profssional
de cada uma dessas pessoas. So essas razes culturais (tambm de formao) as
que fazem atuar cada uma delas. Quando falamos de razes culturais inclumos,
tambm, as relaes de tipo profssional que essas pessoas tm e que infuenciam
sua maneira de pensar e seus processos de tomada de decises.
A consequncia desta abordagem que no mundo visvel observa-se uma
equipe trabalhando (esta a viso da equipe), no entanto, no mundo invisvel uma
rede que est trabalhando. Explicitar este aspecto permite ter conscincia mais clara
dos processos de infuncia aos quais est submetida a equipe (a equipe atua, mas
sua rede operativa que a faz atuar, que infuencia seu processo decisrio), e, tambm,
ter mais claro qual o potencial da equipe. A rede operativa no efetivamente cinco
ou seis pessoas (a dimenso mnima de uma equipe que trabalha em comunidades
de alto risco), e sim essas cinco ou seis pessoas as quais acrescentam os ns de suas
116 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
redes subjetivas e os ns da rede de recursos comunitrios.
Construir uma rede operativa
Foi visto que a rede operatival est constituda por:
(1) A equipe e as relaes de seus membros entre si, (2) as relaes de
cada membro da equipe com os ns de sua rede subjetiva comunitria que
participam na implementao de aes do programa, (3) as relaes de cada
membro da equipe com os ns de sua rede de recursos comunitrios que
participam na implementao de aes do projeto.
No segundo captulo deste livro foi descrito qual o processo de
constituio da equipe inicial e de formaco. O primeiro passo para iniciar a
transformar a equipe em rede operativa tornar visveis as relaes existentes
entre os membros da equipe. Veja o exemplo que apresentado abaixo. Trata-
se aqui da realizao, no incio de um projeto, de um encontro motivacional
para educadores comunitrios. possvel considerar este encontro como de
um processo de construo de equipe que utiliza-se como oportunidade para
passar de uma viso de equipe a uma viso de rede operativa.
1.1. Encontro motivacional para educadores comunitrios
O encontro ser realizado com os educadores comunitrios formados em
cada cidade, nas etapas anteriores do processo, atravs de uma capacitao para
educadores pares. Ser um encontro de 4 dias de troca de experincias e motivao
para o trabalho comunitrio. Os temas a serem abordados sero: comunidade
local, trabalho em equipe, motivao, lideranas, capacidades, competncias,
habilidades, autoestima, responsabilidades, papeis no mundo, empreendimento,
sustentabilidade, desenvolvimento pessoal, sonhos, prazeres, articulao em
redes, cooperao, valores, solidariedade, minorias ativas e diversidade. Atravs
deste evento, os participantes podero vivenciar a prtica e os conceitos que esto
envolvidos no processo assim como sero discutidos os procedimentos, postura e
atividades a serem realizadas nas etapas subsequente. [Brasil 3.1]
Efetivamente, neste exemplo, mencionado o tema da articulao em
rede, que inclui tambm considerar qual o perfl da equipe em termos de
rede e como pode articular-se com outras redes presentes nas comunidades
nas quais opera. Um comentrio de um dos formadores desta equipe : O
processo formativo vivencial, onde tentam criar situaes do cotidiano para
facilitar o processo de aprendizagem e apropriao da ideia fundamental para
que a interiorizao e as articulaes sejam consistentes. na vida cotidiana
dessa equipe que nascem as relaes pessoais e relaes profssionais. Ambas
so essenciais para o trabalho (ver recomendaes, difculdades, boas
117 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
prticas), isto signifca tambm o termo vivencial.
As relaes de cada membro da equipe com sua rede subjetiva
comunitria realiza-se no mesmo processo de construo da rede subjetiva
comunitria: veja, a este propsito, a realizao do terceiro e do quarto passo
(acima mencionados). Este trabalho feito em equipe e, por isso, uma das
maneiras mais efcazes para mostrar as redes subjetivas comunitrias de cada
membro da equipe e as interconexes entre estas. As relaes de cada membro
da equipe com os ns da rede de recursos comunitrios so evidenciadas
atravs do processo de construo das redes de recursos comunitrios (ver
seo sucessiva).
Recomendaes, difculdades, boas prticas
Uma equipe que funciona como rede operativa inclui na sua vida cotidiana
relaes pessoais e profssionais. Entre as relaes pessoais encontram-se as de
simpatia ou antipatia, de amizade ou amigveis, as alianas sobre a base de
critrios que nada tem a ver com a tarefa que se executa no trabalho, como
por exemplo: ser membros do mesmo partido poltico, jogar no mesmo time,
pertencer mesma ofcina de pintura, ir ao mesmo cabeleireiro, ao mesmo
mdico, ter algum grau de parentesco, ter tido a mesma formao profssional,
ter estudado na mesma escola, ter famlia com estreitos laos de amizade, ter
pertencido a duas gangues rivais ou a mesma, ir s mesmas festas, danar
juntos, embebedarem-se juntos. Os tipos de vnculos sociais so infnitos por
razes infnitas, so as relaes no profssionais que atravessam o campo
das relaes de uma equipe. Pode- se dizer que as relaes no profssionais
(principalmente em um mbito comunitrio) so infnitamente mais frequentes
que as relaes profssionais e tem um impacto ou poder de infuncia nos
processos de tomada de decises da equipe que mais forte referente ao
impacto ou infuncia que possam ter os vnculos profssionais.
por esta razo que a equipe deve tomar suas decises baseadas em
critrios profssionais, que importante ter espao para explicar e explicitar este
mundo de infnitas relaes no profssionais (pessoais) que so o contexto, o
ambiente no qual se alimentam as relaes profssionais no interior da equipe
e fora dela. Geralmente, o instrumento por meio do qual se tornam visveis e
elaboram estas relaes pessoais e se toma conscincia do peso que tem no
funcionamento da rede operacional, a superviso externa.
Observe que uma mesma pessoa ou ator pode pertencer a diferentes
redes simultaneamente (a rede subjetiva comunitria de todos os membros
118 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
da equipe, a rede operacional, a rede de recursos comunitrios, a rede de
lderes de opinio, a minoria ativa). recomendvel que haja certo grau de
relao entre todas as redes (signifca que certo nmero de pessoas pertence,
simultaneamente, a mais de uma rede), contudo, este grau de relao tem
que ser limitado, de outra forma todas estas redes seriam compostas pelas
mesmas pessoas. J no seriam redes, mas grupos formais. Quando se faz uma
avaliao ou estudos peridicos das redes apropriado levar em considerao
a relao homogeneidade/
heterogeneidade nos ns da rede,
de forma que se criem interconexes
quando necessrias (homogeneidade)
e se aumente o nmero e o tipo de
ns quando necessrio (aumento da
heterogeneidade).
Uma rede operativa deveria
contar, nos diversos graus de
proximidades - 1, 2, 3, ao redor de
vinte pessoas (trs ou quatro vezes o
tamanho da equipe).
Rede de recursos comunitrios
Na tica do tratamento
comunitrio, todos os habitantes ou membros de uma comunidade local so
potencialmente recursos de um projeto de ao social. Visto deste ponto de
vista, todos eles so parceiros potenciais no projeto. A construo da rede
de recursos comunitrios uma proposta que permite passar do estado de
potencialidade ao estado de atuao.
Na prtica ser observado que nem todos sero parceiros do projeto
da mesma maneira e, talvez, nem todos sero parceiros. O objetivo ideal
que todos participem como agentes, como atores, como benefcirios ativos
(que procura resposta sem fcar esperando passivamente) e crticos (criticar
para mostrar limites e sem sentido, para melhorar, para sugerir alternativas),
como benefcirios passivos (se isso o que desejam ou se sentem capazes
de fazer) porque h tambm pessoas em estado de tamanha excluso que o
ltimo que lhes resta a demanda de ajuda e algo de disponibilidade para
ser ajudados.
119 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Conceito
A rede de recursos comunitrios est composta por (1) todas as pessoas
que pertencem a comunidade e que possam ser consideradas recursos
para o projeto ou a ao social que querem implementar. Pode-se tratar de
profssionais nas diversas reas: sade, educao, trabalho social, advogados,
policiais, etc. Mas tambm pessoas comuns que exercem ofcios diferentes:
arteses, comerciantes, donas de casa, etc. Pessoas que podem ajudar nas
diferentes fases do processo de tratamento comunitrio. (2) Todos os atores
institucionais (instituies do setor pblico, organizaes da sociedade civil em
diferentes reas sade, esportes, cultura, trabalho social, ocupao e emprego,
sindicatos, etc. - grupos formais presentes na comunidade) e as relaes que
eles tm com a rede operativa e entre eles. (3) A rede de lderes de opinio no
formais que foi constituda para fortalecer o tratamento comunitrio (minoria
ativa).
A hiptese na qual se apoia esta abordagem que o tratamento
comunitrio comunitrio porque se apoia nos recursos que a comunidade
tem. So estes recursos, o set e o setting, que no somente permitem, mas
tambm caracterizam o tratamento comunitrio como comunitrio.
Entende-se que s vezes na comunidade no encontram-se os
recursos que precisam e s vezes tambm no oportuno que a equipe
(ou a rede operativa) utilize os recursos da comunidade. No entanto,
possvel considerar que se uma rede operativa no conta com os recursos
comunitrios signifca, em primeiro lugar, uma contradio (como possvel
ser rede operativa sem a participao das redes subjetivas comunitrias?)
e em segundo lugar, signifca ser subsidirios a respeito da comunidade,
empobrec-la, no valorizar o que tem, criar processos de dependncia
passiva e de desvalorizao de recursos.
Objetivos e construo da rede de recursos comunitrios
O objetivo da formao de uma Rede de Recursos Comunitrios
ter, na comunidade local, um conjunto de recursos institucionais e no
institucionais (instituies, organizaes, profssionais no inclusos nas
organizaes e instituies, cidados com ou sem profsso especfca, etc.)
com disponibilidades, conhecimentos, competncias e servios teis para as
comunidades e/ou grupos-metas (benefcirios fnais).
O processo de construo da rede de recursos comunitrios comea
quando o educador inicia a construo de sua rede subjetiva comunitria.
120 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
atravs deste processo que, conhecendo o papel social de cada um dos atores e
seus conhecimentos e competncias profssionais ou no profssionais, que se
constri a rede de recursos comunitrios. Uma forma simples de ir registrando
esses recursos, sendo que a memria um instrumento frgil, utilizando um
formato de registro como aquele que est ilustrado na Tabela 3.4. Ali registra-
se o nome, a idade, o sexo, a data do contato, o papel social e as habilidades
que tem e que podem ser teis para a comunidade e para os grupos excludos.
Tabela 3.4 Registro da rede de recursos comunitrios
# Nome Sexo Idade
Data de
Reunio
Funo Social Recurso comunitrio
1 Josefa F
2 Rene M 23 11/02/04
Dono de uma
lanchonete
Possvel empregador
Treinamento em
microempresa
3 Siro M 18 11/02/04
Ajudante numa
lanchonete
Bom jogador de futebol/
esportes animados
4 Rosana F 27 11/02/04 Diretora de colgio
Contatos com outros
colgios/ insero de
alunos
5 Bautista M 35 11/02/04 Advogado Defesa legal
6 Miguel M 29 11/02/04 Socilogo
Conselho e apoio
sociolgico
7 Mara F 20 11/02/04
Estudante de
medicina
Pesquisa e anlise da
sade na comunidade
8 Sara F 19 11/02/04
Estudante de
cincias
Recuperao escolar com
as crianas e adolescentes
...
Esta uma boa lista, no entanto, ainda no se trata de uma rede. Ser
uma rede quando a rede operacional ou a equipe construir um sistema de
interconexo entre eles, sistema do qual eles sero conscientes e que servir
para que possam trabalhar em um mesmo processo (isto no signifca juntos
ou simultaneamente). Uma forma de organizar e administrar este recurso
comunitrio pode ser a seguinte:
O banco do tempo uma iniciativa clara de articulao de rede de recursos
de um conjunto de atores comunitrios. O processo de constituio de um banco
do tempo o seguinte. (1) Se constri a lista de recursos, como a que ilustramos
acima, utilizando o processo descrito. (2) Se contata diretamente cada um deles
perguntando se esto dispostos a dar umas horas de seu tempo quando seja
121 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
necessrio. s vezes alguns no tem nenhuma disponibilidade, outros uma hora
por semana, uma hora por ms. (3) A equipe tem que organizar e administrar todos
estes recursos (todo este tempo) que constitui um verdadeiro capital. O banco do
tempo, como todos os bancos, est aberto todos os dias. Todos os dias recebe
tempo e o distribui. O banco do tempo uma forma pela qual se manifesta o capital
social de uma comunidade e se traduz em tempo para aqueles que necessitam dele.
[Ponto de refexo 3.3]
Rede de recursos comunitrios e sistema de encaminhamento
A rede de recursos comunitrios formais e no formais constitui o
primeiro sistema de encaminhamento de uma comunidade. Nenhuma equipe
pode dar resposta por si s a todas as demandas e necessidades das pessoas,
nem pode enfrentar todos os contextos e situaes de excluso. A rede de
recursos comunitrios uma maneira para fazer que a comunidade aprenda a
assumir as suas necessidades utilizando seus prprios recursos.
Com frequncia h situaes que no podem ser atendidas pela
rede de recursos comunitrios ou situaes nas quais no h recursos na
comunidade. Neste caso se recorre rede de recursos externos a comunidade.
a rede operacional que avalia a oportunidade de utilizar uma ou a outra. Nas
experincias feitas at hoje foi observado que h uma espcie de automatismo
e rotina nas equipes. Elas tm a tendncia de enviar as pessoas para os recursos
que elas conhecem (independentemente do fato que estas encontram-se
na comunidade ou fora dela). Trabalhar com redes de recursos comunitrios
signifca esforar-se para conhecer os recursos que existem na comunidade e
mobiliz-los antes de recorrer a recursos externos.
A meta do desenvolvimento deste trabalho conseguir construir uma
Rede de Recursos Comunitrios que satisfaa, ao menos, as necessidades
bsicas das seguintes reas: albergues noturnos, creches, primeiros socorros
e sade (especialmente para HIV-Aids, ETs, feridas, abuso de drogas), higiene
bsica (banho e roupa limpa), alimentao bsica (fornecimento de uma refeio
ao dia, pelo menos), educao bsica, defesa legal, apoio e relacionamento
em estado de crise (especialmente para situaes de abuso sexual e violncia
fsica), alm de acolhida por longos perodos (noite e dia).
Recomendaes, difculdades, boas prticas.
A rede de recursos comunitrios um instrumento muito delicado
e muito exigente. Delicado porque se baseia na motivao e a vontade das
pessoas que prestam um servio sem receber nenhuma remunerao.
122 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
No percurso da construo de uma Rede de Recursos Comunitrios,
algumas difculdades so encontradas como, por exemplo, a tendncia das
organizaes participarem do projeto com disponibilidade poltica, e no
prtica. Alm disso, as instituies do setor pblico e grandes organizaes,
como hospitais privados, escolas, centros de acolhimento, etc., tem um nvel
burocrtico e organizacional que pode ser um freio para o acesso a pessoas
gravemente excludas. Acontece tambm que os servios prestados s pessoas
gravemente excludas so de menos qualidade. necessrio averiguar se a
disponibilidade de dar o servio corresponde a uma possibilidade real.
Ressalta-se que a Rede de Recursos Comunitrios uma propriedade
de toda a equipe ou rede operacional e da
instituio que desenvolveu e aplica o projeto.
Por fm, imprescindvel ter um contato
pessoal e direto com diretores e pessoas do
nvel executivo das instituies que compe
a Rede, para garantir que esses servios
sejam aplicados na prtica, e no pertenam
unicamente ao campo das posibilidades.
Rede de lderes de opinio
No captulo deste texto O encontro
com a comunidade foi feito uma breve
introduo sobre os lderes de opinio. Nesta
seo desejvel entrar nos detalhes da parte
conceitual e prtica. Outros elementos prticos
e tcnicos ilustraram o volume dedicado aos instrumentos de trabalho.
evidente que, sem uma rede de lderes de opinio, se pode fazer
um trabalho de preveno, mas seus resultados sero passageiros e,
principalmente, sem uma rede de lderes de opinio mais difcil ter um
diagnstico comunitrio orientado pela ao e para a ao social.
Conceito
possvel pensar que a rede de lderes de opinio um cluster (uma sub
rede) no interior da rede de recursos comunitrios. A consequncia disto que
a rede de lderes de opinio o corao dos recursos comunitrios, seu recurso
mais indispensvel. Por serem os lderes de opinio aquelas pessoas que tm a
123 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
capacidade (poder) de infuenciar a
opinio e as condutas de outros, de
produzir mudanas e persistncias,
resistncias e cooperao, energias
e sinergias, possvel dizer que eles
so os agentes da comunidade,
enquanto que os outros membros
da comunidade so atores.
Por esta razo, a rede de
lderes de opinio essencial.
Em termos ideais, seria uma boa
prtica se a maioria dos membros
da rede operativa fossem lderes
de opinio, ou que imaginasse
um processo de formao e
capacitao para eles que lhes
facilitassem assumir tambm
o papel de lderes de opinio.
Quando fala-se de lderes de
opinio, no quer dizer que estes
unicamente opinam, ainda que
ressalte o fato que eles exercem
sua infuncia principalmente
atravs de sua opinio, do produto
de seus pensamentos, de suas ideias. O que quer dizer que, com frequncia,
atravs dos comportamentos e as atitudes que uma pessoa manifesta sua
opinio e exerce sua infuncia.
O conceito de rede de lderes de opinio utilizado no tratamentro
comunitrio o seguinte: conjunto de atores comunitrios (pessoas) e suas
interconexes que exercem uma infuncia nas opinies dos outros membros
da comunidade (incluindo tambm outros lderes de opinio). Os lderes de
opinio so formais e informais. Os primeiros so pessoas que tem um cargo
ofcial em instituies pblicas ou organizaes da sociedade civil, da cultura,
do esporte, etc. Os segundos derivam sua infuncia de seu prestgio e no do
cargo ofcial que possuem. Seu prestgio deriva com frequncia do fato que eles
representam os valores e a cultura do grupo no qual funcionam como lderes
de opinio (Harkola, 1995) (Tornatzky & Fleisher, 1990) (Rogers & Agarwala-
Um ator comunitrio uma pessoa ou entidade
da comunidade (uma ONG) que desempenha
um papel na estrutura de uma parte que j
est defnida, ou quase toda defnida. Sua
originalidade est na forma que interpreta
sua funo. Ele no escolhe a funo, j vem
designada.
O agente comunitrio no desempenha uma
parte ou uma funo pr-determinada, no
interpreta uma funo, mas vive sua vida,
constri, improvisa, cria, etc.
Pelo que foi entendido at aqui sobre o
funcionamento das redes e dos processos
de infuncia social, o agente tem menos
liberdade da que geralmente se pode
acreditar, s vezes ele cr ser agente, mas na
verdade ator por que atua sob a infuncia de
outros lderes e da rede a qual pertence (ainda
que o faa de modo inconsciente).
Ser agente de uma comunidade no o ponto
de partida do processo de formao social
de uma pessoa, seu ponto de chegada.
Isso acontece quando a pessoa elaborou seu
papel ou funo social atravs da experincia,
da refexo, da transformao pessoal, da
disciplina profssional (formal ou informal) e da
tica no trabalho. [Ponto de Refexo 3.4]
124 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Rogers, 1976). Foi comprovado que a infuncia dos lderes
de opinio no formais mais profunda e determinante nos
processos de infuncia social (Harkola, 1995) com relao
quelas dos lderes formais.
Construo da rede de lderes de opinio.
Sendo a rede de lderes de opinio uma sub rede
(um cluster) da rede de recursos comunitrios e sendo
potencialmente, todos os habitantes de uma comunidade,
recursos para um projeto de ao social, para a construo
da rede de lderes de opinio pode-se utilizar um processo
similar ao que foi utilizado na construo de outras redes,
com algumas diferenas. Sugere-se adotar o processo
seguinte:
1) passo um: identifca-se o argumento (os argumentos) sobre o qual
querem conhecer os lderes de opinio. Isto necessrio porque nem todos os
lderes de opinio so lderes em todos os temas possveis. O primeiro produto
que se deve ter uma lista de argumentos. Estes argumentos podem coincidir
com os temas geradores espontneos e com os temas geradores induzidos
(ver o primeiro captulo quando se fala da formao de base da equipe inicial).
2) imaginemos que um dos temas sobre o qual queremos saber quem
tem a liderana, seja a gesto do lixo. Trata-se agora de formular uma pergunta
adequada. Neste caso, a pergunta pode ser: Se eu desejo entender e dar
resposta ao fato que h tanto lixo jogado por todas as partes nesta comunidade,
com quem tenho que falar nesta comunidade?
3) identifcada a pergunta, inicia-se a perguntar: uma boa prtica iniciar
com os membros da rede subjetiva comunitria. Deste modo, recolhe-se uma
lista de nomes de pessoas que pertencem comunidade. Esta lista chamada
lista funcional de lderes de opinio. Podemos dizer que estas pessoas so
lderes de opinio a respeito desse assunto. No entanto, esta simplesmente
uma lista, no se trata de uma rede. Tem que mostrar as interconexes entre
atores. Ao realizar esta lista funcional, importante que registre-se, de forma
separada, as respostas de cada um dos entrevistados ( importante saber
quem indicado a quem, porque o fato que um ator indique a outro signifca
uma relao entre o ator que indica e aquele que indicado).
4) o quarto passo consiste em entrevistar todas as pessoas que foram
indicadas na lista funcional fazendo a mesma pergunta. Tambm, neste caso,
125 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
registra-se separadamente a resposta de cada um deles.
5) as entrevistas so concludas quando os entrevistados no mencionam
novos nomes.
6) o sexto passo juntar as respostas de todos em uma matriz de
incidncia (Machin, Merlo & Milanese, Redes sociais e dependncia de drogas.
Contribuies para a interveno. 2010) e ver quem foi escolhido mais vezes
e por quem ele foi escolhido. Esta operao parece ser complexa mais no .
Trata-se de fazer um pouco de exerccio (talvez o termo matriz de incidncia
espante um pouco, no entanto, o nome no corresponde coisa, trata-se
de um instrumento de anlises que intuitivamente utilizamos todos os dias).
Regularmente esta operao reserva muitas surpresas porque nem sempre
emergem como lderes aquelas pessoas que a equipe considerava como tais.
(no livro das ferramentas se vero as indicaes de como se desenvolve este
tipo de anlise).
Sendo que as redes de lderes de opinio (formais e informais) so
elementos estruturais de uma comunidade local, estes so bastante estveis,
quer dizer que modifcam-se muito lentamente no tempo (a no ser que
sucedam revolues, revoltas, desastres naturais, etc.). E at com estes
acontecimentos graves tem a capacidade de conservar uma certa estabilidade
(Barnes, 1954) (Boissevain & Mitchell, 1973) (Bott, 1957) (Micthcell, 1973) (Grieco,
1987). Por este motivo no necessrio repetir estas anlises de rede de lderes
de opinio com frequncia. sufciente faz-lo enfocando com preciso os
assuntos sobre os quais necessitam conhecer a rede de lderes que, com sua
opinio, infuencia aos demais.
Recomendaes, difculdades, boas prticas
Este tipo de atividade pode ser feito facilmente recorrendo a jogos,
dinmicas, animaes quando possvel trabalhar com grupos (introduzir esta
atividade quando feita uma reunio comunitria, uma festa, uma celebrao,
utilizando um mtodo que seja compatvel com o acontecimento no qual
implementa-se a ao).
A construo desta rede exige um tempo grande e necessrio que
sejam estabelecidas prioridades claras. A construo de uma rede desse tipo
que foi descrito anteriormente neste captulo, no contexto do trabalho de uma
rede operacional (30 pessoas) alojamento, levou aproximadamente,
quatro horas incluindo a identifcao dos temas, a formulao das perguntas,
as entrevistas, a construo da matriz de incidncia e a anlise dos resultados.
126 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Esta atividade pode ser inserida nas atividades de formao contnua da
equipe e da rede operativa. preciso que fque claro que essa rede pertence
organizao que dirige o projeto e que sua gesto depende do responsvel
dessa instituio, pois muito comum que os educadores que estabelecem
contato com esses lderes tenham a tendncia a considerar que esses contatos
so contatos pessoais seus. Para no sobrecarregar o trabalho de construo da
rede, deve-se seguir um processo baseado nas necessidades da comunidade
local, do grupo-meta e da organizao referente ao projeto.
necessrio que haja uma viso bastante clara entre a rede de lderes de
opinio da comunidade, daquela que est efetivamente implicada no projeto
da equipe. Observa-se que mais produtivo que haja uma aliana com uma
rede de lderes do que com um lder especfco.
Os lderes de opinio de uma comunidade so seu principal recurso,
mas podem representar limites importantes quando esses lderes manifestam
a tendncia a persistir em modelos em oposio com as necessidades de
mudana em uma comunidade local.
Quando observam-se modifcaes signifcativas em uma rede de lderes
de opinio, estas correspondem habitualmente a modifcaes signifcativas
nas opinies em relao a um determinado assunto. Por este motivo, trabalhar
com os lderes de opinio (quando possvel) resulta um mtodo efcaz e
efciente para produzir uma mudana generalizada e permanente na opinio
que uma comunidade tem em relao a um determinado assunto. Por esta
razo, utilizar o trabalho com lderes de opinio para diminuir posturas de
estigma, discriminao, excluso uma estrategia efcaz.
Minoria ativa
Uma minoria ativa formada pelos atores e agentes comunitrios que
desenvolvem atividades e iniciativas de tratamento comunitrio ou aes
sociais depois que a equipe vai embora da comunidade por causa da concluso
do programa ou por outras razes. A minoria ativa o produto estratgico do
tratamento comunitrio e o que garante sua continuidade a certeza de que
este se transforme em parte da cultura comunitria.
No tratamento comunitrio utiliza-se a teoria das minoiras ativas porque
esta foi produzida no marco das investigaes sobre a infuncia social.
Esta ltima uma das modalidades por meio das quais se podem produzir
mudana social e, sendo que a mudana social um dos temas centrais do
127 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
tratamento comunitrio, a articulao entre este tlimo e a teoria das minorias
ativas resultou particularmente fecunda.
O aspecto original da proposta dos pesquisadores que se ocuparam
disto (S. Moscovici, em particular) que a mudana social no foi proposta
desde o ponto de vista das maiorias, seno das minorias, considerando a estas
ltimas como uma realidade que se constri para poder promover mudana
social e vencer a presso conformidade.
Aquilo que nos facilitaram o trabalho de construo conceitual neste
contexto foi o fato que Moscovici, quando fala de minorias, as observa de
um ponto de vista quase exclusivamente qualitativo como conformadas
pelas pessoas que, seja por transgreo a norma, seja por incapacidade para
conformar-se a ela, so objetos de tutela ou marginalizao (Moscovici, 1981,
p. 26) citado em (Machin, Velasco, Silva, & Moreno, 2010, p. 133). Fazendo esta
operao, Moscovici indica dois caminhos diferentes: o primeiro o estudo
dos grupos de risco (gangues, quadrilhas, redes com alta homogeneidade,
pessoas marginalizadas que vivem em grupos, etc.) como se fossem minorias;
o segundo caminho construir minorias para produzir mudana social sem
produzir marginalizao ou para super-la quando e onde exista.
por meio deste processo que as minorias se podem transformar numa
ferramenta para a ao social, em particular aquelas que chamamos minorias
ativas.
As minorias ativas respondem as caractersticas dos grupos que
implementam aes sociais: produzem aes que tenham um sentido explcito
e que sejam direcionadas aos outros. Dito de outra maneira, e parafrasando
Weber, a ao social caracterizada por ter uma estratgia explcita, estar
contida em um sistema de valores, movida por emoes e afetos e enraizada
em uma cultura.
Moscovici, por outro lado, identifca nas minorias ativas as que tm xito,
quer dizer, aquelas que conseguem infuenciar as maiorias. Moscovici estuda os
grupos minoritrios para entender quais so os comportamentos ou estilos de
trabalho destas minorias por meio dos quais elas conseguem ser socialmente
infuentes. Em sua busca identifca as seguintes: (1) o esforo que representa
o compromisso que a minoria manifesta em sua atividade, (2) a autonomia
que ilustra a capacidade de ser independente em seus julgamentos e de atuar
segundo critrios prprios, (3) a consistncia que ilustra a capacidade de ser
claro e coerente na mensagem, a todos os nveis: verbal e no verbal, (4) a
rigidez (persistncia) que ilustra a capacidade de resistir presso exterior para
128 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
se conformar com a maioria, (5) a equidade que manifesta uma opo por ter
presente a posio do outro e uma busca da reciprocidade e autenticidade
(Machin, Velasco, Silva, & Moreno, 2010).
A teoria da ao social weberiana por um lado e minoria ativa
moscoviciana por outro, permitem pensar que possvel construir esta
entidade social (a minoria ativa) de maneira que seja efetivamente infuente.
Para que assim seja, os autores recomendam que seja capaz de: racionalidade
e emoo, consistncia e autonomia, capacidade de esforo e continuidade,
persistncia na incerteza, equidade e percepo do mundo emocional prprio
e dos demais, respeito do contexto do outro e busca da mudana profunda
(estilo de vida).
Construco de uma minoria ativa
Pode-se dizer que a minoria ativa o produto implcito da transformao
da equipe numa rede operacional, da construo da rede de recursos
comunitrios e da visibilizao e fortalecimento da rede de lderes de opinio.
E na linguagem da vida cotidiana dos atores sociais, s vezes se utiliza o
termo minoria para referir-se aos grupos-meta dos projetos (mulheres
marginalizadas, usurios de drogas, etc.).
Estes atores sociais podem ser minorias ativas quando se organizam,
quando atuam intencionalmente, com fora, determinao e autonomia.
s vezes a minoria ativa se constitui em associao ou outra forma
organizada da sociedade civil, s vezes fca intercalada no anonimato da vida
cotidiana como sistema de lideranas informais que surgem e se manifestam
quando necessrio. A minoria ativa so as pessoas que se mobilizam e
organizam quando tm que ajudar, os que se inserem e vivem na trama da
vida cotidiana de uma comunidade, aqueles que so capazes de uma ao
voluntria.
Recomendaes, difculdades, boas prticas
Entendemos que a equipe da rede operacional pode atuar como minoria
ativa, seria recomendvel que o fzessem. Isto daria consistncia e continuidade
a sua ao e permitiria o fortalecimento, na comunidade, de entidades sociais
deste tipo.
As minorias ativas so uma necessidade da vida social, sobretudo
em comunidades de alta vulnerabilidade e riscos: necessrio que algum
informe, denuncie, assuma (ou pelo menos comece a assumir) as situaes
129 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
emergenciais, a prpria minoria ativa uma emergncia social. Neste
sentido, a minoria ativa nem sempre corresponde rede de lderes de opinio
(principalmente formais), pelo contrrio, se diferencia e, s vezes, se opem s
redes que se concentram mais na persistncia, propondo mudanas que no
comprometem o equilbrio de seus poderes.
As minorias ativas que procuram mudanas propem interrupes de
situaes de equilbrio, ou melhor, mostram, com sua posio, que o equilbrio
social j no existe (a existncia de grupos excludos afrma que pensar que
o equilbrio social existe uma iluso) e propem alternativas. Por serem
entidades sociais que manifestam as situaes de desequilbrio podem, por
sua vez, serem vtimas de rejeio,
excluso, marginalizao e estigma.
O capital social da comunidade
Redes subjetivas comunitrias,
redes operativas, redes de recursos
comunitrios, redes de lderes de
opinio (no formais) e minorias ativas
constituem o capital social de uma
comunidade, sua riqueza, sua fora
fuda misturada com a trama da vida
cotidiana das comunidades.
O conceito de capital social
ajuda a dar unidade ( um marco de
referncia conceitual) s redes das quais foram citadas at aqui. O que entende-
se com isto? Como dizem alguns pesquisadores, o capital social est constitudo
pelo valor das redes sociais que, por um lado, vinculam entre si as pessoas que
tem algumas semelhanas entre elas e, por outro lado, constituem pontes e
relaes com pessoas mais enfocadas nas diferenas entre pessoas, propondo
como base da relao uma norma de reciprocidade (Dekker e Uslaner 2001)
(Uslaner 2001).
Outros autores sublinham mais o aspecto da boa vontade ou o
sentimento de solidariedade sem que, por isto, as defnies operacionais
destes conceitos sejam sufcientemente claras e exaustivas. Estes conceitos
servem, no entanto, como fontes heursticas para o pensamento, sobretudo
quando os pesquisadores dizem que boa vontade e solidariedade so
130 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
caractersticas das redes sociais (Belliveau, OReilly, & Wade, 1996, p. 1752),
(Claridge, 2004) em particular nas redes primrias (subjetivas).
Tambm Bourdieu (Bourdieu, 1986, p. 248) interessa-se ao tema do
capital social e vincula-o, todavia, mais estreitamente ao possesso de uma
rede social (Bourdieu 1986, p. 248) e, em particular, s dinmicas e processos
de conhecimento e reconhecimento que as redes fazem possveis.
Bourdieu, da mesma maneira que os pioneiros do conceito, enfatiza
o fato que no sufciente ter elementos em comum entre atores sociais,
no , tambm, sufciente ter riquezas: o valor agregado consiste em ter
relaes duradouras e as relaes duradouras se baseiam no conhecimento
e reconhecimento recproco. No se trata, ento, simplismente de produzir
redes ou reconhecer e fortalecer aquelas que se encontram nas comunidades
locais. Trata-se de construir redes fundadas em processos de conhecimento e
reconhecimento ou de fortalecer as existentes em base a estes dois critrios.
Trabalhando desta maneira, ser possvel construir o que Putnam e Thomas
chamam: confana social, que permitem a criao de ordem nas redes
(coordenao) e a cooperao: cooperao organizada.
Bibliografa
Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social Capital: prospects for e new
concept. Academy of Management , 27 (1), 17-40.
Barnes, J. (1954). Class and Committees in a Norvegian Island Parish.
Human Relations , VII (1), 39-58.
Belliveau, M. A., OReilly, C. A., & Wade, B. (1996). Social Capital at the
Top: Efects of Social Similarity and Status on CEO Compensation. Academy of
Management Journal 39: 1568 - 1593. , 1568-1593.
Bertrando, P., & Tofanetti, D. (2000). Storia della terapia familiare. Le
persone, le idee. Milano: Rafaello Cortina Editore.
Boissevain, J. (1978). Friends of Friends:networks, manipulators and
coalitions. Oxford: Basil Blackwell.
Boissevain, J., & Mitchell, J. (1973). Netwrok Analysis, Studies on Human
Interaction. The Hague-Paris: Mouton.
Bott, E. (1957). Family and Social Network. London: Tavistock Pubblications.
Bourdieu, P. (1980). Le capital social. . Actes de la recherche sociale , 2-3.
Bourdieu, P. (1986). The forms of Capital. In J. G. Richardson, Handbook
of theory and research for the sociology of education (p. 241-258). New York:
Greenwood Press.
131 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Broadhead, R. S., Heckathorn, D. D., Altice, F., Hulst van, Y., & Carbone, M.
(2002). Increasing drug use adherene to HIV treatment: results of a peer-driven
intervention feasibility study. Social Science & Medicine , 55, 235-246.
Claridge, T. (2004). Social Capital and Natural Resource Management, .
Brisbane: University of Queensland Unpublisched Thesis.
Copello, A. G. (2006). Family interventions for drug and alcohol misuse: is
there a best practice? Current Opinion in Psychiatry , 19 (3), 271-276.
Copello, A., Orford, J., Hodgson, R., & Tober, G. (2009). Social Behaviour
and Network Therapy for Alcohol Problems. Routledge.
Copello, A., Orford, J., Hodgson, R., Tober, G., & Barret, C. (2002). Social
behaviour and network therapy: Basic principles and early experiences.
Addictive Behaviors (3), 345-355.
Copello, A., Williamson, E., Orford, J., & Day, E. (2006). Implementing and
evaluating Social Behavior and Network Therapy in drug treatment practice in
the UK: A feasibility study. Addictive Behaviours , 31, 802-810.
Dekker, P., & Uslaner, E. M. (2001). Social Capital and parfticipation in
everyday life. Routledge.
Folgheraiter, F. (1994). Interventi di rete e comunit locali. La prospettiva
relazionale nel lavoro sociale. Trento: Erikson.
Fraser, M., & Hawkins, J. D. (1984). Social Network Analysis and Drug
Misuse. The Social Service Review , 58 (1), 81-97.
Fukuyama, F. (1995). Social Capital and the Global Economy. Foreing
Afairs , 74 (5), 89-103.
Fukuyama, F. (1997). Social capital in the modern capitalistic economy.
Creating a high trust workplace. Stem Business Magazine (4).
Galanter, M. (2001). Terapia di rete per i disturbi da uso di sostanze. Torino:
Bollati Boringhieri (origi. 1999).
Galanter, M., Dermatis, H., Glikman, L., Maslansky, R., & Sellers, B. (2004).
Network therapy: Decreased secondary opioid use during buprenorphine
maintenance. Journal of Substance Abuse Treatment , 26, 313-318.
Grieco, M. (1987). Keeping in the Family. London: Tavistok Pubblications.
Harkola, J. (1995). The role of Opinion Leaders in the difusion of a
construction technology in a japanese frm. INSA International Social Netwrork
Conference, Proceedings. London July 6-10 1995 , 3 , 249-256. London: INSA.
Jenkins, W. A., Vila-Rodriguez, F., Paquet, K., MacEwan, G. W., Thorton,
A., & Barr, A. (2010). Social Network Characteristics and Efects on severity
of psychosis in a community sample with high prvealence of stimulant use.
132 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Schizophrenia Research , 117, 190-191.
Keller, D. S., & Galanter, M. (1999). Technology Transfer of Network Therapy
to Community-Based Addictions Counselors: New York, New York. Journal of
Substance Abuse Treatment , 16, 183-189.
Kenna, G. A., & Lewis, D. C. (2008). Risk factors for alcohol and other drug
use by healthcare professionals. Substance Abuse Treatment, Prevention and
Policy , 3.
Latkin, C. A., Forman, V., Knowlton, A., & Sherman, S. (2003). Norms, social
networks, and HIV-related risk behaviors among urban disadvantaged drug
users. Social Science & Medicine , 56, 465-476.
Latkin, C. A., Hua, W., & Tobin, K. (2004). Social Network correlates of self-
reported non-fatal overdose. Drug and Alcohol Dependence , 73 (1), 61-67.
Latkin, C., Mandell, W., Oziemkowska, M., Celentano, D., Vlahov, D., &
Ensminger, M. (1995). Using social network analysis to study patterns of drug
use among urban drug users at high risk for HIV/AIDS. Drug and Alcohol
Dependence , 38, 1-9.
Lau-Barraco, C., & Collins, R. L. (2010). Social Networks and alcohol use
among non student emerging adults: A preliminary study. Addictive Behaviours
.
Lazega, E. (2007). Rseaux sociaux et structures relationnelles. Paris: PUF.
Lin, N., Cook, K. S., & Burt, R. S. (2001). Social Capital. Theory and Research.
Transaction publishers.
Machin, J., Merlo, R., & Milanese, E. (2010). Redes sociales y
farmacodependencias. Aportes para la intervencion. Mxico: CONADIC-
Consejo Nacional de Adicciones, Centro de Formacion Farmacodependencias
y Situaciones Criticas Asociadas A.C.
Machin, J., Velasco, M., Silva, Y. E., & Moreno, A. (2010). Eco2. Un modelo
de incidencia en politicas publicas? Estudio de caso de la REMOISSS. Mxico:
CAFAC.
Mair, L. (1965). An introduction to social anthropolgy. Gloucester:
Clarendon Press.
Milanese, E. (2008). La comunidad: basurero de los fracasos de las
instituciones y oportunidad para relaciones de ayuda duraderas e incluyentes.
In M. UNODC, La inclusion social. Una respuesta frente a la farmacodependencia
(p. 21-37). Bogot: UNODC-Ministerio de la Proteccion Social.
Milanese, E. (2009b). Tratamiento comunitario de las adicciones y de
las consecuencias de la exclusion grave. Manual de trabajo para el operador.
133 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Mxico: Plaza y Valdes.
Mitchell, J. (1973). Networks, norms and institutions. In J. Boissevain, & J.
Mitchell, Netwrok Analysis: Studies in Human Interaction. (p. 15-35). Paris-The
Hague: Mouton.
Mithcell, C. J. (1973). Networks, norms and institutions. In J. M. Boissevain,
Netwrok Analysis: Studies in Human Interaction (p. 15-35). Paris: The Hague.
Morin, R. C., & Seidman, E. (1986). A Social Network Approach and the
Revolving Door Patient. Schizophrenia Bulletin , 12, 262-273.
Moscovici, S. (1981). Psicologia de las minorias activas. Madrid: Morata.
Orford, J., Hodgson, R., Copello, A., Wilton, S., & Slegg, G. (2009). To what
factors do clients attribute change? Content analysis of follow-up interviews
with clients of the UK Alcohol Treatment Trial. Journal of Substance Abuse
Treatment , 36, 49-58.
Pappi, F., & Konig, T. (1995). Les organisations centrales dans les rseaux
du domaine politique: une comparaison Allemagne-Etats Unis dans le champ
de la politique du travail. Revue franaise de Sociologie (36), 725-742.
Piselli, F. (2001). Reti. Lanalisi dei network nelle scienze sociali. Roma:
Donzelli.
Pizarro, N. (2004). Un nuevo enfoque sobre la equivalencia estructural:
lugares y redes de lugares como herramientas para la toeria sociolgica. REDES
Revista hispana de analisis de redes sociales , 5 (2).
Putnamm, R. D. (1995). Bowling alone: Americans declining social capital.
Journal of democracy (6), 65-78.
Quaglio, G., Lugoboni, F., Pattaro, C., Montanari, L., Lechi, A., Mazzelani,
P., et al. (2006). Patients in long-term maintenance therapy for drug use in Italy:
analysis of some parameters of social intgegration and serological stastus for
infectious diseases in a cohort of 1091 patients. BMC Public Health , 6.
Rogers, E. M., & Agarwala-Rogers, R. (1976). Communication in
Organizations,. New York: The Free Press.
Siisiinen, M. (2000). Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam.
The Third Sector: For What and for Whom? Bublin: Trinity College - University
of Jyvskyl.
Speck, R. A. (1974). Family Networks. New York: Vintage Books.
Speck, R. (1967). Psychotherapy of the Social Network of a Schizofrenic
Family. Fam. Proc. , 6.
Thomas, C. Y. (1996). Capital markets, fnancial markets and social capital.
Social and Economics studies (45), 1-23.
134 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO TERCEIRO
Tobin, K. E., Hua, W., Costenbader, E. C., & Latkin, C. A. (2007). The
association between change in social network characteristics and non- fatal
overdose: Results from the SHIELD study ion Baltimore, MD, USA. Drug and
Alcohol Dependence , 87 (1), 63-68.
Tornatzky, L. B., & Fleisher, M. (1990). The process of technological
innovation. Lexington MA: Lexington Books, Heath and Company.
Tyler, K. A. (2008). Social network characteristics and risky sexual and
drug related behaviors among homeless young adults. Social Science Research
, 37, 673-685.
Uslaner, E. (2001). The moral foundation of trust. Cambridge: Cambridge
University Press.
Weber, M. (1977 (1921 orig.)). Economia y Sociedad. Mxico: Fondo de
Cultura Economica.
Whitten, L. (2005-2006). Network Therapy Enhances Ofce-Based
Buprenorphine Treatment Outcomes. NIDA Notes , 20 (2).
135 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
CONSTRUO DO CONHECIMENTO,
CONSTRUO DO DISPOSITIVO
Captulo 04
136 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
ndice do captulo
O Encontro com a Comunidade................................................................00
De onde vem a demanda da Ao Social .......................................................................00
Entrar, Encontrar, Estar Na Comunidade
Encontrar Na Comunidade
Redes: Portas Principais de Entrada em uma Comunidade ..........................................00
Conceito de Rede: Primera Aproximao
Lderes de Opinio: Primera Aproximao
Redes de Lderes de opinio e excluso grave
Construir Um Dispositivo Para A Ao Social (Primeira Parte)
Dispositivos Para O Tratamento Comunitario
Construir Um Dispositivo Para A Mudana
Trabalho De Rua E Comunidade
O conceito e os objetivos
Os produtos
Recomendaes, boas praticas e riscos
Aes De Vinculao
Conceito, objetivos e processos
Difculdades
Boas Praticas e lies aprendidas
Aes organizativas
Conceito, objetivo e processos
Recomendaes, Difculdades e Boas Prticas
Aes na rea da sade
Conceito, Objetivos e processos
Recomendaces, difculdades e boas prcticas
Aes e processos de educao no formal
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difcultades e boas praticas
Animao e iniciativas culturais
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difculdades, lies aprendidas
Aes de assistncia imediata
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, boas prticas e difcultades
137 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Conceito
Nas sees precedentes j foi falado mais de uma vez sobre o SIDIEs.
Agora tempo de comear a trabalhar com este instrumento de diagnstico
estratgico. Lembrando que a propsito, s por razes didticas e descritivas
apresentado o SIDIEs neste momento. No dia-a-dia das comunidades e
na realidade do tratamento comunitrio o SIDIEs implementado desde o
incio, ele acompanha a implementao da constituio inicial da equipe, da
sua formao de base, do encontro com a comunidade, das atividades de
vinculao e da construo das redes. O SIDIEs o marco lgico, a construo
do pensamento e conhecimento mediante a ao, a ao investigadora
e de refexo que faz emergir o sentido da ao que ilustra a fora e suas
limitaes.
O SIDIEs como um movimento que encontra-se no mar, se manifesta nas
ondas e nas correntes sem ser nem onda e nem corrente, a fora do pensamento
que constantemente busca relao entre o sentido e a ao, e tira constantemente
fora da frustrao, do sem sentido, das contradies entre sentido e ao, e do
prazer iluminado da coerncia, da congruncia e das alianas entre eles.
Aes de construo de conhecimento
Objetivos e Processos
O objetivo manifesto do SIDIEs realizar o diagnstico da comunidade
local. Porm no h s objetivos manifestos ou imediatos (ou seja, tticos),
existem tambm objetivos de longo alcance; entre esses:
- Aprender a trabalhar com a comunidade promovendo um encontro de
saberes e conhecimentos,
- Construir as redes e o dispositivo para o tratamento comunitrio,
- Obter um conhecimento mnimo da comunidade que permita implantar
aes de processo, superando a necessidade inicial de implementar aes
de vinculao (estas so mais limitadas do ponto de vista estratgico).
CONSTRUO DO CONHECIMENTO,
CONSTRUO DO DISPOSITIVO
138 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Para atingir esses objetivos foi desenhado um marco lgico que consiste
em nove processos de trabalho. Como podemos entender, estes processos de
trabalho esto articulados entre si, mas tem um vnculo. Sugere-se que o SIDIEs
inicie com o primeiro processo: a identifcao da comunidade por parte dos
seus lderes de opinio (pelo menos os no formais).
Os nove processos so os seguintes:
1- Identifcao da comunidade local por parte dos seus lderes de opinio.
2- Estudo dos projetos anteriores ou que estejam atualmente em fase de
realizao na comunidade.
3- Anlise de fracassos e boas prticas (a avaliao na ao).
4- Breve histria da comunidade.
5- Elementos sociolgicos (etnogrfcos e antropolgicos).
6- Identifcao dos temas geradores.
7- Estratgias e elementos de ancoragem e de objetivao.
8- Mitos e formas rituais.
9- Identifcao e descrio dos confitos de base no interior da comunidade
(sistemas e processos de persistncia e mudana).
Recomendaes, difculdades, riscos e boas prticas
fundamental que a construo do conhecimento acerca de cada
um desses processos se d por meio da interao da equipe de operadores
com os membros da prpria comunidade, evitando que seja criado um
conhecimento presumido, sem lastros com a realidade local que vivenciada
diariamente pela comunidade, desaguando em aes de pouca ou nenhuma
efccia.
Para produzir todo esse conhecimento, necessrio delinear, com
clareza, um plano de trabalho que envolva metas, tempos, prioridades e
produtos. Priorizar claramente o conjunto de aes de vinculao e o conjunto
de prioridades de conhecimento, um passo importante para produzir um
excelente processo de construo do dispositivo (ser, saber, fazer e fazer- fazer),
sem mergulhar na ao cega ou no saber intil.
Durante o processo de construo do conhecimento, corre-se o risco de
se produzir uma massa de informaes que no utilizada no planejamento,
desenvolvimento, monitoramento e avaliao das aes, bem como de
intelectualizar o processo, excluindo a participao dos atores da comunidade
que, como vimos, fundamental para a construo de um conhecimento
139 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
acerca de si prprio, garantindo o lastro do saber com a realidade de fato
vivida.
Outro problema que precisa ser enfrentado a tendncia por parte
do operador, de se concentrar na parte da investigao, esquecendo-
se da parte da ao que, como j foi visto, devem caminhar de forma
simultnea. As equipes operativas manifestam uma dupla resistncia: a de
querer conhecer todos os componentes da comunidade antes de comear
a fazer (iniciar aes), e a de fazer sem antes criar um saber conceitual e
metodolgico.
Esta a Dona Izabel, mulher guerreira e moradora da comunidade.
Est sempre em busca de melhorias, participa ativamente de todas as
reunies e conhece bem todos os moradores do bairro. Uma lder!
Esta a Dona Edite, parceira de Dona Izabel. Participa de todas as reunies
que envolvem melhorias na comunidade, como o CONSG, etc.
Este o senhor Naoci, que uma pessoa extremamente envolvida com
o Poder Pblico e que conquistou algumas melhorias para o bairro,
porm, sente-se fortalecido por estar acompanhado em sua busca.
Este o inspetor Rubens, coordenador da rea de comunicao do
Centro de Formao de Segurana GCM. Um profssional muito
envolvido com a comunidade acessvel.
A Eddy tem a funo de fazer visitas nas residncias da comunidade.
representada nesta foto sorrindo porque uma pessoa muito alegre e
bem humorada.
Este o Maurcio, que tem a funo de fazer visitas nas residncias e est
a frente do Tratamento Comunitrio juntamente com a Gi. Tambm se
mostra muito perspicaz e envolvido.
Esta a Anglica, nossa garota relaes pblicas. Muito envolvida com
a comunidade, realizou vrias visitas s residncias para divulgar o
tratamento comunitrio.
140 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Comunidade local e seus lderes de opinio
Conceito
J foi falado muito sobre a centralidade dos lderes de opinio no
tratamento comunitrio. Ento compreensvel que este seja o primeiro passo
do diagnstico: conhecer junto com eles qual a representao que eles tm
da comunidade que eles mesmos contriburam a produzir, que mantm com
vida, da qual determinam as dinmicas, os processos, os contedos, mitos,
maneiras rituais, os temas de gerao, os confitos e suas solues.
Sendo assim, entendemos que sem lderes de opinio no h diagnstico
direto, de primeira mo, no h diagnstico na ao. A rede de lderes de
opinio nasce ao ponto que o diagnstico pode serconsiderado como uma
representao dos lderes de opinio e a rede de lderes de opinio em parte
um dos produtos do diagnstico.
Isto no quer dizer que o diagnstico realizado com os lderes de opinio
seja o nico diagnstico possvel. No isso. Existem diagnsticos feitos por
socilogos, antroplogos, epidemiologistas que produziram e produzem um
saber essencial para a defnio de polticas pblicas absolutamente necessrias.
Sugere-se que estes conhecimentos sejam introduzidos durante a realizao
do SIDIEs de maneira que sejam restitudos comunidade em uma forma que
seja compreensvel e til para que eles possam refetir sobre sua comunidade a
partir do ponto de observao de outros e tomar decises que no se baseiam
unicamente nos seus pontos de vista. Procedendo assim, temos certeza que o
que foi planejado, desde cima, chegue at embaixo, para que as polticas sejam
traduzidas em prtica, e que graas a estes so ento transformadas.
Objetivos, processos e recomendaes
O processo de identifcao dos lderes de opinio no formai, descrito
na seo precedente (Construo da Rede de Lderes de Opinio). agora que
poder ver-se quais so as aes de diagnstico comunitrio que pode se fazer
com os lderes de opinio.
O que procuramos no ter um conhecimento objetivo da comunidade,
mas um conhecimento exclusivamente objetivo. Isto no interfere que os lderes
de opinio tambm sejam capazes de produzir dados objetivos. A hiptese a
seguinte: Considera-se que as pessoas vivem e tomam as suas decises em funo
de como elas percebem a realidade externa e interna, independente do fato que
sua percepo seja verdadeira ou falsa. A percepo que se tem da realidade
mediada pela representao que se tem dela, e entre representao e percepo
141 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
existe uma retroalimentao constante; porm temos primeiro a representao
que orienta a percepo, que faz ver algumas coisas e ignorar outras.
Se a ideia que a Jessica tem de Roberto que ele um homem agressivo,
possvel que ela tambm interprete como condutas agressivas aquelas que
no so. Se Roberto pensa que a Jessica uma mentirosa, tambm ter dvidas
quando ela fala a verdade.
Por esse motivo o que se procura construir coletivamente com os lderes
de opinio a representao que eles tm da sua comunidade, sendo que isso
tem uma infuncia determinante sobre a percepo, sobre as decises, sobre
os estilos das relaes entre pessoas e sobre os estilos de vida.
Para facilitar a compreenso do processo apresentamos um exemplo que
iremos comentando passo a passo (o exemplo de uma experincia no Brasil,
todos os nomes foram mudados para proteger a
confdencialidade das pessoas).
Esta equipe fala da ampliao do SIDIEs
e no da primeira aplicao. Isso signifca o
seguinte: (1) que eles aplicaram este diagnostico
precedentemente, (2) que passou um determinado tempo e decidiram
aplic-lo uma segunda vez porque existiam fenmenos que no tinham sido
observados durante a primeira aplicao.
Consideraes: a atividade de diagnstico na ao uma atividade
constante, sendo que as comunidades locais esto em constante evoluo.
Falando com os lderes de opinio e atores da comunidade a equipe
colhe informaes sobre um grupo de pessoas que invadiram um lote de
terreno. Trata-se de uma representao social que tem os seguintes elementos
de ancoragem: (1) so o maior problema da comunidade, (2) representam um
perigo, (3) incrementaram o numero de furtos, (4) fcou perigoso andar de noite
Iniciamos em junho de 2010 a
ampliao do SIDIEs, aplicamos o
instrumento nas ruas J.P., C. G, V. D.
e I [Brasil 4.1]
Analisando as informaes podemos perceber que a maioria dos moradores reclamam de
um prdio invadido por integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto da regio
central segundo eles o maior problema da comunidade se refere aos moradores do prdio
central, segundo pessoas que representam perigo, relatam que os furtos aumentaram;
andar a noite pelas ruas do bairro se tornou perigoso por ter aumentado numero de
usurios de drogas. A minoria reclama de falta de rea verde, iluminao precria, lixo
nas ruas por conta da feira-livre que acontece na tera-feira, a grande concentrao de
caminhes de uma transportadora em frente s casas. [Brasil 4.2]
142 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
nas ruas do bairro por causa do aumento do nmero de consumidores de drogas,
(5) aumentou o nmero de consumidores de drogas. Um grupo minoritrio
reclama tambm por outros problemas, porm no tem relao direta com os
invasores do lote vazio. Pode-se pensar que tendo uma representao desse
tipo, a comunidade no tem grande disponibilidade de estabelecer nenhum
tipo de aliana ou cooperao com os novos habitantes da sua comunidade.
Neste caso h um confito entre a comunidade e este grupo novo. Este
confito impede o dilogo. Os membros da equipe so aqueles que tomam a
deciso de estabelecer uma ponte. Trata-se de uma ao social. Ento decidem
ir e encontrar este grupo recm chegado. A sua porta de entrada nesta micro-
comunidade R. que os leva at o lder comunitrio desse recinto (ver neste
propsito: Entrar-Encontrar comunidade).
A equipe encontra o lder da comunidade, se apresenta informando-o
sobre quem so, o que fazem e depois vo escut-lo. Observem-se os aspectos
seguintes: (1) o senhor H. lder comunitrio porque uma pessoa indicou -o
como tal. Isto sufciente para comear a estabelecer a rede de lderes de
opinio, mas essa informao tem que cruzar com outras. O Sr. H. no vira lder
porque os operadores da equipe conseguiram estabelecer uma aliana com
ele, mas porque ele representa a comunidade por determinados aspectos da
sua vida cotidiana e isso ainda no esta comprovado. (2) O lder comunitrio
Nos apresentamos ao Sr. H. o lder comunitrio contando a ele um pouco do nosso trabalho
e tambm ouvimos um pouco da sua trajetria na luta por dignidade , nos contou que
esto ocupando o prdio a mais ou menos trs anos. Antes da sua chegada era um ponto
de venda de drogas onde praticamente toda semana havia batida policial. Sabendo desta
situao props ao trfco uma parceria, os moradores sem teto ocupariam o local dando
ao trfco possibilidade de menor prejuzo, no teria tantas batidas policias, pois, famlias
inteiras habitariam o prdio e as famlias por sua vez, dariam uma segurana paralela
onde ningum teria seus pertences furtados e assim se manteria a ordem. Feito o acordo
22 famlias se mudaram para o prdio, [Brasil 4.4]
Com base nessas informaes fomos conhecer no dia 27 de julho o prdio . Ao chegar l
falamos com algumas pessoas que se encontravam na frente dele em especial R. rapaz
negro de aproximadamente 23 anos e sua esposa de 19 anos com flho de um ano no colo
morador do prdio que fez a negociao entre ns e o lder comunitrio permitindo assim
a nossa entrada dentro do prdio. [Brasil 4.3]
143 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
os informa sobre os antecedentes desse recinto ocupado... na verdade est
contando a histria dessa pequena comunidade. Um dos pontos do SIDIEs
conhecer a histria da comunidade porque na histria encontra-se algumas
respostas s perguntas formuladas no presente. (3) Nessa histria encontra-se
um fato importante: o pacto entre os ocupantes e os trafcantes de drogas: uns
protegem aos outros da polcia e os outros permitem aos ocupantes fcar nesse
recinto. O fato de ter tido um aumento de consumo de drogas e insegurana nas
ruas pode ser objetivo, esta aliana, por conseguinte, pode fortalecer o grupo
dos trafcantes permitindo a eles estender o seu negocio. Na verdade no se
pode ignorar que isto teve um impacto negativo para toda a comunidade. (4)
Isto signifca que a representao social negativa que os habitantes de uma
parte do bairro tm dos invasores pode ser subjetiva ao mesmo tempo. (5)
Em relao ao mtodo do SIDIEs vemos que: cada lder de opinio conta os
acontecimentos seguindo sua lgica pessoa, no fca preocupado com os
pontos do SIDIEs, mistura histrias, representaes, mitos, lembranas , vida
cotidiana, problemas, reclamaes. tarefa do operador colher a informao
e comear a organiz-la para poder analis-la. s vezes possivel fazer este
trabalho com as pessoas entrevistadas durante a entrevista mesmo, com outras
perguntas, refexes etc.
Analisando o fragmento, observamos que: (1) Assim que estabelecido o
contato com este lder, os operadores o consideram uma nova e mais amplia
porta de entrada na comunidade: o fato de pedir permisso no s um ato de
boa educao, tambm estabelecer uma aliana, neste caso, para enlaar uma
nova relao, comear a construir uma nova rede no interior da comunidade.
Pedimos autorizao ao Sr. H. para conhecermos as famlias. Ao subirmos at a sala
do Sr. H. tentamos imaginar a realidade de cada famlia. A realidade superou a nossa
imaginao, ao visitarmos algumas famlias nos deparamos com crianas aparentemente
carentes, carinhosas, receptivas, pessoas de semblante sofrido que nos contaram suas
difculdades tristezas e relataram um pouco do que viver nesta comunidade. Disseram-
nos que a vizinhana boa e que nunca so incomodados, que podem fcar na rua, as
crianas podem brincar, tem tudo que precisam perto tem um centro comercial que as
pessoas podem ir caminhando, tem farmcias, supermercados, posto de sade e a igreja.
Conhecemos a famlia da He.. Nem seus flhos nem seus irmos frequentam a escola ou
creche. Seu marido no permite, ele justifca dizendo que est protegendo as crianas de
serem maltratadas por colegas e professores na escola. Conheci tambm I. me de R. De
acordo com os vizinhos a I. alm de vender doces e comida pronta, tambm vende drogas
[Brasil 4.5].
144 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
(2) A representao que os operadores tem dessa comunidade pouco tem
a ver com a que j tinham construdo anteriormente, durante as primeiras
entrevistas, parece o oposto: pobre, com trauma, tranquila, cooperativa,
segura, pacifca. (3) Os habitantes do prdio mandam seus flhos escola mais
prxima e l so tratados de maneira discriminante pelos professores. (4) A
me do R. (a primeira porta de entrada na comunidade que levou ao lder H.)
provavelmente participa na venda de droga. Se isso verdade, o pacto entre
trafcantes e habitantes resultou que alguns habitantes participem no trabalho
dos trafcantes. (5) escutando a os vizinhos que os operadores tiveram a
informao sobre a provvel colaborao da I. na venda de drogas nas ruas.
O que podemos aprender deste exemplo? (1) Como normal na vida
cotidiana do trabalho, tudo acontece ao mesmo tempo e no segue os mapas
mentais que os operadores tm em mente, (2) porm, ter mapas mentais
muito til pois permitem localizar com clareza onde nos encontramos,
sabendo que se deslocar no mapa no quer dizer se deslocar no territrio,
se deslocando no territrio que podemos nos deslocar no mapa. (3) Temos
ainda muito trabalho pela frente para identifcar os lderes: aqui os operadores
identifcaram um (provavelmente) entre eles. Os outros sero identifcados
atravs de outros dias e noites de trabalho na rua, de atividades de vinculao,
etc. (4) Escutar aos lderes importante, porm eles daro seu ponto de vista
a partir da sua posio e poder, com a fnalidade implcita ou explcita de
mant-lo e se possvel de refor-lo. Por esta razo vale a pena tambm pedir
a opinio das pessoas que no so lderes.
Vamos ver agora outro exemplo no qual o trabalho de identifcao de
lderes encontra-se em um estado mais evoludo. A tabela 4.1 a resposta da
seguinte pergunta: complete a tabela pensando em quem um ator na sua
comunidade. Aqui a pergunta feita no quem um lder de opinio na
sua comunidade... esta pergunta regularmente no se faz... mas quais so as
pessoas que ns consideramos ativas em favor da comunidade. Podemos ento
considerar esta lista de atores como uma lista de lderes de opinio.
A modalidade com a qual se estabeleceu essa lista por meio de um
trabalho de grupo com os membros da equipe. Ento so os operadores
que produzem essa sistematizao utilizando as informaes que tem e
entrelaando-as entre eles.
Esta uma modalidade de construo de rede de lderes de opinio. O
risco desta modalidade que esta rede seja a representao das relaes no
interior da equipe que a constri.
145 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Tabela 4.6. Lderes de opinio
Quem
ator na sua
comunidade?
O que ele/ela faz?
Participa dos encontros realizados
por vocs? Se no, explicar o
motivo.
Srgio
Diretor do ginsio de esportes e
porteiro da Escola Municipal Maria
do Carmo.
Participa assiduamente
Dona Maria
Moreira
Coordenadora do Grupo de
Mulheres Sagrada Famlia e
zeladora da Capelinha.
Participa assiduamente
Marilene
Jurista popular e lder na
comunidade.
Participa. Nesta ltima etapa
est mais afastada devido a estar
trabalhando em outro municpio e
estudando.
Antnio
Carlos
(Profssional)
Presidente da associao
de moradores do CN e
desenvolvimento de trabalho
voluntrio junto a crianas e
adolescentes na rea de esporte.
Participa assiduamente. Contribui na
divulgao dos eventos e atividades.
Ceia
Participa do Grupo MC e voluntria
do CDHC.
Participa assiduamente. Tem
dado uma valiosa contribuio na
organizao das FS.
Gorete
Professora da Escola Municipal
desenvolve o Projeto Sade
e Preveno na Escola com
adolescentes.
Participa. Gorete tem um tempo
muito corrido, pois d aula na escola
e no mora no bairro.
Ccero
Coordenador do Grupo
Desbravadores da Igreja (Jovem).
Nesta ltima etapa se envolveu
muito com a organizao das Feiras
Solidrias. Tambm fez uma boa
mobilizao dos jovens do seu
grupo.
Katecia Jovem do grupo Desbravadores. Mesmo que no caso de Ccero.
Chico
Jurista popular e agente de sade
da rea.
Participa assiduamente. agente de
sade da rea.
Jos
Gonalves
Comerciante, feirante e voluntrio
no projeto.
Participa assiduamente. uma
pessoa madura e se disponibilizou a
participar.
Seu Silva
Membro da igreja evanglica,
trabalha na rea de artesanato,
turismo e educao ambiental.
Participa.
Este risco pode ser reduzido utilizando o procedimento descrito no
Captulo 3, na sesso Construo da Rede lderes de opinio.
O que obtemos : (1) uma lista de nomes, (2) a descrio de um papel
social, quer dizer, a atividade pela qual essa pessoa reconhecida nessa
comunidade, (3) as caractersticas da sua participao nas atividades que essa
146 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
o que faz falta aqui ver quais so as
relaes de rede que estes lderes tem
entre eles. Como se procede neste
caso? Uma maneira perguntado
diretamente a cada um deles. Neste
caso a pergunta seria a mesma quais
so segundo a sua opinio os atores
desta comunidade?
Um primeiro indcio para ter
uma ideia da rede que eles constituem
equipe organiza.
Como vemos, sem dvida, trata-
se de uma lista de lderes de opinio.
Porm, tem uma limitao: a lista dos
lderes de opinio vinculada equipe.
No uma lista de lderes de opinio
que representa a comunidade. Em
termos de tratamento comunitrio,
poderamos dizer que se trata da
parte complementar da equipe, ou
seja, daquele grupo de pessoas que
juntamente com a equipe constituem
a rede operativa (com a condio
que as interconexes entre esses
atores e os membros da equipe sejam
explicitadas) e provavelmente uma
futura minoria ativa. O que podemos
pensar que a representao da
comunidade que vamos atingir com
estes atores/lderes ter provavelmente
uma maior proximidade com a equipe
em relao comunidade (no assim
necessariamente).
No satisfeitos com este
primeiro resultado, buscaram outras
informaes:
Com este novo esforo a equipe
obteve outros nomes:
Que podemos aprender deste
exemplo? (1) podemos aprender
como se constri aos poucos uma
rede de lderes de opinio: ou seja,
identifcando aos atores comunitrios;
(2) que as duas caractersticas mnimas
para poder comear a entender a
organizao dos lderes de opinio
so seu nome e seu papel social (3)
Na perspectiva de contribuir ainda
mais com a efetividade da ao,
realizamos uma nova pesquisa na rea
delimitada e identifcamos novos lderes
que sero convocados a participar do
processo. Os dados foram levantados
atravs de entrevistas com moradores e
visitas domiciliares. [Brasil 4.7]
Dona Menta
Me de um educandodo C. Hlder Camara
L
d
e
r
e
s
d
e
O
p
i
n
i
o
d
a
C
o
m
u
n
i
d
a
d
e
A
R
A
T
U
[
B
r
a
s
i
l
4
.
8
]
Irmo Ronaldo
Pastor da Igreja Evanglica Pentecostal
Seu Severino
Comprador de material reciclvel
Alana
Jovem
Dona Vera
Beto
Dona Neide
Bethnia
Agente de Sade e flha do seu Chico
Aroldo
tcnico em eletrnica e muito criativo
Cludio
adolescente
147 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
seria ver (a) quantos so ao fnal os atores dessa comunidade (tamanho da
rede), (b) quais so os mais nomeados (os que tm mais poder de infuncia), (c)
as relaes que tem entre eles (dependncia, reciprocidade, etc.), (d) como eles
se organizam (quais so os subgrupos e as relaes entre eles), (e) a densidade
desta rede (se todos esto relacionados da mesma maneira com todos ou se
h diferenas), etc. E em base a isto ter uma ideia mais clara do signifcado
e das consequncias do que dizem. A explorao de uma rede de lderes
uma viagem fascinante dentro do inconsciente de uma comunidade, por isso
um trabalho constante, porque o no pensado fui e muda constantemente,
utilizando a energia produzida pelos confitos no declarados, pelos intereses
ocultos, pelo desejo de mudana e pelas necesidades bsicas insatisfeiras.
Difculdades e boas prticas
A difculdade principal a de manter uma constante atitude de pesquisa,
de no se parar quando se tem os nomes de algumas pessoas, quando se
conhecem as suas funes, e sim ir mais para frente: (1) seguir procurando
outros nomes e outros papis sociais
porque a vida comunitria produz lderes
em continuidade, eles so os que garantem
a sua organizao, seu sentido e sua
sobrevivncia (e as vezes todo o contrrio);
(2) continuar tentando entender as relaes
que eles tem entre eles e com a equipe, pois
nestas relaes residem as motivaes e o
signifcado das comunicaes, das mesmas
relaes e das decises que eles tomaro.
A viabilizao da rede de lderes exige um pouco de trabalho de
escritrio: registrar a informao, organizar os papis de maneira que seja fcil
utilizar a informao registrada, estudar a informao registrada, resumi-la
analis-la, sistematiz-la. s vezes as equipes consideram tudo isso uma perda
de tempo. Trata-se de encontrar a maneira que permita a todos fazer este tipo
de atividade. Sem esta atividade no h memria histrica, no h memria e
a condiviso dos contedos fca difcil e precria.
Para a viabilizao ou construo da rede de lderes de opinio podem
se adotar tcnicas diferentes: desde a mais simples que o trabalho de rua
e de comunidade (perguntas informais), at ofcinas, grupos focais, jogos,
animaes, etc. O que importa neste caso (1) a qualidade da relao que
148 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
produz a informao, (2) as qualidades (fdelidade) da recompilao, (3) a
maneira com a qual analisada. Se no existe um trabalho de relao, refexo,
anlise, sistematizao e elaborao de um produto fnal, as modalidades
de produo de informao (ofcinas, jogos, animaes, etc.) podem ter um
certo efeito emocional e as vezes tambm de aprendizagem, porm no tem
nenhuma ou quase nenhuma conseqncia para o processo em si.
Anlise de boas prticas e de fracassos
Se estamos procurando uma maneira de construir uma rede de recursos
comunitrios, o conhecimento dos atores, o estudo das prticas do passado e
do presente e do seu signifcado para a comunidade certamente um bom
incio.
Conceito
O fato de uma organizao comear a trabalhar em uma comunidade
de alta vulnerabilidade no signifca que nesse momento comece o mundo.
Para transformar em prtica de trabalho essa refexo oportuno tomar
em considerao pelo menos dois fatos, o primeiro que uma comunidade
sempre trata de enfrentar os seus problemas. Isto no quer dizer que o faa
com o mnimo de danos para todos os seus membros (as comunidades
locais as vezes excluem em maneira trgica e dramtica). Mesmo assim, se
as comunidades continuam existindo isso quer dizer que existem formas de
solidariedade, de ajuda mutua, de identifcao de problemas e de atuao de
solues. importante evidenciar essas formas comunitrias de construir bem
estar ou de reduzir danos e sofrimentos, porque isso o que a comunidade
sabe fazer e j aceitou. possvel que muitas dessas maneiras de ajudar sejam
tambm recursos reais (ou seja, mais construtivas do que destrutivas) para a
comunidade e includas entre as atividades do programa.
Os projetos/aes citados abaixo no foram desenvolvidos na comunidade. Como j
mencionamos a comunidade muito carente de iniciativas, praticamente nenhum projeto
foi desenvolvido, os lderes e atores no conseguem citar nenhuma ao que tenha sido
desenvolvida especifcamente com a comunidade.
Neste sentido, ao trabalhar essas indagaes com o grupo, os mesmos no souberam dizer
ou desconheciam se havia acontecido alguma ao naquela rea.
Os projetos e aes citados abaixo no tinham como foco a comunidade, mas sua anlise
trouxe elementos signifcativos para sistematizao da nossa proposta. [Brasil 4.9]
149 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Em segundo lugar possvel
que outras organizaes estiveram e
ainda estejam ali desde muito tempo,
e ainda com mais probabilidade
estiveram tambm instituies
governamentais (servios sociais,
polcia, sade, educao, etc.). Essas
experincias tambm tm que ser
consideradas.
O princpio que consideramos
aqui que cada projeto, cada
iniciativa ou programa se insere em
um fuxo de aes sociais que tem
uma histria, e que esta histria tem
tambm infuencia no que se est
A avaliao do sucesso ou fracasso tem
pelo menos trs vantagens: (1)saber o
que a comunidade pensa das atividades
implementadas por outros atores, (2)
conhecer quais so os critrios que a
comunidade tem para valorizar o que
se faz, (3) entender quais so as regras
de fracasso e bom resultado dessa
comunidade (como ela se organiza
para fazer fracassar ou obter bons
resultados).
Isso quer dizer que no est se
procurando uma valorizao objetiva
do j feito, mas sim uma valorizao
subjetiva da comunidade. Tambm no
se descarta que valorizao subjetiva e
a objetiva possam coincidir. [Ponto de
refexo 4.1]
Tabela 4.2.
Nome do
Projeto e
pblico alvo
Resultados
alcanados
Principais
caractersticas
Fracassou ou deu
certo? Por qu?
O que dessa
experincia passada
ser considerado para
o projeto que vocs
implementaro?
Projeto
Educando para
Vida.
Alunos da 4
srie (tarde)
No existe
registro dos
resultados
alcanados
Aulas no fnal
do expediente
ministradas por
um professor
tratando sobre o
tema drogas
Fracassou. No
teve continuidade
A ao precisa ser
pensada e planejada
de acordo com as
necessidades da
comunidade tendo
processos de avaliao e
continuidade
Juristas
Populares
Aes na
rea do meio
ambiente
Aes integradas
comunidade
Vem dando certo.
Os Juristas moram
ou trabalham
na comunidade.
Precisam
investir mais na
mobilizao da
comunidade
Capacidade de
mobilizao da
comunidade. Trabalhar a
formao de lideranas
da comunidade para que
dem continuidade as
aes
[Brasil 4.10] Esta tabela resume aguns elementos que ajudam a ter uma ideia do que permite ter resultados
favoraveis ou nao: (1) garantir a continuidade (2) ser membro da comunidade (3) um planejamento que
considere as necesidades da comunidade ( 4) capacidade de mobilizacao ( 5) formacao de lideres (6) acoes
integradas. Aquilo que fca claro e que se pode aprender dos xitos e dos fracassos a condicao que se quer
aprender deles.
150 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
fazendo. A consequncia disso que tem que se valorizar e fortalecer o que
fortaleceu a comunidade no passado, e sim conserv-lo; e tem que transformar
(inovar) o que produziu mais danos do que benefcios. Comear sempre tudo
de novo por um lado uma iluso, quer dizer que mesmo que quisermos no
o atingiramos, e pelo outro uma perda de tempo.
Objetivos e processos
Entende-se que os objetivos deste passo
do SIDIEs so: (1) recuperar o que a comunidade
sabe fazer em benefcio do seu desenvolvimento
e bem estar, (2) recuperar tambm o que outros
atores fzeram no passado ou talvez esto fazendo
no presente para criar sinergias, colaboraes
e parcerias: construir uma rede de recursos
comunitrios.
Com relao aos programas ou projetos
implementados pelas instituies ou organizaes, pode-se resultar til seguir
este processo:
(1) Fazer uma pesquisa secundria para ver quais so as atividades
implementadas por outras instituies ou organizaes nessa comunidade (em
todos os mbitos do social: sade, educao, segurana, cultura e esporte, etc.).
(2) Trabalhar com os lderes de opinio e outros atores o que j foi feito
na comunidade com outras organizaes e instituies. Este trabalho pode ser
feito com entrevistas, ofcinas, etc. uma boa prtica utilizar as informaes da
pesquisa secundria para ajudar aos atores secundrios a lembrar com mais
preciso.
(3) Ter uma valorao do feito em termos de sucesso ou fracasso de cada
uma dessas atividades. Isso signifca ter uma avaliao positiva ou negativa
incluindo as motivaes dessa avaliao e s critrios para defnir os conceitos
de fracasso ou sucesso.
Com relao as atividades implementadas pela comunidade podemos
proceder por meio de entrevistas diretas, ofcinas, reunies, debates,
animaes, teatro comunitrio, relatos de histrias, anlise de jornais locais,
etc.
Vejamos um exemplo prtico de como isso foi implementado em uma
comunidade. O procedimento foi o seguinte:
151 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
(1) Primeiro Passo: foram organizados diferentes ofcinas com diferentes
atores: lderes de opinio, adultos, populao da rua, representantes ofciais,
gente comum. Foram realizadas tambm entrevistas no formais durante o
trabalho de rua. Foi feito tambm um trabalho de identifcao dos temas
geradores espontneos e induzidos. E por meio deste trabalho foram
identifcados os argumentos dos quais os atores comunitrios falam dos seus
problemas e o que eles fazem para enfrent-los.
(2) No fnal desta etapa temos uma lista do que a comunidade faz para
enfrentar os problemas da mesma comunidade subdividida por atores: lderes
de opinio, pessoas que moram na rua, adultos, representantes ofciais, etc.
Esta lista pode ser to detalhada o quanto se deseja e necessita.
(3) Segundo Passo: com a lista de o que a comunidade se faz feita
uma refexo sobre quanto exitosas sao essas aes. Essa valorao se faz com
entrevistas individuais, por grupos, em ofcinas, em reunies, debates, etc.
A contruo de critrios de valorao os mais claros e simples possveis
e importante. Neste caso, pode-se perguntar s pessoas se consideram que
uma determinada ao foi um xito ou um fracasso, e de dar a sua resposta um
valor de 0 a 10, onde zero signifca fracasso total e 10 xito total. Por exemplo,
5 signifcaria nem xito e nem fracasso.
A avaliao do sucesso ou fracasso da comunidade apresentada no texto considera
atividades implementadas por atores formais (igrejas, grupos formais, etc.) fazendo
a anlise de fracassos utilizando duas aproximaes diferentes: primeiro a de tratar
e considerar se a atividade teve xito ou fracasso explicando o motivo. A segunda
procurando quais deveriam ser as caractersticas dessa ao no caso em que se pense
implement-la de novo.
Os elementos de xito e fracasso mencionados so: continuidade e descontinuidade,
pertencer e no pertencer comunidade, planejamento e no planejamento, com e sem
fator religioso, com e sem avaliao, aceitar e no aceitar as diferenas ou diversidades,
rigidez e fexibilidade, sistematizao e no sistematizao.
A presena de formas organizadas constitui uma base de incio para a construo de uma
rede de recursos comunitrios.
Podemos pensar que uma breve pesquisa secundria provavelmente recuperaria algumas
atividades implementadas por atores institucionais ou outras organizaes na rea da
saude, educao formal, segurana, moradia, etc. Independentemente do fato que a
populao de uma comunidade local considere xito ou fracasso uma ao implementada
por um ator institucional pblico, possuir dados sobre a presena ou ausncia de atores
pblicos e de seu impacto na vida da comunidade local um elemento essencial. Nestes
casos a investigao secundria relevante e necessria para a tematizao da nossa
proposta. [Ponto de refexo 4.2]
152 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Pode parecer um exerccio mecnico, mas na realidade se observou que
pe as pessoas a pensar e a discutir com as outras.
Como se comentava anteriormente, com as outras, especialmente para
construir um consenso sobre o que se entende por sucesso ou fracassoa, a
avaliao que se obtm subjetiva e permite entender quais so as regras do xito
e do fracasso, e ainda quais as suas representaes. Por tais razes importante
entender este aspecto: porque a tendncia e a persistncia na comunidade local
podem favorecer mais o fracasso do que o xito.
O que obtemos no fnal saber o que os grupos dessa comunidade
(incluindo os lderes de opinio e a rede operativa) pensam do que se est
fazendo na comunidade para dar respostas a algumas das difculdades. No total
participaram desta valorao 183 pessoas, das quais 24 so lderes de opinio
formal, 30 so lderes de opinio no formal e 68 so pessoas que moram na rua,
os restantes so membros da rede operacional.
Podemos ver na tabela Mxico 4.1 o que as pessoas pensam que esto
fazendo os lderes de opinio e qual a valorao do sucesso ou fracasso que
tem dessas aes ou iniciativas.
Neste caso no podemos dizer que o prognstico sobre o que os
lderes de opinio fazem ou pretendem fazer seja positivo. Este prognstico
constitui ao mesmo tempo, como lgico, uma previso, mas tambm
como uma expectativa (uma espcie de profecia que se auto cumpre). Neste
sentido tambm se diz o que as pessoas pensam dos seus lderes de opinio:
reconhecem estar vinculadas a eles e ao mesmo tempo no consideram que
suas aes produzam benefcios para eles.
A tabela Mxico 4.2 reproduz a lista das aes feitas pelos adultos e o
Tabela [Mxico 4.1]
Lderes de Opinio Pronstico
1 Encaminham os jovens a diferentes lugares para ser atendidos de suas
problemticas.
3
2 Fazem contato com organizaes para faz-las trabalhar na comunidade. 3
3 Procuram apoio para pessoas invalidas. 3
4 Apresentam-se como candidatos a deputados 1
5 Impermeabiliza os tetos das moradias e doam pintura para pintar as paredes 5
6 Se aproximam aos candidatos a deputados 5
0: previso de um resultado nulo, e 10: previso de resultado totalmente positivo.
153 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Tabela [Mxico 4.2]
Adultos Previso
1 No permitem o estabelecimento de novas iniciativas de trabalho com populao de rua,
pois tem muitas experincias de fracasso e essas experincias vo atrair novas pessoas em
situaes muito difcil as quais no ser possvel atender.
3
2 Recusam a declarar ante o ministrio publico depois de alguma agresso por medo s
represlias.
4
3 Convocam reunio de vizinhos para chegar a acordos sobre a iniciativa que ser feita. 6
4 Quando os jovens das moradias brigam com os que moram na rua, os adultos s
observam e os animam para seguir brigando.
3
5 Esto em desacordo com a cafeteria mvel (drop in) porque menciona que se deveria
trabalhar nas moradias.
5
7 Reagem violentamente ante qualquer provocao . 2
9 Os adultos das moradias brigam com dona J. que vende a droga aos rapazes das
moradias.
3
11 Advertem aos usurios que se no param de se drogar no tero os flhos de volta. 4
13 Quando algum se ope a um assalto apanhado. 3
14 Batem nos garotos mais novos. 2
15 Levam policia no jardim para deter aos que roubaram. 3
16 Se aproximam aos candidatos a deputados espera de receber algo de graa. 3
19 Ficam bbados para se perder e no procuram aos flhos que acabam nos cuidados de
outras mulheres ou pessoas da creche os quais depois abusam das crianas.
1
20 Cuidam do flhos das profssionais do sexo quando estas vo trabalhar. 5
21 Do dinheiro e po aos jovens da rua para no ser interrompidos e tambm para se
relacionar com esta populao.
2
24 Pedem que se denuncie os rapazes que roubam. 1
27 Abusam sexualmente dos seus flhos mais novos quando tem problemas com suas
parceiras.
1
28 Os adultos da rua so enviados por algumas pessoas a comprar inalantes ou outro tipo de
droga e em troca recebem uma quantia de dinheiro ou um pouco de droga.
1
30 Os adultos da rua deixam pede a sua mae ou irms de cuidar de seus flhos e de levar-los
a escola.
6
31 Os adultos da rua mantm aos seus flhos pequenos com frequncia dormindo nas caixas
de papelo em quanto elas consumem drogas ou esperam clientes.
1
32 As mulheres profssionais do sexo preferem ir a trabalhar em outros estados do pais
quando as coisas no esto bem no bairro ou para fcar longe das drogas.
2
39 Colocam cruzes e velas para que os seus flhos ou conhecidos possam recuperar a sade. 2
40 Rezam e prometem mudar ao So Judas. 2
41 Batem nas suas mulheres quando as consideram expertinhas . 1
A tabela completa contm 44 itens.
154 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
prognstico do sucesso ou fracasso feito pelos mesmos adultos da comunidade.
Nesta tabela temos ento o que os adultos consideram que est se fazendo na
comunidade e a opinio que eles tm sobre quanto sucesso podem ter essas
aes. Se observa que de todas as coisas que esto se fazendo s trs so
consideradas de sucesso: 3,22,30 (ver tabela Mxico 4.3).
Se considera que entre 0 e 5 o prognostico negativo. Fazendo a media
de todos os valores desta tabela o resultado de 2,7, o qual signifca que os
atores que participaram desta refexo esto de acordo sobre o fato que aquele
que eles mesmos fazem tem altas probabilidades de fracasso. Frente a este
dado, pode-se fazer pelo menos dois tipos de refexo. A primeira que neste
grupo parece existir uma regra de persistncia que diz assim: se nos fazemos
algo que consideramos inefcaz ento no muda nada, isto , no fundo o que
queremos. Outra verso desta mesma regra : se nos consideramos inefcaz o
Tabela [Mxico 4.3]
3 Convocam reunio de vizinhos para chegar a acordos sobre a iniciativa que vo tomar. 6
22 Conseguem trabalho que permite poupar dinheiro para alugar um quarto 6
30 Os adultos da rua deixam aos flhos aos cuidados da me e irms para que elas as
levem na escola.
6
Tabela [Mxico 4.4]
Populao da rua
P
r
o
n
s
t
i
c
o
C
a
t
e
g
o
r
i
a
1 Pedem dinheiro 3 1
2 Fazem exibies de Faquirismo para ganhar alguns centavos 3 1
3 Pedem aos seus familiares ou amigos que lhes compartam droga 3 1,2
4 Batem nos rapazes novos 3 3
5 Deixam aos seus flhos em casas de familiares porque tem medo que o poder
publico se apresente na comunidade e levem os seus flhos.
5 4,7
6 Eles mesmo se protegem frente aos roubos 5 4
7 Se protegem na tenda quando chega a policia 3 4,6
8 Rejeitam s pessoas que no lhes do presentes. 3 1
9 Visitam a Baslica 5 5
10 Insistem em querer entrar no drop in movl levando drogas 2 6
11 Internam aos seus flhos para que recebam educao e servios de sade 5 7,8
12 Pagam a algumas senhoras que cuidem dos seus flhos 2 7
13 Vendem roupa usada no mercado. 5 1
155 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
14 Tentam largas as drogas fazendo trabalhos domsticos, alguns ajudam ao pai a
limpar na igreja. .
5 1,2
15 Batem nas mulheres para manter elas abstemias ou quando eles querem que elas
usem drogas.
3 3,2,
8,10
16 Levam aos doentes no hospital, porem no fcam responsveis deles. 4 8
17 Pedem dinheiro por todos os favores que eles fazem 2 1
18 Organizam pastel para as crianas que moram na rua com suas mes. 5 8
19 Se organizam para dormir em um quarto de hotel . 5 8
20 Destroem os pertences das pessoas que eles acham que no so agradveis. 3 3
21 Provocam os policiais para brigar 3 3
22 Relacionam-se com varias instituies para poder sobreviver 5 1
23 Guardam suas coisas importantes na casa dos seus amigos 5 4
24 Os garotos da rua fogem do parque quando tem controle da policia, mas depois
voltam
4 4
25 Experimentam os diferentes comprimidos em busca do mesmo efeito mas
procurando evitar aqueles que geram sensao de fcar meio tonto.
4 2
26 So internados em centros recuperao pelos familiares ou casais quando esto
consumindo drogas demais.
2 8,10
27 Vendem as coisas que as instituies do de doao para comprar drogas ou as
trocam por droga.
3 2
28 Robam dos mais debeis tirando as coisas doadas que eles recebem das
instituies
2 3,1
29 Roubam a droga entre eles 2 3,2
30 Algumas vezes as mulheres que se prostituem tem que levar ao servio aos flhos
porque no tem onde deix-los, e eles fcam assistindo o ato todo.
3 7
31 Do aos flhos porque no podem mant-los . 2 7
33 Provocam e iniciam brigas. 1 3
34 Fazem juramentos religiosos com madrinhas e padrinhos para que o juramento
tenha validez.
6 5,10
35 Procuram creches para que cuidem das crianas em quanto eles procuram
trabalho ou trafcam.
6 7,8
36 Se dedicam a roubar e sem fazer mais nada 2 3,1
37 Ajudam aos operadores da tenda a carregar o armao 2 6
38 Quando alguma garota fca doente ou fca muito tempo morando na rua, vo
morar em casa de outras pessoas que oferecem as suas casas e que moram
sozinhos.
3 8
39 As meninas que encontram os seus parceiros com outra mulher brigam tanto
com ele quanto com ela.
1 3
40 Quando as mulheres da praa sentem que os seus flhos tem muito apego drop
in movel e aos operadores, param de levar eles por medo a perde-los.
2 6
41 Se refugiam dos policiais no drop in movel. 2 6,4
42 Pedem ao padre gua benta para acalmar aos seus flhos que no param de
chorar
3 5
156 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
43 Fogem dos centros de recuperao e tem relaes sexuais com os operadores
destes
1 10
44 Depois de sair da casa dos pais elas no voltam por terem vivido tudo aquilo na
rua
2 9
45 Pedem que algum leve elas a algum albergue quando se encontram
desamparadas dos parceiros e amigos.
2 8,10
46 Pedem que algum lhes d comida e caf no drop in movel. 1 6,1
47 Algumas irms dos rapazes da rua as procuram para lev-las de volta em casa. 3 8,9
48 Comeam a vender inalantes ou outras drogas como fazem as mes e os pais. 1 1,2
49 Os flhos dos rapazes brincam de se bater e no fnal se abraam e se beijam 1 3
50 Os jovens batem nas suas mulheres, mesmo quando elas os encontram com
outras mulheres.
1 3
51 Matam outras pessoas 1 3
52 Trabalham para ganhar dinheiro e visitar aos seus flhos que encontram-se em
diferentes albergues do estado.
4 1
53 Alguns jovens se aproximam aos policiais para servir de informantes e obter com
isso alguns benefcios.
1 1
54 Ensinam aos mais jovens a se defender e a robar para sobreviver na comunidade. 1 1,3
55 Levam aos alcolatras nos centros de recuperao quando j no conseguem
comer nem mover-se.
4 8,10
56 As crianas da rua se sentem responsveis do cuidado dos irmos mais novos. 4 8,9
57 Os jovens da rua tem relaes sexuais para conseguir dinheiro, mas no caso dos
homens isso mal visto e motivo de agresso.
1 1
58 Os jovens da rua se defendem entre eles mesmos quando a polcia os quer
prender, porm algumas vezes um esforo com muito risco.
4 3,4
59 Os transexuais vendem cocana. 1 2
61 Os jovens que pararam de se drogar vo conversar com os seus amigos na praa
da comunidade para que eles deixem a droga.
7 8,10
62 As crianas e os jovens dos prdios vem para brigar com os jovens da rua 1 3
63 Quando os jovens se sentem agredidos pelos garotos da rua, levam aos garotos
do bairro para batam neles, isso como vingana.
1 3
que fazemos, nos mesmos favorecemos o fracasso de nossas aes; como se o
propsito de fundo fosse fazer aes inefcazes.
Na tabela 4.6 vemos o exemplo que responde a mesma pergunta um
grupo de atores entre a populao da rua.
Aqui tambm a pergunta : como utilizar este material. Prope-se aqui uma
abordagem que obviamente no a nica possvel. Pode-se iniciar com uma
primeira pergunta. Quais so os temas principais dos quais falam os habitantes
de rua, ou como se podem reunir estas aes que eles fazem de maneira que
seja possvel ter uma viso sinttica e global. Fazendo uma anlise de contedo,
utilizando as palavras chave se encontram as seguintes categorias:
157 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
1- Subsistir (16)
2- Droga (8)
3- Violncia (16)
4- Auto proteo (7)
5- Religiosidade (3)
6- Drop in mvel (4)
7- Relaes com os flhos (6)
8- Formas de ajuda (13)
9- Famlia (3)
10- Tratamento e reabilitao (6)
Desta primeira organizao dos dados se pode apreciar a importncia e o
peso da violncia das aes de subsistncia e tambm das formas de ajuda. Todas
consideradas ao ms tempo frequente e com alta probabilidade de fracasso. Ns
encontramos aqui, provavelmente frente as mesmas regras de fracasso que se
encontraram analisando o marco das aes feitas pelos adultos.
Observamos que entre as aes ou estratgias adotadas pela
comunidade e em especial pela populao de rua, algumas so efetivamente
dramticas (ver tabela 4.7).
A pergunta agora : que fazemos quando obtivermos todo este material?
Entre as respostas podemos incluir as seguintes:
(1) O processo pelo meio do qual se obtm este material o elemento
fundamental. A maneira com a qual os atores comunitrio participam em
cada momento para eles um processo de formao e mudana. Por isso a
construo destes processos fundamental. Este processo est constitudo
pela relao individual, o trabalho em grupos, as festas, os grupos de debate
e discusso, as ofcinas, os jogos, as aes de enganche, etc. A criatividade das
Tabela [Mxico 4.5]
20 Destroem os pertences das pessoas que eles acham que no so agradveis. 3
21 Provocam brigas com a polcia. 3
28 Roubam dos mais dbeis coisas doadas que eles recebem das instituies 2
30 Algumas vezes as mulheres que se prostituem tem que levar ao seu servio seus flhos
porque no tem onde deix-los e eles observam o ato todo.
3
31 Do aos flhos porque no podem mant-lo. 2
48 Comeam a vender inalantes ou outras drogas como fazem as mes e os pais. 1
51 Matam as pessoas. 1
158 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
culturas locais o fator central.
(2) Fazer este tipo de trabalho fazer tratamento comunitrio!
Construindo estas tabelas (sobre tudo quando trabalhamos em grupo)
na realidade se evidenciam as maneiras com as quais as comunidades se
defendem, excluem, negam a evidncia, e tambm constroem sentido. Assim
possvel assim colocar um pouco de luz no inconsciente das comunidades,
criarem conscincia. Este tipo de processos corresponde a fazer preveno,
um trabalho da psicologia social e da clnica comunitria. Nisto tambm
diferenciamos o trabalho psicolgico clssico (enfocado no sujeito portador
do problema) do trabalho psicolgico com a comunidade, onde o sujeito a
comunidade, as redes, seus lderes de opinio, as maneiras como as opinies e
as representaes se formam e podem mudar.
(3) Por meio deste trabalho valorizamos tambm os recursos (respostas)
que a comunidade tem. Podem se evidenciar, reforar, organizar. Quando
fazemos isto estamos fazendo preveno/organizao que o componente
primeiro de tratamento comunitrio: construir organizao, construir um
dispositivo para melhorar as condies de vida.
Se observarmos as respostas que foram consideradas como
possivelmente de sucesso se evidencia: o contato ou pedir ajuda a instituies
ou organizaes e auto se organizar.
Tabela [Mxico 4.6]
Populao da Rua Pronstico
5 Deixam seus flhos em casa de familiares porque tem medo do poder publico
se apresente na praa e e levem embora os flhos.
5
6 Se protegem entre eles dos roubos. 5
9 Visitam a Baslica. 5
11 Internam a seus flhos para que eles recebam educao e servios de sade. 5
13 Vender roupa usada . 5
14 Tentam largar as drogas fazendo tarefas de casa, alguns ajudam ao padre a
limpar a igreja.
5
18 Organizam pastel para as crianas que moram nas ruas com seus flhos. 5
19 Se organizam para pagar um quarto de hotel e fcam ai mesmo. 5
22 Relacionam- se com varias instituies para poder sobreviver. 5
23 Guardam suas coisa importantes em casa de amigos. 5
34 Fazem juramentos religiosos acompanhados de madrinhas e padrinhos para
que o juramento seja verdadeiro.
6
35 Procuram creches para que cuidem s crianas enquanto eles procuram
trabalho ou trafcam.
6
62 Os jovens que pararam de se drogar vo a conversar com os seus amigos na
praa para que eles tambm parem de se drogar.
7
159 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
O processo de anlise de xitos e fracassos podem concluir-se tratando de
estabelecer com os atores comunitrios quais so as aes que seria oportuno
implementar, e quais so as suas probabilidades de xito. Ver na tabela 4.9 que
reporta o resultado de um trabalho de grupo feito com lderes de opinio e
neste caso a pergunta era: o que fazer com o tema de consumo de drogas.
Parece que os lderes de opinio do mais probabilidade de sucesso ao
trabalho nos conjuntos habitacionais (em relao ao trabalho de rua). Isto
verdade com a condio que se levem as crianas de rua. A separao entre
crianas dos prdios (os que tem casa ali) e as crianas de rua (que tem a rua
como casa) um dos critrios de base da ao social espontnea nesta
comunidade local. como se para os lderes de opinio as crianas de rua no
pertencessem a comunidade local. Entende-se ento que as aes de violncia
entre crianas de rua e dos prdios que observamos em uma das tabelas
precedentes tem inspirao, fundamento e legitimao na posio dos lderes
de opinio.
Analisa-se agora quais so as aes propostas pelos adultos que tem um
prognostico de resultado positivo.
A posio dos adultos (ver tabela Mxico 4.8) que participaram do
diagnstico com o SIDIEs neste ponto estrategicamente diferente daquela
dos seus lderes de opinio. Para os adultos o critrio no a excluso de
uns ou dos outros, para eles e implementar um plano de ao para todos. A
distino to clara que se pode pensar que nesta comunidade local existe a
inconformidade da populao adulta com seus lderes. A confrmao desta
hiptese pode se ver na tabela 4.3, onde se apresenta aquilo que pensam as
pessoas das aes feitas por seus lderes de opinio.
Os que parecem ter as ideias mais claras so os habitantes de rua. Eles
parecem ocupar uma maior parte do espao de ao dos projetos focados
neste tipo de populao.
No se pode excluir que os habitantes de rua que participaram deste
Tabela [Mxico 4.7]
Lderes de opinio Previso
1 Que tirem os jovem da rua. 5
2 Trabalhar com os jovens que sao residentes da comunidade, mas que no fcam
na rua.
9
3 Informar ao padre de todo o trabalho que faz o drop in com as crianas da rua. 7
160 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
exerccio diagnstico, responderam tratando de satisfazer as expectativas da
rede operativa, usando os conhecimentos e a experincia que elas (as crianas)
tem do mundo da assistncia.
Por outro lado, ter as ideias mais claras, pode no querer dizer ter as
ideias mais efcazes: falam que com um trabalho deixariam de se drogar
(o trabalho uma oportunidade excelente, mas, por si s o trabalho d
resultados limitados); internar os rapazes em programas de desintoxicao
(obrigar s pessoas a se desintoxicar uma ajuda temporal que pode expor um
maior risco se no houver um processo de ajuda que acolhe ao jovem aps a
desintoxicao).
Essas propostas de ao tem, ao mesmo tempo, a cara do objetivo e do
subjetivo, constitui uma proposta e tambm uma representao social do que
deveria ser uma resposta s condies de difculdade em que eles vivem.
Tabela [Mxico 4.8]
Adultos. O que fazer com o consumo de drogas? Previso
1 Teria que se trabalhar a preveno nos conjuntos habitacionais. 9
2 Capacitar aos jovens da rua. 8
3 Dar de comer aos jovens da rua. 6
4 Pr mais segurana na praa. 7
Tabela [Mxico 4.9]
Populao de Rua. O que fazer con o consumo de drogas? Previso
1 Solicitar os documentos de identidade das crianas para que possam ir na escola. 9
2 Eles solicitam que quando estiverem doentes no hospital algum vai visit-los. 8
3 Propem que o drop in mvel tem que ter msica. 8
4 Cursos de informtica para os seus flhos. 10
5 Internaes para as crianas. 10
6 Creches, mas que sejam diferentes aos das do setor pblico. 10
7 Dizem que com um trabalho eles deixariam de usar drogas. 9
8 Que o Drop In abrisse tambm pelas noites. 9
10 Que os ajudem na procura de emprego. 9
11 Capacitar as meninas no setor de beleza. 9
12 Procurar albergue para as meninas sem perguntar e faz-lo o mais breve possvel. 8
13 Internar aos rapazes em programas de desintoxicao. 9
14 Procurar escolas para as crianas menores. 9
15 Viabilizar que as crianas possam obter os papis do registro no cartrio. 9
16 Tirar os garotos da priso e evitar que eles sejam presos de novo. 9
17 Dar permisso para que possam iniciar um negcio e parar de vender drogas. 9
18 Acompanhamento aos rapazes a fazer promessas para as levem a srio. 9
161 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Os representantes ofciais (tabela 4.12), pelo lado deles tem propostas
que em parte coincidem com as de outros atores (o tema da capacitao por
exemplo) e pelo outro lado se referem mais ao tema de controle e de assistncia.
O ltimo passo desta atividade consiste em encontrar resposta
pergunta seguinte: quem, entre os atores comunitrios que participaram nesta
atividade de anlise de fracassos e sucessos, tem interesse em participar na
implementao das respostas que foram identifcadas? No processo de dar
respostas a essa pergunta se constri a rede de recursos comunitrios (capitulo
3, construo da rede de recursos comunitrios).
Se observarmos melhor, esses atores comunitrios j esto participando
em dar respostas s difculdades da comunidade. Cada um deles se colocou
em um espao diferente (refexo em grupo com atores com os quais s vezes
nunca se havia dialogado), entrando e fazendo outros entrar na discusso.
Desta maneira, eles participaram em um processo de mudana para eles
mesmo. Trata-se ento de construir outros contextos nos quais esta mudana
possa seguir se desenvolvendo.
Podemos nos perguntar agora quando termina este trabalho? A resposta
: este trabalho no termina nunca, porque isso o tratamento comunitrio!
Construir, promover encontros onde seja possvel (de maneira prazerosa
quando possvel) pensar juntos, construir conhecimentos juntos, mudar juntos.
Difculdades, boas prticas, lies aprendidas
Este tipo de trabalho precisa de muita pacincia, perseverana e
continuidade. Estas capacidades no so s o resultado do treinamento,
dependem tambm do carter da pessoa. A formao do carter pode ser um
dos temas da formao da equipe.
Este trabalho se desenvolve na continuidade da vida cotidiana (ou seja,
enquanto as pessoas vivem no dia a dia, e por isso que se chama investigao
na ao e no investigao ao), isso signifca que tem que se adaptar a ela.
A consequncia que s vezes resulta fragmentado e fragmentrio. Nessas
Tabela [Mxico 4.10]
Representantes Ofciais. O que fazer con o consumo de drogas? Previso
2 Pedem que seja realizado pastoral de natal, pois isso ajuda no objetivo do drop
in movel.
9
3 Pr mais segurana. 7
4 Dar de comer aos jovens da rua. 6
5 Capacit-los e dar lhes trabalho. 10
162 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
circunstncias, a tarefa da equipe e da rede operativa manter as conexes no
somente com as pessoas e atores comunitrios, mas tambm com os temas
tratados, com os conceitos dos quais foi falado, com os tipos e contedos das
participaes dos atores comunitrios.
Ter uma boa rede operativa (de amplitude e densidade sufciente para
que seja elstica e persistente) ter um excelente instrumento para a conduo
deste tipo de atividade.
Breve histria da comunidade
Conceito
As comunidades so como as pessoas, tem histrias. Estas histrias
contribuem em parte em condicionar seu presente e tambm o seu futuro.
Conhecer estas histrias importante: podem se entender a origem das
difculdades, de como foram superadas, conhecer os recursos, pode se
entender quais so os processos de crise e resilncia, quais so os confitos de
fundo, os atores em jogo e qual jogo esto jogando. O quanto esses aspectos
sejam relevantes, vimos na seo precedente falando da comunidade de Brasil
onde existiu um acordo entre os habitantes e os trafcantes.
Objetivos e processos
O objetivo no somente conhecer a histria da comunidade (como foi
fundada, por quem foi, quem foram seus lderes, quais foram os momentos de
fora e fraqueza e por que motivos, at o
presente), mas tambm conhec-la juntos
de maneira que sirva como processo de
refexo e compreenso. Vamos ver agora
uma histria e como ela se conecta com a
vida do bairro e com os seus problemas.
Este breve relato um excelente
ponto de partida para falar da histria dessa
comunidade, apresenta acontecimentos
e emoes, une um aspecto subjetivo
com um aspecto mais objetivo, mitos
com realidade, histrias com crnicas. Os
contedos que podemos destacar desta
histria so que essa comunidade um
foto de um monumento
163 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
lugar ambivalente: pode dar muito prazer mas tambm morte; um lugar na
qual o povo sabe se organizar para se defender; um lugar na qual tem que
se pagar um preo para poder entrar (ser parte tem um custo); os lderes dessa
comunidade tem um modelo que joga plenamente o tema da ambiguidade:
so rudes e assassinos mas ajudam tambm as pessoas.
Outro fragmento de histria de outra comunidade. Tambm neste
caso uma excelente maneira para iniciar um discurso sobre o passado e suas
consequncias sobre o presente: ver Brasil 4.12.
O que conta esta histria? Conta de pessoas que fogem do desastre, de
gente que tinha sonhos, que esses sonhos foram utilizados pelos outros atores
por outros interesses; que o papel desempenhado pelas instituies publicas
foi muito signifcativo na fundao e organizao desta comunidade; tambm
nesta comunidade existem duas ocupaes.
O fragmento a seguir, apresentado tambm no capitulo 2, conta a histria
de uma acordo entre moradores e trafcantes de drogas.
Este acordo tem consequncias para qualquer tipo de atividades que
queiram se implementar nessa comunidade e que tenham o tema das drogas
entre suas prioridades. Se os operadores decidem enfrentar o tema das
drogas vo incidir nesse acordo, que o acordo sobre o qual foi fundada essa
comunidade. Por outro lado se no incidimos sobre esse acordo, qualquer
Um fato que marcou a histria do bairro foi a origem do rasgo geogrfco. O local
costumava ser um aterro at 1985, uma barragem que segurava gua de uma lagoa,
conhecido como o antigo tanco. As crianas costumavam brincar na lagoa, inclusive
algumas chegavam a morrer afogadas. Episdios curiosos, bonitos e engraados
recheiam a histria do bairro como o dia em que 5 mulheres lavavam roupa no tanco
e um estuprador chegou por trs e as mulheres se uniram e amarraram o agressor. Este
tanco era conhecido como o lago da morte, pois muitas pessoas morriam afogadas e
neste perodo eram assassinadas muitas pessoas e jogadas dentro do lago. Um dia, essa
barragem explodiu arrastando casas, animais, matando at pessoas. A partir de ento, a
invaso que j havia comeado desde 1971, se intensifcou e hoje, um bairro todo invadido.
A maioria dos moradores veio entre 78 e 86, advindos do Paran, seguido do interior de
So Paulo como Itapetininga, Boituva, seguido do Cear e da Bahia. Inclusive entre os anos
79/80 para entrar no bairro precisava-se pagar pedgio, era cobrado um valor para que
outras pessoas que no fossem moradores pudessem ter acesso a comunidade.
Histrias de batalhas travadas tambm se destacam como o dia em que os moradores do bairro
se juntaram com todos os tipos de armas que possuam, entre facas e tesouras, e atacaram o
quartel, protagonizaram uma verdadeira guerra.
Alguns mitos chamam a ateno no bairro, destacando a fgura de Paulinho Preto,
bandido pesado que, na ausncia do crime organizado, se tornou um lder no bairro. Com
um currculo invejado, matou muita gente e ao mesmo tempo fez casais pedirem desculpas
um para o outro, mediando confitos do bairro. [Brasil 4.11]
164 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Nos apresentamos ao Sr. H. o lder comunitrio contando a ele um pouco do nosso trabalho
e tambm ouvimos um pouco da sua trajetria na luta por a dignidade. Nos contou que
esto ocupando o prdio a mais ou menos trs anos . Antes da sua chegada era um ponto
de venda de drogas onde praticamente toda semana havia batida policial . Sabendo
desta situao props ao trafco uma parceria, os moradores sem teto ocuparia o local
dando ao trafco possibilidade de menor prejuzo: no teria tantas batidas policias pois
teriam famlias inteiras habitariam o prdio. As famlias por sua vez teriam uma segurana
paralela onde ningum teria seus pertences furtados e assim se manteria a ordem. Feito o
acordo 22 famlias se mudaram para o prdio. [Brasil 4.13]
ao simplesmente que seja implementada ser exposta a precariedade,
descontinuidade, falta de penetrao na cultura dos habitantes. Outro
fragmento de histria, que parece crnica do presente.
Este fragmento de histria fala da comunidade na qual moram os atores
comunitrios citados na anlise de boas prticas e fracassos (ver em Anlise de
boas prticas e fracassos). Comparando as prticas de hoje com as do passado
(estamos falando dos anos cinquenta) parece que nada mudou, com excesso
da violncia manifesta. Quase os mesmos atores com as mesmas aes com
as mesmas relaes. E o mesmo tema de fundo: a comunidade uma terra de
passagem, de pessoas que esto na rua porque se deslocam constantemente,
porque ali sua vida e sua forma de pertencer, comunidade de roubo e assaltos.
Origens do mutiro
O tempo era a dcada de 80; o problema era um grande nmero de famlias carentes,
desabrigadas, provenientes de uma favela castigada pelas chuvas, que precisavam de
moradia; o acontecido era a doao de terrenos pelo governo do estado s famlias a fm
de resolver essa situao.
As famlias tinham um sonho: a casa prpria. O governo tinha, naquela situao, uma boa
oportunidade de desenvolver polticas assistencialistas e populistas. O terreno a ser doado
era uma extensa rea localizada na parte oeste do municpio, longe de tudo... Era essa a
promessa de tempos melhores para os futuros moradores. Um local que tambm serviria
de depsito, para onde seriam destinadas famlias inteiras.
Veio assistncia social cadastrou todo mundo e o estabelecido era que as pessoas
trabalhariam com horas computadas, cada famlia teria que completar 780 horas para ter
direito a participar do sorteio das casas construdas, trabalhando em regime de MUTIRO.
Faltou um planejamento mais sistemtico por parte do poder pblico. Com o passar dos
anos houve um crescimento populacional intenso na rea..
No contexto geral, os servios bsicos ainda continuam precrios e embora tenha ocorrido
um crescimento populacional intenso, as mudanas estruturais no vm acompanhando
as necessidades reais da populao. Essa rea conta tambm com duas ocupaes. [Brasil
4.12]
165 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Difculdades, lies aprendidas, boas prticas
Nas experincias feitas com os parceiros que experimentaram este
modelo de interveno, foram encontrados trs tipos de difculdades. A
primeira a difculdade de entender como o presente esta vinculado ao
passado. A segunda procurar principalmente histrias (mais do que a histria)
e em particular as histrias de drogas (sendo este um dos temas geradores)
ou de difculdades e problemas. Mais difcil foi ter as histrias das respostas
que com o tempo foram acontecendo. A terceira que foi difcil interconectar
essas histrias com a histria. Por exemplo, convidando historiadores desses
lugares a falar com as pessoas acerca do que eles sabem, reunir as pessoas
para que escutem os idosos daqueles povoados, entrevistar as pessoas que
tem conhecimento da comunidade ou em outras. Para uma pessoa que tem
sensibilidade clnica (clnica de comunidade claro) so essas histrias, a
histria que permite entender como foram construdas as decises, quais
foram os lderes, quais foram as origens e os atores do sucesso. E assim quais
foram as defesas inconscientes, quais so as negaes, as ambiguidades, as
ambivalncias, e como tudo isso se manifesta no presente.
Resultam as vezes que a reconstruo da histria das comunidades feita
com os atores comunitrios corresponde mais a histria de quem a est contando
(geralmente os lderes de opinio) que a histria das comunidades. Neste caso
um excesso de auto-referncia promove um ocultamento dos fatos. Nestes casos
misturar atores no formais (os que viveram) com atores formais (aqueles que
estudaram a histria e as vezes a viveram) resulta ser uma mais profunda experincia
Diante da igreja tinha trs terminais de nibus de segunda classe. Onde agora fca a loja
fcavam os nibus de com destino Baslica. Atrs da igreja fcava a rota dos nibus que
iam em direo a a Tacuba, San Juanico, Toreo de Cuatro Caminos.
Onde atualmente fca o trio da praa atuavam palhaos ao meio dia, nos sbados e
domingos. Os palhaos se chamavam Gasolin e Alambrito, mas tambm estavam s
vezes os palhaos Gasparin e Clavito. Os quatro palhaos eram originrios da zona da
comunidade . O povo se divertia muito com o show deles ao ponto que nem percebiam
quando os ladres enfavam as mos nos bolsos e roubavam as carteiras.
Nas terminais de nibus, principalmente na de San Lazaro que era a maior, os ladres entravam
a arrebatar bolsos e saiam correndo rumo a La Candelaria de los Patos onde no entravam os
policiais. Neste terminal tambm faziam contato protetores de prostitutas com as mulheres
que chegavam por primeira vez na Cidade a trabalhar de empregadas domesticas, pois eram
enganadas e as colocavam a trabalhar na prostituio.
Na rua de Santa Escuela tinha comercio ambulante, vendiam comida para os delinqentes
da zona. Sobre Corregidora, na frente da Previdncia Social, estava a boate que se
chamava Siboney, l se juntavam as prostitutas com os pedreiros e outros obreiros que
iam a danar nos sbados e domingos. [Mxico 4.11]
166 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
de aprendizagem e compreenso e uma melhor efccia na oportunidade de
mudana da representao que se tem da comunidade na que se vive.
Elementos sociolgicos
Um dos elementos sociolgicos (isto , de refexo sobre aspectos sociais
de uma comunidade local) o mapa ecolgico. Este tipo de produto se tornou
um entre os instrumentos de representao da comunidade local mais utilizados.
Seu xito se baseia sobre sua extrema adaptabilidade, a facilidade com a
qual pode expressar aquilo que os atores comunitrios percebem, observam,
conhecem, e tambm suas incertezas; seu xito depende tambm da refexo
cientfca na qual se fundamenta, que tem Brofenbrenner (Brofenbrenner, 1987).
Conceito e objetivos
O campo de elementos sociolgicos est constitudo em dois aspectos:
reunir por um lado o conhecimento que os atores da comunidade tem sobre
a comunidade, e por outro ter os dados e as informaes essenciais para
ser capaz de pensar a comunidade a partir tambm de elementos obtidos
seguindo o mtodo sociolgico, ou etnogrfco, ou demogrfco.
Como visto em outros momentos da implementao do SIDIEs, tambm
neste caso o processo seguido na produo destes dados que constitui um
dos elementos da sua validade.
Porque falamos de dados sociolgicos? Porque a inteno destacar
aspectos, eventos, acontecimentos que caracterizam a vida de uma comunidade.
Quais so esses dados? As caractersticas e os tipos de populaes: quantos somos,
gnero, idade, nvel de educao formal e informal, renda, atividades produtivas
(formais e informais) de bens tangveis e intangveis, modalidade de participao
na vida da comunidade, etc. Presena de servios comunidade: educao,
moradia, segurana, cultura, produo, vida poltica, sade, etc. Registram-se
todas as informaes que os atores comunitrios consideram importantes para
manter vivo o processo de construo e de reviso da representao que eles tem
de sua comunidade. Isto signifca que esta operao elementos sociolgicos
tem um duplo propsito (como de costume).
A primeira ttica: produzir informaes para tomar decises sobre a
comunidade saber por exemplo que em uma comunidade de 5000 habitantes, a
proporo de crianas menores de 11 anos de 15% importante se voce quiser
saber quantos professores se necessita, de quantas escolas, do custo que isso vai
167 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
ter, etc. Os dados numricos tem ento, um valor nos
processos de tomada de decises.
A segunda estratgica: produzir uma
representao social da comunidade, sabendo que
essa representao o sujeito principal do tratamento
comunitrio. Na verdade, essa representao (com
seus elementos de ancoragem e objetivao) que o
tratamento comunitrio trata de mudar de maneira
que seja mais inclusiva, menos excludente. Os dados
sociolgicos, so eles tambm uma representao da
comunidade, se tem ento a possibilidade de juntar
aqueles que so produzidos pela comunidade e
aqueles produzidos por investigadores profssionais,
a representao resultante deste processo favorecera mais conhecimentos e
mais inteligncia dos processos de mudana.
Processos
Os processos de produo dos dados sociolgicos podem ser divididos em
dois grandes grupos: processos de produo formal e processos de produo
no-formal.
Os processos de produo formal, tem que seguir procedimentos
(mtodos, na linguagem dos pesquisadores), que foram aceitos pela comunidade
cientfca. Isso garante certamente a sua validez e seu entendimento por
parte de todos os que conhecem o mtodo cientfco. s vezes no garante o
entendimento por parte daqueles que no conhecem o mtodo.
Os processos no formais de produo de dados respondem a outros
critrios (isto no signifca que eles no respondem sistematicamente a critrios
do mtodo cientfco), como por exemplo, a participao direta na construo do
conhecimento dos atores que possuem a informao. Por exemplo: para conhecer
a condio da infncia em uma comunidade, posso chamar um socilogo com
todo seu instrumental (teorias, conceitos, mtodos e metodologias, ferramentas,
tcnicas, etc.). Neste caso, a populao uma fonte de informao.
Eu tambm posso trabalhar com a comunidade para construir desde os
conceitos de base at as tcnicas com as quais se coleta a informao (o mapa
acima uma tcnica especfca). Neste caso os atores comunitrios so envolvidos
no processo de construo do conhecimento sobre a sua prpria comunidade:
so objeto e sujeito de estudo ao mesmo tempo.
168 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Ambas as abordagens tm vantagens e desvantagens. O SIDIEs pretende
que uma no exclua a outra e que consigam articular-se.
Veja, por exemplo, a imagem 4.1. Tem-se aqui dois mapas diferentes da
mesma comunidade local. O primeiro um mapa ecolgico da comunidade
elaborado pelos moradores da mesma usando alguns smbolos para descrever
e diferenciar alguns lugares. O segundo uma foto area tirada com certos
critrios cartogrfcos padro (o respeito das propores, por exemplo, dado
que no existe no primeiro).
Difculdades, boas prticas e recomendaes.
No presente momento h uma grande quantidade de dados disponveis
e bem feitos, estes esto nas universidades, nas bibliotecas e na rede (internet).
A questo : como fazer para que as comunidades a partir das quais se tem
produzido, e que so o sujeito de tais informaes, possam efetivamente utiliz-
las para o seu desenvolvimento?
Identifcao dos temas geradores
O assunto de base relacionado com os temas geradores do que as
pessoas falam?. Este o componente do SIDIEs, atravs do qual se sistematiza e
aprofunda o trabalho de construo do conhecimento sobre os desafos, lacunas e
necessidades da comunidade. Tem-se observado que as pessoas falam em funo
da representao que ele tem de seu interlocutor, das expectativas de ambos e
do conhecimento que ele tem. Por esta razo sendo que as equipes de trabalho
nas comunidades so trabalhadores sociais, as pessoas falam com eles sobre
questes sociais. Certamente
este um elemento positivo,
porm insufciente.
Conceitualmente os
temas geradores foram
divididos em dois grupos: os
espontneos (mencionados
diretamente pelos atores
comunitrios) e os induzidos
(sugerido pelos membros da
equipe). Ver tambm Capitulo 1
sesso realizar uma capacitao
169 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
de base).
Conceito e objetivo
Os temas geradores da comunidade podem se relacionar com o grande
eixo de ao social: como se produz excluso, como se produz incluso.
No fragmento citado acima pode se encontrar muitos temas geradores e
todos podem estar relacionados com incluso ou com excluso (ver box ao lado).
Este fragmento parte de um documento mais amplo (por consequncia
este no representa o documento em sua totalidade) e um recurso muito
bem feito para poder entender como surgem e como podem ser captados os
temas geradores. Estes podem resumir-se da seguinte forma: temas geradores:
(1) as drogas e suas consequncias, (2) confito entre o desejo de mudana e
persistncia (3) a boa nova do PCC.
Clara tambm a ligao entre temas geradores e representao social
desta comunidade, e como os elementos se retroalimentam: talvez esta seja
a matriz dos temas geradores e do confito de fundo desta comunidade
entre aqueles que tiram proveito de sua representao social e daqueles
que precisam mud-la para viver melhor e viver melhor para mud-la. O que
resta a ser esclarecido como esse diagnstico foi produzido, por quem,
em que contexto. A resposta para estas 3 perguntas so as que permitem
utilizar estas informaes no planejamento de o que fazer. O tratamento
comunitrio prev, de fato, que os atores do diagnostico sejam tambm os
atores das respostas.
Por que buscamos os temas geradores?
O Trfco de drogas e uma realidade muito aparente na comunidade, jovens e adultos
usam e vendem drogas para seu sustento e de suas famlias. Durante o dia, essas pessoas
que vendem durantea noite, dormem para descansarem da noite intensa que tiveram, de
muitos riscos e de muita diverso entre eles, com o uso das drogas.
Muitos ali vem no crime a oportunidade de auto-sustento, pois muitos sofrem do
preconceito, por morarem em favela, e isso difculta a conquista de um trabalho digno,
pois muitos so ex-presidirios, ou tem algum problema com a Justia.
O trfco para estas pessoas no visto como algo errado e sim uma maneira de conseguir
dinheiro para sustentar a famlia, para ir para a balada, ou at mesmo para sustentar o
vcio que a pessoa tem com a droga [vende drogas e com o dinheiro conquistado, troca em
droga, para obter o consumo]. [Brasil 4.14]
170 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Na medida em que temas geradores tambm representam problemas,
necessidades, est j uma das respostas pergunta: eles desempenhar a sua
funo diagnstica assim como normalmente entendido.
A segunda resposta : porque os temas geradores so uma das vias
Barracos de madeira ainda existem na comunidade, jovens entre 15 a 29 anos se amasiam
muito cedo com as meninas da comunidade e decidem que devem morar juntos e deixar a
famlia. Meses depois, tem flhos e por conta da difculdade de emprego, no tem condies
de sustentar a famlia. Sendo assim o trfco esta de portas e diariamente aceitando novos
funcionrios para atuarem com a criminalidade da comunidade, assim entrando em
risco de aprisionamento, da dependncia da drogas e afetando a famlia toda com essa
situao.
Metade das famlias que residem na comunidade,
esto ou sairam da priso, parte so jovens e outra
parte pessoas de mais idade desde a poca do antigo
tanco, portanto outras pessoas e moradores do
mais respeito a esses que passaram ou esto neste
vinculo com as drogas e o crime.
Muita briga por causa de drogas, dividas, esposas
e territrio para venda de seus produtos, muitos j
morreram por causa dessas coisas, hoje uma regra
delegada pelo PCC Primeiro Comando da Capital,
impe que se deve dar tres oportunidades para a
pessoas: pagar suas dvidas, sair do crime, resolver
de uma forma menos violenta as situaes de uma
periferia.
As regras do Primeiro Comando da Capital fazem
com que a Comunidade, tenha respeito com todos,
pois cada um vive no seu espao no podendo
invadir o espao de outro.
Ex: quem vende drogas, no pode esconder Drogas
no quintal do vizinho, mexer com a famlia de um
usurio, sempre respeitando o espao.
A falta de ateno a essa comunidade faz com que ela se isole e fque conhecida como o
centro da violncia ou trfco, oportunidades nunca chegam a esta rea, somente na parte
de cima, onde os moradores no costumam ir. As pessoas sempre acham que quem mora
na comunidade no merece uma oportunidade, que todos so iguais e que no querem
mudar de vida.
Muito pelo contrario, essas pessoas tem muita vontade de mudar e obter uma vida melhor,
buscar melhoria para a sua famlia, no querem continuar na vida que se encontram, pois
sabem que o trafco de drogas no tem caminhos positivos e sim um caminho que os levam
para a priso ou para a morte. Todos no so iguais, muitos tem um trabalho digno
e buscam valorizao, o preconceito com eles so grandes, todos so taxados como
pessoas que no querem buscar a melhoria, uma vida saudvel. [Brasil 4.15]
Consumo e trfco de drogas, necessidade
de apoio s famlias, a presena do crime
organizado, a excluso do trabalho
por motivo de serem moradores da
favela ou ex-presidirios , problemas
com a justia, casais precoces, gravidez
precoce, alto nmero de moradores
so ex-carcereiros, forte liderana de
pessoas ligadas ao crime, confitos
sobre a posse dos territrios do trfco
de drogas, as regras do PCC, isolamento
da comunidade, a representao social
da comunidade como perigosa, poucos
recursos e oportunidades, forte desejo e
vontade de mudana, para melhora das
condies de vida.
171 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Consumo e trfco de drogas
Presena do crime organizado
Excluso do trabalho por serem moradores da
favela ou ex-presidirios
Elevado nmero de residentes so ex-carcereiros
Forte liderana de indivduos associados com o
crime
Confitos relacionados posse dos territrios de
trfco de drogas
Isolamento da comunidade por causa do trfco
de drogas
Representao social da comunidade como
perigosa
Poucos recursos e oportunidades
Necessidade de apoio para as famlias
Casais precoces
Gravidez precoce
As regras do PCC.
Forte desejo e vontade de mudana, de melhoria
das condies de vida.
[Ponto de refexo 4.3]
principais para a compreenso
da representao social de uma
comunidade por parte de seus lderes
de opinio. E so tambm uma maneira
de descrever, compreender e mudar
esta representao social.
Para entender melhor o papel
dos temas geradores veja as etapas
do caminho percorrido at este ponto.
Pode-se dizer que:
1- Depois de identifcar os lderes
de opinio,
2- Ter entendido como eles se
relacionam em rede,
3- Ter visualizado como eles
desenham a sua comunidade
(mapeamento como um todo),
4- Como eles gradualmente
identifcam os recursos da comunidade
(anlise das boas prticas e fracassos),
5- Quais so os fatos e as questes e produtos relevantes de sua vida social
(elementos sociolgicos) etc.,
6- Chegamos ao temas geradores vistos pelo lado das carncias e
difculdades (mas no exclusivamente). Chegamos ento no campo de descrio
por parte dos atores na comunidade, de suas difculdades, daquilo que pode ser
chamado de o problema que busca resposta.
Porque ns comeamos aqui? Pela porta dos problemas? Porque os
problemas so tambm uma construo social e na maneira com que esto
construdos, reside em parte, a sua resposta, os atores envolvidos na sua
construo podem participar na busca de suas solues, os contextos nos
quais surgem so tambm aqueles em onde se podem encontrar as respostas.
Ento, iniciamos com os atores (lderes de opinio e redes) porque os
problemas tem atores que o produzem, os contextos nos quais surgem,
modalidades de construo. Estes so os elementos que permitem
compreender o sentido dos problemas e gerar respostas.
Chamar os problemas, carncias, difculdades de temas geradores
172 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
tambm tem algumas consequncias. A primeira e mais importante que
estamos falando de discursos e no de objetos. A descrio da comunidade
que se produziu nos precedentes momentos do SIDIEs um conto, ainda
que todos os problemas citados correspondem realidade. E quando se
constri esse discurso podem se encontradas algumas difculdades que mais
prudente esclarecer.
Quando os atores comunitrios esto em um contexto no qual eles
identifcam suas difculdades, se manifestam todas as formas de resistncia
que so conhecidos a nvel individual, mas algumas tm sido descritas a nvel
coletivo. O elemento comum dessas defesas produzir uma negao da
realidade total ou parcial, em todas as suas formas. Negao por qu? Porque
tomar conscincia e conhecer implica em ter que mudar. E ter mudar, pode
implicar em renunciar formas de privilgios, interesses e vantagens ou ter que
enfrentar situaes que no se quer enfrentar: isto a persistncia.
A construo do discurso sobre os temas geradores deve ento levar em
conta estas dinmicas, a fm de conter os seus efeitos, e, quando possvel, superar
os processos de negao (este o papel dos temas geradores induzidos).
Entre os processos de negao, h trs que foram identifcados por
Moscovici, quando comeou a trabalhar com as representaes sociais
(Moscovici, 1982).
O que diz o Sr. Moscovici? Ele diz que h trs erros que o cientfco ingnuo
ou a aplicao ingnua da cincia produzem: o fechamento da informao, a
confrmao por meio do comportamento, a personalizao. Vejamos o que
este autor quer dizer com estas trs afrmaes.
O fechamento da informao. As pessoas tm a tendncia a resistir
frente a fatos ou informaes que no esto previstos em suas teorias
implcitas. Dito de outra maneira, temos mais facilidade em reconhecer fatos
e informaes que confrmam nosso ponto de vista, mais que aqueles que o
contradizem (Snyder & Cantor, 1979), (Snyder & Swann, 1978). Se retomamos o
fragmento sobre a representao da comunidade que tem sido citado algumas
linhas acima, se observa que alguns dos problemas so muito mais acentuados
do que os outros. No fnal como se tivesse um problema que gera todos os
outros: o trfco de drogas. No entanto, pode haver um outro ainda mais grave:
a submisso ou a cumplicidade dos atores comunitrios a rede de lderes de
opinio.
Produo da confrmao por meio do comportamento. Se trata de um
fenmeno bem conhecido: quando a um indivduo atribudo explicitamente
173 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
uma defnio de forma claramente
positiva ou negativa esta pessoa ou
grupo, tem uma tendncia a colocar
em cena esses comportamentos. Um
corolrio disto tambm o fato de que
se voc tem uma certa representao
de uma pessoa ou grupo a tendncia
buscar a confrmao com todos os
meios de representao que se tem, at
mesmo ignorar parte do que visto ou
ouvido. Por um lado, ento, se induzem
nos outro(s) condutas, atitudes que vo
no sentido de que nossa representao
espera encontrar; por outro lado, se
no encontramos exatamente o que
queremos, ento recortamos partes
do que achamos at que o visto ou
experimentado corresponda a nossas
expectativas.
Personalizao. Quando o
cientifco ingnuo tem que explicar um
comportamento ou um acontecimento
social, tem a tendncia em atribuir
sua causa a uma pessoa ou a algumas
de suas caractersticas, rasgos de
personalizadas, atitudes, ou as
circunstancias (Palmonari , 1995, p.26)
Muitos pesquisadores tem
mostrado que quando voc observa as
aes de outros a tendncia dominante
interpretar, ou seja, atribuir as causas
e os signifcados, as caractersticas ou
as intenes das pessoas, mais que as
caractersticas do contexto em que a
pessoa atua. Este tipo de erro to
frequente e tem sido chamado de erro
fundamental (Ross, 1977), (Nisbett,
1980).
Qual a consequncia prtica
disso? Que trabalhar apenas com
os temas geradores propostos por
atores comunitrios no sufciente,
mais do que isso pode levar a ter um
diagnstico muito parciais, que
refetem exclusivamente o equilbrio
ou estado das relaes entre os atores
que o produzem.
Temas geradores,
espontneos e induzidos
Para evitar ter um diagnstico
que corresponda apenas ao ponto
de vista de alguns lderes, ou seja o
resultado de uma mediao implcita
entre eles e deformada por diferentes
erros fundamentais, aos temas
geradores (diagnstico) construdos
por atores da comunidade se somam
alguns temas geradores induzidos, ou
seja, propostos pela equipe ou a rede
operativa ou outros atores externos.
De onde vem estes temas
geradores induzidos? Esto
disponveis, entre outras, cinco fontes:
(1) do trabalho de rua e de comunidade
que a atividade constante da equipe
e da rede operativa, (2) do trabalho de
reconstruo histrica da comunidade,
(3) dos dados sociolgicos, (4) do
repetido trabalho de mapeamento da
comunidade, (5) da implementao
dos componentes do tratamento
comunitrio.
174 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Tabela [Mxico 4.12]
Temas recorrentes identifcados por
diferentes atores
Lderes de
opinio
Populao
de Rua
Adultos
Repres.
Ofciais
1. Jovens frmaco dependentes 20% 100% 80% 10%
2. Alcoolistas 50% 20%
3. Condies de marginalidade das mulheres 5% 80% 50% 10%
4. Graves atos de violncia 80% 50% 5%
5. Abandono de menores 50% 50%
6. Pobreza extrema 20% 20%
7. Problema de sade e nutrio 10% 10%
8. Condio ecolgica e de espao 5%
9. Problema familiar 10% 50% 50% 5%
importante que hajam momentos em que o saber do cientista ingnuo
e o saber do cientista no ingnuo se encontrem e se confrontem. Para isso se
utilizam os temas geradores induzidos.
Processo, difculdades e boas prticas
Atravs do trabalho de rua e os contatos diretos com atores interessados
durante as atividades de vinculao, uma equipe identifcou alguns temas
recorrentes. Sucessivamente os distinguiu por tipo de ator social, e o que resultou
foi a tabela seguinte onde os nmeros reportam o percentual de membros dos
quatro subgrupos (lderes de opinio, populao de rua, etc.) que menciona
explicitamente cada um dos temas (ver tabela 4.13).
O que se observa ali: que os atores da comunidade tem, cada um deles
uma representao social diferente desta, isso signifca que cada um deles tem
prioridades diferentes, s vezes em confito. A questo aqui como fazer para
que desse diagnstico possa sair um planejamento e uma ao comum.
Neste caso os operadores adotam a estratgia de acrescentar aos temas
geradores espontneos alguns temas geradores induzidos.
O que se observa no exemplo [Mxico 4.13] que as questes levantadas
pela equipe constroem uma representao que no se concentrar apenas nos
problemas clssicos de comunidades excludas, ou seja, no repete o esteretipo
(tampouco nega), que trata ento de no ser vtima do fechamento da informao.
Um segundo elemento observar como se introduziram explicitamente outros
atores: aqueles que abandonam as crianas, os trabalhadores, os idosos. Um
terceiro aspecto tipicamente comunitrio e parcialmente separado dos atores
clssicos da marginalizao: a participao cidad e religiosidade popular.
a equipe com a rede operacional que faz esta operao, esta proposta.
175 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Esta proposta uma ao social, atravs da qual a equipe e a rede operativa so
inseridos na rede de lderes de opinio propondo-se eles mesmos como lderes
de opinio (este o comeo de uma mudana estrutural na rede).
Sucessivamente a equipe promove um encontro durante o qual as pessoas
que participam falam sobre temas geradores espontneos e induzidos. No
grupo se encontram pessoas pertencentes as quatro categorias de atores acima
mencionados. No fnal da discusso, durante a qual os membros da equipe e
da rede operacional participam ativamente com as suas posies e dados
sociolgicos, faz-se um exerccio atravs do qual se avalia a gravidade de cada
uma dessas questes.
Esta uma avaliao clssica, uma tabela de Likert com 6 graus (0 a 5, onde
0 no signifca nada graves e 5 signifca extremamente grave). O mtodo que
cada um avalia dando um valor para cada tema gerador e escrito em um pedao
de papel de cores diferentes, dependendo dos tipos de atores. Cada tipo de
ator tem sua cor. Em seguida, pegam os pedaos de papel e transcrevem em
uma folha grande de papel os resultados da avaliao individual (a equipe no
participa nessa avaliao).
O resultado da avaliao se resume nos seguintes pontos: (1) para os lderes
de opinio e os representantes ofciais, nenhum dos temas grave (obteve 4
ou 5) e o acordo interno entre eles muito forte (pouca variao), (2) para os
habitantes de rua e os adultos existe um forte consenso pelos temas geradores
espontneos: todos so extremamente graves, (3) referente aos tema induzidos:
os habitantes de rua e os adultos os consideram dois vezes mais graves que os
lderes de opinio e que os representantes
ofciais.
Concluso, lies aprendidas e o
que fazer com isso? Podemos trazer duas
concluses: a primeira que existe um
consenso entre lderes formais ofciais e
lderes no formais, a segunda e que existe
um consenso entre adultos da comunidade
e populao de rua. Os dois consensos fazem
pensar a uma divergncia entre populao
de rua, adultos e lderes de opinio. Os
dados sociolgicos confrmam a posio
dos adultos e habitantes de rua.
Lies aprendidas: na medida na
Defnio do tema gerador espontneo:
Tema 1 Drogadio
Tema 2 Crianas de Rua
Tema 3 Prostituio
Tema 4 Delinquncia
Defnio do tema gerador induzido:
Tema 5
Crianas abandonados,
trabalhadores e em risco
Tema 6 Idosos e indigncia
Tema 7
Uso do tempo e participao
cidado
Tema 8 Religiosidade Popular
[Mxico 4.13]
176 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
qual os temas aportados
pelos membros da equipe
(temas geradores induzidos)
so coerentes com os dados
sociolgicos atingem um
consenso entre os atores
que tem uma representao
social prxima descrita pelos
operadores.
O que fazer com isso?
Deste exerccio podem se
resgatar duas consequncias operativas imediatas: necessrio implementar
duas estratgias uma dirigida aos lderes de opinio e a outra dirigida ao
trabalho com a comunidade, ambas com a participao de ambos atores.
Estratgias de ancoragem e de objetivao
Ancoragem e objetivao so os dois processos por meio dos quais se
produzem as representaes sociais. por isso que tem um lugar particular no
diagnostico estratgico (SIDIEs).
No fragmento que segue temos algumas frases pronunciadas sobre alguns
atores comunitrios (neste caso os atores coletivos) por outro atores (neste caso no
defnidos). Estas frases so os tijolos com as que so feitas as representaes sociais.
Conceito | Ancoragem
Quando nos encontramos ante um fato ou acontecimento que no
conhecemos, a primeira ao que fazemos ver se tem algum parecido com
algo que j conhecemos. Qualquer semelhana! Esse o processo de ancoragem:
Tabela [Mxico 4.14]. Elementos de ancoragem e de objetivao.
Temas/Grupos Representaes Sociais
Adolescentes
So violentos
Fazem baguna na escola
So aborrecentes
Os pais esto desistindo deles, pois no sabem como dialogar
Os adolescentes se envolvem com drogas devido falta de Deus no corao
Se deixam levar muito fcil pelas companhias
No tm respeito com os mais velhos
Lderes de opinio Idia de lder como uma pessoa de mais idade e que trabalha na igreja
Uso das estatsticas no trabalho de construo
coletiva de conhecimento.
As estatsticas so um instrumento importante.
Se os dados so construdos com os participantes
do diagnstico comunitrio, passo a passo,
permitem tomar distncia em relao aos
acontecimentos imediatos e ter uma perspectiva
mais global favorecendo um pensamento
estratgico. Este permite tambm reduzir
o peso do fechamento da informao e da
personalizao. [Ponto de refexo 4.4]
177 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
ancorar algo desconhecido ou algo conhecido.
O que so os adolescentes? So violentos! A violncia uma experincia
que as pessoas que pronunciaram essa frase conhecem antes de conhecer aos
adolescentes. A representao da violncia (quer dizer todas as atitudes e as
aes consideradas violentas) algo que cada pessoa recebe por meio da relao
com a famlia, com os grupos pares, a comunidade, a sociedade: a cultura. Isso
signifca que frente ao desconhecido todos tem um conjunto de representaes
sociais para poder ancorar o desconhecido.
De todas as caractersticas dos adolescentes os que pronunciaram essa frase
tomam em considerao esta, tambm porque j a conhecem. A consequncia
deste processo que todos os outros aspectos do adolescente desaparecem
e so enfatizados aqueles que so semelhantes aos aspectos identifcados.
A ancoragem implica uma reduo de complexidade e da riqueza do outro.
Porm a ancoragem da em troca uma segurana conceitual. Fazendo essa
operao a pessoa pensa: entendi!. Na realidade no assim, porm a partir
desse momento a pessoa que pensa nisso, modifca sua atitude aos outros em
funo do que pensa. Concluso transitria: modifcar os sistemas de ancoragem
signifca modifcar a atitude: o estigma, por exemplo, a consequncia de uma
atitude.
A ancoragem implica tambm outro aspecto: a experincia no conhecida
tem que receber uma etiqueta, de maneira que exista uma forma resumida,
instantnea para poder designar
essa experincia nova. No caso dos
adolescentes, a palavra violenta
uma etiqueta efcaz. Porque efcaz?
Por dois motivos: porque classifca (ou
seja, que pe dentro de uma categoria)
claramente em termos de positivo ou
Tabela [Brasil 4.17]
Jovens Os jovens so explosivos
Intolerantes
No respeitam pai e me
Vivem ociosos, pois no tem oportunidade
de trabalhar
Os jovens esto envolvidos com o trfco
Como no tem chance de trabalhar se
envolvem com as drogas
178 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
negativo (amigo ou inimigo, ameaa ou recurso), e em termos de signifcado:
incluir ou excluir, aceitar ou se defender, etc.
Por meio desta frase em aparncia simples, que parte da linguagem
cotidiana (exatamente por isso!), os
adolescentes comeam a ser parte
de todo o mundo da violncia
assim como as pessoas, os atores
sociais o construram ao longo da sua
experincia de vida e de suas relaes.
Ento se entende porque to difcil
modifcar essas representaes, tirar
essas etiquetas.
O terceiro aspecto da ancoragem,
por absurdo que isso possa parecer,
que um processo que tem como
fnalidade reduzir o temor produzido
pelo medo, o estupor de um objeto ou
fenmeno importante para o ator social, porem que ele desconhece (Palmonari,
1995, p.45). O medo contido ou reduzido incluindo o desconhecido em uma
categoria familiar. O que acontece neste ponto? Acontece que a pessoa ou o
grupo social pensa que este novo fenmeno pode ser dominado, controlado,
governado aplicando para ele os mesmos critrios, atitudes, respostas ou
solues que so usadas para todos os objetos da mesma categoria (Jodelet,
1984, p.371). Se os adolescentes so violentos, os tratamos como a todos os
violentos!
Um quarto aspecto relacionado com a ancoragem que este no somente
coloca etiquetas, mas que essas etiquetas defnem um campo de relaes.
Quando o ator social afrma que os jovens esto envolvidos com o trfco
indica um campo de relaes. Neste caso, se refere no somente as relaes com
os trafcantes, mas tambm a toda as relaes que os trafcantes tem com os
outros atores da comunidade (lderes formais e no formais, foras da polcia,
comerciantes, familiares dos trafcantes, no consumidores de drogas, etc.).
Pertencer a uma categoria signifca que vo ser atribudas todas as caractersticas
dessa categoria seja que isso corresponde aos fatos, ou que no corresponda. A
consequncia que uma pessoa tratada pela categoria a qual pertence e no
pelo que ela realmente.
O que faz mais complicado o assunto que no processo de ancoragem,
Os princpios guias do desafo que se reproduzem
a seguir so um bom exemplo de um complexo
sistema de ancoragem. Aqui a ancoragem se
faz utilizado um conjunto de valores (atitudes,
condutas etc.).
1-Fortalecimento das habilidades e
competncias.
2-Estimulo e motivao
3- Cooperao e Articulao em redes.
4-Persistncia e Confana.
5- Respeito diversidade.
6 - Coragem e Empreendedorismo.
[Brasil 4.18]
179 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
uma mesma pessoa pode ser ancorada
em diferentes categorias. Isto depende
as vezes do tipo de atores que fazem
esta classifcao. Por exemplo, um
trafcante pode ser um vicioso que
se deve converter (para um padre),
um criminal que se deve castigar (para
um policial), algum que com o seu
trabalho contribui na economia familiar
e comunitria (para um familiar), um
modelo de ao (para uma criana de
rua). Cada ator ter com essa mesma
pessoa um tipo de relaes compatveis
com a representao que tem dela. Este
fato uma grande vantagem para a ao
social pois provavelmente haver entre
os atores sociais algum que tem uma
imagem positiva desse ator, positiva
neste caso signifca concretamente que
essa imagem pode ser uma base para
iniciar uma relao.
Conceito | Objetivao
Uma ao social complexa
realizada no Brasil, inclui entre seus
materiais sistematizados uma carta
de princpios. Antes de descrever os
princpios encontra-se este pargrafo
como introduo.
Temos visto que a ancoragem
era extrair um elemento de uma
realidade nova e inseri-la em uma
realidade conhecida, desta maneira
toda a realidade nova era includa em
uma realidade conhecida.
Em comparao com isso a
objetivao pegar um elemento de
uma realidade conhecida (icnico,
fgurativo, uma imagem) e inseri-lo na
nova realidade.
Vejamos no exemplo citado
nesta pgina [Brasil 4.19], como isso
acontece. Quando os autores dizem
que A carta dos princpios a bssola
que orienta etc. esto fazendo uma
ao de objetivao, na verdade
uma dupla ao de objetivao: falam
de carta (e todos imaginamos uma
folha grande de papel grudada na
parede dos prdios pblicos); falam
tambm de bussola outra maneira
de introduzir algo que pertence a
um fenmeno conhecido em um
fenmeno novo que queremos
apresentar.
A objetivao se realiza fazendo
alguns passos: o primeiro consiste em
descobrir o aspecto icnico de uma
ideia, de um fato que por ser novo ou
pouco conhecido difcil explicitar s
utilizando conceitos. No exemplo, se
tivssemos falado exclusivamente de
princpios da ao dos usineiros o
conceito no teria sido sufcientemente
claro: so os elementos de objetivao
carta e bssola que os fazem
imediatamente visveis e tangveis (os
A Carta de princpios a bssola que orienta a ao
dos usineiros e a qual devem sempre recorrer, seja para
orientar a ao individual ou coletiva, para dividir com
outros, para melhor-la ou para iluminar o caminho.
[Brasil 4.19]
180 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
transformam em objetos que pode se
ver ou tocar). O aspecto no evidente
neste processo que escolhendo uma
determinada imagem se exclui muitas
outras; com freqncia o propsito da
objetivao efetivamente excluir
aqueles aspectos que atrapalham
ou so muito dissonantes com a
representao que temos. Se por
exemplo, pegamos a uma pessoa e o
chamamos de cidado, reconhecemos
o seu direito a participao a vida social
de ser tratado com igualdade e em
respeito de seus direitos, mas se a esta
pessoa chamamos trafcante o fato de
pensar a seus direitos cidados resulta
dissonante, o que pensamos e sentimos
com relao da mesma pessoa muda
com relao a imagem que utilizamos
para referirmos a ela. O trabalho de
terapia das representaes sociais
(ou terapia de rede) signifca tambm
ir em busca do que foi tirado, negado,
eliminado de maneira que possa ser
reinserido na representao e por esse
meio produzir uma mudana.
O segundo passo da objetivao
foi chamado por Moscovici:
naturalizao (Moscovici, 1961, p. 315).
Dito de maneira simples naturalizar
um conceito signifca faz-lo bvio.
bvio signifca que no precisa de
outra explicao. Quando os autores
do exemplo que utilizamos dizem que
os princpios so uma bssola, no
precisam dizer que a bssola orienta.
porque bvio que a bssola oriente,
por se chamar de bssola para
transmitir o conceito de orientao,
de caminho a seguir, de ponto de
referncia etc. Por este motivo os
autores utilizaram este elemento de
ancoragem e de objetivao.
Dito de outra maneira, mais
conceitual neste caso, a naturalizao
tem como fnalidade transformar os
conceitos (o conceito de princpio
no exemplo) em categorias sociais
seguras e capazes de criar ordem entre
os acontecimentos concretos (aqui
so as atitudes e as condutas que os
participantes do exemplo devem ter).
Difculdades, e boas prticas
Utilizando o exemplo anterior
possvel entender tambm qual a
funo das representaes. Podemos
dizer que A carta de princpios uma
representao social dos participantes
desta iniciativa. Esta carta est
constituda ento por elementos
de ancoragem e de objetivao, e
modifcando esses elementos que
pode modifcar a representao social.
Este exemplo ilustra bem como
utilizando elementos de ancoragem
e objetivao podem-se de atingir
diferentes resultados:
(1) criar um espao de mediao
entre interesses e posies diferentes,
como indicam o primeiro e o quinto
princpio da carta.
Neste caso a representao
no s social no sentido que um
181 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
produto coletivo, mas que social
pois produz socializao, produz
sociedade.
(2) Estabelecer e manter um
equilbrio: no exemplo Brasil 4.21 se
considera que todas as caractersticas
individuais tem que ser respeitadas
e valoradas. Porm quando essas
caractersticas individuais esto em
confito entre si, como se aplica o
respeito?
A representao social d
uma resposta a este problema
(no defnitiva): um renncia a
sua caracterstica e tem como
compensao ser includo ou
poder participar desse sistema
fgurativo que ser um
membro deste grupo. Dando
algo, ele recebe em troca algo
que o envolve aos outros.
(3) Os grupos produzem
representaes para utiliz-las
como fltros em informaes
que chegam do mundo
externo, com a fnalidade de
controlar a lealdade de cada
um dos membros do grupo em
relao s fnalidades e caractersticas
do grupo (Palmonari, 1995, p. 55).
(4) Criar um universo no qual
cada um possa se sentir como na
prpria casa, este universo tem que ser
fexvel, se adaptar s caractersticas das
pessoas e do contexto na qual vivem.
Trata-se de um universo consensual, de
um mundo no qual mais importante
estar de acordo que em desacordo, e
1-Fortalecimento das habilidades e
competncias:
Ao nascer cada um traz um conjunto de
caractersticas individuais que o fazem
diferente dos outros. Algumas herdadas de
nossos antepassados, outras que adquirimos
na convivncia com outras pessoas e com o
contexto e durante o nosso desenvolvimento.
muito importante valoriz-las e coloc-las a
disposio do coletivo pois assim se fortalecem
e re valorizam. Algumas habilidades muito
importantes que desenvolvero neste caminho
sero as de respeitar as identidades e as diferenas,
utilizar a linguagem de forma expressiva e
correta; interrelacionar pensamentos, idias e
conceitos; desenvolver o pensamento crtico e
fexvel; adquirir, avaliar e transmitir informaes;
desenvolver a criatividade e saber conviver com o
seu grupo. [Brasil 4.20]
5- Respeito diversidade.
Muitas pessoas trabalhando juntas, sonhos que compartiram e outros que no, confitos
que surgiro, interesses diferentes, tudo isso parte da convivncia e do trabalho em
equipe, mas se estamos de olho no futuro...nada disso pode desanimar o grupo. A
diversidade rica por si mesma e quando compreendida traz ao grupo um diferencial
sem igual! Discusses devem ser dadas, pontos de vista devem ser colocados. Opinies
bem argumentadas, escuta ativa e abertura contribuem para que o grupo seja, alm de
tudo, coeso e respeitoso. muito importante aprender com as diferentes experincias e
opinies apresentadas, manter o foco nos objetivos e nas relaes, promover um ambiente
multicultural e incentivar ativamente a contribuio de cada indivduo dentro do grupo.
[Brasil 4.21]
182 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
o desacordo um instrumento para criar acordo. Sempre tem-se que chegar ao
acordo. Isso signifca praticamente que os elementos de ancoragem e objetivao
e as representaes sociais tem a fnalidade de fazer que o nosso mundo seja um
mundo familiar idealizado: sempre enfocado nos elementos positivos, agregativos,
de segurana. O primeiro princpio faz uma referncia clara ao modelo familiar:
ao nascer cada um traz um conjunto de caractersticas individuais que o fazem
diferente dos outros. Algumas herdadas de nossos antepassados, outras que
adquirimos na convivncia com outras pessoas e com o contexto e durante o
nosso desenvolvimento [Brasil 4.20].
Para concluir esta sesso, uma recomendao. No momento no qual se deseje
avaliar os resultados do tratamento comunitrio ou seu impacto, os elementos
de ancoragem e objetivao so o objeto que se utilizara. A hiptese que si
existem modifcaes nos elementos de ancoragem e objetivao ento existem
mudanas nas representaes sociais, ento existem mudana nas atitudes, nas
condutas e nos signifcados. Por esse motivo coletar os elementos de ancoragem
e objetivao uma atividade que tem importncia tambm para a avaliao do
tratamento comunitrio.
Mitos, costumes e rituais
Os mitos so relatos ou histrias que tratam, entre outras coisas, dar respostas
s perguntas que no tem respostas. Por exemplo: o que a morte? O que acontece
aps a morte? De onde viemos, estamos em algum lugar antes de nascer? Os temas
da vida e da morte, de nascer e morrer, do amor e da fecundidade, da violncia e
do dio, da perda e do encontro so os temas centrais de todos os mitos e dos
ritos que os celebram. A excluso grave, a adio s drogas so maneiras de viver
a vida e a morte. Ser excludo morrer para a sociedade, consumir drogas pode
ser entendido como querer viver at suas extremas consequncias, que pode ser a
morte, ou seja, querer viver at a morte. So mitos tambm as pessoas, ou podem
ser em particular aquelas que tem poder. Ter poder o elemento de ancoragem
que transforma s pessoas em mitos.
Todos os mitos tambm tem rituais, ou seja, prticas que os celebram.
Os atores que celebram esses ritos participam do poder que o rito celebra.
Participar nos rituais signifca ter poder, ter uma identidade, ter um lugar,
mesmo que seja o lugar do excludo. O poder do excludo reside no fato que
sem ele, os que excluem no teriam poder.
Por esse motivo a celebrao dos mitos comunitrios um acontecimento
183 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
especial, pois funda o sistema das relaes de poder em essa comunidade e o
pode mudar, porque prope um cenrio onde algumas coisas permanecem
constantes e outras podem mudar. A celebrao dos mitos uma das principais
oportunidades de persistncia e mudana. No fragmento as crianas de rua,
colocam droga e os instrumentos para drogar-se, estes elementos no rito
podem mudar. Aquele que no pode mudar e a estrutura do altar, a presena
das velas, de smbolos religiosos e as caveirinhas. O ganho das crianas e da
comunidade que por meio deste ritual, as crianas de rua so includos no
imaginrio coletivo.
Conceito
Todas as comunidades tm seus mitos, histrias que contam como essas
comunidades nasceram, que celebram aos seus fundadores e seus personagens
mais signifcativos, mitos que falam a quem pertence um determinado
territrio por exemplo, uma esquina entre duas ruas, ou um terreno baldio,
Dias antes os rapazes da rua comeam a reunir velas, frutas, po, fores, papel colorido. O
31 de outubro pela noite uma operadora e alguns rapazes da rua, colocam a oferenda no
altar maior da igrejao dia 1 de novembro, Carlo (um estudante de antropologia) e um dos
seus amigos se dedicam a tirar fotos das oferendas e realizam tambm umas gravaes de
vdeo.
Vrios jovens da rua querem coordenar, ao ponto de discutir e brigar.
Extendem-se o convite a outras organizaes para por oferendas de mortos dentro do
templo da Virgem. H grupos que do uma caracteristica mais religiosa e outros mais
social.
O altar de meninos de rua se constri com objetos relacionados com o grupo; sapatos,
roupa, cigarros, garrafas, e tambm colocaram no centro do altar uma casinha feita de
plstico, compraram caveirinhas e as desfararam de meninos de rua, fzeram arranjo
foral de cor preto, colocaram igualmente as tampas de alumnio onde cozinham sua
droga e as garrafnhas de inalante.
[Mxico 4.14]
184 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
etc. Neste sentido os mitos so um grande fator de estabilidade, continuidade
e persistncia. As vezes so o acervo do qual as representaes sociais tiram
suas imagens e seus valores, seus elementos de ancoragem e objetivao.
Os habitantes desta comunidade so uns guerreiros, um em particular,
que usava o seu poder de aterrorizar para mediar entre pessoas em confito no
bairro, uma espcie de Dom Corleone da comunidade, um assassino terrvel e
tambm simptico, impiedoso e bom mediador. Tem-se aqui dois mitos que
celebram o poder da fora e outro da sua ameaa.
Mitos e ritos especiais: nas comunidades existem rituais e mitos que tem
um signifcado muito especial. Especial porque so os rituais de passagem. As
religies celebras estes ritos constantemente: algumas os institucionalizaram
dando o sentido do sacramento. Estes rituais constituem o andaime da vida
religiosa, e s vezes tambm da vida social (batismos, casamentos, funerais).
Os rituais de passagem so ao mesmo tempo acontecimentos pessoais e
coletivos que produzem transformao e mudana: a pessoa que vive um
ritual de passagem no mesma antes e depois do ritual. Antes do batismo,
por exemplo, uma pessoa no pertence a comunidade dos batizados, depois
sim, depois tem um outro status e pertence a outro sistema de redes. Os rituais
de passagem so todos rituais de incluso e excluso .
Por esta razo conhecer estes rituais em uma comunidade fundamental,
se um quer entender como se produzem as mudanas e como se da forma as
representaes sociais. Saber por exemplo quais so os ritos por meio dos quais uma
pessoa aceita pelos trafcantes e por meio do qual excluda da escola e expulsa da
famlia, ter conhecimentos e ferramentas para poder prevenir ou promover.
Objetivos e processos
Porque trabalhar com mitos, rituais e costumes? Porque ali se encontra
as respostas que atores comunitrios deram a algumas de suas perguntas
e necessidades fundamentais; porque assim trataram de dar sentido a
Histrias de batalhas travadas tambm se destacam como o dia em que os moradores
do bairro se juntaram com todos os tipos de armas que possuam, entre facas e tesouras,
e atacaram o quartel, e protagonizaram uma verdadeira guerra. Alguns mitos chamam
a ateno no bairro, destacando a fgura de Paulinho Preto, bandido pesado que, na
ausncia do crime organizado, se tornou um lder no bairro. Com um currculo invejado,
matou muita gente e ao mesmo tempo fez casais pedirem desculpas um para o outro,
mediando confitos do bairro. [Brasil 4.22]
185 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
acontecimentos que em aparncia no tinham sentido (construo de
representantes sociais); porque ali se encontra uma certa ordem quando existe
confuso, porque ali encontram o sentido de certas aes e acontecimentos da
vida cotidiana que em aparncia no tem nenhum; porque cada mito tem os seus
personagens e na maioria dos casos os personagens dos mitos da vida cotidiana
so tambm lderes de opinio. Ento, os mitos refetem uma certa organizao
da sociedade, a que permite, favorece ou promove a incluso e a excluso, o uso
de drogas e outras formas de sofrimento social, mas tambm sua conteno. Por
isso os mitos so importantes e os ritos que os celebram tambm.
Outros motivos? Tambm porque cada uma das formas de excluso tem
seus mitos e rituais: o mito do vendedor de drogas humano ou inumano,
com todos os rituais bem estereotipados que se tem que seguir para comprar
droga com um e com outro, e os rituais para prepar-la, reparti-la entre amigos,
consumi-las juntos ou a ss: rituais! s vezes o mito fundador destes rituais foi
perdido, porm regularmente s tem um: a segurana, aquela fundamental,
que no acontea nada mau, que o vendedor no engane, que a droga seja
boa, que ningum te roube ela no caminho, etc.
Como se trabalha com os mitos e os rituais? Em outro trabalho (Milanese,
Merlo e Lafay, 2001, p.99) se indicam alguns passos: colher os mitos da voz
dos habitantes, distinguindo entre atores. Sucessivamente de cada mito ver se
existem rituais (regularmente, quase sempre existem, de outra maneira o mito
morre). Uma vez que temos a descrio dos rituais verifcar cinco aspectos:
1. Quais so as funes desse rito
2. Elementos do rito (objetos, smbolos etc.) que permitido mudar
3. Diferenas entre o sentido explcito do ritual e seu signifcado no
imediatamente observvel
4. Viso de mundo que justifca este rito (o mito!)
5. Quais so os atores do ritual que participando nele podem ao fnal acabar
por ter uma identidade diferente da que tinham no incio? (Processos de
mudana).
6. Participar das celebraes e rituais produzindo todas as mudanas
possveis: novos atores, novos papis, funes rituais novos, novos signifcados
relaes entre os atores, produzindo processo de mudana de tudo o que
pode mudar efetivamente.
Parece complicado mas no . Geralmente assim a vida cotidiana.
A refeio de Pscoa um ritual que faz parte da celebrao litrgica
popular da Pscoa. um excelente ponto de observao. O mito de que est na
186 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
base disso a vitria sobre a morte por parte de Jesus; a celebrao do poder
mximo mais poderoso de todos, o poder da imortalidade.
Aqui nesta celebrao, acontece um ritual, que exatamente o que a
equipe quer mudar. Em particular, quer mudar os papis nos ritos: o primeiro
papel quem fornece as coisas que so necessrias (o trafcante de drogas
se prope, mas a equipe prope que todos participem). uma operao
aparentemente simples, mas revolucionria, porque esse ritual no vai
confrmar o poder de uma s pessoa, mas o poder de todos os envolvidos, o
poder de participao. Neste caso, este um elemento que tem sido possvel
mudar, essa possibilidade veio do acordo entre equipe e lder comunitrio.
Nesse processo tambm pode ser observado elementos explcitos e
implcitos neste ritual. O explcito que a celebrao se realiza, o implcito que
se reafrma (ou no se reafrma) uma certa ordem social. Neste caso, a ordem
foi uma mudana signifcativa. Lio aprendida: a introduo de uma mudana
nas formas de ritual (os atores), se modifca o sentido implcito, que tambm o
sentido estrutural e profundo.
Vivido dessa maneira esse rito religioso/civil permite a insurgncia de outros
atores: os que limpam, os que pedem ajuda. Neste sentido favorece transformaes,
favorece que pessoas que entraram no rito de uma determinada maneira, com o
papel de participantes na celebrao, sai dela com um outro papel: aqueles que
coordenaram a limpeza, os que se puseram no lugar dos que pedem ajuda.
No ms de abril, o lder local nos procurou pedindo ajuda para realizar o almoo de Pscoa,
que aceitamos com a condio de que a comunidade participasse da organizao do
almoo. Assim, em reunio criamos trs equipes distribudas em: equipe para cozinhar,
lavar e realizar limpeza na rea comum aos moradores, alm de todos contriburem com
ajuda fnanceira para alugarmos brinquedos para as crianas.
Lembrando que no natal os adultos compraram cerveja, pedimos a eles que providenciassem
refrigerantes para as crianas em que o lder do trfco prontamente concordou e ofereceu
pagar a bebida; porm, ressaltamos que todos deveriam contribuir com a compra, pois, no
queramos que algum se sentisse o dono da festa, mas todos responsveis por ela (...). A
resposta foi muito positiva, pois valorizaram o espao destinado s crianas, extraram todo
lixo contido no buraco destinado ao elevador e todos limparam, pintaram e forraram com
tapetes onde fcariam os brinquedos.
Considerando-se que estas aes estavam sendo criadas para o almoo de Pscoa,
podemos inferir que todos os moradores realizaram um rito de renascimento atravs da
dedicao e cuidados voltado a estas crianas.
Durante o almoo fomos procurados por trs famlias que nos pediram ajuda para iniciar
tratamento de dependncia qumica e pudemos iniciar uma relao de confana com
os moradores do projeto e posteriormente, acompanhamos estas famlias no centro de
atendimento para dependentes de drogas, oferecido pelo municpio. [Brasil 4.23]
187 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
acompanhado por algum, dizer
algumas oraes, fazer o juramento,
deixar um smbolo no altar ou na igreja
na qual ele fez o juramento (pode-se
acender uma ou mais velas). O ritual
busca sempre uma transformao
( um sistema implcito e as vezes
explcito de tratamento) que na
linguagem religiosa se chama:
converso.
Boas prticas, difculdades,
lies aprendidas
Quando uma equipe comea
a trabalhar em uma comunidade,
especialmente na rea social, tem
uma tendncia (implcita) para
substituir um mito com outro: o
mito que diz que voc tem que
produzir resultados reais, o mito
da concorrncia e do saber, contra
o mito das prticas baseadas em
preconceitos e ignorncia, etc.
Com este tipo de mitos baseados
na efcincia e efccia, se prope
tambm s prticas (rituais): como por
exemplo as sesses de 45 minutos
exatos, os sistemas de tamizajes
estandardizados etc. aquilo que
chamamos protocolos. Toma forma
assim o andaime das prticas que
sustentam o poder dos profssionais.
Esta abordagem fornece
respostas, mas no produz mudanas
que permitam a comunidade
aumentar sua autonomia. So
necessrias, por um lado as respostas,
Veja agora o mito seguinte,
coletado em outra comunidade
brasileira:
O mito claro. O que
necessrio aqui a descrio dos
rituais que celebram e transform-
la em prtica social: por exemplo,
a confsso, a participao em
sesses de orao, os rituais de
arrependimento e reparao pelos
pecados cometidos. Veja por exemplo
o seguinte exemplo:
Neste fragmento parece
mais o aspecto ritual (a atitude, o
comportamento), mas o mito o
mesmo mencionado mais acima: se
voc, se somete a Deus ele o salva.
O juramento uma prtica religiosa
em que uma pessoa jura diante de
Deus (ou a Virgem ) para parar de
usar drogas ou lcool. O juramento
um ritual a ser seguido de maneira
bastante precisa: breve abstinncia
de consumo de drogas, jejum, ser
A idia de que a soluo para todos os
problemas da comunidade est em
aceitar Jesus como salvador. [Brasil 4.24]
Prometeu por trs meses, mas quando
sente a necessidade de voltar a beber,
tiro esta vontade cantando, rezando e
indo aos grupos de AA. [Mxico 4.15]
188 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Um grupo como de oito crianas entre 8 e 10 anos brigaram no ptio da paroquia, as
pessoas que usualmente se encontram no jardim s observaram e lhes gritavam coisas
para incentiv-los a continuar brigando. [Mxico 4.16].
Nos apresentamos ao Sr. H o lder comunitrio contando a ele um pouco do nosso trabalho
e tambm ouvimos um pouco da sua trajetria na luta por dignidade. Nos contou que
esto ocupando o prdio a mais ou menos trs anos e antes da sua chegada era um ponto
de venda de drogas onde praticamente toda semana havia batida policial, sabendo
desta situao props ao trfco uma parceria, os moradores sem teto ocupariam o local
dando ao trafco possibilidade de menor prejuzo, no teria tantas batidas policias, pois,
famlias inteiras habitariam o prdio, e as famlias por sua vez uma segurana paralela
onde ningum teria seus pertences furtados e assim se manteria a ordem. Feito o acordo
22 famlias se mudaram para o prdio. [Brasil 4.25]
Difculdade de conciliar a participao de A. (Profssional) e C. no grupo j que em muitas
situaes suas ideias so muito absolutas. [Brasil 4.26]
mas tambm mudanas mais profundas. A resposta tem a ver com a
necessidade de dar soluo para necessidades e demandas concretas, as
mudanas tem a ver com aquilo que tem que ser transformado para reduzir
necessidades e necessidades de respostas.
A mudana mais profunda tem a ver e se refete nos mitos e rituais das
comunidades: os religiosos e os civis.
A principal difculdade a ser superada pela equipe nesse processo, vencer
a prpria crena dos operadores e instituies (mito pessoal e preconceito) de
que no h importncia para o projeto a identifcao dos mitos e rituais de
uma comunidade.
Confitos de base na comunidade
Os exemplos abaixo ilustram feitos que ocorrem nas situaes de confito
e ao mesmo tempo tambm maneiras de enfrent-los e dar-lhes sada (no
necessariamente soluo).
A diferena entre dar uma sada e dar uma soluo pode ser ilustrada
assim: em uma situao de confito, s vezes no passvel encontrar uma
soluo, isto uma resposta que no tenha nenhum elemento o ascpeito
negativo. possvel, mesmo assim encontrar respostas: que so solues
parciais as quais se reconhecem os limites e os riscos, e conscientemente se
aceitam.
Conceito
189 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Diz-se que um confito um processo
em que dois atores esto em oposio mtua
ou so incompatveis. Dito de outra forma
um confito um processo de construo de
incompatibilidades e oposies recprocas.
O exemplo o Sr. H., neste caso,
um bom exemplo [Brasil 4.25]. Esse ator
conta como o confito nasceu: dois atores
precisam do mesmo territrio que at agora
pertence somente a um dos dois. Existem
duas posies opostas. Se ambos fcam com
sua posio, o confito pode se transformar
em confronto violento. Se os trafcantes
dizem: este terreno meu e no vou ceder
a ningum, e os invasores so persistentes em querer assentar-se ali, haver
um desenlace violento, no qual todos vo ter um alto risco de perder. Para
encontrar uma soluo deve passar de uma guerra de posio (isto meu,
ento eu estava aqui primeiro) a um dilogo de interesses. esta transio que
permitiu encontrar uma soluo.
Nas comunidades altamente vulnerveis marginalizados h uma espcie
de dilema: por um lado os confitos e as situaes de vulnerabilidade que
vivem, fazem pensar que por milagre que seguem existindo, em realidade s
vezes no se entende como podem seguir existindo, mas por outro continuam
existindo. A deduo que pode ser feita esta: isto signifca que tambm
nestas comunidades se organizaram mediaes entre os interesses e posies,
aceitando que alguns membros da comunidade paguem o preo.
O exemplo [Brasil 4.26] em que a comunidade brasileira em que houve
um acordo entre os invasores de um terreno e trafcantes de drogas foi feita
com base em dar e receber, foi um verdadeiro acordo. Os trafcantes deram
acesso ao prdio, os invasores contriburam para aumentar a segurana dos
trafcantes, mas tambm para aumentar seus negcios. Neste caso, se adotou
uma lgica de ganhar-ganhar desigual.
As lgicas dos confitos e de suas respostas
Aqui temos um grupo de crianas de rua lutando em um lugar
pblico. Os adultos observam e no intervm. Qual a razo da briga? Qual
Negociao. um mecanismo para
soluo de um confito, que ocorre
quando as partes procuram por si
mesmas chegar a um acordo, tratando
que ambas obtenham algum benefcio.
Na negociao, as partes esto dispostas
a conceder algo com a segurana que
para ambos o resultado ser satisfatrio.
O consenso. um acordo, pacto ou
convenio que realizam diversos atores
envolvidos em algum assunto que
no concordavam por ter interesses
diferentes. (Fonte: MASS, apelidos, e
PRODES (Peru) 2007.
190 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
a participao dos adultos que assistem?
Neste caso, o confito entre as crianas na
verdade um confito entre adultos atuado
por crianas. Qual a razo da briga? Algum
roubou algumas coisas que duas das crianas
roubaram por encomenda do comerciante
local. O que mais difcil de entender a
participao de adultos. Ao observar o grupo
percebemos que a briga de quatro crianas
da rua que pertencentem ao bairro e outros
recm-chegados. Os recm-chegados foram
acusados de roubo, sendo que o roubo uma
prtica aceita e meio de subsistncia comum, o confito depende do fato de
que a propriedade roubada pertencia a um comerciante na rea. Os adultos
apoiavam as crianas de seu bairro (neste caso eram crianas da rua, mas
haviam perdido esse carter de excluso por serem includos no bairro). Qual
a lgica que se segue para dar resposta ou soluo para este confito? Ganha-
perde. Aqui aparecem duas logicas ou princpios, o primeiro e que no se rouba
aos comerciantes a zona, este todos sabem da mesma maneira que todos
sabem que algun comerciantes pedem as crianas roubarem objetos que eles
necessitam vender. O segundo princpio que se tem violao do primeiro
e esta atribuda sempre a quem pertence menos, neste caso as crianas de
rua recm-chegados. Esta a lgica do confito e tambm a maneira a qual os
atores comunitrios buscam as repostas.
Entre posies e interesses, causas e fontes de confito
Dizemos que um confito um processo que produz uma situao na
qual dois ou mais atores tem posies diferentes sobre o mesmo objeto, se
trata ento de tentar entender quais so os tipos desses objetos que so a
causa ou fonte de confito (FAO , 2007).
Confitos por interesses: esses confitos esto ligados a proteo das
fontes de satisfao de suas prprias necessidades, sejam estas materiais ou
imateriais.
Confito por informao: quando os confitos so o resultado de
informaes insufcientes, erradas, contraditrias.
Confitos relacionais: se devem s diferenas entre as personalidades,
Um grupo de 8 criancas de entre
8 e 10 anos brigavam no trio da
parquia. As pessoas que usualmente
se encontram no jardim , somente
observaram e gritavam coisas para
anima-los a continuar brigando. As
crianas brigavam porque algum
havia roubado mercadoria que duas
crianas haviam roubado em nome do
comerciante do bairro. Foram acusados
do roubo algumas crianas recm
chegadas no bairro. [Mxico 4.17]
191 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
entre emoes frente aos mesmos fenmenos, mal-entendidos, preconceitos,
esteretipos, etc.
Confitos estruturais: Esses confitos ocorrem quando h ideias ou
posies divergentes relacionadas com processos, regras e poder de controle
sobre os recursos, produo e distribuio.
Confitos de valor: refere-se a confitos produzidos por diferenas culturais,
crenas pessoais e sociais ou diferentes vises do mundo e da sociedade.
Objetivos e processos
Porque os confitos so importantes no tratamento comunitrio? Por
muitas razes, incluindo os seguintes:
(1) Os confitos so processos que favorecem a coeso social e a
construo da comunidade, seu fortalecimento: a condio para que existam
maneiras para dar respostas construtivas para a comunidade.
(2) Os confitos criam espaos nos quais possvel criar mudanas, inovar,
renovar, modifcar.
(3) Os confitos evidenciam as redes e seus interesses dando a todos a
possibilidade de introduzir no discurso os interesses de todos.
(4) Os confitos so uma das principais etapas de cenrios da transformao
das comunidades: ali nascem os mitos e os ritos.
(5) A resoluo de confitos implica a participao ativa de todos os
atores de uma comunidade; se isso no acontece, os confitos se convertem
em outros confitos, se multiplicam ou fragmentar-se em confitos menores.
(6) Os processos de soluo de confitos so oportunidade de
transformao estrutural das redes de lderes de opinio, aparecem novos
lderes e novas relaes, e isto tem como consequncia mudanas nas
representaes sociais e na vida da comunidade.
(7) Na soluo de confitos as comunidades colocaram muito de seu ser,
de seu saber, de seu fazer, e esses saberes e fazeres podem ser recursos
para o tratamento comunitrio.
Para o estudo dos confitos na comunidade e possvel utilizar uma abordagem
simples e efcaz de observao do confito: ver box na prxima pgina.
Solues lgicas dos confitos
Perde- perde
No confito das crianas de rua a lgica das crianas recm chegadas
192 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Em uma cidade o governo apreendeu
um edifcio que era de trafcantes de
drogas e que era usado para os seus
negcios ilegais. O governo destinou
o prdio para o uso de algumas ONGs.
Dois dias antes da entrega do edifcio em
um ato pblico, o edifcio foi destrudo
por um incndio. [Colombia 4.1].
para o bairro perde-perde. Por
qu? Primeiro porque eles no podem
ganhar, a menos que seu ganho seja
que outros no ganhem. A lgica
do perde-perde, baseia-se em que
um bom resultado que o outro no
ganhe.
Perde - ganha
Esta situao se d quando se ignora o confito, esperando que se resolva
por si s. Neste sentido, h duas posies de base: a posio evasiva e a posio
acomodada.
A posio evasiva aceita perder e que o outro ganhe. Mas para isso, tem
que negar que h um confito, ou fngir que o confito no existe. No fundo,
1. Descreva a situao.
Um grupo de cerca de oito crianas com idades entre 8 e 10 anos brigaram no ptio da
parquia, as pessoas geralmente se encontram no jardim s observaram e gritavam coisas
para incentiv-los para que continuassem brigando.
2. Quem intervm no confito?
Crianas de rua pertencentes a mais tempo na comunidade e crianas de rua recm-
chegadas. Adultos no bairro.
3. Como as partes reagem no confito?
Oposio violenta entre as crianas de rua dos ambos os lados. Oposio entre adultos e
crianas de rua recm-chegadas.
4. Qual o confito? H confitos manifestos e confitos latentes, confitos de
fundo e confitos imediatos.
O confito manifestado o roubo de mercadoria roubada por solicitao de um comerciante
local. Aqui foram acusados de roubo as criancas de rua recm chegadas no bairro Os confitos
de fundo so entre os residentes locais e os recm-chegados (este um confito histrico). Outro
confito de fundo est entre os interesses dos comerciantes da rea (que vendem produtos
roubados) e os interesses das crianas. Os adultos nao aceitam os meninos de rua, eles querem
que no parque se encontrem so as criana residentes na comunidade. Por esta razo tambm
no os detem, e sim os incitam a seguir brigando...
5. Que fazem para solucionar o confito?
Adultos incentivar as crianas de rua pertencentes a seu bairro a bater mais forte nas crianas
de rua recm-chegadas. O nico resultado possvel que alguns ganham e outros perdem. Nao
existe nenhum gesto de mediao ou de deter a briga e tampouco de abandono. Os adultos
participam ativamente no confito, incitando para mais agressividade e violncia, como se eles
sassem ganhando se as crianas de rua se destrussem uns com os outros.
4. O que sugere para a soluo deste confito?
Acabar imediatamente com a briga, separando os dois lados. Conversar com os e
comerciantes e adultos do bairro , evidenciando os temas de fundo: refutar das criancas de
rua, uso das crianas para roubar objetos que sejam vendidos aos comerciantes..
193 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
o ator do confito que assume uma posio evasiva espera que o confito se
resolva por si s, ou que outros atores intervenham. Esta posio tem como
consequncia retardar a soluo ou encontrar respostas para o confito.
Entre as motivaes que explicam esta posio se encontram as seguintes:
o ator social pensa que este no um confito seu (no sentido de que no tem
interesse nisso) ou tem resistncia, medo em enfrentar e assumir o controle da
tenso gerada por enfrentar o confito com outras pessoas.
O acomodador (ceder-perder) tem uma representao idealizada da
vida social. Ele nunca entra diretamente em confitos ainda que participe de
situaes de confito. Sua posio baseada na crena de que as divergncias
fazem com que as pessoas se distanciem uns dos outros, pensam que discutir
causas das divergncias destrutivo. A consequncia que ele deixa que a
outra parte tome a deciso sem problemas, assumindo uma posio submissa
e complacente. Isso acontece quando o ator social acredita que os interesses
no confito so mais importantes para os outros do que para si mesmo,
consequentemente a posio que assume, espera ele, lhe dar ganho com
ambos atores no confito. Seu ganho no confito ser considerado bom,
amvel, ter prestgio por sua posio pacifcadora (na realidade, ele nega
a existncia de confitos). O acomodador investe nas relaes futuras com as
pessoas em confito esperando ganhar independente de quem ganhe.
Ganha - perde
A posio de ganha - perde aquela em que cada uma das partes em
confito aceita apenas uma soluo: vencer e que o outro perca. Diz-se que esse
o carter do lutador. O lutador tem ideias muito claras: trabalhar para fazer
valer os seus direitos e seu ponto de vista, se importa muito com sua imagem,
foca exclusivamente em seus objetivos. Seu tema de base que existe apenas
uma sada nos confitos: que ele ganhe e que o outro perca. Para isto, ele briga
e est disposto a sacrifcar outras pessoas quando se recusam a cumprir suas
indicaes ou a aceitar seu enfoque. Se este ator um lder comunitrio e sua
posio representa bem a posio e os interesses da comunidade, este tipo de
posio sobre os resultados do confito pode ser til quando so necessrias
decises rpidas e o bem estar da comunidade est em srio risco .
Ganha - ganha
Ganha-ganha o ideal de todo gestor de confitos, nem sempre fcil,
muitas vezes muito til e necessrio. Neste caso, dois perfs so traados como
194 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
negociador/mediador: o perseverante e o colaborador. Ambos buscam o
mesmo: que ambos os atores do confito ganhem!
Perseverante: o negociador por excelncia. Ele tem uma viso
realista das situaes baseada no fato de que nunca ser possvel satisfazer
completamente a todos. Busca uma posio que permita que ambos os lados
ganhem. Para isso se concentra em seus interesses e busca as convergncias a
partir destes. a pessoa que se compromete com a soluo do confito e no
com a sua soluo do confito.
Para isso, o perseverante procura criar um ambiente de negociao
(ou seja, um contexto em que ambas as partes confitantes concordam em
renunciar algo de seus interesses). Por isso atua de boa f com a outra parte e
busca um resultado sem que este coloque a outra contra a parede: isso signifca
ter uma atitude de respeito, justa, equilibrada e sem violncia. O perseverante
investe muita energia para esclarecer os processos de comunicao, refetindo
sobre as contradies prprias e a da outra parte. So nas contradies que se
encontram espaos de negociao.
Colaborador. O colaborador parte de outra perspectiva (que nem sempre
est presente no perseverante). O colaborador v nos confitos verdadeiras
oportunidades: se so bem gerenciados, podem ajudar a fortalecer as relaes
entre as partes. Sendo que se trata para ele e para todos de uma oportunidade,
ele usa o confito para obter o maior lucro possvel para si e para o outro. Muito
de seu trabalho consiste em esclarecer as diferenas, explorar interesses,
buscar alternativas, criar cenrios imprevistos, fornecer informaes que os
atores do confito no tem. Ento busca informaes para si e as compartilha
com as partes que esto em confito, etc. O colaborador o mais efcaz, com
uma condio: que as partes tenham a inteno de negociar. Se no assim,
melhor que trabalhe o perseverante, sendo que o seu objetivo mnimo criar
um espao de negociao onde no h negociao.
Bibliografa
Brofenbrenner, U. (1987). La Ecologa del Desarrollo Humano. Buenos
Aires: Paidos.
Durkheim, E. (1898). Reprsentations individuelles et reprsentations
collectives. Revue de Mthaphysique et de Morale , 273-300.
FAO. (2007). Confict Managment. From http://www.fao.org/docrep/
w7504e/ w7504e07.htm.
195 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
Jodelet, D. (1984). Rprsentations Sociales: Phnomnes, concepts et
thories. In S. Moscovici, Paychologie sociale. Paris: PUF.
Milanese, E., Merlo, R., & Lafay, B. (2001). Prevencin y cura de la
farmacodependencia. Una propuesta comunitaria. Mxico: Plaza y Valds.
Moscovici, S. (1979). El Psicoanlisi, su imagen y su pblico. Buenos Aires:
Huemul.
Moscovici, S. (1961). La Psychanalyse, son image et son public. Paris: PUF.
Moscovici, S. (1981). Psicologia de las minorias activas. Madrid: Morata.
Moscovici, S. (1982). The Coming Era of Representations. In J. Codol, J. P.
Leyens, & coord, Cognitive Analysis of Social Behaviour. The Hague: Nijhof.
Nisbett, R. (1980). The Trait Construct in Lay and Professional Psychology.
In L. Festinger, Retrospection in Social Psychology. New York: Oxford University
Press.
Palmonari, A. (1995). Processi simbolici e dinamiche sociali. Bologna: Il
Mulino.
Ross, L. (1977). The Intuitive Psychologist and His Shortcomings: Distortion
in the Attribution Process. In L. (. Berkowitz, Advances in Experimental and
Social Psychology (Vol. X). New York: Academic Press.
Snyder, M., & Cantor, N. (1979). Testing Hypotesis about other People: The
use of Historica Knowledge. Journal of Experimental and Social Psychology ,
330-342.
Snyder, M., & Swann, W. (1978). Hypothesis Testing Precess in Social
Interaction. Journal of Personality and Social Psychology (36), 941-950.
196 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUARTO
197 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
A COMUNIDADE E SEUS SERVIOS
Captulo 05
198 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
ndice do captulo
O Encontro com a Comunidade................................................................00
De onde vem a demanda da Ao Social .......................................................................00
Entrar, Encontrar, Estar Na Comunidade
Encontrar Na Comunidade
Redes: Portas Principais de Entrada em uma Comunidade ..........................................00
Conceito de Rede: Primera Aproximao
Lderes de Opinio: Primera Aproximao
Redes de Lderes de opinio e excluso grave
Construir Um Dispositivo Para A Ao Social (Primeira Parte)
Dispositivos Para O Tratamento Comunitario
Construir Um Dispositivo Para A Mudana
Trabalho De Rua E Comunidade
O conceito e os objetivos
Os produtos
Recomendaes, boas praticas e riscos
Aes De Vinculao
Conceito, objetivos e processos
Difculdades
Boas Praticas e lies aprendidas
Aes organizativas
Conceito, objetivo e processos
Recomendaes, Difculdades e Boas Prticas
Aes na rea da sade
Conceito, Objetivos e processos
Recomendaces, difculdades e boas prcticas
Aes e processos de educao no formal
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difcultades e boas praticas
Animao e iniciativas culturais
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difculdades, lies aprendidas
Aes de assistncia imediata
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, boas prticas e difcultades
199 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Conceito
A comunidade, atravs de seus atores e suas redes, organizada
para produzir alguns dos servios dos quais necessitam para atender
suas demandas, isto na teoria. Na prtica, o que acontece que os lderes
de opinio determinam como utilizar os recursos disponveis, ou mais
radicalmente, quais os recursos a serem disponibilizados e quais servios
so possveis e permitidos e quais no. Por consequncia, algumas
necessidades dos habitantes das comunidades encontram algumas
respostas e outras no.
Durante o diagnstico, observamos que o parque era o lugar perfeito para iniciar nosso
trabalho. Todos estavam interessados nisso, principalmente o padre que desejava que
o parque em frente igreja fcasse limpo e que no se transformasse em moradia das
crianas de rua, da populao de rua que vinha do mercado, das profssionais do sexo que
trabalhavam nas lanchonetes prximas ou, at mesmo, em um cenrio de consumo de
droga, de brigas e de violncia de todos contra todos. [Mxico 5.1]
Esta uma situao em que a rede de lderes discute sobre as
possibilidades de ao. Mesmo assim, quase que simultaneamente, no trabalho
de identifcao dos temas geradores espontneos e induzidos (ver SIDIEs).
Um autor adulto pronuncia esta frase:
No permitem que se desenvolvam novas iniciativas de trabalho com populao de rua,
j que tem muitas experincias de fracasso, e estas experincias traro novas pessoas em
situaes muito difceis, as quais no se podero atender. [Mxico 5.2]
Trata-se de ver o que signifca o fracasso para este ator, pode-se at
pensar que as iniciativas implementadas no passado no deram os resultados
que esperava, ao contrrio, fzeram que ainda mais pessoas vulnerveis
ocupassem os territrios da comunidade. Os efeitos contrrios dos objetivos
(ou das expectativas) tm um peso na representao do trabalho social e na
aceitao ou desprezo dos atores comunitrios.
A COMUNIDADE E SEUS SERVIOS
200 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Quando o Tratamento Comunitrio
iniciou, foi uma questo difcil de lidar,
pois os moradores no conheciam e
no gostavam de pessoas diferentes
em seu territrio. [Brasil 5.1]
O temor diante de pessoas
que no pertencem a comunidade,
diante de quem diferente, uma
tpica caracterstica do pensamento
comunitrio (no exclusivamente
das comunidades marginalizadas e
vulnerveis). Entende-se ento que a
posio inicial de uma comunidade
local mais imunitria que comunitria
(Esposito, 1998) (Esposito, 2002), e com
estas posies importante comear
o trabalho.
Havia uma jovem moradora da
comunidade que nos levou at l nos
alertando que o problema naquele
lugar era difcil e que gostaria muito
que fosse realizado um trabalho
comunitrio naquela rea. Porm,
os sorrisos e cumprimentos eram
destinados somente a ela, a equipe
durante semanas no conseguiu ter
um vnculo com a comunidade por
resistncia da mesma. [Brasil 5.2]
Tambm quando o processo
de entrada na comunidade se
realiza por meio de uma aliana com
uma lder comunitria, modifcar
a atitude de suspeita e defensiva
das pessoas toma um tempo, exige
que se implementem aes, que
os operadores estejam ali, visveis,
observveis e observados.
Juntamente com este projeto, formou-
se uma equipe incluindo os alunos em
estgio e o trabalho foi sistemtico.
Instalou-se um dispositivo de baixo
limiar que funcionava uma vez na
semana com diversas atividades de
vinculao. Em princpio, foram as
crianas que se aproximaram, depois,
muito timidamente, foram seus pais
e aqueles jovens que se juntavam na
escada para usar drogas (e que todos
olhavam com desconfana) e somente
se limitavam a observar o que faziam, at
que comearam a inserir-se nos toldos
e comearam a ajudar na instalao das
mesas de ping-pong. [Chile 5.1]
Nesta experincia do Chile,
a equipe seguiu todo o processo
de preparao para a entrada na
comunidade, desde a preparao e a
formao de uma equipe at o contato
com lderes formais e no formais. Apesar
disto, alguns atores fcaram inicialmente
distantes do dispositivo de baixo limiar
instalado com o acordo de todos. Abaixo
verifcamos o mesmo cenrio do Brasil,
com algumas diferenas:
A equipe, junto a uma jovem moradora
(que nos havia introduzido na
comunidade), desenvolveu muitas
atividades sem desistir. Desta maneira,
foram aos poucos conseguindo atrair
alguns que olhavam de longe. Em seguida,
se integraram os vizinhos. Os jovens,
apesar de no gostarem da presena de
estranhos, se colocaram mais prximos
a equipe pelo som que era tocado nas
atividades. A jovem auxiliava conversando
com os outros colegas. Assim, com o
passar dos dias, a comunidade j estava
acostumada com o trabalho e j ajudava
nas atividades de rua. [Brasil 5.3]
201 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
A criao de um servio (aqui, neste fragmento, por meio de
implementao de um dispositivo de aes diretamente na rua) se estabelece
quando as pessoas da comunidade participam ativamente. Este um dos
sinais, no s da aceitao, mas tambm do reconhecimento de que este
servio um espao de todos. neste momento que os atores comeam a
produzir capital social (Bourdieu, 1980), quando do vida a um processo de
conhecimento mtuo. Como se pode ver, isto no acontece espontaneamente,
as aes de vinculao no marco do tratamento comunitrio so uma maneira
de alcanar este objetivo.
No fragmento seguinte se encontra um cenrio parecido ao anterior. O
autor que narra a anedota se refere ao que aconteceu quando se implementou
o primeiro servio na comunidade.
Para iniciar o trabalho, implantamos uma tenda, limpamos o parque e nos instalamos.
Faz quase uma semana e ningum ps o p na tenda. Se mantm afastados, sentados nas
escadas da igreja e nos limites do parque. [Mxico 5.3]
Embora esta iniciativa fosse o resultado de uma refexo e de uma
deciso com a rede de lderes comunitrios, no foi sufciente. Outros lderes
controlavam o cenrio que, para eles, era a resposta para algumas das suas
necessidades; era, para eles, um lugar de servio. A situao foi desfeita
quando a equipe fez o contato com os lderes e fzeram, juntos, uma refexo
sobre o impacto desta iniciativa.
A primeira observao aqui a do mtodo: por qual razo os lderes
que bloqueavam o acesso tenda no haviam sido includos no trabalho da
construo da rede de lderes? Independentemente da resposta para esta
pergunta, aquilo que se aprende desta situao que o trabalho da construo
de rede nunca se acaba e que as fases iniciais da construo da rede de lderes
de opinio so fundamentais. Impedir o processo de incluso de lderes de
opinio na rede constitui, de fato, uma ao de excluso que pode, como neste
caso, ter consequncias negativas para o desenvolvimento das estratgias.
Este tipo de excluso pode ser implementada intencionalmente e, s vezes,
oportuno faz-las. importante considerar os efeitos destas decises e como
administr-los.
O conceito aqui que esse lugar j era totalmente ocupado por alguns
atores e oferecia um conjunto de servios a alguns, dentre eles: moradores de
202 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
rua, vendedores de drogas, prostitutas,
consumidores de drogas, pequenos
grupos de trombadinhas (crianas
que se organizam em grupos para
assaltar as pessoas que transitam pela
praa ou pelas ruas mais desertas, etc.),
organizaes no governamentais que
algumas vezes por semana distribuam
comida, etc. Essa praa era um cenrio
de subsistncia: fonte de recursos
fnanceiros, de atividade econmica
complexa, lugar de socializao
e de controle social (por meio de
marginalizao e estigmatizao); lugar
tambm de confitos sociais, s vezes
manifestos e s vezes encobertos, etc.
Isto signifca que criar um novo servio
na comunidade implica negociar
espaos, negociar territrio (negociar
organizao social).
A constatao, quase
bvia neste caso, que em uma
comunidade no h espao vazio,
todos os espaos disponveis esto
ocupados e organizados com um
ou mais propsitos, s vezes com
confito entre eles. Neste cheio,
necessrio no somente modifcar
e transformar, mas tambm criar do
nada, ou quase nada, novos espaos
sociais e renovar outros. A outra
constatao que um processo
muito diferente implantar um
servio comunitrio (um centro de
ateno especializada, um pequeno
ambulatrio mdico, um centro
de ateno primria de sade, um
centro de baixo limiar, um drop in
center, etc.), utilizando um processo
de cima para baixo, daquele de
produzir o mesmo servio utilizando
um processo de baixo para cima.
Estes, s vezes, parecem dois
mundos distintos em dois territrios
paralelos, que tm em comum s o
espao fsico da comunidade.
O que se entende por servio?
Por servio se entende, neste
caso, uma modalidade organizada
de respostas s necessidades ou
demandas de todos os atores em jogo.
Os servios defnem e descrevem o
que fazer, isto quer dizer, as tarefas
de uma equipe ou uma organizao,
de uma rede operativa ou de uma
minoria ativa em uma comunidade.
Neste sentido contribuem para defnir
a identidade de todas as pessoas,
redes ou organizaes implicadas
em favorecer a emergncia de
demandas ou necessidades onde
antes no havia conscincia destas
ou estavam reprimidas. Quando
se diz modalidade organizada se
afrma a criao de certa ordem, isto
, de uma certa formalizao que
pode ser explcita (acordos escritos,
regras, normas, etc.) ou implcita (por
exemplo, fundada mais nos ritmos da
vida e nos rituais comunitrios, neste
propsito: mitos, rituais e formas
consuetudinrias no SIDIEs).
203 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Limiares, complexidades e processos
Entre os desafos do tratamento comunitrio se
encontram alguns que constituem verdadeiros dilemas:
- 8uscar o melhor equllibrlo possivel entre necessldade
de reduzir os obstculos ao acesso s respostas por parte
das pessoas que as necessitam (melhorar o acesso) e, ao
mesmo, tempo a necessidade de incrementar qualidade
nas respostas (melhorar a efccia);
- 8uscar desequlllbrar os slstemas estatlcos e rigldos que crlam obstaculos
para o acesso, de maneira que seja possvel promover mudanas e, ao mesmo
tempo garantir a estabilidade;
- Necessldade de fortalecer as lnterdependenclas entre processos de
cima para baixo (as polticas) e processos de baixo para cima (a participao
protagnica e os produtos das comunidades);
- Necessldade de comblnar complexldade e formallzaao llgada aos
processos de cima para baixo, com a complexidade dos processos no formais
(de baixo para cima), etc.
A abordagem comunitria, historicamente, teve entre suas finalidades aproximar
os servios (em geral de sade pblica, de assistncia social ou de ateno primria) aos
lugares de vida da populao. Isto, em uma perspectiva de cima para baixo, foi chamada
de perspectiva comunitria. Veja, por exemplo, a posio da UNODC:
1. Disponibilidade e acessibilidade no tratamento da dependncia s Drogas
A dependncia de drogas e seus problemas sociais e sanitrios associados podem ser
tratados efetivamente, na maioria dos casos, se as pessoas puderem recorrer continuamente
aos servios de reabilitao e tratamento, acessveis de acordo com as suas possibilidades
econmicas e de maneira oportuna.
Componentes/aes:
- Acess|o|l|JoJe eothco, J|stt|ou|oo e tec|Jo soc|ol,
- Oottun|JoJe e hex|o|l|JoJe nos hott|os Je otenoo,
- Votco leol,
- 0|son|o|l|JoJe Je setv|os Je oo|xo l|m|ot,
- loc|l|JoJes Je oomento,
- kelevnc|o cultutol e omoo|l|JoJe com o usut|o,
- kesosto s mlt|los necess|JoJes e J|vets|hcooo Je setv|os,
- kesosto mot|voc|onol oto com o ttotomento ot otte Jo s|stemo Je just|o ct|m|nol,
- 5ens|o|l|JoJe s J|letenos Je neto nos setv|os.
[UNODC & WHO, 2008]
204 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
No primeiro dia em que fomos para uma visita a comunidade e implementar atividades,
encontramos P. na rua com amigos fumando maconha. Foi o primeiro morador a nos
receber e nos oferecer espao e tudo o que mais precisvamos para realizar as atividades
na rua. (luz, gua, espao para guardar nosso material, etc.). [Brasil 5.4]
A primeira afrmao uma
realidade comprovada: se uma pessoa
pode recorrer ao servio que necessita
com continuidade e em funo de
sua necessidade, em muitos casos
podem ser tratados sem recorrer
aos servios especializados. Para que
esta afrmao ou recomendao se
converta em um fato real, necessrio
que os servios de ateno primria
conjuguem baixo limiar com alta
complexidade ( o mesmo que dizer,
alto nvel profssional de respostas).
Sabemos que este um dos dilemas
com os quais cada um se encontra
todos os dias.
O texto indica, sucessivamente,
algumas caractersticas da
acessibilidade: reduzir a distncia
geogrfca (em quilmetros) entre os
servios e as pessoas que necessitam
dele, fexibilidade nos horrios, um
marco legal, respostas s mltiplas
necessidades, diversifcao dos
servios, etc. Cada vez mais tem-
se o aumento da complexidade da
necessidade de formalizao para
que este complexo sistema funcione.
Para entender a diferena entre uma
perspectiva de cima para baixo e uma
perspectiva de baixo para cima, veja
este outro exemplo:
Tem-se aqui um conceito
diferente de limiar, talvez
ortodoxamente no se possa falar
de servio, embora aqui P. est
fornecendo um servio para a
comunidade. Este servio baseado
em um acordo ttico de cooperao
em que um ator da comunidade
coloca alguns recursos e a equipe
outros. Tudo isso acontece fora de
um marco legal, fora da necessidade
de fexibilizar horrios, com facilidade
de pagamento, com relevncia
cultural e sensibilidade. Neste caso,
se evidencia uma situao contrria:
a sensibilidade e a simpatia do
usurio que se necessita. Pode-se
entender, tambm, que o fato de
mencionar em um documento ofcial
a amabilidade com o usurio ,
ao mesmo tempo, uma revoluo
cultural (a amabilidade com o usurio
seria, desta maneira, introduzida entre
as tcnicas) e uma provocao: por
qual razo ser necessrio mencion-
la? O tratamento comunitrio no
adota uma perspectiva em lugar de
outra, mas busca produzir encontros
entre as duas, sendo que estas so
complementares ou, pelo menos,
necessrio que elas sejam. A questo
ento como construir este encontro
205 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
com servios. Veja novamente esta perspectiva de cima para baixo no texto
a seguir:
Cabe defnir os servios de aproximao como os servios que se prestam, alm dos limites
habituais da atividade de uma organizao, a manter contato com as pessoas que usem
drogas ou tenham problemas de sade relacionados, ou correm o risco de t-los. O objetivo
das atividades de aproximao , frequentemente, chegar s pessoas ocultas ou difceis
de encontrar e que no esto em contato com outros servios. O desenvolvimento dos
servios de aproximao deve basear-se numa minuciosa avaliao das caractersticas,
circunstncias de vida e necessidades do grupo especfco aos quais sero prestados.
Segurana fsica deve ser o fator primordial no planejamento, em particular quando se
trata de manter contato com mulheres que exercem o trabalho sexual ou mulheres sem
domiclio. As atividades de aproximao podem ter como marco o domiclio das mulheres,
a rua, o mundo das drogas, os cafs e bares, os centros de acolhida e ateno ao cidado,
as residncias, as entidades comunitrias, os lugares de culto, os hospitais, os crceres, os
centros de servio social e de ateno de sade ou qualquer mbito natural no qual se
renem as mulheres. [UNODC, 2005]
Esta perspectiva de cima para baixo (especifcamente dirigida s
mulheres) considera pessoas ocultas ou difceis de encontrar, as pessoas
que, do ponto de vista de baixo para cima, so claramente visveis e fceis de
encontrar (consulte o trecho da experincia brasileira acima). Do ponto de vista
da comunidade, no necessrio aproximar-se porque os atores j esto l,
isso tambm pode ser entendido como a necessidade de mudana de uma
estratgia de encontrar, que um adiantamento sobre aquela pessoa que
insiste em esperar passivamente ou, at mesmo, uma estratgia para estar
l (veja abaixo o exemplo da Colmbia).
Esta forma de aproximao (sugerida por UNODC) comunitria porque
ela implementada na rea geogrfca da comunidade e no necessariamente
no seu territrio. Esta modalidade est destinada a grupos especfcos em
lugares fsicos tambm especfcos que, implicitamente ou explicitamente,
contribui para rotular e estigmatizar: talvez este seja o preo que as pessoas tm
que pagar para serem ajudadas. Esta modalidade no implica que estes lugares
(bares, boates ou lugares de culto) sejam reconhecidos como manifestaes
da organizao dessa comunidade e valorizados praticamente como tais.
Na perspectiva deste fragmento o termo comunitrio um adjetivo,
enquanto que na perspectiva do tratamento comunitrio espera-se que seja
um substantivo.
Outra forma de aproximar e aumentar a participao dos atores como
menciona o fragmento a seguir:
206 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Melhorar a competncia e o conhecimento de pessoas que esto nessa situao, ou
para determinar que as mulheres tm problemas com o uso de drogas, encaminh-las
para tratamento e facilitar o acesso ao mesmo. Estas pessoas podem ser diretores de
comunidades, um companheiro da comunidade, autoridades religiosas ou diretores
espirituais, prestadores de servios de ateno primria de sade pessoal, de mbitos mais
especializados como os servios de apoio familiar e infantil, servios sociais e servios de
sade mental [UNODC, 2005]
Observa-se o caminho percorrido pelo sistema de sade de reconhecer
a necessidade de mover-se at as pessoas que precisam de ajuda. Observa-
se, tambm, que este aproximar-se quer dizer transferir conhecimentos e
competncias para atores pertencentes a outras agncias ou servios (o
mundo formal) e tambm companheiros de comunidade (qualquer pode ser
o signifcado destes dois termos, supondo que se trate do mundo informal).
Se por um lado a transferncia de competncias a atores comunitrios
por meio de processos de treinamento um passo indispensvel, tambm
indispensvel trabalhar para que essa transferncia no implique, tambm,
uma transferncia das caractersticas de acesso. Quer dizer, quando um servio
de ateno treina atores comunitrios para a realizao de uma determinada
tarefa, isto modifca tambm seu status na comunidade. Esta modifcao de
status pode implicar em uma incrementao de distncia relacional entre esses
atores e suas comunidades, ou seja, um incremento no limiar de acesso, sendo
que em uma comunidade de convivncia o acesso se mede na facilidade
de relaes, no em horrios, regras, normas, encontros, etc. Neste caso, a
consequncia que, para aproximar-se mais, aumenta-se a distncia.
Por outro lado, este fragmento que est sendo comentando indica que
existe um corte, uma separao (no somente uma distino) no processo:
separao entre quem envia e quem cura, como se o tratamento e seus atores
estivessem em outro lugar, como se os que enviam fossem uma espcie de
mo de obra (com frequncia no retribuda, oculta embaixo da etiqueta de
voluntrios, ou mal pagos) em um processo de cura no qual negado seu
protagonismo e o valor de suas aes.
207 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Tipologias de servios,
limiares e complexidades
Meio limiar: Neste tipo de limiar se estabelecem
modelos de conduta em funo da construo
de projetos de vida. As normas so explcitas e
estruturadas para uma melhor convivncia, onde
o modelo teraputico consta de fases previamente
estabelecidas com instrumentos de avaliao
dos avanos. As equipes de interveno so
interdisciplinares e geram planos de trabalho, que
levam apresentao de relatrios, sistematizaes
e avaliaes peridicas. Para sua funcionalidade,
contam com uma direo, assemblia e uma estrutura
administrativa. Alguns dos servios so residenciais e
outros semi-residenciais. [Costa Rica 5.1]
Esta organizao costarriquense
prope o limiar, (neste caso limiar de mdia
complexidade, segundo sua tica) levando
em considerao, por um lado, a qualidade do
resultado que se quer obter e, sucessivamente,
os instrumentos (relacionais e de dispositivo)
que se pretendem utilizar. Aqui se fala
explicitamente de um modelo, quer dizer,
de uma forma pr-ordenada (no por isto
infexvel) de trabalho.
Na citao abaixo pode-se ter uma
outra ideia do que o conceito de limiar e,
mais precisamente, de baixo limiar e suas
consequncias. Neste caso, trata-se de uma perspectiva institucional na
qual se implementam servios ou respostas no espao geogrfco de uma
comunidade. Esta perspectiva refete o caminho percorrido pelas instituies
e os xitos alcanados.
Os servios de baixo limiar tm como objetivo aumentar ao mximo o contato e o acesso,
no exigindo que os pacientes deixem de consumir substncias, buscando os lugares
em que se renem os consumidores de drogas, oferecendo acolhimento livre ao invs de
recorrer a encontros prvios, no pedindo aos usurios que se identifquem e oferecendo-
lhes servios bsicos de sobrevivncia em um horrio apropriado. Estes servios podem,
tambm, ser prestados fora das sedes, com pequenos furges, nibus e outras medidas de
aproximao. [UNODC, 2005]
208 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Nesta viso, os pacientes seguem sendo pacientes e no aliados ou
partners (parceiros) e o que conta a equipe que consegue produzir sua
criatividade, os veculos que podem entrar nos campos (os pequenos furges,
etc.). No so os meios e os processos que j esto no campo, (ver fragmento
da experincia brasileira acima) o ponto aqui que no se trata de desenvolver
o que existe na comunidade, trata-se de dar por certo que ali no existe nada
e que uma equipe j sabe o que deve fazer.
O exerccio do tratamento comunitrio consiste, ento, em imaginar
como identifcar os servios a partir do critrio de acesso, caminhando de baixo
para cima. A pergunta pode ser ento: quais so os lugares de organizao
da comunidade que tem o limiar de acesso mais baixo? Mencionam-se,
em continuao, alguns desses lugares de servio como um exemplo, na
realidade os territrios comunitrios tm mais servios que podemos pensar.
- Os terrltorlos comunltarlos (esqulnas, parques, ruas, quadras de esportes, etc.).
- 8ares, restaurantes, lugares de comlda nas ruas.
- Casas partlculares abertas a populaao em certas ocasles.
- Centros de balxo llmlar e balxa complexldade.
- Centros de balxo llmlar e medla complexldade.
- Centros de balxo llmlar e alta complexldade.
Os territrios comunitrios:
Esquinas, ruas, parques: primeira abordagem
No fragmento que segue, encontram-se elementos do dirio de campo
de um educador de rua em uma comunidade muito vulnervel (mais vulnerada
que vulnervel) na fronteira norte do Mxico em 2010.
Os garotos comeam a se reunir nas esquinas pela tarde. Gradativamente muda o cenrio:
as esquinas que durante o perodo da manh eram lugares de passagem para todos se
tornam quase lugares privados. No que as pessoas no possam passar, elas continuam
passando. Passam por ali quase todas as pessoas do bairro com exceo de alguns. Os
garotos fcam ali at tarde da noite, depois vo a outros lugares ou para suas casas. Ali
comem e passam seu tempo, s vezes vo para algum terreno jogar futebol. Se fumam
maconha, o perfume se exala por todo o bairro. s vezes eles pedem dinheiro, certamente
roubam por aqui e por ali e aqui tambm. Conhecemos bem todos eles, conhecemos
seus pais, irmos, tios, avs, nossos flhos so companheiros deles na escola, ou um dia j
foram. [Mxico 5. ]
Estes so os servios que a comunidade tem produzido por conta
prpria, eles tm uma funo de socializao e regulamentao da vida da
209 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
comunidade (s vezes tambm de proteo e segurana, s vezes de confito,
excluso e violncia). A questo : como estes podem ser envolvidos no
processo de tratamentos comunitrios? Trata-se de uma aproximao muito
diferente em relao queles que considerem estes servios como grupos
de risco ou potenciais benefcirios. No entanto, para ser capaz de responder
a essa pergunta, necessrio tambm ter em conta outras posies (de cima
para baixo):
Colaborao dos usurios dos servios e da comunidade. Se reconhece cada vez mais que
os usurios dos servios formam parte da comunidade e que o processo de desenvolvimento
dos servios deve estar submetido e adaptado s grandes diversidades de interesses que
existem no seio dela. Os usurios cumprem uma funo importante no que se diz respeito
a contribuir e delinear um enfoque que garanta a responsabilidade e prestao de contas
dos encarregados dos servios. A participao dos usurios na elaborao da estratgia
serve para promover:
- A muJono Jo comottomento |nJ|v|Juol,
- umo cottesonJnc|o mo|ot entte os setv|os Je otenoo Jo soJe e os necess|JoJes Jo
usurio;
- umo mo|ot ut|l|zooo Jos setv|os Je otenoo soJe,
- lntetvenoes ot|entoJos comun|JoJe,
- O oo|o Jo o|n|oo ol|co e umo ollt|co Je soJe tolc|o. juNO0C, 2003j
O fato de que as instituies reconhecem pouco a pouco
que os usurios dos servios so parte da comunidade, pode
indicar o quanto profundamente as instituies de sade pblica
colidiram no passado e reforaram os processos de excluso e
marginalizao.
por isso que este reconhecimento um fato histrico. Que
se considerem tambm os interesses destes atores comunitrios
(usurios) seguramente uma destas consequncias. A partir
desta perspectiva, o ponto fortalecer o servio com a hiptese
de que fortalecendo os servios, se do melhores respostas (em termos de
efcincia e efccia) para a comunidade, representado por seus usurios.
Programas de aproximao assumidos por pessoas de iguais condies. O
trabalho de aproximao feito por pessoas de igual condio pode ser um modo efcaz
de chegar s mulheres que no esto em contato com servios profssionais, que vivem
em sociedades com tabus culturais contra o uso de substncias por parte das mulheres, ou
que se encontram em circunstncias de maior marginalidade, como as mulheres que se
injetam drogas ou as que se dedicam ao trabalho sexual. A bibliografa sobre o tema indica
que, em certos grupos, as pessoas de igual condio possivelmente sejam consideradas
mais dignas de crdito, e que, para as mulheres que so dependentes de drogas, pode ser
>
210 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
mais fcil confar em suas iguais e abordar com elas as questes pessoais. As pessoas de
igual condio dedicadas ao de aproximao podem proporcionar quelas usurias
de drogas, informao sobre como reduzir os comportamentos de risco, ensinar com o
exemplo e colocar as consumidoras de droga em contato com os servios de tratamento e
outros servios sociais de ateno de sade. [UNODC, 2005]
Aqui tambm a perspectiva que se apresenta pode ser defnida relao de uso
ou de utilizao que no gera nenhuma mudana, nenhuma transformao nem
nas relaes e nem no status da pessoa de igual condio. Ela e permanece como
instrumento de aproximao muito preciosa e indispensvel (isto no se diz no texto
que utiliza trs vezes o verbo poder no sentido de que pode ser que as pessoas
de igual condio sejam um recurso). Reconhecer que as pessoas de igual condio
podem ser teis um passo enorme de aproximao das instituies com as pessoas
e as comunidades. Graas a isto, talvez seja possvel mais um passo, inspirado por outra
perspectiva que sugere outras respostas s perguntas que foram feitas acima.
Educador Par: Estabelece e mantm o contato com os pares do seu grupo-meta, distribui
informao sobre sexo seguro, uso seguro de drogas, HIV-Aids, etc. Ajuda aos outros membros
da equipe no conhecimento da comunidade local e dos membros do grupo-meta, participa
das aes comunitrias, auxiliando os educadores sociais sobre os grupos de risco que
existem ao redor. Os educadores pares podem ser membros permanentes da equipe desde
que tenham interesses e aceitem viver um processo de melhoramento de suas condies de
vida (enquanto a sua situao de par). Educadores pares, depois de um processo de formao
e de capacitao, podem ser excelentes guias de rede e guias de casos. Os educadores pares
necessitam de um acompanhamento permanente de maneira que a tarefa no vire uma
fonte de estresse, ou seja, utilizada impropriamente. [Brasil 5. ?]
Aquele que desde cima para baixo se chama usurio ou que fca oculto na
dico pessoa de igual condio, como se essa condio fosse um til estigma,
uma condio de marginalidade no totalmente negativa, em uma viso de baixo
para cima, se chama educador par. Este no um fato de palavras e etiquetas,
mas de substncias, que no trabalho com a comunidade signifca: qualidade nas
relaes. No concreto este usurio um ator do tratamento: contata, informa,
membro permanente da equipe e, com
formao adequada, pode ser agente de rede e
gestor de casos, permanecendo par.
Em que sentido isto uma resposta
pergunta feita acima, aquela relacionada com
a possibilidade de fazer das esquinas das ruas
territrios comunitrios para o tratamento
211 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
comunitrio? Uma, s uma entre muitas respostas possveis: promovendo
processos para que os atores destes territrios comunitrios sejam atores
do tratamento comunitrio e por meio disto tambm usurios. Isto um dos
desenvolvimentos possveis da rede operativa, da rede de recursos comunitrios
e da minoria ativa. Qual o desafo neste campo? Um dos desafos criar status,
criar lderes sem incrementar o nvel de burocracia, aceitando tambm que um
certo nvel de burocracia faz-se necessrio e ao mesmo tempo incrementa o
limiar de acesso: outro dilema com o qual tem que se lidar.
Os territrios comunitrios:
Esquinas, ruas, parques: segunda abordagem
O ano de 2010 foi marcado por intensas aes comunitrias (...) Iniciamos no ms
de Janeiro de 2010 uma parceria com o poder pblico (...), onde atuvamos com nossa
atividade nos Territrios Jovens do Bairro (...) Atravs desta parceria, a equipe promove a
Madrugada Ativa, com aes de cultura, lazer e esporte, que ocorrem s sextas-feiras no
perodo das 22h00 s 03h00 da manh.
Na mesma comunidade, a equipe desenvolveu encontros com jovens e adolescentes
para realizao de rodas de conversas sobre diversos assuntos, sexo, drogas, bem como
atividades de recreao e artesanato, customizao de camisetas e baladas durante o
dia, onde o foco era a reduo de danos. [Brasil 5.?]
Neste fragmento, a parte das conexes polticas do estado, se tornam
evidentes os diferentes aspectos ligados criao e ao uso dos territrios
comunitrios. O primeiro e mais evidente ocupar o tempo da comunidade:
das 22:00 s 03:00; o segundo ocupar o territrio da comunidade: de uma
forma mais clara, se trata de ocupar o territrio da comunidade e no focar aos
grupos de risco ou aos lugares que estes grupos ocupam. No se dedicar nas
ruas porque nas ruas esto os moradores de rua, mas sim, dedicar-se s ruas
porque nas ruas esto os moradores da comunidade.
O nascimento de nosso centro de escuta itinerante data de maio de 2010, quando a equipe
iniciou aes nos Territrios Jovens da comunidade, oferecendo ofcinas culturais nestes
espaos. Porm, aps um perodo de 2 meses, ao perceber que os jovens em situao de
excluso social grave no frequentavam tais ofcinas, lanou-se a ideia de levar as ofcinas
at eles, nas favelas e becos mais afastados no bairro. [Brasil 5.?]
Neste segundo fragmento, se podem captar outros elementos relacionados
com o mtodo de trabalho. Se menciona um servio, o centro de escuta, estes
so servios tpicos da reduo dos danos (ver mais frente as sees reservadas
212 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
a este tipo de servio). Neste caso, esta rede
operativa procede como foi ilustrado no fragmento
precedente: construindo vnculos com todos
os atores comunitrios, construindo espaos de
participao, ou seja, atividades nas quais pessoas
da comunidade tomam decises, fazem, produzem,
etc., para melhorar suas condies de vida.
Percebe-se que estes espaos no favorecem
por si s a integrao social das pessoas mais
vulnerveis. Uma razo que estas pessoas no
ocupam os espaos da comunidade, neste sentido esto marginalizadas (no s
culturalmente, mas tambm geografcamente). Neste caso, ter um centro de escuta
fxo poderia ter sido uma iniciativa que, no lugar de favorecer a superao dos processos
de marginalizao, os teria institucionalizado e reforado. Se a outra alternativa tivesse
sido criar o centro de escuta no lugar da marginalizao, nos lugares onde vivem os
consumidores de drogas (como sugerem os manuais de reduo dos danos), tambm
neste caso o resultado teria sido que a equipe descrita acima teria sido etiquetada pela
comunidade como aqueles que trabalham com os usurios de drogas, ao invs de ser
considerada como aqueles que trabalham com a comunidade (usurios includos). A
rede operativa da instituio acima decide por uma terceira opo: cria um centro de
escuta mvel para ocupar todo o espao comunitrio e no apenas uma parte.
uma ao prtica e simblica de incluso e de integrao social.
Ento, (...) iniciamos o Nis na Rua, nome batizado pelos prprios jovens da comunidade,
fazendo aluso ao fato de irmos at as ruas. (...) observou-se um desamparo de aes
sociais e uma grande vulnerabilidade de jovens envolvidos com drogas e trfco, alm da
equipe ter criado um vnculo com essa populao vislumbrando desta forma, mais aes e
novos projetos que benefciem esta comunidade. [Brasil 5.?]
Este fragmento ilustra bem o signifcado estratgico das aes: ir para
as ruas serve por um lado para no ser classifcado como trabalhadores de
grupos especfcos e por outro, para construir relaes. sobre essas bases
de relaes (redes) que se constri o diagnstico (SIDIEs) e por meio deste
processo de conhecimento coletivo se enxergam outros projetos, outras
aes. Este aspecto tambm diferencia um processo de cima para baixo, onde
os elementos essenciais das aes esto defnidos, de um processo de baixo
para cima, onde se defne o objetivo mnimo da ao enquanto o projeto ou
o programa em si tem ainda que ser pensado em sua totalidade. Este ltimo
213 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
ainda necessita do processo de construo coletiva dos conhecimentos e dos
atores para ajudar a pensar e implementar.
Tivemos participao da comunidade e dos jovens nas aes realizadas (...), os moradores
nos recebiam sempre de braos abertos, abriam as portas de suas casas para usarmos
energia eltrica, gua e banheiros. (...). Com a participao dos jovens daqueles bairros
tambm realizvamos nossas atividades, como cinema, torneios de truco, torneio de
futebol, aulas de hip-hop, aulas de ax, teatro e rua, todas as atividades voltadas aos
jovens e adolescentes das comunidades. [Brasil 5.?]
Este fragmento sublinha a questo da participao dos atores da
comunidade. Esta participao considerada como uma colaborao para as
atividades que uma equipe especfca quer implementar usando recursos que
j foram estabelecidos para tal. No caso deste fragmento existe um tipo de
mundo ao contrrio: no so membros da equipe que so responsveis por
receber as pessoas, mas isso tarefa da comunidade; no a equipe que deve
fornecer recursos, isso funo dos atores da comunidade. Se estes aspectos
so considerados, tem-se uma ideia melhor do que signifca um processo de
construo de um dispositivo para a ao e o conceito de parceria. Parece
que, na situao deste fragmento, a parceria nasce quando todos os atores
conseguirem alguma coisa para que o processo seja executado e que participem
no s no uso de um dispositivo, mas na sua construo. Quando uma pessoa
participa de reunies de grupo e d sua contribuio, esta considerada um
tipo de colaborao, a colaborao do participante (cliente, paciente, etc.).
Quando uma pessoa participa na construo do grupo, na construo do palco
para que o grupo possa atuar (limpar o quarto, entrar em contato com colegas,
ordenar as cadeiras, certifcar-se de que h eletricidade, gua e que o alugue
est pago) isso parceria. Parece banal, mas h uma diferena substancial
entre participao e parceria. Participao pode ser ativa ou passiva, parceria
s pode ser ativa. Trabalhando com este tipo de aproximao possvel incluir
numa estratgia comum, uma grande variedade de aes desde aquelas
que propiciam a conscientizao por meio de uma palavra, at aquelas que
preferem a atividade ldica, recreativa ou produtiva.
Na mesma comunidade, se realizam encontros com jovens e adolescentes, rodas de
conversas sobre diversos assuntos, sexo, drogas, bem como atividades de recreao e
artesanato, customizao de camisetas e baladas durante o dia, onde o foco era a reduo
de danos. A inteno de trabalhar a mudana da representao social da comunidade em
relao a esses jovens foi alcanada com sucesso. [Brasil 5.?]
214 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Desta maneira, o signifcado especfco de cada ao (uma reunio
entre o grupo para falar sobre o sexo seguro que tem sua fnalidade e sentido
especfco) enriquecido e articulado com aquele de outras aes. Todas estas
buscam modifcar a representao social em relao aos jovens (tambm
consumidores de drogas). Se compreende ento que os lugares da comunidade
(e no os lugares dos excludos) so aqueles cenrios onde se pode implementar
aes que produzem uma mudana no mbito comunitrio em sua totalidade.
Percebe-se ento que no sufciente que o excludo mude para que haja
incluso, necessrio que o contexto de incluso tambm mude e, entre suas
mudanas, exista aquela de suas representaes sociais.
Bares, restaurantes,
Lugares de comida na rua,lugares de encontro
O segundo tipo de territrio da comunidade consiste de todas essas formas
de organizao do espao comunitrio que satisfaam as necessidades bsicas das
pessoas. No somente as necessidades de sade pblica como
tambm de educao (formal e no formal), de alimentos, de
materiais para casas, roupas, equipamentos de limpeza e higiene,
medicamentos, segurana, etc. Todos esses lugares so uma
demonstrao da capacidade que uma comunidade tem de
organizar-se. Que uma pessoa decida abrir uma pequena empresa
do setor alimentcio e os clientes cheguem, observando de fora
parece bvio. No to bvio! Para implantar uma loja de roupa ou
de materiais de construo necessrio que os atores comunitrios
(lderes de opinio) os aceitem, que os empreendedores
encontrem um lugar, forneam equipamentos e, sucessivamente,
que os moradores tambm expressem sua aceitao respeitando o lugar (no o
destruindo, no o boicotando) e tornando-se cliente. Como foi dito acima, isto parece
um processo automtico, natural, porm no h nada natural. Se estas iniciativas no
esto localizadas nas relaes e interesses, necessidades e demandas da comunidade,
a atividade no ter xito, no prosperar. Este princpio vlido para uma loja de
roupas, um local para a venda de drogas, uma padaria, um bar de trabalho com sexo,
um pequeno restaurante e um centro de escuta ou um centro de sade. Todos esses
lugares so uma prova da capacidade que uma comunidade tem de organizar-se at
o ponto que a presena e a qualidade destes servios pode ser considerada um dos
indicadores do desenvolvimento desta comunidade.
215 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
(A) Com o trabalho de rua havamos informado a comunidade, as pessoas e os consumidores
de drogas que, para a distribuio de preservativos e o intercmbio de seringas, tnhamos
escolhido os bares que fcavam abertos at tarde. No princpio, as donas tinham alguma
difculdade de aceitar. Tivemos muitas conversas com elas e nos colocamos de acordo para
fazer uma prova. O temor era ter este tipo de objetos selecionados aos clientes e que o lugar
se transformasse em um ponto de encontro de usurios de drogas. (Fonte: Mxico)
Estes lugares pblicos de encontro tm uma identidade clara e esta
identidade que pode ser amenizada pela insero de uma atividade, como
neste caso, de reduo do dano. A difculdade que os atores tm em aceitar
envolver-se no somente uma resistncia, mas sim o resultado da experincia.
(B) Analisando a situao durante o perodo de prova percebemos que depois de algumas
semanas a maioria dos clientes do bar iam pela procura de preservativos e isso havia se
tornado um servio muito efcaz. O consumo (consumo de bebidas e produtos dos bares)
havia aumentado at certo ponto e depois havia se estabilizado fazendo-nos pensar que
a iniciativa de reduo de danos no havia tido efeitos na clientela do bar. [Mxico 5.?]
Uma fase de experimentao com um monitoramento do impacto sobre
o contexto necessria: serve para distinguir entre resistncias (baseadas
em preconceito) e reais razes para implementar ou no implementar uma
determinada ao.
(C) Pelas seringas foi mais complicado e, no fnal, acabamos decidindo utilizar outra
estratgia. Com o trabalho de rua informou-se aos consumidores de drogas que podiam
pedir uma seringa dando a usada em troca, mas eles no faziam o que lhes era pedido. Ento
pensamos que seria melhor e mais efcaz se tivssemos distribudo seringas ao invs de tentar
trocar com eles. Isso nos apresentou outros problemas de tipo administrativo e burocrtico e
no foi possvel ou no conseguimos resolver. [Mxico 5.?]
Este fragmento ilustra como os lugares organizados na comunidade podem ser
utilizados para atividades de tratamento comunitrio (reduo de danos neste caso) com
a condio que as pessoas envolvidas nestas atividades esto devidamente treinadas,
motivadas, acompanhadas e que se tome em conta os interesses de todos os atores
participantes. Aprenderam tambm que estas iniciativas tm limites: alguns impostos
pela cultura local e outros pelas burocracias dos programas e dos projetos.
(A) Chegamos favela (...) s 14h00. Nossa educadora par envolveu seu primo, que cedeu
sua casa como espao de referncia para que nosso primeiro dia de trabalho acontecesse.
Escolhemos um ponto da comunidade e, em mutiro, montamos uma estrutura com mesa
de silk, caixa de som, microfone e uma rea para um brech. [Brasil 5.?]
216 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
A porta de entrada na comunidade um ator comunitrio par. O
segundo passo encontrar uma maneira de estar ali e de iniciar a construir um
dispositivo. A resposta inicial das pessoas sempre signifcativa.
(B) Podia-se ver claramente a curiosidade no olhar dos moradores. Eles, apesar de no
estarem entendendo o que estvamos fazendo, foram entrando no movimento, ajudando
a carregar os equipamentos e, inclusive, disponibilizando mais espaos para que a coisa
toda acontecesse: dona E. ofereceu a esquina de seu casebre para que montssemos o
brech de forma a fcar protegido do vento, outra cedeu gua, outra a eletricidade para
utilizarmos o microfone e, a partir de nossa primeira experincia no bairro, j sentimos
uma enorme aceitao e acolhimento por parte dos moradores. [Brasil 5.?]
Os habitantes da comunidade no so receptores passivos, mas sim
parceiros na iniciativa: participam desde o momento no qual se constri o
dispositivo, participam na defnio dos vnculos e das relaes.
(C) O brech tambm funcionou. Meninas, mulheres, senhores e homens pararam para dar
uma olhada nas mercadorias e no havia quem sasse de l sem uma das peas. Qualquer
pea ou par de calados eram vendidos a R$ 1,00.
Preservativos foram distribudos, aulas de hip-hop ministradas, camisetas silkadas e os
jovens aprenderam tcnicas de malabares, a fazer msica com instrumentos inusitados,
enquanto outros aprendiam a como flmar o evento todo. Muitos moradores estranharam
toda ao e perguntavam constantemente de onde ramos e o porqu estvamos ali.
[Brasil 5.?]
Claro que as atividades so importantes, um pretexto para que a
comunidade (as pessoas) participe como pessoas. Neste fragmento se
observa como se podem conjugar diversos protagonismos para mover toda
uma comunidade local: educador par, amigos e contatos do educador par,
habitantes, jovens, equipe, etc. Esta atividade tem este tipo de resultado
porque, por meio do trabalho nas ruas e de comunidade, das atividades de
vinculao, etc., pouco a pouco a comunidade produziu uma organizao.
Este o resultado estratgico do tratamento comunitrio: a organizao
que consegue produzir, porque esta garante a continuidade dos processos e a
participao como parceiros dos habitantes. Esta organizao a prova de que
a representao social sofreu uma mudana.
217 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Casas particulares abertas populao em certas ocasies
Fazemos as reunies da equipe na casa da dona M. Sua casa tem uma espcie de cobertura
na entrada e ali cabe uma dezena de pessoas. Nos sentamos e fcamos observando as
pessoas. Alguns moradores passam e fcam olhando um tempo e sadam, outros nos
olham e seguem o caminho. Cada um leva alguma coisa para dividir, biscoitos, sanduches
e a dona M. aquece a gua para o caf. [Mxico 5.?]
Mais cedo ou mais tarde uma equipe sente a necessidade de ter um espao seu
para atender, discutir e pensar. No entanto, antes que isso acontea possvel usar
todos os locais que a comunidade pode disponibilizar para as atividades do projeto.
Isso no signifca que no necessrio ter um espao prprio para torn-lo um
espao comum, sendo que os espaos como aqueles mencionados no fragmento
acima (casa de dona M.) so espaos privados e, como tal, tm uma forte conotao
nesse territrio (podem ser facilitadores para certas pessoas e obstculos para
outras). E o conhecimento da rede de lderes de opinio (e de seus equilbrios) o
fato de ter uma ampla rede operacional que permite o uso dos espaos organizados
na comunidade como um recurso facilitando processos, superando barreiras
relacionais construdas ao longo do tempo. assim que, gradualmente, a cultura da
comunidade muda e se desenvolve no sentido do comum.
Para que o uso de casas, ou de outros lugares privados na comunidade seja
uma maneira de estar ali e um instrumento de envolvimento da comunidade
mais efcaz no usar sempre o mesmo lugar, mas sim diversos lugares entre eles.
Com relao a busca e ao estabelecimento de um espao prprio para
a equipe (ofcina, centro de escuta, drop in, etc.), se sugere adotar o processo
seguinte: o primeiro passo o trabalho de rua e de comunidade. O segundo
o uso dos territrios comunitrios. O terceiro o uso dos recursos
privados dos atores comunitrios (casas, armazns, etc.). O quarto ter um
lugar prprio (ofcina, etc.). Procedendo desta
maneira, o fato de ter um espao prprio
o resultado de um processo de entrada na
comunidade; neste sentido um ponto de
chegada ao trabalho de construo de um
espao relacional. O espao fsico no qual a
equipe se reunir, colocar seu equipamento
e dar ateno as pessoas a prova fsica que
esse processo obteve resultados positivos.
Um outro signifcado a rea de comunidade que discutida no
fragmento a seguir:
218 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
J. havia sido ajudado a entrar em uma comunidade teraputica, agora seu perodo de
permanncia ali estava terminando e sua famlia no era o melhor lugar para ele estar.
S., um amigo de uma educadora par que de vez em quando colaborava em algumas
atividades, disse que ele podia receber por duas ou trs semanas se algum o ajudasse
com a comida. Entrou em acordo com J. que ele ia vender coisas no mercado e assim podia
pagar a sua prpria comida. (Fonte: Colmbia)
Aqui se fala da rede de recursos comunitrios: uma pessoa (membro da rede
operativa), sua famlia e sua casa. Aqui tambm aparece um processo simples, no
entanto, no . Para poder implementar este processo foi necessrio iniciar com a
rede subjetiva comunitria, construir sucessivamente uma rede operativa, uma rede
de recursos comunitrios, ter um sistema de encaminhamentos (para comunidade
teraputica, neste caso) e, sucessivamente, graas a este S que tem a confana de
por sua casa disposio de J., sabendo que conta com uma rede de apoio.
Quantos destes processos so possveis para ativar em uma comunidade?
Quantos so necessrios? Entende-se s vezes que muito mais simples encontrar
uma casa na qual reunir (outros dizem prender, fechar) a todas as pessoas para
quais suas famlias so um perigo, ou os que so um perigo para suas famlias e
comunidades: a cultura de fechamento. Este exemplo demonstra que em alguns
casos, pelo menos existem alternativas de fechamento
1
.
Centros de baixo limiar e baixa complexidade
Vrias vezes no presente captulo, falou-se de limiares e complexidades.
Talvez valha a pena refetir sobre o signifcado destas duas palavras e ver suas
implicaes para o trabalho de cada dia. O que se entende por limiar?
Programas de aproximao. So atividades realizadas na comunidade com o objetivo geral de
melhorar a sade das pessoas e grupos que no tm acesso fcil aos servios existentes (ou canais
de educao de sade tradicionais) e reduzir os riscos ou prejuzos causados pela droga. Programas
de abordagem podem ser independentes, itinerantes ou domiciliares e podem ser realizados por
pares. Programas independentes no so implementados em um organismo ou organizao,
mas em locais pblicos, como ruas, estaes de transportes pblicos, clubes noturnos, cafs e
hotis. Programas itinerantes relacionam-se mais com organizaes (por exemplo, casas de
transio, lugares de troca de agulhas, clubes juvenis, escolas e prises) do que com as pessoas
individualmente. Nos projetos de abordagem (aproximao), que so responsveis por iguais,
trabalham membros e ex-membros do grupo destinatrio (por exemplo, consumidores de droga
injetada) a ttulo voluntrio ou remunerado. (UNODC, 2003, p. 120)
1 Fechamento aqui entendido como internao em um hospital psiquitrico, ou clnica de tratamento ou comunidade
teraputica.
219 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Do fragmento acima se pode deduzir
que limiar signifca em geral ter algum tipo de
obstculo no acesso a um servio. Aqui se trataria
de difculdades ligadas posio dos servios
como, por exemplo, distncia fsica. Entende-se
que a distncia fsica uma metfora de outras
distncias, e o fragmento de UNODC admite isto
quando diz que os programas de aproximao
podem estar encarregados por iguais.
Aqui no se trata da proximidade fsica
uma vez que pessoas iguais podem estar tambm a quilmetros de distncia.
A distncia relacional e cultural tambm tem um peso.
Por limiar se pode ento considerar todo tipo de elemento que incremente
a distncia entre uma pessoa e qualquer tipo de entidade que possa satisfazer
ou dar uma resposta a uma de suas necessidades.
Neste caso, falamos sobre as necessidades de incluso. Neste sentido
pode-se pensar que a entidade mais prxima de um consumidor de drogas,
que vive em uma comunidade altamente vulnervel, sua rede subjetiva.
Consequentemente, trabalhar com sua rede subjetiva trabalhar com zero limite
de acesso. Uma visita domiciliar, tal como sugerido pelo livro UNODC quando ele
menciona os programas domiciliares, pode corresponder com o limiar inferior
(pelo menos em termos de espao fsico), no entanto, nem sempre o contrrio
comum devido aos confitos no interior de um grupo familiar. Este fragmento
tambm evidencia outro aspecto ligado aos limiares (e como se ver tambm
ao conceito de complexidade): depende de qual ponto de vista se observa o
acesso; de dentro do sistema de ateno, tais como UNODC, ou do lado de
fora do sistema de cuidados, tais como o
funcionamento das redes. Se considerarmos
o ponto de vista de dentro do sistema de
cuidados, um limiar inferior signifca entrar no
espao fsico do usurio. Se considerarmos
o ponto de vista do usurio, reduzir o limiar
signifca entrar no espao fsico do servio
(isso parece ser a posio do fragmento do
UNODC). Nem em um caso, nem em outro
isto signifca construir um espao comum de
demandas e respostas (afnal, profssionais
Limiar e complexidade so duas entre as
caractersticas dos servios que contribuem
em determinar sua acessibilidade. No
se trata de defeitos dos servios, mas sim de
caractersticas que s vezes so necessrias.
A difculdade de acesso a uma entidade de
servios pode ser considerada s vezes como
um obstculo e outras vezes como um recurso
para poder trabalhar sobre a motivao.
O mesmo pode ser dito da complexidade:
existem servios que, se no so complexos,
no funcionam como deveriam, outros que
para funcionar tem que ser simples.
220 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
tambm tm demandas: que seu servio funcione, que seja efcaz, que seja
efciente, que estejam satisfeitos com seu trabalho, etc.). Se este espao comum
fosse possvel, poderia ser o espao do limiar zero.
Pouco acima foi mencionado tambm um outro conceito: complexidade.
O que pode ser entendido pela complexidade? Dois aspectos podem ser usados
neste momento: a diversidade das fguras profssionais envolvidas no trabalho
(por exemplo, assistentes sociais, educadores de rua, enfermeiros, psiclogos,
etc.), o nvel de competncias necessrias para a gesto dos processos
operacionais (tcnico, diploma universitrio, especialidade, PhD, etc.) e quando
h ferramentas especfcas e materiais de trabalho (um teste psicolgico, por
exemplo, a metadona, uma tomografa computadorizada ou um teste Elisa).
Como sabemos, cada lei em sade pblica tem critrios bem defnidos
para identifcar servios de alta, mdia ou baixa complexidade. Olhar estes
critrios como ponto de partida no o objetivo desta seo, embora possa
ser muito heurstico, comparar os critrios adotados pelos programas de
sade pblica com critrios adotados pelos atores em uma comunidade local
altamente vulnervel.
Um exerccio para entender limiares e complexidades
Partindo destes conceitos possvel fazer com equipes, redes operativas
ou outros atores comunitrios o exerccio abaixo. Sua fnalidade deixar
claro quais so os servios existentes do mais baixo ao mais alto nvel de
complexidade e de limiar.
O exerccio envolve dois grupos de atores: usurios dos servios (primeiro
grupo), operadores dos servios (segundo grupo).
O exerccio consiste em dois momentos: o primeiro a identifcao dos
servios ou entidades operacionais que podem ser usadas no trabalho com
pessoas excludas e consumidores de droga (este trabalho pode ser com grupos
focais entre atores da comunidade e/ou por meio de entrevistas informais para
operadores e usurios). Obtm-se assim uma lista de servios ou entidades (ver
tabela 5.a. abaixo). Na segunda fase foram organizados dois grupos. O exerccio
trabalhar por um lado com usurios do servio (um grupo de vulnerabilidade
mdia) e por outro com um grupo de operadores de duas equipes. O
procedimento foi simples: um grupo de discusso para explicitar os objetivos do
exerccio e assegurar uma compreenso da base dos critrios de avaliao.
Depois cada pessoa avaliou, individualmente, primeiro o limiar e,
221 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
sucessivamente, a complexidade. As avaliaes foram coletadas e relatou-se
os resultados em uma tabela de sntese. Logo aps foram calculados os totais
e os desvios estandartes. Os resultados foram discutidos em grupo analisando,
tambm, as suas implicaes prticas.
Assim, a primeira ao foi de identifcar os servios ou entidades
operacionais que podem ser usadas no trabalho com pessoas excludas
consumindo drogas. Aqui est a lista (tabela 5.a.) das entidades identifcadas:
Entidades
(1) a rede subjetiva de uma pessoa e seu territrio
(2) uma equipe de rua com operadores pares
(3) uma equipe de rua composta por tcnicos e operadores pares
(4) uma rede operacional comunitria
(5) uma rede de recursos comunitrios
(6) uma rede de famlias que colocam disposio suas casas para as atividades
(7) um centro de baixo limiar (drop in center) ou centro de escuta
(8) um drop in center para consumidores de droga
(9) um albergue para a noite
(10) um centro de tratamento ambulatorial
(11) uma centro de desintoxicao
(12) uma comunidade teraputica residencial tradicional
(13) uma comunidade teraputica residencial de alta especializao
(14) uma clnica especializada em doenas infecto-contagiosas (HIV, Hep. Etc.)
(15) a rede de lderes de opinio
Tabla 5.A. Lista de entidades e/o servios para consumidores de drogas.
Nota: O essencial neste exerccio no a objetividade das avaliaes e sim sua subjetividade. As
pessoas utilizam os servios em funo de como eles lhes representam. No se trata ento de
buscar dados objetivos (dados que seriam muito teis, no entanto, no este o contexto, nem esta
a forma para obt-los), mas construir uma representao social e ver quais so implicaes na
prtica da vida cotidiana.
Num segundo momento pediu-se para ambos os grupos que avaliassem
cada uma dessas entidades, considerando o nvel de limiar e o nvel de
complexidade. Para avaliar o limiar usa-se o nvel de proximidade (fsica,
cultural e relacional) e os fltros de acesso (horrios, compromissos, entrevistas
preliminares, tipos de segurana, etc.). Para avaliar a complexidade se usam os
critrios de diversidade em fguras profssionais e nos nveis de habilidade.
222 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Indicadores Critrios
Limiar Proximidade fsica e cultural. Filtros de acesso (entrevistas, agendas,
datas, tipos de seguro, etc).
Complexidade Nmero de fguras profssionais necessrias, especializao de
habilidades.
Tabela 5.B. Indicadores e critrios de acceso.
A avaliao foi feita atravs da atribuio de um valor entre 0 (zero) e
10 (dez) para cada entidade. A representao social de servios com base em
critrios de acesso (limiares e complexidade) tem sido construda desta forma.
Limiar e complexo visto da perspectiva do usurio prestao de servios (resposta
usurios).
Entidades Limiar Compl.
(1) a rede subjetiva de uma pessoa e seu territrio 0 0
(2) uma equipe de rua composta por operadores pares 1 0
(3) uma rua equipe composta por tcnicos e operadores pares 2 3
(4) uma rede operacional comunitria 3 3
(5) uma rede de recursos comunitrios 4 3
(6) uma rede de famlias que colocam disposio suas casas para
as atividades.
3 3
(7) um centro de baixo limiar (drop in center) ou centro de escuta 4 3
(8) um drop in centre para consumidores de drogas 6 3
(9) um albergue para noite 4 2
(10) um centro de tratamento ambulatorial 7 6
(11) um centro de desintoxicao 7 7
(12) uma comunidade teraputica residencial tradicional. 10 3
(13) uma comunidade teraputica residencial de alta especializao 10 8
(14) uma clnica especializada em doenas infecto-contagiosas
(HIV, Hep, etc.)
10 10
(15) a rede de lderes de opinio 1 10
Total 72 64
Desvio padro 3,38 3,19
Tabla 5.C. Avaliao de limiar e complexidade
Leitura de dados: O que vemos neste quadro que a difculdade de acesso
depende muito mais do limiar que da complexidade (o total do limiar 72, maior que
o total da complexidade que 64). Pode-se pensar tambm que os usurios do servio
podem ter difculdades em estabelecer a complexidade de um servio. signifcativo,
223 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
por exemplo, que para eles a rede de lderes de opinio to complexa como uma
clnica de especialidade ou uma comunidade teraputica de alta especializao, mas
infnitamente mais acessvel. Talvez para este grupo o critrio para compreender a
complexidade a composio da rede de lderes de opinio da comunidade e no
a composio de uma equipe da clnica de alta especialidade. O grfco (5.1.) a seguir
algo mais difcil, no entanto, com um
pouco de esforo entendido como
ele foi feito. Veja, por exemplo, no
lado esquerdo na primeira coluna:
complexidade; na segunda coluna
esto 11 graus de complexidade (de
zero a dez) de baixo para cima. Veja
tambm a primeira linha de baixo para
cima: leituras limiar; na segunda linha
so at 10 nveis de limite de zero.
Agora considere, por exemplo, que o nmero 15 a primeira linha de cima para baixo.
O nmero 15 a rede de lderes de opinio (nmero 15 da tabela 5.a.). Esta entidade
foi avaliada de limiar 2 e complexidade 10. Por esta razo que ocupa essa posio no
grfco. A entidade 1 (a rede subjetiva de uma pessoa e seu territrio) foi avaliada de
limiar 0 (zero) e complexidade 0 (zero), e ocupa essa posio no grfco.
Qual a aprendizagem com este exerccio? Limiar e complexidade tendem
a depender uns dos outros: se o limiar cresce, cresce tambm a complexidade
(com algumas excees). A implicao prtica que se voc quiser diminuir
o limiar pode fazer isso reduzindo a
complexidade. Lembre-se que se trata
de um exerccio e que os resultados
podem mudar de grupo para grupo.
Desenvolvendo o mesmo
exerccio, tomando o ponto de
vista dos membros das duas
equipes de operadores de servios
formais (pertencentes s redes de
organizaes no governamentais e
servios pblicos de sade) foram os
seguintes os resultados obtidos:
Limiar e complexidades vistos
desde a perspectiva de acesso aos
C
o
m
p
l
e
x
i
d
a
d
e
10 15 14
9
8 13
7 11
6 10
5
4 5
3 3 4, 6, 7 8 12
2 9
1
0 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
limiares
Grafca 5.1.
224 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
usurios em uma comunidade de alto risco (respondem os operadores dos
servios).
Entidades Limiar Compl.
(1) a rede subjetiva de uma pessoa e seu territrio 10 0
(2) uma equipe de rua composta por operadores pares 7 0
(3) uma equipe de rua composta por tcnicos e operadores pares 6 3
(4) uma rede operativa comunitria 8 6
(5) uma rede de recursos comunitrios 7 6
(6) uma rede de famlias que colocou disposio suas casas para
as atividades
8 8
(7) um centro de baixo limiar (drop in centre) ou centro de escuta 4 6
(8) um drop in center para consumidores de drogas 5 6
(9) um albergue para noite 5 5
(10) um centro de tratamento ambulatorial 1 8
(11) um centro de desintoxicao 3 8
(12) Comunidade teraputica residencial tradicional 7 2
(13) uma comunidade teraputica residencial de alta
especializao.
7 8
(14) uma clnica especializada em doenas infecto-contagiosas
(HIV, Hep, etc.)
7 10
(15) a rede de lderes de opinio 10 10
Soma 95 86
Desvio padro 2,43975 3,217512
Tabela 5.D.
O que podemos aprender com isso? O fato mais bvio que a
representao dos operadores de servios ilustra uma situao geral de mais
difcil acesso (os limiares e complexidades so superiores aos mesmos dos
usurios dos servios, embora em geral os dados no sejam estatisticamente
signifcativos). Poderamos pensar que os operadores consideram o acesso s
entidades comunitrias (redes, servios de porta aberta, etc.) quase mais difcil
do que o acesso aos servios de alta especializao e complexidade.
O grfco 5.2 permite ver tambm outra diferena signifcativa entre o
grupo de usurios e o grupo dos operadores: neste caso no h essa correlao
entre complexidade e limiares que foi observada com os usurios dos servios.
Ento, neste caso, se quiser diminuir a complexidade, no se pode agir sobre o
limiar ou vice e versa, preciso acudir a outros processos.
Por outro lado, observa-se tambm como no quadro 3 do grfco 5.2. (
225 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
o quadro compreendido entre as colunas C, D, E, F, G e as linhas 9, 10, 11, 12, 13)
no h nenhum servio. Lembre-se que os usurios tinham 8 (entre 15).
Mesmo que este exerccio seja feito com usurios e operadores no pode se
considerar como extensvel a todos os usurios e a todos os operadores, uma fotografa
do acesso s extensvel aos participantes do exerccio. Fazer este tipo de exerccio
com outros atores de outros contextos til para entender como eles representam os
servios em termos de acesso (limiar e complexidade), e poder programar estratgias
para increment-las ou diminu-las adaptando-as a cada contexto.
Do grfco 5.2 pode-se concluir tambm outras consideraes operativamente
teis. A primeira que se considerarmos todo o espao desse grfco como o espao
de inter-relao entre complexidade e limiares, constatamos que h muitos vazios
(nenhum servio de baixo limiar e de baixa complexidade, ou mais concretamente,
nenhum espao no qual os operadores sintam baixas difculdades de acesso).
Se for assim, a segunda considerao que estes espaos de baixo limiar e baixa
complexidade tem que ser produzidos, de outra maneira existiria uma distncia
difcil e insupervel entre servios e pessoas que precisam deles.
A concluso desta refexo sobre o acesso e o exerccio feito, que
este pode ser uma modalidade para mapear a acessibilidade dos servios ou
entidades operativas presentes em uma comunidade (um diagnstico). Este
mapeamento indispensvel se quisermos modifcar os nveis de acesso.
A B C D E F G H I J K L M
1 Limiar
2
C
o
m
p
l
e
j
i
d
a
d
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 10 14 15
4 9
5 8 10 11 13 6
6 7
7 6 7 8 5 4
8 5 9
9 4
10 3 3
11 2 12
12 1
13 0 2 1
14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Limiar
Grfca 5.2
226 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Centro de escuta: baixo limiar e baixa complexidade
Conceito
Os centros de escuta nasceram como servio aberto a toda a comunidade
com a fnalidade de dar ateno por meio de escuta ativa a demandas ou peties
dos seus habitantes. Estes servios no foram pensados como drop in centers,
porm, pode se considerar que no tratamento comunitrio um drop in center seja
um desenvolvimento sucessivo de um centro de escuta ou um de seus servios.
Descrio e evoluo
Inicialmente, os centros de escuta
constituram uma das aes de vinculao
implementadas pela rede operativa e era o
servio de mais baixo limiar possvel, antes
de ser descoberta e formalizada, o trabalho
com as redes subjetivas dos consumidores de
drogas e das pessoas severamente excludas.
Quando o trabalho com estas redes foi formalizado, as redes se converteram nos
servios de menor limiar possvel.
Uma das caractersticas destes centros que so abertos a toda a
comunidade, no estando focados em benefcirios, ou grupos-meta
especfcos. Esta aproximao foi adotada para reduzir o impacto da
marginalizao e do estigma que cada servio pode produzir. Outra caracterstica
de manter sua organizao interna mais prxima possvel do informal, de
maneira que seja altamente fexvel e se adapte aos ritmos das comunidades. As
equipes eram mistas, ou seja, eram formadas por operadores tcnicos e pares.
Os centros de escuta eram mveis ou fxos. Mveis: consistia em uma
equipe que se deslocava na comunidade (como equipe) e implementava uma
atividade de contato e vinculao, dilogo e construo de relao. Em alguns
casos estes centros mveis tinham um meio de transporte (uma caminhonete,
um carro adaptado para transportar insumos simples como ch, caf e bolachas)
com a possibilidade de us-los como consultrio mvel; em outros casos, uma
pequena tenda se deslocava na comunidade; em outros casos, s se deslocavam
os membros da equipe. Fixos: consistia em uma tenda que era montada sempre
no mesmo lugar, ou em um local com um acesso rua, equipado com banheiros
e chuveiro, um lugar no qual se podia descansar, falar e conversar.
Observando as caractersticas fsicas do centro de escuta, pode-se
227 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
constatar como estes tiveram os elementos de base que sero utilizados
sucessivamente para estabelecer os drop in centers. (Korf, 1999)
Experincias, evolues e fragilidades
Com o tempo, os centros de escuta evoluram do informal at o formal,
porm, tratando de manter as duas possibilidades. Veja o exemplo da Colmbia,
onde no centro de escuta tambm so implementadas atividades tpicas de
um drop in center.
Os centros de escuta atendem
Consumo de drogas; outros temas de sade e outros aspectos que afetam a qualidade de
vida das pessoas (violncia, transtornos, pobreza, delinquncia, prostituio, vida na rua,
entre outros).
Mnimos dos centros de escuta
1. Contribuir formao em habilidades para a vida. 2. Aes de reduo de dano e
risco aos consumidores na rua. 3. Busca ativa de casos. 4. Assessoria no marco jurdico e
o reconhecimento dos direitos de pessoas afetadas pelas problemticas. 5. Interveno
breve - entrevista motivacional tamizaje (AUDIT). 6. Escuta ativa e relao de ajuda. 7.
Acompanhamento sada. 8. Seguimento de casos atendidos pela rede institucional.
9. Conexo com a rede subjetiva. 10. Remisso de casos rede institucional local. 11.
Sistematizao da experincia. (Fonte: Colmbia)
Neste caso o centro de escuta foca-se em tipos de demandas e problemas
independentemente das pessoas que os manifestam ou esto vivendo-os. O
que entendemos tambm que para poder dar ateno direta, ou por meio
de encaminhamentos, a estes tipos de demandas e problemticas necessrio
incrementar o limiar e a complexidade. As atividades indicadas no fragmento
implicam um nvel de organizao da equipe e da rede operativa, do lugar de
trabalho e dos processos operativos que fazem necessrio pensar em alguns
fltros no acesso (tipologias de pessoas, horrios, processos de seleo dos
participantes, etc.). O mesmo raciocnio pode ser feito na atividade seguinte:
a busca de casos est relacionada a pessoas usurias de drogas (neste caso
herona) por via intravenosa.
Diferente da experincia do Brasil, j mencionada antes, na qual o centro
de escuta inicia com o mais baixo nvel de formalizao possvel.
O nascimento de nosso centro escuta itinerante data de maio de 2010, quando se iniciaram
as aes na comunidade, oferecendo ofcinas culturais nestes espaos. Porm, aps um
perodo de 2 meses, ao perceber que os jovens em situao de excluso social grave no
frequentavam tais ofcinas, lanou-se a ideia de levar as ofcinas at eles, nas favelas e
becos mais afastados no bairro. (Fonte: Brasil)
228 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Neste caso trata-se de um centro de escuta ativa no qual, por um meio de
conjunto de atividades que participavam atores comunitrios com seus prprios
recursos, construam-se vnculos, relaes, etc. talvez na fase sucessiva,
quando a rede operativa constata que o centro de escuta exclua os territrios
ocupados pelos consumidores de drogas, que as atividades do centro de escuta
mvel passaram a acontecer nos espaos de vida dos consumidores de drogas,
incluindo desta maneira no centro de escuta atividades de um drop in center.
A experincia seguinte da Colmbia. Uma modalidade diferente de
interpretar as fnalidades e estratgias de um centro de escuta. Neste caso, j
existia uma organizao com alguns centros de acolhida (refeitrios e abrigos
de noite) para pessoas altamente vulnerveis em uma comunidade tambm
altamente vulnervel.
O Centro de Escuta da Fundao tem 5 anos de experincia atravs da qual atuou no centro
da cidade; comunidade severamente excluda com graves problemticas associadas
venda, trfco e consumo de substncias psicoativas. Esta experincia atende a populao
na rua e em situao de rua, implantando um dispositivo que inclui ateno na rua,
escuta nas casas da fundao, canalizao a diversos servios assistenciais e teraputicos
e a construo de uma rede de recursos institucionais, que apoia este trabalho, gerando
possibilidades de incluso social para esta populao.
O Centro de Escuta (...) realiza um trabalho ativo comunitrio no qual dinamiza uma rede
de recursos institucionais para a canalizao, realiza aes de reduo de danos e riscos,
gerando processos de incluso social (...). (Fonte: Colmbia)
Se consideramos o contedo deste fragmento podemos ter a impresso
que esta organizao faz uma interveno centrada e focada em grupos de
risco, mais que uma interveno focada na comunidade como um todo (o que
seria mais coerente com o tratamento comunitrio). Se esse for o enfoque,
tambm pode se entender que a rede de recursos comunitrios est construda
especifcamente com este propsito, para as pessoas e os grupos de risco que
tem necessidade de ajuda, e no para todos os membros da comunidade que
precisam de ajuda. Por outro lado, o trabalho de rua atinge a toda a comunidade
abrindo uma srie de respostas a todos os habitantes da comunidade.
Neste caso, parece tambm que o centro de escuta serviu como iniciativa
que permitiu interconectar a todas as atividades dos diferentes centros de
acolhida da instituio e identifcar uma estratgia comum baseada nos trs
eixos: educao, preveno e trabalho comunitrio.
Entre as fragilidades dos centros de escuta encontram-se: a necessidade
de uma alta interconexo com as redes de recursos comunitrios (isso quer dizer
um alto nvel de interdependncia com estas), a necessidade de manter o nvel de
229 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
acesso (limiar) mais baixo possvel frente a uma demanda de lderes de opinio
e grupos especfcos (consumidores de drogas, pais de menores e adolescentes,
etc.) de estabelecer algumas regras de acesso que, aos poucos, se transformam
em regras de excluso. Tambm pode acontecer que nos focando nos grupos
de risco, pode se incrementar sua separao da comunidade e aprofundar os
processos de rotulagem.
Foi observado tambm que a tendncia das comunidades a persistncia
(produzir mudanas que no mudem nada ou que mudem o menos possvel da
organizao comunitria) o que faz que exista uma forte presso social para que as
equipes fquem a cargo dos grupos de risco e no trabalhem com a comunidade.
Centro de baixo limiar (drop in center)
Segue a continuao de um fragmento
do relatrio de atividades de uma organizao
colombiana que permite ter uma percepo
global do contexto na qual se insere e tem sentido
um drop in center, e quais so algumas das suas
atividades. A lio aprendida neste caso que um drop in center assume o
sentido do sistema de preveno e ateno no qual se encontra inserido.
(A) Reduo de dano e preveno (seletiva e indicada) implica a implementao de um
conjunto de atividades interconectadas entre as quais se encontram a seguinte. Trabalho
de rua e de comunidade: primeiro contato e avaliao rpida de problemas e situaes,
de recursos e necessidades, educao no formal, preveno e educao sobre riscos e
reduo de dano.
Para que o trabalho de rua e das comunidades tenha efccia e impacto
necessrio que tenha uma estratgia de ao clara.
(B) Estratgia: trabalho nas ruas com pessoas e grupos, com instituies (escolas em
particular), com famlias em suas moradias. O objetivo estabelecer uma relao
permanente e pessoal com cada ator da comunidade. Trabalha-se com continuidade na
busca e contato de pessoas na vida cotidiana: casas, bares, rua, (...) mantendo o contato
e coordenao com a rede de recursos comunitrios para responder s demandas das
pessoas. Realizam-se encontros para grandes grupos (onde participam centenas de
habitantes) com as quais se estabelece e fortalece o contato pessoal, educao no formal,
etc., seguimento de necessidades e demandas especfcas. Se atendem na tenda (drop
in mvel da organizao) uma mdia de 25 pessoas por dia. So desenvolvidos murais
itinerantes, que permitem comunicar sobre diferentes temas de maneira informal. O Mural
>
230 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
onde se localiza elementos dos temas a tratar e se traslada aos diversos espaos onde opera
o projeto, ou se localiza nas residncias, na rua, refeitrio infantil, tenda, drop in, centros
de servio. So feitos passeios noturnos na rua para fazer contato com moradores de rua,
usurios de droga, recicladores, mulheres e homens que se prostituem; so realizadas com
elas jornadas de formao informal, servido po com caf e recebem camisinhas. (Fonte:
Colmbia)
Leu-se aqui uma breve lista de atividades por meio das quais se
implementa o trabalho de rua e de comunidade. Estas atividades permeiam a
vida cotidiana da comunidade e sob estas se apoiam outras iniciativas.
(C) No Drop In se contata, acolhe, escuta, assessora, remite, canaliza as demandas da
populao. J foram atendidas 659 pessoas neste perodo (2008). Foram organizados:
jornadas de vacinao para crianas, adolescentes e mulheres gestantes; encontros
formativos com pais de famlia do refeitrio infantil; encontros com mes gestantes de
preveno e promoo da sade da me e do flho; conversas com atores da comunidade
e de pontos fxos da rede de recursos comunitrios. (Fonte: Colmbia)
Aqui est uma descrio sumria do centro de acolhimento com o
nmero de pessoas que frequentam a cada ano. Observa-se que as atividades
no se enfocam exclusivamente a consumidores de drogas, mas sim incluem
a toda a comunidade. Para que este servio possa funcionar requer outros
servios e estratgias.
(D) Para que o drop in possa funcionar foi necessrio implementar:
Um sistema de derivaes a organizaes que asseguram educao formal, servios
mdicos e de sade, assistncia legal. Mantm-se na rede 66 organizaes pblicas,
privadas e comunitrias que fazem o possvel para que se possa responder s demandas
da populao. (...). Atividades culturais e recreativas: jornadas recreativas e de lazer com
crianas entre 2 e 12 anos com o apoio de rgos no governamentais locais e voluntrios;
programa de atividades mensal de recreao com crianas e jovens em seguimento, sendo
o parque centenrio o centro de encontro e trabalho Ventud.
Conselho e orientao individual e de grupo: de tipo psicolgico, educativo, sobre direitos
humanos, direitos da infncia e da mulher em particular. Reduo de dano e minimizao
de riscos. Preveno seletiva e indicada: na comunidade aberta e nas escolas. (Fonte:
Colmbia)
Conceito
a partir da experincia dos centros de escuta que foi desenvolvido
o centro de baixo limiar chamado drop in center. Neste caso, a referncia
experincia internacional de centros de baixo limiar especialmente dirigidos
a pessoas usurias de drogas e pessoas que vivem com HIV explcita (NACO,
231 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
2003). O desafo do tratamento comunitrio foi implementar um centro de baixo
limiar (drop in center) que fosse, ao mesmo tempo, aberto a toda a comunidade
e tambm a pessoas ou grupos que a comunidade marginaliza e estigmatiza,
sem que no interior do centro se repita ou se reproduza o mesmo processo.
Boas prticas e fragilidades
Da experincia da organizao colombiana reproduzida na abertura desta
seo pode-se deduzir algumas caractersticas para uma boa prtica neste contexto.
Uma concepo de sistema: um drop in center se insere em um sistema de
ateno que favorece a existncia de uma ateno sem interrupo (continuum
of care), no sentido que h continuidade entre um ator/servio e outro. Para
isso, a interconexo com outros atores essencial como demonstra uma rede
de recursos comunitrios (rede local) de sessenta e seis atores (instituies e
grupos) (ver fragmento da experincia da Colmbia).
Uma lgica de processo: O explicitado na experincia colombiana indica que h
uma lgica de processo para chegar de um centro de baixo limiar (neste caso, o drop
in center). Esta lgica de processo parece indicar que iniciar com o trabalho de rua e de
comunidade o primeiro passo, criando sucessivamente um centro de escuta o qual,
entre suas possibilidades de evoluo, contempla tambm a um drop in center.
Uma articulao entre atividades focadas na populao e atividades
focadas a grupos especfcos: trabalho de rua e de comunidade, conselho
individual e de grupo, atividades culturais e recreativas, preveno seletiva e
indicada, atividades especfcas de reduo de dano, etc.
Poltica Pblica: A existncia de uma poltica pblica na qual possam se encaixar
tambm os processos de baixo para acima sem que estes
precisem renunciar a suas caractersticas de acesso.
Uma massa crtica: O estudo das intervenes
feitas, no s do exemplo da organizao
colombiana, indica que um dos fatores de
resultado positivo destes servios atingir uma
massa crtica de participao (parcerias) que
consiga envolver centenas de pessoas (no s
de usurios). Isso signifca que a aproximao
comunitria (a diferena da aproximao focada
em grupos de risco) depende tambm de um
fator quantitativo: o nmero de habitantes que
participam contribuindo desta maneira a validar
232 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
o que esto fazendo a equipe ou redes operativas.
A participao de pares como educadores: O fato que os pares possam
ser educadores e no s pares, utilizados como recursos no processo de
aproximao aos usurios, implica uma formao especfca e uma formao
durante o processo de trabalho.
Formao com grupos pares em elementos bsicos de trabalho na comunidade, escuta,
utilizao de instrumentos e temas de preveno, casos de TBC, de preveno de HIV de
forma direta ou com o apoio de outras organizaes.
Participao de sete operadores pares vinculados ao centro de escuta no certifcado
dirigido a operadores pares que desenvolver o centro de formao. (Fonte: Colmbia)
A formao e a capacitao especfca no processo para todos os atores. A
formao implica trabalhar sobre o ser (atitudes e estilos relacionais) enquanto
que a capacitao implica trabalhar sobre conhecimentos e competncias.
O grupo de pessoas vinculadas equipe como operadores pares, foi fortalecido com o
certifcado para Operadores Pares que os formar academicamente em estratgias de
trabalho comunitrio com base no modelo ECO2. Continuam vinculadas sete pessoas
pares nas diversas aes especfcas do projeto (refeitrios, trabalho de rua, pessoas de
terceira idade, infncia, banheiros, drop in center, diagnstico e gesto de casos) e no
processo em geral (gesto de instrumentos, trabalho de casos, sistematizao, etc.). Foram
desenvolvidas 2 sesses de formao com os voluntrios que participam das diversas
atividades do projeto: refeitrio, capacitao, acompanhamento de pessoas doentes no
modelo de trabalho e escuta. A Equipe continua seu processo de formao acompanhado
por assessores externos (...), este se desenvolve uma vez no ms em uma sesso de 2 horas.
Igualmente foi recebida ampla capacitao no Sistema de Diagnstico Estratgico e
elementos do Modelo ECO2, atravs de formao desenvolvida por formadores externos
(...) igualmente se desenvolve um treinamento em Estratgias Comunicativas como
elemento essencial nos processos de educao, gesto poltica e visibilidade do projeto.
(Fonte: Colmbia)
A formao e a capacitao de todos os atores envolvidos no tratamento
comunitrio um dos elementos que interconectam atores com aes e aes
com estratgias, mantendo a consistncia e a fexibilidade do modelo.
Centros de baixo limiar e mdia/alta complexidade
At que ponto possvel integrar servios de complexidade crescente
com as exigncias de limiares que garantem o acesso mais amplo e facilitado
possvel?
Quais so as difculdades que podem se encontrar na construo
destas entidades operativas e querendo ao mesmo tempo conservar todas as
233 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
ganncias produzidas a partir de uma perspectiva de baixo para acima?
O que acontece quando em um espao institucional altamente
estruturado se inserem critrios e processos de baixa formalizao? Como
manejar essa complexidade gerada pelo encontro de identidades profssionais
muito estruturadas com outras que so bem menos, sem que um se oponha
cegamente ao outro? Que forma de organizao pode ser possvel e quais
pontos de equilbrio dinmico atingveis entre estas instncias?
Centros de tratamento integrado em um marco comunitrio
Na experincia de tratamentos substitutivos ou desintoxicaes existiu
uma forte evoluo nos ltimos trinta anos. O tratamento com metadona
manuteno ou escalando, por exemplo, foi atividade dos centros
especializados h trinta anos, porm aos poucos foram integrados no processo
operadores de rua e familiares que assumiram a responsabilidade da entrega
cotidiana da droga e do monitoramento dos processos.
Essas experincias demonstram ao menos
quatro realidades: (1) a primeira que servios de alta
especialidade so assim porque so novidade para
os profssionais que os implementam, no porque
so de alta especialidade em si; no caso da entrega
da metadona no so necessrias competncias
especiais, sufciente que as pessoas que o fazem
recebam instrues mnimas para a conservao,
controle e dosagem da droga; (2) que a complexidade no depende unicamente
das competncias e dos conhecimentos, mas de como os profssionais
representam o servio que implementam, uma modifcao na representao
produz uma modifcao nos critrios de complexidade, (3) que quase todos
os atores comunitrios podem participar na implementao de atividades ou
servios complexos, sufciente encontrar as formas mais adequadas, (4) que
a reescritura dos perfs profssionais a partir de critrios no corporativos pode
facilitar a implementao de servios e baixar signifcativamente os limiares de
acesso ampliando a cobertura e incrementando a aderncia.
A estas quatro realidades podem se somar outras. A complexidade
e a estruturao so to necessrias como a baixa formalizao. s vezes
complexidade, alto e baixo nvel de formalizao so, por um lado, a
consequncia de defesas das instituies e dos atores institucionais,
234 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
e por outro lado, dos preconceitos dos atores com baixa formalizao e
complexidade. Essas defesas/preconceitos so o resultado do medo que um
possvel encontro produz, e da perda de privilgios que podem derivar
deste encontro. A consequncia que se produzem representaes sociais
que incrementam a distncia, construindo barreiras de acesso mentais que
utilizam as barreiras de acesso reais (que so numerosas e muito relevantes)
para incrementar a distncia.
Experincias, desafos e difculdades: CAPS AD
No marco do contexto de Brasil h uma experincia que implementou
durante um perodo essa viso: tratamento comunitrio de baixo limiar e mdia
complexidade. A organizao que implementa essa abordagem parte de uma
slida experincia de comunidade teraputica na qual atividades de ateno
psicolgica esto articuladas com atividades educativas e de insero no trabalho.
A porta de entrada: de baixo para acima
por meio da reduo de dano que se produz de uma parte, a entrada
no mundo do no formal das comunidades locais, e de outra a transformao
de uma viso do universo da assistncia aos consumidores de drogas.
A aproximao com a reduo de danos nos d uma viso muito ampla do externo,
dos contextos comunitrios, a proximidade com o usurio no momento em que era ele,
e no em que era o que queramos que fosse (como se comporta inicialmente em uma
comunidade teraputica). (Fonte: Brasil)
Ento a reduo de dano amplia a viso que se tem dos usurios de
drogas favorecendo que eles sejam percebidos como so e no como ns
esperamos que eles fossem. Dito de outra maneira, modifcando o dispositivo
das relaes tem como consequncia a mudana das representaes.
Isso tambm ajudava as meninas da ONG a perceberem o interno e o externo e dar uma
perspectiva de futuro e uma ideia de movimento. (Fonte: Brasil)
Se existe um efeito fora do sistema de assistncia (no mundo dos
chamados benefcirios) existe tambm um efeito no interior do sistema. Essa
transformao o fenmeno que permite que inicie uma mudana de sistema
que levara experincia de um centro de mdia/alta complexidade e baixo
limiar.
235 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Em 2002, passamos a conhecer o tratamento comunitrio, passamos assim a nos
aproximarmos mais de um modo novo de fazer reduo de danos (no no sentido de
promover sade, mas no sentido amplo da estratgia). (Fonte: Brasil)
Nesta situao, como ver no exemplo seguinte (no qual se relata uma
experincia na Colmbia em centros de alto limiar comunidades educativas)
resultados encorajadores so obtidos pegando exemplos de outras
experincias, contextos e pases sem submeter-se a elas, inspirando-se sem
reproduzir, inovando, aprendendo da experincia e respeitando a necessidade
de ser sensveis com os contextos.
Era ir para o campo ampliando o foco, olhando em volta do usurio e no somente para
ele, era poder trocar seringa pensando na amplitude do ato, para os usurios, para os no
usurios, para ns. Era ampliar os recursos ao invs de restringi-los e mais do que tudo,
o tratamento comunitrio parecia substituir a postura assistencialista da RD de ir at,
distribuir, entregar, para um processo onde o usurio era mais que redutor, era professor
da sua prpria escola, da sua prpria vida. (Fonte: Brasil)
Em que consistiu essa inovao? O que produziu essa hibridao entre
uma abordagem e um contexto diferente? Produziu a incluso das aes de
reduo de dano em um marco estratgico mais amplo (ttica e estratgia),
produziu a incluso nas aes, de seu impacto de rede. Isto signifca que
entregar seringas tinha impacto na relao com o usurio, na relao deste
com os usurios e a comunidade, etc. Se a reduo de dano tinha criado um
novo ator (redutor de danos) a hibridao entre tratamento comunitrio
e reduo de danos produziu a transformao do redutor de danos em
um professor de sua escola, em uma personagem que tem algo a dizer
e ensinar, transformando desta maneira o seu contexto de vida em uma
escola. Por meio destes produtos foi possvel transitar do assistencialismo
assistncia transformadora. Produziu tambm outro efeito profundo: fez ver
que no existe oposio entre reduo de danos e comunidade teraputica,
ambos os contextos operativos so parte do mesmo processo, se necessitam
reciprocamente, sendo complementares entre si, ambos so componentes
que garantem a continuidade da cura. Este produto foi causa e consequncia
de outros: a transformao da cultura operativa da comunidade teraputica,
de seus operadores, das pessoas em tratamento e dos dispositivos chamados
drop in centers.
236 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Contudo, teria sido impossvel iniciar qualquer processo de tratamento comunitrio se
no tivssemos essa prtica da reduo de danos, que mais que o fazer (distribuir seringa,
informar, buscar os usurios em seu habitat) era o de colocar-se neste contexto com a
proposta de vincular-se e no doutrinar, e fazer que o outro seja o que eu quero que ele
seja. (Fonte: Brasil)
Foi principalmente entre as pessoas em tratamento que esta aliana de
reduo de danos e comunidade teraputica teve um impacto determinante:
a reduo de danos fez visvel capacidades e potencialidades insuspeitadas
que na realidade da comunidade teraputica eram ocultas e inativas, ou pior,
reprimidas pelo tipo de dispositivo.
Se puder dizer que nesta considerao se encontra a semente daquele
processo que mais tarde conduzir a formular o conceito de parceiros.
A porta de entrada neste caso tem sido ento a reduo de danos que
tem implicado uma transformao profunda no sistema de ateno e nas
relaes entre atores.
De cima para baixo
A articulao com o marco das polticas do pas essencial, tanto quanto
a busca da inovao e de criar espaos novos de relao e ateno. Mesmo
assim, esta articulao com as polticas de cima para baixo no se faz em um
terreno sempre oportuno e facilitado.
Ainda estava iniciando a poltica dos CAPS AD no Brasil
2
, tudo era muito novo e em Sorocaba
reinava a internao psiquitrica (na poca era a cidade com o maior nmero de leitos
psiquitricos do pas) e o ambulatrio de sade mental. A reduo de danos era aceita, mas
no conseguia se ofcializar. ramos vistos como aqueles que usavam e aceitavam o uso de
drogas incondicionalmente. ramos tambm livres para poder provocar, criar e inventar.
(Fonte: Brasil)
Existia ento uma poltica que estava pouco a pouco se desenvolvendo,
a conexo com esta poltica era difcil e causava prejuzos, falta de relaes e de
espaos de encontro e dilogo. Faltava constru-los. Neste caso, a organizao
2 Lei Federal 10.216 (MS, 2002) e a Portaria GM / 336 de 19 de fevereiro de 2002 (MS, 2002)
defne normas e diretrizes para a organizao de servios que prestam assistncia em sade mental,
tipo Centros de Ateno Psicossocial CAPS- includos aqui os CAPS voltados para o atendimento
aos usurios de lcool e drogas, os CAPS ad. J existiam algumas experincias em So Paulo, Santos e
Ribeiro Preto. A partir de 2002 estas experincias comeam a ser propostas como modelo, processo
que se fortalece nos anos seguintes at ser institucionalizados em todo o pas.
237 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
que liderou esta experincia decidiu adotar a estratgia do tratamento
comunitrio, iniciando com o primeiro passo do SIDIEs: construir/evidenciar a
rede de lderes de opinio. Para fazer isto adotou uma estratgia original de
construo de conhecimento, de rede e liderana simultaneamente.
No ano anterior (2004) na poca de eleies para prefeito fz um evento e chamamos todos
os candidatos para um debate sobre o tema. Para a surpresa de todos, e minha, todos
vieram e o debate mudou muito a posio dos candidatos. Isso nos deu fora e at um
certo respeito. (Fonte: Brasil)
Troca de posio signifca troca de representao social e tambm troca
de relaes. Esta uma ao tpica de tratamento comunitrio enfocada
em redes: identifc-las, fortalec-las, coloc-las em interconexo, trocar
representaes e relaes.
Pensando sob o prisma da articulao, cada um dos candidatos tinha sua rede especfca,
com contextos de atuao e com flosofas prprias, existiam os candidatos mais voltados
periferia, outro mais atuante no mbito dos direitos humanos, outros mais voltados
religio.
Esta aproximao destes mundos em um tema (no caso drogas), mesmo que com
pensamentos divergentes nos facilitavam a articulao com estes diferentes grupos, e
dos diferentes grupos com os grupos com os quais atuvamos que eram na sua maioria
usurios de drogas, parentes, etc. (Fonte: Brasil)
As consequncias da construo de um espao no qual se encontram
lderes diferentes que se pode encontrar tambm os ns das redes desses
lderes e seus territrios. Por meio deste efeito de rede tem sido possvel
encontrar tambm os consumidores de drogas, utilizando um caminho que
no o caminho da assistncia, seno o caminho da construo de alianas, da
construo de redes. Isto tem implicado numa representao diferente deste
outro (o consumidor de drogas) e por consequncia uma relao diferente.
Tem sido encontrado como ator poltico e no como paciente.
Com estas relaes/representaes transformadas possvel que surja
tambm uma forma de participao especial: a cooperao, o intercmbio de
doaes (pedidos, ajudas, formas de ajuda concretas, etc.).
O debate propiciou que grupos diferentes pudessem escutar o outro e tambm em qualquer
modo relacionar-se com o diferente atravs de um tema comum.
Pudemos vivenciar em momentos aps as eleies, ou mesmo durante a mesma, uma
aproximao entre estes mundos, atravs de favores, de pedidos de apoio, de curiosidade
em conhecer o mundo do outro (obviamente com a inteno de voto, mas de qualquer
modo um ampliar as redes). (Fonte: Brasil)
238 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Que uma campanha poltica pode ser utilizada tambm como uma
oportunidade para o tratamento comunitrio uma peculiaridade da investigao
na ao, que se fundamenta no que a comunidade sabe produzir e produz,
propondo modifcaes de sentido mais que aes que modifquem outras aes.
Transformaes: o difcil caminho da troca
Introduzir uma tica de tratamento comunitrio, transform-la para que seja
sensvel ao contexto no um exerccio sem difculdades. O tratamento comunitrio
tem um mtodo de ao, tem instrumentos de registro das informaes que
servem para avaliar processos e resultados, isto implica em treinamento, implica
em profssionalizao, implica em confrontar com os resultados das avaliaes
(internas e externas); isto transforma profundamente o tecido de uma organizao.
Inicivamos com as fchas de primeiro contato e a avaliao CBT, instrumentos que nos
ajudaram a entender mais o que a equipe realmente fazia, do que sobre os prprios
usurios. Os resultados das avaliaes CBT no primeiro ano nos fzeram demitir os redutores
e passamos por um perodo de muita ameaa e presso. (Fonte: Brasil)
Mudar no uma experincia de serenidade, principalmente quando
um descobre que o que estava fazendo no correspondia a tudo o que
pretendia fazer.
Este o impacto de um processo de crescimento profssional de uma
equipe quando se confronta (por meio de uma avaliao formal) com os
objetivos de seu trabalho, no interior de contextos muito turbulentos como
so as comunidades. Alm disso, tem que se tomar em conta a diversidade
dos atores que participam destes contextos para e com os quais necessrio
construir um lugar operativo e um perfl profssional. Neste caso, a difculdade
derivou do fato que se juntaram dois componentes crticos: por um lado uma
equipe com baixo nvel de estruturao e do outro um contexto de trabalho
particularmente turbulento, veja-se fragmento seguinte:
A equipe estava muito acostumada com a falta de controle e a disperso e, em se
tratando de redutores, criaram seu prprio modo de trabalhar, onde mentiras e verdades
se confundiam e eram explicadas sempre sobre o prisma da ilegalidade. (...) No fui ao
campo porque a polcia estava l (no tratamento comunitrio as redes so redes e polcia,
redutores e usurios podem conviver) (...) No preenchi a fcha de primeiro contato porque
ele no deu informaes (as informaes so tambm os no ditos, as impresses, mas isso
s acontece se o redutor estivesse mesmo em relao com e no s fosse um distribuidor de
panfetos). (Fonte: Brasil)
239 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Nestes contextos de trabalho altamente turbulentos, as difculdades s
vezes somam-se e s vezes multiplicam-se, criando complexidades inesperadas
que precisam maior clareza e processos de clarifcao. Estes processos podem
fazer com que o sistema volte-se mais rgido e que surjam confitos entre
membros da equipe. O risco que se produza no interior do sistema de
ateno o mesmo tipo de confitos que se encontram na comunidade. Isto no
totalmente negativo se a equipe sabe utiliz-los para entender a comunidade
e para encontrar, no seu interior, respostas que depois podero ser propostas
para o trabalho com a comunidade. Implementar a reduo de danos em
contextos nos quais isso no havia sido experimentado antes evidenciou
os limites de treinamento instrumental (sobre seringas e camisinhas e sua
distribuio ou intercmbio), e ainda em maneira s vezes dramtica produziu
uma maneira mais integrada de treinamento combinando-o com a formao
(a transformao das atitudes relacionais do redutor de danos).
Depois disso, valorizamos as pessoas que haviam continuado conosco, reforamos as
atividades de M. no Campo e contratamos redutores com maior experincia e menos
oriundos da marginalidade, tentando equilibrar o grupo e avanar no trabalho; mudou
tambm a formao. (Fonte: Brasil)
A formao orientada principalmente a anlise crtica dos fatos, usando
ferramentas simples de avaliao cientfca, e por meio disto produzir maior
clareza nas propostas, o caminho real para governar as turbulncias e dar
sentido ao. Isto produz a possibilidade de novas mudanas.
Comeamos a imaginar que poderamos pensar em um CAPS AD naquele espao.
Articulamos com o coordenador de sade mental da cidade e fomos buscando suprir
os requisitos exigidos pelo Ministrio da Sade, isto , uma equipe mnima, um plano de
trabalho, alm do espao adequado. (Fonte: Brasil)
Uma proposta na qual cima e baixo podem se encontrar
A poltica nacional estabelecia a criao de dispositivos de mdia/alta
complexidade. S com a inteno de ilustrar esta experincia e a maneira com
a qual se articulou com as polticas nacionais se citam alguns fragmentos da
norma ofcial:
CAPSad II Servio de ateno psicossocial para atendimento de pacientes com
transtornos decorrentes do uso e dependncia de substncias psicoativas, com capacidade
>
240 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
operacional para atendimento em municpios com populao superior a 70.000, com as
seguintes caractersticas:
a) constituir-se em servio ambulatorial de ateno diria, de referncia para rea de
abrangncia populacional defnida pelo gestor local;
b) sob coordenao do gestor local, responsabilizar-se pela organizao da demanda e da
rede de instituies de ateno a usurios de lcool e drogas (...);
c) possuir capacidade tcnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada
da rede assistencial local no mbito de seu territrio (...);
d) coordenar, no mbito de sua rea de abrangncia, (...) as atividades de superviso de
servios (...);
e) supervisionar e capacitar as equipes (...);
f) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes (...), e medicamentos
excepcionais (...);
g) funcionar de 8 s 18 horas, em 2 (dois) turnos, durante os cinco dias teis da semana,
podendo comportar um terceiro turno funcionando at s 21 horas;
h) manter de 2 (dois) a 4 (quatro) leitos para desintoxicao e repouso. (Fonte: Brasil)
Para poder assegurar todos estes servios (e as atividades subjacentes)
se estabelecia a presena de 16 operadores: um mdico psiquiatra, um
enfermeiro com formao em sade mental, um mdico clnico, 4 profssionais
(psiclogos, socilogos, etc.), 6 profssionais de nvel mdio (administrativo,
enfermaria, educao, etc.). Quais atividades?
4.5.1. A assistncia prestada ao paciente no CAPSad II para pacientes com transtornos
decorrentes do uso e dependncia de substncias psicoativas inclui as seguintes atividades:
a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterpico, de orientao, entre outros);
b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social,
entre outras); c) atendimento em ofcinas teraputicas executadas por profssional de nvel
superior ou nvel mdio; d) visitas e atendimentos domiciliares; e) atendimento famlia; f)
atividades comunitrias enfocando a integrao do dependente qumico na comunidade
e sua insero familiar e social; g) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) recebero
uma refeio diria; os assistidos em dois turnos (8 horas) recebero duas refeies dirias;
h) atendimento de desintoxicao. (Fonte: Brasil)
Vista desde baixo, desde a reduo do dano e sua experincia nas
comunidades, esta proposta era, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um
desafo. A resposta ao desafo inicia com uma pequena revoluo nos objetivos.
Realizar um modelo de interveno comunitria, que permita um dilogo colocando o
usurio na rede dos vrios atores (instituies pblicas e privadas, ONGs, universidades e
cidados) que em vrios nveis se ocupam de preveno da vulnerabilidade, de assistncia
e de luta pobreza e marginalidade para a promoo de polticas sociais efcazes. (Fonte:
Brasil)
241 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Desde a abertura refete-se a centralidade das redes e, em particular,
das redes de recursos comunitrios, a centralidade do consumidor de drogas
nessa rede tambm como ator, a incluso da pobreza e da marginalizao
como elementos que o tratamento tem que enfrentar. E por consequncia no
se trata somente de drogas e a fnalidade no a abstinncia do consumo. A
fnalidade :
Favorecer a incluso social e estabelecer condies para uma autonomia econmica e auto
sustentabilidade. Oferecer perspectivas concretas de emancipao e do condicionamento
da dependncia de drogas, das condies de exposio a situaes de risco para aquisio
de doenas e de contextos violentos. Oferecer percursos de formao laboral. (Fonte: Brasil)
Para que isto seja possvel foi necessrio implementar estratgias
pontuais e claras e nisto se observa uma posio inicial diferente com respeito
quela proposta pela poltica pblica, e no entanto sinrgica a ela.
1 - Mobilizao: instrumentos ldicos para a discusso dos fatores de risco e de proteo
relacionados a droga. Alm disso, desenvolvido um trabalho cultural com a comunidade
(grupo de musica e teatro) (...) nessas enquetes so abordados assuntos relacionados
sade, educao, cronograma de atividades, drogas, gravidez prematura, etc. (Fonte:
Brasil)
O tratamento inicia com o melhoramento das que se poderiam chamar
habilidades socioculturais das pessoas, e de suas condies de vida cotidiana,
iniciando com as condies relacionais (por isto o tratamento comunitrio inicia
com o trabalho de redes a todos os nveis). A expectativa que esta abordagem
seja a base para criar, fortalecer e manter a motivao para a mudana. Esse
tambm o contexto no qual emergem os contedos relacionados com os
temas clssicos da preveno e da reduo do dano, com os horizontes da
reabilitao e da sada do mundo da dependncia patolgica. Este trabalho
leva sucessivamente a constituir um espao relacional de ateno para
consumidores de drogas que precisam e pedem reduo de danos. assim
que o modelo operativo (o dispositivo) pouco a pouco se desenvolve, isto
signifca que no est pensado tudo desde o incio para poder-se desenvolver.
2- Reduo de danos - trabalho de rua: os redutores de danos so profssionais que
saem s ruas, nos locais de concentrao de usurios de drogas, para ensin-los tcnicas
de uso seguro e vincular-se aos mesmos. (...) a proposta inclui um grupo de acolhimento
especifcamente dirigido reduo de danos realizada dentro da nossa sede. Este grupo
voltado para usurios de drogas ilcitas que no desejam, em princpio, parar seu consumo
de drogas, mas discutir formas de realiz-lo com os menores danos possveis.
242 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
As ruas das comunidades locais, seus lugares naturais de socializao
(que se chamaram os territrios comunitrios, ver mais acima) so os lugares
da reduo do dano e do trabalho com a comunidade. Nestes lugares toma
forma a primeira e fundamental estratgia de construo de relaes e de
dispositivos de ajuda. Este dispositivo favorece tambm uma conexo com
outro: com o grupo de acolhimento que se encontra localizado na sede do
CAPS AD, desta maneira se cria uma vinculao entre dispositivos no formais
e dispositivos formais.
3. Assistncia: Atendimento a jovens e adolescentes em situao de risco, atravs de
uma abordagem que consiste no oferecimento de diversos atelis (artes, esportes,
informtica, culinria, grafite, break, etc.) e de atendimentos em diferentes ncleos
(ncleo de ateno famlia, de ateno ao trabalho, pedaggico, jurdico, psiquiatria
e psicologia) com a finalidade de construir vnculos afetivos e promover a sade global.
Alm destes, ser oferecido atendimento de rua: atendimentos psicolgicos e mdicos
na comunidade.
A inteno dos adolescentes ilustra o peculiar desta proposta: criar um
contexto geral de educao e relao que sirva como dispositivo de vida
em comum (neste sentido tambm comunitrio) no qual se implementam
atividades e organizao (os ncleos). O primeiro componente (as aes) serve
para dar respostas concretas a demandas ou necessidades concretas, o que
essencial. O segundo componente (organizativo) mais estratgico: serve para
produzir ou fortalecer frente a situao de risco.
4- Acolhimento: Fazem parte do acolhimento, atividades como teatro, artes plsticas, vdeo.
Alm de facilitar a conquista e aderncia, as atividades ldicas permitem o aparecimento
espontneo de demandas que uma conversa formal no detecta. Tambm est claro seu
papel de preveno e promoo da vida.
Um se encontra aqui no interior das estruturas fsicas do CAPS
AD. A porta de entrada acolher. Aqueles que se sublinham aqui
que a porta de entrada no a triagem, o filtrar, diagnosticar, orientar,
etc. A porta, primeiramente, construir um espao no qual possam
nascer relaes e um poder viver bem e com prazer. Este espao de
bem viver e de relaes a base sobre a qual se podem implementar
as outras formas de atendimento. Isto no significa que h que fazer
um e sucessivamente o outro, se podem implementar simultaneamente,
aquilo que til recordar que fazer o segundo sem o primeiro fazer
um trabalho sem bases.
243 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
5-Atendimentos: (1) Atendimento clnico. (2) Atendimento psicoterpico, (3) Atividade
teraputica e ofcinas de arte. (4) assistncia s famlias desenvolvida atravs de grupos
de acolhimento de famlias, grupos de orientao familiar e terapia sistmica de famlias.
(5) Permanncia-dia: indicada para casos que necessitam de cuidados intensivos e semi-
intensivos. Os pacientes podem estar presentes no turno da manh, no turno da tarde,
ou em ambos os turnos conforme a necessidade de cada caso. (6) Leito de repouso e
desintoxicao: o paciente ser indicado aps avaliao pela clnica geral e/ou clnica
psiquitrica.
O trabalho do centro (CAPS AD) s um dos elementos do sistema de
tratamento. Tambm no trabalho de rua e de comunidade as relaes na vida
cotidiana produzem mudanas no dispositivo. Nascem os centros de escuta
comunitrios.
6- Centros de escuta comunitrios. Localizados nos bairros de Nova Esperana, Vila Sabi,
Habiteto, Vitria Rgia, Vila Baro e Mrcia Mendes. Os centros de escuta podem ser
considerados como um dos pontos de chegada de um processo de preveno em uma
comunidade local.
Os centros de escuta comunitrios so, inicialmente, uma forma de
organizar as relaes entre atores comunitrios (incluindo os consumidores de
drogas). Desta maneira o centro de escuta um dos instrumentos da preveno
e tambm um de seus produtos.
Visitamos o Ncleo da comunidade, casa recm adquirida e reformada pela prpria
comunidade, funcionando h dois meses. A avaliao dos usurios positiva. As palavras
escolhidas para resumir o projeto para eles foram: tudo de bom, amigos, uma
melhoria para o nosso bairro, felicidade, lar, felicidade para todo mundo, coragem,
companheirismo, confana, atitude e f.
Este um bom exemplo do conceito da preveno no marco do
tratamento comunitrio no qual a preveno tambm e, sobretudo:
organizao dos recursos e das respostas das comunidades. Sem a participao
da comunidade (da gente organizada) esse centro de escuta nunca teria
existido. Sucessivamente e graas a este processo de participao, este centro
de escuta tambm um lugar (relacional pelo menos, e s vezes tambm com
uma estrutura fsica), de incio de processos de mudana para os consumidores
de drogas, sem que isto signifque deixar a suas comunidades de origem ou
seguir vivendo ali rodeados do estigma e da rejeio.
Para que isto seja possvel a terapia, como se entende habitualmente
no sufciente. Isto pode signifcar que necessrio fazer outras aes ou
244 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
melhor, ampliar o conceito de terapia incluindo outras aes que tambm
curam.
7- Criao de ncleos de profssionalizao e gerao de renda: Formao e produo. A
formao do usurio engloba todas as atividades a eles dirigidas durante sua permanncia
no projeto e deve ser composta por atividades refexivas, criativas, informativas e
produtivas.
A educao, a capacitao para o trabalho e o trabalho produtivo que
favorece a autonomia econmica so estratgias que no somente contribuem
para a cura seno que curam, a condio de estar inseridas num dispositivo mais
amplo que inclua outras formas de ateno e desenvolvimento. O trabalho,
a capacidade produtiva (no respeito dos limites das pessoas) num contexto
digno, um eixo, uma componente fundamental do tratamento comunitrio.
Montamos uma ofcina de silk screen, com um dos usurios responsvel e tinha um tanto
de produtos que deveriam ser silkados no dia. Cada usurio que necessitasse ganhar
alguma coisa (para o passe de nibus ou para o que ele quisesse) podia silkar camisetas,
por exemplo, e cada uma bem feita, valia 1 real
Contvamos com o apoio da S., artista plstica, que no tinha nada de convencional e que
iniciou sua assessoria no CAPS fazendo com os usurios um grande quadro que decorou o
local durante a sua existncia.
Esta iniciativa parece singela, em realidade , no entanto implica resolver
alguns desafos: ser produtiva, ser fexvel, ter uma coordenao operativa
(neste caso, assumida por um usurio), ter um apoio de assessoria (articulada
com o responsvel da atividade), ter uma organizao que vendesse os
produtos, ter uma organizao que permitisse a todos aprender e trabalhar
estando unidos como grupo.
Fortalecer o comunitrio, dar sentido aos processos
Esta proposta no possvel sem a participao de atores que no so
parte do que, comumente, chamado a equipe.
A criao da rede operativa e da rede de recursos operativos pode
ter, entre suas estratgias, a formao de multiplicadores. A formao de
multiplicadores tem, pelo menos, trs aspectos: por um lado trata de resolver o
problema posto pela falta de recursos fnanceiros que os pases investem neste
tipo de programas; em segundo lugar promove o protagonismo dos atores
comunitrios que um elemento indispensvel na abordagem comunitria;
245 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
e, fnalmente, promove uma transformao na representao das equipas de
trabalho incluindo a pessoas, atores que habitualmente no se localizam no
mbito dos profssionais.
8 Multiplicadores: Pretende formar multiplicadores entre os benefcirios durante o
processo teraputico, preventivo e de profssionalizao, para garantir a qualidade das
intervenes. A proposta exige uma postura participativa e construtiva (...) assim possvel
ampliar o raio de ao das atividades e benefciar um nmero maior de usurios em
situao de risco social e seus flhos.
Aquilo que se verifca neste fragmento que os benefcirios das
atividades (os partners das equipes em realidade) asseguram no somente que
se amplie o territrio de ateno, conseguindo incluir a mais pessoas, seno
que sua participao garante a qualidade dos servios. Isto a uma condio: de
que existam processos formativos. Pode-se tambm pensar que este processo
formativo (que tem como objetivo criar ou fortalecer a rede operativa) est
fnalizado na criao de uma minoria ativa na comunidade.
Segurana e continuidade: a comunidade como rede
O trabalho de rede tem tambm a funo de garantir a segurana de todo
o sistema de tratamento comunitrio, como diz claramente este fragmento
retirado das propostas de CAPS AD comunitrio. Entende-se efetivamente que
o trabalho em comunidades de alto risco apresenta situaes de risco e se,
alm disto, se adota uma estratgia de baixo limiar os riscos no podem ser
diminudos criando espaos fechados. o trabalho de redes e com redes, o
processo pelo qual se constri segurana.
9-Trabalho de rede: Em situaes de extrema excluso, violncia grave, pobreza,
organizao social baseada em processos de resilincia e sobrevivncia podem ser
impossvel iniciar aes que garantam a segurana do operador, da pessoa ajudada e
dos resultados. ento importante construir um cenrio de segurana mnima, por isso
o trabalho na comunidade local se inicia pela construo de um cenrio no qual se possa
trabalhar chamamos a este cenrio dispositivo o set. (Fonte: Efrem Milanese, Manual do
tratamento comunitrio verso espanhola)
Como se viu na segunda parte, o ponto de partida do tratamento
comunitrio consiste em construir o dispositivo e uma de suas caractersticas
a de garantir segurana a todos os atores que esto implicados nele.
A construo deste dispositivo um trabalho que inicia com a maneira
246 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
com a qual se pensa a comunidade. O que uma comunidade? O que
uma comunidade de alto risco? Produzir um conceito dar palavras a uma
representao, imaginar relaes, construir possibilidades.
O trabalho na comunidade foi iniciado porque nenhuma organizao ou instituio pode
resolver por si s os problemas que se encontram em uma comunidade local e que s com
a participao da comunidade local e seus recursos possvel melhorar algumas de suas
situaes e s vezes resolver positivamente algumas de suas necessidades.
O primeiro passo na construo deste conceito reconhecer um fato de
realidade: ningum numa comunidade local pode fazer frente s difculdades
da comunidade por si s.
Em nossa proposta dissemos que uma comunidade um conjunto de redes que funcionam
tambm como sistema. So essas redes e as inter-relaes entre elas que produzem e do
vida s pessoas, que produzem o social, a comunidade. (Fonte: Efrem Milanese, Manual do
tratamento comunitrio verso espanhola)
A comunidade so pessoas organizadas em redes, mesmo que as redes
no sejam visveis. Esta ltima estratgia proposta pelos parceiros brasileiros,
encerra o crculo do processo no ponto no qual o processo se inicia: o trabalho
de redes. Isto signifca que este trabalho de rede um instrumento com
o qual se inicia a construo do dispositivo e com o qual este renovado
periodicamente.
Uma equipe, uma rede operativa
de alta complexidade e baixo limiar
A realizao destas atividades e sua articulao em um processo unitrio
exigia no somente a presena de recursos humanos com conhecimentos e
capacidades diferentes e diferenciadas (aqui tambm com a presena de um
psiquiatra, enfermeira, profssionais e tcnicos), mas sim uma estratgia que
articulava cada uma das pessoas implicadas com as outras.
O fragmento que se apresenta agora ilustra como a presena das
diferenas foram articuladas respeitando, ao mesmo tempo, a necessidade do
baixo limiar e de alta complexidade.
Cada pessoa da equipe contava com um apoio de usurios e um apoio na comunidade.
Por exemplo, S. que era psiclogo, tambm atuava como apoio no trabalho de A. que era
>
247 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
o responsvel da lavanderia e tinha como referncia na comunidade de VR a F., uma lder
comunitria que nos emprestava a casa para que fzssemos os grupos.
Como se ao construirmos a engrenagem CAPS ad, drop in e aes comunitrias houvessem
os especialistas (expertos) para cada ao e integrssemos os vrios grupos, cada um com
a sua funo precisa, mas complementando a funo do outros. (...) por exemplo o A. no
CAPS AD era motorista, mas na comunidade era lder e, ao mesmo tempo, professor do
curso de tapete e aluno no curso de vidro.
Cada funo que eles assumiam nesta engrenagem traziam para ela suas redes. Esse
movimento em engrenagem fexvel e dava poder a todos, ao mesmo tempo os fazia
colaboradores e coordenadores.
Aprendemos aqui que o primeiro passo era ter pessoas da equipe
com diferentes caractersticas profssionais, como exigia a normativa da
poltica pblica. O segundo passo era criar uma articulao com os contextos
operacionais: dentro do CAPS AD e no exterior (rua e comunidade). Neste caso,
a escolha foi que todos os membros da equipe operavam no CAPS AD e na
comunidade. O terceiro passo foi o de articular as pessoas entre si. A escolha
aqui foi criar uma rede para que todos apoiassem todos. Como em um jogo
de xadrez em que um bom jogador sempre apoia uma pea com outra, sem
negligenciar nenhuma, S. apoia o trabalho de A. (que responsvel pela
lavanderia no CAPS AD) e apoiado, quando trabalha na comunidade, por
F. que por sua vez suporta, etc. Se fzermos uma matriz desta articulao em
rede se observaria uma alta densidade, que atestaria a fora das interconexes
entre os membros da equipe. Por outro lado, F. no um membro da equipe,
se excede assim as fronteiras da equipe para entrar no territrio da rede
operacional (ver acima a questo de multiplicadores).
O quarto passo introduz o tema da complexidade no contexto das
diferentes tarefas que uma pessoa executa, A. no CAPS AD era motorista, mas
na comunidade era o lder e, ao mesmo tempo, professor do curso de tapete,
e aluno no curso de vidro. Para que isso seja possvel sem criar confuses se
necessita uma disciplina operativa muito rigorosa, de reunies de equipe,
de superviso. Se entendeu que quanto mais complexo um sistema, mais
frgil ele ; por consequncia se necessita mais atividades que reparem as
consequncias de sua fragilidade. A articulao da complexidade se torna,
todavia, mais crucial quando se do situaes como a seguinte: Montamos
uma ofcina de silk screen, com um dos usurios responsvel e havia uma
meta de produtos que deveriam ser silkados no dia. Neste caso a mesma
pessoa usurio em tratamento, responsvel de uma atividade produtiva e
como tal, membro da equipe operacional. Como membro da rede operacional
248 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
est articulado com outras pessoas que consomem que podem ser seus
recursos, que ao mesmo tempo podem ser benefcirios do projeto. Ainda
que s vezes tenha muito sentido que em um sistema de tratamento existe
uma demarcao clara e rgida entre pacientes e terapeutas, se observa
que nesta experincia de tratamento comunitrio esta demarcao s vezes
tem mais um sentido de obstculo e resistncia que um sentido de busca
da melhor soluo prtica, da melhor abordagem em termos de efccia e
efcincia.
Da proposta aco
Passar da proposta para a ao implicou uma mudana de cultura de
toda a equipe e da rede operativa. Isto produziu difculdades que produziram
outras estratgias e abordagens enriquecendo o leque de respostas.
Alguns meses depois, em 2006 inauguramos o CAPS Ad Comunitrio. Tivemos que mudar
de casa, e conseguimos que esta fosse alugada pela prefeitura. A inaugurao contou
com prefeito, secretrio e tudo de direito, mas fcou famosa porque fora dela havia muitos
meninos fumando maconha e os boatos de que estvamos liberando a droga chegaram
ao mbito nacional.
Trabalhar com uma tica de muito baixo limiar e de participao tem suas
consequncias. Neste fragmento se observam algumas. A mais visvel que a
fronteira de separao entre o mundo dos servios j no fronteira clara se
no uma linha muito sutil, isto signifca baixar o limiar. compreensvel que isto
produza reaes e difculdades. Estas indicam que existe uma cultura e que
necessrio mudar. Se queremos que as pessoas se aproximem e participem,
se queremos que pessoas (consumidores de drogas) sejam parceiros para
poderem se emancipar do uso de drogas, talvez seja mais produtivo no
escandalizar-se se no deixam as drogas como condio para ser nossos
parceiros, e estar satisfeitos se nossa parceria promove uma emancipao da
droga.
Esta parceria um desafo tambm para os membros da equipe operativa,
porque implica uma mudana das condies de trabalho. O dispositivo do
tratamento comunitrio combina o mais baixo limiar com mdio ou alto limiar.
A lgica de correlao entre alto limiar e alta complexidade oferece segurana
aos membros da equipe, mudar essa lgica possvel, necessrio fazer-se
cargo das resistncias e das difculdades que isto produz.
249 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Todos os membros da equipe, do psiquiatra ao redutor, assistente de limpeza faziam
metade de seu horrio de trabalho nas comunidades nas quais atuvamos. Inicialmente
foi difcil de administrar esta proposta, pois tivemos que lidar com as resistncias de alguns
membros da equipe que sentiam-se menores e desvalorizados com este movimento em
direo ao usurio e a comunidade.
Um dispositivo de trabalho tambm um dispositivo de poder, poder
que necessrio para o tratamento sendo que as relaes assimtricas so
preciosas para produzir movimento, para mobilizar. O problema pode ser
que no tratamento comunitrio so modifcados alguns elementos nos quais
se baseia esse poder. Entre os elementos que se modifcam se encontra
o contexto no qual se constri e estabelece a relao. Este no depende
somente da capacidade do paciente em adaptar-se ao dispositivo relacional
da cura (respeitando as assimetrias profssionais), mas tambm na capacidade
do terapeuta de adaptar-se a um contexto de cura que no respeita os
parmetros clssicos de sua profsso (por isso se chama de baixo limiar), isto
, que modifca profundamente as assimetrias. A gesto da transformao da
equipe um dos instrumentos que permite e favorece esta transformao.
Um pouco de frmeza e valorizao do trabalho feito na comunidade, foi sufciente para
que aos poucos a equipe fosse entendendo e gostando desta aproximao em outros
mundos do usurio, seu contexto de vida, suas histrias.
Por valorizao do trabalho realizado na comunidade se entende: a
explicao e a compreenso do sentido que tem o estar ali nos lugares de vida
das pessoas, sentido em termos de continuidade dos processos de tratamento,
gerenciamento das recadas e das interrupes dos processos, manuteno de
um marco de relaes que do segurana a todos, etc. Para isso, o instrumento
de trabalho utilizado foi o gerenciamento integrado de casos.
Difculdades e respostas
A implementao do CAPS AD comunitrio seguindo a proposta do
tratamento comunitrio se enfrenta tambm com outros tipos de difculdades
(algumas foram encontradas na descrio dos outros servios). A primeira tem
a ver com a reao da populao na qual o CAPS AD foi estabelecido.
Uma das primeiras difculdades foi com os vizinhos. O bairro era de moradores de classe
media, fcava em um lugar estratgico, pois era central as principais comunidades nas
quais atuvamos e tambm muito prximo de um terminal urbano de nibus.
>
250 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Nas primeiras semanas as ruas tranquilas do bairro passaram a acolher jovens, pessoas
embriagadas que cometiam pequenos roubos, faziam barulhos e usavam constantemente
drogas nas esquinas.
A implementao deste tipo de servio em uma comunidade tem
implicaes na vida cotidiana dessa comunidade. De nenhuma maneira um
fato neutro. Este exemplo ajuda a entender tambm o que sucede quando
se estabelece ou se tem a inteno de estabelecer um centro de trabalho de
baixo limiar em uma comunidade de alto risco e, fnalmente, cada vez que se
promove uma iniciativa que detenha os processos de excluso fortalecendo
aqueles que incluem. Neste caso, aquilo que se estavam propondo era um
processo de incluso de um grupo de pessoas (talvez nem sequer um grupo),
em um contexto de vida de uma comunidade.
Uma parte da difculdade dependeu que pelos prazos das polticas
pblicas no foi possvel iniciar nesta comunidade adotando a mesma
estratgia (SIDIEs) utilizada nas comunidades de alto risco: identifcao dos
lderes de opinio, construo e fortalecimento de redes, temas geradores,
confitos e solues, mitos e ritos, etc. Em poucas palavras, no foi possvel
construir um dispositivo comunitrio que permitisse e fortalecesse o
estabelecimento do CAPS AD comunitrio. Como diz o fragmento citado: isto
tem consequncias!
O primeiro movimento foi o de chamar a polcia o que no adiantou muito e passaram
ento a denunciar o CAPS pelas rdios, televises, prefeitura e jornais.
Mais de uma vez tive que comparecer s rdios para dar explicao pblica sobre a
exagerada permissividade da equipe para com os usurios. Na ltima delas, eu disse,
no me defendendo, mas convocando Estamos buscando desenvolver um trabalho srio,
achamos que ele srio, reconhecemos que existem alguns problemas e estamos tentando
san-los. Peo a cada um de vocs que venham at ns para dar ideias, para pensar e
refetir conosco. Com certeza juntos vamos fazer muito melhor. Estamos disponveis para
solues ao invs de crticas. (mais ou menos assim)
Me lembro como se fosse hoje, o locutor se calou e eu fquei meio perdida sem saber se falava
mais ou no. Voltando da rdio pensei que deveramos fazer uma festa de apresentao do
CAPS para os vizinhos e convidamos todos para um ch da tarde.
Alguns vieram, outros mandaram representantes, mas o convite acabou quebrando
um pouco a barreira e conseguimos com eles doaes, e at uma voluntria para fazer
culinria.
Estas linhas resumem bem as peripcias destas iniciativas, mas tambm
seu impacto, o impacto que se busca e o impacto que na realidade se obtm. Este
fragmento ilustra tambm como se podem enfrentar as situaes: convocando!
251 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
A lio aprendida aqui tambm que ainda nas melhores condies
(pouco frequentes) impossvel fazer as coisas exatamente como se desejam
fazer, para isso se necessita disciplina metodolgica na implementao de
aes, fexibilidade e capacidade de reconhecer os limites e de pedir ajuda,
convocando as pessoas que vivem nas comunidades.
Apresentou-se esta difculdade e a resposta encontrada para concluir
a apresentao desta experincia ressaltando sua complexidade: esta
experincia est interconectada com todos os nveis da vida da cidade,
nveis que precisam ser reconhecidos, aprendidos e respeitados e, quando
necessrio, mudados.
Centros de alto limiar e mdia complexidade:
comunidades educativas
O trabalho nas comunidades educativas vem sendo implementado desde
o incio do desenvolvimento do tratamento da comunidade em 2002. O trabalho
nas instituies de ensino levanta algumas questes que no se pode evitar.
At que ponto uma instituio de ensino (uma escola, uma escola
primria, uma universidade) pode ser considerada uma comunidade? Voc
pode comear a responder a esta pergunta com outra pergunta: Quais so
as caractersticas comunitrias de uma instituio que podem ser usadas
para desenvolver o Tratamento Comunitrio do consumo problemtico de
droga e de excluso social? A partir disso, derivam algumas diretrizes para
algumas respostas. Se em uma instituio escolar h redes (redes de lderes
de opinio, por exemplo), se essas redes ajudam a defnir e a dar signifcado
vida cotidiana desses contextos, se possvel desenvolver uma equipe,
uma rede comunitria subjetiva, uma rede de recursos comunitrios e assim
por diante, em uma palavra, se possvel desenvolver um dispositivo de
tratamento comunitrio (atravs do SIDIEs), ento uma instituio de ensino
tem as caractersticas mnimas que podem ser consideradas como se fosse
uma comunidade, mesmo que ela continue a ser uma instituio. Isto signifca
que uma instituio que tem algumas formas de vida e desenvolvimento que
lhe permitem implementar uma abordagem comunitria.
No se trata de estabelecer-se uma instituio educativa ou no uma
comunidade, mas estabelecer quais so as caractersticas comunitrias dessas
instituies e quando voc pode implementar uma abordagem de tratamento
comunitrio.
252 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Um exemplo e alguns comentrios
Um centro de baixo limiar em uma
instituio educacional pode no ser um
lugar fsico onde as pessoas se encontram,
pode ser um lugar simblico que criado
cada vez que uma rede operacional se forma
e trabalha, pode ser um jornal mural que
permanece 24 horas, um caminho de cores
desenhado no asfalto na entrada da escola,
uma histria em quadrinhos com dez desenhos que aparecem a cada duas semanas,
uma placa de mensagens deixada pelos moradores da instituio, seminrios, cursos,
ofcinas, uma cano popular ou um rap, uma pgina de poemas, um conto e todas
as oportunidades de encontro, de ao em grupo e de expresso, o canto, o teatro
ou qualquer outra forma de arte, ou qualquer outra forma de criar organizao, para
tomar conta da qualidade das relaes entre pessoas e com seu meio ambiente.
Trata-se agora de ilustrar isto por meio de um experimento realizado em uma
escola na Colmbia, localizada em uma rea de alta vulnerabilidade, na qual alguns atores
(principalmente professores) comeam a se perguntar o que fazer frente ao consumo de
droga dentro escola e seus arredores e com situaes de gravidez precoce. Ento, entram
em contato uma organizao que comea a implementar um processo comunitrio.
Primeiro contato das solicitaes s demandas
O que queremos dizer que (...) representantes dos professores do Colgio estabeleceram
contato conosco interessados, em particular, no trabalho com um ator especfco: os
jovens (isto foi a partir de 2006-2007).
Representantes dos professores expressou um pedido de ajuda, eles
so a porta de entrada nessa comunidade educacional. A tarefa da equipe de
trabalho da organizao agora gradualmente incluir outros atores e transformar
esse pedido de ajuda.
Surgiu ento a necessidade de construir uma proposta com a populao juvenil, assim nasceu a
ideia do projeto que mais tarde se chamou El Faro. (2007). Outros atores entram em processo e
nasce uma ideia que ajuda a identifcar um horizonte comum. O caminho para chegar at l ainda
no estava traado, este o trabalho que fca por fazer. Este projeto que tinha como propsito
emergente gerar uma estratgia de educao para a sexualidade e preveno do consumo de
substncias psicoativas (esta era a demanda dos professores e da direo) e como inteno de
fundo (estratgia), implementar um dispositivo de redes sociais e interveno comunitria para
produzir respostas para jovens com a comunidade educativa do colgio. (Fonte: Colmbia)
253 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
A equipe decide tomar a petio dos docentes como ponte de partida
para a ao (este o ponto de vista ttico), mas a estratgia busca criar um
dispositivo por meio da criao de redes. E inicia o trabalho.
Construir redes
A estratgia que permitiu-nos desenvolver e assegurar a coerncia e as sinergias das duas
componentes (ttica e estratgia) foi o estar l. O estar l com os jovens desta escola era
a prioridade para o projeto El Faro. Estar l como forma de acompanhamento permanente
permitiu conhecer as redes sociais, lugares de encontro, contextos familiares e dinmicas
institucionais. Estar l signifca ir de manh e sair noite ou na manh seguinte, o viver
l, ver e ser visto, ouvir e ser ouvido, participar na vida diria, ser inserido em atividades
comunitrias existentes, viver os lugares e os ritmos, as ruas, os locais de trabalho, o
entretenimento, a cultura, o sofrimento tambm. Estar l signifca diminuir as fronteiras
da escola e entrar em seu contexto, em lugares onde os jovens se renem e vivem antes
de entrar na escola e depois de ter ido embora, signifca estar onde eles comeam a usar
substncias, onde so os protagonistas, que defnem os seus territrios e suas regras, onde
eles constroem seu mundo.
Estar ali tambm a maneira para transitar pouco a pouco do conceito
de equipe ao conceito de rede operativa, e ento a maneira para construir
redes subjetivas comunitrias. assim que no processo se consegue construir
as pedras angulares do tratamento comunitrio. Entretanto estar ali no
sufciente, mesmo sendo a base da relao afetiva.
Construir conhecimentos por meio de relaes e vice-versa
Em 2007, com a participao dos atores da comunidade escolar, dos estudantes de
medicina comunitria da Universidade e alguns membros da equipe da Fundao se
desenvolveu a primeira parte do SIDIEs: se levantou a rede de recursos (em particular redes
de lderes de opinio formal e informal), de pessoas e atores, de lugares signifcativos, de
histrias, de mitos e lendas desta comunidade urbana (no prdio da escola e o lugar onde
est localizado) e atravs deste processo se construiu coletivamente uma modalidade de
ateno na comunidade escolar para questes relacionadas sexualidade, uso de drogas
e violncia. (Fonte: Colmbia)
Constitui-se ento esta rede operacional que combina pessoas que
pertencem comunidade escolar (professores e alunos) e pessoas externas
(membros da equipe da organizao, estudantes universitrios, etc.).
uma mistura de pessoas e de olhares que implementa o SIDIEs e por este
meio transformado, se transforma e se constitui como equipe, como rede
operacional.
254 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
No processo de construo do dispositivo, em particular, tomam lugar
importante os pedidos manifestados pelos atores que tm entrado em
contato a Fundao. Estes pedidos no so descartados, mas integrados em
um processo estratgico. Esta a funo das atividades de vinculao.
Os temas tinham sido previamente indicado pela comunidade escolar (professores e
diretores), sendo que eram fontes de grande interesse para eles; eram ento o seu pedido
at a equipe, uma porta de entrada (um pretexto, se quiser) para trabalhar dirigindo-se
comunidade e as redes de atores que a constroem, a produzem, reproduzem, transformam
e animam. Foram desenvolvidas, ento, aes para preveno do consumo de drogas e
lcool com professores e alunos, ofcinas de educao e convivncia, formao cidad e
algumas aes de apoio escolar. Chamamos essas aes de aes de vinculao, que
servem para conhecer tecendo relaes, isto , propondo tambm e, simultaneamente, a
possibilidade de uma mudana nas relaes entre os atores. Assim, o diagnstico se faz
ao preventiva e a ao de preveno instrumento e oportunidade de conhecimento e
mudana. (Fonte: Colmbia)
Enquanto o dispositivo construdo surgem novas necessidades e
demandas. Estas so tambm o resultado da participao de novos atores (os
alunos neste caso) e das relaes que se do no novo grupo/rede de trabalho.
No somente droga, sexo, violncia, mas tambm educao para a cidadania,
direitos humanos, relaes, convivncia civil, etc.
Para 2008 se fortalece o consenso sobre a necessidade de desenvolver na comunidade escolar
(escola) estratgias de educao para a sexualidade, o que leva o nome de Projeto Sexo.
Com a participao de alunos e professores foram adaptados os mdulos de educao
sexual da Universidade de Antioquia e, durante cinco meses, foram realizadas ofcinas com a
participao de crianas, professores, pais e membros da equipe da Fundao.
A lio aprendida a partir desta experincia que no necessrio
inventar tudo, que podemos inovar transformando o existente, e que o
processo de preparao de materiais de trabalho , em si, uma experincia de
aprendizagem para todos, mesmo para aqueles que esto acostumados a se
chamar de benefcirios das aes.
O fato de que eles comeam a implementar
aes no mbito de um projeto no signifca que
o trabalho de diagnstico (SIDIEs) est concludo,
esse um trabalho constante. O objeto central do
diagnstico o relacionamento, e estes esto em
constante evoluo, pela mesma razo, o diagnstico
deve tambm estar em evoluo constante.
255 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
As principais realizaes foram a descoberta e o fortalecimento de vnculos e relaes,
a construo de novos vnculos (ou seja, um efeito de rede impactante) e, por sua vez, o
efeito e fator de estabelecimento de confana, segurana e legitimidade, da possibilidade
de realizar o mapeamento da rede de recursos institucionais e comunitrios. Outras
realizaes incluem: desenvolvimento de uma rede mista composta por estudantes,
professores universitrios, operadores comunitrios da organizao, tcnicos e voluntrios,
o envolvimento do Hospital Centro Oriente e da Secretaria de Sade, e depois a formao
dos pares, o treinamento de operadores que acompanharam o processo de planejamento
e execuo de aes na companhia de estudantes universitrios e membros da equipe.
As ofcinas so lugares onde todos participam na construo de um
produto comum a partir de matria-prima (conceitos e conhecimento de
base), apresentados pelos atores que prepararam os materiais prprios (so
membros da rede operacional). O que produz estas ofcinas? Produzem
resultados para as pessoas que participam, mas tambm produzem mais
relaes, mais conhecimento e, sobretudo, mais organizao, mais dispositivos,
mais comunidade. Estes so os resultados estratgicos.
Resultados e aberturas do dispositivo
Estes resultados conduzem o enriquecimento da abordagem
implementando, sobre a base da preveno, aes de tratamento comunitrio.
Com base na experincia do primeiro semestre de 2008, os resultados produzidos em
termos de recursos e relaes, comearam a delinear aes de Tratamento Baseado na
Comunidade (CBT) e gerenciamento integrado de casos (SIC). Tinham-se, ento, dois
processos, ou um processo com dois componentes. O primeiro foi o processo bsico, o que
garante a vida diria da comunidade. Chamamos este processo de preveno. O segundo
(gerenciamento integrado dos casos) s ser possvel se o primeiro ainda estiver vivo e forte.
Este processo com dois componentes ou estes dois processos estreitamente
articulados so o resultado do trabalho que satisfaz os pedidos iniciais (em especial o
gerenciamento integrado casos). O que peculiar do tratamento comunitrio e visvel
aqui que essas aes no so o resultado de uma equipe de uma organizao, mas um
dispositivo que foi construdo dentro da comunidade com seus atores comunitrios. O
gerenciamento integrado de casos possvel porque a rede operacional incluiu alunos
da escola, professores, membros da equipe da organizao, universitrios em prtica
profssional, os membros da comunidade na qual est localizada a escola, a famlia dos
alunos, etc. a existncia desta rede operacional (resultado estratgico) que permite
resultados obtidos tambm em um nvel mais ttico: acompanhamento de casos
individuais ou pequenos grupos de alunos.
256 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
O estar l era a prioridade para o projeto El Faro. O apoio permanente permitiu conhecer
as redes sociais, lugares de encontro, contextos familiares e dinmicas institucionais. Ao
mesmo tempo, com ofcinas de sexualidade realizadas e apoio escolar, surgiram vrios
casos de abuso, violncia sexual, outras violncias, abuso de drogas e lcool, as famlias
que vivem com HIV e da delinquncia juvenil, entre outros.
O estar l de maneira organizada e criativa a estratgia para manter
vivo e vital o dispositivo, para transform-lo e acompanh-lo em suas
transformaes e para que este se abra at novos cenrios.
O dispositivo se abre quando emerge o que se encontra na pana secreta
da comunidade: quando se pode falar abertamente sobre os problemas e as
pessoas que os vivem, quando os nomes e adjetivos no signifcam denncia,
rotulagem, estigma, mas conhecimento, relao de apoio, acompanhamento.
Por essa razo falamos de dispositivo de tratamento comunitrio.
Se o iniciado e construdo na comunidade escolar consistente (ou seja,
se foram construdas redes e relaes baseadas na cooperao e na confana),
o cenrio se abre at a comunidade em que a comunidade escolar est
localizada.
Atravs dos meninos entramos em relaes de alta complexidade com os atores
comunitrios (comunidade escolar e comunidade local na qual a escola est inserida),
mediadas pelo medo e angstia, no entanto, esta entrada nos permitiu aprender mais
sobre o territrio e o cotidiano do setor: pudemos construir relaes com as famlias
e conhecer setores de difcil acesso e condies precrias como as ruas do Bronx. Os
jovens comearam a apoiar os pais e mes com problemas de droga e alguns deles se
envolveram em outros processos de trabalho comunitrio prestados pela Fundao.
Aquilo que se aprendeu a fazer na comunidade educativa comea a
ser feito tambm na comunidade aberta, com os mesmos protagonistas.
O que se observa aqui que a organizao que animava o processo estava
implementando aes de tratamento na comunidade na qual se encontra a
escola, antes de comear seu trabalho com a instituio educativa. apenas
em um segundo momento que os dois processos se entrecruzam criando
sinergias. Ter trabalhado nessa comunidade local fez da organizao e de
sua rede operativa um recurso competente que a escola tem procurado. Ter
trabalhado na comunidade escolar permitiu a rede operativa da organizao
alcanar alguns territrios comunitrios nos quais no tinha podido chegar.
Por meio desta experincia se aprende que os territrios comunitrios
so quase infnitos, que a explorao uma experincia constante, que
257 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
novos lugares reais e simblicos surgem e se formam com continuidade.
Por consequncia, estes lugares, fazem visveis as novas redes de lderes que
modifcam as redes existentes. Estas transformaes sugerem que necessrio
seguir construindo conhecimento, diagnstico e relaes.
Desafos, possibilidades e difculdades
Como vimos nos ltimos pargrafos, trabalhar em uma comunidade
educativa no signifca trabalhar em um territrio no qual tudo coerente e
linear. Ali mesmo se encontram situaes de confito, estigmas, discriminao
e grave excluso.
Os jovens do colgio so tambm objeto de estigmatizao pela fora pblica. Em uma
ocasio se permitiu a polcia entrar no colgio e revistar as malas dos jovens, em uma clara
violao de seus direitos. Este fato foi autorizado pela escola. Este episdio foi narrado por
um dos operadores da seguinte maneira:
O atropelamento cometido pela polcia no tem explicao alguma, inconcebvel que
uma criana estudando seja tratada como um delinquente. Eu sei que existem alguns
deles (as) que andam armados, porm este tipo de solicitao deve ser feita fora da
instituio educativa. Sa do curso quando vi como um regimento militar entra no Curso
502. A professora e os estudantes faziam a atividade de poesia ertica. Estava falando
com a professora quando entraram 1 tenente mulher, 1 patrulheiro e 4 alunos (policias)
e disseram: os homens de um lado e as mulheres do outro. Ento comearam a revistar
aos alunos e depois seus pertences. Ademais colocavam as mos dentro de suas malas. A
professora fcou irritada, manifestou sentir-se insultada e assaltada. Eu senti como se isto
no fosse um espao educativo, mas sim uma priso de mxima segurana, eu perguntei
ao patrulheiro a que se devia isto e ele me respondeu que foi coordenado pelo diretor e a
polcia comunitria.
Seria muito fcil limitar-se em dizer que a interveno da polcia no
foi adequada, no oportuna. Aquilo que se pode observar aqui que este
acontecimento foi tambm favorecido pela posio da direo da instituio
educativa. justo ento considerar como a rede operativa e a organizao
que anima o projeto haviam construdo
sua relao com esta rede de lderes, como
haviam criado ou no criado as sinergias,
acordos operativos, congruncias.
A lio aprendida neste caso que
tambm a construo de redes e seu
fortalecimento uma tarefa constante do
tratamento comunitrio. Pode-se pensar
que assim como foi feito, essa demonstrao
258 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
de foras da polcia foi traumtica; esta uma ferida a nvel individual, mas
no somente, e tambm no nvel das relaes entre alunos e direo da
escola. uma declarao de impotncia e desconfana, tambm de raiva e
agressividade. Encarregar-se de transformar estas relaes (e suas emoes)
tarefa do tratamento comunitrio.
Enquanto que no sua tarefa descarregar a responsabilidade disto
sobre os alunos fazendo os pacientes, enfermos, pessoas com problemas que
necessitam de tratamento.
Por outra parte, vimos como os estudantes so estigmatizados por alguns professores e
diretores da escola, por isso que comeamos a trabalhar com o comit de convivncia, que
o rgo que toma as decises disciplinares do colgio.
Este curto fragmento ilustra a resposta organizada que a rede operativa
deu a este acontecimento. No se trata de limitar-se em protestar, e sim iniciar
novamente as redes, as redes de lderes de opinio (incluindo a polcia, se
possvel). desta maneira que se produzem mudanas estruturais garantindo
uma razovel permanncia dos resultados e impactos mais profundos.
Resultados
Um dos desafos do tratamento comunitrio a necessidade de integrar
os processos de cima para baixo com os processos de baixo para cima e vice-
versa. A difculdade que se acaba de descrever ilustra quais podem ser as
situaes que se apresentam. possvel, mesmo assim, encontrar respostas sem
que estas sejam permanentes e sempre coerentes: coerncia e continuidade
no so caractersticas das respostas encontradas sem a continuidade do
esforo e do trabalho que se investe para manter e transform-las.
Uma das conquistas () foi a de poder participar do Comit de Convivncia do colgio. O
comit de convivncia uma instncia obrigatria na estrutura institucional da educao
distrital, o encarregado de dar respostas aos casos problemticos de comportamento
que no conseguiram ser solucionados nem pelo diretor do curso, quem a primeira
instncia, nem pela orientadora, que a segunda instncia. Sua obrigao revisar os
casos, conseguir provas ou solicit-las e proferir um diagnstico ou recomendao. ().
Este comit deve estar constitudo pelas coordenadoras, a orientadora e um professor
ou professora representante de cada rea de conhecimento, mais uma professora
representante do primrio.
O comit de convivncia uma instncia ofcial desta comunidade/
instituio educativa. Por consequncia um de seus atores mais importantes,
259 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
principalmente quando um se refere ao tema da incluso/excluso. tambm
o lugar no qual se descarregam os fracassos de outras instncias tambm
ofciais. Poderamos dizer (em termos um pouco tcnicos) que o centro de
escuta da instituio educativa (ou uma espcie de rede operativa), mesmo
assim, pelo menos em aparncia, dedica-se mais tarefa de determinar
medidas de incluso/excluso que de curar relaes.
O trabalho entre o comit de convivncia e a equipe da organizao iniciou-se a partir de
uma reunio realizada com a coordenadora e um diretor do curso os quais se acercaram
para consultar o caso de A. (um estudante com quem havamos tido j alguns contatos).
Das falas com o jovens se deduzia que o consumo de drogas no colgio era muito maior
dos que estavam dispostos a admitir os professores, que era importante mediar na resposta
que a instituio dava a estes casos para no propiciar maiores condies de sofrimento.
Por isso, a coordenadora sugeriu que deveramos estar no comit, posto que chegavam os
casos dos jovens com problemticas associadas ao consumo de drogas.
O caso de A. a porta de entrada no comit de convivncia e tambm
a inteno por parte de alguns lderes do comit de buscar outras formas de
abordagem aos casos problemticos. Essa coincidncia permite aprender
algumas lies. A primeira que a porta de entrada pode ser qualquer uma.
O importante que por meio das aes de vinculao seja possvel fazer ver
que algo diferente pode ser feito. Por meio disso, a nova abordagem atinge
outras redes (isso um dos sentidos de estar ali). A segunda que no interior
de uma rede quase sempre possvel encontrar a algum que tem interesse
em escutar, em buscar uma maneira diferente de abordar uma difculdade. Esse
ponto fxo constitui uma porta de entrada. A terceira que as primeiras respostas
podem ir ao sentido de no piorar a situao, mais que no sentido de resolver
o problema (admitindo que isso possa ser possvel). Procurar imediatamente a
resposta ao problema signifca tirar autoridade e responsabilidade s instncias
dessa instituio, ou seja, debilit-las.
Desde essa data participamos uma ou duas vezes no ms. Ante a quantidade de casos,
as reunies foram mais frequentes (uma por semana). Nos primeiros meses o trabalho
foi de adaptao, entender as dinmicas de relao que se d em grupo (os efeitos da
rede), as temticas e os problemas que ali se resolvia, a maneira como eram resolvidos.
Foram apresentados frequentemente relatrios parciais das atividades desenvolvidas
com os estudantes remitidos por eles, se refetiu com eles o conceito de reduo de danos
a partir dos casos que eram tratados. Deu-se nfase a temas como relao de ajuda,
escuta emptica, resposta emptica, relaes simtricas e assimtricas, e a discusso da
pedagogia do maltrato e a humilhao.
Se os casos seguem sendo o tema gerador e articulador das reunies
260 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
de trabalho com o comit, no fnal esses casos so um pretexto para mudar
aos poucos de paradigma: aquilo que a equipe da organizao prope
implicitamente um processo formativo. Modifcar a representao social
desses casos signifca modifcar a relao, modifcar as relaes signifca criar
novas possibilidades de encontro, de maneira que a expulso pare de ser a
nica resposta. Durante este processo formativo se constri tambm uma
mensagem de fundo: que eles (os formadores) so os responsveis principais
da gesto desses casos no interior da instituio educativa. Para que eles
possam assumir essa responsabilidade, necessrio que alguns elementos
da comunidade sejam includos no campo das relaes e dos regulamentos;
e graas a isso que a incluso ter mais probabilidades de ser concluda em
relao excluso. Como pode se entender, isso no requer s competncias
e conhecimentos, mas tempo.
Depois de uns meses, os integrantes do grupo comearam a considerar com maior
interesse a participao da equipe da organizao e a retroalimentao que era feito
neles, onde fcava em evidncia as situaes de contexto em que os jovens vivem e que
eles desconheciam. Isso ajudou a moderar as respostas institucionais e a se questionar as
metas das decises do comit. Conseguiu-se, atravs desta interveno, que oito jovens
no fossem expulsos como primeira medida de resposta, e que mantiveram o interesse
em outro jovem que j tinha sido expulso. Nossa interveno permitiu que os professores
confassem nos jovens que violavam a lei e que, em lugar de tir-los da escola, receberiam
tarefas como castigo e alternativas de uso do tempo livre.
Os resultados no so impossveis de atingir, pelo contrrio. Aqui tem
pelo menos dois tipos: o comit foi integrado nos processo do centro de escuta
desta comunidade educativa. Isso foi possvel sem modifcar o limiar desta
entidade (eles convocam aos membros da equipe, eles defnem os temas,
eles defnem quando tem reunies), desta maneira no se comprometem as
defesas bsicas desta entidade. Por outro lado, foi modifcada a complexidade:
ela incrementou-se com a incluso de novos atores (os membros da equipe da
organizao) o qual produz novas relaes, o que produz novas representaes,
e da novos conceitos, critrios, regras, relaes. A complexidade, no fnal,
mudou o sentido do limiar.
261 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Bibliografa
Bourdieu, P. (1980). Le capital social. . Actes de la recherche sociale , 2-3.
Brofenbrenner, U. (1987). La Ecologa del Desarrollo Humano. Buenos
Aires: Paidos.
Durkheim, E. (1898). Reprsentations individuelles et reprsentations
collectives. Revue de Mthaphesique et de Morale , 273-300.
Esposito, R. (1998). Communitas, Origine e Destino della Comunit.
Torino: Einaudi.
Esposito, R. (2002). Immunitas, Protezione e negazione della vita. Torino:
Einaudi.
FAO. (2007). Confict Managment. From http://www.fao.org/docrep/
w7504e/ w7504e07.htm.
Jodelet, D. (1984). Rprsentations Sociales: Phnomnes, concepts et
thories. In S. Moscovici, Paychologie sociale. Paris: PUF.
Korf, D. J. (1999). Outreach work among drug users in Europe: concepts,
practice and terminology. Lisboa: EMCDDA.
Milanese, E., Merlo, R., & Lafay, B. (2001). Prevencin y cura de la
farmacodependencia. Uma proposta comunitria. Mxico: Plaza y Valds.
Moscovici, S. (1979). El Psicoanlisi, su imagen y su pblico. Buenos Aires:
Huemul.
Moscovici, S. (1961). La Psychanalyse, son image et son public. Paris: PUF.
Moscovici, S. (1981). Psicologia de las minorias activas. Madrid: Morata.
Moscovici, S. (1982). The Coming Era of Representations. In J. Codol, J. P.
Leyens, & coord, Cognitive Analysis of Social Behaviour. The Hague: Nijhof.
NACO, N. A. (2003). Guidelines for support to PLWHA Drop in centres.
http://delhisacs.org/naco_pdf/guideline_15.pdf.
Nisbett, R. (1980). The Trait Construct in Lay and Professional Psychology. In
L. Festinger, Retrospection in Social Psychology. New York: Oxford University Press.
Palmonari, A. (1995). Processi simbolici e dinamiche sociali. Bologna: Il
Mulino.
Ross, L. (1977). The Intuitive Psychologist and His Shortcomings: Distortion
in the Attribution Process. In L. (. Berkowitz, Advances in Experimental and
Social Psychology (Vol. X). New York: Academic Press.
Snyder, M., & Cantor, N. (1979). Testing Hypotesis about other People: The
use of Historica Knowledge. Journal of Experimental and Social Psychology ,
330-342.
262 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
Snyder, M., & Swann, W. (1978). Hypothesis Testing Precess in Social
Interaction. Journal of Personality and Social Psychology (36), 941-950.
Sorocaba, M. d. (2010). Catalogo de Soluoes Sociais. Sorocaba.
UNODC. (2003). Abuso de drogas: tratamiento y rehabilitacin. Gua
prctica de planifcacin y aplicacin. Viena: UNODC.
UNODC. (2005). Tratamiento del abuso de sustancias y atencin para la
mujer. Nueva York: UNODC.
UNODC, & WHO. (2008). Principles of Drug Dependence Treatment
(Discussion Paper). Vienna: UNODC-WHO.
263 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
264 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO QUINTO
265 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
TRATAMENTO COMUNITRIO:
CONCEITOS E MTODO
Captulo 06
266 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
ndice do captulo
O Encontro com a Comunidade................................................................00
De onde vem a demanda da Ao Social .......................................................................00
Entrar, Encontrar, Estar Na Comunidade
Encontrar Na Comunidade
Redes: Portas Principais de Entrada em uma Comunidade ..........................................00
Conceito de Rede: Primera Aproximao
Lderes de Opinio: Primera Aproximao
Redes de Lderes de opinio e excluso grave
Construir Um Dispositivo Para A Ao Social (Primeira Parte)
Dispositivos Para O Tratamento Comunitario
Construir Um Dispositivo Para A Mudana
Trabalho De Rua E Comunidade
O conceito e os objetivos
Os produtos
Recomendaes, boas praticas e riscos
Aes De Vinculao
Conceito, objetivos e processos
Difculdades
Boas Praticas e lies aprendidas
Aes organizativas
Conceito, objetivo e processos
Recomendaes, Difculdades e Boas Prticas
Aes na rea da sade
Conceito, Objetivos e processos
Recomendaces, difculdades e boas prcticas
Aes e processos de educao no formal
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difcultades e boas praticas
Animao e iniciativas culturais
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, difculdades, lies aprendidas
Aes de assistncia imediata
Conceito, Objetivos e Processos
Recomendaes, boas prticas e difcultades
267 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
O desenvolvimento de propostas chamadas de tratamento comunitrio na
rea de drogas e excluso grave, pode inserir-se no desenvolvimento dos sistemas
e estratgias de ateno sade mental iniciados com Pinel
1
na Frana em 1800 e
que conduziu a inmeras transformaes at chegar, por exemplo, (e somente um
exemplo) , reforma de F. Basaglia na Itlia (Basaglia, 1979) (Basaglia, 1982) (Basaglia,
1971), que concluiu um perodo de quase quatro sculos durante os quais tratamento
e priso (entendido como separao das pessoas com relao a sua comunidade
de origem e segregao em um lugar fechado) havia se transformado em quase
sinnimos (Foucault, 1961).
Por outro lado na Amrica, a abordagem sistmica da escola de Palo Alto, abriu
o campo da investigao e experimentao de processos que iam alm das fronteiras
da famlia chegando a esboar intervenes na rea comunitria (em particular os
trabalhos de Salvador Minuchin) (Minuchin, 1970). Neste mesmo contexto, encontram-
se os trabalhos de Johan Klefback (na Sucia) que pode ser considerado um dos
investigadores que contriburam para desenvolver a interveno de rede nos anos
setenta (Klefback, 1995) (Dabas & Najmanovich, 1995), apoiando-se em um marco
conceitual consistente e homogneo. (Brofenbrenner, The Experimental Ecology of
Human Development, 1979) o
Por aquilo que se relaciona ao contexto latino-
americano pode-se pensar que com a declarao de
Caracas (Gonzalez-Uzcategui & Levav, 1991) que se iniciam
as bases para uma transformao profunda do sistema de
ateno, implicando fortemente no aspecto comunitrio.
Isto no signifca que este tenha sido o momento de incio
da transformao. mais realista pensar que esse o
1 Pinel introduziu o aspecto moral no tratamento, sua inteno no era a de acabar com
a priso. Mas sim pela fssura do moral penetraram no marco da aproximao com a sade
mental e transformaes que conduziram a algumas modifcaes que hoje se vivem (entre as
quais a criao de alternativas a priso psiquitrica). A posio de Pinel diz M. Schatzman-
na realidade era para que os efeitos do medo fossem mais estveis e duradouros no tempo (o
medo era um dos eixos da cura) ,a infuncia do medo tinha que ser reforada por uma atitude de
respeito at o paciente mental (Forti, 1979).
TRATAMENTO COMUNITRIO:
CONCEITOS E MTODO
INTRODUO
268 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
momento no qual se reconhece uma
corrente subterrnea de prticas que
tentam ser reconhecidas e includas
entre as respostas das necessidades de
sade mental.
Entre as prticas latino-
americanas pioneiras, mencionam-se
aquelas que se originaram a partir dos
grandes movimentos nascidos nos
anos sessenta e setenta: por um lado
as investigaes e experimentaes
sobre o tema da participao e o papel
dos conhecimentos das comunidades
iniciadas na Colmbia por Orlando Fals
Borda (Fals Bord, 1970), (Fals Bord,
1979), pelo outro as contribuies de
Paulo Freire (Freire, 1967), (Freire, 1970
(manuscrito 1968)) no tema da educao
popular. Pode-se tambm pensar que o
tratamento comunitrio, ou pelo menos
uma tica comunitria na sade mental
pode ser encontrada
tambm na articulao
com o trabalho de rede.
No Brasil,
entre as experincias
mais conhecidas de
tratamento comunitrio
est aquela de Adalberto Barreto
chamada Terapia Comunitria
(Barreto, 2005), experincia iniciada
no fnal dos anos oitenta e atualmente
difundida em diversos pases da
Amrica Latina (SENAD, 2010, p. 159).
Pode-se tambm considerar
que em 2001, com o Relatrio
Mundial de Sade (OMS, 2001), que
existe uma tomada de conscincia
sobre a necessidade de construir ou dar
valor aos processos que estabeleam
ou restabeleam um continuum na
ateno, incluindo o sistema de atores e
contextos no institucionais. O relatrio
conclui dizendo: luz dos avanos
cientfcos e tcnicos, as reformas sociais
e as novas legislaes no mundo, no
existem razes ticas ou cientfcas que
justifquem a excluso da sociedade
da pessoa com padecimento mental
(Cohen, 2009, p. 120).
Entende-se, neste momento,
que o trabalho com usurios de drogas
foi includo no mbito da sade
mental mesmo que ocupando um
lugar especfco nas polticas pela
sua conexo com fenmenos de tipo
econmico e poltico que o vinculam,
entre outros, com os temas de segurana
e de desenvolvimento
(UNODC, 2011a),
(UNODC, 2011b),
(UNODC & WHO, 2008).
A
h e t e r o g e n e i d a d e
tpica das prticas que
nascem de baixo para cima exige que
se tenha um marco conceitual mnimo
de maneira que o leitor possa ter uma
ideia dos pontos de partida ou de
referncia das mesmas prticas. Este o
propsito deste captulo. No se trata por
consequncia de um marco conceitual
exaustivo, mas sim de um conjunto de
pautas que se referem sucessivamente a
269 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
uma bibliografa (mnima tambm), de maneira que seja possvel aprofundar. Pode-
se dizer que se trata de um glossrio um pouco mais elaborado.
Componentes do tratamento comunitrio
O tratamento comunitrio que o objeto da proposta descrita neste livro
se fundamenta na prtica de cinco aspectos/macro aes ou eixos: organizao
(preveno), assistncia (cuidado), educao (reabilitao), terapia (cura) e trabalho.
Estes cinco elementos ou eixos esto relacionados e so complementares; estes
constituem um sistema aberto no pr-ordenado (isto signifca que no necessrio
iniciar com o primeiro eixo).
Preveno-organizao
Ter pensado a preveno entendendo-a principalmente como organizao
foi consequncia do trabalho nas comunidades abertas e das investigaes nascidas
no cruzamento entre o conceito mais recente da preveno (universal, seletiva e
indicada) e a teoria sociolgica de Brofenbrenner (Brofenbrenner, 1987). Isto no
signifcou o abandono das modalidades clssicas da preveno (Brasil, 2003), mas
sim a incluso em um contexto operativo no qual, se aplicadas em contextos de alta
vulnerabilidade, podem ter resultados satisfatrios.
Este contexto operativo foi chamado dispositivo. O dispositivo um tema que
atravessa todo este livro: sua construo e manuteno, sua transformao durante o
processo uma das principais atividades do tratamento comunitrio que se enraza
nas atividades de preveno. Estas ltimas tm ento dois objetivos: um ttico que
fazer preveno seguindo as experincias que deram resultados positivos e o outro
estratgico que construir o dispositivo para o tratamento comunitrio.
O eixo central do dispositivo so as redes, comeando
com a rede subjetiva comunitria, a rede operativa, a rede
de recursos comunitrios, a rede de lderes de opinio
formais e no formais e a minoria ativa.
Entre as atividades tticas encontram-se as atividades
de vinculao: trabalho com lderes e populao enfocados
nos temas clssicos da preveno do uso indevido de
drogas (relaes com as drogas, seus efeitos diretos e indiretos, habilidades para
a vida, problem solving, protagonismo etc.). Estas atividades tomam seu sentido
de preveno na medida pelo qual so implementadas de maneira que os atores
comunitrios participem e por meio destes, possam iniciar a construir as redes que
270 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
constituem o dispositivo para o tratamento.
Colocando em primeiro lugar o eixo da organizao, tentou-se ressaltar
um conjunto de aspectos estratgicos e metodolgicos que foram considerados
praticamente indispensveis e efetivamente teis: (1) que a construo de um
dispositivo para poder trabalhar de maneira segura e efcaz a primeira tarefa
do tratamento comunitrio e da reduo de danos; (2) que a construo deste
dispositivo no possvel sem incluir todos os atores e recursos existentes (redes)
que efetivamente possvel incluir; (3) que neste processo de incluso til produzir
marcos comuns (s vezes somente acordos verbais) de diferentes nveis de limiares e
complexidade que garantam a convivncia, a segurana, a diviso de modalidades
de trabalho, de alguns conceitos e fnalidades mnimas; (4) que a implementao do
eixo organizativo se integre nas atividades clssicas da preveno primria, entendida
como esse conjunto de aes que contribuem para produzir o resultado positivo da
prpria preveno e sucessivamente tambm da reduo de danos e dos outros
eixos. (Milanese, 2007)
Relacionada com o tema da preveno entendida como organizao,
encontra-se um tema debatido: o tratamento comunitrio considera a preveno
(entendida como organizao) como a primeira e fundamental ao de tratamento
comunitrio, a estratgia pela qual se deve iniciar, como se a lgica fosse que: se no
tem preveno, no possvel o tratamento (no se trata de um dogma obviamente,
mas sim de uma opo metodolgica).
Assistncia bsica e minimizao de danos
O segundo eixo assistir (minimizao de riscos e reduo de danos). Em
contextos de alta vulnerabilidade e excluso se observa uma signifcativa ausncia
de servios bsicos no somente de sade, mas sim de segurana, de alimentao
e de higiene. Por esta razo o que se busca em um primeiro passo capacitar e
sucessivamente (pelo menos em parte) ativar redes que saibam como se convence,
acompanha e ajuda uma pessoa a banhar-se, a usar o sabo, a lavar sua roupa, a
cuidar de sua casa (mesmo que seja em uma garagem, um sto etc.), a proteger-
se, cuidar-se etc. No necessrio para isso grandes estruturas, melhor que sejam
pequenas, de fcil acesso, inseridas onde se necessitam, de baixo custo, seguras e
geridas com a participao da comunidade. Os territrios comunitrios abertos e
aqueles de baixo limiar, os servios chamados de baixo limiar geridos diretamente
por atores da comunidade so um recurso precioso.
Os habitantes das comunidades e os educadores pares so os atores naturais
271 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
destas iniciativas: com sua participao necessrio produzir processos e organizaes
de maneira que estes incrementem seus nveis de formao, de acompanhamento,
de proteo, de segurana e de ingresso (que recebam um dinheiro), de maneira que
possa superar a cumplicidade da sobrevivncia, o temor da mudana. A assistncia
bsica tem como fnalidade melhorar as condies de vida das pessoas: higiene,
educao bsica, sade, alimentao, moradia, segurana, etc. Neste contexto, como
conjunto de prticas especfcas, localiza-se a reduo de danos ou minimizao de
riscos (dependente das sensibilidades lingusticas e ideolgicas) entendida em seu
limiar mais baixo: drogas, AIDS, doenas sexualmente transmissveis (Department
of Health, 2005) (EMCDDA, 2011); ou em seu limiar mais alto: segurana, higiene,
alimentao, sade, educao bsica, ocupao, direitos humanos (Transform, 2009).
Tem-se conscincia que a diminuio das consequncias danosas do consumo
de drogas e o melhoramento das condies de vida no produzem por si uma
mudana nas pessoas (uma mudana no estilo de vida, por exemplo), mesmo assim,
sabe-se que em condies de vida de extrema vulnerabilidade, as probabilidades
de produzir uma mudana no estilo de vida ou em uma atitude at as condutas de
autodestruio so pouco provveis. Por esta razo, o eixo da assistncia bsica sem
uma articulao com os eixos de preveno/organizao e de educao/reabilitao
pode desembocar em situaes de assistencialismo estril.
Educao e reabilitao
O terceiro eixo educao/reabilitao. Com este conceito se deseja enfocar
o lugar central da educao nos processos de reabilitao. Uma das experincias
mais signifcativas produzidas pelas comunidades teraputicas foi evidenciar o papel
central da reabilitao entendida como sistema educativo (teraputico tambm),
at o ponto que este sistema educativo pode constituir a base sobre a qual pode
construir-se sucessivamente ou simultaneamente um sistema de cura.
Em contextos no formais, como so as
comunidades abertas e as redes, as propostas educativas
tm que articular o formal com o no formal e vice- versa e
incluir aspectos essenciais para a vida cotidiana das pessoas:
leitura e escrita, clculo elementar, educao na sade, em
segurana, treinamento para o trabalho, direitos e deveres,
gesto de seus recursos fnanceiros e econmicos, de
sua sade, de seu entorno etc. Todos os aspectos relacionados com as chamadas
habilidades para a vida (OMS D. d., 1993) que incluem: auto conhecimento, empatia,
272 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
comunicao assertiva, relaes interpessoais, tomada de decises, soluo de
problemas e confitos, pensamento criativo, pensamento crtico, gesto de emoes
e sentimentos.
por meio dos processos educativos que se enriquece o dispositivo daquelas
caractersticas (capacidades relacionais, conhecimentos e competncias sociais)
que favorecem a execuo de iniciativas mais especifcamente teraputicas (cura
mdica e psicolgica) certamente necessrias frente a situaes especfcas.
Entre os aspectos educativos que foram considerados essenciais no
tratamento comunitrio encontram-se os seguintes:
- A compreenso e o uso das redes sociais (iniciando com as redes primrias ou
subjetivas),
- A compreenso e o uso produtivo das redes de recursos comunitrios (redes
de pessoas atores individuais e de entidades servios e instituies-),
- O descobrimento e o empoderamento das capacidades e recursos que a
pessoa j possui e dos recursos e capacidades de seu contexto imediato.
Cura mdica e psicolgica
No quarto eixo se incluem as atividades e os processos de cura mdica e
psicolgica. No contexto das curas mdicas podem-se incluir todas as aes de
desintoxicao e apoio mdico em seu processo e nos casos nos quais se requer o
diagnstico dual, o apoio farmacolgico, o uso de terapias com frmacos substitutivos,
etc. O campo da interveno mdica amplo (sobretudo quando o consumo de
drogas se associa a outros elementos: HIV, Hepatite, enfermidades de transmisso
sexual, etc.), mas no o eixo do tratamento na rea de drogas, mas sim um dos eixos.
No contexto da cura psicolgica incluem-se as atividades de diagnstico
individual, familiar, de grupo e de rede e os processos de ajuda (acompanhamento
psico-afetivo, orientao, counseling, psicoterapia) nos mesmos nveis. Tambm o
componente psicolgico tem uma ampla contribuio no tratamento comunitrio,
no , porm como no caso da contribuio mdica- o eixo ao redor do qual se
estrutura o tratamento.
O tratamento comunitrio modifcou profundamente os contextos nos quais
se implementam a contribuio mdica e psicolgica. Por esta razo sobretudo no
caso do trabalho psicolgico trabalhar em contextos muito turbulentos sem um
dispositivo pr-determinado (como no caso do trabalho de rua ou de rede) pode
constituir um desafo signifcativo.
Por esta razo, a incluso do trabalho psicolgico desde a fase de preveno
273 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
- organizao muito indicada: nesta fase que se assentam as bases do dispositivo
que ser utilizado no marco da cura psicolgica (e mdica tambm).
Ocupao e trabalho
O quinto eixo busca promover a reinsero social por meio da criao de
capacidades laborais, fontes e oportunidades de trabalho. A experincia efetivamente
evidenciou que sem autonomia econmica licita as probabilidades de recadas no uso
de droga ou a permanncia em situaes de alta vulnerabilidade so muito elevadas.
Este eixo de ao tem que ser pensado, organizado e implementado desde
o incio do tratamento comunitrio, em efeito com este eixo que se articula o tema
de redes, da participao e sucessivamente o tema da partnership (parceria) que
atravessou todo este livro. Na insero ou reinsero laboral se joga talvez o desafo
mais profundo relacionado com o aftercare e com a preveno do consumo
de drogas. Por esta razo quase impossvel enfrentar o tema do tratamento
comunitrio do consumo disfuncional de drogas e das consequncias da excluso
grave sem ter, quase simultaneamente, polticas e programas de desenvolvimento
das comunidades.
Articulao e sentido dos cinco eixos
Pode-se pensar que estes componentes ou passos no tm uma ordem
de implementao rgida. Observou-se, porm que existem algumas modalidades
que expe menos risco de fracassos e aumentam as probabilidades de resultados
positivos. Quando se atua sem implementar processos de preveno entendidos
como organizao da comunidade e ativao de seus recursos, trabalhamos com um
alto nvel de incerteza e insegurana porque aquilo que ser feito depender das
equipes exclusivamente e a incidncia no contexto ser mnima. A consequncia ser
que com as atividades de assistncia se promover assistencialismo, com as atividades
educativas se promovero confitos, com a ateno mdica
e psicolgica especializada promoveremos estigma, etc.
Quando atuamos na educao ou cura sem assistncia bsica
a continuidade dos processos diminui consideravelmente,
as interrupes aumentam, a fragmentao no trabalho se
instala. Se trabalharmos focalizando na assistncia bsica
(incluindo tambm todas as curas mdicas requeridas,
incluindo tambm a reduo de danos no seu limiar mais baixo, os apoios econmicos
274 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
para o trabalho etc.) sem incluir processos educativos formais e informais, as mudanas
produzidas no permanecem no tempo, no se incorporam a vida das pessoas e de
seus grupos. Quando trabalhamos sem apoio psicolgico, os casos mais deteriorados
pela excluso grave no se podem recuperar. Isto signifca que a assistncia bsica
no sufciente e nem mesmo a educao, que tem casos individuais, familiares e
de grupo (imaginemos uma gangue, por exemplo) que necessitam de psicoterapia
individual, familiar, de grupo, de rede. Quando se trabalha sem apoio mdico os casos
mais afetados fsicamente morrem ou permanecem invalidados durante toda a vida.
O desafo da medicina inserir-se em um contexto de alta vulnerabilidade, entend-
la, modifcar seus protocolos para buscar mais efccia. Quando se trabalha sem
criar oportunidades de trabalho, preparamos as premissas para futuros fracassos. O
desafo fazer que todos estes componentes trabalhem juntos sem prevaricar-se,
superando confitos derivados de narcisismos profssionais (to perigosos como os
narcisismos institucionais que s vezes os refetem e instituem), buscando modelos
organizativos nos quais se encontrem balanceadas as necessidades dos benefcirios
e dos servios. Aprendeu-se que o trabalho de rede indispensvel, entendendo
com isto interconexes e gesto conjunta de casos e situaes entre organizaes e
servios diferentes; mesmo assim este tipo de gesto de casos e situaes em rede
tambm um fator de turbulncia. Se no existem protocolos claros, um marco comum
claro e compartilhado e, sobretudo a vontade de trabalhar em rede, (quer dizer dando
um lugar pouco importante aos narcisismos institucionais), o consumidor de drogas
vitima da fragmentao e das incongruncias institucionais (Milanese, 2007).
Incluir, inserir e integrar
Incluir, integrar e inserir so s vezes utilizados como sinnimos, sobretudo suas
aes: incluso, insero e integrao (Obradors, Garca, & Canal, 2010) (Castel, 1993,
pp. 17, 342, 686-687), (World Bank, 2011). Na realidade, mesmo que este processo de
assimilao entre estes conceitos seja legtimo, este oculta aspectos que se vinculam
estreitamente com as prticas sociais que so oportunas desvelar, ainda mais quando
se fala de incluso social, de insero social, de integrao social (Rawal, 2008, pp.
164-172). No se trata de escolher uma palavra em lugar de outra e sim conseguir uma
maior preciso no uso dos termos e na eleio de prticas que estes termos implicam.
Qual o tema central proposto por estes termos que ocupam espao nos
discursos das polticas sociais? Estes falam da fragilidade das relaes sociais. ()
dos itinerrios da vida social nos quais a trajetria cambaleante (Castel, 1993, p.
17). Associados a estes conceitos se encontram outros: a desconverso social, o
275 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
individualismo negativo, a vulnerabilidade de massa, a handicapologia (cincia de
handicap), a invalidao social, a desfliao e Estes termos adquirem um sentido no
marco de uma problemtica da integrao ou da anomia (em realidade se trata de
uma refexo sobre o estado da coeso social a partir das situaes de dissociao).
O objetivo ento (o autor se refere ao objetivo de seu trabalho) de tomar a medida
das novas condies atuais: a presena, em aparncia cada dia mais insistente, de
indivduos postos em uma espcie de situao futuante na estrutura social e que
habitam seus interstcios sem encontrar um lugar que lhe seja assinalado (ibidem).
Incluir
Etimologia. Incluir uma palavra composta que deriva do latim: in (dentro),
cludere (fechar), ento fechar dentro. A palavra excluir seu contrario: ex (fora),
cludere (fechar), ento fechar fora (Picoche, 1992, pp. 107-108).
Incluir/excluir tem um campo semntico de sinnimos: comportar, compreender,
inserir, unir, acolher, inscrever, enquadrar; aleijar, tirar, expulsar, eliminar etc.
Comentrio. O elemento semntico central de incluso/excluso fechar
dentro ou fora. Que implicao pode ter isto na incluso ou excluso social? Se
observa na prtica que existem maneiras de priso real ou simblica (o estigma, por
exemplo) que so utilizadas como modalidades de cura (a penalizao do consumo
de drogas, a priso, certas modalidades de comunidade teraputica, os tratamentos
obrigatrios etc.). Por outro lado estas mesmas formas de incluso implicam uma
excluso: as pessoas includas no crcere, em lugares de tratamento forado so,
por este ato de incluso, excludas de sua famlia, de sua comunidade etc. Pode-se
dizer que este ato de incluso que celebra uma excluso mais radical o ltimo passo
de um processo que iniciou na famlia, no grupo de pares, nas redes de socializao
primria, nas comunidades locais. Mesmo assim, se somente este assunto tem uma
anlise crtica pode-se concluir que radicalizar o processo
de incluso/excluso pode no ser a resposta mais
adequada. Isto faz pensar que o uso no crtico do termo
incluso pode conduzir a situaes paradoxais nas quais
coincide com algumas formas de excluso. (Foucault, 1961),
(Foucault, 1981)
Inserir
Etimologia. O ponto de partida para entender a etimologia de inserir a
palavra deserto. Esta deriva das palavras latinas serere e sertus que signifca
manter junto em uma fla (daqui a palavra srie por exemplo). Por consequncia
276 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
a palavra de-serere signifca abandonar, isolar ou decolar, tirar de uma fla ou de
certa ordem, ento desordenar, desarticular etc. e assim se entende como o termo
deserto signifque um territrio no qual no tem nada, um territrio abandonado
(Picoche, 1992, pp. 146-147) no somente pelas pessoas, mas tambm pela ordem,
a organizao, o pensamento. Por extenso s vezes se encontram tambm termos
como: entrelaar, entretecer, conectar, atar juntos e sinnimos.
Comentrio. O elemento central da etimologia de inserir o conceito de
abandono por meio do qual entendemos que inserir pode signifcar tirar do
abandono enquanto que seu contrario abandonar. Por extenso na insero social
pode ser entendido como tirar algum do abandono no qual se encontra e coloc-
lo ou conect-lo a uma fla. No se trata por consequncia de deslocar uma pessoa
de um lugar a outro, mas sim de inseri-lo em certa ordem. Na medida na qual se
considere o elemento ordem como essencial para a defnio de inserir (e ) no
estar inserido signifca no somente isolado, abandonado etc., mas sim ordem (em
termos psicolgicos pode-se dizer: sem identidade). Se assim esto as coisas, inserir
ou insero social um processo de incluso em certa ordem, ou de construo
de uma certa ordem de maneira que as pessoas no fquem abandonadas. Incluso
e insero no so sinnimos a no ser complementares e fortemente sinrgicos.
Correlacionam-se tambm inserir e incluir e pode-se pensar que s vezes incluir
uma maneira para tirar algum do abandono (abandono de valores, por exemplo).
A pergunta pode ser ento: quais so as consequncias deste signifcado na
prtica da insero social?
Integrar
Etimologia. A palavra integrar tem uma derivao latina do verbo tngere que
signifca tocar. Disto se entende que o termo integro sinnimo de intato (no tocado)
e ambos derivam tambm da palavra latina integer (integrum em sua declinao ao
acusativo) que signifcam ento inteiro, no tocado (no tocado pode ser entendido
no sentido de que do objeto no se tirou nada). Para entender melhor o sentido
deste termo vale a pena recordar que da mesma etimologia derivam as palavras
contgio (contato), reintegrar (estabelecer em seu estado primitivo) etc. (Picoche,
1992, pp. 25-26).
Comentrio. O eixo semntico desta palavra parece ser intacto que signifca:
que no padeceu alteraes, danos etc. Se assim esto as coisas e se fala de integrao
social, isto signifca que integrar uma pessoa quer dizer fazer que ela regresse a seu
estado inicial, entendido este como o estado antes da desintegrao. Fala-se, por
exemplo, de integrao social de uma comunidade inteira. Signifca ter uma descrio
277 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
do estado desta comunidade antes que ela se desintegre. Uma pergunta pode ser:
qual o estado de uma favela antes que seja uma favela?
Em realidade, o aspecto contraditrio do termo e das aes de integrao
que tem que existir uma representao modelo (intacta) de referncia para que o
processo de integrao possa suceder. A pergunta aqui : quem produz esse modelo,
como construdo, a quais critrios correspondem, a quais princpios e interesses
obedecem? Por outro lado o conceito de integrao, assim como se entende a partir
de sua etimologia, no prev que a experincia da desintegrao seja parte do
modelo. Isto signifca que (se, por exemplo, se fala de uma pessoa que viveu uma
experincia de desintegrao) nada das aprendizagens dessa experincia pode ser
integrada ou somente os elementos que correspondem aos includos no modelo.
Neste sentido o termo mudana a experincia que a este correspondente
signifcaria regressar e no progresso sendo que o modelo pensado como
ponto extremo ao qual uma pessoa pode chegar.
Comunidade
O conceito de comunidade que se utilizou na construo do tratamento
comunitrio, e que uma das consequncias deste mesmo processo : () um
conjunto de redes sociais que defnem e animam um territrio delimitado por
confns geogrfcos (Milanese, 2009b, p. 29). Este conjunto de redes tem algumas
caractersticas, entre estas se destacam duas: funciona como um sistema e produz
organizao.
Com relao ao conceito de sistema a referncia de E. Morin: uma
interrelao de elementos que constituem uma entidade global (Morin E. , 1977, p.
101ss). O autor acrescenta: esta defnio comporta duas caractersticas principais,
a primeira a interrelao dos elementos, a segunda a unidade global constituda
por estes elementos em interrelao (ibidem).
Interrelao entre elementos e unidades. Estes dois
elementos fazem quase natural adotar o conceito de rede
(constitudo pelas interrelaes entre ns) e levar em conta
seus efeitos sistmicos: a capacidade de constituir unidades
globais atravs da interrelao entre seus componentes. A
nica caracterstica dos elementos do sistema que se leva
em considerao sua capacidade de estar em relao com os outros elementos.
Todos os elementos que tem capacidade de interconectar-se so parte do sistema.
A capacidade de interconectar-se uma espcie de pr-condio que faz que as
278 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
outras caractersticas dos elementos possam participar tambm para constituir um
sistema. Entende-se ento que na construo de redes uma das primeiras tarefas
criar quando no existe e fortalecer quando existe, a capacidade de interconectar-se.
O segundo aspecto est relacionado com a organizao. E. Morn utiliza a
este propsito um texto de Ferdinand de Saussure (um dos fundadores da lingustica
moderna), que diz: um sistema uma totalidade organizada, feita de elementos
solidrios que no podem ser defnidos uns em relao aos outros em funo do
lugar que ocupam nessa totalidade (Saussure, 1931). A teoria sistmica fez grandes
progressos desde Saussure at nossos dias, mesmo assim, este conceito segue
valido. Do ponto de vista do trabalho social esta colocao encontra-se na base
( a justifcao terica) do conceito de comunidade entendida como sistema de
redes, e da deciso de ter posto no centro do tratamento comunitrio o trabalho
com redes. a interrelao entre os elementos (atores) aquela que os constituem,
que determinam sua identidade como atores sociais. Saussure fala de totalidade
organizada e Morin comenta: organizao est relacionada com o termo ordem/
desordem e interao. Se entende desta maneira, que para que exista organizao,
necessrio que existam interaes: e para que existam interaes necessrio que
existam encontros, e para que existam encontros necessrio que exista desordem
(agitao, turbulncias) (Morin E. , 1977, p. 51) O que ento a organizao? Em uma
primeira defnio: a organizao a disposio (agencement) das relaes entre
componentes ou indivduos que produzem uma unidade complexa ou um sistema,
dotado de qualidades desconhecidas a nvel dos componentes ou indivduos. A
organizao vincula de maneira interrelacional elementos ou acontecimentos ou
indivduos diversos que a partir desse momento tornam-se componentes de um
todo. Ela assegura solidariedade e solidez relativa a estes vnculos e por consequncia
assegura ao sistema certa possibilidade de durao apesar das perturbaes
aleatrias. A organizao ento: transforma, produz, vincula e mantm (Morin,
op.cit. p. 104).
O estudo das organizaes de uma rede (por meio da anlise de redes entre
outros), a produo, o fortalecimento de certos tipos de organizao nas redes por
consequncia um dos objetivos do trabalho de rede. Resumindo ento: trabalhar
com redes signifca fortalecer ou construir interconexes e produzir organizao.
As comunidades so sistemas e organizaes muito particulares (Machin,
Velasco, Silva, & Moreno, 2010, p. 79ss):
- So dinmicas, quer dizer que mudam com o tempo e neste se parecem aos
sistemas lingusticos que evoluem com o tempo (so diacrnicos diria Saussure);
- So no lineares, quer dizer que no existe proporcionalidade entre a fora
279 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
que se investe para produzir certo efeito e o efeito que se obtm; por exemplo: uma
ao social determinada (uma manifestao a favor dos direitos humanos) pode obter
os resultados que os organizadores estabelecem, pode tambm produzir efeitos
totalmente imprevistos pelos organizadores, at efeitos contrrios aos esperados e
isto devido a quantidade e caractersticas dos elementos que se interconectam e
interrelacionam a partir do momento no qual se inicia a manifestao.
Estas duas caractersticas fazem das comunidades sistemas especiais: em
equilbrio s vezes entre estabilidade e mudana. A estabilidade entendida como
manuteno da sincronia, das relaes entre os elementos do sistema em um
determinado momento, como pode ser, por exemplo, a manuteno de certa rede
de lderes de opinio porque representam interesses de outras redes. A mudana
entendida como a evoluo no tempo das relaes que graas a turbulncias e
desordem podem mudar, evolucionar etc.
Neste sentido, ter adotado o conceito de comunidade/rede e o mtodo de
redes permite ter instrumentos para poder no somente descrever as redes existentes
e sim avaliar seu estado, seu desenvolvimento, suas evoluo ou involues. Pensar
na comunidade como rede permite ter a possibilidade de avaliar as mudanas
produzidas pelo tratamento comunitrio no somente a nvel individual (como sucede
na maioria das avaliaes de resultados),
mas tambm no nvel da evoluo dos
processos sistmicos.
Outros elementos em relao ao
conceito de comunidade/rede podem ser
encontrados poucas pginas mais adiante
na seo: Comunidade local e redes:
conceito de comunidade.
Redes
Porque redes e no grupos?
Qual a diferena?
2
Trabalhar com redes no uma estratgia recente.
Na realidade comeou na metade dos anos 1930, quase
h noventa anos. Por qual razo se comeou trabalhando
com redes? Porque as pessoas que estavam estudando os
2 Os contedos desta seo reproduzem alguns fragmentos de uma contribuio escrita
para a Universidade de Berlin (A. Salomon), e de Zurich. Este escrito est em processo de publicao.
O conceito de rede nasceu porque os conceitos
de grupo, de etnia, de tribo, de aldeia, de
comunidade tpica da produo intelectual
da corrente estrutural funcionalista do inicio
de 1900 e as precedentes, no permitiam
descrever fenmenos sociais complexos como
os resultantes das urbanizaes intensivas e
do nascimento das metrpoles. O conceito de
grupo era til porm tinha grandes limitaes
(Mair, 1965) (Piselli, 2001).
280 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
fenmenos sociais e que tratavam de implementar aes sociais (por exemplo nas
grandes migraes da poca) se deram conta que existiam fenmenos nos quais
estavam implicados grupos de pessoas que no podiam ser chamados grupos.
Eram entidades demasiadamente fuidas, instveis, em constante movimento,
sua dimenso se incrementava e diminua, porm suas relaes pareciam ser mais
constantes, como se fossem as relaes que faziam estarem juntas as pessoas e no
as pessoas a relacionar-se para poder estar juntas.
Os mundos nos quais se trabalha o tratamento comunitrio parecem mais aos
mundos que estudavam os antroplogos da escola de Manchester que produziram,
nas cincias sociais, os conceitos, as teorias e os mtodos que eles mesmos chamaram
social networks (redes sociais). Trata-se de mundos nos quais as pessoas vo e vem
continuamente, movem-se entre espaos e mundos culturais diferentes, cidades,
povos () esto envolvidos em mundos de relaes interpessoais em mutao,
entre cruzadas, contraditrias. Tem que desenvolver muitos papis que atravessam
diferentes grupos e instituies, e se estendem em diferentes reas do social e pela
ausncia de referncias e critrios homogneos de comportamento combinam-se
em maneira sempre diferente, com frequncia entre confitos (Piselli, 2001, p. xii).
Outro aspecto relevante do uso do conceito e das prticas de redes ter
introduzido aquela que foi chamada de anlise situacional que consiste na descrio
detalhada das situaes que se observam (Mithcell, 1973). A anlise situacional introduz
na observao uma viso de processo das relaes sociais sem ignorar, quando
possvel, a viso morfolgica. Com esta mudana de mtodo esta escola produz
uma mudana de objeto e fnalidade: em lugar de buscar e colocar em evidncia os
processos que produzem integrao e coeso, a ateno se desloca at os confitos e
a mudana; em lugar de concentrar-se na morfologia das relaes sociais, a ateno,
se enfoca na confgurao real das relaes, interconexes e interdependncias que
se formam na raiz das dinmicas confitivas e do exerccio do poder.
A anlise situacional pe no centro do mtodo de trabalho o contexto e
desta maneira estabelece uma ponte metodolgica e de mtodo com a aproximao
sistmica e a teoria da complexidade, dando incio a estas refexes sobre a relao
entre observador e observado, sujeito e objeto de estudo etc. que conduziram quase
cinquenta anos depois aproximao contempornea do tema da participao
3
.
Na prtica, os investigadores e as pessoas que trabalharam e trabalham
com redes sociais no selecionam a unidade de estudo ou de trabalho em funo
de determinantes estruturais (o territrio entendido como extenso geogrfca,
3 O tema da participao, em si, to antigo quanto o tema da democracia e suas
peripcias.
281 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
por exemplo, para recordar uma componente do conceito de comunidade que
analisamos mais acima) ou em funo de campos ou subsistemas relacionados que
permeiam diferentes contextos, territrios, instituies e grupos formais (corporate
groups).
Desta maneira, a aproximao de redes considera a pessoa (ou mais
geralmente o ator social) como centro de vnculos e relaes que atravessam
contextos relacionais diferentes, pessoa que sujeito de adaptaes e estratgias de
inovao e, sobretudo capaz de entender e explicar as mudanas sociais. J. Boissevain
resume este conceito da seguinte maneira seguinte: o postulado fundamental da
anlise de redes que as pessoas so consideradas como seres em interao com
outras, algumas destas interatuam tambm com outras pessoas e estas com outras, e
que desta maneira o network de relaes
se forma em um estado de fuidez (J.
Boissevain, C. Mitchell 1973: viii.).
Surgimento do conceito de rede:
alm do grupo e das instituies.
Ento o primeiro passo foi transitar
das caractersticas estveis (os aspectos
formais) s caractersticas dinmicas
e cinticas da vida social. Porm, ao
adotar como objeto de observao e
trabalho estas ltimas, era necessrio
mudar o campo da observao. Este foi o segundo passo: transitar da observao
das caractersticas dos sujeitos observao das caractersticas das relaes entre
sujeitos. Falta esclarecer de quais relaes estamos falando. A esta pergunta
trataram de responder os trabalhos dos pioneiros no estudo das redes. Entre estes nos
encontramos com Barnes (Barnes, 1954) em Bremnes, uma pequena ilha da Noruega
durante os primeiros anos cinquenta, com Elisabeth Bott
(Bott, 1957) em Londres ao fnal dos anos cinquenta e com o
trabalho de Margareth Grieco (Grieco, 1987) sobre a relao
entre redes migratrias e redes familiares.
Barnes inicia com uma constatao: Em Bremnes,
todos os indivduos pertencem a diversos grupos sociais.
Em particular cada um membro de uma unidade
domstica, de um bairro, de uma colnia e fnalmente membro da cmara
municipal de Bremnes. O autor denomina este tipo de agrupaes como grupos
A imagem de uma rede pode enganar com
relao a sua forma real, de fato bidimensional.
Faz pensar a estes espaos que imaginaram os
fsicos, com nove dimenses: direita-esquerda e
vice-versa, acima abaixo e vice-versa, enrolado
para a direita e esquerda e enrolado acima
abaixo, enrolado no sentido horrio e no sentido
anti-horrio etc. e tudo isto em constante
movimento. por isto que difcil de imaginar
mais fcil pensar em um grupo que tm
dinmicas e complexo porm no tanto
como uma rede.
282 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
baseados na territorialidade que garante
a essa comunidade (o termo usado por
Barnes mesmo) continuidade estabilidade.
Tambm nos bairros ou
comunidades locais nas quais trabalham
as pessoas pertencem a diversos grupos
sociais: homens e mulheres, de um certo
grupo de idades, residentes em uma certa
direo (tambm embaixo de uma ponte), de uma certa classe social, de um certo
nvel de ingressos, esta a maneira sociolgica clssica de classifcar ou encontrar as
pessoas em diferentes categorias.
A este primeiro campo ou contexto do sistema social (os termos so
de Barnes) o autor inclui dois outros: o campo baseado no sistema produtivo e o
terceiro o campo (feld) que no tem nem unidade nem fronteiras e tampouco
apresenta uma organizao de coordenao. Este est constitudo pelos vnculos
de amizade e conhecimento que cada um, crescendo na sociedade, em parte herda
e em maior medida constri por si s. Alguns destes vnculos envolvem membros
do parentesco (). Os elementos destes campos sociais no so fxos, sendo que
se formam continuamente novos vnculos e vnculos antigos so abandonados ou
interrompidos. () Encontro til falar dos campos sociais deste tipo como de redes.
A este ponto Barnes acrescenta uma nota interessante. O autor diz: Anteriormente
utilizei o termo, tomado este do titulo do texto de M. Fortews The Web of Kinship.
Parece, porm, que muitos pensam ao entreamado como algo bidimensional,
parecido a uma teia de aranha (spiders web); ao contrario o que trato de delinear a
imagem de um conceito multidimensional (Barnes, 1954).
Barnes representa esta rede: A ideia que tenho a de um conjunto de
pontos, alguns dos quais unidos por linhas. Os pontos da imagem representam aos
indivduos, s vezes tambm a grupos, enquanto que as linhas ilustram quais pessoas
interatuam com a outras. Naturalmente podemos pensar ao conjunto da vida social
como a um processo capaz de engendrar uma rede deste tipo. A imagem da rede
como um conjunto de pontos interconectados, alguns deles, por linhas que indicam
a existncia de uma conexo (a qual se pode dar o sentido que se queira), est forjada
uma vez por todas.
Segue o autor: () falando assim informalmente, quero, contudo considerar
() aquela parte da rede total que fca quando exclumos as agrupaes e as cadeias
de interaes que pertencem no sentido estrito ao sistema territorial e produtivo.
Na sociedade de Bremnes, o que permanece , em grande parte, mesmo que no
Uma rede o que fca quando tratamos de
entender a posio que uma pessoa tem em
uma sociedade ou um grupo sem considerar
suas caractersticas territoriais ou seu lugar no
contexto das relaes produtivas. Ficam ento
as relaes de amizade e conhecimento. Vendo
aos grupos humanos sob esse ponto de vista os
primeiros estudiosos os chamaram redes.
283 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
exclusivamente, uma rede de vnculos de parentesco, de amizade e vizinhana.
Esta rede se estende ao largo de toda a sociedade e no se detm as fronteiras da
comunidade. Esta vincula aos habitantes de Bremnes com seus parentes e amigos
de comunidades prximas, assim como refora os vnculos entre estas pessoas no
interior da comunidade. Uma rede deste tipo no tem fronteiras exteriores nem
tampouco nenhuma diviso interna defnida, sendo que cada pessoa se considera no
centro de um conjunto de amigos.
Outro aspecto ou caracterstica da rede pensada por Barnes o seguinte: Por
sua constituio uma rede no tem um chefe e, na maneira na qual utilizei o termo
neste trabalho, no tem tampouco um centro ou fronteiras. No um corporate
group (um grupo), mais um sistema de relaes sociais por meio do quais muitos
indivduos realizam atividades indiretamente coordenadas entre elas.
O tema do poder proposto pela investigao sobre redes de tal maneira,
que as expresses atuais que utilizamos como, por exemplo, a coordenao de
redes parecem um contrassenso, quer dizer uma maneira para tirar a uma rede uma
das caractersticas que as fzeram nascer como conceito: a ausncia de uma forma de
poder. Como diz Barnes: cada pessoa tem
a percepo de ser o centro de sua rede de
amizade, cada pessoa, por meio da rede,
pode ter uma experincia direta de poder
que no nega o poder dos outros. Esta
experincia de centralidade e de poder,
essencial para a construo da identidade
em sua dimenso individual e social,
possvel porque no h um chefe e sim
todos tem a experincia de ser. Parece
que se pode dizer que a rede pensada
por Barnes o que permite e favorece
a experincia do protagonismo ou da
participao protagnica de todos os que pertencem rede.
Papis sociais e redes sociais
Como se observou com o trabalho de construo das redes (iniciando com
a rede subjetiva) se evidenciou a importncia do papel social das pessoas. Este
elemento do processo se inspirou nos trabalhos de E. Bott, uma pioneira no estudo
das redes sociais e de seus efeitos.
Uma rede no tem fronteiras porque por meio
das relaes de amizade inclui aos amigos dos
amigos e aos amigos dos amigos dos amigos,
e aos vizinhos dos vizinhos a consequncia
que quando falamos de redes e que estudamos
as redes em realidade sempre estamos falando
de uma parte delas, uma parte muito pequena.
Dizem os estudiosos que cada um de nos com
seis passos (seis vizinhos um depois do outro)
pode contatar qualquer outra pessoa no
planeta muitas experimentaes provaram
que assim isto para dizer que uma rede em
realidade no tem fronteiras.
284 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Elizabeth Bott interroga-se sobre os elementos que determinam os papis
entre marido e mulher. O que ela constata, analisando papis e elementos estruturais
(pertencimento a uma determinada classe social e a um determinado territrio, zona da
cidade) que estas aproximaes no explicam sufcientemente as diferenas entre maneira
de interpretar os papis conjugais. Bott toma ento em considerao a possibilidade de
mudana da sua estratgia: Sendo que era impossvel estabelecer uma correlao entre
segregao conjugal (nos papeis, n.de.A) e, respectivamente, classe social e composio
da vizinhana, deixei de lado estes dois fatores e desfoquei minha ateno at o contexto
social imediato das famlias, quer dizer com suas relaes externas com amigos, vizinhos,
parentes, clubes, lojas, lugares de trabalho e similares. Esta aproximao demonstrou-se
mais fecunda. (Bott, 1957, p. 83). Os resultados foram interessantes: Em primeiro lugar
se observava que as relaes externas das famlias assumiam mais a forma de uma rede
que de um grupo organizado. Em um grupo organizado os indivduos que o compe
formam um conjunto social mais vasto com objetivos comuns, papis interdependentes
e uma sub cultura especfca. Em uma rede por outro lado, somente alguns e no todos
os membros que so parte dela tem relaes sociais entre eles. () Em segundo lugar
mesmo que todas as famlias estudadas fzeram parte de redes mais que de grupos
organizados, se observava uma notvel variao na compactibilidade (connectedness)
de suas redes. Por compatibilidade entendo a medida na qual as pessoas conhecidas
por uma famlia se conhecem entre si e se encontram entre si independentemente das
mesmas famlias. Utilizo o termo malha estreita para defnir uma rede na qual existem
muitas relaes entre as unidades que a compe, e o termo malha larga para defnir uma
rede na qual tais relaes so poucas (ibidem). ento claro o procedimento de Bott e
as razes pelas quais o adota e tambm como chega ao conceito de compatibilidade
(connectedness). Suas concluses: Um exame qualitativo dos dados que encontramos
sugere que o grau de diferenciao dos papis conjugais correlacionado com o grau
de compatibilidade da rede total da famlia. As famlias que apresentavam um alto grau
de diferenciao dos papis entre marido e mulher (quer dizer nas quais o marido tinha
alguns papis e a mulher outros, totalmente diferentes com quase nenhuma sobreposio,
nota de A.) eram parte de redes com malha estreita (). As famlias que apresentavam
uma organizao dos papis conjugais relativamente conjuntas (com intercmbios de
papis entre marido e mulher) faziam parte
por outro lado de redes de malha larga ().
Entre estes dois extremos havia muitos graus
de variao (Bott, 1957, pp. 85-86). Como
explica a autora este efeito da rede? Bott diz
que na medida na qual uma mesma pessoa
As redes podem ter densidades diferentes, ser de
malha estreita ou de malha larga, isto depende
da quantidade de interconexes que vinculam
os elementos da rede mas interconexes mais
estreitas a malha, menos interconexes mais
largas a malha.
285 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
conhece a muitas pessoas e que estas (todas estas) tem um alto grau de interconexes
recprocas (rede a malha estreita) os membros que compe esta rede conseguem um
alto grau de consenso com relao s normas, e exercem uma forte presso uns sobre os
outros com a fnalidade de assegurar uma conformidade entre todas as pessoas.
Esta conformidade ser sucessivamente utilizada para manter o contato e se
necessrio para estabelecer relaes de ajuda, cooperao etc. como demonstrou
sucessivamente Margareth Grieco (Grieco, 1987). Bott chega at concluir que na medida
na qual um futuro casal pertence a uma rede de malha estreita, seu matrimnio ser
uma relao que se inserir em um sistema pr-existente: a rede. Isto tender tambm
como consequncia que o efeito da rede s vezes poder manter uma alta separao
entre os papis conjugais que cada um dos
membros do casal poder utilizar outras
funes redundantes pr-existentes em
sua rede (amizades etc.).
As redes sociais formais e as
determinantes estruturais.
Falar de redes sociais formais depois de ter ilustrado alguns elementos dos
trabalhos de Barnes e Mitchell parece ser uma contradio uma vez que o conceito de
rede foi utilizado para poder captar as relaes no estruturadas ou no defnidas por
elementos estruturais (como so o territrio ou o sistema produtivo, por exemplo).
Porm, colocando no centro da refexo as interconexes e interpelaes abriu-
se a possibilidade de superar o conceito de n ou ponto proposto por Barnes
referindo-o exclusivamente a uma pessoa fsica, para estend-lo a outros tipos de
entidades: grupos formais, organizaes, instituies, associaes etc. Isto favoreceu
a constituio do que hoje chamamos o tema das redes sociais.
Quando falamos de redes sociais entendendo redes de organizaes ou
servios o conceito que utilizamos diferente do conceito inicial pois j no falamos
mais de relaes entre amizades ou de vizinhana. Estas redes institucionais so
dispositivos (sistemas) de interconexes e relaes defnidas por consenso poltico
entre referentes de organizaes. Este dispositivo de relaes e interconexes tem
uma certa estabilidade no tempo e garante a interconexo e a interrelao entre
entidades que so diferentes entre si. J no se refere mais fuidez, falta de fronteiras,
falta de centro e de coordenao; as redes de instituies tem tudo isso: fronteiras,
centro, coordenao, chefes.
Das redes de amigos as redes sociais de hoje
que incluem as redes de instituies de servios.
Neste caso o aspecto informal, fuido tende a
desaparecer e os elementos estruturais retomam
fora.
286 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Comunidade local e redes: conceito de comunidade.
O deslocamento das caractersticas das pessoas que esto em relao at as
caractersticas das relaes e/ou das interconexes entre estas pessoas, ou grupos,
ou outros tipos de entidades sociais foi aquilo que abriu a possibilidade de fagrar
o termo trabalho de redes ou trabalho com redes. Fica para esclarecer em que
medida este trabalho com redes ou de redes tambm um trabalho de comunidade,
ou em quais condies pode ser. Para poder fazer isto, necessrio esclarecer quais
so as relaes entre os conceitos de comunidade e de rede.
O ponto de partida ento o conceito
de comunidade local que foi utilizado:
Quando falamos de comunidade, em sua
mais simples defnio, nos referimos a
um conjunto de redes sociais que defnem
e animam um territrio delimitado por
confns geogrfcos (Milanese 2009:28).
Como ilustramos neste escrito os elementos
centrais deste conceito so: (1) um conjunto de redes (que vimos que um dispositivo
sistmico), que (2) defnem um territrio, quer dizer que do uma forma original e
dinmica ao local (estivemos ilustrando as atividades de vinculao, como pequenas
redes podem promover grandes movimentos no interior das comunidades) (3) e que
o animam, quer dizer contribuem para construir sua cultura (no sentido mais amplo:
material e simblico); (4) a estes trs aspectos se acrescenta um quarto (veja-se para isto
o trabalho de Barnes mais acima nesta parte conceitual) que as redes so por defnio
abertas e fexveis e por esta razo a comunidade local tambm : aberta e fexvel.
Por meio das investigaes que mencionamos at aqui o papel das redes em
uma comunidade local foi razoavelmente ilustrado. Sobre a base do trabalho destes
investigadores tratamos de implementar tambm este tipo de aproximao de rede no
trabalho em e com as comunidades, buscando sobretudo as redes que refetem relaes
fuidas sendo bem conscientes que existem tambm redes de relaes que dependem
de fatores estruturais (instituies etc.) e que por consequncia no so fuidas.
A prtica do SIDIEs (Sistema de Diagnstico Estratgico) baseia-se neste
conceito e inicia com a identifcao da rede de lderes de opinio da comunidade e
das interconexes que eles tem entre si; quer dizer identifca-se o ator comunitrio
mais importante, aquele que constri e mantm viva a comunidade.
Procedendo desta maneira identifcaram-se dois tipos de redes que, no
transcurso do processo de construo do mtodo e de sua justifcativa metodolgica,
Quando falamos de comunidade local estamos
referindo-nos a um sistema de redes que
constroem e animam um territrio. Neste sistema
de redes existem dois que tem una importncia
particular: a rede dos lderes de opinio no
formais e a rede de lderes de opinio formais.
287 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
tiveram uma importncia relevante: as redes dos lderes de opinio formais (referentes
de grupos, organizaes e instituies) por um lado e a rede de lderes de opinio no
formal; quer dizer cidados que no tem um cargo formal mas exercem uma funo de
liderana (infuncia social) em mltiplas situaes da vida cotidiana da comunidade. A
observao evidenciou como estas duas redes esto estreitamente interconectadas e
que sejam os principais construtores da comunidade entendida como sistema de redes
(Milanese 2009: 82). O trabalho com estas duas redes constituiu-se ento como um dos
eixos centrais da aproximao comunitria seja que esta se dirija ao tema de drogas ou a
outros temas relacionados com este, ou ao tema da excluso social ou a sua vida poltica.
As redes de lderes de opinio informais revelaram-se particularmente teis no sentido
que constituem um bom equilbrio entre necessidades de continuidade e necessidades
de mudana, entre relaes determinadas por fatores estruturais e relaes fuidas, e
representam bem os critrios de multi centralidade e multi pertencimento tpicas da
aproximao de redes.
Trabalho de redes e terapia de redes.
O trabalho de redes no marco da interveno psicossocial, o de sade pblica,
no uma novidade. Para facilitar a compreenso podem-se identifcar duas grandes
reas, o estudo das redes e o trabalho com redes, com intensas interconexes entre
estas. O estudo das redes com suas duas escolas iniciais (Manchester na Gr Bretanha
e Oxford nos Estados Unidos) e todas as outras que se formaram em todo o mundo,
principalmente na investigao econmica (Burt, 1995)
4
, antropolgica, poltica e
social, tem j uma ampla tradio: (Mitchell, 1973), (Pappi & Konig, 1995), (Pizarro,
2004), (Lazega, 2007). Na Amrica Latina pode ajudar recordar Larissa Lomnitz da
Universidade Autnoma do Mxico (Lomnitz L. A., 2003) (Lomnitz L. , 2002) (Lomnitz
& Sheinbaum, 2004) (Lomnitz L. , 2001). por meio dos estudos e das contribuies
destas pessoas que foram construdos e defnidos conceitos chaves de anlises de
redes: rede social, rede social primria, rede social secundria, ns, laos, amplitude,
densidade, incidncia, cluster, homogeneidade, heterogeneidade, equivalncia
estrutural, equipolncia, tipologia de ns etc. (Lazega, 2007), (Machin, Merlo, &
Milanese, 2010) (Lomitz, 2007).
O trabalho com redes, quer dizer o uso dos conceitos e instrumentos da
investigao sobre redes como premissa para o trabalho social tambm tem
uma histria e se encontra, em particular, muito estreitamente vinculado com a
4 Se a investigao foi muito intensa no campo das cincias sociais, esta foi todavia mais
no campo das cincias econmicas (Lopez Pintado, 2004), em particular sobre a relao entre
redes informais e vida econmica (Lomnitz, 2003) (Lomnitz,, 2001).
288 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
investigao no tema da comunidade, at o ponto que em alguns casos podem ser
considerados como um sinnimo (Folgheraiter, 1994), (Milanese, 2008). O trabalho
com redes foi utilizado nos programas de preveno do uso disfuncional de drogas
(Vieira Duarte, 2010, pp. 152-163), (Olivier Sudbrack, 2010, pp. 165-173), na rea de
preveno em sade mental (Gmez & Malvrez, 2009) e no marco da organizao
de servios de sade mental (Cohen, 2009).
A terapia de redes um fenmeno mais recente e inicialmente relacionada
principalmente com o trabalho com famlias, ou com redes familiares fnalizados ao uso
da famlia como recursos, como coator, ou como contexto facilitador ou interferente com
intervenes clnicas baseadas fundamentalmente nos dispositivos individuais, de grupo
ou de famlia (Bertrando & Tofanetti, 2000). No observou-se nestas intervenes uma
referncia explcita nem aos resultados das investigaes marcadas no que se chamou o
network analysis, nem to pouco ao uso das relaes entre pessoas como instrumento
de trabalho (com exceo do marco de referncia sistmico relacional) (Galanter, 2001)
(Speck R. , 1967) (Speck R. A., 1974) (Bertrando & Tofanetti, 2000).
Na Amrica Latina tem-se que evidenciar o trabalho pioneiro de Elina Nora
Dabas (Dabas E. N., 1993) (Dabas & Najmanovich, 1995) que se inspira nas prticas
de terapia de rede de M. Elkaim (Elkaim, 1989) e nas experincias de Palo Alto. Este
trabalho articulado com polticas locais dirigidas as populaes excludas (no
necessariamente a comunidades excludas) contribuiu signifcativamente para
colocar as bases do trabalho de rede e ao desenvolvimento das que sucessivamente
foram chamadas terapias comunitrias.
O trabalho de rede entendido como terapia de rede especifcamente dirigida
ao trabalho com consumidores de drogas problemticos mais recente (Galanter,
2001), (Copello, Orford, Hodgson, Tober, & Barret, 2002), (Copello, Orford, Hodgson,
& Tober, 2009) e se enfocou em mltiplas direes: (1) o uso das redes para reforar,
por exemplo, a aderncia dos consumidores de drogas at o tratamento (Broadhead,
Heckathorn, Altice, Hulst van, & Carbone, 2002), ou sua contribuio em apoio a outros
tratamentos com substncias substitutas (Galanter, Dermatis, Glikman, Maslansky, &
Sellers, 2004), (Whitten, 2005-2006); (2) o uso do network analysis para avaliar as
condutas sociais no marco das network therapy (Copello, Williamson, Orford, & Day,
2006), (Quaglio, et al., 2006), ou treinar equipes de trabalho (Keller & Galanter, 1999),
ou avaliar os diferentes tratamentos (Orford, Hodgson, Copello, Wilton, & Slegg, 2009),
(Copello A. G., 2006), (3) como instrumentos de investigao das condutas de risco
em diferentes populaes vulnerveis ao uso de drogas e HIV, (Tyler, 2008), (Latkin,
Forman, Knowlton, & Sherman, 2003), (Lau-Barraco & Collins, 2010), (Kenna & Lewis,
2008), (Latkin, Mandell, Oziemkowska, Celentano, Vlahov, & Ensminger, 1995), (Fraser
289 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
& Hawkins, 1984); (4) como instrumento de trabalho para tipologias particulares de
pacientes: pacientes ambulatoriais com transtornos mentais (Morin & Seidman, 1986),
consumidores de drogas com transtornos duais (Jenkins, Vila-Rodriguez, Paquet,
MacEwan, Thorton, & Barr, 2010), (5) o estudo da correlao entre caractersticas
da rede social e condutas de abuso (por exemplo a overdose) (Latkin, Hua, & Tobin,
2004), (Tobin, Hua, Costenbader, & Latkin, 2007).
Todos os autores citados evidenciam como a aproximao de rede constitua
um fator positivo para entender as condutas de abuso e para construir dispositivos
de preveno, reduo do dano, tratamento e reinsero social (Galanter, 2001),
(Copello, Orford, Hodgson, & Tober, 2009). Onde se encontram diferenas entre os
autores e tambm com a posio que o tratamento comunitrio construir durante
sua experimentao, no conceito de terapia de rede. Entre os autores citados a
terapia de rede enfoca-se essencialmente a trs sujeitos, atores ou agentes: a pessoa
diretamente envolvida, sua rede familiar e sua rede subjetiva (amigos) ou seus pares.
No se encontrou entre os autores uma extenso at as redes comunitrias que no
sejam institucionais (as redes de servios, por exemplo) e uma colocao que tenha a
comunidade local como ator ou sujeito da ao.
Representao social
O lugar central das representaes sociais no tratamento comunitrio depende
da relao que estas tm com o conceito e a prtica das redes e destas com o conceito
e a prtica das comunidades.
Pode-se considerar que as representaes sociais so a prova que as redes
sociais existem sendo que so ao mesmo tempo seu produto e o elemento que
as faz visveis. Por esta razo o trabalho sobre e com as representaes sociais foi
considerado uma das vias mestres para produzir mudanas estruturais nas redes
sociais. Veja agora alguns elementos que descrevem este conceito.
As representaes sociais teriam que ser consideradas como uma maneira especfca de
entender e de comunicar o que sabemos. Elas ocupam uma posio singular compreendida
entre os conceitos, que tem como fnalidade a de abstrair o signifcado do mundo e
introduzir-lhe ordem e os preceitos que reproduzem ao mundo de maneira signifcativa.
Estas sempre tm duas caras; a icnica e a simblica, que so interdependentes com as duas
caras de uma folha de papel. Sabemos que: representao igual a imagem/signifcado;
em outras palavras estas fazem corresponder a toda imagem uma ideia e a toda ideia uma
imagem (Moscovici, 1979)
As representaes sociais so ento sociais por excelncia porque:
290 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
- Permitem a comunicao entre pessoas: permitem
que pelas conexes que se estabelecem entre pessoas
pode transitar informao.
- Produzem ordem: neste sentido um dos fatores
de organizao nas redes at o ponto que podem ser
consideradas a parte visvel organizada de uma rede social.
- Produzem sentido: neste sentido esto estruturadas como uma linguagem e
utilizam linguagens para que se tornem visveis.
- So um instrumento de conexo entre uma imagem e uma ideia e como tal
baseiam-se e reforam os processos de simbolizao.
sobretudo Palmonari um dos investigadores que explicita a conexo entre as
representaes sociais e a vida dos grupos (a vida social):
oportuno considerar as representaes sociais como uma maneira especfca,
particular, de expressar o conhecimento em uma sociedade e nos grupos que a compe.
As representaes sociais podem ser compartilhadas por todos os membros de um grupo
amplo e fortemente estruturado uma nao, uma etnia, uma classe social ou um partido
mesmo que no foram elaboradas pelo grupo. Estas prevalecem, em algumas condies
histricas, em todas as condutas simblicas ou afetivas e parecem constituir uma espcie
de contexto uniforme e coercitivo (). As representaes sociais ocupam de tal maneira
uma posio particular entre os conceitos que tem por fnalidade abstrair o signifcado
do mundo para poder ordena-lo, e as imagens que reproduzem o real em uma maneira
compreensvel. Estas tem duas caras estritamente interdependentes, como as duas caras
de uma moeda: em uma cara indicado o valor (vale tanto ), e na outra expresso
com um smbolo a referncia a comunidade nacional, por exemplo com uma estrela para
Itlia, que indica no somente uma coletividade econmica e tambm tnica, lingustica,
histrica). As representaes sociais, ento, correspondem a um signifcado (ou a uma
ideia), a uma imagem e vice-versa. As representaes sociais ento so elaboraes de
um objeto social por parte de uma comunidade que permite a seus membros comportar
se e comunicar em maneira compreensvel [Moscovici 1963, 251]. Mais especifcamente
so sistemas cognitivos com uma lgica e uma linguagem prpria. No so simplesmente
opinies das imagens de, atitudes at e sim teorias ou verdadeiras categorias
de conhecimentos teis para o descobrimento e a organizao social (op. cit. pag. 41). Os
dois processos por meio dos quais se originam as representaes sociais so o processo de
ancoragem e o processo de objetivao (Palmonari, 1989, pp. 37-39).
Este texto de Palmonari pode ser considerado como um dos pontos de ancoragem
entre a teoria e a prtica de redes e a teoria e a prtica das representaes sociais.
Sofrimento social
As organizaes que iniciaram a desenvolver o tratamento comunitrio nos
anos 80 trabalhavam quase que exclusivamente focando o tema da droga. Nos anos
Pode-se pensar que o sofrimento
social o sintoma da excluso
social.
291 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
90 incluram entre as preocupaes do seu trabalho tambm todas as situaes
crticas associadas ao consumo de drogas. Chegaram assim a construir outro espao
semntico que lhes servia a organizar toda esta complexidade: o tema da excluso/
incluso social. Entre os temas de excluso e do sofrimento social existem fortes
interconexes e interpelaes, a ponto de se pensar que o segundo consequncia
do primeiro, e que o sofrimento social da visibilidade nos processos de excluso, quase
que no poderia ter sofrimento social sem que fosse a excluso social a produzi-lo.
Porque falamos de sofrimento social e no de enfermidade social ou
patologia social? Qual sentido damos ao termo sofrimento social?
Se focalizssemos nossa abordagem em enfermidade social (mesmo que
colocssemos o adjetivo social) ou na patologia (tambm neste caso com o adjetivo
social), fcaramos no mbito dos processos de sade/enfermidade e acabaramos
falando de medicina social, como se tratasse exclusivamente de um problema
tcnico no mbito de uma cincia especfca (medicina e, em alguns casos psicologia)
que de adjetivos tem muitos. Obviamente medicina e psicologia tem palavras
importante neste discurso, mas no parece que suas palavras constituam o eixo do
discurso.
Como diz E. Renault Desde uns quinze anos () o tema do sofrimento
social foi progressivamente difundido nos espaos pblicos e tambm no mbito
das cincias sociais. Ao mesmo tempo, este tema comeou a dar vida as perguntas
e debates que se relacionam com os desafos da sociologia (qual o sentido da
sensibilidade atual com relao ao sofrimento, qual o sentido da modalidade de
expressar os afetos em termos de sofrimento, da qualifcao das desigualdades em
termos de sofrimentos?), da psicologia (a problemtica do sofrimento esta ligada a
modifcao da etiologia, ou at a nosgrafa dos ataques contra a subjetividade?), e
da poltica (as preocupaes pelo sofrimento social podem ser consideradas como
uma entre as novas formas de dominao e controle social, ou a oportunidade para
se repropor da crtica social?) (Renault, 2008, p. 13)
Ento adotar a viso de sofrimento social no signifca jogar com a terminologia
e sim (1) visibilizar que existem experincias e processos de estar mal que no so
enfermidades e que se enrazam nas formas e nos processos da vida social, (2)
que estas formas de mal estar esto enraizadas no tema das desigualdades e por
consequncia da justia, no se trata ento de enfermidades de rgo, e sim de
formas de mal estar relacionadas com o acesso, o compartilhar e a participao aos
bens (materiais e no materiais/simblicos, naturais e transformados ou produzidos
por seres humanos), (3) que as formas de participar/compartilhar/aceder aos bens
pode produzir uma etiologia e uma nosgrafa especfca, (4) que por meio do governo
292 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
das formas e dos processos de participar/compartilhar/aceder se podem governar os
processos de produo de mal estar, sua transformao em enfermidades (dominao/
controle), ou sua transformao em crtica da poltica e mudana.
Na literatura, (Renault, 2008, pp. 203-301) alguns autores sugerem que
o conceito de sofrimento social possa ser dito em quatro modelos. O primeiro
o modelo da economia poltica clssica que recusa a ideia e as hipteses que o
sofrimento pode ser produzido por causas sociais. O segundo o da medicina social
que ocupou os espaos vazios (sem sentido) por essa cincia social que chamamos
de economia poltica e formulou os conceitos de medicina social e de patologia
social (Iriart, Waitzkin, Breilh, Estrada, & Mehry, 2002) (Franco, Nunes, Breilhy, Laurell,
& eds, 1991, pp. 7-16). O terceiro aquele que marca as investigaes iniciadas por
Durkheim (Durkheim . , 1994 (1893)), (Durkheim . , 2004 (1897)) (Durkheim E. , 2004
(1895)) que identifca entre as fontes da patologia social (assim chama ao sofrimento
social), a dos transtornos do mundo normativo (Renault, 2008, p. 253). O primeiro
seria uma patologia da integrao entre altrusmo e egosmo e o segundo seria uma
patologia da regulao entre o fatalismo (regras muito rgidas), e a falta ou debilidade
das regras (anomia). O quarto modelo aquele que se inspira a teoria psicanaltica e
psicodinmica. Nesta perspectiva o tema do sofrimento social central tanto que
uma das componentes/dinmicas fundamentais da experincia humana consiste em
tratar de reduzir o sofrimento social (Freud, 1929). A aproximao freudiana baseia-se
na distino entre diferentes fontes do sofrimento e a distino entre um sofrimento
normal e um anormal. O segundo tipo de sofrimento seria uma transmutao do
primeiro (Renault, 2008, p. 272). Entre as fontes do sofrimento Freud menciona trs:
a potncia enorme da natureza (por exemplo, os desastres naturais), a caducidade
do nosso corpo e as defcincias dos princpios que regulam as relaes na famlia,
no Estado e a sociedade. Quando falamos, neste texto, de sofrimento social nos
referimos sobre tudo as formas de sofrimento que tem sua origem no terceiro fator
mencionado por Freud.
Excluso social
Um ltimo conceito preliminar que ajuda a entender a posio e as origens
do tratamento comunitrio e aquele da excluso social. Conscientes que no existe
um s conceito e sim um espao semntico de conceitos, adotamos um pedao da
literatura para poder construir a partir disso um espao semntico que nos sirva para
trabalhar.
293 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
De onde vem este conceito?
Vejamos primeiro de onde vem este conceito e como se transformou no tempo.
Nos anos 70, na Frana, os porta vozes do chamado movimento pelo quarto mundo
foram quem primeiro popularizaram o termo, usando-o no sentido amplo para referir-se
aqueles grupos e pessoas que padeciam situaes de pobreza e extrema marginao no
seio das opulentas sociedades ocidentais. O termo foi resgatado daquele contexto inicial
e comeou seu caminho no mbito das polticas sociais um pouco mais tarde, na mo
de Lenoir (Lenoir, 1974) quem, em 1974, usou-o para denominar um setor crescente de
populao que se falava excluda ou sem acesso aos mecanismos pblicos de proteo
social.
Mas alm da primeira defnio, nos anos 80 e mais decididamente a partir dos 90 e
desta ltima dcada, os conceitos de excluso social e de incluso foram se introduzindo
progressivamente no marco das polticas pblicas (). Inicialmente como um
complemento, mas confgurando-se em pouco tempo como o novo eixo a partir do qual
era possvel reestruturar atuaes (Obradors, Garca, & Canal, 2010, p. 26)
Desta breve histria percebemos dois aspectos que se conservam sem grandes
modifcaes atravs do desenvolvimento do conceito. O primeiro a constatao
que at em sociedades opulentas (quer dizer que tem recursos em abundncia)
existem pessoas, famlias, grupos ou comunidades em situao de pobreza e extrema
marginalizao. Isto pode parecer contraditrio, mas esta aparente contradio
desaparece se se entende que essa marginalizao extrema depende de um processo
scio cultural e econmico/poltico que ser chamado excluso social. O segundo
aspecto o lugar no qual nasceu o conceito: a observao que atores pertencentes as
sociedades opulentas faziam dos pases do quarto mundo, observaes dos outros
e a surpresa de encontrar que estes outros eram parte tambm de seu mundo. Implcito
neste aspecto existe tambm a tomada de conscincia de que mesmo que exista uma
diferena importante entre as sociedades opulentas e as sociedades do quarto mundo
(pelo menos em termos da distribuio/acesso aos recursos) ambas esto ou podem
estar atravessadas pelos mesmos processos de marginalizao e excluso.
Um conceito inicial de excluso social
A excluso social um produto dos processos de diferenciao, distino e
estratifcao comum a toda organizao social hierarquizada que se pode constituir ao
longo da histria da humanidade. E por isso que, apesar de sua recente popularizao,
a noo de excluso social nos estudos das cincias sociais tem uma trajetria
relativamente dilatada (Elias, 1993) (Elias, 1965) (Foucault, 1975), (Parkin, 1974).
294 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Processo de cima para baixo: quando
por exemplo os programas, ideias,
polticas vem das instituies do estado
ou de organismos institucionais e
baixam at as comunidades locais.
preciso combinar os processos de
cima para baixo com os processos de
baixo para cima (das comunidades
at as instituies). O dilogo entre os
dois nveis a garantia do xito dos
programas e do fortalecimento da
democracia.
Este conjunto de fatores e situaes de vulnerabilidade e de risco, no qual se refere a noo
de excluso social, tem como causa e consequncia a impossibilidade e as difculdades
para aceder a espaos e recursos materiais e no materiais socialmente valorizados pela
coletividade.
() Desde seu inicio o conceito de excluso social deu conta de um fenmeno de expulso,
inacessibilidade ou negao de possibilidade das
pessoas, grupos sociais ou territrios com relao
aos recursos de todo tipo que favorecem o bem estar
social. Desta maneira, em nossa sociedade prevalece
uma certa estruturao social de privilgios e relaes
de poder, que operam incluindo determinados
setores e deixando outros a margem. Estas dinmicas
de incluso e excluso se produzem em todos os
nveis e campos da atividade social ().
Assim, por sua prpria defnio, a excluso social se
refere a um fenmeno estrutural, multidimensional
e dinmico. Um fenmeno que pode dar-se em
formas, espaos e momentos diversos, devido a uma
complexa combinao de fatores. A excluso social
afeta, de formas distintas, as pessoas e os grupos
sociais segundo mltiplas circunstncias. Porm, tem
sempre como resultante a expulso ou a negao do acesso em espaos sociais e recursos
materiais e no materiais socialmente valorizados como fontes de bem estar em um
determinado momento histrico.
A desconformidade, ou a reao diante dos efeitos excludentes da estruturao social,
tambm tomou inmeras formas ao longo da histria. Desde a ao de benefcncia at
a proteo social ou a revolta social, podem considerar-se incontveis formas de oferecer
resistncia ou conteno ante a excluso, impulsionando dinmicas de solidariedade,
reconhecimento e incluso de setores oprimidos ou simplesmente marginalizados dos
estilos e das condies de vida considerados aceitveis em cada momento e lugar
(Obradors, Garca, & Canal, 2010, p. 26).
Assim estas colocaes ajudam a evidenciar alguns aspectos deste conceito:
(a) uma ambivalncia de fundo: a excluso entendida como uma falta ou difculdade
de acesso devido a caractersticas (limites ou desvantagens) de algumas pessoas ou
grupos, ou como uma estratgia ativa e explcita de expulso de certos atores; (b)
excluso devida a uma combinao de fatores (do qual deriva sua mltipla diversidade
na realidade da vida social), como se fosse o resultado de uma combinao de fatores
que se combinam sozinho, ou como resultado de estratgias polticas que combinam
estes fatores de algumas maneiras (admitindo que se possa falar de fatores).
Nas ltimas dcadas, o conceito de excluso social incorporou-se progressivamente no
mbito das polticas pblicas e foi impregnando em todos os campos da ao social.
Este processo foi em grande parte impulsionado de cima para baixo. No em vo que
295 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
as polticas para incluso social emergem e comeam a defnir-se () e pouco a pouco
descolando-se pelos nveis nacionais, regionais e locais (...). neste marco mais local onde
os conceitos tomam corpo e onde o setor das entidades de ao social esto jogando um
papel mais determinante. Pouco a pouco, e fruto da experincia acumulada no terreno,
o terceiro setor social esta comeando a consolidar-se como uma voz indispensvel, no
somente no campo das polticas pblicas, mas cada vez mais em seu desenho. Este
processo paulatino de incorporao dos conceitos de incluso e excluso social no mbito
das polticas pblicas () tem se consolidado em um novo paradigma para, por um lado,
compreender as dinmicas de desigualdade social nas sociedades contemporneas, e
por outro, reestruturar o campo das polticas sociais e os estados de bem estar em uma
mudana de poca acelerada, marcada pela multiplicao dos fatores de desigualdade e a
extenso de seus efeitos (Boltanski & Chapiello, 2005) em (Obradors, Garca, & Canal, 2010)
Desta citao relevo trs aspectos: (a) que inicialmente as polticas de
incluso social aparecem como um processo de cima para baixo, mesmo assim
(b) sem que exista um processo de baixo para cima esta se transforma em iluso
poltica e frustraes sociais. (c) O terceiro aspecto a apario (melhor seria dizer
a reorganizao com uma estratgia nova) do chamado Terceiro Setor que j no
simplesmente a entidade executora de polticas estabelecidas fora de seu contexto
cultural e sim inicia a participar como ator na fase de construo das polticas mesmas.
Excluso e carncia
Sem dvida a apario deste ator (terceiro setor) e a sua participao na construo
das polticas, a existncia de polticas de incluso social ou de luta contra a pobreza e
excluso no signifcam a reduo na heterogeneidade das abordagens e na complexidade
ou diversidade dos conceitos. (Silver, 1994). Entre os conceitos de excluso social mais
conhecidos (correlacionados com suas polticas e sua traduo prtica) temos em primeiro
lugar o conceito de excluso social vinculado a carncia de recursos materiais e em certos
nveis de condies de vida. Diante de um conceito deste tipo se entende que as respostas
mais adequadas consistem em proporcionar os recursos que se considerem convenientes
s pessoas ou grupos que carecem dos mesmos, entendendo que isto provocar uma
mudana sobre as dinmicas de desigualdade existentes (Obradors, Garca, & Canal, 2010,
p. 29). O fato de proporcionar evidencia a posio em prevalncia passiva de quem
recebe e a posio em prevalncia ativa (de ator ou agente) de quem proporciona. Este
pode ser muito criativo nas modalidades de proporcionar, nos mtodos e tipos de recursos
que proporciona e nos dispositivos nos quais esta entrega de recursos se da.
Porm, isto no mudar a relao de quem entrega e de quem recebe, muito
menos os processos que produziram o fato de que algum tem e algum carente.
296 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Excluso e relaces de desigualdade
Em uma segunda perspectiva a excluso social se identifca como uma
consequncia ou efeito de certas relaes de desigualdade em diferentes contextos:
escola e formao profssional, mbito
do trabalho, polticas de bem estar e
proteo social (com consequente relao
de dependncia at estas ltimas), cultura
etc.. Pode-se entender neste caso que
no se trata de desigualdades casuais e
sim intencionais e parte de estratgias
ou polticas no campo da educao,
do emprego, do bem estar social e da
cultura. Trata-se de processos de excluso/marginalizao chamados estruturais, que
obedecem ento uma concepo do estado ou da vida social e a interesses de grupos
especfcos. Neste caso se falamos de estratgias de incluso/insero nos referimos
quelas abordagens que reduzem as desigualdades e as relaes de dependncia:
melhora das condies de escolarizao, de emprego e retribuio, das condies
de acesso ao bem estar social. Nesta segunda perspectiva, a diferena da primeira,
pressupe srios problemas polticos porque sua adoo implica elaborar um
conceito diferente de sociedade e por consequncia de polticas, e por consequncia
de equilbrio entre interesses. A criatividade aqui no se aplica somente aos mtodos
e estratgias de entrega de recursos (primeira perspectiva), mas tambm a como e
quais processos de mudana estruturais se implementam e quais so as mudanas de
relaes de poder que se requer e como se produzem.
Esta segunda componente baseia-se tambm na premissa de que estando
nossa sociedade estruturada primordialmente no mbito econmico e do trabalho,
as possibilidades de desenvolvimento pessoal autnomo em outros mbitos passam
pela suscetibilidade de uma determinada posio de mercado (Obradors, Garca, &
Canal, 2010, p. 29).
Excluso e incorporaco
Em termos globais, no marco das polticas europeias para a incluso social
predominou o que alguns autores chamaram de discurso integracionista individual
(Levitas, 1996), (Levitas, 2007), pelo qual a excluso social se entende como uma
problemtica que pode ser superada em grande parte mediante a incorporao de
s vezes possvel modifcar as
condies de vida de uma pessoa ou
de uma comunidade. Isto no implica
que automaticamente se modifquem
tambm os processos que as produzem.
Quando se fala de mudanas estruturais
ou profundas um se refere s mudanas
de condies e dos elementos e processos
que as produzem.
297 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
todos os setores da populao nas estruturas produtivas e da economia formal. Por
isso, as polticas de incluso se centraram em estabelecer medidas para incentivar
crescimento econmico e a incorporao no mercado de trabalho como bases
essenciais para garantir a erradicao da pobreza e fomentar a coeso social
(Obradors, Garca, & Canal, 2010, pp. 26-28).
Ruth Levitas e outros, Will Hutton, por exemplo, e Robert Castel (Castel,
De la exclusin como estado a la vulnerabilidad como proceso, 1995), criticam esta
aproximao porque estes consideram que a excluso e um elemento endmico
(por consequncia no supervel) do capitalismo e adota como resposta exclusiva
a integrao no mundo do trabalho produtivo remunerado, marginalizando todas
as outras formas de trabalho e de participao a vida produtiva da sociedade.
Procedendo desta maneira s promove um ocultamento das desigualdades
existentes no somente entre trabalhadores que recebem um salrio como tambm
entre os que no o recebem e entre os trabalhadores e a classe dos proprietrios
(property-owing class).
Investigao na ao
Em vrios estgios desse trabalho foi mencionado o termo investigao na ao.
Pode-se entender que esse termo deriva e se inspira diretamente da investigao-
ao, porm tenha algumas diferenas e peculiaridades.
Existe um acordo razovel entre os investigadores em reconhecer que o
artigo de K. Lewin Investigao, Ao e Problemas das Minorias (Lewin, Action
Research and Minority Problems, 1946) foi uma das contribuies fundamentais para
inserir essa abordagem entre os mtodos da investigao e do trabalho social (nesse
ano Lewin inicia sua experimentao de investigao na ao). O autor estabelece
tambm o contexto na qual esse termo nasceu: o campo da resoluo dos confitos e
as relaes com as minorias; fundamentalmente o trabalho com os grupos.
A aproximao de Lewin e dos seus seguidores no seria entendvel sem
levar em considerao a sua teoria do campo que passou a deslocar a observao
e o interesse desde as aes ou desde os acontecimentos em si, para um contexto
na qual o evento acontece: a dinmica dos processos -diz Lewin sempre tem que
ser derivada das relaes entre o individuo concreto e a situao concreta (Lewin,
1931) Este deslocamento do acontecimento em si (uma ao, uma interveno, um
fato especfco) ao contexto das relaes entre os sujeitos que o produziram foi
fundamental para se aproximar teoria e ao mtodo da investigao-ao.
O objeto do estudo j no o acontecimento, mas a pessoa em relao.
>
298 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Do ponto de vista do procedimento a
investigao-ao no mudou muito
desde os anos 1940 -1950, seus trs
momentos (planejamento, execuo,
avaliao) organizados como uma
espiral permaneceram na estrutura da
investigao-ao, mesmo que ela tenha
se enriquecido muito do ponto de vista
das ferramentas. Um dos elementos
centrais da abordagem lewiniana foi a
condiviso dos objetos da investigao
por parte de todos os sujeitos envolvidos.
Este fato a novidade e o momento no
qual o tema da participao (em particular
dos atores que habitualmente so objeto
de investigao) inicia a aparecer na
investigao em cincias sociais. Desta
maneira o investigador no se isola do
contexto, mas trabalha na situao do
campo psicolgico dos grupos (das
comunidades), envolvendo no processo
de investigao a todos aqueles que tm
um interesse para se deixar envolver.
Desta maneira o investigador assume
um papel de agente de mudana como
diz o Lewin, de formador. Por meio deste
processo Lewin chega a considerar a
ao, a investigao e a formao como
um triangulo que fundamental manter
integro para garantir o interesse de cada
um de suas vrtices.
Quando Paulo Freire no marco
de seu trabalho de alfabetizao
(assim como ele o entende) prope a
sua metodologia conscientizadora
(Freire, 1970 manuscrito 1968 p.
130), ele tambm apresenta o tema
da metodologia, e o faz nos seguintes
termos: (...) investigar , repetimos,
investigar o pensamento dos homens
referidos realidade, investigar seu
atuar sobre a realidade, que sua prxis.
A metodologia que defendemos exige,
por isso, que no fuxo da investigao
se faa ambos os sujeitos da mesma,
tanto os investigadores como os homens
do povo que aparentemente, seria o
seu objeto. (...). A investigao (...) fca
assim como um esforo comum de
tomada de conscincia da realidade e de
autoconscincia, que a inscreve como um
ponto de partida do processo educativo
ou da ao cultural de carter liberador
(ibidem, p.132-133).
Paulo Freire, como Lewin quase
quarenta anos antes, repensa o lugar
da ao orientada produo de uma
mudana e o tema da participao
daqueles objetos de estudo no mesmo
processo: Esta investigao, (...) que
na sua pratica educador educando
e educandos educadores conjugam
sua ao cognitiva sobre o mesmo
objeto conhecvel, tem que se basear
igualmente na reciprocidade da ao, da
mesma ao de investigar (ibidem, p.
134).
Ficam assim assentados,
alm do mtodo especfco e das
ferramentas utilizadas para realizar uma
investigao-ao, seus dois eixos: a ao
transformadora encontra se no comeo
da investigao, pode at no ser o seu
objetivo, mas certamente sua fnalidade.
299 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
O segundo eixo: a participao de todas
as pessoas interessadas no fuxo (diz
P.Freire) da investigao. Pode se entender
que esta teoria se conecta com o tema
e a teoria da ao social. na procura
do esclarecimento desta conexo que
foram identifcadas algumas tipologias
da investigao ao: investigao ao
diagnstica, participativa, emprica e
experimental (Mallia, 1990, p 69).
A primeira (Investigao-ao
diagnstica) tem como fnalidade
produzir uma fotografa da situao e
propor uma soluo ou uma resposta.
A investigao-ao participativa tem
mais efeito sobre o processo da ao
que sobre a preciso do processo da
investigao. Alguns autores consideram
mais uma tipologia especfca de ao
que uma tipologia de investigao
(Mallia, 1990, p.70). Os limites desta
abordagem residem no fato que nem
todas as pessoas que participam tm
os mesmos conhecimentos sobre os
processos de investigao, isso produz
assimetrias entre os participantes e
incongruncias nas aes. A hiptese de
partida da investigao, ao emprica,
aquela que inicia uma srie de
investigaes no marco de um contexto
especfco. Neste caso, a qualidade do
resultado depende da capacidade de
todos os participantes em defnir objetos,
hipteses explicativas dos fenmenos
e concluses que queremos conhecer.
A investigao-ao experimental
a que mais tem semelhana com o
modelo que os seguidores de Lewin
pensavam. Ela exige procedimentos e
contextos controlados que no sempre
e no facilmente so possveis de achar
ou construir nas comunidades locais
altamente turbulentas.
Em que se diferencia a
investigao-ao da investigao na
ao? Nas quatro tipologias que foram
mencionadas observa-se que (1) a
investigao planejada desde o inicio
e se desenvolve seguindo o plano, (2) o
aspecto dinmico pertence ao processo
da investigao e no aos contextos
na medida que se investigam ( como
se o contexto permanecesse esttico
e que seu movimento dependesse da
ao (investigao-ao) proposta;
(3) a percepo que temos que o
contexto espere paciente que aqueles
que participam na investigao-ao
dinamize o contexto e desta maneira
produzam uma mudana.
Na investigao na ao
considera se que (1) a investigao-ao
se insere em um contexto que desde
antes da investigao e provavelmente
depois, encontra em evoluo seguindo
seu (s) processo (s) dinmico (s), (2) que o
resultado / produto da investigao-ao
no depende s do mtodo (diagnstico,
participativo, emprico ou experimental),
mas da capacidade dos atores de estar
em nessa situao do contexto, (3) que a
partir do momento no qual eles estejam
nesse contexto sero parte dos processos
dinmicos do desenvolvimento dessa
300 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
entidade social que investigam, (4) que
os resultados da investigao ao
sero um refexo do mtodo especfco
utilizado, da qualidade (estratgias) da
participao dos atores da investigao
na vida cotidiana (processos dinmicos
de desenvolvimento) da entidade
que investigam, (5) que a participao
dos atores da investigao modifca a
situao no mesmo ato de conhec-la
(ver aes de enganche).
Minorias ativas
Conceito
A Teoria das Minorias Ativas uma
teoria sobre a infuncia social e tem sido
desenvolvida, entre outros, pelo trabalho
de investigao de Serge Moscovici.
Sua inteno era evidenciar como a
infuncia social no fosse somente fonte
de conformidade e controle social, se
no pudesse ser utilizada para promover
mudana e transformao.
Moscovici parte de uma
constatao ligada a acontecimentos de
sua poca (os movimentos dos estudantes,
das feministas, dos homossexuais, nos
encontramos nos anos setenta) que podem
ser estendidos tambm a outros tipos de
fenmenos como so as comunidades
de base, os movimentos sindicais, etc.
Estes acontecimentos tm sido capazes
de promover mudanas signifcativas
ainda que no tenham representado o
pensamento das maiorias se no, este o
ponto: minorias. Textualmente Moscovici
diz que houve pocas minoritrias, nas
que a obstinao de alguns indivduos, de
alguns grupos de tamanho reduzido, parece
bastar para criar o acontecimentos e decidir
o curso das coisas(Moscovici, 1981).
atravs do estudo dos
movimentos minoritrios, que tiveram uma
incidncia profunda na vida das sociedades,
que Moscovici trata de entender como
se produz a mudana social, quais so as
relaes de infuncia necessrias para
isso, quais as caractersticas destes novos
sujeitos (atores/agentes sociais). Moscovici
no antecipa o estudo das redes sociais,
mas levanta alguns conceitos que sero
utilizados sucessivamente neste campo:
buscando explicar a mudana social ele
busca evidenciar os tipos de relaes entre
atores das minorias que o fazem possvel.
Fazendo isto, Moscovici prope
um paradigma que por alguns aspectos
pode ser considerado inovador: no
se enfoca no tema da infuncia social
a partir da maioria se no a partir das
minorias ou, como dizem J. Machin e
outros de uma realidade dada a uma
realidade construda; de uma relao
assimtrica e de dependncia entre a
fonte (considerado sempre como o grupo
ou a maioria) e o branco (considerado
sempre como o individuo ou a minoria)
de infuncia, a uma relao simtrica
e de interdependncia do individuo
e o grupo, a minoria e a maioria; de
um objetivo da interao centrado no
controle social e a conformidade a um
centrado na mudana social e a inovao;
301 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
do estudo dos fenmenos desde o ponto
de vista da conservao do equilbrio e a
reduo da incerteza a um ponto de vista
do confito e a negociao, etc. (Machin,
Velasco, Silva & Moreno, 2010, p.133).
Aquele que nos facilitou o
trabalho de construo conceitual neste
contexto foi o fato de Moscovici, quando
fala de minorias, as observa desde um
ponto de vista quase exclusivamente
qualitativo como conformadas por
quem que, seja por transgresso
norma seja por incapacidade para
conformar-se a ela, so objeto de tutela
ou marginalizao (Moscovici, 1981,
pag. 26) citado em (Machin, Velasco,
Silva & Moreno, 2010, p. 133). Fazendo
esta operao Moscovici indica dois
caminhos diferentes: o primeiro o
estudo dos grupos de risco (gangs,
bandos, redes com alta homogeneidade,
pessoas marginalizadas que vivem em
grupos, etc.) como se fossem minorias;
o segundo caminho construir minorias
para produzir mudana social sem
produzir marginalizao ou para super-
la quando e onde exista.
As minorias passivas
Entre as minorias Moscovici
identifca duas categorias. A primeira
categoria est constituda por aqueles
grupos minoritrios que no tem nem
regras nem normas, isto , respeitando
o etimolgico da palavra, que no tem
nenhum ponto de apoio conceitual nem
ideolgico, nenhum ponto de referncia
(uma norma essencialmente isto).
Por exemplo, os grupos de usurios
de herona presentes na Europa nos
anos setenta no eram grupos sem
regras: tinham um forte pano de fundo
ideolgico que dava um sentido poltico
a seu consumo, um sentido de revolta e
protesto contra a sociedade. Comparado
com alguns grupos de usurios de
herona de 2010, do mesmo contexto
cultural, se observa que estes se renem
e se drogam por tdio do presente.
Moscovici diz que estes grupos se
caracterizam por sua passividade.
As minorias ativas e a ao social
A segunda categoria est
constituda por aqueles grupos
minoritrios que tem normas, regras,
pontos de referncia e que do um
sentido e um propsito a sua ao
em grupo. Estas minorias respondem
s caractersticas dos grupos que
implementam aes sociais, aes que
tem um sentido explcito e que so
dirigidas at os outros.
Este aspecto da ao social
relacionada com as minorias relevante
para o tratamento comunitrio e o trabalho
de redes. O tratamento comunitrio
uma ao social intencional, dirigida aos
outros, no por isto automaticamente
uma ao social interpretada por uma
minoria ativa; conseguir que seja assim
tarefa da formao e do treinamento.
As caractersticas da ao social
segundo Weber (Weber, 1977 (1921
302 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
orig.)) so uma necessria introduo s
caractersticas das minorias ativas que faz
Moscovici. Weber menciona seus quatro
fundamentos da ao social. A ao
social tal quando se (1) atua em maneira
racional sobre a fnalidade (o ator tem
uma ideia clara sobre o resultado fnal de
seu trabalho e utiliza meios adequados
para consegui-lo); (2) quando o atuar
racional sobre o valor (o ator social no
busca um resultado exclusivamente
prtico se no em prioridade busca
permanecer fel a seus princpios); (3)
atua afetivamente (isto sucede quando
uma ao refete um estado de animo);
(4) atua tradicionalmente (isto se d
quando a ao refete hbitos adquiridos
pelo ator), isto signifca inscrever-se em
um modelo de vida.
Dito de outra maneira: as aes
sociais so caracterizadas por ter uma
estratgia explcita, estar enquadrado
em um sistema de valores, movidos por
emoes e afetos e estar enraizadas em
uma cultura. Se as coisas esto assim
a ao social ainda que no busque a
mudana, ainda que no prometa ou se
oponha abertamente a ele.
Moscovici, por sua vez, identifca
nas minorias ativas a que tem xito, ou
seja, aquelas que conseguem infuenciar
as maiorias. Como fez Weber quase
cinquenta anos antes dele, identifcou
algumas caractersticas de seu atuar
socialmente (comportamentos sociais
diz Moscovici) (idem pg. 141-184): a)
O esforo. Manifesta se quando se
est comprometido fortemente com
uma opo tomada livremente, ao
grau de realizar sacrifcios pessoais. b)
A autonomia. Implica independncia
de juzo e atitude, determinao de
fazer segundo critrios prprios,
assumindo inclusive uma atitude
extremista. c) A consistncia. Esta a
principal atitude exitosa que manifesta
clareza e certeza (em circunstncias nas
quais habitualmente as opinies so
menos seguras), a afrmao de uma
vontade inquebrantvel e segurana
(os comportamentos, invariantes e
permanentes, consistentes em uma
palavra, permitem prever e simplifcar
a interao). d) A rigidez. A rigidez
expressa a infexibilidade ante a presso,
isto , no submeter-se nem chegar
a um compromisso ante a presso da
maioria. e) A equidade. Manifesta uma
sensibilidade e preocupao por ter em
conta a postura do outro, o desejo de
reciprocidade e a vontade de estabelecer
dilogos autnticos (Machin, Velasco,
Silva & Moreno, 2010).
Ao social weberiana por um lado
e minoria ativa moscoviciana pelo outro,
fazem da minoria ativa uma entidade social
que tem poder de infuenciar e que sabe
como exerc-lo: racionalidade e emoo,
consistncia e autonomia, capacidade de
esforo e continuidade, persistncia nas
incertezas, equidade e percepo do mundo
emocional prprio e dos demais, sobre o seu
contexto e o contexto do outro, e busca de
uma mudana profunda (estilo de vida).
303 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
A ltima caracterstica
mencionada por Moscovici a equidade
entendida como respeito do contexto
do outro, faz da minoria ativa um ator
particular. na busca do outro, em
considerar o outro como seu ponto de
chegada que esta minoria um ator social.
Capital social
Conceito
O conceito de capital social ajuda
a dar unidade ( um marco de referncia
conceitual) s redes das quais se falou at
aqui. O que se entende com isso? Como
dizem Dekker e Uslaner, o capital social
est constitudo pelo valor das redes
sociais que por um lado vinculam entre si
a pessoas que tem algumas similaridades
entre eles e, pelo outro, constroem
pontes e relaes com pessoas mais
enfocadas nas diferenas entre pessoas,
propondo como base da relao uma
norma de reciprocidade (Dekker and
Uslaner 2001; Uslaner 2001). Neste caso
a reciprocidade que evidenciada.
Outros autores como, por
exemplo, os pioneiros Barnes e Mitchell,
e mais recentemente Sander (2001, p.
213), Adler e Kwon (2002) enfocam outro
fenmeno: aquele que impropriamente
chamado boa vontade ou
sentimento de solidariedade. Boa
vontade e solidariedade caracterizam
o comportamento social de todas as
espcies, desde os insetos at todos
os mamferos inclusos os primatas e a
espcie humana: isso um bem (um
capital) inestimvel. Como diz Sander:
uma pessoa pode encontrar um trabalho
mais facilmente graas a quem conhece
do que aquilo que conhece.
Colocado desta maneira, o
capital social a boa vontade que
disponvel para os indivduos ou os
grupos. Sua fonte reside na estrutura e no
contedo das relaes sociais de um ator
social. Seu efeito fui desde a informao
at a infuncia e a solidariedade que um
ator faz disponvel para outro (Adler and
Kwon 2002, p. 23).
Outros autores ressaltam o
aspecto da interao social como
elemento de capital social (Claridge,
2004) e no marco das interaes
identifcam em particular trs delas: a
afliao a um grupo que tem poder,
a rede pessoal (rede subjetiva ou rede
primria) e uma afliao institucional
(Belliveau et al 1996, p. 1572). P o d e -
se entender por consequncia o valor
em termos de produo de capital que
tem a construo da rede de recursos
comunitrios institucionais e o sentido
do esforo que se realiza de maneira
que os excludos sejam formalmente
vinculados com estas redes. Ter um
sistema que pode receber com efccia
e efcincia as derivaes desde as
organizaes de primeiro nvel no
somente uma necessidade se no o sinal
manifesto de uma riqueza produzida
pelas comunidades.
A posio de Bourdieu (Bourdieu
304 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
1986, p. 248) que se acerca, mais aquela
dos primeiros investigadores das
redes (Barnes, Bott, Mitchell) introduz
um aspecto novo: o capital social o
conjunto dos recursos potenciais ou reais
relacionados com o processo de uma rede
social duradoura feita de relaes mais ou
menos institucionalizadas de vizinhana
e reconhecimento mtuo (Bordieu 1986,
p. 248). Mais tarde Bordieu adicionar a
estas caractersticas tambm o fato do
conhecimento e do reconhecimento
recprocos entre atores da rede (parece
que so estes aspectos os que defnem a
pertinncia de uma rede), dizendo tambm
que no somente o fato que os atores de
uma rede possuam algumas caractersticas
comuns ao elemento que transforma esses
elementos comuns em capital social, seno
o fato que tem entre eles uns vnculos
reciprocamente e permanentes (Bordieu
1980, 2; em Siisiinen, 2000).
Bourdieu, da mesma maneira que
os pioneiros do conceito ressalta que no
sufciente ter elementos em comum entre
atores sociais, tampouco no sufciente
ter riquezas: o valor agregado consiste
em ter relaes duradouras, e as relaes
duradouras se baseiam no conhecimento
e reconhecimento recproco. Entende-
se agora o signifcado da insistncia na
necessidade de ter relaes pessoais e
diretas com os atores comunitrios. Como
poder ser visto, o SIDIEs um dispositivo
de relaes que produzem outras relaes
e por meio destas produz conhecimento
e reconhecimento. Os processos de
construo de todas as redes mencionadas
at aqui so processos de construo de
relaes pessoais e diretas por meio da
participao na vida cotidiana.
Para concluir esta reviso
conceitual: veja Fukuyama, Thomas e
Putnam que com Bourdieu contriburam
para a conceitualizao mais recente
deste fenmeno social. O primeiro
(Fukuyama 1995, p.10) identifca o
capital social como a habilidade das
pessoas de trabalharem juntas com um
propsito comum no marco de grupos
e organizaes, ou, alguns anos depois,
como a existncia de um conjunto
de normas e valores no formais
compartilhados entre os membros de
um grupo que permite a cooperao
entre eles (Fukuyama, 1977).
Putnam pe ao centro do capital
social as redes, as normas e a confana
social afrmando que so estes elementos
os que permitem a coordenao (criao
de ordem) e a cooperao (o trabalhar
juntos) para um benefcio mtuo de
todos os que participam (Putnam 1995,
67), enquanto que Thomas adiciona a
esta ltima concepo o aspecto da
voluntariedade do capital social.
Quando se fala de capital social se faz
referncia aqueles meios e processos
voluntrios que se desenvolvem no
interior das sociedades e que promovem
desenvolvimento para a coletividade em
seu conjunto (Thomas 1996, p.11).
O conceito de confana social
difcil de operacionalizar com clareza,
305 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
mas entende-se que no substrato das redes se encontra este valor intocvel que faz
com que as pessoas renunciem a suas defesas naturais ou culturais at o outro, para
aceitar o vnculo e o pertencimento.
Concluso
Aquele que foi descrito no primeiro e segundo livro do Tratamento
Comunitrio tomou a forma de um conto na qual participaram diversos atores que
dividiram suas relaes, suas prticas e seus conceitos.
Estes atores se reuniram e se interrelacionaram a partir de alguns temas
geradores bsicos: o tema das redes, das minorias ativas, do capital social, das
representaes sociais, da comunidade, do dispositivo, etc. Estes e outros temas
constituram e constituem o andaime conceitual do tratamento comunitrio e o
mapa de sua participao na vida cotidiana das comunidades.
Como se menciona na seo dedicada investigao na ao, a inteno
deste trabalho produzir uma mudana adotando a proposta da investigao
na ao enriquecida pelo aprendido por meio da experincia do tratamento
comunitrio: o valor da relao (do estar ali) que nasce e se desenvolve entre os atores
da investigao e a populao de uma comunidade. A evoluo dessa relao a
medida do conhecimento e da profundidade do impacto da ao social.
Neste contexto o SIDIEs uma ferramenta que ajuda a encontrar o norte quando
se tem a impresso que este despareceu, ou seja, a encontrar e produzir sentido.
306 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
307 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Bibliografa
UNODC. (2011a). World Drug Report, 2011. Vienna: United Nations Ofce on
Drugs and Crime.
UNODC. (2011b). Alternative development - Drug Control through Rural
Development. From http://www.unodc.org/pdf/publications/alt-development_
rural-development.pdf.
UNODC, & WHO. (2008). Principles of Drug Dependence Treatment (Discussion
Paper). Vienna: UNODC-WHO.
Weber, M. (1977 (1921 orig.)). Economia y Sociedad. Mxico: Fondo de Cultura
Economica.
Whitten, L. (2005-2006). Network Therapy Enhances Ofce-Based
Buprenorphine Treatment Outcomes. NIDA Notes , 20 (2).
World Bank, W. (2011). Poverty. From http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY.
Vieira Duarte, P. (2010). Redes Sociais. In AA.VV, Prevenao ao uso indevido
de drogas. Capacitaao para conselheros e lideranCas Comunitrias (pp. 154-174).
Brasilia: SENADI.
Burt, R. (1995). Structural Holes: the social structure of competition. Harvard
University Press.
Basaglia, F. (1979). A psiquiatria alternativa: contra o pessimismo da razao, o
otimismo da prtica: conferencias no Brasil. Sao Paulo: Brasil Debates.
Basaglia, F. (1971). Crimini di Pace, Foucault, Gofman, Laing, Chomsky. Torino:
Einaudi.
Basaglia, F. (1998 (1968)). Listituzione negata. Milano: Baldini Castoldi Dalai.
Basaglia, F. (1981). Scritti I, 1953-1968. Dalla Psichiatria Fenomenologica
allesperienza di Gorizia. Torino: Einaudi.
Basaglia, F. (1982). Scritti II, 1968-1980. Dallapertura del manicomio alla nuova
legge sullassistenza psichiatrica. Torino: Einaudi.
Barnes, J. (1954). Class and Committees in a Norvegian Island Parish. Human
Relations , VII (1), 39-58.
Barreto, A. (2005). Terapia comunitaria passo a passo. Fortaleza: Grafca LCR.
Bertrando, P., & Tofanetti, D. (2000). Storia della terapia familiare. Le persone, le
idee. Milano: Rafaello Cortina Editore.
Boltanski, L., & Chapiello, E. (2005). The new spirit of capitalism. London, New
York: Verso Ed.
Bott, E. (1957). Family and Social Network. London: Tavistock Pubblications.
>
308 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Brasil, M. d. (2003). A politica do Ministerio da Saude para atencao integral a
usuarios de alcohol e outras drogas. Brasilia.
Broadhead, R. S., Heckathorn, D. D., Altice, F., Hulst van, Y., & Carbone, M. (2002).
Increasing drug use adherene to HIV treatment: results of a peer-driven intervention
feasibility study. Social Science & Medicine , 55, 235-246.
Brofenbrenner, U. (1987). La Ecologa del Desarrollo Humano. Buenos Aires:
Paidos.
Brofenbrenner, U. (1979). The Experimental Ecology of Human Development.
Cambridge Mass.: Harvard University Press.
Castel, R. (1995). De la exclusin como estado a la vulnerabilidad como proceso.
Revista Archipilago (21).
Castel, R. (1993). Les Mtamorphoses de la question sociale. Paris: Gallimard.
Cohen, H. (2009). De la desinstitucionalizacin a la atencin en la comunidad.
In J. J. Rodrguez, Salud Mental en la Comunidad (pp. 119-131). Washington DC:
Organizacin Panamericana de la salud.
Copello, A. G. (2006). Family interventions for drug and alcohol misuse: is there
a best practice? Current Opinion in Psychiatry , 19 (3), 271-276.
Copello, A., Williamson, E., Orford, J., & Day, E. (2006). Implementing and
evaluating Social Behavior and Network Therapy in drug treatment practice in the
UK: A feasibility study. Addictive Behaviours , 31, 802-810.
Copello, A., Orford, J., Hodgson, R., & Tober, G. (2009). Social Behaviour and
Network Therapy for Alcohol Problems. Routledge.
Copello, A., Orford, J., Hodgson, R., Tober, G., & Barret, C. (2002). Social behaviour
and network therapy: Basic principles and early experiences. Addictive Behaviors (3),
345-355.
Elias, N. (1993). El proceso de la civilizacin. Investigaciones sociogenticas y
psicogenticas. Mxico: Fondo de Cultura Econmica.
Elias, N. (1965). The established and the outsiders. London: Frank Cass and Co.
Elkaim, M. (1989). Las prcticas de la terapia de red. Buenos Aires: Gedisa.
EMCDDA. (2011). Harm Reduction: evideence, impacts and challenges. Lisboa:
EMCDDA.
Durkheim, . (1994 (1893)). De la division du travail social. Paris: PUF.
Durkheim, . (2004 (1897)). Le Suicide. Paris: PUF.
Durkheim, E. (2004 (1895)). Les rgles de la mthode sociologique. Paris: PUF.
Dabas, E. N. (1993). Red de redes. La prctica de la intervencin en redes
sociales. Buenos Aires: Paidos.
Dabas, E., & Najmanovich, D. (1995). Redes. El lenguaje de los vnculos. Buenos
309 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Aires: Paidos.
Department of Health, U. (2005). HArm Reduction. Tackling drug use and HIV in
the developing world. London: Department of Health.
Fals Bord, O. (1970). Ciencia Propia y colonialismo intelectual. Mxico: Nuestro
Tiempo.
Fals Bord, O. (1979). El problema de como investigar la realidad para
transformarla. Bogot: Tercer Mundo.
Foucault, M. (1981). Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisin. Madrid: Siglo
XXI.
Foucault, M. (1961). Histoire de la Folie lage classique. Paris: Plon.
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard.
Folgheraiter, F. (1994). Interventi di rete e comunit locali. La prospettiva
relazionale nel lavoro sociale. Trento: Erikson.
Forti, L. e. (1979). Laltra pazzia. Milano: Feltrinelli.
Franco, S., Nunes, E., Breilhy, J., Laurell, A., & eds. (1991). Debates en Medicina
Social. Quito: Organizacin Panamericana de la Salud/Asociacin Latinoamericana de
Medicina Social.
Fraser, M., & Hawkins, J. D. (1984). Social Network Analysis and Drug Misuse. The
Social Service Review , 58 (1), 81-97.
Freud, S. (1929). Malestar en la Civilizacion.
Freire, P. (1967). Educacao como prtica da libertade. Rio de Janeiro: Paz y Terra.
Freire, P. (1970 (manuscrito 1968)). Pedagoga do primido. Uruguay: Tierra
Nueva.
Galanter, M. (2001). Terapia di rete per i disturbi da uso di sostanze. Torino:
Bollati Boringhieri (origi. 1999).
Galanter, M., Dermatis, H., Glikman, L., Maslansky, R., & Sellers, B. (2004). Network
therapy: Decreased secondary opioid use during buprenorphine maintenance.
Journal of Substance Abuse Treatment , 26, 313-318.
Gonzalez-Uzcategui, R., & Levav, I. e. (1991). Reestructuracin de la atencin
psiquiatrica: bases conceptuales y guias para su implementacin. Washington DC:
Organizacin Panamericana de la Salud.
Gmez, P. F., & Malvrez, S. (2009). Prevencin de los trastornos mentales. In J.
J. Rodrguez, Salud mental y comunidad (pp. 183-195). Washington DC: Organizacin
Panamericana de la Salud.
Grieco, M. (1987). Keeping in the Family. London: Tavistok Pubblications.
Iriart, C., Waitzkin, H., Breilh, J., Estrada, A., & Mehry, E. E. (2002). Medicina social
latinoamericana: aportes y desafos. Revista Panamericana de Salud Pblica , 12 (2).
310 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Jenkins, W. A., Vila-Rodriguez, F., Paquet, K., MacEwan, G. W., Thorton, A., &
Barr, A. (2010). Social Network Characteristics and Efects on severity of psychosis in
a community sample with high prvealence of stimulant use. Schizophrenia Research
, 117, 190-191.
Keller, D. S., & Galanter, M. (1999). Technology Transfer of Network Therapy to
Community-Based Addictions Counselors: New York, New York. Journal of Substance
Abuse Treatment , 16, 183-189.
Kenna, G. A., & Lewis, D. C. (2008). Risk factors for alcohol and other drug use
by healthcare professionals. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy , 3.
Klefback, J. (1995). Los conceptos de perspectiva de red y los mtodos del
aboredaje en red. In E. Dabas, & D. Najmanovich, Redes. El lenguaje de los vnculos (p.
345ss). Buenos Aires: Paidos.
Lau-Barraco, C., & Collins, R. L. (2010). Social Networks and alcohol use among
non student emerging adults: A preliminary study. Addictive Behaviours .
Lazega, E. (2007). Rseaux sociaux et structures relationnelles. Paris: PUF.
Larissa, L. (2003). Globalizacin, economia informal y redes sociales. Culturas
en contacto. encuentros y Desencuentros (pp. 129-146). Madrid: Moinisterio de
Educacin, Cultura y Deporte.
Latkin, C. A., Forman, V., Knowlton, A., & Sherman, S. (2003). Norms, social
networks, and HIV-related risk behaviors among urban disadvantaged drug users.
Social Science & Medicine , 56, 465-476.
Latkin, C. A., Hua, W., & Tobin, K. (2004). Social Network correlates of self-
reported non-fatal overdose. Drug and Alcohol Dependence , 73 (1), 61-67.
Latkin, C., Mandell, W., Oziemkowska, M., Celentano, D., Vlahov, D., & Ensminger,
M. (1995). Using social network analysis to study patterns of drug use among urban
drug users at high risk for HIV/AIDS. Drug and Alcohol Dependence , 38, 1-9.
Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. In K. Lewin, Resolving
Social Conficts (pp. 201-216). Harper & Row.
Lewin, K. (1931). The confict between Aristotelian and Galilean modes of
thought in contemporary psychology. Journal of Genetic Psychology (5), 141-177.
Levitas, R. (2007). Los lmites de la agenda social europea. REevista del Tercer
Secvtor, Exclusion Social .
Levitas, R. (1996). The Concept of ssocial exclusion and the new Durkheimian
hegemony. Critical Social Policy (46), 5-20.
Lenoir, R. (1974). Les exclus. Un franais sur dix. Paris: Seuil.
Lomitz, L. A. (2007). Political Culture and Social Networks a Comparative Study.
International Sunbelt Social Network Conference. Corfu (Grecia).
311 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Lomnitz, L. A. (2003). Globalizacion, economia informal y redes sociales. http://
estepais.com/inicio/historicos/146/1_Propuesta_Globalizacion_Adler.pdf. Mxico,
Mxico.
Lomnitz, L. A. (2003). Globalizacin, economia informal y redes sociales. Mxico:
UNAM.
Lomnitz, L. A. (2004). Redes horizontales y verticales en la estructura social de
Mxico. Mxico DF: IMAS-UNAM.
Lomnitz, L. (2001). Redes Sociales y Estructura Urbana en America Latina. In M.
Leon-Portilla, Motivos de la Antropologia Americanista. Indagaciones en la diferencia
(pp. 167-190). Mxico: Fondo de Cultura Economica.
Lomnitz, L. (2002). Redes sociales y partidos politicos en Chile. Redes. Revista
hispana para el analisis de las redes sociales , 3 (2).
Lomnitz, L. (2001). Redes Sociales, cultura y poder. Mxico: FLACSO Ed.
Lomnitz, L., & Sheinbaum, D. (2004). Trust, social networks and the informal
economy: a comparative analysis. Review of Sociology , 10, 5-26.
Machin, J., Velasco, M., Silva, Y. E., & Moreno, A. (2010). Eco2. Un modelo de
incidencia en politicas publicas? Estudio de caso de la REMOISSS. Mxico: CAFAC.
Mallia, C. (1990). Action Research According to Kurt Lewin. Orientamenti
Pedagogici , 37 (1), 62-84.
Milanese, E. (2007). Harm Reduction and Community Based Treatment of Drug
Consequences. Evaluation: process and Results. Freiburg: Caritas Germany - Unesco.
Milanese, E. (2008). La comunidad: basurero de los fracasos de las instituciones
y oportunidad para relaciones de ayuda duraderas e incluyentes. In M. UNODC, La
inclusion social. Una respuesta frente a la farmacodependencia (pp. 21-37). Bogot:
UNODC-Ministerio de la Proteccion Social.
Milanese, E. (2007). Politicas de Prevencin y Tratamiento de drogas: 20 aos
despus del primer acuerdo entre paises sobre la reduccion de la oferta y de la
demanda. (p. 14). Ciudad de Mxico: Conferencia no Publicada.
Milanese, E. (2009b). Tratamiento comunitrio de las adicciones y de las
consecuencias de la exclusion grave. Manual de trabajo para el operador. Mxico:
Plaza y Valdes.
Minuchin, S. (1970). The use of an ecological framework in treatment of child.
International Yearbook of Child Psychoatry 1 .
Mitchell, J. (1973). Networks, norms and institutions. In J. Boissevain, & J. Mitchell,
Netwrok Analysis: Studies in Human Interaction. (pp. 15-35). Paris-The Hague: Mouton.
Mithcell, C. J. (1973). Networks, norms and institutions. In J. M. Boissevain,
Netwrok Analysis: Studies in Human Interaction (pp. 15-35). Paris: The Hague.
312 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
Moscovici, S. (1979). El Psicoanlisi, su imagen y su pblico. Buenos Aires:
Huemul.
Morin, E. (1977). La Mthode 1. La Nature de la Nature. Paris: Seuil.
Morin, R. C., & Seidman, E. (1986). A Social Network Approach and the Revolving
Door Patient. Schizophrenia Bulletin , 12, 262-273.
Obradors, A., Garca, P., & Canal, R. (2010). Ciudadana e Inclusin Social. El
tercer Sector y las polticas Pblicas de accin social. Barcelona: Espial. Universidad
Autnoma de Barcelona.
Olivier Sudbrack, M. F. (2010). O trabalho comunitrio e a construao de redes
socialis. In AA.VV., Prevenao ao uso indevido de drogas. Capacitaao para conselheros
e lideranas comunitarias (pp. 165-174). Brasilia: SENAD.
OMS. (2001). Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud Mental, Nuevos
conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra: Organizacin Mundial de la Salud.
OMS, D. d. (1993). Iniciativa Interancional para la educacion en habilidades para
la vida en las escuelas. Ginebra: OMS.
Orford, J., Hodgson, R., Copello, A., Wilton, S., & Slegg, G. (2009). To what factors
do clients attribute change? Content analysis of follow-up interviews with clients of
the UK Alcohol Treatment Trial. Journal of Substance Abuse Treatment , 36, 49-58.
Quaglio, G., Lugoboni, F., Pattaro, C., Montanari, L., Lechi, A., Mazzelani, P., et
al. (2006). Patients in long-term maintenance therapy for drug use in Italy: analysis of
some parameters of social intgegration and serological stastus for infectious diseases
in a cohort of 1091 patients. BMC Public Health , 6.
Palmonari, A. (1989). Processi simbolici e dinaiche sociali. Bologna: Il Mulino.
Pappi, F., & Konig, T. (1995). Les organisations centrales dans les rseaux du
domaine politique: une comparaison Allemagne-Etats Unis dans le champ de la
politique du travail. Revue franaise de Sociologie (36), 725-742.
Parkin, F. (1974). The Social Analisis of Class Structure. London: Tavistock.
Pizarro, N. (2004). Un nuevo enfoque sobre la equivalencia estructural: lugares y
redes de lugares como herramientas para la teoria sociolgica. REDES Revista hispana
de analisis de redes sociales , 5 (2).
Picoche, J. (1992). Dictionnaire timologique du Franais. Paris: Robert.
Piselli, F. (2001). Reti. Lanalisi dei network nelle scienze sociali. Roma: Donzelli.
Saussure, F. d. (1931). Cours de linguistique gnrale. Ginebra: Payot.
Salud, O. M. (2011). Informe sobre la salud en el mundo. Salud Mental. Nuevos
Conocimientos, Nuevas Esperanzas. Ginebra: WHO.
SENAD, S. N. (2010). Preveno ao uso indevido de drogas. Brasilia: SENAD.
Silver, H. (1994). Social Exclusion and Social Solidarity: three paradigms.
313 TRATAMENTO COMUNITRIO | CAPTULO SEXTO
International Labor Review , 133 (5).
Speck, R. A. (1974). Family Networks. New York: Vintage Books.
Speck, R. (1967). Psychotherapy of the Social Network of a Schizofrenic Family.
Fam. Proc. , 6.
Rawal, N. (2008). Social Inclusion and exclusion: a review. Dhaulagiri Journal of
Sociology and Anthropology , 161-162.
Renault, E. (2008). Soufrances Sociales. Philosophie, psychologie et politique.
Paris: Editions la Dcouverte.
Rodrguez, J. J. (2009). Salud Mental en la Comunidad. Washington DC:
Organizacin Panamericana de la Salud.
Tyler, K. A. (2008). Social network characteristics and risky sexual and drug
related behaviors among homeless young adults. Social Science Research , 37, 673-
685.
Tobin, K. E., Hua, W., Costenbader, E. C., & Latkin, C. A. (2007). The association
between change in social network characteristics and non- fatal overdose: Results
from the SHIELD study ion Baltimore, MD, USA. Drug and Alcohol Dependence , 87
(1), 63-68.
Transform, D. P. (2009). After the war on drugs: blueprint for regulation. London:
Transform, Drug Policy Foundation.
PARCEIROS
DSSS-Imphal (Manipuri, ndia)
Baraca (Caritas Bangladesh, Bangladesh)
Caritas Medan (Medan-Indonsia)
EFREM MILANESE
(PhD, Psicologia, Universidade de Paris V, Faculdade de Cincias Humanas,
Sorbonne), Psicanalista; desde 1989 acompanha o processo descrito neste livro.
Você também pode gostar
- Projeto Gambiorras2Documento4 páginasProjeto Gambiorras2Joao PauloAinda não há avaliações
- A metodologia dos grupos multifamílias e o serviço públicoDocumento3 páginasA metodologia dos grupos multifamílias e o serviço públicoFlaviane OliveiraAinda não há avaliações
- Drogas na adolescência: prevenção pelo jornal on-lineDocumento16 páginasDrogas na adolescência: prevenção pelo jornal on-lineRose AlmeidaAinda não há avaliações
- Livro 2 Salud Comunit. BrasilDocumento262 páginasLivro 2 Salud Comunit. BrasilLore LefebvreAinda não há avaliações
- wo3yICdZZJeyR4baY0S64p7iNGo3e3RJqk0tkGLYDocumento29 páginaswo3yICdZZJeyR4baY0S64p7iNGo3e3RJqk0tkGLYÁtila MoreiraAinda não há avaliações
- Cartilha Estigma Discriminação e ViolênciaDocumento40 páginasCartilha Estigma Discriminação e ViolênciaFabricioMateusFloresAinda não há avaliações
- Entre o espetáculo, a festa e a argumentação: Mídia, comunicação estratégica e mobilização socialNo EverandEntre o espetáculo, a festa e a argumentação: Mídia, comunicação estratégica e mobilização socialAinda não há avaliações
- Terapia grupal aborda dependência químicaDocumento8 páginasTerapia grupal aborda dependência químicaPedro R. CoutinhoAinda não há avaliações
- Refazendo Lacos de ProtecaoDocumento64 páginasRefazendo Lacos de ProtecaocsilvaAinda não há avaliações
- Entrelaçando Redes: Reflexões Sobre Atenção a Usuários de Álcool, Crack e Outras DrogasNo EverandEntrelaçando Redes: Reflexões Sobre Atenção a Usuários de Álcool, Crack e Outras DrogasAinda não há avaliações
- DR4 1Documento2 páginasDR4 1pejaquimAinda não há avaliações
- Projeto ExtensaoDocumento6 páginasProjeto ExtensaoMaria Luiza Alegria e diversãoAinda não há avaliações
- Outras palavras sobre drogasDocumento194 páginasOutras palavras sobre drogasMayna de ÁvilaAinda não há avaliações
- Manual Práticas Positivas e Colaborativas 2014Documento200 páginasManual Práticas Positivas e Colaborativas 2014Catarina RiveroAinda não há avaliações
- Projeto - Combate Ao Uso de Drogas e Entorpecentes Nov 2022Documento24 páginasProjeto - Combate Ao Uso de Drogas e Entorpecentes Nov 2022Janice SimoesAinda não há avaliações
- PBPD - Guia Sobre Política de Drogas para MunicípiosDocumento65 páginasPBPD - Guia Sobre Política de Drogas para MunicípiosMyro RolimAinda não há avaliações
- Crack Trab Grupo FinalDocumento12 páginasCrack Trab Grupo FinalDori SantosAinda não há avaliações
- Livro O Cuidado em Cena EbookDocumento383 páginasLivro O Cuidado em Cena EbookMichele De Mendonca LeiteAinda não há avaliações
- As Práticas Psicológicas Com Crianças e Adolescentes em PDFDocumento17 páginasAs Práticas Psicológicas Com Crianças e Adolescentes em PDFAnonymous rMYPpUA1Ainda não há avaliações
- Prevenção de Drogas na Saúde e EducaçãoDocumento37 páginasPrevenção de Drogas na Saúde e EducaçãoTarcísio Guedes100% (1)
- Comunicação organizacional: conceitos e dimensõesDocumento6 páginasComunicação organizacional: conceitos e dimensõesRui Roinuj MaliAinda não há avaliações
- Empoderamento e desenvolvimento da comunidadeDocumento18 páginasEmpoderamento e desenvolvimento da comunidadeQué RemAinda não há avaliações
- 4 MEDIACAO EXTRAJUD JUSTICA RESTAURATIVA-libreDocumento155 páginas4 MEDIACAO EXTRAJUD JUSTICA RESTAURATIVA-libreaninhamorenaAinda não há avaliações
- Atuação do psicólogo no tratamento de dependentes químicosDocumento5 páginasAtuação do psicólogo no tratamento de dependentes químicosMaria Luísa LeiteAinda não há avaliações
- A favela: Protagonismo na educação e no trabalhoNo EverandA favela: Protagonismo na educação e no trabalhoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Intervenção Psicodramática em AtoDocumento9 páginasIntervenção Psicodramática em AtoJéssica BeloAinda não há avaliações
- Livro - 2016 Gestão SocialDocumento263 páginasLivro - 2016 Gestão SocialandersondenverAinda não há avaliações
- Inserção Na Comunidade e Análise de Necessidades - Reflexões Sobre A Prática Do PsicólogoDocumento12 páginasInserção Na Comunidade e Análise de Necessidades - Reflexões Sobre A Prática Do PsicólogoAnapsi02Ainda não há avaliações
- Perguntas Psicologia ComunitáriaDocumento14 páginasPerguntas Psicologia ComunitáriaInes DuarteAinda não há avaliações
- Apostila GruposDocumento32 páginasApostila GruposmottanathaliaAinda não há avaliações
- Psicologia Comunitária: Qualidade de Vida e Prevenção de DoençasDocumento6 páginasPsicologia Comunitária: Qualidade de Vida e Prevenção de DoençasDuDu Da Moz BriffAinda não há avaliações
- Mediação escolar e construção de sentidoDocumento15 páginasMediação escolar e construção de sentidoLuana Michalski De Almeida BertollaAinda não há avaliações
- O Sítio Das DrogasDocumento7 páginasO Sítio Das Drogasdebora limaAinda não há avaliações
- Atenção psicossocial em saúde mental: temas para (trans)formaçãoNo EverandAtenção psicossocial em saúde mental: temas para (trans)formaçãoAinda não há avaliações
- Working Paper Series Comunidades Terapeuticas No BrasilDocumento185 páginasWorking Paper Series Comunidades Terapeuticas No BrasilBarbarellaBandaAinda não há avaliações
- PROJECTO ARNALDO CONCLUIDO-1 ProntoDocumento15 páginasPROJECTO ARNALDO CONCLUIDO-1 ProntoArnaldo Borges MonteiroAinda não há avaliações
- Redução de Danos e Linhas de Cuidado - Ferramentas Possíveis para o Cuidado em Saúde Mental Álcool e Outras Drogas - Paula Adamy e Rosane NevesDocumento14 páginasRedução de Danos e Linhas de Cuidado - Ferramentas Possíveis para o Cuidado em Saúde Mental Álcool e Outras Drogas - Paula Adamy e Rosane NevesPaulaAinda não há avaliações
- Inserção Na Comunidade e Análise de Necessidades: Reflexões Sobre A Prática Do PsicólogoDocumento20 páginasInserção Na Comunidade e Análise de Necessidades: Reflexões Sobre A Prática Do PsicólogoPaula S RodriguezAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento2 páginasIntroduçãociprianobranquinhooAinda não há avaliações
- Genero Fora Da Caixa WebDocumento70 páginasGenero Fora Da Caixa WebJanice SantosAinda não há avaliações
- Projeto Socialização de Adictos Da Comunidade Terapêutica Sagrada FamíliaDocumento14 páginasProjeto Socialização de Adictos Da Comunidade Terapêutica Sagrada FamíliaGustavo MaiaAinda não há avaliações
- Instituto Politécnico Sumayya ProjectoDocumento13 páginasInstituto Politécnico Sumayya ProjectoMachisso Montgomery Silvério100% (1)
- Psicologia Comunitária com AdolescentesDocumento13 páginasPsicologia Comunitária com AdolescentesglauciamagaAinda não há avaliações
- Terapia cognitiva: Novos contextos e novas possibilidadesNo EverandTerapia cognitiva: Novos contextos e novas possibilidadesAinda não há avaliações
- Terapia ocupacional social: Desenhos teóricos e contornos práticosNo EverandTerapia ocupacional social: Desenhos teóricos e contornos práticosAinda não há avaliações
- Relatório Final de Intervenção PsicossocialDocumento23 páginasRelatório Final de Intervenção PsicossocialFabiola BocchiAinda não há avaliações
- Polejack - Psicologia e Políticas Pub ResenhaDocumento3 páginasPolejack - Psicologia e Políticas Pub ResenhaliviaapAinda não há avaliações
- Perspectivas interdisciplinares sobre adolescência, socioeducação e direitos humanosNo EverandPerspectivas interdisciplinares sobre adolescência, socioeducação e direitos humanosAinda não há avaliações
- Portfolio Mód. 3 e 4 - Saude MentalDocumento10 páginasPortfolio Mód. 3 e 4 - Saude MentalGreice KellenAinda não há avaliações
- Metodologias participativas e mobilização psicossocialDocumento240 páginasMetodologias participativas e mobilização psicossocialEliabe MeloAinda não há avaliações
- Trabalho Grupo Resumo ArtigoDocumento7 páginasTrabalho Grupo Resumo ArtigoViviane ValtingojerAinda não há avaliações
- Resumo - CRR-Crack e Outras Drogas - Curso 1 e 5Documento1 páginaResumo - CRR-Crack e Outras Drogas - Curso 1 e 5Ailton Souza AragãoAinda não há avaliações
- Psicologia Comunitária e sua históriaDocumento33 páginasPsicologia Comunitária e sua históriaSISSILIA VILARINHO NETOAinda não há avaliações
- Crack Politicas PúblicasDocumento10 páginasCrack Politicas PúblicasantoniapenhamAinda não há avaliações
- DrogadiçãoDocumento11 páginasDrogadiçãochristian mendesAinda não há avaliações
- Livro 003 RIAC Diversidade Inclusao Democraria 26 Nov 2020Documento389 páginasLivro 003 RIAC Diversidade Inclusao Democraria 26 Nov 2020Leliane RochaAinda não há avaliações
- Educação Ambiental Relatório UEMADocumento5 páginasEducação Ambiental Relatório UEMAAlan ProtazioAinda não há avaliações
- Mediação G C.resumos 1Documento29 páginasMediação G C.resumos 1carlaloboAinda não há avaliações
- Comunicação Organizacional e As Organizações Na Área de Saúde PDFDocumento17 páginasComunicação Organizacional e As Organizações Na Área de Saúde PDFMargareth MichelAinda não há avaliações
- A Comunicação Organizacional, As Redes Sociais e Seus Desafios: Afetos e Emoções Nesse ContextoDocumento20 páginasA Comunicação Organizacional, As Redes Sociais e Seus Desafios: Afetos e Emoções Nesse ContextoTonilson de Assunçao NarcisoAinda não há avaliações
- Helper 201119204205Documento1 páginaHelper 201119204205Marcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Livro Ferramentas 001 PDFDocumento38 páginasLivro Ferramentas 001 PDFMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Livro Ferramentas 001 PDFDocumento38 páginasLivro Ferramentas 001 PDFMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Livro Ferramentas 001 PDFDocumento38 páginasLivro Ferramentas 001 PDFMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Manutencao de Perifericos - Aula15Documento27 páginasManutencao de Perifericos - Aula15Marcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- 07-Como Testar ComponentesDocumento153 páginas07-Como Testar Componenteswluiz04_29738426100% (9)
- Circuitos Elétricos em Um TabletDocumento60 páginasCircuitos Elétricos em Um TabletDaniel PatrocinioAinda não há avaliações
- Livro Ferramentas 001 PDFDocumento38 páginasLivro Ferramentas 001 PDFMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- HHHHDocumento2 páginasHHHHMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Drogas, encarceramento e custos da política de drogas no BrasilDocumento32 páginasDrogas, encarceramento e custos da política de drogas no Brasilana carolina100% (1)
- Tratamento Comunitário Manual de Trabalho 1Documento318 páginasTratamento Comunitário Manual de Trabalho 1Marcos Antonio Perazzo0% (1)
- A Cl+¡nica Do MorarDocumento6 páginasA Cl+¡nica Do MorarMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- 07-Como Testar ComponentesDocumento153 páginas07-Como Testar Componenteswluiz04_29738426100% (9)
- A Saude Da Familia em Populacoes CarcerariasDocumento58 páginasA Saude Da Familia em Populacoes CarcerariasMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- EditalDocumento7 páginasEditalMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- IPTV em rede MulticastDocumento35 páginasIPTV em rede MulticastMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Paulo Freire Pedagogia DiversidadeDocumento12 páginasPaulo Freire Pedagogia DiversidadeMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Redes sem fio: conceitos e configuraçãoDocumento65 páginasRedes sem fio: conceitos e configuraçãoMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Despesas de CasaDocumento12 páginasDespesas de CasaMarcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Cotidiano Profissionais Saúde Programa +vida RecifeDocumento192 páginasCotidiano Profissionais Saúde Programa +vida RecifemarcobelfortrecifeAinda não há avaliações
- Abramovay, M (Juventudes e Sexualidade)Documento412 páginasAbramovay, M (Juventudes e Sexualidade)stellaorly100% (1)
- Informe Revista 2011 1Documento5 páginasInforme Revista 2011 1Marcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Anatomia ..Documento5 páginasAnatomia ..Marcos Antonio PerazzoAinda não há avaliações
- Ética na docênciaDocumento24 páginasÉtica na docênciaMarcelo Mazurek WisniewskiAinda não há avaliações
- O Menino do Pijama ListradoDocumento2 páginasO Menino do Pijama ListradoAlanna SaitoAinda não há avaliações
- Distribuição audiovisual na InternetDocumento21 páginasDistribuição audiovisual na InternetAndrea RibeiroAinda não há avaliações
- Novoplural9 Lprofessor Teste Sumativo2 DramaticoDocumento5 páginasNovoplural9 Lprofessor Teste Sumativo2 DramaticoMarisa MontesAinda não há avaliações
- Aula 4 - 2 EM - Patrimonialismo - As Raízes Cordiais Do BrasilDocumento25 páginasAula 4 - 2 EM - Patrimonialismo - As Raízes Cordiais Do BrasilDaniel Barbosa0% (1)
- Revista Z - Março 2010Documento12 páginasRevista Z - Março 2010SiteZoomAinda não há avaliações
- Guia de Implementacao - Visanet VBVDocumento8 páginasGuia de Implementacao - Visanet VBVRenato MorenoAinda não há avaliações
- PsicanaliseDocumento12 páginasPsicanaliseMay SantanaAinda não há avaliações
- Na Encruzilhada - Arte e Fotografia No Começo Do Século XX - Annateresa FabrisDocumento56 páginasNa Encruzilhada - Arte e Fotografia No Começo Do Século XX - Annateresa FabrisYasmin Nogueira100% (1)
- Resenha Terapia Cognitiva Dos Transtornos Da Personalidade Book Review Cognitive Therapy of PersonalDocumento2 páginasResenha Terapia Cognitiva Dos Transtornos Da Personalidade Book Review Cognitive Therapy of PersonalViviane Magdaleni Pereira100% (1)
- Resenha - Pequena ViagemDocumento6 páginasResenha - Pequena ViagemJ. Luc Regio GAinda não há avaliações
- Hierarquia Das LeisDocumento7 páginasHierarquia Das LeisJames Santos TeixeiraAinda não há avaliações
- Questionário Sobre Partículas MagnéticasDocumento3 páginasQuestionário Sobre Partículas MagnéticasRenata CarvalhoAinda não há avaliações
- referenciAL Teórico MusculaçaoDocumento15 páginasreferenciAL Teórico MusculaçaoAline HessAinda não há avaliações
- Comportamentos pró-sociais em adolescentes institucionalizadosDocumento7 páginasComportamentos pró-sociais em adolescentes institucionalizadosfatimaramos31Ainda não há avaliações
- Dissertação - Deyse S. Rubim PDFDocumento132 páginasDissertação - Deyse S. Rubim PDFGilberAinda não há avaliações
- Contrato Reforma - BaseDocumento6 páginasContrato Reforma - BaseAnádria SantosAinda não há avaliações
- Nome:: Eu Só Quero Ouvir Estórias Que Sejam ConsagradasDocumento2 páginasNome:: Eu Só Quero Ouvir Estórias Que Sejam ConsagradasEnrico Pompeu Paduan Dal EvedoveAinda não há avaliações
- Apostila Equilíbrio Químico (1) ..Documento5 páginasApostila Equilíbrio Químico (1) ..goldminer2Ainda não há avaliações
- Apostila EscreventeDocumento461 páginasApostila EscreventeNikolai Bressan de CarvalhoAinda não há avaliações
- História do Pensamento EconómicoDocumento110 páginasHistória do Pensamento EconómicoS.NhabindeAinda não há avaliações
- Determinando o tempo para eventos em Astrologia HoráriaDocumento3 páginasDeterminando o tempo para eventos em Astrologia HoráriaAna Paula Rodrigues67% (3)
- Exercícios de PA e PGDocumento14 páginasExercícios de PA e PGAdriano BicalhoAinda não há avaliações
- A Cidadela Vermelha+A Queda Do Feiticeiro VermelhoDocumento31 páginasA Cidadela Vermelha+A Queda Do Feiticeiro VermelhoCristian Pio AvilaAinda não há avaliações
- Teste - Unidade 4Documento5 páginasTeste - Unidade 4TomasAinda não há avaliações
- FQ Ficha Trabalho1 9BC F 9 ANODocumento4 páginasFQ Ficha Trabalho1 9BC F 9 ANOVânia Maria SantosAinda não há avaliações
- Identificação dos Pontos Anatômicos e Medidas AntropométricasDocumento17 páginasIdentificação dos Pontos Anatômicos e Medidas AntropométricasNyllo AlvesAinda não há avaliações
- 7 Dicas de PersuasãoDocumento11 páginas7 Dicas de PersuasãoWelington PinhoAinda não há avaliações
- Livro de Leitura para o 3.o anoDocumento160 páginasLivro de Leitura para o 3.o anoSara Pereira100% (1)
- Apresentação - Evolução Da População Portuguesa Na 2. Metade Do Séc. XX (10.º)Documento100 páginasApresentação - Evolução Da População Portuguesa Na 2. Metade Do Séc. XX (10.º)profgeofernando0% (1)