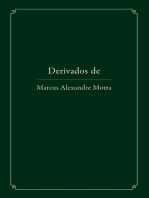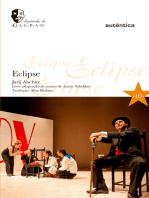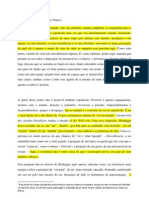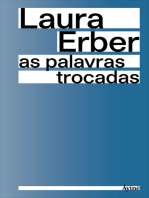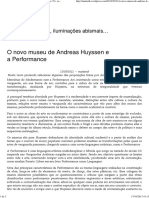Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Corpo em Devir - Luiz Fuganti PDF
Enviado por
Julya VasconcelosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Corpo em Devir - Luiz Fuganti PDF
Enviado por
Julya VasconcelosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
C orpo em devir
Corpo
em devir
L uiz
Fuganti
devir eterno e necessrio vir-a-ser, que torna a existncia necessria e enquanto tal nos atravessa, constitui e sustenta toda a natureza. Ele, alm de causa de si, tambm o nico substrato que engendra o corpo. Mas, apesar de jamais deixar de atravesslo e de engendr-lo, o devir e os processos de diferenciao que o produzem nos escapam sempre mais medida que a vida humana, na condio atual, avana. Assim, vamos nos perdendo de ns mesmos e do corpo prprio do desejo, daquilo que deseja em ns. Nosso modo de vida o inimigo fundamental. H sculos, h milnios, e a cada nascimento ou ciclo de vida, essa histria se repete. Os tempos acumulados da humanidade e os procedimentos atuais de gerao de conscincia no param de se cruzar. Camadas e linhas de tempos e movimentos dobrados coexistem, se condensam e se dilatam em ns, em nosso corpo e pensamento. Uma pluralidade de devires e de movimentos quebrados que no s so os do corpo penetrado de acontecimentos vividos, mas tambm os do corpo ramificado da humanidade, com toda a presso virtual da memria que subsiste nele e faz-se continuar no que est por vir. As formaes humanas, atravs de seus modos de viver e de pensar, inventaram e ainda conservam e cultivam
uma tendncia em investir e aplicar tempos e movimentos que nos afastam cada vez mais do gosto pelas experimentaes criadoras. Ainda que, com o protesto do nosso corpo intenso, desconfiemos do que poderia ser um modo de pensamento afirmativo, desejante das potncias de variar e instaurar novas dimenses existenciais. Com isso continuamos nos afastando tambm, cada vez mais, da capacidade de acontecer. Acontecer como produo de realidades inditas, numa experimentao direta, sem o piedoso comando das estruturas da representao humana. Eis o foco problemtico que sugiro trabalhar aqui. Ns geralmente vivemos, por mais paradoxal que isso possa parecer, de modo a nos separar do que podemos. Ns no sabemos muito bem mais o que vivermos colados capacidade de existir na sua abertura mxima ou, no mnimo, na sua abertura que faz a nossa potncia crescer. Esse horizonte cada vez mais ofuscado. Eu diria mais: h uma instituio humana que investe cada vez mais na separao da vida do que ela pode; e falsifica o que viver; assim tambm falsifica o que pensar. E no se sabe mais da vida a no ser longe do imediato, a no ser fora do acontecimento. No se sabe mais o segredo de um modo de vida verdadeiramente
Luiz Fuganti filsofo, arquiteto e escritor. Fundador da Escola Nmade de Filosofia.
67
s ala p reta
ativo, afirmativo da diferena que produz real, que faz do durar um gosto continuado e colado a uma diferenciao intensiva. A gente sabe, geralmente, de uma vida reativa,, que se ressente das variaes sofridas nos encontros, que padece das multiplicidades, que s tolera a diferena operando de maneira domesticada, bem intencionada, previsvel, conciliada, rendida pelo consenso no mau uso da dor. Parece que s se capaz de conceber uma vida cujo horizonte negativo, cujo tempo um tempo aniquilador, cuja idia da morte uma idia de degenerescncia pela matria ou pelo desejo. Ns no sabemos mais tambm o que agir intrinsecamente num devir constituinte de ns prprios, nem como engendrar o necessrio ponto de vista que faz conquistar uma capacidade de auto-gerao do valor e que , em ltima instncia, a realizao imanente da prpria potncia que nos constitui e que nos faz viver. Geralmente agimos por determinao extrnseca, mesmo e principalmente quando acreditamos que conquistamos uma autonomia moral de sujeitos legisladores ou de profissionais competentes, autorizados e autorizadores, porque, como diz Nietzsche, moral e autnomo se excluem. Chamamos a isso ao, mas ignoramos a causa real do que nos determina a agir, a reagir, a pensar, a acreditar, a desejar. Nesse sentido, de um ponto de vista de quem exerce certo tipo de liberdade real, isto , de quem efetua e preenche a prpria potncia com encontros que fazem a diferena, eu diria que para esse, a idia de um corpo em devir seria uma redundncia, porque poderia ele nos perguntar haveria alguma coisa fora do devir? O corpo estaria fora do devir? O pensamento estaria fora do devir? Diramos ns que impossvel alguma coisa, algo ou algum estar fora do devir! O devir no um acidente na existncia, o devir constitutivo da prpria essncia. Sem ele no haveria nem o ser, nem a existncia, muito menos a auto sustentabilidade no existir. O devir um campo constitutivo, no s da experincia vivida, como da produo da eternidade. A eternidade se produz no devir.
Fica esquisito, ento, a gente afirmar que existe um corpo separado do devir, se nada se sustentaria nem continuaria fora do devir! A nossa idia de que, conforme Spinoza, s o homem separado da potncia de pensar, portanto passivo e reduzido ao conhecimento por imagens, poderia acreditar e investir em um ser que transcenderia o devir! Assim tambm pensa Nietzsche, que vislumbra a a projeo sobre a natureza de uma imagem invertida, engendrada como reflexo de um devir reativo das foras do corpo que entra em decadncia. O corpo segue em devir, mas o horizonte torna-se um horizonte niilista. Nietzsche distingue estgios de niilismo. Ele atribui idia de niilismo alguns sentidos que se encadeiam, que se sucedem na histria e coexistem no presente. Um deles o niilismo negativo. O niilismo negativo no um noser, antes um valor de nada que a vida toma, que a existncia, que a natureza, que o desejo, que o movimento, que o tempo e o espao enfim, que o corpo e os afetos tomam. H sempre no niilismo uma desqualificao do corpo, um pressuposto de que a existncia tem alguma carncia que a torna imperfeita, de que existir desejar e desejar ter falta de objeto. E, nesse sentido, o homem, separado da capacidade de existir, busca, desesperado e confusamente para escapar dessa existncia cuja falta de preenchimento traduzida por uma conscincia devedora , um elemento superior, um valor superior vida, um valor superior existncia. Desse modo no se diz diretamente no vida, no se diz no natureza, no se diz no Terra, mas se diz sim a um ideal, sim a um outro mundo, ou at mesmo sim a um sonho de vida os publicitrios tomando o lugar dos velhos sacerdotes. Mas essa a mentira do ideal, essa verdadeiramente a maneira de dizer no vida, de desqualificar o corpo, o desejo e o pensamento. E essa tambm a maneira mais bsica, de um ponto de vista formal relativo ao uso da linguagem de submeter a expresso da vida representao moral, lgica de um investimento de foras gregrias,
68
C orpo em devir
coletivamente determinado; de separar a vida do que ela pode, ou de descolar o corpo do seu tornar-se ativo e o pensamento do seu tornar-se afirmativo, para entreg-los a um devir reativo controlado por um sistema de julgamento divino ou humano. Na medida mesma em que ns perdemos a capacidade de acontecer, ns no sabemos mais qual a fonte ou o motor do nosso desejo. No sabemos mais qual a fonte ou o motor do movimento do corpo. Perdemos o sentido das velocidades e lentides, dos seus fluxos que redistribuem o desejo. No apreendemos mais, seno confusa e indiretamente, as modificaes que afetam um corpo intensivo e o fazem muda seu destino. O que nos escapa ento a natureza operando em ato, constituinte de um campo afetivo. O que nos escapa ento aquilo que, no corpo, produz afetos e, tambm, o primeiro dos afetos, o desejo, ao colocar sua potncia de composio em variao atravs dos encontros e processos dos quais participa. A fronteira, o extremo do meio, aquilo que ganha vida atravs de ns ao tocar a ponta do espao, ao tocar com sua pele fsica o prprio ser do sentir, o percepto do perceber. Na medida que ressentimos o acontecimento, o corpo perde a sua fonte, no s material, mas tambm temporal. No sabe mais inventar um jeito verdadeiramente prprio para um devir auto-sustentvel. Nem se auto-modificar, nem se auto-regular. Torna-se impotente para modificar-se a si mesmo e fruir das coisas modificadas que resultam dessa prpria efetuao. Por outro lado, nesse processo de desqualificao do acontecimento sempre indito, tambm o pensamento se separa da capacidade de acontecer e de criar no tempo um tempo imediato que o atravessa. Ele perde, digamos assim, o aspecto inovador, a superfcie imediata do tempo. Ao perder o prprio meio ou conexo com o devir, ele perde o frescor do acontecimento sem o qual o pensamento no se cria a si prprio, no cria ao conhecer. Ento ns nos separamos simultaneamente da capacidade de acontecer no corpo e
da capacidade de acontecer no pensamento. Nos separamos da capacidade de exercer a sensibilidade, de ativar os elementos intensivos do corpo; assim como da capacidade de afirmar o pensamento sem a instncia da representao, do eu ou da conscincia. Ns, ao contrrio, colocamos a conscincia como mediador imperativo do corpo e do pensamento. Mas cometemos essa inverso atribuindo conscincia uma espcie de eminncia sem a qual, acredita-se, a alma seria tragada pelo corpo em devir, fonte de sua perdio. E este corpo de fluxos comprometeria seu resgate ou salvao, pois o corpo no organizado, no sendo preenchido de finalidade ou sentido para o bem, deixaria tambm a tutela de uma instncia que pretendia represent-lo perante seu tribunal instncia que seria intil sem a dobragem e a traio do corpo em devir. Ns penhoramos o corpo sob uma conscincia reativa, devota e passional. Penduramos o pensamento no teto circular das belas significaes. Abortamos o pensar e etiquetamos o real ao colocar em seu lugar uma cadeia de signos de linguagem. Tal rede estrutural de significao, ao mesmo tempo em que enclausura o desejo na interioridade do sujeito, traga o pensamento na gravitao inelutvel de um buraco negro, o de uma dvida infinita. M-conscincia, diria Nietzsche, iluso do livre-arbtrio ou dos decretos livres, diria Spinoza. Assim buscaramos maneiras de nos ligar novamente ao que podemos e de reconquistar as potncias do corpo, de abri-lo ao que pode. Ensaiamos retomar a abertura do desejo e inventar um pensamento afirmativo e abrir-se a todo o seu vigor, a fora do que ele pode. Mas, uma vez que estamos impotentes no pensamento, impotentes no corpo e impotentes no desejo, do seio dessa impotncia mesma que emerge uma vontade de poder, um desejo de poder, um desejo de se religar tristemente quilo que perdemos. E como, artificialmente, fomos separados do que podemos, do ponto de vista do desejo, do corpo e do pensamento, tambm, artificialmente, nos ligamos a esse poder pela
69
s ala p reta
inveno de um espelho, pela inveno de uma superfcie de reconhecimento, por um rebatimento que nos faz existir atravs do olhar do outro, atravs da aceitao do outro, e que nos ameaa e condena ao ostracismo sob a rejeio do Outro. Ns criamos, digamos assim, um espelho na medida em que produzimos um rosto em ns. O espelho da sociedade o nosso prprio rosto, o modo como o nosso rosto se molda, gera, emite signos, recebe signos e se torna o porta-voz de vozes, da nossa escrita, da nossa leitura, da nossa interpretao. O rosto como uma substncia iniciativa que autoriza ou desautoriza, que institui ou desinstitui a conscincia ou o pensamento submetido conscincia e o corpo obediente ao organismo. Ns acabamos por perder o corpo, ou o que diz Artaud: ns perdemos o corpo pleno, sem rgos, que no necessita, no dos rgos, mas de uma organizao para os rgos que faz perder exatamente essa capacidade autogerativa e autnoma do corpo, talvez da mesma maneira como perdemos a capacidade autogerativa e criativa do pensamento. E com isso, uma vez que ns perdemos a capacidade de acontecer, ns investimos num ideal. Esse ideal inicialmente tem a altura de Deus, tem altura do outro mundo, tem altura de uma transcendncia que no encontraramos na existncia exatamente pela perfeio ou pelo acabamento, ou pela eterna identidade circular que a experincia inviabilizaria. Evidentemente seria algo que estaria fora da natureza, mas esse algo fora da natureza um mero pretexto, uma mera desculpa, um mero sintoma, no causa de nada, o mundo verdadeiro, o outro mundo, o mundo de Deus. O mundo ideal na verdade um pretexto, um instrumento, um meio exatamente fictcio para atribuir ou destituir valor ao corpo e ao pensamento, uma instncia de julgamento. Na verdade, pelo investimento num modelo, pelo investimento na identidade, pelo investimento num ideal, pelo investimento em Deus, pelo investimento num estado espiritual ns simplesmente nos servimos de uma mquina de desti-
tuir o corpo e o pensamento da sua autonomia. Ns dizemos que, atravs desse valor essencial e verdadeiro, ns podemos medir o valor do corpo e do pensamento. Ento, dessa maneira, ns fundamos a representao. A representao um lugar privilegiado de re-apresentao das coisas imediatas. Ns precisamos mediar as coisas imediatas que no so auto-suficientes, que no so dignas de seu modo prprio de acontecer, que tem uma relao muito prxima com o caos. Essa, evidentemente, uma viso religiosa, uma viso teolgica, uma viso metafsica, uma viso moralista, mas, pra falar como Nietzsche, o ideal asctico, ou simplesmente esse aspecto do niilismo negativo apenas, digamos assim, uma espcie de primeira instncia, ou primeira desculpa que precisa levar a cabo uma empresa de acusao generalizada da vida. Acusao generalizada em relao a que exatamente? Em relao a foras, a potncias, a intensidades, a movimentos, a tempos que no tm intencionalidade alguma, que no funcionam por finalidade, que no tem um objetivo de chegar a um alvo superior que os resgataria, porque tem um modo prprio de acontecer no imediato sem o que no realizam, no efetuam a sua prpria natureza e no transmutam. Ento, essa grande empresa, essa poltica do dio, digamos assim, que uma instituio humana, uma inveno humana e os homens se agarram a isso como uma salvao , exercida de modo sistemtico, no simplesmente por poderes exteriores a ns, mas por ns mesmos. Ns somos cmplices dessa poltica. Colocamos nosso corpo a servio desse organismo, destitumos o nosso corpo do devir propriamente ativo e o introduzimos ou entregamos de bandeja a um devir reativo, que busca simplesmente a conservao de si e que pe a questo criativa como secundria. A criao, no melhor dos casos, s passa na medida em que posta a servio da conservao: h uma inverso radical a. Na mesma medida que quando pensarmos acreditando que s podemos pensar verdadeiramente, legitimamente, cientificamente a partir de um modelo, de um molde, de uma moldura e
70
C orpo em devir
tambm de um modelador, sem o que nossas idias no pareceriam de verdade. Introduzimos uma finalidade para o prprio pensamento, imaginamos um pensamento pensado a partir de um sujeito, a partir de uma conscincia, que tem comeo e uma finalidade; imaginamos que o meio, o processo, o devir, apenas meio de chegar a esse objetivo. Penhoramos a nossa vida e a colocamos a servio de um projeto, a servio de uma finalidade. Perdemos novamente a capacidade de criar e desperdiamos o indito do que a existncia nos oferece a cada momento, a cada entretempo que est subjacente, que subsiste e que insiste nos preenchimentos das significaes. Ento vamos entupindo nossa capacidade, nossos modos de fazer o pensamento fluir e passar, vamos entupindo esses modos, essas pontes, essas passagens, essas janelas, essas portas, esses poros, com as significaes e, a medida em que vamos investindo nossas significaes, vamos tambm nos afundando cada vez mais num buraco que se pretende autorizado para interpretar, para transmitir e para observar e cuidar da aplicao dessas significaes. Vamos nos transformando em sujeitos ou legisladores vigiados por um modo de deverser que j se introjetou em ns. Nesse ponto de vista a gente atinge o segundo aspecto do que Nietzsche chama de niilismo, que o niilismo reativo, quando a gente vai organizando de modo tal essa empresa, essa poltica do dio de acusar tudo aquilo que no tem finalidade, que no tem responsabilidade, que tem uma inocncia essencial. Uma vez que h uma omisso, uma separao, um envenenamento na atmosfera do acontecimento. Deus no tem mais a menor necessidade, o tirano no tem mais a menor necessidade, os regimes de soberania no tm mais a menor necessidade e ns passamos agora a investir nos valores do homem. Colocamos o homem no lugar de Deus, e achamos que fizemos grande coisa, quando na verdade apenas ocupamos o velho lugar de julgamento, apenas reformamos o lugar de julgamento. Agora dizemos assim: o juiz tem a estatura do homem, ns no precisamos mais de Deus. Falamos
junto com Hegel, dizendo assim: o homem estava alienado em valores divinos, o homem estava alienado em valores de outro mundo, mas esses valores divinos, de outro mundo, eram apenas valores humanos. Esses universais abstratos em si na verdade eram universais que o homem inventou para si. Portanto, temos que de novo resgatar e buscar esses universais em si e transform-los em mudanas concretas para o homem. Essa a grande revoluo hegeliana e um certo marxismo investiu tambm nesse modo dialtico de pensar. A idia de desalienao, embora tenha um carter materialista, no rompe a sua filiao com o ressentimento. Inventou-se ento, o homem e os valores do homem, o homem e os direitos do homem, como se ento o homem finalmente fosse capaz de conduzir o prprio destino, mas o destino desse homem nada mais do que o destino do velho homem cansado, agora mais organizado, mais anestesiado, mais satisfeito, mais feliz, o homem que no precisa mais da salvao, agora ele tem a felicidade, no precisa mais da eternidade, agora ele tem o progresso e a revoluo, no precisa mais do tirano, do rei que comande a todos, agora ele tem a democracia, no precisa mais de Deus, agora ele tem a lei, uma s lei e uma vontade geral, como dizia Sade, uma vontade geral de vidas que j no sabem mais acontecer. E nessa medida, vidas que no sabem viver sem a lei, vidas que so capazes de fazer aparecer o que? Monstros, foras do mal, foras criminosas, como diria Freud, incestuosas e parricidas todos os padres que fazem coro hoje em dia, os psicanalistas, mas tambm os publicitrios, enfim, tantos outros que, inclusive, se servem da arte para anestesiar. Hoje em dia a arte tambm ocupou, junto com as terapias e com as igrejas, o lugar de tornar a vida miservel mais suportvel. Ento ns no buscamos mais a concentrao, a intensificao, o tensionamento: ns buscamos a direo, ns buscamos o descuido de si. Olhar para o lado, olhar para o prximo, mas olhar dentro s para reconhecer melhor que somos impotentes. Agora, ser que a gente capaz de olhar dentro e
71
s ala p reta
chamar os fantasmas, os monstros, as foras criminosas, as foras malvolas para brincar? Eu diria que os devires ativos foram transformados em devires monstruosos, em foras monstruosas, a ponto de o homem no mais admitir que pode viver sem lei, que pode viver sem moral, que pode viver sem Estado, que pode viver sem Deus, que pode viver sem o eu, sem o ego, que pode viver sem o sujeito, que pode viver sem a significao. No que ns devamos simplesmente jogar isso tudo fora. simplesmente aprender o lugar de onde isso vem e como ns investimos nessas coisas, e como a gente cmplice de tudo isso, e como a gente investe na democracia. E esse termo, esse conceito de democracia que, geralmente, temos medo de afrontar por podermos ser chamados de autoritrios, de nazistas, de fascistas ou de empregadores de uma ordem aristocrata, no h forma mais autoritria e fascista, fingida e escondida, do que a democracia e a lei. No existe nenhuma diferena de natureza entre a lei civilizada e a barbrie terrorista: o terrorismo e a barbrie, junto com a lei e a civilizao, tm a mesma fonte. No h barbrie, no h monstruosidade, no h crime sem essa produo social da monstruosidade a partir da incapacidade de tolerar os devires ativos do corpo. Ento ns somos socialmente educados, codificados, historicamente investidos a cultivar uma forma de organizar o corpo, uma forma de organizar o pensamento, sem a qual o homem cairia num abismo, sem a qual as foras do homem, as mais caticas, tomariam conta e a vida se perderia, naquilo que Hobbes chamou de um estado de guerra de todos contra todos, uma vez que s observaramos as paixes individuais e na individualidade s haveria esse tipo de paixo de rapina, de transio, de destruio, porque s pensaramos no interesse individual. Esse pressuposto, ento, que as foras do corpo, as foras do pensamento tm uma deficincia de autoregulao de ordem prpria, o pressuposto de todo poder junto com toda a vida impotente. No h poder sem vida impotente, a vida impotente uma condio do poder, o poder cul-
tiva a vida impotente, ele cultiva essas paixes, e toda a vida impotente busca o poder. H uma cumplicidade entre a vida impotente e a busca pelo poder e o exerccio do poder. No h poder que no seja sempre exercido, Foucault j dizia isso muito bem, pelos dominados e pelos dominantes. O poder no est no palcio tal, na realeza tal, na instituio tal, no aparelho de estado tal: ele sempre exercido e atravessa todos os corpos. E de que modo ele exercido? Pela nossa sensibilidade e pela nossa linguagem. O uso que fazemos da nossa sensibilidade e da nossa linguagem atravessa modos de poder. Atravs do uso da na nossa sensibilidade a gente separa o nosso corpo do que ele pode, atravs do uso da nossa linguagem a gente separa o nosso pensamento do que ele pode. Ns investimos o pensamento, submetemos o pensamento a uma representao. Ns submetemos o corpo a um organismo. Ns perdemos a capacidade de acontecer no imediato porque achamos que isso tudo uma efemeridade, que o acontecimento um mero acidente, que o acaso no tem nenhuma necessidade, que o devir no tem nenhum ser, que essa multiplicidade catica no tem nenhuma unidade. Ento ns investimos numa unidade e numa necessidade, num ser, numa essncia, numa identidade que nos resgataria. E esse investimento mesmo o que, ao mesmo tempo nos apazigua, nos d o sentido do nosso sentimento em vo. No fundo ele um sofrimento humano feito de falsos problemas, um desperdcio s, porque ns no sabemos mais sofrer, no sabemos aproveitar a dor. Levamos a srio a dor, somos demasiado srios e responsveis diante das injustias, somos extremamente sensveis diante de naturezas dolorosas em relao ao que ameaaria uma existncia que j est podre na sua essncia, ao invs de investirmos na capacidade de adubar a nossa prpria terra, de revolver o solo que j est empedrado, onde semente alguma mais brota em ns. Ser que a gente capaz de fazer de ns mesmos um arado que are essa terra que j est sem oxignio? Ser que a gente capaz de arejar a ns mesmos? Para isso
72
C orpo em devir
necessrio ser tambm destruidor, necessrio ser assassinos de ns mesmos, destruir a parte de ns que est podre, que deve ser morta e honrada at. Chorar, fazer o luto necessrio e dizer adeus e alegrar-se quando se ultrapassa novamente essa condio de afundamento, de decadncia. Ou seja, ns somos muito piedosos conosco, ns no somos ainda capazes de aprender o no necessrio. Somos educados para dizer sim e para ser amvel e o nosso sim s permitido na medida em que a gente diz um no fundamental, um no inconfessvel que destitui a vida da sua capacidade de acontecer. Ento a gente diz um sim que na verdade esconde esse no fundamental e no sabemos mais dizer no a esse no fundamental que separa a vida do que ela pode. Ento, como diz Nietzsche: no sabemos nem dizer sim e nem dizer no. O nosso sim um falso sim porque afirmamos valores que oneram a vida, que tornam a vida pesada, incapaz de danar, incapaz de acontecer, incapaz de fluir e ns, ao mesmo tempo em que oneramos a vida, investimos ainda mais numa salvao que estaria sempre no futuro ou, no caso dos pessimistas, que j foi, que est perdida, num paraso que no volta mais. Nossa vida fica entre a memria e o projeto, mas nunca no devir. Nunca somos capazes de fazer a nossa plenitude, a nossa eternidade aqui e agora sem falta, saber que o caminho pleno, que no caminho que existe a plenitude, que a plenitude no est no fim e nem na origem, que no estamos indo em direo a nenhuma unidade original e nem a uma totalidade final, que se existe ainda alguma idia de salvao, a salvao pelo meio. Pelo meio a gente capaz de acontecer, mas a gente s capaz de acontecer se a gente capaz de reencontrar o virtual que atravessa o atual ou o existencial. Se a gente no encontra essa dimenso do virtual, que dimenso essa? o inesgotvel de qualquer relao, o inesgotvel no espao, o vazio que ns no sabemos mais valorizar e transformamos todo vazio em nada, ou o entretempo que no sabemos mais valorizar porque h um tempo cronolgico e necessrio ao bom andamento das
coisas e das tarefas a serem cumpridas e perdemos os entretempos que so destitudos como caticos, como desviantes, como labirnticos, como condutores da loucura. Ento perdemos o virtual do tempo, perdemos o virtual do espao, perdemos o virtual da superfcie, perdemos o meio de acontecer. Ns preenchemos essa impotncia com referncias e nos enchemos de referncias e da a gente at fala em nome de Nietzsche, de Spinoza, de muitos pensadores bacanas que esto na moda, Deleuze, Guattari, Foucault, Baudrillard, enfim tem uma srie deles a. Como se bastasse, simplesmente, a gente se servir deles. s vezes at uma forma de desespero: voc busca aliados, busca algum tipo de luz porque h, de fato, um investimento sincero, honesto, na retomada da nossa capacidade de acontecer. Mas muitas vezes trapaa, negociao, muitas vezes conquista e aprimoramento de um novo nicho de mercado, uma maneira diferente de falar que gera frutos, gera lucros, gera reconhecimentos. Enfim, a gente est sempre existindo pelo espelho que a gente incapaz de quebrar e a gente cuida para manter o espelho sempre bem limpinho para ele refletir bem a nossa impotncia, que mascarada com o poder que a gente ganha a cada dia, com a competncia. Ento eu diria que, assim como h uma poltica do dio e o dio implica tristeza, h um investimento essencial na tristeza, h um investimento essencial na desqualificao de ns mesmos ou uma impotncia atravs do medo, atravs da clareza temos um pensamento muito claro, cientfico, racional, temos muita tecnologia atravs do poder, porque ele faz gozar o impotente e sempre acabamos sucumbindo num grande cansao porque a morte tarda, mas no falha, como a justia so da mesma natureza essa morte e essa justia. Assim como h uma poltica do dio, h uma poltica da tristeza, que compensada com o prazer ns buscamos o tempo todo compensaes. Ns somos estimulados a ter desejos, mas o desejo no pode ser exagerado, ele tem que ser comedido, um pequeno desejo, um meio querer, assim como
73
s ala p reta
o que ele ganha um pequeno prazer. Meios quereres e pequenos prazeres. No h hoje ningum que ouse falar contra o prazer, no h hoje gente que fale contra as diferenas, contra as multiplicidades. So engraadas essas coisas. Hoje em dia se fala em empoderamento das comunidades e ningum desconfia; De graa, empoderamento? Como assim? E as comunidades mordem a isca. Por que? Porque elas so to ingnuas assim? Ser que ningum sabe o que faz? No. De fato, a vida separada do que pode, ela necessita disso, ela fabrica essa doena e oferece essa sade, o modelo de sade que faz com que essa doena seja reproduzida. A mesma coisa com o prazer: oferece esse prazer exatamente para manter o desejo em baixa intensidade. Desejo em alta intensidade desejo sem intencionalidade, desejo revolucionrio, incomoda; ele de fato faz a diferena, e desejo que faa diferena no to interessante assim. S interessante se essa diferena estiver a servio da demanda que o estimulou ou ento que o capturou. A diferena no de fato amada, a multiplicidade no de fato amada, a mudana e o acontecimento no so de fato amados. No mximo so tolerados. essa autocrtica que eu quero convidar a gente a fazer. Esse rigor com a gente mesmo. At que ponto a gente diz viva multiplicidade, viva diferena, viva mudana, viva ao acontecimento? Quando, de fato, ns sofremos disso, ns padecemos disso, ns temos um entristecimento com isso, e vemos que no tem outra sada mesmo, ento a gente vai inventar uma maneira de passar melhor com isso, apesar disso. Quando, na verdade, no existe outra essncia, outra eternidade, outra necessidade, outra liberdade, outro gozo a no ser a afirmao plena do acontecimento. Ento, essa incapacidade de dizer sim ao acontecimento s uma incapacidade a partir de uma cumplicidade de quem est separado do que pode: ela um investimento social. H um investimento no s no dio e na tristeza, como h um investimento num gozo e num prazer ou numa afirmao que reiteram a poltica do dio e do entristeci-
mento. Nunca o poder vai chegar e dizer que ele precisa da desqualificao da existncia, mas no h poder sem essa desqualificao. Nunca o poder vai falar que vai odiar e entristecer, mas no h poder sem o dio e sem a tristeza. Nunca o poder vai falar que a vida, ou que a natureza, insuficiente, mas o poder s existe na medida em que ele cria uma instncia que prov uma vida insuficiente. Nunca o poder vai, a no ser nas situaes limites e crticas, nos capturar pela dvida. Ele vai fazer o contrrio, vai oferecer o crdito, vai oferecer a ajuda, vai oferecer o amor, o bem, a verdade, a paz, todos os valores que ns reclamamos, a democracia, os direitos (quanto mais direito melhor). De qu? Do homem. Quem o homem? No sabemos mais. Ser que o homem essa instncia que tem uma vontade livre, que tem liberdade para escolher o bem e o mal, para evitar o falso e buscar o verdadeiro, para denunciar as injustias e investir na justia, para investir na utilidade ou desinvestir na nocividade? Ser que essa forma? essa a forma interessante de ser? essa a forma interessante de existir e de acontecer? Ento ser que a gente no vive um grande sono e investe nesse sono? E ser que no seria interessante fazer como Nietzsche no buscar aconselhar a humanidade ou at a ns mesmos a fazer outra coisa, mas acelerar o processo , e dizer com ele : bem-aventurados os que tm sono porque em breve adormecero? Por que a gente segue investindo em aconselhamentos, em ideologias, em verdadeiros sistemas, em referncias? No queremos outras referncias? Fomos enganados? A cincia est s ocupando o lugar da religio, mas ela tem o pressuposto moral. Qual o pressuposto dela? que a vida no vale por si mesma, que existe um acaso e uma multiplicidade que devem ser recusados. No somos todos moralistas, em ltima instncia? Se quisermos o anarquismo, ento abaixo o Estado, abaixo tudo, abaixo a lei. E ser que o nosso anarquismo tambm no uma forma de ressentimento? Eu estou provocando um pouco, mas no quero pintar nenhum quadro negro.
74
C orpo em devir
Acho que quem pinta quadro negro quer oferecer salvao. No isso. Eu s quero me aproximar de certas nuances que no so suficientemente observadas por ns para liberar o lado potente do corpo e do pensamento. O que pode o corpo, o que pode o pensamento, o que pode a vida (uma vida afirmativa, uma vida ativa, uma vida criativa). Por que somos to medrosos, to covardes, investindo primeiro nas foras de conservao e no nas de criao? Porque a gente no sabe mais o que criar. Porque pensamos que criar s embaralhar as imagens e os cdigos, dar uma mexida aqui e ali e j sai algo novo. No sabemos mais criar produzindo eternidade, produzindo tempo prprio, produzindo espao, produzindo vazio, produzindo corpo, produzindo elementos, produzindo realidades em ltima instncia. Ns no sabemos mais que a prpria natureza usina de si e de tudo e que ns somos parte da natureza. Quem disse que o homem no animal? Quem disse que o homem no vegetal? Quem disse que o homem no mineral? Ns somos parte disso tudo, ns estamos nessa imanncia. Assim como a linguagem e o pensamento no so exclusividade humana. O homem tem a linguagem humana, mas existem outras linguagens, outros pensamento. A natureza pensa, no precisa do homem para pensar. Ao contrrio, o homem pode ter inviabilizado o pensamento nele, porque existem foras em ns inteiramente positivas e plenas. O inconsciente radicalmente inocente, no tem falta no inconsciente, no tem falta no desejo, o desejo no carece de objeto para se satisfazer, o desejo j comea na capacidade de acontecer, ele j acontecimento antes de desejar em ns. E quando ele se efetua ele j uma diferenciao e um ultrapassamento de si e ele no precisa de um objeto para se satisfazer: ele inventa o objeto dele. Assim ns deveramos inventar o nosso mundo e a nossa realidade ao invs de buscar encontrar a realidade ou nos encontrar. No tem nada para encontrar em ns e nem fora de ns. Precisamos inventar o que precisamos encontrar. Ento essa tomada de posio.
Eu diria, o corpo em devir ativo aquele que toma parte no processo e se pe fazendo processo. Fazendo o que? No s outras coisas: obras de arte, cincia, filosofia, funes, tcnicas, objetos, mas fazendo a si prprio. O homem perdeu a capacidade de produzir a si prprio. Acomodou-se, acreditou que tinha uma forma natural: tem um eu e esse eu natural, tem um objeto e esse objeto natural, tem uma razo e a razo nos foi dada por Deus. Como diz Spinoza: Deus, asilo da ignorncia. Ento, que razo essa? Essa razo sempre existiu? Ela foi inventada. Isso um modo de pensar, um modo, diria mais, de imaginar que essa razo que o homem inventou o separa da prpria potncia de pensar, assim como a sensibilidade orgnica. natural do olho ver, mas quem inventou o olho? No foi a luz? A luz existe sem o olho? Quem inventou o ouvido? No foi o som? O som no anterior ao ouvido? No um corpo sem rgos antes dos rgos, antes das funes? O que o ouvido e o olho? O que so os rgos, seno dobras intensivas de foras? Mas ns acreditamos que h um sujeito atrs do olho que faz ver, h um sujeito atrs do ouvido que faz ouvir, h um sujeito atrs da fala que faz falar, h um sujeito atrs do pensamento que faz pensar. essa existncia nossa, nesse limiar, que nos faz refns do medo e que nos faz investir na falsa clareza de uma certa cincia mistificada, e ao mesmo tempo ter esse fascnio pelo poder, pelo gozo, pelo reconhecimento, quando na verdade isso so apenas migalhas, so esmolas. Como diria Nietzsche, no somos suficientemente pobres para dar esmola: quem d esmola quem pobre e quem recebe ainda pior. Temos que dar presentes, temos que procurar aliados, temos que sair da situao de referncia ou de seguidor. Temos que conquistar e afirmar as diferenas para que nos tornemos fortes. A fora a favor da liberdade. Essa idia de que a fora gera violncia a falsificao que o poder introjeta em ns. exatamente porque somos fracos que somos violentos. O forte no violento, o forte generoso. O forte no toma, o
75
s ala p reta
forte d, o forte gera, o forte cria. A idia que temos de fora completamente deturpada. Ns precisamos reinventar a idia de fora e desinvest-la da idia de lei e de forma. No precisa-
mos da forma, precisamos inventar a qualidade da fora e a qualidade da fora a afirmao da fora ativa ou da fora criativa. Isso seria um devir ativo para o corpo e para o pensamento.
76
Você também pode gostar
- Saude Desejo Pensamento, Luiz FugantiDocumento22 páginasSaude Desejo Pensamento, Luiz FugantiFao MirandaAinda não há avaliações
- Associação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaNo EverandAssociação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaAinda não há avaliações
- Teatro da Presença Social: A Arte de Fazer um Movimento VerdadeiroNo EverandTeatro da Presença Social: A Arte de Fazer um Movimento VerdadeiroAinda não há avaliações
- O Guerrilheiro Luther Blisset: Criação de Táticas Antimidiáticas Contra o BiopoderDocumento118 páginasO Guerrilheiro Luther Blisset: Criação de Táticas Antimidiáticas Contra o BiopoderbaixaculturaAinda não há avaliações
- Estetica Como Acontecimento - Daniel LinsDocumento98 páginasEstetica Como Acontecimento - Daniel LinsDanielSantosdaSilvaAinda não há avaliações
- Cavalo Louco Nº 14 - Revista de TeatroDocumento60 páginasCavalo Louco Nº 14 - Revista de TeatroMarta Haas100% (1)
- Imaginação, Desejo e Erotismo: Ensaios sobre sexualidadeNo EverandImaginação, Desejo e Erotismo: Ensaios sobre sexualidadeAinda não há avaliações
- Escrever a Mágoa: Cruzamento entre Nietzsche e DerridaNo EverandEscrever a Mágoa: Cruzamento entre Nietzsche e DerridaAinda não há avaliações
- Corpo-teatro e a necessidade de por-se em cenaDocumento13 páginasCorpo-teatro e a necessidade de por-se em cenaStéphane DisAinda não há avaliações
- Christine GreinerDocumento11 páginasChristine GreinerAlina Ruiz FoliniAinda não há avaliações
- Percorrer a Cidade a Pé: Ações Teatrais e Performativas no Contexto UrbanoNo EverandPercorrer a Cidade a Pé: Ações Teatrais e Performativas no Contexto UrbanoAinda não há avaliações
- Nara Keiserman - Teatro Gestual NarrativoDocumento4 páginasNara Keiserman - Teatro Gestual NarrativoFabricia HolzAinda não há avaliações
- Poéticas Do Movimento - Interfaces 20091230Documento12 páginasPoéticas Do Movimento - Interfaces 20091230Paulo Caldas100% (1)
- O cinema-poesia de joaquim pedro de andrade: passos da paixão mineiraNo EverandO cinema-poesia de joaquim pedro de andrade: passos da paixão mineiraAinda não há avaliações
- Antonio tabucchi: viagem, identidade e memória textualNo EverandAntonio tabucchi: viagem, identidade e memória textualAinda não há avaliações
- Fronteiras em Movimento: modos de criação e organização no Projeto Magdalena – rede internacional de mulheres na cena contemporâneaNo EverandFronteiras em Movimento: modos de criação e organização no Projeto Magdalena – rede internacional de mulheres na cena contemporâneaAinda não há avaliações
- Feminilidades alternativas nos palcos brasileiros e chilenosDocumento170 páginasFeminilidades alternativas nos palcos brasileiros e chilenosRenatoBarrosAlmeidaAinda não há avaliações
- Teatros do real e a abertura da representaçãoDocumento12 páginasTeatros do real e a abertura da representaçãoMartha De Mello RibeiroAinda não há avaliações
- Poemas de Gertrude SteinDocumento6 páginasPoemas de Gertrude SteinRhulli LechnerAinda não há avaliações
- O filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaNo EverandO filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaAinda não há avaliações
- Suely RolnikDocumento11 páginasSuely RolnikTarcisio GreggioAinda não há avaliações
- Diálogos Com LeucóDocumento18 páginasDiálogos Com LeucóDaniel GillyAinda não há avaliações
- CENáRIOS ExPANDIDOS. (RE) PRESENTAÇõES, TEATRALIDADES E PERFORMATIVIDADESDocumento14 páginasCENáRIOS ExPANDIDOS. (RE) PRESENTAÇõES, TEATRALIDADES E PERFORMATIVIDADESKiti SoaresAinda não há avaliações
- O Modelo de Beat Sheet de Blake SnyderDocumento2 páginasO Modelo de Beat Sheet de Blake SnyderAna GrigolinAinda não há avaliações
- RIVERA, Tania - Gesto Analítico, Ato Criador PDFDocumento9 páginasRIVERA, Tania - Gesto Analítico, Ato Criador PDFTelma Regina VenturaAinda não há avaliações
- Psicose 4h48: fragmentos de desespero e solidãoDocumento32 páginasPsicose 4h48: fragmentos de desespero e solidãoDébora SantosAinda não há avaliações
- Jean Genet Nem Santo Nem MartirDocumento24 páginasJean Genet Nem Santo Nem MartirIvon RabêloAinda não há avaliações
- Roland Barthes e a revelação profana da fotografiaNo EverandRoland Barthes e a revelação profana da fotografiaAinda não há avaliações
- Absurdo e censura no teatro português: A produção dramatúrgica de Helder Prista Monteiro: 1959-1972No EverandAbsurdo e censura no teatro português: A produção dramatúrgica de Helder Prista Monteiro: 1959-1972Ainda não há avaliações
- HUYSSEN (Sobre Gde Divisão e Performance) - O Novo Museu de Andreas Huyssen e A PerformanceDocumento3 páginasHUYSSEN (Sobre Gde Divisão e Performance) - O Novo Museu de Andreas Huyssen e A PerformanceIsmael De Oliveira GerolamoAinda não há avaliações
- Slow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoNo EverandSlow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoAinda não há avaliações
- Corpo Intruso: uma investigação cênica, visual e conceitualNo EverandCorpo Intruso: uma investigação cênica, visual e conceitualAinda não há avaliações
- Ney Matogrosso... Para Além do Bustiê:: Performances da Contraviolência na Obra Bandido (1976-1977)No EverandNey Matogrosso... Para Além do Bustiê:: Performances da Contraviolência na Obra Bandido (1976-1977)Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Na Poesia Viva: A Poesia Contemporânea em Frente e VersoNo EverandNa Poesia Viva: A Poesia Contemporânea em Frente e VersoAinda não há avaliações
- A palavra como território: Antologia dramatúrgica do teatro hip-hopNo EverandA palavra como território: Antologia dramatúrgica do teatro hip-hopAinda não há avaliações
- Por uma insubordinação poéticaNo EverandPor uma insubordinação poéticaGuy GirardAinda não há avaliações
- O Japão e os ensinamentos da cultura OtakuDocumento12 páginasO Japão e os ensinamentos da cultura OtakuMateus Nimer100% (1)
- Eliseo em 100 perguntas: O roteiro cinematográfico segundo Eliseo AltunagaNo EverandEliseo em 100 perguntas: O roteiro cinematográfico segundo Eliseo AltunagaAinda não há avaliações
- Lisa Nelson e o Judson Dance TheatreDocumento6 páginasLisa Nelson e o Judson Dance TheatreTengnerdacostaAinda não há avaliações
- Kantor Está Morto! Esqueçam Kantor!Documento8 páginasKantor Está Morto! Esqueçam Kantor!Igor GomesAinda não há avaliações
- Cassiano Sydow Quilici - O Extemporaneo e As Fronteiras Do ContemporaneoDocumento4 páginasCassiano Sydow Quilici - O Extemporaneo e As Fronteiras Do ContemporaneoBruno Melo MartinsAinda não há avaliações
- II JornadaTRADUSP 2013 PDFDocumento348 páginasII JornadaTRADUSP 2013 PDFJulya VasconcelosAinda não há avaliações
- Ementa TradDocumento3 páginasEmenta TradJulya VasconcelosAinda não há avaliações
- RANCIÈRE, Jacques. Dossiê Ética, Estética e Política - Revista Urdimento PDFDocumento176 páginasRANCIÈRE, Jacques. Dossiê Ética, Estética e Política - Revista Urdimento PDFandrade.mariana100% (1)
- Estudos TradutológicosDocumento118 páginasEstudos TradutológicosJulya VasconcelosAinda não há avaliações
- Genero, Cultura Visual e PerformanceDocumento4 páginasGenero, Cultura Visual e PerformanceJulya VasconcelosAinda não há avaliações
- Cartas Da DramaturgiaDocumento138 páginasCartas Da DramaturgiaDaniela ZaiaAinda não há avaliações
- Genero Cultura Visual PerformanceDocumento186 páginasGenero Cultura Visual PerformanceAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Estudosnietzsche 5030Documento6 páginasEstudosnietzsche 5030Julya VasconcelosAinda não há avaliações
- Foster Conceito Do PoliticoDocumento22 páginasFoster Conceito Do PoliticoJulya VasconcelosAinda não há avaliações
- Mediações Perfomáticas Latino AmericanasDocumento186 páginasMediações Perfomáticas Latino AmericanasJulya VasconcelosAinda não há avaliações
- Revista Brasileira de Literatura Comparada - 01Documento170 páginasRevista Brasileira de Literatura Comparada - 01vacceo15Ainda não há avaliações
- DELEUZE - DIFERENÇA E REPETIÇÃO (Guia de Leitura)Documento83 páginasDELEUZE - DIFERENÇA E REPETIÇÃO (Guia de Leitura)Bruno Halyson NobreAinda não há avaliações
- Cartografia SentimentalDocumento4 páginasCartografia SentimentalGuilherme MarinhoAinda não há avaliações
- Merleauponty&Varela CorpoDocumento12 páginasMerleauponty&Varela CorpoJulya VasconcelosAinda não há avaliações
- BOSI, Alfredo - Situação de Macunaíma in Céu, InfernoDocumento12 páginasBOSI, Alfredo - Situação de Macunaíma in Céu, InfernoLuan Bonini100% (1)
- A Dramaturgia Da Carne PDFDocumento111 páginasA Dramaturgia Da Carne PDFJulya VasconcelosAinda não há avaliações
- Gilles Deleuze - O Ato de CriaçãoDocumento15 páginasGilles Deleuze - O Ato de Criaçãomostratudo100% (2)
- Análise semiótica do conceito de dharma no pensamento indiano antigoDocumento12 páginasAnálise semiótica do conceito de dharma no pensamento indiano antigoCesarGarciaAinda não há avaliações
- Dez lições dos anjos para uma vida melhorDocumento5 páginasDez lições dos anjos para uma vida melhorAtishaAinda não há avaliações
- Técnica de Stelmach para remissão da psoríaseDocumento79 páginasTécnica de Stelmach para remissão da psoríaseRodrigo Machado100% (2)
- Religião, Comida e Construção do HomemDocumento181 páginasReligião, Comida e Construção do HomemMariaSuzanaDiazAinda não há avaliações
- 7 passos para desenvolver o controle emocionalDocumento9 páginas7 passos para desenvolver o controle emocionalBruno Medeiros100% (5)
- Tecnica 12 PENSAMENTO X SENTIMENTODocumento2 páginasTecnica 12 PENSAMENTO X SENTIMENTODany MarieAinda não há avaliações
- Ensinando sobre festas pagãsDocumento28 páginasEnsinando sobre festas pagãsDebora SchenkelAinda não há avaliações
- Teorias do DesenvolvimentoDocumento28 páginasTeorias do DesenvolvimentoEusebio Bernardo FortunatoAinda não há avaliações
- Técnicos Eletrónica Curso Circuitos LógicosDocumento15 páginasTécnicos Eletrónica Curso Circuitos LógicosNoé Orlando Araújo Vilas Boas 550-InformáticaAinda não há avaliações
- Ebook-Temperamentos Virtudes Concursos profFelipeLessaDocumento22 páginasEbook-Temperamentos Virtudes Concursos profFelipeLessaIgorr PortooAinda não há avaliações
- Visão - Sociológica (1) - USTMDocumento20 páginasVisão - Sociológica (1) - USTMSemimAinda não há avaliações
- Ficha Formativa DescartesDocumento10 páginasFicha Formativa DescartesMaria Da Guia FonsecaAinda não há avaliações
- A criação de um atelier de artes visuais e a socialização da educaçãoDocumento37 páginasA criação de um atelier de artes visuais e a socialização da educaçãoMaria ElisaAinda não há avaliações
- Santas e Sedutoras - As Heroinas Na Biblia Hebraica - Eliezer Serra BragaDocumento0 páginaSantas e Sedutoras - As Heroinas Na Biblia Hebraica - Eliezer Serra BragaBBG1957Ainda não há avaliações
- Swami Vivekananda - Quatro Yogas Da Auto-RealizaçãoDocumento137 páginasSwami Vivekananda - Quatro Yogas Da Auto-RealizaçãoAlpha & OmegaAinda não há avaliações
- A boca sem controle em fluxo contínuoDocumento4 páginasA boca sem controle em fluxo contínuoMarcus Di Bello50% (2)
- Cap. 4 - Estudos Clássicos e Orientalismo - As Conceptualizações Dos Termos Metempsicose e Transmigração Da Grécia AntigaDocumento26 páginasCap. 4 - Estudos Clássicos e Orientalismo - As Conceptualizações Dos Termos Metempsicose e Transmigração Da Grécia AntigaPriscila MariaAinda não há avaliações
- Introdução À Psicologia Social Conceito, Método, Características e Aplicações.Documento10 páginasIntrodução À Psicologia Social Conceito, Método, Características e Aplicações.Rogério MeloAinda não há avaliações
- Uso de Jogos para FunçõesDocumento130 páginasUso de Jogos para FunçõesAnaAinda não há avaliações
- Identificando crenças intermediárias na terapia cognitivaDocumento22 páginasIdentificando crenças intermediárias na terapia cognitivaGenuina Avilino100% (3)
- Ensino da escrita no primárioDocumento22 páginasEnsino da escrita no primárioEmerson CruzAinda não há avaliações
- Performance do cotidianoDocumento461 páginasPerformance do cotidianoCláudio Alberto dos SantosAinda não há avaliações
- CHÂTELET, François. Hegel. (Em Português)Documento108 páginasCHÂTELET, François. Hegel. (Em Português)Jonison Santos100% (1)
- Fronteiras LivroDocumento278 páginasFronteiras LivroValdir de SouzaAinda não há avaliações
- Filosofia No ENEMDocumento35 páginasFilosofia No ENEMJONATAS DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Simulado FilosofiaDocumento4 páginasSimulado FilosofiaAlbertino MartinsAinda não há avaliações
- Crise Civilizatória ou AmbientalDocumento10 páginasCrise Civilizatória ou AmbientalMajela SalvioAinda não há avaliações
- Aldomon Ferreira - Auto Controle EmocionalDocumento18 páginasAldomon Ferreira - Auto Controle Emocionalalvorecerdeluz100% (1)
- Seminário Cap 7Documento24 páginasSeminário Cap 7Soraia KhalilAinda não há avaliações
- BUZAN - Mapas MentaisDocumento92 páginasBUZAN - Mapas MentaislanacarneiroalmeidaAinda não há avaliações