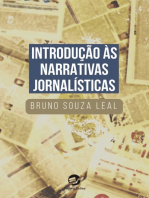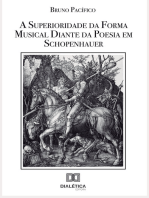Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CULLER, Jonathan - Teoria Literária - Uma Introdução
Enviado por
luandapimentelDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CULLER, Jonathan - Teoria Literária - Uma Introdução
Enviado por
luandapimentelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
.
B8~a
Beca Produes Culturais Ltda.
Rua Capote Valente 779
inheiros ~-
+++
Jonathan Culler
Teoria Literria
Uma Introduo
DEDALUS - Acervo - FFLCH-LE
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I111
21300106963
.B8~a
<"~l
II
li
,I
7
niroduo
Em tom de conversa informal e amigvel com o leitor - o voc que aparece
o tempo todo no texto -, Jonathan Culler nos oferece um surpreendente pano-
rama das principais questes que tm preocupado crticos e tericos da litera-
tura ao longo deste sculo. Preferindo organizar sua abordagem por tpicos e
no por escolas crticas, Culler acaba propondo um roteiro, ou um mapeamen-
to, que permite ao leitor interessado sair em busca de informaes mais deta-
lhadas, a partir dos aspectos essenciais que constituem o prprio fundamento
da criao e do desfrute da literatura.
Trata-se, evidentemente, de um livro de iniciao, que servir principal-
mente para abrir caminhos e para mostrar que eles podem ser leves, compreen-
sveis e, sobretudo, prazerosos. Isto, porm, no lhe tira o mrito de apresentar
as questes e sugerir rumos, tudo complementado por indicaes de leituras
suplementares e por um Apndice, em que Culler faz um pequeno resumo das
principais escolas crticas do sculo XX.
Com a coragem de fazer escolhas e de assumir ousadas posies tericas,
Culler acaba por fornecer, ao longo da exposio, um guia valioso, que pode ori-
entar o leitor pelos meandros da teoria literria.
Como se trata de um livro de iniciao, justo fazer duas advertncias. Em
primeiro lugar, que no h teoria ou crtica neutra. Portanto, o caminho e a
posio terica adotados por Culler so apenas uma das opes disposio de
quem se aventura pelo territrio da teoria. H outras, evidentemente, como se
procura apontar em algumas das notas apensas ao texto. As teorias refletem
modos de ler o mundo e a literatura, modos esses profundamente marcados
pelas injunes histricas, polticas e sociais s quais nem crticos, nem teri-
cos, nem autores, nem leitores esto imunes.
A segunda advertncia diz respeito exatamente deciso editorial de
incluir notas ou comentrios ao longo do texto. Como se trata de um pequeno
manual de iniciao, admitiu-se que haja leitores no familiarizados com as
referncias literrias e crticas feitas por Culler. Optou-se, portanto, por forne-
cer, sempre que possvel, algumas informaes mnimas para facilitar a locali-
zao, no tempo e no espao, dos autores referidos.
Espera-se, com isso, colocar disposio do leitor brasileiro um livro de
grande utilidade e valia em suas incurses pelo terreno da teoria literria.
Finalmente, e para bem registrar o esprito que transparece em cada linha
e em cada captulo do livro, vale ressaltar a sugesto com que Culler encerra seu
prefcio: DIVIRTA-SE!
OS EDITORES
7
Muitas introdues teoria literria descrevem uma srie de "escolas"
crticas. A teoria tratada como uma srie de "abordagens" que competem
entresi, cada uma com suas posies e compromissos tericos. Mas os
movimentos tericos que as introdues identificam - tais como o estru-
turalismo, a desconstruo, o feminismo, a psicanlise, o marxismo e o no-
vo historicismo - tm muito em comum. Esta a razo por que falamos
sobre "teoria" e no apenas sobre teorias especficas. Para introduzir a teo-
ria, melhor discutir questes e asseres partilhads do que fazer um
panorama das escolas tericas. prefervel discutir debates importantes
que no opem uma "escola" a outra mas que podem marcar divises evi-
dentes no interior dos movimentos. Tratar a teoria contempornea como
um conjunto de abordagens ou mtodos de interpretao que competem
entre si deixa escapar muito de seu interesse e de sua fora, que vm de
seu desafio amplo ao senso comum e de suas investigaes a respeito de
como se cria sentido e se configuram as identidades humanas. Preferi
dedicar-me a uma srie de tpicos, enfocando questes e debates impor-
tantes sobre eles e sobre o que penso que deles foi aprendido.
Todavia, qualquer pessoa que leia um livro introdutrio sobre teoria
literria tem o direito de esperar uma explicao de termos tais como
estruturalismo e desconstruo. Ofereo breves esboos de escolas ou
movimentos crticos importantes no Apndice, que pode ser lido em
pri meiro Iugar ou consu Itado constantemente. Divi rta-se!
s
/
li
~ .
umarlO
/
1
que Teoria?
1. O que Teoria?
11
_/ 2. O que Literatura e tem ela importncia?
26
3. Literatura e Estudos Culturais
48
4. Linguagem, Sentido e Interpretao
59
-)5. Retrica, Potica e Poesia
72
6. Narrativa
84
7. Linguagem Performativa
95
8. Identidade, Identificao e o Sujeito
107
Apndice: Escolas e Movimentos Tericos
118
Citaes e Leituras Suplementares
127
ndice Remissivo
136
10
Nos estudos literrios e culturais, nos dias de hoje, fala-se muito
sobre teoria - no teoria da literatur~, veja bem; apenas "teoria" pura e
simples. Para qualquer um fora do campo, esse uso deve parecer muito
estranho. "Teoria do qu?" voc gostaria de perguntar. surpreendente-
mente difcil dizer. No a teoria de qualquer coisa em particular, nem
uma teoria abrangente de coisas em geral. s vezes, a teoria parece
menos uma explicao de alguma coisa do que uma atividade - algo que
voc faz ou no faz. Voc pode se envolver com a teoria; pode ensinar ou
estudar teoria; pode odiar a teoria ou tem-Ia. Nada disso, contudo, ajuda
muito a entender o que teoria.
A "teoria", nos dizem, mudou radicalmente a natureza dos estudos
literrios, mas aqueles que dizem isso no se referem teoria literria,
explicao sistemtica da natureza da literatura e dos seus mtodos de
anlise. Quando as pessoas se queixam de que h teoria demais nos estu-
dos literrios nos dias de hoje, elas no se referem demasiada reflexo
sistemtica sobre a natureza da literatura ou ao debate sobre as quali-
dades distintivas da linguagem literria, por exemplo. Longe disso. Elas
tm outra coisa em vista.
O que tm em mente pode ser exatamente que h discusso demais
sobre questes no-literrias, debate demais sobre questes gerais cuja
relao com a literatura quase no evidente, leitura demais de textos
psicanalticos, polticos e filosficos difceis. A teoria um punhado de
nomes (principalmente estrangeiros); ela significa Jacques Derrida, Michcl
11
Foucau[t, Luce Irigaray, Jacques Lacan, Judith But[er, Louis A[thusser,
Gayatri Spivak, por exemplo.
Ento o que teoria? Parte do problema reside no prprio termo teo-
ria, que faz gestos em duas direes. Por um lado, falamos de "teoria da
re[atividade", por exemplo, um conjunto estabelecido de proposies. Por
outro lado, h o uso mais comum da palavra teoria.
"Por que Laura e Michae[ romperam?"
"Bom, minha teoria que ... "
O que significa teoria aqui? Em primeiro lugar, teoria sinaliza "espe-
culao". Mas uma teoria no o mesmo que uma suposio. "Minha
suposio que ... " sugeriria que h uma resposta correta, que por acaso
eu no sei: "Minha suposio ~ que Laura se cansou das crticas de
Michael, mas descobriremos com certeza quando Mary, a amiga deles,
chegar aqui". Uma teoria, por contraste, especulao que poderia no ser
afetada pelo que Mary diz, uma explicao cuja verdade ou falsidade
poderia ser difcil de demonstrar.
"Minha teoria ~ue ..." tambm pretende dar uma explicao que no
bvia. No esperamos que o falante continue: "Minha teoria que
porque Michae[ estava tendo um ca'so com Samantha". Isso no contaria
como unia teoria. Dificilmente preciso perspiccia terica para concluir
que, se Michael e Samantha estavam tendo um caso, isso poderia ter tido
alguma relao com a atitude de Laura para com Michael. O interessante
que, se o falante dissesse: "Minha teoria que Michael esttendo um
caso com Samantha", de repente a existncia desse caso torna-se uma'
questo de conjectura, no mais certa, e portanto uma possvel teoria.
Mas geralmente, para contar como uma teoria, uma explicao no ape-
nas no deve ser bvia; ela deveria envolver uma certa complexidade:
"Minha teoria que Laura sempre esteve secreta mente apaixonada pelo
pai e que Michae[ jamais conseguiria se tornar a pessoa certa': Uma teo-
ria deve ser mais do que uma hiptese: no pode ser bvia; envolve
relaes complexas de tipo sistemtico entre inmeros fatores; e no
fa'Ci[mente confirmada ou refutada. Se tivermos esses fatores em mente,
~ torna-se mais fcil compreender o que se entende por "teoria':
Toria, nos estudos literrios, no uma explicao sobre a natureza
da literatura ou sobre os mtodos para seu estudo (embora essas questes
sejam parte da teoria e sero tratadas aqui, principalmente nos captulos
2,5 e 6). um conjunto de reflexo e escrita cujos limites so excessiva-
12
mente difceis de definir. O filsofo Richard Rorty fa[ade um gnero novo,
misto, que comeou no sculo XIX: "Tendo comeado na poca de Goethe,
Macaulay, Car[yle e Emerson, desenvolveu-se um novo tipo de escrita que
no nem a avaliao dos mritos relativos das produes literrias, nem
histria inte[ectual, nem filosofia moral, nem profecia social, mas tudo
isso combinado num novo gnero". A designao mais conveniente desse
gnero misturado simplesmente o apelido teoria, que passou a designar
obras que conseguem contestar e reoriefitar a reflexo em campos outros
que no aqueles aos quais aparentemente pertencem. Essa a explicao
mais simples daquilo que faz com que algo conte como teoria. Obras con-
sideradas como teoria tm efeitos que vo alm de seu campo original.
Essa explicao simples uma definio insatisfatria mas parece
realmente captar o que aconteceu desde o decnio de 1960: textos de
fora do campo dos estudos literrios foram adotados por pessoas dos
estudos literrios porque suas anlises da linguagem, ou da mente, ou da
histria, ou da cultura, 9ferecem explicaes npvas e persuasivas acerca
de questes textuais e culturais. Teori, nesse sentido, no um conjun-
to de mtodos para o e;:;tudo literrio mas um grupo il,imitado de textos
sobre tudo o que existesobo sol, dos problemas mais tcnicos de filosofia
acadmica at os modos mutveis nos quais se fala e se pensa sobre o
corpo. O gnero da "teoria" inclui obras de antropologia, histria da arte,
cinema, estud,os de gnero, lingistica, filosofia, teoria poltica, psi-
can[ise, estudos .de cincia, histria social e inte[ectual e sociologia. As
obras em questo so ligadas a argumentos nessas reas, mas tornam-se
"teoria" porque suas vises ou argumentos foram sugestivos ou produ-
tivos para pessoas que no esto estudando aquelas disciplinas. As obras
que se tornam "teoria" oferecem explicaes que outros podem usar sobre
.)
sentido, natureza e cultura, o funcionamento da psique, as relaes entre
experincia pblica e privada e entre foras histricas mais amplas e
experincia individual.
Se a teoria definida por seus efeitos prticos, como aquilo que muda
os pontos de vistas das pessoas, as faz pensar de maneira diferent~: a
respeito de seus objetos de estudo e de suas atividades de estud:-Ios, que
tipo de efeitos so esses?
O principal efeito da teoria a discusso do "senso comum": vises
de senso comum sobre sentido, escrita, literatura, experincia. Por exem-
plo, a teoria questiona
1;~
a concepo de que o sentido de uma fala ou texto o que o falante
"tinha em mente",
ou a idia de que a escrita uma expresso uja verdade reside em outra
parte, numa experincia ou num estado de coisas que ela expressa,
ou a noo de que a realidade o que est "presente" num momento
dado.
A teoria muitas vezes uma crtica belicosa de noes de senso co-
mum; mais ainda, uma tentativa de mostrar que o que aceitamos sem dis-
cusso como "senso comum" , de fato, uma construo histrica, uma
teoria especfica que passou a nos parecer to natural que nem ao menos
a vemos como uma teoria. Como crtia do senso comum e investigao
de concepes alternativas, a teoria envolve um questionamento das pre-
missas ou pressupostos mais bsicos do estudo literrio, a perturbao de
qualquer coisa que pudesse ter sido aceita sem discusso: O que senti-
do? O que um autor? O que ler? O que o "eu" ou sujeito que escreve,
l, ou age? Como os textos se relacionam com as circunstncias em que
so produzidos?
O que um exemplo de uma "teoria"? Ao invs de falar sobre a teo-
ria em geral, vamOs mergulhar direto em dois textos difceis de dois dos
mais celebrados tericos para ver se podemos entend-Ios. Proponho dois
casos relacionados mas contrastantes, que envolvem crticas de idias do
senso comum sobre "sexo", "escrita" e "experincia".
Em seu livro A Histria da Sexualidade, o historiador francs de histria
intelectual Michel Foucault' considera o que ele chama de "a hiptese
repressiva": a idia comum de que o sexo algo que perodos mais anti-
gos, particularmente o sculo XIX, reprimiram e que os modernos lutaram
para liberar. Longe de ser algo natural que foi reprimido, sugere Foucault,
"sexo" uma idia complexa produzida por uma gama de prticas sociais,
investigaes, conversas e escrita - "discursos" ou "prticas discursivas"
em resumo - que se juntaram no sculo XIX. Todos os tipos de conversa -
por parte dos mdicos, clero, romancistas, psiclogos, moralistas, assis-
tentes sociais, polticos - que ligamos com a idia da represso da sexuali-
1 Michd Foucault (I ()2(1-1 (}XO. Filsofo estruturalista francs, conhecido pelo seu exame dos conceitos e cdigos
pelos quais as 'sociedades operam. Estudioso da histria da loucura e das origens do moderno sistema penal, FOllcault
tambm examina a histtria das atitudes ocidentais em relao s-:xualidade desde os gregos em A Histria da
Sexualidade, publicado em trs volullles entre 1976 e 1984. (N.T.)
14
dade foram de fato modos de fazer existir essa coisa que chamamos "sexo'~
Foucault escreve: "A noo de sexo tornou possvel agrupar, numa unidade
artificial, elementos anatmicos, funes biolgicas, condutas, sensaes,
prazeres; e nos possibilitou usar essa unidade fictcia como um princpio
causal, um sentido onipresente, um segredo a ser descoberto em toda
parte': Foucault no est negando que haja atos fsicos de relao sexual,
ou que os humanos tenham um sexo biolgico e rgos sexuais. Est afir-
mando que o sculo XIX encon'trou novas maneiras de agrupar sob uma
nica categoria ("sexo") uma gama de coisas que so potencialmente bas-
tante diferentes: certos atos, que chamamos sexuais, distines biolgicas,
partes de corpos, reaes psicolgicas e, sobretudo, sentidos sociais. As
maneiras como as pessoas falam sobre e lidam com essas condutas, sen-
saes e funes biolgicas criaram algo diferente, uma unidade artificial,
chamada "sexo", que passou a ser tratada como fundamental para a iden-
tidade do indivduo. Da, atravs de uma inverso crucial, essa coisa
chamada "sexo" foi vista como a causa da variedade de fenmenos que
haviam sido agrupados para criar a idia'. Esse processo conferiu sexua-
lidade uma nova importncia e um novo papel, tornando a sexualidade o
segredo da natureza do indivduo. Falando da importncia do "impulso
sexual" e de nossa "natureza sexual", Foucault observa que atingimos o
ponto
em que esperamos que nossa inteligibilidade venha daquilo que, por mui-
tos sculos, foi pensado como loucura ... nossa identidade, daquilo que foi
percebido como um impulso inominado. Da a importncia que lhe conferi-
mos, o temor reverencial com o qual o cercamos, o cuidado que tomamos
para conhec-lo. Da o fato de que, ao longo dos sculos, ele tornou-se
mais importante para ns do que nossa alma.
Um caso ilustrativo do modo como o sexo tornou-se o segredo do ser
do indivduo, uma fonte-chave da identidade do indivduo, a criao, no
sculo XIX, do "homossexual" como um tipo, quase uma "espcie".
Perodos anteriores haviam estigmatizado os atos de relao sexual entre
indivduos do mesmo sexo (tais como a sodomial, mas agora isso se tor-
nava uma questo no de atos mas de identidade, no se algum havia
realizado atos proibidos mas se ele "era" um homossexual. A sodomia era
um ato, escreve Foucault, mas "o homossexual era agora uma espcie".
1.5
Anteriormente, havia atos homossexuais nos quais as pessoas poderiam se
envolver; agora era uma questo, ao contrrio, de um cerne ou essncia
.sexual pensada como determinante para o prprio ser do indivduo: Ele
um homossexual?
Na explicao de Foucault, o "sexo" construdo pelos discursos liga-
dos a prticas sociais e instituies variadas: o modo como os mdicos, o
clero, os funcionrios pblicos, os assistentes sociais, e at mesmo os
romancistas, tratam os fenmenos que identificam como sexuais. Mas
esses discursos representam o sexo como algo anterior aos prprios dis-
cursos. Os modernos, de modo geral, aceitaram esse quadro e acusaram
esses discursos e prticas sociais de tentar controlar e reprimir o sexo que
esto de fato construindo. Invertendo esse processo, a anlise de Foucault
trata o sexo como um efeito e no uma causa, como o produto de discur-
sos que tentam analisar, descrever e regular as Jtividades dos seres
humanos.
A anlise de Foucault um exemplo de um JrCjumento do campo da
histria que se tornou "teoria" porque inspirou e foi Jdotado por pessoas
em outros campos. No uma teoria da sexualidade no sentido de um
conjunto de axiomas que passam por universJis, Lia prcLcnde ser uma
anlise de um desenvolvimento hstrico especfico, m:lS c1ar<Jmente tem
implicaes mais amplas. Encoraja-nos J suspeiL:lr do qUI' (' identificado
como natural, como um dado. Isso no podni:l,:lO conlr:'Hio, ter sido pro-
duzido pelos discursos de especialistas, PCI:1Spr:'i1ic:ls vinculJdJs a dis-
cursos do conhecimento que afirmJm l!l'sl'r('vi"lo7 N:l explicao de
Foucault, a tentativa de conhecer J verd:Hk soiln' li'. q'rt's humanos que
produziu o "sexo" como o segredo da n:lIUIl'/;1 11l1l1l;1II:L
Uma caracterstica do pensanll'nlo qUI' "(' iorn;l il'ori:] que ele
oferece "lances" notveis que :lS Ill",so:l', POdl'Ill 11',:11:10 pensar sobre
outros tpicos. Um<Jdessa plovidi'n('i:I', (":1 '.IIIjI",lilll (k roucault de que
a suposta oposio entre um:l ',('xll:i1iti:l(k n:i1ll1:i1 (' dS foras sociais
("poder") que a rcprinH'lll podcli;l ',1'1, :1lI ('Ollil:'llio, urna relao de
cumplicidade: ;15 fOr\;:15 '-,o(-i;li', 1:1/('nl l'xi',li, :1 coisa ("sexo") que
aparentemente trabalham P:H:l conlrO!;II. IJln:1 p,ovidi:ncia posterior -
um bnus, se Cl5sim o quisell'nl (', 1)('llJlIlll:lI (I que se ganha com o
ocultamento dessCl cumplicid:Hk I'nll(' Ii potil'l (' Ii sexo que se diz qe
ele reprime. O que se 9Clnha qU:lIlliu e55:l illil'lti('pl'lIdi'ncia vista como
uma oposio e no como um;] intcrlicpendi'n('i:l7 A resposta que
til
I
Foucault d que isso mascara o carter difuso do poder: pensamos que
estamos resistindo ao poder defendendo o sexo, quando, de fato, esta-
mos trabalhando inteiramente nos termos que o poder estabeleceu .
Dizendo de outra forma, na medida em que essa coisa chamada "sexo"
!
parece residir fora do poder - como algo que as foras sociais tentam
em vo controlar - o poder parece limitado, absolutamente no muito
poderoso (ele no pode domar o sexo), Na realidade, o poder difuso;
est em toda pa rte.
O poder, para Foucault, no al90 que algum exerce mas "poder/co-
nhecimento": poder sob a forma de conhecimento ou conhecimento como
poder. O que pensamos saber sobre o mundo - o referencial conceitual den-
tro do qual somos levados a pensar sobre o mundo - exerce grande poder.
O poder/conhecimento produziu, por exemplo, a situao em que somos
definidos pelo nosso sexo. Produziu asituao que define uma mulher como
algum cuja realizao como pessoa deve residir numa relao sexual com
um homem. A idia de que o sexo est fora do e em oposio ao poder ocul-
ta o alcance do poder/conhecimento.
H diversas coisas importantes a observar sobre esse exemplo de teo-
ria. A teoria aqui em Foucault analitica - a anlise de um conceito - mas
tambm inerentemente especulativa no sentido de que no h evidn-
cia que se poderia citar para mostrar que essa a hiptese correta sobre
a sexualidade. (H muitas evidncias que tornam sua explicao plausvel
mas nenhum teste decisivo.) Foucault chama essa espcie de investigao
de uma crtica "geneal9ica": uma exposio de como categorias suposta-
mente bsicas, como o "sexo", so produzidas por prticas discursivas.
Essa critica no tenta nos dizer o que o sexo "realmente" mas procura
mostrar como a noo foi criada. Observe-se tambm que Foucault aqui
no fala absolutamente de literatura, embora sua teoria tenha provado
ser de grande interesse para as pessoas que estudam literatura.
Primeiramente, a literatura sobre sexo; a literatura um dos lugares
onde essa idia de sexo construda, onde achamos promovida a idia de
que as identidades mais profundas das pessoas esto ligadas ao tipo de
desejo que sentem por um outro ser humano, A explicao de Foucault foi
importante para as pessoas que estudam o romance assim como para
aqueles que trabalham na rea dos "gay and lesbian studies" e do gnero
em geral. Foucault foi especialmente influente como oinventor de novos
objetos histricos: coisas como "sexo", "punio" e "loucura", que no ha-
17
vamos pensado anteriormente como tendo uma histria. Suas obras
tratam dessas coisas como construes histricas e desse modo nos enco-
rajam a examinar o modo como as prticas discursivas de um perodo,
inclusive a literatura, podem ter conformado coisas que aceitamos sem
discusso.
Para um segundo exemplo de "teoria" - to influente comOa reviso
feita por Foucault da histria da sexualidade mas com traos que ilustram
algumas diferenas no interior da "teoria" - poderamos examinar uma
anlise do filsofo francs contemporneo Jacques Derrida' a respeito de
uma discusso sobre escrita e experincia nas Confisses de Jean-Jacques
RousseauJ Rousseau um escritor do sculo XVIII francs a quem muitas
vezes se credita ter trazido luz a noo moderna do eu individual.
Mas, primeiro, um pouco de pano de fundo. Tradicionalmente, a
filosofia ocidental distinguiu a "realidade" da "aparncia", as prprias
coisas de suas representaes e o pensamento dos signos que o expres-
sam. Os signos ou representaes, nessa viso, so apenas um modo de
chegar realidade, verdade ou s idias, e deveriam ser to transpa-
rentes quanto possvel; no deveriam atrapalhar, afetar ou infectar o pen-
samento ou verdade que representam. Nesse referencial, a fala pareceu a
manifestao ou presena imediata do pensamento, ao passo que a escri-
ta, que opera na ausncia do falante, foi tratada como uma representao
artificial e derivada da fala, um signo potencialmente enganador de um
signo.
Rousseau segue essa tradio, que passou para o'senso comum, quan-
do escreve: "As lnguas so feitas para serem faladas; a escrita serve ape-
nas como um suplemento da fala". Aqui Derrida intervm, perguntando "o
2 lacgues Derrida (1930-). Filsofo nascido na Arglia e educado na Frana, um dos mais proeminentes pensadores
do movimento ps-estruturalista. Sua crtica ao conceito de "estrutura" e ao estruturalismo estilo na base da descons-
truo, uma posio terica declaradamente "ps-estruturalista", que questioa o pressuposto de que as estruturas de
sentido cOITespondem a algum padro mental enraizado que determina os limites da inteligibiJidadc. Em suas for-
mulaes, a desconstruo prope que se desmontem as oposies bin,rias (por exemplo, entre razo/desrazo:
natureza/cultura; homernlmulher; fala/escrita) que, segundo os desconslfucionislas. caracterizam o pensamento oci-
dental (ver apndice).
Como no existe neutralidade na teoria ou na crtica, fica claro que, ao privilegiar essa posio terica, Culler deixa
de discutir outros modos de ler as relaes .entre mundo e linguagem e entre literatura e mundo. A desconstruo
descol1sidera, por exemplo, a noo de literatura como prtica social, no levando em conta as formas de signifi-
cao no contexto das condies reais de sua produo. (N.T.)
3 Jean-Jacques Rousseau (1712-1779). Embora tenha sido o menos acad2mico dos filsofos modernos. foi, de
muitas maneiras, o mais influente. Seu pensamento marcou o nascimento do Romantismo. (N.T.)
12
que um suplemento? "O Webster define suplemento como "algo que
completa ou faz um acrscimo". A escrita "completa" a fala suprindo algo
essencial que estava faltando ou acresce algo que a fala podia muito bem
passar sem? Repetidas vezes Rousseau caracteriza a escrita como mero
acrscimo, um extra desnecessrio, at mesmo uma "doena da fala": a
escrita consiste em signos que introduzem a possibilidade de mal-enten-
dido j que so lidos na ausncia do falante, que no est ali para explicar
ou corrigir. Mas, embora ele chame a escrita de um extra desnecessrio,
suas obras na realidade tratam-na como aquilo que completa ou com-
pensa algo que falta fala: repetidas vezes a escrita introduzida para
compensar as falhas da fala, tal como a possibilidade de mal-entendido.
Por exemplo, Rousseau escreve em suas Confisses, que inauguram a
noo do ser .como uma realidade "interior" desconhecida da sociedade,
que escolheu escrever suas Confisses e esconder-se da sociedade porque
na sociedade se mostraria "no apenas em desvantagem mas completa-
mente diferente do que sou ... Se estivesse presente, as pessoas nunca
conheceriam meu valor" ..Para R~usseau, seu "verdadeiro" eu interior
diferente do eu que aparece nas conversas com os outros e ele precisa
escrever para suplementar os signos enganadores de sua fala. A escrita
prova ser essencial porque a fala tem qualidades previamente atribudas
escrita: como a escrita, ela consiste em signos que no so transparen-
tes, no expressam automaticamente o sentido pretendido pelo falante,
mas esto abertos interpretao.
A escrita um suplemento da fala mas a fala j um suplemento: as
crianas, escreve Rousseau, aprendem rapidamente a usar a fala "para
suplementar suas prprias fraquezas ... pois no preciso muita experi-
ncia para perceber quo agradvel agir atravs das mos de outrem e
movimentar o mundo simplesmente movimentando a lngua". Numa
providncia caracteristica da teoria, Derrida trata esse caso especfico
como um exemplo de uma estrutura comum ou de uma lgica: uma "lgi-
ca da suplementaridade" que ele descobre nas obras de Rousseau. Essa
lgica uma estrutura onde a coisa suplementada (fala) passa a precisar
de suplementao porque prova ter as mesmas qualidades originalmente
pensadas como caracterstica apenas do suplemento (escrita). Tentarei
explicar.
Rousseau precisa da escrita porque a fala mal interpretada. De
modo mais geral, ele precisa de signos porque as coisas elas prprias
19
no satisfazem. Nas Confisses, Rousseau descreve seu amor de adoles-
cente por Madame de Warens, em cuja casa morava e a quem chamava
de "Mame".
Nunca acabaria se fosse descrever em detalhe todas as loucuras que a
recordao de minha querida Mame me fez cometer quando no estava
mais em sua presena. Quo freqentemente beijei minha cama, recordan-
do que ela dormira nela, minhas cortinas e toda a moblia do quarto, j que
pertenciam a ela e sua lindamo as tocara, at mesmo o cho, sobre o qual
me prostrei, pensando que ela andara sobre ele.
Esses diferentes objetos funcionam na sua ausncia como suplemen-
tos ou substitutos de sua presena. Mas acontece que, mesmo em sua
presena, a mesma estrutura, a mesma necessidade de suplementos, per-
siste. Rousseau continua:
s vezes, mesmo em sua presena, cometi extravagncias que apenas
o amor mais violento parecia capaz de inspirar. Um dia, mesa, assim que
ela pusera um pedao de comida em sua boca, exclamei que vi um cabelo
nele. Ela colocou o bocado de volta no prato; ansiosamente o agarrei e o
engoli.
Sua ausncia, quando ele tem que se virar com substitutos ou signos
que a lembram, primeiramente contrastada com sua presena. Mas
acontece que a presena dela no um momento de satisfao, de aces-
so imediato coisa ela mesma, sem suplementos ou signos; na presena
dela tambm a estrutura, a necessidade de suplementos, a mesma. Da
o incidente grotesco de engolir o alimento que ela pusera na boca. E a
cadeia de substituies pode ser continuada. Mesmo se Rousseau viesse a
"possu-Ia", como dizemos, ele ainda sentiria que ela lhe escapava e podia
apenas ser esperada com ansiedade e lembrada. E a prpria "Mame"
uma substituta da me que Rousseau jamais conheceu - uma me que
no teria sido suficiente mas que teria, como todas as mes, fracassado
em satisfazer e teria exigido suplementos.
"Atravs dessa srie de suplementos", escreve Derrida, "surge uma lei:
a de uma srie encadeada infinita, que multiplica inelutavelmente as
mediaes suplementares que produzem o senso da prpria coisa que elas
:w
I
adiam: a impresso da coisa ela mesma, de presena imediata, ou per-
cepo originria. A imediatez derivada. Tudo comea com o inter-
medirio". Quanto mais esses textos querem nos falar daimportncia da
prpria presena, mais eles mostram a necessidade de' intermedirios.
Esses signos ou suplementos so na realidade responsveis pela percepo
de que h algo l (como Mame) para apreender. O que aprendemos a
partir desses textos que a idia do original criada pelas cpias e queo
original sempre adiado - para nunca ser apreendido. A concluso qu'e
nossa noo de senso comum a respeito da realidade como algo presente,
e do original como algo que esteve uma vez presente, prova ser insusten-
tvel: a experincia sempre mediada pelos signos e o "original" pro-
duzido como um efeito de signos, de suplementos.
Para Derrida, os textos de Rousseau, como muitos outros, propem
que, ao invs de pensar a vida como algo a que se acre?cem signos e tex-
tos para represent-Ia, deveramos conceber a prpria vida como coberta
de signos, tornada o que por processos de significao. Os textos
escritos podem afirmar que a realidade anterior significaao mas na
realidade demonstram que, numa frase famosa de Derrida, "11n'y a pas de
hors-texte" - "No h nada fora do texto": quando voc pensa que est
saindo dos signos e do texto para a "prpria realidade", o que encontra
mais texto, mais signos, cadeias de suplementos. Escreve Derrida,
o que tentamos mostrar ao seguir o fio de ligao do "suplemento
perigoso" que, no que chamamos de a vida real dessas criaturas "de carne
e osso", ... nunca houve nada exceto a escrita, nunca houve nada exceto
suplementos e significaes substitutas que poderiam somente surgir
numa cadeia de relaes diferenciais ... E assim por diante indefinida-
mente, pois lemos no texto que o presente absoluto, u Natureza, o que
nomeado por palavras como "me real", etc. sempre j fugiram, nunca
existiram; aquilo que inaugura o sentido e a linguagem a escrita como
desaparecimento da presena natural.
Isso no significa que no h nenhuma diferena entre a presena de
"Mame" ou sua ausncia ou entre um acontecimento "real" e um fic-
cional. a presena dela que mostra ser um tipo especfico de ausncia,
que ainda exige mediaes e suplemenJos.
Foucault e Derrida so muitas vezes agrupados juntos como "ps-
21
estruturalistas" (ver Apndice), mas esses dois exemplos de "teoria" apre-
sentam diferenas notveis. A de Derrida oferece uma leitura ou interpre-
tao de textos, identificando uma lgica em ao num texto. A assero
de Foucault no se baseia em textos - na realidade ele cita surpreenden-
temente poucos documentos ou discursos reais - mas oferece um referen-
cial geral para pensar os textos e discursos em geral. A interpretao de
Derrida mostra o grau em que as prprias obras literrias, tais como as
Confisses de Rousseau, so tericas: elas oferecem argumentos especu-
lativos explicitos sobre escrita, desejo e substituio ou suplementao, e
guiam a reflexo sobre esses tpicos de maneiras que deixam implcitas.
Foucault, por outro lado, se prope a nos mostrar no quo perspicazes
ou sbios so os textos, mas quanto os discursos de mdicos, cientistas,
romancistas e outros criam as coisas que afirmam apenas analisar. Derrida
mostra quo tericas so as obras literrias; Foucault, quo criativamente
produtivos so os discursos do conhecimento.
Tambm parece haver uma diferena no que esto afirmando e quan-
to s questes que surgem. Derrida est pretendendo nos contar o que os
textos de Rousseau dizem ou mostram, assim a questo que surge se o
que os textos de Rousseau dizem verdadeiro. Foucault pretende analisar
um momento histrico especfico, ento a questo que surge se suas
grandes generalizaes valem para outros tempos e lugares. Levantar
questes subseqentes como essas , por sua vez, nossa maneira de inter-
vir na "teoria" e pratic-Ia.
Ambos os exemplos de teoria ilustram que a teoria envolve a prtica
especulativa:explicaes do desejo, da linguagem e assim por diante, que
contestam idias tradicionais (de que h algo natural chamado "sexo"; de
que os signos representam realidades anteriores). Fazendo isso, elas o
incitam a repensar as categorias com as quais voc pode estar refletindo
sobre a literatura. Esses exemplos exibem o principal mpeto da teoria
recente, que a crtica do que quer que seja tomado como natural, a
demonstrao de que o que foi pensado ou declarado natural na reali-
dade um produto histrico, cultural. O que ocorre pode ser compreendido
atravs de um exemplo diferente: quando Aretha Franklin canta "Voc faz
com que eu me sinta como uma mulher natural", ela parece feliz em ser
confirmada numa identidade sexual "natural", anterior cultura, pelo
tratamento que um homem lhe d. Mas sua formulao, "voc faz com que
eu me sinta como uma mulher natural", sugere que a identidade suposta-
22
mente natural ou dada um papel cultural, um efeito que foi produzido no
interior da cultura: ela no uma "mulher natural" mas fizeram com que
ela se sentisse como uma mulher natural. A mulher natural um produto
cultural.
A teoria produz outros argumentos anlogos a esse, quer mantendo
que arranjos ou instituies sociais aparentemente naturais, e tambm os
hbitos de pensamento de uma sociedade, so o produto de relaes
econmicas subjacentes e. lutas de poder correntes, ou que os fenmenos
da vida consciente podem ser produzidos por foras inconscientes, ou que
o que chamamos de eu ou sujeito produzido em e atravs de sistemas
de linguagem e cultura, ou que o que chamamos de "presena", "origem"
ou o "original" criado por cpias, por um efeito de repetio. '.
Ento, o que teoria? Quatro pontos pri,ncipais surgiram ..
1. A teoria interdisciplinar - um discurso com ef~itos fora de uma dis-
ciplina original.
2. A teoria analtica e especulativa - uma tentativa de entender o que
est envolvido naquilo que chamamos de sexo ou linguagem ou escri-
ta ou sentido ou o sujeito.
3. A teoria uma crtica do senso comum, de conceitos considerados
como natu rais.
4. A teoria reflexiva, reflexo sobre reflexo, investigao das cate-
gorias que utilizamos ao fazer sentido das coisas, na literatura e em
outras prticas discursivas.
Conseqentemente, a teoria intimidadora. Um dos traos mais
desanimadores da teoria hoje que ela infinita. No algo que voc
poderia algum dia dominar, nem um grupo especfico de textos que pode-
ria aprender de modo a "saber teoria". um corpus ilimitado de textos
escritos que est sempre sendo aumentado medida que os jovens e
inquietos, em crticas das concepes condutoras de seus antepassados,
promovem as contribuies teoria de novos pensadores e redescobrem
a obra de pensadores mais velhos e neglicenciados. A teoria , portanto,
uma fonte de intimidao, um recurso para constantes roubos de cena: "O
qu? Voc no leu Lacan! Como pode falar sobre a lrica sem tratar da
constituio especular do sujeito?" Ou "como pode escrever acerca do
romance vitoriano sem usar a explicao que Foucault d sobre o desen-
volvimento da sexualidade e sobre a histerizao dos corpos femininos e
2:3
a demonstrao que Gayatri Spivak faz do papel do colonialismo na cons-
truo do sujeito metropolitano?" s vezes, a teoria se apresenta como
uma sentena diablica que condena voc a leituras rduas em campos
desconhecidos, onde mesmo a concluso de uma tarefa trar no uma
pausa mas mais deveres difceis. ("Spivak? Sim, mas voc leu a crtica que
Benita Parry faz de Spivak e a resposta dela?")
\ ~~
I~&,A 1
Voc um terrorista? Graas a Deus. Entendi Meg dizer que voc era umteorista.
A impossibilidade de dominar a teoria uma causa importante de
resistncia a ela. No importa quo bem versado voc possa pensar ser, no
pode jamais ter certeza se "tem de ler" ou no Jean Baudrillard, Mikhail
Bakhtin, Walter Benjamin, Hlene Cixous, C.L.R. James, Melanie Klein ou
Julia Kristeva, ou se pode ou no esquec-Ios com segurana. (Depender,
naturalmente, de quem "voc" e quem quer ser). Grande parte da hostil-
idade teoria, sem dvida, vem do fato de que admitir a importncia da
teoria assumir um compromisso aberto, deixar a si mesmo numa posio
em que h sempre coisas importantes que voc no sabe. Mas essa uma
condio da prpria vida.
A teoria faz voc desejar o domnio: voc espera que a leitura terica
lhe d os conceitos para organizar e entender os fenmenos que o pre-
ocupam. Mas a teoria torna o domnio impossvel, no apenas porque h
sempre mais para saber, mas, mais especificamente e mais dolorosamente,
porque a teoria ela prpria o questionamentb dos resultados presumi-
dos e dos pressupostos sobre os quais eles se baseiam. A natureza d8 teo-
ria desfazer, atravs de uma contestao de premissas e postulados,
aquilo que voc pensou que sabia, de modo que os efeitos da teoria no
so previsveis. Voc no se tornou senhor, mas tampouco est onde esta-
va antes. Refle,te sobre sua leitura de maneiras novas. Tem perguntas
24
diferentes a fazer e uma percepo melhor das implicaes das questes
que coloca s obras que l.
Essa brevssima introduo no o transformar num mestre da teoria,
e no apenas porque ela muito breve, mas porque esboa linhas de pen-
samento e reas de debate significativas, especialmente aquelas que
dizem respeito literatura. Ela apresenta exemplos de investigao teri-
ca na esperana de que os leitores achem a teoria valiosa e cativante e
aproveitem para experimentar os prazeres da reflexo.
25
2 que Literatura e
telll ela importncia?
o que literatura? Voc pode pensar que essa seria uma questo cen-
tral para a teoria literria, mas na realidade ela no parece ter muita
importncia. Por que isso seria assim?
Parece haver duas razes principais. Primeiramente, como a prpria
teoria mescla idias vindas da filosofia, lingstica, histria, teoria polti-
ca e psicanlise, por que os tericos se preocupariam se os textos que
esto lendo so literrios ou no? Para os estudantes e professores de lite-
ratura hoje, h uma gama inteira de projetos crticos, tpicos para ler e
sobre os quais escrever - tais como "imagens de mulheres no incio do
sculo XX" - em que voc pode lidar tanto com as obras literrias quan-
to com as no-literrias. Voc pode estudar os romances de Virginia Woolf
ou as histrias de caso de Freud ou ambos, e a distino no parece
metodologicamente crucial. Isso no significa que todos os textos so de
algum modo iguClis: alguns textos so considerados mais ricos, mais vigo-
rosos, mais exemplares, mais contestadores, mais centrais, por uma razo
ou outra. Mas tanto as obras literrias quanto as n50-literrias podem ser
estudadas juntas e de modos semelhantes.
Em segundo lugar, a distino no parece central porque as obras de
teoria descobriram o que mais simplesmente chamado de a "Iitera __
riedade" dos fenmenos no-literrios. Qualidades muitas vezes pensadas
~6
)
como sendo literrias demonstram ser cruciais tambm para os discursos
e prticas no-literrios. Por exemplo, as discusses sobre a natureza da
compreenso histrica tornaram como modelo o que est envolvido na
compreenso de uma histria. Caracteristicamente, os historiadores no
produzem explicaes que so como as explicaes profticas da cincia:
no podem mostrar que quando X e Y ocorrem, Z necessariamente acon-
tecer. O que fazem, ao contrrio, mostrar como uma coisa levou a
outra, como a Primeira Guerra Mundial veio a eclodir, no por que tinha
de acontecer. O modelo para a explicao histrica , desse modo, a lgi-
ca das histrias: a maneira como urna histria mostra como algo veio a
acontecer, ligando a situao inicial, o desenvolvimento e o resultado de
um modo que faz sentido.
~'LJO modelo para a inteligibilidade histrica, em resumo, a narrativa
literria. Ns que ouvimos e lemos histrias somos bons em dizer se um
enredo faz sentido, coerente, ou se a histria fica inacabada. Se os mes-
mos modelos do que faz sentido e do que conta como urna histria carac-
terizam tanto as narrativas literrias quanto as histricas, ento distinguir
entre elas no parece ser uma questo terica urgente. Igualmente, os
tericos passaram a insistir na importncia, nos' textos no-literrios -
quer sejam os relatos de Freud de seus casos psicanalticos ou obras de
argumento filosfico -, de recursos retricos tais corno ?/m:~t~f~r'3l, que
foram ,S.Q!12.ill.~ad9s.s~.~~i.ai~ ..pC~ J)~e.r<Jt~ramas, freqentemente, pu ra-
mente ornamentais em outros tipos de discursos. Ao mostrar corno as fi-
guras retricas conformam o pensamento tambm em outros discursos, os
tericos demonstram uma literariedade poderosa em ao em textos
supostamente no-literrios, complicando dessa forma a distino entre
o literrio e o no-literrio.
Mas o fato de eu descrever essa situao falando da descoberta da
literariedade dos fenmenos no-literrios indica que a noo de litera-
tura continua a desempenhar um papel e precisa ser abordada.
Encontramo-nos de volta questo-chave, "O que literatura?", que
no ir embora. Mas que tipo de questo essa? Se quem est pergun-
tando uma criana de cinco anos de idade, fcil. "Literatura", voc
responde, "so histrias, poemas e peas". Mas se o indagador um teri-
co literrio, mais difcil saber como enfrentar a indagao. Poderia ser
uma questo sobre a natureza geral desse objeto, literatura, que vocs
dois j conhecem bem. Que tipo de objeto ou atividade ? O que faz? A
27
que propsitos serve? Assim compreendida, "O que literatura?" pede no
uma definio mas uma anlise, at mesmo uma discusso sobre por que
algum poderia, afinal, se preocupar com a literatura.
Mas "O que literatura?" poderia tambm ser uma pergunta sobre as
caractersticas distintivas das obras conhecidas como literatura: o que as
distingue das obras no-literrias? O que diferencia a literatura de outras
atividades ou passatempos humanos? Agora, as pessoas poderiam colocar
essa questo porque estariam perguntando a si mesmas como decidir
quais livros so literatura e quais no so, mas mais provvel que j te-
nham uma idia do que conta como literatura e queiram saber outra
coisa: h algum trao essencial, distintivo, que as obras literrias parti-
lham?
Essa uma pergunta difcil. Os tericos lutaram com ela, mas sem
sucesso notvel. As razes no esto longe de se encontrar: as obras de li-
teratura vm em todos os formatos e tamanhos e a maioria delas parece
ter mais em comum com obras que no so geralmente chamadas de lite-
ratura do que com algumas outras obras reconhecidas como literatura.
Jane Eyre, de Charlotte Bronte', por exemplo, se parece mais estritamente
com uma autobiografia do que com um soneto, e um poema de Robert
Burns5 - "Meu amor como uma rosa vermelha, vermelha" - se parece
mais com uma cano folclrica do que com o Hamlet de Shakespeare. H
qualidades partilhadas por poemas, peas e romances que os distinguem
de, digamos, canes, transcries de conversas e autobiografias?
Mesmo um pouco de perspectiva histrica torna essa questo mais
complexa. Durante vinte e cinco sculos as pessoas escreveram obras que
hoje chamamos de literatura, mas o sentido moderno de literatura mal tem
dois sculos de idade. Antes de 1800, literatura e termos anlogos em ou-
tras lnguas europias significavam "textos escritos" ou "conhecimento de
livros". Mesmo hoje, um cientista que diz "a literatura sobre evoluo
imensa" quer dizer no que muitos poemas e romances tratam do assunto
mas que se escreveu muito sobre ele. E obras que hoje so estudadas como
literatura nas aulas de ingls ou latim nas escolas e universidades foram
uma vez tratadas no como um tipo especial de escrita mas como belos
exemplos do uso da linguagem e da retrica. Eram exemplos de uma cate-
4 Charlotte Bronte (1815-]855), romancista inglesa. jone Eyre foi publicado em 1847. (N.T.)
.5 Robcrt Burns (1759-1796). Poeta nacional da Esccia, escre"eu p.oemas e can-es lricas. (N.T.)
23
goria mais ampla de prticas exemplares de escrita e pensamento, que
inclua discursos, sermes, histria e filosofia. Aos estudantes no se pedia
para interpret-Ias, como agora interpretamos as obras literrias, procu-
rando explicar sobre o que elas "realmente" so. Ao contrrio, os estu-
dantes as memorizavam, estudavam sua gramtica, identificavam suas fi-
guras retricas e suas estruturas ou procedimentos de argumento. Uma
obra como a Eneida de Virglio, que hoje estudada como literatura, era
tratada de modo muito diferente nas escolas antes de 1850.
O sentido ocidental moderno de literatura como~?taLmaginatil[..a
pode ser rastreado at os tericos romnticos alemes do final do sculo
XVIII e, se quisermos uma fonte especfica, a um livro publicado por uma
baronesa francesa, Madame de StaelG, Sobre a Literatura Considerada em
suas Relaes com as Instituies Sociais. Mas mesmo se nos restringir-
mos aos ltimos dois sculos, a categoria da literatura se torna escorre-
gadia: obras que hdje contam como literatura - digamos, poemas que
parecem fragmentos de conversas comuns, sem rima ou metro discernvel
- se qualificariam como literatura para Madame de Stael? E assim que
comeamos a pensar nas culturas no-europias, a questo do que conta
como literatura se torna cada vez mais difcil. .tentador desistir e con-
c1.~~ o q~~3~~L.9.~.~ u~~.d.a..~~.~o:ied.ade !r~~~..s~,
teratura - um conJu'nto-Te textos qu"eos rbitros c'lfurTs reconhecem
como pertencentes literatura.
Essa concluso completamente insatisfatria, claro. Ela simples-
mente desloca ao invs de resolver a questo: em vez de perguntar "o que
literatura?", precisamos perguntar "o que faz com que ns (ou alguma
outra sociedade) tratemos algo como literatura?" H, no entanto, outras
categorias que funcionam dessa maneira, referindo-se no a propriedades
especficas mas apenas a critrios mutveis de grupos sociais. Tomemos a
questo "O que uma erva daninha?" H uma essncia de "daninheza das
ervas" - um algo especial, um je ne sais quoi, que as ervas daninhas par-
tilham e que as distingue das ervas no-daninhas? Qualquer pessoa que
j tenha se oferecido para ajudar a limpar as ervas daninhas de um jardim
sabe quo rduo diferenciar uma erva daninha de uma erva no-dani-
6 Gcrmaillc de Stael (1766-1817). !v1ulher de letras franco-sua, ela foi um exemplo perfeito da cultura europia de
sua poca. fazendo a ponte entre as idias do Neoclassicismo e do Romantismo. i\bntinha um salo, onde se reu-
niam escritores c intelectuais. Autora de peas. romances, ensaios morais e polticos, crtica literria, histria e 111t:-
mrias autobiogrficas. (N.T.)
2Y
nha e pode se perguntar se h um segredo. Qual seria? Como se reconhece
uma erva daninha? Bem, o segredo que no h um segredo. As ervas
daninhas so simplesmente as plantas que os jardineiros no querem que
cresam em seus jardins. Se voc tivesse curiosidade sobre as ervas dani-
nhas, sobre a procura da natureza da "daninheza das ervas", seria uma
perda de tempo tentar investigar sua natureza botnica, procurar quali-
dades formais ou fsicas distintivas que tornam as plantas ervas daninhas.
Em lugar disso, voc teria de realizar investigaes a respeito dos tipos de
plantas que so julgadas indesejveis por dferentes grupos em diferentes
Iuga res.
Talvez a literatura seja como a erva daninha.
Mas essa resposta no elimina a pergunta. Muda-a para "o que est
envolvido em tratar as coisas como literatura em nossa cultura?" Suponha
que voc encontre a seguinte sentena:
We dance round in a ring and suppose,
But the Secret sits in the middle and knows.7
o que isso e como voc sabe?
Bem, importa muito onde voc a encontra. Se essa sentena estiver
impressa numa tira de papel num biscoito da sorte chins, voc pode
muito bem consider-Ia como uma predio extraordinariamente enig-
mtica, mas quando ela oferecida (como o caso aqui) como um exem-
plo, voc olha em torno buscando possibilidades entre os usos de lin-
guagem familiares a voc. um enigma, pedindo-nos que adivinhe o se-
gredo? Poderia ser um anncio de algo chamado "Segredo"? Os anncios
muitas vezes rimam - "Winston tastes good, like a cigarette should"8 - e
ficam cada vez mais enigmticos na tentativa de estimular um pblico
cansado. Mas essa sentena parece destacada de qualquer contexto prti-
co prontamente imaginvel, inclusive o da venda de um produto. Isso, e o
fato de que ela rima e, depois das primeiras duas palavras, segue um ritmo
regular de slabas fortes e fracas alternadas ("rund in a rng and sup-
pse") cria a possibilidade de que isso poderia ser poesia, um exemplo de
literatura.
7 "D;:man,!-os em crculo e supomosJ:-vbs o Segredo senta no meio e sabe". Poema de Robert FroSl (1874-1963).
poeta norte-americano que encontrou a poesia nos objetos familiares c no carter da Nova Inglatcna. (N.T.)
8 "\Vinston saboroso, como um cigalTo deve ser." (N.E.)
:\0
Entretanto, h um quebra-cabeas aqui: o fato de essa sentena no
ter importncia prtica bvia que cria, principalmente, a possibilidade
de que poderia se tratar de literatura, mas no poderamos conseguir o
mesmo efeito tirando outras sentenas dos contextos que deixam claro o
que fazem? Suponha que tiremos uma sentena de um libreto de instru-
es, de uma receita, um anncio, um jornal, e a coloquemos numa pgi-
na isoladamente:
Stir vigorously and allow to sit five minutes.9
Isso literatura? Transformei-a em literatura ao extra-Ia do contex-
to prtico de uma receita? Talvez, mas dificilmente fica claro que o tenha
feito. Algo parece estar faltando: a sentena parece no ter os recursos
com os quais trabalhar. Para transform-Ia em literatura, voc precisa,
talvez, imaginar um ttulo cuja relao com o verso colocaria um proble-
ma e exercitaria a imaginao: por exemplo, "O Segredo" ou "A Qualidade
da Misericrdia".
Algo assim ajudaria, mas um fragmento de sentena como "Um con-
feito sobre o travesseiro de manh" parece ter mais chances de tornar-se
literatura porque seu malogro em ser qualquer coisa que no uma imagem
convida um certo tipo de ateno, exige reflexo. O mesmo ocorre com
sentenas em que a relao entre a forma e o contedo fornece matria
potencial para reflexo. Desse modo, a sentena de abertura de um livro
de filosofia, From a Logical PointofView, de W. O. Quine', poderia conce-
bivelmente ser um poema:
A curious thing
about the ontological prob/em
is its simp/icity."
Registrada dessa maneira numa pgina, cercada pormrgensintLmi-
dadoras de silncio; essa sentena pode atrair um certo tipo de ateno
que poderamos chamar de literria: um interesse pelas palavras, suas
9 "Agite vigorosamente e deixe descansar por cinco minutos." (N.T.)
10 Williard Van Orman Quine (1908-). Filsofo e lgico norte-americano. defensor da anlise construtivista sis-
temtica da filosofia. (N.T.)
11 "Uma coisa curiosa sobre o problema ontolgico sua simplicidade." (N.T.)
:31
relaes umas com as outras, e suas implicaes, e particularmente um
interesse em como o que dito se relaciona com a maneira como dito.
Isto , registrada dessa maneira, essa sentena parece conseguir corres-
ponder a uma certa idia moderna de poema e responder a um tipo de
ateno que, hoje, associada literatura. Se algum dissesse essa sen-
tena a voc, voc perguntaria, "o que voc quer dizer?", mas se voc con-
siderar essa sentena como um poema, a pergunta no exatamente a
mesma: no o que o falante ou autor quer dizer mas o que o poema sig-
nifica? Como funciona essa linguagem? O que essa sentena faz?
Isoladas na primeira linha, as palavras "Uma coisa curiosa" podem
levantar a questo de o que uma coisa e o que uma coisa ser curiosa.
"O que uma coisa?" um dos problemas da ontologia, a cincia do ser
ou o estudo do que existe. Mas "coisa" na expresso "uma coisa curiosa"
no um objeto fsico mas algo como uma relao ou aspecto que no
parece existir da mesma maneira que uma pedra ou uma casa. A sentena
prega a simplicidade mas parece no praticar o que prega, ilustrando, nas
ambigidades da coisa, algo das complexidades proibitivas da ontologia.
Mas talvez a simplicidade mesma do poema - o fato de ele se interromper
depois de "simplicidade", como se nada mais precisasse ser dito - confira
alguma credibilidade afirmao implausvel de simplicidade. Em todo
caso, isolada dessa forma, a sentena pode dar origem ao tipo de ativi-
dade de interpretao associada com a literatura - o tipo de atividade que
venho realizando aqui.
O que esses experimentos de pensamento podem nos dizer sobre a
literatura? Eles sugerem, primeiramente, que, quando a linguagem
removida de outros contextos, destacada de outros propsitos, ela pode
ser interpretada como literatura (embora deva possuir algumas qualidades
que a tornam sensvel a tal interpretao), Se a literatura linguagem
descontextualizada, cortada de outras fIJn\'l'S l' propsitos, tambm,
ela prpria, um contexto, que protlloV(' ou susc:iL.l tipos especiais de
ateno. Por exemplo, os lcilotTS ;Jl('nI;Hll p,lra potcnciais complexidades
e procuram sentidos implcilos, "('Jn ',upor, i1iq,HllOS, quc a elocuo est
ordenando que faam <lIgo. Dcsl't('V('t ,I "lil('t,liur,l" seri<l dnalisar um con-
junto de suposies e opcraiks inlcrprcl<ltivas que os leitores podem
colocar em ao em tais textos,
Uma conveno ou disposio relevante que surgiu da anlise das
histrias (que vo de casos pessoais <l romances inteiros) atende pelo
:t~
nome proibitivo de "princpio cooperativo hiper-protegido" mas real-
mente bastante simples. A comunicao depende da conveno bsica de
que os participantes esto cooperando uns com os outros e que, portan-
to, o que uma pessoa diz a outra provavelmente relevante. Se eu per-
gunto a voc se Jorge bom aluno e voc responde, "geralmente ele
pontual", entendo sua resposta dando por assente que voc est
cooperando e dizendo algo relevante minha pergunta. Ao invs de recla-
mar, "Voc no respondeu minha pergunta", posso concluir que voc a
respondeu implicitamente e indicou que h pouc de positivo a ser dito
sobre Jorge enquanto aluno, Isto , presumo que voc est cooperando, a
menos que haja evidncia convincente do contrrio.'
Agora, as narrativas literrias podem ser vistas como membros de
uma classe mais ampla de histrias, "textos de demonstrao narrativa",
elocues cuja relevncia para os ouvintes no reside na informao
que comunicam mas em sua "narratividade". Quer esteja contando um
caso a um amigo ou escrevendo um romance para a posteridade, voc
est fazendo algo diferente, digamos, de testemunhar no tribunal: est
tentando produzir uma histria que parecer "valer a pena" para seus
ouvintes, que ter algum tipo de finalidade ou importncia, divertir ou
dar prazer.l~ ..~. diferen~as Ob!~Jj"t~Ltias_s_ outros te~tos de
demonstrao narrati'{-_Lg-':-l_~_~~[Lx?r u~. processo de se-
leo: foram publicados, resenhados e reimpressos:para que -;;S-Tetores
se aproximassem deles com a certeza de que outros os haviam consi-
derado bem construidos e "de valo( Assim, no caso das obras literrias,
o princpio:cooperativo "hiper-protegido". Podemos agentar muitas
obscuridades e irrelevncias aparentes, sem presumir que isso no faz
nenhum sentido. Os leitores presumem que, na literatura, as compli-
caes da linguagem tm, em ltima anlise, um propsito comunicati-
vo e, ao invs de imaginar que d falante ou escritor no est sendo
cooperativo, como poderiam ser em outros contextos de fala, eles lutam
para interpretar elementos que zombam dos princpios de comunicao
eficiente no interesse de alguma outra meta comunicativa. A "Lite-
ratura" umaetiqueta instlJJJ~["l1 que nos d motivo para esperar que
os resultadoscJ noss';;7 esfor~s-de leitura "valham a pena". E muitos
dos traos da literatura advm da disposio dos leitores de prestar
ateno, de explorar incertezas e no perguntar de imediato "o que voc
quer dizer com isso?"
:3:3
((~~4
Jl~ I(r:!
f~ ... :~i~ t ~~~J "Ele leu durante duas horas inteiras
c' \ ~(( t' ...... sem qualquer treinamento." ~/~~
A literatura, poderamos concluir, um ato de fala ou evento textual
que suscita certos tipos de ateno. Contrasta com outros tipos de atos
de fala, tais como dar informao, fazer perguntas ou fazer promessas. Na
maior parte do tempo, o que leva os leitores a tratar algo como literatu-
ra que eles a encontram num contexto que a identifica como literatu-
ra: num livro de poemas ou numa seo de uma revista, biblioteca ou
livraria.
Mas temos um outro quebra-cabeas aqui. No h maneiras especi-
ais de organizar a linguagem que nos digam que algo literatura? Ou o
fato de sabermos que algo literatura nos leva a dar-lhe um tipo de
ateno que no damos aos jornais e, conseqentemente, a encontrar
nela tipos especiais de organizao e sentidos implcitos? A resposta deve
certamente estar no fato de que ambos os casos ocorrem: s vezes o obje-
to tem traos que o tornam literrio mas s vezes o contexto literrio
que nos faz trat-Io como literatura. Mas linguagem altamente organiza-
da no necessariamente transforma algo em literatura: nada mais alta-
mente padronizado que a lista telefnica. E no podemos transformar em
literatura simplesmente qualquer fragmento de linguagem chamando-o
de literatura: no posso pegar meu velho livro de qumica e lHo como
romance.
Por um lado, a "literatura" no apenas uma moldura na qual colo-
camos a linguagem: nem toda sentena se tornar literria se registrada
na pgina como um poema. Mas, por outro lado, a literatura no s um
tipo especial de linguagem, pois muitas obras literrias no ostentam sua
diferena em relao a outros tipos de linguagem: funcionam de maneiras
especiais devido ateno especial que recebem.
Temos uma estrutura complicada aqui. Estamos lidando com duas
perspectivas diferentes que se sobrepem, se cruzam, mas no parecem
:H
produzir uma sntese. Podemos pensar as obras literrias como linguagem
com propriedades ou traos especficos e podemos pensar a literatura
como o produto de convenes e um certo tipo de ateno. Nenhuma das
duas perspectivas incorpora com sucesso a outra e devemos nos movi-
mentar para l e para c entre uma e outra. Examino cinco pontos que os
tericos levantaram a respeito da natureza da literatura: com cada um,
voc parte de uma perspectiva mas deve, no final, levar em conta a outra.
1. A LITERATURA COMO A "COLOCAO EM PRIMEIRO
PLANO" DA LINGUAGEM
Muitas vezes se diz que a "Iiterariedade" reside, sobretudo, na orga-
nizao da linguagem que torna a literatura distinguvel da linguagem
usada para outros fins. Literatura linguagem que "coloca em primeiro
plano" a prpria linguagem: torna-a estranha, atira-a em voc - "Veja!
Sou a linguagem!" - assim voc no pode se esquecer de que est lidan-
do com a linguagem configurada de modos estranhos. Em particular, a
poesia organiza o plano sonoro da linguagem para torn-Io algo com que
temos de ajustar contas. Aqui est o incio de um poema de Gerard
Manley Hopkins12 chamado "Inversnaid":
This darksome burn, horseback brown,
His rollrock highroad roaring down,
In coop and in coomb the fleece of his foam
Flutes and low to the lake fal/s home.13
A colocao em primeiro plano do desenho lingstico - a repetio
rtmica de sons em "burn ... brown ... rollrock ... road roaring" - assim
como as combinaes verbais incomuns tais como "rollrock" deixam claro
que estamos lidando com linguagem organizada para atrair a ateno
para as prprias estruturas lingsticas.
Mas tambm verdade que, em muitos casos, os leitores no perce-
J 1 Gerard r'vlanley Hopkins (1844-1889). Poeta ingls do final do sculo XIX, eSludiosoda cincia da linguagem
potica, cujas poemas foram publicados pela primeira vez apenas em 1918,29 anos depois de sua mortc. (N,T.)
13 "Esse queimado sombrio, marrom eqinoJ seu caminho ondulante ribomba! em capoeira e em ravina o vejo de
sua espuma/ pregueia e cai embaixo no lago." (N.T.)
:3;'5
bem o desenho lingstico a menos que algo seja identificado como litera-
tura. Voc no escuta quando est lendo prosa padronizada. O ritmo dessa
sentena, voc descobrir, dificilmente um ritmo que surpreende o ouvi-
do do leitor; mas, se uma rima aparece de repente, ela transforma o ritmo
em algo que voc ouve. A rima, marca convencional da literariedade, faz
com que voc repare no ritmo que estava ali desde o comeo. Quando um
texto enquadrado como literatura, ficamos dispostos a atentar para o
desenho sonoro ou para outros tipos de organizao lingstica que, em
geral, ignoramos.
2. LITERATURA COMO INTEGRAO DA LINGUAGEM
~ratura linguagem na qual os diversos elementos e c~~s
do texto entram numa rela complexa. Quando recebo uma carta -
pedindo uma contribuio para uma causa nobre, improvvel que eu
ache que o som ecoa o sentido, mas em literatura h relaes - de reforo
ou contraste e djsson~_QJ::i,L- entre as estruturas de diferentes nveis
lingsticos: entre som e sentido, entre organizao gramatical e padres
temticos. Uma rima, ao juntar duas palavras [suppose (supe)jknows
(sabe)], relaciona os seus sentidos ("saber" o oposto de "supor"?). Mas
fica claro que nem (1) nem (2) nem ambos juntos fornecem uma definio
de literatura. Nem toda literatura coloca a linguagem em primeiro plano
como sugere (1) (muitos romances no o fazem), e a linguagem colocada
em primeiro plano no necessariamente literatura. Raramente se pensa
que os trava-lnguas (Peter Piper picked a peck of pickled peppers14) so
literatura, embora chamem ateno para si prprios enquanto linguagem
e enganem voc. Nas propagandas, os expedientes lingsticos so muitas
vezes colocados em primeiro plano de modo at mesmo mais espalha-
fatoso que nas letras das canes e diferentes nveis estruturais podem
ser integrados mais imperiosamente. Um eminente terico, Roman
Jakobson, cita como seu principal exemplo da "funo potica" da lin-
guagem no um verso de um poema lrico mas um slogan poltico da
campanha presidencial americana de Dwight D. ("lkeH) Eisenhower: Ilike
14 "Peter Piper pegou uma poro de picles de pimenta." Um exemplo de trava-lnguas em portUgll~S seria "O rato
roeu a roupa do rei de Roma", ou "trs tristes tigres", (N.T.)
:16
I"
Ike.15 Aqui, atravs de um jogo de palavras, o objeto de que se gosta (lke)
e o sujeito que gosta (I) esto ambos envolvidos no ato (like): como pode-
ria eu no gostar de Ike, quando I e Ike estamos ambos contidos em like?
Atravs dessa propaganda, a necessidade de gostar de Ike parece inscrita
na estrutura mesma da linguagem. Assim, no que as relaes entre
diferentes nveis de linguagem sejam relevantes apenas na literatura mas
que, na literatura, mais provvel que procuremos e exploremos as
relaes entre forma e sentido ou tema e gramtica e, tentando entender
a contribuio que cada elemento traz para o efeito do todo, encontremos
integrao, harmonia, tenso ou dissonncia.
As explicaes sobre a literariedade que enfocam a colocao em
primeiro plano ou a integrao da linguagem no fornecem testes atravs
dos quais, digamos, os marcianos pudessem separar as obras de literatura ,de
outros tipos de escrita". Essas explicaes funcionam, como a maioria das
asseres sobre a natureza da literatura, para dirigir a ateno para certos
aspectos da literatura que elas afirmam ser centrais. Estudar algo como a li-
teratura, essa explicao nos diz, olhar sobretudo a organizao de sua lin-
guagem, no l-Ia como a expresso da psique de seu~
flexoaasocidade que a produii:--- -
- --~_ .... _._-------~
3. LITERATURA COMO FICO
Uma razo por que os leitores atentam para a literatura de modo
diferente que suas elocues tm uma relao especial com o mundo -
uma relao que chamamos de "ficcional': A obra literria um evento
lingstico que projeta um mundo ficcional que inclui falante, atores,
acontecimentos e um pblico implcito (um pblico que toma forma
atravs das decises da obra sobre o que deve ser explicado e o que se
supe que o pblico saiba). As obras literrias se referem a indivduos
imaginrios e no histricos (Emma Bovary, Huckleberry Finn), mas a fic- - '-', , ,,~,
cionalidade no se limita a personagens e acontecimentos. OsCficos>\
como so chamados, traos de orientao da linguagem que se rela-
cionam com a situao de elocuo, tais como pronomes (eu, voc) ou
15 "Eu gosto de Ike", Roman Jakobson. Lingista russo. autor de LinRsrica e COlnu!1ica(,'o
CultrixlEDUSP, J 969]. que prope 6 funes da linguagem. cada uma determinada por um dos fatores envolvidos
na comunicao verbal. (N,T.)
:37
advrbios de tempo e lugar (aqui, ali, agora, ento, ontem, amanh), fun-
cionam de modos especiais na literatura. Agora, num poema ("now ...
gathering swallows twitter in the skies"lG), se refere no ao instante em
que o poeta escreveu a palavra pela primeira vez, ou ao momento de sua
publicao, mas a um tempo no poema, no mundo ficcional de sua ao.
E o "eu" que aparece num poema lrico, tal como o "I wandered lonely as
a cloud ..."17, de Wordsworth18, tambm ficcional; refere-se ao falante do
poema, que pode ser bem diferente do indivduo emprico, Wlliam
Wordsworth, que escreveu o poema. (Pode ser que haja fortes ligaes
entre o que acontece com o falante ou narrador do poema e o que acon-
teceu com Wordsworth em algum momento de sua vida. Mas um poema
escrito por um homem velho pode ter um falante jovem e vice-versa. E,
notoriamente, os narradores de romances, os personagens que dizem "eu"
quando narram a histria, podem ter experincias e emitir juzos que so
bastante diferentes daqueles de seus autores.)
Na fico, a relao entre o que os falantes dizem e o que pensa o
autor sempre uma questo de interpretao. O mesmo ocorre com a
relao entre os acontecimentos narrados e as situaes no mundo. O dis-
curso no-ficcional geralmente est inserido num contexto que diz a voc
como consider-Io: um manual de instruo, uma notcia de Jornal, uma
carta de uma instituio de caridade. O contexto da fico, entretanto,
explicitamente deixa aberta a questo do que trata realmente a fico. A
referncia ao mundo no tanto uma propriedade das obras literrias
quanto uma funo que Ihes conferida pela interpretao. Se eu disser
a um amigo, "Encontre-me para jantarmos no Hard Rock Caf s oito
amanh", ele (ou ela) considerar isso um convite concreto e identificar
indicadores espaciais e temporais a partir do contexto da elocuo
("amanh" significa 14 de janeiro de 1998, "oito" significa oito da noite).
Mas, quando o poeta Ben Jonson19 escreve um poema "Convidando um
amigo para a ceia", a ficcionalidade dessa obra torna sua relao com o
mundo uma questo de interpretao: o contexto da mensagem literrio
e temos de decidir se consideramos o poema como algo que caracteriza
16 "agora ... andorinhas em bando chilreiam nos cus.
17 "Eu vagava solit,rio como uma nuvem." (N.T.)
] S \Villiam \Vordsworth (1770-1850). Poeta ingls, um dos fundadores do Romantismo com seu livro Lyrical
Sal/ads. de 1798. (N.T.)
19 Ben Johnson (1572-1637). Poem. ator e dramaturgo ingls contcmport1nco de Sh3.kcspearc c autor de uma das
mais conhecidas comdias satricas do teatro ingls. FolJw!1e (1606). (N.T.)
:~8
principalmente as atitudes de um falante ficcional, esboa um modo de
vida passado, ou sugere que a amizade e os prazeres simples so o que h
de mais importante para a felicidade humana.
Interpretar Hamlet , entre outras coisas, uma questo de decidir se
a pea deveria ser lida como uma discusso, digamos, dos problemas de
principes dinamarqueses, ou dos dilemas de homens da Renascena que
esto vivendo a experincia das mudanas na concepo do eu, ou das
relaes entre os homens e suas mes em geral, ou da questo de como
as representaes (inclusive as literrias) afetam o problema da com-
preenso de nossa experincia. O fato de haver referncias Dinamarca
ao longo da pea no significa que voc necessariamente a l como sendo
sobre a Dinamarca; essa uma deciso interpretativa. Podemos relacionar
Hamlet ao mundo de diferentes maneiras, em diversos nveis diferentes. A
ficcionalidade da literatura separa a linguagem de outros contextos nos
quais ela poderia ser usada e deixa a relao da obra com o mundo aber-
ta interpretao.
4. LITERATURA COMO OBJETO ESTTICO
As caractersticas da literatura discutidas at agora - os nveis suple-
mentares de organizao lingstica, a separao de contextos prticos de
elocuo, a relao ficcional com o mundo - podem ser Juntadas sob a
rubrica geral de funo esttica da linguagem. Esttica historicamente
o nome dado teoria da arte e envolve os debates a respeito de se a
beleza ou no uma propriedade objetiva das obras de arte ou uma
resposta subjetiva dos espectadores, e a respeito da relao do belo com
a verdade e o berr:l,_
Para Immanuel Kant20, o principal terico da esttica ocidental moderna,
a esttica o nome da tentativa de transpor a distncia entre o mundo
material e espiritual, entre um mundocrefOra~-e-;;g-;;jt~des e um mundo
dcOnceTtos. Objetos estticos, tais como as pinturas''u--s obras literrias,
com sua combinao de forma sensorial (cores, sons) e contedo espiritual
(idias), ilustram a possibilidade de juntar o material e o espiritual. Uma obra
20 Il11l11anuel Kant (1724-1804). Filsofo c metafsico alemo, cuja obra abrangente e sistemtica sobre a teoria do
conhecimento, ~tica e esttica influenciou enormemente a filosofia posterior. particularmente as vrias escolas
alems do kantismo e idealismo. (N.T.)
:w
{literria um objeto esttico porque, com outras funes comunicativas ini-
cialmente postas em parnteses ou suspensas, exorta os leitores a conside-
rar a inter-relao entre forma e contedo.
Os objetos estticos, para Kant e outros tericos, tm "uma finalidade
sem fim". H uma finalidade em sua construo: so feitos de modo que
suas partes operem conjuntamente para algum fim. Mas o fim a prpria
obra de arte, o prazer na obra ou o prazer ocasionado pela obra, no
algum propsito externo. Em teLrll()~_prticos, isso nifica que conside-
rar um texto como literatura indagar sobre a contribuio de suas partes
~ para o efeitoerc;tdo mas no considerar a obra cmo-se~ri-aprTn'ipaT~
menrCTstlnadii'girarg-Um'fim,tal~()mo nos informar ou persuadir.
Quando digo que as histrias s'aelcues cuja relevncia reside em sua
"narratividade", estou observando que h uma finalidade nas histrias
(qualidades que podem torn-Ias boas histrias) mas que isso no pode
ser facilmente vinculado a algum propsito externo e, dessa maneira,
estou registrando a qualidade esttica, afetiva das histrias, mesmo as
no-literrias. Uma boa histria narrvel, atinge os leitores ou ouvintes
como algo que "vale a pena". Ela pode divertir ou instruir ou incitar, pode
ter uma gama de.,~feitos, mas voc no pode definir as boas histrias em
geral como sendo aquelas que fazem qualquer uma dessas coisas.
5. LITERATURA COMO CONSTRUO INTERTEXTUAL OU
AUTO-REFLEXIVA
Tericos recentes argunlentaram que as obras so feitas a partir de
outras obras: tornadas possveis pelas obras anteriores que elas retomam,
repetem, contestam, transformam. Essa noo s vezes conhecida pelo
nome imaginoso de "intertextualidade': Uma obra existe em meio a outros
textos, atravs de suas relaes com eles. Ler alg como literatura con-
sider-Io como um evento lingstico que tem significado em relao a
outros discursos: por exemplo, como um poema que joga com as possibili-
dades criadas por poemas anteriores ou como um romance que encena e
critica a retrica poltica de seu tempo. O soneto de Shakespeare, "My
mistress' eyes are nothing like the sun", retoma as metforas usadas na
tradio da poesia amorosa e as nega ("But no such roses see I in her
cheeks") - nega":as como uma maneira de elogiar uma mulher que "when
40
she walks, treads on the ground"21. O poema tem significado em relao
tradio que o torna possvel.
Agora, como ler um poema como literatura relacion-Io a outros
poemas, comparar e contrastar o modo como ele faz sentido com os
modos como os outros fazem sentido, possvel ler os poemas como
sendo, em algum nvel, sobre a prpria poesia. Eles se relacionam com as
operaes da imaginao potica e da interpretao potica. Aqui encon-
tramos uma outra noo que importante na teoria recente: a da "auto-
reflexividade" da literatura. Os romances so, em algum nvel, sobre os
romances, sobre os problemas e possibilidades de representar e dar forma
e sentido experincia. Assim, Madame Bovary pode ser lido como uma
sondagem das relaes entre a "vida real" de Emma Bovary e a maneira
como tanto os romances romnticos que ela l quanto o prprio romance
de Flaubert22 conseguem que a experincia faa sentido: Podemos sempre
indagar, a respeito de um romance (ou poema), como o que ele diz impli-
citamente sobre fazer sentido se relaciona com o modo como ele prprio
empreende a tarefa de fazer sentido.
1: literatura uma prtica na gUcll os autores ~er avanar ou.
rs:novar a literatura e, desse modo, sempre implicitamente uma reflexo
________ ~ - "'- '_" ,M_~ __ ...,.,...,." ...... -.___..., _
~?bre a prpria literatura. Mas, mais uma vez, descobrimos que isso algo
que poderamos dizer a respeito de outras formas: os adesivos de pra-
choques, como os poemas, podem depender, quanto a seu sentido, de ade-
sivos anteriores: "Nuke a Whale for Jesus!" no faz nenhum sentido sem
"No Nukes", "Save the Whales", e "Jesus Saves", e certamente poder-se-
ia dizer que "Nuke a Whale for Jesus!"23 realmente sobre adesivos de
pra-choques. A intertextualidade e auto-reflexividade da literatura no
so, finalmente, um trao definidor mas uma colocao em primeiro plano
de aspectos do uso da linguagem e de questes sobre representao que
podem tambm ser observados em outros lugares.
Em cada um desses cinco casos, encontramos a estrutura que men-
21 "Os olhos de minha amada no so como o sol! Mas nenhuma dessas rosas vejo em sua face/ quando ela cami-
nha, pisa no cho." \Villiam Shakespeare (1564-1616). Alm das tragdias, comdias e peas histricas, Shakespeare
se notabilizou por UIl1l1 coleo de 154 sonetos em que o eu potico medita sobre o tempo, a beleza e a mudana e
celebra o amor e a amizade, principalmente. (N.T.)
22 Gustave Flaubcrt (l82J - J 880). Romancista francs, um dos mais importantes da escola realista e mais conheci-
do por sua obra~prima Madame Bov<1ry,um retrato realista da vida burguesa, que lhe valeu um julgamento por
imoralidade. (N.T.)
23 "Bombardeie uma baleia em nome de Jesus!"; "No s bombas nucleares"; "Salve as baleias" e "Jesus salva".
(N.T.)
41
cionei acima: estamos lidando com o que poderia ser descrito como pro-
priedades das obras literrias, traos que as marcam como literatura, mas
tambm com o que poderia ser visto como os resultados de um tipo par-
ticular de ateno, uma funo que atribumos linguagem ao consider-
Ia como literatura. Parece que nenhuma das duas perspectivas consegue
englobar a outra de modo a tornar-se uma perspectiva abrangente. As
qualidades da literatura no podem ser reduzidas a propriedades objeti-
vas ou a conseqncias de maneiras de enquadrar a linguagem. H uma
razo-chave para isso quej surgiu dos pequenos experimentos de pensa-
mento do incio deste captulo. A linguagem resiste aos enquadramentos
que impomos. difcil transformar o dstico "We dance round a ring ..."
numa previso de um biscoito da sorte ou "Stir vigourously", num poema
instigante. Quando tratamos algo como literatura, quando procuramos
padro e coerncia, h resistncia na linguagem; temos que trabalhar em
cima disso, trabalhar com isso. Finalmente, a "Iiterariedade" da literatura
pode residir na tenso da interao entre o material lingstico e as
expectativas convencionais do leitor a respeito do que literatura. Mas
digo isso com cautela, pois a outra coisa que aprendemos com os nossos
cinco casos que cada qualidade identificada como um trao importante
da literatura mostra no ser um trao definidor, j que pode ser encon-
trada em ao em outros usos da linguagem.
Comecei este captulo observando que a teoria literria nas dcadas
de 80 e 90 deste sculo no teve como foco a diferena entre obras
literrias e no-literrias. O que os tericos fizeram foi refletir sobre a li-
teratura como uma categoria histrica e ideolgica, sobre as funes
sociais e polticas que se pensou que algo chamado "literatura" desem-
penha. Na Inglaterra do sculo XIX, ~ literatura surgiu c()Ql9.ul1la idia
~~ffi!eJ~.J2QE!arlts:., ..um .tif2Qespecirde"'escrTt-encarregada de
-diyelsasJJJ-D.t;6es. Transformada-"em ~-~t~"ITi;ae"inslru() n()s colriisdo
Imprio Britnico, ela enc()rregou-sc de dar aos n()tivos um() apreciao
da grandeza da Inglaterra e de envolvl'-Ios como participantes agradeci-
dos num empreendimento civilizador histrico. No plano domstico, ela
podia se contrapor ao egosmo e materialismo fomentados pela nova
economia capitalista, oferecendo s classes mdias e aos aristocratas va-
lores alternativos e dando aos trabalhadores uma baliza na cultura que,
materialmente, os relegava a uma posio subordinada. Ela iria ao mesmo
tempo ensinar apreciao desinteressada, proporcionar um senso de gran-
4~
deza nacional, criar um sentimento de camaradagem entre as classes e,
em ltima anlise, funcionar como um substituto da religio, que parecia
no mais ser capaz de manter a sociedade unida.
Qualquer conjunto de textos que pudesse realizar tudo isso seria real-
mente muito especial. O que a literatura que se pensava que pudesse
realizar tudo isso? Uma coisa que crucial uma estrutura especial de
exemplaridade em ao na literatura. Uma obra literria - Hamlet, por
exemplo - caracteristicamente a histria de um personagem ficcional:
ela se apresenta como, de alguma maneira, exemplar (por que outra razo
a leramos?), mas simultaneamente se recusa a definir o arco ou escopo
daquela exemplaridade - da a facilidade com que leitores e crticos pas-
sam a falar sobre a "universalidade" da literatura. A estrutura das obras
literrias tal que mais fcil considerar que elas nos contam sobre a
"condio humana" em geral do que especificar que categorias mais res-
tritas elas descrevem ou iluminam. Hamlet apenas sobre prncipes, ou
homens da Renascena, ou jovens introspectivos, ou pessoas cujos pais
morreram em circunstncias obscuras? Como todas essas respostas pare-
cem insatisfatrias, mais fcil para os leitores no responder, aceitando
implicitamente, dessa forma, uma possibilidade de universalidade. Em sua
particularidade, os romances, os poemas e as peas se recusam a explorar
aquilo de que so exemplares, ao mesmo tempo que convidam todos os
leitores a se envolverem nas situaes e pensamentos de seus narradores
e personagens.
Mas oferecer universalidade e se dirigir a todos aqueles que podem ler
a linguagem, combinadamente, teve uma funo nacional poderosa.
Benedict Anderson argumenta, em Imagined Communities: Reflections on
the Origin and Spread of Nationalism, uma obra de histria poltica que se
tornou influente como teoria, queas obras de literatura - particularmente
os romances - ajudaram a criar comunidades nacionais atravs de sua
postulao de, e apelo a, uma comunidade ampla deleitores, limitada mas
em princpio aberta a todos que podiam ler a lngua. "A fico", escreve
Anderson, "filtra-se silenciosa e continuamente na realidade, criando
aquela confiana notvel da comunidade no anonimato que a marca
registrada das naes modernas". Apresentar os personagens, falantes,
enredos e temas da literatura inglesa como potencialmente universais
promover uma comunidade imaginada aberta mas limitada, qual os s-
ditos nas colnias britnicas, por exemplo, so convidados a aspirar. Na
4:3
realidade, quanto mais se enfatiza a universalidade da literatura, mais ela
pode ter uma funo nacional: afirmar a universalidade da viso de
mundo oferecida por Jane Austen torna a Inglaterra um lugar realmente
muito especial, o espao de padres de gosto e comportamento e, mais
importante, dos cenrios morais e circunstncias sociais nas quais os
problemas ticos so resolvidos e as personalidades so formadas.
A literatura vista como um tipo especial de escrita que, argumenta-
se, poderia civilizar no apenas as classes mais baixas mas tambm os
aristocratas e as classes mdias. Essa viso da literatura como um objeto
esttico que poderia nos tornar "pessoas melhores" se vincula a uma certa
idia do sujeito, o qual os tericos passaram a chamar de "sujeito liberal",
o indivduo definido no por uma situao social e interesses mas por uma
subjetividade individual (racional idade e moralidade) concebida como
essencialmente livre de determinantes sociais. O objeto esttico, desliga-
do de propsitos prticos e induzindo tipos particulares de reflexo e
identificaes, ajuda a nos tornarmos sujeitos liberais atravs do exerc-
cio livre e desinteressado de uma faculdade imaginativa que combina
saber e julgamento na relao correta, A literatura faz isso - afirma o ar-
gumento -, encorajando a considerao de complexidades sem uma cor-
rida ao julgamento, envolvendo a mente em questes ticas, induzindo os
leitores a examinar a conduta [inclusive a sua prpria) como o faria um
forasteiro ou um leitor de romances, Promove o carter desinteressado,
ensina a sensibilidade e as discriminaes sutis, produz identificaes
com homens e mulheres de outras condies, promovendo dessa maneira
o sentimento de camaradagem. Em 1860, um educador sustentava que
atravs do dilogo com os pensamentos e elocues daqueles que so lde-
res intelectuais da raa, nosso corao passa a bater de acordo com o sen-
timento de humanidade universal. Descobrimos que nenhuma diferena de
classe, ou partido, ou crer/o, por/c r/estruir o poder do gnio de encantar e
instruir e que, acima da fw))aa (' da agitao, do alarido e tumulto da vida
inferior de cuidado e ativir/ui/c c r/elwte do homem, h uma regio serena
e luminosa da verdade O/1C/C todos podem se encontrar e divagar em
comum.
No surpreende que discusses tericas recentes tenham criticado
essa concepo de literatura c tcnham enfocado, sobretudo, a mistifi-
-t-t
cao que busca distrair os trabalhadores da desgraa de sua condio
oferecendo-Ihes acesso a essa "regio mais alta" - atirando aos trabalha-
dores alguns romances a fim de evitar que eles montem algumas barri-
cadas, como diz Terry Eagleton2\Mas quando exploramos as asseres
sobre o que faz a literatura, como ela funciona como uma prtica social,
encontram'os argumentos que so extremamente difceis de reconciliar.
literatura foram atribudas funes diametralmente opostas. A lite-
ratura um instrumento ideolgico: um conjunto de histrias que seduzem
os leitores para que aceitem os arranjos hierrquicosda sociedade? Se as
histrias aceitam sem discusso que as mulheres devem encontrar sua feli-
cidade, se que vo encontr-Ia, no casamento; se aceitam as divises de
classe como naturais e exploram a idia de como a servial virtuosa pode
casar com um lorde's, elas trabalham para legitimar arranjos histricos
contingentes. Ou a literatura o lugar onde a ideologia exposta, revela-
da como algo que pode ser questionado? A literatura representa, por exem-
plo, de uma maneira potencialmente intensa e tocante, o arco estreito de
opes historicamente oferecidas s mulheres e, ao tornar isso visvel, le-
vanta a possibilidade de no se aceitar isso sem discusso. Ambas as
asseres so completamente plausveis: que a literatura o veculo de
ideologia e que a literatura um instrumento para sua anulao. Aqui
novamente encontramos uma complexa oscilao entre as "propriedades"
potenciais da literatura e a ateno que reala essas propriedades.
Tambm encontramos asseres contrrias sobre a relao da litera-
tura com a ao. Os tericos sustentam que a literatura encoraja a leitu-
ra e as reflexo solitrias como modo de se ocupar do mundo e, dessa
forma, se ope s atividades sociais e polticas que poderiam produzir
mudana. Na melhor das hipteses, ela encoraja o distanciamento ou a
apreciao da complexidade e, na pior, a passividade e a aceitao do que
existe. Mas, por outro lado, a literatura foi vista historicamente como
perigosa: ela promove o questionamento da autoridade e dos arranjos
sociais. Plato baniu os poetas de sua repblica ideal porque eles s pode-
riam fazer mal, e h muito tempo se credita aos romances deixar as pes-
soas insatisfeitas com as vidas que herdam e ansiosas por algo novo -
quer seja a vida nas grandes cidades ou uma aventura amorosa ou a re-
24 Crtico marxista ingls, professor da Universidade de Oxford. (N.T.)
25 A referncia aqui ao rom;:lIlcc Pwnela, ou virtude recompensada. texto fundador do romance ingls. publicado
pelo ingls Samuel Richardson em 17.+0. (N.T.)
-t;,)
voluo. Promovendo identificao atravs das divises de classe, gnero,
raa, nao e idade, os livros podem promover um "sentimento de cama-
radagem" que desencoraja a luta; mas tambm podem produzir um senso
agudo de injustia que torna possveis as lutas progressistas.
Historicamente, credta-se s obras de literatura a produo da mudana:
A Cabana do Pai Toms, de Harriet Beecher Stowe'G, um "best-seller" em
sua poca, ajudou a criar uma mudana repentina de sentimentos contra
a escravido, que tornou possvel a Guerra Civil norte-americana.
Volto, no Captulo 7, ao problema da identificao e seus efeitos: que
papel desempenha a identificao com os personagens e narradores lite-
rrios? Por enquanto, deveramos observar sobretudo a complexidade e
diversidade da literatura como instituio e prtica social. O que temos
aqui, afinal de contas, uma instituio baseada na possibilidade de dizer
o que quer que voc imagine. Isso central para o que literatura: a obra
literria pode ridicularizar, parodiar qualquer ortodoxia, crena, valor,
imaginar alguma fico diferente e monstruosa. Dos romances do Marqus
de Sade27, que procuraram imaginar o que aconteceria num mundo em que
a ao seguisse uma natureza concebida como apetite sem limites, a Os
Versos Satnicos de Salman Rushdie'B, que causou tanto escndalo devido
a seu uso de nomes e motivos sagrados num contexto de stira e pardia,
a literatura a possibilid<'lde de exceder ficcionalmente o que foi pensado
e escrito anteriormente. Para qualquer coisa que parecesse fazer sentido, a
literatura podia faz-Ia sem sentido, ir alm dela, transform-Ia de uma
maneira que levantasse a questo de sua legitimidade e adequao.
A literatura a atividade de uma elite cultural e o que se chama s
vezes de "capital cultural": aprender sobre literatura d a voc uma bali-
,za na cultura que pode compensar de variadas maneiras, ajudando-o a se
entrosar com pessoas de status social mais alto. Mas a literatura no pode
ser reduzida a essa funo social conservadora: dificilmente ela a
fornecedora de "valores familiares" mas torna sedutores todos os tipos de
crimes, da revolta de Sat contra Deus no Paraso Perdido de Milton'9 ao
26 fbrriet (Elizabeth) Bccchcr Stmve (1811- J 896). Romancista e filantropa norte-americana, autora de A Cabana do
Pai Toms, que contribuiu bastante para fomentar o sentinlento popular contra a escravido. (N,T.)
27 I'v1arqus de Sade (1740-1814). Autor de literatura ertica que deu origem ao termo sadismo. (N,T.)
28 Salman Rushdie (1947-). Romancista anglo-indiano. condenado morte por importantes lderes religiosos irania-
nos por ter alcgadamente blasfemado contra o Isl em seu romance Os Versos Satnicos (1988). Seu caso tornou-se
foco de uma controvrsia internacional. Autor ainda de Midnight's Children (J 981) e de Shame (1983). (N.T.)
29 John i\lilton (1608-1674). Poeta ingls. autor de Paraso Perdido (1667). um poema pico que busca "justificar
os caminhos de Deus perante os homt:ns". (N.T.)
46
assassinato de uma velha cometido por Raskolnikov no Crime e Castigo de
DostoievskiJ(', Ela estimula a resistncia aos valores capitalistas, s prati-
calidades dos ganhos e gastos. A literatura o rudo da cultura assim
como sua informao. uma fora entrpica assim como um capital cul-
tural. uma escrita que exige uma leitura e envolve os leitores nos pro-
blemas de sentido,
A literatura uma instituio paradoxal porque criar literatura es-
crever de acordo com frmulas existentes - produzir algo que parece um
soneto ou que segue as convenes do romance - mas tambm zombar
dessas convenes, ir alm delas. A literatura uma instituio que vive
de expor e criticar seus prprios limites, de testar o que acontecer se
escrevermos de modo diferente. Assim, a literatura ao mesmo tempo o
nome do absolutamente convencional - moon rima com June and swoon,
as virgens so belas, os cavaleiros so ousados - e do absolutamente
demolidor, em que os leitores tm de lutar para captar o sentido, como em
sentenas como esta, tirada do Finnegans Wake de James Joyce3l: "Eins
within a space and a wearywide space it was er wohned a Mookse':
A questo "o que literatura?" surge, eu sugeri anteriormente, no
porque as pessoas esto preocupadas com o fato de que poderiam con-
fundir um romance com a Histria ou a mensagem num biscoito da sorte
com um poema, mas porque os crticos e tericos esperam, ao dizer o que
literatura, promover o que consideram ser os mtodos crticos mais per-
tinentes e descartar os mtodos que negligenciam os aspectos mais bsi-
cos e distintivos da literatura. No contexto da teoria recente, a questo "o
que literatura?" tem importncia porque a teoria ressalta a literariedade
dos textos de todos os tipos. Refletir sobre a literariedade manter diante
de ns, como recursos de anlise desses discursos, prticas de leitura
trazidas luz pela literatura: a suspenso da exigncia de inteligibilidade
imediata, a reflexo sobre as implicaes dos meios de expresso e a
ateno em como o sentido se faz e o prazer se produz.
30 Fiador Dostoievski (1821-188 1). Romancista. contista c jornalista russo, cuja sondagcm psicolgica dos cantos mais
negros do corao humano juntamente com seus momentos de iluminao exerceram uma profunda influncia no
romance do sculo XX. Autor de Crime e Casrigo (1866) e de Os Innii.os KaI"Wnll?01' (1879-89), entre outros. (N.T.)
31 Jamcs Joyce (1882- J 9.+ 1). Romancista e contista irlands conhecido por sua experimentao formal. foi um dos
mais importantes escritores do sculo XX. Autor de DuhlinelJ.\o (1914), Ufisse.\ (1922) e Fi!l!1egans \Vake (19.39).
entre outras obras. As inven6es lingsticas de Fhllll!gans H'ake tornam sua traduilo um empreendimento que
poucos ousaram enfrentar. Os poetas e tradutores Augusto e I-Iaroldo de Campos traduziram e publicaram II frap.
mentos desse romance em PWJolwntl C/(;' FilllwgalJs H'tlke [So Paulo. Perspectiva. 1986]. (N.T.)
!
47
Professores de francs que escrevem livros sobre cigarros ou sobre a
obsesso dos norte-americanos com a gordura; shakespearianos que
analisam a bissexualidade; especialistas em realismo que trabalham com
"serial killers". O que est havendo?
O que est acontece.ndo aqui "estudos culturais", uma importante
atividade nas humanidades na dcada de 90 deste sculo. Alguns profes-
sores de literatura podem ter se voltado de Milton para Madonna, de
Shakespeare para as novelas, abandonando completamente o estudo da
literatura. Como isso se relaciona com a teoria literria?
A teoria enriqueceu e revigorou enormemente o estudo das obras
literrias mas, como observei no Captulo 1, a teoria no a teoria da li-
teratura. Se voc tivesse de dizer o que a "teoria" teoria de, a resposta
seria algo como "prticas de sentido", a produo e representao da
experincia, e a constituio de sujeitos humanos - em resumo, algo
como cultura no sentido mais amplo. E surpreendente que o campo dos
estudos culturais, t31 como se desenvolveu, seja to confusamente inter-
disciplinar e to difcil de definir quanto a prpria "teoria". Poder-se-ia
dizer que os dois and3m juntos: "teoria" a teoria e estudos culturais
a prtica. Estudos culturais a prtica de que o que chamamos resumi-
damente de "teoria" a teoria. Alguns praticantes dos estudos culturais
se queixam da "alta teoria", mas isso indica um desejo compreensvel de
no ser responsabilizado pelo corpus infinito e intimidador de teoria. O
trabalho na rea de estudos culturais, na realidade, depende profunda-
mente dos debates tericos sobre sentido, identidade, representao e
agncia de que trato neste livro.
Mas qual a relao entre estudos literrios e estudos culturais? Em
sua concepo mais ampla, o projeto dos estudos culturais compreen-
der o funcionamento da cultura, particularmente no mundo moderno:
como as produes culturais operam e como as identidades culturais so
construdas e organizadas, para indivduos e grupos, num mundo de
comunidades diversas e misturadas, de poder do Estado, indstrias da
mdia e corpo raes multinacionais. Em princpio, ento, os estudos cul-
turais incluem e abrangem os estudos literrios, examinando a literatura
como uma prtica cultural especfica. Mas que tipo de incluso essa? H
uma boa quantidade de discusso aqui. Os estudos culturais so um pro-
jeto amplo no interior do qual os estudos literrios ganham novo poder e
percepo? Ou os estudos culturais iro engolir os estudos literrios e
destruir a literatura? Para compreender o problema, precisamos de um
pouco de conhecimento sobre o desenvolvimento dos estudos culturais.
Os estudos culturais modernos tm uma genealogia dupla. Vm
primeiro do estruturalismo francs dos anos 60 (ver Apndice), que trata-
va a cultura (inclusive a literatura) como uma srie de prticas cujas
regras ou convenes deveriam ser descritas. Uma das primeiras obras de
estudos culturais do terico literrio francs Roland Barthes, Mitologias
(1957), realiza breves "leituras" de uma gama de atividades culturais, de
lutas livres profissionais e propagandas de carros e detergentes a objetos
culturais mticos como o vinho francs e o crebro de Einstein. Barthes
est especialmente interessado em desmistificar o que, em cultura, passa
a parecer natural, mostrando que ela se baseia em construes contin-
gentes, histricas. Ao analisar as prticas culturais, ele identifica as con-
venes subjacentes e suas implicaes sociais. Se voc comparar a luta
livre profissional com o boxe, por exemplo, voc pode ver que h con-
venes diferentes: os boxeadores se comportam estoicamente quando
atingidos, enquanto que os lutadores livres se contorcem em agonia e
encenam bombasticamente papis estereotipados. No boxe, as regras da
luta so externas ao certame, no sentido de que designam limites alm
dos quais ele no pode ir, enquanto que, na luta livre, as regras esto fun-
damentalmente dentro do certame, como convenes que aumentam o
iteratura e Estudos
Culturais
3
.fX
.ft)
arco de sentido que pode ser produzido: as regras existem para ser vio-
ladas, de maneira bastante flagrante, de modo que o "cara mau" ou vilo
possa revelar-se dramaticamente como malfazejo e no-esportivo e o
pblico possa ser estimulado a uma fria vingativa. A luta livre, dessa
forma, proporciona, sobretudo, as satisfaes de inteligibilidade moral, j
que o bem e o mal esto claramente em oposio. Investigando as prti-
cas culturais da alta literatura moda e comida, o exemplo de Barthes
estimulou a leitura das conotaes das imagens culturais e a anlise do
funcionamento social das estranhas construes da cultura.32
A outra fonte dos estudos culturais contemporneos a teoria
literria marxista na Gr-Bretanha. A obra de Raymond Williams (Cultura
e Sociedade, 1958) e do fundador do Birmingham Centre for Contem-
porary Cultural Studies, Richard Hoggart (The Uses of Literacy, 1957)33
buscou recuperar e explorar uma cultura operria popular, que havia sido
perdida de vista medida que a cultura era identificada com alta lite-
ratura. Esse projeto de recuperao de vozes perdidas, de fazer a Histria
a partir de baixo, encontrou uma outra teorizao da cultura - da teoria
marxista europia - que analisava a cultura de massas (em oposio
"cultura popular") como uma formao ideolgica opressora, como sig-
nificadOs que funcionavam para posicionar os leitores ou espectadores
como consumidores e p.ara justificar os funcionamentos do poder de
Estado. A interao entre essas duas anlises da cultura -a cultura como
uma expresso do povo e a cultura como imposio sobre o povo - foi
32 Roland BJrthes (1915-1980). Intelectual e crtico francs que deu grandes contribuies Semitica (o estudo
formal de smbolos e signos). O livro de que fala CuBer contm uma srie de textos que refletem sobre mitos da vida
cotidiana francesa, contempornea a Banhes, e. inscrevendo-se no campo da Semiologia, visam, segundo o terico
francs, "realizar, por Ulll lado, uma crica ideolgica da linguagem da cultura dita de massa, por outro, Ullla
primeira desmontagern sCll1iolgica dessa linguagem". A nova cincia da Semiologia proposta, dessa forma, como
uma maneira ele desmistiric,u' o mundo. Ver Roland Barthes. Mir%gius. Rio de Janeiro, DIFEL 1978. (N.T.)
33 Raymoncl Williams (192l-19SR). O mais importante terico da cultura e crtico literrio marxista britnico desde
a Segunda Guerra 1\1undial. Fez a ntica da Il()(,;o de cultura como sendo ecollomicamente determinada e es!rutu-
fOU llm pensamento que compreendia, de modo sutil e complexo, todos os eSLTitores e tcxtos como estando inseri-
dos em reb6es especficas c concretas.
Como se pode verificar, Miro/agiw' ap,1rl"L'Cll na i"rall(;a quasc quc simultancamcnte COlll os dois textos fundadores
dos estudos culturais 118. CjrtiBl"l.'tanha. Lllquallto () ohjeto de Banhes L"nllll os t"L.'nmcllos da cultura de massas, os
estudos culturais britnicos tinham como foco ,j vida colidiana (lU as estruturas c prticas no interior e atravs das
quais a sociedade moderna constri c circula si.\.!nificados c \';dores. Entretanto. as posies tericas de Banhes e
\Villiams tomariam rumos bastallte difL'I\'lltCS. cujas complexidades n:lo cabe detalhar aqui. preciso registrar ainda
que os estudos culturais, desde esse mOlllL'nto dl~ fUllda\':lo. transformou-se, alm de campo terico, numa disciplina
acadmica e num dos terrenos mais contestados da recente teoria literria. H uma \'asta bibliografia sobre esse
assunto mas, tratando-se de lima introdut;:lo, Cullcr apenas adianta algumas proposies. sem se deter nas divergn-
cias e polmicas que tm marcado as diferentes \'C1'klltes dessa no\'a disciplina. (N.T.)
;)0
crucial para o desenvolvimento dos estudos culturais, primeiro na Gr-
Bretanha e depois em outros lugares.
Os estudos culturais nessa tradio so movidos pela tenso entre o
desejo de recuperar a cultura popular como a expresso do povo ou de dar
voz cultura de grupos marginalizados, e o estudo da cultura de massas
como uma imposio ideolgica, uma formao ideolgica opressora. Por
um lado, a razo para estudar a cultura popular entrar em contato com
o que importante para as vidas das pessoas comuns - sua cultura - em
oposio quela dos estetas e professores. Por outro, h um forte mpeto
de mostrar como as pessoas so conformadas ou manipuladas por foras
culturais. Em que medida as pessoas so construdas como sujeitos pelas
formas e prticas culturais, que as "interpelam" ou se dirigem a elas como
pessoas com desejos e valores especficos? O conceito de interpelao
vem do terico marxista francs Louis Althusser. Dirigem-se a voc - as
propagandas, por exemplo - como um tipo particular de sujeito (um con-
sumidor que valoriza certas qualidades) e, ao se dirigirem a voc repeti-
das vezes dessa maneira, fazem com que voc passe a ocupar essa
posio. Os estudos culturais indagam em que medida somos manipulados
pelas formas culturais e em que medida ou de que maneiras somos
capazes de us-Ias para outros propsitos, exercendo a "agncia", como
ela chamada. (A questo da "agncia", para usar a expresso abreviada da
teoria atual, a questo de em que medida podemos ser sujeitos respon-
sveis por nossas aes e em que medida nossas escolhas aparentes so
limitadas por foras que no controlamos.)
Os estudos culturais se detm na tenso entre o desejo do analista de
analisar a cultura como um conjunto de cdigos e prticas que aliena as
pessoas de seus interesses e cria os desejos que elas passam a ter e, por
outro lado, o desejo do analista de encontrar na cultura popular uma ex-
presso autntica de valor. Uma soluo mostrar que as pessoas so
capazes de usar os materiais culturais impingidos a elas pelo capitalismo
e suas indstrias de mdia a fim de produzir uma cultura toda delas. A cul-
tura popular feita da cultura de massas. A cultura popular feita de
recursos culturais que se opem a ela e, desse modo, uma cultura de
luta, uma cultura cuja criatividade consiste em usar os produtos da cul-
tura de massas.
O trabalho nos estudos culturais se harmoniza particularmente com o
carter problemtico da identidade e com as mltiplas maneiras pelas
;)1
quais as identidades se formam, so vividas e transmitidas. Particular-
mente importante, portanto, o estudo das culturas e identidades cultu-
rais instveis que se colocam para grupos - minorias tnicas, imigrantes
e mulheres - que podem ter problemas em identificar-se com a cultura
mais ampla na qual se encontram - uma cultura que ela prpria uma
construo ideolgica que sofre mudanas.
Agora, a relao entre estudos culturais e estudos literrios um pro-
blema complicado. Na teoria, os estudos culturais so abrangentes:
Shakespeare e rap, alta e baixa cultura, cultura do passado e cultura do
presente. Mas, na prtica, como o sentido se baseia na diferena, as pes-
soas faZem estudos culturais em oposio a outra coisa. Em oposio a
qu? Como os estudos culturais surgiram dos estudos literrios, a respos-
ta muitas vezes , "em oposio aos estudos literrios, tradicionalmente
concebidos", em que a tarefa era a interpretao de obras literrias
enquanto realizaes de seus autores, e a principal justificativa para o es-
tudo da literatura era o valor especial das grandes obras: sua complexi-
dade, sua beleza, sua percepo, sua universalidade e seus potenciais
benefcios para o leitor.
Mas os prprios estudos literrios nunca foram unificados em torno
de uma nica concepo daquilo que estavam fazendo, fosse tradicional
ou no; e, desde o advento da teoria, os estudos literrios so uma dis-
ciplina contestada e controversa, em que todos os tipos de projetos,
tratando tanto das obras literrias como das no-literrias, brigam por
ateno.
Em princpio, portanto, no h necessidade de haver conflito entre os
estudos culturais e os literrios. Os estudos literrios no esto compro-
metidos com uma concepo do objeto literrio que os estudos culturais
devem repudiar. Os estudos culturais surgiram como a aplicao de tc-
nicas de anlise literria a outros materiais culturais. Tratam os artefatos
culturais como "textos" a ser lidos e no como objetos que esto ali sim-
plesmente para serem contados. E, inversamente, os estudos literrios
podem ganhar qaando a literatura estudada como uma prtica cultural
especfica e as obras so relacionadas a outros discursos. O impacto da
teoria foi expandir o arco de questes s quais as obras literrias podem
responder e focar a ateno nos diferentes modos atravs dos quais elas
resistem a ou complicam as idias de seu tempo. Em princpio, os estudos
culturais, com sua insistncia no estudo da literatura como uma prtica
;")2
l{
de sentido entre outras, e no exame dos papis culturais dos quais a
literatura foi investida, podem intensificar o estudo da literatura como um
fenmeno intertextual complexo.
Os argumentos sobre a relao entre estudos literrios e culturais
podem ser agrupados em torno de dois tpicos amplos. (1) O que
chamado de "cnone literrio": as obras regularmente estudadas nas
escolas e universidades e consideradas como formando "nossa herana
literria". (2) Os mtodos apropriados para a anlise de objetos culturais.
1. O CNONE LITERRIO
O que ser do cnone literrio se os estudos culturais engolirem os
estudos literrios? Ser que as novelas substituram Shakespeare e, se isso
ocorreu, a culpa dos estudos culturais? Os estudos culturais no iro
matar a literatura atravs do estmulo ao estudo de filmes, televiso e
outras formas culturais populares, em lugar dos clssicos da literatura
mundial?
Uma acusao semelhante foi feita contra a teoria quando ela estimu-
lou a leitura de textos filosficos e psicanaliticos ao lado das obras
literrias: ela levava os alunos para longe dos clssicos. Mas a teoria
revigorou o cnone literrio tradicional, abrindo a porta a mais maneiras
de ler as "grandes obras" da literatura inglesa e norte-americana. Nunca
se escreveu tanto sobre Shakespeare; ele estudado de todos os ngulos
concebveis, interpretado nos vocabulrios feminista, marxista, psi-
canaltico, historicista e desconstrucionista. Wordsworth foi transforma-
do pela teoria literria de poeta da natureza em figura-chave da moder-
nidade. O que foi negligenciado foram as obras "menores" que eram estu-
dadas regularmente quando o estudo literrio era organizado de modo a
"cobrir" perodos histricos e gneros. Shakespeare lido mais ampla-
mente e interpretado mais vigorosamente do que nunca, mas Marlowe,
Beaumont e Fletcher, Dekker, Heywood e Ben Jonson - dramaturgos eli-
zabetanos e jacobinos que costumavam rode-lo - so pouco lidos hoje.
Os estudos culturais teriam um efeito semelhante, proporcionando
novos contextos e aumentando o arco de questes no que diz respeito a
algumas obras literrias, enquanto levariam os estudantes para longe de
outras? At agora, o crescimento dos estudos culturais acompanhou (em-
;"):)
bora no tenha causado) uma expanso do cnone literrio. A literatura
que ensinada amplamente hoje inclui textos de mulheres e de membros
de outros grupos historicamente marginalizados. Quer acrescentados a
cursos tradicionais de literatura quer estudados como tradies separadas
("literatura asitico-americana", "literatura ps-colonial em lngua ingle-
sa"). esses textos so freqentemente estudados como representaes da
experincia e portanto da cultura das pessoas em questo (nos Estados
Unidos, dos afro-americanos, asitico-americanos, americanos nativos,
latinos dos Estados Unidos, assim como das mulheres). Esses textos, entre-
tanto, trazem para primeiro plano questes sobre em que medida a litera-
tura cria a cultura que se diz que ela expressa ou representa. A cultura o
efeito de representaes ao invs de ser sua fonte ou causa?
O estudo generalizado de textos anteriormente negligenciados esti-
mulou debates acalorados na mdia: os padres literrios tradicionais
foram comprometidos? Obras anteriormente neglicenciadas so escolhi-
das pela sua "excelncia literria" ou pela sua representatividade cultu-
ral? o "politicamente correto", o desejo de dar a cada minoria uma re-
presentao justa, e no critrios especificamente literrios, que est
determinando a escolha das obras a serem estudadas?
H trs linhas de resposta para essas questes. A primeira que a
"excelncia literria" nunca determinou o que estudado. Cada professor
no escolhe o que ele ou ela pensa serem as dez maiores obras da litera-
tura mundial mas, ao contrrio, seleciona obras que so representativas
de algo: talvez uma forma literria ou um perodo da histria literria (o
romance ingls, a literatura elizabetana, a poesia norte-americana mo-
derna). dentro desse contexto de representar algo que as "melhores"
obras so escolhidas: voc no omite Sidney, Spenser e Shakespeare do
seu curso sobre a era elizabetana se voc achar que eles so os melhores
poetas do perodo, assim como voc inclui o que considera serem as "me-
lhores" obras de literatura asitico-americana, se isso que voc est
ensinando. O que mudou um interesse na escolha de obras que repre-
sentem uma gama de experincias culturais e tambm uma gama de for-
mas literrias.
Segundo, a aplicao do critrio de excelncia literria foi historica-
mente comprometida por critrios no-literrios, envolvendo raa e gnero,
por exemplo. A experincia de crescimento de um menino (por exemplo, a
de Huck Finn) foi considerada universal, enquanto que a de uma menina (a
;")4
I
de Maggie Tulliver, em The Mill on the Flos5l') foi vista como uma matria
de interesse mais restrito.
Finalmente, a prpria noo de excelncia literria foi submetida a
discusso: ela cultua interesses e propsitos culturais particulares como
se fossem o nico padro de avaliao literria? A discusso sobre o que
conta como literatura digna de ser estudada e sobre como as idias de
excelncia funcionam nas instituies uma vertente dos estudos cultu-
rais extrema mente perti nente aos estudos literrios.
2. MODOS DE ANLISE
O segundo tpico amplo de dissenso diz respeito aos modos de
anlise nos estudos literrios e culturais. Quando os estudos culturais
eram uma forma renegada de estudos literrios, eles aplicavam anlise
literria a outros materiais culturais. Se os estudos culturais se tornaram
dominantes e seus praticantes no mais chegaram at eles vindos dos
estudos literrios, essa aplicao da anlise literria no poderia ter-se
tornado menos importante? A introduo de um influente volume norte-
americano, Cultural5tudies, declara que "embora no haja proibio con-
tra leituras textuais cerradas35 nos estudos culturais, elas tambm no so
necessrias". Essa asseverao de que a leitura cerrada no proibida difi-
cilmente tranqiliza90ra para o crtico literrio. Libertados do princpio
que presidiu por muito tempo os estudos literrios - que o principal moti-
vo de interesse a complexidade distintiva das obras individuais - os
estudos culturais podiam facilmente tornar-se um tipo de sociologia no-
quantitativa, tratando as obras como exemplos ou sintomas de outra
coisa e no do interesse nelas mesmas e sucumbindo a outras tentaes.
Central, entre essas tentaes, a seduo da "totalidade", a noo
de que h uma totalidade social da qual as formas culturais so a
expresso ou o sintoma, de modo que analis-Ias relacion-Ias totali-
dade social da qual derivam. A teoria recente discute a questo de se h
34 Huck Finn o protagonista de Huck!eberry Fin!1 (1885), do escritor norte-americano Mark Twain, pseudnimo
de Sal11uel Langhorne Clemens. Maggie Tulliver a protagonista de The Ali!! 0/1 lhe Floss (1860), da romancista
inglesa George ElioL pseudnimo de Mary Anne Evans. (N,T.)
35 A referncia aqui ao modo como os ArCH' Critics propunham a anlise, levando em conta apenas os ckmclIt()s
internos ao texto: sua camada sonora, imagens, ambigidades. ritmo, ete. A esse tipo de leitura, eles deram () IlOllll'
de "dose reading" (leitura cCITada). (N.T.)
;);)
ou no uma totalidade social, uma. configurao sociopoltica e, em caso
positivo, como os produtos e atividades culturais se relacionam com ela.
Mas os estudos culturais so atrados pela idia de uma relao direta, na
qual os produtos culturais so o sintoma de uma configurao sociopolti-
ca subjacente. Por exemplo, o curso de "Cultura Popular" da Open Univer-
sityJGna Gr-Bretanha, que atingiu cerca de 5.000 pessoas entre 1982 e
1985, continha uma unidade sobre "As sries policiais na TV e a Lei e a
Ordem", que analisava o desenvolvimento das sries policiais em termos
de uma situao sociopoltica em mudana.
Dixon of Dock Green se centra na figura do pai paternalista que inti-
mamente familiar aos bairros operrios que ele patrulha. Com a consoli-
dao do Estado de Bem-Estar Social na prosperidade do incio dos anos
60, os problemas de cfasse se traduzem em preocupaes sociais: corre-
spondendo a essa, uma nova srie, Z Cars, mostra policiais uniformizados
em carros patrulha fazendo seu trabalho como profissionais mas a alguma
distncia da comunidade a que servem. Depois dos anos 60, h uma crise
de hegemonia37 na Gr-Bretanha e o Estado, incapaz de obter consenso
facilmente, precisa se armar contra a oposio vinda da militncia sindi-
cal, dos "terroristas", do IRNB. Esse estado mais agressivamente mobiliza-
do de hegemonia se reflete em exemplos do gnero policial tais como The
Sweeney e The Professionals nos quais tiras paisana combatem uma
organizao terrorista equiparando sua violncia deles.
Isso certamente interessante e bem pode ser verdade, o que torna
tudo ainda mais atraente como um modo de anlise, mas envolve um
deslocamento da leitura ("leitura cerrada") que est alerta aos detalhes da
estrutura narrativa e atende s complexidades do sentido, para uma
anlise sociopoltica, na qual todos os seriados de uma dada poca tm a
mesma importncia, como expresses da configurao social. Se os estu-
dos literrios so subsumidos nos estudos culturais, esse tipo de "inter-
36 UniVersidade Aberta. inslillll\';IO ljUl' oferl'ce cursos de JlIW! sU]ll'rior a 11L'SSO<lS que no tiveram acesso ;l univer-
sidade. Os alunos estudam em casa COlll llI:tll'l"iais L' programas de tt.'il'\'is<lo especialmente preparados para eles e
podem reCOITer aos prob.:ssorcs para oril'llta";to. (1'\.'1'.)
37 Hegemollio um acordo dl' domin;I\';IO accito pm aquL'il's que s:10 dominados. Os grupos dirigentes dominam no
pela pura fora mas atravs de lllllill'sll'ulura til' l'()llsl'lItillll'lltO. c a cultura parte dessa estrutura que legitima aear'-
dos sociais COITentes. (O conceito velll do tl'{)ril"() 1I1ilrxista italiano Antonio Gramsci). (N.A.)
38 lrish Republici1n Army: Exrcito Republic;ll\o Irlal1d0s. (K.T.)
;)6
pretao sintomtica" poderia se tornar a norma; a especificidade dos
objetos culturais poderia ser negligenciada, juntamente com as prticas
de leitura a que a literatura convida (discutidas no Captulo 2). A suspen-
so da exigncia de inteligibilidade imediata, a disposio de trabalhar
nas fronteiras do sentido, abrindo-nos para efeitos produtivos, inespera-
dos da linguagem e da imaginao e o interesse pela maneira como o sen-
tido e o prazer so produzidos - essas disposies so particularmente
valiosas, no somente para ler literatura mas tambm para considerar
outros fenmenos culturais, embora seja o estudo literrio que torne essas
prticas de leitura disponveis.
Finalmente, h a questo das metas dos estudos literrios e culturais.
Os praticantes dos estudos culturais muitas vezes esperam que o traba-
lho sobre a cultura atual seja uma interveno na cultura ao invs de
meras descries. "Dessa maneira, os estudos culturais acreditam", con-
cluem os editores de CulturalStudies, "que seu prprio trabalha inte-
lectual tem obrigao de - pode - fazer diferena". Essa uma afirmao
estranha mas, penso, reveladora: os estudos culturais no acreditam que
seu trabalho intelectual far diferena. Isso seria presunoso, para no
dizer ingnuo. Cr que seu trabalho "tem obrigao de" fazer diferena.
Essa a idia.
Historicamente, as idias de estudar a cultura popular e de fazer de
nosso prprio trabalho uma interveno poltica esto estreitamente liga-
das. Na Gr-Bretanha das dcadas de 60 e 70, estudar a cultura operria
tinha uma carga poltica. Na Gr-Bretanha, onde a identidade cultural
nacional parecia vinculada aos monumentos da alta cultura - Shakes-
pearee a tradio da literatura inglesa, por exemplo - o fato mesmo de
estudar cultura popular era um ato de resistncia, de uma maneira que
no o era nos Estados Unidos, onde a identidade nacional muitas vezes foi
definida contra a alta cultura. Huckleberry Finn, de Mark Twain, a obra
que contribui tanto quanto qualquer outra para definir a americanidade,
termina com Huck Finn sumindo para "os territrios" porque Tia Sally quer
"siviliz-Io". Sua identidade depende de fugir da cultura civilizada.
Tradicionalmente, o norte-americano o homem que foge da cultura.
Quando os estudos culturais denigrem a literatura como sendo elitista,
isso difcil de distinguir de uma longa tradio nacional de filistinismo
burgus. Nos Estados Unidos, evitar a alta cultura e estudar a cultura po-
pular no um gesto politicamente radical ou de resistncia tanto qU;Jn-
.- -r
.) .
to tornar acadmica a cultura de massas. Os estudos culturais na Amrica
tm poucas das ligaes com movimentos polticos que energizaram os
estudos culturais na Gr-Bretanha e poderiam ser vistos como sendo prin-
cipalmente um estudo cheio de recursos, interdisciplinar, mas ainda aca-
dmico, de prticas culturais e representao cultural. Os estudos cultu-
rais "tm a obrigao de ser" radicais, mas a oposio entre estudos cul-
turais ativistas e estudos literrios passivos pode ser mero otimismo.
Os debates sobre a relao entre literatura e estudos culturais esto
cheios de queixas de elitismo e acusaes de que o estudo da cultura po-
pular trar a morte da literatura. Em toda a confuso, ajuda separar dois
conjuntos de questes. O primeiro conjunto envolve questes sobre o valor
de se estudar um tipo de objeto cultural ou outro. O valor de se estudar
Shakespeare ao invs de novelas no pode mais ser aceito sem discusso e
precisa ser discutido: o que tipos diferentes de estudos podem conseguir,
no que diz respeito ao treinamento intelectual e moral, por exemplo? Tais
argumentos no so fceis de propor: o exemplo de comandantes de cam-
pos de concentrao alemes que eram conhecedores de literatura, arte e
msica complicou tentativas de defender os efeitos de tipos especficos de
estudo. Mas essas questes deveriam ser encaradas de frente.
Um conjunto diferente de questes envolve os mtodos para o estu-
do de objetos culturais de todos os tipos - as vantagens e desvantagens
de diferentes modos de interpretao e anlise, tais como a interpretao
dos objetos culturais como estruturas complexas ou sua leitura como sin-
tomas de totalidades sociais. Embora a interpretao apreciativa tenha
sido associada aos estudos literrios e a anlise sintomtica, aos estudos
culturais, cada um dos dois modos pode combinar com cada um dos tipos
de objeto cultural. A leitura cerrada da escrita no-literria no implica
valorizao esttica do objeto; tampouco fazer perguntas culturais a
respeito das obras literrias implica que elas so apenas documentos de
um perodo. No prximo captulo, desenvolvo ainda mais o problema da
interpretao.
;)1{
4 inguagem")Sentido e
Interpretao
A literatura um tipo especial de linguagem ou um uso especial da
linguagem? linguagem organizada de maneiras distintas ou linguagem
a que se concedem privilgios especiais? Argumentei, no Captulo 2, que
no adiantar escolher uma opo ou outra: a literatura envolve tanto as
propriedades da linguagem quanto um tipo especial de ateno lin-
guagem. Como esse debate indica, as questes sobre a natureza e os
papis da linguagem e sobre como analis-Ia so centrais para a teoria.
Algumas das principais questes podem ser enfocadas atravs do proble-
ma do sentido. O que est envolvido na reflexo sobre o sentido?
Tomemos os versos que tratamos anteriormente como literatura, um
poema de dois versos de Robert Frost'9:
THE SECRET SITS
We dance round in a ring and suppose,
But the secret sits in the middle and knows.
O que "sentido" aqui? Bem, h uma diferena entre indagar a
respeito do sentido de um texto (o poema como um todo) e o sentido de
uma palavra. Podemos dizer que dance significa "realizar uma sucesso de
39 "O SEGREDO SENTA/ Danamos em Crculo e supomosJMas o Segredo senta no meio e sabe", (N,T.)
.'5<)
movimentos rtmicos e padronizados", mas o que significa esse texto? Ele
sugere, voc poderia dizer, a futilidade dos atos humanos: damos voltas e
andamos em torno; podemos apenas supor. Mais do que isso, com sua
rima e seu ar de conhecimento sobre o que est fazendo, esse texto
envolve o leitor num processo de deslindamento da dana e da suposio.
Esse efeito, o processo que o texto consegue provocar, parte de seu sen-
tido. Assim, temos o sentido de uma palavra e o sentido ou as provocaes
de um texto; ento, no meio, h o que poderamos chamar de sentido de
uma elocuo: o sentido do ato de proferir essas palavras em circunstn-
cias especficas. Que ato essa elocuo est realizando: est advertindo
ou admitindo, lamentando ou se vangloriando, por exemplo? Quem o
ns aqui e o que significa danar, nessa elocuo?
No podemos apenas indagar a respeito do "sentido", portanto. H
pelo menos trs dimenses ou nveis diferentes de sentido: o sentido de
uma palavra, de uma elocuo e de um texto. Os possveis sentidos das
palavras contribuem para o sentido de uma elocuo, que um ato de um
falante. (E os sentidos das palavras, por sua vez, vm das coisas que elas
poderiam fazer nas elocues). Finalmente, o texto, que aqui representa
um falante desconhecido proferindo essa elocuo enigmtica, algo que
um autor construiu, e seu sentido no uma proposio mas o que ele
faz, seu potencial de afetar os leitores.
Temos tipos diferentes de sentido, mas uma coisa que podemos dizer
em geral que o sentido se baseia na diferena. No sabemos a quem o
"ns" se refere nesse texto: apenas que um "ns" que se ope a um "eu"
sozinho e a "ele", "ela", "voc" e "eles". "Ns" algum grupo plural
indefinido que inclui qualquer falante que pensamos estar envolvido. Est
o leitor includo em "ns" ou no? "Ns" todo mundo exceto o Segredo,
ou um grupo especial? Essas perguntas, que no tm respostas fceis,
surgem em qualquer tentativa de interpretao do poema. O que temos
so contrastes, diferenas.
O mesmo poderia ser dito de "danar" e "supor". O que danarsignifi-
ca aqui depende daquilo com que o contrastamos ("danar em crculos"
em oposio a "prosseguir diretamente" ou em oposio a "ficar parado");
e "supor" se ope a "saber': Pensar sobre o sentido desse poema uma
questo de trabalhar com oposies ou diferenas, dando-Ihes contedo,
extrapolando a partir delas.
Uma lngua um sistema de diferenas. Assim o declara Ferdinand de
()O
I
Saussure, um lingista suo do incio do sculo XX cuja obra foi crucial
para a teoria contempornea40 O que torna cada elemento de uma lngua
o que ela , o que lhe d sua identidade, so os contrastes entre ele e ou-
tros elementos dentro do sistema da lngua. Saussure oferece uma analo-
gia: um trem - digamos o expresso Londres-Oxford das 8:30h - depende,
para sua identidade, do sistema de trens, tal como descrito no horrio fer-
rovirio. Assim, o expresso Londres-Oxford das 8:30h se distingue do
expresso Londres-Cambridge das 9:30h e do trem local de Oxford das
8:45h. O que conta no so quaisquer das caractersticas fsicas de um
trem especfico: a locomotiva, os vages, a rota exata, os funcionrios,
etc., podem todos variar, assim como os horrios de partida e chegada; o
trem pode chegar e partir atrasado. O que d ao trem sua identidade seu
lugar no sistema de trens: esse trem, em oposio aos outros. Como diz
Saussure s,obre o signo lingstica: "Sua caracterstica mais precisa ser
o que os outros no so': Igualmente, a letra b pode ser escrita em qual-
quer nmero de maneiras diferentes (pense na caligrafia de pessoas dife-
rentes), contanto que no seja confundida com outras letras, tais como I,
k, ou d. O que crucial no qualquer forma ou contedo especfico, mas
as diferenas, que lhe permitem ter um significado.
Para Saussure, a lngua um sistema de signos e o fato-chave o que
ele chama de natureza arbitrria do signo lingstico. Isso significa duas
coisas. Primeiro, o signo (por exemplo, uma palavra) uma combinao
de uma forma (o "significante") e de um sentido ("o significado") e a
relao entre forma e sentido se baseia na conveno, no na semelhana
natural. Aquilo sobre o que estou sentado se chama uma chair (cadeira) -
mas poderia perfeitamente bem ter sido chamado de outra coisa - wab
ou punce. uma conveno ou regra da lngua inglesa que seja uma e no
a outra; em outras lnguas, teria nomes bastante diferentes. Os casos em
que pensamos como sendo excees so as palavras "onomatopicas" em
que o som parece imitar o que ela representa, como bow-wow ou buzz.
Mas essas diferem de uma lngua para outra: em francs, os cachorros
dizem oua-oua e buzz bourdonner'.
40 Ferdinand de Saussure (1857-] 913). Lingista suo, cujas idias sobre a estrutura da linguagem lanaram as
bases das cincias lingsticas no sculo XX. A obra a que Culler se refere Curso de Lingstica Geral. puhlica<!n
pela primeira vez em 1916 por dois de seus alunos, que reconstruram seu pensamento a partir de suas notas de aul;1
c outros materiais. (N.T.)
41 BOll':\l'O\I": latido de cao: 1m:.:., zumbido ou barulho de campainha. (N.T.)
61
I
I,
Ainda mais importante, para Saussure e para a teoria recente, o se-
gundo aspecto da natureza arbitrria do signo: tanto o significante (for-
ma) quanto o significado (sentido) so eles prprios divises conven-
cionais do plano do som e do plano do pensamento, respectivamente. As
lnguas dividem o plano do som e o plano do pensamento de modo dife-
rente. A lngua inglesa divide "chair", "cheer" e "char"42, no plano do som,
como signos separados com sentidos diferentes, mas no precisa fazer
isso - eles poderiam ser pronncias variantes de um nico signo. No plano
do sentido, a lngua inglesa distingue "chair" de "stool" (uma cadeira sem
encosto) mas permite que o significado ou conceito "chair" inclua assen-
tos com e sem braos e tanto assentos duros quanto assentos macios e
luxuosos - duas diferenas que poderiam perfeitamente bem envolver
conceitos distintos.
Uma lngua, insiste Saussure, no uma "nomenclatura" que fornece
seus prprios nomes para categorias que existem fora da linguagem. Essa
uma questo com ramificaes cruciais para a teoria recente. Tendemos
a presumir que temos as palavras cachorro e cadeira a fim de nomear
cachorros e cadeiras, que existem fora de qualquer linguagem. Mas, argu-
menta Saussure, se as palavras substitussem conceitos preexistentes,
teriam equivalentes exatos em sentido de uma lngua para outra, o que
no absolutamente o caso. Cada lngua um sistema de conceitos e de
formas: um sistema de si.gnos convencionais que organiza o mundo.
Como a lngua se relaciona ao pensamento uma questo importante
para a teoria recente. Num extremo, est a viso de senso comum de que
a lingua apenas fornece nomes para pensamentos que existem indepen-
dentemente; a lngua oferece maneiras de expressar pensamentos pre-
existentes. Num outro extremo, est a "hiptese Sapir-Whorf", nomeada
a partir de dois lingistas que afirmavam que a lngua que falamos deter-
mina o que conseguimos pensar. Por exemplo, Whorf argumentava que os
ndios Hopi tm uma concepo de tempo que no pode ser compreendi-
da em ing ls (e portanto no pode ser expl icada aq ui i). Parece no haver
um modo de demonstrar que h pensamentos de uma lngua que no
podem ser pensados ou expressos numa outra, mas temos provas macias
de que uma lngua torna "naturais" ou "normais" pensamentos que exi-
gem um esforo especial numa outra.
42 Cadeira, aplaudir e carbonizar, respectivamente. (N,T.)
(,2
I
,
I
~
o cdigo lingstico uma teoria do mundo. Lnguas diferentes divi-
dem o mundo diferentemente. Falantes de ingls tm "pets" (animais de
estimao) - uma categoria que no tem nenhum correspondente em
francs, embora os franceses possuam quantidades imoderadas de
cachorros e gatos. A lngua inglesa nos obriga a aprender o sexo de um
beb de modo a usar o pronome correto para falar sobre ele ou ela (no
podemos chamar um beb de "it"43); nossa lngua desse modo sugere que
o sexo crucial (da, sem dvida, a popularidade das roupas de cor rosa
ou azul, para sinalizar a resposta correta aos falantes). Mas essa marca
lingstica do sexo no de modo algum inevitvel; nem todas as lnguas
fazem do sexo a caracterstica crucial dos recm-nascidos. As estruturas
gramaticais, tambm, so convenes de uma lngua, no naturais ou
inevitveis. Quando olhamos para o cu e vemos um movimento de asas,
nossa lngua poderia perfeitamente bem permitir-nos dizer algo como,
"Est asando" (do modo que dizemos "Est chovendo"), ao invs de "ps-
saros esto voando". Um poema famoso de Paul Verlaine44 joga com essa
estrutura: "11pleure dans mon coeur! Comme il pleut sur Ia ville" (Chora
no meu corao, como chove sobre a cidade). Dizemos, "est chovendo na
cidade"; por que no "est chorando no meu corao"?
A lngua no uma "nomenclatura" que fornece etiquetas para cate-
gorias preexistentes; ela gera suas prprias categorias. Mas os falantes e
leitores podem ser levados a enxergar atravs e em torno das configu-
raes da sua lngua, a fim de ver uma realidade diferente. As obras de
literatura exploram as configuraes ou categorias dos modos habituais
de pensar e freqentemente tentam dobr-Ias ou reconfigur-Ias, mos-
trando-nos como pensar algo que nossa lngua no havia previsto ante-
riormente, nos forando a atentar para as categorias atravs das quais
vemos o mundo irrefletidamente. A lngua , dessa maneira, tanto a mani-
festao concreta da ideologia - as categorias nas quais os falantes so
autorizados a pensar - quanto o espao de seu questionamento ou des-
fazimento.
Saussure distingue o sistema de uma lngua (Ia /angue) de exemplos
particulares de fala e escrita (paro/e). A tarefa da lingstica reconstruir
o sistema subjacente (ou gramtica) da lngua que torna possveis os
43 "It" pronome neutro em ingls, usado apenas para se referir a objetos ou animais. (N.T.)
44 Paul-!'vIarie Verlaine (1844-1896). Poeta lrico francs, um dos maiores nomes do Simbolismo. (N,T.)
(,:~
eventos de fala ou poro/e. Isso envolve mais uma distino entre o estu-
do sincrnico de uma lngua (que enfoca a lngua como um sistema num
momento especfico, presente ou passado) e o estudo diocrnico, que
examina as mudanas histricas sofridas por elementos especficos da
lngua. Compreender uma lngua como um sistema que funciona exami-
n-Ia sincronicamente, tentando explicar detalhadamente as regras e
convenes do sistema que tornam possveis as formas e sentidos da ln-
gua. O mais influente lingista de nossa poca, Noam Chomsky, o fun-
dador do que chamado de gramtica gerativa-transformacional, vai
alm, argumentando que a tarefa da lingstica reconstruir a "com-
petncia lingstica" dos falantes nativos: o conhecimento ou habilidade
especfica que os falantes adquirem e que os capacita a falar e entender
at mesmo sentenas que eles nunca encontraram antes.
Assim, a lingstica comeo com fatos sobre a forma e o sentido que
as elocues tm para os falantes e tenta explic-Ias. Como que as duas
sentenas a seguir com formas semelhantes - John is eoger to p/eose e
John is eosy to p/eose4S - tm sentidos muito diferentes para os falantes
de ingls? Os falantes sabem que, na primeira, John quer agradar e que,
na segunda, so os outros que o agradam. Um lingista no tenta desco-
brir o "verdadeiro sentido" dessas sentenas, como se as pessoas tivessem
estado erradas o tempo todo e, l no fundo, as sentenas significassem
outra coisa. A tarefa da lingstica descrever as estruturas da lngua
inglesa (aqui, postulando um nvel subjacente de estrutura gramatical) de
modo a explicar diferenas comprovadas de sentido entre essas sentenas.
Aqui, h uma distino bsica, negligenciada demasiado freqente-
mente nos estudos literrios, entre dois tipos de projetos: um, modelado
na lingstica, considera os sentidos como aquilo que tem de ser explica-
do e tenta resolver como eles so possveis. O outro, por contraste,
comea com as formas e procura interpret-Ias, para nos dizer o que elas
realmente significam. Nos estudos literrios, este um contraste entre a
potica e a hermenutica. A potica comea com os sentidos ou efeitos
comprovados e indaga como eles so obtidos. (O que faz com que esse
trecho num romance parea irnico? O que nos faz simpatizar com esse
personagem especfico? Por que o final desse poema ambguo?) A her-
menutica, por outro lado, comea com os textos e indaga o que eles sig-
45 John est ansioso por agradar 'e 101111 f<ciJ de agradar. (N,T.)
64
11
Ii
II
I
I
fi
II
j
nificam, procurando descobrir interpretaes novas e melhores. Os mode-
los hermenuticos vm dos campos da lei e da religio, em que as pessoas
procuram interpretar um texto legal ou sagrado autorizado a fim de
decidir como agir.
O modelo lingstico sugere que o estudo literrio deveria escolher a
primeira pista, a da potica, tentando entender como as obras obtm seus
efeitos, mas a tradio moderna da crtica escolheu esmagadoramente a
segunda, fazendo da interpretao das obras individuais o climax do estu-
do literrio. Na realidade, as obras de crtica literria freqentemente
combinam potica e hermenutica, indagando como um efeito especfico
obtido ou por que um final parece correto (ambas questes de potica).
mas tambm indagando o que um verso especfico significa e o que um
poema nos diz sobre a condio humana (hermenutica). Mas os dois pro-
jetos so em princpio bastante distintos, com objetivos diferentes e tipos
diferentes de evidncia. Adotar os sentidos ou efeitos como ponto de par-
tida (potica) fundamentalmente diferente de buscar descobrir o senti-
do (hermenutica).
Se os estudos literrios adotassem a lingstica como modelo, sua
tarefa seria descrever a "competncia literria" que os leitores de litera-
tura adquirem. Uma potica que descrevesse a competncia literria
enfocaria as convenes que tornam possveis a estrutura literria e o
sentido: quais so os cdigos ou sistemas da conveno que possibilitam
aos leitores identificar gneros literrios, reconhecer enredos, criar "per-
sonagens" a partir de detalhes dispersos fornecidos no texto, identificar
temas em obras literrias e ir atrs do tipo de interpretao simblica que
nos permite medir a importncia dos poemas e histrias?
Essa analogia entre potica e lingstica pode parecer desorientado-
ra, pois no conhecemos o sentido de uma obra literria da mesma
maneira que conhecemos o sentido de John is eager to p/eose e, portanto,
no podemos tomar o sentido como um dado mas temos de busc-Io. Essa
certamente uma razo pela qual os estudos literrios na poca moder-
na favoreceram a hermenutica em detrimento da potica (a outra razo
que as pessoas geralmente estudam as obras literrias no porque esto
interessadas no funcionamento da literatura mas porque pensam que
essas obras tm coisas importantes a dizer e desejam saber quais so).
Mas a potica no exige que conheamos o sentido de uma obra; sua
tarefa explicar quaisquer efeitos que possamos comprovar - por exem-
65
pio, que um final mais bem-sucedido que outro, que essa combinao
de imagens num poema faz sentido ao passo que outra no. Alm disso,
uma parte crucial da potica uma explicao de como os leitores fazem
para interpretar as obras literrias - quais so as convenes que Ihes
possibilitam entender as obras como eles as entendem. Por exemplo, o que
chamei, no Captulo 2, de "princpio cooperativo hiperprotegido" uma
conveno bsica que torna possvel a interpretao da literatura: a su-
posio de que as dificuldades, a aparente falta de sentido, as digresses
e irrelevncias tm uma funo relevante em algum nvel.
A idia de competncia literria focaliza a ateno no conhecimento
implcito que os leitores (e escritores) trazem para seus encontros com os
textos: que espcies de procedimentos os leitores seguem ao responder s
obras da maneira que respondem? Que tipo de pressupostos devem ser
apropriados para explicar suas reaes e interpretaes? Pensar nos
leitores e na maneira como eles entendem a literatura levou ao que
chamado de "esttica da recepo", que afirma que o sentido do texto
a experincia do leitor (uma experincia que inclui hesitaes, conjecturas
e autocorrees). Se uma obra literria concebida como uma sucesso
de aes sobre o entendimento de um leitor, ento uma interpretao da
obra pode ser uma histria desse encontro, com seus altos e baixos: diver-
sas convenes ou expectativas so postas em jogo, ligaes so postu-
ladas, e expectativas derrotadas ou confirmadas. Interpretar uma obra
contar uma histria de leitura.
Mas a histria que se pode contar a respeito de uma dada obra
depende do que os tericos chamam de "horizonte de expectativas" do
leitor. Uma obra interpretada como resposta a questes postas por esse
horizonte de expectativas e um leitor dos anos 90 deste sculo aborda
Ham/et com expectativas diferentes das de um contemporneo de
Shakespeare. Toda uma gama de fatores pode afetar os horizontes de
expectativas dos leitores. A crtica feminista tem discutido que diferena
faz, que diferena deveria fazer, se o leitor uma mulher. Como, pergun-
ta Elaine Showalter4G, "a hiptese de uma leitora feminina muda nossa
apreenso de um dado texto, nos despertando para a importncia de seus
cdigos sexuais"? Os textos literrios e as tradies de suas interpretaes
parecem ter presumido um leitor masculino e induzido as mulheres a ler
46 Uma das expoentes da crtica feminista norte-americana. (N.T.)
66
~
!I
n
1I
como um homem, a partir de um ponto de vista masculino. Da mesma
forma, os tericos de cinema tm levantado hipteses de que o que eles
chamam de olhar cinemtico (a viso a partir da posio da cmera)
essencialmente masculino: as mulheres so posicionadas como o objeto
do olhar cinemtico e no como o observador. Nos estudos literrios, as
crticas feministas tm estudado as diversas estratgias pelas quais as
obras tornam normativa a perspectiva masculina e tm discutido como o
estudo dessas estruturas e efeitos deveria mudar os modos de ler - para
as mulheres assim como para os homens.
O foco nas variaes histricas e sociais dos modos de ler enfatiza que
interpretar uma prtica social. Os leitores interpretam informalmente
quando conversam com amigos sobre livros ou filmes; interpretam para si
mesmos medida que lem. Para a interpretao mais formal que ocorre
nas salas de aulas, h protocolos diferentes. Para qualquer elemento de
uma obra, voc pode perguntar o que ele faz, como ele se relaciona com
outros elementos, mas a interpretao pode, em ltima anlise, envolver
jogar o jogo do "sobre": "ento, sobre o que essa obra realmente"? Essa
questo no inspirada pela obscuridade de um texto; ainda mais apro-
priada para os textos simples do que para os perversamente complexos.
Nesse jogo, a resposta deve satisfazer certas condies: no pode ser
bvia, por exemplo; deve ser especulativa. Dizer que" Hamlet sobre um
prncipe da Dinamarca" recusar-se a jogar o jogo. Mas" Hamlet sobre
o colapso da ordem do mundo elizabetano", ou "Hamlet sobre o medo
que o homem tem da sexualidade feminina", ou "Hamlet sobre a no
confiabilidade dos signos" valem como possveis respostas. O que comu-
mente visto como "escolas" de crtica literria ou "abordagens" tericas da
literatura so, do ponto de vista da hermenutica, disposies de dar tipos
especficos de respostas s questo de sobre o que, em ltima instncia,
uma obra : "a luta de classes" (marxismo). "a possibilidade de unificao
da experincia" (New Criticism), "conflito edipiano" (psicanlise), "a con-
teno de energias subversivas" (novo historicismo), "a assimetria das
relaes de gnero" (feminismo). "a natureza autodesconstrutivista do
texto" (desconstruo), "a ocluso do imperialismo" (teoria ps-colonial),
"a mltriz heterossexual" (gay and lesbian studies).
Os discursos tericos nomeados entre parnteses no so primaria-
mente modos de interpretao: so explicaes do que consideram ser
particularmente importante para a cultura e a sociedade. Muitas dcss,ls
67
teorias incluem explicaes do funcionamento da literatura ou do discur-
so em geral e portanto participam do projeto da potica; mas, como ver-
ses da hermenutica, do origem a tipos especficos de interpretao nos
quais os textos so mapeados numa linguagem-alvo. a que importante
no jogo de interpretao no a resposta que voc prope - como mi-
nhas pardias mostram, algumas verses da resposta tornam-se, por
definio, previsveis. a que importante como voc chega l, o que
voc faz com os detalhes do texto ao relacion-Ios com sua resposta.
Mas como escolher entre diferentes interpretaes? Como meus
exemplos podem sugerir, num determinado nvel no h necessidade de
decidir se Hamlet em "ltima anlise sobre", digamos, a poltica
renascentista, as relaes dos homens com suas mes, ou a no confia-
bilidade dos signos. A vivacidade da instituio dos estudos literrios
depende dos fatos duplos de que (1) esses argumentos nunca se resolvem.
e (2) devem-se produzir argumentos sobre como cenas ou combinaes de
versos especficas sustentam qualquer hiptese especfica. No se pode
fazer uma obra significar qualquer coisa: ela resiste e voc tem de se,
esforar para convencer os outros da pertinncia de sua leitura. Para a
conduo desses argumentos, uma pergunta-chave o que determina o
sentido. Voltamos a essa questo central.
a que determina o sentido? s vezes, dizemos que o sentido de uma
elocuo o que algum quer dizer com ela, como se a inteno de um
falante determinasse o sentido. s vezes, dizemos que o sentido est no
texto - voc pode ter pretendido dizer x, mas o que voc disse realmente
significa y - como se o sentido fosse o produto da prpria linguagem. s
vezes, dizemos que o contexto o que determina o sentido: para saber o
que essa elocuo especfica significa, voc tem de examinar as circuns-
tncias ou o contexto histrico no qual ela figura. Alguns crticos afir-
mam, como mencionei, que o sentido de um texto a experincia do
leitor. Inteno, texto, contexto, leitor - o que determina o sentido?
Agora, o fato de que se produzem argumentos para todos os quatro
fatores mostra que o sentido complexo e esquivo, no algo determina-
do de uma vez por todas por qualquer um desses fatores. Uma discusso
de longa data na teoria literria diz respeito ao papel da inteno na
determinao do sentido literrio. Um artigo famoso chamado de "A
Falcia Intencional" argumenta que, no caso das obras literrias, as dis-
cusses sobre a interpretao no se resolvem consultando o orculo (o
68
1
,
f
1
autor). a sentido de uma obra no o que o escritor tinha em mente em
algum momento durante a composio da obra, ou o que o escritor pensa
que a obra significa depois de terminada, mas, ao contrrio, o que ele ou
ela conseguiu corporificar na obra. Se, na conversa comum, freqente-
mente tratamos o sentido de uma elocuo como o que o emitente ten-
ciona, porque estamos mais interessados no que o falante est pensan-
do naquele momento do que em suas palavras, mas as obras literrias so
valorizadas pelas estruturas especficas de palavras que colocam em cir-
culao. Restringir o sentido de uma obra ao que um autor poderia ter
tencionado permanece uma estratgica crtica possvel, mas geralmente
nos dias de hoje esse sentido est amarrado no a uma inteno interior
mas anlise das circunstncias pessoais ou histricas do autor: que tipo
de ato esse autor estava realizando, dada a situao do momento? Essa
.estratgia denigre respostas posteriores obra, sugerindo que a obra
responde a preocupaes de seu momento de criao e apenas acidental-
mente s preocupaes de leitores subseqentes.
Os crticos que defendem a noo de que a inteno determina o sen-
tido parecem temer que, se negamos isso, colocamos os leitores acima dos
autores e decretamos que "vale tudo" na interpretao. Mas, se voc
prope uma interpretao, voc tem de persuadir os outros a respeito da
pertinncia dela, ou ento ela ser descartada. Ningum afirma que "vale
tudo". Quanto aos autores, no melhor homenage-Ios pelo poder de
suas criaes de estimular reflexo infinita e de dar origem a uma varie-
dade de leituras do que pelo que imaginamos ser o sentido original de
uma obra? Nada disso para dizer que as declaraes de um autor sobre
uma obra no tm interesse: para muitos projetos crticos, so especial-
mente valiosas, como textos a se justapor ao texto da obra. Podem ser
cruciais, por exemplo, na anlise do pensamento de um autor ou na dis-
cusso das maneiras pelas quais uma obra poderia ter complicado ou sub-
vertido uma viso ou inteno anunciada.
a sentido de uma obra no o que o autor tinha em mente em algum
momento, tampouco simplesmente uma propriedade do texto ou a
experincia de um leitor. a sentido uma noo inescapvel porque no
algo simples ou simplesmente determinado. simultaneamente uma
experincia de um sujeito e uma propriedade de um texto. tanto aquilo
que compreendemos como o que, no texto, tentamos compreender.
Discusses sobre o sentido so sempre possveis e, sendo assim, o scnliilo
69
impreciso, est sempre a ser decidido, sujeito a decises que nunca so
irrevogveis. Se devemos adotar algum princpio ou frmula geral,
poderamos dizer que o sentido determinado pelo contexto, j que o
contexto inclui regras de linguagem, a situao do autor e do leitor e
qualquer outra coisa que poderia ser concebivelmente relevante. Mas, se
dizemos que o sentido est preso ao contexto, ento devemos acrescen-
tar que o contexto ilimitado: no se pode determinar de antemo o que
poderia contar como relevante, que a ampliao do contexto poderia con-
seguir alterar o que consideramos como o sentido de um texto. O sentido
est preso ao contexto, mas o contexto ilimitado.
As grandes mudanas na interpretao da literatura provocadas pelos
discursos tericos poderiam, na realidade, ser pensadas como o resultado
do alargamento ou redescrio do contexto. Por exemplo, Toni Morrison47
argumenta que a literatura norte-americana foi profundamente marcada
pela muitas vezes no reconhecida presena histrica da escravido, e que
os compromissos dessa literatura com a liberdade - a liberdade da fron-
teira, da estrada aberta, da imaginao sem grilhes - deveria ser lida no
contexto da escravido, a partir do qual eles adquirem importncia. E
Edward Said48 sugeriu que os romances de Jane Austen deveriam ser inter-
pretados contra um pano de fundo que excludo deles: a explorao das
colnias do Imprio que proporciona a riqueza para sustentar uma vida
decorosa no plano domstico na Gr-Bretanha. O sentido est preso ao
contexto, mas o contexto ilimitado, sempre aberto a mutaes sob a
presso de discusses tericas.
As explicaes da hermenutica freqentemente distinguem uma
hermenutica do resgate, que busca reconstruir o contexto original de
produo (as circunstncias e intenes do autor e os sentidos que um
texto poderia ter tido para seus leitores originais) de uma hermenutica
da suspeita, que busca expor os pressupostos no examinados com os
quais um texto pode contar (polticos, sexuais, filosficos, lingsticos). A
primeira pode celebrar um texto e seu autor medida que busca tornar
uma mensagem original acessvel aos leitores hoje, enquanto diz-se
muitas vezes que a segunda nega a autoridade do texto. Mas essas asso-
47 Pseudnimo de Chloe Anthony Wodard (1931-). Romancista norte-americana, conhecida por sua sondagem da
experincia dos negros (principalmente das mulheres negras). Ganhadora do Prmio NobeI. (N.T.)
48 Edward Said (1935). Intelectual e ativista rabe-palestino, um dos principais tericos da teoria cultural e do dis-
curso colonial e ps-colonial. (N,T.)
70
ciaes no so fixas e podem muito bem ser invertidas: uma hermenu-
tica do resgate, ao restringir o texto a algum sentido supostamente origi-
nal distant de nossas preocupaes, pode reduzir seu poder, enquanto
uma hermenutica da suspeita pode valorizar o texto pela maneira pela
qual, sem o conhecimento de seu autor, ele nos envolve e nos ajuda a re-
pensar questes momentosas hoje (talvez subvertendo os pressupostos de
seu autor no processo). Mais pertinente que essa distino pode ser uma
distino entre (1) a interpretao que considera o texto, em seu fun-
cionamento, como tendo algo valioso a dizer (isso poderia ser hermenu-
tica reconstrutiva ou suspeitosa) e (2) a interpretao "sintomtica" que
trata o texto como o sintoma de algo no-textual, algo supostamente
"mais profundo", que a fonte real de interesse, seja ela a vida psquica
do autor ou as tenses sociais de uma poca ou a homofobia da sociedade
burguesa. A interpretao sintomtica negligencia a especificidade do
objeto - um signo de outra coisa - e portanto no muito satisfatria
enquanto um modo de interpretao, mas, quando enfoca a prtica cul-
tural da qual a obra um exemplo, pode ser til para uma explicao
daquela prtica. Interpretar um poema como um sintoma ou um caso ilus-
trativo de caractersticas da lrica, por exemplo, poderia ser hermenutica
insatisfatria mas uma contribuio til potica. A isso me volto agora.
71
49 Ver Arfe Retrica e Arte Potica, textos fundadores no campo da teoria litcr,'iria. (N.T.)
Defini a potica como a tentativa de explicar os efeitos literrios atra-
vs da descrio das convenes e operaes de leitura que os tornam
possveis. Ela est intimamente associada retrica, que, desde a era cls-
sica, o estudo dos recursos persuasivos e expressivos da linguagem: as
tcnicas de linguagem e pensamento que podem ser usadas para construir
discursos eficazes. Aristteles separou a retrica da potica, tratando a
retrica como a arte da persuaso e a potica como a arte da imitao ou
representao. As tradies medievais e renascentistas, entretanto,
assimilaram as duas: a retrica tornou-se a arte da eloqncia e a poesia
U que busca ensinar, deleitar e comover) era uma instncia superior
dessa arte. No sculo XIX, a retrica passou a ser vista como artifcio
divorciado das atividades genunas do pensamento ou da imaginao
potica e caiu em desgraa. No final do sculo XX, a retrica foi ressusci-
tada como o estudo dos poderes estruturadores do discurso.
A poesia se relaciona com a retrica: linguagem que faz uso abun-
dante de figuras de linguagem e linguagem que visa a ser poderosamente
persuasiva. E, desde que Plato excluiu os poetas de sua repblica ideal,
quando a poesia atacada ou denegrida, como retrica enganosa ou
frvola que desencaminha os cidados e provoca desejos extravagantes.
Aristteles49 afirmou o valor da poesia enfocando a imitao (mimesis) ao
invs da retrica. Ele argumentava que a poesia fornece uma sada segura
para a liberao de emoes intensas. E afirmava que a poesia modela a
valiosa experincia da passagem da ignorncia ao conhecimento. (Desse
modo, no momento-chave do "reconhecimento" no drama trgico, o heri
se d conta de seu erro e os espectadores percebem que "l a no ser pela
graa de Deus vou eu"). A potica, como explicao dos recursos e estrat-
gias da literatura, no pode ser reduzida a uma explicao das figuras
retricas, mas a potica poderia ser vista como parte de uma retrica
expandida que estuda os recursos para os atos lingsticos de todos os tipos.
A teoria literria tem se preocupado muito com a retrica e os teri-
cos discutem a natureza e a funo das figuras retricas. Uma figura
retrica geralmente definida como uma alterao ou desvio do uso
"comum"; por exemplo, "Meu amor uma rosa vermelha, vermelha" usa
rosa para se referir no flor mas a algo belo e precioso (essa a figura
da metfora). Ou "The Secret Sits" torna o segredo um agente do ato de
sentar (personificao). Antigamente, os retricos tentavam distinguir os
"tropos" especficos que "mudam" ou alteram. o sentido de uma palavra
(como na metfora) das "figuras" mais misturadas de dissimulao que
ordenam as palavras para obter efeitos especiais. Algumas dessas figuras
so: aliterao (a repetio de uma consoante); apstrofe (dirigir-se a
algo que no um ouvinte regular, como em "Aquieta-te meu corao!");
e assonncia (a repetio de um som voclico).
A teoria recente raramente distingue figura de tropa e at mesmo
questiona a noo de um sentido "comum" ou "literal" do qual as figuras
ou tropos se desviam. Por exemplo, o prprio termo metfora literal ou
figurado? Jacques Derrida, em "White Mythology", mostra como as expli-
caes tericas da metfora parecem se apoiar inevitavelmente em met-
foras. Alguns tericos at mesmo adotam a concluso paradoxal de que a
linguagem fundamentalmente figurada e que o que eles chamam de lin-
guagem literal consiste em figuras cuja natureza figurada foi esquecida.
Quando falamos em "compreender" um "problema rduo", por exemplo,
essas duas expresses tornam-se literais atravs do esquecimento de sua
possvel figuralidade.
Dessa perspectiva, no que no haja distino entre o literal e o fic]u-
rado mas sim que os tropos e figuras so estruturas fundamentais cJ;j lin
guagem, no excees e distores. Tradicionalmente, a figura mais impor
tante a metfora. Uma metfora trata algo como outra coisa (ch;lIn;1I
etrica'J Potica e
Poesia
5
72 7:3
Jorge de burro ou meu amor de rosa vermelha, vermelha). A metfora por-
tanto uma verso de um modo bsico de conhecimento: conhecemos algo
vendo-o como algo. Os tericos falam de "metforas das quais vivemos",
esquemas metafricos bsicos, como "a vida uma viagem': Esses esque-
mas estruturam nossos modos de pensar sobre o mundo: tentamos "chegar
em algum lugar" na vida, "achar nosso caminho", "saber onde estamos
indo", "encontramos obstculos", e assim por diante.
A metfora tratada como bsica linguagem e imaginao porque
cognitivamente respeitvel, no intrinsicamente frvola ou ornamental.
Sua fora literria, entretanto, pode depender de sua incongruncia. A
frase de Wordsworth "a criana pai do homem" detm voc, f-Io pen-
sar e depois lhe permite ver a relao entre geraes numa nova luz: a
relao da criana com o homem em que ela se transforma mais tarde
comparada com a relao de um pai com seu filho. Como uma metfora
pode carregar uma proposio elaborada, at mesmo uma teoria, ela a
figura retrica mais facilmente justificada.
Mas os tericos tambm enfatizaram a importncia de outras figuras,
Para Roman Jakobson50, a metfora e a metonmia so as duas estruturas
fundamentais da linguagem: se a metfora liga por meio da semelhana,
a metonmia liga por meio da contigidade. A metonmia se move de uma
coisa para outra que lhe contgua, como quando dizemos "a Coroa" em
lugar de "a Rainha". A metonmia produz ordem ligando coisas em sries
espaciais e temporais, semovendo de uma coisa para outra no inter,ior de
um dado domnio, ao invs de ligar um domnio ao outro, como faz a
metfora. Outros tericos acrescentam a sindoque e a ironia para com-
pletar a lista dos "quatro tropos principais': A sindoque a substituio
do todo pela parte: "dez mos" em lugar de "dez trabalhadores': Ela infere
qualidades do todo a partir das qualidades da parte e permite que as
partes representem os todos. A ironia justape aparncia e realidade; o
que ocorre o oposto do que se espera (e se chover no piquenique do
homem do tempo?). Esses quatro tropos principais - metfora, metonmia,
sindoque e ironia - so usados pelo historiador Hayden White' para
analisar a explicao histrica ou o "emplotment", como ele a chama: so
as estruturas retricas bsicas atravs das quais percebemos o sentido da
50 Ver t':Ola 15. Captulo 2. (N,T.)
51 Ver Trpico.\' do Discurso e Meta-histria. seus dois livros publicados no Brasil. (N.T.)
74
experincia. A idia fundamental da retrica como disciplina, que se veri-
fica bem nesse exemplo qudruplo, que h estruturas bsicas de lin-
guagem que subjazem a e tornam possveis os sentidos produzidos numa
ampla variedade de discursos.
A literatura depende de figuras retricas mas tambm de estruturas
mais amplas, particularmente dos gneros literrios. O que so gneros e
qual seu papel? Termos como pica e romance so simplesmente ma-
neiras convenientes de classificar. as obras com base em semelhanas
grosseiras ou eles tm funes para os leitores e escritores?
Para os leitores, os gneros so conjuntos de convenes e expecta-
tivas: sabendo se estamos ou no lendo uma histria policial ou 'uma
aventura amorosa, um poema lrico ou uma tragdia, ficamos espreita
de coisas diferentes e fazemos suposies sobre o que ser significativo.
Lendo uma histria policial, procuramos pistas de uma maneira que no
fazemos quando estamos lendo uma tragdia. O que seria uma figura
notvel num poema lrico - "o Segredo senta no meio" - poderia ser um
detalhe circunstancial sem importncia numa histria de fantasmas ou
numa obra de fico cientfica, em que os segredos poderiam ter adquiri-
do corpos.
Historicamente, muitos tericos do gnero seguiram os gregos, que
dividiram as obras em trs classes extensas, de acordo com quem fala:
potica ou !irica, em que o narrador fala na primeira pessoa; pica ou nar-
rativa, em que o narrador fala em sua prpria voz mas permite aos persona-
gens falarem nas deles; e drama, em que s os personagens falam. Uma
outra maneira de fazer essa distino enfocar a relao'do falante com o
pblico. Na pica, h a recitao oral: um poeta que confronta diretamente
o pblico ouvinte. No drama, o autor est oculto do pblico e os persona-
gens no palco falam. Na lrica - o caso mais complicado - o poeta, ao can-
tar ou entoar, d as costas aos ouvintes, por assim dizer, e "finge estar falan-
do consigo mesmo ou com outra pessoa: um esprito da Natureza, uma
Musa, um amigo pessoal, um amante, um deus, uma abstrao personifica-
da, ou um objeto natural': A esses trs gneros elementares, podemos acres-
centar o gnero moderno do romance, que se dirige ao leitor atravs de um
livro - um tpico que retomaremos no Captulo 6.
A pica e o drama trgico foram, nos tempos antigos e na Ren;)s
cena, as realizaes culminantes da literatura, as mais altas realizal's
de qualquer aspirante a poeta. A inveno do romance trouxe um novo
7;")
adversrio cena literria, mas, entre o final do sculo XVIII e a metade
do sculo XX, a lrica, um poema no narrativo curto, passou a ser identi-
ficada com a essncia da literatura. Vista outrora principalmente como
uma modalidade de expresso elevada, a formulao elegante de valores
e atitudes culturais, a poesia lrica passou mais tarde a ser vista como a
expresso de sentimento poderoso, lidando ao mesmo tempo com a vida
quotidiana e com valores transcendentes, dando expresso concreta aos
sentimentos mais interiores do sujeito individual. Essa idia ainda pre-
domina. No entanto, os tericos contemporneos passaram a tratar a lri-
ca menos como expresso dos sentimentos do poeta e mais como traba-
lho associativo e imaginativo com a linguagem - uma experimentao
com ligaes e formulaes lingsticas que torna a poesia uma dilacera-
o da cultura ao invs de principal repositrio de seus valores.
A teoria literria que enfoca a poesia discute, entre outras coisas, a
importncia relativa de maneiras diferentes de ver os poemas: um poema
tanto uma estrutura feita de palavras (um texto) quanto um evento (um
ato do poeta, uma experincia do leitor, um evento na histria literria).
Para o poema concebido como construo verbal, uma questo impor-
tante a relao entre o sentido e os traos no-semnticos da lin-
guagem, tais como som e ritmo. Como funcionam os traos no-semn-
ticos da linguagem? Que efeitos, conscientes e inconscientes, tm? Que
tipos de interao entre os traos semnticos e no-semnticos podem
ser esperados?
Para o poema enquanto ato, uma questo-chave a relao entre o
ato do autor que escreve o poema e o do falante ou "voz" que fala ali. Esse
um problema complicado. O autor no fala o poema: para escrev-I o, o
autor se imagina a si mesmo ou a uma outra voz falando-o. Ler um poema
- por exemplo, "The Secret Sits" - dizer as palavras, "We dance round in
a ring and suppose ..." O poema parece ser uma elocuo, mas a
elocuo de uma voz de status indeterminado. Ler suas palavras colo-
car-se na posio de diz-Ias ou ento imaginar uma outra voz dizendo-
as - a voz, muitas vezes dizemos, de um narrador ou falante construdo
pelo autor. Desse modo temos, por um lado, o indivduo histrico, Robert
Frost, e, por outro, a voz dessa elocuo especfica. Intermediria entre
aquelas duas figuras est uma outra figura: a imagem da voz potica que
surge do estudo de uma gama de poemas de um nico poeta (no caso de
Frost, talvez, a de um observador grosseiro, prtico, mas reflexivo da vida
76
rural). A importncia dessas diferentes figuras varia de um poeta para
outro e de um tipo de estudo crtico para outro. Mas ao pensar sobre a
lrica, crucial comear com uma distino entre a voz que fala e o poeta
que fez o poema, criando dessa maneira essa figura da voz.
A poesia lrica, de acordo com um dito famoso de John Stuart Mill",
elocuo ouvida sem querer. Agora, quando ouvimos sem querer uma
elocuo que nos chama a ateno, o que fazemos, caracteristicamente,
imaginar ou reconstruir um falante e um contexto: identificando um
tom de voz, inferimos a postura, as situaes, preocupaes e atitudes de
um falante (que, s vezes, coincidem com o que sabemos do autor, mas
muitas vezes no). Essa tem sido a abordagem dominante da lrica no
sculo XX e uma justificativa sucinta poderia ser a de que as obras
literrias so imitaes ficcionais de elocues do "mundo real': Os poe-
mas lricos so, portanto, imitaes ficcionais de elocuo pessoal. como
se cada poema comeasse com as palavras invisiveis, "[Por exemplo, eu ou
algum poderia dizer] My love is like a red, red rose", ou "[Por exemplo, eu
ou algum poderia dizer] We dance round in a ring and suppose ..."
Interpretar o poema, portanto, uma questo de deslindar, a partir das
indicaes do texto e de nosso conhecimento geral sobre os falantes e
situaes comuns, a natureza das atitudes do falante. O que poderia levar
algum a falar dessa forma? A modalidade dominante de apreciao da
poesia nas escolas e universidades tem sido enfocar as complexidades da
atitude do falante, o poema como a dramatizao de pensamentos e sen-
timentos de um falante que reconstrumos.
Essa uma abordagem produtiva da lrica, pois muitos poemas apre-
sentam um falante que est realizando atos de fala reconhecveis: medi-
tando sobre a importncia de uma experincia, censurando um amigo ou
amante, expressando admirao ou devoo, por exemplo. Mas, se nos
voltarmos para os versos iniciais de alguns dos mais famosos poemas lri-
cos, tais como a "Ode to the West Wind", de Shelley, ou "The Tiger" de
Blake, surgem dificuldades: "O wild West Wind, thou breath of Autumn's
being!" ou "Tiger, Tiger, burning bright/ln the forests of the night"53. dif-
cil imaginar que tipo de situao levaria algum a falar dessa maneira ou
52 Jol1l1 Stuart l'vlill (1806-1873). Filsofo economista ingls, expoente do Utilitarismo. (N.T.)
53 "Ode ao Vc:nto Oeste": "Oil, turbulento vento oeste, sopro do outono", de Percy Bysshc Shclky (17(P IX lI)
poeta romntico ingls; "O Tigre": "Tigre, tigre, flamejante fulgor/ Nas florestas de denso negror" [/J(/('sill ('/1/(1,111
selecio/lada / \Villiam Blake. Introdu:;1o. seleo e traduo de Paulo Vizioli. So Paulo, J.C. L<-;lllill'L 11):-;,1 I
\Villiarn Bbke (1757-1817), poeta pr-romntico ingls. (N.T.)
..,..,
que ato no-potico estaria realizando. A resposta que provavelmente ire-
mos sugerir que esses falantes esto sendo arrebatados e esto ficando
poticos, esto assumindo atitudes extravagantes. Se tentamos entender
esses poemas como imitaes ficcionais de atos comuns de fala, o ato pa-
rece ser o de imitar a prpria poesia.
O que esses exemplos sugerem a extravagncia da lrica. Os poemas
lricos no apenas parecem dispostos a dirigir-se a quase nada, preferivel-
mente a um pblico real (o vento, um tigre, minha alma); eles fazem isso
em inflexes hiperblicas. O nome do jogo aqui exagero: o tigre no
apenas "cor de laranja", mas flamejante; o vento o prprio "sopro do ou-
tono" e, mais adiante no poema, salvador e destruidor. At mesmo os poe-
mas sardnicos se baseiam em condensaes hiperblicas, como quando
Frost reduz a atividade humana a danar em crculos e trata as muitas for-
mas de conhecimento como "suposio':
Tocamos aqui numa questo terica importante, um paradoxo que
parece residir no mago da poesia lrica. A extravagncia da poesia inclui
sua aspirao ao que os tericos, desde a era clssica, chamam de "su-
blime": uma relao com o que excede a capacidade humana de com-
preenso, provoca temor ou intensidade apaixonada, d ao falante uma
percepo de algo alm do humano. Mas essa aspirao transcendente
est vinculada a figuras retricas tais como a apstrofe, o tropo do ato de
dirigir-se ao que no um ouvinte real, a personificao, a atribuio de
qualidades humanas ao que no humano, e a prosopopia, a concesso
de fala a objetos inanimados. Como podem as mais altas aspiraes do
verso estar ligadas a esses truques retricos?
Quando os poemas lricos se desviam de ou jogam com o circujto da
comunicao para se dirigir ao que no realmente um ouvinte - um
vento, um tigre, ou o corao - s vezes se diz que isso significa um sen-
timento forte que leva o falante a irromper em fala. Mas a intensidade
emocional se liga especialmente ao prprio ato de alocuo ou de invo-
cao, que freqentemente deseja um estado de coisas e tenta cri-Io
pedindo aos objetos inanimados que se curvem ao desejo do falante. "O
lift me as a wave, a leaf, a cloud"S4, o falante de Shelley insta com o
vento oeste. A exigncia hiperblica de que o universo o escute e aja de
acordo uma providncia pela qual os falantes se constituem como
54 "Oh. erga-me como uma onda. lima folha. uma IlLl\'Clll". (N.T.)
73
poetas sublimes ou como visionrios: algum que pode se dirigir
Natureza e a quem ela poderia responder. O "Oh" da invocao uma
figura de vocao potica, uma providncia pela qual a voz que fala
afirma no ser um mero falante de versos mas uma corporificao da
tradio potica e do esprito da poesia. Conclamar os ventos a soprar
ou exigir que o no nascido escute seus gritos um ato de ritual poti-
co. ritualstico, na medida em que os ventos no vm ou o no nasci-
do no ouve. A voz chama a fim de estar chamando. Chama a fim de
dramatizar a voz: para intimar imagens de seu poder de modo a esta-
belecer sua identidade como voz potica e proftica. Os imperativos
impossveis, hiperblicos das apstrofes evocam eventos poticos,
coisas que sero realizadas, se que o sero, na eventualidade do
poema.
Os poemas narrativos narram um acontecimento; os poemas lricos,
poderamos dizer, lutam para ser um evento. Mas no h qualquer
garantia de que o poema v funcionar e a apstrofe - como minhas
breves citaes indicam - o que mais ruidosamente, mais
embaraosamente "potico", mais mistificador e vulnervel ao descarte
como bobagem hiperblica. "Lift me as a wave, a leaf, a cloud!" Tudo
bem. Pode caoar. Ser poeta empenhar-se em ser bem-sucedido nesse
tipo de coisa, em apostar que isso no ser descartado como um monte
de bobagem.
Um problema importante para a teoria da poesia, como disse, a
relao entre o poema como uma estrutura feita de palavras e o poema
como evento. As apstrofes tanto tentam fazer algo acontecer quanto
expem esse acontecimento como estando baseado em truques verbais -
como no vazio "Oh", da alocuo apostrfica: "O wild West Wind!"
Realar a apstrofe, a personificao, a prosopopia e a hiprbole
juntar-se aos tericos que, ao longo dos tempos, enfatizaram o que
distingue a lrica de outros atos de fala, o que faz dela a mais literria
das formas. A lrica, escreve Northrop FryeSS, " o gnero que mais
claramente mostra o cerne hipottico da literatura, da narrativa e do
sentido em seus aspectos literais enquanto ordem de palavras e dese-
nho de palavras". Isto , a lrica mostra-nos o sentido ou a histria
55 Northrop Frye (] 912-1991). Crtico e terico canadense, autor de Anatomia da Crlic(l (1957), S;l() Patll(l, ('llllli,
trad. PricJes Eugnio da Silva Ramos,J 973. (N,T.)
7<)
surgindo do desenho verbal. Repita as palavras que ecoam numa
estrutura rtmica e veja se no surge uma histria ou sentido.
Frye, cujo Anatomia da Critica um compndio inestimvel de
reflexo sobre a lrica e outros gneros, chama os constituintes bsicos da
lrica de tartamudeio e garatuja, cujas razes so o sortilgio e o enigma.
Os poemas tartamudeiam, colocando em primeiro plano os traos no-
semnticos da linguagem - som, ritmo, repetio de letras - para produzir
sortilgio ou encantamento:
This darksome burn, horseback brown,
His rollrock highroad roaring down ... 56
Os poemas garatujam ou nos propem enigmas, em sua dissimulao
caprichosa, em suas formulaes enigmticas: o que um "rollrock high-
road"? E o "Secret [que] sits in the middle and knows"?
Esses traos so muito proeminentes em cantigas de ninar e baladas,
em que freqentemente o prazer reside no ritmo, no encantamento e na
estranheza da imagem:
Pease porridge hot,
Pease porridge cold,
Pease porridge in the pot,
Nine days old.51
O padro ritmico e o esquema da rima ostentam a organizao desse
pequeno texto e podem tanto provocar especial ateno interpretativa
(como quando a rima levanta a questo da relao das palavras que
rimam) quanto suspender a investigao: a poesia tem sua prpria ordem
que d prazer, de modo que no h necessidade de perguntar a respeito
do sentido; a organizao rtmica permite linguagem ficar sob a guarda
da inteligncia e se alojar na memria mecnica. Lembramos de "Pease
porridge hot" sem nos preocuparmos em investigar o que "pease porridge" _
poderia ser e, mesmo que descubramos, provvel que esqueamos isso
antes de esquecer de "Pease porridge hot".
Colocar a linguagem em primeiro plano e torn-Ia estranha atravs
56 "Esse queimado sombrio. marrom cqlino./ seu caminho ondulante ribomba .... (I\'.T.)
57 "j'v1ingau de ervilhas qut'Jllc.l mingau de ervilhas frio/ mingau de ervilhas na panela! h no\'e dias," (N.T.)
80
da organizao mtrica e da repetio de sons a base da poesia, As [l'l)
rias da poesia, portanto, postulam relaes entre diferentes tipos de or9a--
nizao da linguagem - mtrica, fonolgica, semntica, temtica - ou,
para dizer de forma mais geral, entre as dimenses semnticas e no-
semnticas da linguagem, entre o que o poema diz e como o diz. O poema
uma estrutura de significantes que absorve e reconstitui os significados,
na medida em que seus padres formais tm efeitos sobre suas estruturas
semnticas, assimilando os sentidos que as palavras tm em outros con-
textos e sujeitando-as a nova organizao, alterando a nfase e o foco,
deslocando sentidos literais para sentidos figurados, colocando termos em
alinhamento, de acordo com padres de paralelismo. o escndalo da
poesia que traos "contingentes" de som e ritmo sistematicamente
i nfectem e afetem o pensa mento.
Nesse nvel, a lrica se baseia numa conveno de unidade e autono-
mia, como se houvesse uma regra: no trate o poema como trataramos
um trecho de conversa, um fragmento que precisa de um contexto mais
amplo para explic-Io, mas suponha que ele tenha uma estrutura toda
sua. Tente l-Io como se fosse um todo esttico, A tradio da potica
torna disponveis diversos modelos tericos. Os formalistas russos do in-
cio do sculo XX postulam que um nvel de estrutura num poema deveria
espelhar outro; os tericos romnticos e os New Critics ingleses e ameri-
canos traam uma analogia entre os poemas e os organismos naturais:
todas as partes do poema deveriam se encaixar harmoniosamente. As
leituras ps-estruturalistas postulam uma tenso inelutvel entre o que
os poemas realizam e o que dizem, a impossibilidade de um poema, ou
talvez de qualquer ato de linguagem, praticar o que prega.
As concepes recentes dos poemas como construes intertextuais
enfatizam que os poemas so energizados por ecos de poemas passados
- ecos que eles podem no dominar. A unidade se torna menos uma pro-
priedade dos poemas do que algo que os intrpretes buscam, quer pro-
curem uma fuso harmoniosa ou uma tenso no resolvida, Para f,J7('t
isso, os leitores identificam oposies no poema (como entre "ns" c 11
Segredo ou entre conhecere supor) e vem como outros elementos dll
poema, particularmente as expresses figuradas, se alinham com (,~~;I',
oposies.
Tomemos o famoso poema de dois versos de Ezra Pound, "In ,J SLl1i1111
of the Metro":
81
The apparition of these faces in the erowd:
Petals on a wet, black bough.58
Interpretar isso envolve trabalhar com o contraste entre as multides
no metr e a cena natural. O emparelhamento desses dois versos impe o
paralelo entre os rostos na escurido do metr e as ptalas no ramo negro
de uma rvore. Mas e da? A interpretao do poema depende no ape-
nas da conveno de unidade mas tambm da conveno de importncia:
a regra que os poemas, no importa quo insignificantes na aparncia,
devem ser sobre algo importante, e portanto os detalhes concretos deve-
riam ser considerados como tendo importncia geral. Deveriam ser lidos
como o sinal ou "correlato objetivo", para usar a expresso de IS. Eliot, de
sentimentos importantes ou insinuaes de significncia59
Para tornar significativa a oposio no pequeno poema de Pound, os
leitores precisam refletir sobre como o paralelo poderia funcionar. O
poema est contrastando a cena de multido urbana no metr com a
tranqila cena natural de ptalas num ramo molhado de rvore ou as est
igualando, observando uma semelhana? Ambas as opes so possveis,
mas a segunda parece possibilitar uma leitura mais rica, inspirando um
passo poderosamente subscrito pela tradio da interpretao potica. A
percepo de semelhana entre rostos na multido e ptalas num ramo -
ver rostos na multido como ptalas num ramo - um exemplo da imagi-
nao potica "vendo o mundo de novo", apreendendo relaes inespera-
das e, talvez, apreciando o que, para outros observadores, seria trivial ou
opressivo, encontrando profundidade na aparncia formal. Esse pequeno
poema, portanto, pode tornar-se uma reflexo sobre o poder da imagi-
nao potica de conseguir os efeitos que o prprio poema consegue. Um
exemplo como esse ilustra uma conveno bsica da interpretao poti-
ca: considerar o que esse poema e seus procedimentos dizem sobre a poe-
58 "Numa Estao de Metr": "A apario desses rostos na multido;! Pw.ias num ramo molhado, negro". Ezra
Pound (1885-1972). Poeta modernista e crtico norte-americano, autor de Thr! Co!Jto.\'. UI113 coleo de mais de 100
poemas, iniciada em 1917. (N.T.)
59 Thornas Stearnes Eliot (1888-1965). Poeta. dramaturgo e crtico literrio angla-americano, um dos nomes mais
importantes da poesia modernista. autor do poema The Wasre LalJd (1922). A teoria do "canelata objetivo" est no
ensaio "Hamlet and his Problems" (il1 T/u: Sacred Wood, 1920): "A nica maneira de expressar emoo na forma de
arte encontrar um "conelato objetivo"; em outras palavras, um conjunto de objetos, uma situao, lima cadeia de
eventos que ser a frmula para aquela emoo especfica; de tal maneira que, quando os fatos externos. que devem
se encerrar em experincia sensoriaL sej1111 dados. a emoo seja in}ediatamente evocada". (N.T.)
82
sia ou a criao do sentido. Os poemas, no uso que fazem das operaes
retricas, podem ser lidos como sondagens na potica, assim como os
romances, como veremos a seguir, so em algum nvel reflexes sobre a
inteligibilidade de nossa experincia do tempo e, dessa forma, sondagens
na teoria narrativa.
83
Era uma vez um tempo em que literatura significava sobretudo poe-
sia. O romance era um recm-chegado, prximo demais da biografia ou
da crnica para ser genuinamente literrio, uma forma popular que no
poderia aspirar s altas vocaes da poesia lrica e pica. Mas no sculo
XX o romance eclipsou a poesia, tanto como o que os escritores escrevem
quanto como o que os leitores lem e, desde os anos 60, a narrativa pas-
sou a dominar tambm a educao literria. As pessoas ainda estudam
poesia - muitas vezes isso exigido - mas os romances e os contos
tornaram-se o ncleo do currculo.
Isso no apenas um resultado das preferncias de um pblico leitor
de massa, que alegremente escolhe histrias mas raramente l poemas. As
teorias literria e cultural tm afirmado cada vez mais a centralidade cul-
tural da narrativa. As histrias, diz o argumento, so a principal maneira
pela qual entendemos as coisas, quer ao pensar em nossas vidas como
uma progresso que conduz a algum lugar, quer ao dizer a ns mesmos o
que est acontecendo no mundo. A explicao cientfica busca o sentido
das coisas colocando-as sob leis - sempre que a e b prevalecerem, ocor-
rer c - mas a vida geralmente no assim. Ela segue no uma lgica
cientfica de causa e efeito mas a lgica da histria, em que entender sig-
nifica conceber como uma coisa leva a outra, como algo poderia ter suce-
dido: como Maggie acabou vendendo software em Cingapura, como o pai
de Jorge veio a lhe dar um carro.
Entendemos os acontecimentos atravs de histrias possveis; os fil-
6 arrativa
sofos da histria, mencionei no Captulo 2, at mesmo argumentaram que
a explicao histrica segue no a lgica da causalidade cientfica mas a
lgica da histria: entender a lgica da Revoluo Francesa compreen-
der uma narrativa que mostra como um acontecimento levou a outro.~A?,
estruturas narrativas esto em toda parte: Frank Kermode observa que,
quando dizemos que um relgio faz "tique-taque", damos ao rudo uma
estrutura ficcional, diferenciando entre dois sons fisicamente idnticos,
para fazer de tique um comeo e de taque um final. "Considero o tique-
taque do relgio como um modelo do que chamamos de enredo, uma
organizao que humaniza o tempo dando-lhe forma."
A teoria da narrativa ("narratologia") um ramo ativo da teoria
literria e o estudo literrio se apia em teorias da estrutura narrativa: em
noes de enredo, de diferentes tipos de narradores, de tcnicas narrati-
vas. A potica da narrativa, como poderamos cham-Ia, tanto tenta com-
preender os componentes da narrativa quanto analisa como narrativas
especficas obtm seus efeitos.
Mas a narrativa no apenas uma matria acadmica. H u~Jf1l2-UI-
so humano bsico de ouvir e narrar histrias. Muito cedo, as crianas
desenvolvem o que se poderia chamar de uma competncia narrativa
bsica: exigindo histrias, elas sabem quando voc est tentando enga-
nar, parando antes de chegar ao final. Dessa maneira, a primeira questo
para a teoria da narrativa poderia ser: o que sabemos implicitamente
sobre a configurao bsica das histrias que nos permite distinguir entre
uma histria que acaba "adequadamente" e uma que no o faz, em que
as coisas so deixadas penduradas? A teoria da narrativa poderia, ento,
ser concebida como uma tentativa de explicar detalhadamente, tornar
explcita, essa competncia narrativa, assim como a lingstica uma
tentativa de tornar explcita a competncia lingstica: o que os falantes
de uma lngua sabem inconscientemente ao saber uma lngua. A teoria
aqui pode ser concebida como uma exposio de uma compreenso ou
conhecimento cultural intuitivo.
Quais so os requisitos de uma histria, do ponto de vista dos ele.-
mentos? Aristteles diz que o enredo o trao mais bsico da narrativa,
que as boas histrias devem ter um comeo, meio e fim e que elas do
prazer por causa do ritmo de sua ordenao. Mas o que cria a impresso
de que uma srie especfica de acontecimentos tem essa configurao? Os
tericos propuseram diversas explicaes. Essencialmente, entretanto, um
X4
x;)
enredo exige uma transformao. Deve haver uma situao inicial, uma
mudana envolvendo algum tipo de virada e uma resoluo que marque
a mudana como sendo significativa. Algumas teorias enfatizam tipos de
paralelismo que produzem enredos satisfatrios, tais como a mudana de
uma relao entre personagens para seu oposto, ou de um medo ou pre-
viso para sua realizao ou sua inverso; de um problema para sua
soluo ou de uma falsa acusao ou deturpao para sua retificao. Em
cada um dos casos, encontramos a associao de um desenvolvimento no
nvel dos acontecimentos com uma transformao no nvel do tema. Uma
mera seqncia de acontecimentos no faz uma histria. Deve haver um
final que se relacione com o comeo - de acordo com alguns tericos, um
final que indique o que aconteceu com o desejo que levou aos aconteci-
mentos que a histria narra.
Se a teoria narrativa uma explicao sobre a competncia narrati-
va, ela deve enfocar tambm a capacidade dos leitores de identificar enre-
dos. Os leitores conseguem distinguir que duas obras so verses da
mesma histria; conseguem resumir enredos e discutir a adequao de um
resumo do enredo. No que eles sempre iro concordar, mas provvel
que as discordncias revelem uma considervel compreenso comparti-
lhada. A teoria da narrativa postula a existncia de um nvel de estrutura
- o que geralmente chamamos de "enredo" - independentemente de
qualquer linguagem especfica ou meio representacional. Diferentemente
da poesia, que se perde na traduo, o enredo pode ser preservado na tra-
duo de uma linguagem ou de um meio para outro: um filme mudo ou
uma histria em quadrinhos pode ter o mesmo enredo que um conto.
Descobrimos, entretanto, que h duas maneiras de pensar o enredo.
De um ngulo, o enredo um modo de dar forma aos acontecimentos
para transform-Ios numa histria genuna: os escritores e leitores con-
figuram os acontecimentos num enredo, em suas tentativas de buscar o
sentido das coisas. De um outro ngulo, o enredo o que configurado
pelas narrativas, j que apresentam a mesma "histria" de maneiras dife-
rentes. Assim, uma seqncia de atos por parte de trs personagens pode
ser configurada (por escritores e leitores) num enredo elementar de amor
heterossexual, em que um jovem procura casar-se com uma jovem, seu
desejo encontra resistncia na oposio paterna, mas alguma reviravolta
nos acontecimentos permite aos jovens amantes ficarem juntos. Esse
enredo com trs personagens pode ser apresentado na narrativa do ponto
86
de vista da herona sofredora, ou do pai irado, ou do jovem, ou de um ob-
servador externo intrigado com os acontecimentos, ou de um narrador
onisciente que consegue descrever os sentimentos mais ntimos de cada
personagem ou que adota uma distncia intencional desses acontecimen-
tos. Desse ngulo, o enredo ou histria o dado e o discurso so as apre-
sentaes variadas dele.
Os trs nveis que estou discutindo - acontecimentos, enredo (ou
histria) e discurso - funcionam como duas oposies: entre aconteci-
mentos e enredo e entre histria e discurso.
acon tecim entos/ enredo
histria/discurso
O enredo ou histria o material que apresentado, ordenado a p,ar-
tir de um certo ponto de vista pelo discurso (diferentes verses da ,"mesma
histria"). Mas o prprio enredo j uma configurao de acontecimen-
tos. Um enredo pode tornar um casamento o final feliz da histria ou o
comeo de uma histria - ou pode fazer dele uma reviravolta no meio. O
que os leitores realmente encontram, entretanto, o discurso de um
texto: o enredo algo que os leitores inferem a partir do texto, e a idia
dos acontecimentos elementares a partir dos quais esse enredo foi for-
mado tambm uma inferncia ou construo do leitor. Se falamos de
acontecimentos que foram configurados num enredo, para realar o sig...
nificado e a organizao do enredo.
A distino bsica da teoria da narrativa, portanto, entre enredo e
apresentao, histria e discurso. (A terminologia varia de um terico para
outro.) Confrontado com um texto (um termo que inclui filmes e outras
representaes). o leitor o compreende identificando a histria e depois
vendo o texto como uma apresentao especfica daquela histria; identi-
ficando "o que acontece", somos capazes de pensar no resto do material
verbal como sendo a maneira de retratar o que ocorr. Da, podemos per-
guntar que tipo de apresentao foi escolhida e que diferena isso faz. H
muitas variveis e elas so cruciais para os efeitos das narrativas. Grande
parte da teoria narrativa explora diferentes maneiras de conceber essas
variveis. Aqui esto algumas questes-chave que identificam uma varia~
o significativa.
Quem fala? Por conveno, diz-se que toda narrativa tem um n;lr~
87
rador, que pode se colocar fora da histria ou ser um personagem dentro
dela. Os tericos distinguem a "narrao em primeira pessoa", em que um
narrador diz "eu", daquilo que de modo algo confuso chamado de "nar-
rao em ter.ceira pessoa", em que no h um "eu" - o narrador no
identificado como um personagem na histria e todos os personagens so
referidos na terceira pessoa, pelo nome ou por "ele" ou "ela': Os narradores
em primeira pessoa podem ser os principais protagonistas da histria que
contam; podem ser participantes, personagens secundrios na histria; ou
podem ser observadores da histria, cuja funo no agir mas descrever
as coisas para ns. Os observadores em primeira pessoa podem ser plena-
mente desenvolvidos como indivduos com um nome, histria e personali-
dade, ou podem no ser nada desenvolvidos e rapidamente desaparecer
medida que narrao caminha, se ocultando dep9is de introduzir a
histria.
Quem fala para quem? O autor cria um texto que lido pelos leitores.
Os leitores inferem a partir do texto um narrador, uma voz que fala. O nar-
rador se dirige a ouvintes que s vezes so subentendidos ou construdos,
s vezes explicitamente identificados (particularmente nas histrias den-
tro de histrias, onde um personagem se torna o narrador e conta a
histria encaixada para outros personagens). O pblico do narrador
muitas vezes chamado de narratrio. Quer os narratrios sejam ou no
explicitamente identificados, a narrativa implicitamente constri um
pblico atravs daquilo que sua narrao aceita sem discusso e atravs
daquilo que e0plica. Uma obra de um outro tempo e lugar geralmente
subentende um pblico que reconhece certas referncias e partilha certos
pressupostos que um leitor moderno pode no partilhar. A crtica femi-
nista est especialmente interessada na maneira como as narrativas
europias e norte-americanas freqUentemente postulam um leitor mas-
culino: elas se dirigem implicitamente ao leitor como algum que parti-
lha uma viso masculina.
Quem fala quando? A narrao pode estar situada na poca em que
os eventos ocorrem (como em Jealousy de Alain Robbe-GrilletGO, em que a
narrativa adota a forma "agora x est acontecendo, agora yest aconte-
cendo, agora z est acontecendo"). A narrao pode se seguir imediata-
60 Alain Robbe-Grillet (1922-). Escritor representativo e um dos mais importantes tericos do "nouveau roman". o
"anli-romance" francs que surgiu na d~cada de 50. la/ollsie (Jea/ollsy) foi publicado em 1957. (N.T.)
aa
i
I
I
mente a acontecim.entos especficos, como nos romances epistolares
(romances sob a forma de cartas), tal como Pomela, de Samuel
RichardsonG1, em que cada carta trata do que ocorrera at aquelemomen-
to. Ou, como mais comum, a narrao pode ocorrer depois dos aconteci-
mentos finais da narrativa, medida que o narrador olha em retrospecto
para a seqncia inteira.
Quem fala que linguagem? As vozes narrativas podem ter sua prpria
linguagem distintiva, na qual narram tudo na histria, ou podem adotar e
relatar a linguagem de outros. Uma narrativa que v as coisas atravs da
conscincia de uma criana pode ou usar a linguagem adulta para relatar
as percepes da criana ou resvalar para a linguagem de uma criana. O
terico russo Mikhail BakhtinGl descreve o romance como fundamental-
mente polifnico (mltiplas vozes) ou dialgico ao invs de monolgico
(nica voz): a essncia do romance sua encenao de diferentes vozes
ou discursos e, portanto, do embate de perspectivas sociais e pontos de
vista.
Quem fala com que autoridade? Narrar uma histria reivindicar uma
certa autoridade, que os ouvintes concedem. Quando o narrador de
Emmo, de Jane Austen, comea, "Emma Woodhouse, handsome, clever,
and rich, with a comfortable home and happy disposition, ..."63 no
ficamos nos perguntando ceticamente se ela era realmente bonita e
inteligenfe. Aceitamos essa afirmao at que nos dem motivo para pen-
sar de outra forma. Os narradores so s vezes chamados de no con-
fiveis quando fornecem informao suficiente sobre situaes e pistas a
respeito de suas predisposies para nos fazer duvidar de' suas interpre-
taes dos acontecimentos, ou quando encontramos motivos paraduvi-
dar que o narrad-e-r partilha os mesmos valores que o autor. Os tericos
falam de narrao auto-reflexiva quando os narradores discutem o fato
de que esto narrando uma histria, hesitam sobre como cont-Ia ou at
mesmo ostentam o fato de que podem determinar como a histria vai
61 Ver Nota 25 , Captulo 2.
62 MikhaiJ Bakhtin (1895-1975). Filsofo russo da linguagem c terico do discurso. Bakhtin via a linguilp.l:llll'llIIH)
determillJ.nte dos e determinada pelos componentes histric.os de elocues especficas. Definia a lingllat!~llIl'ollln
um "evento" no qual tanto os elementos lingsticas quanto sociais predetenninam um :10 OUlTO nllma 1\11;1 \'111
direo ao sentido textual. Talnbm foi um importante terico do romance, tendo publicado estudos sohre ]{(lkl:li';
e a cultura popular na Idade Mdia e sobre o romancista russo Dostoievski_ (1\'_1.)
63 "Emma \Voodhouse, bonita. inteligente e rica. comum lar confortvel e um temperamento klir, ,,,", /\ ,-il;I\-;\l' li
do romance Emma (1816), da romancista inglesa Jane Austen (1775-1817). (N.1.)
a9
acabar. A narrao auto-reflexiva reala o problema da autoridade narra-
tiva.
Quem v? As discusses sobre a narrativa freqentemente falam do
"ponto de vista a partir do qual uma histria contada", mas esse uso de
ponto de vista confunde duas questes distintas: quem fala? e de quem
a viso apresentada? O romance de Henry James, What Maisie Knew4,
emprega um narrador que no uma criana mas apresenta a histria
atravs da conscincia da criana Maisie. Maisie no o narrador; ela
descrita na terceira pessoa, como "e[a", mas o romance apresenta muitas
coisas a partir de sua perspectiva. Maisie, por exemplo, no compreende
totalmente a dimenso sexual das relaes entre os adultos em volta dela.
A histria , para usar um termo desenvolvido pelos tericos da narrativa
Mieke Sa[ e Grard Genette, focalizada atravs dela. dela a conscincia
ou posio atravs da qual os acontecimentos so enfocados. A questo
"quem fala?", portanto, distinta da questo de "quem v?" A partir da
perspectiva de quem os acontecimentos so enfocados e apresentados? O
focalizador pode ou no ser o mesmo que o narrador. H inmeras vari-
veis aqui.
1. Temporal. A narrao pode focalizar os acontecimentos a partir da
poca em que ocorreram, a partir de logo depois, ou a partir de muito
tempo depois. Pode enfocar o que o focalizador sabia ou pensava na
poca do acontecimento ou como viu as coisas depois, graas viso re-
trospectiva. Ao relatar algo que aconteceu com ele quando criana, um
narrador pode focalizar o evento atravs da conscincia da criana que
ele foi, restringindo o relato ao que pensou ou sentiu na poca, ou pode'
focalizar os events atravs de seu conhecimento e compreenso na
poca da narrao. Ou, naturalmente, pode combinar essas perspectivas,
fazendo um movimento entre o que sabia ou sentiu ento e o que reco-
nhece agora. Quando a narrao em terceira pessoa focaliza aconteci-
mentos atravs de um personagem especfico, ela pode empregar varia-
es semelhantes, relatando como as coisas pareceram ao personagem na
poca ou como so percebidas mais tarde. A escolha da focalizao tem-
pora[ faz uma diferena enorme nos efeitos de uma narrativa. As histrias
de detetive, por exemplo, relatam apenas o que o focalizador sabia em
64 Henry James (J 843-1916). Um dos mais importantes romancistas norte-americanos da virada do sculo. James
nos legou ainda um conjunto de textos sobre teoria do romance. reunidos em Tlie Ar! (d'Ficrion. Whor A1uisie Knell'
de 1897. (CU.)
90
I
I
;
I
cada momento da investigao, guardando o conhecimento do resultado
para o clmax.
2. Distncia e velocidade. A histria pode ser focalizada atravs de um
microscpio, por assim dizer, ou atravs de um telescpio, avanando
lentamente com grandes detalhes ou rapidamente nos contando o que
aconteceu: "O Monarca agradecido deu ao Prncipe a mo de sua flha em
casamento e, quando o Rei morreu, o Prncipe o sucedeu no trono e reinou
feliz por muito anos': Relacionadas com a velocidade, h as variaes em
freqncia: elas podem nos contar o que aconteceu numa ocasio espec-
fica ou o que aconteceu todas as quintas-feiras. Mais distintivo o que
Grard Genette chama de "pseudo-iterativo", no qual algo to especfico
que no poderia acontecer repetidas vezes apresentado como o que
aconteceu regularmente.
3. Limitaes de conhecimento. Num extremo, uma narrativa pode
focalizar a histria atravs de uma perspectiva muito limitada - a pers-
pectiva de um "olho de cmera" ou de uma "mosca na parede" - rela-
tando as aes sem nos dar acesso aos pensamentos do personagem.
Mesmo aqui, grandes variaes podem ocorrer dependendo do grau de
compreenso que as descries "objetivas" ou "externas" subentendem.
Desse modo, "o velho acendeu um cigarro" parece focalizado atravs de
um observador familiarizado com as atividades humanas) enquanto "o
humano com cabelos brancos no alto da cabea segurou um basto em
chamas prximo a si e comeou a subir fumaa de um tubo branco liga-
do a seu corpo" parece focalizado atravs de um a[iengena ou pessoa
que est muito "pirada". No outro extremo, est o que se chama de "nar-
raoConisciente", em que o narrador uma figura demirgica que tem
acesso aos pensamentos mais ntimos e s motivaes ocultas dos per-
sonagens: "O rei estava desmesuradamente alegre com o que viu, mas
sua cobia pelo ouro ainda no estava satisfeita". A narrao onisciente,
em que parece no haver em princpio limitaes ao que pode ser co-
nhecido e contado, comum no apenas nos contos tradicionais mas nos
romances modernos, em que a escolha do que ser realmente contado t'
crucia[.
As histrias focalizadas principalmente atravs da conscincia de uln
nico personagem ocorrem tanto na narrao em primeira pessoa, l'lll
que o narrador conta o que ele ou ela pensou ou observou, qU~lnlo 11;1
narrao em terceira pessoa, onde freqentemente chamada ele "polillJ
91
de vista limitado de terceira pessoa", como em What Maisie Knew. A nar-
rao no confivel pode resultar de limitaes do ponto de vista - quan-
do percebemos que a conscincia atravs da qual ocorre a focalizao
incapaz de ou no est disposta a compreender os acontecimentos como
o fariam os leitores competentes de histrias.
Essas e outras variaes na narrao e focalizao so responsveis
por determinar o efeito global dos romances. Uma histria com narrao
onisciente, detalhando os sentimentos e as motivaes ocultas dos pro-
tagonistas e exibindo conhecimento a respeito do desfecho dos aconteci-
mentos, pode dar a impresso de que o mundo compreensvel. Pode
realar, por exemplo, o contraste entre o que as pessoas pretendem e o
que inevitavelmente ocorre ("Mal sabia ele que, duas horas depois, seria
atropelado por um coche e todos os seus planos iriam dar em nada"). Uma
histria contada do ponto de vista limitado de um nico protagonista
pode realar a completa imprevisibilidade do que acontece: como no
sabemos o que os outros personagens esto pensando ou o que mais est
acontecendo, tudo o que ocorre com esse personagem pode ser uma sur-
presa. As complicaes da narrativa so ainda mais intensificadas pelo
encaixe de histrias dentro de outras histrias, de modo que o ato de con-
tar uma histria se torna um acontecimento na histria - um aconteci-
mento cujas conseqncias e importncia se tornam uma preocupao
principal. Histrias dentro de histrias dentro de histrias.
Os tericos tambm discutem a funo das histrias. Mencionei no
Captulo 2 que os "textos de demonstrao narrativa", uma categoria que
inclui tanto as narrativas literrias quanto as histrias que as pessoas
contam umas s outras, circulam porque suas histrias so narrveis,
"valem a pena". Os contadores de histria esto sempre evitando a
questo potencial, "E da?" Mas o que faz com que uma histria "valha a
pena"? O que fazem as histrias?
Primeiro, elas do prazer - prazer, nos diz Aristteles, atravs da sua
imitao da vida e de seu ritmo. O desenho narrativo que produz uma
reviravolta, como quando quem morde mordido ou vira-se a mesa, d
prazer em si mesmo e muitas narrativas tm essencialmente essa funo:
divertir os ouvintes dando uma virada em situaes familiares.
O prazer da narrativa se vincula ao desejo. Os enredos falam do dese-
jo e do que acontece com ele, mas o movimento da prpria narrativa
impulsionado pelo desejo sob a forma de "epistemofilia", um desejo de
1)2
f
saber: queremos descobrir segredos, saber o final, encontrar a verdade. Se
o que impulsiona a narrativa a nsia "masculina" de domnio, o desejo
de desvelar a verdade ("a verdade nua"), ento que talo conhecimento
que a narrativa nos oferece para satisfazer esse desejo? Esse conheci-
mento ele prprio um efeito do desejo!? Os tericos fazem essas per-
guntas sobre os vnculos entre desejo, histrias e conhecimento.
Pois as histrias tambm tm a funo, como enfatizam os tericos,
de nos ensinar sobre o mundo, nos mostrando como ele funciona, nos
possibilitando - atravs dos estratagemas da focalizao - ver as coisas
de outros pontos de vista e entender as motivaes dos outros que, em
geral, so opacas para ns. O romancista E.M. Forster';S observa que, ao
oferecer a possibilidade de conhecimento perfeito a respeito dos outros,
os romances compensam nossa falta de clareza sobre os outros na vida
"real". Os personagens dos romances
so pessoas cujas vidas secretas so visiveis ou poderiam ser visiveis: somos
pessoas cujas vidas secretas so invisiveis. E por isso que os r'Jmances,
mesmo quando so sobre pessoas ms, podem nos consolar; eles sugerem
uma raa numana mais compreensivel e portanto mais administrvel,
podem nos dar a iluso de perspiccia e de poder.
Atravs do conhecimento que apresentam, as narrativas policiam. Os
romances na tradio ocidental mostram como as aspiraes so domes-
ticadas e os desejos, ajustados realidade social. Muitos romances so a
histria de iluses juvenis esmagadas. Falam-nos de desejo, provocam
desejo, traam para ns os cenrios do desejo heterossexual e, desde o
sculo XVIII, trabalham cada vez mais para sugerir que obtenhamos nossa
verdadeira identidade, se que vamos obt-Ia, no amor, nas relaes pes-
soais, em vez de na ao pblica. Mas, enquanto nos instruem a acreditar
que h algo como "estar apaixonado", tambm sujeitam essa idia
desmistificao.
Na medida em que nos tornamos quem somos atravs de uma srie
de identificaes (ver Captulo 8), os romances so um mecanismo
poderoso de internalizao das normas sociais. Mas as narrativas tambm
65 Edward Morgan Forster (1879- ] 970). Romancista. ensasta e crtico literrio ingls. autor de J {(!\\'dl'dl' (1ItI
(1910) e ele A Pas,wgr! lu file/ia (1914), seus romances mais conhecidos. A citao tirada c1""jhjl{'('/,I' o(lh(' N(I\'I"!
um livro que rene conferncias dadas pelo autor na Universidade de Cambridge e publicaclas 1\(1 ;Illn d(" 11)1"1, (N'!,)
I);~
Neste captulo, vou ao encalo de um exemplo de "teoria" seguindo
um conceito que floresceu na teoria literria e cultural e cujos destinos
ilustram a maneira como as idias mudam medida que so atradas para
o reino da "teoria". O problema da linguagem "performativa" enfoca
questes importantes que dizem respeito ao sentido e aos efeitos da lin-
guagem e nos leva a questes sobre identidade e a natureza do sujeito.
O conceito de elocuo performativa foi desenvolvido no decnio de
1950 pelo filsofo britnico J.L. AustinG7 Ele props uma distino entre
duas espcies de elocues: as elocues constativas, tais como "Jorge
prometeu vir", fazem uma afirmao, descrevem um estado de coisas e
so verdadeiras ou falsas. As elocues performativas no so verdadeiras
ou falsas e realmente realizam a ao a que se referem. Dizer "Prometo
pagar-lhe" no descrever um estado de coisas mas realizar o ato de
prometer; a elocuo ela prpria o ato. Austin escreve que quando,
numa cerimnia de casamento, o padre ou juiz pergunta: "Voc aceita
essa mulher como sua legitima esposa?" e eu respondo "Sim", no descre-
vo coisa alguma, eu fao algo. "No estou fazendo um relato sobre um
casamento: estou me entregando a ele." Quando digo "Sim", essa e1ocu-
o performativa no nem verdadeira nem falsa. Pode ser adequada OLl
inadequada, dependendo das circunstncias; pode ser "feliz" ou "infeliz",
fornecem uma modalidade de crtica social. Expem a vacuidade do
sucesso mundano, a corrupo do mundo, seu fracasso em satisfazer nos-
sas mais nobres aspiraes. Expem a difcil situao dos oprimidos, em
histrias que convidam os leitores, atravs da identificao, a ver certas
situaes como intolerveis.
Finalmente, a questo bsica para a teoria no domnio da narrativa
essa: a narrativa uma forma fundamental de conhecimento (dando co-
nhecimento do mundo atravs de sua busca de sentido) ou uma estru-
tura retrica que distorce tanto quanto revela? A narrativa uma fonte
de conhecimento ou de iluso? O conhecimento que ela parece apresen-
tar um conhecimento que o efeito do desejo? O terico Paul de ManGC
observa que, enquanto ningum de posse de suas faculdades mentais ten-
taria plantar uvas aproveitando a luz da palavra dia, achamos muito dif-
cil realmente evitar conceber nossas vidas pelos padres das narrativas
ficcionais. Isso implica que os efeitos esclarecedores e consoladores das
narrativas so ilusrios?
Para responder a essas perguntas precisaramos tanto de conheci-
mento do mundo que seja independente das narrativas quanto de alguma
base para considerar esse conhecimento mais autorizado do que o que as
narrativas proporcionam. Mas se existe ou no esse conhecimento autori-
zado separado da narrativa precisamente o que est em questo na per-
gunta a respeito de se a narrativa ou no uma fonte de conhecimento
ou de iluso. Portanto, parece provvel que no possamos responder a
essa pergunta, se que, de fato, ela tem uma resposta. Ao invs disso,
devemos ficar nos movendo para l e para c entre a conscincia da nar-
rativacomo uma estrutura retrica que produz a iluso de perspiccia e
um estudo da narrativa como o principal tipo de busca de sentido nossa
disposio. Afinal de contas, mesmo a exposio da narrativa como retri-
ca tem a estrutura de uma narrativa: uma histria em que nossa iluso
inicial cede crua luz da verdade e emergimos mais tristes mas mais
sbios, desiludidos mas depurados. Paramos de danar em crculos e con-
templamos o segredo. Assim diz a histria.
I
1
7
inguagem Performativa
66 Paul de 1'\'1an(19] 9-]983). Expoente dos estudos literrios norte-americanos. (N,T.)
<)4
67 10hl1 Langshaw Austin (1911-1960). Filsofo britnico mais conhecido por sua an,-llise cio PCllS;lIlll'll!(l 11\111];11111
atravs da an6.lise detalhada da linguagem cotidiana. (N.T.)
<);'5
na terminologia de Austin. Se digo "Sim", posso no conseguir casar - se,
por exemplo, j for casado ou se a pessoa que est realizando a cerim-
nia no estiver autorizada a realizar casamentos nessa comunidade. A
elocuo "vai ser um tiro n'gua", diz Austin. A elocuo ser infeliz - e o
mesmo, sem dvida, ocorrer com a noiva ou noivo, ou talvez com ambos.
As elocues performativas no descrevem mas realizam a ao que
designam. ao pronunciar essas palavras que prometo, dou ordens ou me
caso. Um teste simples para a performativa a possibilidade de acrescen-
tar "por meio desta" antes do verbo, em que por meio desta significa "ao
proferir essas palavras": "Por meio desta prometo"; "Por meio desta
declaro nossa independncia"; "Por meio desta lhe ordeno ..."; mas no
"Por meio desta ando at o centro". No posso realizar o ato de andar pro-
nunciando certas palavras.
A distino entre performativa e constativa capta uma diferena
importante entre os tipos de elocuo e tem a grande virtude de nos aler-
tar para o grau em que a linguagem realiza aes ao invs de simples-
mente relat-Ias. Mas, medida que Austin leva adiante sUa explicao
da performativa, ele encontra algumas dificuldades. Voc pode fazer uma
lista de "verbos performativos" que, na primeira pessoa do presente do
indicativo (prometo, ordeno, declaro). realizam a ao que designam. Mas
no pode definir a performativa listando os verbos que se comportam
dessa maneira, porque, nas circunstncias certas, voc pode realizar o ato
de ordenar que algum pare de gritar gritando "Pare!" ao invs de "Por
meio desta ordeno que voc pare'~ A afirmao aparentemente constati-
va "Vou pagar a voc amanh", que certamente parece que vai tornar-se
verdadeira ou falsa, dependendo do que acontecer amanh, pode, nas
condies certas, ser uma promessa de pagar a voc, ao invs de uma
descrio ou previso como "ele vai pagar a voc amanh'~ Mas, uma vez
que voc permita a existncia dessas "performativas implcitas", em que
no h verbo explicitamente performativo, voc tem de admitir que qual-
quer elocuo pode ser uma performativa implcita. A sentena "O gato
est em cima do capacho", elocuo constativa bsica, pode ser vista
como a verso eliptica de "Por meio desta afirmo que o gato est em cima
do capacho", uma elocuo performativa que realiza o ato de afirmar a
que se refere. As elocues constativas tambm realizam aes - aes de
declarar, afirmar, descrever e assim por diante. Vm a ser um tipo de per-
formativa. Isso se torna significativo num estgio posterior.
Y6
Os criticos literrios adotaram a noo da performativa como algo
que ajuda a caracterizar o discurso literrio. H muito tempo os tericos
afirmam que devemos atentar para o que a linguagem literria faz tanto
quanto para o que ela diz e o conceito da performativa fornece uma jus-
tificativa lingstica e filosfica para essa idia: h uma categoria de
elocues que, sobretudo, fazem algo. Como a performativa, a elocuo
literria no se refere a um estado anterior de coisas e no verdadeira
ou falsa. A elocuo literria tambm cria o estado de coisas ao qual se
refere, em diversos aspectos. Primeiro e mais simplemente, cria persona-
gens e sua's aes, por exemplo. O incio de Ulisses, de James Joyce,
"Stately plump Buck Mulligan came from the stairhead bearing a bowl of
lather on which a mirror and a razor lay crossed"GB,no se refere a algum
estado anterior de coisas mas cria esse personagem e essa situao.
Segundo, as obras literrias criam idias, conceitos, que colocam em
campo. La RochefoucauldG9 afirma que ningum jamais teria pensado em
se apaixonar se no tivesse lido a respeito disso nos livros e que a noo
de amor romntico (e de sua centralidade na vida dos indivduos) discu-
tivelmente uma slida criao literria. Certamente, os prprios romances,
de Dom Quixote a Madame 8ovary, culpam outros livros pelas idias
romnticas.
Em resumo, a performativa traz para o centro do palco um uso da lin-
guagem anteriormente considerado marginal - um uso ativo, criador do
mundo, da linguagem, que se assemelha linguagem literria - e nos
ajuda a conceber a literatura como ato ou acontecimento. A noo de li-
teratura como performativa contribui para uma defesa da literatura: a
literatura no uma pseudodeclarao frvola mas assume seu lugar entre
os atos de linguagem que transformam o mundo, criando as coisas que
nomeiam.
A performativa se vincula literatura de uma segunda maneira. Em
princpio pelo menos, a performativa rompe o vnculo entre sentido e
inteno do falante, j que o ato que realizo com minhas palavras no
est determinado pela minha inteno mas por convenes sociais e
lingsticas. A elocuo, insiste Austin, no deveria ser considerada como
68 Na traduo de Antonio Houaiss: "Sobranceiro, fomido, Buck f\1ulligan vinha do alto da escada. comulll \';IS\l
de barbear, 50breo qual se cruzavam um espelho e uma navalha". Jamcs Joyce, Ulisses. Ed. Civilizaao Brasikil':l.
2". cd .. Rio de Janeiro. 1967. p. 3. (N.T.)
69 La Rochefollciluld (1613-1680). Autor clssico francs, tornou-se o principal expoente ela mrilJ/(/. 11111,1I(1I11LI
literria francesa de epigrama que expressa, de modo breve, uma verdade spera ou paradoxal.
97
o sinal exterior de algum ato interior que ela representa verdadeira ou fal-
samente. Se digo "Prometo" em condies adequadas, prometi, realizei o
ato de prometer, qualquer que seja a inteno que possa ter tido em mente
no momento. Como as elocues literrias so tambm acontecimentos
em que a inteno do autor no pensada como sendo o que determina o
sentido, o modelo da performativa parece altamente pertinente.
Mas se a linguagem literria performativa e uma elocuo perfor-
mativa no verdadeira ou falsa, mas feliz ou infeliz, o que significa para
uma elocuo literria ser feliz ou infeliz? Isso mostra ser um questo
complicada. Porum lado, felicidade pode ser apenas um outro nome para
o que geralmente interessa aos crticos. Confrontados com a abertura do
soneto de Shakespeare "My mistress's eyes are nothing like the sun"70,
perguntamos no se essa elocuo verdadeira ou falsa, mas o que faz,
como se encaixa no resto do poema e se funciona de modo feliz em
relao aos outros versos. Essa poderia ser uma concepo de felicidade.
Mas o modelo da performativa tambm dirige nossa ateno para as con-
venes que possibilitam a uma elocuo ser uma promessa ou um poema
- as convenes do soneto, digamos. A felicidade de uma elocuo
literria poderia, portanto, envolver sua relao com as convenes de um
gnero. Ela cumpre e desse modo consegue ser um soneto, ao invs de ser
um tiro n'gua? Mas, mais que isso, poder-se-ia imaginar, uma com-
posio literria feliz somente quando se torna literatura plenamente,
ao ser publicada, lida e aceita como uma obra literria, assim como uma
aposta se torna uma aposta somente quando aceita. Em resumo, a
noo de literatura como performativa impe-nos a reflexo sobre o com-
plexo problema do que ela para que uma seqncia literria funcione.
O prximo momento chave nos destinos da performativa chega quan-
do Jacques Derrida adota a noo de Austin. Austin havia distinguido entre
performativas srias que realizam algo, como prometer ou casar, e
elocues "no-srias': Sua anlise, diz ele, se aplica a palavras proferidas
seriamente: "No devo estar brincando, por exemplo, ou escrevendo um
poema. Nossas elocues performativas, felizes ou no, devem ser enten-
didas como sendo emitidas em circunstncias comuns': Mas Derrida argu-
menta que o que Austin deixa de lado ao apelar para "circunstncias
comuns" so as inmeras maneiras pelas quais fragmentos de linguagem
70 "Os olhos de minha am3da no se parecem com o sol." (NT.)
93
podem ser repetidos "no-seriamente" mas tambm seriamente, como um
exemplo ou uma citao, por exemplo. Essa possibilidade de ser repetida
em circunstncias novas essencial para a natureza da linguagem; qual-
quer coisa que no pudesse ser repetida de um modo "no-srio" no seria
linguagem mas alguma marca inextricavelmente ligada a uma situao
fsica, A possibilidade de repetio bsica para a linguagem e as perfor-
mativas em particular s podem funcionar se forem reconhecidas como
verses ou citaes de frmulas regulares, tais como "Sim", "Prometo': (Se
o noivo dissesse "OK" em vez de "Sim", ele poderia no conseguir se casar.)
"Ser que uma elocuo performativa poderia ser bem-sucedida", pergun-
ta Derrida, "se sua formulao no repetisse uma forma "codificada" ou
itervel [repetvel], em outras palavras, se a frmula que profiro para abrir
uma reunio, batizar um barco ou realizar um casamento no fosse iden-
tificvel como estando de acordo com um modelo itervel, se no fosse
portanto identificvel como uma espcie de citao?" Austin deixa de lado
como anmalos, no-srios ou excepcionais os casos especficos daquilo
que Derrida chamou de uma "iterabilidade geral" que deveria ser conside-
rada uma lei da linguagem. Geral e fundamental, porque, para algo ser um
signo, deve poder ser citado e repetido em todos os tipos de circunstncias,
inclusive as "no-srias': A linguagem performativa no sentido de que
no apenas transmite informao mas realiza atos atravs de sua repetio
de prticas discursivas ou de maneiras de fazer as coisas estabelecidas. Isso
ser importante para os destinos posteriores da performativa.
Derrida tambm relaciona a performativa com o problema geral dos
atos que do origem ou inauguram, atos que criam algo novo, tanto na
esfera poltica quanto literria. Qual a relao entre um ato poltico,
como uma declarao de independncia, que cria uma nova situao, e as
elocues literrias, que tentam inventar algo novo, em atos que no so
declaraes constativas mas so performativas, como as promessas?
Tanto o ato poltico quanto o literrio dependem de uma combinao
complexa, paradoxal, da performativa e da constativa, em que, para SCI'
bem-sucedido, o ato deve convencer, referindo-se a estados de coisas cm
que o sucesso consiste em criar a condio qual se refere. As OlJl";lS
literrias afirmam falar-nos sobre o mundo, mas, se so bem-sucedirJ;]e" o
so atravs da criao dos personagens e acontecimentos que rCI;}\;lllI
Algo semelhante est em ao nos atos inaugurais da esfera pollil';l. Nd
"Declarao da Independncia" dos Estados Unidos, por exemplo, ;1 ',('11
9l)
tena-chave diz: "Ns portanto ... solenemente tornamos pblico e decla-
ramos que essas colnias Unidas so e de direito tm que ser estados
livres e independentes': A declarao de que esses so estados indepen-
dentes uma performativa que deve criar a nova realidade a que se refe-
re, mas, para sustentar essa afirmao, acrescenta-se-Ihe a afirmao
constativa de que eles tm que ser ser estados independentes.
A tenso entre a performativa e a constativa surge claramente tam-
bm na literatura, onde a dificuldade que Austin encontra em separar a
performativa da constativa pode ser vista como uma caracterstica crucial
do funcionamento da linguagem. Se cada elocuo tanto performativa
quanto constativa, incluindo pelo menos uma afirmao implcita de um
estado de coisas e um ato lingstico, a relao entre o que uma elocuo
diz e o que ela faz no necessariamente harmoniosa ou cooperativa.
Para ver o que est envolvido na esfera literria, vamos voltar ao poema
de Robert Frost, "The Secret Sits":
We dance round in a ring and suppose,
But the Secret sits in the middle and knows.
Esse poema depende da oposio entre suposio e saber. Para explo-
rar que atitude o poema adota em relao a essa oposio, que valores
atribui a seus termos opostos, poderamos perguntar se o prprio poema
est na modalidade da suposio ou do saber. O poema supe, como "ns"
que danamos em crculo, ou sabe, como o segredo? Poderamos imaginar
que, como um produto da imaginao humana, o poema seria um exem-
plo de suposio, um caso de dana em crculos, mas seu carter gnmi-
co, proverbial, e sua confiante declarao de que o segredo "sabe", o
fazem parecer realmente muito entendido. Assim, no possvel ter
certeza. Mas o que o poema nos mostra sobre o saber? Bem, o segredo,
que algo que se conhece ou no se conhece - portanto, um objeto do
saber - aqui se torna, por metonmia ou contigidade, o sujeito de saber,
o que sabe e no o que ou no sabido. Ao usar a maiscula e personi-
ficar a entidade, o Segredo, o poema realiza uma operao retrica que
promove o objeto do conhecimento posio de sujeito. Mostra-nos,
desse modo, que uma suposio retrica pode produzir o conhecedor,
pode transformar o segredo num sujeito, num personagem desse pequeno
drama. O segredo que sabe produzido por um ato de suposio, que
100
desloca o segredo do lugar de objeto (Algum sabe um segredo) paril o
lugar de sujeito (O Segredo sabe). O poema mostra, desse modo, que sua
afirmao constativa, que o segredo sabe, depende de uma suposio per-
formativa: a suposio que faz do segredo o sujeito que deve saber. A sen-
tena diz que o Segredo sabe mas mostra que isso uma suposio.
Nesse estgio da histria da performativa, o contraste entre constativa
e performativa foi redefinido: a constativa linguagem que afirma repre-
sentar as coisas como elas so, nomear as coisas que j esto aqui, e a per-
formativa so as operaes retricas, os atos de linguagem, que minam essa
afirmao impondo categorias lingsticas, criando as coisas, organizando o
mundo em lugar de simplesmente representar o que existe. Podemos iden-
tificar aqui o que se chama de uma "aporia" entre a linguagem performati-
va e constativa. Uma "aporia" o "impasse" de uma oscilao no resolv-
vel, como quando a galinha depende do ovo e o ovo depende da galinha. A
nica maneira de afirmar que a linguagem funciona performativamente
para dar forma ao mundo atravs de uma elocuo constativa, tal como
"A linguagem d forma ao mundo"; mas, inversamente, no h maneira de
afirmar a transparncia constativa da linguagem exceto por um ato de fala.
As proposies que realizam o ato de afirmar necessariamente afirmam no
fazer nada a no ser simplesmente exibir as coisas como elas so; contudo,
se voc quer mostrar o contrrio - que as afirmaes de representar as
coisas como elas realmente so impem suas categorias sobre o mundo -
no h como fazer isso exceto atravs de afirmaes a respeito do que ou
no o caso. O argumento de que o ato de afirmar ou descrever de fato
performativo deve assumir a forma de afirmaes constativas.
O momento mais recente dessa pequena histria da performativa o
surgimento de uma "teoria performativa do gnero e da sexualidade" na
teoria feminista e nos "gay and lesbian studies". A figura-chave aqui a
filsofa norte-americana Judith Butler, cujos livros Gender Trouble:
Feminism and the Subversion of Identity (1990), Bodies that Matter (1993)
e Excitable Speech: A Politics ofthe Speech Act (1997), exerceram grandc
influncia no campo dos estudos literrios e culturais, particularmente n;]
teoria feminista, e no campo emergente dos "gay and lesbian studies'~ ()
nome "Queer Theory" foi adotado recentemente pela vanguarda dos "CF1Y
studies", cujo trabalho na teoria cultural se vincula aos movimento',
polticos para liberao dos "gays': Ela adota como seu prprio rwlYlt' ('
devolve sociedade o insulto mais comum que os homossexuais ('tIl"()f1
101
"O da esquerda uma gracinha."
tram, o epteto "Queer!"71 A aposta que a ostentao desse nome pode
mudar seu sentido e fazer dele uma insgnia honrosa ao invs de um
insulto. Aqui um projeto terico est imitando a ttica dos organizaes
ativistas mais visveis envolvidas na luta contra a AIOS - o grupo ACT-UP,
por exemplo, que em suas manifestaes usa slogans como "We are here,
we are queer, get used to it!"72
Gender Trouble, de Butler, trava discusso com a noo, comum nos
textos feministas norte-americanos, de que uma poltica feminista exige
uma noo de identidade feminina, de caractersticas essenciais que as
mulheres compartilham como mulheres e que conferem a elas interesses
e metas comuns. Para Butler, ao contrrio, as categorias fundamentais da
identidade so produes culturais e sociais, mais provavelmente o resul-
tado da cooperao poltica do que sua condio de possibilidade. Elas
criam o efeito do natural (lembre-se de Aretha Franklin: "Voc faz com
que eu me sinta como uma mufher natural") e, impondo normas
(definies do que ser uma mulher), ameaam excluir aquelas que no
esto de acordo. Em Gender Trouble, Butler prope que consideremos o
gnero como performativo, no sentido de que no se o que se mas o
que se faz. Um homem no o que ele mas algo que ele faz, uma
condio que ele encena. Seu gnero criado pelos seus atos, do modo
que uma promessa criada pelo ato de prometer. Voc se torna um
homem ou uma mulher por atos repetidos, que, como as performativas de
Austin, dependem das convenes sociais, das maneiras habituais de se
fazer algo numa cultura. Assim como h maneiras regulares, socialmente
estabelecidas de prometer, fazer uma aposta, dar ordens e casar, h
maneiras socialmente estabelecidas de ser homem ou mulher.
o
00
~8
~lt))(f ~J
)
o o
0
8
~-~"
~,~,~ ~:: ).' ;;:':;: li'
&~ ~ ,,' I()
f
Isso no significa que o gnero uma escolha, um papel que voc
veste, como escolhe roupas para vestir pela manh. Isso sugeriria que h
um sujeito no marcado pelo gnero, anterior ao gnero, que escolhe, ao
passo que, de fato, ser um sujeito ser marcado pelo gnero: voc no
pode, nesse regime de gnero, ser uma pessoa sem ser homem ou mulher.
"Sujeito ao gnero mas subjetivado [feito sujeito] pelo gnero", escreve
Butler em Bodies that Matter, "o "eu" nem precede nem se segue ao
processo de atribuio de gnero, mas surge apenas no interior de e como
matriz das prprias relaes de gnero". Tampouco dever-se-ia pensar a
performatividade do gnero como um ato singular, algo conseguido por
um nico ato; ao contrrio, a "prtica reiterativa e citacional", a repe-
tio compulsria de normas de gnero que animam e limitam o sujeito
marcado pelo gnero mas que so tambm os recursos a partir dos quais
so forjados a resistncia, as subverses e os deslocamentos.
Desse ponto de vista, a elocuo " uma menina!" ou " um menino!"
pela qual um beb , tradicionalmente, saudado quando vem ao mundo,
menos uma elocuo constativa (verdadeira ou falsa, de acordo com a
situao) do que a primeira de uma longa srie de performativas que criam
o sujeito cuja chegada anunciam. A nomeao da menina inicia um
processo contnuo de formao da menina, atravs de uma "tarefa" de
repetio compulsria de normas de gnero, "a citao forosa de uma
norma': Ser um sujeito receber essa tarefa de repetio, mas - e isso
importante para Butler - uma tarefa que nunca realizamos completamente
de acordo com a expectativa, de modo que nunca habitamos completa-
mente as normas ou idias de gnero de que somos obrigados a nos apro-
ximar. Nessa lacuna, nas diferentes maneiras de realizar a "tarefa" de
gnero, residem possibilidades de resistncia e mudana.
A nfase recai aqui na maneira como a fora performativa da linguagem
vem da repetio de normas anteriores, de atos anteriores. Assim, a fora do
insulto "Bicha!" vem no da inteno ou autoridade do falante, que muito
provavelmente algum idiota desconhecido da vtima, mas do fato de que o
grito "Bicha!" repete insultos gritados do passado, interpelaes ou atos de
exrdio que produzem o sujeito homossexual atravs do oprbio reiterado ou
da abjeo (a abjeo envolve tratar algo como tendo passado dos limites:
"tudo menos isso!"). Butler escreve:
71 Gria qu~ pode: ser traduzida como "bicha" ou '\jado", Refere~se_ em geral. ao homossexual masculino. (N.T.)
71 "Estamos aqui. somos bichas, acostume~se!" (N.T.)
102
"Bicha" deriva sua fora precisamente atravs da invocao repetido ...
1O:~
pela qual um vnculo social entre comunidades homofbicas se forma ao
longo do tempo. A interpelao ecoa interpelaes passadas e liga os
falantes, como se falassem em unssono atravs do tempo. Nesse sentido,
sempre um coro imaginrio que vitupera "bicha!"
o que confere ao insuto sua fora performativa no a prpria
repetio mas o fato de que ele reconhecido como estando de acordo
com um modelo, com uma norma, e se liga a uma histria de excluso. A
elocuo implica que o falante o porta-voz do que "normal" e traba-
lha para constituir o destinatrio como tendo passado dos limites. a
repetio, a citao de uma frmula que se vincula a normas que susten-
tam uma histria de opresso, que d fora especial e malignidade a
insultos de outra maneira banais como "preto" ou "judeu". Eles acumulam
a fora da autoridade atravs da repetio ou citao de um conjunto de
prticas autorizadas, anteriores, falando como se fosse com a voz de
todos os vituprios do passado.
Mas o vnculo da performativa com o passado implica a possibilidade
de desviar ou redirecionar o peso do passado, tentando captar e redirecionar
os termos que carregam uma significao opressiva, como na adoo de
"Bicha" pelos prprios homossexuais. No que voc se torna autnomo ao
escolher seu nome: os nomes sempre carregam peso histrico e esto
sujeitos aos usos que os outros faro deles no futuro. Voc no pode con-
trolar os termos que escolhe para se nomear. Mas o carter histrico do
processo performativo cria a possibilidade de uma luta poltica.
Agora, bvio que a distncia entre o incio e o final (provisrio)
dessa histria muito grande. Para Austin, o conceito de performativa
ajuda a pensar um aspecto especfico da linguagem negligenciado por
filsofos anteriores; para Butler, um modelo para se pensar os processos
sociais cruciais em que uma quantidade de questes est em jogo: (1) a
natureza da identidade e como ela produzida; (2) o funcionamento das
normas sociais; (3) o problema fundamental do que hoje chamamos de
"agncia": em que medida e sob que condies posso ser um sujeito
responsvel que escolhe meus atos; e (4) a relao entre o indivduo e
mudana social.
H, desse modo, uma grande diferena entre o que est em jogo para
Austin e para Butler. E eles parecem ter principalmente em vista tipos
diferentes de atos. Austin est interessado em como a repetio de uma
104
~
~.
li~t~
. 1
i<:'
iil-~
:f'':f I,~\
':;'/ I:Y~T t'"
,
'~.;~. 11
frmula numa nica ocasio faz algo acontecer (voc fez uma promessa).
Para Butler, esse um caso especial de repetio macia e obrigatria que
produz realidades histricas e sociais (voc se torna uma mulher).
Essa diferena, de fato, nos leva de volta ao problema da natureza do
acontecimento literrio, em que h tambm duas maneiras de pens-Io
como sendo performativo. Podemos dizer que a obra literria realiza um
ato singular, especfico. Ela cria aquela realidade que a obra, e suas sen-
tenas realizam algo em particular naquela obra. Para cada obra, pode-se
tentar especificar o que ela e suas partes realizam, da mesma maneira que
se pode tentar explicitar o que prometido num ato especfico de
promessa. Isso, poder-se-ia dizer, a verso austiniana do acontecimen-
to literrio.
Mas, por outro lado, tambm poderamos dizer que uma obra bem-
sucedida, se toma um acontecimento, atravs de uma repetio macia que
adota normas e, possivelmente, muda coisas. Se um romance acontece, isso
ocorre porque, em sua singularidade, ele inspira uma paixo que d vida a
essas formas, em atos de leitura e rememorao, repetindo sua inflexo das
convenes do romance e, talvez, efetuando uma alterao nas normas ou
nas formas atravs das quais os leitores vo confrontar o mundo. Um poema
pode muito bem desaparecer sem deixar vestgio, mas tambm pode ser
rastreado na memria e dar origem a atos de repetio. Sua performativi-
dade no um ato singular realizado de uma vez por todas, mas uma
repetio que d vida s formas que ele repete.
O conceito de performativa, na histria que delineei, rene uma srie
de questes que so cruciais para a "teoria". Deixe-me list-Ias:
Primeiro, como pensar o papel conformador da linguagem: tentamos
limit-Ia a certos atos especficos, quando pensamos poder dizer com
confiana o que ela faz, ou tentamos medir os efeitos mais amplos da lin-
guagem, medida que ela organiza nossos encontros com o mundo?
Segundo, como deveramos conceber a relao entre as convenes
sociais e os atos individuais? tentador, mas demasiado simples, imagi-
nar que as convenes sociais so como a paisagem ou o pano de fundo
contra o qual decidimos como agir. As teorias da performativa oferecem
explicaes melhores do emaranhamento entre norma e ao, quer aprc
sentando as convenes como a condio de possibilidade dos aconll'l"i
mentos, como em Austin, ou ento, como em Butler, vendo a a,io ('IIII\()
10i)
r
repetio obrigatria, que pode no entanto desviar-se das normas. A lite-
ratura, que deve "renovar" num espao de conveno, exige uma expli-
cao performativa de norma e acontecimento.
Terceiro, como deveramos conceber a relao entre o que a lin-
guagem faz e o que diz? Esse o problema bsico da performativa: pode
haver uma fuso harmoniosa entre fazer e dizer ou h aqui uma tenso
inevitvel que governa e complica toda a atividade textual?
Finalmente, como, nessa era ps-moderna, deveramos pensar o acon-
tecimento? Tornou-se lugar comum nos Estados Unidos, por exemplo,
nessa era dos meios de comunicao de massa, dizer que o que acontece
na televiso "acontece e ponto final", um acontecimento real. Quer a
imagem corresponda a uma realidade ou no, o acontecimento meditico
um acontecimento genuno a ser considerado. O modelo da performati-
va oferece uma explicao mais sofisticada de questes que so muitas
vezes cruamente afirmadas como um embaamento das fronteiras entre
fato e fico. E o problema do acontecimento literrio, da literatura como
ato, pode oferecer um modelo para pensar os acontecimentos culturais,
de modo geral.
106
8 dentidade, Identificao
e o Sujeito
Muitos dos debates tericos recentes dizem respeito identidade e
funo do sujeito ou eu. O que esse "eu" que sou - pessoa, agente ou
ator, eu - e que faz com que ele seja o que ? Duas perguntas bsicas sub-
jazem ao pensamento moderno sobre esse tpico: primeiro, o eu algo
dado ou algo construido e, segundo, ele deveria ser concebido em ter-
mos individuais ou sociais? Essas duas oposies geram quatro vertentes
bsicas do pensamento moderno. A primeira, optando pelo dado e pelo
individual, trata o eu como algo interno e singular, algo que anterior aos
atos que realiza, um mago interior que variadamente expresso (ou no
expresso) em palavras e atos. A segunda, combinando o dado e o social,
enfatiza que o eu determinado por suas origens e atributos sociais: voc
homem ou mulher, branco ou negro, britnico ou norte-americano, e
assim por diante, e esses so fatos primrios, dados do sujeito ou eu. A
terceira, combinando o individual e o construdo, enfatiza a natureza
cambiante de um eu que se torna o que atravs de seus atos especfi-
cos. Finalmente, a combinao do social e do construido enfatiza que me
torno o que sou atravs das variadas posies de sujeito que ocupo, como
patro e no empregado, rico e no pobre.
A tradio moderna dominante no estudo da literatura trata a indi-
vidualidade do indivduo como algo dado, um mago que expresso CI1\
palavras e atos e que pode, portanto, ser usado para explicar a <1\,"~o: li; o
107
que fiz porque sou quem sou e para explicar o que fiz ou disse voc deve-
ria olhar para o "eu" (quer consciente ou inconsciente) que minhas
palavras e atos expressam. A "teoria" tem contestado no apenas esse
modelo de expresso, em que atos ou palavras funcionam expressando um
sujeito anterior, mas a prioridade do prprio sujeito. Michel Foucault
escreve, "as pesquisas da psicanlise, da lingstica, da antropologia
"descentralizaram" o sujeito em relao s leis de seu desejo, s formas
de sua linguagem, s regras de suas aes, ou ao jogo de seu discurso
mtico e imaginativo". Se as possibilidades de pensamento e ao so
determinadas por uma srie de sistemas que o sujeito no controla e nem
ao menos compreende, ento o sujeito est "descentralizado", no sentido
de que no uma fonte ou centro ao qual nos referimos para explicar os
acontecimentos. Ele algo formado por essas foras. Desse modo, a psi-
canlise trata o sujeito no como uma essncia singular mas como o pro-
duto de mecanismos psquicos, sexuais e lingsticos que se entrecruzam.
A teoria marxista v o sujeito como determinado pela posio de classe:
ou ele lucra com o trabalho de outrem ou trabalha para o lucro de ou-
trem. A teoria feminista enfatiza o impacto dos papis de gnero social-
mente construdos no processo de fazer o sujeito o que ele ou ela . A
"Queer Theory" argumenta que o sujeito heterossexual construdo
atravs da represso da possibilidade do homossexualismo.
A questo do sujeito "o que sou?" Sou feito o que sou pelas circuns-
tncias? Qual a relao entre a individualidade do indivduo e minha
identidade como membro de um grupo? E em que medida o "eu" que sou,
o "sujeito", um agente que faz escolhas ao invs de ter escolhas
impostas a ele ou ela? A palavra sujeito j encapsula esse problema teri-
co-chave: o sujeito um ator ou agente, uma subjetividade livre que faz
coisas, como no "sujeito de uma sentena". Mas um sujeito tambm
sujeitado, determinado, "o leal sdito de sua Majestade, a Rainha", ou o
"sujeito de um experimento': A teoria se inclina a argumentar que ser um
sujeito estar sujeitado a vrios regimes (psicossocial, sexual, lingstico).
A literatura sempre se preocupou com questes de identidade e as
obras literrias esboam respostas, implcita ou explicitamente, para essas
questes. A literatura narrativa especialmente seguiu os destinos dos per-
sonagens medida que eles se definem e so definidos por diversas com-
binaes de seu passado, pelas escolhas que fazem e pelas foras sociais
que agem sobre eles. Os personagens fazem seus destino ou o sofrem? As
103
I
i
'I
~I
:1
histrias do respostas diferentes e complexas. Na Odissia, Ulisses
rotulado como "multiforme" (po/ytropos) mas se define em suas lutas para
se salvar e a seus companheiros de bordo e para voltar para taca nova-
mente. Em Madame 8ovary, de Flaubert, Emma luta para se definir (ou "se
encontrar") em relao a suas leituras romnticas e a seus arredores
banais.
As obras literrias oferecem uma gama de modelos implcitos de
como se forma a identidade. H narrativas em que a identidade essen-
cialmente determinada pelo nascimento: o filho de um rei criado por pas-
tores ainda fundamentalmente um rei e por direito se torna rei quando
sua identidade descoberta. Em outras narrativas, os personagens mudam
de acordo com as mudanas em seus destinos, ou ento a identidade se
baseia em qualidades pessoais que so reveladas durante as atribulaes
de Uma vida.
A exploso da recente teorizao sobre raa, gnero e sexualidade no
campo dos estudos literrios deve muito ao fato de que a literatura for-
nece materiais ricos para complicar as explicaes polticas e sociolgicas
acerca do papel que esses fatores desempenham na construo da iden-
tidade. Considere a questo de se a identidade do sujeito algo dado ou
algo construdo. No apenas ambas as opes esto amplamente repre-
sentadas na literatura, mas as complicaes ou enredamentos so fre-
qentemente expostos para ns, como no enredo comum em que os per-
sonagens, como costumamos dizer, "descobrem" quem so, no atravs da
revelao de algo a respeito de seu passado (digamos, sobre seu nasci-
mento). mas agindo de tal maneira que eles se tornam o que acaba se re-
velando, em algum sentido, ter sido sua "natureza".
Essa estrutura, em que voc tem de se tornar o que supostamente j
era (como Aretha Franklin passa a se sentir como uma mulher natural),
surgiu como um paradoxo ou aporia para a teoria recente, mas tem esta-
do em ao o tempo todo nas narrativas. Os romances ocidentais
reforam a noo de um eu essencial, sugerindo que o eu que emerge de
encontros dolorosos com o mundo existiu, em algum sentido, todo o
tempo, como base das aes que, da perspectiva dos leitores, cria esse eu.
A identidade fundamental dos personagens emerge como o resultado de
aes, de lutas com o mundo, mas a essa identidade postulada como
sendo a base, at mesmo a causa dessas aes.
Grande parte da teoria recente pode ser vista como uma tenl<iliv;1 d('
109
pr em ordem os paradoxos que muitas vezes informam o tratamento da
identidade na literatura. As obras literrias caracteristicamente represen-
tam indivduos, de modo que as lutas a respeito da identidade so lutas
no interior do indivduo e entre o indivduo e o grupo: os personagens
lutam contra ou agem de acordo com as normas e expectativas sociais.
Entretanto, nos textos tericos, os argumentos sobre a identidade social
tendem a enfocar as identidades de grupo: o que significa ser mulher? ser
negro? Desse modo, h tenses entre as sondagens literrias e as afir-
maes crticas ou tericas. O poder das representaes literrias
depende, sugeri no Captulo 2, de sua combinao especial de singulari-
dade e exemplaridade: os leitores encontram retratos concretos do
Prncipe Hamlet, ou de Jane Eyre, ou de Huckleberry Finn e, com eles, a
suposio de que os problemas desses personagens so exemplares. Mas
exemplares de qu? Os romances no dizem. So os crticos ou tericos
que tm de pegar a questo da exemplaridade e nos dizer que grupo ou
classe de pessoas o personagem representa: a condio de Hamlet "uni-
versal"? A situao de Jane Eyre a das mulheres em geral?
Os tratamentos tericos da identidade podem parecer redutores em
comparao com as sondagens sutis dos romances, que so capazes de
lidar com o problema das afirmaes gerais apresentando casos singu-
lares, ao mesmo tempo em que se apiam numa fora generalizadora que
deixada implcita - talvez sejamos todos dipo, ou Hamlet, ou Madame
Bovary ou Janie Starks. Quando os romances se preocupam com identi-
dades de grupo - o que significa ser mulher, ou filho da burguesia - fre-
qentemente exploram como as exigncias da identidade de grupo
restringem as possibilidades individuais. Os tericos, portanto, argumen-
tam que os romances, ao fazer da individualidade do indivduo seu foco
central, constroem uma ideologia da identidade individual cujo descuido
das questes sociais mais amplas os crticos deveriam questionar. O pro-
blema de Emma Bovary, voc pode argumentar, no sua insensatez ou
sua fascinao por aventuras amorosas mas a situao geral da mulher
em sua sociedade.
A literatura no apenas fez da identidade um tema; ela desempenhou
um papel significativo na construo da identidade dos leitores. O valor
da literatura h muito tempo foi vinculado s experincias vicrias dos
leitores, possibilitando-Ihes saber como estar em situaes especficas e
desse modo conseguir a disposio para agir e sentir de certas maneiras.
11()
I
l
~I
~;
~)
fi
As obras literrias encorajam a identificao com os personagens, mos-
trando as coisas do seu ponto de vista.
Os poemas e os romances se dirigem a ns de maneiras que exigem
identificao, e a identificao fu nciona para criar identidade: nos tor-
namos quem somos nos identificando com as figuras sobre as quais lemos.
H muito tem po se euIpa a Iiteratu ra por encorajar os jovens a se ver como
personagens de romances e a buscar realizao de modos anlogos: fugir
de casa para experimentar a vida da metrpole, esposando os valores de
heris e heronas ao se revoltar contra os mais velhos e sentindo repugnn-
cia pelo mundo antes de t-Io experimentado, ou transformando suas
vidas numa busca do amor e tentando reproduzir os cenrios dos romances
e poemas de amor. Diz-se que a literatura corrompe atravs de mecanis-
mos de identificao. Os paladinos da educao literria esperam, ao con-
trrio, que a literatura nos transforme em pessoas melhores atravs da
experincia vicria e dos mecanismos de identificao.
O discurso representa identidades que j existem ou as produz? Esse
um problema terico importante. Foucault, como vimos no Captulo 1,
trata "o homossexual" como uma identidade inventada por prticas dis-
cursivas no sculo XIX. A crtica norte-americana Nancy Armstrong argu-
menta que os romances e livros de conduta do sculo XVIII - livros sobre
como se comportar - produziram "o indivduo moderno", que era em
primeiro lugar uma mulher. O indivduo moderno, nesse sentido, uma
pessoa cuja identidade e valor so pensados como vindo de sentimentos
e qualidades pessoais e no de seu lugar na hierarquia social. Essa uma
identidade obtida atravs do amor e centrada na esfera domstica e no
na sociedade. Essa noo transformou-se em moeda corrente - o ver-
dadeiro eu aquele que voc encontra atravs do amor e atravs das
relaes com a famlia e os amigos - mas comea nos sculos XVIII e XIX
como uma idia sobre a identidade das mulheres e s mais tarde esten-
dida aos homens. Armstrong afirma que esse conceito desenvolvido e
estendido pelos romances e pelos outros discursos que defendem senti-
mentos e virtudes privadas. Hoje, esse conceito de identidade sustentJ-
do pelos filmes, pela televiso e por uma ampla gama de discursos, cujo~
cenrios nos dizem o que ser uma pessoa, um homem ou uma mulher",
A teoria recente, na realidade, tornou substancial o que muitas Vl'/(",
estava implcito nas discusses da literatura ao tratar a identidade ('01110
sendo formada por um processo de identificao. Para Freud, a i(!t'llliii
111
cao um processo psicolgico no qual o sujeito assimila um aspecto do
outro e transformado, inteira ou parcialmente, de acordo com o mode-
lo que o outro fornece. A personalidade ou o eu constitudo por uma
srie de identificaes. Desse modo, a base da identidade sexual uma
identificao com o pai ou a me: desejamos como o pai ou a me dese-
ja, como se imitssemos o desejo do pai ou da me e nos tornssemos
rivais pelo objeto amado. No complexo de dipo, o menino se identifica
com o pai e deseja a me.
As teorias psicanalticas de formao da identidade que surgiram pos-
teriormente debatem a melhor maneira de refletir sobre o mecanismo da
identificao. A explicao de Jacques Lacan73 para o que ele chama de
"estdio do espelho" situa os incios da identidade no momento em que a
criana se identifica com sua imagem no espelho, percebendo-se inteira,
como ela quer ser. O eu constitudo pelo reflexo que devolvido crian-
a: por um espelho, pela me e por outrem nas relaes sociais em geral.
A identidade o produto de uma srie de identificaes parciais, nunca
completadas. Em ltima instncia, a psicanlise reafirma a lio que
poderamos tirar dos romances mais srios e clebres: que a identidade
um malogro; que no nos tornamos alegremente homens ou mulheres,
que a internalizao das normas sociais (que os socilogos teorizam como
algo que acontece suave e inexoravelmente) sempre encontra resistncia
e, em ltima anlise, no funciona: no nos tornamos quem suposta-
mente somos.
Recentemente, os tericos deram ainda mais uma torcida no papel
fundamental da identificao. Mikkel Borch-Jakobsen argumenta que
o desejo (o sujeito desejante] no vem em primeiro lugar, para sersegui-
do por uma identificao que permitiria que o desejo fosse realizado. O que
vem em primeiro lugar uma tendncia identificao, uma tendncia pri-
mordial que, dai, d origem a um desejo ...; a identificao cria o sujeito dese-
joso, no o inverso.
No modelo anterior, o desejo o limite; aqui a identificao precede
o desejo e a identificao com outrem envolve imitao ou rivalidade que
73 Lacan (190] -1981). Psicanalista francs. Os seminrios c ensaios de Lacan promoveram uma reinterpretao de
Sigmund Frcud, especialmente no que diz respeito ao tratamento dado por Freud ao inconsciente. O pensamento de
Lacan desempenhou papel importante nas formulaes do ps-estruturalismo e da dcscol1struao. (N.T.)
11 :2
I
I
1
a fonte do desejo. Isso combina com os cenrios nos romances em que,
como argumentam Ren Girard e Eve Sedgwick, o desejo nasce da identi-
ficao e da rivalidade: o desejo masculino heterossexual flui da identifi-
cao do heri com um rival e da imitao de seu desejo.
A identificao tambm desempenha um papel na produo de iden-
tidades de grupo. Para os membros de grupos historicamente oprimidos ou
marginalizados, as histrias estimulam a identificao com um grupo
potencial e trabalham no sentido de fazer do grupo um grupo, mostrando-
Ihes quem ou o que poderiam ser. O debate terico nessa rea enfoca mais
intensamente a convenincia e a utilidade poltica de diferentes con-
cepes de identidade: deve haver algo essencial que os membros de um
grupo compartilham, se for para eles funcionarem como um grupo? Ou as
afirmaes sobre o que significa ser mulher, ou ser negro, ou ser gay so
opressivas, restritivas e objetveis? Muitas vezes o debate foi lanado
como uma briga sobre "essencialismo": entre uma noo de identidade
como algo dado, uma origem, e uma noo de identidade como algo sem-
pre em processo, que nasce atravs de alianas e oposies contingentes
(um povo oprimido ganha identidade a partir da oposio ao opressor).
A principal questo pode ser: qual a relao entre as crticas das
concepes essencialistas de identidade (de uma pessoa ou grupo) e as
exigncias psquicas e polticas da identidade? Como as premncias da
poltica emancipatria, que busca identidades slidas para mulheres, ou
negros, ou para os irlandeses, por exemplo, absorvem ou entram em
choque com as noes psicanalticas do inconsciente e de um sujeito divi-
dido? Isso se torna uma importante questo terica e tambm prtica
porque os problemas encontrados parecem semelhantes, quer os grupos
em questo sejam definidos por nacionalidade, raa, gnero, preferncia
sexual, lngua, classe ou religio. Para grupos historicamente marginaliza-
dos, h dois processos em curso: por um lado, as investigaes crticas
demonstram a ilegitimidade de tomar certos traos, tais como orientao
sexual, gnero ou caractersticas morfolgicas visveis, como caractersti-
cas essencialmente definidoras da identidade de grupo, e refutam a
imputao de identidade essencial para todos os membros de um grupo
caracterizado por gnero, classe, raa, religio, sexualidade ou nacionali-
dade. Por outro lado, os grupos podem transformar identidades impostas
a eles em recursos para aquele grupo. Foucault observa, em A Histria da
Sexualidade, que o surgimento, no sculo XIX, de discursos mdicos e
11:~
psiquitricos que definiam os homossexuais como uma categoria des-
viante facilitou o controle social, mas tambm tornou possvel "a for-
mao de um discurso "inverso": a homossexualidade comeou a falar em
seu prprio nome, a exigir que sua legitimidade ou "naturalidade" fosse
reconhecida, muitas vezes no mesmo vocabulrio, usando as mesmas
categorias pelas quais era medicamente desqualificada",
O que torna o problema da identidade crucial e inevitvel so as ten-
ses e conflitos que ela encapsula (nisso se assemelha a "sentido").
Trabalhos na rea da teoria que vm de direes diferentes - marxismo,
psicanlise, estudos culturais, feminismo, "gay and lesbian studies", e o
estudo da identidade em sociedades coloniais e ps-coloniais - revelam
dificuldades envolvendo a identidade que parecem estruturalmente
semelhantes. Quer, com Louis Althusser, digamos que somos "cultural-
mente interpelados" ou saudados como um sujeito, transformados em
sujeito por se dirigirem a ns como ocupantes de uma certa posio ou
papel; ou quer enfatizemos, com a psicanlise, o papel de um "estdio do
espelho" no qual o sujeito adquire identidade pelo reconhecimento equi-
vocado de si mesmo numa imagem; quer, com Stuart Hall, definamos
identidades como "os nomes que damos s maneiras diferentes pelas
quais somos posicionados pelas, e nos posicionamos nas, narrativas do
passado"; ou quer enfatizemos, como nos estudos de subjetividade colo-
nial e ps-colonial, a construo de um sujeito dividido atravs do embate
de discursos e exigncias contraditrios; quer, com Judith Butler, vejamos
a identidade heterossexual como estando baseada na represso da possi-
bilidade de desejo homoertico, encontramos algo como um mecanismo
comum. O processo de formao da identidade no apenas coloca em
primeiro plano algumas diferenas e negligencia outras; toma uma dife-
rena ou diviso interna e a projeta como uma diferena entre os indiv-
duos ou grupos. "Ser homem", como dizemos, negar qualquer "efemi-
nao" ou fraqueza e projetar isso como uma diferena entre homens e
mulheres. Uma diferena no interior de negada e projetada como uma
diferena entre. Muitos trabalhos numa gama de campos parecem estar
convergindo em sua investigao das maneiras pelas quais os sujeitos so
produzidos por postulaes no autorizadas, ainda que inevitveis, de
unidade e identidade, que podem estrategicamente conferir poderes mas
tambm criam lacunas entre a identidade ou papel atribudo aos indiv-
duos e os acontecimentos e posicionamentos variados de suas vidas.
114
Uma fonte de confuso um pressuposto que muitas vezes estrutura
() debate nessa rea, o de que as divises internas no sujeito de alguma
maneira excluem a possibilidade de "agncia", de ao responsvel. Uma
resposta simples poderia ser que aqueles que exigem mais nfase na
agncia querem que as teorias digam que as aes deliberadas mudaro
o mundo e so frustrados pelo fato de que isso pode no ser verdade. No
vivemos num mundo em que mais provvel que os atos tenham conse-
qncias no intencionais ao invs de intencionais? Mas h duas
respostas mais complexas. Primeiro, como explica Judith Butler, "a recon-
ceituao da identidade como um efeito, isto , como produzida ou gera-
da abre possibilidades de "agncia" que so insidiosamente excludas
pelas posies que consideram as categorias da identidade como funda-
cionais e fixas'~ Falando de gnero como uma performance compulsria,
Butler situa a agncia nas variaes da ao, nas possibilidades de varia-
o na repetio que carregam sentido e criam identidade. Segundo, as
concepes tradicionais do sujeito na realidade trabalham no sentido de
limitar a responsabilidade e a agncia. Se o sujeito significa "o sujeito
consciente", ento voc pode alegar inocncia, negar responsabilidade, se
voc no escolheu conscientemente ou pretendeu as conseqncias de
um ato que cometeu. Se, ao contrrio, sua concepo de sujeito inclui o
inconsciente e as posies de sujeito que voc ocupa, a responsabilidade
pode ser ampliada. A nfase nas estruturas do inconsciente ou nas
posies de sujeito que voc no escolhe chama voc responsabilidade
pelos acontecimentos e estruturas na sua vida - de racismo ou sexismo,
por exemplo - que voc no pretendeu explicitamente. A noo ampliada
de sujeito combate a restrio de agncia e responsabilidade derivada das
concepes tradicionais de sujeito.
O "eu" escolhe livremente ou determinado em suas escolhas? O fil-
sofo Anthony Appiah observa que esse debate sobre agncia e posio do
sujeito envolve dois nveis diferentes de teoria que no esto realmente
em competio, exceto pelo fato de que no podemos nos ocupar de
ambos ao mesmo tempo. A discusso sobre agncia e escolha nasce dI'
nossa preocupao em viver vidas inteligveis entre outras pesso,ls, d
quem atribumos crenas e intenes. A discusso sobre posi(i('s dt,
sujeito que determinam a ao vem de nosso interesse em compn'('lllit't
os processos sociais e histricos, nos quais os indivduos figlH;nll l'Illtll)
socialmente determinados. Alguns dos conflitos mais ferozes tI;1 i('(lIid
11;)
contempornea surgem quando as afirmaes sobre os indivduos en-
quanto agentes e as afirmaes sobre o poder das estruturas sociais e dis-
cursivas so vistas como explicaes causais que competem entre si. Nos
estudos de identidade nas sociedades coloniais e ps-coloniais, por exem-
plo, h um debate acalorado sobre a agncia do nativo ou "subalterno" (o
termo para um subordinado ou inferior). Alguns pensadores, interessados
no ponto de vista e agncia do subalterno, enfatizam os atos de resistn-
cia a ou concordncia com o colonialismo, e so ento acusados de igno-
rar o efeito mais insidioso do colonialismo: a maneira como ele definiu a
situao e as possibilidades de ao, fazendo dos habitantes "nativos", por
exemplo. Outros tericos, descrevendo o poder difuso do "discurso colo-
nial", o discurso dos poderes coloniais que cria o mundo no qual os
sujeitos colonizados vivem e agem, so acusados de negar a agncia ao
sujeito nativo.
De acordo com o argumento de Appiah, esses tipos diferentes de expli-
caes no esto em conflito: os nativos so ainda agentes e a linguagem
da agncia ainda apropriada, no importa quanto as possibilidades de
ao so definidas pelo discurso colonialista. As duas explicaes per-
tencem a registros diferentes, do mesmo modo que uma explicao das
decises que levaram John a comprar um Mazda novo, por um lado, e uma
descrio do funcionamento do capitalismo global e do marketing de car-
ros japoneses na Amrica, por outro lado. H muito a se ganhar, afirma
Appiah, com a separao dos conceitos de posio de sujeito e de agncia,
reconhecendo que eles pertencem a tipos diferentes de narrativas. A ener-
gia dessas controvrsias tericas poderia ento ser redirecionada para
questes sobre como as identidades so construdas e que papel as prti-
cas discursivas, tais como a literatura, desempenham nessas construes.
Mas parece remota a possibilidade de que as explicaes sobre os su-
jeitos que escolhem e as explicaes das foras que determinam os sujeitos
poderiam coexistir pacificamente, como narrativas diferentes. O que im-
pulsiona a teoria, afinal de contas, o desejo de ver at onde pode ir uma
idia ou argumento e de questionar as explicaes alternativas e suas
pressuposies. Levar adiante a idia da agncia dos sujeitos lev-Ia at
onde for possvel, buscar e contestar posies que a limitam ou se con-
trapem a ela.
Pode haver uma lio geral aqui. A teoria, poderamos concluir, no d
origem a solues harmoniosas. No nos ensina, por exemplo, de uma vez
116
por todas, o que o sentido: quanto os fatores de inteno, texto, leitlJl
e contexto contribuem, cada um, para uma soma que o sentido. A teo-
ria no nos diz se a poesia uma vocao transcendente ou um truque
retrico ou quanto ela um pouco de cada coisa. Repetidas vezes, me vi
terminando um captulo invocando uma tenso entre os fatores ou pers-
pectivas ou linhas de argumento e concluindo que preciso ir ao encalo
de cada um deles e movimentar-se entre alternativas que no podem ser
evitadas mas que no do origem a qualquer sntese. A teoria, portanto,
oferece no um conjunto de solues mas a perspectiva de mais reflexo.
Exige o compromisso com o trabalho de leitura, de contestao de pres-
supostos, de questionamento das suposies a partir das quais voc
avana. Comecei dizendo que a teoria era infinita - um corpus sem limi-
te de textos desafiadores e fascinantes - mas no apenas mais textos:
tambm um projeto em curso de reflexo que no termina quando termi-
na uma brevssima introduo.
117
pndice
Eseolas c Movitncntos lcrieos
Escolhi introduzir a teoria apresentando questes e debates em vez de
"escolas", mas os leitores tm o direito de esperar uma explicao de ter-
mos tais como estruturalismo e desconstruo que aparecem nas dis-'
cusses sobre crtica. Forneo isso aqui, numa breve descrio dos movi-
mentos tericos modernos.
A teoria literria no um conjunto descarnado de idias mas uma
fora nas instituies. A teoria existe em comunidades de leitores e
escritores, como uma prtica discursiva, inextricavelmente enredada nas
instituies educacionais e culturais. Trs modalidades tericas cujo
impacto, desde o decnio de 1960, foi enorme so a reflexo de largo
espectro sobre a linguagem, representao e as categorias de pensamen-
to crtico empreendida pela desconstruo e pela psicanlise (s vezes em
concerto, s vezes em oposio); as anlises do papel do gnero e da se-
xualidade em todos os aspectos da literatura e da crtica feitas pelo femi-
nismo e depois pelos estudos de gnero e pela "Queer Theory"; e o desen-
volvimento de crticas culturais historicamente orientadas (novo histori-
cismo, teoria ps-colonial) que estudam uma gama ampla de prticas dis-
cursivas, envolvendo muitos objetos (o corpo, a famlia, raa) no pensa-
dos anteriormente como tendo uma histria.
H diversos movimentos tericos importantes anteriores dcada de 60.
Formalismo Russo
Os formalistas russos dos primeiros anos do sculo XX salientaram
que os crticos deveriam se preocupar com a literariedade da literatura: as
estratgias verbais que a tornam literria, a colocao em primeiro plano
da prpria linguagem, e o "estranhamento" da experincia que elas con-
seguem. Redirecionando a ateno dos autores para os "mecanismos" ver-
bais, eles afirmavam que "o mecanismo o nico heri da literatura". Ao
11 X
invs de perguntar "o que diz o autor aqui?" deveramos perguntar algo
como "o que acontece com o soneto aqui?" ou "que aventuras acontecem
ao romance nesse livro de Dickens?" Roman Jakobson, Boris Eichenbaum
e Victor Shklovsky so trs figuras-chave nesse grupo que reorientou os
estudos literrios para as questes de forma e tcnica.
New Criticism
O que chamado de "New Criticism" surgiu nos Estados Unidos nos
decnios de 1930 e 1940 (com o trabalho relacionado de IA Richards e
William Empson, na Inglaterra). Concentrava sua ateno na unidade ou
integrao das obras literrias. Fazendo oposio erudio histrica
praticada nas universidades, o New Criticism tratava os poemas como
objetos estticos e no como documentos histricos e examinava as
interaes de seus traos verbais e as complicaes decorrentes do senti-
do ao invs das intenes e circunstncias histricas de seus autores. Para
os new critics (Cleanth Brooks, John Crowe Ransom, W.K. Wimsattl. a ta-
refa da crtica era elucidar as obras de arte individuais. Enfocando a
ambigidade, o paradoxo, a ironia e os efeitos da conotao e das ima-
gens poticas, o New Criticism procurava mostrar a contribuio da for-
ma potica para uma estrutura unificada.
O New Criticism deixou como legados duradouros as tcnicas de lei-
tura cerrada e o pressuposto de que o teste de qualquer atividade crtica
se ela nos ajuda a produzir interpretaes mais ricas e mais penetrantes
de obras individuais. Mas comeando nos anos 60 deste sculo, uma
quantidade de perspectivas e discursos tericos - fenomenologia, lings-
tica, psicanlise, marxismo, estruturalismo, feminismo, descontruo -
ofereceram armaes conceituais mais ricas do que o New Criticism para
refletir sobre a literatura e outros produtos culturais.
Fenomenologia
A fenomenologia surge do trabalho do filsofo Edmund Husserl, do
incio do sculo. Ela busca evitar o problema da separao entre sujcito ('
objeto, conscincia e mundo, enfocando a realidade fenomenal dos obje
tos tal como eles aparecem para a conscincia. Podemos suspender ;1"
perguntas sobre a realidade ltima ou a possibilidade de conl1('("('i ()
mundo e descrever o mundo tal como ele dado conscinci<l, A ft'rlllrtl('
nologia subscreveu a crtica devotada a descrever o "mundo" d;1 ('()[I',
119
/'
cincia de um autor, tal como manifesto na gama inteira de suas obras
(George Poulet, J. Hillis Miller). Mas mais importante foi a "reader-
response criticism" (Stanley Fish, Wolfgang Iser). Para o leitor, a obra o
que dado conscincia; pode-se argumentar que a obra no algo
objetivo, que existe independentemente de qualquer experincia dela,
mas a experincia do leitor. A crtica pode dessa maneira assumir a
forma de uma descrio do movimento progressivo do leitor atravs de
um texto, analisando como os leitores produzem sentido fazendo ligaes,
preenchendo coisas deixadas sem dizer, antecipando e conjeturando e
depois tendo suas expectativas frustradas ou confirmadas.
Uma outra verso da fenomenologia orientada para o leitor chama-
da de "esttica da recepo" (Hans Robert Jauss). Uma obra uma respos-
ta a perguntas colocadas por um "horizonte de expectativas". A interpre-
tao das obras deveria, portanto, enfocar no a experincia de um indi-
vduo mas a histria da recepo de uma obra e sua relao com as nor-
mas estticas e conjuntos de expectativas mutveis que permitem que ela
seja Iida em diferentes pocas.
Estruturalismo
A teoria orientada para o leitor tem algo em comum com o estrutu-
ralismo, que tambm tem como foco a maneira como o sentido pro-
duzido. Mas o estruturalismo se originou em oposio fenomenologia:
ao invs de descrever a experincia, a meta era identificar as estruturas
subjacentes que a tornam possvel. Em lugar da descrio fenomenolgi-
ca da conscincia, o estruturalismo buscava analisar as estruturas que
operam inconscientemente (as estruturas da linguagem, da psique, da
sociedade). Devido a seu interesse pelo modo como o sentido produzi-
do, o estruturalismo muitas vezes (como em 5/Z, de Roland Barthes) tra-
tou o leitor como o espao de cdigos subjacentes que tornam o sentido
possvel e como o agente do sentido.
Em geral, estruturalismo designa um grupo de pensadores principal-
mente franceses que, nas dcadas de 50 e 60 deste sculo, influenciados
pela teoria da linguagem de Ferdinand de Saussure, aplicaram conceitos da
lingstica estrutural ao estudo dos fenmenos sociais e culturais. O estru-
turalismo se desenvolveu primeiro na antropologia (Claude Lvi-Strauss), e
depois nos estudos literrios e culturais (Roman Jakobson, Roland Barthes,
Grard Genettel, na psicanlise (Jacques Lacanl, na histria intelectual
120
(Michel Foucault) e na teoria marxista (Louis Althusser). Embora esses pen-
sadores nunca tenham formado uma escola enquanto tal, foi sob o rtulo
de "estruturalismo" que seu trabalho foi importado e lido na Inglaterra, nos
Estados Unidos e em outros lugares no final das dcadas de 60 e 70.
Nos estudos literrios, o estruturalismo promove uma potica interes-
sada nas convenes que tornam possveis as obras literrias; busca no
produzir novas interpretaes das obras mas compreender como elas
podem ter os sentidos e efeitos que tm. Mas ele no conseguiu impor
esse projeto - uma explicao sistemtica do discurso literrio - na Gr-
Bretanha e na Amrica. Seu principal efeito ali foi oferecer novas idias a
respeito da literatura e torn-Ia uma prtica significativa entre outras.
Desse modo abriu caminho para leituras sintomticas das obras literrias
e encorajou os estudos culturais a tentar explicar os procedimentos sig-
nificativos das diferentes prticas culturais.
No fcil distinguir o estruturalismo da semitica, a cincia geral
dos signos, que remonta sua linhagem a Saussure e ao filsofo norte-
americano Charles Sanders Peirce. Entretanto, a semitica um movi-
mento internacional que buscou incorporar o estudo cientfico do com-
portamento e da comunicao, ao mesmo tempo que evitava em grande
parte a especulao filosfica e a crtica cultural que marcaram o estru-
turalismo em suas verses francesa e aparentadas.
Ps-estrutu ral ismo
Uma vez que o estruturalismo passou a ser definido como um movi-
mento ou escola, os tericos se distanciaram dele. Ficou claro que as obras
de pretensos estruturalistas no se encaixavam na idia do estruturalismo
como uma tentativa de dominar e codificar estruturas. Barthes, Lacan c
Foucault, por exemplo, foram identificados como ps-estruturalistas, que
haviam ido alm do estruturalismo estreitamente concebido. Mas muit;]s
posies associadas com o ps-estruturalismo so evidentes mesmo no
trabalho inicial desses pensadores, quando eles eram vistos como estrulu
ralistas. Eles haviam descrito as maneiras pelas quais as teorias se em;]I;l
nham nos fenmenos que tentam descrever; como os textos criClm ';cnliil()
violando quaisquer convenes que a anlise estrutural situCl. f\('('IltIf!('
ceram a impossibilidade de descrever um sistema significativo ('()('n'/il(' ('
completo, j que os sistemas esto sempre mudando. Na rcalid;lCk, () pi').
estruturalismo demonstra menos as inadequaes ou erros do (",llIllul.lII',
121
mo do que se desvia do projeto de resolver o que torna os fenmenos cul-
turais inteligveis e enfatiza, em lugar disso, uma crtica do conhecimento,
da totalidade e do sujeito. Trata cada um deles como um efeitoproble-
mtico. As estruturas dos sistemas de significao no existem indepen-
dentemente do sujeito, como objetos do conhecimento, mas so estruturas
para os sujeitos, que esto emaranhados nas foras que os produzem.
Desconstruo
O termo ps-estruturalismo usado para referir uma ampla gama de
discursos tericos nos quais h uma crtica das noes de conhecimento
objetivo e de um sujeito capaz de se conhecer. Desse modo, os feminis-
mos, as teorias psicanalticas, os marxismos e historicismos contempor-
neos todos participam do ps-estruturalismo. Mas ps-estruturalismo
tambm designa, sobretudo, desconstruo e o trabalho de Jacques Der-
rida, que ganhou proeminncia pela primeira vez na Amrica com uma
crtica da noo estruturalista de estrutura na prpria coleo de ensaios
que chamou a ateno norte-americana para o estruturalismo (The
Languages of Criticism and the Sciences of Man, 1970).
A desconstruo mais simplesmente definida como uma crtica das
oposies hierrquicas que estruturam o pensamento ocidental: dentro
/fora; corpo/mente; literal/metafrico; fala/escrita; presena/ausncia; na-
tureza/cultura; forma/sentido. Desconstruir uma oposio mostrar que ela
no natural nem inevitvel mas uma construo, produzida por discursos
que se apiam nela, e mostrar que ela uma construo num trabalho de
desconstruo que busca desmantel-Ia e reinscrev-Ia - isto , no des-
tru-Ia mas dar-lhe uma estrutura e funcionamento diferentes. Mas, como
uma modalidade de leitura, a desconstruo , na expresso de Barbara
Johnson, uma "separao das foras de significao em guerra no interior
de um texto", uma investigao da tenso entre modalidades de signifi-
cao, como entre as dimenses performativa e constativa da linguagem.
Teoria Feminista
Na medida em que o feminismo se encarrega da desconstruo da
oposio homem/mulher e das oposies associadas a ela na histria da
cultura ocidental, ele uma verso do ps-estruturalismo, mas isso ape-
nas uma vertente do feminismo, que menos uma escola unificada do
que um movimento social e intelectual e um espao de debate. Por um
1~2
lado, as teorias feministas defendem a identidade das mulheres, exigem
direitos para as mulheres e promovem os textos de mulheres como repre-
sentaes da experincia das mulheres. Por outro lado, as feministas
empreendem uma crtica terica da matriz heterossexual que organiza as
identidades e culturas em termos da oposio entre homem e mulher.
Elaine Showalter distingue "a critica feminista" de pressupostos e proce-
dimentos masculinos da "ginocrtica", uma crtica feminista preocupada
com as autoras e com a representao da experincia das mulheres.
Ambas essas modalidades se opuseram ao que s vezes chamado, na
Gr-Bretanha e na Amrica, de "feminismo francs", em que "mulher"
vem a representar qualquer fora radical que subverte os conceitos, pres-
supostos e estruturas do discurso patriarcal. Da mesma forma, a teoria
feminista inclui tanto as vertentes que rejeitam a psicanlise pelas suas
bases indiscutivelmente sexistas quanto a brilhante rearticulao da psi-
canlise por parte de estudiosas feministas como Jacqueline Rose, Mary
Jacobus e Kaja Silverman, para quem apenas atravs da psicanlise, com
sua compreenso das complicaes de se internalizar normas, que se pode
esperar compreender e reconceber a situao da mulher. Em seus mltiplos
projetos, o feminismo efetuou uma transformao substancial da edu-
cao literria nos Estados Unidos e Gr-Bretanha, atravs de sua expan-
so do cnone literrio e da introduo de uma gama de novas questes.
Psicanlise
A teoria psicanaltica teve um impacto nos estudos literrios tanto
como uma modalidade de interpretao quanto como uma teoria sobre a
linguagem, a identidade e o sujeito. Por um lado, junto com o marxismo,
a hermenutica moderna mais poderosa: uma metalinguagem ou voca-
bulrio tcnico autorizado que pode ser aplicado s obras literrias, assim
como a outras situaes, para entender o que est "realmente" aconte-
cendo. Isso leva a uma crtica alerta a temas e relaes psicanalticas.
Mas, por outro lado, o maior impacto da psicanlise veio atravs do tra--
balho de Jacques Lacan, um psicanalista francs renegado que montou
sua prpria escola fora do establishment analtico e levou ao que ele
apresentou como um retorno a Freud. Lacan descreve o sujeito como Ulll
efeito da linguagem e enfatiza o papel crucial na anlise do que Fn'ud
chamou de transferncia, na qual o analisando coloca o analista no P;1I1t'1
de figura de autoridade do passado ("apaixonar-se pelo seu 'Hlllhl;I"). 1\
12:3
verdade da condio do paciente, nessa explicao, emerge no da inter-
pretao que o analista faz do discurso do paciente mas da maneira como
analista e paciente so apanhados na reapresentao de um cenrio cru-
cial vindo do passado do paciente. Essa reorientao torna a psicanlise
uma disciplina ps-estruturalista na qual a interpretao uma reapre-
sentao de um texto que ela no domina.
Marxismo
Na Gr-Bretanha, diferentemente dos Estados Unidos, o ps-estrutura-
lismo chegou no atravs de Derrida e depois Lacan e Foucault, mas atravs
da obra do terico marxista Louis Althusser. Lido no interior da cultura mar-
xista da esquerda britnica, Althusser levou seus leitores teoria lac8niana
e provocou uma transformao gradual pela qual, como diz Antony
Easthope, "o ps-estruturalismo passou a ocupar basicamente o mesmo
espao que o de sua cultura anfitri, o marxismo". Para o marxismo, os tex-
tos pertencem a uma superestrutura determinada pela base econmica (as
"relaes reais de produo"). Interpretar os produtos culturais relacion-
Ias de volta com a base. Althusser argumentava que a formao social no
uma totalidade unificada tendo o modo de produo em seu centro mas
uma estrutura mais frouxa, na qual diferentes nveis ou tipos de prticas se
desenvolvem em diferentes escalas temporais. As superestruturas sociais e
ideolgicas tm uma "autonomia relativa': Baseando-se numa explicao
lacaniana da determinao da conscincia pelo inconsciehte para explicar
como a ideologia funciona para determinar o sujeito, Althusser mapeia uma
explicao marxista da determinao do indivduo pelo social na psicanlise.
O sujeito um efeito constitudo no processo do inconsciente, do discurso e
das prticas relativamente autnomas que organizam a sociedade.
Essa conjuno a base de grande parte do debate terico na Gr-Bre-
tanha, na teoria poltica assim como nos estudos literrios e culturais.
Investigaes cruciais das relaes entre cultura e significao ocorreram
na dcada de 70 na revista de estudos de cinema, Screen, que, colocando
Althusser e Lacan em campo, buscou compreender como o sujeito posi-
cionado ou construdo pelas estruturas da representao cinematogrfica.
Novo Historicismo/Materialismo Cultural
Os decnios de 1980 e 1990 na Gr-Bretanha e nos Estados Unidos
marcaram o surgimento de uma crtica histrica vigorosa, teoricamente
124
engajada. Por um lado, h o materialismo cultural britnico, definido por
Raymond Williams como "a anlise de todas as formas de significao,
inclusive muito centralmente a escrita, no interior dos meios e condies
reais de sua produo". Especialistas na Renascena influenciados por
Foucault (Catherine Belsey, Jonathan Dollimore, Alan Sinfield e Peter
Stallybrass) se preocuparam particularmente com a constituio histrica
do sujeito e com o papel contestatrio da literatura na Renascena. Nos
Estados Unidos, o novo historicismo, que est menos inclinado a postular
uma hierarquia de causa e efeito medida que rastreia as ligaes entre
os textos, os discursos, o poder e a constituio da subjetividade, tambm
se centrou na Renascena. Stephen Greenblatt, Louis Montrose e outros
enfocam como os textos literrios renascentistas se situam em meio a
prticas discursivas e s instituies do perodo, tratando a literatura no
como um reflexo ou produto de uma realidade social mas como uma das
diversas prticas s vezes antagonistas. Uma questo chave para os novos
historicistas a dialtica de "subverso e conteno": em que medida os
textos renascentistas oferecem uma crtica genuinamente radical das ideo-
logias religiosas e polticas de seu tempo e em que medida a prtica dis-
cursiva da literatura, em sua aparente capacidade de subverso, uma
maneira de conter energias subversivas?
Teoria Ps-colonial
Um conjunto relacionado de questes tericas surge na teoria ps-
colonial: a tentativa de compreender os problemas postos pela colonizao
europia e suas conseqncias. Nesse legado, as instituies e experincias
ps-coloniais, da idia de nao independente idia da prpria cultura,
se misturam com as prticas discursivas do Ocidente. Desde a dcada de
80, um corpus cada vez maior de textos debate questes sobre a relao
entre a hegemonia dos discursos ocidentais e as possibilidades de resistn-
cia e sobre a formao dos sujeitos colonial e ps-colonial: sujeitos hbri-
dos, que surgem da superimposio de lnguas e culturas conflitantes.
Orientalismo, de Edward Said (1978), que examinou a construo do
"outro" oriental pelos discursos europeus do conhecimento, ajudou a esta--
bclecer o campo. Desde ento, a teoria e escrita ps-colonial se transfor-
maram numa tentativa de intervir na construo da cultura e do conheci-
mento e, para os intelectuais que vm de sociedades ps-coloniais, de
escrever seu caminho de volta numa histria que outros escrcvn;lIn.
12;)
Discurso das Minorias
Uma mudana poltica que foi conseguida no interior das instituies
acadmicas nos Estados Unidos foi o crescimento do estudo das literatu-
ras de minorias tnicas. O principal esforo se centrou em reviver e pro-
mover o estudo da escrita negra, latina, asitico-americana e nativo-
americana. Os debates tm a ver com a relao entre o fortalecimento da
identidade cultural de grupos especficos, ligando-a a uma tradio de
escrita e meta liberal de celebrar a diversidade cultural e o "multicul-
turalismo". As questes tericas rapidamente se misturam com questes
sobre o status da teoria, que s vezes se diz que impe questes ou pro-
blemas filosficos "brancos" a projetos que lutam para estabelecer seus
prprios termos e contextos. Mas crticos latinos, afro-americanos e
asitico-americanos levam adiante o empreendimento terico, desenvol-
vendo o estudo dos discursos das minorias, definindo seu carter distinti-
vo e articulando suas relaes com as tradies dominantes de escrita e
pensamento. As tentativas de gerar teorias do "discurso das minorias"
tanto desenvolvem conceitos para a anlise de tradies culturais espec-
ficas quanto usam uma posio de marginalidade para expor os pressu-
postos do discurso da "maioria" e para intervir em seus debates tericos.
Queer Theory
Como a desconstruo e outros movimentos contemporneos, a
Queer Theory (discutida no Captulo 7) usa o marginal - o que foi posto
de lado como perverso, alm dos limites, radicalmente outro - para anali-
sar a construo cultural do centro: normatividade heterossexual. No tra-
balho de Eve Sedgwick, Judith Butler e outros, a Queer Theory tornou-se
o espao de um questionamento produtivo no apenas da construo cul-
tural da sexualidade mas da prpria cultura, tal como baseada numa
negao das relaes homoerticas. Assim como o feminismo e verses
dos estudos tnicos antes dele, ela obtm energia intelectual de sua liga-
o com os movimentos sociais de libertao e dos debates no interior
desses movimentos sobre estratgias e conceitos apropriados. Deveramos
celebrar e acentuar a diferena ou contestar as distines que estigmati-
zam? Como fazer as duas coisas? Possibilidades tanto de ao como de
compreenso esto em jogo na teoria.
126
itaes e Leituras
Suplelnentares
Captulo 1
Referncias: Richard Rorty, Consequences of Pragmatism (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1982), 66. Michel Foucault, The Historyof
Sexuality, vol. i (New York: Pantheon, 1980), 154, 156, 43. FALA E ESCRI-
TA: Jonathan Culler, On Deconstruction: Theory and Criticism after
Structuralism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982), 89-110. Jean-
Jacques Rousseau, Confessions, livro 3 e em outras partes, citado em
Jacques Derrida, Of Grammat%gy, (Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1976). 141-64."IL N'Y A PAS DE HORS-TEXTE": Derrida, Of
Grammat%gy, 158. ARETHA FRANKLlN: Judith Butler, "Imitation and
Gender Insubordination", in Diana Fuss, ed., /nside/Out: Lesbian Theories,
Gay Theories (New York: Routledge, 1991), 27-8.
Leituras Suplementares: Jonathan Culler, On Deconstruction: Theory and
Criticism after Structura/ism comea com uma discusso da teoria em
geral. Richard Harland, Superstructura/ism: The Phi/osophy of Struc-
tura/ism and Post-Structuralism (London: Methuen, 1987), um panorama
introdutrio amplo e vivo. Para Foucault, ver Paul Rabinow, ed., The
Foucau/t Reader (New York: Pantheon, 1984); Lois McNay, Foucau/t: A
Critica//ntroduction (New York: Continuum, 1994). Para Derrida, vn
Culler, On Deconstruction, 85-179; Geoffrey Bennington, Jacques Derriril1
(Chicago: University of Chicago Press, 1993).
Captulo 2
Referncias: COMPREENSO HISTRICA: W.B. Gallie, Phi/osophy (lnril/I('
Historica/ Understanding (London: Chatto, 1964), 65-71. ERVA DANINII/\:
127
John M. Ellis, The Theory of Literary Criticism: A Logical Analysis (Berkley
and Los Angeles; University of California Press, 1974). 37-42. PRINCPIO
COOPERATIVO HIPER-PROTEGIDO: Mary Luoise Pratt, Toward a Speech Act
Theory ofLiterary Discourse (Bloomington: Indiana University Press, 1977).
38-78. Roman Kakobson, "Linguistics and Poetics", Language in Literature
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987), 70. Immanuel Kant,
The Critique of Judgment, parte 1, seo 15. INTERTEXTUALlDADE: ver
Roland Barthes, S/Z (New York: Farrar Strauss, 1984). 10-12, 20-2 e
Harold Bloom, Poetry and Repression (New Haven: Yale University Press,
1976), 2-3. Benedict Anderson, Imagined Communitites: Reflections 017
the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983). 40. ARTIGO
DE 1860: H. Richardson, "On the Use of English Classical Literaturein the
Work of Education", citado em Chris Baldick, The Social Mission of English
Criticism, 1848-1932 (Oxford: Clarendon 1987). 66. Terry Eagleton,
Literary Theory: An Introduction (Oxford: Blackwell, 1983), 25. CAPITAL
CULTURAL: John Guillory, Cultural Capital: The Problem of Literary Canon
Formation (Chicago: University of Chicago Press, 1993).
Leituras Suplementares: Paul Hernadi, ed., What is Literature?
(Bloomington: Indiana University Press, 1978, para uma gama de afir-
maes representativas. Mary Louise Pratt, Toward a Speech Act Theory of
Literary Discourse (Bloomington: Indiana University Press, 1977) argu-
menta contra a noo de literatura como um tipo especial de discurso.
Barbara Herrnstein Smith, 017 the Margins of Discourse: 017 the Relation of
Language to Literature (Chicago: University of Chicago Press, 1979) trata
as obras literrias como imitaes ficcionais de atos de fala "reais". Terry
Eagleton, Literary Theory, 1-53, a respeito da idia de literatura em geral
e dos estudos literrios na Gr-Bretanha do sculo XIX. Antony Easthope,
Literary into Cultural Studies (London: Routledge, 1991), 1-61, um til
panorama das concepes tradicionais de literatura. Jacques Derrida,
"This Strange Institution Called Literature", ed., Derek Attricjge, Acts of
Literature (New York: Routledge, 1992). 33-75.
Captulo 3
Referncias: ESTUDOS CULTURAIS: Richard Klein, Cigarettes are Sublime
(Durham, NC: Duke University Press, 1993) e Eat Fat (New York: Pantheon,
1996); Marjorie Garber, Vice-Versa: Bisexuality and the Eroticism of
128
Everyday Life (New York: Simon & Schuster, 1994): Mark Seltzer, Serial
Killers I, 11,111(New York: Routledge, 1997). Roland Barthes, Mythologies
(London: Cape, 1972), 15-25. Louis Althusser, "Ideology and Ideological
State Apparatuses (Notes toward an investigation)", Lenin and Philosophy,
and Other Essays (London: New Left Books, 1971). 168. COLEO AMERI-
CANA: Lawrence Grossberg, Cary Nelson e Paula Treichler, eds., Cultural
Studies (New York: Routledge, 1992), 2, 4. TOTALIDADE SOCIAL: Ernesto
Laclau, New Reflections of the Revolution of our Time (London: Verso,
1990). 89-92. SRIES POLICIAIS: Antony Easthope, Literary into Cultural
Studies (London: Routledge, 1991), 109.
Leituras Suplementares: "Forum: Thirty- Two Letters on the Relation
between Cultural Studies and the Literary", PMLA 112-2 (maro 1997).
257-86, um espectro vivo de vises atuais. Antony Easthope, Literary into
Cultural Studies examina os desdobramentos britnicos. Tony Bennett et
01., eds., Culture, Ideology, and Social Process: A Reader (London: Batsford
& Open University Press, 1987), uma antologia de ensaios britnicos cls-
sicos para o curso de "Cultura Popular" da Open University. John Fiske,
Understanding Popular Culture (Boston: Unwin, 1989). uma introduo
acessvel. Simon During, ed., The Cultural Studies Reader (London: Rout-
ledge, 1993) e Mieke Bal, ed., The Practice ofCultural Analysis (Stanford,
Calif.: Stanford University Press, 1997), duas colees recentes. loan Da-
vies, Cultural Studies and Beyond: Fragments of Empire (London: Routledge,
1995). uma perspicaz histria recente. CNONE LITERRIO: Robert von
Hallberg, ed., Canons (Chicago: University of Chicago Press, 1984).
Captulo 4
Referncias: Ferdinand de Sassure, Course in General Linguistics (London:
Duckworth, 1983), 107, 115. B.L. Whorf, Language, Thought and Reality
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1956). COMPETNCIA LITERRIA: Jonathan
Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of
Literature (London: Routledge & Kegan Paul, 1975), 113-60. HORIZONTE
DE EXPECTATIVAS: Robert Holub, Reception Theory: A Criticallntroduction
(London: Methuen, 1984),58-63. Elaine Showalter, "Towards a Feminist
Poetics", in Women Writing and Writing about Women, ed. Mary Jacobus
(London: Croom Helm, 1979),25. FALCIA INTENCIONAL: w'K. Wimsatt e
Monroe Beardsley, "The Intentional Fallacy", in Wimsatt, The Verballcan:
129
(
Studies in the Meaning of Poetry (Lexington: University of Kentucky Press,
1954), 18. Toni Morrison, Playing in the Dark: Whiteness and the American
Literary Imagination (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993).
Edward Said, "Jane Austen and Empire", Culture and Imperialism (New
York: Knopf, 1993). 80-97. HERMENUTICA DA SUSPEITA: Hans-Georg
Gadamer, "The Hermeneutics of Suspicion", in Gary Shapiro e Alan Sica,
eds., Hermeneutics: Questions and Prospects (Amherst: University of
Massachusetts Press, 1984), 54-65.
Leituras Suplementares: Jonatha n Culler, Saussure (London: Fonta na,
1976; edio revista: Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986), uma
introduo ao seu pensamento e influncia. M.A.K. Halliday, Explorations
in the Functions of Language (London: Arnold, 1973), ensaios relevantes
para os estudos literrios. Roger Fowler, Linguistic Criticism (Oxford:
Oxford University Press, 1996) uma valiosa introduo linguagem e s
dimenses lingsticas da literatura. William Ray, Literary Meaning: From
Phenomenology to Deconstruction (Oxford: Blackwell, 1984) desenvolve
uma narrativa convincente sobre as abordagens do sentido em literatura,
pelas diferentes escolas crticas. Nigel Fabb et 01., eds., The Linguistics of
Writing: Arguments between Language and Literature (New York: Hill ti
Wang, 1974), ensaios recentes fortes. POTICA: Jonathan Culler,
Structuralist Poetics; Roland Barthes, S/Z (New York: Hill ti Wang, 1974),
anlise de uma histria de Balzac que se alterna entre potica e her-
menutica. HERMENUTICA: Donald Marshall, "Literary Interpretation", in
Introduction to Scholarship in Modern Languages and Literatures, ed.
Joseph Gibaldi, 2'. ed. (New York: MLA, 1992), 159-82. READER-
RESPONSE CRITICISM: Jane Tompkins, ed., Reader-Response Criticism:
From Formalism to Post-Structuralism (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1980).
Captulo 5
Referncias: Jacques Derrida, "White Mythology: Metaphor in the Text of
Philosophy", Margins of Philosophy (Chicago: University of Chicago Press,
1982), 207-71. FIGURAS RETRICAS: Jonathan Culler, "The Turns of
Metaphor", The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction
(London: Routledge ti Kegan Paul, 1981), 188-209. George Lakoff e Mark
Johnson, Metaphors We Live By (Chicago: University of Chicago Press,
l:W
1980). Roman Jakobson, "Two Aspects of Language ...", Language in
Literature (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987). 95-114.
FINGE ESTAR FALANDO: Northrop Frye, The Anatomy of Criticism: Four
Essays (Princeton: Princeton University Press, 1965),249. Hayden White,
Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism (Balti more: Johns Hopkins
University Press, 1978). 5-6, 58-75. IMITAES FICCIONAIS: Barbara
Herrnstein Smith, On the Margins of Discourse: On the Relation of
Language to Literature (Chicago: University of Chicago Press, 1978), 30;
Northrop Frye, Anatomy of Criticism, 271-2, 275, 280.
Leituras Suplementares: RETRICA: Renato Barilli, Rhetoric (Minnea-
polis: University of Minnesota Press, 1989), um panorama histrico de
questes-chave. GNEROS: Paul Hernardi, Beyond Genre: New Directions
in Literary Classification (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1972).
APSTROFE: Jonathan Culler, "Apostrophe", The Pursuit of Signs, 135-54.
POTICA: Jonathan Culler, "Poetics of the Lyric", Structuralist Poetics:
Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature (London: Routledge
ti Kegan Paul, 1975), 161-88. POESIA: Para uma gama de ensaios interes-
sados em questes tericas, Chaviva Hosek e Patricia Parker, eds., Lyric
Poetry: Beyond New Criticism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985);
Jacques Derrida, "What is Poetry?" ("Che cos'i: Ia poesia?"). in A Derrida
Reader: Between the Blinds, ed. Peggy Kamuf (New York: Columbia
University Press, 1991). 221-46.
Captulo 6
Referncias: Frank Kermode, The Sense of an Ending (Oxford: Oxford
University Press, 1967),45. Aristotle, Poetics, captulos 6-11. Mikhail
Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays (Austin: University of Texas
Press, 1981). Mi eke BaI, Narratology: Introduction to the Theory of
Narrative (Toronto: University of Toronto Press, 1985). 100-15. Grard
Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method (Ithaca, NY: Cornell
University Press, 1980). 189-211. PSEUDO-ITERATIVO: Genette, op. cit.,
121-7. E.M. Forster, Aspects of the Novel (New York: Harcou rt, 1927), 64.
Paul de Man, The Resistance to Theory (Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1986). 11.
Leituras Suplementares: dois livros excelentes, sistemticos so Susan
1:~1
(
I
Lanser, The Narrative Act: Point of View in Fiction (Princeton: Princeton
University Press, 1981) e Mieke Bal, Narratology: Introduction to the
Theory of Narrative, 2a ed. revista. (Toronto: University of Toronto Press,
1997). Ver tambm Wallace Martin, Recent Theories ofNarrative (Ithaca,
NY: Cornell Univeristy Press, 1986). Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative
Fiction: Contemporary Poetics (London, Methuen, 1983); Jonathan Culler,
"Story and Discourse in the Analysis of Narrative", The Pursuit of Signs:
Semiotics, Literature, Deconstruction (London: Routledge Et Kegan Paul,
1981), 169-87; Jonathan Culler, "Poetics of the Novel", Structuralist
Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature (London:
Routledge Et Kegan Paul, 1975), 189-238. DESEJO: Peter Brooks,
Psychoanalysis and StoryTelling (Oxford: Blackwell, 1994); Teresa de
Lauretis, "Desire in Narrative", Alice Doesn't (Bloomington: Indiana
University Press, 1984), 103-57. POLICIAMENTO: DA Miller, The Novel
and the Police (Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1988).
Captulo 7
Referncias: J.L. Austin, How to Do Things with Words (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1975), 5, 6, 14, 54-70, 9, 22. CRTICOS
LITERRIOS: Sandy Petrey, Speech Acts and Literary Theory (New York:
Routledge, 1990). Jacques Derrida, "Signature, Event, Context", Margins
of Philosophy (Chicago: University of Chicago Press, 1983), 307-30.
Jacques Derrida, Acts of Literature, ed. Derek Attridge (New York:
Routledge, 1992),55. DECLARAO DE INDEPENDNCIA: Jacques Derrida,
"Declarations of Independence", New PoliticalScience, 15 ( vero 1986),
7-15. APORIA: Paul de Man, Allegories of Reading (New Haven: Yale
University Press, 1979), 131. Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and
theSubversion of Identity (New York: Routledge, 1990), 136-41. Judith
Butler, Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex" (New York:
Routledge, 1993), 7, 2, 231-2, 226.
Leituras Suplementares: Jacques Derrida, Limited Inc. (Evanston, 111.:
Northwestern University Press, 1988), inclui "Signature, Event, Context" e
outras discusses sobre a performativa. Barbara Johnson, "Poetry and
Performative Language", The Critica I Difference: Essays in the Contem-
porary Rhetoric of Reading (Baltimore: Johns Hopkins University Press,
1:3:2
1980), uma discusso breve e eficiente. Shoshana Felman, The Literary
Speech Act (Ithaca, NY: Cornell Univesity Press, 1983), sobre Austin e
Lacan.
Captulo 8
Referncias: Michel Foucault, The Archeology of Know/edge (New York:
Pantheon, 1972), 22. "QUEER THEORY": Judith Butler, Bodies that Matter:
On the Discursive Limits of "Sex" (New York: Routledge, 1993), 235-40.
Nancy Armstrong, Desire and Domestic Fiction (New York: Oxford
University Press, 1987), 9. FREUD: Jean Laplanche e J.B. Pontalis, The
Language of Psychoanalysis (New York: Northon, 1973), 205-8. Jacques
Lacan, "The Mirror Stage", crits: A Selection (New York: Norton, 1977), 1-
7. Mikkel Borch-Jakobsen, The Freudian Subject (Stanford, Calif.: Stanford
University Press, 1988), 47. Ren Girard, Deceit, Desire and the Novel: Self
and Other in Literary Structure (Baltimore: Johns Hopkins University Press,
1965). Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and Male
Homosocial Desire (New York: Columbia University Press, 1985). PREMN-
CIAS DA POLTICA EMANCIPATRIA: Jacqueline Rose, Sexuality in the
Field of Vision (London: Verso, 1986), 103. Michel Foucau It, The History of
Sexuality, vol. i (New York: Random, 1978), 101. Stuart Hall, "Cultural
Identity and Cinematic Representation", Framework, 36 (1987), 70.
DIFERENA POR DENTRO: Barbara Johnson, "The Critica I Difference:
BartheSjBaIZac", The Critical Difference: Essays in the Contemporary
Rhetoric of Reading (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980), 4.
Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity
(New York: Routledge, 1990), 147. Kwame Anthony Appiah, "Tolerable
Falsehoods: Agency and the Interests of Theory", in Jonathan Arac e
Barbara Johnson, eds., The Consequences of Theory (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1991), 74, 83. SUBALTERNO: Gayatri Spivak,
"Can the Subaltern Speak?", in Cary Nelson e Lawrence Grossberg, eds.,
Marxism and the Interpretation of Culture (Urbana: University of Illinois
Press, 1988), 271-313.
Leituras Suplementares: Charles Taylor, Sources of the Self: The Making
of the Modern ldentity (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1989), um amplo panorama. Kaja Silverman, The Subject of Semiotics
(Oxford: Oxford University Press, 1983), sintetiza psicanlise e semitica
1:t~
sobre a formao do sujeito, com exemplos literrios e cinematogrficos.
Para essencialismo: Diana Fuss, Identification Papers (New York:
Routledge, 1995). Para teoria ps-colonial: Homi Bhabha, The Location of
Culture (New York: Routledge, 1994).
Apndice
Referncias: Jacques Derrida, "Structure, Sign, and Play in the Discourse
of the Human Sciences", in R. Macksey e E. Donato, eds., The Languages
ofCriticism and the Sciences of Man (Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1970), 247-65. Barbara Johnson, The Critical Difference (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1980), 5. Elaine Showalter, "Towards a
Feminist Poetics", in Women Writing and Writing about Women, ed., Mary
Jacobus (London: Croom Helm, 1979), 25. Jacqueline Rose, Sexuality in
the Field ofVision (London: Verso, 1986). Mary Jacobus, Reading Woman:
Essays in Feminist Criticism (New York: Columbia University Press, 1986).
Kaja Silverman, Threshold of the Visible World (New York: Routledge,
1996). Anthony Easthope, British Post-Structuralism since 7968 (New
York: Routledge, 1988), p. xiv. Raymond Williams, Writing in Society
(London: Verson, 1984), p. 210.
Leituras Suplementares: Para a histria institucional da crtica, Jonathan
Culler, "Literary Criticism and the American University", in Framing the
Sign: Criticism and its Institutions (Oxford: Blackwell, 1988), 3-40; Gerald
Graff, Professing Literature: An Institutional History (Chicago: University
of Chicago Press, 1987); Chris Baldick, Criticism and Literary Theory, 7890
to the Present (London: Long man, 1996).
Sobre escolas, ver Literary Theory: An !ntroduction de Terry Eag!eton
(Oxford: Blackwell, 1983), uma explicao tendenciosa mas muito viva de
todas as "escolas", com exceo da crtica marxista que ele adota; British
Structura!ism since 7968 de Anthony Easthope (New York: Routledge,
1988), uma explicao sofisticada dos destinos da "teoria" na Gr-
Bretanha; Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural
Theory de Peter Barry (Manchester: Manchester University Press, 1995),
um livro didtico til orientado para as "escolas"; e Raman Selden, ed., The
Cambridge History of Literary Criticism, vol. viii, From Formalism to
Poststructuralism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995). que
cobre os movimentos mais importantes. Superstructuralism: The Philosphy
1:34
of Structuralism and Poststructuralism de Richard Harland (London:
Methuen, 1987) um panorama amplo e vivo; Keith Green e Jill LeBihan,
Critical Theory and Practice: A Coursebook (London: Routledge, 1996)
funde de modo inteligente o panorama por escola com a abordagem por
"tpico':
1:~,')
ndice Remissivo
A
acontecimento literrio 105-6
adesivos de pra-choques 41
agncia 49, 51, 104, 115
Althusser, Louis 12, 51, 114, 121, 124
Anderson, Benedict 43
aporia 101,109
apstrofe 73, 78, 79
Appiah, Anthony 115,116
Aristteles 72, 85, 92
Armstrong, Nancy 111
ato de fa Ia 34
Austen, Jane 44, 70, 89
Austin, J.L. 95, 102, 104
auto-reflexividade 40, 89
1:36
B
Bakhtin, Mikhail 24, 89
Bal, Mieke 9, 90
Barthes, Roland 49, 120
Belsey, Catherine 125
Borch-Jakobsen, Mikkel 112
Brooks, Cleanth 119
Butler, Judith 12, 101, 103, 105,
114,126
c
cnone literrio 53,123
cantigas de ninar 80
Chomsky, Noam 64
competncia:
literria 65
narrativa 85
complexo de dipo 112
D
de Man, Paul 94
de Stael, Mme 29
Declarao da Independncia 99
desconstruo 8, 67, 118, 122, 126
Derrida, Jacques 11, 18, 20, 22, 73,
98,122-124
Dollimore, Jonathan 125
drama 73,75,100
E
Easthope, Anthony 124
Eichenbaum, Boris 119
Eliot, IS. 82
Empson, William 119
enredo 27,43, 65, 85-87, 92, 109
pica 75, 84
epistemofilia 92
escolas crticas 7
essencialismo 113
estdio do espelho 112-114
esttica da recepo 66, 120
estruturalismo 8,49,118-124
estudo literrio 13,53,57,65,85
estudos culturais 48, 50, 52, 55, 57,
121
1:Y7
exem plaridade 43, 110
explicao histrica 27,74,85
F
falcia intencional 68
fenomenologia 119
fico 37, 43, 46, 75, 106
figuras retricas 27, 29, 73, 75, 78
Fish, Stanley 120
Flaubert, Gustave (Madame
Bovary) 41,109
focalizao 90, 92
formalistas russos 81,118
Forster, E.M. 93
Foucault, Michel 12,14,16,18,21,
23,108,111,113,121,124
Franklin, Aretha 22,102,109
Freud, Sigmund 26,111,123
Frost, Robert 59, 76, 78, 98
Frye, Northrop 79
funo potica 36
G
"gay and lesbian studies" 17, 67,
101, 114
gneros literrios 65, 75
Genette, Grard 90, 120
ginocrtica 123
Girard, Ren 113
Gramsci, Antonio 56
Greenblatt, Stephen 125
H
Hall, Stuart 114
hegemonia 56, 125
hermenutica 64, 67-70, 123
hiptese Sapir-Whorf 62
Hoggart, Richard 50
homossexual, inveno do 15, 111
Hopkins, Gerard Manley 35
horizonte de expectativas 66, 120
Husserl, Edmund 119
identificao 46,94,111,113
ideologia 45,63,110,124
Imprio Britnico 42,70
indivduo moderno 111
interpelao 51, 103
interpretao sintomtica 57, 71
intertextualidade 40
Iser, Wolfgang 120
J
Jacobus, Mary 123
Jakobson, Roman 36,74,119
James, Henry 90
Jauss, Hans Robert 120
Johnson, Barbara 122
Jonson, Bem 38, 53
1;~8
Joyce, James 47, 97
K
Kant, Immanuel 39
Kermode, Frank 85
L
La Rouchefoucauld 97
Lacan, Jacques 12,23, 112, 120, 123
leitura cerrada 55, 58, 119
Lvi-Strauss, Claude 120
linguagem
colocao em primeiro plano
da 35,41,80,118
natureza da 99
e pensamento 72
lingstica 61
literariedade 26,35-37,42,47,118
literaturas de minorias 126
lgica da histria 84
luta livre 49
M
materialismo cultural 125
marxismo 8,114,119,122,124
metfora 27, 40, 73, 74
metonmia 74,100
Mill, John Stuart 77
Miller, J. Hillis 120
Montrose, Louis 125
Morrison, Toni 70
N
narratrio 88
narratologia 85
"New Criticism" 67, 119
novo historicismo 8,67,118,125
o
objeto esttico 39, 44
olhar cinemtico 67
onomatopia 61
Open University 56
p
Peirce, Charles Sanders 121
person ificao 73, 78
Plato 45, 72
poder/conhecimento 17
poema, idia de 27, 38, 77
potica 64, 72
ponto de vista 67, 85, 90
ps-estruturalismo 81, 121-124
Poulet, Georges 120
Pound, Ezra 81
princpio cooperativo
hiperprotegido 33
pseudo-iterativo 91
psicanlise 8,13,26,67,108,
118, 123
1:39
Q
"Queer Theory" 101, 108, 118, 126
Quine, W-O. 31
R
Ransom, John Crowe 119
rima 29, 36,47, 60, 80
ritmo 30, 36, 76, 80, 85
Richards, IA 89, 119
Rorty, Richard 13
Rose, Jacqueline 123
Rousseau, Jean-Jacques 18,20,22
s
Said, Edward 70,125
Saussure, Ferdinand de 61,63,120
Screen 124
Sedgwick, Eve 113, 126
semitica 121
senso comum, crtica do 14,23, 62
sries policiais 56
Shakespeare, William 48, 52, 57
Hamlet 28,39,43,66,110
soneto 28, 40, 98
Shelley, Percy Bysshe 77
Shklovsky, Victor 119
Showalter, Elaine 66,123
Silverman, Kaja 123
sindoque 74
Sinfield, Alan 125
Stallybrass, Peter 125
sublime, o 78
T
teoria:
natureza da 24
como apelido 13
teoria feminista 101,108,122
teoria ps-colonial 67, 118, 125
textos de demonstrao
narrativa 33, 92
transferncia 123
tropos, quatro grandes 73
Twain, Mark 57
v
Verlaine, Paul 63
w
White, Hayden 74
Whorf, Benjamin Lee 62
Williams, Raymond 50,125
Wimsatt, W.K. 119
Wordsworth, Wiliiam 38,53,74
/
SSD I FFLCH I USP
r~'
f
1':
ti .
'~ o:,
\"
." 'F",,f"(SEO DE: LETRA~ TOMBO: 197168
AQUISIAO: DOAAO 1 FAPESP
PROC.98/01397-0 1 N.F.N 61694
DATA: 14/11/2000 PREO: R$14,00
140
: ~'
Você também pode gostar
- CULLER Jonathan. Teoria Literaria - Uma Introducao-Libre PDFDocumento70 páginasCULLER Jonathan. Teoria Literaria - Uma Introducao-Libre PDFMarta PerpétuaAinda não há avaliações
- Jonathan Culler - O Que É TeoriaDocumento9 páginasJonathan Culler - O Que É TeoriamoyseshootsAinda não há avaliações
- A natureza da teoria literáriaDocumento4 páginasA natureza da teoria literáriamarcellyAinda não há avaliações
- Aula 01 Teoria e Critica Literária IDocumento12 páginasAula 01 Teoria e Critica Literária ILeo VelasquezAinda não há avaliações
- Teoria Literária Hoje - Jonathan CullerDocumento18 páginasTeoria Literária Hoje - Jonathan CullerFatima AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Uma antropologia críticaDocumento22 páginasUma antropologia críticaClodoaldo BastosAinda não há avaliações
- CULLER. O Que É Literatura e Tem Ela ImportânciaDocumento8 páginasCULLER. O Que É Literatura e Tem Ela ImportânciaAna Carolina90% (10)
- TeoriaLiteráriaHistóricaDocumento12 páginasTeoriaLiteráriaHistóricaalexgedAinda não há avaliações
- Dah Men Relativ It AetDocumento315 páginasDah Men Relativ It AetAlfonso Bianchini LückemeyerAinda não há avaliações
- Uma História da Filosofia Vol 11 Frederick CoplestonDocumento145 páginasUma História da Filosofia Vol 11 Frederick CoplestonBeyondAinda não há avaliações
- Teoria (literária) americana: Uma introdução críticaNo EverandTeoria (literária) americana: Uma introdução críticaAinda não há avaliações
- Teoria Social, Sociologia e MetateoriaDocumento25 páginasTeoria Social, Sociologia e MetateoriaLina LinouAinda não há avaliações
- (Artigo) Teoria em Tempos de Crise - Três Desafios Da Reflexão Teórica HojeDocumento22 páginas(Artigo) Teoria em Tempos de Crise - Três Desafios Da Reflexão Teórica HojethayenneAinda não há avaliações
- Larry LaudanDocumento132 páginasLarry LaudanGustavo BellezaAinda não há avaliações
- Filosofia vs. Ciência: as atividades filosófica e científica em contraste (ou por que o naturalismo filosófico é uma barbárie)No EverandFilosofia vs. Ciência: as atividades filosófica e científica em contraste (ou por que o naturalismo filosófico é uma barbárie)Ainda não há avaliações
- O Que e Memoria SocialDocumento17 páginasO Que e Memoria Socialodranoel2014Ainda não há avaliações
- O que é TeoriaDocumento11 páginasO que é TeoriaGuilherme EisfeldAinda não há avaliações
- Resenha de Instituindo a CiênciaDocumento3 páginasResenha de Instituindo a Ciêncianina_machado_12Ainda não há avaliações
- CULLER, Jonathan - Teoria Literária - Uma IntroduçãoDocumento70 páginasCULLER, Jonathan - Teoria Literária - Uma IntroduçãoLarissa Goulart100% (10)
- CULLER, Jonathan. Teoria Literária - Uma IntroduçãoDocumento70 páginasCULLER, Jonathan. Teoria Literária - Uma IntroduçãoMarina Sena100% (1)
- Filosofia e Filosofia Espontânea Dos Cientistas by Louis AlthusserDocumento195 páginasFilosofia e Filosofia Espontânea Dos Cientistas by Louis AlthusserThiago100% (1)
- Michael Lowy Ideologias e Ciencia Social Elementos para Uma Analise MarxistaDocumento115 páginasMichael Lowy Ideologias e Ciencia Social Elementos para Uma Analise MarxistaAroldo J. Bichaco100% (1)
- Pens. Chins - IntroDocumento16 páginasPens. Chins - IntroNicolas GomesAinda não há avaliações
- CARDOSO, Ciro (Resposta Ao Comentários de Funari DiehlDocumento10 páginasCARDOSO, Ciro (Resposta Ao Comentários de Funari DiehlThiago MeloAinda não há avaliações
- Filosofia Aline Simone SachetDocumento6 páginasFilosofia Aline Simone SachetAline Simone SachetAinda não há avaliações
- Teoria Na Antropologia Desde Os Anos 60 - Sherry B. OrtnerDocumento48 páginasTeoria Na Antropologia Desde Os Anos 60 - Sherry B. OrtnerJosiane BragatoAinda não há avaliações
- A lógica medieval e suas característicasDocumento9 páginasA lógica medieval e suas característicasEduardo Alberto Duarte Lacerda100% (1)
- Portfólio - Atividade Ciclo 2 - Intro Fil.Documento6 páginasPortfólio - Atividade Ciclo 2 - Intro Fil.Carlos ZimbherAinda não há avaliações
- Lacapra, História e RetóricaDocumento22 páginasLacapra, História e RetóricaRodrigo TurinAinda não há avaliações
- Resenha-Uma Era Secular - Charles TaylorDocumento9 páginasResenha-Uma Era Secular - Charles TaylorJoyce OakAinda não há avaliações
- Teoria antropológica desde os anos 60Documento48 páginasTeoria antropológica desde os anos 60Lucris Morais da Silva100% (1)
- Racionalidade e realismo: o que está em jogoDocumento20 páginasRacionalidade e realismo: o que está em jogojoseandrade2013Ainda não há avaliações
- Lógica MedievalDocumento11 páginasLógica MedievalLarissa RozaAinda não há avaliações
- Funcao Dogma Na Investigacao Cientifica KuhnDocumento37 páginasFuncao Dogma Na Investigacao Cientifica KuhnÁdria AlbaradoAinda não há avaliações
- Narrativas de Deus na era pós-metafísicaDocumento6 páginasNarrativas de Deus na era pós-metafísicaFeL987Ainda não há avaliações
- Ser Estoico Eterno Aprendiz - Ward FarnsworthDocumento561 páginasSer Estoico Eterno Aprendiz - Ward FarnsworthalomAinda não há avaliações
- Pensadores sociais e história da educaçãoNo EverandPensadores sociais e história da educaçãoAinda não há avaliações
- Fundamentos teóricos da literaturaDocumento17 páginasFundamentos teóricos da literaturaYasmim EloiAinda não há avaliações
- Francisco Suarez A Metafisica Na Aurora Da Modernidade PDFDocumento14 páginasFrancisco Suarez A Metafisica Na Aurora Da Modernidade PDFWilliam Dias de AndradeAinda não há avaliações
- História Da Filosofia - Volume 6Documento515 páginasHistória Da Filosofia - Volume 6Victor Hugo Vieira100% (4)
- A superprodução historiográfica e o pós-modernismoDocumento23 páginasA superprodução historiográfica e o pós-modernismoItalo PotyAinda não há avaliações
- A leitura de textos filosóficosDocumento6 páginasA leitura de textos filosóficosAndrezyta FernandaAinda não há avaliações
- Livro - Historia Da Filosofia ModernaDocumento121 páginasLivro - Historia Da Filosofia ModernaJana Mel100% (1)
- Lógica, RCDocumento8 páginasLógica, RCbengo33Ainda não há avaliações
- DialéticaDocumento114 páginasDialéticaFilosofia e PsicologiaAinda não há avaliações
- A leitura dos textos filosóficosDocumento6 páginasA leitura dos textos filosóficosJoice Beatriz Valduga da CostaAinda não há avaliações
- Da Filosofia à História: Os Diálogos entre Foucault e os AnnalesNo EverandDa Filosofia à História: Os Diálogos entre Foucault e os AnnalesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Pensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalNo EverandPensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalAinda não há avaliações
- A Superioridade da Forma Musical diante da Poesia em SchopenhauerNo EverandA Superioridade da Forma Musical diante da Poesia em SchopenhauerAinda não há avaliações
- Tractatus 100: revisitando a obra de WittgensteinNo EverandTractatus 100: revisitando a obra de WittgensteinAinda não há avaliações
- Arquiteturas Conceituais: Estudos FilosóficosNo EverandArquiteturas Conceituais: Estudos FilosóficosAinda não há avaliações