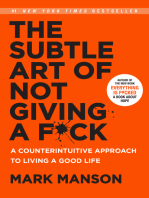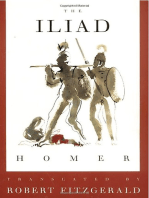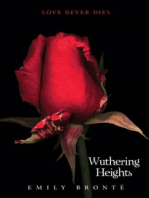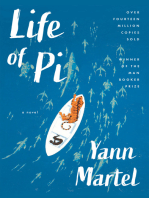Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Benjamin e Espetaculo
Enviado por
venisemelo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações86 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações86 páginasBenjamin e Espetaculo
Enviado por
venisemeloDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 86
Revista da Graduao
Vol. 5 No. 2 2012 18
Seo: Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas
Ttulo: A ESTTICA DO ESPETCULO: Walter
Benjamin: fragmentos
Autor: Caio Yurgel
Este trabalho est publicado na Revista da Graduao.
ISSN 1983-1374
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/editor/submission/12437
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
CURSO DE FILOSOFIA
CAIO YURGEL
A ESTTICA DO ESPETCULO: WALTER BENJAMIN: FRAGMENTOS
PORTO ALEGRE
2011
CAIO YURGEL
A ESTTICA DO ESPETCULO: WALTER BENJAMIN: FRAGMENTOS
Trabalho de Concluso de Curso apresentado
como requisito parcial para a obteno do
grau de Bacharel em Filosofia pela Faculdade
de Filosofia e Cincias Humanas da Pontifcia
Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
Orientador: Dr. Ronel Alberti da Rosa
Porto Alegre
2011
CAIO YURGEL
A ESTTICA DO ESPETCULO: WALTER BENJAMIN: FRAGMENTOS
Trabalho de Concluso de Curso apresentado
como requisito parcial para a obteno do
grau de Bacharel em Filosofia pela Faculdade
de Filosofia e Cincias Humanas da Pontifcia
Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
Aprovada em:______de_______________________de_________.
BANCA EXAMINADORA:
Prof. Dr. Ronel Alberti da Rosa PUCRS
___________________________________________________
Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza PUCRS
___________________________________________________
Prof. Dr. Srgio Augusto Sardi PUCRS
___________________________________________________
Porto Alegre
2011
AGRADECIMENTOS
Este texto resultado de trs anos de pesquisa, e deve muito a muita gente.
artista e professora Elida Tessler (PPGAV/UFRGS), pelo altamente criativo
espao de discusso sobre procedimentos artsticos e de pesquisa promovido em sua
disciplina Laboratrio de criao de textos. O captulo 4 fruto de tais conversas.
Ao professor Ricardo Barberena (PPGL/PUCRS), pela liberdade de dilogo
dentro e fora das disciplinas por ele ministradas, com especial meno Abordagens
tericas da literatura, fundamental na construo argumentativa do captulo 2.
Ao professor Ricardo Timm (PPGL e Filosofia/PUCRS), pelas prelees
sobre catstrofe e representao de sua disciplina Teorias crticas da literatura, a
partir das quais pude repensar a barbrie em Walter Benj amin e sua incidncia no
presente trabalho.
Ao professor Srgio Sardi (Filosofia/PUCRS), pelas indispensveis (e
tranquilizantes) disciplinas de Monografia ministradas, e pelo constante apoio
psicolgico oferecido aos alunos em pleno pnico filosfico (e as decorrentes
crises existenciais).
Ao professor Teixeira Coelho (ECA/USP), pelo dilogo firmado durante o
Curso de Especializao em Gesto Cultural (Universidade de Girona / Ita Cultural)
e, sobretudo, pelo livro A cultura e seu contrrio, indispensvel na reflexo e
oposio entre crtica e espetculo.
Ao maestro e mestre Ronel Alberti da Rosa (Filosofia/PUCRS), pela leitura
atenta, pelas sugestes precisas (e bem humoradas), e pela imediata disponibilidade
em aceitar orientar um trabalho levemente (mas apenas levemente) anrquico.
Fundao Joaquim Nabuco, que, por ocasio do III Concurso Mrio
Pedrosa de Ensaios sobre Arte e Cultura (2010), julgou prudente premiar um
experimental (e romanesco) ensaio meu dedicado a Adorno, Benjamin e Kracauer, e
cujo incentivo (financeiro e moral) foi decisivo para a continuao da pesquisa.
Magda Gans, pelo auxlio com a lngua alem, e pela sugesto de leitura do
conto Die Panne, do escritor suo Friederich Drrenmatt, decisivo s questes de
fundo do captulo 5.
Ao Marcos Freire, pelas leituras de verses anteriores e opinies (nem
sempre amenas) sobre o andamento do texto, e pela indicao do ensaio Ser que
Benjamin devia ter lido Marx?, do crtico britnico T.J. Clark, que veio a corroborar
minha no to pacfica viso do marxismo.
minha famlia, pela pacincia.
RESUMO
O objetivo deste ensaio (pois um ensaio antes de ser uma monografia)
descer urbe e analis-la criticamente; aportar um olhar filosfico ao modo como
certos fenmenos se produzem e se repetem e se repetem ao ponto de destiturem-
se de sentido. O ensaio toma a (fragmentria) obra completa de Walter Benjamin
(1892-1940) como um mapa da cidade: percorre caminhos similares queles
percorridos pelo filsofo alemo, porm atualizando-os aos dias atuais. Com isso,
cumpre funo dupla: de um lado, atualiza o pensamento de Benjamin, provando sua
relevncia e seu extremo eco mesmo setenta anos aps sua morte; e, de outr o,
prope um texto vivo, que almeja fazer a filosofia respirar e no soterr-la debaixo de
conceitos mofados que se exaurem em si mesmos e se restringem a um grupo muito
pequeno de iniciados. Trata-se bem de um texto inscrito no mbito da filosofia e,
mais precisamente, no da esttica , porm um que transitar por cinco outros
territrios adjacentes: literatura, arquitetura, artes visuais, fotografia e cinema. Um
conceito comum une tais territrios, o da esttica do espetculo. Espetculo aqui
proposto enquanto aquilo que se ope a crtica ou seja, enquanto o evento que
causa barulho mas no reflexo; o evento que prenuncia a falncia do esprito crtico.
A incapacidade crtica a porta de entrada para a esttica do espetculo.
Palavras-chave: Walter Benjamin. Esttica. Espetculo. Crtica. Fragmento.
ABSTRACT
The purpose of this essay is to critically analyze the metropolis, to draw a
philosophical look at certain phenomena, at their occurrence and at their recurrence
to the point of meaninglessness. The essay takes the (fragmentary) complete works
of Walter Benjamin (1892-1940) as a map of the city, locating therein paths similar to
those crossed by the German philosopher and updating them. Therefore, it both
reassesses Benjamins critical thinking, proving its relevance and even its extreme
echo over seventy years after his death, as well as proposes a living text, one that
aims at giving philosophy some breathing space, and not burying it under discussions
that exhaust themselves in themselves and are thus restricted to a small group of
insiders. This one is indeed a philosophical text, but one that seeks leeway in
adjacent territories, such as literature, architecture, visual arts, photography, and
cinema. A common concept unites these territories: the aesthetics of the spectacle.
Spectacle here understood as opposed to critique, i.e., as the event that causes
noise but not reflection; as the event that foreshadows the failure of critical thinking.
The failure of critical thinking leads the way towards the aesthetic of the
spectacle.
Keywords: Walter Benjamin. Aesthetics. Spectacle. Critique. Fragment.
LISTA DE ABREVIATURAS DA OBRA DE WALTER BENJAMIN
A&P Aesthetics and Politics
C The correspondence of Walter Benjamin, 1910-1940
GS Gesammelte Schriften
PA Passagens
SW Selected Writings, 1938-1940
WB1 Obras Escolhidas I: Magia e Tcnica, Arte e Poltica
WB2 Obras Escolhidas II: Rua de mo nica
WB3 Obras Escolhidas III: Charles Baudelaire, um lrico no auge do capitalismo
SUMRIO
1. INTRODUO ................................................................................................................. 9
2. LITERATURA E ESPAO URBANO ........................................................................... 18
2.1. DO LADO DE C DO BULEVAR ............................................................................... 18
2.2. DO LADO DE L DO BULEVAR ................................................................................ 19
2.3. O BULEVAR INTEIRO ................................................................................................ 20
2.4. O HABITANTE DO BULEVAR.................................................................................... 23
2.5. O HERI DO BULEVAR............................................................................................. 26
2.6. A VISTA DO BULEVAR .............................................................................................. 28
3. ARQUITETURA E EXLIO............................................................................................. 32
3.1. O IMPRIO DAS FORMIGAS .................................................................................... 32
3.2. PLACE DE LA CONCORDE: OBELISCO .................................................................. 36
3.3. APAGUEM OS RASTROS! ........................................................................................ 41
4. PINTURA E IDEOLOGIA .............................................................................................. 48
4.1. ALARME DE INCNDIO............................................................................................. 48
4.2. DA BELEZA AUSNCIA ......................................................................................... 51
4.3. MANUAL DE PINTURA E CALIGRAFIA .................................................................... 53
4.4. DA REVOLUO ACOMODAO ........................................................................ 56
5. AUSNCIA DA OBRA-PRIMA E INSTRUES PARA UMA CONCLUSO ........... 63
5.1. LABIRINTO E MINOTAURO ...................................................................................... 63
5.2. AURA E TCNICA ...................................................................................................... 65
5.3. MO E OLHO .............................................................................................................. 70
5.4. O RETRATO DE KAFKA E A LTIMA OPERAO DE DOBRA ............................ 78
6. ANOTAO PSTUMA ............................................................................................... 82
REFERNCIAS .................................................................................................................. 83
9
1 INTRODUO
Nous ne travaillons qu remplir la
mmoire, et laissons lentendement et la
conscience vides.
(MONTAIGNE, 2002, p. 244)
Este um ensaio filosfico. bom avisar, para que se faam sentir o peso
dos sculos para que desde j se adote aquela postura solene e meditativa, um
pouco pomposa, uma das mos no queixo, isto, esta postura auto-importante que a
palavra filosofia parece inspirar. Se houver uma toga disposio, no hesite em
vesti-la (um bom figurino apenas acrescenta verossimilhana ao peso dos sculos).
Este um ensaio filosfico dedicado memria de Ludwig Wittgenstein, o
que , em si, igualmente pomposo, e talvez um pouco menos solene, porm sem
dvida digno de nota. Posto de forma mais precisa, como convm filosofia, este
ensaio filosfico tributrio de um momento especfico de seu pensamento: o
momento em que o filsofo austraco percebeu que de nada adiantaria construir uma
complexa linguagem artificial para tentar abarcar e superar as ambiguidades do
cotidiano, mas sim abandonar este ideal de perfeio e simplesmente (o que no ,
claro, nada simples) observar o uso que as pessoas davam linguagem na vida
cotidiana. Observar e refletir, observar e refletir e deste incansvel e obsessivo
trnsito nasceu o Segundo Wittgenstein, embora o prprio no o tenha sabido em
vida e tenha morrido crendo-se uno: o bem-comportado Segundo foi-lhe conferido
postumamente, por crculos acadmicos que costumam ter por esporte predileto o
estabelecimento de quadrados tericos firmemente delimitados e dceis cronologias.
Este um ensaio filosfico dedicado memria de Ludwig Wittgenstein, porm
interessado no legado da chamada Escola de Frankfurt. Pois a Escola de Frankfurt
ilustra uma passagem semelhante quela perpetrada por Wittgenstein, e que bem
exemplifica o tnus e a tnica da filosofia do sculo 20: uma filosofia que deixou de
ser apenas uma clarificao de linguagem, tediosamente classificando enunciados
como verdadeiros ou falsos; uma filosofia que abandonou a parcela mais nociva de
sua pretenso cientfica justamente para poder falar de enunciados dos quais no se
pode dizer ou os quais no se resumem a V e F; uma filosofia que no abriu mo
de seu trabalho conceitual mais duro, mas soube acompanh-lo de uma flexibilidade
que, em lugar de segreg-la, deu-lhe liberdade para falar do mundo real. A Escola de
10
Frankfurt ilustra um momento na histria da filosofia em que ela, a filosofia, deixou de
significar a resoluo de questes que se esgotam nela mesma e passou a acolher
um maior grau de instrumentalizao. Em outras palavras, palavras mais dialticas,
uma filosofia que superou e conservou suas dimenses terica e concreta e pde
sintetiz-las em uma outra e renovada abordagem.
Este um ensaio filosfico interessado no legado da Escola de Frankfurt, e,
mais especificamente, nas aventuras de Walter Benjamin. E aventuras no um
mau termo, pois este ensaio filosfico tratar, dentro dos limites e do bom-senso da
discusso filosfica, incorporar s suas teses centrais alguns elementos biogrficos
do pensador alemo. Biografismo e psicologismo so manobras abjetas quando
operadas em excesso ou aquecidas por aquele fervor freudiano que ter, em pouco
tempo, reduzido tudo a falos e pulses e mes motivo pelo qual se propem aqui
pequenas e cirrgicas incises: breves relatos dos exlios de Benjamin, sua famosa
(e romantizada) travessia da fronteira franco-espanhola, os dias e anos que
sucederam sua morte, bem como de intermitentes recursos sua correspondncia
ntima (inclusive em alemo, o que costuma despertar o perdo acadmico por
eventuais falhas anteriores). A incluso de tais passagens tem por objetivo
estabelecer um amplo panorama da ressonncia do pensamento de Walter
Benjamin, alm de funcionar como um constante e poderoso lembrete do perodo
histrico de onde fala o filsofo: entre o pice ps-hegeliano da segunda metade do
sculo 19 e a conturbada e violenta primeira metade do sculo 20. As cirrgicas
incluses biogrficas tencionam lembrar o leitor justamente da concretude que h
por trs do texto terico (um texto nunca apenas um texto), e a barbrie que
ameaa (e impulsiona) cada movimento empreendido pelo homem. Falar no
apenas da obra de Benjamin, mas de sua vida, funciona como um memento mori: a
filosofia (a filosofia que interessa a este ensaio filosfico) no faz concesses, e leva
s ltimas consequncias a anlise de sua poca, de sua realidade. Do contrrio
outra coisa, roteiro para novela, pauta de uma revista de tric.
Este um ensaio filosfico que se origina das runas, da concretude dos
destroos e da paisagem urbana da cidade moderna. Nas palavras de outro dos
mais instigantes pensadores do sculo 20, e que mereceria ser melhor estudado no
Brasil, Siegfried Kracauer, a proposta de Benjamin por uma filosofia das ideias,
contra a filosofia universalizante e abstrata, que assegure a plena concretude e
corrobore a estrutura descontnua do mundo:
11
Destruir e em seguida iluminar l para onde de costume no se volta
a nossa ateno, corresponde propriamente ao mtodo de Benjamin.
[...] O seu material prprio o que passou: para ele, o conhecimento
nasce das runas. Aqui, portanto, no se prepara para salvar o
mundo vivente; muito mais, aquele que medita salva fragmentos do
passado. [...] Com Benjamin a filosofia reconquista uma preciso de
contedo, o filsofo passa a ocupar aquele posto nobre entre o
pesquisador e o artista. (KRACAUER, 2009, pp.280-285)
Este um ensaio filosfico que aprecia a ideia um tanto pretensiosa (mas
agora j tarde demais para isso) de estar a meio-caminho entre pesquisa e arte.
Contudo, mais do que isso, este um ensaio filosfico que t em a mesma
mentalidade de um co bem adestrado, um para o qual a fidelidade ao dono de
suprema importncia. De maneira que, ao ser tributrio do pensamento de Walter
Benjamin, este ensaio filosfico tambm lhe fiel do ponto de vista formal
1
. neste
sentido que este ensaio filosfico se prope fragmentrio: porque a prpria obra de
Benjamin o foi. Se desejssemos um texto monoltico, recorreramos sem dvida a
Kant. No recorreremos, e tampouco imporemos elementos estilsticos
completamente alheios ao filsofo em anlise (nas modestas medidas de algum
que no possui a iluminao profana e genial de um Walter Benjamin). Um bom
exemplo da voz altamente literria de Benjamin pode ser encontrado no volume Rua
de mo nica, que funciona tambm como uma espcie de guia para os aspectos
formais empregados neste ensaio filosfico em sua pretensiosa busca pelo dilogo
entre pesquisa e arte, em sua pretensiosa busca pela voz de Walter Benjamin.
Este um ensaio filosfico embora a linguagem empregada renegue (mas
muito educadamente, por favor) uma certa fleuma filosfica. E isto porque, alm das
motivaes acima mencionadas, este ensaio filosfico transitar pelas reas da
literatura, da arquitetura, das artes visuais, da fotografia e do cinema, e caber a ele,
ao ensaio, dar o devido espao a cada uma dessas manifestaes estticas, como o
fez com maestria o maestro Benjamin. A linguagem, portanto, no poder soterrar a
esttica com jarges, frases prontas e estruturas abafadas. O papel da filosofia (o
papel da filosofia que interessa a este ensaio filosfico) justamente o de abrir
janelas, ventilar ambientes, e no o contrrio.
1
Forma e contedo so conceitos aqui utilizados sem fins de problematizao. O prprio Benjamin
os recusava, considerando-os uma oposio estril, e preferindo tomar de emprstimo de Goethe o
termo teor (Gehalt) (vide BENJAMIN, 2011, p.13).
12
Este um ensaio filosfico ciente da barbrie, mas receoso da poltica.
improvvel falar da Escola de Frankfurt sem fazer meno ao marxismo, e muito
difcil analis-la em profundidade sem lanar mo do vocabulrio marxista.
Improvvel, difcil, mas no impossvel isto , se aceitarmos compreender o
marxismo como uma espcie de gria. Hemingway disse certa vez que toda gria
deveria ser evitada, uma vez que era apenas questo de tempo at que azedasse
2
.
O marxismo azedou, como azedou, em alguma medida, qualquer teoria poltica que
no tenha vivido maio de 1968 e novembro de 1989. Analisadas desde a primeira
dcada do sculo 21, tais abordagens no mais condizem plenamente com a
realidade, porm isso no significa (est longe de significar) que os pensadores que
aderiram a tais teorias polticas tenham cado em obsolescncia. Muito pelo
contrrio: a filiao poltica pode servir como um filtro, um teste imposto pelo tempo
todo aquele pensador que se mantiver atual e relevante em dcadas muito
distantes das que foram as suas um pensador que merece ser atualizado e
redescoberto. Do contrrio no se tratava de reflexo, mas de panfletagem e, para
estes, o esquecimento o melhor consolo. Ao tomar o pensamento de Walter
Benjamin, em grande medida, e da Escola de Frankfurt, em menor medida, ser
mantido o uso do jargo marxista, porm, simultaneamente, se o acompanhar com
notas de rodap e observaes que tero por fim ampliar e atualizar possveis
significados de tais termos para os dias atuais, mostrando sua relevncia para alm
do materialismo histrico e das lutas de classe
3
.
Este ensaio filosfico no nem anti-, nem pr-Marx, mas a favor do
pensamento crtico, a favor da filosofia como campo de mediao de ideias.
Portanto Benjamin, e no outro integrante da Escola de Frankfurt, e portanto
filosofia, e no outra disciplina das chamadas cincias humanas. A tais esclarecimentos
se presta o territrio artificial da introduo, esta espcie de composio em estado de
suspenso onde os mesmos elementos que surgiro no texto so didaticamente
antecipados, estragando a surpresa, diminuindo consideravelmente o impacto terico. A
introduo compartilha o modus operandi do tio bbado em festas de famlia: expe em
2
Try and write straight English; never using slang except in Dialogue and then only when
unavoidable. Because all slang goes sour in a short time. I only use swear words, for example, that
have lasted at least a thousand years for fear of getting stuff that will be simply timely and then go
sour. (PHILLIPS, 2004, p.82)
3
A esse respeito, recomenda-se a leitura do ensaio Ser que Benjamin devia ter lido Marx?, do
historiador da arte britnico T.J. Clark (2007).
13
um par de linhas e de forma abrupta aquilo que se gostaria de ir revelando aos poucos
(ou aquilo que jamais se gostaria de revelar).
Dentro desse esprito catalisador, convm elencar algumas palavras mais em
defesa do ttulo do presente ensaio filosfico e, sobretudo, da engenharia de sua
tese central (sua subdiviso em captulos temticos; suas insistentes notas de
rodap; suas citaes bibliogrficas abreviadas; seu pendor barroco por uma
eventual citao em francs que poderia muito bem ser traduzida, mas no ser; sua
pretenso labirntica; seu apelo fragmentrio; seu abuso dos travesses e dos dois
pontos). Comecemos pelos dois pontos:
A ESTTICA DO ESPETCULO: WALTER BENJAMIN: FRAGMENTOS
fundamental compreend-los, os dois pontos, em sua acepo mais
benjaminiana: a do elogio do fragmento, a da conexo sbita entre duas sentenas,
a do efeito-surpresa que confere novo flego leitura. Os dois pontos, em Benjamin,
abrem o texto para o inesperado: qualquer coisa pode suced-los: um chiste irnico,
uma frase de efeito, uma concluso arrasadora. Os dois pontos representam o
penhasco da linguagem, diante do qual no resta ao leitor seno deixar-se cair e
confiar na mo do escritor. A filosofia de Benjamin tambm a filosofia dos dois
pontos, da ambiguidade desses dois pontos: tanto brusca quanto arejada, ao mesmo
tempo lgica e contraditria (e apesar disto, contradio das contradies:
fundamentalmente coerente). Os dois pontos substituem conjunes enfadonhas
como todavia e no obstante e, em troca, oferecem nada, o que significa dizer que
oferecem tudo: cabe ao leitor completar o significado daqueles dois pontos; cabe ao
leitor integrar-se ativamente ao texto e partilhar de sua simbologia. Os dois pontos
convocam, fisgam o leitor e ento a mo de Benjamin o empurra penhasco abaixo.
No, portanto, um maneirismo monogrfico, mas a preservao de um
espao indeterminado e labirntico (o sinal grfico de dois pontos um palndr omo
que no deixa marcas, um fragmento que no indica nenhum sentido preferencial).
Fragmento e labirinto so dois outros elementos-chave, uma vez que a construo
do texto como um todo prev, pretensiosamente, mltiplos portes de acesso.
maneira de um quebra-cabeas conceitual (um Jogo da amarelinha benjaminiano),
no h ordem correta para a leitura dos quatro captulos. Idealmente, os captulos
deveriam ser lidos lado a lado, sobrepostos, em pleno dilogo (como tentou, com
14
algum grau de xito, o premiado ficcionista sul-africano J.M. Coeztee em seu Dirio
de um ano ruim). Por uma impossibilidade fsica, todavia (e pela ausncia de um
prmio Nobel para validar qualquer anarquismo metodolgico), optou-se por uma
ordenao didtica: o nvel de exigncia conceitual eleva-se, embora muito
discretamente, de um captulo para o seguinte. E, apesar de serem mltiplos os
portes de acesso, cabe apenas ao leitor localizar as sadas (motivo pelo qual a
concluso no cumprir com seu papel de bengala hermenutica, resumindo em um
par de linhas o que se tentou explicar durante dezenas de pginas cuidadosamente
redigidas. Concluses so ofensas inteligncia do leitor).
O que nos conduz ao derradeiro, e mais complexo, esclarecimento preliminar,
o ltimo arroz-de-festa (tambm conhecido como leitmotiv) deste ensaio filosfico: a
tese central. Tudo o que foi anteriormente dito, e tudo o que ser posteriormente
acrescentado, tem por fim estabelecer relaes com a e aumentar o alcance da
tese central: a esttica do espetculo. No se trata de um conceito cunhado pelo
prprio Benjamin, porm por ele exaustivamente abordado. Sob a alcunha de
esttica do espetculo, subsumem-se os principais temas tratados pelo filsofo
alemo, os quais sero gradativamente introduzidos ao longo de cada captulo,
conforme a nfase e as especificidades de cada uma das cinco linguagens estticas
aqui selecionadas. De modo que sero evitadas as introdues prematuras, para
que estas possam ocorrer em seu devido tempo e lugar. Ao invs disso, prope-se
uma apresentao mais aprofundada do que se entende por esttica do espetculo
4
.
Porventura de imediato no transparea, porm estamos diante de um conceito
bastante pessimista. A vaga e romantizada ideia do espetculo pode at soar bonita,
emocionante, porm suas engrenagens so apocalpticas. Os bastidores do
espetculo so como cozinhas de restaurantes: mais vale no conhec-las, no se
aventurar por entre panelas imundas e ambientes abafados e infraes sanitrias, sob
o risco de perder para sempre o apetite. Por isso o amador amador: apenas aquele
que no frequenta as cozinhas do mundo pode continuar a am-lo cegamente,
idealizadamente. O olhar que se debrua do outro lado das cortinas o olhar da
reflexo crtica, da coragem diante do desencanto, da aceitao do nojo.
Pois estar sujeito rotina significa sacrificar suas idiossincrasias e abrir mo
da capacidade de sentir nojo. Isso torna as pessoas melanclicas (WB1, p.74). O
4
Importante ressaltar que esta discusso continua ao longo do texto, no encerrando-se nem exaurindo-se aqui.
15
espetculo conforta, tranquiliza, apazigua. O espetculo instaura a rotina, a melancolia
dos domingos noite, e o faz discretamente, em silncio. O espetculo aquilo que
se ope crtica ou seja, o evento que causa barulho mas no reflexo. Ele to-
somente o que ele : um espetculo, e nada mais, como fogos de artifcio que
mesmerizam e ento somem sem nada terem deixado para trs (alm de um eventual
buraco na camada de oznio). O espetculo no acompanha o trabalho da memria
com a virtude do entendimento. Ele limita-se a pontuar um dia, uma dcada, uma vida,
sem acrescentar experincia do espectador. H registro mas no h brilho, e no dia
que um eventual espectador comentar com outro sobre os fogos de artifcio da virada
do ano, talvez o outro se lembre, mas mais provavelmente no ser capaz de
distingui-los dos fogos de um outro ano qualquer, e, mesmo que saiba, no ter como
continuar a conversa porque nada haver a se acrescentar: o espetculo satisfaz-se
em si mesmo. Na melhor das hipteses (e que pssima hiptese ser esta), o
interlocutor contribuir ao dilogo dizendo que sim, que eram bonitos, e a conversa
deixar na boca o mesmo gosto amargo de alimentos excessivamente
industrializados, quando exaurido o efmero efeito do sal e do acar.
Nada mais importante para chamar a ateno sobre uma verdade do que
exager-la, escreveu certa vez o crtico literrio Antonio Candido (2008, p.13). No
a inteno, aqui, a de esboar um panorama quase apocalptico que exija a
extrao do sentido ltimo de cada ao, ou proibir e condenar os pequenos e
despreocupados prazeres cotidianos. Extremismo algum pode ser benfico, e no se
propor uma filosofia da racionalidade pura, nem tampouco uma da sensorialidade
(ou da sensualidade) absoluta (no se insistir neste tipo recorrente de dogmatismo,
de polarizao). O objetivo justamente o de demonstrar como espetculo e
crtica constituem plos opostos mas curiosamente complementares, plos que
demandam constante reavaliao do contrrio, como se costuma observar, o
lado mais frgil da equao, o lado crtico, que sofre os mais nefastos revezes, as
mais permanentes aniquilaes. nessa polaridade, nessa tenso entre os dois
plos, onde se localizam a reflexo e a ao (WB1, p.77) e uma filosofia a
meio-caminho entre reflexo e ao que interessa a este ensaio filosfico.
Na poca de Homero, a humanidade oferecia-se em espetculo aos
deuses olmpicos; agora, ela se transforma em espetculo para si
mesma. Sua auto-alienao atingiu o ponto que lhe permite viver sua
prpria destruio como um prazer esttico de primeira ordem.
(WB1, p.196)
16
No h nada de to grave com que no possamos conviver durante algum
tempo (WB1, p.58), sentenciou, em 1930, o profeta Benjamin. A extrema
capacidade de adaptao a novas realidades, a disporas e guerras e desastre
climticos, a marca indelvel do ser humano: ao mesmo tempo a razo de sua
sobrevivncia e de sua falncia crtica. Pois se em um primeiro momento conviver
significa sobreviver, no longo prazo converte-se em acomodar, e tudo o que um
dia foi ganho passa a ser perdido. Da acomodao nasce o espetculo, seja ele
tico, poltico, esttico, e os erros do passado convertem-se em erros do presente
(a derrota em uma guerra converte-se em mais tanques enfileirados espera da
seguinte; as expresses artsticas so desprezadas enquanto contemporneas,
endeusadas quando enfim histricas; o nazismo vira neo-nazismo; as ditaduras do
passado comeam a suscitar algum grau de saudosismo ah, que bom que era...).
O espetculo assume ares de soberba crtica, de autoconfiana em excesso, de
misria da reflexo. Ele solapa aquela que deve ser a tarefa mais urgente do
indivduo moderno: chegar conscincia de quo pobre ele e de quanto precisa
ser pobre para poder comear de novo (WB1, p.131).
O espetculo rechaa o novo, o desconhecido, e instaura o j-visto, o bem-
comportado. Ele no tem por funo transformar a realidade, e sim apenas
descrev-la (WB1, p.117), tranquilizar o espectador e impedir a plena conscincia da
pobreza de seus dias iguais (o espetculo como uma me super-protetora que
tece uma rede invisvel entre o filho e o mundo). Ao propor-lhe filmes sobre emoes
genricas, pastiches de obras-primas do passado, verses edulcoradas de
romances impressos, o espetculo limita-se a abastecer um aparelho produtivo sem
ao mesmo tempo modific-lo, uma manobra fadada ao infinito enquanto for
abastecida por artistas rotineiros (WB1, p.128).
Acomodao, rotina, domesticao: o espetculo retira da arte sua alma, seu
valor revolucionrio, e pratica com ela uma espcie de dumping crtico, devolvendo-a
ao mercado a preos vis, convertendo-a em objeto de diverso urbana (WB1,
p.77). O espetculo a saturao da arte: transforma em excitaes tudo o que
toca (WB1, p.132), banaliza, esvazia, subtrai a experincia. O espetculo no
prope uma renovao autntica da vida, e sim uma galvanizao, um
divertimento incuo sem qualquer validade, pois qual o valor de todo o nosso
patrimnio cultural, se a experincia no mais o vincula a ns? (WB1, p.115).
17
Analisada muito de perto, a esttica do espetculo esquizofrnica: ao propor
vivncias de segunda mo (a velha polarizao entre bem e mal, sem qualquer
nuance), ao requentar tcnicas obsoletas do ponto de vista crtico (uma natureza-
morta pintada cem anos depois, sem qualquer constrangimento), ela se furta
completamente da coincidncia entre ao e mundo. Ela o equivalente artstico do
paciente internado que clama, jura, insiste ser Napoleo porm, ao contrrio da
medicina (que no se vexa em prescrever remdios), a arte permite que a doena se
alastre, contamine o pblico de forma definitiva, torne eterna a mxima
benjaminiana: Desfruta-se o que convencional, sem critic-lo; critica-se o que
novo, sem desfrut-lo (WB1, p.188).
O recorte que fazemos aqui da filosofia de Benjamin visa organizar um elogio
da crtica, isto , um elogio da arte verdadeiramente propulsora, desafiadora, a arte
digna de seu nome. Uma arte que preserva a fora transformadora do
recolhimento, em oposio simples e no-comprometida distrao (WB1,
p.191). Uma arte que no aceita atalhos e sadas fceis, mas acolhe uma dose de
contra-senso, esta marca imperceptvel da autenticidade que os distingue de todos
os objetos em srie fabricados segundo um padro (WB2, p.264). Uma arte capaz
de inserir-se nos meandros da economia e da poltica para sabot-los de dentro,
sempre que necessrio (WB1, pp.29-30). Uma arte ciente de que no h cultura sem
barbrie (WB1, p.225). Uma arte que imponha ao artista e ao pblico uma
fundamental exigncia: a reflexo (WB1, p.134), e uma reflexo que vincule-se
experincia de cada indivduo, para que esse indivduo possa dar um pouco de
humanidade massa de consumidores, que um dia talvez retribua com juros e com
os juros dos juros (WB1, p.119).
Porventura novamente no transparea, porm estamos diante de um cenrio
decididamente pessimista.
18
2. LITERATURA E ESPAO URBANO
Honor de Balzac (1799-1850)
Alexandre Dumas, pai (1802-1870) mile de
Girardin (1802-1881) Victor Hugo (1802-
1885) Georges Eugne Haussmann (1809-
1891) Edgar Allan Poe (1809-1849)
Iluminao a gs (1820) Charles Baudelaire
(1821-1867) Fidor Dostoievski (1821-1881)
Folhetim (1836) Marcel Proust (1871-
1922) Iluminao eltrica (1878)
2.1. DO LADO DE C DO BULEVAR
Pois os grandes escritores, sem exceo, fazem suas combinaes
em um mundo que vem depois deles, como as ruas parisienses dos
poemas de Baudelaire s existiram depois de 1900 e tambm no
antes disso os seres humanos de Dostoievski. (WB2, p.15)
Paris, circa 1836: mile de Girardin lana o La Presse e a poca dourada do
peridico impresso tem seu incio. mile de Girardin que foi uma espcie de self-
made man napolenico, tendo divido seu tempo entre fundar jornais e duelar com
cavalheiros cujas honras ofendera aqui e ali. De uma mo, foi responsvel pelas
publicaes dos primeiros textos de Honor de Balzac e Alexandre Dumas pai, em
1825, no jornal La Mode (MIRECOURT, 1869, p.35); de outra, baleou fatalmente o
adversrio que ousou alvej-lo na coxa durante um duelo (MIRECOURT, 1869,
p.48). Havia muito mais corpo-a-corpo na literatura de ento, e um preo a se pagar
por certas filiaes literrias.
tambm no preo a se pagar que o La Presse subverte a at ento vigente
lgica do mercado editorial francs: numa poca em que os jornais no podiam ser
comercializados avulsamente, em bancas, o La Presse reduz a 40 francos anuais o
preo de sua assinatura, a metade do valor praticado pela concorrncia
(GUILLAUMA, 1988, p.12). Porm no o f az impunemente: a 40 francos anuais, o
novo empreendimento no seria capaz de cobrir a totalidade de seus custos
operacionais, e o risco de perder dinheiro (motivo sem dvida muito mais premente
que uma eventual paixo pela literatura) leva Girardin a introduzir duas inovaes
19
decisivas em seu negcio: o anncio (o rclame) e o romance-folhetim. Quando se
h um preo a pagar, no surpreendente que as decises escapem do mbito
artstico para dependerem exclusivamente do mercantil.
E isto foi apenas isto em um sculo to movimentado quanto foi o dcimo
nono, um sculo que testemunhou a inveno de locomotivas (cortesia de George
Stephenson) e revlveres (cortesia de Samuel Colt), que diferena poderiam fazer
duas pequenas inovaes circunscritas bidimensionalidade de uma folha de
papel? Toda, sugere Walter Benjamin, um sculo mais tarde. Em texto publicado em
1938, e referindo-se justamente ao La Presse, o filsofo alemo constata o
movimento ascendente no qual fora lanada a literatura: as belas-letras lograram
um mercado nos dirios (WB3, p.23). Benjamin no se vexa em recorrer a nmeros
(nmeros!) para sublinhar o mercantilismo subjacente a um tal movimento: se em
1824 havia em Paris 47 mil assinantes de jornal, em 1836 eram 70 mil, e em 1846,
200 mil (WB3, p.23). Havia (alguma) literatura, sim Balzac, Dumas, Hugo , mas
havia tambm uma nova lgica de consumo da palavra impressa: a informao
curta e brusca comeou a fazer concorrncia ao relato comedido. Recomendava-se
pela sua utilidade mercantil (WB3, p.23).
A palavra impressa destituda de seus ltimos fiapos de inocncia restava
saber se um mundo que rua ou outro que surgia.
2.2. DO LADO DE L DO BULEVAR
Paris, circa 1852: a revoluo urbanstica da cidade tem seu incio. Durante
18 anos (1852-1870), o poltico e funcionrio pblico Georges Eugne Haussmann,
no melhor esprito cartesiano, orquestra a impensvel tarefa de atravessar a capital
francesa com bulevares, largas caladas e comportadas praas. Segundo
Benjamin, Haussmann
realizou sua transformao da imagem da cidade de Paris com os
meios mais modestos que se possa pensar: ps, enxadas, alavancas
e coisas semelhantes. Que grau de destruio j no provocaram
esses instrumentos limitados! E como cresceram, desde ento, com
as grandes cidades, os meios de arras-las! Que imagens do provir
j no evocam! Os trabalhos de Haussmann haviam chegado ao
ponto culminante; bairros inteiros eram destrudos (WB3, p.84)
20
A cidade-luz convertida em canteiro de obras: ps descem s razes da cidade
e do forma a uma outra ordem scio-poltica (ou a manuteno de uma mesma, mas
reorganizada, instalada em novos prdios de cpulas douradas cintilantes); novos focos
de tenso eclodem e velhos vcios se sedimentam. (Reflexo dos novos tempos, ou
marco da metade do caminho desta Paris posta s avessas, Victor Hugo publica em
1862 sua obra-prima, Os Miserveis.) Benjamin, atento, escreve:
No incio da dcada de [18]50, a populao parisiense comeou a
aceitar a idia de uma grande e inevitvel expurgao da imagem
urbana. Pode-se supor que, em seu perodo de incubao, essa
limpeza fosse capaz de agir sobre uma fantasia significativa com
tanta fora, se no mais, quanto o espetculo dos prprios trabalhos
urbansticos (WB3, p.85).
A expurgao da imagem urbana; o espetculo dos trabalhos urbansticos
definitivamente um novo mundo que surgia.
2.3. O BULEVAR INTEIRO
O espetculo dos trabalhos urbansticos pois que o bulevar instaura na
cidade uma nova dinmica: veloz, urbana, fundamentalmente moderna. As ruelas
escuras, insalubres e estreitas so convertidas em largas vias iluminadas a gs;
praas oferecem bancos, espaos de convvio, jardins milimetricamente podados (
francesa, videment). A cidade reinventa-se Paris ganha na base da p e do suor os
contornos da hoje mtica e cerebral Paris. E com a cidade, tambm os peridicos:
tambm os peridicos devem dar prova de pertinncia e de sintonia urbana. A cidade
passa a oferecer-se como assunto, como uma fonte primeira, privilegiada e rica em
mexericos urbanos, intrigas do meio teatral e mesmo curiosidades (WB3, p.24), e
os peridicos somente seriam capazes de manter o aspecto a cada dia novo e
inteligentemente variado da paginao, no qual residia uma parte de seu encanto
(WB3, p.24), se lograssem refletir o dinamismo desta nova geografia urbana.
A palavra impressa j encurtada pelas presses mercantis passa tambm
a falar do cotidiano mais prximo do leitor: de rpido consumo, de fcil identificao.
Nasce a o que Benjamin chama de imprensa do bulevar (WB3, p.24). Era no
bulevar que o leitor tinha disposio o primeiro incidente, chiste ou boato (WB3,
p.25), e era ali por onde um maior nmero de pessoas circulava. Em cafs e bistrs,
21
ao redor de mesas, acompanhadas ou no por uma garrafa de vinho (francs, bien
sr): eis os locais privilegiados do debate das notcias dirias. Com a reduo do
preo de assinatura, os peridicos se tornam dependentes da renda advinda dos
reclames, e tanto mais gente tomasse contato com os anncios impressos a cada
pgina, tanto mais lucro gerariam. Ao habitante desta cidade em obras, desta cidade
que era aos poucos convertida em luz, o pedido era claro e distinto: reagir ao
peridico, coment-lo, maldiz-lo, pedir mais uma garrafa de vinho e virar mais uma
pgina. A informao do jornal deveria ser atrativa, estar ao alcance dos dedos. O
silncio no faria vender mais quotas de anncio.
O olhar mais essencial hoje, o olhar mercantil que penetra no
corao das coisas, chama-se reclame. Ele desmantela o livre
espao de jogo da contemplao e desloca as coisas para to
perigosamente perto da nossa cara quanto, da tela de cinema, um
automvel, crescendo gigantescamente, vibra em nossa direo
(WB2, p.55).
No apenas o vinho, como tambm o circo: eis o artista, o escritor, que
atravs de sua pena cria captulos cujas tramas s so desvendadas no captulo
seguinte, e ento no seguinte, e ento ainda no seguinte o leitor ali, segurando a
respirao. Eis no bulevar a assimilao do literato sociedade (WB3, p.24). Eis o
folhetim: no limite, a conceder ao escritor uma funo social bastante clara, embora
artisticamente ambgua. Atravs do folhetim, este gnero apesar de tudo alerta-
nos Benjamin radicalmente pequeno-burgus (WB3, p.34), a literatura ps em
andamento dois movimentos. Em um primeiro momento, vanguarda: questionou sua
posio e seu papel ao abandonar um meio consagrado e com o perdo da
expresso, fazemo-lo por Benjamin pequeno-burgus (o livro), para propor-se
como experincia da massa e da urbe (o peridico). Balzac e Dumas, para dar dois
exemplos de folhetinescos de primeira hora, aumentaram a difuso e a insero da
literatura no cotidiano atravs das pginas impressas dos jornais.
Em um segundo momento, todavia: acomodao. As conquistas das primeiras
geraes de folhetinescos foram cristalizadas pelas geraes subsequentes, e os
textos passaram a acomodar-se dentro de uma frmula pronta e previsvel (dando
origem acepo menos gloriosa que hoje em dia guardamos do termo folhetim). O
que havia de instigante na insero de formas altamente narrativas dentro do mbito
informativo e superficial do peridico foi perdido quando tambm a literatura passou a
22
optar pelo superficial, pelo facilmente assimilvel, pela linha da menor resistncia
possvel entre os consumidores (ADORNO, 2003, p.158). Estes dois movimentos
demonstram justamente a dinmica dos dois plos de uma mesma cultura: o plo
crtico, que desafia, e o plo do espetculo, que repete.
Dois plos, portanto: informao e narrativa; peridico e livro. Nem todos os
livros se lem da mesma maneira, prope um espirituoso Benjamin. Romances,
por exemplo, existem para serem devorados. L-los uma volpia da incorporao.
No empatia. [...] Ao comer, se for preciso, leia-se o jornal. Mas jamais um
romance. So obrigaes que se excluem (WB2, p.275). informao caberia o
imprio do fisiolgico; narrativa, o da cura:
A criana est doente. A me a leva para cama e se senta ao lado. E
ento comea a lhe contar histrias. [...] A cura atravs da narrativa
[...]. Da vem a pergunta se a narrao no formaria o clima propcio e
a condio mais favorvel de muitas curas, e mesmo se no seriam
todas as doenas curveis se apenas se deixassem flutuar para bem
longe at a foz na correnteza da narrao (WB2, p.269).
A narrativa impulsiona, recria-se com o tempo. A atitude de Balzac e Dumas
uma de transgresso: impor uma quebra onde havia apenas continuidade; sugerir
ruptura entre um anncio de espartilhos e uma nota sobre um criminoso guilhotinado.
Cada manh nos ensina sobre as atualidades do globo terrestre. E,
no entanto, somos pobres em histrias notveis. Como se d isso?
Isso se d porque mais nenhum evento nos chega sem estar
impregnado de explicaes. Em outras palavras: quase nada mais do
que acontece beneficia o relato; quase tudo beneficia a informao.
[...] A informao recebe sua recompensa no momento em que
nova; vive apenas nesse momento; deve se entregar totalmente a ele
e, sem perder tempo, a ele se explicar. Com a narrativa diferente:
ela no se esgota. Conserva a fora reunida em seu mago e
capaz de, aps muito tempo, se desdobrar. (WB2, p.276
5
)
Balzac e Dumas representam o folhetim antes do folhetim a fora breve de
uma literatura que no se deixa facilmente dobrar, como facilmente se dobra um
jornal lido: esquecido sobre a mesa, no faz mais que indicar sutilmente o elemento
que est na raiz de dias e histrias pouco notveis: a reduo da experincia da
realidade. Metade da arte narrativa est em evitar explicaes (WB1, p.203) e a
5
Uma verso semelhante desta passagem pode ser encontrada tambm em WB1, p.203.
23
informao mercantil no faz seno instaurar-se como uma barreira entre homem e
mundo: um mundo por demais controlado, e um homem por demais automatizado.
Os jornais constituem um dos muitos indcios de tal reduo [da
experincia da realidade]. Se fosse inteno da imprensa fazer com
que o leitor incorporasse prpria experincia as informaes que
lhe fornecesse, no alcanaria seu objetivo. Seu propsito, no
entanto, o oposto, e ela o atinge. Consiste em isolar os
acontecimentos do mbito onde pudessem afetar a experincia do
leitor. Os princpios da informao jornalstica (novidade, conciso,
inteligibilidade e, sobretudo, falta de conexo entre uma notcia e
outra) contribuem para esse resultado, do mesmo modo que a
paginao e o estilo lingstico. (WB3, pp.106-107)
O jornal ficou esquecido sobre a mesa, mas algumas ideias no se deixam
to facilmente dobrar.
2.4. O HABITANTE DO BULEVAR
Entre 1836 e 1870, Paris deixa de ser Paris para ser Paris. Paris em itlico,
iluminada, efervescente, reinventada ao redor de uma dinmica urbana que d
origem a uma nova gerao de escritores a gerao de Baudelaire (WB3, p.34).
A gerao de Baudelaire no acompanha somente a ascenso e o ocaso do folhetim
enquanto vanguarda literria, como tambm e sobretudo acompanha a trajetria
da renovao da capital francesa: Caladas largas eram raridade antes de
Haussmann; as estreitas ofereciam pouca proteo contra os veculos (WB3, p.34).
Dizer proteo contra os veculos significa dizer segurana do pedestre, significa
afirmar que o habitante do bulevar passa efetivamente a descer rua e habit-la,
como nunca antes pde fazer plenamente. Eis a ocupao das caladas; eis o
surgimento de uma figura-chave do sculo 19: o flneur.
A rua se torna moradia para o flneur que, entre as fachadas dos prdios,
sente-se em casa tanto quanto o burgus entre suas quatro paredes (WB3, p.35).
Este burgus
6
que l o folhetim sobretudo depois de tornado vazio de significados,
que no desperdia ocasio para deliberar sobre as idades de consumo dos mais
6
O termo burgus est historicamente comprometido pelo discurso marxista e suas variantes seu
emprego, aqui, busca preservar a coerncia do texto benjaminiano. Deste modo, sugere-se
compreender burgus no por sua condio scio-financeira, mas por seu esprito domesticador o
burgus benjaminiano todo aquele que opta pelo vazio do espetculo e tenta, de l, adaptar o
mundo ao seu redor.
24
variados tipos de conhaque, e que prefere sua arte comodamente etiquetada em
paredes, em ambientes climatizados. Quando Benjamin afirma que o folhetim tornou-
se um gnero pequeno-burgus, ele refere-se justamente a uma mentalidade que
domou o que havia de crtico na insero de um texto altamente narrativo dentro da
lgica superficial do peridico: Desde Lus Felipe, a burguesia se empenha em
buscar uma compensao pelo desaparecimento de vestgios da vida privada na
cidade grande. Busca-a entre suas quatro paredes (WB3, p.43). A acomodao da
arte o medo da cidade: fechar-se dentre quatro paredes na tentativa de preservar
valores que rapidamente encontravam sua obsolescncia (e um copo de conhaque
entre os dedos). E quando esta mentalidade quis buscar conforto em espaos
fechados, o flneur ergueu-se para subvert-la: tendo descido s ruas, tendo passado
a habitar os bulevares, o flneur os converteu em interiores (WB3, p.35).
Baudelaire representa a literatura que soube apropriar-se da rua, faz-la
urbana. Este (nada) simples movimento de afirmar a coincidncia entre arte e mundo
reinstaura o componente crtico ausente, pavimentando o caminho para o bordo
surrealista formulado por Breton, e citado pelo prprio Benjamin: La rue... seul
champ dexprience valable (WB2, p.198). O que so os perigos da floresta e da
pradaria comparados com os choques e conflitos dirios do mundo civilizado?
pergunta-se Baudelaire, em citao de Benjamin. Enlace sua vtima no bulevar ou
traspasse sua presa em florestas desconhecidas, no continua sendo o homem,
aqui e l, o mais perfeito de todos os predadores? (WB3, p.37).
Em termos mais amplos, a manobra iniciada por Balzac e Dumas encontra
continuidade em Baudelaire: a contraposio radical ao ideal romntico (WB3, p.73).
Esquecido seria o idlio utpico das verdejantes paisagens, dos dourados campos de
trigo e das pequenas vilas rurais, de rouxinois e cachoeiras e pilhas de feno
displicentemente espalhadas pelos campos. Toda a literatura diria respeito
realidade concreta ou no seria. Caberia literatura e, por extenso, arte como
um todo abrir-se ao urbano, experincia dos bulevares e da multido. E abrir-se
ao mundo significava acolher a massa acolh-la criticamente.
... literatura que se atinha aos aspectos inquietantes e ameaadores
da vida urbana estava reservado um grande futuro. Essa literatura
tambm tem a ver com as massas, mas procede de modo diferente
das fisiologias. Pouco lhe importa a determinao de tipos; ocupa-se,
antes, com as funes prprias da massa na cidade grande. Entre
essas, uma que j por volta da transio para o sculo XIX
25
destacada num relatrio policial: quase impossvel escreve um
agente secreto parisiense em 1798 manter boa conduta numa
populao densamente massificada, onde cada um , por assim
dizer, desconhecido de todos os demais, e no precisa enrubescer
diante de ningum. Aqui, a massa desponta como o asilo que
protege o anti-social contra os seus perseguidores. Entre todos os
seus aspectos ameaadores, este foi o que se anunciou mais
prematuramente; est na origem dos romances policiais. (WB3, p.38)
Assim como a arquitetura moderna cria espaos que privilegiavam o
anonimato, efeito semelhante engendrado pela massa: diferentemente das
pequenas (e, talvez, ainda idlicas e romnticas) cidades do interior onde todos se
conhecem, do prefeito ao padeiro ao amante da Marquesa (em sua casa de campo),
as novas aglomeraes urbanas convertem-se em macrocosmos do anonimato. O
habitante desta cidade, o habitante do bulevar, assemelha-se ao ator de cinema
mudo, para quem o gesto significa tudo e as palavras, quando muito, no passam de
um adendo imagem. Elas interrompem o fluxo apenas para confirmar o prprio
fluxo, de forma tautolgica. O gestual do habitante do bulevar exprime, de um nico
golpe, a necessidade de provar sua identidade e a desnecessidade de explic-la.
maneira do ator, que se dirige apenas cmera, mas sabe-se controlado por
uma massa annima e invisvel (WB1, p.180), tambm o habitante da cidade deve dar
constante prova de si para, devidamente controlado, poder finalmente usufruir de seu
anonimato. Pois a cidade moderna no mais constitui uma experincia verbal o
contato que o homem mantm com o outro puramente residual: a respirao do
sujeito que o precede na fila, o silncio constrangido dentro dos recm-inventados
elevadores modernos. No mais necessrio dizer-se a realidade para compreend-
la ela passa a ser um processo fundamentalmente visual, um conjunto de reaes a
estmulos imediatos, como a de um ator perante as deixas que lhe so fornecidas. Do
ator e, por extenso, do habitante do bulevar no exigido sentir a experincia de
suas aes, mas apenas execut-las corretamente.
De onde a necessidade de abordar criticamente a massa: descer at ela e
inserir-se nos processos cotidianos, analisando-os a partir de um ponto de vista
criativo, criador. Eis, novamente, Baudelaire: amar a solido, mas quer-la na
multido (WB2, p.47). Eis a figura do flneur, este instigador das multides que, em
ltima anlise, prope uma experincia do cotidiano que impea a desumanizao
das identidades, a criminalizao das narrativas. Afinal de contas, lembra-nos
Benjamin, para viver a modernidade, preciso uma constituio herica (WB2,
26
p.73). Contudo, o heri moderno no o heri apenas representa o papel do
heri. A modernidade herica se revela como uma tragdia onde o papel do heri
est disponvel (WB2, p.94).
Antes de mais nada, e apesar de tudo: a criao de heris.
2.5. O HERI DO BULEVAR
No anonimato da cidade, cada esquina representa uma possvel cena do
crime, e cada homem um criminoso que precisa dar prova de sua inocncia.
Acusado de vilipendiar a narrativa, de abraar cegamente o espetculo e suas
formas vazias, este homem converte-se em caso de polcia, e ...o flneur se torna
sem querer detetive isto , um observador que no perde de vista o malfeitor [e]
desenvolve formas de reagir convenientes ao ritmo da cidade grande (WB3, p.38).
Uma primeira forma de reao a esta transio vertiginosa ao anonimato
surge com outro flneur, Edgar Allan Poe de quem Baudelaire foi tradutor. O
gnero policial introduzido por Poe tenciona explodir com os muros desta nova
sociedade que surge, deste mundo repentinamente expandido no qual vizinhos
deixam de conhecer-se, no qual a familiaridade deixa de ser pressuposto dos
relacionamentos humanos. O contedo social primitivo do romance policial a
supresso dos vestgios do indivduo na multido da cidade grande (WB3, p.41).
Poe, o detetive, deseja rastrear os vestgios ocultos, fazer o caminho inverso e expor
os culpados como maneira de inserir ruptura onde h apenas continuidade;
estranhamento em meio a um mar de acomodao.
A fora do bulevar, todavia, ambgua: propulsiona tanto quanto cimenta. O
gnero policial proposto por Poe no demora at ser extirpado de sua potncia
narrativa e convertido em subterfgio. A nova organizao urbana, impelida por
bulevares e locomotivas, inquieta o habitante da cidade a velocidade das coisas, a
lgica do mundo: h medo em suas arestas. A nica maneira de espantar o medo da
cidade movimentar-se to rapidamente quanto ela. Uma simples viagem de trem
converte-se em pesadelo enquanto move-se o trem, paralisa-se o passageiro:
abandonado sua prpria sorte e a seus prprios pensamentos. O medo de estar
atrasado, o medo da solido na cabine, o medo de perder a baldeao, o medo da
estao de destino desconhecida (WB2, p.220) pouco espao sobra para o que
no seja consolo. Este passageiro torna-se cliente preferencial de livrarias de
27
estao de trem, ricas em livros pobres em narrativa, em romances policiais que no
mais questionam, apenas resolvem. So uma minoria os que, no trem, lem livros
que possuem na estante, em casa (WB2, p.220). A anestesia de um medo por meio
de outro passa a ser a salvao do passageiro: Entre as folhas recm-separadas
dos romances policiais, ele procura as angstias ociosas, de certo modo virginais,
que poderiam ajud-lo a superar as angstias arcaicas da viagem (WB2, p.220).
Incorporado ao espetculo da velocidade, o romance policial maneira do
folhetim domesticado e convertido em uma forma previsvel e esquemtica. A
frmula narrativa idealizada por Poe no tinha por inteno alhear o leitor do mundo,
e sim o oposto: lembr-lo da multido, afirm-lo enquanto identidade individual, para
ento dar forma massa. Para Poe, o flneur acima de tudo algum que no se
sente seguro em sua prpria sociedade. Por isso busca a multido (WB3, p.45).
Quo mais annima torna-se uma sociedade, to mais ela precisa ser observada,
pensada de forma crtica. O flneur dizer: o escritor no pode furtar-se do
mundo: deve humanizar o bulevar medida que uma mentalidade domesticadora
faz justamente o contrrio. Nas palavras de Baudelaire, citadas por Benjamin:
Quem capaz [] de se entediar em meio multido humana um imbecil. Um
imbecil, repito, e desprezvel (WB3, p.35).
Humanizar o bulevar, convert-lo em moradia. Alm das caladas largas que
protegem contra os carros, Napoleo III para quem obrava Haussmann fez
instalar por toda Paris um sistema de iluminao a gs, o qual elevou o grau de
segurana da cidade; fez a multido em plena rua sentir-se, tambm noite, como
em sua prpria casa (WB3, p.47). Esta luz a gs que bruxuleia, desenha sombras,
ao mesmo tempo revela e esconde, mantm algum mistrio este o esprito anti-
espetculo que surge na base do pensamento do flneur. Neste contexto que o
escritor, o observador, o detetive coleta material para sua produo, acolhe tcnica e
massa, busca a potncia de uma sntese. Atravs da construo narrativa, da
observao atenta do cotidiano, o escritor prope uma experincia no-exaustiva de
mundo, uma que deixa margem para o leitor construir-se ao redor. Quando no h
mais espao para o leitor em um livro, porque no h mais mistrio, apenas
conforto. E o conforto isola (WB3, p.124).
O conforto literrio como uma sala amplamente iluminada, na qual tudo
exatamente tal qual se apresenta como informao, portanto, e no narrativa. As
coisas esto dadas, e no h a fazer seno aceit-las.
28
Tambm Paris caminha em direo ao conforto da clarividncia, e em 1878
introduz-se a iluminao eltrica. Se os lampies a gs preservavam algum mistrio
na noite, o novo sistema de iluminao pblica surge como um choque brutal que
fez cidades inteiras se acharem de repente sob o brilho da luz eltrica (WB3, p.48).
A multido aparece sombria e confusa como a luz na qual se move (WB3, p.48), e
at mesmo a noite domesticada. At mesmo a noite pode ser dada como apenas
isto, a noite, como outra coisa mais com a qual o habitante do bulevar no precisa
perder tempo decifrando.
(E, do ponto de vista da literatura, comear a no se preocupar o primeiro
dos ltimos passos.)
2.6. A VISTA DO BULEVAR
H sempre uma centelha que resiste, uma ideia que vinga. O heri-detetive
de Poe e Baudelaire mantm-se vivo, espia por detrs de pesadas cortinas de
veludo, mergulha mais um bolinho na xcara de ch e rabisca longas e circulares
frases numa caligrafia igualmente labirntica. Havia um elemento detetivesco na
curiosidade de Proust. As dez mil pessoas da classe alta eram para ele um cl de
criminosos, uma quadrilha de conspiradores, com a qual nenhuma outra pode
comparar-se: a camorra dos consumidores (WB1, p.44). Marcel Proust pertence a
uma terceira gerao, uma que surge e cresce j em uma Paris reconstruda, porm
ainda fortemente abalada pelo anonimato e pela nova velocidade das coisas (ou, em
francs: lesprit du temps). Herdeiro de uma flnerie s avessas, uma flnerie
convertida em frases e linhas e pargrafos, Proust um detetive do anonimato:
capaz de contar histrias de cocheiro [...] de modo to fascinante que deixamos de
ser ouvintes, e nos identificamos com o prprio narrador desse sonho acordado
(WB1, p.39). Em outras palavras, Proust, atravs de sua narrativa vertiginosa,
amplamente imagtica, continua o esforo de Balzac, Dumas, Poe e Baudelaire
7
: dar
forma multido, dar espao ao leitor (O verdadeiro leitor de Proust
constantemente sacudido por pequenos sobressaltos (WB1, p.43)), subverter a fcil
e cmoda compreenso de mundo.
7
Convm aludir ao A propos de Baudelaire, escrito por Proust no ponto mais alto de sua glria e no ponto mais
baixo de sua vida, no leito de morte (WB1, p.47).
29
O lado subversivo da obra de Proust aparece aqui com toda
evidncia. Mas no tanto o humor, quanto a comdia, o verdadeiro
centro de sua fora; pelo riso, ele no suprime o mundo, mas o
derruba no cho, correndo o risco de quebr-lo em pedaos, diante
dos quais ele o primeiro a chorar. E o mundo se parte efetivamente
em estilhaos: a unidade da famlia e da personalidade, a tica
sexual e a honra estamental. As pretenses da burguesia so
despedaadas pelo riso. (WB1, p.41)
Proust, todavia, enxerga o bulevar da janela com sete anos de idade a luz
eltrica j faz parte de seu cotidiano, e isto o diferencia fundamental e
definitivamente de Poe e Baudelaire. Proust cresce sob a luz ofuscante dos postes,
caminha por ruas devidamente domadas, vive dia e noite esvaziados de novidade.
Por isso, no final Proust transformou seus dias em noites para dedicar todas as
suas horas ao trabalho, sem ser perturbado, no quarto escuro, sob uma luz
artificial... (WB1, p.37). A flnerie proustiana mental testemunha da
domesticao de uma cidade que em algum momento pde ser comparada a
florestas e pradarias; de uma multido ofuscada que aos poucos permite banalizar-
se. O escritor, que um dia fez da rua um interior, agora faz do interior uma rua, um
mundo. Se, no comeo, as ruas se transformavam para ele em interiores, agora so
esses interiores que se transformam em ruas, e, atravs do labirinto das
mercadorias, ele vagueia como outrora atravs do labirinto urbano (WB3, p.51).
Atravs da janela, Proust no v somente o bulevar, mas tambm a camorra
dos consumidores presa no labirinto das mercadorias
8
. Proust fruto da
ambiguidade do bulevar e de suas noites iluminadas: o bulevar que conduz a
literatura rumo a novas formas expressivas o mesmo que inevitavelmente coloca a
literatura em perigo.
A escrita, que no livro impresso havia encontrado um asilo onde
levava sua existncia autnoma, inexoravelmente arrastada para
as ruas pelos reclames e submetida s brutais heteronomias do caos
econmico. Essa a rigorosa escola de sua nova forma. [...] E, antes
que um contemporneo chegue a abrir um livro, caiu sobre seus
olhos um to denso turbilho de letras cambiantes, coloridas,
conflitantes, que as chances de sua penetrao na arcaica quietude
do livro se tornaram mnimas (WB2, pp.27-28).
8
Benjamin diz mercadoria tendo em mente o produto fsico resultante dos processos de produo em massa,
porm h na maneira em que ele emprega o termo a possibilidade de uma interpretao mais atual: mercadoria
como aquele produto acrtico, aquele produto (fsico ou no) que contenta-se em ficar debaixo da luz excessiva
ao fio de dias e noites um espetculo do conforto.
30
A derrota da quietude a glria do espetculo no h silncio que resista
fora domesticadora do reclame, das vitrines, das galerias. Debaixo do turbilho de
luzes, tudo perde sua identidade. Estar iluminado estar possudo estar s
ordens de outra entidade, repetir um padro de comportamento. O espetculo se
revela na capacidade de produzir a mesma luz, a mesma lmpada, tantas vezes
quantas. O espetculo despreza as zonas escuras, refuta o mistrio e o contra-
senso. O espetculo no constitui conhecimento: Todo conhecimento [disse
Schuler] deve conter um mnimo de contra-senso. [...] a marca imperceptvel da
autenticidade que os distingue de todos os objetos em srie fabricados segundo um
padro (WB2, p.264).
O espetculo conforta sem pedir nada de volta, sem pedir nada que no seja
sua manuteno. Um pedido razovel fazer rodar a engrenagem torna-se tanto
mais simples quanto mais gente houver para ajudar. At o ponto em que no mais
possa ser interrompida, e ento todo o processo passa a se retro-alimentar. A
mercadoria, por sua vez, retira o mesmo efeito da multido inebriada e murmurante
a seu redor. A massificao dos fregueses que, com efeito, forma o mercado que
transforma a mercadoria em mercadoria aumenta o encanto desta para o comprador
mediano (WB3, p.53).
Primeiro o poder dos nmeros (o poder da multido), para depois a perda de
poder (a engrenagem j gira sozinha). O flneur expulso das ruas e substitudo
pela mercadoria. Esta tem a vantagem de no incomodar ningum com perguntas,
no lembrar ningum que o anonimato apenas um lado da moeda o outro a
indiferena brutal, a solido dos pequenos espaos. Para ilustr-lo, Benjamin recorre
a Engels, e desta nica vez permitiremos que ele o faa:
Essa concentrao colossal, esse amontoado de dois milhes e
meio de seres humanos num nico ponto centuplicou a fora desses
dois milhes e meio... [...] e, no entanto, no ocorre a ningum
conceder ao outro um olhar sequer. Essa indiferena brutal, esse
isolamento insensvel de cada indivduo em seus interesses privados,
avultam tanto mais repugnantes e ofensivos quanto mais esses
indivduos se comprimem num espao exguo (WB3, p.54).
Eis uma multido que passa a aturar-se mutuamente em um tcito acordo de
indiferena no a autenticidade, portanto, mas a indiferena passa a ser regra. A
repetio de um padro. Pois o olhar indiferente no aquele que humaniza
31
aquele que objetifica, converte tudo, espiritualmente, em mercadoria. A multido faz
sua escolha, e, ao faz-la, rechaa o esprito crtico. Passa a ser massa no sentido
mais nocivo (e at mesmo obsoleto) do termo. Massa disforme, massa falida.
Um estranho paradoxo: as pessoas s tm em mente o mais estreito
interesse privado quando agem, mas ao mesmo tempo so
determinadas mais que nunca em seu comportamento pelos instintos
da massa. E mais que nunca os instintos de massa se tornaram
desatinados e alheios vida (WB2, p.21).
O espetculo conforta; o conforto isola. Os habitantes do bulevar agora so
frequentadores de galerias, eles se comportam como se, adaptados automatizao,
s conseguissem se expressar de forma automtica. Seu comportamento uma
reao a choques (WB3, p.126). Pois a isto que se resume o espetculo: ao
choque, ao espanto, e depois nada. Depois apenas a repetio dos dias iguais.
De janelas, de limiares, a literatura observa. Observar inclusive de dentro de
vitrines e galerias, se a situao exigir. O escritor estar disposto a partilhar a
situao da mercadoria (WB3, p.51), se com isso for capaz de subvert-la. Se com
isso for capaz de promover uma autntica experincia, capaz de interromper a
cadeia mecnica de aes cotidianas. A literatura e, por extenso, a arte deve
ser autntica ou no ser. O risco da arte apegar-se ao choque, ao espanto, e
depois nada. O artista o detetive, ele representa o ltimo recurso da crtica, o
ltimo recenseador do contra-senso: O pensador que reflete sobre esse espetculo
o verdadeiro investigador da multido (WB3, p.56).
32
3. ARQUITETURA E EXLIO
Revogao do imposto sobre o vidro na
Inglaterra (1845) Plano Haussmann (1852-
1870) Ferro fundido (1854) Concreto
armado (1861) Paul Scheerbart (1863-1915)
Adolf Loos (1870-1933) Franz Kafka (1883-
1924) Le Corbusier (1887-1965) Sigfried
Giedion (1888-1968) Bertolt Brecht (1898-
1956) Bauhaus (1919-1933)
Viver numa casa de vidro uma virtude
revolucionria por excelncia. (WB1, p.24)
3.1. O IMPRIO DAS FORMIGAS
No dia 28 de junho de 1938, Benjamin tem um sonho.
Encontrava-me em um labirinto de escadas. Um labirinto que no era
inteiramente coberto. Eu subia; as outras escadas conduziam para
baixo. Em um pavimento da escada, percebi que alcanara um
cume. Uma ampla vista da paisagem revelou-se diante de mim. Vi
outras pessoas sobre outros cumes. Uma delas foi subitamente
tomada por uma vertigem e despencou. A vertigem espalhou-se;
outras pessoas despencaram de outros cumes em direo s
profundezas. Quando tambm eu fui tomado por este sentimento,
acordei. (GS, p.533)
9
Desorientado, Benjamin acorda. O quarto escuro, o corpo pesado contra o
colcho Benjamin respira. O sonho ainda queima no fundo da retina: as escadas
labirnticas, a queda no vazio. Permanece deitado, permanece escuro. Talvez no
saiba onde est, se preso no tecido do inconsciente ou se devolvido crua
realidade. No sabe, no pode saber. Com uma mo hesitante, talvez tateie o
infinito espao ao redor. Busca o concreto: paredes, lenis, os culos sobre a mesa
9
Em alemo, no original: Ich befand mich in einem Labyrinth von Treppen. Dieses Labyrinth war
nicht an allen Stellen gedeckt. Ich stieg; andere Treppen fhrten in die Tiefe. Auf einem
Treppenabsatze nahm ich wahr, da ich auf einem Gipfel zu stehen gekommen war. Ein weiter Blick
ber alle Lande tat sich da auf. Ich sah andere auf andern Gipfeln stehen. Einer von diesen andern
wurde pltzlich von Schwindel ergriffen und strzte herab. Dieser Schwindel griff um sich; andere
Menschen strzten von andern Gipfeln nun in die Tiefe. Als auch ich von diesem Gefhl ergriffen
wurde, erwachte ich.
33
de cabeceira. Apesar de intransponvel, o escuro torna-se aos poucos mais ntido,
seus contornos ganham alguma densidade. Talvez oua rumores distantes. Uma voz
Brecht? Senta-se na beirada da cama, apoia a cabea nas mos, ou quem sabe
levante-se com cuidado, passos lentos em direo porta, silncio. Silncio e a
mesma voz, ao longe Brecht. Sim, est na Dinamarca. Foge do exrcito de um
homem, foge da tirania de uma nao. Est em Skovsbostrand, Dinamarca
ningum mais pode saber. Abre a porta.
Aos ps da casa estende-se uma parcela do mar Bltico, e sobre ele deslizam
em silenciosa diligncia as distintas bandeiras de diversos navios de carga. Na casa
ao lado, em uma diligncia um pouco menos silenciosa, Bertolt Brecht aguarda o
vizinho para o nico compromisso fixo que a agenda de um exilado pode comportar:
uma partida de xadrez (SW, p.427). Mas nada to simples, nada to idlico:
Benjamin aluga a casa de um oficial da polcia dinamarquesa (SW, p.427), e,
portador de um visto sempre s margens da revogao, sabe que navega por guas
traioeiras. Cada passo, uma incerteza como um sonho repleto de escadas
descobertas, nas quais outros homens j haviam tropeado e das quais outros
homens j haviam despencado. Tambm Benjamin a qualquer momento poderia
tropear: todo novo ms o oficial da polcia vinha cobrar-lhe aluguel, e todo novo
ms havia um ms a menos no prazo de durao de seu visto. No restava a
Benjamin seno trancar-se no quarto arriscar-se at a casa ao lado j poderia ser
arriscar-se demais. Trancar-se no quarto, portanto, e fazer o que sabe, o que pode:
ler Kafka (C, p.563), escrever sobre Baudelaire e a Paris do Segundo Imprio (SW,
pp.427-430), tratar de seu dirio e de sua correspondncia.
O policial, o visto, a guerra iminente. Na porta ao lado, pouco conforto: alm
do xadrez de todo dia, no h nada que Brecht, tambm exilado, tambm
perseguido, possa oferecer. Apesar de minha amizade com Brecht, escreve
Benjamin a uma amiga, devo prosseguir com meu trabalho na mais estrita secluso.
H no meu trabalho alguns elementos muito distintos e que so inassimil veis por
ele (SW, p.428). Os encontros com Brecht tornam-se sobretudo exerccios de
recluso um exerccio praticado a quatro mos, um silncio pronunciado a duas
vozes. Pois o isolamento a escurido da boca, da mesma forma que a escurido
o silncio dos olhos, e no resta aos dois vizinhos seno o ligeiro consolo da
presena fsica um do outro no resta seno intercalar breves conversas com
circulares passeios pelos mesmos cmodos da casa.
34
Em uma das vigas que sustenta o teto do escritrio de Brecht, esto pintadas
as seguintes palavras: A verdade concreta (A&P, p.89). De volta casa que
coube ser sua, sentado escrivaninha, Benjamin anota estas palavras e talvez olhe
atravs da janela, para os navios mais adiante, ou talvez simplesmente continue a
encarar a folha de papel. No h muito mais onde descansar o olhar os
espartanos mveis que decoram o escritrio pouco lhe dizem respeito, e em sua
presena fsica nada h a que ele possa se agarrar. O escritrio assemelha-se
cela de um monge (SW, p.428): todos os rastros foram apagados do ambiente, e
no h vestgio algum de moradores passados. Escrever torna-se a nica maneira
de afirmar-se ali, presente, a nica maneira de agarrar-se a alguma coisa, alguma
viga, alguma verdade.
Concreta como uma cadeira, a verdade, porm e talvez nisso resida a
desavena intelectual entre Benjamin e Brecht
10
elusiva como um labirinto. A
verdade um discurso que o poder valida a verdade tangvel da folha de um
passaporte s o plenamente quando acrescida da fora labirntica do carimbo de
um visto
11
. A verdade concreta de uma obra de arte no apenas sua beleza
abstrata, mas sim a crua potncia de tudo o que ela poderia ter sido e no foi.
Nunca houve um monumento da cultura que no fosse tambm um monumento da
barbrie (WB1, p.225), diz a famosa frmula benjaminiana. A verdade a um s
tempo concreta o que se diz e labirntica o que se poderia ter dito (e o que
labirntico est condenado a ser intangvel). Acordar de um pesadelo representa
apenas metade da equao.
No dia 28 de junho Benjamin acorda de um sonho, mas o sonho no lhe
pertence totalmente. Pertencia a Kafka, porm Kafka no acordou a tempo
desnorteado, deu o passo a mais, o passo em falso, e foi engolido pela escurido.
Kafka fracassou porque nunca encontrou uma soluo, nunca acordou do
pesadelo (A&P, p.88). Kafka fracassou porque esqueceu por completo do concreto,
perdeu-se inteiramente no labirinto. Tampouco os mveis de Kafka j lhe
representavam presenas fsicas, seno apenas monstros, seno apenas ausncias.
O exlio, em Kafka, passara de um estado temporrio de suspenso para uma
constante intransponvel. E no surpreendente que, vizinhos de isolamento,
companheiros de exlio, Benjamin e Brecht faam de Kafka um dos principais e
10
Vide Konder, 1989, pp.63-66 (um tema retomado no ltimo captulo).
11
O carimbo a noite da verdade (vide WB2, p.57).
35
recorrentes tpicos de discusso: Kafka tinha um e apenas um problema: diz
Brecht, em anotao de Benjamin o problema da organizao. Ele apavorava-se
diante da ideia do imprio das formigas: a ideia de um homem alienado de si mesmo
devido s formas de organizao da vida em sociedade (A&P, p.88).
Acima de qualquer coisa, [Kafka] cr, est o temor do crescimento
interminvel e desenfreado das grandes cidades. Ele diz conhecer o
pesadelo que esta ideia representa a partir de sua prpria
experincia pessoal. Tais cidades seriam a representao do infinito
labirinto dos relacionamentos indiretos, das complexas dependncias
mtuas, das compartimentalizaes impostas aos seres humanos
pelas formas modernas de viver. Estes seres humanos que, por sua
vez, buscariam consolo na figura de um lder. (A&P, pp.90-91)
No dia 12 de junho de 1938, poucos dias antes de viajar para a Dinamarca
(SW, p.427), Benjamin escreveu de Paris ao amigo Gershom Scholem. O assunto
era Kafka, porm Kafka apenas uma das camadas textuais presentes na carta
sem dvida a mais visvel, mas no necessariamente a mais importante. Na ocasio,
Benjamin argumentou assemelhar-se a obra de Kafka a uma elipse, cujos pontos
focais distanciam-se um do outro e so determinados, de um lado, pela experincia
mstica (que sobretudo a experincia da tradio), e, de outro, pela experincia
do habitante da cidade moderna.
Quando digo a experincia do habitante da cidade moderna,
subsumo a uma variedade de coisas. [...] refiro-me ao cidado
moderno, que sabe estar merc de um vasto maquinrio
burocrtico cujo funcionamento ditado pelas autoridades, estas que
permanecem nebulosas junto aos prprios rgos executivos quem
dir junto s pessoas com quem tratam. ( bem sabido que isso
corresponde a um nvel de significado de suas novelas,
especialmente em O Processo.) (C, p.563)
O policial, o visto, a guerra iminente. O exlio, o labirinto, o maquinrio
burocrtico. O anonimato, a massa, o imprio das formigas. A passagem do 19 ao 20
a converso de um sculo em outro traz de arrasto uma nova geografia urbana:
vertiginosa, labirntica, em loop. Isoladas em seus respectivos anonimatos, confinadas
a algumas dezenas de metros quadrados de rea privativa, fustigadas pelo sempre
presente fantasma da burocracia, as formigas perdem o sentido de comunidade que
um dia as confortou e definiu, e sentem-se subitamente atradas pela ideia de um
lder, isto , pela ideia de um discurso que novamente as una, que faa ressoar suas
36
antenas de formiga em unssono. Do lder, todavia, pode advir o canto, porm este
ser apenas o incio depois do canto: o policial, o visto, a guerra iminente.
De onde a importncia fundamental do flneur na obra de Walter Benjamin.
Mais do que uma figura historicamente especfica como Baudelaire ou Poe, o flneur
representa uma ferramenta terica contra a histeria de massa, contra o recurso cego
ao lder. O flneur como aquele que acolhe a massa, e com ela busca construir uma
narrativa comum, digna, autntica. O flneur que habita a cidade, e a cidade que se
torna local privilegiado para a redeno via arte. O habitante moderno seria
acordado de seu pesadelo no atravs do choque vazio e pontual imposto pela
mercadoria (pelo espetculo), mas atravs da possibilidade de encontrar na cidade
esta narrativa comum (a arte). A geografia urbana convertida em geografia narrativa
em pequenos fragmentos crticos, em distintas formas de reao ao isolamento.
A urbe, portanto: ponto de confluncia, n grdio, delta crtico da experincia
de vida do homem moderno. Em Kafka, Benjamin enxerga no apenas a potncia da
insero de ruptura narrativa em cotidianos automatizados enxerga em especial a
discusso dos labirintos da burocracia, da arquitetura da cidade, da reduo ao
medo e ao anonimato. O comentrio sobre a viga que sustenta o teto do escritrio
de Brecht (A verdade concreta) no gratuito: a filosofia de Benjamin depende da
observao bem concreta de alicerces bem labirnticos.
3.2. PLACE DE LA CONCORDE: OBELISCO
Os trabalhos arquitetnicos mais caractersticos do sculo XIX: estaes
ferrovirias, pavilhes de exposio, grandes lojas [...], tm todos por objeto o
interesse coletivo, escreve Benjamin, a partir dos comentrios do historiador e
crtico de arquitetura suo, Sigfried Giedion. O flneur se sente atrado por essas
construes mal vistas, ordinrias, como diz Giedion. Nelas j se antev a entrada
de grandes massas no cenrio da histria (WB3, p.235).
As grandes massas adentram as portas destas monumentais edificaes
espaosos trios, a luz natural filtrada por coloridas clarabias e pasmam. Cabea
jogada para trs, boca entreaberta: o p-direito altssimo, o teto envidraado, as
intricadas estruturas em ferro. Apesar de evitado em construes residenciais o ferro
utilizado em passagens, pavilhes de exposio, estaes de trem construes
que serviam para fins transitrios. Simultaneamente, amplia-se o campo
37
arquitetnico de aplicao do vidro (PA, p.40). Simultaneamente, abre-se espao
fsico para o espanto, e a massa se espanta: e ento chega o prximo trem, e ento
apresentam-se quatro novas vitrines. O processo inteiro no dura mais que alguns
segundos; no exige qualquer interao, qualquer movimento exterior.
A metrpole moderna fundamenta uma nova mitologia, onde as
construes assumem o papel do subconsciente. Os primeiros
momentos da Revoluo Industrial construes em ferro, como as
estaes ferrovirias e os pavilhes de exposies, ou as passagens
como as precursoras das lojas de departamento repercutem
fortemente no imaginrio coletivo (PA, p. 65).
Apesar de concebidos para uma multido, os trabalhos arquitetnicos da
segunda metade do sculo XIX so efmeros e silenciosos em seu consumo so
a mais recente droga do indivduo isolado (C, p.556). Com seu hbil manejo de
espaos vazios, de materiais translcidos, de uma economia ornamental, tais
edificaes convertem-se em lugares de massa, a ela se adaptam e a ela do
passagem e, como ela, tornam-se lugares de passagem. Uma passagem que no
deixa rastro, maneira dos pssaros na fbula de Joo e Maria: a multido apaga
todos os traos do indivduo (C, p.556). No h como voltar: as portas j esto
fechadas. No h como voltar: no h vestgios de outros caminhos. A multido, o
mais denso labirinto dentro do labirinto da cidade (C, pp.556-557), est condenada
a seguir sempre adiante. Cada vez mais fundo no corao de um intricado labirinto.
Como formigas em um pesadelo de Kafka.
Kafka tentou avisar, e sua tentativa tornou-se seu legado. Sua tentativa e seu
fracasso, o fracasso de um escritor que desejou ser mais que apenas isso, que
desejou ser colecionador e historiador dos pesadelos de uma multido annima. Pois
ser historiador tambm tarefa do artista benjaminiano: desnudar a cidade, revelar o
passado no presente, a modernidade na antiguidade, e assim dar forma ao
contemporneo (C, p.556-557). Uma histria que, para Benjamin, sobretudo
redentora: mantm constantemente aberta a possibilidade da arte, da crtica, da ao.
Uma histria no-determinista, ambgua como a prpria cidade e sua sobreposio de
edifcios, seus diversos estilos co-existentes, sua invaso dos espaos rurais, suas
caladas gastas e seus postes recm-instalados. Ambguo e sobreposto como a
prpria maneira de se escrever sobre esta cidade, a partir desta concepo de
38
histria. Ambguo, sobreposto, por vezes alarmista porm jamais descartando a
possibilidade da crtica, jamais descartando a possibilidade do homem.
Assim como todas as coisas que esto em um irresistvel processo
de mistura e impurificao perdem sua expresso de essncia, e o
ambguo se pe no lugar do autntico, assim tambm a cidade.
Grandes cidades, cuja potncia incomparavelmente tranqilizadora e
corroborante encerra o criador em uma paz de castelo fortificado e
capaz de tirar dele, juntamente com a viso do horizonte, tambm a
conscincia das foras elementares sempre vigilantes, mostram-se
por toda parte vazadas pelo campo que penetra. No pela paisagem,
mas por aquilo que a livre natureza tem de mais amargo, pela terra
arvel, por estradas, pelo eu noturno que nenhuma camada vibrante
de vermelho esconde mais. A insegurana mesma das regies
animadas acaba reduzindo o citadino quela situao opaco e cruel
no mais alto grau, em que ele tem de acolher em si, sob as
inclemncias da plancie desolada, os produtos da arquitetnica
urbana. (WB3, p.25)
Ao mesmo tempo perturbar o significado corrente do que seja uma cidade, do
que seja uma vida na cidade, e recuperar, renovar este prprio significado. Renov-lo
de dentro, subvert-lo. maneira de Proust, que quis transformar sua vida em cidade,
sua obra em urbe. Buscar passado no presente e presente no passado como um meio
de se alcanar uma sntese, criar uma narrativa. A arquitetnica urbana s passa a
compor uma narrativa quando o habitante de suas ruas capaz de extrair dela
experincias que rompam com uma vivncia automtica e mecnica do cotidiano.
O que torna to incomparvel e to irrecupervel a primeirssima
viso de uma aldeia, de uma cidade na paisagem, que nela a
distncia vibra na mais rigorosa ligao com a proximidade. O hbito
ainda no fez sua obra. Uma vez que comeamos a nos orientar, a
paisagem de um s golpe desapareceu, como a fachada de uma
casa quando entramos. Ainda no adquiriu uma preponderncia
atravs da investigao constante, transformada em hbito. Uma vez
que comeamos a nos orientar no local, aquela imagem primeira no
pode nunca restabelecer-se. (WB3, p.43)
O hbito anestesia, todavia o hbito inevitvel. No se trata de uma utopia
(evitar o hbito), seno de uma manobra crtica: saber identific-lo e contorn-lo,
escapar das zonas de conforto. A geografia urbana tem algo do enredo de um livro:
preciso saber virar suas pginas. Saber quando vir-las, ou quando no vir-las. A
experincia da urbe, muito como a experincia da literatura, intensifica-se quando h
espao para o leitor construir-se ao redor: Saber orientar-se numa cidade no
39
significa muito. No entanto, perder-se numa cidade, como algum se perde numa
floresta, requer instruo (WB3, p.73)
12
.
O habitante da cidade moderna requer instruo, do contrrio a floresta se
converte em labirinto; a experincia de mundo em passagem sem rastros. Saber
perder-se requer instruo; saber instruir-se requer perder-se. Conhecimento
fundamental geografia urbana, perder-se, pois estando perdido que o indivduo
se descobre, mais do que nunca, entranhado na cidade. A experincia de perder-se
a experincia de confrontar-se com solido, anonimato e labirinto. a experincia
consciente do hbito cotidiano; o lado crtico de uma mesma moeda.
Conhecimento, portanto, provido de dois lados, portador de instrues contraditrias:
saber reconhecer os rastros e saber apag-los. Passado e presente. Antiguidade e
modernidade. O fundo narrativo da geografia urbana surge nestas interseces,
contradies, ambiguidades. Perder-se significa mergulhar no estmago ambguo da
cidade: a solido, o anonimato, o labirinto. Diante da perplexidade: o salto. Das
entranhas: a possibilidade de redeno. Em momentos de aguda pobreza (material,
espiritual, intelectual), bom poder buscar o anonimato que uma cidade grande tem
a oferecer (C, p.434).
Experincia-limite, o anonimato e a solido experincia fundadora do artista
e destruidora do habitante. Submersos nas entranhas da urbe, integrados
paisagem da cidade, anonimato e solido so conduzidos s ltimas consequncias:
provocam e impedem a narrativa. Ao habitante, impedem cada vez menor o
nmero de vizinhos que se conhece, e cada vez menor, por conseguinte, o
nmero de narrativas em comum. Ao artista, provocam A matriz do romance o
indivduo em sua solido, o homem que no pode mais falar exemplarmente sobre
suas preocupaes, a quem ningum pode dar conselhos, e que no sabe dar
conselhos a ningum (WB1, p.54).
12
Vide ainda o seguinte trecho de uma carta escrita por Benjamin: Considering the loneliness of my
ramblings, in the final analysis I looked at too many paintings yet did not have enough time to be able
to concentrate on architecture. For my inductive way of getting to know the topography of different
places and seeking out every great structure in its own labyrinthine environment of banal, beautiful, or
wretched houses, takes up too much time and thus prevents me from actually studying the relevant
books. Since I must dispense with that, I am left only with impressions of the architecture. But I do
come away with an excellent image of the topography of these places. The first and most important
thing you have to do is feel your way through a city so that you can return to it with complete
assurance. Your first limited stay in such places cannot help but be somewhat inferior if you have not
most thoroughly prepared for it. (C, p.254)
40
O romancista segrega-se. [...] Escrever um romance significa, na
descrio de uma vida humana, levar o incomensurvel a seus
ltimos limites. Na riqueza dessa vida e na descrio dessa riqueza,
o romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive. (WB1,
p.201)
apenas quando o habitante perde-se em seu hbito que ele percebe como so
frios os seus dias. O exerccio de perder-se o risco de no encontrar-se, o medo de
sair da rotina um hbito sobretudo um conforto. Manter risca e ao fio dos anos um
hbito uma espcie de arte da negao. Dizer no para a ruptura; no para a
narrativa. O que seduz o leitor no romance a esperana de aquecer sua vida gelada
com a morte descrita no livro. (WB1, p.214) O recurso do habitante literatura costuma
ser precedido do exerccio de perder-se no labirinto, do duplo fazer historiogrfico de
encontrar e apagar os rastros. O caminho do habitante literatura o caminho para
fora da zona de conforto, o desvio da rota mecnica do cotidiano. E este movimento,
este mover-se de si, que mune de recolhimento
13
o habitante convertido em leitor. A ele,
a recompensa uma renovada capacidade de concentrao (uma cujo hbito, claro,
tratar de minar um pouco mais a cada dia retornar a ela significar um exerccio
constante; perder-se obra de uma vida inteira).
A literatura em estado de recolhimento. S isto j seria vitria bastante:
garantir um (ainda que tmido) reduto para a literatura, uma fortificao narrativa. E
contudo no o suficiente. Nunca suficiente para Benjamin, tambm a cidade, a
arquitetura, devem ser vistas em estado de recolhimento. Cidade e arquitetura,
ambguas e sobrepostas, tambm ofereceriam sadas s zonas de conforto,
possibilidades narrativas, redutos crticos. Basta saber perder-se; saber olhar.
Afirma-se que as massas procuraram na obra de arte distrao,
enquanto o conhecedor a aborda com recolhimento. Para as massas,
a obra de arte seria objeto de diverso, e para o conhecedor, objeto
de devoo. Vejamos mais de perto essa crtica. A distrao e o
recolhimento representam um contraste que pode ser assim
formulado: quem se recolhe diante de uma obra de arte mergulha
dentro dela e nela se dissolve, como ocorreu com um pintor chins,
segundo a lenda, ao terminar seu quadro. A massa distrada, pelo
contrrio, faz a obra de arte mergulhar em si, envolve-a com o ritmo
de suas vagas, absorve-a em seu fluxo. O exemplo mais evidente a
arquitetura. Desde o incio, a arquitetura foi o prottipo de uma obra
de arte cuja recepo se d coletivamente, segundo o critrio de
13
Recolhimento e distrao esto na base do controverso e ambivalente conceito benjaminiano de
aura, tema, em menor e maior grau, dos captulos 4 e 5.
41
disperso. As leis de sua recepo so extremamente instrutivas.
(WB1, pp.192-193)
Na distrao do olhar: a runa. O olhar distrado indiferente aos vestgios.
Ele passeia pela paisagem sem nunca ater-se a nada, sem nunca oferecer nada em
retribuio est sempre e apenas de passagem. O olhar distrado destitui o lugar
de sua aura: elimina sua autenticidade e sua localizao espao-temporal especfica
(WB1, pp.165-170). E, ao faz-lo, converte o lugar em um amontoado de linhas e
cores e formas, surrupia-lhe qualquer possibilidade de redeno, de narrativa. Um tal
olhar no preserva mistrio acende todas as luzes e d nome para todas as
coisas. E no entanto a ningum se dirige, e a ningum diz respeito so nomes que
no interessam a pessoa alguma.
Place de la Concorde: obelisco. Aquilo que h quatro mil anos foi
sepultado ali est hoje no centro da maior de todas as praas. Se
isso lhe fosse profetizado que triunfo para o fara! O primeiro
imprio cultural do Ocidente trar um dia em seu centro o
monumento comemorativo de seu reinado. Que aspecto tem, na
verdade, essa glria? Nenhum dentre dez mil que se detm pode ler
a inscrio. Assim toda glria cumpre o prometido, e nenhum orculo
a iguala em astcia. Pois o imortal est ali como esse obelisco:
ordena um trnsito espiritual que lhe ruge ao redor, e para ningum a
inscrio que est sepultada ali de utilidade. (WB3, p.36)
A morte da narrativa prenuncia o nascimento do no-lugar, e o nascimento do
no-lugar prenuncia a morte de Benjamin.
3.3. APAGUEM OS RASTROS!
Hoje o lema no enredamento, mas transparncia. (Corbusier!) (WB3,
p.189). Tudo o que foi dito at agora foi dito de maneira quase desnecessria teria
bastado apenas esta nica anotao de Benjamin. Nela encontramos o arcabouo
dialtico de sua reflexo sobre a cidade e a arquitetura. Todo o resto foi adorno
mas algum adorno se faz por vezes necessrio.
Teria bastado, em realidade, dizer (Corbusier!) como quem diz Coca-Cola,
como quem diz uma marca que dispensa adendos, e que desperta paixes
antagnicas. Teria bastado dizer que o no-lugar significa o limite da reflexo urbana
engendrada por Walter Benjamin, o limite de sua vida. Benjamin morreu na fronteira,
42
no limiar, no no-lugar: comeou a morrer em um posto aduaneiro entre Frana e
Espanha, e terminou em um quarto de hotel. No houve tempo para que resolvesse
plenamente o embate por ele criado, o embate entre antiguidade e modernidade,
entre enredamento e transparncia. Porque se trata bem de um embate, um pelo
qual o prprio Benjamin deu a vida a maleta contendo as mais de mil pginas
manuscritas do que viria a ser suas Passagens disso um contundente exemplo.
Tambm a filosofia pode ser um campo de batalha.
De um lado do ringue, pesando aproximadamente 150 anos, solene, nobre,
adornado com todas as oferendas do passado (WB1, p.116): o enredamento. De
outro lado do ringue, nu, deitado como um recm-nascido nas fraldas sujas de
nossa poca (WB1, p.116): a transparncia. Em um primeiro momento, o embate
pode parecer covarde, e o juiz, Benjamin, tendencioso. preciso, todavia, partir da
ambiguidade postulada pelo conceito de histria benjaminiano, ou seja, invocar toda
uma narrativa dialtica que contrape antiguidade e modernidade, passado e
presente, tradio e novidade, espetculo e crtica. E, mais ainda, lembrar que o
resultado de um combate, assim como o da arquitetura, estar intimamente ligado a
uma questo de tempo, de sincronia, de ritmo
14
. A fora pode causar seu estrago,
mas o tempo que ter a ltima palavra.
O ferro era evitado nas moradias, mas usado em galerias, sales de
exposio, estaes ferrovirias e edifcios com finalidades
transitrias. Simultaneamente, as reas arquitetnicas em que o
vidro era empregado, ampliavam-se. Mas as condies sociais para
a sua maior utilizao como material de construo s surgiram cem
anos depois. Na Glasarchitektur de Scheerbart (1914), ele ainda
aparecia no contexto de uma utopia. (PA, p.40)
O vidro a grande arma da transparncia, sua melhor estratgia. Para azar
desta, todavia, a aceitao do vidro no imediata h resistncia crtica. No que
depende da multido, a transparncia vence por nocaute: as clarabias coloridas
dos sales de exposio, os tetos envidraados das galerias comerciais banaliza-
se, do interior, o exterior, e o resultado espetacular
15
; a multido no tem do que
reclamar: o mundo est devidamente compartimentado para que ela possa
tranquilamente desfilar por ele. Para alguns crticos e outros arquitetos, contudo, a
14
A arquitetura , afinal de contas, essa componente concisa da rtmica da sociedade (WB3, p.148).
15
Dois conceitos so aqui importantes, e esto aqui implcitos: a banalizao do espao (WB3,
p.188), e a transformao de ruas em interiores (WB3, p.192).
43
reao imediata de desdm. O prprio Benjamin no est convencido na melhor
das hipteses, o vidro parece to-somente fazer parte das utopias bem ventiladas
de um Scheerbart (WB1, p.28). O vidro um material descriterioso: deixa
atravessar toda a luz que sobre ele se insinua. Um objeto por demais iluminado
morre por ser incapaz de preservar um mnimo de mistrio. Torna-se, como j foi
dito, apenas mais uma coisa como qualquer outra, rica em informao mas pobre
em narrativa. No por acaso que o vidro um material to duro e to liso, no qual
nada se fixa. tambm um material frio e sbrio. As coisas de vidro no tm
nenhuma aura. O vidro em geral o inimigo do mistrio. (WB1, p.116)
Inimigo do mistrio, inimigo do enredamento. Benjamin concorda com Breton
quando este afirma que o vidro torna o mundo opaco (WB1, p.116), pois o vidro
uma maneira de se possuir o mundo de forma pobre. Tudo dado, tudo dito o que
resta ao observador? O que resta alm de uma pobreza de experincia?
Pobreza de experincia: no se deve imaginar que os homens
aspirem a novas experincias. No, eles aspiram a libertar-se de
toda experincia, aspiram a um mundo em que possam ostentar to
pura e to claramente sua pobreza externa e interna, que algo de
decente possa resultar disso. (WB1, p.117)
Este seria o efeito de uma cultura de vidro transparncia, anonimato
coletivo, ausncia de vestgios. Tudo isso foi eliminado por Scheerbart com seu
vidro e pelo Bauhaus com seu ao: eles criaram espaos em que difcil deixar
rastros (WB1, p.117).
Habitar sem vestgios. Quando se entra num aposento burgus dos
anos [18]80, a impresso mais forte, em meio de todo o aconchego
que talvez irradie, : Aqui nada tens a procurar. E isto porque no
h canto no qual o morador j no tenha deixado seu vestgio [...].
Aqui, no aposento burgus, o comportamento oposto se tornou
costume. E vice-versa, o interior obriga seus moradores a adquirir a
quantidade maior possvel de hbitos. Eles esto reunidos na
imagem do senhor mobiliado tal como o tm presente as donas-de-
casa. Habitar esses aposentos forrados de pelcia no era mais que
seguir um vestgio estabelecido pelos hbitos. E at mesmo a
irritao que, ao menor dano, tomava conta dos lesados, era talvez
apenas a reao do homem ao qual apagavam o vestgio de seus
dias na Terra. O vestgio que deixara em almofadas e em poltronas,
que seus parentes deixaram nas fotografias, que seus bens deixaram
em estojos e que s vezes parecem tornar esses aposentos to
superpovoados como os columbrios. Pois os novos arquitetos
obtiveram isso com o seu ao e vidro: criaram espaos onde no
44
fcil deixar vestgios. Depois do que foi dito escreveu Scheerbart
j h vinte anos pode-se muito bem falar de uma cultura de vidro.
O novo ambiente de vidro transformar completamente o ser
humano. E agora s resta desejar que a nova cultura de vidro no
encontre oponentes em demasia. (WB3, pp.266-267)
16
A transparncia ameaada em caso de empate, Benjamin parece preparado
a conceder uma vitria por pontos para o enredamento. O que preocupa Benjamin
a riqueza de experincia que pode ser perdida em ambientes excessivamente
transparentes. A opacidade, a solido de um vizinho vista pelo outro atravs de
lminas de vidro. Quase um sadismo da proximidade: vista, mas intocvel; diante
do mundo, porm distante.
Como representar uma existncia que se desdobra inteiramente [...] nos
espaos de Le Corbusier? (WB1, p.32), questiona-se Benjamin, em busca de
exemplos concretos. Como imaginar uma vida em um ambiente desprovido de
rastros, um ambiente opaco e excessivamente iluminado? Na busca por respostas,
Benjamin recorre mais uma vez a Giedion e adiciona s suas anotaes um breve
pargrafo escrito pelo crtico suo:
Os prdios de Corbusier no so nem espaosos nem plsticos: o
ar sopra atravs deles! O ar se torna fator constituinte! Para tal, no
conta nem espao nem plstica, apenas relao e penetrao. Existe
apenas um nico e indivisvel espao. Caem as cascas entre o
interior e o exterior. Sigfried Giedion, Bauen in Frankreich, Berlim,
1928, p.85. (WB3, p.194)
O questionamento perturba Benjamin, pois simplesmente negar a arquitetura
transparente seria a sada por demais cmoda e justamente o comodismo que
deve ser evitado, uma vez que reside nele a falncia da crtica. Dizer no significaria
negar todo o arcabouo dialtico que, de forma fragmentria, Benjamin construiu.
Significaria negar o imbricamento entre antiguidade e modernidade, passado e
futuro. Significaria, em ltima anlise, contradizer uma viso de histria calcada na
possibilidade de redeno. Seria perder a batalha. E a batalha no estaria perdida
conquanto houvesse a possibilidade de encontrar nela poesia.
Para levar nossa cultura a um nvel mais alto somos forados, gostemos ou no,
a mudar nossa arquitetura, afirma Scheerbart em seu Glasarchitektur, e complementa:
16
Uma verso semelhante dessa formulao pode ser encontrada em WB1, pp.117-118.
45
E isso s ser possvel se livrarmos as dependncias em que
vivemos de seu carter fechado. Isso, por sua vez, s ser possvel
pela introduo de uma arquitetura de vidro que deixe entrar a luz do
sol, da lua e das estrelas, no s por algumas janelas, mas pelo
maior nmero possvel de paredes, que devem ser inteiramente de
vidro... (apud FRAMPTON, p.139)
Uma poesia utpica, talvez, porm o germe de uma sntese ambgua e
sugestiva, bem ao gosto benjaminiano. Encontramos um eco desta mudana
possvel nos rumos do embate entre enredamento e transparncia nas palavras do
arquiteto Adolf Behne, em um comentrio afirmao de Scheerbart:
A afirmao de que a arquitetura de vidro far surgir uma nova
cultura no o capricho louco de um poeta. um fato. As novas
organizaes de bem-estar social, os hospitais, as invenes ou
inovaes e aperfeioamentos tcnicos no daro origem a uma
nova cultura , mas a arquitetura e vidro cumprir esse papel. []
Portanto, o europeu est certo quando teme que a arquitetura de
vidro possa tornar-se incmoda. Ela o ser, sem dvida. E este no
constitui sua menor vantagem, pois, em primeiro lugar, preciso
arrancar os europeus de seu comodismo. (apud FRAMPTON, p.140)
Arrancar os europeus de seu comodismo. J podemos enxergar Benjamin
movendo-se ao redor das cordas, observando a movimentao no ringue a partir de
outros e novos ngulos. Ele v, agora, o ringue em sua totalidade as marcas
de sangue e de suor, o encardido dos passos sobre a lona. Ele v e isto
decisivo, o movimento crucial o rastro de sujeira que fica para trs.
Tanto um pintor complexo como Paul Klee quanto um arquiteto
programtico como Loos rejeitam a imagem do homem tradicional,
solene, nobre, adornado com todas as oferendas do passado, para
dirigir-se ao contemporneo nu, deitado como um recm-nascido nas
fraldas sujas de nossa poca. (WB1, p.116)
Para algum que afirmou que A tarefa mais urgente do escritor moderno de
chegar conscincia do quo pobre ele , e de quanto precisa ser pobre para
comear de novo (WB1, p.131), Benjamin no pode ignorar que no existe nada de
mais pobre do que estar nu, deitado como um recm-nascido em fraldas sujas. No
existe nada de mais incmodo e portanto no existe melhor maneira de se
comear de novo.
46
Aqui nada tens a procurar, disse Benjamin em relao arquitetura do
enredamento, e em um primeiro momento tal declarao pareceu crucificar a
transparncia. Porm Benjamin no um de se entregar facilmente, e a ele no
escapou o que h de mais perturbador na imagem tipicamente enredada do
aposento burgus dos anos 1880: o excesso de vestgios. Existe, indiscutivelmente,
um grande perigo na experincia que primordialmente apaga os vestgios porm o
mesmo pode ser dito do processo inverso: Habitar esses aposentos forrados de
pelcia no era mais que seguir um vestgio estabelecido pelos hbitos. Porque o
vestgio um hbito, como uma trilha escavada fora dos passos em meio a um
gramado. Em ambientes forrados de pelcia, pouco espao sobra para o habitante
construir-se livremente. A poltrona favorita do pai, o porta-retrato exibindo a
fotografia da me, a prataria herdada da av, a coleo de selos do av vestgios,
vestgios, vestgios, vestgios. O vestgio que deixara em almofadas e em poltronas,
que seus parentes deixaram nas fotografias, que seus bens deixaram em estojos e
que s vezes parecem tornar esses aposentos to superpovoados como os
columbrios. E o que um vestgio seno um como fazer, seno a transmisso
implcita de um conjunto de instrues, de regras de um jogo j jogado antes por
outro, por outros. Cada rastro representa uma expectativa, um vis, um marco
obsoleto. O presente pode ser permeado por rastros do passado, contudo jamais
medido a partir deles da mesma forma como o passado no pode ser medido
pelos rastros do presente. A antiguidade est na modernidade, e a modernidade na
antiguidade
17
mas a cada uma seu prprio labirinto. A cada uma, e a cada tempo,
suas respectivas possibilidades de redeno.
A arquitetura da transparncia postula um recomeo o vidro o precursor
do boto de reset. O vidro ambguo, seus usos devem estar sob constante anlise
crtica: expe-nos, annimos e ss em nossos poucos metros quadrados de rea
privativa, ao mesmo tempo em que nos lembra da existncia do outro, annimo e s
a apenas alguns metros de distncia. E, ao faz-lo, insinua que anonimato e solido
possam ser alternativas, possam resultar de decises conscientes. A transparncia
no dita o jogo apenas coloca as cartas sobre a mesa. Cria um espao neutro, um
espao de recolhimento crtico diante do espetculo e da rotina. Expe as entranhas
do mundo, edifica um observatrio da prpria cidade. No meu caso, escreve
17
O prprio Loos considerava que toda cultura dependia de uma certa continuidade com o passado
(FRAMPTON, p.105)
47
Benjamin, esta carta significa justamente que eu enfim encontrei tempo para pensar
tem apenas algumas horas que estou em um cmodo que no interfere com minha
reflexo (C, p.153).
A arquitetura da transparncia irrompe como uma impostura infantil, como um
grito para que se apaguem os rastros e se comece tudo novamente.
48
4. PINTURA E IDEOLOGIA
El Greco (1541-1614) Rembrandt (1606-
1669) Immanuel Kant (1724-1804) Louis
Daguerre (1787-1851) Claude Monet (1840-1926)
James Ensor (1860-1949) Impressionismo
(1874-1886) Paul Klee (1879-1940) Giorgio de
Chirico (1888-1978) Max Ernst (1891-1976)
Expressionismo (a partir de 1908) Dadasmo
(1916-1925) Surrealismo (a partir de 1920)
A expresso das pessoas que se
movem dentro de galerias de pinturas mostra
um mal dissimulado desapontamento com o
fato de que ali esto pendurados apenas
quadros. (WB2, p.61)
4.1. ALARME DE INCNDIO
Para efetivamente institucionalizar Walter Benjamin no cnone da filosofia
ocidental, basta erigir-lhe nmero adequado de monumentos. No h nada como um
monumento em praa pblica para atestar a ideologia vigente: para (muito
discretamente) acenar aos apertos de mos polticos e trocas de favores e
engrenagens burocrtico-legais que tiveram de ser acionados para que ali, naquela
tarde ensolarada de um dia qualquer (provavelmente um sbado), com a presena
das devidas lideranas locais (e, com sorte, do artista que produziu a pea), aquele
bloco X de metal ou de pedra ou de vidro pudesse ser descortinado e inaugurado e
docilmente incorporado narrativa da cidade j havendo o indivduo que deu-lhe
origem h muito falecido, e no possuindo, portanto, nada a declarar a respeito. Um
heri refm dos monumentos pstumos que o honram.
Porque um monumento dedicado ao indivduo Z representa os 25 monumentos
que no foram dedicados aos indivduos de A a Y, e to somente porque estes ltimos
no respondem aos critrios ideolgicos em vigor. Para aqueles que planejam um dia
ser condecorados com um monumento, saiba-se: exige-se mais do que uma
constituio herica exige-se ter vivido e morrido no tempo certo
18
.
18
Adorno, por exemplo, talvez tenha desprezado este critrio e vivido um pouco mais do que deveria.
Quem sabe isso comece a explicar porque, em comparao a Benjamin, tenha ele sido to
infrequentemente transformado em monumento. De todos os modos, Benjamin foi mais fotognico.
49
Morto pelas mos da ideologia, talvez seja justo que Benjamin receba delas um
afago pstumo. Ou talvez seja simplesmente irnico, ou, ainda, faa parte de uma
grande manobra de mea-culpa alem diante da barbrie nazista, e que encontra em
Benjamin um simples elo entre muitos. De todas as maneiras, os monumentos e
memoriais e fundaes que surgiram aps sua morte inscrevem-se em uma intricada
teia ideolgica que atingiu seu pice na noite do 27 de setembro de 1940, em um
quarto no segundo pavimento do extinto Hotel de Francia, em Port Bou, Espanha.
O prprio fato de Benjamin ter chegado ao hotel digno de nota, uma vez que
sua entrada na Espanha fora rejeitada, mas, devido a sua supostamente debilitada
aparncia, foi-lhe permitido pernoitar em um local menos desagradvel que uma cela
de priso. No dia seguinte os oficiais aduaneiros resolveriam sua extradio de volta
para a Frana, porm no dia seguinte Benjamin j estaria morto. Hemorragia
cerebral, atesta o laudo assinado pelo juiz local (ROLLASON, 2002, p.5), embora
outras hipteses como a de uma parada cardaca no sejam completamente
descartadas. Para aquele momento, todavia, hemorragia cerebral servia
perfeitamente aos propsitos de uma Espanha neutra, e um Benjamin s avessas
pde ser enterrado no cemitrio local: sob o nome de Benjamin Walter, foi
inadvertidamente (ou no a ideologia pode operar de forma bastante discreta)
destitudo de sua origem judia e encaminhado eternidade ao lado dos demais
catlicos e cristos do pequeno povoado espanhol (ROLLASON, 2002, p.6).
(Cinco anos depois
19
, no entanto, seus restos mortais foram transplantados
vala comum, e Benjamin voltou a ser apenas p, como o bom filsofo materialista
que foi. Seu paradeiro fsico agora desconhecido um destino comum aos
pensadores de inclinao marxista.)
Foram necessrios 39 anos para que a ideologia mudasse, e com ela as
verses de sua morte. Em 1979, quatro anos aps a queda do general Franco,
inaugurou-se uma placa no cemitrio local com a simples inscrio de que por ali,
misturado terra, encontrava-se a ideia de um falecido filsofo alemo: Walter
Benjamin (ROLLASON, 2002, p.6). A placa representou um primeiro passo em
direo s reparaes promovidas pelos subsequentes governos alemes e
espanhis, bem como o reconhecimento da crescente importncia do pensamento
de Benjamin dentre os crculos filosofantes da Europa. Uma importncia que passou
19
Tempo pelo qual fora adquirido o tmulo no qual Benjamin foi enterrado (com o que dinheiro que
encontraram em seus bolsos), conforme relato de ROLLASON, 2002, pp.4-8.
50
a refletir-se no novo rearranjo simblico dos ltimos dias de Walter Benjamin: relatos
de sua fuga pelo sul da Frana, de sua tentativa de embarcar em um navio em
Marselha com destino sia, de sua escalada pelos Pirineus, de seus problemas
cardacos, de seu suicdio herico no Hotel de Francia. Nenhuma de cujas verses
pde ser inteiramente comprovada, porm pouco importa importa a manobra
ideolgica, a validao de um heri da cultura sacrificado pela barbrie.
Em 1990, um segundo passo: uma espcie de pedra memorial (ROLLASON,
2002, p.7), um retngulo lapidado em mrmore negro e uma citao apocalptica,
retirada da stima tese de seu Sobre o conceito da Histria: Es ist niemals ein
Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Estava
sedimentada a institucionalizao de Walter Benjamin, sua converso em
monumento, e no tardou at que em 1994, ainda em Port Bou e contando com a
presena de delegaes alems (incluindo o ento presidente) e espanholas, se
inaugurasse o monumento definitivo: Passages (ROLLASON, 2002, p.8). Com
Passages, e com a criao de um fundao dedicada preservao de sua obra e
memria, Benjamin tornou-se o mais ilustre dos portbouenses mesmo no
havendo passado na cidade mais do que 24 horas.
altamente indicativo (e igualmente irnico) que se tenha escolhido uma das
mais emblemticas frases de Benjamin para marcar o local de sua morte, uma frase
aqui anteriormente citada, e qual chamamos novamente a ateno. A verso citada
corresponde cuidadosa traduo de Sergio Paulo Rouanet, retirada da dcima
reimpresso da obra de referncia do filsofo alemo no Brasil, editada pela
Brasiliense, e que l: Nunca houve um monumento da cultura que no fosse tambm
um monumento da barbrie (WB1, p.225). Repare-se que onde diz Dokument no
original alemo, encontra-se monumento (Denkmal) na traduo brasileira.
Coincidncia, descuido ou apurado senso crtico do tradutor aos poucos e por todos
os lados Benjamin convertido em monumento, engolido pela ideologia
20
.
20
Cabe notar, como nota de rodap, que o ttulo deste sub-captulo foi retirado de um curto texto
chamado Alarme de incndio, no qual Benjamin esboa uma discusso sobre poltica e ideologia. A
esta anlise dedica-se o presente captulo, mas no sem antes apontar para a seguinte e inocente
coincidncia (outra?): a Fundao Walter Benjamin, em Port Bou, fica localizada ao lado do corpo de
bombeiros (ROLLASON, 2002, p.6).
51
4.2. DA BELEZA AUSNCIA
O truque que rege esse mundo de
coisas mais honesto falar em truque que
em mtodo consiste em trocar o olhar
histrico sobre o passado por um olhar
poltico. (WB1, p.26)
Todo o esforo intelectual de Walter Benjamin suas teses sobre a histria,
sua exaltao da experincia (Erfahrung) em oposio vivncia (Erlebnis), sua
aposta pela narrativa, seu elogio da figura do flneur culmina no contraditrio
objetivo de instaurar um aparelho de desinfeco e isolamento da poltica, contra
todo diletantismo moralizante, por mais romntico que seja esse aparelho (WB1,
p.30). Ou seja, atravs de uma manobra potencialmente romntica porm
fundamentalmente anti-romntica, instaurar uma ideologia crtica da prpria
ideologia. Invadir as zonas de conforto dos conchavos polticos e l instalar o
elemento crtico do choque, uma usina geradora (WB1, p.21) que duvide, questione
e impea a falncia moral e crtica de seus membros.
...extrair a metfora moral da esfera da poltica, e descobrir no
espao da ao poltica o espao completo da imagem. Mas esse
espao da imagem no pode de modo algum ser medido de forma
contemplativa. [...] ...a se abre esse espao de imagens que
procuramos, o mundo em sua atualidade completa e
multidimensional, no qual no h lugar para qualquer sala
confortvel. (WB1, p.34)
Pois a contemplao, por mais fundamental que seja
21
, no se sustenta sem
o sufixo que a complementa: a ao. De nada adianta a arte pela arte se esta no
aborda temas cruciais da experincia do homem, se esta no se compromete no
plano ideolgico. Uma obra apenas bela, em pacfica conformidade com o cnone,
incapaz de frico, de choque, e est condenada a ser esquecida pela histria. O
ideal ocidental do belo, este legado grego por excelncia, est eve inscrito, dentre os
prprios gregos, em uma tradio (WB1, p.171) que no o resumia apenas
21
Como j o discutimos no captulo anterior: o recolhimento em oposio distrao. E, como nunca
deixa de ser interessante ressaltar as contradies inerentes a todo pensamento ambicioso, como o
de Benjamin, convm notar que o recolhimento foi visto com muitos bons olhos pelas monarquias
europeias, uma vez que encorajava o hbito de se estar s um hbito altamente estratgico (para
as classes governantes, claro) em uma poca marcada por violentas manifestaes coletivas,
polticas e anti-establishment.
52
simetria de suas formas. Ofereciam-se aos gregos de ento mais elementos naquele
belo do que conseguem captar nossos olhos de hoje. Havia algum ritual mgico na
beleza das obras gregas, um posteriormente incorporado ideologia da igreja
durante a Idade Mdia e convertido em favor da religio, para ento ser finalmente
resgatado pelo Renascimento (WB1, p.171). O culto do Belo renascentista (WB1,
p.171) retoma uma ideia de beleza originria da ritualstica grega e perpassada pela
funo religiosa que lhe foi inculcada pela igreja medieval. E, ao retomar este belo, o
Renascimento encontra-se diante de algo totalmente distinto do que possa ter sido
seu sentido original. No dizer que j no exista beleza, mas que procur-la nas
mesmas fontes do passado torna-se estril e datado. Os grandes artistas, na
concepo de Benjamin, procuram beleza l onde no se a est buscando, e de l
erigem suas obras:
Compreendi de sbito como a um pintor no ter acontecido a
Rembrandt e a vrios outros? a feira pode aparecer como o
legtimo reservatrio da beleza, ou melhor, como seu escrnio, como
uma montanha rasgada que encerra todo o ouro interior da beleza
que lampeja nas rugas, nos olhares, nos traos. (WB2, p.251)
Contudo, de pouco serve apenas encontrar o belo nas margens da
civilizao
22
, nas margens da vida do homem preciso at-lo experincia deste
mesmo homem. No se trata do que, via Sartre, veio a se conhecer por arte
engajada a arte panfletria , para Benjamin, to vazia quanto a arte
simplesmente bela. Benjamin no deseja a estetizao da poltica, mas a
politizao da arte (WB1, p.196). Isto , aliar a beleza (pois, sem ela, sai-se do
campo da experincia artstica) ao poltica, uma ao que no deve ser
compreendida como mero engajamento causa marxista, mas sim como um
comprometimento com os valores da narrativa, da flnerie, da experincia enfim,
em uma palavra: do homem que vive.
Benjamin no defende que cada nova gerao de artistas deva superar-se
apenas no plano esttico, introduzindo novas linguagens e recursos expressivos. A
tarefa do artista ainda mais exigente: ele deve aliar renovao esttica
22
A propsito do mtodo de Benjamin relembramos aqui a citao j feita na introduo , disse
Siegfried Kracauer: Destruir e em seguida iluminar l para onde de costume no se volta a nossa
ateno, corresponde propriamente ao mtodo de Benjamin. [...] Com Benjamin, a filosofia
reconquista uma preciso de contedo, o filsofo passa a ocupar aquele posto nobre entre o
pesquisador e o artista (KRACAUER, 2009, pp.284-285).
53
transformao poltica. Referindo-se literatura, advertiu: Nenhuma renovao
tcnica da lngua, mas sua mobilizao a servio da luta ou do trabalho e, em todo
caso, a servio da transformao da realidade, e no da sua descrio (WB1,
p.117). E foi ainda alm: Pretendo mostrar-vos que a tendncia de uma obra
literria s pode ser correta do ponto de vista poltico quando for tambm correta do
ponto de vista literrio (WB1, p.121). Isto , uma arte apenas poltica no arte:
poltica; uma arte apenas bela no arte: distrao.
4.3. MANUAL DE PINTURA E CALIGRAFIA
O pensamento de Benjamin como um imenso conjunto de portas
interligadas que nos obriga a retornar a cmodos j visitados apenas para descobri-
los completamente diferentes. O conforto em Benjamin saber-se sempre mutvel,
nunca sujeito ao hbito de uma mesma decorao. Motivo pelo qual, para
avanarmos nesta tese sobre artes visuais, devemos aludir a uma verso possvel
da histria da literatura do sc.18, uma contada por um dos mais instigantes leitores
de Walter Benjamin: o crtico ingls Terry Eagleton.
Para Eagleton, a literatura um discurso no-pragmtico, uma espcie de
linguagem autorreferente (self-referential) que alude no rigidez das coisas do
mundo, mas maneira como as encaramos. Existiria, portanto, um valor mutvel
subjacente experincia do texto literrio, e que tornaria a literatura como um todo
sensvel ao contexto vigente (context-sensitive). De maneira que a definio do que
possa ser literatura dependeria mais de como se lem os textos ditos literrios do
que da natureza prpria daquilo que est escrito (EAGLETON, 2008, pp.7-8).
No existe uma obra ou uma tradio que seja valiosa em si, a
despeito do que se tenha dito, ou se venha a dizer, sobre isso. Valor
um termo transitivo: significa tudo aquilo que considerado como
valioso por certas pessoas em situaes especficas, de acordo com
critrios especficos e luz de determinados objetivos. Assim,
possvel que, ocorrendo uma transformao bastante profunda em
nossa histria, possamos no futuro produzir uma sociedade incapaz
de atribuir qualquer valor a Shakespeare (EAGLETON, 2008, p.10)
23
.
23
E ainda: All literary works, in other words, are 'rewritten', if only unconsciously, by the societies
which read them; indeed there is no reading of a work which is not also a 're-writing'. No work, and no
current evaluation of it, can simply be extended to new groups of people without being changed,
perhaps almost unrecognizably, in the process; and this is one reason why what counts as literature is
a notably unstable affair. (EAGLETON, 2008, p.11)
54
A literatura, conclui provisoriamente o autor, no nem objetiva, nem
tautolgica: ela o produto de uma ideologia e de um contexto.
Para melhor compreender esta ideologia e este contexto, Eagleton retraa o
surgimento da literatura, tal qual a conhecemos, e o situa na Inglaterra do sculo 18.
Uma Inglaterra s portas de uma revoluo industrial que trazia de arrasto uma
crescente e crua classe mdia. Dentro deste contexto, e diante da massificao
dos meios produtivos da imprensa, a literatura apresentava-se como meio ideal para
transmitir-se a esta classe mdia os valores sociais das classes dominantes, na
esperana de que ela pudesse assimil-los e reproduzi-los. Todavia, o avano da
revoluo industrial revelou seu lado srdido no decurso do sculo 19: as longas
jornadas fabris, as condies insalubres de trabalho, a explorao abusiva da mo-
de-obra, inclusive a infantil. Contra esta realidade atroz insurgiram-se os chamados
romnticos, com sua valorizao do imaginativo sobre o prosaico o imaginativo
como uma alternativa crueza das relaes scio-econmicas impostas por uma
sociedade industrial. Assim, a literatura e a poesia ditas imaginativas ganharam
fundo poltico: a tentativa de mudar a sociedade em nome da arte (EAGLETON,
2008, pp.15-17).
O prprio Benjamin situa na disseminao do livro impresso em meados do
sculo 18 o ponto de partida para o fenmeno da reprodutibilidade da obra de arte
(WB1, p.188; 238), assunto com o qual nos ocuparemos no prximo captulo. Por
ora, cabe notar que a funo social concedida literatura pela monarquia inglesa
no diferiu em nada da histria pregressa dos meandros da obra de arte: a arte
sempre serviu a fins extrnsecos a ela mesma, seja enquanto iconografia (a igreja da
Idade Mdia e sua arte sacra), seja enquanto smbolo de status e prosperidade (os
mecenas do Renascimento e seus retratos de famlia). Com a insurreio dos
romnticos, entretanto, a coroa inglesa subitamente percebeu os riscos de incentivar
o consumo de um meio expressivo potencialmente subversivo, e suspendeu seu
endosso. Alm disso, o exacerbado idealismo romntico pregado por este grupo de
artistas engendrou uma concepo transcendental de arte, uma que, em ltima
anlise, distanciou excessivamente o artista da realidade (ou da histria), e assim
marginalizou os impactos da arte produzida (EAGLETON, 2008, p.18).
Um produto desta alienao entre arte e realidade foi o surgimento das
teorias estticas (Kant, Schiller, Coleridge...), as quais visavam usar a favor da arte o
55
fato de que ela no mais possua uma funo social bvia (a arte como um meio
sem fim, na famosa formulao kantiana). Esta retomada artstica, reconduzida por
teorias que trocavam o transcendentalismo pelo que mais tarde Adorno viria a
chamar de fetichismo, respondia ainda decadncia da Igreja, que, de um lado,
no mais financiava obras nem artistas, e, de outro, via sua influncia diminuda
dentre a populao (EAGLETON, 2008, p.19).
Ou seja, a arte perdera o endosso da igreja, dos mecenas e dos aristocratas e,
por fim, da prpria monarquia; simultaneamente, o romantismo vigente alijara por
demais a arte da experincia concreta, da Erfahrung benjaminiana, e restringira a
experincia artstica a uma elite de iniciados. No bastasse isso, Louis Daguerre
aperfeioara seus experimentos com o daguerretipo, assim usurpando a ltima
funo social (e a ltima fonte de renda) disponvel aos artistas do sculo 19: o retrato.
No momento em que Daguerre conseguiu fixar as imagens da
cmera obscura, os tcnicos substituram, neste ponto, os pintores.
Mas a verdadeira vtima da fotografia no foi a pintura de paisagem,
e sim o retrato em miniatura. A evoluo foi to rpida que por volta
de 1840 a maioria dos pintores de miniaturas se transformaram em
fotgrafos... (WB1, p.97)
24
As poucas famlias que detinham meios suficientes para encomendar retratos
leo do av j muito idoso ou da bela esposa recm-casada deixaram de faz-lo
em prol da inovao tecnolgica: a fotografia substitua a pintura, e o pintor morria
de fome. A ausncia de uma funo social especfica ao artista sintomtica de uma
mudana ideolgica, de uma nova organizao poltica que se impe anterior.
Coube nova gerao de pintores perceber a extenso do poder avassalador da
nova ideologia que se instaurava nos principais plos europeus do sculo 19, uma
gerao que passou a ser referida sob a alcunha do impressionismo.
...uma pintura reproduziria em uma imagem o que os olhos no se
fartam de ver. Aquilo com que o quadro satisfaria o desejo, que pode
ser projetado retrospectivamente em sua origem, seria alguma coisa
que alimenta continuamente esse desejo. O que separa a fotografia
da pintura, e o motivo de no haver um princpio nico e extensvel
de criao para ambas, est claro, portanto: para o olhar que no
consegue se saciar ao ver uma pintura, uma fotografia significa,
antes, o mesmo que o alimento para a fome ou a bebida para a sede.
(WB3, pp.138-139)
24
Acerca desse tema, vide ainda WB1, p.176; e p.188.
56
Diante dos novos ventos da ideologia e dos novos adventos da tcnica, os
impressionistas perceberam que de nada adiantaria insistir nos velhos moldes o
retrato leo convertia-se em pea de museu, e o simples registro de uma
paisagem verdejante era to mais fidedignamente registrado pelas mquinas
fotogrficas. Se a arte ainda haveria de fazer alguma diferena na sociedade, na
vida do homem, esta diferena deveria resultar de algo nico, prprio dela, algo que
no pudesse ser reproduzido pela cmera obscura algo, de certa forma, que
resultasse de um olhar crtico sobre o mundo. Lanando mo de invenes antigas
as telas portteis dos sculos 15 e 16 (WB1, pp.173; 193) e novas os tubos de
tinta do sculo 19 , os impressionistas abandonaram seus atelis e invadiram a
natureza, fazendo dela sua prpria ideologia.
Quando Monet pinta seu Impression, soleil levant, em 1872, no apenas da
harmoniosa impreciso das pinceladas que se est falando, das variaes da luz na
paisagem e do calor radiante de um sol alaranjado em oposio frieza de uma
composio em tons de azul, no se est falando de ideologia, se est falando de
um contundente rompimento com o academicismo e, ainda, de uma manobra
incisiva em reclamar de volta para os artistas uma funo social que lhes fora
usurpada. Por detrs dos pores-do-sol de um Monet, ou dos girassois de um Van
Gogh, ou das paisagens litorneas de Sisley h mais do que a beleza das formas:
h todo um mundo de carne e osso s margens da runa. No h nada como a
ameaa da fome para gestar revolues. E no h nada como a fora antagnica da
ideologia para gerar fome.
4.4. DA REVOLUO ACOMODAO
Visto distncia dos sculos, o impressionismo marcou um curto interregno
na histria da arte: por um brevssimo espao de tempo, a arte respondeu a valores
intrnsecos a ela mesma. Em outras palavras, destitudos dos financiament os da
igreja, dos mecenas e do governo, os impressionistas optaram por pintar, de forma
altamente subjetiva, aquilo que lhes captava a ateno. No havia ordens prvias
exaltar esta ou aquela passagem bblica, retratar este ou aquele membro da famlia.
Havia apenas a atitude decidida do artista que posicionou seu cavalete diante de um
porto, uma igreja, um campo de trigo e converteu aquilo em pintura, em arte. O
57
interregno , entretanto, curto, pois este mesmo artista viu-se obrigado a vender sua
produo, uma vez que a fome e a ausncia de uma funo social clara nunca
deixaram de ser-lhe ameaas muito concretas. Estabeleceram-se, pois, as galerias e
os marchands, e o dinheiro passou a controlar os meandros da arte, impor-se como
um novo (e, at agora, definitivo) valor extrnseco. No tardou para que a ideologia
do capital impusesse as estruturas que so as suas, e o mercado fez da arte um
bem como qualquer outro, dotou-o de canais de produo e escoamento e
converteu-o em objeto, em fetiche.
Isso, claro, apenas para a parcela da chamada arte que se permite domar.
Pois o impressionismo estabeleceu um padro altamente reprodutvel de arte, e,
ainda por cima, um com enorme penetrao entre os mais distintos estratos scio-
econmicos da populao. O impressionismo uma espcie de unanimidade
artstica: no h quem o desaprove, e portanto no h fim para a avalanche de
quadros moda impressionista (inclusive porque este impressionismo de segunda
mo mascara uma eventual carncia tcnica do suposto artista t ardio). Todavia,
poucos movimentos so mais nocivos arte que sua mera continuidade, pois ela
despe o objeto artstico de toda ideologia, de toda relao com a realidade, e o
apresenta como simples objeto decorativo. Uma natureza-morta fora de poca to
podre quanto uma cesta de frutas cem anos depois.
Se o impressionismo (e, em alguma extenso, tambm o imediato ps-
impressionismo) compreendeu as amarras que lhes eram impostas pela ideologia
vigente, por outro lado ele instaurou uma verso barata de outra ideologia: a da
comodidade, a da linha do menor esforo entre duas tenses opostas. Porque toda
grande arte deixa um rastro de destruio por onde passa, de onde ramificam, anos
mais tarde, frutos estreis de um tempo passado e agora vazio. E apenas quando
se chega a este cenrio ps-apocalptico que a linguagem desta grande arte
incorporada cultura e convertida em espetculo: filmes retratando a vida gloriosa
de artistas malditos em seu tempo; livros escritos em uma linguagem um dia
vanguardista e hoje simplesmente maneirista; monumentos e memoriais. muito
fcil admirar Van Gogh um sculo depois de sua morte. muito fcil rechaar o
artista contemporneo enquanto ele ainda vive. O espetculo uma espcie de
saudosismo desengonado travestido em pastiche.
A verdadeira arte crtica, ela recusa as salas cmodas que lhe so
construdas como armadilhas:
58
O que encontra a elite intelectual, ao confrontar-se com esse
inventrio dos seus sentimentos? Esses mesmos sentimentos? Eles
j foram vendidos, a preos de ocasio. Ficaram apenas os lugares
vazios, em empoeirados coraes de veludo, em que outrora
estiveram guardados tais sentimentos a natureza e o amor, o
entusiasmo e a humanidade. Hoje as pessoas afagam essas formas
ocas, com um gesto distrado. [] Ningum nunca se acomodou to
confortavelmente numa situao to desconfortvel. (WB1, p.75)
Na esteira do impressionismo, o incmodo apresentou-se inicialmente como
expressionismo (pense-se em Kafka
25
), e ento em dadasmo e surrealismo. Intil
dizer que todos estes movimentos, seja no plano da literatura ou das artes visuais,
foram prontamente rechaados, e somente muito tempo depois incorporados
cultura vigente, ideologia padro. Sobretudo dadasmo e surrealismo inseriram na
sociedade as maiores doses de desconforto, motivo pelo qual Benjamin dedicou-se
a analis-los e admir-los
26
.
A Benjamin interessa romper com a mentalidade romntica predominante, e
apresentar a arte no como uma disciplina transcendente, bomia e gestada por
musas inspiradoras, mas como uma ao concreta, diretamente relacionada vida
dos habitantes da urbe.
Em todos os seus livros e iniciativas, a proposta surrealista tende ao
mesmo fim: mobilizar para a revoluo as energias da embriaguez.
Podemos dizer que essa sua tarefa mais autntica. [...] A esttica
do pintor, do poeta en tat de surprise, da arte como a reao do
indivduo surpreendido, so noes excessivamente prximas de
certos fatais preconceitos romnticos. Toda investigao sria dos
dons e fenmenos ocultos, surrealistas e fantasmagricos, precisa
ter um pressuposto dialtico que o esprito romntico no pode
aceitar. (WB1, pp.32-33)
25
Como El Greco, Kafka, despedaa o cu, atrs de cada gesto; mas como em El Greco, padroeiro
dos expressionistas, o gesto o elemento decisivo, o centro da ao. (WB1, p.147)
26
Porm jamais incondicionalmente: Benjamin foi grande crtico de uma inteligncia de esquerda
que aproveitava-se dos movimentos artsticos em prol de uma acomodao poltica uma que
caberia verdadeira e autntica arte combater: Nos ltimos quinze anos, essa inteligncia de
esquerda tem sido ininterruptamente agente de todas as conjunturas intelectuais, do ativismo ao
expressionismo e Nova Objetividade. Mas sua significao poltica se esgotou na converso de
reflexos revolucionrios (na medida em que eles afloravam na burguesia) em objetos de distrao, de
divertimento, rapidamente canalizados para o consumo. [...] O expressionismo exps em papier
mach o gesto revolucionrio, brao em riste, o punho cerrado. (WB1, p.75)
59
O surrealismo instalou nas correntes espirituais uma espcie de usina
geradora quando elas atingem um declive suficientemente ngreme (WB1, p.21), e
assim foi capaz de explodir de dentro o discurso vigente, a acomodao prevista:
Mas quem percebeu que as obras desse crculo no lidam com a
literatura, e sim com outra coisa manifestao, palavra, documento,
bluff, falsificao, se se quiser, tudo menos literatura , sabe tambm
que so experincias que esto aqui em jogo, no teorias, e muito
menos fantasmas. (WB1, pp.22-23)
Experincias, no teorias. A vida concreta, no a especulao abstrata. O poder
revolucionrio da arte crtica est em sua capacidade de acordar o homem do torpor de
seus hbitos, e assim convoc-lo a participar ativamente da construo de seu destino.
Esses autores [os surrealistas] compreenderam melhor que ningum
a relao entre esses objetos [os objetos que comeavam a
extinguir-se] e a revoluo. Antes desses videntes e intrpretes de
sinais, ningum havia percebido de que modo a misria, no
somente a social como a arquitetnica, a misria dos interiores, as
coisas escravizadas e escravizantes, transformavam-se em niilismo
revolucionrio. [...] Nenhum quadro de De Chirico ou de Max Ernst
pode comparar-se aos fortes traos de suas fortalezas internas, que
precisam primeiro ser conquistadas e ocupadas, antes que
possamos controlar seu destino e, em seu destino, no destino das
suas massas, o nosso prprio destino. (WB1, pp.25; 26)
A verdadeira arte precisa ser conquistada e ocupada, ela no se oferece
gratuitamente ao espectador. Ela no se explica: ela exige o esforo, a participao
ativa. Ela provoca mais do que responde; insinua suas formas mais do que mastiga
seus contedos. Nisso reside a grande diferena entre crtica e espetculo: na
insero do choque, do elemento reflexivo, da descontinuidade com o hbito e a
rotina. A crtica trata de encontrar beleza e sentido l onde no se o est buscando,
e ento, como um espelho, reflete tais imagens para a multido tenciona vincular
ao homem, individualmente, a experincia que traz em sua essncia. A incmoda,
grotesca e potica obra do pintor belga James Ensor serve como ilustrao a esta
manobra crtica: esqueletos irrompem em meio multido, mscaras burlescas
cobrem os rostos dos habitantes da cidade, elementos alegricos de forte apelo
psicolgico inserem desconforto em meio a uma pintura altamente plstica e
expressiva, e cujo efeito seria completamente outro acaso o artista houvesse se
60
dedicado diligente e confortvel tarefa de repetir a frmula vigente de naturezas-
mortas e tranquilas paisagens acadmicas.
Pensemos nos esplndidos quadros de Ensor, nos quais uma grande
fantasmagoria enche as ruas das metrpoles [...]. Aqui se revela,
com toda clareza, que nossa pobreza de experincias... Pois qual o
valor de todo o nosso patrimnio cultural, se a experincia no mais
o vincula a ns? [...] A multido metropolitana despertava medo,
repugnncia e horror naqueles que a viam pela primeira vez. Em
Poe, ela tem algo de brbaro. A disciplina mal consegue sujeit-la.
Posteriormente, James Ensor no se cansar de integrar
corporaes militares s suas bandas carnavalescas. (WB1, p.115;
WB3, p.124)
Uma outra maneira de provocar choque e reflexo subverter, de dentro,
uma tradio j frouxa e pobre em experincias. A isto dedicaram-se os dadastas: a
testar a fora da arte, seus limites, sua comodidade institucional.
Pense-se no dadasmo. A fora revolucionria do dadasmo estava em
sua capacidade de submeter a arte prova da autenticidade. Os
autores compunham naturezas-mortas com o auxlio de bilhetes,
carretis, pontas de cigarro, aos quais se associavam elementos
pictricos. O conjunto era posto numa moldura. O objeto era ento
mostrado ao pblico: vejam, a moldura faz explodir o tempo; o menor
fragmento autntico da vida diria diz mais que a pintura. (WB1, p.128)
Inserir um fragmento autntico da vida diria no campo fetichizado da
pintura representa uma atitude revolucionria por excelncia, uma ruptura em tudo
ideolgica aps a sangrenta e cruel experincia da primeira guerra mundial, e
diante da ascenso e da ameaa nazistas, realizar uma obra puramente agradvel
aos olhos representaria a pior das traies: representaria um escapismo sem
precedentes, um do qual a verdadeira arte crtica nunca mais se livraria.
Um dos riscos da crtica, em comparao ao espetculo, que esta primeira
pode conduzir a experincias-limite to intensas, que o passo para trs torna-se
impossvel. A integralidade de seus reflexos, entretanto, manifesta-se apenas
dcadas mais tarde, coloca-se na mo de futuras geraes de artistas e cabe a
estes extrair da algum sentido e oferecer, atravs de sua arte, experincias vlidas
ao espectador. Aos olhos de muitos, o atual estado da arte contempornea (de fins
de sculo 20 e incio de 21) refletiria justamente uma inaptido em lidar com este
61
legado embora o mesmo tenha sido cogitado na poca dos impressionistas,
surrealistas e dadastas.
Uma das tarefas mais importantes da arte foi sempre a de gerar uma
demanda cujo atendimento integral s poderia produzir-se mais
tarde. A histria de toda forma de arte conhece pocas crticas em
que essa forma aspira a efeitos que s podem concretizar-se sem
esforo num novo estgio tcnico, isto , numa nova forma de arte
27
.
(WB1, p.190)
O papel do crtico conseguir enxergar, no presente, a confluncia de
passado e futuro
28
. Identificar as tenses e as ideologias que regem grande part e
dos acontecimentos dirios, e tentar inserir um mnimo de contrassenso, de
ruptura, de ao.
E na proposta ativa, concreta, que Eagleton (2008, pp.169-189) revela-se
grande leitor de Benjamin, e ecoa, com as suas palavras, ideias semelhantes s que
um dia foram as do filsofo alemo. Aps realizar todo um panorama da literatura
ocidental moderna, o crtico ingls expe sua posio, a qual ele chama political
criticism e fundamenta na considerao de que toda teoria poltica: apega-se ao
concreto mais que ao abstrato, e responde de forma dinmica vida diria de
homens e mulheres. Qualquer teoria que fuja de suas responsabilidades polticas,
encontre refgio em disciplinas acadmicas e estreis, uma teoria sem validade.
Toda teoria aplicada a partir de uma motivao prtica os elementos tidos como
importantes em um objeto artstico so importantes dentro do quadro referencial de
quem os analisa, estando, assim, intimamente ligados a valores sociais e polticos
subjacentes. Toda teoria, mais ou menos explicitamente, responde a uma ideologia.
Alm disso, homens e mulheres no vivem apenas de cultura, e qualquer teoria cujo
ponto de partida ignorar esse fato uma teoria fadada ao fracasso. Enquanto as
teorias da arte mantiverem-se hermeticamente circunscritas academia, o risco
maior que definhem at desaparecerem. Se a arte almeja alguma redeno e
27
Um dos exemplos citados por Benjamin, nos poucos anos de vida que lhe restaram, foi o do
futurismo liderado por Filippo Marinetti (WB1, pp.195-196).
28
Para dar mais um exemplo da perspiccia de Benjamin um assunto sobre o qual nos ocupamos
no prximo captulo , podemos citar o modo como o filsofo alemo anteviu o ocaso da obra-prima,
de sua decadncia sua ausncia (como pudemos notar a partir da segunda metade do sculo 20,
na Europa ocidental e na Amrica do Norte, e, no Brasil, a partir dos anos 1980). Vide WB1, p.131,
WB2, p.162 e, evidentemente, sua contundente tese sobre a obra de arte na era de sua
reprodutibilidade tcnica.
62
no apenas a redeno da Histria , ela precisa aceitar e interagir dinamicamente
com o mundo a seu redor.
H um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa
um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara
fixamente. Seus olhos esto escancarados, sua boca dilatada, suas
asas abertas. O anjo da histria deve ter esse aspecto. Seu resto
est dirigido para o passado. Onde ns vemos uma cadeia de
acontecimentos, ele v uma catstrofe nica, que acumula
incansavelmente runa sobre runa e as dispersa a nossos ps. Ele
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos.
Mas uma tempestade sopra do paraso e prende-se em suas asas
com tanta fora que ele no pode mais fech-las. Essa tempestade o
impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas,
enquanto o amontoado de runas cresce at o cu. Essa tempestade
o que chamamos de progresso. (WB1, p.226)
63
5. AUSNCIA DA OBRA-PRIMA E INSTRUES PARA UMA CONCLUSO
Charles Baudelaire (1821-1867)
Eugne Atget (1857-1927) Georg Simmel
(1858-1918) Lon Daudet (1867-1942)
Marcel Proust (1871-1922) James Joyce
(1882-1941) Franz Kafka (1883-1924)
Siegfried Kracauer (1889-1966) Bertolt Brecht
(1898-1956) Theodor Adorno (1903-1969)
Auch das Gttliche nutzt sich ab. (DRRENMATT, 1980, p.116.)
5.1. LABIRINTO E MINOTAURO
Se Benjamin labirntico, o texto A obra de arte na era de sua
reprodutibilidade tcnica o Minotauro: habita o centro do labirinto e deve, em
algum momento, ser domado e vencido. Porm no o ser facilmente, nem domado
nem vencido, pois so muitos os Minotauros e muitas mais ainda suas
interpretaes. Um mesmo leitor, diante de to voraz texto, se descobrir abstraindo
concluses contraditrias de uma leitura para a outra. E ser-lhe- exigido um
posicionamento nem que seja este o eterno direito de reposicionar-se. No,
portanto, um texto dcil, mas um em tudo incmodo, contestador, provocante. Dele,
pode-se fazer uma leitura apocalptica ou vanguardista; reacionria ou mstica
motivos pelo qual dele pode-se dizer uma obra seminal (diramos at, por fora do
hbito e do elogio, uma obra-prima, no fosse justamente o intuito do presente
captulo anunciar sem qualquer pompa ou cerimnia a impossibilidade mesma de
qualquer obra-prima). Um Minotauro no auge de suas capacidades fsicas e mentais
espreita o leitor por entre os estreitos corredores de um vasto labirinto.
Porm no um Minotauro, mas trs e aqui nos permitimos um atalho na
trama benjaminiana e recorremos ao fio de Ariadne tecido por um de seus melhores
comentadores brasileiros:
H uma primeira verso do ensaio [A obra de arte na era de sua
reprodutibilidade tcnica], redigida em alemo no final de 1935 e
comeo de 1936, enviada por Benjamin a Bernhard Reich, na
esperana de que o texto viesse a ser publicado em Moscou, o que
64
no aconteceu. H uma segunda verso em alemo, que s veio a
ser publicada em 1955, por Gretel e Theodor Adorno. E h uma
terceira verso, em francs, que apresenta algumas diferenas em
relao s outras duas. (KONDER, 1989, p.66)
No bastasse a natureza camalenica e arredia do texto, o mesmo nos foi
legado de forma plural, com pequenas e grandes modificaes que carregam
consigo material suficiente para uma tese inteira (pense-se, por exemplo, nas
sempre prestimosas opinies de Adorno a Benjamin, o primeiro inevitavelmente
tentando dirigir o segundo em sua leitura da obra de Marx, sugerindo-lhe concluses
que eram apenas suas
29
; ou ainda na indicativa mudana das citaes que abrem a
primeira e a segunda verses de A obra de arte na era de sua reprodutibilidade
tcnica
30
). Nesse sentido, optamos pelo atalho porque no nos interessa
restabelecer a genealogia plural do texto, nem mesmo depreender dele uma
interpretao esttica e definitiva, seno apenas identificar um certo messianismo
benjaminiano: a maneira como j estava previsto, no texto de 1935/6, uma realidade
inescapvel de meados da segunda metade do sculo 20, e definitiva no modo
como passaram a se organizar as diversas manifestaes artsticas a
impossibilidade da obra-prima.
Interessa menos valorar o polmico texto de Benjamin (mstico demais;
reacionrio demais; radical demais; marxista demais; fetichista demais), e mais
efetuar uma operao de dobra mediante a qual se unam pontos distintos da obra
do filsofo alemo. Dobrar o labirinto sobre ele mesmo, revisitar salas a partir de
outros corredores, retraar conceitos sob novos pontos de vista. Trata-se, em
alguma extenso, de uma concluso provisria do que possa ter sido o presente
trabalho (que o mais prximo que chegaremos de uma concluso, no sentido
estrito do termo): insistir no labirntico e fragmentrio, nos mltiplos portes de
acesso, no quebra-cabea conceitual, na autonomia do leitor. Para tanto, convoca-
se de volta ao palco personagens de captulos anteriores: Adorno, Brecht,
29
Uma viva troca de amenidades e reprimendas pode ser encontrada na correspondncia entre
Adorno e Benjamin recolhida em A&P, 2007, pp.110-141.
30
Para a primeira verso traduzida ao portugus por Jos Lino Grnnewald como A obra de arte na
poca de suas tcnicas de reproduo, e comumente vinculada coleo Os Pensadores , uma
longa citao de Paul Valry sobre histria, tcnica e a compreenso do belo. Para a segunda verso
reunida junto s Obras Escolhidas, base do presente trabalho , uma sucinta (e contundente) frase
de Madame de Duras: Le vrai est ce quil peut; le faux est ce quil veut. A esta segunda verso,
cotejaremos ainda elementos da edio alem, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit.
65
Baudelaire, Kracauer, Kafka e Proust retornam todos para iluminar (ou tentar
iluminar) novos meandros no labirinto de Benjamin.
5.2. AURA E TCNICA
As relaes recprocas dos seres humanos nas cidades se
distinguem por uma notria preponderncia da atividade visual sobre
a auditiva. Suas causas principais so os meios pblicos de
transporte. Antes do desenvolvimento dos nibus, dos trens, dos
bondes no sculo XIX, as pessoas no conheciam a situao de
terem de se olha reciprocamente por minutos, ou mesmo por horas a
fio sem dirigir a palavra umas s outras. (SIMMEL, apud WB3, p.36)
Ofereamos um livro novo a duas crianas: a que o ler por ultimo
ter seu prazer comprometido. O mesmo ocorre com aqueles que, no
metr, lem o jornal sobre o ombro de seu vizinho: este ltimo ser
importunado pela idia de dividir uma leitura que na realidade e
realizada por dezenas de milhares de pessoas no mesmo momento.
(VIRILIO, 1993, p.67)
O fim j estava no comeo: a morte da obra-prima anunciava-se nas pginas
impressas dos peridicos. O fim tambm estava no meio: em nibus lotados, por
largas caladas, a morte da obra-prima transitava junto massa pelas ruas da
cidade. E o fim est no fim, mas na maneira de um recomeo.
Tomemos o metr, por exemplo (mas poderia ser um nibus, um bonde, uma
van clandestina). Tomemos o metr, por exemplo, a partir das consideraes de
Georg Simmel sobre a dinmica silenciosa do transporte pblico, e do comentrio de
Paul Virilio sobre dois vizinhos de assento que compartilham (contra a vontade de
ambos) um nico jornal. Imaginemos a cena. Sem dvida j a vivenciamos sem
dvida j tentamos ler algo por sobre o ombro de outro passageiro, ou outro
passageiro j tentou roubar informaes do jornal que tnhamos em mos (a
previso do tempo, os resultados do futebol). Imaginemos, por fim, Walter Benjamin
sentado nesse mesmo vago, atento. Faamos o esforo.
O passageiro est incomodado. O passageiro que detm o jornal, isto . O
vizinho de assento no se cansa de espichar o olho e roubar, sem autorizao, as
manchetes do dia. O detentor do jornal irrita-se. O que o importuna e o que
importuna a todos ns, quando algum nos l algo por sobre nosso ombro, para
colocarmos a questo em termos benjaminianos a sbita perda de uma ingnua
sensao de unidade (Einheit), da impresso que tnhamos de compartilhar com
66
aquele objeto uma experincia nica e recproca. a lembrana, uma que nos
acomete violentamente, de que muitos outros efetuam a mesma leitura que ns, ao
mesmo tempo, com o que para todos os propsitos o mesmo jornal. A nica
diferena superficialmente tangvel entre a nossa edio de hoje do jornal e qualquer
outra edio de hoje do mesmo jornal que uma nos pertence, e a outra no (o que ,
convenhamos, uma distino puramente econmica). Bastou que nosso vi zinho
esticasse o olho por sobre nosso ombro para conferir a previso do tempo e pronto:
perdemos o desejo momentneo de ler aquele jornal, e no ser improvvel, em dias
mais metafsicos ou nublados, que nossa irritao nos leve a abruptamente oferecer a
edio de nosso jornal ao vizinho, para que o leia em paz e no nos perturbe com sua
presena (apesar de que ali continuar, sentado ao nosso lado, folhando nosso ex-
jornal). O ato de nossa leitura vilipendiado por sua banalizao: compartilhamo-na
com uma multido de desconhecidos sem que isso nos oferea qualquer tipo de
experincia a nica certeza que se pode ter a de que, findo o dia, grande parte
das edies daquele mesmo jornal sero confiadas lata de lixo mais prxima.
Vemos espalhados pelo nibus a repetio do mesmo objeto, porm como se l j
no mais estivessem destitudos de seu aqui e agora (Hier und Jetzt), como se em
sua presena (Prsenz) j estivesse antecipada sua ausncia (Entzug).
O que importuna o vizinho, para usarmos o vocabulrio benjaminiano, a
perda da aura.
Mesmo na reproduo mais perfeita, um elemento est ausente: o
aqui e agora da obra de arte, sua existncia nica, no lugar em que
ela se encontra. nessa existncia nica, e somente nela, que se
desdobra a histria da obra. [...] O aqui e agora do original constitui o
contedo da sua autenticidade, e nela se enraza uma tradio que
identifica esse objeto, at os nossos dias, como sendo aquele objeto,
sempre igual e idntico a si mesmo. [...] O conceito de aura permite
resumir essas caractersticas: o que se atrofia na era da
reprodutibilidade tcnica da obra de arte sua aura. (WB1,
p.167;168)
evidente: no no jornal que Benjamin pensa quando formula tais
consideraes. Entretanto, o exemplo do jornal ilustra um recurso retrico benjaminiano
por excelncia (e que faz da aura o mais benjaminiano dos conceitos): mesmo na
banalidade de um jornal (do ato de leitura de um jornal) pode haver algo de sagrado
(Heilige) (vide KONDER, 1989, p.10; LINDNER, 2006, p.237). Temos a uma acepo
provocativa do sagrado em Benjamin (um conceito fustigado pelo fogo-cruzado das
67
crticas tecidas sua concepo aurtica da obra de arte: mstico, profano,
obscurantista), uma que gostaramos de reter, separar da polmica sobre a validade da
aplicao da teoria prtica artstica: o sagrado como o espao da experincia, como a
possibilidade de iluminar o banal enfim, como mtodo benjaminiano.
Brecht talvez no concorde. A maior divergncia entre ele e seu amigo girava
em torno da utilizao feita por Benjamin do conceito de aura, em sua anlise da
histria recente da produo artstica. Segundo Brecht, numa tomada de posio
contra a mstica, Benjamin se tornava... mstico (KONDER, 1989, p.66). Benjamin
nunca deixou de ser mstico, se aceitarmos o termo com o valor que propusemos
acima. E por ter preservado esta rea mnima de contra-senso que certos textos
seus assumam carter messinico ou, para usar o termo mais materialista
proposto por Konder, nosso propositor de atalhos: assumam carter de prognstico
(KONDER, 1989, p.67).
Pode-se, sem dvida, realizar uma leitura mstica (no sentido cultista e
hermtico do termo) da obra de Benjamin, e em particular do texto aqui tratado,
todavia, mais importante do que o substrato de culto como tal, so para Benjamin
as expresses histricas as quais a experincia da aura possibilita (LINDNER,
2006, p.237)
31
. Em outras palavras, atravs do sagrado (o banal transfigurado, a
iluminao profana) alcanar as expresses histricas: analis-las, prognostic-las,
revis-las. Konder presta-nos aqui excelente servio, sintetizando em um par de
pargrafos o n duro da questo, e permitindo assim que o captulo avance para os
fins que pretendem ser os seus:
[Benjamin] lembrou que, em seu nascimento, a arte se achava posta
a servio de um ritual, primeiro mgico, depois religioso. A produo
artstica gerava objetos que s em formas secundrias e propores
irrelevantes podiam ser eficazmente reproduzidos. Toda a histria da
arte ficou marcada por objetos nicos, insubstituveis. Havia, em
cada um desses objetos, o selo de um aqui e agora
32
que
emocionava as pessoas.
De certo modo, nesses objetos autnticos os seres humanos
passavam a enxergar uma espcie de aura, aquele tipo de
luminosidade caracterstica da apario nica de algo que est
sempre longe, por mais prximo que possa parecer. O que est
acontecendo nos nossos dias que a obra de arte est se
emancipando da existncia parasitria que lhe era imposta,
31
Em alemo, no original: Wichtiger aber als das kultische Substrat als solches sind Benjamin die
historischen Ausprgungen, welche die Aura-Erfahrung ermglicht.
32
Referncia similar encontra-se em LINDNER, 2006, p.237.
68
tradicionalmente, pela sua funo ritualstica. Pressionada pelo
desenvolvimento das foras produtivas, a arte est assumindo uma
funo social diferente. O valor que a obra de arte sempre teve,
como objeto de culto, est cedendo lugar ao valor que ela adquire na
medida em que passa a ser muito mais amplamente exposta do que
no passado e posta ao alcance de um pblico muito mais vasto...
(KONDER, 1989, pp.67-68, grifo nosso).
Grifamos, na passagem de Konder, um atalho dentro do atalho e no o
recusaremos. Assim, convm recomendar o texto integral do comentador brasileiro
caso o interesse do leitor esteja mais pelas repercusses e tenses do conceito de
aura em Walter Benjamin. Nesta bifurcao do labirinto, tendo j (ou assim nos
parece) suficientemente conceituado a acepo aurtica que nos toca, avanamos
como que pela porta lateral rumo ao desenvolvimento das foras produtivas e seu
impacto na obra de arte. Avanamos rumo tcnica.
Lon Daudet, filho de Alphonse, ele prprio um escritor importante,
lder do Partido Monarquista francs, publicou certa vez em sua Action
Franaise um relato sobre o Salo do Automvel, cuja sntese, embora
talvez no nessas palavras, era: Lautomobile cest la guerre. O que
estava na raiz dessa surpreendente associao de palavras era a
idia de uma acelerao dos instrumentos tcnicos, seus ritmos, suas
fontes de energia, etc., que no encontram em nossa vida pessoal
nenhuma utilizao completa e adequada e, no entanto, lutam por
justificar-se. Na medida em que renunciam a todas as interaes
harmnicas, esses instrumentos se justificam pela guerra, que prova
com suas devastaes que a realidade social no est madura para
transformar a tcnica em seu rgo e que a tcnica no
suficientemente forte para dominar as foras elementares da
sociedade. Pode-se afirmar, sem qualquer pretenso de incluir nessa
explicao suas causas econmicas, que a guerra imperialista co-
determinada, no que ela tem de mais duro e de mais fatdico, pela
distncia abissal entre os meios gigantescos de que dispe a tcnica,
por um lado, e sua dbil capacidade de esclarecer questes morais,
por outro. Na verdade, segundo sua prpria natureza econmica, a
sociedade burguesa no pode deixar de separar, na medida do
possvel, a dimenso tcnica da chamada dimenso espiritual e no
pode deixar de excluir as idias tcnicas de qualquer direito de co-
participao na ordem social. Cada guerra que se anuncia ao
mesmo tempo uma insurreio de escravos. (WB1, p.61)
Konder aponta, com propriedade, que a aparelhagem conceitual de Benjamin
lhe parecia ter a vantagem de no poder ser utilizada pelo fascismo, e, tendo-se em
vista o contexto Mussolino-Hitleriano da poca, a preocupao antifascista era
bastante compreensvel (KONDER, 1989, p.67). Cabia a Benjamin esmiuar e analisar
os avanos da tcnica sem, entretanto, oferecer seu pensamento s ideologias que
69
detinham o poder dessa mesma tcnica uma acrobacia digna das mais elsticas
ginastas romenas. De um lado, condenar o avano dos instrumentos tcnicos que no
encontram em nossa vida pessoal nenhuma utilizao completa e adequada, que so
incapazes de esclarecer questes morais, e que, em ltima anlise, esto em favor da
guerra; de outro, aceitar as irreversveis mudanas que a tcnica impunha s formas de
expresso artstica pensamos aqui, especificamente, nas vertiginosas revolues
engendradas pela fotografia e pelo cinema , suas mltiplas possibilidades e seus
infinitos desdobramentos. Rechaar a tcnica, mas no rechaar a tcnica (entre a cruz
e a espada: entre a barbrie e a barbrie). Porque a vitria da tcnica poderia significar,
por extenso, a vitria da guerra, e Ganhar ou perder uma guerra, segundo a lgica da
linguagem, algo que penetra to fundo em nossa existncia que nos torna, para
sempre, mais ricos ou mais pobres em quadros, imagens, invenes (WB1, p.64).
Correr o risco fatal do empobrecimento de experincias e ainda assim apostar na
tcnica, incentivar sua assimilao junto aos meandros artsticos: uma aposta quase
suicida, uma postura sagrada.
Aqui aparece, com todo o peso da sua nulidade, o conceito filisteu de
arte, alheio a qualquer considerao tcnica e que pressente seu
prprio fim no advento provocativo da nova tcnica. E, no entanto, foi
com esse conceito fetichista de arte, fundamentalmente antitcnico,
que se debateram os tericos da fotografia durante quase cem anos,
naturalmente sem chegar a qualquer resultado. (WB1, p.92)
No nos interessa, por ora, os motivos especficos por trs da crtica de
Benjamin interessa-nos a crtica em si: um conceito antitcnico de arte seria,
apesar de tudo, apesar dos riscos, apesar da guerra iminente, filisteu e fetichista
ele acomodaria a obra, subtrairia dela todo o potencial de experincia, selaria
sua obsolescncia.
Pois compete arte reverberar na vida do homem, no cotidiano da urbe, no
devendo, por mais conveniente que lhe parea, continuar-se a guiar por paradigmas
de pocas anteriores. Eis o processo doloroso: aceitar a perda da aura enquanto o
componente que liberta a obra de uma apreciao restrita a arte no deve dizer
respeito a apenas uma (privilegiada) pessoa por vez, mas a muitas
simultaneamente. Ao leitor do jornal que se sente importunado pelo vizinho,
aconselha-se imaginar que a multiplicidade de exemplares de uma mesma edio
70
pode multiplicar tambm a quantidade de reverberaes entre seus muitos leitores
33
.
Eis a radicalidade de Benjamin: entender na perda da aura o nascimento da
reprodutibilidade, e no nascimento da reprodutibilidade o futuro da arte:
Cada dia, fica mais irresistvel a necessidade de possuir o objeto de
to perto quanto possvel, na imagem, ou melhor, na sua reproduo.
E cada dia fica mais ntida a diferena entre a reproduo, como ela
nos oferecida pelos jornais ilustrados e pelas atualidades
cinematogrficas, e a imagem. Nesta, a unicidade e a durabilidade se
associam to intimamente como, na reproduo, a transitoriedade e a
reprodutibilidade. Retirar o objeto do seu invlucro, destruir sua aura,
a caracterstica de uma forma de percepo cuja capacidade de captar
o semelhante no mundo to aguda que, graas reproduo, ela
consegue capt-lo at no fenmeno nico. (WB1, p.101)
E Benjamin ainda conclui, pginas adiante, com uma frase desaconselhada a
cardacos e conservadores: A arte contempornea ser tanto mais eficaz quanto
mais se orientar em funo da reprodutibilidade e, portanto, quanto menos colocar
em seu centro a obra original (WB1, p. 180).
5.3. MO E OLHO
No valoraremos: se benfico ou malfico para a arte seja l o que se
entenda por esses dois termos colocar em seu centro a reproduo em detrimento
do original, eis um desdobramento que deixaremos para outra ocasio, para outros
leitores de Benjamin. Ao invs, optaremos por uma abordagem histrica que
demonstre os efeitos da reprodutibilidade prognosticados pelo filsofo alemo e
alguns pequenos exageros para fins de retrica (mas isto, verdade, estivemos
fazendo desde o incio).
Se tomssemos cada um dos trs captulos anteriores por uma aba, e se
dobrssemos essas abas tal qual faramos a um origami, teramos dois resultados
possveis: ou um belo cisne com suas asas entreabertas, ou a convergncia das trs
abas para um ponto comum a inveno da fotografia. Nela identifica Benjamin a
ampliao do espectro da reprodutibilidade, suas repercusses junto urbe e seus
habitantes, seus reflexos na literatura e na pintura. De um lado, a inveno da
33
No dizemos experincias pois j esclarecemos, no primeiro captulo, que o terreno jornalstico (o
da informao, em oposio ao da narrativa) no o terreno propcio experincia. Mantemos aqui o
exemplo do jornal por uma questo de continuidade argumentativa do presente captulo.
71
fotografia permite registrar de forma inequvoca os rostos dos habitantes, para em
seguida col-los em passaportes e control-los durante seus movimentos
migratrios (captulo 2); de outro, descobre-se de que maneiras esse processo
administrativo de controle esteve na gnese do romance policial (captulo 1).
Medidas tcnicas tiveram de socorrer o processo administrativo de
controle. [] Na histria desse processo, a descoberta da fotografia
representa um corte. Para a criminalstica no significa menos que a
inveno da imprensa para a literatura. Pela primeira vez, a fotografia
permite registrar vestgios duradouros e inequvocos de um ser
humano. O romance policial se forma no momento em que estava
garantida essa conquista a mais decisiva de todas sobre o
incgnito do ser humano. Desde ento, no se pode pretender um
fim para as tentativas de fix-lo na ao e na palavra. (WB3, p.45)
Dito de maneira mais ampla (sejamos um pouco mais ambiciosos): a
fotografia imps uma renovao literatura a partir do momento em que foi capaz de
resumir uma existncia num pequeno retngulo em preto-e-branco, assim como o
fez, de maneira radical, com as artes visuais (captulo 3). A velocidade da fotografia,
com seu elogio da objetividade, iniciou um movimento em direo ao olhar, em
direo superfcie das coisas: rostos, campos, cidades.
Pela primeira vez no processo de reproduo da imagem, a mo foi
liberada das responsabilidades artsticas mais importantes, que
agora cabiam unicamente ao olho. Como o olho apreende mais
depressa do que a mo desenha, o processo de reproduo das
imagens experimentou tal acelerao que comeou a situar-se no
mesmo nvel que a palavra oral. (WB1, p.167)
O olho e a boca, o registro fotogrfico e o relato oral: neles o predomnio do
instantneo e do imediato, neles a ausncia da mo do pintor e do escritor. H a uma
tentativa de acompanhar a velocidade da urbe (captulos 1 e 2), das linhas frreas,
das novas avenidas, uma tentativa de abarcar o crescimento da populao e de seu
anonimato de vidro. Porm a inevitavelmente acrescem-se camadas de tcnica, e ao
olho adiciona-se o tico, e o registro fotogrfico converte-se em fotografia.
A natureza que fala cmera no a mesma que fala ao olhar;
outra, especialmente porque substitui a um espao trabalhado
conscientemente pelo homem, um espao que ele percorre
inconscientemente. Percebemos, em geral, o movimento de um
homem que caminha, ainda que em grandes traos, mas nada
72
percebemos de sua atitude na exata frao de segundo em que ele
d um passo. A fotografia nos mostra essa atitude, atravs dos seus
recursos auxiliares: cmara lenta, ampliao. S a fotografia revela
esse inconsciente tico, como s a psicanlise revela o inconsciente
pulsional. (WB1, p.94)
Complexifica-se o olhar toma-se dele distncia sem obrig-lo a uma
reduo de velocidade; busca-se simultaneamente a superfcie do mundo e suas
profundezas; eterniza-se um rosto annimo mas tambm seu inconsciente
34
. O olhar
incorporado pela fotografia, convertido em fotografia, preserva os ambivalentes
desejos de velocidade, imposto pela tcnica, e de experincia, requerido pela arte;
preserva a confluncia de passado e futuro, pois tanto ameaa quanto requer a
pintura (requer o cdigo para apresentar-se como o novo; requer o passado para
vender-se como o futuro).
Com base nessas reflexes, uma pintura reproduziria em uma
imagem o que os olhos no se fartam de ver. Aquilo com que o
quadro satisfaria o desejo, que pode ser projetado
retrospectivamente em sua origem, seria alguma coisa que alimenta
continuamente esse desejo. O que separa a fotografia da pintura, e o
motivo de no haver um princpio nico e extensvel de criao para
ambas, est claro, portanto: para o olhar que no consegue se saciar
ao ver uma pintura, uma fotografia significa, antes, o mesmo que o
alimento para a fome ou a bebida para a sede. (WB3, pp.138-139)
A fotografia sacia, encerra entre seus quatro cantos uma narrativa que
parece inteira desdobrar-se diante dos olhos velozes (e, portanto, mais distrados)
do espectador. A pintura provoca, exige pacincia (recolhimento) (captulo 2) antes
de revelar seus segredos. O relevo ttil da pintura revela uma personalidade, revela
as veias do pintor, revela os caminhos de seu pincel
35
, revela a assinatura flutuando
prxima moldura (a prpria moldura como o elemento que tenta conter a pintura,
impedir sua exploso, mant-la aprumada). Tocssemos a pintura e tocaramos o
artista, a agilidade de seu pulso convertida em massa pictrica e pigmentao na
pintura, com o tempo, a habilidade do pintor (sua presena fsica) soterra a imagem
retratada. A fotografia, pelo contrrio, esconde sua autoria: possui profundidade,
34
...o ambiente e a paisagem s se revelam ao fotgrafo que sabe capt-los em sua manifestao
annima, num rosto humano. (WB1, p.102)
35
Como os pais que corrigem a criana que insiste em tocar as coisas do mundo, sentir sua
superfcie na ponta dos dedos: Tu enxergas com os olhos ou com a mo?. E a criana aprende a
conter o instinto da mo, substitu-lo pelo olho.
73
mas no relevo ttil, acusa o gnio do fotgrafo, mas no sua geografia na
invisibilidade do fotgrafo, com o tempo, a fotografia desvenda a imagem retratada.
A pintura j conhecia h muito rostos desse tipo. Se os quadros
permaneciam no patrimnio da famlia, havia ainda uma certa
curiosidade pelo retratado. Porm depois de duas ou trs geraes
esse interesse desaparecia: os quadros valiam apenas como
testemunho do talento artstico do seu autor. Mas na fotografia surge
algo de estranho e de novo: na vendedora de peixes de New Haven,
olhando o cho com um recato to displicente e to sedutor,
preserva-se algo que no se reduz ao gnio artstico do fotgrafo [...],
algo que no pode ser silenciado, que reclama com insistncia o
nome daquela que viveu ali, que tambm na foto real, e que no
quer extinguir-se na arte. (WB1, p.93)
A fotografia pe em evidncia o retratado, em um momento de acelerao
urbana onde o anonimato a norma. Ela no o expe aos caprichos criadores do
pintor, mas o confia promessa de eternidade objetiva postulada pela tcnica.
Aliviado diante da cmera, o retratado sorri atitude quase impensvel diante do
cavalete da pintura, j que a esta reservam-se poses mais metafsicas, tendo
bastando uma fugaz e controversa sugesto de sorriso para uma obra ter-se
consagrado como prima: La Gioconda. De resto, a seriedade parece combinar
melhor com o leo; ao olho, arrisca-se um sorriso. Porque o olho da fotografia
promete um produto economicamente mais acessvel do que a mo da pintura
(captulo 3), facilitando, assim, a irresistvel necessidade de possuir o objeto de to
perto quanto possvel. Em pouco tempo o retratado j possui na palma da mo o
resultado de sua pose, um mundo inteiro dedicado a apenas ele, um espao
reservado para sua inequvoca existncia
36
uma cuja intensidade no se traduz
para a realidade cotidiana: as coisas sempre parecem mais visveis na fotografia do
que na realidade.
Cada um de ns pode observar que uma imagem, uma escultura e
principalmente um edifcio so mais facilmente visveis na fotografia
que na realidade. A tentao grande de atribuir a responsabilidade
por esse fenmeno decadncia do gosto artstico ou ao fracasso de
nossos contemporneos. Porm somos forcados a reconhecer que a
concepo das grandes obras se modificou simultaneamente com o
aperfeioamento das tcnicas de reproduo. No podemos agora
v-las como criaes individuais; elas se transformaram em criaes
36
Nunca demais lembrar Benjamin, precursor de Andy Warhol: Cada pessoa, hoje em dia, pode
reivindicar o direito de ser filmado (WB1, p.183).
74
coletivas to possantes que precisamos diminu-las para que nos
apoderemos delas. Em ltima instncia, os mtodos de reproduo
mecnica constituem uma tcnica de miniaturizao e ajudam o
homem a assegurar sobre as obras um grau de domnio sem o qual
elas no mais poderiam ser utilizadas. (WB1, p.104)
E possuir na palma da mo no m expresso, como dizamos, j que
revela a portabilidade extrema da obra final, sua irreversvel miniaturizao.
Irreversvel porque no apenas no plano fsico: a fotografia (que, note-se, no
carece de molduras, no corre o risco de explodir se se vale de porta-retratos,
mais para deix-la de p sobre uma mesa, ou para no perd-la pela casa) instaura
no plano artstico uma nova escala: a escala da palma da mo do homem
37
. O
esforo da obra-prima, sua origem e seu destino, sempre foi o de suplantar o
homem, espant-lo, apequen-lo diante do mundo para engrandecer sua alma, seu
intelecto, seu carter. Os prprios quadros impressionistas, contemporneos da
fotografia, eram frequentemente superiores em comprimento envergadura do
homem mdio, e, apesar de portteis (esta foi, afinal, a grande revoluo
renascentista da tela, em comparao s placas de madeira nas quais at ento se
costumava pintar), seu transporte exigia algum esforo fsico. A fotografia subverte
esse cenrio: pesando poucas gramas e resultando de um processo muitssimo mais
veloz que seus predecessores (incluindo-se a litografias e xilogravuras), ela
submete-se escala do homem e o homem no mais se permite suplantar a arte
passa a ter o tamanho de sua mo e a velocidade de seu olho.
O universo reduzido para caber dentro de sua prpria exploso: as
fotografias so colocadas sob um microscpio, e os limites de seus anonimatos
miniaturizados so convertidos em mundos coletivos. Cria-se, a partir de alguns
centmetros quadrados, a iluso de um espao infinito.
Nossos cafs e nossas ruas, nossos escritrios e nossos quartos
alugados, nossas estaes e nossas fbricas pareciam aprisionar-nos
inapelavelmente. Veio ento o cinema, que fez explodir esse universo,
permitindo-nos empreender viagens aventurosas entre as runas
arremessadas distncia. O espao se amplia com o grande plano, o
movimento se torna mais vagaroso com a cmara lenta. (WB1, p.189)
37
No estamos, aqui, inserindo a fotografia na lgica hegeliana (talvez visionria) do fim da arte das
gigantescas pirmides egpcias, passando pela estaturia grega e pela pintura renascentista, at
chegar imaterialidade da msica: a reduo da escala, da materialidade, apresentar-se-ia como
uma constante. Fazemos esta nota de rodap apenas para garantir que sabemos da existncia de tal
teoria, porm por ora passamos dela ao largo.
75
O cinema assoma como a operao de dobra definitiva: a destruio da aura (a
difuso macia, o apelo s massas), a supremacia da tcnica (a reprodutibilidade como
necessidade motriz), a elevao de um espao controlado e restrito a um espao de
imaginrio coletivo (a velocidade do olho, a exploso de um mundo miniaturizado).
Nas obras cinematogrficas, a reprodutibilidade tcnica do produto
no , como no caso da literatura ou da pintura, uma condio
externa para sua difuso macia. A reprodutibilidade tcnica do
filme tem seu fundamento imediato na tcnica de sua produo.
Esta no apenas permite, da forma mais imediata, a difuso em
massa da obra cinematogrfica, como a torna obrigatria. A
difuso se torna obrigatria, porque a produo de um filme to
cara que um consumidor, que poderia, por exemplo, pagar um
quadro, no pode mais pagar um filme. O filme uma criao da
coletividade. (WB1, p.172)
o cinema, e no o porta-retratos, que serve de moldura fotografia: os
limites da sala de projeo convertem-se nos limites do mundo um mundo
provisrio que mantm o prumo (i., a lgica) daquela realidade ficcional, embora
(aparentemente) mais real do que o cotidiano porque feito de imagens.
O mgico e o cirurgio esto entre si como o pintor e o cinegrafista.
O pintor observa em seu trabalho uma distncia natural entre a
realidade dada e ele prprio, ao passo que o cinegrafista penetra
profundamente as vsceras dessa realidade. As imagens que cada
um produz so, por isso, essencialmente diferentes. A imagem do
pintor total, a do operador composta de inmeros fragmentos,
que se recompem segundo novas leis. Assim, a descrio
cinematogrfica da realidade para o homem moderno infinitamente
mais significativa que a pictrica, porque ela lhe oferece o que temos
o direito de exigir da arte: um aspecto da realidade livre de qualquer
manipulao pelos aparelhos, precisamente graas ao procedimento
de penetrar, com os aparelhos, no mago da realidade. (WB1, p.187)
Diante de uma massa sedenta e faminta no apenas por imagens, mas por
realidades tais quais aquelas que a urbe progressivamente impede (o silncio dos
elevadores, a impessoalidade do transporte pblico, as filas para controle de
passaportes), o cinema fornece um subterfgio narrativo (nfase em subterfgio)
capaz de saciar os desejos de distrao de uma coletividade.
O decisivo, aqui, que no cinema, mais que em qualquer outra arte,
as reaes do indivduo, cuja soma constitui a reao coletiva do
pblico, so condicionadas, desde o incio, pelo carter coletivo
76
dessa reao. Ao mesmo tempo que essas reaes se manifestam,
elas se controlam mutuamente. De novo, a comparao com a
pintura se revela til. Os pintores queriam que seus quadros fossem
vistos por uma pessoa, ou poucas. A contemplao simultnea de
quadros por um grande pblico, que se iniciou no sculo XIX, um
sintoma precoce da crise da pintura, que no foi determinada apenas
pelo advento da fotografia, mas independentemente dela, atravs do
apelo dirigido s massas pela obra de arte.
Na realidade, a pintura no pode ser objeto de uma recepo coletiva,
como foi sempre o caso da arquitetura, como antes foi o caso da
epopia, e como hoje o caso do cinema. [...] Por mais que se
tentasse confrontar a pintura com a massa do pblico, nas galerias e
sales, esse pblico no podia de modo algum, na recepo das
obras, organizar-se e controlar-se. Teria que recorrer ao escndalo
para manifestar abertamente o seu julgamento. (WB1, p.188)
A aura despedaada nas filas da bilheteria do cinema. E, golpe de
misericrdia: a bilheteria nunca fecha o espectador pode adentrar a sala de
projeo quando bem lhe aprouver, o escuro o protege, a massa o acoberta. Trata-
se de um antecedente inimaginvel para o primo refinado do cinema, o teatro, e um
precedente para o primo cego, o rdio.
Se o cinema imps o princpio de que o espectador pode entrar a
qualquer momento na sala, de que para isso devem ser evitados os
antecedentes muito complicados e de que cada parte, alm do seu
valor para o todo, precisa ter um valor prprio, episdico, esse
princpio tornou-se absolutamente necessrio para o rdio, cujo
pblico liga e desliga a cada momento, arbitrariamente, seus alto-
falantes. (WB1, p.83)
Trata-se de uma profunda mudana de mentalidade incutida pela tcnica. Se
o olho e a boca se desejavam em princpio imediatos, acabaram mediatizados ao
infinito quando enfim soterrados por camadas e camadas de tcnica foram
irremediavelmente incorporados ao universo de imagens criado pelo microscpio: O
cinema e o gramofone foram inventados na era da mais profunda alienao dos
homens entre si e das relaes mediatizadas ao infinito, as nicas que subsistiram.
No cinema, o homem no reconhece seu prprio andar e no gramofone no
reconhece sua prpria voz (WB1, p.162). Camadas sobrepuseram-se umas s
outras, cdigos sobre cdigos, tcnica sobre tcnica, velocidade sobre velocidade,
realidades sobre realidades o universo expandido, o universo explodido.
Atravs do aperfeioamento da tcnica, aperfeioou-se tambm a imagem
da miniatura chegou-se perfeio. Uma perfeio muitssimo distante daquela que
77
guiava o belo da Grcia Antiga (captulo 3) uma perfeio, inclusive, antpoda ao
ideal grego: no uma que parte do mundo, que proposta, beira da
transcendncia, de baixo para cima (eterna), mas uma que se impe ao mundo, que
dada de cima para baixo (transitria).
Com o cinema, a obra de arte adquiriu um atributo decisivo, que os
gregos ou no aceitariam ou considerariam o menos essencial de
todos: a perfectibilidade. O filme acabado no produzido de um s
jato, e sim montado a partir de inmeras imagens isoladas e de
seqncias de imagens entre as quais o montador exercer seu direito
de escolha [...]. O filme , pois, a mais perfectvel das obras de arte.
O fato de que essa perfectibilidade se relacionava com a renncia
radical aos valores eternos pode ser demonstrado por uma
contraprova. Para os gregos, cuja arte visava a produo de valores
eternos, a mais alta das artes era a menos perfectvel, a escultura,
cujas criaes se fazem literalmente a partir de um s bloco. Da o
declnio inevitvel da escultura, na era de uma obra de arte montvel.
(WB1, pp.175-176)
O belo, na viso do olho e da tcnica, veloz. Ele o que pode ser, naquele
dado momento, e no nutre qualquer pretenso de continuar a s-lo cinco minutos
mais tarde (cinco minutos mais tarde podem ser tarde demais). O olho menos
exigente que a mo: ele completa, automaticamente, os espaos deixados em
branco; ele contenta-se com menos, regozija-se de sua maleabilidade, autoriza-se
miragens. Agrada-se ao olho com uma facilidade que surpreenderia mo
entretanto a mo agora de pouco serve: no h nada que possa descobrir na
superfcie de uma fotografia, de um rolo de celulide a mo o instrumento da
ligao, da comunho: tocar o outro formar uma comunidade. Mas a mo agora de
pouco serve: o carter fragmentrio e perfectvel da arte e do mundo os tornam
complexos demais, lisos e escorregadios demais, camadas sobre camadas que
impedem o caminho inverso embaralhe-se as cenas de um filme e nunca mais se
o montar como estava antes; desmonte-se uma torradeira e no se saber como
novamente coloc-la de p. No se pode negar a comodidade da supremacia do
olho: vivemos cercados de torradeiras s quais no damos valor, as quais tomamos
por banais, e no entanto desconhecemos a simples lgica de sua manufatura. A
mo tornou-se obsoleta: que ao menos se pinte a torradeira de um belo tom de
vermelho para que agrade ao olho.
78
5.4. O RETRATO DE KAFKA E A LTIMA OPERAO DE DOBRA
Foi nessa poca que apareceram aqueles atelis com seus
cortinados e palmeiras, tapearias e cavaletes, mescla ambgua de
execuo e representao, cmara de torturas e sala do trono, que
nos evocada, de modo to comovente, por um retrato infantil de
Kafka. O menino de cerca de seis anos representado numa
espcie de paisagem de jardim de inverno, vestido com uma roupa
de criana, muito apertada, quase humilhante, sobrecarregada com
rendas. No fundo, erguem-se palmeiras imveis. E, como para tornar
esse acolchoado ambiente tropical ainda mais abafado e sufocante,
o modelo segura na mo esquerda um chapu extraordinariamente
grande, com largas abas, do tipo usado pelos espanhis. O menino
teria desaparecido nesse quadro se seus olhos
incomensuravelmente tristes no dominassem essa paisagem feita
sob medida para eles.
Em sua tristeza, esse retrato contrasta com as primeiras fotografias,
em que os homens ainda no lanavam no mundo, como o jovem
Kafka, um olhar desolado e perdido. Havia uma aura em torno deles,
um meio que atravessado por seu olhar lhes dava uma sensao de
plenitude e segurana. (WB1, p.98, grifo nosso)
A perda da plenitude e da segurana: a destruio da aura no se d sem
seus revezes. A obra de arte, inscrita sob a gide da reprodutibilidade, ganha em
difuso porm perde em profundidade de contedo; beneficia do instantneo
mas falta em recolhimento. Ela substitui uma contemplao ritualstica, cujo valor
est dado em si e de antemo, por uma pragmtica, cujo valor deve ainda ser
provado. medida que seus mecanismos ganham em velocidade (e a arte no fez
seno ganhar velocidade, desde que incorporada lgica da tcnica), ela parece
escapar, simultaneamente, ao controle do artista e do pblico: incapaz de postular
valores ontolgicos (incapaz, em outras palavras, de ser Arte no sentindo romntico
do termo, acompanhado de um transcendente A maisculo), resta-lhe somente
propor questionamentos. Um valor, portanto, que no dado, mas construdo e
nisso reside a perda da plenitude e da segurana inspiradas pela obra de arte,
expiradas pelo artista, respiradas pelo espectador. No h mais garantias. No h
mais obras-primas.
A velocidade a chave: a lgica propagada pelos instrumentos tcnicos de
reprodutibilidade prev um tempo de consumo determinado (pense-se, por exemplo,
na durao dos filmes em cartaz nos cinemas: nem to breve a ponto de passar
desapercebido e comprometer o retorno financeiro esperado, nem to longo a ponto
79
de prejudicar a fruio do prximo filme)
38
, um tempo que elimina as vicissitudes
inerentes criao artstica e a reduz a uma mercadoria como qualquer outra. A arte
comenta Benjamin a partir de uma observao de Kracauer passa a ser
consumida na mesma velocidade em que produzida (WB1, p.96), suprimindo
assim os descompassos logsticos que poderiam acarretar em estoques
indesejados. No h espao para a obra-prima, pois a obra-prima no se exaure e
nem sucumbe a um tempo pr-estabelecido de contemplao como uma amante
particularmente difcil e exigente, ela requer anos antes de se entregar (porm quem
tem tempo, hoje em dia, para viver anos inteiros?). A velocidade a chave, e a obra-
prima demanda tempo demais. No lhe resta seno sair de cena.
Porm sem pnico, sem catstrofe: o fim da (possibilidade da) obra-prima no
o fim do mundo. Pois no apenas a arte que se adapta nova dinmica imposta
pela velocidade das coisas, pela velocidade da produo de conhecimento
39
:
tambm artista e espectador alteram-se, moldam-se, fragmentam-se. Do ponto de
vista da produo artstica (mais especificamente, pensamos aqui as artes visuais,
campo no qual se percebe com maior nitidez os efeitos analisados por esse
captulo), a perda da plenitude e da segurana levanta uma dvida crucial sobre a
natureza da obra de arte, obrigando-a a buscar refgio em outras reas do
conhecimento e, por conseguinte, testar a elasticidade de seus limites; testar a
pacincia de seu espectador. O espectador de uma mostra contempornea de arte,
expresso desconcertada no rosto, e que receia tocar em qualquer coisa com medo
de que aquilo tambm seja uma obra (uma porta, um banco de madeira, uma lata de
lixo...) eis os efeitos da fragmentao da arte. Embora dotada de potencialidades
criativas, trata-se de uma manobra sobretudo perigosa: em busca de reencontrar-se
com uma aura que no mais pode ser reavida, arrisca dispersar ainda mais seus
significados, distorcer as propriedades estticas que sejam as suas, e instaurar uma
arena de vale-tudo onde tudo arte e nada arte.
Benjamin j o havia previsto: o momento em que a arte deixaria de mostrar-
se, para unicamente explicar-se. Exemplo claro de tal manobra reside na produo
38
A tcnica submeteu, assim, o sistema sensorial a um treinamento de natureza complexa. Chegou
o dia em que o filme correspondeu a uma nova e urgente necessidade de estmulos. No filme, a
percepo sob a forma de choque se impe como princpio formal. Aquilo que determina o ritmo da
produo na esteira rolante est subjacente ao ritmo da receptividade, no filme. (WB3, p.125)
39
Um dos substratos mais decisivos da obra de Baudelaire (e da leitura dela feita por Benjamin), diz
respeito dicotomia entre a montanha de novos conhecimentos freneticamente produzidos pela
modernidade e a incapacidade do homem moderno em manter-se minimamente atualizado com essa
velocidade do mundo.
80
mandatria de catlogos a acompanhar cada exposio: no raro que a obra
exposta ganhe sentido apenas aps a leitura do texto crtico que a elucida. Tamanho
o grau de sua fragmentao, de seu recurso a outros campos de pesquisa, da
velocidade simultnea de sua produo e de seu consumo, que a obra de arte no
teve outra alternativa seno adotar um novo aliado esttico: a legenda.
Mas o que nem Wiertz nem Baudelaire compreenderam, no seu
tempo, so as injunes implcitas na autenticidade da fotografia.
Nem sempre ser possvel contorn-las com uma reportagem, cujos
clichs somente produzem o efeito de provocar no leitor associaes
lingsticas. A cmara se torna cada vez menor, cada vez mais apta
a fixar imagens efmeras e secretas, cujo efeito de choque paralisa o
mecanismo associativo do espectador. Aqui deve interferir a legenda,
introduzida pela fotografia para favorecer a literalizao de todas as
relaes da vida e sem a qual qualquer construo fotogrfica corre
o risco de permanecer vaga e aproximativa. No por acaso que as
fotos de Atget foram comparadas ao local de um crime. Mas existe
em nossas cidades um s recanto que no seja o local de um crime?
No cada passante um criminoso? No deve o fotgrafo, sucessor
dos ugures e arspices, descobrir a culpa em suas imagens e
denunciar o culpado? J se disse que o analfabeto do futuro no
ser quem no sabe escrever, e sim quem no sabe fotografar. Mas
um fotgrafo que no sabe ler suas prprias imagens no pior que
um analfabeto? No se tornar a legenda a parte mais essencial da
fotografia? (WB1, p.107)
A legenda explica ao espectador o que o artista no foi capaz, ou simplesmente
facilita a vida do espectador ao eximi-lo da necessidade de contemplar a obra. O
mesmo pode ser dito em relao ao cinema: a perfectibilidade inerente a tal forma de
expresso artstica permite adicionar, mesmo aps as filmagens, elementos altamente
explicativos que protegem o espectador de si mesmo (ele pode relaxar em sua
poltrona, esquecer dos problemas da vida, pois tudo lhe ser esclarecido em seu
devido tempo como se vida e arte fossem compartimentos antitticos ao extremo).
Para Benjamin, como j vimos anteriormente, trata-se de abastecer um aparelho
produtivo sem modific-lo (WB1, pp.128-129). maneira de uma torradeira, trata-se
de transferir a responsabilidade tcnica, e portanto diminuir paulatinamente a
autonomia do homem, e portanto minar ainda mais sua sensao de plenitude e
segurana como o retrato do jovem Kafka.
O risco de misturar arte com velocidade faz-la tropear em sua prpria
rapidez: tropear em suas prprias pernas. (E, quando isso ocorre, no
surpreendente que as definies do que possa ser arte recaiam, forosamente, no
81
territrio da tautologia: arte passa a ser tudo aquilo que se convenciona chamar
arte. Um co perseguindo seu rabo.)
A fragmentao e fragilizao das fronteiras da arte dissipam as condies de
possibilidade para a obra-prima, porm, paradoxalmente, passam a exigir a
presena de um espectador mais benjaminiano (um que desconfia que uma obra por
demais explicada no passa de um objeto, de um passatempo, de um conforto para
as horas vagas, de uma acomodao das formas, do recurso vazio ao espetculo,
de uma positividade isenta de barbrie). Apesar de uma maior tolerncia esttica (e
dos riscos acima elencados), estamos diante de uma arte em estado de constante
construo. A arte na era de sua reprodutibilidade tcnica no mais oferece
garantias: apenas dvidas. Cabe ao espectador (o leitor, o pblico, a massa)
assumir um papel ativo, um nunca antes por ele plenamente assumido, uma vez que
se tinha a arte por transcendente, por aurtica, por ritualstica. Em tais situaes, o
espectador estava dispensado da tarefa mais crtica, do trabalho intelectual mais
criterioso, pois a obra j estava pronta, dada, majestosa. Agora, porm, no
espectador que a obra se completa, e portanto no mais pode ser prima (no sentido
de um nmero primo: divisvel apenas por um ou por ele mesmo), mas mltipla. A
ausncia da obra-prima d lugar ao nascimento da obra-mltipla e demanda um
espectador sua altura (do contrrio, acomoda-se: estamos condenados a repetir
naturezas-mortas e comdias-romnticas?). O artista o autor sugere caminhos; o
espectador os efetiva. O labirinto est desenhado: cabe a cada um encontrar suas
prprias sadas.
Dois fatos marcaram o ano de 1922 em Paris: a morte de Marcel Proust e a
publicao de Ulisses, de James Joyce. A obra do escritor irlands que recorre ao
mito para tentar resguardar a narrativa dos perigos da tcnica , muito
provavelmente, a ltima obra da literatura mundial que poder ser dita,
inequivocamente, prima (e, como toda obra clssica, muito citada e pouco lida). A
morte do escritor francs herdeiro de Dumas, Balzac, Poe e Baudelaire encerrou,
simbolicamente, toda uma linhagem literria que invadiu os jornais para ento invadir
as ruas (e, em seguida, voltar para dentro de casa, molhar um bolinho no ch).
Havamos deixado a Paris de Proust, ao trmino do captulo 1, no ano de 1922
conviria agora, justamente, retornar Paris de Joyce no mesmo ano de 1922.
82
6. ANOTAO PSTUMA
Poe morre em 1849; Balzac, em 1850; Baudelaire, em 1867 todos eles mais
ou menos pobres, mais ou menos amargurados. Em 1863 o Salon de Paris rejeita o
leo Dejeuner sur lherbe, de Manet, e ao grupo dos impressionistas no resta seno
agrupar-se sob o simblico telhado do Salon des refuss. Manet morre em 1886;
Sisley, na misria, em 1899. Na esteira do impressionismo surge o ps-
impressionismo e a multido prontamente o rejeita querem ver Manet. Em 1871
nasce Proust; em 1883, Kafka; e em 1896, Breton. Van Gogh morre em 1890;
Czanne, em 1906. Em 1915 A Metamorfose publicada e o ps-impressionismo
cai nas graas da multido tarde demais: Van Gogh j havia cortado apenas uma
orelha e vendido apenas um quadro. A Metamorfose rechaada e Kafka no
encontra qualquer reconhecimento em vida. Em 1916 eclode o movimento dadasta,
pronta e violentamente criticado por uma multido ainda mesmerizada por Van Gogh
e Manet. Em 1924 surge o manifesto surrealista, para escndalo da populao bem
pensante, que est agora s voltas com esta maravilha que o dadasmo.
A Histria da Arte a histria de sua rejeio.
83
REFERNCIAS
BIBLIOGRAFIA PRIMRIA
ADORNO, Theodor; BENJAMIN, Walter; BLOCH, Ernst; BRECHT, Bertolt; LUKCS,
Georg. Aesthetics and Politics. Londres: Verso, 2007.
BENJAMIN, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit. Berlim: Suhrkamp Verlag, 2010.
_________. Gesammelte Schriften. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1972.
_________. Obras escolhidas I: Magia e Tcnica, Arte e Poltica. So Paulo:
Editora Brasiliense, 1996.
_________. Obras escolhidas II: Rua de mo nica. So Paulo: Editora
Brasiliense, 2004.
_________. Obras escolhidas III: Charles Baudelaire, um lrico no auge do
capitalismo. So Paulo: Editora Brasiliense, 2004.
_________. Passagens. Belo Horizonte: UFMG; So Paulo: Imprensa Oficial do
Estado de So Paulo, 2006.
_________. Selected writings, 1938-1940. Cambridge: Harvard University Press,
2003.
_________. The correspondence of Walter Benjamin, 1910-1940. Chicago: The
University of Chicago Press, 1994.
BIBLIOGRAFIA SECUNDRIA
ADORNO, Theodor. Notas de literatura I. So Paulo: Editora 34, 2003.
_________. Teoria esttica. Lisboa: Edies 70, 2008.
ADORNO, Theodor; BENJAMIN, Walter; HABERMAS, Jurgen; HORKHEIMER, Max.
Coleo Os Pensadores. So Paulo: Editora Abril, 1980.
BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. So Paulo: Duas Cidades;
So Paulo: Editora 34, 2011.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2008.
CLARK, Timothy James. Ser que Benjamin devia ter lido Marx?. In: _________.
Modernismos. So Paulo: Cosac Naify, 2007. p.281-305.
COETZEE, J.M. Diary of a bad year. Londres: Penguin Books, 2008.
84
CORTZAR, Julio. O jogo da amarelinha. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
DRRENMATT, Friederich. Die Panne. Zurique: Diogenes Verlag, 1980.
EAGLETON, Terry. Literary theory: an introduction. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2008.
_________. Walter Benjamin or Towards a revolutionary criticism. Londres:
Verso, 2009.
FRAMPTON, Kenneth. Histria crtica da arquitetura moderna. So Paulo:
Martins Fontes, 2003.
GUILLAUMA, Yves. La presse en France. Paris: ditions la dcouverte, 1988.
KONDER, Leandro. Walter Benjamin, o marxismo da melancolia. Rio de Janeiro:
Editora Corpus, 1989.
KRACAUER, Siegfried. O Ornamento de massa. So Paulo: Cosac Naify, 2009.
LINDNER, Burkhardt (Org.). Benjanin Handbuch. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2006.
MIRECOURT, Eugne de. mile de Girardin. Paris: Librairie des contemporains, 1869.
MONTAIGNE. Essais: Livre premier. Paris: Le Livre de Poche, 2002.
PHILLIPS, Larry W. Ernest Hemingway on writing. New York: Scribner, 2004.
ROLLASON, Christopher. Border crossing, resting place: Portbou and Walter
Benjamin. Lingua Franca, Bruxelas, v.5, n.8, p.4-9, agosto. 2002. Tambm
disponvel em:
< http://www.wbenjamin.org/portbou.html >. Acesso em: 10 ago. 2011.
SCHOLEM, Gershom. Walter Benjamin: a histria de uma amizade. So Paulo:
Perspectiva, 2008.
TEIXEIRA COELHO, Jos. A cultura e seu contrrio. So Paulo: Iluminuras; So
Paulo: Ita Cultural, 2008.
VIRILIO, Paul. Guerra e cinema. So Paulo: Editora Pgina Aberta, 1993.
Você também pode gostar
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNo EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (20014)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionNo EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNo EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItNo EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3273)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionNo EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationNo EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2499)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionNo EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionNota: 4 de 5 estrelas4/5 (9756)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)No EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (9054)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)No EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (7770)