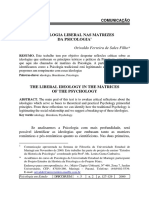Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ética e Paradigmas Na Psicologia Social
Enviado por
defensormalditoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ética e Paradigmas Na Psicologia Social
Enviado por
defensormalditoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
PLONER, KS., et al., org. tica e paradigmas na psicologia social [online]. Rio de Janeiro: Centro
Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. 313 p. ISBN: 978-85-99662-85-4. Available from SciELO
Books <http://books.scielo.org>.
All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o contedo deste captulo, exceto quando houver ressalva, publicado sob a licena Creative Commons Atribuio -
Uso No Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 No adaptada.
Todo el contenido de este captulo, excepto donde se indique lo contrario, est bajo licencia de la licencia Creative
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
tica e paradigmas na psicologia social
Ktia Simone Ploner
Lsia Regina Ferreira Michels
Luciane Maria Schlindwein
Pedrinho A. Guareschi
orgs.
BIBLIOTECA VIRTUAL DE CINCIAS
HUMANAS
TICA E PARADIGMAS NA
PSICOLOGIA SOCIAL
Katia Simone Ploner
Lsia Regina Ferreira Michels
Luciane Maria Schlindwein
Pedrinho A. Guareschi
Organizadores
BIBLIOTECA VIRTUAL DE CINCIAS
TICA E PARADIGMAS NA
PSICOLOGIA SOCIAL
Katia Simone Ploner
Lsia Regina Ferreira Michels
Luciane Maria Schlindwein
Pedrinho A. Guareschi
Organizadores
Ktia Simone Ploner
Lsia Regina Ferreira Michels
Luciane Maria Schlindwein
Pedrinho A. Guareschi
Organizadores
tica e Paradigmas na
Psicologia Social
Rio de Janeiro
2008
Lsia Regina Ferreira Michels
Luciane Maria Schlindwein
tica e Paradigmas na
Psicologia Social
Esta publicao parte da Biblioteca Virtual de Cincias Humanas do Centro
Edelstein de Pesquisas Sociais www.bvce.org
Copyright 2008, Katia Simone Ploner; Lsia Regina Ferreira Michels;
Luciane Maria Schlindwein; Pedrinho A. Guareschi
Copyright 2008 desta edio on-line: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais
Ano da ltima edio: 2003
Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida ou transmitida por
qualquer meio de comunicao para uso comercial sem a permisso escrita
dos proprietrios dos direitos autorais. A publicao ou partes dela podem ser
reproduzidas para propsito no-comercial na medida em que a origem da
publicao, assim como seus autores, seja reconhecida.
ISBN 978-85-99662-85-4
Centro Edelstein de Pesquisas Sociais
www.centroedelstein.org.br
Rua Visconde de Piraj, 330/1205
Ipanema Rio de Janeiro RJ
CEP: 22410-000. Brasil
Contato: bvce@centroedelstein.org.br
SUMRIO
Prefcio .........................................................................................................7
Neusa Maria de Ftima Guareschi
Apresentao ..............................................................................................12
Ktia Ploner, Lsia Michels, Luciane Schlindwei, Pedrinho A. Guareschi
tica e paradigmas na psicologia social
tica e paradigmas ..................................................................................18
Pedrinho A. Guareschi
tica e paradigmas: desafios da psicologia social contempornea .........39
Rosane Neves da Silva
Reflexes sobre pesquisa em psicologia, mtodo(s) e alguma tica....46
Andra Vieira Zanella
Identidade, subjetividade, alteridade e tica ............................................59
Neuza Maria de Ftima Guareschi
Da subjetividade sob sofrimento narcsico numa cultura da banalidade do
mal: abordagem tico-poltica do sofrimento humano ............................72
Angela Maria Pires Caniato
A psicologia na construo da igualdade ................................................90
Marlene Neves Strey
Prxis e tica na psicologia social comunitria: possibilidades de
transformao social na vida cotidiana .................................................100
Maria de Fatima Quintal de Freitas
Psicologia e educao
A incluso da pessoa com necessidades especiais na universidade: na
perspectiva dos professores ...................................................................112
Lsia Regina Ferreira Michels e Gabriela Andrea Daz
Dialogando com o diferente: a convivncia e a pluralidade cultural .... 126
Ana Pagamunici
Universidade da terceira idade: reflexes sobre preconceitos e projetos
.............................................................................................................. 140
Daiane Manerich, Juliana Vieira de Arajo Sandri e Biaze Manger Knoll
Representao social do bom aluno: implicaes ticas na educao .. 152
Maria Helena Cordeiro, Anelize Donaduzzi e Sabrina Maria Schlindwein
Discurso e significao dos professores do curso pedagogia sobre o
Exame Nacional de Curso .................................................................... 163
Luciane Maria Schlindwein, Cludia Renate Ferreira e Claudia Maria Petri
Educao e sade: consideraes a respeito da atuao interdisciplinar
em uma comunidade escolar ................................................................ 178
Leia Viviane Fontoura, Salete Galvan, Adir Luiz Stiz e Deyse Ferreira
Psicologia, sade e trabalho
Capacitao em sade mental com tcnicos do Programa Sade da
Famlia do municpio de Forquilhinha ................................................. 196
Dipaula Minotto da Silva, Eliziane Martins Bernardo e Edelu Kawahala
Demandas e ofertas da psicologia do trabalho hoje.............................. 207
Denise Macedo Ziliotto
Programa de sensibilizao para a escolha profissional ....................... 216
Maria Clara de Jonas Bastos, Cludia S. S. dos S. Schiessl e Everton
Cordeiro Mazzoleni
A reorientao ocupacional/profissional aps a mastectomia: uma nova
proposta de insero social ................................................................... 228
Maria Clara de Jonas Bastos e Josiane Aparecida F. de A. Prado
hora do espetculo da perversidade: o aprisionamento da subjetividade
dentro dos realities shows .................................................................... 236
Regina P. Christofolli Abeche, ngela Caniato e Lara Hauser Santos
A tica na escuta psicolgica: o atendimento inicial e a fila de espera .253
Carmen L. O. O. Mor, Aline Rssel, Naiane Carvalho Wendt e Vanessa
Silva Cardoso
Psicologia e relaes de gnero
A constituio do sujeito excludo catador de material reciclvel e a
construo da sua cidadania ..................................................................273
Daiani Barboza
Constituio do sujeito e relaes de gnero em um contexto de ensinar e
aprender .................................................................................................287
Silvia Zanatta Da Ros e Sandra Iris Sobrera Abella
Questes de gnero em grupos de terceira idade .................................299
Katia Simone Ploner, Almir Sais e Marlene Neves Strey
7
PREFCIO
Neusa Maria de Ftima Guareschi
Presidente da ABRAPSO
com certa frequncia que em discusses de grupos, acadmicas ou
no, escutamos as pessoas se referindo a determinados temas, situaes ou
episdios como estando estes direta ou indiretamente implicados com
questes ticas ou de paradigmas. Estamos vivendo tal momento, na
sociedade contempornea, em que, talvez, nunca se tenha falado tanto sobre
estes dois conceitos. Dentre o enorme nmero de referncias que se fazem a
esses conceitos, encontramos, geralmente, sentidos que lhes conferem um
carter universal e consensual.
Em relao a paradigmas, podemos destacar pelo menos dois
aspectos que, logicamente, esto relacionados entre si e, portanto, um no
exclui outro: o primeiro aspecto remete s concepes hegemnicas e
tradicionais da cincia como quando algum fala: isto uma questo de
paradigmas, ou estou falando de outro paradigma. Isso parece querer
dizer que o que est em discusso j algo definido por um conhecimento,
por um lugar, por um mtodo, pela cincia, ou seja, possui uma verdade.
Como diz Bujes (2002), recebe um selo de qualidade; ou como fala
Fischer (2002), uma frase de efeito. O segundo aspecto, refere-se,
exatamente, quilo que podemos, ou no, definir como o que um
paradigma. Ou seja, como se paradigma pudesse ter um conceito que o
abarcasse em sua totalidade. Isto seria como que supor que esse conceito
tivesse uma fronteira estabelecida, ou uma finitude. Como coloca VEIGA-
NETO (2002), isso significaria diminuir-lhe a polissemia, fixar-lhe o(s)
sentido(s) o que, em outras palavras, determinaria o que pode ser alado,
pensado ou localizado como sendo paradigma.
Thomas Kuhn (1976) em sua j clssica obra A Estrutura das
Revolues Cientficas vem esclarecer esse conceito quando discute que um
paradigma seria constitudo a partir de crenas em modelos particulares
(p.28), tendo como parmetro os diferentes valores entre os grupos sociais e
comunidades cientficas, revolucionando assim, as interpretaes
8
generalizveis, os mtodos universais e as definies consensuais que
caracterizam o que a modernidade designou como sendo conhecimento
cientfico. Portanto, a viso que Kuhn nos apresentou sobre paradigmas leva
nos a supor que os paradigmas so construdos pelas formas histricas,
sociais e culturais de vida as sociedades.
Diante dessas questes, podemos comear a questionar ento, no o
que um paradigma, mas sim, o que um paradigma nos indica. E neste
momento que a discusso sobre paradigmas toma sua mxima relevncia
no s para a Psicologia ou Psicologia Social mas para todo o campo das
Cincias Sociais e Humanas. Assim, podemos dizer qu paradigma nos
indica os modos particulares de vida das pessoas. Mais do que isso: o
paradigma nos traz possibilidades de entendermos as formas e mecanismos
que as pessoas utilizam para se inserir no mundo, estar no mundo ou de
pensar e significar suas prticas ou a si prprias nele. Temos, desta forma,
de enfatizar o carter contextual dos paradigmas conferido pela cultura,
pelo social e pela histria sempre localizados temporal e espacialmente. Da
mesma forma, temos de buscar os diferentes sentidos produzidos atravs da
linguagem, construtora dos sujeitos e visualizar as formas de circulao de
poder, interessando-nos pelos modos singulares e descontnuos de subjetivao.
possvel dizer que, na discusso que fizemos at aqui, no nos
desprendemos nem nos afastamos daquilo que pensamos sobre tica.
Paralelo ao que propusemos sobre paradigmas, em relao s concepes
sobre tica tambm podemos pensar, muitas vezes, ser este conceito tomado
com um carter universal, como se fosse o mesmo para todos, ou ainda,
como se tivesse sentidos fixos. Limitar a compreenso do que tica, seria
no s produzir um reducionismo sobre um conceito mas, principalmente,
entender o sujeito dentro de uma concepo essencialista, negando suas
diferenas, sua histria e sua cultura, ou seja, negar exatamente as
condies daquilo que o faz ser humano.
Considerando que a filosofia sempre tratou a moral como sendo o
objeto de estudo da tica, vamos nos deparar com algo a respeito do qual na
sociedade contempornea, tem se tornado cada vez mais difcil chegarmos
prximos de entendimento, ou consenso, tamanha sua complexidade.
Estamos nos referindo moral como o conjunto dos costumes, tradies
que se estabeleceram como aceitveis e corretas dentro de determinados
grupos. E entendemos a tica como uma reflexo crtica dessa moral.
9
Foucault (1998) nos apresenta uma discusso sobre moral relacionando-a
com trs significado diferentes: o significado do cdigo, o significado dos
comportamentos e o significado do constituir um si mesmo, constituio de
um sujeito moral. Para Foucault, a moral do cdigo diz respeito aos valores,
normas e regras prescrito pelas instituies na sociedade. A moral dos
comportamentos relaciona-se a, tipo de aes e atitudes propostas pela
sociedade e que esta espera ser apresentada nos comportamentos. O terceiro
significado, a constituio de um sujeito moral, implica em considerar a
diversidade entre os seres humanos na forma de ser e estar no mundo, ou de
constiturem-se sujeitos pela diferena.
A partir desta discusso proposta por Foucault (1998), Spink (2000)
trata os primeiros dois significados de moral colocados por este autor como
moral prescritiva ou a tica prescritiva. J o terceiro significado
denominado por Spink como a tica dialgica. A primeira acepo
fundamentada em um cdigo efetuado atravs da prescrio de
comportamentos pelas instituies sociais. A segunda pautada na
interao, ou na interanimao dialgica, ou seja, o processo que incorpora
os diferentes sentidos e endereamentos que os envolve nas relaes sociais
(SPINK, 2003). J o que caracteriza a perspectiva da tica dialgica
deixar que todas as vozes apaream no discurso, isto , que as relaes
sociais possam ser construdas pelas diferenas, que os sujeitos se
constituam na relao com o outro, com a alteridade e no por relaes
sociais hegemnicas.
Como essas questes sobre tica podem ser problematizadas na
Psicologia ou na Psicologia Social? Em um primeiro momento, devemos
questionar o essencialismo e o carter universal na concepo de sujeito.
Como se todos tivessem as mesmas chances ou oportunidades e como se
todos fossem iguais, ou seja, como se entre homens e mulheres, negros e
brancos, no existisse nenhuma diferena social, cultural, econmica, racial
ou sexual implicada na constituio da moralidade e da tica do sujeito.
Se pensarmos como a Psicologia toma, trabalha ou se insere em suas
prticas, percebemos que, tradicionalmente existe uma tendncia a tomar
como natural a classificao dos comportamentos dos sujeitos entre aquilo
que da norma, do hegemnico e o que no faz parte daquilo que
considerado comportamento padro. Essas questes so dicotomizadas a
partir de discursos que se fundamentam em tcnicas, mtodos, conceitos e
10
teorias tidas como comprovadas cientificamente que, portanto, podem ser
generalizadas e aceitas de forma universal. Tudo isso em nome de
determinados paradigmas e preceitos ticos.
Como pode o sujeito ser compreendido unicamente de uma forma
universal? Separado de sua cultura, de sua histria e de sua sociedade?
Como podemos pensar o psiquismo sem considerarmos os modos
singulares dos sujeitos se inserirem na cultura? Essas perguntas devem
persistir dentro da Psicologia e da Psicologia Social para que possamos
traz-las para a lgica de concepo de sujeito constitudo pelas diferenas.
Pensar os sujeitos pelas diferenas passa por questes polticas como a
organizao de polticas de gerao de renda, de gesto de pessoal, de
construo de identidades atravs dos marcadores de gnero, raa e
diversidade sexual, da produo de estratgias para a construo de uma
clnica poltica e de outros dispositivos para o atendimento ao sofrimento
psquico. No pressuposto de sade, educao, moradia, trabalho e
segurana, direitos bsicos para o desenvolvimento da cidadania e
democracia, deve ser considerado as diferenas, a pluralidade.
Os sentidos que a expresso sade mental podem adquirir so
muitos. Dentre eles, est o de uma face normativa, prescritiva, que faz
referncia a uma espcie de conjunto de atributos para uma pessoa ser
considerada saudvel. A Psicologia tem, assim, como desafio para articular
as questes de paradigmas e da tica em suas prticas, de forma incisiva,
perguntar-se que concepo de sujeito e de sociedade pressuposta como
pano de fundo para estas prticas psicolgicas. Seria a prtica da
homogeneizao para adaptao? Mas, adaptar a que? Tornar uma pessoa
igual a maioria ou apta a fazer o que todo mundo faz? Esta no uma
resposta sria, nem refletida. A temtica sobre paradigmas e tica
complexa, merecendo como resposta uma abordagem tambm complexa
que, no mnimo, consiga ser problematizadora de questes do
contemporneo que envolvem as prticas psicolgicas sobre educao,
trabalho, comunicao, doena, sade mental, infncia, adolescncia,
identidades, violncia, a exemplo de como foram discutidas no encontro da
Regional Sul da ABRAPSO e que so tratadas neste livro.
A Psicologia Social deve encarar sua produo de conhecimentos
como difcil, pois sua pluralidade de campos de saber, de abordagens e de
prticas to vasta que, talvez, nunca possamos e nem devamos almejar
11
uma identidade para ela. Esta a questo: entendermos que um trabalho
de construo plural e promotor da incluso social e dos direitos
fundamentais do ser humano passa pelo reconhecimento das diferenas.
No se trata da busca de hegemonia de paradigmas. Eis um dos nossos
desafios ticos no trabalho de formao e, acima de tudo, do campo de
interveno e construo de conhecimento em Psicologia Social.
Referncias
BUJES, Maria I. E. (2002). Descaminhos. In: COSTA, Marisa Vorraber.
Caminhos Investigativos: outros modos de pensar e fazer pesquisa
em educao. Rio de Janeiro, DP&A.
FISCHER, Rosa M. B. (2002). Verdades em Suspenso: Foucault e os
perigos a enfrentar. In: COSTA, Marisa Vorraber. Caminhos
Investigativos: outros modos de pensar e fazer pesquisa em
educao. Rio de Janeiro, DP&A.
FOUCAULT, Michel. (1998). O Uso dos Prazeres. Rio de Janeiro: Graal.
KUHN, Thomas (1976). A Estrutura das Revolues Cientficas. So
Paulo: Perspectiva.
SPINK, Mary Jane (2000). A tica na Pesquisa Social: da perspectiva
prescritiva interanimao dialgica. Revista PSICO. Vol. 31. n. 1.
Porto Alegre. jan/jul 2000. Semestral.
________ (2003). A Produo de Sentidos como Linguagem em Ao.
Coleo: temas da Contemporaneidade em Psicologia Social. v.1.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003 .
VEIGA-NETO, Alfredo (2002). Paradigmas? Cuidado com eles!. In:
COSTA, Marisa Vorraber. Caminhos Investigativos: outros modos
de pensar e fazer pesquisa em educao. Rio de Janeiro, DP&A,
2002.
12
APRESENTAO
A Associao Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) vem
afirmando seu compromisso com rea da Psicologia Social, constituindo
um espao de produo e divulgao cientfica que tem se destacado no
cenrio nacional. Para contribuir com a produo do conhecimento nesta
rea, foi realizado em novembro de 2002, o IX Encontro da Regional Sul da
ABRAPSO, sediado na Universidade do Vale do Itaja (UNIVALI), em
Itaja a Santa Catarina com o tema tica e Paradigmas da Psicologia
Social. O referido evento reuniu estudantes e profissionais da Psicologia e
reas afins, com saberes e histrias diferenciadas. Cumprindo com um dos
objetivos da comunidade cientfica da ABRAPSO, este livro sintetiza a
busca de aprimorar e expandir as discusses realizadas neste encontro.
O processo de construo iniciou com convite aos palestrantes das
mesas e aos autores dos trabalhos selecionados como comunicao oral no
sentido de aprofundar sobre a temtica abordada no evento. Para nossa
satisfao, tivemos uma grande receptividade e colaborao de estudiosos
na rea, que contriburam para ampliao de temas e de atuao da
Psicologia Social atravs de seus artigos.
Abrindo este livro, o texto denominado tica e Paradigmas, de
Pedrinho A. Guareschi, aborda uma questo instigante no mbito da
Psicologia Social. Para o autor possvel identificar dois grandes
paradigmas que fundamentam as exigncias ticas, ou os valores ticos na
literatura: o da lei natural e o da lei positiva. Alm destas duas vertentes,
Guareschi acresce um terceiro olhar, que traz novas consideraes para a
discusso da problemtica da tica: a tica tomada como instncia crtica.
Rosane Neves da Silva apresenta o artigo denominado tica e
Paradigmas: desafios da psicologia social contempornea, no qual explora
inicialmente, a noo de paradigma. Para a autora, a palavra paradigma
precisa ser considerada em diferentes dimenses, a saber: a dimenso
epistemolgica (como conhecemos), a dimenso ontolgica (o que isso a
se conhecido), a dimenso metodolgica (que ferramentas utilizamos nesta
investigao) e a dimenso tica (que valores conduzem nossas estratgias
de produo do conhecimento). De acordo com o texto, o paradigma,
13
enquanto estratgia de produo de conhecimento, tem uma funo poltica,
uma vez que estas diferentes dimenses expressam um determinado
processo de subjetivao.
O texto Reflexes sobre pesquisa em psicologia, mtodo(s) e
alguma tica, de autoria de Andra Vieira Zanella, contextualiza as
diferentes vertentes metodolgicas que veem sendo adotadas nas pesquisas
nas Cincias Humanas, especialmente, no campo da Psicologia. Para a
autora, para alm de uma discusso sobre a pertinncia de metodologias,
mais qualitativas ou mais quantitativas, fundamental que os pesquisadores
relevem a diversidade e a diferena presentes na sociedade atual e, mais que
isso, reafirmem o compromisso de relacionar tica e cincia.
Neuza Maria de Ftima Guareschi aborda a temtica Identidade,
subjetividade, alteridade e tica partindo de uma virada cultural nos
paradigmas das cincias sociais e humanas, tendo a cultura como
constitutiva da vida social das polticas de identidade. Cultura entendida
como forma de vida, na qual inclui ideias, linguagem, prticas, instituies
e instncias de poder, tendo Foucault como referencial bsico.
No decorrer do captulo Da subjetividade sob sofrimento narcsico
numa cultura de banalidade do mal, de ngela Caniato, h uma reflexo,
pautada na psicanlise, sobre a tenso dialtica entre a subjetividade e a
cultura na contemporaneidade, que apreende a violncia de modo perverso.
Expe que o sofrimento psicossocial estrutura-se como impotncia subjetiva,
apatia e conformismo, questionando as prticas psi deste contexto.
Marlene Neves Strey, no artigo A psicologia na construo da
igualdade discute o papel da Psicologia na busca da transformao social
em direo a uma verdadeira igualdade de oportunidades, considerando
fundamental a reflexo crtica e a prtica tica. Discute que tipo de
profissional, de intervenes e discusso tica as universidades esto
incentivando e em que direo aparenta ir: reforar as desigualdades ou
lutar para super-las?
O artigo Prxis e tica na Psicologia Social Comunitria:
possibilidades transformao social na vida cotidiana, apresentado pela
Dra. Maria de Ftima Quintal de Freitas propem-se a discutir sobre tica e
Paradigmas na relao com a prtica dos profissionais de psicologia,
considerando trs dimenses a saber: ontolgica, epistemolgica e a
14
dimenso da prxis. Para tanto, a autora apresenta uma reflexo crtica
sobre os avanos obtidos e as dificuldades enfrentadas pela Psicologia
Social Comunitria, por sua vez: comprometida com a construo de
relaes cotidianas mais justas e dignas.
O artigo seguinte, intitulado A incluso da pessoa com necessidades
especiais na universidade, perspectiva dos professores, de autoria de Lsia
Regina Ferreira Michels e Gabriela Andrea Daz, o resultado de uma
investigao que busca evidenciar que tipo de relaes se operam tendentes
incluso/excluso de alunos na universidade. As anlises apresentadas no
texto apontam as dificuldades vivenciadas pelos docentes, as estratgias
utilizadas para a incluso e o preconceito diante dos alunos com
necessidades especiais Nesta perspectiva, as autoras sugerem que a
educao inclusiva seja inserida na formao de professores.
Abordando a temtica da identidade e alteridade, Ana Pagamunici
oferece o artigo Dialogando com o diferente: a convivncia e a pluralidade
cultural. Ela discute como as relaes com o outro, com o diferente, faz
com que nos reconheamos e nos permita identificar as divergncias, as
diferenas Segundo a autora, do modo como esto se dando as relaes, no
contexto cultural em que vivemos, no precisamos mais pensar sobre o novo,
fazendo com que no entremos em relao e no nos diferenciamos do mundo.
Os autores Ktia Simone Ploner, Daiane Manerich, Juliana Vieira de
Arajo Sandri, Biaze Manger Knoll no artigo Universidade da Terceira
Idade reflexes sobre preconceitos e projetos, abordam esteretipos
envolvidos no retorno universidade no perodo da aposentadoria e da
velhice. Apresenta um programa de universidade da terceira idade realizado
no sul do pas e sua organizao, discutindo princpios ticos e paradigmas
envolvidos neste.
O texto Representao social do bom aluno: implicaes ticas na
educao resultado de uma pesquisa que vem investigando as
representaes que os professores possuem acerca da educao de seus
alunos. As autoras Maria Helena Cordeiro, Anelize Donaduzzi e Sabrina
Maria Schlindwein analisam os professores na dinmica social, cultural,
econmica, histrica, educacional e afetiva que compem as suas
representaes. As autoras consideram que a partir destas representaes
15
que as professoras de ensino fundamental constroem suas expectativas
sobre o futuro de seus alunos na escola.
O texto Discurso e significao dos professores do curso pedagogia
sobre o exame nacional de curso, apresentado por Luciane Maria
Schlindwein, Cludia Renate Ferreira e Claudia Maria Petri traz resultados
de uma pesquisa que investiga o impacto do ENC em um curso de
Pedagogia. A palavra se constitui em ato, em campos discursivos, os
professores que falam transformam a sua prpria fala ao falar, constituindo
tramas de significados diversos.
O artigo Educao e Sade: consideraes a respeito da atuao
Interdisciplinar em uma comunidade escolar, apresentado pelos autores
Leia Viviane Fontoura, Salete Galvan, Adir Luiz Stiz e Deyse Ferreira,
apresenta os resultados de um projeto de extenso universitria,
desenvolvido por uma equipe interdisciplinar da Universidade do Vale do
Itaja, numa comunidade escolar do municpio de Itaja (SC). Partindo do
referencial terico proposto pela abordagem histrico-cultural, os autores
demonstram o caminho percorrido nos ltimos trs anos, que possibilitou a
transio do paradigma assistencial na concepo de sade do escolar para a
construo de uma prxis pela promoo de sade.
Para fomentar reflexes sobre sade mental coletiva e relao
tcnico-usurio, proporcionar reflexes referentes concepo de
sade/doena mental, rtulos e preconceitos que os autores Dipaula
Minotto da Silva, Eliziane Martins Bernardo, Edelu Kawahala se
propuseram a escrever o artigo Capacitao em sade mental com tcnicos
do programa sade da famlia do municpio de Forquilhinha. A discusso
est pautada no conceito de sade de forma ampla, na descentralizao do
sistema de sade, promoo de sade e integrao dos profissionais da
sade com a comunidade, procurando dignificar os sistemas de atendimento
aos usurios.
Abordar criticamente prticas da psicologia comprometida com a
lgica empresarial de eficcia em que o indivduo tratado como
recurso e no enquanto sujeito o eixo norteador do captulo Demandas
e ofertas da Psicologia do trabalho hoje. Alm disso, Denise Macedo
Ziliotto aponta encaminhamentos e possibilidades para esta rea.
16
O artigo Programa de sensibilizao para a escolha profissional, de
Maria Clara de Jonas Bastos, Cludia Silva Schead dos Santos Schiessl e
Everton Cordeiro Mazzoleni, apresenta a estrutura e os resultados de um
programa que utiliza-se de diversas tcnicas, que vo desde dinmicas de
grupo, estrias em quadrinhos e apresentaes com fantoches buscando
facilitar que os alunos de escolas pblicas desenvolvam pesquisas sobre as
diversas profisses, visitas s universidades e escolas tcnicas, bem como
outras ocupaes prticas que existem (pedreiro, carpinteiro, vendedor, etc.).
A seguir, Maria Clara de Jonas Bastos e Josiane Aparecida Ferrari de
Almeida, no artigo A reorientao ocupacional/profissional aps a
mastectomia: uma proposta de insero social, apresentam o resultado de
uma investigao que busca compreender os novos sentidos na vida da
mulher aps a mastectomia. Neste sentido, o texto evidencia que novos
significados e identificaes no cotidiano da mulher, so refletidos na sua
insero profissional.
Em hora do espetculo da perversidade: o aprisionamento da
subjetividade dentro dos reality shows evidenciado um mecanismo da
industria cultural miditica que promove a padronizao das subjetividades:
o reality show. As autoras Regina Perez Christofolli Abeche, ngela
Caniato e Lara Hauser Santos exploram os valores perversos que regem o
cotidiano da vida dos participantes: confinamento, vigilncia, excluso,
privao, fama, dinheiro, sorte, culto ao heri, salve-se quem puder, etc.
Analisam estas questes sob enfoque psicanaltico, explicitando a tica que
perpassa os atuam modelos identificatrios.
O artigo A tica na escuta psicolgica: o atendimento inicial e a fila de
espera apresenta uma contribuio reflexo tica em torno dos modelos de
interveno utilizados em contexto de atuao. As autoras Carmen L.O.O.
Mor, Aline Rssel, Naiane Carvalho Wendt e Vanessa Silva Cardoso
analisaram vinte e seis casos durante noves meses, junto ao Servio de
Atendimento Psicolgico da Universidade Federal de Santa Catarina.
Daiani Barboza, no texto A constituio do sujeito excludo catador
de material reciclvel e a construo da sua cidadania, apresenta uma
anlise da constituio do sujeito excludo, focando os aspectos do
movimento potncia, impotncia na constituio da cidadania destes
17
sujeitos. Para a autora, estes estudos podem contribuir para a construo de
uma prtica psicolgica emancipatria, pautada na tica e na solidariedade.
O artigo Constituio do sujeito e relaes de gnero em um contexto
de ensinar e aprender, de autoria de Silvia Zanatta Da Ros e Sandra Iris
Sobrera Abella discute a constituio do sujeito em contexto de grupo, a
partir dos esteretipos e relaes de gnero que ocorreram em situaes de
ensinar de aprender, no contexto do grupo. De acordo com as autoras, as
relaes de gnero e os esteretipos influenciaram o modo como os sujeitos
foram sendo significados no interior do grupo e que estes aspectos
influenciaram tanto os movimentos realizados pelos sujeitos, como a forma
de constituio do grupo.
O artigo Questes de gnero em grupos de terceira idade, escrito por
Ktia Simone Ploner, Almir Sais e Marlene Neves Strey traz uma pesquisa
realizada com homens, buscando compreender porque os homens pouco
participam dos grupos de terceira idade. Destaca as questes de gnero
envolvidas como sexismo e discriminao. Aborda a maior valorizao do
trabalho em relao ao grupo e preconceitos referentes a velhice,
contribuindo para compreenso das diferenas de gnero na velhice.
Agradecemos aos autores, o conselho cientfico, ao psiclogo Waldir
Loureno Gonalves e s pessoas que nos apoiaram na construo deste
livro. Desejamos que cada leitor encontre aqui um dilogo que o leve a
questionamentos, crticas, novos horizontes e conhecimentos.
Os organizadores:
Ktia Ploner,
Lsia Michels,
Luciane Schlindwein e
Pedrinho A. Guareschi.
18
TICA E PARADIGMAS NA PSICOLOGIA SOCIAL
tica e paradigmas
Pedrinho A. Guareschi
1
Introduo
A ABRAPSO est sempre avanando em sua tarefa de levar aos
professores e pesquisadores de Psicologia Social do Brasil novas e
desafiantes reflexes sobre seu campo. O tema escolhido para o IX
Encontro Regional, realizado em Itaja-SC, est, com certeza, entre os mais
provocantes. urgente que se faa uma reflexo sobre a dimenso tica
(valorativa) subjacente a todo paradigma com que trabalhamos e dentro do
qual nos movimentamos na compreenso do universo e do ser humano.
assustador darmo-nos conta de quanto tempo ficamos escondendo e at
mesmo negando essa problemtica to central como a tica. Pensemos um
pouco, por exemplo, sobre duas atividades comuns psicologia: uma dos
psiclogos sociais, em sua tarefa de compreenso do fenmeno psicossocial
e outra dos psiclogos, em sua tarefa de terapia.
Primeiro, todo psiclogo social, ao enfrentar uma problemtica social
que ele julga relevante, em geral carregada com temas ligados s
dificuldades por que passa uma populao, ou mesmo confrontando
injustias e desigualdades sociais tem, necessariamente, em sua mente, um
referencial de como as coisas devem, ou deveriam ser, quando mudadas e
transformadas. Mas, qual esse referencial? Qual o referencial que bom,
justo, aceitvel? A que recorremos para dizer que tal situao deve mudar
para outra, que dizemos ser a melhor? Isso impossvel sem que tenhamos
uma postura tica, um referencial tico a que iremos recorrer. S que esse
referencial nunca discutido. suposto apenas, mas s vezes dentro de
diferenas substanciais.
Do mesmo modo, o psiclogo que solicitado a um aconselhamento
psicolgico ou a discutir uma situao de sofrimento psquico, ao se propor
1
Professor e pesquisador CNPq do Programa de Ps-Graduao em Psicologia da PUCRS.
19
alcanar alguma mudana no estado psquico de seu interlocutor deve,
automaticamente, se perguntar qual o parmetro que fundamenta essa
melhoria? Isto , o que significa e o que fundamenta passar a uma
situao melhor? Melhor de acordo com que critrios valorativos e
ticos? Em outras palavras: qual o referencial tico que tal psiclogo e
terapeuta segue? E, consequentemente, qual o referencial tico do
paradigma que ele emprega em seu trabalho?
Pois so todas essas questes que esto subjacentes questo que a
ABRAPSO decidiu enfrentar em seu IX Encontro. Na conferncia do
encontro que levava o ttulo da assembleia, arriscamos enfrentar trs
questes, dentro dessa ampla problemtica. Propomo-nos discutir:
1. Quais as teorias, que fundamentam a tica, mais comuns nos dias de hoje?
2. Quais os fundamentos ticos que podem ser identificados como
subjacentes a trs grandes paradigmas das cincias sociais, paradigmas
esses que englobam, alm da dimenso tica, uma concepo de ser
humano, uma viso de sociedade e uma viso de prtica social?
3. Como complementao e com um olhar mais penetrante, procuramos
vislumbrar qual a dimenso tica presente em trs diferentes tipos de
lgicas e ontologias: a lgica da identidade, a lgica da dialtica e a
lgica da analtica.
Passemos discusso.
1. Principais teorias que fundamentam a tica
A toda hora escutamos algum dizendo que tal procedimento no
tico, que tal ao antitica, etc. Qual seria o critrio para tal afirmao e
julgamento? O que faz com que uma ao, uma prtica e, indiretamente
apenas que uma pessoa seja tica?
Quando se comea a refletir sobre o que seja tica, e sobre os
fundamentos da tica, damo-nos conta de quo complexa a questo. Mas
ao mesmo tempo vemos que todos ns, de um modo ou de outro, temos
nossas convices ticas, possumos nossa tica. Para termos tal
tica, temos de nos basear em algum fundamento, algum pressuposto
filosfico e valorativos. Mas interessante ver que a maioria das pessoas,
apesar de possurem esses fundamentos e pressupostos, poucas vezes
20
pararam para refletir e tomar conscincia de quais eles poderiam ser e de
suas implicaes. Essa rpida discusso quer trazer baila esses
pressupostos e facilitar, a quem desejar descobrir qual o fundamento de sua
tica. Mesmo os estudos de Kohlberg (1966, 1969) e em parte os de Piaget
(1932), apesar de ajudarem a identificar estgios de conscincia tica, no
fornecem elementos para que se possa identificar os pressupostos filosficos
e, consequentemente, se possa fazer uma crtica desses pressupostos.
Podem ser identificados dois paradigmas principais que
fundamentariam as exigncias ticas, ou os valores ticos. O primeiro o
da lei natural; o segundo o da lei positiva. A esses dois paradigmas
acrescentamos um terceiro, que talvez no possa ser chamado de
paradigma, mas que certamente questiona os dois anteriores e traz novas
consideraes para a discusso da problemtica da tica: a tica tomada
como instncia crtica.
O paradigma da lei natural
O grande referencial do paradigma da lei natural a natureza. Esse
referencial tem a pretenso de dizer que a partir da ateno dada
natureza, possvel, de um lado, estruturar uma tica que governe todos
os povos e em todas as pocas e, de outro lado, possvel uma fonte para
essa tica que no sejam os costumes ou instituies de determinados povos
ou naes. Entre os defensores de tal paradigma podemos citar Aristteles,
os estoicos, Ccero e muitos outros seguidores at os dias de hoje (quem
sabe at voc mesmo que est lendo esse trabalho).
Essa tradio dividiu-se em duas vertentes: uma pr-moderna,
religiosa, inspirada em Toms de Aquino, centrada na ideia de um Criador e
numa ordem imutvel estabelecida por Deus; outra moderna, secular,
inspirada nos escritos de Grotius e John Locke, fiel mentalidade do
mundo moderno que, sem negar a origem divina da natureza, investe na
defesa dos direitos humanos. Joo Batista Libneo diz que a primeira se
caracteriza como o momento do objeto, como pr-moderna; a segunda
como o momento do sujeito, tpica do pensamento moderno. Uma
privilegia a estabilidade do objetivo e a outra a liberdade e a iniciativa do
subjetivo. Mas para ambas o critrio que as fundamenta algo exterior: a
natureza como produto de Deus Criador para a primeira, ou a dignidade e
21
os direitos fundamentais do ser humano que podem ser racionalmente
conhecidos e justificados, para a segunda.
O paradigma da lei positiva
O paradigma da lei positiva surge como reao ao paradigma da lei
natural, tanto na sua verso religiosa, como na verso secular. H uma
rejeio, tanto a nvel epistemolgico, como a nvel ideolgico, de um apelo
a uma ordem natural como referencial tico. A nvel epistemolgico, a
partir do relativismo cultural, questiona-se a possibilidade de dar contedo
concreto a leis ditas naturais, que sejam as mesmas em todas e para todas as
pocas e culturas. A nvel ideolgico, a experincia histrica do abuso,
tanto de poderes religiosos, como civis, de apelar para leis naturais para
esmagar seres humanos que se opunham a determinados regimes, levou
rejeio de uma ordem humana e social determinada por uma lei natural
preestabelecida. O critrio tico passa a ser o que foi escrito e promulgado
aps as diversas instncias de discusso. o que passou a se chamar de
contratualismo. Uma vez discutida e estabelecida uma negociao social,
ela passa a ser vlida. Com isso se evita a arbitrariedade e pode-se apelar
para algo objetivo que foi formulado e promulgado. Podemos nos libertar,
assim, de uma natureza cega, de um lado, e dos mandos e desmandos
autoritrios de governantes e grupos, de outro.
Pode-se perceber logo que se as leis fossem justas, discutidas
democraticamente e aplicadas da maneira mais imparcial possvel, o estado
de direito poderia ser um forte defensor do direito e das liberdades dos seres
humanos. Mas o que acontece quando os governadores e os juizes so
autoritrios e quando alguns legislam em causa prpria? Que dizer quando
grupos e minorias poderosas foram a criao de acordos e negociaes em
proveito prprio? Pode-se ainda dizer que o que institudo tico? Que
dizer de exemplos como o das ditaduras militares e especificamente o caso
do Brasil e outros pases da Amrica Latina, onde alguns grupos, base da
fora e da presso, impuseram sobre uma maioria suas vontades e seus
privilgios? E tudo atravs de constituies escritas e promulgadas.
Como acabamos de ver, o fundamento da tica colocado por alguns
na lei natural (tanto por ser essa lei originada de um Deus Criador, ou por
estar radicada na dignidade do ser humano e de seus direitos inalienveis),
22
ou num positivismo jurdico, que se radica no texto de uma lei escrita e
promulgada.
Mas damo-nos conta tambm das limitaes e perigos que se
originam de tais pressupostos. Que fazer, ento? Haveria outra alternativa
para fundamentar a dimenso tica? O que seria, afinal, a tica? esse
ponto que merece uma ateno especial.
tica como instncia crtica
Se as colocaes acima discutidas mostram suas limitaes e
precariedades, ao mesmo tempo indicam pistas por onde se pode iniciar a
busca de uma fundamentao tica das aes e relaes. Mas
decisivamente importante que, ao perseguirmos tais fundamentaes,
tenhamos sempre em mente seus possveis limites. E a isso poderamos
chamar de postura crtica diante de todo criado e de todo o
institucionalizado. Enquanto permanecermos dentro do humanamente
institudo, sem apelarmos para o eterno e o transcendente, temos de
reconhecer nossa limitude histrica. E ao reconhecermos essa limitude,
temos de deixar sempre uma porta aberta a porta de possibilidade de
alternativas, de crescimento, de transformaes, de aperfeioamento.
Nesse contexto, creio que nos seria muito til uma noo de tica
como sendo uma
instncia crtica e propositiva sobre o dever ser das relaes humanas
em vista de nossa plena realizao como seres humanos (Dos Anjos,
1996, p.12).
Perscrutando a fundo essa formulao, podemos extrair dela duas
dimenses fundantes: a dimenso crtica e propositiva, e a dimenso das
relaes. Elas so centrais para a compreenso mais profunda da tica.
a) A dimenso crtica e propositiva
A dimenso crtica da tica significa que ela no pode ser
considerada como algo pronto, algo acabado. Ao contrrio, ela est sempre
por se fazer. E ao mesmo tempo ela est presente nas relaes humanas
existentes. medida em que ela se atualiza, passa a sofrer suas
contradies e por isso deve ser questionada e criticada. Ao mesmo tempo
ela tem de ser propositiva. No pode se furtar a colocar exigncias e
23
desafios. Mas esses desafios e exigncias podem ser reelaborados,
redimensionados, refeitos e retomados. E a tica sempre do dever ser das
relaes humanas em vista de nossa plena realizao. uma busca infinita,
interminvel; uma conscincia ntida de nossa incompletude; um
impulso permanente em busca de crescimento e transformao.
No seria fora de propsito mencionar aqui a posio de alguns
autores da Escola Crtica, como Karl Otto Apel e Jrgen Habermas, que
procuram resgatar a dimenso tica a partir do discurso. O discurso o que
temos de mais prximo, de mais real, e ao mesmo tempo de mais
interminvel; ele possui a maior possibilidade de criar todas as alternativas
possveis. E ao mesmo tempo ele possui pressupostos indispensveis, sem
os quais ele mesmo no pode se sustentar, isto , ele traz consigo tambm
uma infinidade de caminhos diferentes, e entre eles a possibilidade de seu
prprio resgate. Os pensadores acima citados so chamados por Lima Lopes
(1996, p.31), de
crticos, somando tanto a crtica kantiana quanto a marxista; podem
ser tidos como herdeiros dos ideais de liberdade dos modernos ao
mesmo tempo que levam a srio a impossibilidade de existncia do
ser humano no socializado.
minha convico que fundamental enfatizar a dimenso da crtica
ao se discutir a questo da tica. Num trabalho anterior (Guareschi, 1992,
p.5-34) tentei mostrar como o uso cuidadoso e srio da crtica, mesmo ao se
discutir as diferentes teorias cientficas, leva prpria evidncia da
impossibilidade de uma cincia, ou de uma prtica cientfica neutra, isto ,
;em uma dimenso tica. A crtica resgata a dimenso tica de toda ao
humana. Mas ao mesmo tempo no fecha a questo sobre a presena de
uma dimenso tica especfica. Alis, a prpria Teoria Crtica (tambm
chamada de Escola de Frankfurt ou Crtica da Ideologia) tem como
pressuposto a impossibilidade de neutralidade das aes humanas. Toda
ao humana, segundo essa escola de pensamento, deve ter como finalidade
iluminar e emancipar; a ao que se diz neutra, se no estiver direcionada
a tais fins, possivelmente estar servindo a propsitos contrrios, de
ocultao da realidade e de manipulao das conscincias (Geuss,1988).
O prprio John B. Thompson (1995), um dos autores que mais
amplamente e criticamente analisa a ideologia, define esse conceito como
tendo uso de formas simblicas que servem para criar ou manter relaes
24
de dominao. Uma forma simblica s ideolgica quando se puder
mostrar que ela serve aos propsitos de criar ou manter relaes que sejam
de dominao, isto , relaes assimtricas, desiguais, injustas. Dominao
aqui um conceito diferente de poder. Poder uma capacidade, uma
qualidade individual de pessoas, algo singular, particular. Nesse sentido,
todos os que podem fazer algo (trabalhar, falar, escrever etc.) tm um
poder. J dominao uma relao, isto , sempre se d entre dois ou
mais sujeitos e acontece quando h uma expropriao de poder, isto ,
quando um retira, de maneira assimtrica ou injusta, um poder de outro
parceiro. Para essa concepo de ideologia, ento, a dimenso tica, isto
, a dimenso do dever (ou no dever) fazer, est presente. A anlise
ideolgica, nesse sentido, sempre uma demonstrao e uma denncia da
existncia de relaes assimtricas, desiguais. Ela leva, naturalmente,
constatao de situaes que provocam uma tomada de posio, que
dificilmente vai deixar as pessoas impassveis, tranquilas. Esse o grande
risco de se tomar ideologia na acepo crtica. E ao mesmo tempo a grande
vantagem. Na verdade, de que ajuda aos grupos humanos dizer,
simplesmente, que as coisas so assim, sem que se apresentem elementos
de transformao e superao de tais situaes? Mas o mais importante,
contudo, o fato de que uma postura terica que simplesmente toma a
cincia como uma prtica que diz como as coisas so, esconde, por detrs
dela, uma postura conservadora. E tanto uma, como a outra, possuem
dimenses ticas, pois ser conservador (isto , permitir que as coisas sejam
assim, ou impedir que elas mudem), uma ao to tica como lutar pela
mudana (lutar para que a situao se transforme). Para uma formulao
clara e precisa dessa questo veja-se Israel (1972).
b) A dimenso da relao
Uma segunda dimenso que gostaramos de discutir a partir da
formulao acima, a questo das relaes, ou da tica enquanto tica
das relaes. Essa uma discusso extremamente provocante. Dentro de
uma cosmoviso individualista, onde o ser humano considerado como
indivduo (o indivisum in se et divisum a quolibet alio, isto , o que
um/uno, mas que no tem nada a ver com qualquer outra coisa), sob o
imprio do liberalismo, fica difcil de se perceber que a tica s pode ser
dita das relaes e onde ela mesma sempre uma relao.
25
Entendemos por relao a ordenao intrnseca de alguma coisa em
direo a outra, que a filosofia define como ordo ad aliquid. Em outras
palavras, relao algo que no pode ser sem o outro. Vejamos como a
questo da relao tem a ver com a justia e a tica.
Pegoraro (1996) publicou um livro cujo ttulo : tica justia. O
que o referido autor faz recuperar a argumentao de Aristteles, na
tica a Nicmacos, onde ele afirma que a justia a virtude central da
tica, pois ela comanda os atos de todas as virtudes.
Essa forma de justia no parte da virtude, mas a virtude inteira e
seu contrrio, a injustia, tambm no uma parte do vcio, mas o
vcio inteiro (Aristteles, 1985).
Dizer que tica justia, torna-se muito claro quando pensamos sobre
o que significa justia. Justia provm de jus, que no latim quer dizer
direito. Algum justo quando estabelece relaes com outros seres que
sejam justas. Em outras palavras, algum sozinho no pode ser justo.
Algum sozinho pode ser alto, branco, simptico etc., pois isso no implica
relao, isto , no implica outros. Agora, justo, ele no consegue ser
sozinho, pois a justia, ou a injustia, s entra em cena no momento em que
algum se relaciona com outros. Isso quer dizer que s relao que se
pode aplicar o adjetivo justo; tal adjetivao no pode ser dita de um polo
apenas da relao. Eu sou justo quando estabeleo relaes com outros que
sejam justas, isto , que respeitem os direitos dos outros. Justia tem a ver,
pois, com o respeito aos direitos das pessoas. H justia quando os direitos
das pessoas so respeitados.
Do mesmo modo com a tica. Dizer que tica relao, ou dizer que
tica s se pode aplicar s relaes, afirmar que ningum pode se arvorar
do predicativo de tico a partir de si mesmo, como quer, exatamente, o
liberalismo. O pensamento liberal, ao partir da definio de ser humano como
indivduo, centraliza tudo no eu, no sujeito da proposio. Perdemos a
dimenso relacional e como consequncia mistificamos o verdadeiro sentido
de tica. Chegamos, assim, a absurdos sociais como os que vivemos hoje, em
que um tero da populao no possui seus direitos garantidos e nos
blasonamos como ticos, ou como um pas onde exista tica. Por incrvel que
parea, quem vai decidir se somos, ou no, ticos, so os outros. Isso parece
chocante e de fato o , dentro da cosmoviso egocntrica e individualista,
como a cosmoviso do liberalismo.
26
No documento Exigncias ticas da Ordem Democrtica, da CNBB
(1994), a seguinte afirmao vem mostrar quem o juiz da tica numa
verdadeira democracia:
A existncia de milhes de empobrecidos a negao radical da
ordem democrtica. A situao em que vivem os pobres, critrio
para medir a bondade, a justia, a moralidade, enfim, a efetivao da
ordem democrtica. Os pobres so os juizes da ordem democrtica de
uma nao (n.72).
E importante ainda, como o faz Dussel (1986), distinguir entre moral
e tica. Moral so os costumes vividos numa determinada sociedade, aquilo
que os grupos e pessoas estabeleceram como sendo comum, necessrio para
o andamento e prosseguimento da ordem normal estabelecida. Nesse
sentido, todo poder constitudo estabelece as prprias prticas como boas
(Dussel,1986, p.43), sejam elas quais forem. A tica, porm, refere-se aos
princpios fundamentais de justia, igualdade e solidariedade. A tica est
continuamente na busca de uma sociedade mais justa e fraterna e do
estabelecimento de normas que sejam mais e mais construtoras de seres
humanos livres e solidrios. A tica busca a libertao pessoal e social das
pessoas e das situaes de injustia. A tica a crtica da moralidade.
Podemos acenar aqui para a questo da comunicao: a situao em
que se encontra a alocao dos meios de comunicao, embora sendo legal,
poder-se-ia dizer tica? Esto respeitados os direitos informao e
comunicao dentro da atual legislao brasileira?
A educao sistemtica, em geral, forma, ou conforma, as pessoas a
obedecerem e a se ajustarem aos padres estabelecidos, isto , aos padres
morais dos grupos e sociedades. A verdadeira educao, libertadora e
autnoma, educa para a formao de uma conscincia crtica, capaz de
continuamente questionar a situao presente, denunciando profeticamente
suas lacunas e anunciando novas perspectivas de crescimento e libertao.
Deste modo, a conscincia moral, a partir dos princpios morais de
um sistema que seja dominador, (como o caso de sistemas onde h
apenas alguns que podem falar e a maioria no tem o direito de dizer
sua palavra), cria uma conscincia tranquila, que no di, ante uma
prxis que o sistema aprova, mas que pode ser originalmente
perversa, de dominao (Dussel, 1986, p.46).
27
Vimos, at aqui, os principais fundamentos aos quais se apela ao se
discutir questes ticas. Cada paradigma cientfico, velada ou
explicitamente, possui determinada dimenso tica e, consequentemente, h
um fundamento para essa tica. Depende de cada professor ou pesquisador
identificar qual seja essa tica e qual seja o fundamento dessa tica.
2. Trs grandes paradigmas e seus fundamentos ticos
Considero essa a parte central dessa comunicao. Vou apresentar
trs grandes cosmovises que, no meu entender, representam trs grandes
paradigmas. Discutirei, nesses paradigmas, quatro dimenses que vejo
presentes em todo paradigma: a concepo de ser humano, a concepo
valorativa ou tica (que o que nos interessa aqui), a concepo de social
desse paradigma e finalmente a dimenso da prtica, isto , como s
comportam e se relacionam as pessoas que aceitam e se guiam por
determinado paradigma. Essa ltima parte extremamente complexa e
arriscada, pois facilmente podemos nos comportar e relacionar de maneira
bastante diversa do que pensamos e falamos. De qualquer modo, tomando-
se tais comportamentos e relaes como padres gerais, podemos mostrar
que eles supem tal concepo de ser humano, determinada tica e
determinada concepo do que social.
Existem inmeras definies do que seja um paradigma. Alguns
analistas da obra de Thomas Kuhn chegaram a identificar ao redor de 60
acepes diferentes em seu livro A Estrutura das Revolues Cientficas.
Atenho-me aqui a uma noo de paradigma que julgo bastante prtica e que
assemelha-se muito ao que chamamos tambm de cosmoviso. Estou ciente
de que h muitas outras acepes, mas certamente a que apresento responde
a muitas das necessidades tericas e prticas que enfrentamos.
Um paradigma, como o tomo aqui, possui, pelo menos, quatro
elementos, que mencionamos acima. Um primeiro de determinada
concepo de ser humano. Quem o ser humano para determinada teoria ou
paradigma? Todos temos um referencial paradigmtico e nesse referencial a
concepo de quem sou eu, de quem voc, indispensvel. verdade que
muitas vezes no sabemos qual , mas que ns o temos, isso indiscutvel.
A segunda dimenso a dimenso de valor, ou a dimenso tica, que
a que nos interessa nessa discusso. O termo tica, como vimos na
28
primeira parte, complexo e difcil de ser discutido. Tem a ver com cultura,
com a moral, com a tradio, com os costumes, com os valores em geral.
um valor que no nem econmico, nem natural, mas que faz com que ns
reajamos, e nos comportemos, de acordo com determinadas normas,
tradies, negociaes, etc. Valor um dos termos pouco refletidos em
psicologia, e em psicologia social de modo especial.
H tambm uma dimenso muito interessante: o que social para
ns? Isso est intrinsecamente ligado ao tipo de sociedade que a gente
imagina que seja o melhor, que seja o bom, que ns defendemos, mesmo
que no tenhamos clareza. Todos ns temos uma concepo de social e
defendemos uma maneira de viver em grupo, que muitas vezes no
pensada e refletida. Muitas vezes, nesse aspecto, dizemos uma coisa e
fazemos outra.
Enfim, a nica coisa que a gente pode ver concretizada, num
paradigma, a dimenso das condutas, dos comportamentos e das relaes.
a partir dessas condutas, comportamentos e relaes, que podemos
visualizar, em parte, qual a concepo de ser humano que ns temos, em
que tica nos fundamentamos e que tipo de social eu pressuponho.
O quadro (1) a seguir nos orientar em nossas discusses:
Concepo de
Ser Humano
1:
Indivduo
2:
Pessoa = relao
3:
Pea da mquina
tica, Valores Liberal capitalista
Comunitrio,
Solidrio
Coletivista
totalitrio
Concepes de
social
Soma de individuais
Dialtico
Relacional
Reificado uma
coisa
Comportamentos,
Relaes
Individualismo
Competitividade
Solidariedade
Cooperao
Massificao
Anonimato
Analisamos cada um desses paradigmas, mostrando como as quatro
dimenses acima se mostram diferentemente em cada um deles.
O paradigma liberal capitalista
O paradigma liberal capitalista v o ser humano como indivduo.
Ateno para esta palavra indivduo, que a gente usa a todo momento. Seria
necessrio limpar esse conceito, e tomar conscincia do que ele realmente
significa.
29
Indivduo, como entendido na filosofia clssica e cuja definio eu
assumo aqui, e que , tambm, o sentido que dado dentro da filosofia que
fundamenta o liberalismo, se define por duas dimenses centrais, como j
vimos na primeira parte. Significa, em primeiro lugar, aquele que um,
singular, nico. Essa a primeira dimenso. A segunda, que ele um, mas
no tem nada a ver com o outro, isto , ele isolado, fechado sobre si
mesmo. Ateno para a segunda dimenso. aqui que est a diferena entre
indivduo e pessoa, como veremos logo adiante.
Que tipo de tica sustenta tal concepo de ser humano? o que
denominamos de tica liberal. O liberalismo, na essncia, tem como
doutrina, como mvel central, como dogma, que o ser humano um e no
tem nada a ver com os outros. Os outros que se virem, cuidem de sua vida. A
expresso popular disso : quem pode mais chora menos; cada um por si,
ningum por todos (o deus por todos, presente na nossa linguagem, no
exatamente o Deus comunidade, sociedade, pensado pela teologia crist,
bblica, pois esse Deus essencialmente trindade, comunho de pessoas que
so puras relaes; , isso sim, o deus ideologizado pelo prprio liberalismo,
que transforma Deus na imagem e semelhana do indivduo egosta e
autocentrado do liberalismo). A tica aqui individualizante e egocentrada,
que busca apenas seu prprio interesse, sem se preocupar com o outro.
O social, nessa concepo, no existe. Existe apenas algum
aglomerado que se constitui atravs da soma de individuais. E o sistema
social que, como a mo para a luva, ou vice versa, se materializou a partir
dele, o que chamamos de capitalismo, o capitalismo liberal, que se
concretizou mais formalmente e se generalizou a partir do sculo dezoito e
dezenove. O lema desse capitalismo, laissez faire, laissez passer,
exatamente a concretizao da filosofia liberal dentro da concepo de ser
humano indivduo.
Que condutas, ou comportamentos, esto aqui presentes? De um lado
o individualismo, o egocentrismo, cada um cuidando do que seu. E quanto
s relaes, a mais central, que a prpria alma do modelo, a
competitividade. Competitividade significa luta, guerra. O dogma do
liberalismo que sem competio no h progresso. Por isso a competio
essencial, um pressuposto metafsico do sistema.
30
Mas ateno que a competio de que falamos aqui, no a
competio do mercado, onde ns colocamos o que temos de melhor, para
que nossos irmos/s sejam servidos e possam escolher o que acharem
melhor. A competitividade aqui aquela que se estabelece entre pessoas.
Tal competitividade necessita a excluso de algum e se transforma num
darwinismo social, com a vitria do mais forte.
O individualismo, nesse contexto, se apresenta na expresso
paradoxal de Farr (1991), como uma representao coletiva: nada que
tenha se tornado to coletivo, do que exatamente esse comportamento
individual. E na mquina liberal em que ns estamos, sempre tem que
haver excludos. E essa competio deve ser de mbito mundial. Dentro da
filosofia liberal, no h espao para colaborao, cooperao e
solidariedade. Vale a lei do mais forte.
O paradigma coletivista-totalitrio
No ngulo oposto, temos um outro paradigma, em que o ser humano
um pedao de um todo. Ele uma pea da mquina. No interessa o ser
humano em si, o que interessa o grupo, a organizao, a instituio, o
partido, o Estado.
A tica desse paradigma a tica totalitria. O que tem valor o todo
o sistema. O especfico, a diferena, no conta aqui. O que embasa isso o
totalitarismo ou coletivismo. Precisamos ser cuidadosos e humildes aqui
pois, se pensarmos bem, todos ns somos um pouco totalitrios. Sempre
que ns temos dificuldade de aceitar e de lidar com o diferente,
demonstramos certos traos de Nazismo e de Fascismo. Por qu? Vejamos
com mais detalhe.
O social presente em tal paradigma um social reificado. o social
durkheimiano, o social to real como uma coisa. Tal viso deu origem
a sistemas totalitrios, como o Nazismo e o Fascismo, que dissolvem todas
as diferenas e tentam unificar a nao. As diferenas so suprimidas.
Como surgiu o Nazismo? Que acontecia com a Alemanha no tempo de
Hitler? O partido Socialista estava crescendo, com perigo de tomar o poder.
A elite se organiza para evitar a perda da hegemonia. S que a elite escolhe,
em geral, uma ideologia para se esconder por detrs. E a ideologia que
escolheram foi, no caso, a da raa pura. Se os alemes se organizassem,
31
todos, (isso importante, unir o povo!), a Alemanha iria mandar em todo o
mundo por ao menos mil anos.
O mesmo fez Mussolini na Itlia, de maneira fantstica. Tambm ali
tinha-se de unir os trabalhadores. Isso ele conseguiu com a Carta del
Lavoro, conseguiu unir a todos, pois assim a Itlia voltaria ao esplendor do
Imprio Romano, simbolizado pelo fascis, o facho. Getlio Vargas, naquela
poca, emprestou a Carta del Lavoro de Mussolini para subordinar o
sindicalismo brasileiro ao poder do Estado. Na Itlia ela teve uma vida
curta, mas aqui ela durou at 1988, quando se re-escreveu a Constituio.
Apenas a partir da ns tivemos um sindicalismo livre.
Que tipo de comportamento vemos aqui? A massificao, o
anonimato, a burocracia, essa burocracia terrvel que mata, que transforma
as pessoas em coisas, onde a ordem, a organizao, esto acima de tudo.
o predomnio da mquina sobre o ser humano.
O paradigma comunitrio-solidrio
Analisamos, at aqui, dois grandes paradigmas que se situam em
pontos extremos. H uma alternativa a isso tudo? E o que pretendo discutir
agora, ao abordar a coluna do centro, onde pretendo fazer um contraponto
s outras duas e tentar, ao mesmo tempo, mostrar que aqui se pode ver um
tipo diferente de ser humano, de tica, de social e de prticas.
O ser humano visto aqui como relao, isto , como pessoa. Eu
reservo o conceito de pessoa para esse paradigma. O conceito de ser
humano pessoa=relao vem do filsofo cartagins, do norte da frica,
Agostinho. Ele distinguiu claramente entre indivduo e pessoa. Indivduo
aquele que um, e no tem nada a ver com os outros. Pessoa aquele que
um, mas s pode ser, se tem outro, necessita de outro para poder ser. isso
que relao. Relao aquilo pelo qual uma coisa no pode ser, sem
outra. Ns somos seres singulares, sim. Agora, a minha subjetividade,
aquilo que me constitui, o mundo todo, so todos os outros.
Marx, na tese sete sobre Feuerbach, diz que o ser humano a soma
total de suas relaes. Ns somos os bilhes de relaes que estabelecemos
no dia a dia.
Alguns usam a palavra sujeito para isso. Um pouco, tenho a
impresso, a concepo de Guattari. Sujeito pode ser um termo interessante.
32
Por qu? Por que sujeito o subjectum, e o subjectum, etimologicamente
o que est por baixo, o fundamento, ou o poste, o suporte onde ns
penduramos, ou amarramos algo. Se eu digo que algum simptico, eu
amarro nesse algum um verbo, e um predicado, simptico. Eu
conceituo a subjetividade nessa dimenso. Distingo entre singularidade e
subjetividade, mas ambas se referem mesma realidade. Singularidade
aquela dimenso do ser humano segundo a qual ele nico, irrepetvel, uno
Acentua-se, ento a dimenso da unicidade. Ele um porque nos milhes
de relaes que estabelece, ele recorta pedacinhos diferentes e forma uma
grande colcha de retalhos com a qual ele constri a sua subjetividade. A
subjetividade, ento, o contedo, so os retalhos que compem seu ser,
conjunto total de suas relaes; so os outros, o mundo. Enfatiza-se, ento, a
dimenso da constituio do ser. Somos, assim, misteriosamente, os outros,
apesar de sermos singulares, porque recortamos diferentemente das relaes.
Agora, o que faz a tica liberal? Ela nega a relao. Exatamente isso.
A tica liberal afirma: eu sou eu, e ponto final; no tenho nada a ver com os
outros. Pode-se perceber claramente como isso, depois, repercute
tremendamente na prtica.
Temos muitas palavras para expressar a dimenso tica desse
paradigma. Nenhuma delas d realmente conta de tudo. Cada uma procurou
ver uma dimenso diferente. Uma delas, por exemplo, solidarismo. O
perigo disso que ela est sendo apropriada at para nome de partido
poltico. Um termo bom foi o criado por Mounier o personalismo.
Deriva do prprio termo pessoa. Um termo interessante o amorismo, de
Teillhard de Chardin. Ele dizia que o mundo foi fecundado pelo divino, por
isso o mundo divino que as relaes que devemos estabelecer com todo
mundo, so relaes de amor entre os seres humanos e deles com as coisas
todas. Um tanto parecido com o fraternismo, ou sororismo de Francisco de
Assis, no qual, tambm todos somos irmos/irms com o mundo: irmo sol,
irm lua, irm gua, irmo lobo, irm morte... So recuperadas aqui at
mesmo as questes referentes ecologia. Isso bem interessante.
Um ltimo termo que tambm , s vezes, empregado para designar
essa dimenso valorativa, comunitarismo e com isso quero entrar j para
discusso de um novo conceito de social e na questo do tipo de sociedade
que, talvez, possa melhor ser expressa pelo conceito de comunidade.
33
A discusso da comunidade um tema de que eu gosto. Qual seria
melhor maneira de viver? Onde as pessoas se realizariam plenamente?
importante aqui resgatar a dimenso comunitria e o termo comunidade.
Comunidade, como entendida aqui, um tipo de vida em sociedade, onde
todos so chamados pelo nome, onde todos so identificados e tm um nome.
Essa , para mim, uma definio muito significativa. Em tal maneira
de viver, todos tm voz, todos tm vez. Ningum apenas um nmero, nem
algum fechado sobre si mesmo, que no tenha nada a ver com os outros.
Os grandes filsofos ticos da atualidade so praticamente unnimes em
afirmar que diante das irracionalidades globais em que viemos, o retorno
comunidade, ao tipo de vida onde h participao de todos, seria uma
maneira de resgatar o ser humano e a vida social.
Os comportamentos e relaes que nascem daqui so de partilha,
solidariedade, colaborao, cooperao. As relaes so igualitrias e
fraternas. A participao se d em nvel simtrico a partir da ao e do
dilogo comunicativos.
Chegamos ao fim dessa segunda parte. O que gostaria de deixar claro
que um paradigma tem, necessariamente, uma dimenso valorativa, tica.
Isso foi negado durante vrios sculos e a modernidade tentou enfatizar que
a cincia e as teorias deveriam ser neutras. Mas a dimenso tica est to
presente num fenmeno, como est a dimenso metafsica (sua viso do que
a realidade) e a dimenso epistemolgica.
3. Ontologias, lgicas, mtodos e tica
Nessa terceira parte arriscamos algumas reflexes sobre uma
discusso que ainda no est de todo amadurecida, mas que merece ser
enfrentada. A lgica fundamenta determinada ontologia, determinada
convico daquilo que constitui o real. Qual a tica subjacente a diferentes
ontologias e a diferentes tipos de lgica? Se a tica se manifesta nas
diferentes teorias, ela pode ser tambm identificada, com alguma reflexo,
nas diferentes lgicas. poderamos identificar trs tipos de lgica: duas
comum ente discutidas e uma terceira no tanto mencionada.
Um primeiro tipo de lgica a que se costuma denominar de lgica
da identidade, ou lgica do absoluto. Os seres so vistos como totalidade,
como unos em si mesmos e totalmente separados um do outro. No h
34
nenhuma relao que os una. A lgica da identidade afirma que um um,
outro outro, que eles nada tem a ver um com o outro e que nada pode ser e
no ser no mesmo tempo.
A tica subjacente a tal lgica a tica do indivduo, tica da
unicidade, da totalidade, de coisas completas em si mesmas. Tal lgica
absolutamente coerente com o primeiro e o terceiro modelo de paradigmas
que vimos na segunda parte dessa discusso. O paradigma individualista e o
paradigma totalitrio tem em comum o fato de serem completos em si
mesmos, seja o um ou seja a totalidade (o conjunto de seres, o sistema, o
grupo). Uma lgica e paradigmas que levem a um fechamento sobre si
mesmos, podem facilmente levar excluso dos outros, no necessidade
de participao, de dilogo, de incluso dos outros. Essa seria uma lgica
individualista, egocentrista.
Um segundo tipo de lgica a que podemos chamar de dialtica. A
dialtica se define por uma ontologia que considera o ser como aberto,
relacional. Na dialtica o outro sempre est presente.
O paradigma comunitrio-social, visto acima, coaduna-se com tal
tipo de lgica. O ser humano visto como pessoa=relao. Mas tal
paradigma no explicita, na verdade, que tipo de relao estabelecida
entre as diferentes pessoas. Apenas diz que h uma implicao do outro na
concepo de ser humano. Esse outro, contudo, pode ser tomado de
diferentes maneiras, ou melhor, como fruto de diferentes relaes, como
veremos a seguir. E a partir da maneira diferente como entendemos o
outro, teremos tipos diferentes de lgicas.
Tentemos aprofundar essa problemtica. O pano de fundo da filosofia
ocidental a filosofia da totalidade, da identidade, como vimos. Como
muito bem diz Oliveira (1996 p.391), a filosofia do Ocidente sempre
pensou o real como totalidade, como um todo fechado em si mesmo que,
enquanto todo, sempre o mesmo. A partir da interioridade do mesmo,
procedem o momentos diferenciais, mas como diferena pensada a partir da
identidade originria, isto , trata-se de algo diferente no mesmo. Na
totalidade fechada impossvel a alteridade. A totalidade solipsista s
conhece um outro que ele mesmo.
Ao percorrer a reflexo filosfica percebemos que essa ontologia da
identidade-totalidade foi confrontada por outra ontologia, como estvamos
35
iniciando a discutir, a ontologia da dialtica, onde o outro
explicitamente institudo. Mas ao aprofundarmos a reflexo, percebemos
que o outro foi tomando diferentes acepes. Dussel (1986, p.173) faz
uma excelente anlise mostrando como o outro foi, e ainda , muitas
vezes, pensado como o outro ontologizado, como o foi pela filosofia grega;
nesse sentido, o outro um ser que , eterno, imutvel em seu constitutivo
ltimo. Esse outro passou a ser visto como algum racionalizado, como um
ente da razo principalmente a partir da filosofia moderna desde Descartes.
Ele tambm foi e ainda , considerado como o outro coisificado
(ontificado), como o pensa a subjetividade moderna europeia e manipulado
pelo cientificismo atual como decorrncia mesma de todas as correntes
filosficas empricas pragmticas que vigem no tempo presente.
Dussel (1977), ao discutir essa questo, estabelece algumas
distines que ajudam a lanar uma luz mais profunda na questo da
ontologia, da lgica e da tica. Sem abandonar a questo da relao, isto ,
da viso do s humano como pessoa=relao, onde um ser implica
necessariamente n outro, ele mostra que esse outro pode estar presente no
mesmo de duas maneiras diversas: como di-ferente e como dis-tinto.
Na primeira, o outro o di-ferente, do latim, dis, que significa
diviso ou negao; e ferre, que significa levar com violncia, arrastar.
Nesse sentido, o diferente o arrastado desde a identidade original e
coloca-se como o oposto; a dialtica monolgica.
Na segunda, o outro o dis-tinto, de dis e tingere, que em latim
significa tingir, pintar; tambm separado, o outro, no contudo arrastado
para fora, mas possuindo sua identidade e estabelecendo com o mesmo
relaes de dilogo, construtivas, de convivncia: a analtica dialgica.
Essa a nova lgica, com a diferena que nesse segundo tipo h a presena
de uma tica respeitosa e no de uma dominao como no outro como
diferente. Nisso consiste, no dizer de Dussel (1977, p.98), toda a
eticidade da existncia.
Em dois trabalhos anteriores procuramos discutir essa problemtica
(Guareschi,1998 Representando a Alteridade e em Campos e Guareschi
Paradigmas em Psicologia Social A perspectiva latino-americana,
2000). Nesse ltimo, argumentamos sobre a emergncia dessa nova
dimenso paradigmtica. Dentre os diversos paradigmas que foram se
36
constituindo como hegemnicos no decorrer da histria do pensamento,
nenhum se deteve para se perguntar sobre a dimenso tica de toda teoria
ou cosmoviso. Discutia-se a dimenso metafsica (ontolgica) e a
dimenso epistemolgica das teorias, mas nunca se aprofundava a dimenso
tica. No seria, talvez, pelo fato de essas teorias e esse pensamento
hegemnico serem produzidos por pensadores e povos que exerciam, na
poca, poder de dominao sobre todos os outros? Esse novo modo de
pensar analtico est sendo gerado a partir dos povos oprimidos, ou vtimas
do holocausto, como no caso de Levinas e Zygmunt Bauman, ou a partir de
continentes mantidos sob dominao, como no caso de Dussel.
Torna-se assim praticamente impossvel discutir a questo da
analtica sem ter presente a questo da tica. Essa a diferena do novo
tipo de lgica, do novo paradigma ontolgico. Os diversos autores tentam
introduzir essa nova dimenso do pensar analtico, ligado tica, que se
coloca entre a identidade do conceito em si e para si de um lado e a ideia
absoluta da totalidade de outro lado. Toda nossa postura implica uma
dimenso tica. E nossa tica vai se diferenciar de acordo com nossa
relao diante do outro. A ontologia da identidade, ou da totalidade,
pensa ou inclui o outro como intranscendente. J a analtica uma
postura, uma lgica que pretende ir mais alm, acima, que vem de um nvel
mais alto (ana significa alm trans) que o mtodo dia-ltico. O
mtodo dia-ltico o caminho que a totalidade realiza em si mesma: dos
entes ao fundamento e do fundamento aos entes. O mtodo analtico parte
do outro como livre, como alm do sistema da totalidade; parte, ento, de
sua palavra, da revelao do outro, que confiando em sua palavra, age,
trabalha, serve, cria. Dussel (1977, p.200-201) mostra o novo da analtica: a
lgica dialtica a expresso dominadora da totalidade desde si mesma; a
passagem da potncia ao ato do mesmo. O mtodo analtico a passagem
ao justo crescimento da totalidade desde o outro, para servi-lo
criativamente. A passagem da totalidade a um novo momento de si mesma
sempre dia-ltica. A verdadeira dialtica parte do dilogo do outro e no
do pensar solitrio consigo mesmo. A verdadeira dia-ltica tem um ponto
de apoio ana-ltico; ao passo que a falsa dialtica simplesmente um
movimento conquistador. O individualismo e o egocentrismo, expresses
lgicas e correlatas da totalidade, tm como ponto de partida o ns-
mesmos. As coisas passam a tomar sentido apenas a partir de ns. Somos
ns que decidimos, ns que dizemos o que bom ou mau, certo ou errado.
37
Concluso
Movi-me atravs de trs pontos bsicos: no primeiro discuti as vrias
teorias que fundamentam a tica e defendi como mais abrangente e
explicativo o entendimento da tica como uma instncia crtica e
propositiva do dever ser com respeito s relaes humanas conseguida
atravs de uma ao comunicativa. No segundo ponto apresentei trs
grandes paradigmas e mostrei a presena, em cada um deles, de uma
dimenso valorativa e tica, alm de uma concepo de ser humano, de
social e de prtica. Finalmente, numa terceira parte, fiz uma incurso um
tanto complexa, tentando mostrar que pode-se entrever um novo paradigma,
uma nova lgica que implica, na sua concepo, a tica. Alm da identidade
e da dialtica de opostos que se digladiam, h uma dialtica analtica, onde
o outro visto numa relao de convivncia e o mesmo se constri a partir
do olhar do outro.
Se a ABRAPSO nos oferece j possibilidades de se pensar esses novos
paradigmas, muito temos de agir ainda para se poder instituir prticas que
concretizem esse pensar. Desafios que nos esperam como pesquisadores,
agentes do social, cidados e cidads de um novo Brasil que se anuncia.
Referncias
ARISTTELES (1985). tica a Nicmacos. In: M. da G. Kury (org),
Braslia: Ed. da Universidade.
CNBB (Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil). (1994). Exigncias
ticas da ordem democrtica. So Paulo: Paulinas.
DOS ANJOS, M. F. (1996). Apresentao. In: M. F. Dos Anjos e J. R.
Lima Lopes (Ed.), tica e Direito: um dilogo. (p.12) Aparecida, So
Paulo: Ed. Santurio.
DUSSEL, E. (1977). Para uma tica da Libertao Latino-Americana: II
Eticidade e Moralidade. So Paulo: Loyola-Unimep.
DUSSEL, E. (1986). tica Comunitria: Liberta o pobre! Petrpolis:
Vozes.
38
FARR, R. (1991). Individualism as a collective representation. In: V.
Aesbicher, J. P. Dechonchy e M. Lipiansky. Idologies et
Reprsentations Sociales. ED.S.: Del Val.
GEUSS, R. (1988) Teoria Crtica Habermas e a Escola de Frankfurt.
Campinas: Papirus.
GUARESCHI, P. (2000) Sinais de um novo paradigma In: R. H. Campos e
P. Guareschi (Orgs) Paradigmas em Psicologia Social A
perspectiva Latino-Americana. (p.207-221) Petrpolis: Vozes.
GUARESCHI, P. (1998) Alteridade e relao: Uma perspectiva crtica. In:
A. Arruda (org.) Representando a Alteridade. (p.149-161) Petrpolis:
Vozes.
GUARESCHI, P. A (1992) Emergncia da conscincia tica. Em: P.
Guareschi e L.C Suzin (Ed.), Conscincia Moral Emergente.
Aparecida, So Paulo: Santurio.
ISRAEL J. (1972). Stipulations and Construction in the Social Sciences.
Em: J. Israel e Tajfelh (Ed.), The Context of Social Psychology.
(p.123-211) Londres: Academic Press.
KOHLBERG, L. (1966) Cognitive-Developmental Analysis of Childrens
Sex-role Concepts and Attitudes. In: E. E. Maccoby (Ed) The
development of sex-differences. Stanford: Standord University Press,
________. (1969). A Cognitive-Developmental Approach to Socialization.
In: D. Goslin, (Ed.) Handbook of Socialization. Chicago: Rand-
McNallly.
LIMA LOPES, J. R. (1996). tica e Direito um panorama s vsperas do
Sculo XXI. In: M. F. dos Anjos e J.R. Lima Lopes. (Ed.) tica e
Direito: um dilogo. Aparecida, SP: Santurio.
OLIVEIRA, M. A. (1996) Reviravolta Lingustico-Pragmtica na filosofia
contempornea. So Paulo, Loyola.
PEGORARO, O. (1996). tica justia. Petrpolis: Vozes.
PIAGET, J. (1932). The Moral Judgment of Child. Glencoe. Ill.: Free Press.
THOMPSON.J. B. (1995). Ideologia e cultura moderna: teoria social
crtica na era dos meios de comunicao de massa. Petrpolis: Vozes.
39
tica e paradigmas: desafios da psicologia social contempornea
Rosane Neves da Silva
1
A criao de uma nova ordem mundial, de um mega-mercado
planetrio conhecido pela expresso globalizao estabelece no apenas
novas coordenadas nas relaes espao-temporais, em funo da
experimentao de novas tecnologias que desestabilizam uma tradicional
noo de lugar e de tempo, mas, sobretudo, produz novos modos de
valorizao da prpria experincia subjetiva em escala planetria. Com o
intuito de promover uma expanso ilimitada do capital, eliminam-se as
fronteiras (ao menos naqueles casos em que os interesses dos pases que
ditam as regras deste novo modelo no venham a ser atingidos) com a
promessa de que assim estaria se produzindo a to esperada emancipao
da humanidade. Na verdade, o termo globalizao mascara todo um
processo de aumento da violncia e da misria inerente nova ordem do
capitalismo mundial e responsvel por sua expanso. Isto significa que a
globalizao, enquanto totalizao planetria do modo de produo
capitalista, afeta no apenas a produo de mercadorias num plano
estritamente econmico, mas, principalmente, a prpria produo de
subjetividade na medida em que promove uma sistemtica precarizao da
experincia subjetiva, j que a grande maioria da populao mundial est
longe de ter acesso e usufruir dos avanos cientficos e tecnolgicos que
caracterizam esta nova ordem mundial.
Todas estas transformaes da sociedade contempornea colocam
vrios desafios para a psicologia social na atualidade. Talvez um dos
principais desafios seja a necessidade de se estar constantemente
reinventando novos modos de produo de conhecimento em funo da
prpria complexidade das questes s quais nos vemos confrontados.
Se consideramos que o objeto da psicologia social so os modos de
produo da experincia subjetiva, ou seja, o modo pelo qual um
determinado conjunto de prticas sociais produz uma certa forma de relao
consigo e com o mundo, podemos dizer que este objeto est em constante
transformao e requer um questionamento permanente no apenas das
1
Professora do Programa de Ps-Graduao em Psicologia Social e Institucional da UFRGS.
40
estratgias de conhecimento, mas, sobretudo, dos valores que norteiam
nossas intervenes. Neste sentido, entendemos que a psicologia social
contempornea tem uma funo eminentemente poltica que passa por
realizar uma ontologia do presente e colocar em questo o que somos e qual
este mundo, este perodo no qual vivemos. a partir desta dimenso
poltica que gostaramos de situar a relao entre tica e paradigmas, que
o tema deste encontro.
Vamos comear pela noo de paradigma. Para dar uma definio
bastante abrangente, podemos dizer que todo paradigma refere-se a uma
determinada estratgia de produo de conhecimento, socialmente
compartilhada, na qual se atualizam: uma dimenso epistemolgica (como
conhecemos), uma dimenso ontolgica (o que isso a ser conhecido), uma
dimenso metodolgica (que ferramentas utilizamos nesta investigao) e
uma dimenso tica (que valores conduzem nossas estratgias de produo
do conhecimento). O paradigma, enquanto estratgia de produo de
conhecimento, tem, portanto, uma funo poltica, pois, ao atualizar estas
diferentes dimenses epistemolgica, ontolgica, metodolgica e tica,
expressa um determinado processo de subjetivao.
Antes de prosseguirmos, importante diferenciarmos os conceitos de
subjetivao e de subjetividade. A subjetivao refere-se ao modo pelo qual
se constituem determinadas formas de relao consigo e com o mundo em
um contexto histrico especfico. Cada formao histrica produz, portanto,
uma experincia subjetiva singular definindo nossos modos de pensar, agir e
sentir. De forma bastante sinttica, tomaremos alguns exemplos para entender
melhor este conceito. Segundo Foucault (1998), na Antiguidade clssica a
subjetivao estava relacionada a um certo tipo de cuidado de si cujo
procedimento no estava voltado para a busca de uma verdade interior ao
sujeito, mas expressava uma relao imediata com o exterior, j que somente
era digno de governar os outros aquele que tivesse um domnio sobre si. A
subjetivao, neste caso, estava relacionada com aquilo que Foucault (1998,
p.16) chama de uma esttica da existncia, no sentido de fazer da vida uma
obra de arte. Na Idade Mdia estas tcnicas de si foram capturadas por um
poder pastoral e transformadas num movimento introspectivo, cuja
finalidade era a purificao dos pecados atravs de uma srie de exerccios
espirituais voltados para dentro de si. Hoje em dia, podemos dizer que os
41
meios de comunicao de massa exercem este poder de captura sobre
nossos modos de existncia, definindo nossas escolhas e nossos gostos.
J o conceito de subjetividade corresponde criao de um
determinado territrio existencial que no nem fixo nem imutvel, mas
em constante processo de produo: estamos sempre construindo novos
territrios e desmanchando aqueles que no do mais conta da nossa
experincia no mundo. Esta processualidade coloca em questo a ideia que
tradicionalmente se tem a subjetividade como algo da ordem de uma
interioridade e de uma suposta natureza humana e nos faz pensar a
subjetividade como essencialmente fabricada e modelada pelo social, ou
seja, fabricada e modelada pelos processos de subjetivao caractersticos
de uma determinada formao histrica.
Segundo Guattari (1986), estes processos de subjetivao e,
consequentemente, de produo de territrios existenciais (produo de
subjetividade) podem oscilar entre dois extremos: ou produzindo uma
relao de alienao onde os valores esto voltados para um registro
individual e narcsico (num culto de si voltado para o prprio corpo, para o
prprio desejo a fim de encontrar dentro do eu a sua prpria razo de ser)
marcando aquilo que este autor chama de subjetivao capitalstico;
2
ou
produzindo uma relao de criao onde os valores esto voltados para a
alteridade (num processo de inveno de novas coordenadas de produo
subjetiva que decidam em favor da afirmao e da expanso da potncia do
outro) marcando o modo como podemos pensar os processos de subjetivao
em uma perspectiva que Guattari (1992) chama de tico-esttica.
Nosso objetivo nesta apresentao mostrar o quanto os processos de
subjetivao expressam determinados valores e que estes valores orientam
nossos modos de existncia e nossas estratgias de produo de
conhecimento. Isso significa que ao falarmos de tica e paradigmas no
estamos querendo estabelecer uma relao artificial entre dois termos
2
O termo capitalstico foi forjado por Flix Guattari nos anos 70 para designar um modo
de subjetivao que no se acha apenas ligado s sociedades ditas capitalistas, mas que
caracteriza tambm as sociedades, at aquele momento, ditas socialistas, bem como as dos
pases do Terceiro Mundo, j que todas elas vivem numa espcie de dependncia e
contradependncia do modelo capitalista. Por isso, do ponto de vista de uma economia
subjetiva, no h diferena entre essas sociedades, pois elas reproduzem um mesmo tipo de
investimento do desejo no campo social.
42
distintos, mas sublinhar a relao de complementaridade e de pressuposio
recproca entre ambos. No temos de um lado a tica e de outro um
conjunto de paradigmas. Temos, isto sim, determinadas estratgias de
produo de conhecimento (paradigmas) que expressam determinados
valores que orientam nossos modos de existncia (tica).
importante assinalar que quando falamos de tica no estamos
utilizando esta expresso no sentido de uma Moral, ou seja, enquanto um
conjunto de regras que prescrevem padres de comportamento em termos
do que certo ou errado. A palavra tica utilizada aqui no sentido de um
thos, ou seja, enquanto forma de habitar o mundo instaurando uma atitude
de crtica permanente de nosso ser histrico e dos valores que conduzem
nossas aes.
E neste sentido que falvamos anteriormente que a relao entre tica
e paradigmas nos remete discusso da prpria funo poltica da
psicologia social contempornea: trata-se de pensar o que somos e quais os
valores que marcam a constituio histrica daquilo que hoje somos. Vimos
que tais valores expressam um determinado modo de subjetivao e
atravessam, inclusive, as prprias estratgias de produo de conhecimento.
Isso significa que os paradigmas no so neutros nem inofensivos: eles so
uma produo como outra qualquer.
A seguir falaremos das concepes e dos valores imanentes a dois
paradigmas distintos o paradigma cientificista tradicional e o novo
paradigma tico-esttico e suas repercusses no campo da Psicologia Social.
O paradigma cientificista tradicional tambm pode ser chamado de
paradigma arborescente (Gallo, 2002). Ele baseado na ideia de rvore,
pois tende a buscar a raiz, a origem ou a filiao de algo, tentando assim
encontrar o lugar da verdade. Tal paradigma prope um sistema de
interpretao capaz de compreender e descrever o mundo, definindo no s
os problemas a serem investigados como os meios de se proceder a esta
investigao. Sua principal caracterstica a fragmentao e a disperso dos
campos de conhecimento atravs de um movimento de hierarquizao e
multiplicao das especialidades.
O modo de conhecer o mundo fundado na diviso (indivduo x
sociedade; sujeito x objeto; homem x natureza) e na busca de uma
regularidade do fenmeno estudado atravs de um processo de purificao
43
tanto dos objetos a serem conhecidos como do prprio sujeito do
conhecimento por meio de um apelo constante neutralidade.
Neste caso, sujeito e objeto so considerados como duas realidades
distintas, naturais e que preexistem ao prprio conhecimento: existe, de
um lado, um sujeito do conhecimento e, de outro, objetos estveis sujeitos a
leis universais. Por este motivo, preciso garantir a regularidade dos
fenmenos estudados atravs de instrumentos fidedignos que apreendam
com exatido aquilo que se quer conhecer.
Os valores que orientam as formas de agir no mundo acabam sendo
escamoteados em nome dessa suposta neutralidade.
Estas dicotomias-sujeito x objeto indivduo x sociedade; homem x
natureza expressam uma ttica de segmentao caracterstica dos
processos de subjetivao das sociedades capitalistas que visam assim
garantir um controle mais efetivo sobre o tecido social em seu conjunto.
no mbito deste paradigma tradicional que a Psicologia vai poder
se constituir no campo das cincias modernas. Se levarmos adiante nossa
indagao, podemos dizer que a prpria expresso psicologia social
atualiza esta dicotomia inerente ao modo de subjetivao capitalstico: ela
pressupe que se aceita a separao entre indivduo e sociedade como dois
registros distintos, dilatando assim cada vez mais a experincia de uma
subjetividade privatizada por meio de uma proliferao da ideia de
indivduo e de uma naturalizao do prprio social. Em funo dessa
separao e inclusive para afirm-la, a maior parte das teorizaes no
campo da psicologia social no cessa de fazer proliferar todo tipo de
mediao entre estes dois registros (o que, em realidade, no faz seno
aumentar a distncia entre eles), construindo assim todo um campo de
conhecimentos a partir de um problema mal colocado, ou seja, a partir
dessa dicotomia que, como podemos constatar, no passa de um artifcio de
um determinado modo de subjetivao. neste sentido que colocamos
anteriormente que o objeto da psicologia social no o estudo da interao
entre indivduo e sociedade, mas o modo como um determinado conjunto
de prticas sociais produz uma certa forma de relao consigo e com o
mundo, ou, dito de outra maneira, a forma pela qual um determinado modo
de subjetivao produz certos territrios existenciais.
44
No incio desta apresentao vimos que as transformaes da
sociedade contempornea colocam vrios desafios para a psicologia social e
que um destes desafios consistia exatamente em propor novas estratgias de
produo do conhecimento. Mas para isso preciso transitar, como diz
Guattari (1992, p.24), de um paradigma cientificista para um paradigma
tico-esttico.
Neste novo paradigma tico-esttico estas estratgias de produo do
conhecimento estaro voltadas para identificar as formas de captura da
subjetividade pelos modos de subjetivao dominantes. Isto se far atravs
de uma crtica permanente aos modos de valorizao subjacentes lgica
capitalista que tende a embaralhar todos os cdigos e a produzir uma
equivalncia generalizada entre todas as coisas.
Este novo paradigma tambm pode ser chamado de rizomtico (Gallo,
2002), pois se encontra organizado a partir da ideia de Rizoma (Deleuze e
Guattari, 1997). Ao contrrio da rvore, o rizoma ramifica-se em mltiplas
direes e cresce de acordo com as conexes que se realizam, passando,
portanto, a ideia de aliana e no a de filiao. Trata-se de uma rede no
hierrquica, que no tem comeo nem fim; o rizoma encontra-se sempre no
meio, entre as coisas, produzindo sempre novos e mltiplos agenciamentos.
Ao invs de propor uma fragmentao dos campos de conhecimento,
este novo paradigma prope um processo de experimentao capaz de criar
novas coordenadas de leitura da realidade, produzindo assim uma ruptura
permanente dos equilbrios estabelecidos e recusando-se a se instalar no
lugar da verdade. Sua principal caracterstica a desconstruo das
hierarquias e das fronteiras que dividem os campos de conhecimento.
Na perspectiva de um paradigma tico-esttico, conhecer inventar
um campo de problematizao a partir de uma desnaturalizao das
dicotomias (indivduo x sociedade; sujeito x objeto; homem x natureza) e de
uma recriao permanente do campo investigado.
Neste caso, sujeito e objeto no so tomados como realidades que
preexistem produo do conhecimento: o que vem antes a relao, pois
ela que constitui os termos. Para tanto, preciso garantir um coeficiente
de transversalidade mximo entre os diferentes nveis e os diferentes
sentidos de uma relao, tornando possvel perceber as armadilhas do
institudo e a naturalizao das prticas sociais dominantes.
45
Nossa ao no mundo orientada por valores de afirmao e
expanso da potncia do outro e visa crtica permanente das formas de
captura e assujeitamento da experincia subjetiva contempornea.
Como vimos anteriormente, neste novo paradigma, a palavra tica no
fica reduzida ideia de Moral, mas est relacionada a um modo de ser e
habitar o mundo. Da mesma forma, a palavra Esttica tambm no tomada
aqui em seu sentido habitual, circunscrita ideia de belo ou reduzida a uma
concepo que considera a Arte como uma mercadoria qualquer,
institucionalizada e reificada. A palavra Esttica utilizada aqui para afirmar
um campo de experimentao da subjetividade onde a Arte tomada como
expresso das formas de resistncia e criao: resistncia s formas de
assujeitamento e dominao a que estamos submetidos e a que muitas vezes
submetemos os outros, e criao permanente de novos modos de existncia.
Esta dimenso tico-esttica refere-se, portanto, aos valores que
constituem nossas aes no mundo (o modo de conduzir-se e de habitar o
mundo) e recriao permanente de nossa prpria existncia como uma
obra de arte.
Ao introduzirmos alguns elementos para pensar a relao entre tica
e paradigmas em uma perspectiva tico-esttica, buscamos problematizar os
desafios da psicologia social na atualidade e contextualizar sua funo
poltica a fim de que nossa prtica contribua para re-singularizar a
experincia subjetiva em cima de novos valores.
Referncias
Deleuze, G. e Guattari, F. (1997). Mil plats capitalismo e esquizofrenia.
Vol. 1. So Paulo, Editora 34.
Foucault, M. (1998). O uso dos prazeres. (8 edio). Rio de Janeiro, Graal.
Gallo, S. (2002). Conocimiento y transversalidad. Site da Internet:
www.bu.edu/wcp/Papers/TKno/TKnoGall.htm
Guattari, F. e Rolnik, S. (1986). Micropoltica: cartografias do desejo.
Petrpolis, Vozes.
Guattari, F. (1992). Caosmose: um novo paradigma esttico. So Paulo,
Editora 34.
46
Reflexes sobre pesquisa em psicologia, mtodo(s) e alguma tica
Andra Vieira Zanella
1
Vou comear essa fala resgatando alguns excertos de uma anedota
que anda circulando nos endereos eletrnicos de quem navega pela
internet, a qual considero preciosa para a discusso que aqui apresento:
A pergunta por que o frango cruzou a estrada?, apresentam-se
diferentes respostas, advindas de interlocutores variados espacial e
temporalmente. Assim respondem:
Professora primria Porque queria chegar do outro lado da
estrada.
Poliana Porque estava feliz.
Plato Porque buscava alcanar o bem.
Aristteles da natureza dos frangos cruzar a estrada.
Nelson Rodrigues Porque viu sua cunhada, uma galinha sedutora,
do outro lado.
Marx O atual estgio das foras produtivas exigia uma nova classe
de frangos, capazes de cruzarem a estrada.
Moiss Uma voz vinda do cu bradou ao frango: Cruza a
estrada! E o frango cruzou a estrada e todos se regozijaram.
Maquiavel O frango cruzou a estrada. A quem importa o por qu?
Estabelecido o fim de cruzar a estrada, irrelevante discutir os meios
que usou para isso.
Darwin Ao longo de grandes perodos de tempo, os frangos tm
sido selecionados naturalmente, de modo que, agora, tm uma
predisposio gentica a cruzarem estradas.
Einstein Se o frango cruzou a estrada ou a estrada se moveu sob o
frango, depende do ponto de vista. Tudo relativo.
1
Professora do Programa de Ps-Graduao em Psicologia da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Doutora em Psicologia da Educao pela Pontifcia Universidade Catlica
de So Paulo (PUCSP).
47
Kant O frango seguiu apenas o imperativo categrico prprio dos
frangos. uma questo de razo prtica.
ACM Estava tentando fugir, mas j tenho um dossi pronto,
comprovando que aquele frango pertence a Jorge Amado. Quem o
pegar vai ter que se ver comigo!
Scrates Tudo o que sei que nada sei.
Dorival Caymmi Eu acho (pausa)... Amlia, vai l ver pra onde
vai esse frango pra mim, minha filha, que o moo aqui t querendo
saber.
Trago essa anedota porque a considero ilustrativa do momento em
que vivemos, mais especificamente no universo acadmico. Uma das
maiores conquistas da contemporaneidade,
2
no que se refere produo de
conhecimentos reconhecidos como cientficos, a relativa dissoluo de
fronteiras entre reas do saber demarcadas por um referencial hegemnico
(e por que no dizer unvoco) de mtodo.
A discusso sobre as diferenas entre as cincias exatas e as cincias
humanas e sociais, a especificidade de seus objetos de estudo e caminhos
possveis para sua investigao, ocupa a arena do debate no circuito
acadmico mundial desde que a idade moderna no que tange produo de
conhecimentos se firmou. O estabelecimento de demarcadores claros do
que pudesse vir a ser reconhecido como cientfico, pautados em uma lgica
nomottico-quantificadora, difundiu-se como imperativo regulador de toda
e qualquer investigao, independente de seus objetos e especificidades.
Em consequncia, assistimos por um longo tempo, nas cincias
humanas e sociais, importao de modelos de investigao prprios das
cincias exatas, os quais, se importantes na medida em que revelam facetas
da realidade investigada, de modo algum esgotam essa mesma realidade e
podem ser utilizados como nicas ferramentas para sua explicao. Trago
2
O conceito de contemporaneidade utilizado aqui como sinnimo do momento em que se
vive, apontado por Sawaia (1997, p.81) como um momento histrico paradoxal, que apela
subjetividade e identidade, ao mesmo tempo em que exclui o sujeito, configurando um
processo social de incluso do homem pela excluso do sujeito, encoberto pelo apelo
subjetividade, identidade e ao intimismo. Isto , resgata-se o sujeito para instrumentaliz-lo
e isol-lo, condenando-o ao assujeitamento (grifos da autora).
48
aqui a fala de um fsico brasileiro, Nelson Fiedler-Ferrara, que alerta para
essa questo:
No me parece correto imaginar-se que se est sendo automaticamente
cientfico ao se utilizarem mtodos e conceitos das cincias exatas
em humanidades. Faze-lo, verdade, pode enriquecer bastante a
anlise que se pretende, revelando novas nuanas e mtodos de
abordagem, mas a pertinncia e consequncias positivas dessa
utilizao devem ser demonstradas (Fiedler-Ferrara, 1998, p.45).
Chama a ateno, o autor, para a transposio direta de pressupostos
de pesquisa entre reas distintas do saber, desconsiderando-se
especificidades e a compreenso de que qualquer fenmeno investigado ,
fundamentalmente, complexo. Desse modo, produzir conhecimentos e
valid-los cientificamente tarefa que pressupe, como ponto de partida, o
reconhecimento tanto do recorte estabelecido como das condies de
investigao enquanto necessrios e delimitadores das respostas produzidas
como as possveis nesse momento histrico, com as ferramentas que se
lanou mo e o olhar escolhido.
No que se refere psicologia, o debate se apresenta de forma intensa
sob polarizaes que at pouco tempo tornavam impensveis qualquer
possibilidade de dilogo. Pesquisa quantitativa x pesquisa qualitativa,
pesquisa experimental x outras pesquisas, pesquisa bsica x pesquisa
aplicada, so algumas das expresses que revelam, mais que diferenas,
intolerncias e discursos que se prestam a exerccios de poder legitimadores
de falsas cises.
Sob a guarda de uma lgica iluminista, redentora, que poderia, via
racionalidade instrumental, produzir e acumular conhecimentos que
levassem libertao das irracionalidades do mito, da religio, da
superstio, libertao do uso arbitrrio do poder, bem como do lado
sombrio da nossa prpria natureza humana (Harvey, 1993, p.23), foram
padronizados e de certa forma universalizados os caminhos para toda e
qualquer investigao em nome da cincia. Essa hegemonia, no entanto,
vm se revelando frgil e insustentvel em um contexto social onde as
intolerncias no encontram guarida. Como isso se revela?
Embora incipiente em algumas coletividades cientficas, mais
visveis em outras, assistimos hoje a uma abertura ao dilogo entre
49
diferentes possibilidades de se conceber desenhos de mtodos de pesquisa,
sendo os resultados advindos dessas diferenas, analisados em razo do
poder explicativo sobre a realidade investigada.
Essa abertura assenta-se fundamentalmente no reconhecimento do
que Vygotsky j anunciava na dcada de 30 do sculo passado, a saber, que:
O objeto e o mtodo de investigao mantm uma relao muito
estreita... A elaborao do problema e do mtodo se desenvolve
conjuntamente, ainda que no de modo paralelo. A busca do mtodo
se converte em uma das tarefas de maior importncia na investigao.
O mtodo, nesse caso, ao mesmo tempo premissa e produto,
ferramenta e resultado da investigao (Vygotsky, 1931/1995, p.47).
Esse pressuposto reafirmado por vrios pesquisadores
contemporneos, como Biasoli-Alves, que chama a ateno, quando da
anlise das estratgias de pesquisa, para o acerto do mtodo frente ao
objeto e aos objetivos do projeto (Biasoli-Alves, 1998, p.136).
Essa premissa fundamental porque anuncia a abertura
diversidade, contrapondo-se ao modelo de cincia caracterstico da
modernidade que ainda brada em muitas instituies pela manuteno de
sua posio hegemnica, modelo esse que se assenta, fundamentalmente, no
pressuposto do mtodo. Assim mesmo: singular, nico, que se aplica a
uma s possibilidade, distinto, excntrico, notvel, bizarro.
Vrios so os sinnimos que o dicionrio nos oferece para o que
nico e, nessa condio, exclui o diverso, o heterogneo, o dissonante, o
plural. Conceber o mtodo em cincia significa obliterar possibilidades
de caminhos mltiplos na produo de conhecimentos, significa assentar as
explicaes possveis sobre a realidade em uma premissa anterior que, de
certo modo, direciona o olhar e cega o pesquisador para a multiplicidade de
cores e luzes que compem o fenmeno investigado.
Necessrio aqui algumas explicaes: certamente o olhar do
pesquisador jamais neutro, posto que sempre direcionado por alguns
pressupostos. Com destaca Minayo,
(...) qualquer estudo da realidade, por mais objetivo que possa
parecer, por mais ingnuo ou simples nas pretenses, tem a
norte-lo um arcabouo terico que informa a escolha do objeto,
todos os passos e resultados tericos e prticos (Minayo, 2000, p.37).
50
No entanto, a vertente at ento hegemnica da pesquisa nega a
existncia desses pressupostos e se fecha, com essa postura, ao
reconhecimento de que seu prprio olhar datado, social, histrico. ,
enfim, uma possibilidade. O que se olha assume, em consequncia,
carter de verdade inexorvel, sendo os dados advindos do caminho nico,
reconhecidos como expresso de toda a realidade, que ali se esgota. Apesar
da crtica, importante destacar que esses estudos apresentam, certo, uma
faceta da realidade, mas com certeza no a esgotam e sequer podem ser
reconhecidas como seu correlato.
Abre-se assim o caminho para o acolhimento de olhares mltiplos
que recobrem facetas, prismas e ngulos diferenciados. Abre-se assim a
possibilidade do reconhecimento da realidade como complexa,
contraditria, mltipla e em permanente transformao, bem como do
pesquisador como constitudo por essa realidade e que sobre ela se debrua,
com foco em um aspecto e lentes que pode lanar mo naquele momento
histrico, com as condies sociais e polticas em que se insere.
Nem tudo, no entanto, so flores. Afinal, o reconhecimento da
diversidade, o acolhimento diferena, caso no se paute em uma reflexo
sobre o que se acolhe, com que objetivo, assentado em qual projeto social e
poltico, pode levar ao extremo de se calar diante da violncia, da barbrie,
do impondervel. Pode, enfim, significar aviltamento vida, ao invs da
sua afirmao.
Entro aqui com a reflexo sobre tica,
3
ou melhor, sobre o necessrio
dilogo a ser entabulado pelos cientistas da relao entre tica e cincia.
Afirmo a necessidade do compromisso dos pesquisadores, independente do
objeto, dos objetivos e do mtodo delineado em suas investigaes, tanto
com o que investigam com os usos que sero feitos desses
conhecimentos quanto com quem investigam.
3
A discusso aqui apresentada parte do pressuposto que tica no se confunde com moral,
como erroneamente as expresses consagradas tica catlica, tica protestante, tica
liberal, tica nazista, tica socialista. Enquanto a moral tem uma base histrica, o
estatuto da tica terico, corresponde a uma generalidade abstrata e formal. A tica estuda
as morais e as moralidades, analisa as escolhas que os agentes fazem em situaes concretas,
verifica se as opes se conformam aos padres sociais (Srour, 1998, p.270).
51
Para discutir sobre o que se investiga, vou resgatar algumas
afirmaes, que considero mpares, feitas por Cludio Moura e Castro
(1978) h mais de duas dcadas. Ao discorrer sobre as vicissitudes do
processo de elaborao de teses e dissertaes acadmicas, o autor destaca
trs critrios fundamentais para a escolha do tema da investigao: esta
deve ser vivel, original e relevante. A viabilidade a primeira condio a
ser considerada quando do desenho de uma pesquisa, pois propostas
espetaculares podem correr o risco de ficar depositadas em fundos de
gavetas ou hard disks caso o autor no tenha condies para realiz-la.
Essas condies podem ser financeiras, de tempo, de acesso aos sujeitos
com os quais se pretende trabalhar ou mesmo de material bibliogrfico para
a empreitada proposta. A originalidade, por sua vez, no decorre
necessariamente do fato do objeto de pesquisa ser indito, mas sim da
capacidade que tm os resultados de nos surpreender. Por fim, ao falar
sobre a relevncia do tema de pesquisa e da necessria articulao com os
demais critrios, o autor nos brinda com uma passagem que, dado ao seu
carter hilrio e ao mesmo tempo deprimente para quem se preocupa com o
impacto social e poltico do que se investiga, compartilho com vocs:
Foi realizada uma pesquisa que verificou que estudantes do sexo
masculino tendem a carregar seus livros junto aos quadris, seguros
por apenas uma das mos. J as mulheres levam-nos com ambas as
mos, cingidos junto ao peito. Original e vivel essa pesquisa pode
ser. Sua relevncia, contudo, est por ser demonstrada. No nos
parece um tema prioritrio na pesquisa educacional brasileira
(Castro, 1978, p.315).
As escolhas dos objetos de pesquisa so, certamente, prerrogativas
dos pesquisadores em sociedades democrticas e assim deve continuar
sendo. No entanto, refletir e discutir sobre o que se investiga, bem como
sobre os resultados divulgados, prerrogativa de todos, posto que interesses
coletivos e financiamento pblico sempre esto envolvidos. O resultado da
cincia , sob esse prisma, ao mesmo tempo privado e coletivo, posto que a
realidade em que se sustenta produzida historicamente por todos, o que
deveria significar o direito de acesso aos resultados de pesquisa e benefcios
da advindos.
O segundo aspecto que destaquei ao apontar a necessria relao entre
tica e cincia diz respeito com quem se pesquisa. Duas questes merecem
52
considerao: falar em com quem demarca, necessariamente, uma postura
epistemolgica que considera a vinculao inexorvel entre o sujeito que
pesquisa e a realidade a ser apreendida. Esta vinculao no , no meu
entender, decorrente de unidades distintas que interagem em determinado
momento, mas sim de mtua constituio, posto que aquilo que se investiga
constitui de certo modo o olhar daquele que sobre ela se debrua.
Outra questo se refere qualidade da relao estabelecida com esses
sujeitos com os quais se trabalha. A Declarao de Helsinque, documento
elaborado pela Associao Mdica Mundial em 1964 que se apresenta
como referncia tica mais importante para a regulamentao de pesquisas
mdicas envolvendo seres humanos (World Medical Association apud
Diniz & Corra, 2001, p.681), o parmetro norteador para as reflexes
que se faz sobre a relao tica e cincia em nvel mundial. Genrica e
sem qualquer pretenso normatizadora, a Declarao de Helsinque destaca,
entre outros aspectos, que os sujeitos investigados sejam plenamente
esclarecidos dos objetivos das pesquisas da qual participam. Mais ainda,
necessrio que consintam, por escrito, em participar (consentimento ps-
informado ou ps-esclarecido). Soma-se a isso o direito inalienvel aos
resultados obtidos, o que pode significar, em caso de pesquisas mdicas,
acesso ao que de mais avanado houver na rea em termos de tratamento.
primeira vista esses quesitos parecem obviedades, porm o
movimento que se faz no sentido de modific-la (vide Diniz & Corra,
2001; Garrafa & Prado, 2001), ou mesmo as poucas referncias a esse
respeito nas normas aos autores das publicaes brasileiras na rea mdica
(Sardenberg, Muller, Pereira, Oliveira, & Hossne, 1999) denotam o quo
distante estamos de sua universalizao. Na esfera da psicologia a questo
parece ainda mais precria, posto que consulta base de dados Scielo, a
partir das palavras chave tica, pesquisa e psicologia, resultou em ausncia,
em silncio que, no meu entender, muito comunica. Estaramos em uma
esfera de saber que prescinde de pressupostos comuns em suas pesquisas,
dispensando assim uma reflexo coletiva sobre tica? mister que todos os
pesquisadores psi so ticos? E que tica essa?
O silncio a esse respeito preocupante. Afinal, se entendemos tica
como fundamento filosfico e valorativo (Guareschi, 1998), no
discutirmos que fundamentos so esses e em que se assentam, pode
significar conivncia com prticas investigativas que aviltam a dignidade
53
humana. Somado ao discurso da diversidade, complexifica ainda mais a
questo, posto que, como afirmado anteriormente, nem toda diferena
merece considerao e reconhecimento.
Uma necessidade imperativa se apresenta, assim, para a consecuo
do dilogo necessrio legitimao de princpios ticos: o reconhecimento
e acolhimento da diversidade na produo de conhecimentos precisa se
fundar em princpios claros que se apresentem como norteadores de todo o
processo, tanto no momento da definio de objetivos, quanto na coleta de
informaes e nas explicaes produzidas.
Junto defesa da clareza desses princpios apresento o que considero
fundamental nas pesquisas psicolgicas e sociais: o compromisso com a
democratizao dos bens materiais e simblicos historicamente produzidos,
o acolhimento diferena, o compromisso com a tica da vida justa
4
.
Afinal, nem tudo que se diz em nome da cincia pode ser aceito, sob o risco
de se contribuir para prticas escusas e interesses privados avessos
emancipao do gnero humano.
Em sntese, poderia dizer que o compromisso social e poltico
relacionado pesquisa precisa ser pensado em trs vertentes:
1. Em relao realidade investigada o compromisso com a
explicitao de seu movimento, sendo os resultados confiveis no
sentido de fiis aos dados coletados e apresentados como o que foi
possvel naquele momento, com os procedimentos e lentes utilizadas,
apresent-la.
2. Em relao aos sujeitos investigados Esto suficientemente
esclarecidos dos objetivos da investigao da qual participam? Que
retorno tero eles sobre o que foi investigado? Podero se beneficiar
desses conhecimentos? Em que medida?
3. Em relao sociedade em geral Que contribuio as reflexes
produzidas apresentam para a transformao da realidade social em
direo a modos de vida mais dignos e justos? Em que medida os
resultados do que investigo contribuem para explicitar a realidade em
seu contraditrio e permanente movimento ao invs de camufl-la?
4
Vide Sawaia, 1997.
54
Afirma-se, assim, que no h cincia neutra e sequer mtodo neutro.
H uma coletividade de pesquisadores que necessariamente precisam
enfrentar a rdua tarefa de encontrar pontos em comum. Esses pontos, por sua
vez, no dependem de normas jurdicas para se afirmarem, embora no caso
brasileiro tenhamos suporte suficiente para colocarmos a discusso em
parmetros minimamente aceitveis. Estou me referindo ao Cdigo de tica
Profissional dos psiclogos, do Conselho Federal de Psicologia, que em seu
Art.30, Das Comunicaes Cientficas e da Divulgao ao Pblico, afirma:
Art.30 Ao Psiclogo, na realizao de seus estudos e pesquisas,
bem como no ensino e treinamento, vedado:
a) desrespeitar a dignidade e a liberdade de pessoas ou grupos
envolvidos em seus trabalhos;
b) promover atividades que envolvam qualquer espcie de risco ou
prejuzo a seres humanos ou sofrimentos desnecessrios para animais;
c) subordinar investigaes a sectarismos que viciem o curso da
pesquisa ou seus resultados;
d) conduzir pesquisas que interfiram na vida dos sujeitos, sem que
estes tenham dado o seu livre consentimento para delas participar e
sem que tenham sido informados de possveis riscos a elas inerentes
(Conselho Federal de Psicologia [CFP], 2002, p.16).
Os princpios reguladores do exerccio profissional do pesquisador
em psicologia coadunam, portanto, com as reflexes que venho tecendo
neste momento. O Pargrafo nico desse mesmo artigo igualmente merece
destaque, posto que vem ao encontro de uma vertente de anlise aqui
apresentada. Diz o seguinte:
Fica resguardado s pessoas envolvidas o direito de ter acesso aos
resultados das pesquisas ou estudos, aps seu encerramento, sempre
que assim o desejarem (CFP, 2002, p.16).
Estamos muito bem servidos, portanto, o que se constata via consulta
regulamentao do exerccio profissional em psicologia aqui exemplificado,
em termos legais, ainda que esse documento no se revista de poder jurdico.
Por sua vez, mesmo que tivesse essa fora, isso no garantiria
legitimidade aos preceitos ali arrolados, posto que somente a difuso e
universalizao desses princpios que garante a sua utilizao como
55
fundamentos de toda e qualquer ao dos profissionais psi, incluindo a os
pesquisadores da rea.
Para caminharmos em direo essa legitimidade, creio que
precisamos superar antagonismos de partida, que nos cegam para o
reconhecimento de aspectos importantes destacados por perspectivas
terico-metodolgicas opostas. Urge que a comunidade cientfica em geral,
e com maior nfase da psicologia, resgate, na esfera da produo de
conhecimentos que se pretendem cientficos, reflexes sobre credibilidade,
fidedignidade, validade, relevncia e rigor, as quais servem de bandeira ao
discurso de sustentao do mtodo. Em contrapartida, os que defendem
os mtodos, os caminhos mltiplos e a polifonia que pode revelar a
realidade enquanto diversa, trazem para o debate, alm de alguns desses
aspectos, a cara reflexo sobre o compromisso social e poltico do
pesquisador e sua responsabilidade frente sociedade que se quer produzir.
Somente o cotejamento e considerao concomitante desses aspectos, em
uma busca coletiva de informaes sobre a realidade que permitam
conhece-la e transform-la, pode nos levar em direo a produo de
conhecimentos em psicologia originais, viveis e relevantes.
Para finalizar, voltemos problemtica do Frango que inaugurou esta
conversa. Inicialmente cabe perguntar a quem interessaria saber porque o
frango cruzou a estrada e (se h) qual a importncia dessa questo. E
original, certamente, mas no exatamente vivel. Afinal, Menandro destaca,
na direo dialgica que apontei acima, a
insuficincia da observao apenas da ao: necessrio ouvir
explicaes (e concepes subjacentes a elas) sobre os porqus
admitidos da ao, da omisso, da recusa, do interesse, da associao,
do afastamento (Menandro, 1998, p.399).
No caso da anedota apresentada, a resposta eticamente fiel
realidade s poderia, nesse sentido, ser dada pelo prprio frango, o que
ainda no possvel na pesquisa cientfica, dada a impossibilidade de fala
do galinceo ou da nossa de entender seus cacarejos.
Apresenta-se, assim, uma dificuldade que no podemos contornar,
pois como trabalhamos na pesquisa social prioritariamente com pessoas, a
resposta que poderamos apresentar seria a proveniente do prprio sujeito
com o qual se busca produzir conhecimentos, no caso o frango.
56
Por sua vez, a fala do sujeito, para ser analisada, precisa de um
referencial interpretativo que, no meu caso, buscaria investigar as
dimenses pblicas e privadas de sua fala. Isso significa analisar como o
sujeito se posiciona perante a situao, suas possibilidades de compreenso
da prpria condio em que se encontra, as relaes dessa sua prtica tanto
com o contexto imediato quanto com a trama de relaes sociais
caractersticas do momento social e histrico em que se vive.
A anlise da resposta sustentar-se-ia, portanto, em informaes do
contexto atual, da histria tanto dessa pessoa em particular quanto da
coletividade em que se insere, com seus antagonismos, jogos de interesses,
alianas e desconfianas, enfim, lutas cotidianas. Lutas essas que devagar
apresentam resultados, como o que assistimos nesse memorvel 27 de
outubro de 2002, dia em que a esperana venceu o medo e pudemos nos
apresentar com coragem e emoo, sem medo de sermos felizes. E a
primeira vez que paro diante da televiso e, com escancarada emoo e
orgulho, escuto atentamente as palavras do nosso presidente Lus Incio
Lula da Silva. No poderia deixar de compartilhar essa alegria com vocs,
posto que significa, para mim, um importante passo rumo concretizao
de uma tica da vida digna, solidria e justa.
Referncias
BIASOLI-ALVES, Z. M. M. (1998). A pesquisa psicolgica anlise de
mtodos e estratgias na construo de um conhecimento que se
pretende cientfico. In G. Romanelli (Ed.), Dilogos metodolgicos
sobre prticas de pesquisa, (pp.135-157). Ribeiro Preto, SP: Legis
Summa.
CASTRO, C. M. (1978). Memrias de um orientador de tese. In E. de O.
Nunes (Ed.), A aventura sociolgica: Objetividade, paixo,
improviso e mtodo na pesquisa social, (pp.307-326). Rio de Janeiro,
RJ: Zahar.
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (2002). Cdigo de tica dos
Psiclogos. Braslia, DF: Autor.
DINIZ, D, & CORRA, M. (2001). Declarao de Helsinki: Relativismo e
vulnerabilidade. Cadernos de Sade Pblica. 17 (3), 679-688.
57
FIEDLER-FERRARA, N. (1998). Cincia, tica e solidariedade. In E. de
A. Carvalho, M. C. de Almeida, N. N. Coelho, N. Fiedler-Ferrara &
E. Morin (Eds.), tica, solidariedade e complexidade, (pp.29-47).
So Paulo, SP: Palas Athena.
GARRAFA, V., & PRADO, M. M. do (2001). Mudanas na Declarao de
Helsinki: Fundamentalismo econmico, imperialismo tico e controle
social. Cadernos de Sade Pblica, 17 (6), 1489-1496.
GUARESCHI, P. A. (1998). tica, justia e direitos humanos. In C. M.
B. Coimbra, H. B. C. Rodrigues, L. Camino, L. O. Palazzo & P.
Guareschi (Eds.), Psicologia, tica e direitos humanos (pp.9-19).
Braslia, DF: Conselho Federal de Psicologia.
HARVEY, D. (1993). A condio ps-moderna: Uma pesquisa sobre as
origens da mudana cultural. So Paulo, SP: Edies Loyola.
MENANDRO, P. R. M. (1998). A curva generosa da compreenso: Temas
em psicologia. In I. Souza, M. F. Q. Freitas & M. M. P. Rodrigues
(Eds.), Psicologia: Reflexes (im)pertinentes (pp.397-417). So
Paulo, SP: Casa do Psiclogo.
MINAYO, M.C.S. (2000). O desafio do conhecimento: Pesquisa
qualitativa em sade (7 ed., pp.19-88). So Paulo, SP: Hucitec; Rio
de Janeiro, RJ: Abrasco.
SARDENBERG, T., MULLER, S. S., PEREIRA, H. R., OLIVEIRA, R. A.
de, & HOSSNE, W. S. (1999). Anlise dos aspectos ticos da
pesquisa em seres humanos contidos nas Instrues aos Autores de
139 revistas cientficas brasileiras. Revista da Associao Mdica
Brasileira, 45 (4), 295-302.
SAWAYA, B. B. (1997). O ofcio da psicologia social luz da ideia
reguladora de sujeito: Da eficcia da ao esttica da existncia. In
A. V. Zanella, M. J. T. Siqueira, L. A. Lulhier, & S. . Molon (Eds.),
Psicologia e prticas sociais (pp.78-91). Porto Alegre, RS:
ABRAPSOSUL.
SROUR, R. H. (1998). A tica nas organizaes. In R. H. Srour. Poder,
cultura e tica nas organizaes (2 ed., pp.269-323). Rio de Janeiro,
RJ: Campus.
58
VYGOTSKY, L. S. (1995). Mtodo de investigacin. In L. S. Vygotsky.
Obras escolhidas III: Problemas del desarollo de la psique (pp.47-
97). Madrid: Visor Distribuciones. (Trabalho original publicado em
1931).
59
Identidade, subjetividade, alteridade e tica
Neuza Maria de Ftima Guareschi
1
Se adotarmos a perspectiva de que a cincia uma prtica social, isto
significa dizer que a cincia uma produo histrica e cultural que est
permanentemente criando e recriando a si prpria. Isto tambm quer dizer
que a cincia no absoluta e, portanto, no possui verdades, mas est
continuamente em busca da compreenso do ser humano nos diferentes
contextos que envolvem suas interaes sociais.
Recentemente, emergiram na rea da Psicologia Social enfoques
terico-metodolgicos que vieram redimensionar a discusso, tanto em
relao a questes epistemolgicas, quanto em relao a aspectos da prxis
da Psicologia Social.
O Construcionismo Social, por exemplo, vem marcar um diferente
paradigma na Psicologia Social por incluir em seu corpo terico e
metodolgico as prticas discursivas e a produo de sentidos no cotidiano,
deve-se dizer que o Construcionismo Social inicia na Psicologia social uma
virada lingustica.
2
O Construcionismo Social
3
concebe tanto o sujeito
quanto o objeto como construes histrico-sociais, estabelece uma crtica
ideia representacionista do conhecimento e da objetividade, problematizando
aspectos sobre a realidade e o sujeito. atravs de questes da linguagem,
que o Construcionismo Social incorpora a perspectiva lingustica do
estruturalismo e a discusso das prticas discursivas e de discurso do ps-
estruturalismo nas anlises sobre a produo de sentidos no cotidiano dentro
da sua abordagem terico-metodolgica. Junto com o Construcionismo e o
campo dos Estudos Culturais e as contribuies do ps-estruturalismo,
principalmente atravs da obra de Foucault, que queremos marcar e
1
Professora Doutora do PPGP Faculdade de Psicologia PUCRS, Coordenadora do
Grupo de Pesquisa: Estudos Culturais, Identidades/Diferenas e Teorias Contemporneas.
2
Ao fazer referncia a Virada Lingustica, cabe aludir o que Veiga-Neto (1996) prope: O
que dizemos sobre as coisas nem so as prprias coisas (como imagina o pensamento
mgico), nem so uma representao das coisas (como imagina o pensamento moderno); ao
falarmos sobre as coisas ns as constitumos.
3
Para melhor compreenso sobre os pressupostos tericos e metodolgicos do
Construcionismo Social consultar o trabalho organizado por Spink, 1999.
60
problematizar os conceitos que so propostos por essa mesa, ou seja,
Identidade, Subjetividade, Alteridade e tica.
Os Estudos Culturais
4
utilizam todos os campos que forem
necessrios para produzir o conhecimento exigido por um projeto
particular. Dentro do ponto de vista terico, um dos conceitos mais
importantes para os Estudos Culturais o de cultura. Hall (1980) afirma que
dois passos esto envolvidos na nova formulao do sentido de cultura,
considerado um dos grandes avanos dos Estudos Culturais. O primeiro
um movimento em direo a uma definio antropolgica de cultura, como
prtica cultural. O segundo vai em direo a uma definio mais histrica
de prtica cultural, questionando o significado antropolgico e sua
universalidade por meio dos conceitos de formao social, relaes de
poder, dominao e regulao, resistncia e luta.
Aqui a cultura entendida tanto como uma forma de vida (ideias,
atitudes, linguagens, prticas, instituies e estruturas de poder), quanto
toda uma gama de prticas culturais (formas, textos, cnones, arquitetura,
mercadorias produzidas em massa). Para Hall (1986) a cultura significa o
terreno real, slido, das prticas, representaes, lnguas e costumes de
qualquer sociedade histrica especfica. Mas tambm as formas
contraditrias de senso comum que se enraizaram na vida popular e que
produzem os modos de vida.
Uma das caractersticas dos Estudos Culturais reconhecer a
capacidade dos sujeitos sociais de manifestar diferentes prticas simblicas.
Sendo que estas esto situadas em um determinado contexto histrico. Para
isto, necessrio descolar a ideia de cultura do mbito da reproduo para
uma posio onde a ao social considerada de suma importncia. Por esta
razo que o objeto preferencial do campo dos Estudos Culturais se concentra
no espao popular, das prticas da vida cotidiana, relacionando-as com as
relaes de poder e posio poltica. Tendo em vista essa maneira de
entender a cultura, no faz mais sentido o vis dicotmico entre alta cultura
(msica clssica, literatura dos grandes nomes, cinema de arte) e baixa
cultura (msica popular, literatura de folhetim, cinema popular, grafites).
4
Outras discusses sobre o campo do conhecimento dos Estudos Culturais e seus enfoques
tericos e metodolgicos podem ser encontradas nos seguintes trabalhos: ESCOSTEGUY,
2000; HALL, 1990; JOHNSON, 1986.
61
O ponto de referncia intelectual a partir do qual os Estudos Culturais
se lanaram foi o de
forar-nos a repensar radicalmente a centralidade da cultura e a
articulao entre os fatores materiais, culturais e simblicos na
anlise social (HALL, 1997, p.32).
Assim, a virada cultural diz respeito mudana de paradigma nas
cincias sociais e humanas, cuja abordagem da anlise social
contempornea passou a ver a cultura como uma condio constitutiva da
vida social e no apenas um elo para o restante do sistema social. Este
movimento teve incio atravs de uma revoluo em relao linguagem,
tambm chamada virada lingustica.
A virada cultural vai ampliar essa viso de linguagem trazida pela
virada Lingustica para a vida social como um todo, enfatizando assim que
a linguagem alm de produzir aquilo que reconhecemos como realidade, ela
tambm vai produzir os sujeitos dessa realidade.
As mudanas trazidas pela globalizao envolvem a interao entre
fatores econmicos e culturais, criando rpidas mudanas sociais, srios
deslocamentos culturais. A questo que se apresenta aqui o quanto essas
mudanas culturais globais abalam a vida local o local no tem mais
uma identidade objetiva fora de sua relao com o global ou seja, uma
tendncia homogeneizao cultural. Essa aparente tendncia pode ter
como resultado um hibridismo, sintetizando elementos de ambas culturas
em jogo, mas no sendo redutveis a nenhuma delas, ou seja, o que
chamamos de sociedades multiculturais.
O que isto tem a ver com o tema proposto?
Esse processo de globalizao implica mudanas de sentidos, de
marcadores identitrios, de vetores de subjetivao, ou seja, uma
multiplicidade que emerge a partir de condies criadas pela centralidade
da cultura ao alcanar e se presentificar na esfera privada. Isto , entra em
nossos lares e modifica o modo como vivemos nele, modifica os sentidos e
as prticas que constituem nossas vidas e os modos como nos conhecemos.
No simplesmente a utilizao de novas palavras para nomear objetos ou
eventos como por exemplo deletar, placa-me, backup. O computador
tornou-se uma categoria conceitual e organizacional bsica que resulta em
uma conscincia de posies de sujeito.
62
As mudanas migratrias e tecnolgicas modificam a relao com as
esferas pblica e privada: o privado tornou-se pblico atravs, por exemplo,
dos programas de realities shows que mostram, mais do que os modos de
viver, os modos como devemos viver. Mais do que experincias de vida,
esses programas impem tambm o modo como devemos experimentar a
prpria vida. Assim, a experincia que se faz de si, que da esfera privada,
torna-se da esfera pblica, ao se publicizar atravs desses programas. Ou
seja, marca os corpos, modifica o modo como nos conhecemos e nos
posiciona como sujeitos. Ao mesmo tempo, os bens pblicos, os bens
naturais, so tomados como bens privados, so privatizados,
estabelecendo no apenas o acesso a eles, mas os modos de acesso a esses.
Assim, a vida pblica torna-se privada e, ao ser privatizada, estabelece
tambm os modos como se vive na esfera pblica. Isso tudo no diz
respeito a uma inverso de valores e sim, criao de novos valores, de
novas prticas de significao, de novas formas de se pensar, de se
reconhecer e de viver.
Poderamos pensar, dessa forma, em uma homogeneizao global,
em um processo de lisura global, de uma obliterao de diferenas, de
criaes, de uma identidade mundial. Esse processo de globalizao, junto
s questes tecnolgicas, mercadolgicas e miditicas, somadas s questes
econmicas e polticas igualmente importantes, nos remete tambm ao
conceito de identidade como fludas ou no fixas, ou seja, que o sujeito
assume diferentes posies.
Essas posies de sujeito, lugares que ocupamos, nos levam a
analisar o conceito de identidade como no podendo ser mais pensada da
forma antiga; uma identidade integral, originria, unificada ou possuidora
de uma essncia. E a subjetividade, como entendida aqui, da mesma
forma, so modos de subjetivao que se produzem a partir de um processo
atravs das prticas de significao inseridas no contexto da cultura.
Essas transformaes no conceito de identidade, dentre outras
questes, nos leva a pensar sobre o descentramento caracterstico do
pensamento do sujeito ps-moderno, que suprime o sujeito transcendental e
o retira do centro dos processos sociais. Segundo Veiga-Neto (2000),
inspirado em Foucault, ao invs das prticas sociais, econmicas, culturais e
polticas derivarem a partir do sujeito, o sujeito que passa a se derivar a
partir dessas prticas.
63
As identidades e os modos de subjetivao so produzidas no interior
dessas prticas que so significadas pelos sujeitos e produzidas em locais
histricos e institucionais especficos. Elas emergem no interior de relaes
especficas de poder e so mais um produto da marca da diferena, do que
um signo de uma unidade idntica. O processo da construo das
identidades est sempre envolvido com a diferena, da relao com aquilo
que no , sempre referido ao outro: sou o que o outro no .
Desta forma, importante atentarmo-nos para esses movimentos que
emergem dos processos de globalizao, uma vez que esses acabam por
mobilizar as diferenas. Isto , no o igual que vai produzir os sentidos,
ser a diferena que o far. O que acontece globalmente so processos
produzidos na articulao das diferenas culturais, das diferentes prticas de
significao que no podem ser analisadas a partir de categorias, de
narrativas supostamente originrias e iniciais, visto que se trata de entre-
lugares. Pode-se colocar esse entre-lugares como um terceiro espao que se
d a partir de um movimento de hibridizao cultural, o qual no se
conceitua por uma sntese entre duas categorias iniciais, mas por um espao
de articulao das diferenas que fornecem o terreno para a elaborao de
estratgias de subjetivao singular ou coletiva que do incio a
novos signos de identidade e, tambm, de espaos inovadores de
colaborao e contestao no ato de definir a prpria ideia de sociedade
(BHABHA, 1998, p.20). Ou seja, so as combinaes e os deslocamentos
de domnios da diferena que vo constituir um territrio de lutas e
negociao de sentidos, nomeado de espao da cultura.
Das lutas por imposies e negociaes de sentidos, nesses espaos
da cultura, nascem s polticas de identidades, movimentos sociais do qual
ocupam-se alguns tericos dos Estudos Culturais. As polticas de
identidades
5
surgem em um cenrio em que se tenta impor a cultura como
categorias universais, como sistemas de significao que pretendem
expressar o humano e os grupos sociais, segundo categorias universais e
naturais pr-estabelecidas, de acordo com critrios ditos como reais, como
materiais, como anteriores experincia que se faziam deles. As polticas
5
Por Polticas de Identidade entende-se os processos dos grupos sociais e culturais de revolta
contra a universalidade dos sentidos, produzida culturalmente pelos sistemas de significao
que pretendem expressar o humano e o social em sua totalidade (GUARESCHI, 1999;
2000).
64
de identidades so organizaes de contestao que no se fazem pelo
igual, mas pela diferena, no so lutas pela imposio da supremacia de
uma identidade, constituem-se justamente na diferena, naquilo que no o
so, no em termos materiais, mas em termos discursivos. Dito de outro
modo, as polticas de identidades mobilizam-se nos espaos de articulao
6
de sentidos, de prticas de significao, produzidas a partir da composio
de determinadas formaes discursivas, nas quais os sujeitos so
posicionados e se reconhecem como sujeitos, no por aquilo que se
identificam, mas por aquilo que identificam como diferena. Mas a
diferena tambm no tomada aqui como categoria universal e natural, a
diferena, assim como as identidades, constituem-se em campos discursivos
histrico e culturalmente contingentes e, portanto, edificaes em
determinados tempo-espao.
As polticas de identidades so produzidas no interior de prticas de
significao, por isso adquirem uma materialidade discursiva real, tornam-
se o real nos espaos de articulao, de hibridizao de sentidos em que est
em jogo uma multiplicidade de categorias referenciais que se fazem a todo
o momento, marcando, instituindo e constituindo novas formas dos grupos
sociais definirem a si prprios e serem definidos pelos outros. No se trata,
portanto, de um processo dialtico no qual dois termos originais e
antagnicos so combinados e sintetizados em um terceiro termo. Pelo
contrrio, referimos que os espaos de articulao, de hibridizao,
envolvem uma polifonia de sentidos que so produzidos quotidianamente e
que implicam no no fortalecimento de uma ou outra identidade, mas na
desestabilizao contnua dos marcadores identitrios pela produo
contnua da diferena.
Portanto, no sero mais somente a famlia, a escola, a religio, a
sexualidade, a raa, a classe social que determinaro os sentidos e, que ao
mesmo tempo, daro a segurana e a estabilidade de supostos referenciais.
A mdia, a cincia, as migraes tambm ocuparo esses lugares e com a
rapidez com que produzem novos sentidos, constituiro permanentemente
6
Para Hall (1996), a teoria da articulao a forma de conexo que pode fazer uma unidade
de dois elementos diferentes, sob certas condies. uma ligao que no necessria,
determinada, absoluta e essencial para todos os tempos. A assim chamada unidade de um
discurso na realidade a articulao de elementos diferentes, distintos que podem ser
articulados de modos diferentes porque no tm necessria pertena (p.115).
65
novas prticas de significao. Ao mesmo tempo em que determinados
grupos sociais visam impor permanentemente prticas de significao
particulares, os movimentos de contestao tambm sero permanentes.
Como o prprio Foucault (1995) j alertava: onde h poder, h
resistncias, mas essas resistncias no so compreendidas como uma
grande recusa, e sim como pontos que emergem em todo o tecido social. As
polticas de identidades so tomadas, dessa forma, como movimentos de
resistncias e produtores de novos sentidos ao no se deixarem inscrever em
determinadas posies de sujeito e, por determinadas posies de sujeito
produzem novas posies, novas prticas de significao.
Como exemplo dessa discusso, o movimento da teoria Queer. Essa
teoria, nas elaboraes que postula em referncia aos estudos na rea da
homossexualidade, no busca uma espcie de marcadores identitrios
universais para uma nova condio de gnero. No procura naturalizar a
homossexualidade, mas sim desnaturalizar as relaes de gnero e os
prprios marcadores identitrios que elegem formas normativas de ser
homem e ser mulher. Longe disso, essa teoria emerge como um construto
terico que poderamos considerar de ps-identitrio, ou seja, para alm de
composies universalizveis do sujeito. Mais do que poliprismtica, a
identidade desvanece em fluidez e instabilidade, promulgando que a
histria do eu um constante reconfigurar-se, um devir.
Estas ideias so corroboradas com as ideias de Bhabha (1998) sobre
os jogos de foras entre e no interior das prticas de significao, atravs de
contestaes e afiliaes produzidos performativamente e que no devem
ser analisadas como reflexos de traos culturais pr-estabelecidos. Neste
caso, a articulao no responsvel por aquilo que somos, mas por aquilo
que nos tornamos performaticamente em funo de uma negociao
complexa que confere autoridade aos hibridismos culturais, que acontecem
em momentos de transformao histrica, que nos posicionam em zonas
fronteirias. O viver nas fronteiras nos torna sempre estrangeiros,
experimentamos uma instabilidade e vulnerabilidade de sentidos ao cruzar
novos territrios e quebrar barreiras. Podemos dizer que as sociedades
atuais no tm um ncleo ou centro que produza identidades fixas, mas uma
pluralidade de centros. Desta forma, os indivduos vivem em diferentes
contextos sociais e esto envolvidos em diferentes significados. Woodward
(2000) fala das mudanas sociais em escala global, porm chama a ateno
66
para essas mudanas mais a nvel local e pessoal, onde essa complexidade
atual exige que assumamos diferentes identidades, que so mltiplas e
podem ser conflitivas. As identidades so diversas e mudam conforme
nossas posies.
Assim, no que diz respeito a identidades, propomos uma
ressignificao desse conceito de no o retomar como um princpio de
substncia e de eternamente igual a si mesmo, tampouco como fruto de uma
determinada essncia naturalmente dada, mas de que a identidade passe a
ser constituda em uma rede discursiva e no em essncias, querendo dizer
com isso, que identidade no se trata de algo do sujeito, uma substncia,
mas como uma fixao em uma determinada posio na linguagem,
constituda a partir da diferena, quer dizer, identidade e diferena so
produtos do discurso, da cultura. Portanto, falamos de posio-de-sujeito,
na qual a identidade expressa-se na forma como nos tornamos algo, ou
algum em uma determinada composio de grupo, etnia, raa, gnero,
nacionalidade, famlia ou profisso.
O termo identidade nesta perspectiva terica s se torna possvel se
pensado em relao diferena, ou seja, identidade e diferena so tidas
relacionalmente, de modo que s apreendemos um a partir do outro. No
possvel falar em alguma positividade do ser, sem relacion-la ao que da
ordem deste no ser. A diferena no o produto da identidade, mas tanto
uma quanto outra so resultantes de um processo (SILVA, 2000). Toda a
identidade, por partir de uma positividade, tendencia-se a naturalizar, no
obstante, a diferena produz um contra-movimento, desestabilizando as
identidades.
Desta forma, o processo de construo das identidades sempre refere
a um outro, ou seja, eu sou algo a partir daquilo que eu no sou, ou eu
no sou o que o outro . Essa diferena estabelecida pelo sujeito, como j
dissemos, pelas Polticas de identidade, que so formas de problematizar as
experincias de vida e de buscar reconhecer a produo de sentidos e,
decorrente disso, a luta pela produo de sentidos que se imponham aos
sentidos hegemnicos. Assim, as polticas de identidades procuram, ento,
compreender a complexidade e as contradies da produo dos estatutos
identitrios e, por conta disso, dos processos de subjetivao.
67
Ou seja, no basta o sujeito inscrever-se em uma rede discursiva,
necessrio tornar essa inscrio uma maneira de constituio de um si, de
um dentro, pelo qual o sujeito se observa e se reconhece como tal. Melhor
dito, no suficiente ser interpelado e se identificar com determinadas
marcas identitrias, preciso dobrar isso sobre si mesmo; subjetivar-se.
Nesse caso, assim como as identidades so o outro no exterior, a
subjetivao esse outro ser experimentado como um outro em si
mesmo, um estranhamento, uma perturbao e uma transformao de
determinados modos de ser.
Para entender isso, foi preciso recorrer a condies histricas que
possibilitaram compreender tanto as identidades quanto os processos de
subjetivaes como modos de problematizar a condio humana. Isso dito
porque os conceitos so entendidos como formaes histricas e culturais
que necessitam de um solo para serem pensados de uma determinada forma
e no de outra.
As questes de cultura, de identidades (e aqui s podendo ser
entendida pela alteridade) e de subjetivao, aqui discutidas, como um
campo de conflitos e lutas, afasta-se da proposio de uma avaliao
epistemolgica de falso e verdadeira para enfatizar uma luta em torno da
imposio e produo de novos sentidos e da construo de significados.
Tal imposio acontece num plano que sumamente significativo para a
Psicologia Social, com repercusses nas intervenes mais variadas.
Desta forma, ao ressaltar a produo de sentidos atravs das
formaes discursivas propostas por Foucault (2000), objetiva-se
determinados modos de ser e de se pensar constitudos culturalmente. Posto
de outra forma, subjetividade no o ser, mas os modos de ser.
Subjetividade, nesta perspectiva, tambm no se trata de algo que diz
respeito ao indivduo, algo da subjetividade do sujeito, no se compe
como uma opinio pessoal, ou uma condio da individualidade. So
modos pelo qual o sujeito se observa e se reconhece como um lugar de
saber e de produo de verdade. Neste sentido, fala-se de processos de
subjetivao por ser um produto cultural, melhor dito, por se fazer
constantemente a partir de interpelaes discursivas, ou seguindo as
palavras de Foucault (1984), que denomina
de subjetivao o processo pelo qual se obtm a constituio de um
sujeito, mais exatamente de uma subjetividade, que evidentemente
68
uma das possibilidades dadas de organizao de uma conscincia de
si (p.137).
Ao colocarmos que a subjetivao uma produo discursiva,
tributria do social, da cultura, entende-se por tal processo a produo de
modos de existncia, que assim como no podem confundir-se com um
sujeito, tambm sequer podem ser reduzidos pessoa, pois uma
individuao particular ou coletiva que caracteriza um acontecimento
(Deleuze, 1992). Isso quer dizer que, a subjetivao trata da formao de si
atravs de procedimentos, empreendimentos, transformaes, na nossa
cultura, no modo como o sujeito faz a experincia de si mesmo em um jogo
de verdades institudas. E, assim como as identidades, os modos de
subjetivao tambm se produzem a partir das relaes que se estabelecem
com o outro.
Gostaria de chamar a ateno, que a meu ver, a questo da tica
dentro desta discusso est posta desde o incio, porque falar em teorias ou
conceitos implica falar em poltica e vice-versa. Em toda forma de entender
o mundo, est implicada uma questo tica, as maneiras de se produzir
conhecimento e o seu uso implicam em questes ticas. Mas, para finalizar,
quero me remeter mais especificamente a questo da tica, exatamente
pelas diferentes maneiras que podemos tomar, nos relacionar, nomear ou
impor condies a esse outro, ou seja, a alteridade. Segundo Duschatzky e
Skliar (2001) o outro pode ser tomado como fonte de todo mal, como
sujeito pleno de um grupo cultural ou como algum a tolerar.
A primeira, o outro como fonte de todo mal, implica em tomar as
identidades como fixas, centradas, homogneas, estveis e implica em uma
lgica de binarismos, ou seja, o que no bom mau; o que no negro
branco; o que no homem mulher. Desta forma o que diferente aos
binrios o que no faz parte da maioria e a maioria homogeneizada,
pertence ao que igual por ser idntica. Dentro dessa lgica, o diferente
passa a ser o depositrio de todos os males ou falhas sociais: a pobreza do
pobre, a violncia do violento, o problema de aprendizagem, a deficincia,
o deficiente, ou seja, a excluso do excludo, de tudo aquilo que no
posto como o igualou a maioria.
A segunda, o outro como sujeito pleno de uma marca cultural, de
acordo com Duschatzky e Skliar (2001), indica a concepo que as
diferenas culturais, a diversidade so absolutas e que as identidades se
69
constroem em nicos referenciais, sejam tnicos, de gnero, de raa, de
classe social entre outros.
A radicalizao desta postura levaria a exagerar a identidade do outro
ou a encerr-la em pura diferena. Desse modo, permaneceriam
invisveis as relaes de poder e conflito e se dissolveriam os laos
de vinculao entre sujeitos e grupos sociais (Duschatzky e Skliar,
2001, p.128).
Portanto, isso nos faz ficarmos atentos ao multiculturalismo, pois este
deve ser sempre criticado ou questionado para que no se restrinja somente
a perspectiva cultural, mas que esteja aberto para perceber outras questes
sobre polticas de identidade e de pensamentos. Assim, evitar de se tornar
mais um discurso hegemnico ou limitado quando se tratar de discutir sobre
as diferenas em suas pluralidades de articulaes, ou seja, o
multiculturalismo conservador abusa da diversidade para encobrir uma
ideologia de assimilao.
No podemos entender o sujeito somente na sua diferena ou colocar
a diferena como limite de sua identidade.
A terceira, o outro como algum a tolerar, implica em no confrontar
a tolerncia ou que ela est isenta de ambiguidades e o medo ao relativismo.
Segundo Duschatzky e Skliar (2001, p.134) podemos reconhecer a
tolerncia de duas formas: a assimilao individual e o reconhecimento do
grupo ou seja:
As culturas no so essncias, identidades fechadas que permanecem
atravs dos tempos, mas so lugares de sentido e de controle que
podem alterar-se e ampliar-se em suas diferentes interaes. Algumas
culturas podem ser excludentes. Desta forma a tolerncia pode
debilitar a capacidade de perceber as diferenas discursivas e
mascarar as desigualdades. (Duschatzky e Skliar, 2001, p.135)
Esses autores ressaltam ainda, que o mesmo referencial terico ressalta
que a tolerncia pode no colocar em questo os modelos de excluso,
tem uma grande familiaridade com a indiferena, corre o risco de se
transformar num pensamento de desmemria e at materializar a
morte do dilogo. (p.136)
Assim a tica, dentro dessa discusso da produo de identidades e
modos de subjetivao a partir da alteridade, pode ser pensada em no
70
tomar o outro como fonte de todo mal que , o que nos impele ao sexismo,
machismo, racismo e homofobia, que o discurso do multiculturalismo corre
o risco de fixar os sujeitos em uma identidade nica e conden-los a no ser
outra coisa seno aquilo que e, por ltimo,
a tolerncia pode nos instalar na indiferena e em um pensamento
frgil diante a compreenso dos sujeitos que o grande trabalho da
Psicologia. (Duschatzky e Skliar, 2001, p.137)
Referncias
BHABHA, H. (1998) O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
DELEUZE, G. (1992) Conversaes. Rio de Janeiro: Ed. 34.
ESCOSTEGUY, A. C. (2000) Estudos Culturais: uma introduo. In: Da
Silva, I. I. (org.) O que , afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte:
Autntica.
FOUCAULT, M. (1995) O sujeito e o poder. In: Dreyfus, H. E. Rabinow,
P. Michel Foucault uma trajetria filosfica: para alm do
estruturalismo e da hermenutica. Rio de Janeiro: Forense
Universitria, p.231-249.
________. (2000) Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense
Universitria.
________. (1984) Psicologia e Doena Mental. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro.
GUARESCHI, N. (1999) Polticas de Identidade: uma breve concepo.
Educao (PUC/RS), Porto Alegre, v. 39, p.7-26.
________. (2000) Polticas de Identidade: novos enfoques e novos desafios
para a Psicologia Social. Psicologia e Sociedade, So Paulo, v. 12,
p.110124.
HALL, S. (1980) Cultural Studies and the Centre: some problematics and
problems. In: Hall, S., Hobson, D., Lowe, A., E Willis, P. Culture,
media, language working papers in cultural studies, 1972-1979.
Londres: Routledge e Centre for Contemporary Cultural
Studies/University of Birmingham.
71
________. (1986) Gramscis relevance for the study of race and ethnicity.
Journal of Communication Inquiry, 10 (2), p.5-27.
________. (1996) The problem of ideology: marxism without guarantees.
In: David, M E Chen, K.H. Stuart Hall: critical dialogues.
Routledge: London and New York, 1996.
________. (1997) A centralidade da cultura: notas sobre as revolues do
nosso tempo. Educao & Realidade. Porto Alegre:
UFRGS/FACED, v.22, n.2, jul/dez, p.5-46.
JOHNSON, R. (1986) The story so far: And further transformations. In.
D. Punter (org.). Introduction to Contemporary Cultural Studies.
Londres, Longman.
SPINK, M. J. (Org.) (1999) Prticas discursiva e produo de sentidos no
cotidiano. So Paulo: Cortez.
SILVA, Thomaz (org.). (2000) Identidade e diferena: a perspectiva dos
Estudos Culturais. Petrpolis: Vozes.
VEIGA-NETO, A. (2000) Michel Foucault e os Estudos Culturais. In:
Costa, M. Estudos Culturais em educao: mdia, arquitetura,
brinquedo, biologia, literatura, cinema... Porto Alegre: Ed.
Universidade/UFRGS, p.37-69.
________. (1996) Olhares... In: Costa, M. V. (org.) Caminhos
Investigativos. Porto Alegre: Editora Mediao.
WOODWARD, K. (2000) Identidade e diferena: uma introduo terica e
conceitual. In: Silva, Thomaz (org.). Identidade e diferena: a
perspectiva dos Estudos Culturais. Petrpolis: Vozes.
72
Da subjetividade sob sofrimento narcsico numa cultura da banalidade
do mal: abordagem tico-poltica do sofrimento humano
Angela Maria Pires Caniato
1
Mi amor es para mi algo muy precioso, que no tengo derecho a
derrochar insensatamente. Me impone obligaciones que debo estar
dispuesto a cumplir con sacrificios. Si amo a alguien, es preciso que
ste lo merezca por cualquier titulo. (...) Merecera mi amor si se me
asemejara en aspectos importantes, a punto tal que pudiera amar en l
a mi mismo; lo merecera si fuera ms perfecto de lo que yo soy, en
tal medida que pudiera amar en l al ideal de mi persona; debera
amarlo si fuera el hijo de mi amigo, pues el dolor de ste, si algn
malle sucediera, tambin seria mi dolor, yo tendra que compartirlo.
En cambio, si me fuera extrao y se no me atrajese ninguno de sus
propios valores, ninguno importancia que hubiera adquirido para mi
vida afectiva, entonces me seria muy difcil amarlo. Hasta seria
injusto si lo amara, pues los mos aprecian mi amor como una
demostracin de preferencia, y les hara injusticia si los equiparase
com un extrao (Freud, 1981, p.3044).
As reflexes aqui enunciadas podero se entendidas como o caminhar
de preocupaes clnicas no processo de construo das subjetividades
enquanto atravessadas pelas vicissitudes do viver em determinada ordem
social e sob cuja gide se organiza a produo do conhecimento.
Quando se constata que vem sendo mantida a fragmentao da teoria
e da prtica psicolgicas em reas distintas entre si no decorrer da
construo da histria da Psicologia no Brasil, quando se institucionaliza
esta privatizao-priso do conhecimento psi e quando esta
compartimentalizao se oficializa em especialidades profissionais, eu me
identifico entre aqueles poucos ditos psiclogos clnicos que vem tentando
pensar contextualmente as questes da subjetividade a partir de uma
compreenso freudomarxista do homem como ser eminentemente social.
O objeto de estudo neste texto o sofrimento humano ser
abordado a partir da compreenso de Freud em El Malestar en La Cultura
(1981), identificando na contemporaneidade algumas das mazelas vividas
1
Professora da Universidade Estadual do Maring-PR
73
pelos sujeitos em suas relaes com a cultura. A cultura aqui examinada a
partir de expresses de certas formas de ordenao social sob as quais as
subjetividades esto vulnerabilizadas, essencialmente, constituindo-se em
expresses mais ou menos sutis de violncia social, cujos estragos nos
homens se manifestam quando esta violncia internalizada pelos sujeitos
(sentimento inconsciente de culpabilizao) e como tal, passam a gerir as
formas de relaes entre os indivduos. Por outro lado, buscaremos em
Theodor Adorno (1985), em seu conceito de indstria cultural, a mediao
entre a subjetividade e a cultura para penetrando no mundo interno dos
sujeitos detectar os processo subjetivos desencadeados pela internalizao
das ideologias societrias, de carter essencialmente violentador, tendo em
vista suas funes de ordenar e manter um status quo autoritrio.
Este estudo constitui-se num aprofundamento na compreenso da
subjetividade sob violncia social que venho desenvolvendo desde minha
tese de doutorado A histria negada. Violncia e cidadania sob um
enfoque psicopoltico (1995) na qual meus sujeitos foram ex-presos
polticos da Ditadura Militar de 1964. O tema da violncia social
conduzente ao sofrimento humano vem sendo objeto de pesquisa em
projetos de iniciao cientfica (PIBIC/CNPq), tais como expresso no artigo
intitulado Matrizes psicossociais do sofrimento humano na
contemporaneidade (2002), que foi produzido por uma de minhas
orientandas, acadmica de Psicologia, Michele Aparecida de Castro e no de
outras orientandas, a tambm acadmica Laura Hauser e a doutoranda
Regina Perez Christofolli Abeche apresentado no III Encontro
Latinoamericano dos Estados Gerais da Psicanlise que realizou-se em
Buenos Aires em novembro de 2002: hora do espetculo da
perversidade: o aprisionamento da subjetividade dentro do reality shows.
Espero vir a ser evidenciada, nas reflexes que se seguem, a tenso
dialtica entre a subjetividade e a cultura e ir, de forma despretensiosa,
ficando esclarecida que a abordagem da subjetividade aqui examinada,
est respaldada nos conceitos psicanalticos de identificaes projetiva e
introjetiva, assim como na compreenso freudiana do sentimento de
culpabilizao inconsciente por ingerncia da violncia social
internalizada. Espero estar deixando desqualificada qualquer pretenso
dogmtica e/ou de m f de atribuio de pura imanncia s injunes
necessariamente presentes, do instinto de morte que aqui no sero
74
tratadas de forma naturalizada e descontextualizada (Freud, S., El
Malestar de La Cultura, 1981).
O caminhar pela dialtica subjetividade-cultura na apreenso da
violncia social internalizada
Pretendo, ainda, neste processo de compreenso do sofrimento/
felicidade humanos estar conseguindo aproveitar os ensinamentos de um
nmero cada vez maior de psicanalistas, que refletem a partir da perspectiva
relacional e social dos seres humanos. Agora reporto-me a Ren Kas (1991):
Freud ao deslocar com acerto o acento sobre a fantasia nunca
abandonou porm, a ideia da historicidade dos acontecimentos e seu
destino na vida psquica. (...) [Muito ao contrrio, a omisso da
histria pelos psicanalistas conduz a um] enfoque que levar o
analista a se tornar cmplice de um segundo assassinato ao trazer
sobre a cena de fantasia a cena da histria, sem identificar
corretamente a matriz psquica e/ou social da violncia (p.140-141).
A minha insero na psicopoltica da Teoria Crtica de Theodor
Adorno vem sustentando o esforo e a tenacidade para romper esta ciso do
e no homem por entend-lo como intrinsecamente uno. Minhas indagaes,
preocupaes, sistematizaes tericas ho de ser entendidas sem esquecer
que sou formada em Psicologia. Desde a graduao venho recebendo
formao psicanaltica que vem sofrendo rupturas importantes e
reorganizaes significativas a partir no s da pratica clnica e acadmica
como tambm por estar atenta e receptiva ao que a minha vivncia
cotidiana vem me permitindo ter acesso, antepondo-se dvidas que me
exigem prontido e reflexo discriminatrias. Preocupo-me, portanto, com a
compreenso da subjetividade na busca das vivncias internas dos sujeitos e
no de uma simples explicao racional de suas vidas. Se h uma
racionalidade a ser buscada no plano subjetivo dos indivduos no , com
certeza, a racionalidade dos atos conscientes e voluntrios, ou melhor,
daqueles da premeditao das aes. Estou buscando aquelas aes que,
mesmo partindo dos sujeitos, esto determinadas no s por atos
deliberados da conscincia, mas que so passveis de motivao da ordem
inconsciente e que sofrem interferncia das ideologias societrias
irracionais, dos hbitos e costumes culturais de uma sociedade autoritria,
violenta, excludente e injusta.
75
Como diz Iray Carone (1991):
A Psicologia Poltica partiu da premissa segundo a qual subjetividade
e a sociedade enquanto polaridades histricas se remetem
reciprocamente. Abstrair uma polaridade da outra, portanto, no
atingir a compreenso do processo poltico na sua totalidade,
porquanto o sujeito e o objeto so mediados reciprocamente. Na
medida em que a tenso dialtica for mantida na anlise dos fatos e
processos polticos, no haver riscos de psicologiz-los ou de
objetiv-los pelas categorias econmicas (p.113).
O conceito de indstria cultural de Adorno (1985) e a reviso da
Psicanlise feita por ele e alguns frankfurtianos na obra Teoria Critica Del
Sujeito... (1986) me ensinaram que
a ideologia alm de ser um processo formador de conscincia e no
apenas instalado nela, opera no nvel do inconsciente, no sentido
forte do termo: ela no apenas oculta dados da realidade, mas os
reprime, deixando-os sempre prontos a retomar conscincia, ainda
que de novo sob formas ideolgicas. Nessas condies, o
desenvolvimento da conscincia pelo contato reflexivo com a
realidade um processo doloroso, como a prpria civilizao na
concepo freudiana. Trata-se de um processo difcil de ser
suportado por pessoas cuja estrutura de personalidade foi moldada
para reproduzir a heteronomia e para fugir do esforo de defrontar-se
com a diferena e com o novo (Cohn, apud Caniato, 1995, 253).
Situando um pouco mais as enunciaes acima, reporto-me aos
ensinamentos de Iray Carone (1991) para afirmar que
as ideologias so determinadas societariamente mas os sistemas
ideolgicos do sujeito (opinies, atitudes e valores) so organizados
por motivaes irracionais, cuja organizao, por sua vez, so
estruturas psquicas, mais ou menos estveis. Uma coisa a ideologia
enquanto fenmeno social e outra, a sua internalizao e fixao na
estrutura de personalidade do sujeito. As ditas opes ideolgicas
do sujeito tm razes que a prpria razo desconhece (p.115).
Por outro lado, entendo que a especificidade do existir humano est
orientada para a tarefa histrica na qual sua prxis carrega o compromisso-
dever de construir sua vida em sociedade buscando a felicidade individual e
coletiva. sua misso ser sujeito e forjar a proteo e o amparo para si e
para os outros semelhantes por meio de instituies que lhe permitam o
76
acolhimento de si e dos outros diferentes dele, evitando, no que lhe for
possvel, o sofrimento e o adoecer psicossocial (Freud, El Malestar en La
Cultura, 1981).
No h dvida que esta perspectiva de trabalho reflete princpios
ticos utpicos por que o desenvolvimento histrico das relaes entre os
homens aponta para a intensificao da violncia social (Bauman, 1998) e
para o desenraizamento dos homens de sua comunidade humana (Arendt,
1978). As cincias e, em especial a Psicologia, no puderam cumprir a
promessa de conduzir o homem para a felicidade (Sawaia, 1995).
O culto imanncia psquica viso de avestruz (Caniato,
1999) prevalece na teorizao e prtica da Psicologia Clnica, impedindo
aos profissionais de poderem cooperar com seus clientes na apreenso de
condies reais de vida como disruptivas e perversas, consequentemente,
mantendo-os paralisados e impotentes para aes defensivas eficientes e/ou
transformadoras das expresses de desamparo, da indigncia e da opresso
mutiladora a que cada um e todos esto expostos.
No aqui o momento de aprofundar na anlise desta matriz
epistemolgica mas o de constatar que, alm do intimismo psquico e seus
desdobramentos no isolacionismo, na negao da alteridade e na
impossibilidade de troca entre indivduos diferentes (Mendolowics, 2001),
tal perspectiva est iluminada e atravessada por teorizaes acumuladas
pelas diferentes reas na produo psi (Figueiredo, 1995) que vem
gerando prticas que desembocam em srias implicaes de natureza tico-
poltica muitas j identificadas pela Psicologia Poltica e por pensadores na
Psicanlise (Vianna, 1994). Certamente, as intervenes embebidas em
teorizaes que negligenciam na identificao e anlise dos determinantes
disruptivos de natureza social na estruturao das subjetividades (Adorno,
1986a; Guinsberg, 2001) vem ratificando o agravamento das condies
concretas do viver humano sem sequer ser identificada a exigncia de
integridade psicossocial para que os homens exeram sua condio de
sujeitos histricos e efetivem as mudanas nas instituies culturais e na
ordenao social que viabilizem a preservao da vida humana (Mariotti,
2000). Isto porque na contemporaneidade, no h dvidas que o capital o
grande Senhor da sociedade (Carone, 1991).
77
Apenas para servir de fundamento s assertivas apontadas
anteriormente, pode-se nomear a forma por meio do qual a contribuio
ingnua e/ou intencional de psiclogos vem sendo apropriada e posta a
servio de uma certa cultura de massa tornada palco de relaes sociais
opressoras e excludentes na sociedade globalizada na contemporaneidade
(Matin & Schumann, 1999). Respaldada no apogeu da fetichizao do
consumo de massa que no mede esforos na malversao da tecnologia
(Sennett, 2001), reiteradamente vem se promovendo a desvalorizao de
vida humana, justificada pelo fatalismo alienante e alienador atribudo aos
povos oprimidos, conforme nos alerta Martn Bar (1987 e 1989).
Sob esse pano de fundo inexiste qualquer pudor no uso da cincia
psicolgica colocada a servio da culpabilizao e criminilizao de
indivduos, de grupos e at povos (Dejours, 2000; Caniato, 2000) para
assim justificar e legitimar o extermnio de grande parte da humanidade,
empurrada para a excluso e para a misria (Bauman, 1999) e/ou destruda
por espetculos esplendorosos e respandecentes de bombas, msseis e
outros artefatos blicos (Chomsky, 2002). Desavergonhadamente e sob a
gide de uma moralidade tcnica (Bauman, 1998) a mdia acompanha,
enaltece e legitima tais aes sob o manto de uma suposta prevalncia do
bem sobre o mal. Joga os pares numa carnificina fratricida sob a indiferena
e o consentimento de muitos com a barbrie que se expraia para alm da
tela miditica, consubstanciando-se em valores que passam a ordenar a vida
entre os homens, porm tidas como expresso naturalizada para uma
normatizao perversa da convivncia social.
Tais aes beligerantes j no causam mais comoo ou indignao e,
sim, indiferena tanto aos ofensores como aos ofendidos. Porm, mesmo
assim banalizadas, no deixam de disseminar o horror, mesmo que de forma
inconsciente, nas relaes entre homens quando se implanta no mago da
subjetividade dos sujeitos assim tornados cmplices de tais aes disruptivas.
O holocausto e a barbrie persistem sob formas mais invisveis da
violncia (Dejours, 1999) incorporando-se em prticas sociais veladas de
crueldade cultura da mortificao (Ulloa, 2001a) da qual no vem
escapando as formas de atuao das organizaes sindicais e de grupos que
se dizem representantes de certa esquerda revolucionria, conforme vrios
autores e, entre eles Frei Betto (2002) nos ajudam a entender. Para terminar
este pargrafo, pleno de brutalidades, vamos nos aliviar na poesia e escutar
78
o que nos diz o psicanalista Ulloa (2001b): La crueldad suele generarse a
partir del fracaso de otro dispositivo, tambin cultural, el de la ternura (p.1).
Na era da avareza (Mariotti, 2000), a dicotomizao dos homens
entre aqueles que so portadores do bem e os outros que atemorizam por
serem detentores do mal (terroristas) ganha dimenses mundiais e encobre a
ganncia pelo dinheiro tornado fetiche para encontrar e justificar atos
blicos e estes, sim, dos verdadeiros terroristas, legitimados em nome da
defesa e da proteo da humanidade (Chomsky, 2002). Por outro lado, a
complacncia coletiva e a indiferena de indivduos e grupos diante desta
perversa crueldade, que atravessa as relaes entre os homens, apoia-se na
apatia de todos que, como se sabe, est embebida no dio que se alastra
sorrateiramente por todo o tecido social. Este processo relacional s se vem
tornando possvel porque sustentado na/pela banalizao do mal (Arendt,
2000). Acrescente-se a esta forma de valorao social da violncia a
permisso para destruir, sem culpa, que facilitada e ampliada pela
distncia permitida pela tecnologia. Os atores sociais ficam isentos da
responsabilidade por atos de violncia e at mortais cometidos por eles
porque no participam diretamente dos seus efeitos. At que as brigas de
gangs pela Internet desemboquem nos espaos urbanos, enquanto no
ocorrem os confrontos diretos, agressores e agredidos permanecem
tranquilamente por detrs das telas dos computadores. Enquanto alguns
poucos no chegam nos campos de batalha para fincar a bandeira da vitria,
as mortes ocorrem aos milhares nos espaos geogrficos selecionados para
detonar artefatos blicos com uma simples compresso de uma tecla que,
com perfeita preciso e acuidade aciona mirades de msseis e bombas. Os
tratados internacionais para proteo de civis quando determinado Estado
entra em guerra vem sendo desrespeitados em nome de erro tcnico. Esta
facilitao tcnica na ordenao social para ampliar/difundir a violncia e a
barbrie sem a culpa individual e/ou social, Bauman (1998) chama de
moralidade tcnica. A vida em sociedade cada vez mais est ordenada pelas
regras abstratas e hierrquicas da burocracia na qual se dissolve e esvazia a
atribuio de autoridade que, tornada impalpvel e no-individualizada,
constri a impunidade como alicerce distributivo de privilgio e sanes
(Bauman, 1998; Caniato, 1999).
O espetculo da perversidade no qual se constri o sofrimento pelo
aprisionamento da subjetividade (Abeche et al., 2002) no termina na mdia
79
e h de ser analisado na inverso ideolgica que banaliza a violncia e torna
sagrado o consumo, mas que para tal, instala a vigilncia e o confinamento
de todos e entre todos, indiscriminadamente controlados e punidos. A
lgica amigo/inimigo se instaura sob a desconfiana que todos so forados
a nela viver para estratgica e sedutoramente entrar no palco para exibir-
se sob glamour e deixar-se esvaziar de tudo o que seu, priori
contaminado pela suspeio. Esta perversa inverso ideolgica destri a
vida coletiva solidria que substituda pela complacncia malignidade,
atribuda a certos indivduos, grupos e/ou povos. Parece no haver mais um
osis de refgio a no ser o voltar-se para o foro ntimo que j morada
desta brutal violncia internalizada. impressionante como diferentes
arranjos destas atribuies sociais de periculosidade so incorporadas pelos
indivduos (Coimbra, 2001), no para serem usadas em reaes defensivas
de si e de seus pares diante da opresso e violncia sociais vividas. Tais
atribuies incorporam-se e substituem as suas identidades originais que
sucumbem. Os sujeitos perdem a capacidade de identificar as reais fontes
de perigo, de ameaa e violncia sociais quando comeam a se digladiar
entre seus pares. No conseguem sustentar certa indignao que os pudesse
conduzir a repudiar e rechaar tais atribuies e sem se deixarem abater
pelas maledicncias que lhe so atribudas, unir-se aos iguais em aes
coletivas de preservao psicossocial. No conseguem colocar as suas
agressividades a servio da proteo de suas vidas e sucumbem na apatia e
conformismo na/pela violncia social internalizada (Freud El Malestar en
La Cultura, 1981). A agressividade passvel de ser colocada a servio do
fortalecimento egoico e para a preservao da vida individual e coletiva,
sucumbe sobre a mais-represso-social, que faz retornar para a
subjetividade (ser reintrojetada) a corroso de uma culpa auto-punitiva
condizente ao enfraquecimento de toda a estrutura desejante, afetiva e
cognitiva dos sujeitos , carregada de acusaes e responsabilizaes
individualizantes com relao a todos os descaminhos culturais que, de fato,
tem sua matriz na prpria ordenao tico-poltica da sociedade
contempornea. Sob o sentimento de culpabilizao (Freud, 1981) se
esconde a origem social da violncia contra o humano dos homens (Caniato
& Castro, 2002). Necessariamente, so os vnculos sadomasoquistas os que
so estimulados e aceitos: dedique-se e acate tudo daquele que lhe ofende e
cruel com voc! No se processando a efetiva identificao do verdadeiro
inimigo agressor, a cidadania sucumbe sob estas perverses autoritrias.
80
Este processo relacional nos faz lembrar o conceito de identificao com o
agressor (Freud, 1978), estratgia de sobrevivncia bastante frequente em
pessoas sob tortura em que a ameaa vida sempre iminente.
A perversidade embutida na internalizao destas atribuies sociais
de malignidade (violncia social internalizada) so difusas e antagnicas em
especial quando se tornam inoperantes as funes egoicas de discriminao
do real inimigo opressor. Revertida e deslocada para o mundo interno e
inconsciente dos indivduos, tais representaes ideologicamente pervertidas,
embebem a vida a vida psquica dos sujeitos, passam a administrar seus
desejos, seus sentimentos, seus pensamentos e suas aes nos moldes a
torn-los cooperadores/cmplices da crueldade social que os atormentam. O
potencial destrutivo desta violncia social internalizada, mantido sob
represso, pode assumir caminhos opostos. Um deles a externalizao em
atos catrticos de vandalismo individual e/ou de pequenos grupos que,
apenas, exprimem a vingana pelas violncias vividas, mas trazem um
alvio temporrio e uma iluso de vitria contra o opressor porque, tambm,
apenas vem a confirmar e legitimar as atribuies de periculosidade
anteriormente imputadas a tais indivduos, para assim lan-los nas malhas
do aparato policial. O pior, ainda, ficam justificadas a aplicao de
diferentes formas de coero social, mais ou menos ostensiva contra estes
indivduos (Caniato et al., 2003). Outra expresso desta violncia reprimida
aparece nos indivduos que so conduzidos a suportar, a aguentar e
silenciar, as formas mais vis de sofrimento, sendo justificadas a indiferena
dor em nome de serem tais indivduos detentores de capacidades humanas
superiores (Adorno, 1986a) e/ou disfarados como exigncias necessrias
na conquista da fama e do sucesso (Abeche et al., 2002). Mas tais
violncias corrosivas no terminam no mbito da intimidade subjetiva
neste prazer em lamber as feridas e, sim, tais atrocidades penetram nos
vnculos interpessoais nos moldes de que
aquele que duro contra si mesmo adquire o direito de s-la contra
os demais e se vinga da dor que no teve a liberdade de demonstrar,
que precisou reprimir. Esse mecanismo deve ser conscientizado, da
mesma forma como deve ser fomentada uma educao que no mais
premie a dor e a capacidade de suport-la (Adorno, 1986a, p.39).
No exagero pensar com Adorno (1985) j que pode facilmente ser
constado por uma observao, apenas, um pouco crtica, que na sociedade
81
de consumo de massa as subjetividades vem sendo produzidas em srie
(padronizao), inexistindo o propalado indivduo-rei-soberano, presente
apenas no discurso enganoso do individualismo ou, com diz Freud (1981),
esvaziado dos elementos vitais de seu mundo interno, projetado na
onipotncia/impotncia de um deus como prtese (p.3034). De fato, h
uma impossibilidade, intencionalmente produzida, para que cada um no
possa se tornar um ser-singular (pseudo individuao). Sob a
destrutividade perversa e impositiva so forjados os modelos indentificatrios
que encarnam os valores sociais exigidos para a sustentao do status quo.
Plenas de significados e sob glamour (seduo) tais representaes
ideologizadas so internalizadas e penetram na entranhas do mundo interno
do sujeitos para esvaziar o que cada um possa ter de peculiar e singular.
Para Adorno (1986c), sob manipulaes violentadoras da indstria cultural,
so destitudos o desejar, o sentir e o pensar prprios de cada um para
apenas deixar em todos uma mscara morturia (p.87). Na linguagem
potica de Carlos Drummond de Andrade, as subjetividades so modeladas
para portar, apenas, a nomeao das mercadorias, pelas quais a intimidade
psquica singular substituda no eu etiqueta.
Isto significa dizer que no so mais nos indivduos singulares e nem
nas trocas entre eles (coletivo), que a vida de cada um e de todos apia-se
como sendo seu locus, e nem mais a individualidade e as relaes so
administradas pelo mundo interno de sujeitos reais e singulares. Uma certa
degenerescncia domina o mundo interno dos sujeitos, no mais animados
pela fora vitalizadora de Eros, atravessando toda a estrutura psquica dos
indivduos. Assim fragilizados, no mais, apenas, se vergam aos
investimentos libidinosos idealizados em um outro humano, embora seja
este outro um tirano, como pensava Freud em Psicologa de las masas em
1921 (1948).
Muito mais rastejantes estamos todos a procura de um objeto para
nele depositarmos nossos investimentos amorosos libidinais na realizao
dos nossos desejos: a ditadura a da mercadoria que d suporte, apenas, a
uma promessa de satisfao que nunca se realiza. Seria oportuno que,
apoiados na insatisfao e procura compulsiva de novos objetos para o
gozo, que o ser humano pudesse despertar para a perversidade narcsica dos
vnculos diretos com ou nos substitutivos do outro humano que os
82
indivduos esto deslocando para a mercadoria. No faltam alertas, como o
de Bauman (1999):
Para aumentar sua capacidade de consumo, os consumidores no
devem nunca ter descanso. Precisam ser mantidos acordados e em
alerta sempre, continuamente expostos a novas tentaes, num estado
de excitao incessante e tambm, com efeito, em estado de perptua
suspeita e pronta insatisfao. As iscas que os levam a desviar a
ateno precisam confirmar a suspeita, prometendo uma sada para a
insatisfao: Voc no acha que j viu tudo? Voc ainda no viu
nada! (p.92-93)
Se inexiste o espao pblico para trocas, convivncia e acolhimento,
se a cidadania possvel apenas a da sujeio das subjetividades s
atribuies de malignidade e/ou vigilncia e o confinamento mais ou
menos velados (Abeche e outros, 2002) o que pensar da vida privada sob
estas diferentes foras invasivo-violentadoras na qual nem mais o prazer da
sexualidade genital est sendo possvel sem os holofotes presena de
outros atores sociais que no mais o par e/ou de personagens dos filmes
pornogrficos sob o pretexto de produo de fantasias excitantes? (Freud,
1981, p.3044). Pelo menos suspeio, ameaa, medo, impotncia tomam
conta da vida ntima dos sujeitos... At o pensar exige certo grau de solido
e recolhimento como nos diz Piera Aulagnier (apud Costa, 1999):
O direito ao segredo era a condio para poder pensar. Nosso sentido
de identidade, continuava ela, deriva, em grande parte, da capacidade
que temos de dizer o que, quando e como a certas pessoas em certas
ocasies. Quando o pensamento corre nossa revelia, quando seu
curso perde o prumo a individualidade que se desfaz (p.17).
Certamente no a singularidade que est em construo mas, sim, a
perda da identidade individual na simbiose osmtica sob a indiferena de
um e no/pelo outro, de uma no delimitao regressiva do eu e do no-eu,
da dissoluo dos sujeitos pelo horror e por sentimento de rejeio numa
homogeneizao estril, da no-pertinncia e na indiferenciao da vivncia
de um etreo esvoaante encarnado na mercadoria, de singularidades
expostas somente a violncia social e internalizada transformada em
acusaes sabotadoras no sentimento de culpabilizao. Onde estar a sada
desta obscuridade irracional cruel em que a vida humana esta submersa na
chamada civilizao ou barbrie atuais?
83
Algumas implicaes alienantes/alienadoras da negligncia tico
poltica nas prticas psi
Quando negligenciamos com estas determinaes heternomas (sociais)
da dor, do sofrimento e do adoecer subjetivos, por ingenuidade e/ou porque
tornados cegos e surdos pelo dogma do apoliticismo da cincia, camos na
armadilha da imanncia do psquico e nela sucumbimos na cumplicidade com
estes massacres que o processo civilizatrio vem produzindo contra as
exigncias do humano dos sujeitos. O refgio terico-prtico na imanncia,
centrado na crena que no mundo interno dos sujeitos est a origem e o fim de
todos os processos psquicos-as subjetividades passam a ser mnadas fechadas
em torno de si mesma e incomunicavveis entre si apenas legitima a destruio
da vida individual-coletiva, justifica a impossibilidade de troca entre diferentes
e sustenta o deslocamento narcsico para um estilo de vida imposto socialmente
(Lowen, 1993) no qual o enamoramento tornou-se impossvel entre alteridades
distintas. A este processo de destruio do coletivo, do confinamento da vida
psquica pura interioridade (individualismo exacerbado) e a transposio e
apego dos vnculos humanos para os investimentos libidinosos de forma
sfrega s coisas o que Sennett (1993) denomina de tiranias da intimidade.
equivocado pensar que seja possvel construir a felicidade dos
indivduos se mantivermos esta perspectiva intimista que sustenta a proibio
de trocas afetivas entre os sujeitos e de compartilhar desejos e pensamentos que
sob a tirania da intimidade seguem a lgica do individualismo da segregao,
da solido, da competio, do pnico substituindo trocas amorosas e solidrias
entre os homens. Como diz Bader (1999):
(...) a felicidade pblica diferente do prazer e da alegria. Estes ltimos
so emoes imediatas contingentes do que Heller define como dor,
circunscritas ao instante de sua ocorrncia, e aparecem como flashes na
vivncia do sofrimento tico-poltico, sem alterar-lhe a qualidade (...)
Todos sentem alegria e prazer com a conquista das reinvidicaes, mas
nem todos sentem a felicidade pblica. Esta experienciada apenas pelos
que sentem a vitria como conquista da cidadania [da vivncia solidria,
amorosa, terna entre os homens] e da emancipao de si e do outro, e
no apenas de bens materiais circunscritos. A felicidade tico-poltica
sentida quando se ultrapassa a prtica do individualismo e do
corporativismo para abrir se humanidade (p.105, grifos nossos).
84
equivocado pensar construir a felicidade de para e entre os homens
se no mudarmos nossas concepes e prticas do que ser-indivduo-
singular e da construo de uma nova ordem para as relaes sociais se no
abandonarmos as aes cruis das quais compartilhamos quando damos,
mesmo que inconscientes e silenciosos, adeso ao intimismo individualista.
A sabedoria dos velhos Marx e Freud, as quais vale a pena nos curvar,
funda-se na concepo do homem como o ser da dependncia e da
necessidade de amparo para a, sim, podermos ousar pensar e agir para se
tornar vivel uma nova forma de ser-indivduo-singular que viva sob o teto
de novas leis organizadoras da vida coletiva, isto , recupere sua dimenso
sujeito e o sentido da alteridade para que atinja o ser-cidado, de fato. Aqui
podemos falar que
a referncia ao sofrimento e a felicidade tico-poltica a negao
desta afetividade narcsica do final do milnio. Ela remete utopia
socialista do incio do sc. XIX, onde significava a procura de uma
outra gesto da tenso entre razo e paixo, entre indivduo e
comunidade, entre desejo e dever.
Fiador do lao ameaado pela razo calculadora, o direito
felicidade, cuja realizao orienta os desejos e as paixes mltiplas,
torna-se a medida com a qual se julga uma poltica que sacrifica o
justo ao eficaz, e que v na multiplicidade humana apenas um perigo
mortal, e no um potencial inexplorado de possibilidades sociais no
realizadas (Sawaia, 1999, p.106 com citao de Vanikas, 1997, p.63).
No h dvida que a sada da fragmentao do conhecimento, tal
como referida no incio destas reflexes, constitui-se numa utopia fundada
na esperana do rompimento da dimenso intimista e compartimentalizada
do saber-fazer psicolgicos. Porm nesta mudana no cabe nem a
onipotncia, to familiar aos psiclogos, nem a impotncia de seus clientes-
vtimas e nem sequer a manuteno de um certo servilismo quando
buscamos a intencionalidade valorativa e o resgate tico de uma totalidade
perdida do que seja o ser-homem presentes nestas teorizaes e prticas da
Psicologia. Precisamos no dar conta da determinao biolgica do homem
sem nos vergarmos, de forma reducionista, aos importantes avanos da
gentica; necessitamos de certa dose de rebelio para nos apropriarmos do
desejar, sentir, pensar e agir do psiquismo humano, para que possamos
colaborar para reorient-lo para o mundo da vida e cooperar na recuperao
de sua prxis enquanto sujeito histrico, condizente a aceitao de sua misso
85
de construtor de laos com o outro-diferente-de-si, para o rompimento das
simbioses narcsicas da atualidade e da ordem social violenta, excludente e
injusta na qual vivemos. Precisamos ser ousados por que sabemos poder
sofrer represlias quando nos aliamos com nossa prxis no resgate de uma
subjetividade verdadeiramente cidad (Caniato et al., 2003).
Referncias
Abeche, Regina P.C e outros (2002). hora do espetculo da perversidade:
o aprisionamento da subjetividade dentro dos reality shows. Trabalho
apresentado no III Encontro Latinoamericano dos Estados Gerais da
Psicanlise. Buenos Aires, 14-17 novo
Adorno, Theodor W. (1986a). Educao aps Auschwvitz. Em G. Cohn
(Org.), Sociologia Theodor Adorno (pp.33-45). So Paulo: tica.
(Grandes Cientista, 54).
Adorno, Theodor W. (1986b). Sobre msica popular. Em G. Cohn (Org.),
Sociologia Theodor Adorno (pp.115-146). So Paulo: tica
(Grandes Cientistas, 54).
Adorno, Theodor W. (1986c). Crtica cultural. Em G. Cohn (Org.),
Sociologia Theodor Adorno (pp.77-90). So Paulo: tica (Grandes
Cientistas, 54).
Adorno, Theodor W., & Horkheimer, Max (1985). Dialtica do
esclarecimento: fragmentos filosficos. (G. A. de Almeida, Trad.)
Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Arendt, Hannah (2000). Eichmann em Jerusalm: um relato sobre a
banalidade do mal. (J. R. Siqueira, Trad.) So Paulo: Companhia das
Letras.
Arendt, Hannah (1978). O sistema totalitrio. (R. Raposo, Trad.) Lisboa:
Dom Quixote (Coleo Universidade Moderna, 60).
Baudrillard, Jean. A violncia da Globalizao. Disponvel em:
http://diplo.uol.com.br/2002-11a469. (Acessado em 15/02/2003)
Bauman, Zygmunt (1998). Modernidade e holocausto. (M. Penchel, Trad.)
Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
86
Bauman, Zygmunt (1999). Globalizao: as consequncias humanas. (M.
Penchel, Trad.) Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Benjamin, Walter. Crtica da violncia: crtica do poder. Disponvel em:
http://www.espacoacademico.com.br/21tc_benjamin.htm. (Acessado
em 07/02/2002).
Berto, Frei (2002). O significado da vitria de Lula para a esquerda. A
estrela sobe. Caros Amigos. 69, 18-19.
Caniato, Angela & Castro, Michele (2002) Matrizes psicossociais do
sofrimento humano na contemporaneidade. Trabalho apresentado no
III Encontro Latinoamericano dos Estados Gerais da Psicanlise.
Buenos Aires, 14-17 novo.
Caniato, Angela (1999). A impunidade na sociedade e no direito:
implicaes psicossociais. Psicologia UFF. 11 (2-3), 9-26, mai-
dez.
Caniato, Angela e outros (2003). Phenix: a ousadia do renascimento da
subjetividade cidad II. Psicologia e Sociedade. 14 (2), (no prelo).
Caniato, Angela Maria Pires (1995). A histria negada: violncia e
cidadania sob um enfoque psicopoltica. Tese de Doutorado, Instituto
de Psicologia da USP.
Caniato, Angela Maria Pires (1999). A subjetividade na
contemporaneidade: da estandardizao dos indivduos ao
personalismo narcsico. Em A. F. Andra e outros (Orgs.), Cidadania
e participao social (pp.13-29). Porto Alegre: ABRAPSOSUL.
Caniato, Angela Maria Pires (2000). Da violncia no ethos cultural
autoritrio da contemporaneidade e do sofrimento psicossocial. PSI
Revista de Psicologia Social e Institucional. 2 (2), 197-215.
Carone, Iray (1991). De Frankfurt Budapeste: os paradoxos de uma
psicologia de base marxista. Psicologia USP. 2(1-2), 111-120.
Chomsky, Noam (2002). 11 de setembro. (L. A. Aguiar, Trad.) Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil.
Cohn, G. (1986a). Sociologia Theodor Adorno. So Paulo: tica.
(Grandes Cientistas, 54).
87
Coimbra, Ceclia (2001). Operao Rio: o mito das classes perigosas. Um
estudo sobre a violncia urbana, a mdia impressa e os discursos de
segurana pblica. Rio de Janeiro/Niteri: Oficina do
Autor/Intertexto.
Costa, Jurandir Freire (1999). Razes pblicas, emoes privadas. Rio de
Janeiro: Rocco.
Dejours, Christophe (1999). A violncia invisvel entrevista. Caros
Amigos. 26, 16-17.
Dejours, Christophe (2000). A banalizao da injustia social. (A.
Monjardim, Trad.) Rio de Janeiro: FGV.
Derrida, Jacques. A razo do mais forte. Disponvel em:
http://www.diplo.com.br/fechado/materia.php?id=527 (Acessado em
15/02/2003)
Figueiredo, Luis Claudio M (1995). Revisitando as psicologias: da
epistemologia tica das prticas e discursos psicolgicos. So
Paulo/Petrpolis: Educ/Vozes.
Freud, Anna (1978). O ego e os mecanismos de defesa. (A. Cabral, Trad.)
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira.
Freud, Sigmund (1948). Psicologa de las masas. Em S. Freud, Obras
Completas (pp.1119-1157). Madrid: Biblioteca Nueva (vol. 1).
Freud, Sigmund (1981). El malestar en la cultura. Em S. Freud, Obras
Completas (pp.3018-3067). Madrid: Biblioteca Nueva (Tomo III).
Guinsberg, Enrique (2001). La salud mental en el neoliberalismo. Mxico:
Plaza y Valds.
Jensen, Henning (1986), Teora Crtica del Sujeto: ensayos sobre
psicoanlisis y materialismo histrico. Mxico: Siglo Veintiuno.
Kas, Ren (1991). Rupturas catastrficas y trabajo de la memoria. Notas
para una investigacin. Em J. Puget & R. Kas (Orgs.) Violencia de
Estado y Psicoanlisis (pp.137-163). Buenos Aires: Centro Editor de
America Latina.
88
Kehl, Maria Rita. Visibilidade e espetculo. Disponvel em:
www.estadosgerais.org/terceiro encontro/kehl-espetculo.shtml.
(Acessado em 16/02/2003).
Lowen, Alexander (1993). Narcisismo. Negao do verdadeiro Self. (A.
Cabral, Trad.) So Paulo: Cultrix.
Mariotti, Humberto (2000). A era da avareza: a concentrao de renda
como patologia bio-psico-social. Trabalho apresentado na
Associao Pala Athena. Ciclo de Estudos: as dores da alma. So
Paulo, 20 out.
Martin, Hans Peter & Schumann, Harald (1999). A armadilha da
globalizao: o assalto democracia e ao bem-estar social. (U.E.
Waldtraut, R. Sackiewez & C. Sackiewez, Trad.) So Paulo: Globo.
Martn-Bar, Igncio (1987). El latino indolente: carater ideolgico del
fatalismo latinoamericano. Em M. Maritza (Coord.) Psicologia
poltica latinoamericana (135-162). Caracas: Panapo.
Martn-Bar, Igncio (1989). In memoriam. Revista de Psicologia de El
Salvador. 9 (35), 1-172.
Mendolowics, Eliane (2001). Psicanlise e contemporaneidade: a dor da
solido. Disponvel em: psychanalyse.net/archives/texte117.html.
(Acessado em 21/09/2002).
Sawaia, Bader B. (1995). Psicologia social: aspectos epistemolgicos e
ticos. Em S.T.M .. Lane & B.B. Sawaia (Orgs.), Novas veredas da
Psicologia Social (pp.45-53). So Paulo:Educ/Brasiliense.
Sawaia, Bader B. (1999). O sofrimento tico-poltico como categoria de
anlise da dialtica excluso/incluso. Em B.B. Sawaia (Org), As
artimanhas da excluso: anlise psicossocial e tica da desigualdade
social (pp.97-118). Petrpolis: Vozes.
Sennett, Richard (1993). O declnio do homem pblico: as tiranias da
intimidade. (L. A. Watanabe, Trad.) So Paulo: Companhia das
Letras.
89
Sennett, Richard (2001). A corroso do carter: consequncias pessoais do
trabalho no novo capitalismo. (M. Santarrita, Trad.) Rio de Janeiro:
Record.
Ulloa, Fernado O. (2001a). Sociedad y crueldad (notas preliminares).
http://www.etatsgenerauxpsvchanalvse.net/archives/texte171.html.
(Acessado em: 21/09/2002)
Ulloa, Fernado O. (2001b). Uma perspectiva psicanaltica de la crueldad.
http://www.etatsgenerauxpsvchanalvse.net/archives/texte90.html.
(Acessado em 21/09/2002)
Vianna, Helena Besserman (1994). No conte a ningum... Contribuio
histria das Sociedades Psicanalistas do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Imago.
90
A psicologia na construo da igualdade
Marlene Neves Strey
1
Trabalhar com Psicologia Social um desafio que encanta e, ao
mesmo tempo, eleva o nvel de ansiedade do/a profissional, na medida em
que complica em muito o entendimento do ser humano. Em vez de
buscarmos respostas no intrapsquico, aumentamos nosso mbito de olhar e
de escuta, para incluir estudar o indivduo no conjunto de suas relaes
sociais, como h muitos anos atrs nos ensinou Silvia Lane (1980, p.97).
Obviamente que, ao tornarmos mais complexo o nosso campo de
estudos, entendimentos e prtica, afinamos nosso entendimento da
realidade, mas, tambm, aumentamos a quantidade de preocupaes e de
buscas, o que aumenta a nossa responsabilidade e, portanto, a nossa
ansiedade.
Centrando o foco deste texto na Universidade em geral e nas
Faculdades de Psicologia em particular, verificamos, nas nossas andanas
por a que, atualmente, existe plena conscincia da necessidade de olharmos
o mundo cambiante em que vivemos com olhos diferentes de outras pocas,
em que tudo parecia mais estvel e permanente.
Aparentemente, existe uma busca, por parte de todos/as os/as
envolvidos (professores/as, alunos/as, etc.) e transformao social, tendo
como base e orientao a cincia, da qual a universidade o templo.
E aqui, temos duas notcias, uma boa e uma m. A boa que, ao nos
aplicarmos pesquisa, busca da verdade cientfica, estamos realmente
ampliando o campo do conhecimento e desvelando os segredos da vida e da
natureza. A notcia m, que poderemos enveredar cegamente por tais
conhecimentos, no em atitude de crtica cientfica, mas de crena e idolatria,
esquecendo que a cincia nada mais do que uma das tantas criaes
humanas, sujeitas a todos os tipos de enganos e, at mesmo, mistificaes,
bem ou mal intencionadas. Suas verdades, mesmo as mais consagradas, nada
mais so do que possveis verdades entre tantas outras possveis verdades.
1
Doutora em Psicologia Social. Docente e Pesquisadora na Faculdade de Psicologia da
PUCRS.
91
Ento, o olhar crtico to essencial quanto dedicao busca do
saber e o desenvolvimento de nossas teorias cientficas.
Isso fundamental, pois no basta ser rotulado de cientfico para ser
tico, na medida em que podemos ter ideias muito diferentes sobre o que seja
transformao social ou o que qualificamos como exerccio transformador.
Tambm devemos ter uma ideia de como se relaciona a teoria com o processo
de transformao, se a prpria teoria uma tarefa transformadora ou se a
transformao um dos seus efeitos (Buttler, 2001, p.7).
Mesmo que a teoria em si mesma seja transformadora, ela no
suficiente para a transformao social e poltica. Alm da teoria, deve haver
algo mais, intervenes em nvel social e poltico que implicam aes,
trabalho sustentado, prtica institucionalizada, o que no exatamente o
mesmo que o exerccio da teoria, ainda que todas estas prticas sejam
pressupostas na teoria. Segundo Buttler (2001), na transformao social,
todos/as ns somos filsofos/as no especialistas, que temos uma viso de
mundo, do que est e do que no est bem, do que justo e do que
detestvel, daquilo que a ao humana ou pode ser, do que constituem as
condies de vida necessrias e suficientes para a construo da autonomia
e expanso de nosso universo, de possibilidades de ampliao de nossas
identidades.
bom que no nos esqueamos que no s somos homens ou
mulheres, brancos ou negros, heterossexuais ou homossexuais, somos muito
mais, somos nicos, como nico cada indivduo de qualquer uma das
espcies vivas do planeta. No h, pois, uma nica e universal natureza
inata (Barral Morn, 2001, p.157), que necessite das mesmas satisfaes s
suas necessidades que, por sinal, podem variar enormemente.
Isso bate frontalmente com as teorias que explicam o comportamento
humano a partir de bases genticas, biolgicas, psicolgicas, sociais ou
mesmo histricas, rgidas e imutveis, que determinam nosso modo de ser.
Certas tendncias e condutas aparentemente invariadas, partem do fato de
que, conforme explica a mdica anatomista Mara Jos Barral Morn (2001,
p.155), utilizando um argumento da ordem do biolgico, a leva a dizer que
... a capacidade dos neurnios (chamada plasticidade neuronal e
que dura toda a vida) de estabelecer novos contatos diante de
estmulos externos, da qual deriva a capacidade de nosso crebro de
92
adquirir novas funes e modificar condutas, nos permite, nas
palavras de Ruth Bleier, adaptar-nos ao nosso ambiente e chegar a
aceitar como natural nosso prprio lugar nesse ambiente.
Ambiente que est dicotomizado, dependendo de se o corpo de
homem ou de mulher, de branco ou de negro, de heterossexual ou
homossexual e a estas dicotomizaes a cincia contribui demonstrando
suas bases biolgico-naturais. Assim, as teorias cientficas, psicolgicas ou
pedaggicas, ao mesmo tempo em que podem nos ajudar a conhecer mais
determinados fatos ou condies humanas, tambm podem, muitas vezes ao
mesmo tempo, ajudar a obscurecer parte ou mesmo toda uma realidade.
Por outro lado, o fato de encararmos cada ser humano como nico,
sem igual, pode nos levar a aceitar teses individualistas, atravs das quais
veremos os indivduos como os nicos que podem e devem encontrar seu
caminho na vida, sendo, portanto, os responsveis, tambm nicos, por suas
escolhas, caminhos e resultados obtidos. Essas teses individualistas, to
caras ao nosso mundo ocidental, fazem-nos esquecer ou camuflam o fato de
que nossas sociedades esto organizadas de tal maneira que ns, os
indivduos, estamos presos/as em tramas de poder que vo muito alm de
nossa vontade individual ou de nossa conscincia.
Assim, mais do que nunca necessrio que tenhamos uma concepo
de aluno e de aluna que escape do individualismo e aposte numa concepo
humanista, ou seja, que queiramos que cada um/a seja autnomo/a, tenha
capacidades reflexivas e crticas, responsabilizando-se por um projeto de
vida individualizado, mas que s se sabe vivel no mbito de um
reconhecimento solidrio; com um adestramento para a interao em
estruturas de reciprocidade como constitutivo de toda possvel vida moral; a
participao no espao pblico, esfera do poder explcito e legtimo, como o
leito possvel e eficaz para a promoo da prpria potncia e da incidncia
ativa na configurao das condies da vida coletiva, que a todos afetam
(Amors, 2000).
Se prezamos a Democracia, tampouco podemos esquecer que os
valores de uma sociedade democrtica no seriam sequer concebveis se
no estiverem intimamente relacionados com os de uma concepo
humanista de sujeito: sem sujeitos autnomos, responsveis, reflexivos e
crticos, o projeto democrtico careceria de sentido (Idem).
93
Em artigo publicado no Jornal La Razn de Madri, em 14 de
fevereiro de 2002, Antonio Garca Trevijano fala que, em momentos como
os atuais, em que est havendo um emagrecimento cultural, com
consequentes e diferentes tentativas de elevao do nvel educativo dos/as
jovens, devemos estar muito atentos/as para que no aconteam novas e
distintas discriminaes. Segundo Garca Trevijano, a poltica deve corrigir
as injustias derivadas das desigualdades individuais surgidas dentro de
uma mesma e nica espcie humana. Uma sociedade que almeja uma
civilizao avanada, tem o dever, segundo ele, de suprimir as
desigualdades ou, pelo menos, de diluir seus perfis sociais para que no
sejam motivo de discriminao, pois, de outro modo, cairamos em um
darwinismo social cada vez mais inquietante. Os caminhos para a
transformao podem ser diferentes, pois, a igualdade no deveria imperar
no caminho, mas sim na meta.
Ao olharmos o mundo de uma maneira geral e s pessoas
particularmente, necessariamente nos daremos conta que a diversidade a
norma. Alm disso, mais cedo ou mais tarde acabamos nos conscientizando
que temos inmeras limitaes, que, a cada dia, para sobreviver,
necessitamos aprender coisas novas, novos comportamentos, novas
habilidades. Tambm nos damos conta de que no somos autossuficientes, de
que nunca conseguiremos fazer determinadas coisas e, por isso, necessitamos
dos demais. Todas essas descobertas so bastante inquietantes e, talvez por
isso, busquemos no conhecido, no familiar, maneiras de aquietarmos a
ansiedade produzida pelo simples fato de sermos dotados de conscincia.
Ao sossegarmos e acobertarmos a ansiedade diante do novo, estamos,
tambm, impossibilitando viver o mundo em toda sua riqueza e diversidade.
Assim, a tarefa educativa apresenta uma responsabilidade tica das
mais importantes. At que ponto devemos ou podemos ampliar horizontes?
Que valores devemos enfatizar? Que normas devemos impor? Ou no
devemos estabelecer normas? Aqui, gostaria de lembrar que, se algum se
ope normatizao, em nome de uma norma diferente (Buttler, 2001).
Se ensinamos a nossa norma como a nica verdadeira e louvvel,
estamos restringindo a possibilidade de autonomia de nossos/as
educandos/as. Mas, se os/as deixamos deriva, estaremos entregando a
quem diminua sua ansiedade a responsabilidade de, quem sabe, formar seus
valores e normas de uma maneira ainda mais estreita que a nossa.
94
Os desafios da prtica educativa so muitos. Seria difcil enumer-los,
pois a cada dia que passa encontramos um novo, do qual no nos havamos
dado conta antes. Mas eu diria que a famosa dicotomia autoritarismo/lassaiz-
faire uma das mais comuns. Saber exatamente como nos comportamos no
processo ensino-aprendizagem exige muito esforo e reflexo, tendo em
mente que provavelmente nos aproximaremos de um polo ou de outro
dependendo da ocasio, das presses que se abatem sobre ns e da
conscincia de que os outros so seres difceis de serem conhecidos.
Alguns conceitos deveriam ser parte indissociada de nossa reflexo
diria se queremos um mundo mais igualitrio e justo. Quando falamos em
igualdade, imediatamente associamos outro conceito, o de equidade.
Segundo Barr (apud Vargas, Vzquez e Jan, 2002, p.928)
o conceito de equidade se relaciona com aquilo que consideramos,
justo e, portanto, seu significado depende dos valores ou enfoques
de sociedade e justia social, que adotem indivduos, grupos ou
governos.
Continuando com essas autoras,
O enfoque igualitarista se apoia no conceito de justia social da
filosofia comunitria, que considera a solidariedade e a unidade
social como algo bom em si mesmo (...) dado preferncia
distribuio dos recursos para alcanar a igualdade de bem-estar ou a
igualdade de recursos acima dos objetivos de maximizao do bem-
estar econmico dos indivduos, com base exclusivamente em
critrios de eficincia, que podem conduzir desigualdade entre
grupos e populaes (Idem, p.928).
Assim, por exemplo, as polticas pblicas deveriam ter por meta a
eliminao das desigualdades por meio de todos os seus programas em
todas as reas, quer seja na sade, na educao ou na economia. As autoras
acima mencionadas ainda lembram que
pode-se dizer que a contribuio do pensamento contemporneo se
centra na valorizao da noo de igualdade como objetivo final, seja
de bens primrios, de oportunidades e condies (capacidades) seja
de realizaes fundamentais, assim como o reconhecimento explcito
de fatores determinantes das diferenas existentes, que esto
relacionadas com aspectos biolgicos, sociais e poltico
organizacionais. Em outras palavras, assume a necessidade de
95
assegurar direitos igualitrios parte das diferenas individuais
(Idem, p.942).
Neste ponto, importante trazer nossa discusso um outro conceito
que, junto com as cincias, as teorias, as polticas pblicas, deve ter grande
centralidade em nossas prticas pedaggicas na Psicologia: o conceito de
Cidadania.
Falar em cidadania requer, em primeiro lugar, que explicitemos o que
significa essas palavra para quem fala. Para ns, cidadania algo que, em
princpio, seria um direito, um dever, uma postura de cada pessoa que nasce
em um determinado pas. a identidade de cidado ou cidad. E, para ser
identidade, necessita de reconhecimento e esse reconhecimento tem que ser
de carter nivelador e igualitrio (Rojas, 1995). S que, ao dizer isso, ficam
escondidos um mundo de significados que podem tornar essa palavra,
cidadania, cheia de vida ou simplesmente, apenas isso, uma palavra.
Ser um cidado ou uma cidad equivaleria a ser por inteiro como
pessoa, podendo usufruir de todas as possibilidades em todos os aspectos de
sua vida enquanto tal, num efetivo exerccio das possibilidades humanas.
S que isso no acontece espontaneamente, pelo simples fato da pessoa ter
nascido. Em nosso Pas, para falarmos apenas no Brasil, temos incontveis
exemplos de gente que existe, mas que pouco tem de semelhante a uma
pessoa inteira.
Sabemos que nossa Constituio garante condies de igualdade a
todos os cidados e a todas as cidads, no importando o sexo, a raa, o
credo. No entanto, a vida real muito diferente das palavras escritas em um
papel. A remoo da desigualdade no trabalho, na educao, na vida conjugal
e em todas as instncias macrossociais e microrrelacionais um exerccio
muito mais sutil e difuso do que a incorporao de polticas igualitrias.
Na rea da Educao, em todos os nveis, existem muitos/as
professores/as bastante interessados/as em fazer da desigualdade uma coisa
do passado, no entanto, o ambiente educacional tem um efeito sobre os/as
alunos/as que ultrapassa em muito a figura do indivduo professor. Na
realidade, o impacto do/a professor/a individualmente limitado e,
eventualmente, sofre a influncia do colegiado que congrega gente de
mltiplas tendncias tericas, muitas das quais no contemplam a questo
da igualdade. Se o caso esse, o colegiado acaba por reforar esteretipos
96
que podem explicar a razo pela qual as desigualdades continuam a existir,
sem que as pessoas se dem conta da situao e da sua contribuio para a
manuteno do status quo (Demaine, 1989).
A proposio de Bernstein (1986) pode nos ajudar a entender essa
situao. De acordo com esse autor, o discurso pedaggico no possui um
discurso prprio, mas opera por meio de um sistema de normas para dotar o
discurso da competncia em um discurso da ordem social, de maneira que o
ltimo domine o primeiro. Desta maneira, a funo do ambiente
educacional como o lugar para a reproduo da natureza hierrquica da
sociedade patriarcal (onde os homens tm ascendncia sobre as mulheres,
os mais velhos sobre os mais jovens, etc.) reconhecido como mais valioso
do que a aquisio e a construo de disciplinas acadmicas. Assim, uma
distribuio hierrquica do conhecimento assumida nesta conceitualizao
das normas que governam o sistema educacional, entre as quais o estado
caracterizado pelas dicotomias e divises de classe, de raa, de gnero.
Embora a histria da humanidade sempre tenha evidenciado diversos
tipos de ruptura com ideias e prticas de dominao de umas pessoas sobre
outras, ainda assim continuam a existir ideias estereotipadas que esto na
base de relaes desiguais, nas quais provvel que estejam acontecendo
atos e experincias discriminatrias, muitas das quais so extremamente
violentas. Como nos lembra o Relatrio Cladem (2000), apesar da
escravido ter sido abolida l no sculo XIX, ainda existem prticas racistas
que condenam grupos inteiros a uma vida sem direitos pelo simples fato de
terem uma pele desta ou daquela cor.
Nesse sentido,
no basta nomear e descrever violncias, no basta revelar suas
vtimas e agentes, no basta descobrir onde acontecem. preciso
reparar nos fenmenos que se cruzam e nos sentidos que se ocultam
(Idem, p.24).
Como explicitado no Relatrio do Cladem (2000, p.25)
em horizontes culturais nos quais a fora fonte de prestgio,
danificar torna-se um assunto de graduao e custos relativos, nos
quais sempre se conservam possibilidades aceitveis. Com medies,
explicaes e outros encobrimentos so anestesiadas nossas
sensibilidades. O saber dos especialistas disciplina os corpos para
97
que no reconheam suas feridas. Vo nos acomodando com
justificativas, para que o mal-estar no se transforme em expresso
poltica. No h motivo para se comover, nem todo dano
desmedido.
Assim, necessitamos ter em mente, exaustivamente, professores/as,
alunos/as, profissionais, que estas questes tm que fazer parte de nossas
preocupaes tericas e de nossa prtica. Temos que exercer influncia
poltica no sentido de pressionar toda a sociedade e as instncias
governamentais, pois como aponta Cladem
Cabe notar que, em matria de direitos humanos, preciso que o
Estado exera a autoridade e a funo pblica, sujeitando-se a trs
deveres: dever de respeit-los, dever de proteg-los e dever de obter
sua realizao. Desse ponto de vista, relevante que, ao lado do
reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais, sejam
configuradas e asseguradas condies e capacidades para seu
exerccio e gozo. Os direitos humanos no so um catlogo de
aspiraes. A experincia mundial tem demonstrado que os avanos
substanciais, aqueles que transcendem o plano formal, acontecem em
contexto democrticos onde os cidados e as cidads dispem de
capacidades pessoais e coletivas para vigiar e orientar o desempenho
estatal no que se refere observncia dos padres internacionais de
direitos humanos. A experincia mundial tambm evidenciou que,
em contextos autoritrios ou com fraco desenvolvimento
democrtico, os direitos humanos costumam ficar reduzidos a meros
enunciados. Em nossa regio [Amrica Latina], o chamado problema
da distncia entre lei e realidade reflete de forma importante um
problema estrutural sobre a qualidade de nossas democracias.
(Cladem, 2000, p.3940)
Agora que j discutimos um pouco e muito brevemente, verdade, o
papel do contexto na prtica pedaggica, vamos tentar adentrar, tambm de
maneira breve, sobre o que anda acontecendo em nossos cursos de
psicologia. Que critrios e objetivos embasam nossos currculos? Que tipo
de preocupaes temos no tocante viso de mundo que as teorias que
usamos apresentam aos estudantes? Essas so questes fundamentais, tendo
em vista que cada teoria tem embutido em si uma prtica e uma tica,
mesmo que no sejam explicitadas.
98
A experincia nos tem ensinado que, nem sempre, o discurso e a
prtica andam de mos dadas numa mesma direo. Em encontros,
congressos e seminrios temos escutado exaustivamente preocupaes de
ordem social dentro da psicologia. No entanto, na sala de aula, nos estgios
e nas prticas disciplinares, essa preocupao muitas vezes diminuda sob
o peso das preocupaes terico-tcnicas e metodolgicas. No que isso
no seja importante, ou mesmo de extrema importncia, mas sem reflexo
crtica sobre o que a teoria e/ou a prtica significam em outras instncias
que a terico/metodolgica, essa importncia fica parcial ou mesmo vazia.
Por isso nunca demais enfatizar a necessidade de quotidianamente
revermos, junto com nossos/as alunos/as o que significa realmente aquilo que
estamos ensinando/aprendendo, pois, como salienta Guareschi (1994, p.13)
preciso ter cuidado com as teorias e ver o vazio que elas deixam
para trs. Esse vazio, s vezes, no pode ser mesmo preenchido.
Algumas vezes ele pode ser preenchido, mas deixado incompleto
de propsito. Isto , h interesses em se deixar uma coisa mal
explicada, pois do contrrio ela poder nos prejudicar.
A ideia aqui no era dar respostas, mas sim suscitar o debate.
Passando por todas essas reflexes, esperamos ter contribudo para tambm
refletirmos sobre que tipo de intervenes temos estimulado em nossas
universidades, quais as contribuies temos feito para o desenvolvimento
da Psicologia Social e da Psicologia como um todo e para a discusso tica
de nossa prxis.
Referncias
Amors, C. (2000) Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyedo
ilustrado y postmodernidad. Madrid: Ctedra.
Barral Morn, M. J. (2001) Genes, gnero y cultura. In C. Miqueo, C.
Toms, C.
Tejero, M.J. Barral, T. Fernndez e T. Vago (Eds.) Perspectivas de gnero
en salud. Madrid: Minerva Ediciones.
Bernstein, B. (1986) On pedagogic discourse. In Richardson, J. (Ed.)
Handbook of theory and research for the sociology of education.
Nova Iorque: Greenwood.
99
Butter, J. (2001) La cuestin de la transformacin social. In E. Beck-
Gernsheim, J. Butter e L. Puiguert (Eds.) Mujeres y transformaciones
sociales. Barcelona: EI Roure Editorial.
Cladem (2000) Questo de vida. Balano regional e desafios sobre o direito
das mulheres a uma vida livre de violncia. Lima (Peru): Comit
Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher.
Demaine, J. (1989) Race, categorisation and educational achievement.
British Journal of Sociology of Education. Vol. 10, n 2, p.195-214.
Guareschi, P. A . (1994) Sociologia crtica. Alternativas de mudana. Porto
Alegre: Mundo Jovem.
Lane, S. T. M. (1980) Uma redefinio da psicologia social. Educao e
Sociedade. Vol. 2, N. 6, p.96-103.
Rojas, Marcela (1995) Adolescncia e AIDS: avatares humanos de uma
educao silenciosa. Educao. Subjetividade e Poder. Vol. 2, n 2,
p.9-14.
Vargas, I.; Vzquez, M. L. e Jan, Elisabet (2002) Equidad y reformas de
los sistemas de salud en Latinoamrica. Cadernos de Sade Pblica.
18 (4), p.927-937.
100
Prxis e tica na psicologia social comunitria: possibilidades de
transformao social na vida cotidiana
1
Maria de Fatima Quintal de Freitas
2
Adentrar no terreno da discusso sobre tica e Paradigmas na relao
com a Prtica dos profissionais de psicologia, exige, em nossa perspectiva,
que consideremos trs dimenses intrinsecamente relacionadas. A dimenso
ontolgica, atravs da qual torna-se possvel identificar os contedos das
concepes sobre Sociedade e sobre Homem, presentes nos diferentes tipos
de prticas realizadas. A dimenso epistemolgica que nos remete a uma
anlise sobre a natureza da relao de conhecimento produzida e,
consequentemente, sobre o tipo de implicao entre profissional e
comunidade. E, a dimenso da prxis, como uma resultante do
entrecruzamento das duas anteriores, em que torna-se possvel analisar os
impactos sociais e psicossociais do trabalho desenvolvido.
Assim, para a proposta aqui formulada, pretende-se tecer algumas
consideraes sobre a Psicologia Social Comunitria, na perspectiva de
uma prxis comprometida com a construo de relaes cotidianas mais
justas e dignas (Montero, 1994 a, 2000; Martn-Bar, 1989; Freitas, 1998b).
Se pretendermos, hoje, pensar sobre as possibilidades de ao e de
abrangncia deste campo, como parte de uma reflexo sobre prxis e
paradigmas, torna-se importante identificarmos os avanos obtidos e as
dificuldades enfrentadas. Em outras palavras, ao enfrentarmos o debate a
respeito da relao entre que conhecimentos socialmente relevantes temos
produzido? versus que tipo de compromisso temos assumido e que alianas
temos estabelecido? poderemos fazer um balano sobre: a) os avanos das
prticas psicossociais em comunidade na tica dos setores envolvidos e da
prpria psicologia; b) o grau de ineditismo ou de conservadorismo das
mesmas, e c) as lacunas existentes no processo de formao de profissionais
para trabalharem nesse campo. Em decorrncia, pretende-se, tambm, tecer
1
Trabalho apresentado na Mesa Redonda Psicologia Poltica: Paradigmas e Prxis durante
o IX Encontro da Regional SUL da Abrapso, acontecido em novembro de 2002, na
UNIVALI/SC.
2
Professora do Programa de Ps-Graduao em Educao e em Psicologia Universidade
Federal do Paran.
101
algumas consideraes sobre as aproximaes necessrias entre campos
disciplinares que podem se complementar, tanto na dimenso paradigmtica
como epistemolgica. Este o caso das Psicologias Poltica e Social
Comunitria, da Pesquisa Participante e dos Movimentos Sociais, cuja
interseco pode gerar subprodutos para a dimenso da prxis, em termos
de contribuir para o processo de formao de quadros para atuarem junto s
polticas pblicas (Freitas, 2001b; Sandoval, 2000; Scherer-Warren, 1999;
Jacobi, 1989).
Desafios para a construo de um campo terico e profissional
Aps quase quatro dcadas de trabalhos comunitrios, desenvolvidos
por profissionais de psicologia, devemos, ento, nos perguntar: que avanos
temos conseguido? e, houve mudanas, ao longo deste tempo? Inmeros
so os trabalhos que passaram a ser desenvolvidos, em especial ao longo
dos anos da ltima dcada do sculo XX. Acompanhando uma dinmica
acontecida dentro dos movimentos sociais, vamos encontrando em
diferentes lugares e em relao s mais variadas temticas, diversos
trabalhos comunitrios realizados (Montero, 1994b; Freitas, 2000a, 2000b).
Podemos, ento, nos indagar sobre os aspectos tericos e conceituais
que seriam necessrios para que, de fato, possamos ter uma compreenso
razoavelmente consensual sobre o que e o que no psicologia
comunitria. E aprofundando estas preocupaes que relaes
epistemolgicas, tericas e polticas deveriam existir entre os processos de
interveno psicossocial e as dinmicas comunitrias para caracterizar esse
tipo de prtica?
Estes questionamentos nos remetem necessidade de uma anlise
criteriosa sobre as diferentes conceituaes e compreenses sobre o que
Psicologia Social Comunitria (Montero, 1994b, 2000; Freitas, 1998a).
Existiu ou existe tal consenso de definio e conceituao ao longo da
trajetria de construo deste campo? Que elementos poderiam explicar tais
consensos ou diferenciaes e o que isto implicaria em termos de
consistncia para este campo que vem se fortalecendo?
Podemos dizer que, hoje, temos uma gama significativa de prticas
psicossociais em comunidade, indicando uma grande variedade de atuaes,
trabalhos e perspectivas epistemolgicas (Gohn, 1987; Landim, 1998;
102
Montero, 1994a; Freitas, 2000b). Tratam-se de prticas de interveno ou
atuao psicolgica/psicossocial com caractersticas distintivas:
a. Dirigem-se aos mais diversos segmentos da populao (como bairros;
cortios; favelas; mangues; alagados; diferentes grupos populares, civis,
religiosos; diversos movimentos populares; segmentos ou setores de
entidades civis, profissionais, comunitrias; comisses e/ou fruns em
educao, sade, direitos humanos; entre outros);
b. Localizam o objeto de investigao e/ou ao dentro de um enquadre
terico diversificado (indo do individual, passando pelo familiar, por
pequenos grupos, at organizaes e movimentos comunitrios e/ou
populares de dimenses maiores);
c. Selecionam algum tema como central e prioritrio em suas proposies
(provenientes da rea da sade, educao, trabalho; relaes
comunitrias e organizativas; direitos humanos, violncia e cidadania;
formao profissional; qualidade de vida; relaes de excluso e
incluso social; emprego, desemprego e falta de perspectiva de vida,
entre outros),
d. Empregam aportes terico-metodolgicos diferentes e, em algumas
ocasies, antagnicos entre si (podem se distribuir em um continuun em
que em um dos plos h a adoo de referenciais mais objetivistas,
quantitativos e supostamente imparciais, e no outro extremo h,
somente, a adoo de perspectivas analticas qualitativas e participativas,
excluindo qualquer tipo de recurso e/ou material quantitativo);
e. Estabelecem um tipo de relao de conhecimento entre o profissional e a
comunidade que imprime rumos para o trabalho desenvolvido (o foco da
deciso recai em um dos plos da relao ou na sntese de ambos).
Assim, hoje, talvez fosse mais adequado nos referirmos a esse tipo de
prtica no plural, uma vez que h vrias psicologias (sociais) comunitrias,
e no apenas uma, e muito menos consensuais entre si, para no dizermos
tendo concepes de homem e de sociedade, muitas vezes, dspares e
antagnicas entre si.
Desta pluralidade de psicologias comunitrias depreende-se, tambm,
um fenmeno interessante. Quando h 20 ou 30 anos, as prticas em
comunidade eram pouco reconhecidas e identificadas como podendo ser do
mbito da psicologia, poucos eram os profissionais que gostariam, ou at
mesmo buscavam ser includos neste campo. Com relao aos trabalhos que
103
eram desenvolvidos quela poca poderamos dizer que apresentavam uma
similitude e proximidade maiores do que hoje, visto que haviam alguns
eixos comuns em sua realizao. Eram trabalhos que tinham grandes
influncias e recebiam orientaes provenientes dos aportes tericos e
metodolgicos derivados de: da Educao Popular e da Alfabetizao de
Adultos acontecida nos chamados pases do Terceiro Mundo, como os
trabalhos de Paulo Freire; das estratgias de trabalho com camponeses e
suas organizaes comunitrias, dentro de uma concepo participativa
como os derivados da Sociologia Rural e de Orlando Fals Borda; e, das
concepes de Homem, Histria e Sociedade oriundas do campo Marxiano
(Flores Osrio & Gmez Jasso, 1999; Freitas, 2000b; Montero, 1996b;
Martn-Bar, 1987, 1989).
Hoje, por outro lado, temos um movimento diferente com algumas
caractersticas. Samos de uma certa singularidade, presente h dcadas, no
que seria o trabalho psicolgico em comunidade para uma grande
pluralidade de prticas psicossociais em comunidade. Isto indica que
diferentes abordagens terico-metodolgicas colocam como seu objeto de
estudo o campo comunitrio. Aqui, de imediato, j aparece uma primeira
razo para a no concordncia sobre o que define psicologia comunitria:
encontra-se uma sinonmia de forma todos empregam o termo
comunitrio ou seus correlatos; mas seu contedo, limites e caractersticas
no tm uma base consensual.
Alm disto, acredita-se que esta pluralidade deva ser analisada com
seriedade e coragem, para que se possa saber se trata ou no de uma
reedio de modelos psicolgicos, anteriores e tradicionais, aplicados a
novos contextos para os quais os psiclogos, na sua origem como cincia,
no eram preparados. Em outras palavras, em algumas situaes nos
defrontamos com prticas psicolgicas tradicionais, com foco
individualista e psicologizante que acontecem junto a setores da
populao, antes distantes da psicologia, e em lugares nos quais o trabalho
psicolgico no ocorria. Somente isto no d um carter distinto e nem
indito prtica psicossocial. Hoje temos inmeros trabalhos em Conselhos
Tutelares, em Fruns da Educao e da Sade; em diversas instituies
asilares, em ONGs, em sindicatos, em atividades junto aos portadores do
HIV e de diferentes deficincias, junto ao MST e diferentes grupos e
movimentos populares, entre outros. Como j dito, em outras ocasies, por
104
vrios pesquisadores (Montero, 1994 a, 1994b, 2000; Freitas, 1998 a,
2000b, prelo; Yamamoto, 2000) a proximidade s questes sociais e aos
setores desfavorecidos, por si s, no garante uma mudana paradigmtica e
nem prxica do trabalho. Por outro lado, a reedio desta discusso, em
especial, nos novos momentos poltico-sociais em que estamos a viver,
depois que tomou posse um governo de origem popular, recoloca-nos o
problema de ser necessria uma anlise profunda a respeito das
repercusses psicossociais, organizativas e polticas, para a comunidade, de
serem desenvolvidos trabalhos preventivos versus trabalhos curativos,
assim como aponta para a necessidade de serem identificados critrios para
esta demarcao e escolha, de acordo com a situao a ser enfrentada
(Lozada, 1999; Sandoval, 1994).
Apesar desta variedade de caractersticas, cujo cruzamento tece um
leque imenso de possibilidades de trabalhos, podemos nos indagar se
haveria algo de comum entre trabalhos to diversos. A resposta seria
afirmativa. Apesar da variabilidade das prticas e propostas de trabalhos
podemos dizer que algo aproxima estes trabalhos, ou pelo menos estabelece
algum tipo de liame entre eles, em especial a partir da dcada de 1990. Um
elemento comum localiza-se no fato de que so trabalhos coletivos, com as
mais diferentes perspectivas. Tratam-se de prticas realizadas junto a
grupos e entidades comunitrias, a ONGs, sindicatos, Conselhos e
conselheiros, entre outros. So trabalhos que, para sua realizao,
necessitam que o profissional saia do espao tradicional e passe a se
incorporar nos espaos e nas dinmicas em que essas pessoas vivem ou
atuam; alm de tambm serem prticas dirigidas a grupos e relaes
coletivas e grupais (Freitas, 2001b).
Alm disso, um aspecto positivo, a se ressaltar, refere-se ao fato de
que passa a ser impensvel desenvolver qualquer tipo de trabalho em
psicologia que no leve em conta as problemticas que assolam a maioria
de nossa gente. Contudo, isto por si s no garante nem o aumento da
participao e conscientizao da populao, em seus prprios processos
cotidianos de sobrevivncia e de melhoria de vida, e nem que o profissional
de psicologia se identifique com tal empreitada ou considere que isto
tambm seja de sua responsabilidade. Mesmo assim, esta proximidade ao
cenrio e dinmica sociais, como sendo uma dimenso que tem se
mostrado frequente nos diferentes trabalhos desenvolvidos dentro e fora da
105
academia, na rea de comunitria, tem uma peculiar importncia ao indicar
duas situaes cruciais. Uma, em que estampa para a psicologia
comunitria e seus profissionais a necessidade de que conheam as polticas
pblicas onde se inserem para que seus trabalhos possam apresentar
coerncias cientficas e polticas. A outra situao aponta lacunas e
deficincias no processo de formao dos quadros para esta rea, em termos
de domnio terico e metodolgico necessrios, e de anlise sobre as
repercusses psicossociais das polticas pblicas que permeiam as relaes
comunitrias cotidianas.
Dimenses intrnsecas Psicologia Social Comunitria
A histria da Psicologia Social Comunitria, no Brasil e na Amrica
Latina, permite que hoje tenhamos uma certa clareza quanto compreenso
do que a delimitaria como uma prtica especfica e com caractersticas
prprias.
Necessariamente trata-se de um tipo de trabalho que vai para alm da
investigao, do estudo ou da anlise terica, como mecanismos essenciais
em si. Estes so fundamentais e imprescindveis, mas no completam a
finalidade da psicologia social comunitria como prtica, como
conhecimento e como possibilidade de mudana. O outro pilar, tambm
imprescindvel, o da interveno ou ao psicossocial nas relaes do
cotidiano, entendida como uma forma de ao em que os agentes (internos e
externos) se implicam numa relao partcipe e partilhada quanto
problematizao da realidade e elaborao de alternativas a serem
implementadas, atravs de processos de formao e capacitao de
lideranas e agentes comunitrios, entre outras estratgias que tm se
mostrado relevante (Freitas, 2001b; Montero, 1994 a, 2000).
Derivado disto, encontramos as origens tericas e metodolgicas que
tm sustentado a realizao destes trabalhos. As bases conceituais derivadas
do campo Marxiano, da Sociologia Rural Crtica e da Psicologia
Latinoamericana da Libertao orientam estas prticas, cujas estratgias
metodolgicas ancoram-se nos trabalhos da Educao Popular e de Adultos,
dentro de uma Filosofia de Paulo Freire, assim como as prticas de Pesquisa
Participante (ou investigao-ao-participante) e Pesquisa Ao, presentes
nos trabalhos com os camponeses, como os movimentos sociais e populares
106
das dcadas de 60 e 70 no continente latino-americano, durante os perodos
de ditadura militar (Freitas, 2000 b; Sandoval, 2000; Iglesias, 1993).
Aps o perodo das dificuldades decorrentes da implementao de
trabalhos dessa natureza, hoje, pode-se identificar, com uma certa clareza,
uma dimenso intrnseca filosofia e aos compromissos deste trabalho
como tendo, inclusive, o status de categoria conceitual. Trata-se da
dimenso scio-histrica do homem, colocando-o como ator social e,
tambm, comunidade, como elementos centrais das relaes comunitrias.
Assim, a comunidade, atravs de tais trabalhos, ao longo destas ltimas
dcadas, passa a ser vista como um ator social da prpria histria e
trajetria, e cuja compreenso psicossocial torna-se decisiva para os
avanos dos processos de participao e de conscientizao (Freitas, prelo).
Coerncias e incoerncias entre prtica e compromisso
Analisando-se as implicaes psicossociais para a vida cotidiana dos
trabalhadores comunitrios envolvidos profissionais e populao e
para o prprio trabalho deparamo-nos com dois elementos que esto
presentes e so intrnsecos prpria dinmica do trabalho comunitrio. Um
deles liga-se deteco e compreenso da dimenso scio-poltica da ao
humana e s repercusses psicossociais que tal ao passa a ter, seja para o
psiclogo comunitrio, seja para a comunidade (Freitas, 2001a; Montero,
2000). Trata-se de falar dos significados que a prtica do trabalho, a cada
etapa, tem para cada um dos atores envolvidos. Isto pode ajudar a entender
os porqus de alguns avanos e retrocessos, mesmo quando parece que o
trabalho j no possui mais nenhum impedimento para sua boa realizao.
O outro aspecto aponta para a natureza de comprometimento poltico e
social do trabalho de interveno psicossocial (Freitas, prelo). Isto nos
remete a identificar que impactos e retornos este tipo de prtica tem
produzido e para que setores da populao e dos participantes. Ao mesmo
tempo, intentar responder a isto permite que se identifiquem dificuldades
para esta consecuo, assim como possveis lacunas no processo de
formao dos profissionais.
Voltamos questo sobre se o que estamos fazendo em nossas
prticas comunitrias traz impactos sociais relevantes e que postura
profissional temos para obter isto?
107
Ou seja, ser que em qualquer tipo de postura e concepo
epistemolgica seria possvel obtermos os mesmos impactos? Ou, em
outras palavras, qualquer recorte epistemolgico e qualquer viso
ontolgica nos levariam aos mesmos impactos psicossociais na vida
cotidiana? Embora este no seja o objetivo, aqui, esta considerao nos leva
a enfrentar uma questo, sempre presente, que se refere prtica
profissional, vista como cincia e produtora de conhecimentos, e concebida
como profisso, no sentido de formadora de novos quadros para atuarem
junto aos problemas sociais.
Retomamos, assim, aos desafios presentes nas trs dimenses,
indicadas ao incio deste trabalho, e intimamente imbricadas quando do
desenvolvimento das prticas em comunidade. Aquelas relativas ao tipo de
prxis que construdo nos trabalhos comunitrios, em termos de serem
produzidos determinados impactos psicossociais na vida cotidiana das
pessoas, implicando-as em processos de politizao de sua conscincia e de
participao coletiva voltados para os interesses comuns (Sandoval, 2000;
Freitas, prelo). Em outras palavras, trata-se de indagar sobre os resultados
que temos conseguido, pontuais e a o longo prazo, e sobre que condies
objetivas e subjetivas so necessrias para que as pessoas dem
continuidade ao seu processo de envolvimento e participao comunitrias.
Os desafios da segunda e terceira dimenso referem-se s condies
necessrias seja em termos de realidade na qual se trabalha, seja em
termos de formao epistemolgica recebida para que sejam produzidos
e sistematizados conhecimentos a respeito do que seja considerado como
comunitrio, como psicolgico e como uma relao psicossocial necessria
entre os dois, conhecimentos esses que refletem o tipo de concepo a
respeito do homem e da sociedade.
Tais desafios tm sido enfrentados ao longo dos inmeros trabalhos
que tm sido desenvolvidos, com os mais diversos matizes epistemolgicos.
Todavia, em todos eles tem se observado que o papel da Psicologia Social
Comunitria tem sido o de educar e o de politizar. Educar nas relaes
concretas cotidianas e com um forte compromisso coletivo: por isto que as
formas de ao comunitria presentes, por exemplo, nos trabalhos da
educao popular e da pesquisa participante tm se revelado como
imprescindveis. A outra faceta do trabalho educativo, tpico nas prticas
psicossociais em comunidade, est na apreenso e construo de uma vida
108
cotidiana fundamentada em valores de solidariedade, dignidade e justia,
com tolerncia zero para os preconceitos e formas estigmatizadoras entre as
pessoas. O papel de politizar refere-se s diferentes possibilidades de ao
cotidiana que passam a ser incorporadas, no apenas em sua
instrumentalidade, mas em seus significados psicossociais como catalisadores
dos processos de conscientizao para cada ator envolvido. Torna-se, ento,
imprescindvel psicologia social comunitria, nesta sua face ta da
politizao da conscincia, a tarefa de construir sujeitos coletivos como
atores da transformao social, forjada, desde j, nas relaes cotidianas
imediatas.
E, finalizando, gostaria de propor o desmonte de alguns mitos e
maniquesmos que acabam por criar armadilhas para possveis demarcaes
entre as diversas prticas psicossociais em comunidade. Inegavelmente h
uma grande contribuio para a relao Psicologia e Comunidade o fato de
terem aumentado os projetos com temticas sociais, mesmo que tenham
diferentes epistemologias e concepes acerca da relao homem e
sociedade, assim como impliquem em diversas propostas de resoluo e
enfrentamento de tais problemas.
Entretanto, considera-se que h, no mnimo, dois cuidados a serem
tomados. O primeiro que se deve evitar posturas que pretendam
transformar todas as formas de ao, em contextos diferentes dos
tradicionais, em prticas da psicologia comunitria. Fazer isto, no mnimo
indica uma atitude simplista e subestimadora das diferenas e das
especificidades das outras reas, to necessrias compreenso do homem.
O outro que s haveria valor e importncia em trabalhos com forte
comprometimento social e poltico, simplesmente porque estariam a tratar
de temticas sociais. H aqui uma delicada armadilha, visto que no o
cognome social, e nem temas ou objetos ligados a populaes e setores
desprivilegiados, que faz e garante com que o trabalho a ser realizado tenha
um claro compromisso em prol da defesa dos direitos e da dignidade das
pessoas. Por outro lado, tambm no o fato do trabalho realizado ser
dirigido a outros setores ou estratos da sociedade , que no sejam excludos
ou desprivilegiados, que lhe retira o carter de implicao com a construo
de uma vida solidria e mais justa. Tanto em um caso, quanto em outro, h
ainda que se considerar que deveria haver aquilo que estamos a denominar
de compromisso intrnseco. Em outras palavras, seja trabalhando com
109
temticas sociais altamente crticas, emergenciais e relevantes; seja
trabalhando com outras dimenses cujas repercusses possam no ser
diretamente captveis, deve haver uma responsabilidade para com as
possibilidades de produo de conhecimentos que faam avanar, melhorar e
serem resolvidos aqueles problemas para os quais o profissional se debruou.
Isto, em verdade, exige que sejam produzidos avanos no campo das
produes cientficas sobre o que se considera como comunitrio e
psicossocial no mbito comunitrio.
Estes parecem ser desafios que se apresentam ao processo de
formao de novos quadros, nem sempre muito perceptveis, e que podem
nos colocar em contendas desnecessrias e pouco inteligentes para a rea,
para a psicologia e para a prpria comunidade. Como vencer isto durante o
processo de formao passa, ento, a ser um grande desafio, que, no
mnimo, exige que possamos garantir um bom aprendizado e domnio em
anlises consequentes sobre a realidade social, conjugando ao mesmo
tempo o verbo da teoria e o da metodologia coerentemente construdas e em
consonncia ao objeto recortado pelo olhar epistemolgico do trabalhador
comunitrio, sem deixar de, necessariamente, se implicar com a tica da
vida cotidiana.
Referncias
Flores Osrio, J. M. & Gmez Jasso, L. Y. (1999) Introduccin a la
Psicologa Comunitria. CEDeFT, Cuernavaca, Mxico.
Freitas, M. F. Q. (1998a). Novas Prticas e Velhos Olhares em Psicologia
Comunitria. Uma Conciliao Possvel? In L. Souza; M. F. Q.
Freitas & M.M.P.Rodrigues (orgs.) Psicologia: reflexes
(im)pertinentes. So Paulo: Casa do Psiclogo, 83: 108.
Freitas, M. F. Q. (1998b). Models of Practice in Community in Brazil:
Possibilities for the Psychology Community Relationship. Journal
of Community Psychology. 26(3): 261-268.
Freitas, M. F. Q. (2000a). O Movimento da Lente Focal na Histria Recente
da Psicologia Social Latinoamericana. In P. A. Guareschi & R. H. F.
Campos (orgs.) Novos Paradigmas da Psicologia Social
Latinoamericana. Vozes, Petrpolis, 167-185.
110
Freitas, M. F. Q. (2000b) Voices From The Soul: The Construction of
Brazilian Community Social Psychology. Journal of Community and
Applied Social Psychology. Wiley Eds., Londres, 10:315-326.
Freitas, M. F. Q. (2000c) Lo Cotidiano em Las Prcticas de Psicologa
Comunitria. In J. J. Vzquez Ortega (coord.) Psicologa Social y
Liberacin en Amrica Latina. Casa Abierta Al Tiempo/UAM
Iztapalapa, Mxico, 199210.
Freitas, M. F. Q. (200la). Desafios e Possibilidades para a Psicologia Social
Comunitria em Contextos Rurais. In H. A . Novo, L. Souza e A. N.
Andrade (orgs.) tica. Cidadania e Participao. Debates no Campo
da Psicologia. CCHN, UFES, Vitria, 211-224.
Freitas, M. F. Q. (2001b). Psicologia Social Comunitria Latinoamericana:
Algumas Aproximaes e Interseces com a Psicologia Poltica.
Revista de Psicologia Poltica. SBPP, So Paulo, Vol. 1 (2): 73-94.
Jacobi,P. R. (1989) Movimentos Sociais e Polticas Pblicas. Cortez
Editora, So Paulo.
Gohn, M. G. (1997) Os Sem-Terra, ONGs e Cidadania. Cortez Editora: So
Paulo.
Iglesias, F. 1993. Trajetria Poltica do Brasil. Companhia das Letras: So
Paulo.
Landim, L. (org.) (1998) Aes em Sociedade. Militncia, caridade,
assistncia, etc. Rio de Janeiro: Nau Editora.
Lozada, M. (1999) La Democracia Sospechosa: La Construccin del
Colectivo en el Espacio Pblico. In G. A . Mota Botello (coord.),
Psicologa Poltica del Nuevo Siglo. Una Ventana a la Ciudadana.
Mxico, SEP/SOMEPSO, 67-78.
Martn-Bar, I. (1987) El latino indolente. Carcter ideolgico del fatalismo
latinoamericano. In M. Montero (coord.) Psicologa Poltica
Latinoamericana. Caracas: Editorial Panapo, pp.35-162.
Martn-Bar, I. (1989) Sistema, Grupo y Poder Psicologa Social desde
Centroamrica II. San Salvador: UCA Editores.
111
Montero, M.(1994a) Un Paradigma para La Psicologa Social. Reflexiones
desde el quehacer en America Latina. In M. Montero (org.)
Construccin y Crtica de La Psicologa Social. Barcelona: Editorial
Anthropos, pp.27:48.
Montero, M. (1994b) Vidas Paralelas: Psicologa Comunitria en
Latinoamrica y en Estados Unidos. In M. Montero (org.) Psicologa
Social Comunitria-Teora, mtodo y experiencia. Mxico:
Universidad de Guadalajara, pp.1946.
Montero, M. (2000) Perspectivas y Retos de La Psicologa de La
Liberacin. In J.J. Vzquez Ortega (coord.) Psicologa Social y
Liberacin en Amrica Latina. Casa Abierta Al Tiempo/UAM
Iztapalapa, Mxico, 9-26.
Sandoval, A .M. S. (1994) Algumas Reflexes sobre Cidadania e Formao
de Conscincia Poltica no Brasil. In M. J. P. Spink (org.), A
Cidadania em Construo Uma Reflexo Transdisciplinar. So
Paulo: Cortez Editora, pp.59-74.
Sandoval, A. M. (2000) O que h de novo na Psicologia Social
Latinoamericana? In R. H. F. Campos e P. A . Guareschi (orgs)
Paradigmas em Psicologia Socia A perspectiva Latinoamericana.
Petrpolis, Vozes, pp.101109.
Scherer-Warren, Ilse (1999) Cidadania sem Fronteiras. Aes coletivas na
era da Globalizao. So Paulo: Ed. Hucitec.
Yamamoto, O. H. (2000) A psicologia Em Movimento: Entre o
Gattopardismo e o Neoliberalismo. Psicologia & Sociedade,
ABRAPSO, So Paulo, Vol. 12, N. 1/2: 221-233.
112
PSICOLOGIA E EDUCAO
A incluso da pessoa com necessidades especiais na universidade: na
perspectiva dos professores
Lsia Regina Ferreira Michels
1
Gabriela Andrea Daz
2
Falar em incluso implica diretamente falar em excluso, termo que,
desde o ponto de vista social, abarca desde uma perspectiva tica, a anlise
da justia social e do sofrimento humano.
De alguma maneira a sociedade sempre incluiu, ou melhor, inseriu,
as pessoas com necessidades especiais, porm nem sempre esta incluso se
realiza de maneira democrtica. Estar inserido no implica estar includo.
Sawaia (1999) prope em vez da excluso, uma relao dialtica entre
excluso e incluso que introduzir anlise das desigualdades, uma viso
tica e subjetiva, que deflagrar subjetividades especficas que vo desde
sentir-se includo at sentir-se discriminado ou revoltado (p.09).
Entendemos o processo de excluso-incluso como possuidor de uma
dinmica multifactica e complexa, em que a psicologia social tem um
papel de importncia fundamental na compreenso dos mecanismos que
operam nesta dinmica. Sob esta perspectiva, elaboramos um projeto de
pesquisa com foco e metodologia determinados em funo de um
paradigma tico tendente a deflagrar estas operaes.
Dentre nossos objetivos se inclui a necessidade de evidenciar que
tipo de dinmicas se operam tendentes incluso e quais se operam no
sentido contrrio, por isto o presente estudo, investiga a incluso das
pessoas com necessidades especiais na universidade, na perspectiva dos
professores.
1
Docente do Curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itaja UNIVALI , Mestre
em Psicologia PUCRS. Doutoranda em Psicologia da Educao PUCSP.
2
Acadmica 10 Perodo de Psicologia na Universidade do Vale do Itaja UNIVALI
Bolsista do Programa de Iniciao Cientfica da UNIVALI.
113
Identificamos as diferentes estratgias que os professores utilizam
para o atendimento dos estudantes com necessidades especiais e as
dificuldades encontradas pelos alunos, na universidade. Foram sujeitos da
pesquisa, 10 professores, de uma universidade do sul do pas, que atuam
diretamente com os alunos da graduao e que foram convidados a
participar deste estudo.
A coleta de dados foi realizada atravs de entrevista semi-aberta. Para
o procedimento de anlise e interpretao de dados foi utilizado o mtodo
qualitativo, por meio da anlise de contedo de Bardin (1991).
Alm de identificar as diferentes estratgias utilizadas para o
atendimento do aluno com necessidades especiais, os resultados indicaram
algumas das dificuldades encontradas por estes alunos na universidade do
ponto de vista dos professores. No estudo desta problemtica pretendemos
ampliar a discusso sobre a incluso na universidade, o que poder dar
subsdios elaborao de programas de atendimento a estes alunos neste
mbito educativo e, por conseguinte, na sociedade como um todo.
O Ministrio de Educao e Cultura do Brasil (MEC) estima que
existem 6 milhes de crianas e jovens at 19 anos com algum tipo de
deficincia fsica ou mental no pas. Somente 334,5 mil deles esto
matriculados em escolas que oferecem atendimento para pessoas com
necessidades especiais, o que significa que 5,7 milhes esto desassistidos,
dados que nos levam a refletir sobre a urgente necessidade de incluso
dessa populao.
O professor e o aluno com necessidades especiais
A excluso explcita daquele que diferente de algum modo
presentifica uma outra excluso, a do desejo: desejo de aprender, de
ser, de ensinar, de criar. Ao excluir o aluno, o professor tambm se
exclui e se aliena de si mesmo, de seus ideais, daquilo que se props
realizar em seu trabalho (Valore, 1999, p.125).
Vash (1988) aponta que quando um aluno matriculado, logo aps
surgem outros problemas: alguns professores se mostram relutantes a
flexibilizar seus estilos de ensino para poder dar uma melhor acomodao
aos alunos com necessidades especiais, muitos no esto dispostos a
114
fornecer textos para os estudantes surdos ou permitir a gravao de aulas
para os estudantes cegos.
Com respeito aos fatores potenciais para a marginalizao Alcantud
(1995), corrobora que, o aspecto fsico das pessoas com necessidades
especiais, uma das caractersticas mais chamativas, alm da falta de
convvio e dos preconceitos e esteretipos.
Quanto s relaes sociais, especificamente na relao com os
docentes, Alcantud (1995) assinala que os professores frequentemente se
sentem incomodados quando tm que atender alunos com necessidades
especiais, provocando assim, discriminao. Tambm podem sentir que o
fato de ter, na sala, um aluno com estas caractersticas, acarretar um
trabalho adicional. Neste sentido, o autor faz referncia a falta de pesquisa a
respeito das atitudes e valores de professores e estudantes quanto a presena
e companhia destes estudantes na sala de aula.
Quanto formao dos professores Silva & Mendes (1996)
assinalam que o conceito de ser um bom professor esta relacionado com um
investimento pessoal que deve ser assumido por cada pessoa, isto , que
deve ser resolvido ao longo da formao, em cada momento da vida.
Para a pedagogia moderna, segundo Mrech (1999), o aluno parece
um ente abstrato, do qual basta saber como funciona em geral, para que nos
fornea os dados de como ele se apresenta na prtica. A crena que o
aluno, em geral, traz em seu bojo o aluno de uma forma especfica ou
particular (Mrech, 1999, p.5). Assim, a concepo terica tradicional
indicaria, ento, que o aluno permanece inaltervel no tempo e no espao
desde os primrdios at hoje. Por consequncia, os professores adotam em
suas prticas um modelo a-histrico e linear do processo educativo e do
desenvolvimento do aluno, o que no facilita a percepo do aluno, em toda
sua especificidade.
Segundo esta autora, a educao inclusiva nos leva a um
questionamento em relao aos preconceitos e esteretipos atravs dos quais
a realidade escolar pensada. O problema no reside na culpabilizao dos
professores por acreditarem nas prprias imagens que eles possuem sobre os
alunos, j que a sociedade como um todo que estigmatiza e que continua a
criar imagens estereotipadas, o que fica confirmado pelos ndices de evaso
e de repetncia em todos os nveis de escolaridade.
115
Neste sentido, Mrech (1999) ressalta que no se trata s de saber
como os professores devem ensinar, mas de um questionamento geral na
ordem da tica.
De acordo com Cunha & Leite (1996 p.15) o currculo constitui-se no
rol de conhecimentos e sua hierarquia na organizao do saber que se
veicula na universidade. Para os autores, so os conhecimentos
organizados no currculo que favorecero a preparao dos profissionais
para o mercado de trabalho, objetivo que condiciona as decises
curriculares, as quais perdem sua autonomia entendendo que so
historicamente dependentes das relaes da educao com a produo e
determinadas por elas.
Portanto A educao tem por funo estabelecer pontes entre as
estruturas sociais e as estruturas de pensamento (Cunha & Leite, 1996,
p.18). As autoras afirmam que existe uma estreita relao entre a forma e o
contedo da educao e que esta se encontra estreitamente relacionada com
o capital, relao que determina que o primeiro nvel de deciso curricular
esteja predeterminado, o que nem sempre percebido, por estar fundado
pela ideologia dominante.
Para estas autoras o conhecimento ser transmitido por trs instncias
fundamentais: currculo, pedagogia e avaliao. A primeira dir qual
conhecimento vlido, a segunda de que maneira transmiti-lo e a terceira
qual a melhor realizao deste conhecimento, porm a forma em que estes
conhecimentos so transmitidos exerce o controle e o poder de distribuio.
Os professores so agentes ativos do processo de ensino/
aprendizagem, por isto de fundamental importncia que estes participem
ativamente do processo de integrao, recebendo toda a informao
pertinente e o assessoramento especfico sobre as caractersticas das pessoas
a serem integradas.
importante destacar, ressalta Alcantud (1995), que geralmente o
pessoal docente da universidade encontra suas tarefas divididas, porque
alm da responsabilidade docente, deve tambm se ocupar de pesquisa e de
tarefas administrativas, o que pode acarretar em uma sobrecarga de
trabalho. Tambm acrescenta que o professor muito frequentemente
encontra poucos recursos para adaptar sua exposio s turmas muito
numerosas e sem recursos adequados.
116
Mazzotta (2000) refere que a identificao das necessidades
educativas especiais e as decises a partir desta identificao, requer uma
avaliao cuidadosa e criteriosa dos profissionais envolvidos, embora
grande parte destas necessidades possam ser atendidas sem aes especiais
e nas necessidades cujo atendimento por parte dos professores e recursos
escolares comuns esteja alm das condies e possibilidades, devero ser
viabilizados os atendimentos necessrios nos mbitos social, medico e
outros, de forma direta ou cooperativa e integrada educao escolar.
Neste sentido, Mazzotta (2000) afirma que:
sabido que no so poucos os educandos que tem suas
necessidades educacionais interpretadas como especiais ou muito
diferentes por parte de professores mal preparados ou mal apoiados
pelo sistema de ensino.
Michels (2000) ao analisar as condies pedaggicas da universidade
afirma que tanto os alunos com necessidades especiais, como os que no
tinham, referiram a necessidade de adaptar o sistema psicopedaggico
ressaltando a falta de um centro de apoio especfico com o qual a
universidade demonstraria seu compromisso com a igualdade de
oportunidades para todos os acadmicos. A autora assinala tambm a
necessidade de adaptao dos currculos, visando valorizar a diversidade e
as capacidades de cada aluno e, para isto sugere propiciar o oferecimento de
um ncleo de contedos comuns e mnimos, para assim evitar a segregao
e atraso dos alunos. Merece importante destaque na pesquisa mencionada, a
opinio que os alunos tm sobre o despreparo dos professores para o
atendimento populao com necessidades especiais. Neste sentido,
observa-se a falta de preparao dos cursos de capacitao, habilitao dos
professores de Ensino Mdio e Superior, j que no existem disciplinas
orientadas a este efeito:
no existe a incluso de disciplinas que discutam os aspectos
psicopedaggicos, ticos e polticos da incluso dos alunos
portadores de necessidades especiais. Desta maneira, quando um
professor se depara com um aluno diferente, ou seja, que necessite de
uma avaliao diferenciada, ou material didtico especfico, no se
mobiliza para atender, quer seja por desconhecimento, seja por
preconceito (Michels, 2000, p.83).
117
Lacerda, Lemes, e Santos (2002) realizaram uma pesquisa na qual
apresentam a preocupao existente com a formao (preparatria) dos
professores para a incluso de alunos com necessidades especiais.
O referido estudo foi realizado entre professores do Ensino Mdio e
Superior, levantando-se quais informaes so ministradas nos cursos de
formao em relao educao especial e a incluso de alunos com
necessidades especiais.
Dentre os resultados os autores destacam que, no curso normal existe
uma baixa quantidade de informaes sobre incluso e apenas os alunos que
escolheram habilitao em educao especial possuem maiores informaes.
Neste sentido Ambrogi, Moreira e Santos (2001) tambm relatam que:
Os professores tm receio em aceitar estas crianas em suas salas por
se acharem incapazes de realizar um trabalho adequado com elas.
V-se ainda que poucos so os professores especializados e que a
maioria das escolas no contam com um suporte tcnico para
propiciar um atendimento integrado ao professor da classe comum,
levando-o a estabelecer formas criativas de atuao com as crianas
portadoras de necessidades especiais. O esforo realizado para a
integrao do deficiente no Ensino Regular no vem surtindo o
resultado esperado pelos organizadores, pela falta de preparo das
Unidades Escolares para receber estes indivduos (p.69).
Concordamos com Gadorti (1987) que
O profissional do ensino no um tcnico, um especialista, antes
de mais nada um profissional do humano, do social, do poltico
(p.142).
Nossa experincia de pesquisa
Os dados coletados foram analisados qualitativamente, por meio da
Anlise de Contedo de Bardin (1988), em que foram criadas categorias e
subcategorias com o objetivo de organizar os dados brutos para ento
interpret-los globalmente.
A primeira categoria, denominada Identificao de dificuldades,
agrupou a identificao das dificuldades do aluno pelo professor, assim
como tambm as prprias dificuldades do professor para ministrar aula para
o aluno com necessidades especiais.
118
Em geral, os professores tm reconhecido algumas dificuldades
dando mais nfase necessidade de acessibilidade em detrimento das
dificuldades pedaggicas, as quais nem sempre so percebidas pelos
professores e muitas vezes ignoradas. Um exemplo disso e a seguinte frase:
Ele no tinha nenhuma dificuldade, impressionante parece que o que
faltou no olho foi para o universo, aquele em especial, no sei o que
vir por ai.
Nesta categoria tambm, se colocam em lugar de destaque
principalmente as barreiras de acessibilidade deixando-se de lado outro tipo
de barreiras que dificultam a incluso do aluno com necessidades especiais.
A partir de algumas falas subentendeu-se que se existem rampas os
problemas de acessibilidade e pedaggicos ficam completamente satisfeitos.
Neste sentido destacamos a seguinte fala:
Uma das primeiras coisas o espao fsico, que agora por exemplo,
nosso curso j melhorou um pouco porque tem uma entrada com
passarela, com rampas.
Manzzoni, Torres e Oliveira (2001), entendem que o respeito
diversidade humana nos leva a verificar que todas as pessoas possuem
habilidades diferentes, e que para desempenhar determinadas atividades
algumas necessitam de condies especiais. Os autores entendem que a
acessibilidade parte constituinte das condies especiais as que as pessoas
com necessidades especiais tem direito.
O conceito de acessibilidade tem origem, segundo relatam os
referidos autores na dcada de 60, no advento do conceito (na rea de
arquitetura) de projetos livres de barreiras, o qual focava prioritariamente os
problemas de circulao de usurios de cadeiras de rodas.
A acessibilidade um processo dinmico, associado no s ao
desenvolvimento tecnolgico, mas principalmente ao
desenvolvimento da sociedade. Uma sociedade que se preocupa em
garantir s pessoas portadoras de deficincia o direito de participar da
produo e disseminao do conhecimento certamente contar com a
participao dessas pessoas, de forma ativa, em todos os demais
setores da sociedade (Manzzoni, Torres et al, 2001, p.10).
Uma questo importante encontrada nas entrevistas foi a falta de
reconhecimento da responsabilidade, sendo esta inerente ao cargo de
119
professor, e sim prpria da universidade a qual, segundo as falas recolhidas,
deveria dar os subsdios pertinentes para que o professor possa ministrar
aula para todos seus alunos, independentemente das diferenas que estes
apresentam: surdo?
No, nunca pensei nisso... teria que aprender a falar com as mos...
isso a eu acho que a universidade teria que me propiciar.
Outros professores referiram no ter dificuldades, porm, nem
sempre os alunos com necessidades especiais se manifestam a respeito de
suas necessidades:
...eu particularmente no tive nenhuma dificuldade, eu me dei assim
super bem entende? Acho tambm que eles no reclamaram eu
procurei entender n?
Reconheceram as prprias dificuldades em ministrar aula por
desconhecer as tcnicas apropriadas, o que redunda em uma completa falta
de estratgias propiciadoras da incluso desses alunos.
Outra das categorias elaboradas, intitulada As Estratgias, resume a
maneira que os professores encontram para lidar com estes alunos.
interessante ressaltar que alguns entrevistados no referiram ter
dificuldades para ministrar aula aos alunos com necessidades especiais,
porm, quando indagados sobre que estratgias utilizariam, demonstraram
no possuir conhecimentos sobre as melhores formas de lidar com estes
alunos e trabalhariam movidos por improvisao que, sendo ainda uma
alternativa (talvez a nica possvel) no a mais indicada ou favorecedora
de uma real incluso.
Em geral, reconhecem e admitem no saber como lidar com uma
pessoa com necessidades especiais dentro da sala de aula:
Olha, eu acho que mais o visual mesmo, at porque eu no me
considero a pessoa mais apta para lidar com ele, a nica coisa que eu
posso sempre perguntar se est legal, mais eu no tenho uma
tcnica eu no tenho material, eu no sei lidar com Braille, eu no sei
n?
Manifestaram em geral acreditar possuir maiores dificuldades com
alunos surdos:
120
um problema, porque o cego ele ainda tem a possibilidade da
audio n, agora o surdo... no sei. Se aparece uma pessoa com falta
de audio dentro da sala de aula, como que eu devo proceder? No
fao nem ideia...
Os entrevistados demonstraram, em geral, desconhecer quais as
estratgias especficas poderiam favorecer a incluso do aluno com
necessidades especiais na universidade, como tambm reconheceram no
ter tido nenhuma formao para lidar com estes alunos e tentam elaborar
estratgias a partir da improvisao no chute. Professores que ainda no
passaram pela experincia de ministrar aula para estes alunos, e nunca
pensaram nessa possibilidade, teriam que inventar o que denota mais uma
vez a falta de informao e formao especfica a este respeito. As
seguintes falas refletem este desconhecimento:
Eu no saberia como fazer exatamente, mas eu acho que teria uma
inspirao de momento...
mesmo, ns os professores, no estamos preparados para trabalhar
alunos que tenham deficincia visual, por exemplo, ns no temos
tcnicas para trabalhar, ns no conhecemos, ns improvisamos s
vezes d certo, s vezes no.
Nunca tive contato com este tipo de aluno e tambm, sinceramente,
no estaria preparado, tecnicamente preparado, para receber este tipo
de aluno.
No ministro diferente porque no sei, no tenho conhecimentos,
precisava fazer um curso para saber, sim, maneiras diferentes de
trabalhar.
Uma outra categoria que merece destaque o Preconceito que foi
manifestado de maneira direta ou encoberta por uma atitude paternalista.
Johnson (1997) define o preconceito como:
Atitude cultural positiva ou negativa dirigida a membros de um
grupo ou categoria social. Como uma atitude, combina crenas e
juzos de valor com predisposies emocionais positivas ou negativas
(p.180).
Este autor tambm refere que o preconceito fundamenta a
discriminao e o tratamento desigual para determinados indivduos
pertencentes a um grupo ou categoria.
121
s vezes o preconceito no se manifesta abertamente seno de
maneira velada, porm, acaba constituindo do mesmo modo um ato de
discriminao. De alguma forma todas as pessoas sabem que no podem se
apresentar pr-conceituosas, o politicamente correto no ter preconceitos,
porm, estes aparecem de qualquer forma e quando negados ou
supostamente ocultos, muito mais difceis de vencer. Pareceria ser tambm,
atravs da analise das falas de alguns entrevistados, que existisse um
sentimento de menos-valia para com o aluno com necessidades especiais o
que se converte em discriminao:
No fiz nada, nenhuma, diferena, at porque eu acho que no tem
que fazer diferena, seno paternalismo.
Quando o entrevistado fala em No fazer diferena, nega a
diferena, que no pode ser negada, ela existe sempre entre todos os seres
humanos, portanto no fazer diferena uma maneira de no atender s
necessidades que se apresentam de forma diferente para cada aluno e mais
especialmente para o aluno com necessidades especiais .
...no tem que criar diferena, ta, porque seno vou criar privilgios,
de fazer a prova em casa ou fazer isto... porque o outro no pode
fazer privilegio, ento bvio que a coisa muito tnue n, claro
que eu tenho que ter um cuidado especial com essas pessoas, mas eu
tambm no posso criar uma prpria discriminao com elas para
com os outros n, dar um tratamento diferenciado de queridinho
tarar, faz teu trabalho em casa tudo em casa, no sei o que, no sei o
que se os outros no tem o mesmo direito, ento na verdade estou
discriminando da mesma forma.
Ter atitudes paternalistas com certeza absolutamente contraditrio
ao conceito de incluso que acreditamos ser necessrio para uma sociedade
mais justa e equitativa, porm dito conceito necessita ser compreendido em
toda sua extenso, incluir significa atender as necessidades especiais que
cada pessoa possui.
Muitas vezes, ao contrrio do destacado anteriormente, se incorre em
atitudes paternalistas, que de alguma maneira pareceria a considerao em
demasia da deficincia, a pessoa com necessidades especiais acaba sendo
portadora de uma suposta inutilidade que ser suprida por muita fora de
vontade. Falamos aqui de uma igualdade de direitos e obrigaes que de
fundamental necessidade, falamos aqui, de uma igualdade na diferena.
122
Assim, constatamos manifestaes de assistencialismo, evidenciadas
por atitudes superprotetoras. Por exemplo:
Suprem com essa fora de vontade n?
A deficincia existe de qualquer forma e no tem como supri-la,
nossa obrigao fornecer os recursos necessrios para que no deva existir
fora de vontade a mais, seno a mesma que todos os alunos possuem:
A gente tem aquele carinho especial por aquele aluno n,... parece
que eles suprem eles tem assim uma ateno muito legal...
Ele no tinha um tratamento especial o nico tratamento que e... eu
tinha que ver por ele... eu tinha que traduzir pra ele quando tinha
algum detalhe que ele precisaria imaginar n eu tinha que fazer isso
por ele.
Voc no muda essa realidade, voc no tem como mudar essa
realidade... a gente tenta desenvolver um trabalho que amenize ou
que d as condies dele se desenvolver n...
O trabalho a ser desenvolvido no o de amenizar, minimizar as
diferenas, seno de fornecer subsdios, assim podemos sim mudar a
realidade, igualando as oportunidades. Consideramos que o desenvolvimento
humano no tem limites.
Os prprios alunos discriminam principalmente se o deficiente
capaz, se ele demonstra capacidade;
O pessoal da sala comeou a discriminar ele por que achou que os
professores o estavam protegendo.
Neste sentido consideramos de fundamental importncia a atitude
inclusiva que o professor deve ter em sala de aula, lugar propcio para o
dilogo entre os alunos e que poder produzir mudanas no pensamento de
todos contribuindo assim a tornar uma sociedade melhor e acolhedora da
diferena.
Como eles so minoria no tem um movimento muito forte n,
algum que se responsabilizasse.
Tambm de acordo com as possibilidades dele n, porque eu vou ter
que atender as caractersticas individuais dele e lgico, a gente vai
ter que atender dentro do processo que ele conseguir aprofundar
porque vai ter que atender essas caractersticas.
123
O professor deve adaptar sua aula para que o aluno com necessidades
especiais consiga atingir as mesmas metas que os outros alunos, aqui parece
que se equipara uma deficincia fsica com uma deficincia mental.
A modo de considerao final, entendemos a partir do estudo
realizado, que a incluso na universidade um tema muito vasto e que no
se esgota em si mesmo. Sero necessrios outros estudos para a
compreenso deste fenmeno, e fundamentalmente urgente a mudana de
atitudes frente a pessoa com necessidades especiais, para poder mudar de
alguma maneira a realidade vivida pelos alunos com necessidades especiais
e propiciar uma educao de qualidade para todos.
Entendemos que, de maneira geral, a forma dos professores lidarem
com os alunos com necessidades especiais muito limitada e, como foi
destacado, parte da improvisao e no de conhecimentos especficos, por
isto recomendamos o debate e discusso de temas e assuntos relativos
educao inclusiva nos cursos de capacitao e atualizao docente
ministrados na universidade.
Verificamos que as dificuldades enfrentadas pelos alunos com
necessidades especiais na universidade, nem sempre so reconhecidas pelos
professores e que aparentemente segundo sua percepo estas se resumem
basicamente a dificuldades na acessibilidade e que outras dificuldades que
tangem especificamente a aspectos pedaggicos ficam sem atendimento.
Alguns professores utilizam estratgias para favorecer a incluso,
porm, quase sempre estas partem do senso comum ou de improvisaes, o
que nem sempre determina uma real incluso destes alunos.
Os professores entrevistados reconheceram, em geral, no possurem
conhecimentos necessrios para lidar com alunos com necessidades
especiais, seja pela falta de experincia ou convvio ou por falta de
formao especfica, o que acaba redundando em atitudes discriminatrias,
preconceituosas ou paternalistas.
Entendemos que a formao dos professores pouco aborda os
aspectos referentes educao inclusiva, no h disciplinas especficas nos
cursos de graduao, de ps-graduao, nas licenciaturas ou mestrados e
no so estas que preparam os professores universitrios? Para que alunos
so preparados estes professores? Parece-nos que s para ensinar para aos
124
iguais. Neste sentido, apontamos a necessidade urgente e importante de
esclarecimentos sobre este tema.
Este estudo tem servido para ampliar nossos conhecimentos sobre
educao inclusiva e, poder ser uma ferramenta utilizada para gerar
recursos tendentes a uma real incluso social. Sabemos que o caminho da
incluso longo, porm, indispensvel para uma sociedade mais justa e
igualitria.
Referncias
Alcantud, F. (1995) Estudiantes con discapacidades integrados en los
estudios universitarios: notas para su orientacin. In: Manual de
Asesoramiento y orientacin vocacional. Editor: Francisco Rivas.
Editorial Sntesis. Barcelona. 457-469 p.
Ambrogi, D; Moreira, M. c., Santos, J. A, Santos, S. M. L., Vargas, A M. R,
Takaki, D. (2001) Depto. de Pedagogia UNITAU. Disponvel em:
http://www.unitau.br/prppq/inicient/iveic/resuhuma/huma02.htm
Bardin, L. (1991) Anlise de Contedo. Lisboa: Edies 70.
Cunha, M. I. da. & Leite, D. B. C (1996). Decises pedaggicas e
estruturas de poder na universidade. Campinas, SP: Papirus.
Gadotti, M. (1987) Concepo dialtica da educao: um estudo
introdutrio. So Paulo: Cortez.
Johnson, A G. (1997) Dicionrio de sociologia: Guia prtico da linguagem
sociolgica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
Lacerda, P. G., Lemes, R M. R, Santos, R A (2002) Depto. de Pedagogia.
http://www.unitau.br/prppg/inicient/iveic/resuhuma/huma02.htm
Mazzoni, A A, Torres, E. F., Oliveira, R de et al. Aspectos que interferem
na construo da acessibilidade em bibliotecas universitrias. Ci.
Inf. [online]. Mai./ago. 2001, vol.30, n 2 [acessado em 29 Agosto
2002], p.29-34. Disponvel em: http://www.scielo.br/scielo.php
Mazzotta, M. J. S. (1996) Educao Especial no Brasil: Histria e polticas
pblicas. So Paulo: Cortez.
125
Michels, L.RF. (2000) A Incluso/ Excluso da Pessoa Portadora de
Necessidades Especiais no Contexto Universitrio. Dissertao de
Mestrado. PUCRS.
Mrech, L. M. (1999) Psicanlise e educao: novos operadores de leitura.
So Paulo: Pioneira.
Silva, M. H. L. D. & Mendes, M. T. P. J. (1996) Textos e contextos:
contributos para novas prticas na formao inicial de professores.
In: II Congresso Galaico-Portugus de Psicopedagogia. Almeida &
Silvrio & Arajo (Org.). Braga: Universidade do Minho, 105-112 p.
Sawaia, B. (1999) Introduo: Excluso ou Incluso perversa? In: As
Artimanhas da Excluso: anlise psicossocial e tica da
desigualdade social. Org. Bader Sawaia. Petrpolis: Vozes, 7 p.
Valore, L. A (1999) Contribuies da psicologia institucional ao exerccio
da autonomia na escola. In: SILVElRA, A F. et al. Cidadania e
participao social. Porto Alegre ABRAPSOSUL, 119-128 p.
Vash, C. L. (1988) Enfrentando a deficincia: a manifestao, a psicologia,
a reabilitao. So Paulo: Pioneira Editora da Universidade de
So Paulo.
126
Dialogando com o diferente: a convivncia e a pluralidade cultural
1
Ana Pagamunici
2
Neste artigo, abordaremos a identidade e alteridade num contexto de
pluralidade cultural, enfocando a necessidade e as possibilidades de se
estabelecer um dilogo entre diferentes manifestaes grupais, a fim de que
o contato com aquele que consideramos diferente se constitua em um
espao para que conheamos o outro a partir de sua especificidade e
reconheamos, a partir das divergncias, nossa identidade.
Na sociedade capitalista neoliberal, de acordo com Adorno e
Horkheimer (1995), os meios de divulgao da cultura transformaram-se
em uma indstria de massa que tem por funo oferecer e vender produtos
que criam a sensao de que todos somos iguais e que h uma cultura
hegemnica, globalizada e mundial.
Este discurso falacioso, que esconde por trs de si um projeto
imperialista de recolonizao dos pases pauperizados, traz a ideia de que
h somente um pensamento, uma maneira de viver, j que todos somos
universais. As diferenas locais ou regionais parecem no ser importantes e
a diversidade entre grupos prximos deve ser homogeneizada em prol da
globalizao mundial. O outro, nesta perspectiva, segundo Jovchelovitch
(1999), sempre aquele muito distante de ns, que no faz parte de nosso
convvio.
Na sociedade capitalista atual, a diferena aparece como algo
existente em um espao distante, longnquo e, quem sabe, inalcanvel: por
exemplo, ndios ou populaes j extintas. A diferena prxima (aquela que
se d no seio de um grupo) negligenciada, insignificante e desconsidervel,
o que cria um clima de que todos somos iguais e sobressai a ideia de que o
outro sempre aquele que est longe ou que se ope.
1
Este artigo fruto da produo terica de material utilizado na assessoria de um curso
popular de formao de lideranas, numa comunidade religiosa da cidade de Santa Izabel do
Iva-PR. A elaborao final do material contou com a colaborao da Professora de
Psicologia Social, Suzana Maria Lucas Chaves e do estudante de Psicologia, Durval
Wanderbroock Junior.
2
Educadora de base do Centro de Referncia da Criana e do Adolescente de Maring.
127
Porm, sabemos que isso no verdade, que as diferenas tambm se
manifestam dentro de um mesmo grupo e, a todo o momento, expressam-se
na diversidade cultural. Isso nos leva a indagar: quem aquele que chamamos
de outro? Quem e o que o diferente? O que configura a diferena?
Para responder a essas questes, temos que, inicialmente, entender o
que estamos chamando de pluralidade cultural.
De acordo com Arendt (apud Jovchelovitch, 1999, p.75), a
pluralidade a diversidade infinita de perspectivas diferentes e nicas
produzidas pela interao entre os homens. Alm disso, a pluralidade o
que confere aos homens a sua condio de humano:
(...) a pluralidade dos seres nicos o que caracteriza a condio
humana; ns somos seres nicos e por isso ns somos plurais. E essa
unicidade que garante a pluralidade (Arendt, apud Jovchelovitch,
2000, p.44).
Compartilhando dessa definio, S.M. Lucas-Chaves (comunicao
pessoal, 12 de Agosto de 2002), explica que pluralidade de um grupo no
est somente na convivncia entre diferenas e semelhanas, mas nas (...)
interconexes dinmicas criadas pelo grupo, atravs de seus integrantes, e
estabelecidas entre semelhanas e diferenas.
Quanto cultura, Thomaz (1995, p.427) escreve que
(...) se refere capacidade que os seres humanos tm de dar
significado s suas aes e ao mundo que os rodeia. A cultura
compartilhada pelos indivduos de um determinado grupo, no se
referindo pois a um fenmeno individual; por outro lado (...) cada
grupo de seres humanos, em diferentes pocas e lugares d diferentes
significados a coisas e passagens da vida aparentemente semelhantes.
Nesse sentido, a cultura um cdigo simblico construdo e criado, a
cada dia, na convivncia dos povos e que compartilhado pelos integrantes
de um determinado grupo social. Isto porque, o homem um ser social
(compartilha com outros homens formas de agir e pensar) e no um ser
passivo, ao contrrio, constri ativamente os significados a partir das
interconexes entre as diversas relaes que estabelece durante sua
existncia.
128
Esta construo, segundo Thomaz (1995), faz parte de um
aprendizado humano, adquirido na convivncia com os outros, de forma
que pertencer a uma determinada cultura significa aprender, ou seja, a
cultura se refere, pois, capacidade e necessidade que os seres
humanos tm de aprender (Thomaz, 1995, p.428).
Tendo esclarecido isso, tentaremos responder s perguntas
anteriormente levantadas.
De acordo com Arruda (1999) a diferena tanto pode aproximar como
distanciar grupos. Ela no depende apenas do outro, pois ele no somente
aquilo que nos apresentado, mas a representao que fazemos dele.
As comidas tpicas, as prticas para aquisio de alimentos e
manuteno da vida, os rituais sagrados, as roupas, os costumes formam o
que chamamos de manifestaes culturais. A cultura compreende essas
manifestaes adicionadas do simbolismo que o coletivo cria a partir disso,
ou seja, o elemento simblico criado a partir da prtica, que est situada
historicamente, em um determinado espao e tempo. Portanto, que expressa
e traz consigo caractersticas de um determinado contexto histrico.
esse contexto histrico que diferenciar o outro e o mesmo,
pois eles so mutveis ao longo da histria. Ora o mesmo pode ser o
outro, ora o outro pode ser o mesmo, pois o outro e o mesmo so
uma construo recproca que se desvela ao longo de situaes histricas
(Arruda, 1999, p.18).
E no espao em que se encontram o mesmo e o outro que
devemos pensar a diferena e a alteridade. Segundo Jodelet (1999) a
alteridade o espao da diferena elaborada: a condio do outro. E um
processo que s se d numa sociedade plural, que evoca, ao mesmo tempo,
pluralidade e identidade. Ela construda num espao de produo e
excluso, pois se configura no entendimento e reconhecimento do outro,
ao mesmo tempo em que faz a excluso desse outro, reafirmando a
identidade: individual ou grupal.
Para Jodelet (1999, p.47),
a noo de alteridade sempre colocada em contraponto: no eu de
um eu, outro de um mesmo. Ela faz par filosoficamente, com a
noo de ipseidade carter que faz com que o indivduo seja ele-
129
mesmo e distinto de todos os outros; remetendo a uma distino
antropologicamente originria e fundamental a distino entre o
mesmo e o outro ela estabelece, de sada, uma relao de
identidade...
Baseada na teoria piagetiana, Jovchelovitch (1999) afirma que a
alteridade o elemento indispensvel para que o sujeito se reconhea no
mundo e construa sua identidade; para que reconhea a presena do outro
(entendido como objeto do conhecimento),
3
pois a partir do
reconhecimento do outro e do simbolismo, criado a partir desse
reconhecimento, que o homem capaz de construir sua identidade e se
reafirmar no mundo.
Como uma via de mo-dupla, a alteridade um processo que se
sustenta no nvel das representaes, forma-se no processo de interao
entre os diferentes, a partir dos smbolos que se criam nessa relao.
Para melhor entender o conceito de alteridade, Jodelet (1999) faz a
diferenciao entre alteridade de fora e alteridade de dentro.
A alteridade de fora refere-se ao longnquo e extico
definidos com relao a uma cultura dada seja ela nacional, cientfica ou
grupal (Jodelet, 1999, p.48). A alteridade de dentro refere-se queles
que, marcados com o selo da diferena, seja ela fsica (cor, raa,
deficincia, etc.) ou ligada a uma pertena de grupo (nacional, tnico,
comunitrio, religioso, etc.) se distinguem no seio de um conjunto social ou
cultural e podem a ser considerados como fonte de mal-estar e ameaa
(Jodelet, 1999, p.48).
Durante muito tempo, o problema da alteridade na antropologia ficou
restrito alteridade de fora. A preocupao das cincias sociais era apenas
identificar os fenmenos coletivos que se distinguiam entre uma cultura
prxima e outra muito distante, O que resultou no equivocado entendimento
de que a alteridade se refere apenas diferena entre o mesmo e o outro.
3
Dizer que o outro objeto de conhecimento, para Jovchelovitch (1999, p.69), significa
dizer que este (...) refere-se a objetos humanos e no-humanos, uma vez que eles se tornam
reconhecidos como objetos de conhecimento (...) refere-se a tudo que se torna objeto do
conhecimento, incluindo, claro, o momento em que o eu torna-se um objeto para si mesmo
(...) sem o reconhecimento do outro, a produo do sentido e seus correlatos a forma
simblica, a linguagem e as identidades seriam inexistentes.
130
A partir das teorias freudiana e marxista, a alteridade de dentro
assumiu destaque nos estudos sociolgicos e a problemtica da diferena
comeou a ser estudada dentro do prprio grupo.
A alteridade, produzida a partir dessas diferenas torna-se objeto de
estudo da Psicologia, que no se limita a estudar a relao entre o eu e o
outro, partindo do individual e ignorando o contexto, mas que busca neste
prprio contexto o lugar da diferena e, por consequncia, da alteridade.
Para Jodelet (1999, p.52) o que nos interessa saber, portanto, como
algum prximo se torna o outro. Sabemos, atravs da psicologia, que o
processo de diferenciao a base do funcionamento mental, o que nos
urge perguntar: quando e como a diferena entendida como oposio
distintiva em que os contrrios se unem se transforma em ruptura entre
duas entidades distintas?. a prpria autora que responde, escrevendo que
essa passagem se d no social que oferece um enorme palco de elementos
simblicos e prticos que fornecero a transformao alteridade.
Guareschi (1999a) nos d um alento com relao ao outro e ao
espao da diferena. Ele diz que o homem possui singularidade e
subjetividade. Ento, para o autor (p.153-154), a singularidade (dimenso
do ser humano enquanto um ser nico, irrepetvel, absolutamente
singular) o que nos confere a diferena, que nos d a condio de
diferente. A subjetividade (contedo do nosso ser) nos mostra que
tambm somos os outros, pois nos constitumos a partir das relaes que
estabelecemos durante toda nossa vida com os outros do mundo. Assim, o
espao da alteridade e da diferena est na relao, tanto do prprio ser que
conjuga muitos outros em si, quanto no encontro entre outros que entram
em relao.
Jovchelovitch (1999) escreve que a noo de alteridade se desenvolve
desde que somos criana e que o outro na construo de nossa identidade
tem papel fundamental, j que ela se forma numa relao intersubjetiva.
E a intersubjetividade que, de um lado, permite a existncia do ato
significante, ao mesmo tempo que, de outro lado, previne o
totalitarismo de interpretaes simblicas que se propem nicas, ou
capazes de exaurir o objeto com a verso que propem
(Jovchelovitch, 1999, p.70).
131
Dessa forma, a identidade e a diferena no so termos alternativos
e sim pensados um em funo do outro, em mtua dependncia (Perrot,
apud Arruda, 1999, p.17).
J vimos que a alteridade se d no plano da representao, o que
queremos acrescentar que o homem se reconhece e reconhece o mundo
pela representao produzida a partir de algo concreto do mundo (smbolo).
Essa representao adquire fora porque produz um sentido.
Este no uma entidade descolada do mundo; refere-se sempre a
alguma coisa fora de si, ou seja, a um objeto e nasce pela ao de um
ser humano. Sentidos tm o poder de referir e expressar
(Jovchelovitch, 1999, p.71).
O smbolo existe a partir do momento em que o indivduo capaz de
perceber que os objetos existem alm de sua atividade. Sendo assim, a
possibilidade lgica para a existncia do ato significativo a conscincia
de um objeto-mundo que existe para mais alm da atividade do sujeito
(Jovchelovitch, 1999, p.71). Esse objeto-mundo o que poderamos,
inicialmente, chamar de outro, pois ele mostra que a presena do homem
no nica no mundo, comportando-se como um parmetro para a
construo da identidade.
Segundo Jovchelovitch (1999) num mundo em que o indivduo no
reconhece outros objetos, jamais poder reconhecer a si mesmo, pois quanto
mais permanece centrado em si, menos capaz de olhar ao seu redor se
reconhecer a partir dos elementos externos que lhe diferenciam. medida
que o sujeito reconhece os objetos do mundo, ele estabelece uma relao com
esse mundo: deixa de ser um objeto inerte, passivo e passa a se reconhecer
como um ser atuante, capaz de intervir e modificar o meio em que vive.
Esta relao, segundo Jovchelovitch (2000, p.21-22), no se
estabelece apenas entre o sujeito e o objeto, mas mediada. Isto porque, o
outro tanto o meu Outro, significativo que est comigo aqui e agora, como
o Outro generalizado, simblico, um Outro da cultura generalizado.
Sendo assim, ao buscar o outro, acabamos por nos reconhecer,
acabamos percebendo que o outro no somente aquilo que est longe, mas
tambm, parte daquilo que pertence a ns. Nesta perspectiva, a identidade
construda a partir da relao do indivduo com o mundo e mediada pelos
sujeitos desse mundo.
132
Inicialmente, a criana se percebe como um objeto do mundo. Ao
entrar em contato com a alteridade deste, percebe-se como um objeto que
tambm produz saber, ou seja, percebe-se como um sujeito no mundo capaz
de modific-lo a partir de seu saber. De objeto do mundo, ela passa para
constituinte do mundo e das aes que lhe rodeiam. Da surge a capacidade
para representar, para evocar o objeto que no se encontra perto, para dar
distncia e diferena do mundo, o sentido e a proximidade que o fato
psquico constri, desse surgem: o reconhecimento de si e do mundo.
Nesse reconhecimento, o smbolo e o sentido que criamos para um
determinado objeto possui papel muito importante: evidencia que a relao
e o significado atribudo s coisas so formados num processo de interao
(uma relao entre o eu e o outro) e cooperao com o diferente, numa
relao de compromisso com esse diferente, que no se apresenta a ns,
mas que o buscamos, a partir de nosso desejo e de nossa necessidade,
advinda das relaes sociais e coletivas. Desejo esse que no imanente ao
indivduo, mas que est, certamente, influenciado pelas as relaes sociais e
necessidades de conhecer o mundo e se reconhecer.
Relacionar-se com a diferena envolve desejo, e a natureza dessa
condio desejante que tambm define a forma como uma sociedade
se engaja na rede de relaes humanas que permite tanto a construo
dos saberes como dos sentidos, eles prprios so atividades cruciais
para sustentar a formao de identidades, sentimentos de pertena e o
sentido de comunidade (Duveen, 1999, p.74).
Entender como se forma a identidade e o conhecimento dos objetos
do mundo muito importante para verificarmos como em nossa sociedade
atual o sujeito do saber no encontra mais espao.
Conforme Adorno e Horkheimer (1995), os meios de comunicao
de massa, sobretudo a televiso, oferece-nos todos os objetos do mundo,
que nos externo, prontos: o novo apresentado, juntamente com as
concluses a respeito desse.
Os crticos so os grandes representantes de nosso pensamento.
Aquilo que deveramos fazer ao nos depararmos com um novo objeto:
reconhec-lo e criar um sentido para o reconhecido est sendo
negligenciado, concomitante, capacidade intelectual: no precisamos mais
pensar diante do novo, isso faz com que no entremos em relao com ele e
133
no nos diferenciemos no mundo. Estamos, cada vez mais, fadados a no
nos reconhecermos, pois no estamos percebendo a diferena, no estamos
entrando em relao com o outro na sua forma original. O sentido que
temos das coisas o sentido oferecido pela propaganda.
Relacionado a isso, h outro agravante: no reconhecendo os objetos
do mundo, acabamos por nos fechar em ns mesmos, em acreditarmos que
nos tornarmos o centro do mundo. O que muito complicado, pois, como
disse Piaget (apud Jovchelovitch, 1999, p.72), precisamente quando o
sujeito est mais autocentrado, que ele menos conhece a si mesmo.
Permanecendo desta maneira, no construiremos nossa identidade, no nos
diferenciaremos do mundo, assumiremos a identidade que nos oferecida
pela concepo de homem do sistema capitalista neoliberal.
Uma identidade que no possibilitar nos reconhecermos como
sujeitos humanos, pois, conforme escreve Ciampa (1995, p.72)
a tendncia geral do capitalismo constituir o homem como mero
suporte do capital que o determina, negando-o, enquanto homem, j
que se torna algo coisificado (torna-se trabalhador-mercadoria e no
trabalha autonomamente; torna-se capitalista-propriedade do capital e
no proprietrio das coisas).
Daquilo que expusemos, podemos dizer que, primeiro, a identidade
um processo; segundo, que construda a partir de relaes prticas que
estabelecemos num espao social, que caracterizado historicamente.
Ciampa explica que essas relaes, ao mesmo tempo em que nos
diferencia, nos iguala por exemplo, nosso primeiro nome (prenome)
nos diferencia de nossos familiares, enquanto o ltimo nome (sobrenome)
nos iguala a eles (1995, p.63) de modo que a identidade incorpora tanto
a diferena como a igualdade.
medida que vamos estabelecendo relaes ao longo de nossas
vidas, vamos nos igualando e diferenciando. O espao social que
inicialmente a famlia passa posteriormente para os grupos dos quais
faremos parte e que constituiro nossa identidade. Dessa maneira, o
conhecimento de si dado pelo reconhecimento recproco os indivduos
identificados atravs de um determinado grupo social que existe
objetivamente, com sua histria, suas tradies, suas normas, seus interesses
(Ciampa, 1995, p.64), sendo que existir objetivamente significa estabelecer
134
relaes entre os membros e o ambiente em que o grupo est situado,
portanto, significa uma ao prtica disso, podemos dizer que (...) ns somos
nas nossas aes, ns nos fazemos pela prtica (Ciampa, 1995, p.64).
Para Ciampa (1995) no podemos definir a identidade apenas a partir
de aspectos representacionais isolados, preciso considerar, tambm, os
aspectos biolgicos, sociais, psicolgicos, pois eles se interpenetram e so
constitutivos do indivduo, o que nos possibilita pensar a identidade como
sendo pressuposta e que para se reafirmar dever ser reposta.
Explicando melhor, h uma identidade que nos esperada, porm,
somente nos reafirmamos a partir do momento que a repomos ou no, ou
seja, em que nossas aes prticas (relaes) a renova ou a contraria.
De certa forma, reatualizamos atravs de rituais sociais uma
identidade pressuposta que assim resposta como algo j dado,
retirando em consequncia o seu carter de historicidade,
aproximando-a mais da noo de um mito que prescreve as condutas
corretas, reproduzindo o social (Ciampa, 1995, p.66).
medida que nos colocamos no mundo, atravs de nossas relaes,
que a identidade ir se configurar: quando nos tornamos um ser-posto.
Nesse sentido, escreve Ciampa (1995, p.66):
A posio de mim (o eu ser-posto) me identifica, discriminando-me
como dotado de certos atributos que me do uma identidade
considerada formalmente como atemporal. A reposio da identidade
deixa de ser vista como uma sucesso temporal passando a ser vista
como simples manifestao de um ser idntico a si mesmo na sua
permanncia e estabilidade. A mesmice de mim pressuposta como
dada permanentemente e no como reposio de uma identidade que
uma vez foi posta.
Sendo assim, a identidade est sendo construda a todo o momento,
medida que a repomos. Mas muito mais, est sendo construda a partir dos
vrios outros que compem nosso meio social. Por exemplo, quando
algum pai, ele no apenas porque teve um filho, mas porque a sua
mesmice (que se d por um enorme nmero de pessoas ser pai) reposta
cotidianamente. Porm, sua identidade no se configura apenas como ser
pai, porque ele tambm filho, ou seja, sua identidade tambm est
formada por um outro, que negado para se reconhecer na posio de pai.
Assim, a identidade uma totalidade, mas que manifesta uma parte do eu
135
como desdobramento das mltiplas determinaes a que este eu est
presente, o que nos permite dizer que a identidade uma totalidade formada
pela multiplicidade de representaes que se interconectam.
Relacionado a isso, outro aspecto importante abordar: o movimento
social humano. De acordo com Ciampa (1995, p.68) no somos algo, mas
estamos sendo a todo o momento. Este estar sendo ao, mesmo tempo,
um estar sendo que expressa aquilo que somos: nossa humanidade, mas
tambm uma negao da totalidade dessa humanidade, pois preciso que
neguemos nossa totalidade para que possamos nos reconhecer como uma
parte dela.
Isso ocorre porque sempre que nos relacionamos com o outro nos
representamos, e essa representao assume um sentido trplice: 1) nos
representamos, 2) ao nos representar, desempenhamos papis (aos quais
estamos condicionados, por exemplo, ser filha, que podem ocultar outros
elementos constituintes de nossa totalidade) e 3) medida que nos
representamos, repomos a identidade pressuposta.
Representaes que no so nossas, mas pertencentes ao mundo.
Diante delas, encontramos uma mirade de possibilidades que poderiam ser
representacionais e que configuram um repertrio de representaes que
formaro nossa identidade. Sendo incorporada a partir das representaes, a
identidade, embora assuma caractersticas individuais, est carregada de
sentidos dados por outrem.
Podemos perceber, ento, que nossa identidade formada pelas
inmeras representaes que fazemos de ns mesmos, que repomos daquelas
representaes que nos so esperadas e pelas representaes dos papis a que
estamos determinados. A identidade, portanto, no esttica, mas o seu
prprio processo de produo. Ser no ! Ser Estar Sendo! Enfim,
identidade movimento. Identidade metamorfose. E sermos Um e
um Outro para que cheguemos a ser Um, numa infindvel
transformao (Ciampa, 1995, p.74).
At aqui, sabemos que a alteridade s pode existir num contexto
plural, em que as diferenas convivem e so formadoras de uma sociedade.
Tambm sabemos que a identidade se forma a partir do reconhecimento do
outro e da relao que se estabelece entre o eu e o outro, entendido como
objeto de conhecimento. Porm, para que comecemos a amarrar as coisas,
136
voltaremos a duas questes: quem o outro? Onde se insere o espao da
diferena, requerido pela alteridade, entre o eu e o outro?
De imediato, temos condies de responder que o outro no a nossa
negao, mas se nos reconhecemos a partir do confronto com o outro e
com as representaes que temos dele, como preservar o espao da
diferena, no reduzindo-o s nossas representaes?
Como vimos, no processo de aquisio do conhecimento, o outro
ocupa um espao muito importante, desenvolvendo uma funo
imprescindvel: auxiliar o sujeito na busca pela sua prpria identidade,
saindo da condio de um objeto no mundo que est sujeito aos saberes
apresentados para se reconhecer como um sujeito que produz saberes e atua
nesse mundo.
Porm, h muitas formas de se relacionar com esse outro, com o
prprio eu e, por conseguinte, com a prpria relao eu-outro.
Para Guareschi (1999a), num mundo em que o sujeito se coloca
como indivduo nico, como o centro dos acontecimentos, tal como est
estruturada a ideologia do sistema capitalista, baseada na competio e
individualizao dos seres e que resulta num narcisismo desenfreado, o
outro no interessa ou est em segundo plano.
Nesse contexto,
(...) o outro no significa ou pouco significa para ns. Pois ele no
faz parte de ns, um estranho, um aliengena. Ele o ndio, o negro,
a mulher, o excludo. Eu o explico, eu o domino, eu o exploro. E
mais: sou eu que decido quando h dominao, quando h
compreenso, quando h explorao (Guareschi, 1999a, p.159-160).
Quando esta representao do outro configurada, legitima-se o
surgimento do etnocentrismo, do preconceito, do genocdio e do etnocdio.
Nessa representao, o parmetro para designar o outro sempre o
eu, sendo o outro aquele que difere de mim, no por suas qualidades,
desejos ou objetivos prprios, mas pelo fato de que no igual a mim.
Assim, a sua diferena ressaltada, medida que no corresponde ao meu
padro de igualdade. Portanto, a condio do outro no respeitada,
aquilo que lhe faz diferente se apresenta apenas como a negao daquilo
que no sou, de modo que a condio do outro passa ser a minha
137
diferena: o outro aquilo que no sou e a alteridade inexiste, pois a
diferena resultado da minha negao.
Tendo essa viso do outro, jamais poderemos falar em convivncia
plural, j que para ser plural, preciso que existam vrios outros, cada um
com sua especificidade. Alm disso, diz Jovchelovitch (1999, p.74),
no basta, portanto, admitir a realidade do outro. necessrio
reconhec-la como a realidade de um sujeito legtimo, que no
apenas me constitui enquanto eu, mas que se apresenta como
portador dum projeto que lhe prprio e merece ser reconhecido
No momento que h um reconhecimento mtuo entre os diferentes,
emerge a alteridade e cria-se um espao dialgico entre os outros.
Para Thomaz (1995), esse reconhecimento do outro s possvel
quando o olhar que lanamos a ele no um olhar que enxerga somente
nossas experincias, carregado de preconceitos e pr-noes, mas um olhar
relativizador, que o v a partir de suas especificidades e que torna familiar
(no sentido de que no causa estranhamento objetivado) qualquer
manifestao da diferena.
tambm um olhar relativizador que nos possibilitar reconhecer a
ns prprios, j que pressupe que devemos estranhar o familiar e
familiarizar o estranho, no no sentido de que devemos tornar prxima
qualquer diferena, mas de que devamos lanar um olhar estrangeiro para o
interior de nosso prprio grupo considerado, muitas vezes, normal e
homogneo. O que significa dizer, segundo Jovchelovitch (2000, p.42),
integrar aquilo que novo, dar sentido ao desconhecido.
Tomando esse olhar que familiariza e acolhe, reconhecendo o outro
em sua especificidade, tm-se a pluralidade e, por extenso, a alteridade.
Nesse espao plural, segundo Jovchelovitch (1999), a convivncia s ser
possvel se for aberto o canal de comunicao entre os grupos.
O processo de troca, comunho e construo de novas realidades que
se formam a partir do confronto entre diferentes, que pressupe o ato de
conviver, de acordo com seu ponto de vista, est na comunicao. a
comunicao entre os grupos que possibilitar o espao para a alteridade
emergir, pois medida que entramos em relao com o outro somos
capazes de reconhec-lo em sua especificidade como sujeito legtimo.
138
Para Guareschi (1999a), a possibilidade de uma convivncia plural s
possvel quando o homem entendido como relao, porque no espao
relacional que as diferenas podero ser reconhecidas e pensadas. Ou seja,
que pessoa e como pessoa, ele relao,
isto , algum que um, que constitui uma unidade, mas ao mesmo
tempo no pode ser em completude sem os outros; para ser, ele
necessita intrinsecamente dos outros (Guareschi, 1999, p.153).
O que significa dizer que estabelecer relaes, ser relao, no
apenas dialogar ou trocar experincias com os vrios outros que compem
nosso ambiente social, mas se comprometer com esses e se permitir ser
transformado por eles, num processo de troca mtua.
O entendimento do homem como relao nos auxilia na convivncia
plural, pois diante do outro, devemos relativizar nosso olhar sua cultura.
Devemos sempre perceb-lo como relao, relativizando os seus
comportamentos aos milhares de relaes que o formam. Em poucas
palavras: devemos ver o outro com o olhar do outro. Quando isso for
possvel, poderemos pensar em conviver pluralmente. Sem reconhecermos
o outro como legtimo, sem perceb-lo como ser que possui uma
singularidade, jamais poderemos conviver (comungar) com a pluralidade.
Tenderemos a negligenci-la ou neg-la porque o diferente nunca
encontrar meios para emergir. Sem o diferente, no h a divergncia, sem
a divergncia, no h alteridade (condio de ser outro), sem a alteridade
no existe identidade.
Referncias
Adorno, T.W.; Horkheimer. M.A. (1995). A indstria cultural: o
esclarecimento como mistificao das massas. In Dialtica do
esclarecimento (pp.113-156). Rio de Janeiro: Zahar.
Arruda, A. (1999). O ambiente natural e seus habitantes no imaginrio
brasileiro: negociando a diferena. In Representando a alteridade
(pp.17-46). Petrpolis: Vozes.
Ciampa, A. Da C. (1995). Identidade. Em S.T.M. Lane (Org.), Psicologia
social: o homem em movimento (pp.58-76). Rio de Janeiro:
Brasiliense.
139
Duveen, G. (1999). A construo da alteridade. In A. Arruda (Org.),
Representando a alteridade (pp.83-107). Petrpolis: Vozes.
Guareschi, P. (1998). tica, justia e direitos humanos. In Comisso
Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia
(Orgs.), Psicologia, tica e Direitos Humanos (pp.9-19). Braslia:
Conselho Federal de Psicologia.
Guareschi, P. (1999a). Alteridade e relao: uma perspectiva crtica. In A.
Arruda (Org.), Representando a alteridade (pp.149-161). Petrpolis:
Vozes.
Guareschi, P. (1999b). Sociologia Crtica: alternativas de mudana. 44 ed.
Petrpolis: Vozes.
Jodelet, D. (1999). A alteridade como produto e processo psicossocial. In
A. Arruda (Org.), Representando a alteridade (pp.47-67). Petrpolis:
Vozes.
Joffe, H. (1999). Degradao, desejo e o outro. In A. Arruda (Org.),
Representando a alteridade (pp.109-128). Petrpolis: Vozes.
Jovchelovitch, S. (1999). Re(des)cobrindo o outro: para um entendimento
da alteridade na teoria das representaes sociais. In A. Arruda
(Org.), Representando a alteridade (pp.69-82). Petrpolis: Vozes.
Jovchelovitch, S. (no prelo). Para uma tipologia dos saberes sociais:
representaes sociais, comunidade e cultura. Porto Alegre: PUCRS
Programa de Ps-Graduao em Psicologia.
Lobo, L.F. (2000). Deficincia: preveno, diagnstico e estigma. In H. de
B.C. Rodrigues; M.B.S. Leito & R.D.B. Barros (Orgs.), Grupos e
instituies em anlise (pp.113-126). 2 ed. Rio de Janeiro: Record:
Rosa dos Tempos.
Peixoto, B.N. (1998). O olhar do estrangeiro. In A. Novaes (Org.), O olhar
(pp.361-486). So Paulo: Companhia das Letras.
Thomaz, O.R. (1995). A antropologia e o mundo contemporneo: cultura e
diversidade. Em A. da Silva & L.D.B. Grupioni (Orgs), A temtica
indgena na escola (pp.425-441). Braslia: MEC/MARI/UNESCO.
140
Universidade da terceira idade: reflexes sobre preconceitos e projetos
Daiane Manerich
1
Juliana Vieira de Arajo Sandri
2
Biaze Manger Knoll
3
O que estas velhas esto fazendo aqui? Esta foi a pergunta de um
grupo de estudantes universitrios jovens para outro grupo de estudantes
universitrios com o dobro ou mais de sua idade. Uma pergunta que muitas
pessoas, com a representao de que os anos de vida tornam as pessoas
inteis, incapacitadas para novos aprendizados, fazem constantemente.
Simes (1994) explana sobre a representao da palavra velho,
indicando que esta utilizada como antnimo de jovem, podendo significar
deteriorao, fracasso, inutilidade, fragilidade, obsoleto e no adequado
vida, dando a impresso de que velho vive improdutivamente e est
ultrapassado pela nossa sociedade. A velhice, ainda est vinculada a
situaes como pobreza, asilamento, doena e dependncia.
A palavra velho/a passou a ser xingamento e termo propcio apenas
queles sem futuro na vida, ou que no se enquadram no esteretipo
esperado de apresentar-se com esprito jovem. Possuir esprito jovem
entendido como sinnimo de ter desejos, vitalidade, sade, projetos para o
futuro, utilidade social, estar atualizado com as novas tecnologias,
informaes sobre as novidades locais e globais e exigncias do mercado
atual de relaes interpessoais.
Haddad (1986) chama a ateno para a produo da ideologia da
velhice, na qual se reproduz as relaes capitalistas do mercado atravs de
ideias, valores, princpios, formando um conjunto de representaes sobre a
velhice que busca doutrinar os corpos, sentimentos, aes dos velhos:
...a questo social da velhice formulada desconsiderando os
fundamentos materiais da sua existncia, vista como ameaa que
1
Estagiria do UNIVIDA, acadmica do Curso de Jornalismo UNIVALI.
2
Enfermeira, professora do Curso de Enfermagem da UNIVALI, Mestre em Assistncia de
Enfermagem.
3
Mdico especialista em geriatria e gerontologia da Prefeitura Municipal de Itaja, professor
da disciplina de geriatria do Curso de Medicina da UNIVALI.
141
paira sobre todos os homens, independentemente do lugar que
ocupam no processo produtivo, camuflando o fato de que a classe
trabalhadora, formada pelos homens mercadoria, que aciona o
processo produtivo, a protagoniza historicamente constituda, da
tragdia do fim da vida. (Haddad, 1986, p.46)
Muitas velhices correspondiam e outras continuam sendo
condizentes com o quadro descrito: as pessoas percebem-se como
algum que j contribuiu com a famlia, com o mercado e na velhice esto
inteis, doentes e consideradas um peso para a sociedade.
Para Debert (1999) a crtica ao sistema capitalista por abandonar o
velho, imputando-o misria e excluso, um dos elementos do discurso
gerontolgico do pas. A autora explicita outros elementos deste discurso,
como a iminncia da exploso demogrfica; a crtica cultura brasileira de
cultuar o jovem e o novo, tratando os velhos com descaso e a incapacidade
do Estado de criar condies de apoio social aos idosos que necessitam.
Porm, salienta que esta representao no corresponde aos relatos
apresentados pelos idosos quando perguntados sobre como viver a vida
neste perodo.
Uma imagem superestimada do sofrimento na velhice, quando
difundida por profissionais da gerontologia, traz em si uma implicao
tica: a produo da demanda de servios para diminuir este sofrimento
(Debert, 1999).
A mdia, de modo contrrio a gerontologia, segundo a mesma autora,
tem se encarregado de apresentar a velhice como sinnimo de bem-estar,
vitalidade e autonomia e, ainda, como fonte de recursos para um novo e
promissor mercado. Esta nova imagem da velhice saudvel tambm tem
suas implicaes:
Ao louvar pessoas saudveis e bem sucedidas que aderiram ao estilo
de vida e parafernlia de tcnicas de manuteno corporal
veiculadas pela mdia, assistimos emergncia de novos
esteretipos. Os problemas ligados velhice passam a ser tratados
como problema de quem no ativo e no est envolvido em
programas de rejuvenescimento e, por isso, se atinge a velhice no
isolamento e na doena, culpa exclusivamente dele (Debert, 1999,
p.229).
142
Essas consideraes partem do pressuposto, como aponta Sais (1995,
p.7), da velhice como um fenmeno genrico-abstrato ao qual pertencem
s pessoas com sessenta anos e mais. Porm, este autor explicita que este
conceito no d conta da complexidade dos velhos/as reais, aqueles que
conhecemos, pois a velhice no homognea. Logo, preciso falar dos
velhos e no da velhice.
O discurso dominante na nossa sociedade padroniza as pessoas, as
velhices, sem respeitar a diversidade e heterogeneidade. A percepo que se
tem da velhice permeada de artefatos culturais, significados, valores e
(pr)conceitos o que faz com que as pessoas sintam-se ofendidas ao serem
chamadas de velhas, preferindo eufemismos como terceira idade (Lima,
2001). Diversas outras denominaes so inventadas, buscando fugir do
mal-estar causado pelas terminologias pejorativas que acompanham a idade
relativa velhice.
A idade delimita comportamentos e espaos, tornando-se mais do que
um indicador do tempo, passando a ser um organizador social (Nri, 2001).
Estes comportamentos passam a ser classificados como apropriados ou
normais para aquele perodo da vida, gerando esteretipos e preconceitos
em relao a idade.
A representao que se tem da velhice como natural ao ciclo
biolgico de nascimento, crescimento, reproduo e morte escamoteia que a
velhice uma categoria socialmente produzida, como se cada fase fosse
constituda de propriedades substanciais que a formassem (Debert, 1998).
Pesquisadores concordam que a idade um importante indicador dos
processos de desenvolvimento e envelhecimento, mas no a causa destes
(Nri, 2001).
A homogeneidade da velhice tem uma funo mais epistemolgica
do que ontolgica, ou seja, est mais a servio do conhecimento do que do
fenmeno do ser em si. A velhice se constitui de diferentes formas,
dependendo do lugar ocupado no mbito das relaes de gnero, classe,
etnia, hierarquia social a que pertencem.
Porm, atravs do modo generalista de produzir cincia, acaba-se
agrupando e classificando as pessoas, sob o discurso de conhec-las. Para
Foucault (1998) o discurso cientfico que professa um saber contm uma
vontade de verdade e funciona como sistemas de excluso e de coero.
143
Com o discurso sobre os velhos e velhices, no diferente. Vrios discursos
diferentes reclamam para si o abarcamento do fenmeno da velhice, em
maior intensidade do que outros.
H uma implicao tica, poltica e esttica na produo conceitual,
regulada por valores, ideologias e representaes que orientam um conjunto
de estratgias para incluso ou excluso dos idosos no campo social
(Birman, 1995).
As questes explicitadas nos impuseram um desafio: como criar um
programa que pudesse proporcionar um espao de interaes na
universidade para pessoas em qualquer idade, especialmente na velhice, que
proporcionasse uma anlise crtica do que est posto e gerasse novas
possibilidades de vida, de escuta para a diversidade e heterogeneidade do
envelhecimento humano?
Uma trajetria histrica de conflitos, de embates tericos e de
dilogos com pessoas conhecedoras da rea resultou num programa
denominado Curso Superior de Extenso Universidade da Vida
UNIVIDA, desenvolvido na UNIVALI Universidade do Vale do Itaja,
que ser apresentado e contextualizado. Antes disso, se faz necessrio
compreender o desenvolvimento das universidades da terceira idade no
mundo e no pas.
As universidades da terceira idade
Como foi que pessoas com idade avanada conquistaram um espao
na universidade? O que pessoas aposentadas ou sem interesse em uma
carreira profissional esto fazendo na universidade? Compreender o
histrico e princpios que embasam as denominadas universidades da
terceira idade pode trazer algumas luzes para esta questo.
Cachioni (1999) faz um resgate histrico de desenvolvimento destes
programas no mundo e no Brasil. Segundo ela, programas educativos para
adultos com enfoque na cidadania, buscando a alfabetizao, o ensino religioso
e a participao na poltica nos Estados Unidos remonta o sculo XVIII.
Naquele pas, a educao para adultos e idosos na dcada de 50 foi
direcionada preparao para aposentadoria, retreinamento de funcionrios
idosos ou atualizao cultural desta populao. Este processo se d no
144
contexto das Instituies de Ensino Superior, criando uma rede de
conhecimentos e servios direcionados a esta populao, fundando a
Gerontologia Educacional, na dcada de 70.
A Universidade de Cincias Sociais de Toulouse, na Frana, foi a
primeira a fundar a universidade da terceira idade, por Pierre Velas, em
1973. Esta denominao, terceira idade, fazia referncia a uma nova etapa
de improdutividade no curso de vida, ou seja, aos recm-aposentados.
Partiu da constatao de que havia um grande nmero de pessoas
aposentadas e com vitalidade, desejo e disponibilidade para aproveitar sua
sade e recursos materiais para desenvolver atividades novas e desafiadoras
que lhe trouxessem interesse pela vida, alegria, bem-estar (Cachioni,1999).
Num segundo modelo francs, as atividades centravam-se em preparar os
idosos para contribuir com a sociedade. Com o crescimento deste programa,
criou-se novo modelo, no qual os alunos passaram a ter um papel mais
ativo, desenvolvendo pesquisas sobre envelhecimento e participando
regularmente de disciplinas acadmicas (Peixoto, 1997).
A Associao Internacional de Universidades da Terceira Idade
(Auita) foi organizada em 1975 e, em 1981, j agregava mais de 170
instituies (Swindell e Thompson apud Cachioni,1999), reconhecida
pela ONU, OMS, Unesco e rene profissionais, estudantes e especialistas
em Gerontologia. Esta ideia logo se espalhou pelo mundo, com diferentes
modalidades, objetivos e atividades.
No Brasil, na dcada de 60, o SESC (Servio Social e do Comrcio)
j trabalhava com educao de adultos e, nos anos 70 implementou a
escola aberta. Apenas em 1980, que as universidades brasileiras abrem
espao para educao gerontolgica e para a chamada terceira idade. A
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foi pioneira em 1982
quando foi criado o NETI (Ncleo de Estudos da Terceira Idade), que at
hoje oferece Especializao na rea da Gerontologia e diversos cursos para
pessoas acima de 60 anos. Muitos outros cursos se desenvolveram neste
perodo, com diferentes modelos, objetivos e princpios. Tm sido
realizadas pesquisas para avaliar o impacto na populao idosa deste
retorno universidade.
Estou na universidade! Uma frase que traz muitas emoes,
significados, pois pertencer ao meio universitrio, em especial quando no
145
se pertence a faixa etria esperada para este ingresso, pode modificar a vida
de muitas pessoas.
O impacto de frequentar a universidade na terceira idade, conforme
pesquisa realizada por Elbolato (apud Nri e Cachioni, 1999) positivo,
pois traz benefcios pessoais, intelectuais e sociais. Estes estudos revelam
que ocorreram
alteraes positivas em suas concepes de envelhecimento, nos
cuidados com a sade, na rotina de vida, no enfrentamento de
problemas, no relacionamento com os amigos e na autopercepo
(Nri e Cachioni, p.33, 1999).
Em outra pesquisa realizada por Cachioni (1998) participantes de
uma universidade relataram que os principais ganhos referiram-se a um
sentimento de maior valorizao social, mais respeito, alm de melhora em
seu bem-estar subjetivo, indicada por critrios como sade, satisfao,
perspectiva de futuro e relaes familiares.
Alunos/as do UNIVIDA confirmam que ocorre uma transformao
em suas vidas quando passam a participar deste curso, declaram-se mais
saudveis, h uma melhora no relacionamento familiar, no raciocnio, na
memria, na sensao de bem-estar com a prpria vida. Mas, como
mesmo este curso? A seguir ser explicitados sua estrutura, proposta
pedaggica e princpios.
Revelando uma proposta para a universidade da terceira idade no
sul do pas
O Curso Superior de Extenso Universidade da Vida, ou UNIVIDA,
como carinhosamente chamado pelos professores e alunos que participam
deste projeto, tem como objetivos promover um envelhecimento saudvel e
com qualidade de vida e capacitar para a atuao voluntria; motivar os
alunos atravs da participao ativa na sociedade, seja com trabalho em
projetos ou instituies ou ainda com o desejo do aprendizado e da
descoberta.
Atravs da educao continuada promove-se uma representao do
envelhecimento como algo construdo durante toda a sua existncia e que
pode trazer ganhos. Busca-se formar multiplicadores sociais que difundam
informaes sobre o envelhecimento saudvel, ntegro e digno. Isso no
146
significa negar as condies materiais de existncia da misria, das doenas
e das incapacidades, mas demonstrar que vrias transformaes so
possveis, seja no mbito privado ou pblico, individual ou social, no
cotidiano ou em espaos qualitativamente diferenciados de decises
coletivas. E assim, atravs de conhecimento e da informao, afasta-se a
imagem do determinismo da velhice como solido, doena e dependncia,
minimizando preconceitos sociais.
No UNIVIDA, atravs de disciplinas na rea da sade, estuda-se
realisticamente os processos de envelhecimento, sade e doena, inclusive
ampliando estes conceitos (que no cabe discuti-los neste momento) para
uma perspectiva mais crtica. Os participantes do curso podem criar outras
imagens sobre a velhice, abarcando as diversidades e heterogeneidades a
partir da perspectiva de diferentes profissionais.
Vrias disciplinas trazem suporte para isto, como por exemplo,
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrio, Odontologia,
Psicologia e Gerontogeriatria. No apenas na rea da sade, mas tambm h
disciplinas das reas de cincias humanas e sociais como Aspectos
Sociopolticos, Cidadania e Direito, Lazer e Cultura e Turismo na Atualidade,
que promovem conhecimento do contexto social e da produo da cultura.
J a disciplina Preparao para Ao Voluntria ministrada nos dois
ltimos semestres e possibilita aos alunos conhecer projetos na rea do
Terceiro Setor, existentes em Itaja e cidades vizinhas e incentiva os alunos
a criarem seus projetos.
Um destes projetos resultou no Grupo de Estudos e Apoio aos
Familiares e Cuidadores dos Portadores da Doena de Alzheimer e Doenas
Similares GEAz, o qual foi criado por seis egressos do UNIVIDA que
contam com o apoio tcnico dos professores da disciplina de
gerontogeriatria, sendo um mdico, uma enfermeira e uma psicloga,
especialistas na rea.
Este grupo, GEAz, presta uma grande ajuda aos que enfrentam tais
doenas na famlia. crescente o nmero de pessoas que procuram o auxlio
do grupo. Desde sua criao, em menos de um ano, mais de 34 familiares e
cuidadores j se cadastraram no projeto e esto sendo beneficiadas pelo
mesmo. Outros projetos como uma central de voluntariado para direcionar os
147
alunos egressos e mesmo os que ainda esto em curso e desejam atuar com a
prestao de servio gratuito esto sendo elaborados.
O trabalho com disciplinas interligadas facilita o engajamento nos
projetos de atuao voluntria e tambm promove uma viso ampla e
crtica, tanto em relao ao processo de envelhecimento quanto das
questes sociais. Para tornar vivel o trabalho integrado, os professores
renem-se periodicamente e tm suas disciplinas organizadas visando temas
transversais como envelhecimento saudvel e atuao voluntria.
O eixo pedaggico escolhido pela equipe de professores foi pautado
na teoria de Vygotsky e Paulo Freire, como proposto por Bonin (1999).
Ambos so da linha histrico-cultural, se contrape ao modelo bancrio
de educao e reconhecem que o aprendizado ocorre no dilogo,
valorizando as pessoas e sua capacidade de aprendizagem,
independentemente do grau de escolarizao. Estabelecendo a associao
da dialgica de Paulo Freire com a dialtica de Vygotsky, tem-se a
perspectiva de que a pessoa no est passiva diante dos determinantes
sociais, mas autor da histria, sua e da humanidade. O sujeito tem a
possibilidade, atravs do processo de conscientizao, de transformar a si
e ao seu contexto histrico-cultural-social.
Os alunos no so nulos no processo, pelo contrrio, esto
constantemente participando, contextualizando suas experincias na teoria
abordada, proporcionando uma relao de mutualidade e reciprocidade em
que ocorre a interao professor e aluno, favorecendo a tomada de
conscincia crtica de seu cotidiano.
Desta forma, possvel uma troca de experincias, pois se acredita
numa relao dialgica, em que professor e aluno aprendem mutuamente,
objetivando uma conscincia crtica, problematizadora. O processo ensino-
aprendizagem compreendido de modo participativo, ativo, que se d
atravs de mediaes, isto , interaes sociais que permitem que o sujeito
seja transformado e transformador de seu meio.
O ensino-aprendizagem um processo que se concretiza, de um lado,
pelas possibilidades do aluno, que englobam tanto a organizao do
pensamento como os conhecimentos e experincias prvias e, de outro, pela
interao com outros agentes.
148
A interao que ocorre entre os alunos do UNIVIDA e demais
acadmicos cria um espao de troca e interaes que propicia a quebra de
vrios preconceitos e esteretipos, promovendo uma relao diferenciada
daquela explicitada no incio deste captulo. Em vrios seminrios, eventos
cientficos e outras ocasies em que houve um espao para compartilhar
experincias, nas quais se encontram estudantes da graduao e do
UNIVIDA, realizando apresentaes artsticas ou culturais, ou expondo
seus conhecimentos e aprendizados, foi extremamente profcuo o clima de
respeito, revelaes e descobertas mtuas.
Uma caracterstica implcita na forma como o curso est organizado
a sada deste aluno da universidade, criada propositadamente. Em alguns
modelos de universidade da terceira idade no Brasil, observa-se que existe
uma tendncia a tornarem-se centros de convivncia, pois mantm o idoso
na universidade por vrios anos. Diferentes cursos so criados e os
interessados passam de um curso para outro. comum os alunos
solicitarem a criao de novos projetos na universidade para permanecerem
ocupando este espao. Pautada na concepo de que importante que a
instituio de ensino superior no se constitua como um mercado de servios,
mas como um espao que promove subsdios para a independncia,
autonomia e criao de espaos compartilhados por pessoas em todas as
idades que se criou um programa que tivesse um perodo determinado.
A descrio da estrutura e dos modos de relao geradas no
UNIVIDA teve como objetivos revelar o compromisso tico, que se
estabelece na prxis cotidiana do fazer e (re)criar-se em uma relao
dialgica que vai alm do individualismo ou do mero cientificismo neutro e
transcende para a criatividade, a reflexo crtica e a solidariedade.
tica e paradigmas: consideraes finais
O tratamento dado aos velhos pelos jovens, crianas e pelas prprias
pessoas envelhecidas em suas relaes cotidianas so permeadas por estes
valores, por ideologias, por uma tica.
Compreendendo a tica como uma dimenso implcita de todos os
nossos atos (Guareschi, 1998, p.160) e que a no discusso das injustias e
desigualdades da nossa sociedade promove o continusmo destas prticas,
que nos propomos a discutir sobre as imagens da velhice e suas implicaes.
149
O pressuposto de que no h dicotomia indivduo x grupo, no h
separao entre o social e o individual (Lane e Codo, 1984) nos remete
responsabilidade de questionar constantemente nossa prxis, pois no
enlace de nossas aes que nos construmos enquanto sociedade. Neste
sentido, o UNIVIDA uma experincia coletiva, que se constri nas inter-
relaes, atravs das vrias interfaces entre professores, alunos, famlias,
instituies, representaes. Em nome desta coletividade, necessrio
explicitar que a autoria deste artigo tem os nomes de quem escreveu estas
linhas, mas a construo no foi singular. Os recursos lingusticos para
explicitar as interligaes so nfimos e ao buscar faz-lo, volta-se ao
padro anterior de separaes e linearizaes.
O princpio da interdisciplinaridade se faz neste projeto muito mais
como uma integrao de diferenas, na busca de aes conjuntas, mesmo que
no seu interior sejam reveladas mais divergncias do que uniformidades.
A explicitao de um modelo de autonomia, independncia, bem-
estar, satisfao com a vida e exerccio de cidadania de algumas pessoas
com mais idade pode fortalecer a uniformizao da velhice e falseamento
das diferenas, atravs do no discurso destas diferenas, como refere Gatto
(1996). Esta no foi a inteno, mesmo que esta contradio esteja presente.
O objetivo foi compartilhar a experincia na educao gerontolgica
para vislumbrar a tica e os paradigmas subjacentes em um modelo de
universidade da terceira idade, o desenvolvimento possvel de um espao
na universidade para a reflexo sobre o envelhecimento.
preciso o acordar para a percepo de que a ideia sobre a idade ser
geradora de comportamentos, sentimentos e pensamentos, s uma ideia.
No precisa ser deste modo. A breve reflexo sobre o fenmeno da velhice
e sua infinitude de possibilidades de modos de ser atravs dos velhos e
velhas demonstra que a superao do que est posto possvel e cabe a todos
ns, produto e produtores de subjetividades, transformar esta realidade.
A produo da subjetividade, como compreende Guattari (1999) se
d nas relaes sociais, atravs de tudo o que produzido e nos chega pela
linguagem, pelo contexto, numa transmisso de significados que definem a
maneira de ver o mundo. Afirma que estas mutaes no se do apenas no
registro das ideologias, mas que no prprio corao dos indivduos
(ibidem, p.26). Nas infinidades de relaes que so estabelecidas a partir do
150
UNIVIDA provvel estarmos deixando marcas nos coraes e
fomentando discursos, desejos e criaes em busca de solidariedade e tica.
Retirar os velhos do anonimato e a velhice do no viver, ou da vida
em intensidade mnima s o que possvel fazer, sem prescries de
como esta vida, porque vivemos em coletividade, mas experenciamos este
viver em individualidade, mesmo que estas duas dimenses sejam
separadas apenas na lingustica e na percepo individualista de si na
cultura ocidental e no no fato.
Referncias
Birman, J. (1995) Futuro de todos ns: temporalidade, memria e terceira
idade na psicanlise. In Veras, R. (org.) Terceira Idade: um
envelhecimento digno para cidado do futuro. (pp.29-49) Rio de
Janeiro; Relume-Dumar, UnATI/UERJ.
Bonin, L. F. R. (1999) Educao, Conscincia e Cidadania. In Silveira, A;
Grewehr, C.; Bonin, L. F. Bulgacov, Y. (orgs.) Cidadania e
Participao Social. (pp.107-118) Porto Alegre: ABRAPSOSUL.
Cachioni, M. (1998) Envelhecimento bem sucedido e participao numa
universidade para terceira idade: A experincia da universidade de
So Francisco. Dissertao de Mestrado. Campinas: Unicamp,
Faculdade de Educao.
Cachioni, M. (1999) Universidades da terceira idade: das origens
experincia brasileira. In: Nri, A L., Debert, A G. (org.) Velhice e
Sociedade. (pp.141-178) Campinas, SP: Papirus.
Debert G. G. (1999) A Reinveno da velhice: socializao e processos de
reprivatizao do envelhecimento. So Paulo: Edusp.
________ (1998) A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias de
idade. In M. M. L. de Barros (org.), Velhice ou terceira idade?
Estudos antropolgicos sobre identidade, memria e poltica (pp.49-
68). Rio de Janeiro: Editora Fundao Getlio Vargas.
Foucault, M. (1998) A ordem do discurso. (4 ed.) Coleo Leituras
filosficas. So Paulo: Loyola.
151
Gatto, L. C. (1996) Psicossexualidade na Terceira Idade. In: Netto, J.P.
Gerontologia. (pp.136-145) So Paulo: Atheneu
Guareschi, P. (1998) Alteridade e relao: uma perspectiva crtica. In
Arruda, A (org.). Representando a alteridade. Petrpolis, RJ: Vozes.
Guattari, F. e Rolnik, S. (1999) Micropoltica: Cartografias do desejo. (5
ed.) Petrpolis, RJ. Vozes
Haddad, E (1986) Ideologia da velhice. So Paulo: Cortez.
Lane, S. e Cada, W. (orgs) (1994) Psicologia Social: o homem em
movimento. So Paulo: Brasiliense.
Lima, M.A (2001) A gesto da experincia de envelhecer em um programa
para terceira idade: a UnATI/UERJ. IN: Veras, R. (org.) Velhice
numa perspectiva de futuro saudvel. Rio de janeiro; Relume-
Dumar, UnATI: UERJ.
Neri, A. L. e Cachioni, M (1999) Velhice bem sucedida e educao. In
Nri, A. L. , Debert, A. G. (org.) Velhice e Sociedade. Campinas, SP:
Papirus.
Neri, A. L. (2001) Desenvolvimento e Envelhecimento: perspectivas
biolgicas, psicolgicas e sociolgicas. Campinas, SP: Papirus.
Peixoto, C. (1997) De volta as aulas ou como ser estudante aos 60 anos. In
Veras, RP. (org.) Terceira Idade: desafios para o terceiro milnio.
Rio de Janeiro: Relume-Dumar, UnATI: UERJ.
Sais, A. (1995) Coisas de velho: coisas de vida. Dissertao de Mestrado.
So Paulo: PUCRS.
Simes, R (1994) Corporeidade e terceira idade. Piracicaba: UNIMEP.
152
Representao social do bom aluno: implicaes ticas na educao
Maria Helena Cordeiro
1
Anelize Donaduzzi
2
Sabrina Maria Schlindwein
3
O contexto educacional constitudo por sujeitos, sujeitos esses que
se encontram e foram construdos a partir de uma dada realidade social.
Partindo deste pressuposto, pode-se pensar que os fenmenos educacionais,
entre eles: a relao professor/aluno, a seleo de contedos, a metodologia
adotada, a forma de avaliao utilizada, o fracasso escolar e outros, no tm
sua origem unicamente na sala de aula nem em processos cognitivos
individuais. Ao contrrio, eles extrapolam a sala de aula e os muros da
escola. Dessa forma, podemos afirmar que a construo de tais fenmenos
est fundamentada nas representaes sociais dos professores e, como tal,
produto de mltiplos determinantes histricos, educacionais e socioculturais
que direcionam a ao pedaggica cotidiana do docente.
As representaes sociais so modos de compreender e explicar a
realidade. No so simples opinies, imagens ou atitudes sobre o mundo
social ou sobre determinado fenmeno, mas teorias ou campos de
conhecimento, que constituem em sistemas de ideias, valores e prticas
socialmente compartilhadas, que nos permitem
classificar pessoas e objetos, comparar e explicar comportamentos e
objetiv-los como parte de nosso ambiente social (Gama, 1991,
p.358).
Na rea da educao, pode-se usar o mesmo conceito: so modos de
compreender e explicar a realidade educacional, que se constituem em guias
da ao pedaggica. por isso que afirmamos que as opes
metodolgicas, a prtica em sala de aula e a interao do professor com os
alunos, so permeadas pelas representaes sociais de educao, num
1
PhD em Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo; Professora da UNIVALI.
2
Mestranda em Educao, professora do curso de Fonoaudiologia da UNIVALI.
3
Aluna do curso de Psicologia, bolsista do Programa Integrado de Ps-Graduao e
Graduao (PIPG) da UNIVALI.
153
sentido mais amplo e de fenmenos educacionais especficos, que so
compartilhadas pelo grupo social ao qual o professor pertence.
(...) Podemos entender as representaes sociais como ideias,
imagens, concepes e vises de mundo que os atores sociais
constroem sobre a realidade, as quais esto vinculadas s prticas
sociais. Ou seja, cada grupo social elabora representaes de acordo
com a sua posio no conjunto da sociedade, representaes essas
que emergem de seus interesses especficos e da prpria dinmica da
vida cotidiana (Moreira e Oliveira, 2000, p.XI-XII).
Ento, as representaes dos professores tm relao direta com a
sua profisso, com seus interesses e aspiraes, com sua formao e com
o seu cotidiano.
Assim, podemos entender a representao social como o processo de
assimilao da realidade pelo indivduo, fruto da integrao de seus valores,
das suas experincias, das informaes que circulam no seu meio sobre um
objeto social, bem como das relaes que ele estabelece com os outros
homens do seu meio. So as afirmaes que os indivduos fazem sobre a
realidade e sobre a interao com os outros. como apreendemos a vida
cotidiana. Nesse sentido, interessante lembrar que uma representao social
sempre de algum (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto). No se pode
falar em representao de alguma coisa desvinculada de uma populao ou de
um grupo social em especfico, que mantenha tal representao.
... Pensa-se essa afinidade em termos de consenso: se um grupo
mantm tal representao, isto quer dizer que h um consenso entre
os seus membros (S, 1998, p.75).
Alves-Mazzotti (2000) fez um levantamento das pesquisas que tm
utilizado a teoria das representaes sociais e constatou que elas tm se
centrado no estudo do cotidiano escolar e, em particular, das prticas
docentes. A autora elencou os principais achados relacionados
representao social dos professores. Entre estes, destacam-se:
1. O baixo nvel socioeconmico do aluno tende a fazer com que o
professor desenvolva baixas expectativas sobre ele;
2. Os professores tendem a interagir diferentemente com alunos sobre os
quais formaram altas e baixas expectativas;
154
3. Os professores tendem a atribuir o fracasso escolar a condies
sociopsicolgicas do aluno e a condies econmicas de sua famlia,
eximindo-se de responsabilidade sobre esse fracasso.
Assim, as representaes do professor no campo da educao so
construes simblicas que levam as marcas do tempo, do espao e das
relaes que definem e articulam as diferentes partes da totalidade social na
qual o educador se integra. Tais representaes articulam as ideias que
circulam na sociedade e no grupo em que vivem e so reconstrudas a partir
de suas vivncias, de sua histria e de suas relaes sociais. Neste conjunto,
estariam a formao recebida e a prpria experincia concreta do trabalho.
A construo dessas ideias envolve tambm a transformao de um
conhecimento terico e cientfico em senso comum. Gama (1991) explica
que tais conhecimentos so socialmente reelaborados e transformados em
um novo modo de compreender e explicar a realidade social. Talvez por
isso, muitos professores tm dificuldade em identificar incoerncias entre
sua prtica e muitos dos conhecimentos tericos que dizem defender.
Portanto, as representaes comuns aos professores, no que diz
respeito educao e aos seus alunos, no poderiam ser analisadas
isoladamente, pois existe uma dinmica entre os objetos (social, cultural,
econmico, histrico, educacional e afetivo) que compe as representaes.
Nestas representaes, esto sua vida, suas relaes e experincias, como
tambm a cultura e a histria em que se inserem e dos grupos com os quais
interagem. As representaes comuns parecem, assim, determinar a
natureza dos comportamentos e das informaes dos professores.
A representao de bom aluno, por exemplo, se insere na
representao mais abrangente da sociedade desejada (o mundo utpico).
Esta representao, a princpio, pode estar relacionada ao filho que cada um
gostaria de ter, s outras pessoas da mesma faixa etria, que conhecimento
prvio se espera para determinada srie, etc. Quando a representao de
bom aluno deixa de ser especfica, tornando-se um novo conceito, passa a
ter uma funcionalidade que a naturaliza, passando a ser utilizada como se
sempre tivesse existido ou como se no fosse possvel ser professor sem
utiliz-la. A noo de bom aluno fica como algo inerente prpria
espcie humana e seu oposto, ou melhor, os no-bons alunos, excees
indesejveis ou desvios a serem corrigidos (Alevato, 1999).
155
Moreira e Oliveira (2000) iniciam a apresentao do livro Estudos
Interdisciplinares de Representao Social, do qual so organizadores,
com a seguinte afirmao
(...) o termo representao social vem sendo bastante til ao processo
de compreenso de diferentes objetos, especialmente naquelas reas
do conhecimento onde a subjetividade inegavelmente partcipe das
prticas cotidianas
Sem sombra de dvida, a representao do professor sobre o bom
ou o mau aluno tem relao direta com a sua subjetividade e,
consequentemente, com as expectativas que esse professor deposita no seu
aluno real. Tais representaes fazem com que o professor pense, aja, fale e
se relacione com os alunos guiado por uma representao ampla do que
ser um aluno.
O estudo de Rangel (1997, p.13) tambm embasado na teoria da
representao social, focaliza os
elementos das dimenses da representao do bom aluno,
discutindo-os com ateno ao aluno real ou ideal, conforme os
sujeitos os percebem e expressam nas suas afirmaes e revem no
seu relato de vida como alunos.
Este estudo aponta para as seguintes constataes:
1. Os conceitos que os professores formam a respeito dos alunos so
influenciados pelo tipo de relao estabelecida entre eles;
2. O mrito pelo sucesso ou fracasso escolar recai sobre habilidades
pessoais, omitindo-se as causas sociais mais amplas e o compromisso
(pedaggico e social) da escola com essas causas;
3. Existe, para os professores, uma estreita relao entre sucesso na escola
e sucesso na vida e no trabalho.
Pode-se ento constatar que o julgamento do valor de ser bom
aluno incorpora o julgamento do valor do estudo, da escola, como fatores
de realizao profissional e social absolutizados em seu poder.
Articula-se a este julgamento o valor pessoal, individual de quem
estuda e se torna o (nico) responsvel pelas suas conquistas e seu
sucesso (Rangel, 1997, p.52). Para a autora, existe uma consolidao e
naturalizao das representaes entre os professores, sendo que este fato
156
tambm se aplica imagem idealizada do bom aluno, to difcil de ser
mudada, pois, a representao no s uma resposta, mas tambm um
estmulo ao comportamento (Idem, p.75).
Desta forma, as representaes dos professores fazem com que eles
adotem
um modelo ideal de aluno que no corresponde ao aluno concreto
que hoje constitui a maior parte da clientela da escola pblica do
ensino fundamental: a criana pobre, cujos pais tm baixa ou
nenhuma escolaridade e lutam pela sobrevivncia (Alves-Mazzotti,
2000, p.58).
As pesquisas de Gama (1991) demonstram que tanto o aluno da
escola pblica quanto a sua famlia so representados distorcidamente pelo
professor. Estas pesquisas
(...) revelam representaes sociais cujo contedo apresenta um misto
de determinismo sociolgico, associado a uma pseudopsicologia da
criana pobre, que a classifica como culturalmente deficiente bem
como cognitiva e intelectualmente inadequada para aprender (Gama,
1991, p.378).
Essa contradio existente entre o aluno ideal e o aluno real traz suas
marcas na prtica pedaggica. Alguns estudos tm mostrado que as
expectativas dos professores (baseadas nas representaes destes) so
determinantes para o sucesso ou fracasso dos seus alunos.
Portanto, provvel que as representaes dos professores sobre a
capacidade dos alunos afetem suas prticas de ensino, sua forma de
interagir com cada criana, o que explicaria a interferncia no desempenho
escolar dos mesmos. De acordo com Alves-Mazzotti (2000, p.61)
(...) os elementos da representao no apenas exprimem relaes
sociais, mas contribuem para constitu-las.
Essa questo foi investigada em uma pesquisa exploratria (Cordeiro,
Donaduzzi e Schlindwein, 2002) realizada com professoras (oito de Itaja e
dez de Blumenau) de turmas de pr-escolar, usando-se o Procedimento de
Classificaes Mltiplas (Roazzi, 1995) na coleta de dados. Na anlise dos
dados foi utilizado o programa MDS-Multidimensional Scale, o qual
produziu uma configurao dos conceitos das professoras, baseada nas
157
semelhanas entre as categorizaes dos atributos por elas utilizados (vide
figura 1 e 2).
Figura 1 Configurao da distncia Euclidiana dos atributos
relacionados a bom e a mau aluno no municpio de Itaja.
158
Figura 2 Configurao da distncia Euclidiana dos atributos
relacionados a bom e a mau aluno no municpio de Blumenau.
Quanto maior as semelhanas dessas categorizaes, mais prximos
se localizaram os atributos em um diagrama espacial. Foi constatado que,
em ambos os municpios, a representao do bom aluno est intimamente
associada ao conceito de boa aprendizagem, com todos os atributos que a
caracterizam: caprichoso, inteligente, ativo, com ritmo rpido e apoiado
pela famlia. Em oposio representao de bom aluno, foi encontrado um
grupo de atributos que caracterizam as dificuldades de aprendizagem:
disperso, dependente, com dificuldade de comunicao, com dificuldade de
coordenao motora, isolando-se, tmido, com ritmo lento, sem apoio
familiar, com problemas familiares. Estes atributos tm em comum o fato
de sua superao no depender da prpria criana, sozinha. Entre as
professoras de Itaja, as dificuldades de aprendizagem apareceram mais
relacionadas s dificuldades de comunicao e de coordenao motora. E
interessante notar que, para estas professoras, o rtulo mau aluno no
apareceu to associado s dificuldades de aprendizagem e sim a aspectos
comportamentais, que, de uma forma ou de outra, parecem ser considerados
159
mais transitrios e, ao mesmo tempo, mais dependentes da boa vontade do
aluno: agressivo, agitado, bagunceiro.
Entretanto, em Blumenau, o rtulo mau aluno aproximou-se mais
do grupo de atributos associados a dificuldades de aprendizagem, sobretudo
os que se referiam falta de apoio familiar e problemas familiares,
tendendo a integrar em um nico ncleo esses atributos e os aspectos
comportamentais negativos. Estas diferenas parecem indicar que a
representao de bom aluno se organiza de forma semelhante nos dois
municpios, enquanto que a organizao dos atributos que se opem a essa
representao depende de fatores contextuais. Com efeito, em Blumenau o
pr-escolar considerado como o primeiro ano do primeiro ciclo do ensino
fundamental, o que implica em expectativas de aprendizagem escolar; j em
Itaja, o pr-escolar considerado o ltimo ano da Educao Infantil, o que,
provavelmente reduz a ansiedade das professoras em relao ao desempenho
dos alunos em atividades escolares.
Portanto, quanto mais se espera da criana que cumpra as
expectativas de escolarizao, maior peso vo tendo os aspectos ligados
aprendizagem nas classificaes que as professoras fazem desses alunos.
Mesmo assim, os atributos que se afastam da representao do bom aluno
no se agrupam claramente para constiturem a representao do que
poderia ser o seu oposto, isto o mau-aluno. Portanto, a representao de
bom aluno parece ser uma representao bastante consolidada, uma
cristalizao do aluno ideal que existe independentemente do contexto
social e da organizao escolar. Essa representao se fortalece quando o
aluno ideal personificado em alunos especficos, reais: se uns se encaixam
na categoria bom aluno, mesmo nas condies mais adversas, ento o
bom aluno real, ou seja, por meio de um processo de objetivao
(Moscovici, 1978), a funcionalidade da representao confirmada,
tornando-a mais slida, mais consensual. Entretanto, se uns se encaixam,
por que outros no se encaixam? A dificuldade de ancorar (idem), ou seja,
de classificar os no-bons alunos em uma categoria (vrias professoras
descartaram a expresso mau aluno no procedimento de classificaes
mltiplas) sugere que, no confronto com os alunos reais, surgem
contradies que denunciam as relaes de dominao que vm se
perpetuando no cotidiano escolar e que so mascaradas pelo discurso
acadmico politicamente correto da incluso. Com efeito, a fluidez da
160
representao de mau aluno em oposio solidez da representao de
bom aluno revela um certo pudor em rotular as crianas, o que pode revelar
a influncia das discusses acadmicas sobre incluso na formao das
representaes. Esse pudor foi expresso claramente por uma das
professoras: Como que eu vou chamar eles de burrinhos? De inteligentes,
sim. Desta forma, as discusses ticas que colocam a necessidade de no
rotulao das crianas e o respeito pelas diferenas individuais so
assimiladas parcialmente em termos de discurso, mas no afetam a
representao que as professoras fazem dos seus alunos, provavelmente
porque estas no esto isoladas das imagens e dos valores atribudos
socialmente ao estudo, escola e realizao profissional. Assim, na
representao do bom aluno, continua no havendo espao para os
diferentes. Considerando-se que a partir desta representao que as
professoras constroem suas expectativas sobre o futuro escolar e profissional
de seus alunos, torna-se imperativo compreender a dinmica dessas
representaes e sua relao com as prticas escolares, para que se
vislumbre um caminho que leve mudana das mesmas.
Cabe aqui uma questo: As representaes sociais de um
determinado grupo (no caso, os professores) podem ser mudadas? De
acordo com Rangel (1999), as mudanas podem acontecer por alteraes
progressivas de percepes e ideias. As mudanas nas representaes
sociais esto associadas a alteraes sociais profundas ou, mais
particularmente, nas alteraes das dinmicas de funcionamento dos
grupos. Segundo esta autora, uma das possibilidades de mudana est no
dinamismo da formao e da influncia nas aes do processo de
representao social (idem, p.59). Portanto, a mudana das representaes
torna-se possvel pelo confronto dos vrios significados, muitas vezes
contraditrios, que coexistem nessas representaes e, ao mesmo tempo,
pela tomada de conscincia da relao entre essas representaes e as
prticas que se reproduzem nos grupos sociais.
A educao construda nas relaes concretas da totalidade social.
Traz suas marcas e contradies. No um ato isolado, nem
decorre da boa vontade de indivduos ou da idealizao de
dirigentes. Entre o discurso destes e a prtica quotidiana est a
distncia entre os efetivos interesses em jogo, interesses que
extrapolam a educao e que tm suas razes nas relaes sociais
mais amplas, determinando-a. (Madeira, 1991, p.141).
161
Nem a educao nem o professor podem ser considerados, quer
isoladamente quer em conjunto, como um todo acabado e esttico. A
dicotomia e a rigidez devem ser superadas, para que se possa chegar
compreenso dos movimentos que vo se constituindo mutuamente. A
teoria das representaes sociais nos ajuda a compreender porque as
pessoas fazem o que fazem, mas mais do que isso, ela pode contribuir para
apontar os caminhos da mudana desses fazeres e imperativo que o
faa. Esse um dos aspectos da dimenso tica da produo do
conhecimento em Psicologia Social: Na verdade, de que ajuda aos grupos
humanos dizer, simplesmente, que as coisas so assim, sem que se
apresentem elementos de transformao e superao de tais situaes?
(Guareschi, 1998, p.54).
Referncias
Alevato, H. M. R. (1999). Qualidade: um mito ps-moderno. In: Teves, N.
e Rangel, M. (Orgs) Representao Social e Educao. Campinas,
SP: Papirus.
Alves-Mazzotti, (2000). Representaes Sociais: Desenvolvimentos atuais e
aplicaes educao. In: CANDAU, V. M. (Org.) Linguagens,
Espaos e Tempos no Ensinar e Aprender. Rio de Janeiro: DP&A.
Cordeiro, M. H.; Donaduzzi, A. e Schlindwein, S. M. A Representao do
Bom e do Mau Aluno: Um estudo comparativo entre as
professoras de pr-escolar nos municpios de Itaja e Blumenau. In:
Mximo, C. E. (coord.) Anais do IX Encontro Regional Sul da
ABRAPSO: psicologia social: tica e paradigmas. Itaja, Se:
UNIVALI, 2002.
Gama, E. M. P. (1991). As Percepes sobre a Causalidade do Fracasso
Escolar no Discurso Descontente do Magistrio. In: Revista
Brasileira de Estudos Pedaggicos, v.72, n. 172, (pp.356-384)
Braslia, D. F.
Guareschi, P. (1998). tica. In Maria da Graa Corra Jaques et al.
Psicologia Social Contempornea: livro texto. Petrpolis: Editora
Vozes.
162
Madeira, M. C. (1991). Representaes Sociais: pressupostos e implicaes.
In: Revista Brasileira de Estudos Pedaggicos (Vol.72, n. 171,
pp.129-144), Braslia, D. F.
Moreira, A.S.P. e Oliveira, D.C. (Orgs). (2000). Estudos Interdisciplinares
de Representao Social. 2 ed. Goinia: AB.
Moscovici, S. (1978). A representao social da Psicanlise. Traduo da 2
edio francesa da obra La psychanalyse son image et son publico
Rio de Janeiro: Zahar Editores. (Original publicado em 1961).
Rangel, M. (1997). Bom Aluno Real ou Ideal? Petrpolis, RJ: Vozes.
________. (1999). Das dimenses da representao do bom professor s
dimenses do processo de ensino-aprendizagem. In: Teves, N. e
Rangel, M. (orgs) Representao Social e Educao. Campinas, SP:
Papirus.
Roazzi, A. (1995). Categorizao, formao de conceitos e processos de
construo de mundo: procedimento de classificaes mltiplas para
o estudo de sistemas conceituais e sua forma de anlise atravs de
mtodos multidimensionais. Cadernos de Psicologia, 1, 1-27.
S, C.P. (1998). A Construo do Objeto de Pesquisa em Representaes
Sociais. Rio de Janeiro: UERJ.
163
Discurso e significao dos professores do curso pedagogia sobre o
Exame Nacional de Curso
Luciane Maria Schlindwein
1
Cludia Renate Ferreira
2
Claudia Maria Petri
3
Este trabalho parte integrante de um projeto no qual vem-se
investigando um programa de avaliao externa, qual seja, o Exame
Nacional de Cursos. Este trabalho foi desenvolvido em um curso de
Pedagogia, no municpio de Brusque, Santa Catarina. Trata-se de um curso
pequeno com 332 alunos, em oito perodos letivos, em funcionamento
desde 1987. Este curso possui um corpo docente qualificado. Em 2001 eram
trinta professores: onze especialistas (dos quais, cinco mestrandos);
dezessete mestres (dos quais quatro doutorandos) e dois doutores.
Justamente por se constituir em um grupo pequeno, os professores
procuram trabalhar de forma integrada e, desde 1998 vem sendo discutido,
elaborado e implementado o projeto pedaggico do curso.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 20 professores
do curso. Ou seja, todos os professores do curso participaram da pesquisa.
O contedo das entrevistas foi o exame nacional de cursos e suas
implicaes no currculo do curso.
Optou-se por uma anlise qualitativa, que pudesse captar os
significados e sentidos atribudos pelos professores em seus depoimentos.
Na pesquisa qualitativa, o foco das anlises volta-se para a compreenso do
fenmeno estudado, apreendendo os diferentes detalhes que compem o
campo de pesquisa. A nfase do trabalho esteve focada na descrio,
interpretao e caracterizao do discurso dos professores do curso de
pedagogia. Esta descrio e caracterizao centram-se na percepo destes
professores sobre o impacto do ENC no currculo do curso de Pedagogia.
De acordo com Bogdan & Biklen (1994) os investigadores qualitativos
1
Doutora em Psicologia da Educao PUCSP, docente e pesquisadora da Universidade
do vale do Itaja-UNIVALI.
2
Mestre em Educao-UNIVALI, docente da Universidade Regional de Blumenau.
3
Bolsista PIPG-UNIVALI.
164
buscam compreender o processo no qual as pessoas constroem e
transformam significados.
Para empreendermos a anlise dos dados, apoiamo-nos nos ditames
de Pino (2001, 2002), especialmente no que se refere ao delineamento da
metodologia semitica traada pelo autor. Nesta perspectiva metodolgica,
o foco da anlise a palavra, ou melhor, o significado, sentido e valor da
palavra no contexto de significao do discurso. Esta empreitada exigiu a
articulao dos postulados de Vygotsky (1989), Peirce (19...) e Bakhtin
(1979). Este ltimo, com suas contribuies a respeito do dialogismo e
polifonismo.
A definio deste marco epistemolgico permitiu delinear o valor que
uma informao adquire no conjunto de informaes em desenvolvimento
na investigao. A nfase das anlises recaiu na captao de significados e
sentidos dos professores sobre, as vantagens e desvantagens do exame
nacional de cursos.
Os sujeitos pesquisados, no caso os professores do curso de
pedagogia so os principais protagonistas de investigao. Eles so os
enunciatrios do discurso e ns, pesquisadores, os destinatrios.
A palavra orienta-se para um destinatrio e esse destinatrio existe
numa relao social clara com o sujeito falante. Nosso interlocutor
pertence a uma gerao, um gnero e uma classe especficos,
algum com mais ou menos poder do que ns mesmos, algum
prximo ou afastado a ns (Stam, 1992, p.33).
O fenmeno estudado suscitou o esclarecimento de situaes
vivenciadas no impacto da reestruturao do currculo do curso de Pedagogia,
a partir do ENC. Como j foi afirmado anteriormente, este trabalho constitui-
se em um recorte de um trabalho maior cujo objetivo investigar o impacto
da avaliao externa sobre o currculo do curso de pedagogia. Para este objeto
maior, foram consultados os registros da Fundao Educacional de Brusque,
especialmente do histrico do curso de pedagogia. Foi empreendida uma
anlise documental do projeto pedaggico do curso. E foram aplicados
questionrios junto aos alunos e entrevistas, junto aos professores. E
importante destacar estes fatos, uma vez que, para alm das entrevistas, estes
outros dados possibilitaram uma compreenso mais ampla do movimento do
curso, em suas condies de oferta, demanda docente e discente.
165
As entrevistas foram transcritas respeitando-se a literalidade do
discurso apresentado pelos sujeitos, bem como a preservao do sentido de
suas falas no contexto do discurso. Aps a leitura exaustiva das entrevistas
j transcritas, foram construdas as categorias de anlise.
A esta categorizao sucedeu-se uma anlise interpretativa. A
interpretao supe um movimento, por parte do pesquisador, no sentido de
tomar uma posio acerca das ideias enunciadas. Exige a habilidade de ler
nas entrelinhas, a explorao da fecundidade do texto. Esta leitura analtica
constitui-se numa tarefa difcil e dedicada. Esta anlise esteve pautada nos
ditames tericos de Bakhtin, especialmente no que se refere a anlise dos
discursos dos professores.
Ao tratar dos fenmenos lingusticos, este autor parte de uma
perspectiva histrica, cultural e ideolgica na qual se entrelaam os campos
da filosofia, esttica, literatura, psicologia, semitica.
Trata-se de uma teoria que v o mundo a partir de rudos, vozes,
sentidos, sons e linguagens que se misturam, (re)constri-se e transforma-
se, adentro disto, esta a palavra que assume papel primordial, pois a partir
dela que o sujeito se constitu e constitudo e traz marcas culturais, sociais
e histricas.
Bakhtin trata de romper com a concepo de homem que adquire
uma linguagem ideal, pronta e acabada e com a dicotomia que toma a
linguagem como forma e contedo. Diferentemente desta posio, o autor
concebe o homem enquanto um ser que dialoga com a realidade por meio
da linguagem.
O homem estabelece sua relao com o mundo pelos discursos que
ele assimila, formando assim seu repertrio de vida. A formao do eu se d
atravs de uma trade, o eu-para-mim (como me percebo), o eu-para-os-
outros (como apareo aos olhos dos outros) e o outro-para-mim (como
percebo o outro), portanto e EU nunca individual, mas sim social. A
conscincia individual , portanto, um fato social e ideolgico, a realidade
da conscincia a linguagem.
A conscincia adquire forma e existncia nos signos criados por um
grupo organizado no curso de suas relaes sociais. Os signos so o
alimento da conscincia individual, a matria de seu desenvolvimento,
e ela reflete sua lgica e suas leis (Bakhtin, 1999, p.35).
166
Bakhtin contesta a concepo de Saussure a respeito da lngua como
uma totalidade funcional num momento dado no tempo, ou seja, a lngua
como sistema sincrnico homogneo, rejeitando as manifestaes (a fala)
individuais.
Conforme essa concepo, a linguagem vista com suas unidades
bsicas e suas regras. Enfatiza os fatores fonticos, gramaticais e lxicos,
permanecendo idnticos e normativos para todos os enunciados, formando
um cdigo. Essa concepo chamada de objetivismo abstrato,
a linguagem um sistema estvel de formas normativas que a
conscincia individual j encontra pronto. As variaes individuais e
sociais da fala tambm so relativamente sem importncia, so
fortuitas e no afetam a unidade fundamental da linguagem enquanto
sistema (Stam,1992, p.32).
Bakhtin, ao contrrio de Saussure, toma a linguagem como um
sistema no acabado, mas em um constante processo de transformao,
permeado pelos fatores social, histrico, econmico, poltico. A linguagem
no se apresenta ordenada, com regras e cdigos, ela confusa como a
prpria histria. Bakhtin afirma que a fala est ligada s condies da
comunicao, que esto ligadas s estruturas sociais.
A linguagem ento no vista s como um sistema abstrato, mas
tambm como uma criao coletiva, parte de um dilogo cumulativo entre o
eu e o outro, entre muitos eus e muitos outros.
Todo signo ideolgico, a ideologia um reflexo das estruturas
sociais, assim toda modificao da ideologia encadeia uma
modificao da lngua (Bakhtin, 1999, p.15)
Assim Bakhtin cria uma disciplina, a metalingustica ou
translingustica, para estudar o enunciado. O enunciado uma unidade da
comunicao, enquanto que a palavra e a sentena so uma unidade da
linguagem, este pertence a um universo de relaes dialgicas inteiramente
diferentes das relaes puramente lingusticas.
O enunciado se produz num contexto que sempre social, entre duas
pessoas socialmente organizadas, no sendo necessria a presena
atual do interlocutor, mas pressupondo-se a sua existncia (Freitas,
1994, p.135).
167
O enunciado sempre um dilogo. Cada enunciado se caracteriza por
seus contedos e por seus sentidos.
A lngua a expresso das relaes e lutas sociais, veiculando e
sofrendo o efeito dessa luta, servindo de instrumento e material. A palavra
veicula a ideologia, a palavra, portanto serve de indicador das mudanas.
A palavra se constitui em ato em campos discursivos, pois as tramas,
significados e sentidos se transformam. O sujeito que fala transforma a sua
prpria fala ao falar, constituindo tramas de significados diversos. Ento a
mesma fala, deste outro locutor j no a mesma fala, mas sim uma fala
transformada. Diferentes sentidos so atribudos a cada novo interlocutor,
constitudo na diversidade de seus sentidos que, muitas vezes, se conflitua.
Assim, possvel afirmar que os significados modificam-se de acordo com
os diferentes contextos e sentidos e estes ltimos, so carregados de valores.
A palavra est sempre orientada para que um destinatrio possa ser
(...) o mundo interno e o pensamento de cada pessoa tm sua
estabilizada audincia social que compreende o meio ambiente em
que razes, motivos, valores e assim por diante so moldados (...) a
palavra um ato bilateral. determinada igualmente por aquele de
quem ela a palavra e por aquele a quem destinada. Como palavra,
precisamente o produto de um relacionamento recproco entre
falante e ouvinte, expedidor e destinatrio. Toda e qualquer palavra
expressa um em relao ao outro (Bakhtin apud Clark & Holquist,
1998, p.235).
A palavra, portanto, est intimamente ligada ao significado que lhe
dado. A palavra privada de seu sentido fica reduzida sua realidade fsica.
(Freitas, 1994 p.12).
o contexto, a situao social, o lugar ocupado pelo falante que
determinam qual o sentido que deve ser dado palavra. Bakhtin considera a
palavra como um fenmeno ideolgico, que exercendo a funo de signo,
reflete e refrata a realidade.
A palavra o lugar onde os valores de uma cultura, ou seja, os
valores sociais se confrontam, de forma que os conflitos da lngua refletem
os conflitos de classe do sistema social. Os vrios sentidos que a palavra
denota algo que vai sendo produzido de acordo com os processos de
mudanas sociais, ou seja, os vrios sentidos das palavras so construdos
168
ao longo da histria, em momentos singulares, pelos sujeitos sociais em
interao verbal.
Na verdade no so palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas
verdades ou mentiras, coisas boas ou ms, importantes ou triviais,
agradveis ou desagradveis, etc.; a palavra est sempre carregada de
um contedo ou de um sentido ideolgico ou vivencial (Bakhtin,
1999, P. 95).
No que se refere a linguagem, palavra e significao, Bakhtin tem
pontos que se intercruzam aos pressupostos de Vygotsky.
Vygotsky e Bakhtin nasceram em anos prximos (1896 e 1895)
viveram num mesmo pas Rssia mesmo contexto histrico e mesmo
ambiente terico-ideolgico. Assim sendo, desenvolveram vises de
homem e de mundo semelhantes. Apesar de seus objetivos diferentes,
Bakhtin com sua construo de uma concepo histrica e social da
linguagem e Vygotsky com uma psicologia histrico-cultural, so vrios os
pontos de encontro.
Comeando pelo mtodo dialtico, em que os fenmenos devem ser
estudados como um processo em movimento e mudana. Para os dois
autores os fenmenos no devem ser vistos fragmentados, mas tudo est em
movimento e assim deve ser observado, em sua totalidade. Compreendem
portanto o homem como um conjunto de relaes sociais. Nesse sentido,
Vygotsky e Bakhtin rompem com a positividade de sua poca, no qual o
homem era considerado objeto e os fatos sociais como fragmento, uma
parte. Conciliando a objetividade com a subjetividade, integram as duas.
Vygotsky sempre integra: pensamento e linguagem, aprendizagem-
desenvolvimento, plano interno e plano externo, plano interpessoal e plano
intrapessoal. Bakhtin por sua vez, no dilogo integra: enunciado e vida,
falante e ouvinte, arte e vida, linguagem e conscincia.
Estes dois autores veem o psiquismo humano atravs de uma
perspectiva semiolgica, sendo que o signo organiza e gera os processos
psicolgicos. A mediao semitica fundamental para a constituio
do sujeito.
Para Bakhtin a fala, as condies de comunicao e as estruturas
sociais esto tambm indissoluvelmente ligadas. Tanto o contedo a
exprimir como sua objetivao externa so criados a partir de um
169
nico e mesmo material- a expresso semitica (Freitas, 1994,
p.138).
Para ocorrer esta mediao semitica so necessrios dois elementos:
o instrumento que tem a funo de regular as aes sobre os objetos e o
signo que regula as aes sobre o psiquismo humano.
A funo do signo consiste, antes de mais nada, em possibilitar ao ser
humano conhecer o mundo e comunicar suas experincias na
construo do universo sociocultural. O signo no muda nada no
prprio objeto, mas sim reorganiza ou proporciona uma nova forma
de o sujeito configurar seu mundo, sua atividades, suas relaes
(Sandri, 2001, p.41).
atravs da mediao pela linguagem que se constitui a conscincia.
A relao do homem com os outros homens que o torna homem, o torna
consciente. O outro imprescindvel para os dois autores.
Por isso tanto para Bakhtin como para Vygotsky a palavra um
poderoso instrumento semitico no contato social e na regulao
interpessoal e um modo puro de interao social.
Os dois veem a linguagem no apenas em seu aspecto comunicativo,
mas como organizador do pensamento e planejador da ao.
Nesta perspectiva terica foram analisadas as falas dos professores,
buscando-se apreender os significados, sentidos e valores atribudos ao
Exame Nacional de Cursos.
O Exame Nacional de Cursos (ENC) foi implementado em 1995.
Desde ento, a cada ano novos cursos de graduao so submetidos a esta
modalidade avaliativa. Trata-se de uma avaliao externa, cujo objetivo
avaliar conhecimentos, habilidades e competncias dos acadmicos no final
de curso de graduao. O curso de pedagogia, a partir de 2001, integra a
lista de cursos avaliados pelo MEC. Em sua sexta edio, o Exame
Nacional de Cursos envolveu mais de 48 mil formandos, totalizando 595
cursos avaliados. O exame realizado anualmente entre os meses de maio e
junho e condio obrigatria para a obteno do registro do diploma.
O processo de avaliao das instituies de ensino superior um
tema atual e de relevncia nacional. O ENC visa alimentar os processos de
deciso e de formulao de aes voltadas para a melhoria dos cursos.
170
Partindo da realidade de que os cursos de pedagogia no Brasil
apresentam perfil diversificado, com nfase nas diversas reas de formao,
a comisso de especialistas props novas diretrizes curriculares para o curso
de pedagogia em 1999. Para a comisso de especialistas
as habilidades pedidas no exame procuram verificar algumas
caractersticas gerais, comuns aos novos cursos. Existe uma grande
preocupao em aliar a teoria e a prtica.
4
O aluno formando, alm de prestar o exame, tambm participa de uma
pesquisa, respondendo a um questionrio. Este instrumento de diagnstico
tem como objetivo definir o perfil socioeconmico e cultural, como tambm
conhecer as expectativas de mercado de trabalho do futuro graduado.
Aps tabular e avaliar os dados computados, o MEC encaminha
relatrios individuais de avaliao para cada aluno. Estes relatrios
apresentam os resultados do desempenho individual de cada aluno e, tambm
resultados da instituio, da regio, do estado e do Brasil. Desta forma, o
aluno pode estabelecer relaes entre o seu resultado e os demais dados
recebidos. Os coordenadores de curso e reitores das universidades tambm
recebem relatrios que lhes permitem avaliar as condies do curso, de
acordo com os resultados obtidos pelos alunos que prestam o exame.
Os relatrios so divulgados na imprensa e configura-se um ranking
das Universidades Brasileiras. De acordo com relato dos professores:
Uma das desvantagens essa avaliao ser classificatria, quem tem
A quem tem B, gera uma questo punitiva e competitiva, pois quem
tem A ganha mais verba quem tem B ganha menos, deveria ter um
investimento: quem tem mais dificuldades, maiores deficincias. Prof
8
Outra desvantagem a ideia de ranking qual o melhor curso, por
meio de uma prova nica, ser que isso d conta de avaliar de fato o
curso? A qualidade do curso? Ser que s essa avaliao que
precisa pra essa qualidade? Ser que por a?... Prof 16
O ENC vem sofrendo inmeras crticas de alunos, instituies de
ensino superior e prpria sociedade civil. Um dos argumentos que
sustentam tais crticas ao fato de constituir-se em um modelo de avaliao
4
Revista do Provo. 2001
171
que desconsidera as especificidades dos cursos, em seus contextos regionais
(o que inclui condies de oferta, perfil do aluno, infra-estrutura fsica e
organizacional). Questiona-se, tambm, o fato de a avaliao ser feita em
um momento nico, valendo-se apenas de uma prova, aplicada aos
acadmicos. Estas criticas, referendadas em bibliografia recente ao campo
da avaliao educacional, considera o ENC um retrocesso, uma vez que
desconsidera a multiplicidade de concepes e formas de ensinar e
desenvolver o conhecimento e avaliar o processo educacional (e no apenas
o produto/resultado/prova).
Podemos perceber essas questes nas falas dos professores
entrevistados:
... o mesmo provo pra qualquer curso em qualquer lugar no Brasil.
Prof 12
... Uma nica forma de avaliao pra um pas que apresenta tantas
diversidades, ento como essa avaliao vai contemplar essas
diferenas regionais, diferentes propostas pedaggicas, perfil
profissiogrfico, mercado de trabalho, como uma nica prova vai dar
conta de todas essas questes. Prof 8
A prova meio limitante, poderia ser mais aberto. Prof 14
O significado da padronizao do ENC, atribudo pelos professores
12, 8 e 14, denota que, para alm da planificao das provas, os professores
atribuem um sentido especfico, qual seja, o fato do curso estar localizado
em uma regio especfica do Brasil e como tal, no poder congregar toda a
diversidade cultural e acadmica contemplada nas questes do ENC.
De acordo com Bakhtin, o enunciado est sendo inserido em um
contexto especfico, carregado de sentidos e valores.
Entretanto, apesar de todas as crticas, o ENC hoje, no Brasil, um
fato e a imprensa encarrega-se de divulgar os resultados, classificando os
cursos de graduao. Assim, as instituies de ensino superior tm reagido,
organizando mudanas internas para se adequar aos critrios de avaliao
externa promovida pelo MEC. Concordando ou no com os critrios
levantados, as instituies procuram se adaptar ao sistema sob risco de
descredenciamento de cursos e, at mesmo, descrdito frente a comunidade.
Assim, principalmente nas instituies no pblicas, so notrios os
investimentos, tais como ampliao de laboratrios e bibliotecas,
172
investimento na qualificao de professores etc, com objetivo de alcanar
melhores ndices no ENC.
No relato dos professores podemos perceber que ao se referirem as
vantagens ocorridas com a implantao do ENC, veem uma melhoria na
qualidade de ensino no curso e tambm um maior desempenho, interesse
dos alunos com o seu processo de formao:
... O exame esta fazendo com que o curso e as instituies dem mais
credibilidade aos seus cursos, se preocupam com aquilo que est
desenvolvendo no perfil, na formao profissional destes alunos...
Prof 1
... Eu percebo uma evoluo, uma boa melhorada de todo o
processo... Prof 2
Houve uma melhor qualidade em nvel dos cursos, uma melhor
qualificao dos professores... Prof 3
A principal vantagem que trouxe mais seriedade nos cursos em
geral, todo mundo est mais preocupado com a qualidade. Prof. 4
... com certeza eu acho que trouxe possibilidades de estar melhorando
a qualidade do ensino. Prof. 5
O professor 1 e 2 acreditam na melhoria do processo de ensino, o 3
afirma que a qualificao dos professores, logo, a sua tambm, foram alvo
de melhorias com o adento do ENC. O professor 4 descreve que o curso
ficou mais srio. Da mesma forma o professor 5.
... Penso tambm que um maior interesse dos alunos, um esforo bem
melhor a nvel profissional mesmo, durante o processo de formao
deles... Prof. 12
O aluno j sabe que vai exigir dele um comprometimento... Prof 5
Eu vejo que houve um maior interesse dos alunos em relao aos
contedos da sala de aula, at no sentido deles procurarem uma
diversidade maior de livros para estarem lendo, etc... Prof. 15
O que precisamos agora trabalhar o aluno para que ele seja
reflexivo e antes no havia este interesse... antes era s cumprir as
disciplinas... Prof 3
173
Este bloco de relatos dos professores permite inferir que os discursos
esto carregados de sentidos e valores. So professores habilitados, que
desempenham seus papis com seriedade e compromisso.
Desse modo, h necessidade urgente em discutir e analisar o exame
no que se refere aos seus aspectos prticos e tcnicos, bem como suas
concepes tericas e implicaes polticas.
A Portaria Ministerial
5
estabelece as diretrizes gerais do Exame
Nacional de Cursos para a rea de pedagogia e pressupe que o estudante
tenha desenvolvido, ao longo do curso, capacidade de mobilizao de
conhecimentos e tecnologia para intervir efetivamente em situaes
pedaggicas concretas e de articulao, no processo de reflexo na escola,
de recursos humanos, metodolgicos, tcnicos e operativos, mediante
prticas participativas.
O Exame pressupe ainda que o graduando tenha desenvolvido
competncias e atitudes investigativas, sabendo mapear contextos e
problemas, argumentar e captar contradies em situaes educativas e que
possua sensibilidade tico-profissional, implicando responsabilidade social
e atuao por uma sociedade justa e solidria.
6
Sendo assim, uma das desvantagens citadas pelos professores
pesquisados, refere-se aos alunos serem preparados para a realizao do
provo:
Eu acho que uma excessiva preocupao muitas vezes das
coordenaes, das direes, dos professores em preparar esses alunos
pra obter uma boa nota, o modo como a reviso feita acaba sendo
muito conteudista e pouco crtica, o aluno acaba decorando
contedos e devolvendo na hora da prova. Prof 4
Uma das desvantagens vamos supor aqui no nosso curso de repente
numa preocupao excessiva como preparar os alunos para o
provo... Prof 8
Os cursos, as universidades comeam a preparar seus alunos pra esse
exame, ento me parece que h um certo desvio, um caminho
diferente se no houvesse o provo. Prof 11
5
Portaria n 012, de 04 de janeiro de 200l.
6
Idem.
174
A formao de professores vem vivenciando um momento de
transio e mudanas curriculares, o Curso de Pedagogia passa por um
amplo debate nacional que se discute o destino do curso.
O Exame Nacional de Cursos tem sido amplamente discutido por
educadores e responsveis por polticas educacionais. A conferencista,
Prof. Mrion Campos Bordas (Representante do MEC/SESU) pontua sobre
o envolvimento e compromisso das instituies formadoras de
disponibilizarem sociedade um profissional em constante busca de
aperfeioamento, com vistas a aprofundar e/ou diversificar sua formao
inicial em funo das demandas sociais de educao e das inovaes que a
evoluo cientfica e tecnolgica colocam a servio da ao pedaggica.
Para tanto, a relevncia desse estudo, atravs dos resultados podero
contribuir e subsidiar aes significativas no projeto pedaggico e no
currculo dos cursos de formao de professores.
atravs das relaes dialgicas, nos atos de fala que estes
professores constrem suas significaes. O meio ambiente que estes atos
de fala surgem o que Bakhtin chama de psicologia do corpo social.
neste elemento que se acham submersas todas as formas e aspectos
da criao ideolgica ininterrupta: as conversas de corredor, as trocas
de opinio puramente fortuitas, o modo de reao verbal face s
realidades da vida e aos acontecimentos do dia a dia, o discurso
interior e a conscincia auto-referente, a regulao social, etc.
(Bakhtin, 1999, p.42)
Outro item significativo no discurso dos professores, em relao as
desvantagens os contedos do ENC passarem a fazer parte do currculo do
curso, ou outras vezes os professores deixarem de lado os contedos
contemplados no currculo com a preocupao de abordar, os contedos
contemplados no provo:
...Eu penso que seja uma preocupao excessiva com aquelas
diretrizes, aqueles contedos que foram apontados e que caram no
provo, os cursos se voltaram para esse currculo e acabaram
perdendo sua prpria identidade acontecendo uma certa
uniformizao dos cursos na FEBE... Prof 2
Nosso curso acabou focando um olhar para algumas coisas que eram
pertinentes ao provo... existem alguns contedos, alguns temas que
175
o provo busca, ento nos precisamos dar conta daquilo, no sei se
chega a ser uma desvantagem, mas uma regulamentao que no
interna. Prof 13
Consideraes finais
Ao que parece, o discurso dos professores homogneo e se
assemelham as discusses realizadas por educadores e responsveis por
polticas educacionais em todo o Brasil.
Os professores so os principais protagonistas destes discursos e este
por sua vez construdo na realidade que os cercam, o curso de Pedagogia
da FEBE.
Este curso por sua vez est ligado a todas as discusses que ocorrem
a nvel nacional no que diz respeito ao Exame Nacional de cursos, portanto
h fios dialgicos que se intercruzam entre os discursos de enunciatrios
externos e os professores desta instituio.
O contexto histrico transforma a palavra do dicionrio em fios
dialgicos vivos que refletem e refratam a realidade que a produziu. O
processo de reflexo e refrao pode ser assim explicado:
A palavra quando entra na arena discursiva, passa por constantes
transformaes. Ela lanada pelo locutor, mas quando devolvida
pelo interlocutor, que j tem mudado de posio, passando a ocupar a
posio daquele, no mais a mesma. a palavra do primeiro
locutor, que a devolve com uma carga a mais de sentido. Pode afirmar
que, em situao de uso, a palavra se vai revestindo de sentidos, tons
e valores. Ela prenhe de significados (Barbosa, 2002, p.l).
Bakhtin se refere as palavras como sendo verdades ou mentiras que
pronunciamos ou escutamos, importantes ou triviais, carregada de sentido e
significado.
No que se refere as significaes realizadas pelos professores, a
respeito das desvantagens, o que mais se destaca a questo da
competitividade entre as universidades ou seja, a classificao, o ranking
entre os cursos.
176
Outra varivel importante no que se refere aos contedos
englobados no ENC. Os professores enfocam estes contedos em sala de
aula, que por sua vez acabam fazendo parte do currculo.
Uma desvantagem que fica evidente no discurso dos professores a
padronizao da avaliao. Segundo relato de professores este mtodo
desconsidera as especificidades dos cursos em seus contextos regionais, ainda
que no permite a avaliao sendo um processo mas um momento nico.
Por fim outra desvantagem preparar os alunos para a realizao da
prova:
O aluno acaba decorando contedos e devolvendo na hora da prova.
Prof 6
Outro aspecto que gostaramos de enfatizar so as significaes a
respeito das vantagens observadas pelos professores com a implantao
do ENC.
Estes alegam que o grande benefcio vivenciado a preocupao com
a qualidade dos cursos de ensino superior. Sendo este o objetivo traado
pelo MEC ao instituir o Exame Nacional.
A principal vantagem que trouxe mais seriedade nos cursos em
geral, todo mundo est mais preocupado com a qualidade. Prof 4
Declaram tambm que uma das vantagens, est ligada a um maior
desempenho e interesse dos alunos com sua formao, se comprometendo
mais a atividades como pesquisa, buscar literaturas diversificadas, sendo
crtico e reflexivo.
Percebemos com esta pesquisa que h uma discusso reflexiva no
que diz respeito implantao do Exame Nacional de Cursos por parte dos
professores da FEBE-Brusque.
Conforme o referencial adotado, conclumos que a palavra traz as
marcas histricas, sociais e culturais, a gama de sentido que ela denota
algo que vai sendo produzido de acordo com os processos de mudanas
sociais, ou seja, os vrios sentidos das palavras so construdos ao longo da
histria, em momentos singulares, pelos sujeitos em interao verbal.
177
Referncias
Bakhtin, M. M (1999) Marxismo e filosofia da linguagem. 9 ed. So Paulo:
Hucitec.
Brait, Beth (org.) (1997) Bakhtin, dialogismo e construo do sentido.
Campinas-SP: Editora da UNICAMP.
Bodgdan, Robert e Biklen, Sari (1994) Investigao qualitativa em
educao: uma introduo teoria e aos mtodos. Trad. Maria
Jalvarez; Sara B. dos Santos e Teimo M. Baptista. Portugal: Porto.
Clark, Katerina & Holqust, Michael (1998) Mikhail Bakhtin. So Paulo:
Perspectiva.
Daniels, Harry (orgs) (1994) Vygotsky em foco: Pressupostos e
desdobramentos. Campinas/ SP: Papirus.
Freitas, M.T.A. (1994) Vygotsky e Bakhtin Psicologia e educao: um
intertexto. So Paulo: Atica.
________. (1994) O pensamento de Vygotsky e Bakhtin no Brasil.
Campinas: Papirus.
Molon, S. I (1999) Subjetividade e constituio do sujeito em Vygotsky. So
Paulo: EDUC.
Oliveira, R.M.Z. (1995) A criana e seu desenvolvimento: Perspectivas
para se discutir e educao infantil. So Paulo: Cortez.
Sandri, Gianine (2001) A constituio do sujeito nas relaes de Gnero:
consideraes a partir da perspectiva histrico-cultural. In:
Contrapontos/Universidade do Vale do Itaja. Ano 1, n 2, out.
Schlindwein, Luciane Maria e Petri, Claudia Maria (2000) As classes de
acelerao das sries iniciais do ensino fundamental nos municpios
de Itaja e Balnerio Cambori: Conhecendo a realidade. Relatrio
Final de Pesquisa, UNIVALI.
Stam, Robert (1992) Bakhtin da teoria literria cultura de massa. So
Paulo: tica.
Smolka A. L .B & Ges M. C. R. (orgs) (1993) A linguagem e o outro no
espao escolar: Vygotsky e a construo do conhecimento.
Campinas, SP: Papirus.
178
Educao e sade: consideraes a respeito da atuao interdisciplinar
em uma comunidade escolar
1
Leia Viviane Fontoura
2
Salete Galvan
3
Adir Luiz Stiz
4
Deyse Ferreira
5
O incio do PAESCE
6
Desde 1987, a UNIVALI vinha desenvolvendo atividades na sade
do escolar, nas escolas da microrregio do Vale do Itaja, envolvendo os
docentes e discentes do curso de Enfermagem. Em 1996, o curso
diversificou seus campos de interveno na comunidade, mantendo ainda
uma escola pblica estadual de educao bsica. O desenvolvimento das
atividades na escola priorizava o levantamento de problemas de sade
atravs de exames fsicos, testes de acuidade visual e auditiva,
encaminhando os casos alterados para servios especializados e ministrando
palestras com turmas de alunos para a preveno de doenas.
O Centro de Educao Superior de Cincias da Sade, em 1999
props a integrao dos projetos, nos diversos cursos, para otimizao e
desenvolvimento da cultura interdisciplinar. Ingressaram neste projeto, os
cursos de Psicologia, Odontologia e Fonoaudiologia. O projeto tomou ento
nova dimenso saindo do paradigma assistencial na concepo de sade do
escolar e construindo em sua prxis a promoo de sade, implementando
aes com os sujeitos envolvidos nessa instituio.
1
Participaram da elaborao deste artigo as bolsistas: Ana Paula Boeira Lencina, Adriane
Baggio, Alessandra Sebben Covolo, Ariane Mezadri, Carolina Scabrin Kriger, Elaine Rocha
Pinheiro, Emanuella Sauto Arrosi, Estela Maria Ribeiro e Tatiany Oliveira Molina.
2
Psicloga. Professora do Curso de Psicologia da UNIVALI e FURB. Mestre em Educao.
Responsvel pelo PAESCE.
3
Enfermeira. Professora do curso de Enfermagem na UNIVALI. Mestre em Avaliao e
Inovao Tecnolgica.
4
Odontlogo. Professor do curso de Odontologia da UNIVALI. Mestre em Sade Coletiva.
5
Fonoaudiloga. Professora do curso de Fonoaudiologia da UNIVALI. Mestre em
Distrbios da Comunicao.
6
Projeto de Ateno Educao e Comunidade Escolar.
179
A equipe interdisciplinar composta por um professor e dois
bolsistas de Psicologia, Enfermagem, Odontologia e Fonoaudiologia, que
buscou a sua integrao e discutiu sobre as contribuies das cincias
envolvidas e a forma de articulao entre elas para as aes, estabelecendo
como objetivo: contribuir para o desenvolvimento da comunidade escolar,
traando e executando aes de mbito preventivo/educativo na promoo
da sade integral.
Para a realizao do planejamento das aes, a equipe do PAESCE se
rene quinzenalmente e cada professor com seus bolsistas semanalmente.
Estes atuam na escola diariamente nos dois turnos de funcionamento:
matutino e vespertino, com orientao dos professores da Universidade. A
populao envolve duas orientadoras pedaggicas, uma supervisora, uma
diretora, uma secretria, dezenove professores e aproximadamente
quatrocentos alunos.
Compreendemos que a escola uma instituio sempre alvo de
muitas investigaes em vrias cincias. Martinez (1996) identificou a
escola como um espao vital para a promoo de sade, destacando que tal
promoo uma funo do conjunto da sociedade e das suas instituies.
De acordo com a autora, esta nova concepo de sade possui uma ntima
relao com o processo educativo. A partir dessa concepo podemos
analisar o papel da escola, como uma das instituies bsicas da sociedade
no processo de desenvolvimento da sade. Entendemos, ento, que nosso
objeto interdisciplinar a promoo de sade, na qual a interseo seja a de
um agente de mudanas das relaes sociais.
7
As aes desenvolvidas
esto calcadas na anlise das relaes concretas que se estabelecem na
escola, procurando gerar condies para, como prope Patto (1984, p.12),
que se mantenham acesos capacidade de pensar e o desejo de dignidade
numa sociedade que conspira o tempo todo contra isso.
Frente a esta postura, a equipe integrou-se nas atividades curriculares,
com base na abordagem institucionalista, construindo a anlise da
instituio atravs da observao no cotidiano
8
da escola, nas salas de aulas,
7
Compactuando com uma psicologia crtica, confira autores como Patto (1984 e 1997),
Andal (1990), Tanamachi, Rocha e Proena (2000), entre outros.
8
O entendimento de cotidiano apoiado no referencial de Agnes Heller, segundo a autora:
(...) a vida cotidiana a vida de todo homem (...) o homem participa da vida cotidiana com
180
nos intervalos, nas reunies com professores, direo e especialistas bem
como conversas individuais e intervenes em situaes nos grupos de
alunos e professores.
A anlise da instituio
9
revelou que h dificuldades na realizao de
atividades coletivas, com problemas no relacionamento interpessoal dos
vrios atores sociais da comunidade escolar. Entre estas, destacam-se as
relaes autoritrias, que entendemos como relaes de poder disciplinar,
de organizao do tempo e espao.
10
As aes pedaggicas e atitudes da
maior parte dos professores, em sua cotidianidade, indicaram incongruncia
com a proposta do plano poltico pedaggico da escola.
11
Aps a apresentao e discusso desses resultados, sempre
provisrios, junto aos profissionais da escola, traamos aes conjuntas
para atuarmos na direo de que os sujeitos promovam sua autonomia,
enfocando as relaes como abertura de espaos em que as diferenas
possam ser explicitadas e analisadas. Esta devolutiva oficial ocorreu a cada
incio de ano (2000, 2001 e 2002), nas reunies de planejamento dos
professores, onde discutimos nossos avanos e impasses. Dessa forma,
trabalhamos numa postura interdisciplinar com os grupos de alunos e
professores implantando e implementando atividades que conduzam a
concretizao do plano poltico pedaggico da escola. Tambm realizamos
todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, coloca-se em
funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas
habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixes, ideias, ideologias. O fato de que todas
as suas capacidades se coloquem em funcionamento determina tambm, naturalmente, que
nenhuma delas possa realizar-se, nem de longe, em toda sua intensidade. O homem da
cotidianidade atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas no tem nem tempo nem
possibilidade de se absorver inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso, no pode
agu-los em toda sua intensidade. (Heller, 1992, p.17).
9
importante esclarecer que a anlise da instituio no uma tarefa que se esgota em um
perodo de tempo, mas compreendida como uma abordagem de trabalho, realizada
dinamicamente na prpria cotidianidade. Compactuando com Rocha (2000, p.186), (...) a
nossa perspectiva est na abertura de espaos que permeiam comunidade escolar, da qual
faz parte tambm o psiclogo, discutir suas implicaes com a construo do cotidiano
educacional, envolvendo a prpria formao, relaes, diversidade de posies frente ao
processo, assim como nas insatisfaes, demandas e alternativas.
10
Conferir Michel Foucault, na obra Microfsica do Poder, 1995.
11
Para maiores detalhes ver Fontoura; Galvan, e Didon, (2001).
181
atividades especficas de cada Curso
12
atendendo as demandas da
comunidade.
As aes desenvolvidas
O trabalho na escola foi permeado por uma srie de avanos e
retrocessos, o que acreditamos fazer parte de todo contexto institucional, que
palco de conflitos e resistncias. Segundo Petitat (1994) a escola apresenta-
se como uma resposta a certas necessidades e condies, favorecendo a
inveno, ou seja, a criao dos sujeitos que vivem em sociedade.
Compactuamos que a educao escolar s pode ser pensada em seu
contexto histrico-cultural, na trama de relaes e suas instituies.
Concordando com Severino (1991, p.36) ao escrever que:
A educao pode ser uma prtica de interveno na realidade social,
um fenmeno multifacetado composto por um conjunto complexo
de perspectivas e enfoques. No pode, portanto, ser considerada
como uma cincia isolada nem tampouco apreendida mediante
categorias de um nico campo epistemolgico, j que vrias
disciplinas autnomas convergem para a constituio de seu objeto.
Ou seja, a prtica pedaggica influenciada por mltiplas
dimenses: social e poltica, filosfica, tica, histrica etc.
Neste sentido, as atividades desenvolvidas com as turmas de alunos
foram planejadas e executadas sempre com a participao, direta ou
indireta, dos professores. Passaremos a apresentar, brevemente, algumas
das aes desenvolvidas nestes trs anos e meio de existncia do PAESCE.
No ano de 2000 foi realizado um levantamento com todas as turmas de
alunos, para que pudssemos obter dados acerca de como percebem a escola.
Solicitamos que eles colocassem como sua escola e como gostariam que ela
fosse, bem como sugestes para as melhorias. A metodologia utilizada com
os alunos de 3 8 srie foi atravs de discusso em pequenos grupos,
confeco de cartazes e apresentao para a turma. Com os alunos da pr-
escola 2 srie, foi solicitado que desenhassem e explicassem.
12
Como a escovao, revelao de placas e aplicao de flor; os exames de pediculose e
escabiose; os exames de acuidade visual e auditiva; os procedimentos de enfermagem
quando algum se fere na escola e encaminhamentos mdicos.
182
As questes levantadas pelos grupos de quinta oitava srie e classe
de acelerao giraram em torno de: bons professores, boas atividades
oferecidas na escola, bons colegas, inexistncia de um grmio estudantil,
violncia, limpeza inadequada, professores desinteressados, diretora
autoritria, poucas atividades extracurriculares, materiais precrios para
portadores de necessidades especiais, estrutura fsica precria (quadra,
mato, laboratrio de cincias), biblioteca defasada, desorganizao de
professores (absentesmo e troca) e inexistncia de aulas de reforo. As
sugestes dadas pelo grupo foram: aproveitamento do espao fsico,
expulso de alunos desinteressados, compra de materiais didticos,
ampliao da biblioteca, criao de um laboratrio de cincias, respeito aos
professores e aos alunos, diversificao no cardpio da merenda e dos
produtos alimentcios oferecidos na cantina, promoo de eventos e
manuteno de portas fechadas durante os intervalos.
Em relao ao grupo de pr-escola a quarta srie, as questes
levantadas foram: bom estudar nesta escola, bons professores, gostam das
orientadoras educacionais, aula de Educao Fsica boa. Expressaram
descontentamento com a estrutura fsica, mais especificamente com a
desativao do parquinho, a quadra, a inadequao dos bebedouros (alto
demais para a maioria alcanar), a falta de materiais na sala de jogos; a
limpeza insuficiente nos banheiros e a merenda ruim. Relataram ainda, o
desrespeito entre colegas e professores e a direo considerada muito
braba (sic). As sugestes foram: o plantio de flores, a ativao do
parquinho, aulas de computao, passeios pedaggicos, reformar a quadra,
adequar os bebedouros, variar o cardpio da merenda e a criao conjunta
das normas de convivncia.
Durante o levantamento, constatamos que os alunos de quinta
oitava sene, incluindo a classe de acelerao, demonstraram um grande
descontentamento acerca do autoritarismo da direo atual, pedindo uma
mudana de postura ou o seu afastamento. Do mesmo modo que falavam do
autoritarismo da direo, solicitaram a expulso de alguns colegas que
perturbam a paz e o fechamento das portas da escola no perodo do
recreio. Observamos a resistncia de alguns alunos em se comprometer com
as mudanas que sugeriram, direcionando estas aos demais, permanecendo
sempre no seu eu. Apesar de citarem a inexistncia de um grmio
estudantil, no houve mobilizao para a efetivao de um, mesmo com
183
todo o apoio que o grupo de bolsistas insistiu em oferecer. Tais eventos nos
so elucidados por Rocha (2000, p.195) ao escrever que:
O modo de subjetivao que veiculado pelas instituies sociais
no constitui somente uma transmisso de significaes, um conjunto
de ideias impostas. Trata-se de sistemas de conexes direta entre as
grandes mquinas produtivas, as estruturas de controle social, e as
instncias psquicas que defendem a maneira de perceber o mundo. O
sistema de significao dominante atravessa a conformao do
sujeito social, configurando modos de valorizao, de sensibilidade,
de desejo e de representao do mundo.
Frente a este levantamento e aps reunio com os professores e
direo, traamos aes que acreditamos ter fugido lgica dominante,
intercedendo (...) pela polissemia da expresso (...) (Rocha, 2000, p.194).
Com as turmas de 5 8 sries e classe de acelerao foram
realizadas as seguintes atividades:
Oficinas com os temas transversais: Em observaes s aulas dos
professores, a convite ou por sugesto da equipe, constatamos que as aulas
de Religio tinham como contedo os temas transversais preconizados
pelos Parmetros Curriculares Nacionais (BRASIL/MEC, 1997). Sendo esta
a nica disciplina a tratar dos temas de: tica, Pluralidade Cultural, do Meio
Ambiente, da Sade, da Educao Sexual, do Trabalho e Consumo. Alm
disso, foi observado tambm que havia problemas de relacionamento entre
alunos/alunos e alunos/professores.
Diante dessa realidade, optou-se ento em trabalhar o contedo dos
Temas Transversais atravs de oficinas, realizadas extraclasse aos sbados.
Essa estratgia, embora no sendo quela sugerida pelo MEC, manteve as
caractersticas de interdisciplinaridade e transversalidade. Tambm
oportunizou aos alunos discutirem esses contedos tendo como suporte
terico o prprio conhecimento e experincias, a realidade escolar e os
problemas pessoais e interpessoais existentes. Sendo assim, foram
planejados cinco oficinas com os seguintes temas: Sade: Projeto de vida
ou Projeto de Morte?; Meio Ambiente: o EU, o NS, e a Preservao do
Meio Ambiente; Sexualidade; tica: meus direitos e meus deveres;
Trabalho e Cidadania: Cresci e Agora?
184
Como resultados dessa experincia destaca-se a sensibilizao dos
alunos quanto contribuio de cada um na determinao das caractersticas
do meio escolar, familiar e comunitrio em que esto inseridos; na
sensibilizao em relao importncia da formao para a concretizao
dos projetos de vida; a discusso de vrios problemas pessoais e familiares
que eram do conhecimento dos colegas; discusso dos problemas existentes
na escola e apresentao de propostas para solucion-los.
Matemtica divertida: Por solicitao da professora de matemtica,
desenvolvemos uma srie de jogos, onde as estratgias de ao para as
atividades relacionadas disciplina visaram, tambm, incentivar a
cooperao e integrao dos alunos, em primeira instncia nas turmas e em
segundo momento, entre as sries. Esta atividade revisou, por
aproximadamente um ms, os contedos ministrados de forma ldica,
oportunizando as turmas a conhecerem-se melhor, alcanando os objetivos
propostos para o trabalho. A professora da disciplina adotou alguns dos
jogos como prtica pedaggica.
Discutindo a sexualidade: Em reunio com os professores, estes
solicitaram um trabalho sobre a sexualidade, tendo em vista os comentrios
que ouviam dos alunos, indicando falta de conhecimento e necessidade de
um espao para discusso. Visitamos todas as salas de aula e propomos aos
alunos alguns encontros para discutirmos sobre o tema. Com aprovao de
todas as turmas, solicitamos questes e dvidas para serem entregues no dia
seguinte. Recolhemos as questes de cada turma e constatamos um grande
nmero de dvidas, tabus e mitos.
Realizamos trs encontros com cada turma, onde foram tratadas as
suas especificidades. No primeiro encontro optamos pela tcnica expositiva
dialgica, fazendo uso de vdeo e material impresso. No segundo e terceiro
encontro debatemos sobre questes que eles propuseram.
Projeto da Paz: cidadania e alteridade. Uma das propostas do
plano poltico pedaggico da escola, que envolvia o direcionamento da
Secretaria Estadual de Educao, implicava na apresentao peridica na
comunidade de uma atividade alusiva paz e o desenvolvimento de aes
no cotidiano da instituio. Frente as frequentes queixas dos professores
da falta de limites dos alunos e as observaes dos materiais e
apresentaes do tema da paz, que no os envolvia diretamente, mas a
185
contextos mais amplos no mundo, como a guerra, a destruio do meio-
ambiente, a agresso nos jogos de futebol, os assassinatos entre outros,
propomos uma interveno em cada turma.
Realizamos, em mdia cinco encontros, com periodicidade quinzenal.
Nestes, tentamos criar um espao de mediao para o abandono de posturas
defensivas e na criao de dispositivos de comunicao mais transparente.
Discutimos sobre as significaes de paz e violncia para eles, os conceitos
de incivilidade,
13
cidadania e alteridade,
14
bem como a implicao e
responsabilidades de suas aes. Para desencadear as discusses, lanamos
mo das tcnicas de dinmica de grupo, dramatizaes e desenhos.
Em algumas turmas houve a pronta implicao e adeso dos alunos,
sendo observado uma diminuio das brigas e constantes xingamentos.
Entretanto, em outras, os alunos demonstraram resistncias. Apesar de
terem concordado com o desenvolvimento do trabalho, a expresso que
presenciamos foram cenas de incivilidades, como s agresses verbais e
fsicas entre eles e a falta de disponibilidade para escutar o colega. As
professoras que acompanharam o trabalho insistiam em disciplinar a turma,
no compreendendo os motivos que nos levavam a dispensar as suas
13
Laterman refere que o termo violncia, da forma como veiculado socialmente, no
suficiente para explicar o que ocorre dentro das escolas. Considerando que necessariamente
no so crimes e delitos o que gera um clima de violncia e insegurana no espao escolar,
mas sim, atos de incivilidades. Neste sentido, a autora citando Debardieux, situa o conceito
de incivilidade: Por incivilidade se entender uma grande gama de fatos indo da
indelicadeza (...) ao vandalismo (...). As incivilidades mais inofensivas parecem ameaas
contra a ordem estabelecida transgredindo os cdigos elementares da vida em sociedade, o
cdigo de boas maneiras. Elas podem ser da ordem do barulho, sujeira, impolidez, tudo que
causa desordem. No so ento necessariamente comportamentos ilegais em seu sentido
jurdico mas infraes ordem estabelecida, encontradas na vida cotidiana. (...) Indo mais
alm, as incivilidades, pela impresso de desordem que geram, so para os que as sofrem a
ocasio de um compromisso, uma defesa em causa da organizao do mundo. Atravs delas
a violncia se torna uma crise de sentido e contra sentido. Elas abrem a ideia do caos.
(Laterman, 2000, p.37).
14
Ao discutir o conceito de cidadania Sawaia recupera uma dimenso deste conceito no
incorporada da modernidade contempornea que o de alteridade. A maioria das definies
e o uso corrente deste conceito no inclui a ideia de individualidade, autonomia e
pluralidade. Assim, cidadania normalmente pensada como a relao existente entre o
cidado e o Estado, no qual este deve proteger e em troca o cidado deve obedecer. Este tipo
de relao homogeneizadora e leva a heteronomia, pois o cidado coloca-se sobre a tutela
do Estado. (1994, p.147).
186
intervenes, mesmo sendo explicado vrias vezes. Alguns alunos tambm
sugeriam que gritssemos ou dssemos uma punio, tambm explicvamos
para eles os motivos de nossa postura, pois desta forma, jamais
conseguiramos romper com a lgica adotada, no alterando a forma de
lidar com o poder.
Jogo da sade: Aproveitando os contedos da disciplina de cincias
e alguns encontros que realizamos nas turmas para trabalharmos com temas
relativos aos cuidados com a sade, confeccionamos e aplicamos um jogo
que teve como inspirao o Jogo do Milho, do programa comandado por
Slvio Santos na emissora do SBT.
As turmas foram organizadas em equipes. Cada pergunta continha
trs respostas em que o grupo deveria escolher a correta para ganhar o
ponto. Se houvesse dvidas, poderiam recorrer s placas. No incio do jogo
as respostas eram aleatrias, sem o consenso da equipe. Com a perda de
pontos mudaram a estratgia, entendendo que era necessrio discutir a
questo para votarem na resposta da equipe.
Em algumas turmas foi percebido que a apresentao das opes das
respostas tornava algumas questes muito fceis de serem respondidas e,
por isso, foram retiradas, passando a ser feita apenas a pergunta. Este
procedimento propiciou a discusso da resposta correta nas equipes,
favorecendo a discusso, o questionamento e maior envolvimento na tarefa.
A cada pontuao errnea, a turma era instigada a verbalizar qual a resposta
correta. Nas dvidas as bolsistas intervinham, esclarecendo. De forma geral
esta atividade propiciou um exerccio de comunicao e respeito ao
conhecimento e opinio do outro. Os alunos avaliaram positivamente e
sugeriram a continuao de atividades semelhantes.
Gincana do conhecimento: Atendendo as expectativas dos alunos
frente solicitao realizada aps o jogo da sade, realizamos uma gincana.
Foi elaborada com a participao dos professores, que confeccionaram
perguntas e trs opes de respostas dos contedos ministrados ao longo do
bimestre. Alm dessas, acrescentamos questes referentes aos cuidados
com a sade.
A atividade foi desenvolvida por turmas, no ptio da escola. A equipe
ganhava pontos pelo acerto das questes e tambm pela execuo correta
e/ou mais rpida de tarefas sorteadas. Estas envolviam uma srie de aes,
187
tais como: colocar o nariz no palhao, com uma venda nos olhos; passar o
balo entre as pernas, ou por cima da cabea, at que a primeira pessoa da
fila ficasse em ltimo lugar e muitas outras brincadeiras.
Os alunos participaram e se empolgaram com a atividade. Em geral
acertavam as respostas, ficando o contedo relativo ao Estatuto da Criana
e do Adolescente o que mais gerou dvidas e erro, sendo estas esclarecidas
e discutidas. Os professores ficaram satisfeitos com o desempenho de seus
alunos e avaliaram a atividade positivamente.
Todas as aes realizadas com os alunos foram desenvolvidas com a
inteno de contribuir para o conhecimento dos contedos e principalmente,
enfocando as relaes, abrindo espaos para o novo, tentando quebrar a
lgica homogeneizante e cristalizada do tdio
15
na cotidianidade da escola.
Com os professores foram realizadas as seguintes atividades: No
final do ano de 2000, solicitamos uma reunio com todos os professores,
especialistas e direo. Nosso objetivo foi de realizar um levantamento para
que pudssemos obter dados acerca de como percebem a escola,
investigando os pontos comuns com os resultados obtidos dos alunos e
analisar com os professores a viabilidade de mudanas sugeridas.
Dividimos o grupo em pequenas equipes, nas quais deveriam
descrever a escola que temos e a escola que queremos, da mesma forma que
foi realizado com os alunos. Foram confrontados os dados dos grupos,
sintetizados e discutidos. Houve concordncia entre os professores e alunos
nos seguintes pontos: o autoritarismo da diretora, a precariedade da
limpeza, as faltas em excesso.
As discrepncias tambm se tornaram evidentes. Segundo os discursos
dos professores, buscavam alunos crticos, produtores e pessoas capazes de
apreender (sic). Entretanto, em sua prtica, tratavam os alunos como seres a
serem moldados, que deveriam apenas se comportar como expectadores. Tais
atuaes apareceram fortemente impressas nas falas dos alunos.
Em relao ao descontentamento dos alunos, acerca da depredao e
da falta de higiene da escola, entendemos que no h conscincia e
apropriao do espao escolar como seu, mas representa a diretora e/ou os
15
O termo tdio que referimos esta de acordo com a posio e Marisa Lopes da Rocha, no
texto Educao em tempos de tdio: um desafio micropoltica (2000).
188
professores, pois, os prprios alunos acabam por depred-la e suj-la. E
claro que esta hiptese est calcada, tambm, nas observaes das prticas
pedaggicas no exerccio do poder disciplinar.
Quanto s possibilidades de atendimento s sugestes dos alunos,
algumas foram sendo realizadas ao longo do ano seguinte, tais como:
implementao de atividades extraclasse, reforma do parquinho, plantio de
flores e folhagens, melhora na limpeza da escola e campanha junto aos
alunos para preserv-la, o porto passou a ser fechado, porm no s na
hora do intervalo como o solicitado, mas logo aps o incio das aulas.
Nesta reunio os professores tambm sugeriram que os encontros
com o PAESCE passassem a ser sistemtico uma vez por ms a fim
de serem discutidos temas especficos e acompanhamento do trabalho.
Reunies mensais: A partir do ano de 2001, a direo da escola
disponibilizou duas horas aulas, uma vez ao ms, para que discutssemos
temas especficos que foram solicitados pelo grupo.
O primeiro tema foi um pedido da direo que desejava sensibilizar
alguns dos professores para receberem alunos portadores de necessidades
especiais. Trabalhamos com uma vivncia, seguida de debate. As questes
de resistncias estavam situadas nas dvidas quanto aos procedimentos
didticos. Como houve o esclarecimento que haveria o assessoramento de
profissionais, os professores se tranquilizaram.
O tema da sexualidade gerou dois encontros, onde foram expostos os
objetivos, contedos e metodologia da educao sexual. Os professores
tiraram dvidas a respeito de formas de contgio, sintomas e cuidados no
tratamento de doenas sexualmente transmissveis, da diversidade de
mtodos preventivos existentes, bem como no manejo com situaes que
consideravam embaraosas frente aos alunos. Foi apresentada, tambm,
uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2001 por um grupo de
acadmicos da UNIVALI. Esta tratou do comportamento dos adolescentes
em relao ao incio da vida sexual, enriquecendo os docentes quanto a
informaes que permitiram conhecerem melhor o perfil dos alunos.
A temtica da violncia foi discutida atravs da significao que os
professores remetem ao termo. Estes apresentaram uma srie de
situaes como a agresso fsica, a depredao da escola e as relaes
189
interpessoais. Este trabalho implicou na proposta do projeto da paz
desenvolvido com os alunos.
O tema da sade foi trabalhado a partir da concepo dos professores
e apresentado cartazes que a equipe do PAESCE havia realizado em
atividade com os alunos. Estes puderam perceber que os alunos entendem a
sade de forma integrada, crtica e despojada da dade sade-doena. Outro
tema trabalhado e implicado com a sade foi o de impostao vocal,
entendendo que a docncia exige um cuidado especial com a voz.
Curso de aperfeioamento: Atendendo ao pedido do grupo de
professores e da direo da escola, realizamos um curso com durao de 16
horas/aulas, subsidiado pela Secretaria Estadual de Educao, para o
aperfeioamento do corpo docente. O tema solicitado pelo grupo foi
indisciplina. Organizamos o debate deste tema atravs das concepes de
aprendizagem e desenvolvimento humano, refletindo o que indisciplina
para cada concepo. Realizamos encenaes e pardias envolvendo
situaes do cotidiano escolar e ao final, um debate a cerca da compreenso
e prticas pedaggicas utilizadas pelos professores. Este debate gerou
polmica, pois, muitos no tinham percebido, at ento, as discrepncias
entre o plano poltico-pedaggico da escola e como atuam cotidianamente,
bem como a noo das teorias que na realidade norte iam sua prtica
pedaggica. Foi possvel ento, discutir as significaes de indisciplina.
Reunies de replanejamento: Esta atividade veio em decorrncia das
discusses do curso de aperfeioamento. Foi percebido pela equipe de
professores da 5 8 srie, a necessidade da abertura de um espao para
trocas de informaes a respeito do corpo discente e a busca conjunta de
solues aos conflitos enfrentados em sala de aula, bem como de
planejarem os contedos de forma mais integrada. Estas reunies que foram
chamadas de replanejamento aconteceram uma vez ao ms, durante um
semestre letivo. Como resultado desta proposta, observamos dificuldades
em construrem e manterem este espao de comunicao, sendo utilizado
para informes de ordem administrativa.
Assessoria as professoras da pr-escola 4 srie: Aps a primeira
reunio do ano letivo de 2002, as professoras pediram o acompanhamento
das bolsistas do curso de Psicologia para as turmas da pr-escola quarta
190
srie, a fim de contriburem com a elaborao de estratgias conjuntas
frente s dificuldades encontradas em sala de aula.
Foram feitas observaes em sala de aula e conversado com as
professoras a respeito da busca de alternativas mediadoras para as diversas
situaes observadas. Entretanto, constatamos que o desejo das mesmas no
as implicava nas aes. Quando perceberam que a atuao das bolsistas no
seria no sentido de reforo pedaggico e tratamento clnico das crianas
com problemas (sic) e as propostas implicavam na alterao de prticas
pedaggicas tradicionais, pediram o encerramento da atividade.
Verificamos em vrios momentos, a imobilidade dessas professoras
em ousarem a criar. O temor de perder o lugar de professora impediu a
reflexo a respeito de sua prtica pedaggica cristalizada. Entendemos as
dificuldades de atuao frente singularidade dos modos de apropriao
dos contedos escolares de seus alunos. Porm, o maior entrave est no
esteretipo de aluno ideal, presente nos discursos e que se concretiza em
suas relaes cotidianas. O fenmeno do fracasso escolar, as profecias auto-
realizadoras, to exaustivamente debatidas por Patto (1993) e Collares
(1994) entre outros, ainda no esto superadas, nem est superada, apesar
de todos os nossos esforos, a representao do
(...) lugar ideolgico ocupado pela Psicologia como mais um agente
de excluso social e de alienao (...) (Valore, 1999, p.121).
Os esteretipos e preconceitos dos professores, quanto aos alunos e
suas famlias, corporificam as prticas pedaggicas e as relaes de poder
disciplinar exercidas. Como afirma Miranda (1995, p.134),
(...) a socializao na escola qualitativamente distinta, pois nela a
criana passa a internalizar novos contedos, padres de
comportamento e valores sociais.
Muitas vezes, porm a escola nega os contedos e valores j
internalizados pela criana ao impor novos padres de comportamento e
valores. Para a mesma autora, a escola tem trs tarefas bsicas a
desempenhar:
Primeiramente, dever facilitar a apropriao e a valorizao das
caractersticas socioculturais prprias da comunidade onde est
inserida. Em segundo lugar, e como consequncia da primeira, a
escola dever garantir a aprendizagem de certos contedos essenciais
191
da chamada cultura bsica (leitura, escrita, operaes matemticas,
noes fundamentais de histria, geografia, cincias, etc.).
Finalmente, dever propor a sntese entre os passos anteriores,
possibilitando a crtica dos contedos ideolgicos propostos pela
cultura dominante (Miranda, 1995, p.133).
O tratamento homogeneizante da escola, dado s crianas e jovens
ignora suas singularidades, tratando-os como indivduos com uma natureza
a priori, favorecendo
(...) a subjetividade mecnica atravs de cada elemento da
comunidade, de cada signo, smbolo, ou regra que a atualiza,
revigorando-se enquanto fbrica de socializao padronizada (Rocha,
2000, p.186).
A maneira como a escola est organizada apresenta um contedo
explcito, o conhecimento tcnico e normas de conduta; e um contedo
implcito, a relao com a autoridade e a desigualdade atribuda ao aluno.
(Bock, Furtado e Teixeira, 1993). Por isso preciso conceber a escola como
um espao onde o saber no manipulado como objeto neutro, nem os
alunos como seres passivos, receptores dos contedos repassados, como foi
possvel constatar nas falas e posturas da maior parte das professoras de
pr-escola quarta srie.
Consideraes provisrias
As aes desenvolvidas pelo PAESCE tomaram como tema
norteador promoo de sade, adotando a abordagem institucionalista,
promovendo questionamento da lgica instituda, na busca de criar novos
territrios para a expresso das subjetividades. Isto porque, compreendemos
a escola como palco de conflitos, de relaes de poder. tambm, cenrio
de possibilidades de atuao criativa e assertiva de seus membros, marcado
pela imprevisibilidade e configurando-se singularmente, provisoriamente,
nos oportunizando assim, interceder no cotidiano da instituio.
Durante estes trs anos e meio de atuao na escola, construmos uma
relao de respeito e dilogo com os profissionais e alunos da instituio.
Sentimos sempre o recomear, apresentando o projeto e as aes para as
trs diretoras que neste tempo atuaram na escola, como no incio de cada
ano letivo, com as trocas de professores. Em fevereiro de 2003 haver nova
direo e novos professores, o que nos move para uma reavaliao
192
constante e a busca de outros caminhos para a prxis. E preciso registrar o
empenho e parceria que a ltima diretora conquistou. Compreendeu e
acreditou em nosso trabalho, abrindo espao de discusso com os
professores mensalmente, o que antes parecia impossvel.
Tambm nossa equipe de bolsistas j alterou algumas vezes, em
funo dos compromissos acadmicos, ou pelo trmino dos mesmos,
ocorrendo o desligamento do vnculo com a Universidade. De um lado
perdemos pela afinidade e cumplicidade que estabelecemos, alm do
conhecimento construdo nas discusses tericas e no cotidiano escolar. Por
outro lado, posies e ideias se renovam com a chegada de outros bolsistas.
Acreditamos que um fator gerador das dificuldades dos profissionais
da escola, em lidar com os conflitos nos limites da instituio, esteja ligado
ao tdio institucional, ao sentimento de que os problemas na escola no tm
soluo, que uma luta intil. Outro fator est ligado aos esteretipos e
preconceitos em relao s famlias dos alunos. Estas consideradas hostis e
incapazes de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. Boa parte
apresenta uma viso determinista, do modelo mdico, na busca de
patologias, diagnsticos e receitas, desconsiderando as relaes e
implicaes sociais, econmicas, polticas e culturais envolvidas na
construo dos sujeitos.
Conhecemos alunos que vivenciaram um processo de ensino
aprendizagem de pouca qualidade. A falta de motivao destes em relao a
seu aprendizado e as dificuldades cotidianas, somadas ao estigma que se
forma sobre estes, transformam o processo educativo numa tarefa pesada e
lenta. Estes alunos no sofrem de desvios mentais ou transtornos de
conduta. Respondem na defensiva ao modo como so tratados, devolvendo
aos professores e colegas as relaes autoritrias dos quais so (...)
condicionados, mas no determinados (Freire, 2002, p.21).
16
Nossa
posio implica em reconhecer que no existem causas individuais para os
fenmenos humanos, pois esto engendrados e viabilizados na rede de
relaes. Portanto,
Existem pessoas com distrbios, existem leses que prejudicam o
processo ensino-aprendizagem, existe pobreza, existem problemas
emocionais, familiares, pais alcolatras, professores percebendo
16
Grifos do autor.
193
problemas individuais na criana. Existem crianas que merecem
atendimento psicoterpico, pois esto sofrendo e paralisadas. Mas
no possvel estabelecermos uma relao direta de causa e efeito
entre essas questes e a capacidade de aprender (Machado, 2000,
p.146).
No decorrer dos encontros com os professores apareceram,
repetidamente, o discurso da culpabilizao da famlia, e seu desejo de
terem uma frmula pronta para a resoluo dos conflitos em sala de aula,
marcados pela verticalidade, na postura tradicional das prticas
pedaggicas. Como proposta para o ano de 2003, estamos discutindo o
estreitamento dos laos com essas famlias. Queremos ouvir o que pensam
sobre a educao de seus filhos e esta escola e quem sabe, propiciar um
vnculo de parceria nas aes educativas.
Nossa permanncia na Instituio se revestiu de momentos
gratificantes, mas tambm, de frustraes e necessidades de reavaliaes
constantes de nosso fazer e saber. As dificuldades e resistncias nos levam a
buscar caminhos e leituras que nos possibilitem ir alm da compreenso dos
fenmenos, ou seja, na intercesso da micropoltica da instituio, buscando
criar um outro tempo/espao.
As concepes epistemolgicas que permeiam as prticas da escola e
suas diferenas com o trabalho proposto pela equipe de extenso estiveram
presentes, nas discusses e embates de nosso cotidiano. Compreendendo
melhor a diversidade de opinies e expectativas envolvendo o projeto, nas
demandas da escola, passamos a entender nossas dificuldades na efetivao
de algumas atividades. Concordando com Veronese (2001), a posio
caracterizada pelo tensionamento produtivo entre diferentes saberes pode
abrir espaos de mediao para a emancipao de sujeitos ticos, ficando
clara a necessidade de evitarmos o epistemicdio (Santos, 1989).
Acreditamos na importncia da continuidade dos trabalhos, em busca de
uma postura mais crtica, reflexiva e criativa tanto dos agentes institucionais,
como de nossa equipe, frente s diferenas, desafios e possibilidades da
efetuao de um trabalho interdisciplinar para a promoo de sade.
Referncias
Andal, C.S. (1995). Fala Professora! Repensando o aperfeioamento
docente. Petrpolis, RJ: Vozes.
194
Bock, A.M.B.; Furtado, O. e Teixeira, M.L.T. (1993). Psicologias: uma
introduo ao estudo da psicologia. 5 ed. So Paulo: Saraiva.
Brasil. Secretaria de Educao Fundamental. (1997). Parmetros
curriculares nacionais. Braslia: MEC/SEF.
Collares, C.AL. (1994). O cotidiano escolar organizado. Campinas, Tese
(Livre-Docncia) FEUNICAMP.
Fontoura, L. V.; Galvan, S. e Didon, J. (2001). Ateno educao e
sade na comunidade escolar. Alcance. Ano VIII, n. 2, Itaja:
UNIVALI, maio, p.3338.
Foucault, M. (1995). Microfsica do poder. 11 Reimpresso. Rio de
Janeiro: Graal.
Freire, P.(2002). Pedagogia da autonomia: saberes necessrios prtica
educativa. So Paulo: Paz e Terra.
Heller, A (1992). O cotidiano e a histria. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra.
Laterman, I. (2000). Violncia e incivilidade na escola: nem vtimas, nem
culpados. Florianpolis: Letras Contemporneas.
Machado, AM. (2000). Avaliao psicolgica na educao: mudanas
necessrias. In: Tanamachi, E. R.; Rocha, M.L. e Proena, M. (org.).
Psicologia e educao: desafios terico-prticos. So Paulo: Casa do
Psiclogo, p.143167.
Martinez, A. M. (1996). A escola: um espao de promoo de sade.
Psicologia Educacional, 1, n.1, 19-24.
Miranda, M. G. O processo de socializao na escola: a evoluo da
condio social da criana. In: Lane, S.T.M. e Codo, W. Psicologia
Social: o homem em movimento. So Paulo: Brasiliense, 1995.
Parto, M.H.S. (1984). Psicologia e Ideologia: uma introduo crtica
psicologia escolar. So Paulo: T A. Queiroz.
________. (org.). (1997). Introduo psicologia escolar. 2 ed. So Paulo:
TA. Queiroz.
195
________. (1993). A produo do fracasso escolar: histrias de submisso
e rebeldia. So Paulo: TA. Queiroz.
Petitati, A. (1994). Produo da escola/produo da sociedade. Porto
Alegre: Artes Mdicas.
Rocha, M.L. (2000). Educao em tempos de tdio: um desafio
micropoltica. In: Tanamachi, E. R.; Rocha, M.L. e Proena, M.
(org.). Psicologia e educao: desafios terico-prticos. So Paulo:
Casa do Psiclogo, p.185-207.
Santos, SV. (1989). Pela mo de Alice: o social e o poltico na ps-
modernidade. So Paulo: Cortez.
Sawaia, B.B. (1994). Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexo
psicossocial. In: Spink, M.J. (org.). A cidadania em construo: uma
reflexo transdisciplinar. So Paulo: Cortez, p.147-156.
Severino, A. J. (1991). A formao profissional do educador: pressupostos
filosficos e implicaes curriculares. ANDE. Ano 10 n.17, So
Paulo: Cortez, p.29-40.
Tanamachi, E. R.; Rocha, M.L. e Proena, M. (org.). (2000). Psicologia e
educao: desafios terico-prticos. So Paulo: Casa do Psiclogo.
Valore, L.A. (1999). Contribuies da psicologia institucional ao exerccio
da autonomia na escola. In: Silveira, A. F. et. AI. (orgs.). Cidadania e
participao social. Porto Alegre: ABRAPSOSUL, p.119-128.
Veronese, MV. (2001). Prticas institucionais. In: Rivero, N.E.E. (org.).
Psicologia Social: estratgias polticas e implicaes. Santa Maria:
ABRAPSOSUL, 2001, p.141-150.
196
PSICOLOGIA, SADE E TRABALHO
Capacitao em sade mental com tcnicos do Programa Sade da
Famlia do municpio de Forquilhinha
Dipaula Minotto da Silva
1
Eliziane Martins Bernardo
2
Edelu Kawahala
3
A iniciativa quanto realizao do trabalho de Capacitao com os
Tcnicos do Programa Sade da Famlia (PSF) do municpio de
Forquilhinha, ocorreu a partir de uma solicitao do municpio que
demonstrou a necessidade de um trabalho voltado s equipes de sade para
facilitar um olhar mais abrangente em torno da sade mental, em
conformidade com os princpios do PSF, onde fica de responsabilidade dos
municpios garantir educao permanente para os profissionais
envolvidos (Ministrio da Sade, 1991). Logo, busca proporcionar um
ambiente onde se possa perceber o ser humano como um cidado capaz,
com autonomia, responsabilidade, liberdade e mostrando que a promoo
de sade mental depende tambm de profissionais que percebam que uma
pessoa constitui-se nas relaes sociais e culturais, alm de sua realidade
socioeconmica.
Houve interesse em iniciar o Estgio Supervisionado em Psicologia
Social Comunitria, realizando um trabalho onde possvel estar
colaborando para as transformaes positivas que vem ocorrendo no que
diz respeito sade mental, numa perspectiva antimanicomial. Iniciou-se
ento o projeto Capacitao em Sade Mental com Tcnicos do Programa
Sade da Famlia do Municpio de Forquilhinha com objetivo de criar
multiplicadores em sade mental.
1
Acadmica do curso de Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC.
2
Acadmica do curso de Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC.
3
Prof do departamento de Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense
UNEC, Mestre pela UFSC.
197
Dentro dos princpios do SUS nasce o Programa Sade da Famlia
(PSF), uma estratgia que prioriza as aes de promoo, proteo e
recuperao da sade dos indivduos e da famlia, do recm nascido ao
idoso, de forma integral e contnua. O objetivo do PSF de reorganizao
da prtica assistencial em novas bases e critrios, em substituio ao
modelo tradicional de assistncia orientado para a cura de doenas e no
hospital. A ateno est centrada na famlia, entendida e percebida a partir
do seu ambiente fsico e social, o que possibilita s equipes uma
compreenso ampliada do processo sade/doena e da necessidade de
intervenes que vo alm de prticas curativas.
Com base nestas mesmas diretrizes, a assistncia Sade Mental
vem sofrendo importantes transformaes a partir da Reforma Psiquitrica
brasileira. Esta reforma tem por base a desinstitucionalizao que
compreende a descentralizao hospitalar atravs da criao de servios
assistenciais diferenciados.
Esta tendncia nas ltimas dcadas de modificar, em diversas partes
do mundo, a natureza da Assistncia Psiquitrica, tentando deslocar o
centro do atendimento ao usurio do Hospital Psiquitrico para servios
localizados no seio da comunidade e em ntima relao com as mesmas,
levou muitos pases e localidades a realizarem planos, projetos e programas
na busca deste novo modelo. Isto no sentido de proporcionar aos usurios
um tratamento mais digno. H hoje em nosso pas uma srie de referencias
destes servios. Aproximadamente 20 estados possuem Centro de Ateno
Psicossocial (CAPS), que funcionam com atividades teraputicas e equipe
multiprofissional, atendendo cinco dias por semana. Alm destes, outros
servios so oferecidos, tais como Ncleo de Ateno Psicossocial (NAPS),
semelhante ao CAPS, porm com atendimento sete dias por semana 24
horas, o Hospital Dia/Hospital Noite que um recurso assistencial
intermedirio entre a internao e o ambulatrio, leitos psiquitricos em
Hospital Geral para quando esgotadas as possibilidades de assistncias em
outras unidades e servio Residencial Teraputico que prev alocao de
recursos e cuidados aos usurios cronificados que vivem nos Hospitais
Psiquitricos sem referencias familiares.
Partindo portanto do princpio de que o PSF, o SUS e a Reforma
Psiquitrica tem princpios semelhantes de descentralizao, de promoo
de sade, de integrao dos profissionais da sade com a comunidade e,
198
percebendo que os mesmos vm procurando dignificar os sistemas de
atendimento aos usurios, este trabalho de Capacitao em Sade Mental
com Tcnicos do Programa Sade da Famlia do Municpio de
Forquilhinha, facilita um olhar diferenciado a respeito de sade mental aos
profissionais que fazem parte das equipes do PSF em Forquilhinha.
Marco terico
Como base terica de nosso trabalho, tratando da produo social da
loucura, parte-se das ideias dos autores Erving Goffman, Michel Foucault
e Thomas Szasz, percebendo que a doena mental produzida nas
relaes sociais que os indivduos mantm em seu convvio. E nestas
relaes que os indivduos vo se constituir enquanto ser, integrados num
sistema de valores, de crenas, sistema econmico, social e cultural.
Cada pessoa se constitui de maneira diferente, produzindo e
reproduzindo aquilo que vivncia. Ao se deparar com o diferente acaba-se
por excluir ao invs de dignificar, aceitar ou compreender o indivduo como
um todo, percebendo o seu processo de vida e suas relaes sociais.
A nfase dada doena mental atravs da razo e desrazo da
loucura de acordo com a moral (Foucault, 1984) um dos pontos centrais
do processo de excluso. A loucura um julgamento moral do outro e
ligada tambm questo do trabalho. Marginais, prostitutas, loucos,
doentes mentais, quem no trabalha so reclusos nos hospcios. Julgamento
este feito por autoridades que possuem o poder de determinar quem
louco ou no.
A internao psiquitrica gera consequncias muitas vezes
irreparveis nestes indivduos excludos, principalmente dificultando sua
reintegrao com o mundo externo. Aps as humilhaes sofridas, falta de
contato com seus pertences pessoais e com a famlia, sua integridade e sua
identidade podero estar comprometidas. Esta a critica feita s instituies
totais quanto aos tipos de relaes que se estabelece dentro destas,
provocando o processo de despersonalizao de eu (Goffman 1974).
Quando nos dizem que se um paciente psiquitrico que chega cedo
para consulta est angustiado, se chega tarde hostil e se chega na
hora compulsivo rimos, porque se supe que isso seja uma
199
piada. Mas nesse caso ouvimos a mesma coisa, dita com toda a
seriedade (Szasz, 1984).
Em relao psiquiatria institucional, a questo do poder, do excluir
e da punio, a comparao entre e psiquiatria institucional e Inquisio
feita por Thomas Szasz, norteia a questo do domnio de poder e da
excluso social existentes em pocas diferentes.
O poder e a riqueza dos psiquiatras aumentam com a crescente
incidncia de doena mental, e embora a feitiaria era tida como um
problema teolgico, a identificao das bruxas poderia ser feita tanto por
telogos profissionais, como por caadores de bruxas. Assim tambm a
doena mental pode ser diagnosticada tanto por mdicos psiquiatras quanto
por no mdicos, psiclogos e assistentes sociais (Szasz,1984).
A internao desencadeia um ponto decisivo na vida e na histria do
desatino, momento em que a loucura verificada no mbito social da
pobreza, da falta de capacidade para o trabalho na impossibilidade de
integrar-se no grupo (Foucault, 1984). H necessidade de retirar da
sociedade aquilo que a incomoda. Criam-se ento instituies para abrigar
estas pessoas isolando-as da sociedade. Pobres e pessoas marginalizadas ou
que no possuem comportamento desejado pela maioria na poca, eram
retiradas da sociedade. Porm estas atitudes ainda existem apesar de todos
os esforos que vem sendo feitos.
Partindo destes ideais e tendo conhecimento das prticas que vem
sendo realizadas no que tange sade mental e suas transformaes, faz-se
uma crtica ao modelo puramente assistencialista, ou seja, aos modelos
institucionais.
Os manicmios ou Hospitais Psiquitricos, alm de assistencialistas,
mostram um atendimento longe de ser digno ou de respeito para com o
interno, tolhe sua liberdade de expresso e de pensar, seus sentimentos so
podados assim como as relaes sociais. No h respeito para com a
subjetividade dos indivduos e o processo de busca limitado pelos muros,
cadeados, tratamento inadequado e a indiferena de uma equipe sem preparo,
muitas vezes tambm cronificada pelo sistema. Trancar no tratar.
Essa cronificao atinge no apenas as instituies totais. Muitos dos
profissionais que hoje trabalham com sade mental em programas de sade
200
pblica vem de experincias em manicmios. Com isso pode-se dizer que
existe alm dos muros e grades, uma cultura de tratamento manicomial.
A noo de desinstitucionalizao uma importante referncia no
projeto de reforma psiquitrica.
A institucionalizao passa a ser percebida como um novo problema,
como algo a impor novos sofrimentos e alienao e no como
soluo teraputica para a enfermidade mental (Amarante, 1995).
Neste sentido, como processo desta discusso surge no Brasil, o
Movimento de Luta Antimanicomial na busca do respeito aos direitos
humanos, entendendo-se que at ento no era percebido no modelo de
psiquiatria institucional.
Partindo deste princpio, o Movimento de Luta Antimanicomial
busca atravs de articulao poltica, concretizar a dignificao dos
sistemas de atendimento aos indivduos. Tcnicos envolvidos com a causa,
pessoas que tiveram experincias em hospitais psiquitricos/manicmios,
familiares destes e pessoas sensibilizadas, integram este Movimento de luta
contra um processo agressivo de cura.
No caminho do processo de desinstitucionalizao e da Reforma
Psiquitrica, vem surgindo uma crescente necessidade, de que trabalhos
voltados promoo de sade mental na comunidade sejam realizados. E
mais, que estes sejam realizados a partir de um ideal de transformao para
um sistema que passe a valorizar a sade integral do indivduo, uma vez que
a partir das relaes sociais, da realidade socioeconmica, das condies de
moradia, enfim, do seu contexto, que o sujeito vai se constituir.
Percebe-se que estes trabalhos voltados sade mental na
comunidade devem estar ligados a uma rede articulada, ou seja, todos os
setores relacionados sade devem estabelecer uma rede de comunicao,
de maneira que o individuo possa transitar por estes setores, conforme suas
necessidades, sendo respeitada sua individualidade e sua identidade,
fazendo valer seus direitos de cidado.
A equipe de PSF, essencial para a realizao dos trabalhos,
percebida como pea chave para que mudanas e atitudes geradoras de
sade mental sejam concretizadas.
201
O desafio est posto. Redimensionar um modelo de ateno sade,
de forma que ele esteja em sintonia, com as novas concepes de sade
defendidas pelo SUS, requer constante movimento de reflexo embutido na
prxis. Mudanas de concepes no acontecem facilmente e o ponto de
partida, somos ns mesmos, profissionais de sade. S assim poderemos
nos lanar com firmeza nesse objetivo de construir uma rede de sade
integrada e inovadora (Cabral et al in Lancetti. 2000).
Visto que a produo da loucura se d no meio social, e que as
Agentes Comunitrias de Sade do PSF convivem com a comunidade
atravs de visitas mensais, percebe-se este programa como um veculo
para realizao deste trabalho com a equipe de sade. Iniciar-se- com
este, maior possibilidade de comunicaes com os sistemas de sade
mental, pois a equipe estar capacitada para interagir de forma coerente
com estes sistemas. A partir destes, os processos de excluso por parte da
equipe e consequentemente por parte da comunidade estaro aos poucos
deixando de existir.
Procedimentos metodolgicos
No estgio em psicologia social comunitria, realizou-se encontros
com os tcnicos na unidade de PSF, visitas domiciliares junto as agentes
comunitrias de sade, participao no projeto ao comunitria
realizado pela equipe na comunidade e capacitao direcionada aos
mdicos do municpio.
Encontros com os tcnicos na unidade de PSF
Realizou-se um total de 17 (dezessete) encontros semanais nas
quartas-feiras no perodo vespertino. Nestes encontros ocorreram vivncias,
dinmicas e debates em grupos, nos quais se props os temas: integrao da
equipe, concepo sade/doena mental, conceito/preconceitos, rtulos,
relao tcnico-usurio e percepo do usurio como um indivduo
apropriado de sua histria e pleno de cidadania. As dinmicas e vivncias
foram escolhidas de acordo com os temas e a necessidade da equipe de
PSF, procurando reconhecer a realidade da mesma no decorrer dos
encontros.
202
Durante estes encontros o posto permaneceu fechado para o pblico
externo e os tcnicos estavam disposio do projeto, por determinao da
Secretaria de Sade do Municpio.
Visitas domiciliares junto aos Agentes Comunitrias de Sade
Nas sextas-feiras pela manh, caminhou-se pela comunidade no
sentido de conhecer a mesma, os casos mais citados nos encontros semanais
com os tcnicos e estar percebendo o quotidiano das Agentes Comunitrias
de Sade. Estas visitas tiveram grande importncia pois facilitaram uma
melhor visualizao da realidade da comunidade atingida pelo PSF,
enriquecendo as vivncias e discusses.
Participao no Projeto Ao Comunitria realizada pela equipe na
comunidade
Aps o incio da discusso sobre conceito e promoo de sade, as
agentes comunitrias sentiram-se motivadas a realizarem o dia da Promoo
de Sade, com o projeto Ao Comunitria. Neste, houve atividades de
recreao, barracas de exposies e a realizao de palestra sobre
Preveno de doenas, integrao dos Missionrios Mirins, palestra com
Conselheira Tutelar, palestra sobre alcoolismo e havia inicialmente a ideia de
uma palestra na rea de psicologia. Ao invs desta, realizou-se uma vivncia
de Terapia Comunitria
4
com os presentes no evento, em mdia de vinte e
cinco pessoas. O objetivo desta proporcionar um espao para melhorar a
qualidade de vida da comunidade, onde o grupo traz suas dificuldades.
Capacitao direcionada aos mdicos do municpio
Em conformidade com a Secretaria de Sade do Municpio nas
primeiras reunies, percebeu-se a necessidade de estar integrando os
mdicos do municpio nesta capacitao. Para tanto foi convidado o Mdico
Psiquiatra Dr. Rui Martins Iwersen
5
, psiquiatra do Programa de Sade
Mental, que atua no NAPS Ponto do Coral e no Programa DST/AIDS do
Municpio de Florianpolis, a estar durante um dia (manh e tarde) com
4
Vivncia trazida Unesc no curso de Terapia Comunitria, pelo mdico psiquiatra Dr.
Adalberto Barreto.
5
Doutorando em etnopsiquiatria, pela Universidade de Paris.
203
mdicos e enfermeiras das seis equipes do PSF, psiclogas e a assistente
social do municpio.
Relao terica-prtica e resultados obtidos
No que diz respeito sade mental como o problema da excluso, da
produo social da loucura, preconceitos e rtulos, trabalhou-se com a
equipe do Programa Sade da Famlia (PSF) de Forquilhinha, com o
objetivo de promover a sade integral por meio de multiplicadores e
atuando na comunidade.
H de se retomar o sonho de uma nao saudvel. Acreditar que
possvel retomar o crescimento, superando as desigualdades sociais,
assegurar a construo da democracia (...) que
somente se corporifica no ambiente democrtico, onde se encontram
a emergncia de novos sujeitos polticos, a liberdade do discenso e o
governo dos cidados (Mendes, 1993 p.42)
Dessa forma foram levantadas questes sobre sade mental, bem
como as diferentes vises do cuidado e do cuidador e da viso do usurio de
sade mental como ser pleno de autonomia e pleno de cidadania.
Trabalhou-se com o grupo de forma vivencial, onde foi propiciada a
integrao grupal de forma que os tcnicos hoje formam uma equipe coesa.
A concepo de sade/doena mental tambm foi trabalhada de forma
vivencial.
No PSF d-se prioridade a promoo e a preveno da sade. Nesse
trabalho de capacitao, discutiu-se a sade integral, enfatizando a sade
mental. Porm nos encontros realizados percebeu-se que, mesmo com os
princpios do PSF de promoo e preveno a sade, ainda apareceu
associada ou comparada com a doena. Essa discusso se ampliou ao nvel
do normal e do patolgico.
(...) o grupo parte da anlise de situaes quotidianas para chegar
compreenso das pautas sociais internalizadas que organizam as
formas concretas de interao, ou seja, das relaes sociais e dos
sujeitos inseridos nessas relaes (Lane, 1984).
De maneira simples e abrangente o grupo colocou como fatores
geradores de sade: questes de higiene, habitao, meio ambiente,
204
questes emocionais, familiares, questes das relaes sociais e econmicas
e a preveno (o grupo exemplificou esta ltima com as campanhas de
vacinao).
No decorrer dos encontros percebeu-se que o grupo estava em
processo de crescimento coletivo. Quando trabalhado a questo dos rtulos,
obteve-se de forma clara a dificuldade de lidar com a incluso e a cidadania.
Apresentaram-se os preconceitos do grupo e a excluso social.
Discutiram-se ento os processos de formao do ser humano,
enquanto ser social e de relaes. Promoveram-se reflexes a respeito da
incluso social, dos processos que ocorrem na formao do eu do usurio e
a importncia da incluso, do respeito, da aceitao, da empatia e como
estas atitudes influenciam e contribuem no processo de incluso social do
egresso de hospital psiquitrico.
Debateu-se sobre possveis visitas Casa de Sade do Rio Maina de
Cricima e ao NAPS de Florianpolis, uma vez que, nas discusses a
respeito dos modelos de atendimento em sade mental, a equipe relatou o
interesse de ter contato direto com estes sistemas.
Reflexes referentes caridade foram feitas percebendo uma
prejudicial comparao com a questo do cuidar, retomando a importncia
da incluso. Cuidar tambm potencializar as aes do outro despertando
sua autonomia.
A partir destas discusses, a equipe passa a perceber que o usurio
deixa de ser o paciente institucionalizado, tornando-se o ator e autor da sua
prpria existncia, um cidado com suas capacidades, habilidades e
potencialidades.
Consideraes finais
No decorre de todo esse processo observou-se uma grande abertura
no municpio de Forquilhinha para a realizao deste trabalho. A
necessidade de se iniciar uma estrutura slida, no que tange a sade mental
no municpio e articular o atendimento nesta rea de forma local e em
interao com a comunidade, levou a concluso do trabalho de
Capacitao em Sade Mental com Tcnicos do Programa Sade da
Famlia (PSF) do Municpio de Forquilhinha, em uma destas unidades.
205
Desta forma observou-se ser de total importncia trabalhar a equipe
tcnica com o objetivo de gerar multiplicadores em sade mental. No que
tange o olhar, propiciou-se uma nova viso sobre os cuidados, trabalhando
os rtulos e os preconceitos, interagindo num sistema de valores e
ressignificando alguns, conhecendo ou desmistificando a chamada
loucura.
Observou-se tambm, a importncias das atitudes que esto
procurando formalizar uma rede articulada de sade mental, partindo do
prprio grupo, que apresentou interesse em ter um servio de atendimento
em sade mental como um Centro de Ateno Psicossocial (CAPS).
Concluindo ser essencial a viso de um tratamento especializado e
descentralizado, interagindo de forma direta com as famlias e com a
comunidade.
Nesta equipe, aps o trabalho de capacitao, comeou-se a ver o
usurio de sade mental, como ser mais integrado na sociedade,
estabelecendo relaes, constituindo e reconstituindo-se a todo o momento,
desenvolvendo sua autonomia e cidadania.
A extrema relevncia no tratamento destes usurios de sade mental, a
incluso social, e o acompanhamento de toda uma equipe multiprofissional
so de grande valor para desmistificao e dignificao do atendimento aos
usurios. Portanto, a importncia de se atingir o maior nmero de tcnicos
possveis, que por sua vez, atingiro vrias outras pessoas em suas relaes
profissionais, concretizaro a formao de multiplicadores. A capacitao
das equipes de PSF (mdicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e
agentes comunitrias de sade), equipe que est ligada diretamente
comunidade, bem como de outros os profissionais da sade (assistentes
sociais, psiclogos, entre outros) vo proporcionar o diferencial na
concretizao da dignificao no atendimento aos usurios.
Forquilhinha, que no possui um atendimento referencial prprio em
sade mental, demonstra o interesse, para que a capacitao com os
tcnicos do PSF seja realizada. Porm, aps a concluso desta etapa
percebeu-se tambm a necessidade de um trabalho realizado com a equipe
de profissionais do municpio que no fazem parte das equipes do PSF e
continuidade do trabalho nas outras equipes de PSF.
206
Referncias
Amarante, Paulo (1995) Loucos Pela Vida: A trajetria da Reforma
Psiquitrica no Brasil. RJ. SDE/ENSP, 1995.
Foucault, Michael (1997) A Histria da Loucura na Idade Clssica. 5 ed.
SP. Perspectiva.
________. (1984) Doena Mental e Psicologia. 2 ed. RJ. Tempo
Brasileiro.
Freire, Paulo (2002) Pedagogia do Oprimido. 32 ed. SP. Paz e Terra.
Goffman, Erving (1988) Estigma. 4 ed. Guanabara Roogan.
________. (1996) Manicmios, prises e conventos. 5 ed. SP. Perspectiva.
http://www.saude.gov.br/programas/pacs/psf.htm
Lancetti, Antnio (1984) Sade Loucura: Sade Mental e Sade da
Famlia. SP. Hucitec.
Lane, Silvia, T. M. et al. 1984) Psicologia Social o homem em movimento.
So Paulo: Brasiliense.
Szasz, Thomas (1984) A fabricao da Loucura um estudo comparativo
entre a inquisio e o movimento de sade mental, 3 ed. Rio de
Janeiro: Ed. Guanabara.
207
Demandas e ofertas da psicologia do trabalho hoje
Denise Macedo Ziliotto
1
H momentos em que a ruptura representa a necessidade de
continuar. nessa perspectiva que este texto produzido: a trajetria
apresentada pelo campo da Psicologia do Trabalho pode e merece sofrer
descontinuidades. Com surgimento assegurado por toda uma prtica
funcionalista digna do apogeu do perodo industrial, bero da sociedade de
consumo, no deve ser este lugar tido como um destino. A proposio de
um conhecimento cientfico ancorado em testes psicomtricos e definio
de perfis psicolgicos seduz uma sociedade vida por homens certos nos
lugares certos. Numa poca de exaltao da dita excelncia humana, a
verdade ofertada do desvelamento da psique humana amplia os
espaos j concedidos psicologia escolar e clnica.
Contudo, este envolvimento no se d sem efeitos. No
comprometimento com a eficcia surgem imperativos insistentes, como o
equacionamento da fadiga, da indisciplina, da improdutividade, da
insubordinao. E as respostas tambm so persistentes: testagens,
treinamentos, tcnicas de gerenciamento de pessoal. As denominaes que
esta prtica recebe traduzem as mudanas sociais: psicologia industrial,
psicologia organizacional, psicologia do trabalho. E o avano de um
repertrio cientfico que se estende sobre as diversas formas de organizao
social destinada produo. As incompatibilidades do sujeito trabalhador
com o tratamento oferecido pelos psiclogos so expressas e reiteradas no
fracasso de muitas intervenes. Nesta confisso de dvida com o campo
psicolgico e com os sujeitos que a ele recorrem propomos uma reviso
das possibilidades e das limitaes da psicologia praticada sob as
denominaes do trabalho ou organizacional hoje, fazendo proposies
que visam a escritura de uma histria mais coerente e tica.
Japiassu (1983) assinala a importncia desta postura:
Creio que precisam ser revistos os mtodos de se fazer psicologia e
de ensin-la. Creio tambm que tais mtodos deveriam ser orientados
para a preparao de inovadores nas pesquisas psicolgicas, e no
1
Psicloga e Jornalista. Doutoranda em Psicologia Social pela USP. Docente universitria.
208
para o lanamento no mercado de trabalho de tcnicos manipuladores
do comportamento humano, espritos conformistas e submissos a
inrcia das situaes adquiridas. Para tanto, no vejo como a
psicologia possa realmente retomar seu vigor e readquirir uma real
fecundidade excluindo de seu campo de investigao a subjetividade
do homem, a no ser que persista em trat-lo como mera
exterioridade, cientificamente analisada, mas sem nada poder dizer
sobre a realidade humana (Japiassu, 1983, p.154).
Ofcios e lugares
A ampliao oferecida ao espao psi no setor empresarial, desde o
incio do sculo XX, anloga ao movimento social que idealiza e busca
normatizaes no comportamento humano. As cincias promoveram uma
verdadeira ode verdade, ao positivismo e naturalizao da cultura. Em
busca de um ser humano adaptado s exigncias ditadas por estes valores, a
Psicologia contribui com tcnicas e postulaes cientficas, corroborando o
funcionamento social vigente:
A profisso do psiclogo esteve inicialmente ligada aos problemas de
educao e trabalho. O psiclogo aplicava testes; para selecionar o
funcionrio certo para o lugar certo, para classificar o escolar
numa turma que lhe fosse adequada, para treinar o operrio, para
programar a aprendizagem, etc. Todas essas funes ainda so
importantes na definio da identidade profissional do psiclogo e
mostram claramente como at hoje a vinculao das psicologias s
demandas do Regime Disciplinar so importantes (Figueiredo &
Santi, 2000, p.85).
A denominao RH que setoriza o lugar habitualmente ocupado
pela Psicologia nas organizaes ilustra com clareza a posio adotada. Se
trata o indivduo enquanto recurso e no enquanto sujeito, acaba por
engendr-lo dentro da tica empresarial, negando as questes que pautam
os pressupostos das cincias humanas. Testar, desenvolver e treinar
aes caractersticas da Psicologia neste campo so aes que implicam
relao dspar de conhecimento e poder. Podem ser aplicadas a objetos, ou
mesmo coisificar mediante o estabelecimento do processo.
A suspeita de que a liberdade e a singularidade dos indivduos so
ilusrias, que emerge com o declnio das crenas liberais e
romnticas, abre espao, finalmente, para os projetos de previso e
209
controle cientficos do comportamento individual. Este ser um dos
principais objetivos da psicologia como cincia, a servio das
Disciplinas. (Figueiredo & Santi, 2000, p.51)
A questo decorrente desta prtica o afastamento (compreensvel)
dos sujeitos desta Psicologia, fruto do descrdito e da desiluso para com
seus postulados. No havendo crdito e, por consequncia,
comprometimento, o que se observa um esvaziamento progressivo e
insistente dos efeitos das intervenes psicolgicas nas organizaes:
legitimou-se o descrdito da palavra dos sujeitos do trabalho pela
organizao do trabalho, organizao esta que planeja e executa sem
minimamente considerar as interferncias impostas em sua vida,
causando assim o sofrimento individual e o adoecimento coletivo da
classe trabalhadora. (Grisci & Lazarotto, 1998, p.231-2)
Entretanto, decorrem modificaes nos lugares psi ainda mais
lamentveis. O setor empresarial restringe significativamente os postos
destinados a profissionais psiclogos, encontrando em administradores e
outros tcnicos a substituio mais adequada para prosseguir oferecendo
eficcia ao gerenciamento de pessoal. Cresce o DP Departamento de
Pessoal enquanto rgo normativo das polticas de pessoal e diminui
consideravelmente os espaos destinados s atividades com possibilidade
de escuta dos trabalhadores. De outro lado, crescem as crticas e as
indisposies da classe dos psiclogos com relao aos que se dedicam a
este ofcio, tornando explcito o descontentamento com a atuao e os
rumos da psicologia exercida na rea do trabalho.
A perda torna-se maior: v-se diminuir o espao para operar nesta
realidade e a capacidade crtica, pois a contribuio fica no plano da
denncia, do oposicionismo... Assim, crescem os instrumentos de gesto
oferecidos pela perspectiva administrativa, evidenciados, por exemplo, no
uso majoritrio nos dias atuais(!) das obras de Idalberto Chiavenato
(Introduo Teoria Geral da Administrao, Recursos Humanos, Gesto
de Pessoas; o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizaes,
Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos) nos programas de
formao de psiclogos. A frequente parceria entre estes profissionais e
administradores seja em congressos, publicaes e projetos confirma a
proximidade dos campos, ainda que de forma desigual em suas
contribuies. Pode-se observar a predominncia dos instrumentos e
210
postulados da lgica administrativa seja nos grficos, fluxogramas ou
expresses empregadas usualmente pelos psiclogos. O contraponto no
aparece na mesma medida: sujeito, identidade, psiquismo no so
vocbulos facilmente encontrados nas descries dos processos de gesto.
Longe dos campos da Sociologia e da Medicina do Trabalho, a
Psicologia ressente-se das limitaes de seu entendimento acerca da
realidade do mundo do trabalho e acaba por encontrar na seduo da lgica
funcionalista fundamentos para o exerccio de suas atividades. Passa, de
alguma forma, a pautar a sua atuao pelas demandas essencialmente
advindas do imperativo da produo e abandona os referenciais de seu
objeto o homem no trabalho.
Consequncias
O cenrio atual preocupante. Contudo, na mesma medida,
promissor. Esta suposta contradio explica-se pelo estado atual da rea:
conclama um nome Psicologia do Trabalho (e o abandono definitivo das
denominaes Psicologia Organizacional, Industrial, RH, etc.) e uma
trajetria renovada por princpios e ideias novas, j que o estreitamento de
sua interveno cresce dia a dia.
A resistncia dos alunos graduandos a esta rea flagrante. Vista
como traidora, desviante da verdadeira Psicologia, recebe uma ateno
pouco qualificada nos cursos de graduao, remetendo-se comumente a
uma disciplina cumprida enquanto obrigatria para a formao, mas
destituda de sentido na prtica profissional futura. Paralelamente e, para
tornar ainda mais compreensvel a situao, o nmero de vagas para
estgio decresceu consideravelmente, praticamente invertendo a situao
outrora/vigente: a demanda est do lado do aluno estagirio,
predominantemente. E ele quem vai buscar sensibilizar a empresa a respeito
da sua potencialidade e, em ltima instncia, da necessidade de seu
aprendizado atravs da experincia.
Neste mbito, tm-se assistido a uma diversidade incompreensvel de
modalidades de estgio curricular em Psicologia Organizacional, onde
docentes e universitrios facilmente atribuem ao mercado os entraves
encontrados. Constatada a dificuldade em encontrar locais, dispe-se
prticas alternativas para viabilizar o cumprimento das normativas
211
curriculares: na maioria destas o contato com a realidade empresarial cada
vez menor. Quanto possibilidade de interveno, as perspectivas so ainda
mais longnquas. Estagirios e organizaes pouco dialogam; o reflexo de
suas impresses e suas possveis contribuies fica, na maioria das vezes,
na superviso semanal acadmica. O supervisor, por sua vez, torna
episdico o seu encontro com as instituies, seja pela sobrecarga de
trabalho docente, seja porque esta iniciativa no est amparada pelos
dispositivos administrativos da universidade onde trabalha.
A pesquisa ainda alcana nmero pouco expressivo em sua produo
e publicao, tendo-se em vista a capacidade e a necessidade demandadas
pela situao que se configura. A Economia, a Sociologia e a Medicina do
Trabalho tm sido referentes para os psiclogos que tentam superar a
inconsistente (e muitas vezes inconsequente) bibliografia existente sobre as
relaes atinentes ao trabalho, o que um ganho pela interdisciplinariedade
possvel, mas manifesta tambm a inoperncia produtiva da rea.
Por fim, pode-se tambm elencar, sem pretender esgotar as
dimenses que esta questo abarca, o nmero ainda tmido de cursos de
ps-graduao com nfase em Psicologia do Trabalho, nos nveis de
mestrado e doutorado. A incluso nos programas de Psicologia Social ou de
Administrao tem sido a opo encontrada por aqueles que desejam fazer
pesquisas e prosseguir estudando neste campo. A indefinio do lugar e da
contribuio da Psicologia que se prope a pensar o mundo do trabalho tem
se refletido, como podemos observar, em vrios nveis e com repercusses
sociais importantes. Como ponto de partida para reinventar esta trajetria,
deve-se inicialmente recuperar princpios ticos e paradigmas que possam
nortear e singularizar este campo psi.
tica e paradigmas
Como define Japiassu, todo psiclogo, assim como qualquer cientista,
est comprometido com uma posio filosfica ou ideolgica. Esta
posio, assegura o autor, tem uma importncia fundamental nos problemas
estudados pela psicologia (1983, p.26). Os avanos e retrocessos, as
aberturas e as resistncias, presentes na histria das cincias humanas so
testemunhos destas posturas e crenas que sustentam um campo cientfico,
produzindo dissidncias e rupturas muitas vezes tidos como descontinuidades.
Contudo, a responsabilidade pelo resguardo aos pressupostos, mesmo que em
212
sua reinstaurao atualizada move a reflexo imprescindvel humanidade
existente na Psicologia, escopo deste trabalho. Revisitar o caminho
percorrido no o objetivo em si; este consiste somente num meio para
poder entender a historicidade negada e a partir deste saber, construir as
proposies que responsabilizam pelo seu futuro.
A questo pode ser redimensionada atravs do reconhecimento de
alguns equvocos:
O fracasso da psicologia consiste em ter-se esquecido de que sua
palavra uma palavra libertadora. Ela se trai a si mesma quando se
prostitui com os imperativos da sociedade e das instituies, que s a
prestigiam e a amam na medida em que ela se presta docilmente a
um trabalho de sempre mais adaptar e integrar os indivduos s
estruturas vigentes da sociedade e das instituies (Japiassu, 1983,
p.30).
Trata-se fundamentalmente de uma escolha e da assuno de seus
efeitos: a projeo social facilitada pelo oferecimento de insumos para o
incremento de uma razo instrumental vigente ou a busca de um ceticismo
producente, que desvela iluses e ideais, ofertando e dividindo
comprometimento. Amparado por um conhecimento supostamente
imparcial e soberano pelo reconhecimento e impacto que provoca
socialmente, o psiclogo tem podido prescindir do reconhecimento dos
efeitos de sua prtica e de seus pressupostos, em muitos momentos. Pode-se
verificar esta lamentvel ocorrncia pela frequncia com que a mdia busca
opinies dos profissionais psi sobre os mais diversos assuntos, que so
respondidos com semelhante voracidade e totalitarismo. A negao do
possvel desconhecimento, da incgnita provocada pelo questionamento,
ainda um desprendimento difcil ao status esperado e ocupado(!) pelos
psiclogos. A presena em programas de entrevista e debates vespertinos
infelizmente ainda muito superior do que a presena em instncias como o
legislativo, o executivo e no gerenciamento de rgos sociais importantes.
Talvez seja importante portar mais do que um aparato consultivo,
certamente bem recebido em tempos incertos e pouco promissores. Ser
reflexivo e propositivo pode alicerar uma prtica mais profcua. Para tanto,
a dimenso tica precisa ser recuperada e seu sentido resgatado:
Nem sempre a Psicologia norteou suas prticas no sentido de
considerar a tica. No que se refere ao trabalho, a Psicologia
213
contribuiu muito para que o mrito e o fracasso, por exemplo, fossem
vistos como caractersticas que dissessem respeito nica e
exclusivamente aos sujeitos individuais (Grisci & Lazarotto, 1998,
p.230).
Repensar as relaes existentes no trabalho, desestatizando as
posies trabalhador x empresariado, mas tornando-as dinmicas (como
realmente se apresentam) na sua anlise crtica, superando a tradicional
atuao atravs de processos, pode recuperar a causa do prprio existir
deste campo. Descrever fluxos e procedimentos est mais afeito a reas
como engenharia e administrao, que operam sobre o previsvel e o
controlvel. Conhecer a realidade organizacional certamente muito mais
do que manualizar e rotinizar atividades; realizar um diagnstico
organizacional pode ser incoerente com uma postura menos detentora do
saber. Pesquisar e escutar fatos, lugares e relaes certamente pode
conduzir a novos fatos; testar quali e quantitativamente, ainda que de
forma insiste e incansvel na busca do resultado fidedigno, muito pouco.
A consistncia com que Guareschi coloca a questo tica elucida
ainda mais a questo:
ningum pode se arvorar o predicativo de tico a partir de si
mesmo, como quer, exatamente, o liberalismo. O pensamento liberal,
a partir da definio de ser humano como indivduo, centraliza
tudo no eu, no sujeito da proposio. Perdemos a dimenso
relacional, e como consequncia mistificamos o verdadeiro sentido
da tica (Guareschi, 1998, p.56).
Dos Anjos, apud Guareschi (2000, p.50), situa o campo da tica
como sendo uma instncia crtica e propositiva sobre o dever ser das
relaes humanas em vista de nossa plena realizao como seres humanos.
Desta forma, o psiclogo deve colocar-se no estudo do campo que atua,
incluir-se, repensar a si e a sua atuao. No h como furtar-se da
implicao com a realidade na qual exerce sua profisso. A situao do
trabalho hoje tambm reflexo de um pensar e de um fazer psicologia, que
foi exercido atravs das selees de pessoal, dos treinamentos, dos manuais
produzidos, das dinmicas de grupo, das integraes promovidas, enfim, da
variedade de dispositivos de que a Psicologia valeu-se para legitimar sua
contribuio e pertinncia.
214
Encaminhamentos
Sendo fidedigno s suas formulaes, este texto no pode fazer
somente a prtica da denncia. preciso ser construtivo, criar
possibilidades. Afinal, como afirma Guareschi (2000), enquanto dimenso
crtica, a tica est sempre incabada, por fazer-se. medida em que est
presente nas relaes, sofre modificaes contnuas, questionamentos,
apresenta contradies.
Ao mesmo tempo deve ser propositiva. No pode se furtar a colocar
exigncias e desafios. Mas esses desafios e exigncias podem ser
reelaborados, redimensionados, refeitos e retomados (p.51).
Trata-se portanto de uma contribuio que pretende ser acompanhada
de outras iniciativas que, pelo seu conjunto, possam representar um efetivo
esforo e demanda dos psiclogos pelo campo da Psicologia do Trabalho.
Primeiramente, sugere-se a reviso dos programas acadmicos que
tratam desta disciplina, formulando referncias e abordagens mais crticas e
coerentes com a formao profissional pretendida. Diretrizes e
normatizaes sobre o estgio em Psicologia Organizacional, desenvolvidas
sob a coordenao do Conselho Federal de Psicologia em conjunto s
regionais so imprescindveis para a defesa de um processo srio e
comprometido de aprendizagem e incluso no mercado de trabalho. Um
canal permanente de comunicao com as instituies credenciadas para
estgio deve ser previsto, de modo a formalizar espaos, institu-los e
monitorar seu acompanhamento.
O estmulo pesquisa e publicao deve ser uma preocupao
constante das instituies, das universidades, dos docentes. E a dvida e o
interesse pela realidade que podem fazer o saudvel exerccio da mudana e
da renovao acontecer. O pensar, refletir e o escrever so garantias de
mobilidade: o transmitir adiante este percurso um dever intransfervel.
A promoo de eventos interdisciplinares que tenham como objeto o
trabalho, assumindo a Psicologia um papel mais ativo e propiciador da
discusso um frum importante para divulgar ideias e repartir
preocupaes. Neste momento, mais do que defender a disciplina, a questo
que se impe enriquec-la de contribuies, abrindo-se aprendizagem
necessria e compatvel dimenso de seu campo.
215
Buscar experincias para alm do contexto nacional, recuperando
paralelamente a dimenso histrica, pode tambm trazer descobertas
importantes e apurar o tempo. construindo no tempo a histria enquanto
psiclogos (e no a reproduzindo, infinitamente) que pode-se ter um
compasso mais humano entre nosso pensar e viver o trabalho, razo
socialmente justificada de nosso existir.
Referncias
Figueiredo, L. e. M & Santi, P.L.R. (2000). Psicologia, uma (nova)
introduo. (2 ed.) So Paulo: EDUC.
Guareschi, P. (1998). tica. In Strey, M.N. et ai (1998). Psicologia social
contempornea (2 ed) (pp.49-56). Petrpolis, RJ: Vozes.
________. (2000). tica e ideologia. In Guareschi, P. (org). Os construtores
da informao: meios de comunicao, ideologia e tica. (pp 47-68).
Petrpolis, RJ: Vozes
Grisci, C.L.I. & Lazzarotto. (1998) Psicologia Social no Trabalho. In Strey,
M.N. et al (1998). Psicologia Social Contempornea (2 ed) (pp 230
239). Petrpolis, RJ: Vozes
Japiassu, H. (1983). A Psicologia dos Psiclogos. 2 ed. Rio de Janeiro:
Imago Editora.
216
Programa de sensibilizao para a escolha profissional
Maria Clara de Jonas Bastos
1
Cludia S. S. dos S. Schiessl
2
Everton Cordeiro Mazzoleni
3
O programa vem sendo desenvolvido h 1 ano e meio nas escolas
pblicas e privadas da microrregio da Foz do Rio Itaja A e conta com a
participao de acadmicos do 8 perodo do Curso de Psicologia da
UNIVALI Itaja SC, que cumprem a atividade prtica da disciplina de
Orientao Profissional do referido curso. Este programa surgiu h 4 anos
como um compromisso social, nas aes comunitrias da regio. De acordo
com o pblico alvo utilizou-se diversas tcnicas que vo desde dinmicas
de grupo, estrias em quadrinhos e apresentaes com fantoches. Sabe-se
que a maioria das crianas e jovens oriundos de escolas pblicas tm sua
escolha dificultada, este programa poder ser um facilitador, um despertar
para que os alunos desenvolvam ou incentivem as escolas a desenvolverem
pesquisas sobre as diversas profisses, visitas s universidades e escolas
tcnicas, bem como outras ocupaes prticas que existem (pedreiro,
carpinteiro, vendedor, etc.). Pretende-se tambm desmistificar que a escolha
profissional, para ser adequada, precisa necessariamente passar pela
formao universitria. Atualmente, o programa est estruturado em 4
etapas, sendo 2 supervises tcnicas e 2 intervenes nas escolas. Nas
escolas trabalha-se a sensibilizao para a escolha atravs de dinmicas de
grupo ou tcnicas de psicodrama (de acordo com o perfil da clientela), na
ltima interveno, a partir do interesse apresentado pelo grupo, realiza-se a
informao profissional. Encerra-se com a devoluo direo e/ou
orientadora educacional da escola. Embora no haja um nico enfoque
terico em Orientao Profissional, d-se nfase a dois enfoques: Teoria de
Super e de Bohoslavsky. At o 1 semestre/2002 atendeu-se 1.194 alunos,
podendo-se destacar: maior integrao universidade e escola, minimizao
1
Mestre em Psicologia Social e da Personalidade, Psicloga e Supervisora na rea de
Psicologia Organizacional/Trabalho UNIVALI.
2
Mestre em Psicologia Social e da Personalidade, Psicloga da Seo de Processo Seletivo
da UNIVALI.
3
Acadmico do 9 Perodo do Curso de Psicologia UNIVALI.
217
da ansiedade dos alunos ao propiciar maior acesso s informaes sobre o
processo de escolha e, tambm, sobre as profisses e mercado de trabalho.
H bem pouco tempo angstia e ansiedade inerentes ao processo de
escolha de uma profisso, notadamente primeira, tinham basicamente dois
vieses: eram minimizadas atravs de conversas, bate papo com os familiares
e amigos. As pessoas de maior poder aquisitivo, adultos ou jovens, podiam
recorrer a um orientador profissional, podendo este estar inserido em
consultrio particular ou ainda em empresas de consultorias ou em escolas
particulares.
Nos dias atuais, a preocupao com a escolha profissional extrapolou
os muros acadmicos e cientficos; a mdia tem dado sua parcela de
colaborao, as revistas de circulao nacional tm abordado este tema,
trazendo depoimentos de profissionais que atuam na rea de orientao
profissional, de jovens que vo fazer a primeira escolha; a televiso,
tambm tem dado sua contribuio trazendo debates e, inclusive, com
programas criados para orientar sobre as diversas profisses existentes,
neste caso com depoimentos de alunos/acadmicos e professores/
profissionais da profisso em pauta.
Apesar da exposio do tema na mdia e a expanso do servio de
orientao profissional nas universidades brasileiras, na prtica, este ainda
um acesso privilegiado. A populao mais carente nem sempre pode
desfrutar desta informao ou servio, tornando-a, muitas vezes, excluda
de um apoio profissional competente. Apoio este que deveria ser extensivo
aos jovens e familiares.
A globalizao, dentre outros progressos das ltimas dcadas, fez
com que o ato de realizar escolhas se antecipasse, onde o avano
tecnolgico, ou seja, a era da informao cria um verdadeiro caleidoscpio
na vida, notadamente na infncia. Hoje as crianas e pr-adolescentes so
estimulados precocemente a participarem da sociedade. Tais estmulos
podem antecipar o ciclo de desenvolvimento, se compararmos com a
gerao que as antecederam, existem alguns fatores que, com certeza,
contribuem para esta antecipao, por exemplo, os programas infanto-
juvenis que, com rara exceo, um prottipo da programao do adulto,
onde a precocidade premiada.
218
Pode-se levantar uma variedade de hipteses para justificar tais
procedimentos, mas no se pretende se ater a elas por no ser este o foco
deste artigo, mas com certeza, a globalizao vem acarretando mudanas no
contexto mundial, contexto este que nos obriga a correr atrs do prejuzo,
sob pena de ser marginalizado.
Este novo paradigma, com certeza, interfere no desenvolvimento
humano, podendo antecipar esta fase de desenvolvimento. No entanto, na
adolescncia que se acentua os conflitos, principalmente, no momento em
que a maioria dos jovens tem que tomar uma deciso quanto o caminho
profissional a seguir.
Neste aspecto Rappaport (1998) argumenta que a escolha profissional
na adolescncia se apresenta como urgente e necessria, pois sinaliza o final
da infncia e a participao mais efetiva no mundo adulto.
A escolha profissional nesta fase, ou seja, na adolescncia se torna
mais angustiante, agora no uma escolha no estilo de vestir, de escolhas
momentneas. Culturalmente existe um esteretipo de que a escolha por
uma profisso definitiva, como se esta fosse a nica oportunidade de
redirecionamento profissional.
Embora essa premissa no retrate a realidade, ela contribui para a
ansiedade e angstia no momento decisrio. Tornando este momento de
tomada de deciso, um passo importante na conquista de um sentimento de
independncia, principalmente, se a escolha for por uma formao
universitria, por questo cultural passa a ser a insero vida adulta.
Deste modo, escolher uma profisso pode ser um dos caminhos para
o ingressar no mundo adulto, conforme j comentado, ou ainda, se situar
socialmente, uma vez que o trabalho e a ocupao so expressivos
determinantes de status social.
Com relao ao processo de escolha Super (1953) argumenta que a
escolha se desenvolve por um longo perodo, como um processo contnuo,
na primeira fase o desenvolvimento no se compatibiliza com a realidade,
mas medida que a faixa etria aumenta, h um maior envolvimento e
compreenso desta realidade. O autor enfatiza que na adolescncia a
escolha e o ajustamento emocional se confundem, provavelmente, pela
219
necessidade de se fazer um reajustamento para a insero na vida adulta e,
por consequente, na trajetria profissional.
Levenfus (1997 p.35) nos lembra que medida que se cresce,
grande parte da angstia a respeito de si mesmo liga-se s escolhas e aos
conflitos surgidos na administrao da prpria vida. A autora conclui
enfatizando, optar por uma profisso uma das maiores escolhas ao longo
do ciclo vital.
Outro aspecto a ser considerado que quando falamos em conflitos,
em crise, no necessariamente nos referimos ao sentido patolgico do
termo, pois como bem coloca Osrio (1992), a crise vital acontece ao longo
da vida, desde o nascimento, o desmame, o incio do processo de
socializao, o vestibular (passagem para a vida adulta), dentre outras.
Agregado a esta fase, o novo sculo presencia um clima de
constantes mudanas nas relaes de trabalho, colocando em questo a
necessidade de novas propostas que possam auxiliar as pessoas (jovens e
adultos) na construo e desenvolvimento de suas carreiras. Elas precisam
desenvolver j na fase decisria uma independncia gradativa, de forma a
habilit-la para o trabalho, desenvolvendo a noo de gerenciamento de sua
vida profissional, preparando-a para uma relao de emprego com ou sem
vnculo empregatcio, ou seja, para a empregabilidade.
Minarelli (1995) chama de empregabilidade, palavra usada
inicialmente nos Estados Unidos como employability, equivalendo dizer
que a condio de dar emprego, ou a habilidade de ter emprego.
Conciliar este novo paradigma e o momento de escolha profissional
muito complexo, principalmente, se pensarmos que no estamos
preparando, para este novo patamar, as pessoas que j participam do atual
mercado de trabalho de relao de trabalho. O que dizer, ento para a nova
gerao que participaro do mercado futuro?
Reconhecendo que uma das principais preocupaes da adolescncia
a indefinio quanto ao futuro profissional, justifica-se o presente
programa, principalmente se reconhecermos que a maioria da populao
tem sua escolha dificultada, notadamente, as crianas e jovens oriundos de
escolas pblicas, este programa poder ser um facilitador, um despertar
para que os alunos desenvolvam ou incentivem s escolas a desenvolverem
220
pesquisa sobre as diversas profisses, de acordo com o perfil da populao
alvo, visitas s universidades, escolas tcnicas, dentre outras ocupaes
prticas que existem sem necessariamente passar pela escola formal
(pedreiro, carpinteiro, vendedor, etc.).
Portanto, pretende-se fornecer instrumentos para que os alunos
possam desenvolver estratgias que vo auxili-los no momento da escolha
profissional, desmistificando assim, que a escolha profissional para ser
adequada precisa necessariamente passar pela formao universitria, que
ela precisa ser pensada s no momento da opo. Acredita-se que este
programa deveria anteceder ao processo de Orientao Profissional, pois, o
mesmo pretende fornecer subsdios para elevar o nvel de
autoconhecimento, propiciando momentos para auto-avaliao, afim de que
possam melhor definir suas habilidades e aptides para que no futuro
possam ter subsdios com o auxlio do processo de orientao profissional
planejar a carreira profissional.
Diretrizes bsicas do programa
O processo de orientao profissional tem como foco principal
atuao em que a escolha remete a uma formao universitria, esta
centralizao pode ser justificada devido a maior conscientizao da
populao de melhor poder aquisitivo que frequentam as escolas privadas
onde em seu leque de produtos oferecidos entram tambm a OP, os fatores
culturais e de status que ainda consideram, erroneamente, formao
universitria como a opo mais segura para o sucesso profissional.
Poucos so os trabalhos divulgados de OP em escolas pblicas, mas
precisamente, com a populao mais carente. So vrios os fatores de
insucesso, dentre eles: falta de verba para deslocamento dos alunos, gerando
desistncia e consequentemente, desintegrao do grupo; indisponibilidade
dos pais para participarem de reunio de conscientizao quanto
importncia do processo de OP (dentre eles: o consentimento de participao
do filho) nas escolas, falta conscientizao direo quanto importncia
de destinar horrio dentro da programao pedaggica para OP.
Desta forma, o programa de sensibilizao para a escolha pretende
resgatar junto direo e alunos a importncia de discutir e desenvolver
programa de OP. Sendo o primeiro passo, o refletir sobre o processo de
221
escolha. Este programa foi desenvolvido em parceria com a Seo de
Processo Seletivo que tem, tambm, um trabalho de divulgao dos cursos
oferecidos pela universidade, visando desenvolver a informao
profissional de maneira mais abrangente.
Para melhor compreenso da proposta de sensibilizao passa-se a
descrever o formato atual do referido programa.
Objetivo Geral: Sensibilizar alunos do 2 ano do ensino mdio,
oriundos de escolas pblicas e privadas, para uma futura escolha
profissional.
Objetivos Especficos:
a. Propiciar uma primeira reflexo sobre as mais diversas profisses;
Possibilitar a informao profissional;
b. Estimular os alunos a buscarem apoio da famlia, escola e comunidade
para auxilia-l os na futura escolha profissional;
c. Favorecer a interao e trocas de vivncias entre os colegas, favorecendo
a ampliao da relao interpessoal.
Coordenao do Programa: Professora titular da disciplina de
orientao profissional e Psicloga da Seo de Processo Seletivo da
UNIVALI.
Caracterizao da Clientela: Alunos do 2 ano do ensino mdio,
oriundos de escolas pblicas e privadas da regio da Foz de Itaja SC.
Devido carga horria da atividade prtica da referida disciplina, bem
como o n de acadmicos regularmente matriculados na disciplina de
orientao profissional, definiu-se por dar prioridade ao atendimento dos
alunos desta fase. No entanto, medida do possvel tem-se procurado
estender o programa para outras fases.
Recursos Humanos: Acadmicos do Curso de Psicologia
regularmente matriculados na disciplina de orientao profissional (8
Perodo). Estes devero se organizar, de preferncia, em dupla.
Recursos Didticos: dinmicas de grupos, papel sulfite, caneta, lpis
de cor, preto, TV/vdeo, Fita com os principais cursos da UNIVALI,
informativo sobre cursos tcnicos, bem como de outras universidades de
222
acordo com o interesse da populao alvo, e-mails de escolas tcnicas e
universidades, dentre outros.
Durao: Varia de acordo com o nmero de alunos e disponibilidade
das escolas, podendo oscilar de 1h e 30min 2h cada encontro.
Local: Sala de aula das escolas pblicas e privadas.
Estratgias Utilizadas: Aps acordo com a direo das escolas
pblicas e privadas, agenda-se 2 encontros nas referidas escolas. Antes de
iniciarem a atividade prtica (1 e 2 fases), os acadmicos so
supervisionados pelas coordenadoras do programa. Estas supervises, num
total de duas (2), ocorrem nas aulas de Orientao Profissional, nas
dependncias da UNIVALI.
1 fase Sensibilizao para a escolha
1 passo) Abertura: apresentao dos acadmicos e objetivos do
encontro.
2 passo) Atividade Grupal: Convm salientar que os acadmicos,
mediante superviso, podero mudar a dinmica/atividade grupal de acordo
com o perfil dos alunos e interesse da dupla.
Sugesto de atividade:
a) O processo de escolha Levantar junto aos adolescentes aspectos
referentes ao tema, como por exemplo: O que escolher uma profisso?
J discutiu este assunto na escola, caso positivo, como o processo? e
em casa, com os pais?
b)A escolha propriamente dita Quem j definiu? caso negativo,
quais as profisses que admira ou gosta? Suas dvidas e ansiedade.
(Simbolizar atravs de desenho) Aps, socializar com os demais alunos.
Encerramento: Levantar com os alunos quais so os cursos/reas (por
exemplo: universitrio, tcnico) que querem ver apresentados no prximo
encontro (2 fase informao profissional).
No retorno da atividade prtica, os acadmicos fazem a socializao
com os demais colegas da experincia vivenciada, recebendo orientao das
coordenadoras (quando necessrio). Antes de iniciarem a 2 fase, os
acadmicos so novamente orientados para a etapa de informao
223
profissional, ltima fase. Neste momento, h a entrega de materiais sobre
cursos oferecidos pela UNIVALI que poder ser usado caso os alunos
tenham apresentado interesse por algum curso desta instituio, formas de
entrada na universidade, como ENEM (Exame Nacional de Ensino Mdio),
SAEM (Sistema de Avaliao de Ensino Mdio, avaliao do Estado de
Santa Catarina) e, finalmente, O Processo Seletivo Especial (Sistema de
Ingresso prprio da UNIVALI, onde se considera o histrico escolar como
critrio de classificao) Tambm divulgao sobre os demais cursos
universitrios/tcnicos de interesse da populao alvo que foram levantados
no final do 1 encontro.
2 fase Informao profissional
Atravs do material de divulgao, a dupla dever orientar os alunos
sobre os cursos oferecidos pela Universidade mais prxima para os que tm
interesse em ingressar num curso de nvel superior, bem como divulgar os
cursos de outras localidades de interesse na populao alvo, alm de
orientao com relao a curso tcnico/prtico de acordo com o interesse da
populao alvo.
Esta fase tem por objetivo oferecer orientao para que os alunos
continuem a pesquisar sobre os diversos cursos universitrios/tcnicos, bem
como outros interesses que possam surgir a partir da insero no mercado
de trabalho.
Encerramento: A dupla dever fazer devolutiva direo e ou
Orientadora educacional da escola em questo, apresentado a smula do
que foi trabalhado e preenchendo um modelo de avaliao do programa.
Este programa encerrado com socializao da 2 fase e avaliao do
programa que poder ser alterado conforme sugestes dos acadmicos e da
direo das escolas.
Resultados obtidos
At o 1 semestre de 2002 o programa atendeu 1.194 alunos oriundos
de escolas pblicas e privadas. Destacam-se as seguintes avaliaes e
sugestes avaliao da direo das escolas, dos acadmicos, bem como as
expectativas de alguns alunos com relao escolha profissional.
224
Direo das escolas
Escolas Pblicas
Abre um leque de perspectiva profissional. Nossos alunos so pouco
informados;
Gostaramos que fossem atingidas todas as turmas, sem preferncia
de fase;
Alm da sensibilizao, seria necessria a orientao vocacional e
profissional;
A dificuldade encontrada quando trabalhamos os alunos em sala
de aula, pois o cronograma restrito. Os professores encontram
dificuldades em conseguir ceder aulas devido ao aperto do calendrio
escolar;
A principal dvida e necessidade so de cunho financeiro, visto ser
um colgio onde o pblico alvo possui um nvel socioeconmico
baixo. Assim, suas aspiraes esto relacionadas com suas
possibilidades financeiras;
O projeto proposto pelos acadmicos de Psicologia teve como
objetivo promover um momento de sensibilizao no qual os alunos
puderam fazer uma reflexo sobre a questo das escolhas
profissionais.
Escolas Privadas
Acredito que a divulgao de extrema importncia para os alunos.
Eles precisam saber mais sobre os diversos cursos e profisses,
campo de trabalho e, at mesmo, pareceres salariais;
No deveria haver esta divulgao sob o nome de orientao
profissional, pois os alunos veem isto como testes vocacionais;
Oportuniza aos alunos as novas reas de conhecimento e
habilidades, faz com que se amplie os horizontes da informao e
consequentemente o acesso ao saber levando o aluno a desenvolver
capacidades intelectuais que o tornaro apto a escolher uma profisso
que lhe torne capaz e satisfeito quanto execuo da mesma;
... toda e qualquer contribuio em relao a educao, uma
excelente iniciativa quanto ao exerccio de cidadania destes e
225
daqueles que se propuseram e colaboraram para o desenvolvimento
deste projeto;
Desenvolver alguma ideia de trabalho junto aos professores, como
apoio para as atividades desenvolvidas em sala de aula;
Maior integrao e contato direto com a universidade, isso
diminuiria muitas inquietaes de alunos e ajudaria para buscar
maiores informaes sobre as profisses e como est o mercado de
trabalho.
Acadmicos
Vejo este projeto como uma das formas de insero da Psicologia
junto s instituies educacionais;
Trabalhar com adolescentes gratificante, porm para o trabalho ser
produtivo precisa-se reuni-los em pequenos grupos (mximo 20);
importante realizar um trabalho de sensibilizao junto aos pais;
O programa de sensibilizao sem dvida tem que dispor de mais
horas para com os estudantes, devido a ansiedade frente a dvida da
escolha ser demasiada;
... no instante em que sentei junto com minhas colegas em frente do
computador e comeamos a escrever sobre a nossa prtica. Foi nesse
momento que percebemos o quanto aprendemos, o quanto pudemos
auxiliar naquelas duas horas em que ficamos com os adolescentes a
esclarecer as suas dvidas;
... poderia ser feito tambm um trabalho com as orientadoras das
escolas, preparando-as para atuarem durante o transcorrer do ano
letivo. O trabalho poderia ser feito com duplas ou trio divididos, um
grupo trabalharia com os orientadores e outros com os alunos.
Comentrios dos alunos sobre as perspectivas de escolha profissional
Alunos das Escolas Pblicas
No mundo em que vivemos vale mais a penas ter dinheiro do que
sonhar com algo que nos realize profissionalmente;
Quando me perguntam sobre minha futura profisso eu fico em
dvida;
226
Quando me perguntam sobre a minha futura profisso eu respondo
que vou mexer na rea de esportes especificamente voleibol;
s vezes fico em dvida no que pretendo fazer (turismo ou
direito);
Eu acho que quero ser pastor ou mdico pelo fato de falar em cristo
e no querer mal para os outros;
Pretendo terminar o 2 grau e fazer um curso tcnico, se possvel
faculdade.
Alunos das Escolas Privadas
Meu pai tem um hotel, ento... j to dentro, tem que fazer turismo;
Medicina o sonho de minha famlia, no meu... j foi, hoje no
mais, mas se eu no fizer ela morre;
Gostaria de fazer educao fsica, gosto de estar na academia, dando
aula... o problema so os outros, professor de educao fsica alm de
ganhar pouco tem muito preconceito, as pessoas acham que eles
esto ali s para brincar, no sei... vou fazer jornalismo ento...;
... eu gosto muito de ingls, mas... o que eu vou fazer, letras?, no
sei... comrcio exterior? No sei...;
Todo mundo diz que me veem como dentista... eu me vejo como
dentista, foi o que eu sempre quis fazer;
Eu por mim no queria fazer nada, mas j que tem que fazer vou
tentar medicina...
Referncias
Andrade, Patrcia Carlos de. (2000). Oriente-se: Guia de profisses e
mercado de trabalho. Rio de Janeiro: Oriente-se Ed. Educ. Ltda.
_______ (1997). O ato de escolher. In: Psicodinmica de Escolha
Profissional, Levenfus, Rosane Schotgues e Colaboradores. Porto
Alegre: Artes mdicas, p.183 187.
Bock, Ana Mercs, et al. (1995). A Escolha Profissional em Questo. So
Paulo: Casa do Psiclogo.
227
Lehman, Yvette Piha (1995). O papel do orientador profissional: reviso
crtica. In: A Escolha Profissional em Questo. Bock, Ana Mercs,
et al. So Paulo: Casa do Psiclogo, p.239 247.
Levenfus, Rosane S. (1995). Faa Vestibular Com Seu Filho. Faa O
Vestibular Com Seus Pais. Porto Alegre: Artes Mdicas, p.36-41.
Minarelli, J. A. (1995). Empregabilidade O Caminho das Pedras Como
Ter Trabalho e Remunerao Sempre. So Paulo: Ed. Gente.
Oliveira, Ma. Beatriz L. de; Chakur, Gabriela de S L. (Org.) (2000).
Adolescncia e escolha profissional. In: Leite, Csar Donizeti P.;
Salles, S. Leila Ma. F. & Oliveira, Ma. Beatriz L. de. Educao.
Psicologia e Contemporaneidade. Cabral Ed. Univ., p.154-169.
Soares, Dulce Helena Penna (2000). As diferentes abordagens em
orientao profissional In: Lisboa, Maril Diez e Soares, Dulce
Helena Penna. Orientao Profissional em Ao: Formao e prtica
de orientadores. So Paulo: Summus ed, p.24 47.
Super, D.E. (1953). A theory of vocational development; amer. Psychol.
228
A reorientao ocupacional/profissional aps a mastectomia: uma nova
proposta de insero social
Maria Clara de Jonas Bastos
1
Josiane Aparecida F. de A. Prado
2
Ao longo do processo histrico as mulheres representam um papel
social ligado gerao e perpetuao da espcie, h algumas dcadas atrs
e ainda hoje em menor proporo, vemos comparar o ciclo biolgico da
mulher com o ciclo da natureza, por exemplo: o ciclo menstrual, a
influncia da lua na data de nascimento, notadamente a do primeiro filho.
Como a me natureza, as mulheres tambm tm como tarefa primria
gerar filhos.
O leite materno uma rica fonte de alimento, alm de nutrir, protege
o beb contra infeces e viroses. Atravs do seio/amamentao, a nutriz
tem a oportunidade de promover a seus filhos a sade, no termo mais geral
que a palavra sugere.
Quanto esttica, o seio tem estado em evidncia. O Brasil um dos
pases que mais realiza cirurgias de implante de silicone, o que, de certa
forma, tem contribuindo para a mudana dos padres de beleza esttica.
Tendo o seio como fonte de vida e sensualidade. O diagnstico de Cncer
de Mama e a possvel mutilao proveniente da cirurgia, proporcionam
como sugere Kovcs (1996), profundas modificaes na vida destas
pessoas, experimentadas como mortes em vida, influenciando em suas
caractersticas da personalidade, experincias de vida, atividades que no
podero mais ser executadas.
Gentil (2001) aponta que em nosso pas o cncer de mama acomete
uma em cada nove mulheres. Dados do Ministrio da Sade (1995) indicam
que o cncer de mama acomete mulheres a partir dos 25 anos de idade, sendo
que a maioria dos casos ocorre entre 45 e 50 anos. Destes, 90% so
descobertos pelas prprias mulheres, em 70% dos casos so diagnosticados
1
Mestre em Psicologia Social e da Personalidade, Psicloga/Supervisora do Curso de
Psicologia da UNIVALI.
2
Mestre em Psicologia, Psicloga Clnica, Professora e Supervisora de Estgio do Curso de
Psicologia da UNIVALI.
229
tardiamente (Urbanetz, 1999), o que dificulta a cura definitiva. O diagnstico
de cncer de mama e seus tratamentos promovem grande impacto na vida das
mulheres e tambm, das pessoas ligadas a elas. Alm do impacto da doena e
do medo da morte, sua rotina de vida passa a ser alterada.
Algumas mulheres necessitam passar por procedimentos cirrgicos e,
posteriormente, por tratamentos. Estes so diferenciados, pois dependem do
tipo de cncer que a paciente apresentar. A extrao da mama no significa
que o cncer tenha sido totalmente eliminado. Antes ou aps o procedimento
cirrgico, h a necessidade da realizao de tratamentos complementares, que
tm por objetivo eliminar as clulas doentes, diminuindo a possibilidade que
a paciente apresente metstase. Os principais so a quimioterapia,
radioterapia, hormonioterapia e reconstruo mamria.
O acompanhamento mdico de mulheres com cncer de mama j
tratado e sem evidncia da doena, faz-se necessrio, mesmo aps a
mastectomia e os tratamentos. Esse acompanhamento denominado rotina
de seguimento.
Arajo e Arraes (1998) destacam que a percepo de si mesmo como
curado no acontece prontamente para o doente que teve cncer. Os autores
apontam a sobrevivncia do cncer como sendo paradoxal, pois, o fato das
pessoas estarem curadas no significa que elas sintam-se curadas.
Aps a mastectomia as pessoas ficam impossibilitadas de realizar
atividades corriqueiras e rotineiras, como, por exemplo, levantar os braos,
pegar peso e raspar as axilas. Seu quotidiano tem que ser alterado, o que
promove a necessidade de ter que aprender a conviver com as limitaes,
desestruturando um padro de vida e de atividades profissionais e pessoais
antes existentes.
Prado (2002) apontou em seu estudo que em decorrncia da
mastectomia, as mulheres passaram por experincias dolorosas que
possibilitaram-nas configurar uma nova identidade. Atividades quotidianas
como a rotina da limpeza da casa, ou ir ao trabalho, deixaram de ser
executadas. Houve a necessidade de reestruturar e de reorganizar a prpria
vida e novas experincias foram assimiladas promovendo ajustes para um
novo quotidiano.
230
Lago (1999) descreve a identidade como sendo uma construo em
permanente processo de significao. Novos significados e identificaes
esto sendo elaboradas constantemente. No caso da mastectomia,
sucessivos esforos so suscitados para vencer cada etapa da doena
promovendo novas adaptaes que a doena/tratamento impe.
Em entrevista realizada com quatro mulheres, Prado (2002) constatou
que o tratamento do cncer oportunizou o contato com pessoas fora do
ambiente familiar ou profissional. Das participantes do estudo, uma exercia
atividade profissional, sendo as demais donas de casa. Antes do diagnstico
de cncer, todas tinham um contato social restrito ou inexistente, mesmo a
participante que trabalhava como operria, pois segundo relato, seu contato
com outras pessoas no ambiente de trabalho era estritamente profissional.
Conhecer pessoas hospitalizadas ou em tratamento proporcionou
novas amizades e objetivos de vida. Compartilhar a prpria experincia
com pessoas que esto passando por situaes semelhantes a que passaram,
realizar visitas hospitalares a doentes e participar de uma associao de
doentes de cncer, tornou-se rotina na vida de trs das quatro mulheres
entrevistadas, promovendo o que uma participante da pesquisa denominou
objetivo de vida e que Woodward (2000) chama de novos movimentos
sociais. Para esse autor, as identidades so diversas e mutveis, tanto nos
contextos sociais, nos quais elas so vividas, quanto nos sistemas
simblicos por meio dos quais as pessoas do sentido s prprias posies.
A experincia da doena, hospitalizao e vulnerabilidade quanto
continuidade da vida, promoveu o que Super (apud Martins,1978)
denomina trabalho como estilo de vida, ocorrendo um ajustamento pessoal
e profissional em consonncia com os valores pessoais e culturais.
O sentimento de ter vencido o cncer forte e presente no discurso
destas mulheres. Ajudar pessoas doentes uma forma de superar a
mutilao e as sequelas fsicas e emocionais. demonstrar que o
cncer foi derrotado, no a sade. Esto curadas, so vencedoras e
como tal uniram-se na tentativa de encorajar outras pessoas nesta
batalha contra a doena. Experimentar o prprio sofrimento e
conviver com dores alheias promoveu a necessidade de mudar e
ajudar a melhorar a vida de pessoas em situaes semelhantes.
Uniram-se com este objetivo. A identificao foi um elemento
231
aglutinador para a mudana de valores e, consequentemente, de aes
(Prado, 2002, p.46).
A insero de um profissional que atue na rea de orientao
profissional/ocupacional, atravs de uma equipe multiprofissional, pode
facilitar o processo de re-escolha ou re-opo tanto profissional quanto de
vida. Soares (2000, p.40), argumenta que a reorientao pode ocorrer em
diferentes momentos da vida do indivduo.
Embora no haja um nico enfoque terico em orientao
profissional, Super (1972) prefere trabalhar o processo de escolha, em
qualquer fase da vida da pessoa, baseado na teoria de autoconceito que
pontua que as experincias iniciais com outras pessoas, as situaes de vida,
podem indicar caminhos para ocupaes futuras, esses caminhos so
delineados a partir de identificaes, experincias de vida. Neste caso, o
processo de reorientao aps mastectomia, ou seja, em um momento de
redirecionamento de projeto pessoal e ocupacional/profissional deve,
primeiramente, basear-se na reorientao do conceito de si mesma, de
acordo com o histrico de vida e vivncia do processo do tratamento do
cncer de cada mulher.
Para maior esclarecimento, quando nos referimos palavra
ocupacional estamos nos aludindo a qualquer atividade que a pessoa
exera, no visando, necessariamente, uma remunerao, por exemplo:
gestores sociais, voluntariado. J a palavra profissional se refere relao
mulher trabalho. Podendo se referir relao com ou sem vnculo
empregatcio.
A redescoberta da capacidade de fazer/criar algo para si e para o
prximo, promoveu a redescoberta do viver, mesmo aps ter padecido de
uma doena grave e mutiladora como o cncer. A reorientao
profissional/ocupacional surge quando a identidade pessoal e
profissional/ocupacional so ameaadas, ocorrendo um processo de
desestruturao; neste momento h a necessidade de resgatar o significado
do trabalho, do prazer. O relato que segue, corrobora necessidade de
reorientao profissional/ocupacional (Prado, 2002):
Hoje fao coisas que eu no fazia. Tenho uma vida social, tenho
minha vida prpria! Eu comecei a trabalhar como voluntria. At a
eu no tinha vida social. Eu queria passar para as pessoas que eu
232
estava bem, que eu tinha passado por aquele problema mas estava
bem, estava curada, tinha superado, e que elas tambm poderiam
conseguir! Eu queria passar meu exemplo para elas...
Comecei a pensar numa forma de atender quem no tinha condies,
porque eu tinha condies financeiras, mas, e o pobre que no tem?
A maneira com que este projeto futuro ser estruturado varia de
acordo com o perfil de personalidade e experincia vivenciada no grupo
familiar e social, se for de apoio e incentivo a reestruturao da identidade
pessoal e profissional poder ser menos traumtica. Aqui a participao da
famlia, de amigos e colegas de trabalho, so primordiais para o sucesso
nessa nova trajetria.
Krawulskie e Cols (apud Soares, 2000) apontam que o reorientador
deve contribuir na reflexo sobre o projeto de vida pessoal e profissional,
relacionando-os aos novos caminhos e possibilidades pessoais. Pode-se
propor, inclusive, uma atuao junto empresa, caso seja necessrio, no
momento de readaptao do profissional que se afastou para tratamento,
orientando para a readaptao atividade exercida ou para uma nova
atividade, tudo vai depender do tipo de sequela deixada.
Convm salientar que, esta proposta pode ser aplicada a qualquer
ambiente social, ou seja, queles constitudos de maneira formal ou
informal. Desta forma, pode-se tambm aplicar ao trabalho voluntariado,
assessorando na insero desta nova mulher sociedade, sendo tambm
necessrio a orientao famlia e comunidade, evitando os cuidados
exagerados que, por certo, no facilitaro o processo de reinsero social.
Ao psiclogo, cabe estar inserido na equipe interdisciplinar:
mastologistas, oncologistas, enfermeiros, cirurgies plsticos,
fisioterapeutas, radioterapeutas e nutricionistas. Informar e discutir assuntos
pertinentes sade, uma forma de promover a sade do prprio cuidador,
para que este possa esclarecer e contribuir para o bem estar da mulher que,
neste caso especfico, teve cncer de mama. E tambm contribuir para a
desmitificao de que ter cncer, necessariamente, significa sentena de
morte, colaborando com informaes claras e sinceras, considerando no a
doena, mas a pessoa que esteve ou est doente. Cabe a reorientao
ocupacional/profissional auxiliar as mulheres mastectomizadas a superar as
233
diversas fases de enfrentamento: diagnstico, tratamento e aps o
desaparecimento da doena.
A reinsero ocupacional e, consequentemente, social destas
mulheres, diferentemente do que ocorre com pessoas que j tiveram uma
experincia profissional anterior e querem mudar em decorrncia de
insatisfaes no trabalho ou na universidade, foi pautada em experincias
pessoais: na vivncia quotidiana de terem sido acometidas por uma doena
grave, promovendo mudanas, muitas vezes indesejadas, em suas vidas. A
nova ocupao para trs das quatros mulheres deste estudo, foi
consequncia da reflexo sobre a vivncia da doena que proporcionou um
novo objetivo/projeto de vida.
Magalhes recorre ao construto terico de Super (Apud Levenfus,
Soares e Cols 2002, p.387) para pontuar as necessidades, valores e
interesses ocupacionais:
... as necessidades esto relacionadas a condies fisiolgicas, e
sobrevivncia, e so experienciadas como um sentimento de falta de
algo e como um desejo de preencher esta falta. Os valores so o
resultado da socializao, que estabelece os tipos de objetivos que as
pessoas perseguem a fim de satisfazer suas necessidades. Portanto, a
percepo de uma falta leva a valorizar algo que parece supr-la. Esse
algo ainda definido abstratamente atravs dos rtulos aplicados a
valores como, por exemplo, altrusmo, poder e beleza. E, por fim, os
interesses so as atividades nas quais o indivduo espera concretizar
seus valores.
Desta forma, a insero social das mulheres do citado estudo, foi
pautada pelas vivncias pessoais e que envolvem necessidades, valores e
interesses pessoais, descobertos aps uma vivncia traumtica que a
mastectomia, alterando um padro de vida anterior, transformando o que
antes eram apenas obrigaes nos cuidados com a famlia, em ocupaes
fora do ambiente domstico. Ocupar-se em auxiliar pessoas doentes, em
hospitais ou associaes, passou a ser a razo fundamental de suas escolhas
pessoais: um novo sentido vida.
234
Definio dos termos
Cncer de mama Tumor maligno da glndula mamria
Mamografia
Exame radiolgico que permite detectar calcificaes
microscpicas na glndula mamria
Metstase
Presena de cncer em outros tecidos ou rgos distncia do
tumor primrio. E caracterstica de todos os cnceres. D-se
atravs do sistema circulatrio e linftico
Referncias
Arajo, T.C.C.F. & Arraes, AR. (1998). A sobrevivncia em oncologia: uma
vivncia paradoxal. Psicologia Cincia e Profisso, 18 (2), 02-09.
Ferreira, M.L.S.M. (1999). Vivendo os primeiros meses de ps-
mastectomia: estudo de caso. Tese de Doutorado em Enfermagem,
Universidade de So Paulo (USP), Ribeiro Preto.
Gentil, AC. (2001). Cncer de mama. Revista Brasileira de Cancerologia.
47 (1), 09-19.
Gimenes, M.G.G. & Queiroz, E. (1997). As diferentes fases de
enfrentamento durante o primeiro ano aps mastectomia. In: M.G.G.
Gimenes & M.H Fvero. (Orgs). A mulher e o cncer (p.176-221)
Campinas, SP: Psy.
Kovcs. M . J. (1996). Morte em vida. In: M. H. P. F. Bromberg, M. J.
Kovcks. M. M.M. Carvalho & V. A . Carvalho. Vida e morte: laos
da existncia. So Paulo: Casa do Psiclogo
Lago, M. C. S. (1999). Identidade: A fragmentao do conceito. In: AL.
Silva, M.C.S. Lago & T. Ramos (Orgs.). Falas de gnero (p.119-
129). Florianpolis: Mulheres.
Levenfus, RS; Soares D.H. e Cais (2002). Orientao
vocacional/ocupacional: novos achados tericos, tcnicos e
instrumentais para a clnica, a escola e a empresa. Porto Alegre:
Artemed.
Martins, C. R (1978) Psicologia do comportamento vocacional. (p.59 66)
So Paulo: EPU.
235
Ministrio da Sade. Instituto Nacional de Cncer Pro-Onco. (1995).
Cncer no Brasil. (voI. II). Rio de Janeiro: Pro-Onco.
Prado, J. A . F. de AA .(2002) Supervivncia: novos sentidos na vida aps a
mastectomia. Dissertao de Mestrado em Psicologia, Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), Santa Catarina.
Soares, Dulce H.P. As diferentes abordagens em Orientao profissional.
In: Lisboa, Marilu Diez & Soares, Dulce H.P.(Orgs) (2000),
Orientao profissional em ao: Formao e prtica de
orientadores (p.24-47). So Paulo: Summus.
Super, Donald E. & Bohn JR, Martin (1972). Psicologia Ocupacional. So
Paulo, Atlas, 229 p.
Urbanetz, A A (1999). Tratamento do cncer da mama. In: Lins L.C. &
M.C.N. Bernz (Orgs), Mastologia prtica: guia de orientao (p.157-
172). Blumenau: Editora da Furb.
Woodward, K. (2000). Identidade e diferena: uma introduo terica
conceitual. In: Silva, T.T. (Org.), Identidade e diferena. (p.7-72).
Petrpolis: Vozes.
236
hora do espetculo da perversidade: o aprisionamento da
subjetividade dentro dos realities shows
Regina P. Christofolli Abeche
1
ngela Caniato
2
Lara Hauser Santos
3
Voc tem alma? Essa pergunta filosfica, teolgica ou
simplesmente incongruente encerra hoje uma nova dimenso.
Confrontada aos neurolpticos, aerbica e ao massacre da mdia, a alma
ainda existe? (Kristeva, 2002, p.9).
Um fenmeno recente tem chamado a ateno de diversos estudiosos:
os realities shows. Estes programas esto tomando conta da televiso
mundial, em especial a brasileira neste momento. Tais programas expem
seus participantes a situaes limites e do margem a uma srie de anlises.
O enfoque deste trabalho ser no Big Brother II, veiculado pela Rede Globo
de Televiso, j que este se manteve entre os quatro maiores ndices de
audincia da emissora
4
enquanto esteve no ar, o que evidencia seu alto
alcance populacional. Lanar-se- um olhar microscpico, especialmente
nos valores embutidos na estrutura e funcionamento do programa, bem
como nas caractersticas da subjetividade dos participantes, principalmente
do vencedor, aspectos estes que difundem uma forma de ser na atualidade.
O Big Brother surgiu em 1999, na Holanda e foi criado pela
produtora Endemol, uma das maiores empresas de entretenimento da
Europa. O nome Big Brother foi inspirado no livro 1984, do escritor
ingls George Orwell. No livro, todos os habitantes de um pas fictcio so
vigiados diariamente por cmeras que funcionam como os olhos do
governo. O autor alerta para o perigo de estarmos caminhando para uma
sociedade controlada por cmeras. Passados pouco mais de 50 anos da
1
Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maring,
doutoranda da Universidade Metodista de So Paulo.
2
Professora Doutora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maring.
3
Acadmica do curso de psicologia na Universidade Estadual de Maring, bolsista
PIBIC/CNPq-UEM.
4
Este dado da Folha de So Paulo, caderno Tv Folha, no perodo de maio a julho de 2002.
237
publicao do romance de Orwell, o temor ao totalismo cedeu lugar
seduo, atravs da invaso de cmeras em programas televisivos.
Em 2000, o programa Big Brother comeou a ser exportado para
outros pases, como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra,
Portugal, Sua, Sucia e Blgica. Em todos eles o programa foi um
sucesso, no s na televiso, como tambm na Internet. Seus participantes e
vencedores tornaram-se famosos do dia para a noite e faturaram prmios e
dinheiro.
Para entender melhor a dinmica do programa, sero expostas
algumas de suas regras fundamentais:
1. O nmero de participantes foi 12, previamente selecionados pela Rede
Globo de Televiso. Estes permaneceram confinados em uma casa com
38 cmaras, sendo vigiados 24 horas por dia por um perodo de 60 dias.
O nmero de dias poderia sofrer pequenas alteraes no decorrer do
programa;
2. Antes de iniciar o programa os 12 participantes ficaram reclusos por 7
dias em um quarto de hotel e no mantiveram nenhum tipo de contato
entre eles, nem com o mundo externo;
3. A cada semana dois participantes eram indicados para o paredo,
5
sendo um escolhido pelo lder e o outro eleito via votao sigilosa por
parte de grupo. Apenas um era eliminado, conforme votao feita pelos
telespectadores;
4. A votao para o paredo era realizada no confessionrio, espao este no
qual cada participante tinha privacidade em relao aos outros membros,
uma vez que o que diziam ali no poderia ser revelado ao grupo durante
a permanncia na casa. O confessionrio era utilizado tambm, para a
direo se comunicar individualmente com os participantes;
5. Depois da eliminao semanal de cada participante, teve-se uma final
com 2 pessoas. O telespectador, via telefone e/ou internet, escolheu o
5
Termo utilizado pelo programa como local no qual os participantes aguardam para serem
excludos ou no da casa. Em uma aluso a ideia de presos que aguardam o
fuzilamento/excluso.
238
vencedor que levou a quantia de 500 mil reais, sendo que o segundo e
terceiro colocados ganharam 30 e 20 mil, respectivamente.
6. Cada participante recebeu um microfone, o qual devia estar
constantemente ligado durante a permanncia na casa;
7. Era proibido o uso de qualquer meio de comunicao entre os
participantes que no pudesse ser capturado pelas cmeras ou
decodificado pelo pblico (escrita, gestos, etc.);
8. Os participantes no tinham acesso s notcias do mundo externo, pois na
casa no havia telefone, rdio, televiso, jornal, revista, internet e etc.;
9. A cada semana era eleito um lder atravs de uma prova, estabelecida
pela direo do programa;
10. O lder tinha algumas regalias tais como: imunidade, quarto privativo,
uma sesso de cinema, um frigobar abastecido e tambm o direito a
conversar com internautas;
11. A cada semana ocorria a prova da comida que devia ser cumprida em
grupo, para que recebessem o Kit de alimentao. No caso desta no ser
realizada com sucesso, no recebiam o Kit e passavam a semana apenas
com sal, arroz, carne seca e doce de leite;
12. No caso de agresso fsica o participante seria excludo da casa;
13. Entre 10:00 e 12:00 horas ocorria o toque de despertar, onde todos os
participantes eram obrigados a acordar e levantar;
14. Os participantes tinham obrigaes com a manuteno da rotina
domstica, tais como, cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, etc.;
15. Apesar de no ser uma regra, vale a pena destacar que durante todo o
programa havia festas proporcionadas pela direo com frequncia de
pelo menos uma vez por semana e recebiam ainda, visitas espordicas de
artistas, jogadores de futebol e apresentadores de programas de
televiso.
O programa Big Brother Brasil foi exibido diariamente, em horrio
nobre, sendo que nas 2, 4, 5 e 6 feiras havia apenas edio. Na 3 feira,
sbado e domingo o programa era transmitido ao vivo intercalado com
239
edies. Nestes dias o programa era conduzido por um animador que
interagia com os participantes da casa e com o telespectador.
Este estudo tem como base a constatao emprica e de autores como
Thompson (1998), Guareschi (2000) e Ramonet (1999) entre outros. Todos
estes mostram que vivemos hoje, uma cultura miditica, de modo que
impossvel entender qualquer fenmeno fora do grande captulo da
comunicao. Segundo Guareschi (2000), as pessoas adultas dos pases
ocidentais gastam entre 25 a 30 horas por semana olhando a televiso. Isto,
sem contar o tempo que elas empregam lendo jornais, livros, revistas e
consumindo outros produtos das indstrias de comunicao de grande
escala transnacionais. H poucas sociedades no mundo de hoje que no
foram atingidas pelas instituies e mecanismos da comunicao,
consequentemente, que no estejam abertas s imagens e formas simblicas
mediadas pelos meios de comunicao de massa.
Desde o incio das sociedades modernas, os meios de comunicao
contriburam decisivamente para a construo da subjetividade dos seres
humanos. Sempre em sintonia com o surgimento e consolidao das
sociedades capitalistas. modernas, os meios de comunicao desenvolveram-
se de forma espantosa. E impossvel pensar o mundo contemporneo, sem
levar em conta o papel da mdia. Um dos traos fundamentais deste mundo
contemporneo exatamente o inesgotvel fluxo de imagens e de
contedos simblicos, disponibilizados pelos meios de comunicao a um
nmero cada vez maior de pessoas, e que de certa maneira, conformam a
realidade, as relaes sociais e a subjetividade individual.
Chomsky
6
apud Guareschi (2000) afirma que os meios de
comunicao de massa servem como sistemas de comunicao de
mensagens e smbolos para a populao em geral, cuja funo divertir,
informar, distrair, como tambm influenciar os indivduos com valores,
crenas e cdigos de comportamento.
Atualmente o individuo visto quase que exclusivamente no seu
papel de consumidor. Em decorrncia disso, as mercadorias da indstria se
orientam segundo o princpio de sua comercializao e no segundo seu
6
CHOMSKY, Noam. Propaganda Model. In: Herman, E. CHOMSKY, N. Manufacturing
concert. The Political Economy in the Mass Medic. New York: Pantheon Books, 1988 (p.1-
35).
240
prprio contedo e figurao adequada. No conceito de Indstria Cultural,
Adorno (1986) esclarece sobre os produtos adaptados ao consumo das massas
e que em grande medida determinam esse consumo. O consumidor no o
senhor, como a Indstria Cultural gostaria de fazer crer. Ele tambm no o
sujeito dessa indstria, mas sim seu objeto. A Indstria Cultural importante
como formadora da conscincia de seus consumidores. Segundo Adorno,
as ideias de ordem que ela inculca so sempre as do status quo. Elas
so aceitas sem objeo, renunciando a dialtica. Atravs da
ideologia da Indstria Cultural, o conformismo substitui a
conscincia, a ordem por ela transmitida no confrontada com o
que ela pretende ser ou com os reais interesses dos homens (1986,
p.97).
A Indstria Cultural, de acordo com Adorno (1986), impede a
formao de indivduos autnomos, independentes, capazes de decidir
conscientemente. Tambm est intrinsecamente ligada aos elementos do
mundo industrial, na qual exerce um papel especfico de portadora da
ideologia dominante. Esta, atribui sentido a todo o sistema unido
ideologia capitalista, a qual, contribui para falsificar as relaes dos homens
com outros homens, bem como dos homens com a natureza.
Todos estes aspectos tm forte influncia no processo de
padronizao (Adorno, 1986) dos indivduos, que a eliminao total da
diferena, com a uniformizao de todos as pessoas. Assim, a Indstria
Cultural a ferramenta utilizada para se alcanar esta padronizao. Haja
visto que, todos ns assistimos aos mesmos programas, consumimos os
mesmo produtos, usamos as mesmas roupas. H tambm uma padronizao
do homem no aspecto do mundo interno, porque at a forma de pensar,
sentir, desejar, vivenciar, relacionar-se est seguindo aos padres, ou seja,
at o mago da vida interna est sofrendo a influncia opressora da mdia.
Todos seguem cegamente o que ela nos coloca como certo, tornando-nos
exatamente iguais, com a total eliminao da diferena. Este processo tem
como consequncia o sofrimento psicossocial.
Outro aspecto dessa padronizao, a iluso de liberdade a qual
estamos submetidos (Adorno, 1986), porque acreditamos que somos livres
para escolher. Este mecanismo da Indstria Cultural to perverso que
alm de nos tornar todos iguais, exige que sejamos diferentes. Assim,
temos uma infinidade de marcas para escolher, o que nos faz acreditar que
241
estamos livres para tal escolha. Mas isso no real, porque em sua essncia
todos os produtos so iguais, haja visto que uma sociedade que guiada
pelos princpios de comercializao, faz com que os produtos percam a
importncia de contedo e fiquem restringidos aparncia. Esta falsa
liberdade s vem fomentar o individualismo exacerbado no qual vivemos,
sob o constante bombardeamento de slogans como voc nico, voc
deve ser diferente e outros.
Costa (1984) ao discutir sobre a educao psicolgica, introduz a
ideia de que esta, atinge seu objetivo quando consegue formar um Tipo
Psicolgico Ordinrio (p.73), que a resposta ao que a sociedade pede em
determinado momento. Portanto, cada contexto histrico ter o seu prprio
Tipo Psicolgico Ordinrio.
Tipo Psicolgico Ordinrio a normatizao dos indivduos, em que
todos devem corresponder norma, sendo ela mesmo, um conjunto de
atributos relativos subjetividade padro que existe na sociedade. Esta a
universalizao de particularidades emocionais previamente definidas como
saudveis (Costa, 1984, p.72), ou seja, elimina-se toda diferena em busca
de uma padronizao. Todo esse processo se d a partir de uma violncia
simblica, que de acordo com Costa, a imposio de enunciados sobre a
realidade que leva o indivduo a adotar como referencial exclusivo de sua
orientao no mundo, a interpretao fornecida pelo detentor do saber
(p.75). Em outras palavras, atravs da intimidao ideolgica dos
indivduos, que se alcana a adaptao dos mesmos. Sobre isto Guinsberg
7
apud Caniato (1995, p.244), diz:
Uma violncia que no se apia na fora das armas e da represso
aberta e sim, apela interiorizao de suas premissas, normas, leis e
ideias na subjetividade dos casualmente chamados sujeitos sociais
(...) [A garantia do funcionamento da sociedade fica mantida pela]
internalizao das suas concepes ideolgicas em cada um dos seus
sujeitos: quando assim ocorre, a represso direta se exerce s contra
o transgressor, isto , sobre os que violam as normas.
7
GUINSBERG, Enrique. Mdios Masivos, Salud Mental y Derechos Humanos. Trabalho
apresentado na Plenria da III Conferncia Salud, Represin Poltica y Derechos Humanos.
Santiago do Chile, 24-29 novo 1999.
242
Com isso, podemos coadunar o que vimos em Adorno, com o que
vimos em Costa e chegar concluso de que a formao do Tipo
Psicolgico Ordinrio em qualquer momento, se d pela padronizao, a
qual tem como principal ferramenta, a Indstria Cultural.
Outros aspectos a serem considerados, so os valores implcitos no
programa. Pode-se perceber estes valores atravs de sua estrutura e
funcionamento, tais como: confinamento, vigilncia, excluso, fama,
dinheiro, esforo, sorte, culto ao heri, salve-se quem puder, negao do
sofrimento psicossocial, ficar com, cada um por si e Deus por todos.
O eixo principal a ser abordado ser mais especificamente a
vigilncia, a fama e o confinamento, uma vez que estas caractersticas
conferem o carter indito do programa e ficam em maior evidncia para o
telespectador.
Vigilncia
A pergunta que se faz : o que ocorreu, para que sassemos do horror
da vigilncia, para imergirmos na apoteose voyerista, de contemplar
supostamente em tempo integral, um grupo de indivduos exibicionistas
confinadas em um espao marcado por cmeras e microfones?
A melhor forma de implantar o horror vesti-lo, mascar-lo para que,
glamourizado pelo poder hegemnico, seduza atravs da indstria cultural,
indivduos que se conformem s leis de mercado e vigilncia.
O controle, na sociedade contempornea, exercido de modo
glamourizado pela Indstria Cultural. Assim, substituiu-se a guilhotina e a
violncia fsica por tcnicas de controle social formadas dentro das cincias
humanas e sociais, pela psicologia, psiquiatria e mais recentemente, pelos
meios de comunicao de massa (Guinsberg (1991), Costa (1984) e
Foucault (1983). No lugar de usar a fora fsica para fazer corpos indceis
padecerem em razo de no se ajustarem, o que ocorre a internalizao
atravs de uma intimidao ideolgica exercida pelos meios de
comunicao de massa, que produzem uma certa forma de ser, de viver, de
pensar e de sentir.
A estratgia atual constituir subjetividades, de forma que estas se
enquadrem no modo de vida oferecido pelo social, pois de acordo com o
243
filsofo francs Michel Foucault (1983), o poder moderno se exerce na
produo e na represso. Isto confirma o pensamento do pesquisador Costa
(1984), quando discorre sobre a violncia simblica, em que os indivduos
encontram-se submetidos na ideologia da sociedade de consumo da
atualidade.
Hoje, os vigias do Grande Irmo, so todos os indivduos, que
auxiliado pela edio da mdia, ficam extasiados, fascinados diante da
televiso, vigiando e controlando atravs de votos (programa interativo), os
passos dos 12 participantes annimos. O que, antes era temido o controle
e o vigiar e tambm o que era protegido a privacidade e a intimidade
tornaram-se objetos de fascnio. Isto se evidencia no primeiro imperativo
para participar do show de realidade big brother que a imposio de
restrio do privado. Oferece-se aos participantes uma casa bem equipada
com 24 horas por dia de vigilncia para que se tornem famosos, todavia,
caso sejam excludos e no ganhem o prmio mximo de 500 mil reais, j
tiveram a oportunidade de conquistar a fama. Troca-se desta maneira, a
privacidade pela fama.
Acrescenta-se, que a sociedade contempornea descrita por Debord
(1994), como a sociedade do espetculo, que substitui o lema: Penso, logo
existo, por um outro ditado: Sou visto, logo existo, Quinet (2002). Ainda
segundo este autor, a sociedade dominada pelo olhar, que onividente sob
diversas formas, que vo desde a proliferao dos programas televisivos de
voyerismo e exibicionismo explcitos, at a difuso epidmica da vigilncia,
que multiplicam as cmeras encontradas a cada passo do indivduo. Vive-se
hoje, numa sociedade escpica que tem como espetculo, a disciplina e o
controle. O olho que vigia e pune, o mesmo que possibilita a fama. A
visibilidade na atual sociedade de consumo sobre valoriza o mercado.
Coelho (1999) ao discorrer sobre fama cita uma frase do filme Nasce Uma
Estrela: Voc conseguiu mais do que queria. Mais fama, mas tambm,
mais infelicidade pessoal (p.49). A fama parece inseparvel de um outro
vnculo, a dor de ter que se separar do privado, de sua vida rotineira para se
lanar rumo ser objeto do olhar do outro, desgarrado e desenraizado de
sua forma de ser.
Esta sociedade escpica impe uma existncia vinculada
visibilidade e consequentemente celebridade, mas por outro lado, amplia
cada vez mais a vigilncia e o controle sobre cada indivduo. No mais
244
possvel sair de casa sem se deparar com os dizeres sorria voc est sendo
filmado. Verdade ou mentira, no importa, pois a frase faz existir um olhar
invisvel pousado no indivduo. A instncia desse olhar atribudo ao outro,
chamada por Freud de superego, que tem como um dos seus atributos,
vigiar e punir o indivduo. A sociedade escpica, ao utilizar esta estrutura
subjetiva, multiplica seus dispositivos de vigilncia eletrnica e transforma
a todos, em objetos vistos e controlveis. A Transparncia, vira um ideal.
Ainda, de acordo com Foucault, em Vigiar e Punir (1983), o panptico
(prdio circular com uma torre central) idealizado para melhor vigiar os
prisioneiros, o modelo de nossa sociedade disciplinar, em que os
indivduos so tornados transparentes para um olho invisvel.
Confinamento
A vida se converte em ideologia da reificao. E, a rigor em mscara
morturia (Adorno, 1986, p.87).
Um dos meios utilizados pela mdia para apresentar o programa Big
Brother como um show de realidade, afirmar que o confinamento deve
traduzir sentimentos verdadeiros, pois no d para protelar nem para
recalcar emoes ou indisposies com os companheiros de cela. Na
verdade, o confinamento sob esta perspectiva mantm uma tenso. De um
ngulo, poderia ser considerado um grande embuste, pois como consta nas
regras do programa os participantes so vigiados 24 horas por dia. Como
nos diz Sodr (1994), as pessoas uma vez observadas pela cmera
comeam a fazer poses, construindo um real prprio encenado (p.36). A
partir desta frase, o real prprio encenado pode ser entendido como
idealizado. Portanto, de outro ngulo, o desejo pela fama, entendido a partir
do conceito elaborado por Coelho (1999), como a construo da auto
imagem pela projeo de uma imagem para os outros, j produz uma
amputao da subjetividade, trazendo como um dos resultados, o
impedimento de acionar instncias psquicas superiores. Desta forma, a razo
substituda pela fama. Para confirmar, nas palavras de Debord (1994):
A primeira fase da dominao da economia sobre a vida social
acarretou, no modo de definir toda realizao humana, uma evidente
degradao do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social est
totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia, leva a
um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do que todo ter
245
efetivo deve extrair seu prestgio imediato e sua funo ltima. Ao
mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente
dependente da fora social moldada por ela. S lhe permitido
aparecer naquilo que ela no (aforismo 17, p.18).
Assim, o que se mostra, no fingimento ou teatro, pois a
subjetividade sem a restrio da lei, basta para conformar-se s regras
impostas pelo programa e representar sua identidade ideal, j capturada e
vida pela fama. Portanto, a vigilncia j um confinamento que determina
uma forma de ser, uma vez que, sob vigilncia, no palco, com os holofotes
que potencializam a fama, h a transmutao de um ser pensante para um
ser da imagem. bom lembrar, que a situao dos participantes dos
realities shows, expostos a uma cmera 24 horas por dia e cientes de que
sua performance vai desembocar na sua excluso ou permanncia, tanto
pelos seus parceiros como pelos telespectadores, so os elementos que
confirmam a priso do ser.
A seguir ser apresentada uma listagem de privaes provenientes do
confinamento/vigilncia, pr-requisito do programa Big Brother: de ir e vir;
do cigarro, j que recebiam uma cota diria, previamente definida com os
participantes que no poderia ser alterada durante o programa; da comida, a
cada semana havia a prova da comida e em algumas no obtiveram sucesso
recebendo apenas 1/2 kit de alimentao e em uma semana especificamente
passaram apenas com arroz, doce de leite e sal; da famlia; dos amigos; do
banho privativo; do sexo; do estudo; do trabalho; do sono; dos meios de
comunicao; de assistir a Copa do Mundo (julho/2002).
Com isto, observa-se, que inexiste a autodeterminao dos
participantes, sendo que o controle/comando vem atravs da direo do
programa e dos pares, no que concerne a escolha de quem vai ser indicado
para o paredo. Este controle/comando, tambm vem dos telespectadores, que
so os juzes, os quais decidem quem eliminado da casa a cada semana.
Para Freud (1981) o ser humano o ser da impotncia e do
desamparo. um animal que para sobreviver e diferenciar o seu eu do
no eu precisa da presena de um outro, principalmente, para desenvolver
posterior interrelaes em grupo e ao mesmo tempo preservar sua
integridade individual (eu no eu).
246
Freud, ainda neste texto, menciona a existncia de um sentimento
ocenico, no qual o beb, no capaz de distinguir-se do mundo exterior,
um Sentimiento que lhe agradar designar sensacion de eternidad , um
sentimiento como de algo sin limites ni barreras (p.3017). No
desenvolvimento do indivduo, no sentido da construo de sua
individualidade/autonomia, a separao uma rdua tarefa, que inclui a dor
da renncia. A renncia iluso de fuso com o outro, de satisfao
constante e absoluta e de um mundo sem perdas. Quando no ocorre esta
separao, aquele sentimento ocenico domina, metaforicamente falando,
todos os espaos e mantm um sentimento de fuso com o outro, tpico do
vnculo simbitico do beb com a me. Freud cita ainda, a viabilidade do
adulto tambm se encontrar em condies regressivas semelhantes quelas
vivenciadas pelo beb.
O programa Big Brother no se constrange em fundir a vida com
espetculo (Quinet, 2002), transformando os participantes em celebridades,
tornando-os famosos. Esta fama s pode ser conquistada pela potncia
tecnolgica da mdia, independendo dos atributos subjetivos de cada
participante, pois estes foram banalizados pela proposta do programa, que
foi organizado sob as bases da vigilncia, do confinamento, da excluso, da
fama e do dinheiro. Assim, o produto apresentado para o telespectador um
show que j no de realidade. O script do programa gera um vazio, onde
colocada a fama. Uma das propostas do programa a de transformar a
privacidade em espetculo. Importante observar, que o apresentado na tela,
no a privacidade nua e crua de ningum, pois a direo do programa
seleciona alguns fragmentos de seu interesse. A partir disto, a intimidade
construda com msicas de fundo que sublinham ou criam climas,
maquiados com lentes inusitadas que transformam o banal em inusitado. A
intimidade exposta, limitada no s pelas mudanas de comportamento j
produzidos, via mudanas de valores da sociedade espetacular, regida pelos
princpios do mercado, pelas regras do programa, como tambm pelos
recursos da mdia. Assim, estes programas produzem uma nova experincia
da fama, que transcende uma expresso artstica e sustentada pela prpria
mdia. Portanto, o espetculo a prpria mdia.
Com isso, pode-se compreender a fama com o conceito de prtese
oferecido por Freud (1930):
247
El hombre ha llegado a ser, por as decirlo, un dios con prtesis:
bastante magnfico cuando se coloca todos sus artefactos, pero stos
no crecen de su cuerpo y a veces aun le procuran muchos sinsabores
(p.3034).
Compreende-se assim, a fama como uma prtese que substitui parte
do corpo humano que est morta.
Pode-se coadunar a este fato, o estado regressivo no qual os
indivduos se encontram na cultura atual (Adorno, 1986; Caniato, 1997),
que propicia a fuso do indivduo com a fama, onde esta vem substituir uma
parte do humano. E assim, pode-se concluir que a possibilidade de
felicidade oferecida a estas pessoas o uso de uma prtese que vem
substituir os atributos inerentes ao humano, neste caso, a fama.
Ainda em Freud (1981) temos: Pero que olvidemos, en interes de
nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz em su
semejanza com Dios (p.3034), onde fica claro a iluso e a perversidade de
tudo isso, j que essas pr teses no pertencem verdadeiramente ao
indivduo e no podem lhe trazer a felicidade.
Em um depoimento, o socilogo italiano Domenico de Masi (Veja,
maro 2002) declara que o nico verdadeiro beneficiado o empreendedor
da televiso, o sistema miditico. Descreve ainda, como um participante
italiano de um reality show caiu em depresso depois de viver uma fase de
assdio incrvel e esquecer-se de que na verdade no era nada alm de um
produto descartvel, artificial. A depresso foi desencadeada em nome da
paixo obstinada pela fama que depois de um perodo esvaneceu-se. Assim
o participante que teria feito um investimento libidinoso excessivo na fama,
com o declnio desta, preso na contnua mistura de fantasia e realidade
(Coelho, 1999, p.49).
Os participantes entram no programa annimos e saem famosos,
porm, esvaziados de sua subjetividade, pois aprisionado o desejo; fica a
imagem e o estilo de vida editado pelo programa. Os participantes tornam-
se prteses e celebridades, reduzidos a objetos de fofoca, bisbilhotagem,
torcida e apostas. Tornam-se tambm, garotos propaganda com cachs
baixos, mais sobre a gide de uma iluso, pois de fato a fama aqui
passageira, descartvel e efmera como a proposta do mercado do
248
consumo. Pode-se acrescentar, para melhor elucidao, os dizeres de
Debord (1994, aforismo 30, p.24):
A alienao do expectador em favor do objeto contemplado (o que
resulta da sua prpria atividade inconsciente) se expressa assim:
quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita
reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos
compreende sua prpria existncia e seu prprio desejo. Em relao
ao homem que age, a exterioridade do espetculo aparece no fato de
seus prprios gestos j no serem seus, mas de um outro que os
representa por ele. por isso que o espectador no se sente em casa
em lugar algum, pois o espetculo est em toda parte.
Por fim, esse trabalho traz uma descrio das caractersticas da
subjetividade desejada, difundidas pelo programa atravs de seus
participantes, principalmente do vencedor, que padroniza um modelo de ser
na cultura atual. O vencedor aquele que perde a intimidade e a identidade;
aquele que se afasta dos seus e submete-se a uma experincia de priso-
show; julgado e sentenciado a cada comportamento e apresenta maior
tolerncia privao. Enfim, aquele que muito perde e no final
referenciado como vitorioso.
Subjetividade do vencedor
Como j ficou claro no processo de seleo dos participantes, o
modelo identificatrio no um indivduo real, mas uma imagem forjada
pela Rede Globo. Em outras palavras, no que ela cria, mas sim, que ela
escolhe previamente a imagem que atende s suas expectativas, pois quando
a emissora citada, utiliza olheiros que procuram e indicam a imagem de
um caubi, entende-se que a sua ateno no com a constituio psquica
ou com os elementos da sua subjetividade, com a sua fotografia-imagem.
Somando-se ainda a estas contingncias, temos os elementos j discorridos,
tais como, confinamento, vigilncia, excluso e fama.
A inteno deste trabalho no a de criticar ou censurar os
participantes por terem aderido a este tipo de programa e sim, fazer uma
anlise de algumas caractersticas valorativas, impregnadas/imantadas de
ideologia, j internalizadas pelos participantes. Entende-se que quanto mais
se avana no estudo, tanto melhor se compreende que aqueles que dele
249
participaram, so to manipulados via industria cultural quanto
manipuladores, conforme o conceito de cumplicidade discorrida por Adorno.
Ressalta-se, que a anlise do programa foi efetuada a partir de um
olhar crtico/investigativo sobre as edies veiculadas pela Rede Globo.
Para tanto, utilizou-se como referencial terico a psicanlise, uma vez que
esta possibilita o acesso ao inconsciente, via atos falhos, mecanismos de
defesa, chistes e atitudes que no se podem mascarar por um tempo
indeterminado. Estes elementos so realidades psquicas, que j capturadas
por um modo de ser, interpem-se nas relaes interpessoais e no modo de
ver e pensar o mundo. Estes so subsdios ricos para se pensar quais so os
valores vivenciados a partir de uma seduo da sociedade de consumo,
atravs da ideologia veiculada pela Indstria Cultural, via direo do
programa e que, ao mesmo tempo, visa seduzir, conquistar novos adeptos a
partir do telespectador, a um modo de ser.
A mdia tem como propsito, segundo Munoz (2002), criar
mentalidades que se integrem ideologia do sistema da sociedade de
consumo. Para tanto, necessrio construir subjetividades que reiterem a
fuso simbitica e a no individuao, bem como, a destruio do lao
social entre os diferentes para se tornarem facilmente capturados pela
publicidade. Para conseguir isso, ela se utiliza dos modelos identificatrios.
A seguir sero descritas algumas caractersticas da subjetividade do
vencedor Caubi Rodrigo, as quais coadunam com os requisitos desta
sociedade de consumo e espetculo: Estrategista: (25/05 Rodrigo faz voto
estratgico e manda Tarci para o paredo, 08/07 Rodrigo diz que sua
estratgia tem 3 etapas, 13/07 Rodrigo indica Tyrso: Ele forte).
Omisso: (22/06 Caubi no sabe explicar o lance com Thas, 11/06-
Pedro Bial faz a seguinte pergunta: Quem voc acha que sai hoje? Rodrigo:
No sei, no sei). Subserviente ao poder: (07/07 Rodrigo para Pedro
Bial: Se sabe que toda a hora que eu vou falar com voc eu me engasgo.).
Culto ao heri: (14/05 Me de Rodrigo diz que o filho duro na queda,
10/07 Rodrigo conversa com Cida: Foi uma adrenalina, uma coisa
diferente, s sei que eu gosto dessa sensao, 16/07 Pedro Bial no
programa ao vivo: Vamos falar sobre o nosso lder Rodrigo, solitrio como
um coiote. O nosso caubi foi atravessando as semanas, ouvindo mais do que
falando e quem diria chegou at aqui, bem pertinho da grande final.).
Indiferente/no cria vnculos: (13/07 Pedro Bial pergunta se Rodrigo
250
tomou a deciso com a cabea ou com o corao e ele responde: Mais com
a cabea, certo? Porque no estgio que a gente est aqui s ns quatro, o
corao, acho que pra gente no funciona muito, (...) a gente tem que usar
uma estratgia de uma forma que mais para frente eu possa ter mais chance).
Individualista: (21/05 Rodrigo: Cada um lava seu prato). Plstico:
(18/05 Rodrigo faz strip-tease, 28/05 Rodrigo no confessionrio ao ser
questionado sobre o comportamento de Thas: Eu encaro numa boa tambm,
apesar de ser chucro desse tanto eu sou at mais ou menos moderno).
Concluindo, neste momento histrico assiste-se o emergir de uma
nova gerao, cujos indivduos no se constituem a partir de identificaes
com figuras, estilos e prticas de velhas tradies, que definiam a cultura e
sim, a partir de um ideal de estilo de vida propiciado pelos signos de
consumo, objeto idealizado na sociedade contempornea. Assim, o
indivduo desta nova gerao est dotado, de acordo com Martin-Barbeto
(...) de uma plasticidade neuronal e elasticidade cultural que, embora
se assemelhe a uma falta de forma, mais abertura a formas muito
diversas, camalenica adaptao aos mais diversos contextos (2001,
p.49).
Neste sentido, o modelo identificatrio desejado e espelhado pelo
poder hegemnico atravs da mdia/TV, o do indivduo desmemoriado
que vive o eterno presente. o indivduo do aqui e agora, da indiferena, da
omisso, do culto ao heri, do salve-se quem puder. Enfim, o indivduo
plstico que se adapta a tudo sem questionar. No o sujeito comprometido
com o seu desejo, que aceita a falta e o conflito como constitutivos da
condio humana, nem o sujeito histrico que tem passado e projetos
futuros e que se enlaa no tecido social com os outros. Em outras palavras,
no o sujeito solidrio, da cooperao e do compromisso consigo prprio
e com os outros.
Referncias
Barbero, J. M, REY, G. (2001). Os exerccios do ver: hegemonia
audiovisual e fico televisa. So Paulo: SENAC.
Bordenave, J E. D. (1982). O que comunicao. So Paulo: Brasiliense.
251
Caniato, AM.P. (1999). A subjetividade na contemporaneidade: da
estandartizao dos indivduos ao personalismo narcsico. Cidadania
e Participao Social. Porto Alegre: ABRAPSOSUL, p.13-29 .
________. (1995). A histria negada. Violncia e Cidadania sob um
enfoque psicopoltico. So Paulo. Tese de Doutorado apresentada no
Instituto de Psicologia da USP.
Coelho, M. C. (1999). A experincia da Fama. Rio de Janeiro: F.G.V.
Cohn, G.(org.) (1986). Theodor W. Adorno. So Paulo: tica.
Costa, J.F. (1984). Violncia e Psicanlise. Rio de Janeiro: Graal.
Debord, Guy. A sociedade do espetculo Comentrios sobre a sociedade
do espetculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 1994.
Freud. S. (1981). El Malestar em La Cultura. Obras Completas. Tomo III.
Madrid: Biblioteca Nueva, p.3018-3067.
Freud, S. (1969). Psicologia de Grupo e Anlise do Ego. Obras Completas.
Volume XVIII. Rio de Janeiro: Imago, p.89-179.
Focault, F. (1983). Vigiar e Punir. Petrpolis: Vozes.
Guareschi, P. A (1987). Comunicao e poder. 13 ed. Petrpolis: Vozes.
Guareschi, P. A (2000). Os construtores da informao. Petrpolis: Vozes.
Laplanche e Pontalis (2001). Vocabulrio de Psicanlise. So Paulo:
Martins Fontes.
Kristeva, J. (2002). As novas doenas da alma. Rio de Janeiro: Rocco.
Lipovetsky, G. (1983). A era do Vazio: ensaio sobre o individualismo
contemporneo. Lisboa: Antropos.
Quinet, A. (2002). Um olhar a mais: ver e ser visto na psicanlise. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar.
Ramonet, L (1999). Geopoltica da f. Folha de S.Paulo. So Paulo. Folha
Especial p.2 -26.
________. (2000). Nova economia. Palavrao Revista de Psicanlise.
Curitiba: Biblioteca Freudiana de Curitiba, ano 4, n.4, p.114-117,
novo 2000. [Questes da Contemporaneidade].
252
Sodre, M. (1984). A mquina de Narciso. Televiso, indivduo e poder no
Brasil. So Paulo: Cortez.
Thompson, J.B. (1998). A mdia e a modernidade. Petrpolis: Vozes.
Zenidarci, A. (2002). Cmeras e curiosidade: e hora do show. Viver. So
Paulo: Comportamento, p.34 36.
253
A tica na escuta psicolgica: o atendimento inicial e a fila de espera
Carmen L. O. O. Mor
1
Aline Rssel
Naiane Carvalho Wendt
Vanessa Silva Cardoso
2
Introduo
O aumento da demanda por atendimento psicolgico, os novos
contextos e realidades que hoje se impem Psicologia, exigem um
necessrio e imprescindvel redirecionamento das reais possibilidades de
atendimento, no sentido da busca da eficcia e contextualizao das aes
de interveno, principalmente nas instituies pblico-comunitrias e/ou
de atendimento gratuito comunidade.
A finalidade desse redirecionamento o de gerar condies para uma
escuta do outro na sua alteridade, visando acolher as necessidades das
pessoas de forma contextualizada, evitando assim, situaes que se situam
diretamente no campo da tica, no sentido de abrir demandas psicolgicas
pessoais que no as solicitadas.
O crescimento da procura por atendimento psicolgico, tanto em
clnicas-escolas das instituies de ensino no Brasil, assim como no servio
pblico (postos de sade, NAPS, CAPS), tem trazido tona uma realidade
de atuao para o psiclogo, que implica uma necessria reflexo dos
parmetros que sustentam o campo da produo cientfica, no somente na
rea da Psicologia Clnica, mas da Cincia Psicolgica em si. A este
respeito Mor (2000), tendo como referncia seu trabalho de atuao em
comunidades, afirma:
Assim, os aspectos epistemolgicos, terico-metodolgicos e a
dimenso tica neles presentes, so nveis de anlise que desafiam a
problemtica de estar repensando o fazer da Psicologia e as
dificuldades que surgem da necessidade de satisfazer demanda, de
um modo mais contextualizado e eficiente (p.3).
1
Prof. Dr. Carmen L. O. O. Mor. Departamento de Psicologia CFH Universidade
Federal de Santa Catarina.
2
Acadmicas de 10 fase do Curso de Psicologia UFSC.
254
A autora acima, tambm chama a ateno para o contexto de atuao
do psiclogo, como um campo de possibilidades para ressignificar as
prticas, no sentido que os contextos se configuram como um caminho que
leva construo de leituras diferentes e possveis, dimensionando e
enriquecendo a prtica psicolgica.
Especificamente no contexto da clnica-escola, aspectos em comum
so apontados pela literatura de um modo geral, tais como, a inadequao
dos modelos terico-metodolgicos s caractersticas das demandas
especficas, falta de recursos humanos e materiais para atender ao aumento
da demanda. Consequentemente, hoje a possibilidade de se conseguir um
espao de escuta nesses locais, atravs de um atendimento inicial para
depois enfrentar filas para tratamento, que podem levar aproximadamente
um ano ou mais de espera.
O questionamento que surge : Como pensar a tica nessas
condies? Como se constituir como sujeito tico, diante dessas realidades
que se desenham no nosso campo de atuao? Como responder a estes
questionamentos? Ou em outros termos, para que serve pensar na tica em
condies de atuao que no sustentam a conservao da sade?
Isto nos remete diretamente ao nosso Cdigo de tica e a seus
princpios fundamentais, II; III e IV, nos quais se afirma que o psiclogo
baseia seu trabalho no respeito dignidade humana do indivduo como
pessoa e procurar sempre promover o bem estar das pessoas, devendo
sempre desenvolver o sentido de sua responsabilidade profissional atravs
de seu aperfeioamento cientfico (p.3).
Assim, entendemos a tica como uma prtica e exerccio de reflexo
constante a respeito das nossas aes e no simplesmente uma teoria que
alude a um conjunto de preceitos, para evitarmos cair em situaes de des-
confirmao do sofrimento psquico das pessoas que solicitam ajuda, pela
primeira vez, mobilizando demandas que passaro por um longo momento
de espera at que possam ser acolhidas novamente.
Acreditamos que pensar a partir do campo da tica , de certo
modo, superarmos o campo das habilidades tcnicas e abrirmos um
espao para esclarecer o que est implcito em nossos fazeres, oferecendo
elementos de anlises que nos auxiliariam a elucidar qual a nossa
255
posio, enquanto agentes de sade, em termos das escolhas que fazemos
para nortear nossa atuao.
A cincia hoje nos desafia a aceitar e trabalhar na produo de
conhecimento nas dimenses da complexidade, da imprevisibilidade e da
intersubjetividade. Isto significa a superao dos antagonismos e diferenas,
aspectos muito presentes na viso tradicional das cincias e do
reconhecimento de que a realidade de fato construda ou constituda pelo
observador e pelas escolhas que este faz. Com relao a isto o pensamento
de Vasconcellos (1995) sintetiza, no nosso entender, as reflexes tericas
relacionadas aos questionamentos sobre a cincia contempornea e os
novos delineamentos paradigmticos:
Essa ideia de escolha se associa ento ao princpio da
complementaridade com a crena subjacente de que a realidade
demasiado rica, cheia de relevos complexos e que um s projetor no
poderia ilumin-la em sua totalidade (...) o conhecimento surge das
distines que o observador faz, e este, pois, que constitui a
realidade. A realidade s existe a partir da pergunta do observador
sobre ela. A atividade cientfica consistir em tentar responder a essa
pergunta (p.65).
Assim, inseridos nesse olhar novo-paradigmtico que aponta na
direo de uma interveno ancorada nas vozes do contexto, no intuito de
captar a complexidade das situaes humanas; este trabalho visa analisar a
questo das filas de espera nas instituies de ensino superior, visando
provocar ou incitar a reflexo em torno do conjunto de aspectos que
convergem no campo da interveno psicolgica e de nossos modelos de
atuao, objetivando a ressignificao dos mesmos luz das realidades
atendidas.
Fundamentao terica
Assistimos hoje na cultura contempornea a presena da pluralidade,
a diversidade de eixos problemticos, a necessidade de articular as
diferenas, diante de uma realidade em que a complexidade a marca
predominante. De certa forma assistimos ao trmino da viso determinista,
linear, homognea, presente na viso tradicional, dando lugar a um tempo
de dvida e descontinuidade das aes, alm da necessidade de dilogo na
busca de um sentido em comum, com as realidades em que vivemos.
256
Fuks (1992) nos chama ateno para a possibilidade de
ressignificao das nossas interrogaes, surpresas e incertezas decorrentes
da prtica, afirmando:
Na ruptura da coerncia entre nossas teorias e nosso encaixe com as
realidades das quais somos parte onde se nota a insuficincia das
frmulas aprendidas. nessas bifurcaes que recriamos a matriz
para a criao de mapas/territrios (p.8).
Esta possibilidade de questionar conceitos j institudos e provocar a
desconstruo de sua significao original nos coloca, inevitavelmente, no
campo da tica, no sentido da responsabilidade pelas escolhas que fazemos
e, concomitantemente, pelas novas construes que favorecemos na prtica
cotidiana profissional.
A este respeito Elkain (1996) afirma sobre a importncia de respeitar
a complexidade, sem que a multiplicidade de elementos em jogo paralise
nossas intervenes e ao mesmo tempo, sobre a importncia da tica, no
sentido de que ns participamos na criao das realidades que
experimentamos e, por conseguinte, somos responsveis por elas (p.210).
Assim, ao falarmos de responsabilidades e escolhas diante das
prticas, na produo cientfica no Brasil, na dcada de 80, evidenciou-se
no campo da pesquisa o surgimento de uma srie de trabalhos cujos temas
centrais giravam em torno da atuao da Psicologia em instituies
pblicas, centros comunitrios e clnicas-escolas, que tentavam responder
as interrogaes e incertezas que esses novos espaos e demandas exigiam
da cincia psicolgica. A este respeito, Mor (2000) aponta um aspecto
diferencial importante dessa produo:
a realidade emprica adquire um status de conhecimento,
relativizando, assim, a verdade dos principais corpos tericos que
permeavam o campo psicolgico (p.17).
Um marco inicial em termos de primeiros registros sobre as prticas
de clnica-escolas foi o livro Psicologia e Instituio de Rosa Maria Macedo,
publicado em 1984 e que rene uma srie de trabalhos de pesquisadores que
evidenciam uma espcie de radiografia das preocupaes diante das prticas
psicolgicas daquela dcada. Segundo a autora, essa necessidade constante de
se repensar a atuao do psiclogo se faz sentir atravs dos problemas e
dificuldades em satisfazer a demanda de atendimento psicolgico em
257
instituies. Larrabure (1984) por sua vez, destaca no seu trabalho que as
clnicas-escolas, se situam como locais de fcil acesso s diferentes
camadas sociais da populao, por prestarem atendimento gratuito e serem
reconhecidas como referncias uma vez que, esto ligadas a instituies de
ensino, dando respaldo aos profissionais que ali trabalham.
No que diz respeito, a proposta de interveno nas clnicas-escolas,
Ancona Lopes (1984) chama a ateno sobre a contradio presente nas
mesmas, no sentido de que o servio oferecido comunidade, porm, uma
grande parte da clientela no chamada ou encaminhada para fora. Dentre
os casos que so chamados, muitos desistem durante o atendimento sem
explicar seus motivos, e raramente, as clnicas podem afirmar que
realizaram um trabalho completo. Aponta-se tambm para a necessidade de
se adaptar e desenvolver tcnicas de atendimento que condizem com a
realidade da populao de nvel socioeconmico baixo, j que esta
camada da sociedade a grande clientela das clnicas-escolas do pas (p.52).
Complementando a autora acima, Larraburre (1982) aponta para um
outro aspecto: muitos dos casos que chegam s clnicas-escolas so
resultados de encaminhamentos vindos de outras instituies e, desta forma,
os pacientes caracterizam-se por no estarem realmente motivados para o
atendimento, j que muitas vezes no reconhecem sua necessidade e
desconhecem a natureza do trabalho do psiclogo. Confirmando esses
dados encontramos a pesquisa de Mor (1994), sobre a representao social
do psiclogo em centros comunitrios de sade, que alm da desinformao
dos servios especializados em psicologia, evidencia a confuso entre
atividade do Psiclogo e sua associao com hospitais e a diferena entre
psiclogo e psiquiatra. Neste sentido, faz-se necessrio um maior
esclarecimento do pedido do cliente, j que no raramente as pessoas
permanecem nas filas aguardando por um atendimento, sem realmente
saber o que lhes espera.
Desde um outro ngulo, que se soma aos aspectos acima apontados,
cabe refletir sobre o ciclo vital das pessoas que procuram atendimento.
importante ser destacado, de acordo com Carter & McGoldrick (2001) que
existem alguns sintomas e disfunes que so caractersticas do
funcionamento normal do ciclo de vida da famlia. Duque (1996) afirma
que estes sintomas e disfunes podem ser marcados por:
258
perodos de transio, de passagem, durante os quais o equilbrio e a
organizao familiar so abalados. Estes perodos caracterizam-se
por certas doses de conflitos e ansiedade provocados por abalos nas
regras e padres de funcionamento at ento estabelecidos... podendo
expressar suas dificuldades de passar de um estgio a outro (p.78).
Nesse sentido, acreditamos que o atendimento psicolgico de cunho
mais informativo, proporcionaria esclarecimento e o restabelecimento do
momento do desenvolvimento em que a famlia se encontra, no precisando
para isto, longos tempos de tratamento, conforme propostas presentes nos
modelos tradicionais.
Com relao clientela das clnicas-escolas, Silva (1984) destaca que
populaes de baixa renda tm peculiaridades em relao procura de
atendimento: 1) no tm o hbito de abordar processos internos, estando
muito mais voltados para ao, dadas as condies adversas nas quais
vivem; 2) apresentam dificuldade de expresso e compreenso a nvel
verbal intensificada, quando o tema aborda tais processos internos em
funo de sua carncia cultural e quando em confronto com o discurso
habitual do psiclogo 3) revelam-se pessoas conformistas que no
acreditam na possibilidade de reformulao e na utilidade desta, bem como
na busca de melhores condies pessoais tambm para si; 4) possuem
pequena disponibilidade de tempo; e 5) apresentam fundamentalmente um
aumento da passividade diante de uma classe social dominante representada
pelo terapeuta (p.100).
Esse conjunto de aspectos, associado postura de interveno
ancorada em modelos que no acompanharam o processo de transformaes
ou adaptaes das propostas de tratamento psicolgicas, tem como
consequncia um impacto direto na relao psicoteraputica. Segundo
Macedo (1984):
surgiram subculturas para as quais a ajuda psicolgica tem ficado a
cargo de psiquiatras e dos tratamentos medicamentosos oferecidos
pela previdncia social (...) Esse modelo tradicional tem levado a
uma relao patronal psiclogo-paciente, que foge da essncia da
atitude clnica (p.14).
As consequncias disto pode ser evidenciada no trabalho de
Larrabure (1984), no qual aponta que as evases so frequentes durante o
259
tempo de espera, pois a maioria dos clientes passa por vrias instituies,
sem receberem um atendimento efetivo (p.66).
No que se refere aos modelos de interveno especficos para os
contextos pblico-comunitrios ou clnicas-escolas encontram-se trabalhos
efetivos que apontam para as linhas das terapias focais ou estratgicas,
abordagem familiar, grupal, comunitria, tentando de certo modo,
responder s lacunas da prtica.
Um aspecto interessante a ser ressaltado e que abre caminhos para
reflexo e ampliao do campo do conhecimento apontado em artigo
publicado de Krawulski e Molinos (2000) chamando a ateno que, apesar
de ter trabalhos que sugerem a aplicao de formas alternativas de
atendimento, deixa de ser discutida a necessidade de uma recepo ou
triagem; embora mencionados estes procedimentos, os autores pesquisados
no se atm a descrever tais processos (p.108).
Na reviso de produo terica relacionada s questes da triagem ou
recepo de atendimento psicolgico, a produo muito pouca e os
trabalhos encontrados esto associados triagem psiquitrica ou no campo
da sade pblica, relacionados enfermagem e mais especificamente s
questes de acolhimento em centos de sade.
No que diz respeito a modelos de interveno psicolgicos
especficos tanto para clnica-escolas como para o atendimento comunitrio,
preocupados com a questo do acolhimento inicial e o aumento da
demanda, entre os trabalhos mais recentes encontramos o Planto
Psicolgico de Miguel Mahfoud (organizador) (1998), sendo que o mesmo
se configurou em decorrncia da constatao de um alto ndice de
desistncia por parte da clientela que busca ajuda na instituio, frente s
longas filas de espera para psicoterapia e tambm atravs da observao de
que algumas pessoas procuram a clnica em situao de emergncia (p.115).
Segundo o autor, esta modalidade de Planto Psicolgico desvincula-se da
ideia tradicional de psicoterapia a qual est atrelada ao pensamento de que
quanto mais longo o processo, maior sua eficcia. Assim o Planto
Psicolgico caracteriza-se por ser um atendimento psicolgico do tipo
emergencial, que visa atender de forma imediata a solicitao do cliente,
sem a necessidade de agendamento, atravs de uma escuta diferenciada.
260
Outra possibilidade de interveno desenha-se na tese de doutorado
de Carmen Mor (2000) na sua proposta de um modelo de sistematizao
de interveno psicolgica, junto a postos de sade comunitrios,
evidenciando caminhos possveis de serem incorporados s prticas clinicas
j existentes, visando principalmente uma escuta inicial contextualizada e
eficiente, para diferenciar qual a solicitao especfica da queixa inicial. Ao
falar de eficincia, a autora alude diretamente s possibilidades de um
modelo de interveno favorecer condies para todos os envolvidos na
situao de atendimento, de serem co-construtores das possibilidades de
mudanas e/ou tenham uma resposta para queixas, motivos da consulta.
Segundo Berlinguer (1996) a cincia o campo, por excelncia, em
que a dimenso tica tem ressurgido com fora total nos ltimos anos.
Assim, quando analisamos a produo terica percebemos realmente, que
repensar as prticas ancoradas nas teorias um exerccio constante da nossa
profisso, principalmente hoje, ao aceitarmos a recursividade das nossas
aes, na ressignificao das intervenes que realizamos. Associa-se a isto
a complexidade de aspectos que precisam ser analisados e que saem do
terreno meramente psicolgico, em termos de habilidades tcnicas para seu
exerccio. nesta fronteira e interfaces com outros aspectos e reas do
conhecimento, que influenciam diretamente nossas intervenes, que a tica
enquanto processo constante de reflexo, irrompe com fora, no sentido de
nos permitir ancorar nossas escolhas e possveis certezas enquanto
interveno.
O Servio de Atendimento Psicolgico da Universidade Federal de
Santa Catarina (SAPSI)
O SAPSI tem passado por inmeras reestruturaes desde sua criao
em 1977. No incio, atendia apenas a comunidade universitria, porm, aos
poucos passou a estender seus servios comunidade em geral, atingindo
hoje no apenas o municpio de Florianpolis, mas tambm as cidades
circunvizinhas (Molinos e Krawulski, 2000; p.105). Este servio abrangia
a elaborao de psicodiagnsticos, seleo e orientao profissional,
atendimento psicoterpico individual a adultos, adolescentes e crianas e
atendimento psicoterpico grupal a adultos e adolescentes. Alm disso,
tambm passou a desenvolver pesquisas cientficas na rea do
261
comportamento humano e a oferecer um campo para estgio e treinamento
supervisionados aos estudantes de Psicologia.
O aumento da demanda no SAPSI exigiu o redirecionamento de suas
atividades, com o propsito de um melhor acolhimento das necessidades da
comunidade. Diante disso, em julho de 1996, Molinos e Krawulski
psiclogas do Servio, sugeriram adotar uma sistemtica precisa de
procedimentos atravs da implantao de um processo de triagem, com o
objetivo de oferecer um atendimento preliminar clientela que procurava o
SAPSI, possibilitando a otimizao do fluxo de atendimento psicolgico
prestado. Alm disso, visava tambm: a) fornecer informaes sobre a
natureza, o funcionamento e as possibilidades de atendimento oferecidas
pelo servio; b) prover o devido encaminhamento para casos especficos,
em que as modalidades de atendimento realizadas na clnica no os
contemplassem; c) acolher a primeira demanda das pessoas por atendimento
psicolgico e d) reduzir o tempo de espera por atendimento (que chegava
perto dos dois anos, conforme dados de pesquisa de Molinos e Krawulski,
2000). No entanto, aps cinco anos da implantao do processo de triagem,
o SAPSI ainda convive com as filas de espera, sendo este o caminho
natural para receber atendimento psicolgico no mesmo, de certa forma,
volta-se novamente ao mesmo problema que originou a modificao da
sistematizao do acolhimento: a crescente fila de espera. Na anlise desta
problemtica (Krawulski e Molinos (2000) apontam dificuldades presentes
no servio tais como:
pilhas de fichas preenchidas, telefones e endereos desatualizados,
situaes em que os estagirios tm horrios disponveis, mas
deparam-se com a dificuldade para entrar em contato com os
pacientes sendo que as pessoas ou famlias cadastradas permanecem
espera de atendimento por aproximadamente um ano (p.107).
Esses dados evidenciam claramente, aspectos presentes no campo de
atuao que recursivamente afetam qualquer proposta de interveno, tais
como a questo da falta de recursos humanos, a questo das greves das
universidades federais e uma melhor adequao dos projetos de estgio aos
alunos enquanto formao.
Novamente, as realidades nos desafiam a pensar se a falta de
habilidades tcnicas, que parece ser o grande foco em torno das qual se
centram os esforos dos profissionais da psicologia, ou, outros aspectos que
262
de forma recursiva afetam a eficincia do conhecimento psicolgico em
termos de atuao.
Metodologia
Foram selecionados para a amostra 26 casos que estavam na fila de
espera do Servio de Atendimento Psicolgico da Universidade Federal de
Santa Catarina, obedecendo aos seguintes critrios: 1) o tempo em fila de
espera (6 meses em diante); 2) que nunca haviam sido chamados; 3) que
foram encaminhados pela triagem para serem atendidos pelo servio de
atendimento psicolgico infantil/familiar e 4) foram efetivamente
acompanhados desde o momento do primeiro contato via telefone ou
correspondncia. A coleta foi realizada de fevereiro a setembro de 2002.
Realizou-se anlise qualitativa dos dados contidos na ficha de triagem e dos
relatos trazidos pelos pacientes durante os primeiros contatos e/ou incio do
processo de interveno psicolgico, sendo os dados agrupados em torno de
categorias.
Caracterizao dos participantes da amostra
Em relao renda familiar das famlias e/ou pessoas atendidas,
cerca de 46% recebiam de 200,00 a 600,00 reais mensais. Considerando
que a quantidade de pessoas por famlia era de 2 a 6 respectivamente. No
que diz respeito instruo, a maioria da amostra, tinha instruo primaria
completa e incompleta, sendo que as solicitaes de ajuda iniciais eram, na
maior parte, figuras femininas (mes, tias ou avs).
Anlise e discusso dos resultados
Os dados da pesquisa, transformados em grficos para sua melhor
visualizao, evidenciam num primeiro momento o tempo em fila de espera
da amostra pesquisada, sendo que, 84% da mesma distribuiu-se nos
primeiros 13 meses. (Fig.1)
263
Figura 1 Tempo em espera para o incio do processo de
interveno teraputica
Ao entrarmos em contato, como os participantes da amostra, seja
atravs de telefone, correspondncia ou no incio do processo
psicoteraputico, verificamos nos dilogos iniciais, antes de explicitar
novamente a queixa principal ou a modificao da mesma, depoimentos que
expressavam sentimentos de surpresa, certa ironia e at desconfirmao,
presentes nos entrevistados, que de certa forma nos afetavam
recursivamente, gerando uma sensao de desconforto ou constrangimento.
Para exemplificar esta anlise destacamos frases dos participantes,
que quando contatados via telefone, respondiam:
Ah! da universidade (...) Pensei que no iam me chamar mais (...)
ou,
No preciso mais, essa loucura j passou. Porque sabe, n? Pobre no
tem depresso, fica louco, mais obrigada, n?
264
Ou ento:
Falei com a minha filha, ela diz que no quer ir, j fui atendida no
hospital com ela e ela no quer mais.
Associadas a essas frases, encontram-se situaes em que as pessoas
aceitavam a ideia de iniciar o tratamento, porm, faltavam no primeiro
encontro ou no retomavam o contato feito, para confirmar o novo
atendimento, a fim de dar incio de proposta de interveno, conforme a
nossa solicitao. Cabe apontar aqui tambm, que algumas pessoas
relatavam que se sentiam aliviadas de suas angstias, aps primeiro
atendimento inicial, porm faltavam ao agendamento proposto. Isto nos levou
a pensar em vrias hipteses, uma delas foi a diminuio da ansiedade e
perda do interesse ou da motivao para a continuidade do atendimento e/ou
desconhecimento da especificidade do trabalho teraputico.
Acreditamos que esses dados deixaram em evidncia de forma
implcita os efeitos do impacto do tempo de espera nas pessoas, atravs de
sentimentos que revelavam o sentir-se negligenciadas ou esquecidas da
nossa oferta de servios. Por outro lado, e de forma paradoxal, revelaram
uma situao invertida, no que diz respeito solicitao original. Ou seja,
num primeiro momento as pessoas procuraram por ajuda e no foram
acolhidas na dimenso que elas esperavam. De forma similar, quando nos
entrvamos em contato para fazer nossa proposta de interveno, no
ramos acolhidos na forma que ns acreditvamos que poderamos ser,
gerando assim, sensaes tanto de desconforto e insatisfao das nossas
aes, como de questionamento da eficcia das mesmas, pelas
consequncias que constatvamos.
Do total da amostra, 28 % (Fig. 2) aceitaram a proposta de dar inicio
ao tratamento e continuaram at o final; 15% procurou ajuda psicolgica
em outras instituies; 42% no foram atendidos por declararam no terem
mais interesse; impossibilidade de contato ou por no terem retomado o
contato, via telefone ou correspondncia; 15% iniciou o atendimento,
abandonando antes do trmino do tratamento, caracterizando a desistncia.
Estes dados por si, geraram questionamentos diretos sobre a escuta
inicial e mais especificamente sobre qual o pedido explcito e implcito na
queixa inicialmente trazida, levando a discusso sobre a necessidade, em
termos terico-tcnicos de interveno, de uma melhor adequao da escuta
265
psicolgica, quando da recepo do paciente/famlia, de acordo com as
necessidades e caractersticas dos mesmos.
A importncia da escuta inicial desenhou-se como um ponto de
convergncia dos dados, apontado j na literatura por Mor (2000) e foi no
sentido de desvendar por exemplo, se as queixas iniciais eram do terreno
exclusivamente psicolgico, ou de necessidade de informao a respeito de
problemas do cotidiano; ou de esclarecimentos de especificidades
profissionais; ou de orientao, que se resumiu a uma consulta s, no
havendo necessidade de retorno. Assim, percebemos que a nfase na
melhor discriminao torna a escuta inicial num instrumento estratgico de
anlise, auxiliando na definio da mesma e gerando propostas de
interveno condizentes com as necessidades das pessoas.
Figura 2 Incidncia dos casos
Constatamos tambm as caractersticas prprias da populao que
procura atendimento em espaos pblico-gratuitos e j apontadas na
literatura (Larrabure, 1984; Macedo, 1984; Mor, 2002) tais como:
dificuldades econmicas na luta pela sobrevivncia, baixa escolaridade e de
estar orientadas para a ao, adotando uma postura de submisso, negando
seus prprios saberes e delegando as responsabilidades dos seus atos ao
266
profissional e quando no encontra essas respostas prontas, a tendncia de
desistir do tratamento. Esses dados necessitam ser mais bem explorados,
para termos claro qual o impacto dos mesmos no pedido inicial.
A evidncia de maior porcentagem de queixas tidas como sociais, de
acordo com nossa categorizao, (Fig. 3) bem como, do significativo
nmero de casos em que houve mudana ou desaparecimento da queixa,
constatados ao entrarmos em contato com as pessoas aps o tempo de
espera, seja por telefone ou no primeiro encontro da proposta de
interveno, contribuiu para acreditarmos que o momento de vida em que a
pessoa solicitante se encontrava ao procurar ajuda, sofreu alteraes durante
o tempo de espera, o que tambm veio a colaborar para a desistncia inicial
da proposta, ou para seu abandono logo aps a mesma ter sido iniciada.
Figura 3 Classificao das queixas iniciais apresentadas pelos
sujeitos da amostra
Os dados acima foram aspectos que influenciaram diretamente a
construo da aliana teraputica, base principal de nosso trabalho, tais
como a desmotivao pelo desaparecimento ou mudana da queixa e a no
compreenso e/ou desinteresse na proposta. Ou seja, evidenciou-se a perda
do sentido da significao do pedido inicial, criando condies difceis para
267
a construo de um campo de sentido em comum das aes, tanto para as
pessoas, como para nos proponentes da interveno.
Para a anlise das queixas iniciais, (Fig.3) no momento da triagem
foram classificadas em categorias propostas por Anthony (1975). Dos casos
acompanhados, 38% trouxeram queixas tidas como sociais, exemplificadas
atravs de dificuldades de relacionamento, econmicas, sexuais, questes
de gnero e trabalhistas. As queixas denominadas afetivas tambm tiveram
uma frequncia considervel, 35% do total. Nesta entraram
comportamentos como temores, ansiedade, depresso-elao, vergonha-
culpa e nojo. Na categoria das queixas de ordem cognitiva foram
classificados comportamentos relacionados ao pensamento, memria,
aprendizagem, orientao e testes de realidade. A categoria funcional abarcou
dificuldades relacionadas alimentao, eliminao, sono, movimentao e
fala. E por ltimo, a categoria das queixas integrativas, onde o parco
controle dos impulsos, baixa tolerncia frustrao, rigidez-estereotipia,
enfrentamento inadequado e desorganizao foram considerados.
A importncia da compreenso do ciclo vital das pessoas e as
modificaes da estrutura familiar foram elementos importantes que se
configuraram a partir da anlise da queixa inicial, atravs de suas categorias
e as mudanas acontecidas. (Fig.4). Observamos modificaes da estrutura
familiar tais como: separao dos pais, a morte de um membro da famlia, a
sada ou entrada de um membro na famlia. Essas mudanas no ciclo de
vital, conforme apontado na literatura, Carter & McGoldrick (2001);
Duque, (1996) faziam parte do processo de desenvolvimento da estrutura
familiar ao longo do tempo e que em determinados momentos as pessoas
depararam-se com a necessidade de adaptao nova configurao do
sistema familiar. Assim, a anlise estratgica da escuta inicial, conforme
mencionado anteriormente, contextualizado no ciclo vital das pessoas, nos
localizou no tipo de proposta a ser oferecida para as pessoas. Estes aspectos
tambm corroboraram a possibilidade de um Planto Psicolgico, proposta
por Mahfoud (1998).
268
Figura 4 Alteraes da queixa inicial ao longo do tempo em espera
Discorremos at agora sobre aspectos significativos observados na
pesquisa, no campo especfico da interveno psicolgica, por ocasio da
escuta inicial, tentando responder aos questionamentos das nossas
intervenes, no entanto, no podemos deixar de mencionar o aspecto
institucional, que estava permeando nossas aes, o qual tinha
consequncias diretas sobre as mesmas, enquanto propostas.
O SAPSI, embora tendo uma diversidade de proposta de projetos de
ofertas de servio comunidade, convive com uma srie de problemas de
ordem institucional. Ao nvel dos recursos humanos, destacamos a falta de
reposio dos mesmos, pela no abertura de concursos seja de psiclogos,
como de professores supervisores nas diversas reas de oferta de servios.
Tambm as greves, que afetaram tanto a comunicao com a comunidade,
assim como, geraram a interrupo nos processos em andamento, devido
falta de condies, em termos de local para atendimento. Do mesmo modo,
evidenciamos que a quebras de calendrio acadmico, semestre aps
semestre, afetaram s intervenes atreladas aos estgios, quando as
mesmas no eram bem planejadas ou articuladas entre professores, alunos e
usurios e pela mudana de estagirios nos processos de interveno.
Acreditamos que estes aspectos afetavam a proposta de interveno,
269
gerando confuso na comunicao, incidindo na no compreenso das
aes, levando por consequncia desistncia. Em termos de local de
atendimento convivemos com a falta de verbas para uma melhor adequao
das salas de atendimento e diante da falta de materiais, recorramos
improvisao e criatividade para gerar condies prximas a um
atendimento adequado ao processo proposto.
Assim, observamos nesta pesquisa, a emergncia de dados
significativos que ampliaram as possibilidades de uma escuta inicial e que
ns denominados de uma escuta estratgica no sentido de melhor acolher
os dados, que de forma implcita ou explcita, estavam presentes no campo
de interveno, para assim poder ancorar nossas propostas. No processo
constante de analisar nossas aes luz das realidades atendidas,
concordamos com Vasconcellos (1995) quando nos chama ateno do olhar
da cincia contempornea sobre a realidade, afirmando que a mesma
muito rica e diversa e que s um aspecto no poderia contempl-la. A
realidade, ao se revelar rica, complexa e exposta a mudanas exigiu ateno
especial, no sentido de estarmos atentos ao que Elkain (1997), denominou
de perigo de cair na paralisia das aes, afetando a eficcia das mesmas,
no que diz respeito a ficarmos presos diversidade de aspectos que
convergem na anlise das nossas aes.
Assim, percebemos que os dados at aqui apontados, nos desafiam na
complexidade de fatores que se afetam mutuamente, presentes no campo de
interveno psicolgicos e s vezes difceis de serem percebidos pelos
profissionais. Observamos que, quando no analisados em seu conjunto,
afetam diretamente qualquer proposta de interveno psicolgica, gerando
situaes como as da fila de espera, situao que no nosso entender de
real desconfirmao do outro na sua condio de ser humano que sofre e
solicita ajuda para tal condio.
Entendemos que se faz necessrio ampliar a discusso em torno das
consequncias da oferta de servios psicolgicos nos espaos pblicos, que
consideramos vai alm, tanto dos modelos especficos de atendimento
psicolgico, como da qualidade dos servios prestados comunidade pelas
clnicas-escolas.
Acreditamos que o campo da tica se constitui como um lugar de
encontro dos diversos fatores que convergem nas nossas aes de
270
interveno, no sentido que favorece as escolhas que devemos fazer para
melhor abordar as queixas das pessoas, contribui efetivamente para sermos
cientes que a procura por respostas ser um caminho rduo e constante e
que devemos conviver e aceitar, em termos de desafio constante, as
situaes de desconforto e insatisfao que nossas aes nos provocam,
sabendo e que nunca recolheremos perfeitamente a pluralidade das
experincias em que estamos imersos.
Evidenciar o desconforto das consequncias de nossos atos, significou
aprender com o mesmo, para poder construir um fazer psicolgico ancorado
em princpios ticos que no nosso entender, caminha sempre no acolhimento
de outro na sua alteridade, abrindo possibilidades efetivas, tanto para a
promoo da sade como para a manuteno da mesma.
Consideraes finais
A partir dos dados do presente trabalho visualizamos algumas
possibilidades de contribuio para uma maior agilidade de atendimento,
assim como para a melhoria da qualidade dos servios prestados
comunidade:
1. A necessidade de aumento dos recursos humanos, tanto de estagirios
quanto de professores, supervisores e profissionais;
2. Treinamento especfico dos recursos envolvidos para uma escuta mais
focal e estratgica das queixas, seja ela ao nvel individual, familiar e
grupal;
3. Fomentar a realizao de grupos teraputicos; e
4. Realizar planto psicolgico para emergncias e orientao.
Finalmente, acreditamos que a procura por respostas aos
questionamentos das nossas prticas deve ser um compromisso tico,
evitando assim, situaes que se inserem diretamente no campo da tica da
escuta do outro.
271
Referncias
Ancona-Lopez, M. (1984). Atendimento psicolgico em clnicas-escola. In:
Macedo, R, (org). Psicologia e Instituio: Novas formas de
atendimento. (p.47-61). So Paulo: Editora Cortez.
Anthony, E.J. (1975). Distrbios de comportamento na infncia. In:
Mussen, P.H. Carmichael. Psicologia da Criana. So Paulo, EPU-
EDUSP.
Berlinguer, G. (1996). A tica da sade. So Paulo: Hucitec.
Carter, B.; Mc Goldrick (1995). As mudanas do ciclo vital de vida
familiar. Porto Alegre: Artes Mdicas.
Cdigo De tica Profissional Dos Psiclogos. (2002). Conselho Federal de
Psicologia.
Duque, D. (1996). Crises normais do ciclo de vida familiar. In: Revista
ABAG, vol.5 (p.78-86).
Elkain, M. (1996). Nos limites do enfoque sistmico em psicoterapia. In:
Novos paradigmas de cultura e subjetividade. (p.205-215). Porto
Alegre. Artes Mdicas.
Fuks, S. (1992). Cambio y complexidade em terapia. Trabalho apresentado
no III Encontro nacional de terapeutas de famlias. Braslia.
Krawulski, E.; Molinos, B.G. (2000). Implantao de um processo de
triagem no Servio de Atendimento Psicolgico da UFSC-SAPSI. In:
Revista de Cincias Humanas, (p.103-115) Florianpolis: EDUFSC,
n. 27.
Larraburre, S.A.L. (1984). Grupos de espera em Instituies. In: Macedo,
R.S.M. (Org.) Psicologia e Instituio: Novas formas de
atendimento. (p.63-84) So Paulo: Editora Cortez.
Macedo, R.S.M. (Org.) (1984). Psicologia e Instituio: Novas formas de
atendimento. So Paulo: Editora Cortez.
Mor, C.L.O.O. (2000). Atendendo demanda: proposta de um modelo de
sistematizao de interveno psicolgica junto a postos de sade
272
comunitrios. Tese de Doutorado. Pontifcia Universidade Catlica
de So Paulo.
More, C.L.O.O. (2001). A Representao Social do Psiclogo e de sua
prtica no espao pblico-comunitrio. In: Paideia, 11(20), 85-98.
Silva, O. V. M. (1984). Grupo estruturado de vivncia para pais. In:
Macedo, R.S.M. (Org.) Psicologia e Instituio: Novas formas de
atendimento. (p.99127). So Paulo: Editora Cortez.
273
PSICOLOGIA E RELAES DE GNERO
A constituio do sujeito excludo catador de material reciclvel e a
construo da sua cidadania
Daiani Barboza
1
Este artigo se prope a analisar a constituio do sujeito excludo
catador de material reciclvel (M.R.) em Cricima, no sul de Santa
Catarina, buscando focalizar alguns aspectos acerca de seu movimento de
impotncia e/ou potncia de ao na constituio da sua cidadania, temtica
tratada na minha pesquisa junto linha de pesquisa Prticas Sociais e
Constituio do Sujeito no Programa de Ps-Graduao em Psicologia
Mestrado em Psicologia, da Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC. Cabe registrar que as reflexes apresentadas neste artigo pautam-se
nos referenciais tericos e metodolgicos da Psicologia Social Comunitria.
Comunidade entendida aqui sob a tica de Sawaia (1997), sendo concebida
no como espao fsico, geogrfico, ou tnico, mas como utopia.
Espao-tempo com qualidade de favorecimento do exerccio de
autonomia, onde as identidades tornam-se crioulas sem perder o
sentido de si e do outro, para poder dispor de si para si e para o outro.
(...) Ao se qualificar de comunitria a prtica se volta mediao
entre a universalidade tico-humana e a singularidade do gozo
individual e intersubjetivo e se prope trabalhar o pblico no privado
e o privado no pblico, bem como o pessoal como poltico e o
poltico como pessoal (p.86).
Trazer como foco de anlise a dimenso da constituio da
subjetividade do sujeito excludo, considerando e contextualizando o
processo dialtico da excluso/incluso, significa contribuir no campo da
Psicologia, com a construo de uma prxis pautada na tica e na
emancipao humana. Baseia-se tambm na busca da construo de uma
cincia comprometida com a realidade social e com as transformaes
socioculturais, pois, conforme Santos (1989/2000), preciso construir uma
1
Psicloga, professora na UNESC e mestranda em Psicologia pela UFSC, junto a linha de
pesquisa Prticas Sociais e Constituio do Sujeito.
274
cincia que se paute na linguagem do nosso cotidiano, que rompa com a
dogmtica da cincia positivista, dialogando com o mundo criticamente,
com vistas a transform-la. Segundo este autor, torna-se necessrio
transformar a cincia, de um objeto estranho, distante e
incomensurvel com a nossa vida, num objeto familiar e prximo,
que, no falando a lngua de todos os dias, capaz de nos comunicar
as suas valncias e os seus limites, os seus objetivos e o que realiza
aqum e alm deles, um objeto que, por falar, ser mais
adequadamente concebido numa relao eu-tu (a relao
hermenutica) do que numa relao eu-coisa (a relao
epistemolgica) e que, nessa medida, se transforma num parceiro da
contemplao e da transformao do mundo. Compreender assim a
cincia no fund-la dogmaticamente em qualquer dos princpios
absoluto ou a priori... Ao contrrio, trata-se de compreend-la
enquanto prtica social de conhecimento, uma tarefa que vai
cumprindo em dilogo com o mundo e que afinal fundada nas
vicissitudes, nas opresses e nas lutas que o compem e a ns,
acomodados ou revoltados (Santos, 2000; p.13).
Enfocar desta forma a temtica da constituio do sujeito excludo
implica romper com quaisquer concepes estticas, dicotmicas, abstratas
ou fetichizadoras acerca da excluso e da constituio do sujeito. Portanto,
torna-se fundamental compreender o processo histrico no qual a excluso
ocorre e quais as suas implicaes nas relaes que o sujeito constri
consigo mesmo e com os outros. Estudar seu movimento de enfrentamento
da sua condio de excluso ou de sua impotncia para lutar na busca de
formas de superao desta de suma relevncia para a Psicologia. Paugam
(1999) em seus estudos sobre excluso considera que a pobreza est sendo
revestida de um status social estigmatizado e desvalorizado, sendo vtima
de um processo de desqualificao social e vista como uma categoria
homognea, cuja concepo desconsidera a singularidade dos sujeitos e de
suas histrias de vida. Para o autor,
toda definio esttica da pobreza contribui para agrupar, num
mesmo conjunto, populaes cuja situao heterognea, ocultando
a origem e os efeitos a longo prazo das dificuldades dos indivduos e
de suas famlias (p.68).
Dessa forma, conceber a heterogeneidade destes atores sociais
imprescindvel nos estudos, nas pesquisas e nos diversos trabalhos com
275
excludos, pois do contrrio se consideraria a pobreza meramente como
estatstica e/ou massa homognea.
Cumpre dizer que meu trabalho de pesquisa junto aos catadores vem
acontecendo concomitantemente com meu envolvimento no projeto Ao
comunitria junto aos catadores de material reciclvel Desafios
construo da cidadania, da democracia e incluso social, desenvolvido
interdisciplinarmente pelos departamentos de Administrao, Direito,
Engenharia Ambiental, Medicina, Psicologia e Cursos Sequncias da
Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC, que
supervisionado pela sua Diretoria de Extenso e Ao Comunitria, no qual
atuo na condio de coordenadora. O trabalho visa contribuir com a
construo da cidadania dos catadores de material reciclvel de
Cricima/SC em seus aspectos objetivos e subjetivos. Por meio da
reconstituio de um processo cooperativo, mais especificamente, pretende-
se contribuir com melhorias nas condies de vida dos catadores de
material reciclvel. Para tanto, o projeto viabiliza a construo de espaos
de encontro e dilogo junto aos catadores, fortalecendo os laos
comunitrios e enfatizando a tica, a democracia e a emancipao humana
como referenciais fundamentais para a construo de uma cultura
cooperativista. Evidencia-se o cotidiano como fundamental para a
construo de outras formas de comunicao, pautadas no dilogo e na
constituio de sujeitos abertos alteridade, tendo em vista potencializ-los
na busca por solues para os problemas enfrentados. O trabalho
desenvolvido est em consonncia com as diretrizes do Movimento Nacional
dos Catadores e o Programa Nacional Lixo e Cidadania, desenvolvido por
iniciativa do UNICEF e que se iniciou em junho de 1999 com a campanha
Criana no lixo, nunca mais, vinculada ao Frum Nacional Lixo e
Cidadania. O Programa Nacional Lixo e Cidadania tem por objetivo
principal a erradicao do trabalho infantil, incentivando a organizao dos
catadores em associaes e cooperativas, tendo em vista qualific-las
profissionalmente, bem como torn-las parceiros prioritrios em programas
municipais de coleta seletiva, o que facilitaria aos municpios a erradicao
dos lixes e a recuperao ambiental das reas degradadas (Abreu, 2001).
No que se refere configurao de um processo cooperativo, o
enfoque adotado pauta-se nos referenciais construdos a partir do
cooperativismo popular, que surgiu do movimento operrio. Entende-se o
276
cooperativismo e as formas de associativismo popular no como espaos
meramente institucionais, mas como espaos cotidianos de construo de
prticas democrticas baseadas na tica, na solidariedade e na emancipao
humana. Transcende a institucionalizao e as estruturas formais, sendo
respaldado na cotidianidade e na superao do individualismo, do
particularismo e do autoritarismo que permeiam as relaes cotidianas
(Barboza, 2001). Nesse sentido, ao se falar em organizaes cooperativas e
associativistas, adotam-se as relaes cotidianas como foco da anlise para
a compreenso da cidadania e da democracia. Portanto, a cooperao, a
tica, a cidadania e a solidariedade no so concebidas aqui como formas de
institucionalizar perspectivas de incluso, mas consistem em um projeto
poltico social voltado para a transformao das relaes cotidianas e para a
construo de uma sociedade plural, democrtica e cidad.
Sobre as relaes dos catadores com os processos cooperativos, cabe
lembrar que os catadores de M.R. em Cricima viveram uma experincia de
cooperao anteriormente, que colaborou significativamente para a
elaborao de referenciais negativos sobre o cooperativismo. A ex-
cooperativa, fundada em 1994, possuiu sede desde 1998, mas devido a
srias irregularidades foi destituda de qualquer possibilidade de
funcionamento em 2001, sendo que o local veio a ser administrado pela
Prefeitura Municipal de Cricima, passando a funcionar como Centro de
Triagem de Resduos Slidos. O processo histrico da referida cooperativa
foi marcado pelo clientelismo, pela centralizao de poder por parte da
diretoria, pela falta de clareza no que dizia respeito s questes contbeis e
administrativas, assim como pela ausncia de significaes por parte dos
associados sobre a cultura cooperativista. Para a maioria dos associados, ser
scio consistiu em ter possudo um crach e ter vendido seu material para a
cooperativa. A gesto aconteceu sem a participao dos associados no
processo de decises, o que gerou significaes acerca do processo
cooperativo por parte dos catadores como um processo pautado no
autoritarismo, na centralizao de poder, no continusmo das incertezas
quanto busca dos materiais coletados por eles sem dias preestabelecidos,
na manuteno de valores baixos pelo seu material coletado, assim como no
desrespeito e na desqualificao social. Tal vivncia contribuiu para a
desesperana no que se refere a melhorias em suas condies de vida e para
a fomentao de um sentimento e de um movimento de impotncia na
construo da sua cidadania. Pde-se constatar nas reunies, visitas
277
domiciliares e nas conversas informais com os catadores que o descrdito
que emerge de seu contexto relacional em torno das possibilidades de sua
organizao cooperativa apresenta-se vinculado experincia anterior.
Para poder compreender o cenrio no qual se constituem os catadores
enquanto atores sociais, preciso considerar o contexto em que esto
imbricados em seus aspectos macro e microssociais. Ser catador para eles
no implicou uma escolha entre muitas possibilidades, mas uma alternativa
diante das necessidades de sobrevivncia, da situao de desemprego e
muitas vezes de miserabilidade. Eles so vtimas dos efeitos excludentes da
globalizao neoliberal. Evidencia-se na realidade social brasileira a
diminuio paulatina do papel do Estado na rea social, o que vem elevando
os ndices de desemprego e subemprego, com o consequente agravamento
da excluso social (Barboza, 2000). Intensifica-se cada vez mais o nmero de
pessoas que se encontram excludas do processo formal de produo,
buscando envolver-se com atividades informais como forma de garantir a sua
sobrevivncia. Conforme Paugam (1999) toda essa situao de degradao do
mercado de trabalho, de estigmatizao em torno da pobreza, isolamento,
fragilizao dos vnculos, ruptura e dependncia via assistncia social
constituidora de um processo de desqualificao social, que humilhante e
desestabiliza o ser humano em suas relaes com os outros e consigo
mesmo. Entende-se que estes so aspectos constitutivos do movimento de
impotncia de ao dos catadores na construo da sua cidadania.
O contexto em que vivemos, sob a gide do capitalismo e imersos
nesta aldeia global, permeia a histria e as relaes cotidianas. Os
sujeitos, excludos ou includos na lgica da globalizao da economia,
encontram-se submersos nas problemticas e questes impostas por ela.
Heller (1970/2000) aponta que as circunstncias e o contexto social so
determinantes que interferem na constituio do sujeito: Essas
circunstncias determinadas, nas quais os homens formulam finalidades,
so as relaes e situao scio-humanas, as prprias relaes e situaes
humanas mediatizadas pelas coisas (p.1). A seu ver, a histria a
substncia da sociedade, portanto este processo constitudo e constituinte
do homem, que produto e produtor da sua histria.
O cotidiano e a histria so espaos onde se d a construo da
subjetividade dialeticamente. O sujeito e a subjetividade se constituem na
relao com o outro, consigo mesmo, com o mundo, enfim constitui-se no
278
campo da intersubjetividade. O intrapsicolgico se d na fronteira com o
interpsicolgico, ou seja, nada intrapsicolgico sem ter sido construdo
antes no campo da intersubjetividade. Assim, na perspectiva de Vygotsky
trabalha-se com a concepo de condio humana ao invs de natureza
humana, pois o sujeito no a priori, ele se constitui nas relaes sociais.
Destaca-se assim a dimenso inextricavelmente social do que se
caracteriza como singular. Ou seja: no h um eu enquanto entidade
metafsica, pois este s a partir do outro, do que o constitui e que
por ele constitudo. Mais ainda: s me reconheo enquanto eu a partir
de outros eus, embate que constante, posto que a diferena e a
diversidade pautam o humano. Porm, o embate se configura na
medida em que reconheo esse no-eu e o significo de algum modo,
seja rechaando, ignorando, aproximando ou identificando-me com
ele, em um movimento que vincula o no-eu ao eu e o eu ao no-eu
(Zanella, Balbinot & Pereira, 2000, p.244).
Assim sendo, no podemos dicotomizar a objetividade da
subjetividade, pois dessa forma estaramos fadando o objetivo e o subjetivo
a entidades abstratas, distantes, desconsiderando a ,historicidade das
relaes sociais, da constituio do sujeito e da sociedade. E nessa contnua
interao, mediada pelos significados construdos, veiculados e apropriados
no cotidiano e na histria a partir de determinadas condies objetivas, que
os atores sociais se constituem. De acordo com Molon (1999),
a subjetividade manifesta-se, revela-se, converte-se, materializa-se e
objetiva-se no sujeito. Ela processo que no se cristaliza, no se
torna condio nem estado esttico e nem existe como algo em si,
abstrato e imutvel. E permanentemente constituinte e constituda.
Est na interface do psicolgico e das relaes sociais (p.143-144).
Na perspectiva de Vygotsky, conforme Molon (1999), as relaes
sociais se convertem em fenmenos psicolgicos atravs da mediao
semitica, ou seja, atravs dos signos, que so construdos socialmente via
atividade humana. O intrapsicolgico se constitui na interface com o
interpsicolgico, portanto mediado semioticamente, no como algo que se
sobreponha, mas como resultado da apropriao, pelos sujeitos, dos
significados construdos e veiculados no campo da intersubjetividade, ou
seja, na relao consigo mesmo, com o outro, com a realidade. Os signos
so apropriados pelos sujeitos, singularizando-se e sendo constituintes do
intrapsicolgico, que por sua vez no mero resultante da introjeo do
279
social, mas sim um significado que apropriado e constitudo mediado pelo
social e que portanto, segundo Vygotsky, implica um quase-social. Nesse
sentido manifesta-se Zanella (2000):
Solo hay cultura como resultado de la accin de hombres concretos
que organizan de forma singular su vivir y lo representan
simblicamente, as como ayos otros y a s mismos. Esa misma
accin humana productora de cultura es productora de los propios
hombres, de su psiquismo, humanidad y singularidad, puesto que lo
que la caracteriza es el hecho de ser mediada por herramientas
tcnicas y representacionales-los signos. Estos a su vez son
socialmente producidos y transformados y, en el movimiento de la
accin emprendida su significacin es particularmente apropiada, en
contextos histricos especficos. Siendo el signo una produccin
social, una vez tornado propio, sigue marcado por la dimensin
pblica, lo que torna al mismo tiempo singular y colectivo (p.77-78).
A constituio do sujeito catador de material reciclvel se d
dialeticamente, a partir de um processo que histrico, simblico, poltico,
econmico e cultural. Seu movimento, seja de potncia ou impotncia de
ao na construo da sua cidadania, pauta-se numa processualidade e
numa historicidade, no podendo ser concebido como decorrente da sua
natureza humana e sim, de sua condio humana.
O movimento de potncia e/ou impotncia de ao dos catadores na
construo da sua cidadania permeado tanto por suas condies objetivas
quanto subjetivas. O sentir-se potente ou impotente para lutar, para produzir
transformaes em suas relaes cotidianas aspecto constitutivo deste
movimento, tanto quanto as carncias materiais resultantes da desigualdade
social e da explorao econmica. Afirma Sawaia (1997):
Morre-se de fome, como, tambm, morre-se de tristeza pela carncia
de dignidade. A carncia material e a espiritual/afetiva so
igualmente criminosas. A explorao e a desigualdade social tm
mltiplas facetas. Necessidades emocionais, biolgicas e sociais se
entrelaam, negando a ciso entre fenmenos objetivos e subjetivos
(p.84).
Potencializar a construo da cidadania destes atores sociais, por
conseguinte, deve transcender a busca de melhorias em suas condies de
vida atravs de formas de organizaes que aumentem sua renda, devendo
estar intimamente atrelado construo e ao fortalecimento de vnculos
280
afetivos e sociais, ao desenvolvimento da sua capacidade argumentativa,
autonomia e auto-estima, entre outros aspectos. preciso considerar a
dimenso da afetividade e das emoes ao se pensar no processo de
construo da cidadania, pois no se pode dicotomiz-la do processo de
conscincia. Potencializar implica que dialeticamente estes atores sociais
sintam-se capazes de ir cada vez mais fazendo escolhas pautadas em
reflexes crticas acerca de seu cotidiano, ressignificando dialeticamente suas
relaes com o lixo, com o poder local, com a sociedade civil e acerca das
possibilidades concretas de sua organizao social e poltica. Que se sintam
fortalecidos para que cotidianamente possam buscar formas de superao
para os diversos modos de excluso, determinismos, estigmatizao,
massificao, autoritarismos presentes em suas histrias de vida.
O conceito de potncia de ao apresentado neste trabalho foi
desenvolvido por Sawaia (1999) a partir de sua leitura espinosiana. A seu
ver, potencializar pressupe o desenvolvimento de valores ticos na forma
de sentimentos, desejo e necessidades, para superar o sofrimento tico-
poltico (p.114). Assim, potencializar significa atuar na configurao de
formas de ao, pensamento, sentimentos que contribuam na superao do
sofrimento tico-poltico. Potencializar a cidadania destes atores sociais
implica atuar na superao de todas as formas e situaes que mutilam sua
cidadania, sua auto-estima, sua capacidade argumentativa, enfim que
inviabilizam sua potncia de ao.
A concepo de cidadania adotada neste trabalho parte da perspectiva
de Sawaia (1994), que extrapola as condies materiais e precisa ser
concebida, incorporada ao sentido de alteridade. Portanto, autonomia e
responsabilidade so aspectos constitutivos dela. Cidadania precisa ser
constituda considerando-se a heterogeneidade dos atores sociais, das
diferentes culturas, modos de ser e de se expressar, pautando-se no respeito
s diferenas e diversidade, seja de ordem tnica, social, cultural,
religiosa, etc. Cidadania nesta concepo deve possibilitar aos sujeitos
sentirem-se iguais, com os mesmos direitos, sem que por isso precisem
homogeneizarem-se nas relaes sociais. Segundo Sawaia (1994) muito
alm do conhecimento da legislao e dos direitos, cidadania est
intimamente vinculada s questes de subjetividade que potencializam o
movimento do sujeito em busca das transformaes socioculturais, da
justia e dos direitos humanos.
281
Cidadania se expressa na ao poltica, mas tambm no desejo, na
paixo e nas necessidades, sendo, cada uma delas, passagem de uma
instncia a outra. (...) Cidadania conscincia dos direitos iguais,
mas esta conscincia no se compe apenas do conhecimento da
legislao e do acesso justia. Ela exige o sentir-se igual aos outros,
com os mesmos direitos iguais. H uma necessidade subjetiva para
suscitar a adeso, a mobilizao, tanto quanto condies para agir em
defesa destes direitos (Sawaia, 1994, p.152).
Vtimas de um processo de desqualificao social, os catadores de
material reciclvel de Cricima encontram-se margem do processo formal
de produo, vivendo em condies precrias nas periferias da cidade,
sobrevivendo das sobras da sociedade de consumo, sendo constantemente
explorados pelos atravessadores e sujeitos a diversas formas de opresso e
excluso. Trabalham expostos a situaes de risco, sem a utilizao de
luvas, de sol a sol; tm de suportar o peso das cargas (h os que nem
possuem carrinho, carroa e cavalo para fazer a coleta do material
reciclvel). Neste processo de trabalhar catando lixo, sentem-se humilhados
e discriminados pela sociedade, por serem associados ao seu prprio
material de trabalho, que visto como o que pode ser jogado fora, ficar
margem, ser afastado do olhar, das narinas, distanciado do contexto das
relaes sociais. O trabalho realizado sob constante exposio ao sol; h
precariedade nas suas condies de trabalho, sendo que o peso das cargas, a
falta de cuidados com a higiene, com a alimentao, o desgaste fsico, as
preocupaes com as vendas (queixam-se que os atravessadores demoram
para buscar o material coletado por eles), com a renda familiar e com as
contas para pagar so fatores que contribuem para o aparecimento de
doenas, assim como para a constituio de seu movimento de impotncia
na construo da sua cidadania. Observa-se que quando os catadores
adoecem em decorrncia de sua necessidade de sobrevivncia, de sua
situao de subempregado, marcada fortemente pela degradao do
mercado de trabalho, no podem parar de trabalhar para cuidarem de si
mesmos, pois o sustento familiar e a sobrevivncia dependem deste
trabalho. Isso gera, muitas vezes, o agravamento do quadro, assim como
gera uma impotncia de ao no que diz respeito busca de transformaes
em suas relaes cotidianas e na melhoria de suas condies de vida. Tais
fatores vm demonstrando que esta atividade, da maneira como ocorre, no
tem propiciado uma vida saudvel a estes trabalhadores. Por isso
282
importante analisar a constituio do sujeito catador focalizando-se a
necessidade de superao de seu sofrimento tico-poltico por meio da
potencializao da sua cidadania. Cabe ressaltar que sade enfocada sob a
tica de Sawaia (1994/1995), compreendida portanto como um fenmeno
complexo, que muito alm do biolgico abrange o psicolgico e o social.
Sade uma questo eminentemente scio-histrica e, portanto, tica, pois
um processo da ordem da convivncia social e da vivncia pessoal
(p.157). Por isso, promover a sade equivale a condenar todas as formas
de conduta que violentam o corpo, o sentimento e a razo humana gerando,
consequentemente, a servido e a heteronomia (p.157). Para a autora,
sade a possibilidade de ter esperana e potencializar esta esperana em
ao (p.162). Dessa forma, entende-se que a sade no est atrelada
meramente ao biolgico: processo simblico, tico, afetivo, poltico,
social e relacional. Encontra-se, portanto, intimamente atrelada cidadania,
aos direitos humanos e justia social.
So vrias as famlias que sobrevivem da catao de material
reciclvel em Cricima e que cooperam no mbito familiar entre si na
catao, coleta, seleo e venda desses materiais. Revelam-se criativos at
mesmo na construo dos carrinhos e carroas que constroem das mais
diversas formas com os recursos de que dispem. Circulando pelas ruas das
cidades, eles lidam diariamente com os restos da sociedade de consumo e se
apresentam como o lado avesso da cultura de consumo e do processo
crescente de degradao ambiental que vem ocorrendo em todo o planeta.
Conforme Kuhnen (1995) a complexidade sociocultural e ambiental do
meio urbano decorre de um longo crescimento predatrio, tanto no que diz
respeito ao meio ambiente quanto s condies de vida da populao,
havendo uma necessidade emergente de uma postura de enfrentamento
destes problemas. O modelo de desenvolvimento e de sociedade industrial
presente na contemporaneidade suscita cada vez mais novas necessidades
de consumo, o que traz srias consequncias para o meio ambiente.
Exploram-se cada vez mais recursos naturais, em um ritmo mais
rpido do que a terra produz, gerando dejetos a uma velocidade que
no lhes permite serem absorvidos. H, portanto, um confronto entre
um consumo de bens cada vez maior e o imperativo de uma
eliminao de dejetos compatvel com o meio ambiente (Kuhnen,
1995, p.18).
283
A defesa de interesses dominantes de cunho mercadolgico em escala
global e tambm no mbito local tem sido colocada acima de aes
comprometidas com a construo de uma cultura no-poluente, havendo a
necessidade da construo de uma conscincia em torno do desperdcio e da
possibilidade de reutilizao de matrias-primas, assim como da
implementao de polticas pblicas que viabilizem a minimizao das
agresses sofridas pelo meio ambiente (Kunhen, 1995). Vale ressaltar que
em todo o pas os catadores atuam ao lado das municipalidades e tm um
importante papel social, pois contribuem para amenizar os efeitos negativos
do desperdcio de matria-prima, reduzindo a poluio ambiental gerada
pelo lixo. Segundo Abreu (2001),
esses trabalhadores informais dos lixes e das ruas das cidades so
hoje os responsveis por 90% do material que alimenta as indstrias
de reciclagem no Brasil, fazendo do Pas um dos maiores
recicladores de alumnio do mundo. Alm de terem um importante
papel na economia, os catadores diminuem a quantidade de lixo a ser
tratado pelas municipalidades. (...) Garimpam no lixo o nosso
desperdcio de recursos naturais que retomam ao processo produtivo
como matrias-primas secundrias (p.34).
Estes agentes econmicos e ambientais enfrentam uma situao de
sofrimento tico-poltico, intitulado dessa forma por Sawaia (1999) por
estar intimamente relacionado desigualdade social e aos processos de
massificao, explorao, espoliao, discriminao, estigmatizao e
massificao presentes em seu cotidiano, que mutila a construo da sua
cidadania, contribuindo para uma condio de impotncia diante da
necessidade da luta por transformaes em seu cotidiano, em prol de
melhorias em sua qualidade de vida. Afinal,
no lhes interessa qualquer sobrevivncia, mas uma especfica, com
reconhecimento e dignidade. Mesmo na misria, eles no esto
reduzidos s necessidades biolgicas, indicando que no h um
patamar em que o homem animal. O sofrimento deles revela o
processo de excluso afetando o corpo e a alma, com muito
sofrimento, sendo o maior deles o descrdito social, que os atormenta
mais que a fome. O brado angustiante do eu quero ser gente
perpassa o subtexto de todos os discursos. E ele no apenas o
desejo de igualar-se, mas distinguir-se e ser reconhecido (Sawaia,
1999, p.115).
284
No se pode conceber a constituio do sujeito excludo sob rtulo de
uma categoria uniforme, homognea, incapaz de reivindicar seus direitos,
ou ainda sob o rtulo de imediatistas, acomodados, vistos como aqueles que
simplesmente no querem mudar. preciso, sim, trabalhar na perspectiva
da potencializao da cidadania desses atores sociais, com a possibilidade
da sua organizao popular em processos cooperativos (cooperativismo
popular e associativismo), com a possibilidade do desenvolvimento da sua
autonomia, da democracia e da constituio de sujeitos abertos alteridade.
Contando com a assessoria de uma equipe interdisciplinar do referido
projeto de extenso, no dia 14 de dezembro de 2001 os catadores fundaram
a Associao dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclvel do
Extremo Sul Catarinense RECESC. Considera-se que a vinda deles s
reunies para a articulao dessa associao onde se discutem suas
condies de trabalho e a possibilidade de se organizarem social e
politicamente denota a esperana em construir um processo cooperativo
diferenciado do anterior e marca seu movimento de potncia de ao na
construo da sua cidadania. Porm, este movimento no ascendente, nem
linear, nem homogneo nas falas, nos dilogos com e entre eles,
revelam-se as diferentes formas como eles o significam. Suas relaes com
este movimento so marcadas por avanos e recuos, ora de potncia de
ao, ora de impotncia. Pautam-se na heterogeneidade e na dialtica que
permeiam a histria e a constituio dos sujeitos. Para alguns, a crena e a
esperana esto bastante presentes, enquanto para outros um sonho mais
distante ou uma utopia. A busca de novos associados ou no, a frequncia
s reunies, a forma como se d o seu envolvimento no processo so
aspectos que nos permitem analisar como eles significam e ressignificam
suas relaes com a associao, como lidam com a configurao deste outro
processo cooperativo. O movimento de impotncia e/ou potncia de ao
dos catadores na construo da sua cidadania dialtico, relacional,
simblico e sociocultural.
Tais reflexes, que foram apresentadas sucintamente, sero
aprofundadas durante a pesquisa que estou desenvolvendo junto ao
Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC.
Considerar a heterogeneidade presente na constituio destes sujeitos
(excludos) respeitar as singularidades dos contextos, dos sujeitos e dos
processos histricos. romper com os determinismos, com as diversas
285
formas de excluso, com a massificao e buscar conhecer cada processo,
cada sujeito a partir de sua prpria histria, considerando suas condies de
vida, seus sonhos, sua afetividade, desejos e possibilidades de mudanas.
De acordo com Sawaia (1999),
o menosprezo pelo presente fez as cincias humanas esquecerem-se
de que a arte, a religio e a poltica so exercidas no presente, e que
este tem que ser olhado de forma capacitadora, cabendo ao psiclogo
social evitar atividades que mutilam a sensibilidade, alimentam a
passividade, limitam o conhecimento e a reflexo crtica no presente
imediato (p.115).
A Psicologia que queremos esta que se compromete com a
construo de uma prxis emancipatria, pautada na tica, na solidariedade,
na democracia, na cidadania, na justia social, nos direitos humanos e
comprometida com a construo de sujeitos abertos alteridade.
Referncias
Abreu, F. (2001). Do lixo cidadania: estratgias para a ao. Braslia:
Caixa.
Barboza, D. (2000). Cooperativismo, cidadania e a dialtica da
excluso/incluso. Psicologia & Sociedade. 12 (1/2): 54-64.
Barboza, D. (2001). Psicologia Social Comunitria: prxis, estratgias e
interveno junto aos catadores de material reciclvel no sul de Santa
Catarina. Jornal do CRP-12, 12: 09.
Heller, A. (2000). O cotidiano e a histria. So Paulo: Paz e Terra.
(Original publicado em 1970)
Kuhnen, A. (1995). Reciclando o cotidiano: representaes sociais do lixo.
Ilha de Santa Catarina: Letras Contemporneas.
Molon, S. (1999). Subjetividade e constituio do sujeito em Vygotsky. So
Paulo: EDUC.
Paugam, S. (1999). O enfraquecimento e a ruptura dos vnculos sociais:
uma dimenso essencial do processo de desqualificao social. Em B.
B. Sawaia (Org.) As artimanhas da excluso: anlise psicossocial e
tica da desigualdade social. (p.67-86). Petrpolis: Vozes.
286
Sawaia, B. B. (1994). Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexo
psicossocial. In: M. J. P. Spink (Org.) A cidadania em construo:
uma reflexo transdisciplinar. (pp.147-155). So Paulo: Cortez.
Sawaia, B. B. (1995). Dimenso tico-afetiva do adoecer da classe
trabalhadora. In: S. T. M. Lane, B. B. Sawaia (Orgs.) Novas veredas
da psicologia social. (p.157-168) So Paulo: Brasiliense/EDUC.
(Original publicado em 1994)
Sawaia, B. B. (1997). O ofcio da psicologia social luz da ideia reguladora
de sujeito: da eficcia da ao esttica da existncia. In: A. V.
Zanella, M. J. T. Siqueira, L. A. Lullier & S. I. Molon (Orgs.)
Psicologia e prticas sociais. (p.7891) Porto Alegre: ABRAPSOSUL.
Sawaia, B. B. (1999). O sofrimento tico-poltico como categoria de anlise
da dialtica excluso/incluso. In: B. B. Sawaia (Org.) As artimanhas
da excluso: anlise psicossocial e tica da desigualdade social.
(p.97-118) Petrpolis: Vozes.
Santos, B. S. (2000). Introduo a uma cincia ps-moderna. Rio de
Janeiro: Graal. (Original publicado em 1989)
Zanella, A. V., Balbinot, G. & Pereira, R. S. (2000). A renda que enreda:
Analisando o processo de constituir-se rendeira. Educao &
Sociedade, 71(2), 235-252.
Zanella, A. V. (2000). Aproximaciones a la temtica de la constitucin del
sujeto en Vygotsky y E. Morin. Psykhe, 9(2), 75-81.
287
Constituio do sujeito e relaes de gnero em um contexto de ensinar
e aprender
Silvia Zanatta Da Ros
1
Sandra Iris Sobrera Abella
2
Introduo
O presente trabalho traz reflexes sobre dois sujeitos em contexto
grupal, considerando os movimentos realizados pelos mesmos a partir do
pressuposto de que se constituem socialmente. Enfoca, tambm, a
complexidade da mtua constituio entre sujeito e grupo, sendo que essas
duas instncias no devem ser compreendidas como opostas, mas
entrelaadas por uma relao dialtica, pois
o grupo social na verdade um espao de encontro/confronto de
singularidades que ali se expressam/ constituem/transformam,
configurando-se ao mesmo tempo como um coletivo e locus
diferenas (Zanella, Lessa, & Da Ros, 2002, p.17).
Assim, pode-se afirmar que o sujeito, em contexto de grupo,
constitui-se como singular e ao mesmo tempo como possuidor de
caractersticas comuns aos demais membros do grupo. Sendo assim,
constitui e constitudo pelas relaes ali originadas.
Os esteretipos e as relaes de gnero permeiam toda a anlise
realizada. O enfoque, neste trabalho, deve-se ao fato de dois sujeitos do
grupo, um homem e uma mulher, terem assumido lugares sociais de
destaque no desenvolvimento do grupo e realizaram movimentos de
insero semelhantes, durante sua participao em um curso de formao de
gerentes em servio.
1
Doutora em Psicologia da Educao pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo
(PUCSP). Professora do Departamento de Estudos Especializados em Educao, da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
2
Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Psicologia, da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC).
288
Fundamentao terica
Conforme a abordagem histrico-cultural, o sujeito compreendido
predominantemente como ser social,
indivduo concreto, mediado pelo social, indivduo determinado
histrica e socialmente, jamais podendo ser compreendido
independentemente de suas relaes e vnculos (Neves, 1997, p.9).
As relaes sociais e vnculos estabelecidos so fundamentais, tendo
em vista que nesse contexto relacional que o sujeito se constitui como tal,
na sua singularidade. Sendo assim, pode-se afirmar que no espao da
relao com o outro, ou seja, no espao da intersubjetividade, que a
singularizao torna-se possvel atravs do movimento do sujeito em meio
s relaes sociais, numa relao dialtica sujeito grupo sujeito. Ou seja,
a partir do funcionamento intersubjetivo, a constituio do sujeito na
sua singularidade, (...) envolve diferenas e semelhanas frente ao
outro, movimentos de aproximao e afastamento do outro, posturas
de convergncia e divergncia em relao ao outro. O sujeito uma
composio, nada uniforme e regular, dessas tenses e snteses
(Ges, 1993, p.5).
Assim, conforme a concepo aqui esboada, o espao de
intersubjetividade vem a ser o lugar do encontro, do confronto e da
negociao dos mundos privados, ou seja, de cada interlocutor procura de
um espao comum de entendimento e produo de sentido, mundo pblico
de significao (Pino apud Neves, 1999, p.4).
Nesse contexto, o sujeito apropria-se de modo singular dos significados
socialmente compartilhados atribuindo-lhes sentidos particulares, o que o
constitui como parte desse todo, porm no como um reflexo especular da
realidade na qual est inserido (Pino, 1992). Segundo Friedman,
os sentidos pessoais referem-se a enlaces ou relaes atribudas s
palavras no confronto entre as significaes sociais vigentes e a
vivncia pessoal. Esto dessa forma ligados a momentos e situaes
dadas, a motivos e afetos, s atividades e experincias particulares
vividas pelos sujeitos, que processam e transformam os significados
e so capazes de articular uma conscincia e um comportamento com
maior ou menor grau de crtica em relao interpretao ideolgica
da realidade (Friedman, 1995, p.137).
289
Os lugares ocupados pelos sujeitos atravs de suas aes nas relaes
sociais so fundamentais na sua constituio como ser singular e na
configurao dessas relaes. Com relao noo de lugar social, esta,
segundo Nuernberg (1999) consiste na posio simblica que o sujeito
ocupa no grupo, sendo que essa posio assumida nesse contexto marca os
discursos dos sujeitos e, consequentemente, o modo como os mesmos so
significados pelos demais, ou seja:
sempre falamos a partir de uma posio enunciativa determinada: de
aluno, de professor, de homem, de mulher, de quem ocupa um cargo
seja este importante ou no, ou tem formao acadmica em alguma
rea do conhecimento e reconhecido como tal. Com relao a isso,
fica claro que tais lugares sociais so constitutivos das significaes
em curso nas relaes sociais (Nuernberg, 1999, p.22).
Alm disso, no contexto grupal os indivduos que nele se inserem
pautam sua conduta nas pautas interativas estabelecidas pela coletividade,
fator importante na constituio do sujeito, tendo em vista que a partir
dessas pautas que o indivduo vai regular sua conduta. Quiroga (apud
Tschiedel, 1998) afirma que nas interaes, as novas elaboraes
construdas no espao intersubjetivo possibilitam transformaes nos
sujeitos e nos grupos aos quais pertencem.
Portanto, nesta concepo ressalta-se a intersubjetividade constitutiva
sem, por isso, perder de vista a singularidade do sujeito, pelo fato de que,
para Ges, a
tendncia crescente para examinar o indivduo concretamente
constitudo nos leva a conceber a individualidade como processo,
construda socialmente e a singularidade como conjugao de
elementos nem sempre convergentes ou harmoniosos (Ges, 1993,
p.5).
Um elemento que se constitui na intersubjetividade e torna-se
fundamental nas relaes so os esteretipos. Essa importncia se justifica
pelo fato de que, nas relaes entre si, as pessoas tendem a se atribuir
caractersticas estereotipadas as quais acabam atuando como mediadoras
nessas relaes, simplificando as percepes. Nesse sentido, pode-se afirmar
que as relaes ocorrem tendo como base as caractersticas prvias que os
indivduos se atribuem entre si, o que vem a consistir em um processo de
categorizao que subjaz s relaes sociais (Alonso & Berbel, 1997).
290
Um esteretipo a ideia e/ou imagem que surge espontaneamente,
logo que se trate de (...) a representao de um objeto (coisas,
pessoas, ideias) mais ou menos desligada de sua realidade objetiva,
compartilhada pelos membros de um grupo social com uma certa
estabilidade. Corresponde a uma medida de economia na percepo
da realidade, visto que uma composio semntica, pr-existente,
geralmente muito concreta e imagtica, organizada ao redor de
alguns elementos simblicos simples, substitui ou orienta
imediatamente a informao objetiva ou a percepo real. Estrutura
cognitiva e no inata (submetida influncia do meio cultural, da
experincia pessoal de instncias e de influncias privilegiadas como
as comunicaes de massa), o esteretipo, no entanto, aprofunda suas
razes no afetivo e no emocional, porque est ligado ao preconceito
por ele racionalizado, justificado ou engendrado (Bardin, 1977, p.52).
Entre os diversos esteretipos que podem surgir em contexto grupal,
o esteretipo de gnero consiste no conjunto de crenas acerca dos
atributos pessoais adequados a homens e mulheres, sejam estas crenas
individuais ou partilhadas (DAmorim, 1997, p.122). O constructo de
gnero foi criado para enfatizar uma diferena entre homens e mulheres,
no em termos biolgicos, definidos pelo sexo, mas que dizem respeito a
fatores culturais, sendo uma construo histrica, social e cultural,
englobando aspectos como: comportamentos, interesses, estilos de vida,
tendncias, responsabilidades, papis, sentimentos/conscincia de si,
personalidade, afetos, intelecto e emoes (Strey, 1998). O gnero
depende de como a sociedade v a relao que transforma um macho em
um homem e uma fmea em uma mulher (Strey, 1998, p.183), ou seja, as
imagens que uma determinada cultura veicula a respeito do que significa ser
homem e mulher, levam a um determinado desempenho e a uma
determinada forma de relacionar-se entre si.
Os esteretipos de gnero conferem atributos que valorizam as
atividades desenvolvidas pelos homens, quer em seus desempenhos
profissionais, esportivos, bem como no que se refere liderana, tomadas
de deciso, etc. Assim, pode-se afirmar que os esteretipos de gnero
conferem atributos que valorizam as atividades desenvolvidas pelos
homens, no somente em seus desempenhos profissionais, seno tambm
no que se refere liderana, tomadas de deciso, etc.
291
Apesar de ter ocorrido mudana em relao s mulheres em nvel de
atitude, sendo inclusive aceita uma maior independncia no modo de agir,
modos de falar e escolhas profissionais, antes no considerados, persiste o
esteretipo da mulher como algum fraco que precisa de proteo. Esse fato
se deve, em parte, mdia,
que valoriza a juventude e a beleza como caractersticas desejveis
nos homens, porm essenciais nas mulheres. Do mesmo modo, a
inteligncia, a persistncia e a capacidade so indispensveis ao
homem e desejveis na mulher que deve, de preferncia, ser educada,
culta e possuir aptides artsticas (DAmorim & Gomide apud
DAmorim, 1997, p.131-132).
De modo geral, com base no anteriormente exposto, pode-se dizer
que o contexto grupal complexo, onde parte e todo no podem ser
separados de modo dicotmico tendo em vista que ambas as instncias se
constituem concomitantemente, estando imbricados aspectos como as
caractersticas demonstradas pelos sujeitos e os esteretipos que lhe so
atribudos pelos demais e que, ao mesmo tempo, tambm atribui aos
demais. Esse fato acaba formando um espao de relao onde diversos
aspectos como gnero, cultura e sociedade esto sempre presentes e
influenciando as relaes de modo complexo.
Sobre a pesquisa realizada
Foram analisados dois sujeitos, funcionrios pblicos em um rgo
da administrao direta, participantes do Programa de Formao de
Gerentes em Servio (PFGS). O curso, desenvolvido no decorrer de duas
semanas, promovido pela instituio em que trabalham, foi programado
tendo em vista estimular uma viso crtica e o vir a ser em termos de
mudana na mesma.
Houve participao de dois consultores: um da rea psicossocial e
outro da rea organizacional, que desenvolveram os temas acima
mencionados. O primeiro acompanhou todo o desenrolar do trabalho,
mesmo nos momentos nos quais a coordenao esteve a cargo do consultor
da rea organizacional. O fechamento dos trabalhos foi realizado por esta
consultora no ltimo dia do programa. Cabe ainda mencionar que na
segunda semana de atividades, a turma teve que se juntar a uma outra pelo
fato de um dos consultores organizacionais ter faltado.
292
A abordagem histrico-cultural fundamentou todo o desenvolvimento
do processo, na qual o ser humano compreendido como sntese das relaes
sociais, pressuposto e resultado destas relaes (Marx & Engels, 1980). A
viso crtica da realidade foi, portanto, um ponto fundamental que permeou
todas as atividades desenvolvidas e encaminhadas no sentido de que cada
servidor, em particular, pudesse compreender seu lugar como ator social,
sujeito ativo constituidor do social, mas tambm constitudo pelo mesmo.
Os dados obtidos constam de gravao das falas em fita-cassete;
imagens em vdeo; produes escritas decorrentes das atividades propostas;
anotaes feitas pelo monitor da turma e avaliaes escritas realizadas pelos
prprios sujeitos. Esses dados foram posteriormente tratados atravs de
anlise dos discursos registrados e dos movimentos dos sujeitos que
puderam ser observados no decorrer do programa de formao em servio.
O grupo, composto por 20 pessoas, pode ser descrito por algumas
caractersticas predominantes, sendo formada, em sua maioria, por homens
(65%), casados (75%), que ingressaram na instituio atravs de concurso
de nvel superior (70%), ocupantes de cargo de chefia (55%), com um
tempo de servio acima de 15 anos (50%), e que vivem e trabalham na
regio Sudeste (40%).
3
No tocante s caractersticas acima mencionadas que os sujeitos
analisados possuem, Lgia casada, funcionria de nvel tcnico, no ocupa
cargo de chefia, tem tempo de servio superior a 15 anos e tambm trabalha
e vive em uma cidade no interior do estado de So Paulo. Quanto a lvaro,
este divorciado, funcionrio de nvel superior, tambm tem acima de 15
anos de servio na instituio, provm da regio centro-oeste, e trabalha na
capital do pas. Atravs da comparao entre as caractersticas dos sujeitos
e da maioria dos participantes do grupo, pode-se afirmar que ambos
possuem algumas caractersticas que os inserem na mdia do grupo e outras
que os diferenciam da maioria.
3
Estes dados foram obtidos em uma atividade de atribuio de adjetivos, realizada no
primeiro dia do programa em questo.
293
Os sujeitos e sua relao com os demais participantes
lvaro
Com relao s diversas caractersticas demonstradas por lvaro no
decorrer do PFGS, inicialmente os esteretipos que recebeu deveram-se s
categorias s quais pertence na instituio, tendo sido explicitadas atravs
de uma atividade proposta ao grupo.
4
O sentido, com relao a esses
esteretipos, foi predominantemente positivo, tendo sido caracterizado
como algum que ocupa um lugar privilegiado na instituio. Os adjetivos
que lhe foram atribudos pelos colegas foram: quanto ao tempo de servio
de 15 a 30 anos decano; sexo masculino iludido; estado civil divorciado
soltinho; condio de insero atravs de concurso de nvel de
escolarizao superior maraj; regio de lotao Braslia impessoalidade;
rgo onde trabalha rgo central iluminado. Assim, lvaro aparece
descrito por caractersticas que, pelo menos inicialmente, parecem coloc-lo
em uma certa posio de destaque, o que se pode afirmar pelo fato de que
os esteretipos a ele atribudos foram predominantemente positivos.
Com relao ao gnero, a adjetivao atribuda aos homens
pertencentes turma (iludido) parece demonstrar que as mulheres
consideram que eles se iludem pensando que so os que mandam e lideram
quando, na realidade, quem est por trs e realmente faz que tudo acontea
so as mulheres. Assim, essa significao parece demonstrar como as
relaes de gnero na instituio so percebidas pelas mulheres do grupo.
Esse adjetivo pode ter os seguintes significados, conforme aparece no
dicionrio: enganado; frustrado; que vive em iluso ou em erro.
Descrevendo resumidamente o movimento realizado por lvaro
durante as atividades propostas no programa e o modo como foi significado
no decorrer do mesmo, foi observado que, a princpio, se mostrou distante,
mais um observador, por duas ou trs vezes fez intervenes tentando
descaracterizar o que o grupo ou algum colega havia concludo. Chegou,
4
A atividade da atribuio dos adjetivos consistiu na organizao de subgrupos a partir de
algumas temticas propostas pela coordenadora tempo de servio, sexo, estado civil,
condio de insero, regio de lotao e rgo onde trabalham com o objetivo de traar
um panorama do grupo que comeava a se formar. Este foi um momento de descontrao em
que os participantes conversavam entre si nos subgrupos formados. Todos opinaram at
chegar a um consenso com relao ao adjetivo a ser atribudo a cada subgrupo formado.
294
inclusive, a se manifestar com conversa paralela, buscando descaracterizar
o que a coordenadora ou algum colega havia dito. Assim, nos primeiros
dias parecia ambivalente entre atitudes individualistas e de proximidade
com o grupo, no entanto, tornou-se mais integrado e descontrado a partir
da atividade de atribuio dos adjetivos. Nas atividades seguintes, foi
destacando-se como uma das figuras essenciais no grupo, mostrando
atitudes mais firmes que nos primeiros dias, exercendo papel de lder em
diversas atividades.
Em uma delas, na preparao para a apresentao de uma pequena
esquete que enfocava situaes vivenciadas em seu local de trabalho,
emergiu como lder, juntamente com Lgia e um outro colega, Mauro, em
um momento de aparente confuso e desorganizao geral em que o grupo
demonstrou possuir necessidade de organizao. Nesse momento, os trs se
adiantaram nas discusses, trazendo sugestes de temas a serem enfocados.
Essa atividade integrou os participantes, que comeavam a fortalecer um
vnculo afetivo.
5
No final da segunda semana, lvaro estava integrado, tendo sido
percebido como algum alegre e que mudou o ambiente do grupo,
conforme a fala de um de seus colegas no curso. Assim, chegou, juntamente
com Lgia, a constituir-se em um lao de unio entre as duas turmas que se
juntaram para desenvolver as atividades da rea organizacional, formando
um coletivo de 40 pessoas.
Em suma, lvaro inicialmente mostrou-se srio e irnico, foi um
elemento desorganizador, distante e depois, no decorrer do programa,
acabou constituindo-se como elemento organizador no e do grupo,
assumindo o lugar social de lder, de ponto de equilbrio para sua turma de
origem e de mediador entre as duas turmas que trabalharam juntas na
segunda semana do PFGS.
Lgia
Os esteretipos atribudos Lgia por seus colegas, conforme
categorias nas quais se insere foram as seguintes: sexo feminino
5
No terceiro dia do curso, foi proposta uma atividade que consistiu em uma encenao
realizada em conjunto pelo grupo todo para ser apresentada para as demais turmas
participantes, tendo como tema algum aspecto da realidade da instituio na qual trabalham.
295
eminncia parda; estado civil casada Viagra; modo de ingresso na
instituio atravs de exame de nvel tcnico emergente; tempo de
servio superior a 15 anos decano; trabalha no estado de So Paulo
apressada; e, quanto ao rgo onde trabalha, qual seja, o setor de
atendimento ao consumidor peo. De modo geral, esses adjetivos
parecem caracteriz-la como algum que luta para assumir uma posio
melhor na instituio, contudo, diferentemente de lvaro, no aparece
caracterizada como algum que ocupa um lugar de destaque na mesma.
A adjetivao atribuda pelos homens da turma s mulheres
(eminncias pardas), parece demonstrar que eles as percebem como
pessoas que se destacam, mas, contraditoriamente, desejam passar
despercebidas (ou o que acaba acontecendo), sem atrair a ateno sobre si.
Possivelmente se trate de uma dificuldade da mulher em ocupar posies de
liderana na instituio ficando, portanto, atrs dos homens aparentemente,
mas na verdade so quem manda e fazem com que tudo realmente acontea.
A princpio, relacionou-se com o grupo mais timidamente no se
expondo muito. Entretanto, na medida em que foi conhecendo mais as
pessoas, foi participando e se integrando mais. No decorrer do processo e
em meio interao com os colegas, Lgia foi significada pelo grupo,
segundo os dados obtidos, como uma pessoa ativa, forte, responsvel,
decidida, que congrega as pessoas, lder, mezona e centralizadora.
Chegou a tornar-se liderana e um dos elementos reconhecidos pelos
demais colegas como fundamentais como ponto de equilbrio no grupo.
Tambm chegou a exercer funo de mediadora na integrao com a outra
turma com a qual tiveram que conviver na segunda semana de atividades.
Assim, constituiu-se no grupo como uma pessoa que o liderou em momentos
fundamentais para o mesmo e um ponto de apoio para seus colegas.
Anlise dos movimentos dos sujeitos a partir da reviso terica
A partir das caractersticas demonstradas pelos sujeitos e, por
conseguinte, pelos esteretipos atribudos pelos demais colegas, pode-se
observar o modo como lvaro e Lgia foram percebidos no grupo. Assim,
pode-se afirmar que os esteretipos configuraram uma relao mtua entre o
modo como os sujeitos se revelaram no processo de ensinar e aprender
promovidas e tambm como o prprio grupo foi significando os modos como
os sujeitos se mostraram, aceitando ou no a sua insero efetiva no grupo.
296
Desse modo, lvaro aparece significado de modo positivo pelos
colegas, presumindo-se, portanto, que foi aceito como parte do grupo. Esse
fato possivelmente possibilitou sua insero no mesmo, tendo em vista que
inicialmente no participou muito e, de certo modo, tentou boicotar a
participao dos demais colegas. No entanto, tambm pode-se concluir que
lvaro constituiu-se como possuidor dessas caractersticas a partir do
significado acolhedor que atribuiu ao grupo, como pode ser observado
atravs de sua fala a seguir: o grupo foi acolhedor, permite abertura e eu me
abri. E, ao mesmo tempo, pode-se tentar afirmar que o grupo tenha agido de
modo acolhedor com ele por ter aceitado e valorizado as caractersticas por
ele demonstradas. Contudo, lvaro fez parte do grupo e exerceu funes no
mesmo que influram na constituio do grupo como tal.
De modo semelhante a lvaro, Lgia tambm foi aceita pelo grupo a
partir das caractersticas por ela demonstradas no decorrer das atividades.
Assim, conforme anlise de sua prpria fala, inicialmente relacionou-se
timidamente e, na medida em que foi conhecendo melhor os seus colegas,
foi se mostrando mais descontrada e foi se inserindo progressivamente no
grupo, o que lhe possibilitou constituir-se assumindo novas caractersticas
no observadas no incio das atividades. Similarmente a lvaro, ela
significou o grupo como facilitador para todos que desejassem se
manifestar e soube respeitar aqueles que em determinados momentos no
queriam manifestar-se. Assim, com base na anlise do movimento
observado e de sua fala, pode-se afirmar que como no foi sentindo-se
pressionada pelo grupo a participar mais, foi conseguindo se inserir no
mesmo e demonstrar as caractersticas de lder e de mediadora enfatizadas
por seus colegas.
Ainda com relao s relaes de gnero, torna-se importante destacar
a fala de um dos colegas a respeito de Lgia: Eu gosto de mulheres fortes, de
mulheres ativas, que tomam parte nas decises, nas coisas que devem ser
feitas, eu gosto de andar lado a lado com a mulher e no frente. Esta fala
indica, comparando-se com os resultados de dados de pesquisa (DAmorim,
1997), que parece ter ocorrido uma mudana nos homens, os quais preferem
que as mulheres ocupem uma posio de maior destaque, de deciso e
liderana, em vez de uma posio de submisso que h algum tempo atrs era
visto como sinal de feminilidade. Nesse sentido, vale destacar que Lgia
297
aparece descrita com as caractersticas de lder e ao mesmo tempo com
caractersticas tidas como femininas: elegante, bonita, vaidosa.
Aqui, interessante destacar que Lgia, como lder, vista como
algum forte, decidida, que congrega e catalisa as foras do grupo, sendo,
possivelmente por esse motivo, associada figura materna, assumindo uma
funo de destaque sem perder, por isso, a feminilidade, do modo como
parece ser compreendida pelos colegas homens, que a caracterizaram com
atributos caracteristicamente vistos como femininos: elegante, vaidosa.
Portanto, atravs desta associao pode-se perceber uma concordncia com
a identificao da funo da mulher com a de me (Broverman, Vogel,
Clarkson, & Broverman apud DAmorim, 1997).
J lvaro exerceu funo semelhante de elo de ligao entre as
turmas, porm isso no foi to enfatizado como no caso de Lgia, o que
pode levar a pensar que mais esperado que esse lugar seja ocupado por
homens do que por mulheres. Assim, seria esperado dele que fosse forte,
decidido e catalisador das foras do grupo caractersticas que foram
ressaltadas no caso de Lgia. O fato de lvaro ter congregado as duas
turmas na segunda semana de atividades pouco foi destacado, tendo sido
apenas caracterizado como ponto de equilbrio do grupo e como algum
que alegrou o mesmo.
Pelo exposto possvel verificar a presena da mutualidade
sujeito/grupo como pilar no qual assenta-se a dialtica da relao
parte/todo, onde o sujeito, enquanto parte e singularidade constitui o todo,
que por sua vez tambm o constitui como sujeito. Essa mutualidade,
mediada intensamente pela coordenadora, colaborou para que o coletivo se
transformasse em um grupo. H que se observar, tambm, a no linearidade
que caracterizou as atividades. Idas e vindas marcaram a dinmica das
vivncias que foram significadas e ressignificadas no que se refere aos
esteretipos e s questes de gnero. Isto conferiu ao grupo uma
flexibilidade que suportou o fato de ter que se unir a uma outra turma para
trabalhar aspectos organizacionais especficos sem desestruturar o que
havia conseguido construir em termos grupais. Para tanto, a participao
dos dois sujeitos acima analisados foi de fundamental importncia, pois
juntamente com os demais componentes do grupo, amparados, incentivados
e autorizados pelos mesmos, mediaram relaes interpessoais num contexto
complexo de ensinar e aprender.
298
Referncias
Alonso, R. & Berbel, S. (1997). Procesos grupales e intergrupales. In: P.
GonzaIez (Ed.), Psicologa de los grupos: Teora y aplicacin
(p.141-166). Madrid: Sntesis.
Bardin, L. (1977). Anlise de contedo. So Paulo, SP: Martins Fontes.
DAmorim, M. A. (1997). Esteretipos de gnero e atitudes acerca da
sexualidade em estudos sobre jovens brasileiros. Temas em
Psicologia, 3, 121134.
Ges, M. C. R. de. (1993). Modos de participao do outro no processo de
significao. Temas em Psicologia, 1,23-29.
Marx, K. & Engels, F. (1980). A ideologia alem. So Paulo: Martins
Fontes.
Neves, W.M.J. (1997). As formas de significao como mediao da
conscincia: Um estudo sobre o movimento da conscincia de um
grupo de professores. Tese de Doutorado no-publicada, Pontifcia
Universidade Catlica de So Paulo, So Paulo, SP.
Nuernberg, A. H. (1999). Investigando a significao de lugares sociais de
professora e alunos no contexto de sala de aula. Dissertao de
Mestrado no-publicada, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianpolis, Se.
Pino, A. (1992). As categorias do pblico e do privado na anlise do
processo de internalizao. Caderno CEDES: Educao e Sociedade,
42, 315-327.
Strey, M. N. (1998). Gnero. In: M. N. Strey (Ed.) Psicologia social
contempornea: Livro-texto (pp.188-198). Petrpolis, RJ: Vozes.
Tschiedel, R. G. (1998). O grupo como espao de construo: da
heterogeneidade heterognese. Dissertao de Mestrado no-
publicada, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.
Zanella, A. V., Lessa, C. T., & Da Ros, S. Z. (2002). Contextos grupais e
sujeitos em relao: contribuies s reflexes sobre grupos sociais.
Psicologia: Reflexo e Crtica. 15 (1), 211-218.
299
Questes de gnero em grupos de terceira idade
1
Katia Simone Ploner
2
Almir Sais
3
Marlene Neves Strey
4
Na dcada de 70, iniciou-se no Brasil, os denominados Grupos para a
Terceira Idade com o objetivo de promover a socializao, a atualizao ou
o desenvolvimento pessoal (Ferrigno, 1998). Os Grupos de Terceira Idade
so vistos por alguns gerontlogos como uma alternativa para que as
pessoas mais velhas continuem ativas, melhorem sua auto-estima,
percepo de si e da vivncia do processo de envelhecimento (Veras e
Camargo, 1995; Neri e Cachioni, 1999).
Mas, o que a terceira idade? Para Debert (1999) a inveno da
terceira idade remete a padres da modernidade que representam uma
comunidade aposentada com sade, independncia financeira, possibilidade
de satisfao e realizao pessoal. A expresso terceira idade foi vinculada
a um tempo de lazer, liberdade e prazer (Peixoto, 1998), buscando substituir
o incmodo provocado pela palavra velhice. Esta ltima, no atual contexto
social, relacionada a caractersticas como pobreza, doena, feira,
inutilidade (Simes, 1994).
A troca de termos tem tido a funo de encobrir uma realidade e
indissociavelmente, um trabalho de eufeminizao (Peixoto, 1998). Quando
se v uma empresria, um senador, uma pesquisadora notvel, um ator de
sucesso com sessenta anos ou mais, suas velhices so dissimuladas, pois
esto em posies de prestgio ou cargos de poder. Muitas vezes, os
velhos/as comuns, especialmente quando tem algum atributo do esteretipo
da velhice como doena ou pobreza, no so mais vistos como pessoas e
1
Este artigo foi produzido a partir de dissertao Bolinha no entra em clube de Luluzinha:
questes de gnero em grupos de terceira idade apresentada para Mestrado em Psicologia
Social e da Personalidade-PUCRS.
2
Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS), Professora no Curso de
Psicologia UNIVALI.
3
Mestre em Psicologia Clnica (PUCSP), Professor do Curso de Psicologia da UNIVALI.
4
Doutora em Psicologia Social pela Universidad Autnoma de Madrid, professora na
PUCRS.
300
sim como velhos/as. Iguala-se todas as pessoas acima de sessenta anos sob
o signo da velhice, despersonalizando-as (Sais, 1995).
Vivendo sob o estereotipo de pertencer classe dos velhos/as, na
marginalidade da produo de bens e servios teis a sociedade regida pelo
mercado, que muitos velhos/as precisam de tutela, de auxlio. Essa,
porm, no uma condio criada pelo envelhecimento. uma necessidade
que se impe devido ao modo como vivemos, que desmonta as bases de
acolhimento da velhice.
nesse contexto que os grupos de terceira idade so apresentados
como possibilidade de interrelaes, um espao especfico para a vida de
pessoas com mais de sessenta anos de idade acontecer. Porm, nos
chamados grupos de terceira idade a velhice no igual: contradies,
tenses, diferentes foras esto borbulhando nas relaes entre velhos e
velhas, para alm de suas singularidades.
As questes que permeiam a construo de gnero so foras que no
esto presentes apenas no corpo, mas nas entranhas do pensar, do sentir, do
olhar para o outro e para si mesmo/a, arraigados e produzidos a partir de
uma ideologia, de relaes desiguais de poder. Um trao da cultura dos
grupos de terceira idade que pede para ser revelado, pois, caso no seja
feito, corremos o risco de perceber estes processos como naturais.
Nestes grupos comum a participao diferenciada no nmero de
homens e mulheres, sendo que a participao masculina prxima de 20%,
quando muito (SantAnna, 1997; Peixoto, 1997; Veras e Camargo, 1995).
Nos ltimos anos este fenmeno tem sido estudado tambm como uma
questo de gnero (Debert, 1994; SantAnna, 1997; Mattos, 1999).
Essa anlise sobre gnero deve estar presente em estudos de situaes
geradoras de desigualdades, tendo como objetivo erradic-las, j que so
construdas socialmente e, portanto, modificveis (Strey, 1998). A forma
como se atribui comportamentos, regras, normas diferentes para homens e
mulheres institui, sob o engodo da naturalizao, relaes desiguais e que
trazem sofrimento para ambos.
Os grupos de terceira idade constituram-se como espaos ocupados,
em sua maioria, por mulheres. Diante da pouca presena de homens nestes
grupos, surgiu o interesse em pesquisar quais processos estavam implicados
301
nesta ausncia masculina. A questo era, especificamente, porque poucos
homens participam dos Grupos de Terceira Idade?
O caminho percorrido
A perspectiva qualitativa foi escolhida para nortear este trabalho. Na
coleta de dados, optou-se pela entrevista semi-estruturada, conforme o
conceito de Trivinos (1987). A escolha por esta tcnica deu-se pelo
interesse em estudar a relao que o entrevistado estabelece com o mundo
vivido, atribuindo-lhe sentidos, significados, interligaes, sensaes que se
expressam atravs do discurso (Gomes, 1997).
A entrevista teve um roteiro com tpicos, buscando levantar dados da
histria dos entrevistados que estabeleciam interfaces com o tema da
pesquisa e a compreenso que tinham sobre os Grupos de Terceira Idade.
As perguntas buscavam desvendar como se relacionavam com o trabalho,
com a aposentadoria, com o envelhecimento, com a chamada terceira
idade; a participao ou no de grupo(s) de terceira idade e por qu, a
relao estabelecida com esses grupos e sua representao. Alm disso,
possveis hipteses que os entrevistados levantavam para a pouca
participao dos homens nos Grupos de Terceira Idade.
Os entrevistados foram oito homens de sessenta anos ou mais.
Destes, dois participavam ativamente, dois eram ex-participantes e quatro
no participavam dos grupos de terceira idade. Quanto ao grau de
escolaridade, trs tinham primeiro grau incompleto, trs tinham segundo
grau completo e dois terceiro grau completo. Sete deles estavam casados e
apenas um era vivo. A mdia de idade ficou em torno de 71 anos. Eram
residentes do municpio de Itaja ou de Balnerio Cambori. Pertenciam a
diferentes faixas econmicas e contextos culturais.
Respeitando os princpios ticos de sigilo e anonimato utilizou-se
nomes fictcios neste texto. Para registro dessas entrevistas, utilizou-se um
gravador porttil, com a devida autorizao dos entrevistados. Todas as
entrevistas realizadas foram transcritas, para posteriormente serem
sistematizadas e analisadas.
O mtodo designado de anlise de contedo (Bardin, 1991) foi
utilizado para organizar esses dados. A teoria histrico-crtica, as teorias de
302
gnero e de envelhecimento foram utilizadas para discutir e interpretar os
dados coletados.
Vrios autores que dissertaram sobre anlise de contedo
(Richardson, 1989; Bardin, 1991; Moraes, 1993; Navarro e Daz, 1994)
descrevem suas fases em trs grandes etapas: a pr-anlise, a explorao do
material e o tratamento dos resultados. Neste caso, construiu-se as
categorias a posteriori, com critrios norteadores como: validade,
exaustividade, homogeneidade, exclusividade e consistncia (Laville e
Dionne, 1999; Kude, 1999; Minayo, 1999; Moraes, 1999).
A elaborao das categorias foi um processo dialtico, com
sucessivas reconstrues, em discusso com o material coletado, autores e
pessoas qualificadas na rea. Partiu-se do pressuposto de que a cincia no
neutra, no pode conter em si a verdade absoluta e uma nica leitura de
qualquer fenmeno estudado. Logo, esse conhecimento social, histrico,
construdo a partir de vrias contribuies e referem-se aos seus
participantes, sendo especficos, sem carter generalista.
Os homens esto com a palavra
A pesquisa tornou evidente que o Grupo de Terceira Idade no
apenas uma reunio de pessoas com mais de sessenta anos. Uma das
contribuies desta pesquisa a definio das caractersticas de um Grupo
de Terceira Idade (GTI): organizado sistematicamente, com regularidade,
periodicidade, tarefas e local definidos, vinculado a uma organizao
governamental ou no governamental e sendo qualificado como grupo de
terceira idade pelos seus participantes.
Os grupos formados por alguns homens que se encontram em
diferentes lugares como nas praas, nos bares, nas praias, nas canchas de
bocha, nas associaes dos aposentados, nos clubes ou um grupo de
amigos, no so vistos pela maior parte dos entrevistados como GTI,
mesmo que sejam formados por pessoas com mais de sessenta anos. O
mesmo vlido para mulheres, seja grupo de professoras ou de amigas,
com mais idade que se encontram no restaurante que sempre frequentaram,
ou para um ch na casa de uma delas. Debert (1999) aponta esta distino
dos GTI em relao a associaes filantrpicas, por exemplo, que congrega
303
pessoas mais velhas, mas que a idade no tem a dimenso central nas
atividades desenvolvidas.
Ter uma funo teraputica foi apontado como caracterstica dos
Grupos de Terceira Idade. O entrevistado denominado Afonso (75 anos)
sugeriu a criao de um grupo especfico e exclusivo para os homens,
importante para melhorar a sade e/ou ter um desenvolvimento emocional,
psquico ou mental. Ele elaborou a sua proposta: seria til para o homem,
(...) depois de velho, desenvolver ali ao menos o estilo dele, ou a prpria
sade (Afonso, 75 anos). Para ele, o Grupo de Terceira Idade um apoio
para enfrentar as vicissitudes da vida na velhice.
Estevo (75 anos) e de Milton (73 anos) confirmam que estes grupos
tm como finalidade instruir para o autocuidado em relao sade e
fornecer orientaes para viver bem a terceira idade e promover
convivncia social. Milton (73 anos) salienta que as pessoas que precisam
destes grupos no tem autodeterminao.
A delimitao da representao do que o Grupo de Terceira Idade
para esses entrevistados trouxe explicaes sobre possveis motivos para
poucos homens participarem deles: no precisar de orientaes ou
cuidados e no desejar estar vinculado a um grupo de velhos parecem ser
dois destes motivos.
Os entrevistados, de um modo geral, trouxeram as questes relativas
ao gnero,
5
apresentando o grupo de terceira idade como sendo grupo de e
para mulheres. Confirmam o que Debert (1994) aponta ao afirmar que as
associaes de terceira idade existentes, na maioria quase absoluta, so
compostas de mulheres (Estevo, 75 anos). Peixoto (1997), ao levantar o
perfil dos estudantes da Universidade Aberta da Terceira Idade, escreveu
que apenas 16,4% dos/as alunos/as inscritos so do sexo masculino.
SantAnna (1997, p.80) percebendo as diferenas entre homens e mulheres
na participao em grupos sociais afirmou que existe a necessidade de
tratar a Terceira Idade, tambm, como uma questo de gnero. Uma
5
Gnero aqui entendido enquanto aspectos sociais, culturais e psicolgicos que compe a
representao do feminino e do masculino e no propriamente o sexo biolgico. Por isso,
no possvel falar de homens sem falar de mulheres, pois estes so compreendidos em
relao.
304
possibilidade de anlise atravs das relaes de gnero e valores
separatistas e excludentes entre os sexos.
A excluso que os homens sofrem nos grupos de terceira idade
evidenciado pelos entrevistados. Afonso (75 anos) afirma que quando os
homens participam dos grupos das mulheres, eles vo l s para olhar mesmo,
mas eles no tm participao em nada, n? Elas danam l entre elas.
Estevo (75 anos) contou que foi em um encontro de idosos, em que
tinha mais de quatrocentas pessoas, mas a maioria era s de mulher,
mulher dana com mulher. Percebe-se por estes relatos que quando os
homens esto presentes no grupo, no pertencem a ele.
A ocupao dos cargos de poder e comando nos grupos de terceira
idade conhecidos por nossos entrevistados era realizado por mulheres. Estevo
(75 anos) comenta que a direo da associao mulher, o presidente
mulher, o secretrio mulher, o tesoureiro mulher, tudo mulher.
Esses relatos nos levam a vislumbrar duas possibilidades para a
participao limitada dos homens: a) para manter o poder, as mulheres
resistem participao dos homens e b) para alguns homens pode ser
ofensivo e humilhante submeter-se s decises tomadas por mulheres,
devido aos valores sociais discriminatrios.
A utilizao de uma linguagem sexista, por parte dos profissionais
que coordenam estes grupos, foi ressaltada por Estevo (75 anos): nos
cursos de terceira idade, os professores falam para as mulheres e no para
os homens, ento, eu acho que um dos pontos que a gente tem que olhar
um pouquinho. Esta pode ser uma forma de excluso e demonstrao de
indiferena em relao existncia desses homens nestes grupos,
promovendo sua invisibilidade.
A discriminao de gnero foi um dos principais motivos apontados
(por Alexandre, Jos, Afonso e Gilnei) para os homens no frequentarem
estes grupos. Destaca-se nesta categoria: a) o rechao em relao s
reunies: coisa de mulher mesmo fazer reunies de bl, bl, bl (...)
descrito por Jos (73) ao utilizar-se do discurso de colegas; b) pouca
importncia dada aos atuais grupos, sem reconhecimento social, conotao
pblica ou grandes objetivos: nesses Grupos de Terceira Idade no h uma
razo objetiva na coisa, mais uma reunio social, at com um pouco de
305
futilidade (...) aquilo no forma um clube de verdade (Gilnei, 69 anos); c)
Ter vergonha ou sentir-se constrangido por serem apenas poucos homens
em um grupo de mulheres: os homens, so poucos (...) e um homem no
meio das mulheres no. L ele o bendito fruto, n, ele tambm no se
encontra (Jos, 73 anos); d) Falta de integrao entre homens e mulheres:
os homens j falaram de tudo que tinham de falar com as mulheres, ento
eles querem falar coisas dos homens e as mulheres querem falar as coisas
de mulheres (Gilnei, 69 anos).
Parece que nossa cultura ainda impera a segregao social entre
homens e mulheres, que estabelecem relaes de discriminao e
encontram dificuldades em se integrar. possvel que as diferenas para as
quais nos remete a categoria sexo sejam mais importantes nas nossas
relaes do que as semelhanas da grande categoria ser humano.
Os esteretipos de gnero pregam que, quando h um homem e uma
mulher que no fazem parte da mesma famlia e esto juntos, deve haver
outro vnculo, alm da amizade. Nesta pesquisa, os Grupos de Terceira
Idade foram apontados tambm como um espao para o encontro amoroso.
Alexandre (77 anos), Jos (73 anos), Paulo (68 anos) e Gilnei (69
anos) descreveram o Grupo de Terceira Idade como um lugar de mulheres,
do qual alguns homens participam com a finalidade de conhecer uma
companheira para casar, ou uma parceira sexual. Conforme Alexandre (77
anos): O fator ali mais para agregar ou unir os vivos, ele e ela, vivos e
tal (...) vo e se casam.
Logo, homens que no desejam ter algum envolvimento amoroso no
participam destes grupos, sendo mais uma razo para a pouca participao
masculina. Inclusive, os dois homens entrevistados casados e cujas esposas
no participavam de Grupos de Terceira Idade, impuseram como condio
para a sua participao que as suas esposas tambm o fizessem.
A aposentadoria apresentou-se como outro motivo para os homens
pouco participarem dos grupos de terceira idade. Os homens retomam para
seus aposentos. Inclusive a palavra aposentadoria, segundo Carlos, Jacques,
Larratea e Heredia (1999), na lngua portuguesa, etimologicamente, est
relacionada hospedagem, abrigo nos aposentos, sendo estes os quartos, o
interior das casas. Portanto, a partir desta ideia, ao aposentado cabe ficar
nos aposentos da casa, descansando.
306
Esse foi o caso de Alexandre (77 anos), de Paulo (68 anos) e de
Afonso (75 anos) que depois de se aposentarem passaram a ficar em casa.
Alexandre comentou que no tem por que sair de casa, se est feliz assim.
J Paulo (68) e Afonso (75) tinham como atividade preferida assistir a
esportes na televiso. Afonso (75) explicou que, aps a aposentadoria e o
avano da idade, ficou muito parado: eu no fiz mais nada, s incomodo a
mulher (...) sou muito caseiro agora.
A casa, assim como a rua, no se restringem ao espao
geogrfico, constituindo-se
entidades morais, esferas de ao social, provncias ticas dotadas de
positividade, domnios culturais institucionalizados e, por causa
disto, capazes de despertar emoes, reaes, leis, oraes, msica e
imagens esteticamente emolduradas e inspiradas (DaMatta, 1991,
p.17).
Com esta compreenso levanta-se a possibilidade de que, na
aposentadoria, quando o homem ocupa a casa a mulher vai para os grupos
de terceira idade, auxiliando este processo de maior participao feminina
nestes grupos.
No que se refere aposentadoria, destaca-se outro aspecto: sensao
de falta de vitalidade ou disposio para participar de um grupo ou de
atividades. Para Nolasco (1995), o trabalho, por um lado, a base da
identidade masculina, por outro, pode ser o responsvel pelo esvaziamento
e despersonalizao dos homens quando este falta ou lhes retirado, como
no caso da aposentadoria. Paulo (68 anos) exps a problemtica de estar
aposentado: coisa dura, triste, no caso assim, se voc no participa de
nada, voc fica assim, voc fica amuado hoje, amuado amanh, se vai
daqui para ali, dali para aqui, todo o dia, ento vai se tornando uma coisa
enjoativa (...) eu acho que a velhice isso a, tem hora que a gente no tem
disposio de fazer nada.
Um dos entrevistados que frequentava um Centro de Convivncia
demonstrou que ele se apropriava aquele espao como uma casa. Buscou
o grupo para ser cuidado pelas mulheres que l coordenavam: a primeira
pessoa me recebeu na porta, ela e outras duas daqui, tambm muito
queridas... tudo isso o que me trouxe aqui. Se a gente no recebe aquele
agrado, (...) j no d. Almir (60 anos). Esse entrevistado indica uma
307
possvel razo que explique por que alguns homens vo para o grupo: para
encontrarem ateno, carinho, amizade e afeto.
Outro motivo que contribui para a pouca participao masculina a
continuidade de uma atividade de trabalho, mesmo aps a aposentadoria.
Milton (73 anos) explicitou que continuava trabalhando, pois isso a que me
d vida, motivao de viver, sentido da vida. Gilnei (69 anos) disse que, entre
ir para o Grupo de Terceira Idade e continuar exercendo a sua atividade,
prefere a ltima, porque a pessoa que est acostumada a trabalhar, chega
em casa, gosta de quando retoma do dia de atividades, ter contato com
outras pessoas, fez alguma coisa, conversou, esteve envolvido em tarefas,
trocou ideias e isso faz bem pra pessoa, principalmente para o aposentado.
Como os grupos de terceira idade apresentam-se como uma
possibilidade de convivncia e atividade, quem j tem um cotidiano com
estas caractersticas no participa destes grupos.
Uma caracterstica implcita dos grupos de terceira idade que este
dirigido para pessoas acima de sessenta anos, ou seja, para velhos/as. E
necessrio lembrar que quem velho o outro, pois o esteretipo formado
sobre a velhice se configura de um tal modo que viv-lo quase impossvel.
A demonstrao disto foi que a velhice foi descrita, pela maioria dos
entrevistados, como morada da doena, da morte, da tristeza, da falta de
disposio, entre outros qualificativos negativos. Logo, para participar de
um grupo de terceira idade preciso transpor o prprio preconceito de se
autoqualificar como pertencente a terceira idade.
Almir (60 anos) ao ser perguntado sobre por que a maioria dos
homens no participava dos Grupos de Terceira Idade, foi categrico: pra
no se misturar com a terceira idade (...) que ele acha que ele no t
velho para se meter aqui. Preconceito. Milton (73) tambm se referiu ao
preconceito como um motivo para as pessoas no participarem: s vezes at
o preconceito contra a prpria idade mesmo, (...) se ela se meter em Grupo
de Terceira Idade, ela mesmo confessa que t na terceira idade.
A idade no um dado da natureza, nem um fator explicativo para os
comportamentos humanos, portanto, a velhice no carrega em si mesma
propriedades substanciais que os indivduos adquirem com o avano da
idade cronolgica (Debert, 1998, p.51). A velhice, neste momento
histrico e na nossa cultura, est atrelada idade cronolgica, sendo uma
308
normatizao a partir do calendrio gregoriano, portanto uma
arbitrariedade, da qual muitos tentam, mas no conseguem fugir. Participar
de um grupo de terceira idade colocar-se em um lugar social repleto de
mitos e preconceitos.
O grupo de terceira idade foi relacionado ao perodo em que as
pessoas passavam seu tempo estando na antessala da morte. Gilnei (69)
explicitou essa situao: a impresso que me deixou que todo mundo j
viveu e agora uma reunio pra ir l e contar a ltima histria. Quando
este grupo visto como um lugar sem vida e aonde se espera a morte, as
pessoas que esto vidas por viver no o frequentariam. No atual contexto
social, econmico e de valores em que vivemos, parece bvio que a maioria
das pessoas no quer ser velho/a, apesar de querer viver mais tempo.
Outro preconceito citado pelos entrevistados est relacionado ao
estigma da pobreza: tem gente que no vem aqui porque no quer se
misturar, porque acha que aqui tudo pobre (...) eu achava que isso aqui
era pra gente que no tinha comida, gente mais pobre, doente (Almir, 60
anos). A pergunta que ficou : estas so questes relativas ao envelhecer ou
s circunstncias sociais em que o envelhecer posiciona o ser humano?
Finalizando, pode-se afirmar que outra razo para pouca participao
dos homens (e talvez mulheres) nos grupos de terceira idade no
desejarem pertencer a um grupo com estes esteretipos. Ou seja, aqueles
que se percebem independentes, saudveis, com vitalidade, jovens,
ativos, sem precisar de cuidados, no veem o grupo como um espao
possvel para estarem inseridos.
Consideraes finais
Ao longo do percurso desta pesquisa, chegamos a vrias
possibilidades sobre por que h poucos homens nos Grupos de Terceira
Idade e alm disso, foi possvel defini-lo. Os Grupos de Terceira Idade foram
se delimitando como diferentes de outros grupos de pessoas com mais de
sessenta anos. Pessoas desta idade, que se renem pelos mais variados
motivos, no formam necessariamente um Grupo de Terceira Idade.
Grupos de Terceira Idade foram identificados como pertencendo e
sendo indicados para as mulheres, sendo evidenciado preconceito de gnero
e excluso sexista. Atrelada a esta caracterstica surgiu outra, os homens
309
que se dirigem para estes espaos estariam procurando pelo esteretipo que
o feminino representa: relacionamento amoroso ou cuidado. O Grupo de
Terceira Idade ser caracterizado como um espao feminino, isto, por si s,
passa a ser um problema para a participao dos homens, pois os valores
sociais so separatistas e segregadores.
Muitos homens sentem-se constrangidos e isolados quando se
percebem sozinhos, ou em pequeno nmero entre as mulheres. Acentua-se
a palavra sozinhos porque recorrentemente, as pessoas costumam falar que
homem est sozinho, quando ele est apenas entre mulheres. A referncia o
gnero, se fosse as pessoas, como poderia estar sozinho? Se a pesquisa fosse
com mulheres, talvez estes dados no se alterassem, pois h uma excluso
sexista em nossa sociedade. Esta uma sugesto para futuras pesquisas.
O Grupo de Terceira Idade tambm foi significado como tendo uma
vocao teraputica. Para cumprir esta funo, ocuparia o tempo das
pessoas velhas com atividades relacionadas ao bem-estar fsico e
psicolgico, educando-as para uma velhice saudvel. Com isso estes grupos
exercem dois papis: o primeiro que, na maior parte das vezes, seus
participantes realmente obtm maior satisfao em suas vidas; o segundo
que retira a responsabilidade desse modelo socioeconmico que produz
velhices doentes, incapazes para o trabalho, pobres, indesejveis e sem
desejos e remete, s pessoas individualmente, a responsabilidade pela sua
sade e bem-estar, desconsiderando que, ao longo de sua vida, estas
mesmas pessoas foram valorizadas pela sua capacidade de produzir e
trabalhar, no por cuidarem de seu bem-estar e sua sade.
Muitos homens no participam dos Grupos de Terceira Idade porque
se aposentam e continuam a trabalhar. Trabalho: palavra fundamental para
estes homens, pois ele quem os dignifica, mesmo na aposentadoria.
Muitos preferem continuar exercendo atividades profissionais que no so
encontradas no Grupo de Terceira Idade.
Outro fator de afastamento dos homens foi no se identificar com a
terceira idade ou velhice, devido aos preconceitos e esteretipos
vinculados a este termo. Parece que a velhice ganha visibilidade quando
atrelada a um destes esteretipos. Ser que a doena ou a falta de desejo de
viver so inerentes aos anos que temos ou velhice?
310
Uma contribuio desta pesquisa foi esclarecer vrios aspectos sobre
a pouca participao dos homens nos grupos de terceira idade. Uma
sugesto investigar quais os fatores envolvidos quando mulheres no
participam de grupos de terceira idade; outra verificar como as mulheres
que esto nos grupos avaliam os resultados apontados neste estudo.
Neste trabalho se aponta algumas determinaes e esteretipos que
perpetuam as excluses de gnero. Destaca-se a linguagem sexista utilizada
por muitos profissionais para dirigirem-se a estes grupos. Com este
conhecimento, poderemos refletir sobre a necessidade de cuidado com a
linguagem e prticas de excluso que adotamos nos Grupos de Terceira
Idade. trilhando o caminho do dilogo, da interao e da conscientizao
das desigualdades poderemos contribuir para modificar a atual estrutura
social separatista e excludente que temos atualmente.
Um caminho que tem sido perseguido o do desejo de
permanecermos jovens, saudveis, ativos e produtivos. Ser que esta a
nica possibilidade de viver com reconhecimento, dignidade e integrado ao
meio social? Enquanto for assim, a velhice continuar a ser um projeto
praticamente irrealizvel em nossa cultura.
Homens e mulheres podem compartilhar dos mesmos espaos,
respeitando as diferenas que so caractersticas da singularidade humana e
enriquecendo-se com as diversidades de experincias que s o ser humano
pode abarcar. inadmissvel que em um mundo, onde se prega a
racionalizao e a lgica, tenhamos tantos preconceitos e esteretipos que
segregam homens e mulheres a ponto de precisarem viver em mundos
separados. O mesmo vlido para crianas, jovens, adultos/as e velhos/as.
A integrao e o compartilhar de nossas experincias, nossos sentimentos,
nossos valores, daquilo que somos, s poder trazer maior conscincia da
diversidade da experincia humana e aprendizado para aqueles/as que falam
e aqueles/as que escutam. Neste compartilhar, homens e mulheres poderiam
se encontrar e entender que seus mundos no so to diferentes ou distantes.
A experincia de ser humano/a nos torna muito mais iguais nas diferenas,
existindo a possibilidade de vislumbrar outros modos de relacionamento
entre as pessoas e com o mundo.
311
Referncias
Bardin, L. (1991). Anlise de Contedo. Lisboa: Edies 70.
Carlos, S. A., Jacques, M. da G. c., Larratea, S. V. & Heredia, O. C. (1999).
Identidade, aposentadoria e terceira idade. Cadernos de
Envelhecimento, 1 (1), p.77-88.
DaMatta, R. (1991). A casa e a rua: espao, cidadania, mulher e morte no
Brasil. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A.
Debert, G. G. (1994). Gnero e envelhecimento. Estudos Feministas 2 (1),
p.33-51.
________. (1998). A antropologia e o estudo dos grupos e das categorias
de idade. In: M. M. L. de Barros (org.), Velhice ou terceira idade?
Estudos antropolgicos sobre identidade, memria e poltica (p.49-
68). Rio de Janeiro: Editora Fundao Getlio Vargas.
________. (1999) A Reinveno da Velhice: socializao e processos de
reprivatizao do envelhecimento. So Paulo: Editora da
Universidade de So Paulo: Fapesp.
Ferrigno, J. C. (1998). Grupos de reflexo sobre o envelhecimento: uma
proposta de reconstruo da autonomia de homens e mulheres na 3
Idade. Gerontologia, 6 (1) p.27-33.
Gomes, W. B. (1997). A entrevista fenomenolgica e o estudo da
experincia consciente. Psicologia USP, 8 (2), p.305-336.
Kude, V. M. M (1999). O mtodo fenomenolgico na pesquisa em
cincias humanas. Educao (37), p.51-72.
Laville, C. e Dionne, J. (1999) A construo do saber: manual de
metodologia da pesquisa em cincias sociais. Porto Alegre: Artemed.
Minayo, M. C. de S. (1999). O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em sade. (6 ed). So Paulo/Rio de Janeiro: HUCITEC-
ABRASCO.
Moraes, R. (1993). Anlise de contedo. Porto Alegre: Curso de Ps-
Graduao em Educao/ PUCRS (mimeo).
Moraes, R. (1999). Anlise de contedo. Educao (37), p.7-32.
312
Navarro, P. & Daz, C. (1994). Anlisis de contenido. In: J. M. Delgado
& J. Gutirrez. (orgs.), Mtodos y tcnicas cualitativas de
investigacin en ciencias sociales (p.177-221). Madrid: Sntesis S.A.
Neri, A. L. & Cachioni, M. (1999). Velhice bem-sucedida e educao. In:
A. L. Neri & G. G. Debert (orgs.). Velhice e sociedade (p.113-140).
Campinas, So Paulo: Papirus.
Nolasco, S. (1995). O mito da masculinidade. (2 ed). Rio de Janeiro:
Rocco.
Peixoto, C. (1997). De volta s aulas ou de como ser estudante aos 60
anos. In: R. Veras (org.) Terceira Idade: desafios para o terceiro
milnio (p.75-102). Rio de Janeiro: Relume-Dumar.
________. (1998). Entre o estigma e a compaixo e os termos
classificatrios: velho, velhote, idoso, terceira idade. In: M. M. L. de
Barros (org.) Velhice ou terceira idade? Estudos antropolgicos
sobre identidade, memria e poltica (p.69-84). Rio de Janeiro:
Editora Fundao Getlio Vargas.
Richardson, R. J. (1989). Pesquisa social: mtodos e tcnicas. 2 ed. So
Paulo: Atlas S.A.
Sais, A. P. (1995). Coisas de velho: coisas de vida. Dissertao de
Mestrado. So Paulo: PUCSP.
SantAnna, M. J. G. (1997). UnATI, a velhice que se aprende na escola:
um perfil de seus usurios. In: R. Veras (org.) Terceira Idade:
desafios para o terceiro milnio (pp.75-102). Rio de Janeiro:
Relume-Dumar.
Simes, R. (1994). Corporeidade e terceira idade. Piracicaba: UNIMEP.
Strey, M. N. (1998). Gnero. In: M. da G. Jacques, M. N. Strey, N. M. G.
Bernardes, P. A. Guareschi, S. A. Carlos & T. M. Fonseca (orgs.).
Psicologia social contempornea: livro texto (p.181-198). Petrpolis,
Rio de Janeiro: Vozes.
Trivinos, A. N. S. (1987). Introduo a pesquisa em cincias sociais: a
pesquisa qualitativa em educao. So Paulo: Atlas.
313
Veras, R. & Camargo Jr., K. R. (1995). Idosos e universidade: parceria
para qualidade de vida. In: R. Veras et al. (orgs.) Terceira Idade: um
envelhecimento digno para o cidado do futuro (p.11-28). Rio de
Janeiro: Relume-Dumar: UnATI/UERJ.
Você também pode gostar
- Ética e Paradigmas Na Psicologa SocialDocumento158 páginasÉtica e Paradigmas Na Psicologa Socialediclay dinizAinda não há avaliações
- Psicologia SocialDocumento17 páginasPsicologia Socialgabriela.costa2019Ainda não há avaliações
- Varius Multiplex Multiformis - Epistemologia Do Self No Pós-ModernismoDocumento159 páginasVarius Multiplex Multiformis - Epistemologia Do Self No Pós-ModernismoMalu RamalhoAinda não há avaliações
- Teoria das Representações Sociais: uma visão geral da teoria clássica em psicologia socialDocumento22 páginasTeoria das Representações Sociais: uma visão geral da teoria clássica em psicologia socialDenise Teberga100% (1)
- Estudo do ser humano contemporâneoDocumento133 páginasEstudo do ser humano contemporâneothiago de souza100% (1)
- Teorias das Representações SociaisDocumento22 páginasTeorias das Representações SociaisWanessa Do Bomfim MachadoAinda não há avaliações
- O Paradigma Ecológico na Psicologia ComunitáriaDocumento11 páginasO Paradigma Ecológico na Psicologia ComunitáriaRodrigoAinda não há avaliações
- Espiritualidade: revisão conceitual para consenso científicoDocumento17 páginasEspiritualidade: revisão conceitual para consenso científicoRui SousaAinda não há avaliações
- Diálogo transdisciplinar sobre a crise socialDocumento50 páginasDiálogo transdisciplinar sobre a crise socialMihantezAinda não há avaliações
- Epistemologia e produção de conhecimento na psicologiaDocumento9 páginasEpistemologia e produção de conhecimento na psicologiaVictoria De PaulaAinda não há avaliações
- Psicologia Escolar Crítica: Uma Introdução à Relação entre Escola e SociedadeDocumento315 páginasPsicologia Escolar Crítica: Uma Introdução à Relação entre Escola e SociedadeFelipeNakamuraAinda não há avaliações
- 2018 Gatti Psicologia Da Educação PDFDocumento11 páginas2018 Gatti Psicologia Da Educação PDFGabriel GarciaAinda não há avaliações
- Pensamento sistêmico: O novo paradigma da ciênciaNo EverandPensamento sistêmico: O novo paradigma da ciênciaAinda não há avaliações
- 18 A Ética e Seus AtributosDocumento305 páginas18 A Ética e Seus AtributosJulio MerijAinda não há avaliações
- ANDRADE e MORATO - para Uma Dimensão Ética Da Prática Psicológica em InstituiçõesDocumento9 páginasANDRADE e MORATO - para Uma Dimensão Ética Da Prática Psicológica em InstituiçõesCamila MaiaAinda não há avaliações
- Para Uma Psicologia em MovimentoDocumento7 páginasPara Uma Psicologia em MovimentoLuisa LopesAinda não há avaliações
- 18 A Ética e Seus AtributosDocumento305 páginas18 A Ética e Seus AtributosJulio MerijAinda não há avaliações
- (2020) A Sociologia Da Mentalidade Espírita. Ensaio Sobre Uma Ampliação Espírita Do Conceito de Sociedade (Livro Aephus)Documento15 páginas(2020) A Sociologia Da Mentalidade Espírita. Ensaio Sobre Uma Ampliação Espírita Do Conceito de Sociedade (Livro Aephus)4Help SuporteAinda não há avaliações
- Genero Re Politizando A Psicanalise PDFDocumento17 páginasGenero Re Politizando A Psicanalise PDFGustavo RamiroAinda não há avaliações
- A Invencao Da Psico SocialDocumento194 páginasA Invencao Da Psico SocialGabriel Godoi100% (2)
- Teste 2Documento1 páginaTeste 2Azevem OficinaAinda não há avaliações
- Teoria Da Aprendizagem Social (PA1a)Documento18 páginasTeoria Da Aprendizagem Social (PA1a)Euclides Roberto Carlos CossaAinda não há avaliações
- Psicologia SocialDocumento112 páginasPsicologia SocialGlaucio De SouzaAinda não há avaliações
- Mariana Prioli CordeiroDocumento188 páginasMariana Prioli CordeiroThiago MichelAinda não há avaliações
- Os diferentes tipos de conhecimentoDocumento6 páginasOs diferentes tipos de conhecimentoWellington SilvaAinda não há avaliações
- O Método Psicanalítico Como Abordagem Qualitativa: Considerações PreliminaresDocumento9 páginasO Método Psicanalítico Como Abordagem Qualitativa: Considerações PreliminaresHugo LeonardoAinda não há avaliações
- Processos psicológicos, biológicos e cogniçãoDocumento5 páginasProcessos psicológicos, biológicos e cogniçãoKevin LeyserAinda não há avaliações
- Apostila Direito Educacional e ÉticaDocumento52 páginasApostila Direito Educacional e ÉticaPaulo AlbertoAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento2 páginasResenhamayra.machadoAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Psicologia Curso de Graduação em PsicologiaDocumento47 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Psicologia Curso de Graduação em PsicologiayyykauanAinda não há avaliações
- Abordagens em Psicologia Saúde Mental Cotidiana - Volume 2Documento171 páginasAbordagens em Psicologia Saúde Mental Cotidiana - Volume 2Liber Residencial ClubeAinda não há avaliações
- Construção Social e Terapia FamiliarDocumento50 páginasConstrução Social e Terapia FamiliarDaniela CostaAinda não há avaliações
- Aula 1 - A Importância Da Filosofia para o Estudante de DireitoDocumento4 páginasAula 1 - A Importância Da Filosofia para o Estudante de DireitoLaura RasteliAinda não há avaliações
- o Lugar Da Psicologia Na educaÇÃo Contemporânea PDFDocumento12 páginaso Lugar Da Psicologia Na educaÇÃo Contemporânea PDFCamillaSobralAinda não há avaliações
- Aconselhamento Pastoral: Definições e Premissas FundamentaisDocumento26 páginasAconselhamento Pastoral: Definições e Premissas FundamentaisDiogo CrottiAinda não há avaliações
- Etica e ACP - Vieira e PinheiroDocumento29 páginasEtica e ACP - Vieira e PinheiroPatricia DaibesAinda não há avaliações
- Anotações/resumo Do Livro Psicologia e Ideologia Cap 1Documento3 páginasAnotações/resumo Do Livro Psicologia e Ideologia Cap 1Isabelly GodoiAinda não há avaliações
- Religião e secularização em VattimoDocumento123 páginasReligião e secularização em VattimoDouglas SantosAinda não há avaliações
- Desafios Éticos - CFMDocumento237 páginasDesafios Éticos - CFMFábio Henrique MotterAinda não há avaliações
- A ideologia liberal nas matrizes da PsicologiaDocumento3 páginasA ideologia liberal nas matrizes da PsicologiaWilson Luis SilvaAinda não há avaliações
- O papel da ideologia na Psicologia SocialDocumento169 páginasO papel da ideologia na Psicologia SocialJanny Gomes Quixaba SilvaAinda não há avaliações
- Adolescência - de Que Crise Estamos FalandoDocumento178 páginasAdolescência - de Que Crise Estamos FalandoChiara Lorenzzetti HerreraAinda não há avaliações
- A Atenção, A Infância e Os Contextos EducacionaisDocumento10 páginasA Atenção, A Infância e Os Contextos EducacionaisDaniy A LainesAinda não há avaliações
- Capítulo ReencarnaçãoDocumento36 páginasCapítulo ReencarnaçãoDora IncontriAinda não há avaliações
- Psicologia Da Educação - B. GattiDocumento8 páginasPsicologia Da Educação - B. GattiJeinni Puziol JKAinda não há avaliações
- Apostila Psicologia Social IIDocumento137 páginasApostila Psicologia Social IIJefferson100% (1)
- Conhecimento como valor éticoDocumento11 páginasConhecimento como valor éticoamiel moraisAinda não há avaliações
- 48 D 206Documento155 páginas48 D 206Mardem Leandro Silva100% (1)
- A origem e objetivos da SociologiaDocumento75 páginasA origem e objetivos da SociologiaWilson MirandaAinda não há avaliações
- Filosofia 1305 PDFDocumento12 páginasFilosofia 1305 PDF臭素ゲーマーAinda não há avaliações
- Ana Paula Da Silva Baima PDFDocumento117 páginasAna Paula Da Silva Baima PDFEmpresarialAinda não há avaliações
- Psicologia, Filosofia e Experimentação: Diálogo com Kierkegaard e FoucaultDocumento17 páginasPsicologia, Filosofia e Experimentação: Diálogo com Kierkegaard e FoucaultJoão LipkeAinda não há avaliações
- PATRIMÔNIOS INDIVIDUAISDocumento32 páginasPATRIMÔNIOS INDIVIDUAISIgor Oliveira100% (1)
- Psicoterapias: direções técnicas e epistemológicasDocumento180 páginasPsicoterapias: direções técnicas e epistemológicasMari Sz ThiAinda não há avaliações
- PATARO, CSO. Cultura e Sujeito - o Papel Das Crenças Na Organização Do Pensamento Humano PDFDocumento185 páginasPATARO, CSO. Cultura e Sujeito - o Papel Das Crenças Na Organização Do Pensamento Humano PDFPauloAinda não há avaliações
- 13 A PSICOLOGIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Quais InterfacesDocumento5 páginas13 A PSICOLOGIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Quais InterfacesGessica AquinoAinda não há avaliações
- Crítica à moral pura: uma reflexão dialética sobre o ensino de valores na educação básicaNo EverandCrítica à moral pura: uma reflexão dialética sobre o ensino de valores na educação básicaAinda não há avaliações
- Filosofia e Saúde na contemporaneidadeNo EverandFilosofia e Saúde na contemporaneidadeAinda não há avaliações
- Metodo Equilibrio DR Tan LIVRO TRADUZIDODocumento176 páginasMetodo Equilibrio DR Tan LIVRO TRADUZIDOdefensormaldito100% (6)
- Ritual de Júpiter Grupal PDFDocumento5 páginasRitual de Júpiter Grupal PDFAndrea GiorginiAinda não há avaliações
- Acupuntura Pulso-TornozeloDocumento67 páginasAcupuntura Pulso-TornozeloMarcelo Costa Camargo100% (2)
- Catalogo Ferramentas Orixas Candomble UmbandaDocumento5 páginasCatalogo Ferramentas Orixas Candomble UmbandadefensormalditoAinda não há avaliações
- Lei 8112 Anotada MPOGDocumento279 páginasLei 8112 Anotada MPOGDgAinda não há avaliações
- Ogum e Suas FalangesDocumento5 páginasOgum e Suas FalangesdefensormalditoAinda não há avaliações
- Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Umbanda Vol 3Documento128 páginasTudo o Que Você Precisa Saber Sobre Umbanda Vol 3defensormaldito100% (4)
- Umbanda Estudo Basico PDFDocumento94 páginasUmbanda Estudo Basico PDFRomeu NataleAinda não há avaliações
- Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Umbanda Vol 2 PDFDocumento128 páginasTudo o Que Você Precisa Saber Sobre Umbanda Vol 2 PDFdefensormaldito100% (1)
- Dissertação Rafael de Nuzzi DiasDocumento309 páginasDissertação Rafael de Nuzzi DiasVeridiana MachadoAinda não há avaliações
- Apostila Curso - Fundamentos Basicos de UmbandaDocumento37 páginasApostila Curso - Fundamentos Basicos de UmbandaNayara Resende50% (2)
- Ferramentas de Orixás - CANDOMBLÉ E UMBANDADocumento10 páginasFerramentas de Orixás - CANDOMBLÉ E UMBANDAdefensormaldito100% (1)
- Redução Da Insegurança PúblicaDocumento48 páginasRedução Da Insegurança PúblicadefensormalditoAinda não há avaliações
- Seguindo Os Passos Da História - Cidades InfernaisDocumento18 páginasSeguindo Os Passos Da História - Cidades InfernaisdefensormalditoAinda não há avaliações
- Ferramentas de Orixás - CANDOMBLÉ E UMBANDADocumento10 páginasFerramentas de Orixás - CANDOMBLÉ E UMBANDAdefensormaldito100% (1)
- Lampíão, Um Rastro de Ousadia e Ódio Pela Caatinga (Coleção Princípios)Documento7 páginasLampíão, Um Rastro de Ousadia e Ódio Pela Caatinga (Coleção Princípios)defensormalditoAinda não há avaliações
- Seguindo Os Passos Da História - Fábrica, Aço e Vapor - A Revolução IndustrialDocumento14 páginasSeguindo Os Passos Da História - Fábrica, Aço e Vapor - A Revolução IndustrialdefensormalditoAinda não há avaliações
- Folha Online - Cotidiano - Falta de Saneamento Mata Mais Que Crime - 16-07-2000Documento3 páginasFolha Online - Cotidiano - Falta de Saneamento Mata Mais Que Crime - 16-07-2000defensormalditoAinda não há avaliações
- Uma Interpretação Analítico-Comportamental Do Bem Na Sociedade ContemporâneaDocumento5 páginasUma Interpretação Analítico-Comportamental Do Bem Na Sociedade ContemporâneadefensormalditoAinda não há avaliações
- Convite À CriminologiaDocumento30 páginasConvite À CriminologiadefensormalditoAinda não há avaliações
- Estudo Conceitual Sobre Os Espaços Urbanos Seguros: Carolina de Mattos RicardoDocumento17 páginasEstudo Conceitual Sobre Os Espaços Urbanos Seguros: Carolina de Mattos RicardodefensormalditoAinda não há avaliações
- É Possível Recuperar Os Criminosos Natos - Vida e Cidadania - Gazeta Do PovoDocumento2 páginasÉ Possível Recuperar Os Criminosos Natos - Vida e Cidadania - Gazeta Do PovodefensormalditoAinda não há avaliações
- Politica Criminal Dogmatica Penal Sistematico TeseDocumento151 páginasPolitica Criminal Dogmatica Penal Sistematico TesedefensormalditoAinda não há avaliações
- Os Contos e Os VigariosDocumento183 páginasOs Contos e Os VigariosdefensormalditoAinda não há avaliações
- Novas Doutrina e Política de Segurança PúblicaDocumento30 páginasNovas Doutrina e Política de Segurança PúblicadefensormalditoAinda não há avaliações
- Fotos Raríssimas e Tudo Sobre A Vida e Morte de Lampião Virgulino o Rei Do CangaçoDocumento28 páginasFotos Raríssimas e Tudo Sobre A Vida e Morte de Lampião Virgulino o Rei Do CangaçodefensormalditoAinda não há avaliações
- O Silêncio de Deus Na Lenda Do Grande Inquisidor - DOSTOIEVSKIDocumento6 páginasO Silêncio de Deus Na Lenda Do Grande Inquisidor - DOSTOIEVSKIdefensormalditoAinda não há avaliações
- O Cangaço e o Poder Dos CoroneisDocumento10 páginasO Cangaço e o Poder Dos CoroneisdefensormalditoAinda não há avaliações
- Notas Sociológicas Sobre A Vingança Homicida - Primeiras Reflexões - Blog Do IvenioBlog Do IvenioDocumento6 páginasNotas Sociológicas Sobre A Vingança Homicida - Primeiras Reflexões - Blog Do IvenioBlog Do IveniodefensormalditoAinda não há avaliações
- O Brasil Entre Beatos, Cangaceiros e Coronéis - Revista de HistóriaDocumento5 páginasO Brasil Entre Beatos, Cangaceiros e Coronéis - Revista de HistóriadefensormalditoAinda não há avaliações
- Descolonização, necropolítica e o futuro com Achille MbembeDocumento27 páginasDescolonização, necropolítica e o futuro com Achille MbembeClayton Moura100% (2)
- Plano de Aula ÁguaDocumento8 páginasPlano de Aula ÁguaDalila VieiraAinda não há avaliações
- Elisangela Valeria JesusDocumento47 páginasElisangela Valeria JesusFlávio SilvaAinda não há avaliações
- Boleto 1Documento1 páginaBoleto 1Guilherme Souza BritoAinda não há avaliações
- Elementos Químicos UEPADocumento5 páginasElementos Químicos UEPAJonathan AraújoAinda não há avaliações
- 17 - Norma Portuguesa - Ética Nas Organizações - Parte IIDocumento59 páginas17 - Norma Portuguesa - Ética Nas Organizações - Parte IIDavid Salomão Pinto Castanho Bizarro100% (1)
- Clinica de Pequenos AnimaisDocumento12 páginasClinica de Pequenos AnimaisJose Rafael SIlva JuniorAinda não há avaliações
- Jujutsu Kaisen - Capítulo 03 - Ler MangáDocumento1 páginaJujutsu Kaisen - Capítulo 03 - Ler Mangáramosemily688Ainda não há avaliações
- Trilha de Recuperação de Qu-I Etapa-3. Série Em-2023Documento9 páginasTrilha de Recuperação de Qu-I Etapa-3. Série Em-2023Sir. ZanetteAinda não há avaliações
- Cultura MS 2010 AlcinópolisDocumento92 páginasCultura MS 2010 Alcinópolisajaolio-1Ainda não há avaliações
- Caixa Sensorial Trabalho de GrupoDocumento6 páginasCaixa Sensorial Trabalho de GrupoDiogo GonçalvesAinda não há avaliações
- Java BásicoDocumento199 páginasJava BásicobsbwesleyAinda não há avaliações
- Guia ARARAQUARA OK-1Documento34 páginasGuia ARARAQUARA OK-1Bruno Tosetto Piva NetoAinda não há avaliações
- Teorias do desenvolvimento infantil em três perspectivasDocumento94 páginasTeorias do desenvolvimento infantil em três perspectivasLidiAnaBoas100% (1)
- Introdução à Programação e Algoritmos Não ComputacionaisDocumento3 páginasIntrodução à Programação e Algoritmos Não ComputacionaisElina BaptistaAinda não há avaliações
- Os Efeitos Das Redes Sociais - Como É Que A Tecnologia Afeta o Seu CasamentoDocumento4 páginasOs Efeitos Das Redes Sociais - Como É Que A Tecnologia Afeta o Seu CasamentoJacinto DalaAinda não há avaliações
- Resultado ExamesDocumento5 páginasResultado ExamesContato ScaleAinda não há avaliações
- O guarda das fontesDocumento52 páginasO guarda das fontesgiovani-maiaAinda não há avaliações
- Tese Antonio Gilberto Abreu de Souza PDFDocumento376 páginasTese Antonio Gilberto Abreu de Souza PDFJaqueline VieiraAinda não há avaliações
- DRX LivroDocumento52 páginasDRX LivroKaue VergaraAinda não há avaliações
- Regime Jurídico Do MPTDocumento79 páginasRegime Jurídico Do MPTMurilo Henrique BedoreAinda não há avaliações
- Supressão de Sibipiruna morta em canteiro de AraguariDocumento10 páginasSupressão de Sibipiruna morta em canteiro de AraguariCarlos Rodrigues do Amaral NetoAinda não há avaliações
- Como se relacionar com amigas sem entrar na friendzoneDocumento7 páginasComo se relacionar com amigas sem entrar na friendzonevalentebauruAinda não há avaliações
- História da Enfermagem emDocumento18 páginasHistória da Enfermagem emGUADALUPE SENA67% (3)
- APS 8º Semestre DPDocumento53 páginasAPS 8º Semestre DPGabriella LopesAinda não há avaliações
- 01 Exp9 Teste3 Movimentos Forcas Jan2019Documento4 páginas01 Exp9 Teste3 Movimentos Forcas Jan2019Vera Ferreira100% (3)
- Ensino a distância e desenvolvimento motor infantilDocumento3 páginasEnsino a distância e desenvolvimento motor infantilLuciana100% (1)
- Lei N.º 62 - 2013, de 26 de AgostoDocumento34 páginasLei N.º 62 - 2013, de 26 de AgostoFrancisca GaudêncioAinda não há avaliações
- INFANTIL, para Crianças. - Joãozinho, o Terror Das Professoras!Documento2 páginasINFANTIL, para Crianças. - Joãozinho, o Terror Das Professoras!Andressa BarbozaAinda não há avaliações