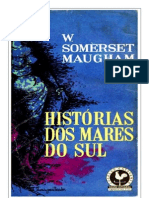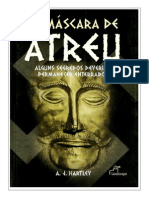Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A. D. Feldman - O Varredor de Carcaças
Enviado por
Vitorino CruzDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A. D. Feldman - O Varredor de Carcaças
Enviado por
Vitorino CruzDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A VARREDOR DE CARCAAS
A. D. FELDMAN
Crditos:
Edio:
A. D. Feldman
Reviso:
Geuid Dib JardimOswaldo Cogo
Edio de arte, projeto grfico,
diagramao e capa:
Klia Cristina Botta
FBN:
6513/00
4
A MO DIREITA
(para J. D. Salinger)
A carne viva e cmplice. Fiel e presen-
te em todos os momentos. At as mos se
cansam um dia. Se enrugam, perecem.
Escravas de desejos controlados e que nos
surpreendem.
A mo direita sempre realizou mais que
a esquerda. Ambas morrem juntas. A na-
tureza no julga as justias do fazer, so-
mente do ser. Num mpeto de clera a mo
direita pega uma faca e corta a sua gmea
sem piedade. A outra cada, mistura-se com
o sangue que flui do brao como gotas de
chuva. A direita atira a faca longe e tenta
inutilmente aplaudir o que fez.
5
A SUBIDA DE ELIAS
Um dia todos se cansam. No h mais
nimo e parece que os minutos so eter-
nos. Facilmente chegamos a este dia. To-
dos as manhs experimentamos um pou-
co deste estado. Hoje porm o ltimo de
Elias.
Elias acordou. Olhou sua volta. Nada
viu apesar da sala cheia de mveis e so-
nhos. Ergueu o corpo com dificuldade. No
que fosse velho. Tinha apenas trinta anos.
Pensou em telefonar mas desistiu. Foi ao
banheiro. Trancou a porta.
Retornou calado. Sentou-se na cama.
Admirou suas mos. Foi cozinha. Pegou
uma faca e retornou para sua cama. Dei-
tou-se novamente. Olhava o teto como
quem imagina estrelas. Parou.
Pegou a faca e num instante cortou um
pedao de sua coxa. Sem dor. Sem medo.
Puxou os nervos para fora e jurou que no
mais andaria naquele mundo. O sangue
escorrendo pelo lenol refletia a luz qua-
se-morta daquele quarto. Pensou nova-
mente em telefonar. Desistiu.
6
Cortou mais um pedao de sua pele e
comeou a se devorar. A fome de si era
muito grande. Mastigava suas fibras como
um animal. Sem medo, sem d tirou mais
alguns nervos antes que desmaiasse.
O telefone comeou a tocar mas no
mais haviam foras. O silncio era sua l-
tima resposta.
Quando a polcia chegou em seu apar-
tamento o corpo j estava imvel sobre a
cama com apenas a perna esquerda e um
sorriso de desdenho para com os que aqui
continuam.
Um jornal no dia seguinte misturou a
reportagem sobre a morte de Elias com o
lanamento de mais um nibus espacial.
O morador do apartamento foi lanado em
uma bola de fogo que pde ser observada
a quilmetros de distncia do local.
A nota com a errata nunca foi publi-
cada.
7
AS NUVENS
As nuvens eram as nicas que se mo-
viam em toda a Avenida Paulista. Desafi-
ando os prdios e as torres ousavam pas-
sar por entre eles com um ar de indiferen-
a. Os policiais olhavam fixamente o trn-
sito. Uma senhora cada atraia olhares cu-
riosos. Vendedores ambulantes gritavam
as costumeiras frases sem sentido. No ti-
nham resposta. Continuavam gritando. As
luzes dos carros estavam acesas, pois cho-
via. As guas nos pra-brisas eram o que
de mais prximo tnhamos das nuvens. A
imparcialidade devorava os pedestres. As
poas dgua refletiam o cu cinzento e
poludo. As luzes das ruas comeavam a
brilhar. Senhoras dentro dos apartamentos
corriam para fechar as janelas. A chuva
aumentava gradativamente. De repente um
raio cortara os cus. Aquela claridade
efmera arrancava medo de dentro das
lembranas mais ntimas. Os motoristas re-
clamavam que o rdio oscilava. Todos cor-
riam. Inutilmente corriam. As nuvens eram
as nicas que sempre voltariam mesmo
que a Avenida no mais existisse, mesmo
sem nada saber sobre todo o movimento
daqui de baixo.
8
O CHEIRO DA GRAMA MOLHADA
Fazia tempo que no chovia. O cu es-
curo durante o temporal trazia lembranas
que passavam vagarosas. As gotas de chu-
va salpicavam na janela querendo entrar
naquele mundo privado. Inutilmente escor-
riam. Os pensamentos se alternavam entre
o medo dos raios e o estrondo do trovo.
Quando garoto perguntava aos mais
velhos de onde vinham as guas da chuva
e por que os raios nervosos e cheios de
dio tinham de rasgar o cu daquele modo.
Nada ouvia. Tremia no canto do quarto e
rezava. A chuva pararia sempre dez minu-
tos aps seu pedido. Seu controle da na-
tureza era perfeito. Uma comunicao in-
fantil capaz de alterar fenmenos.
Hoje tudo diferente. Deus morreu. Um
cientista de universidade conseguiu
enterr-lo definitivamente. Sem dvidas e
sem mais questionamentos. O enterro teve
ar de cerimnia. Mas como era de se es-
perar, poucos compareceram. Ele no teve
direito a nada. Apenas chuva.
9
Ningum trouxe outra coisa para subs-
tituir o que o cientista havia matado. Ape-
nas a chuva. A chuva insistia em cair. Cho-
via todos os anos. Chovia sempre.
O poder infantil deu lugar ao silncio
que hoje observa as gotas frenticas pula-
rem no vidro. S as guas falam enquanto
os olhos fixos no vazio esperam a chuva
passar para sentir o cheiro da grama mo-
lhada que exala de todos os jardins.
10
O CRUZAMENTO
A ambulncia pedia passagem com
gritos que eram ouvidos a cem metros de
distncia. Os motoristas nervosos suavam
tentando achar uma brecha naquela inun-
dao de veculos. Os motores rosnavam
sem parar. As pessoas se acumulavam nas
ruas para ver o que acontecia mais adian-
te. Um policial tentava desesperadamente
controlar o trnsito. Uma mulher que vinha
da feira fazia o sinal-da-cruz. O rapaz do
bar dizia limpando o balco que aquilo j
era normal. A ambulncia berrava e o mo-
torista gesticulava com as mos para que
o caminho se abrisse. O cu nublado no
se manifestava. O sinal trocava de verde
para amarelo e de amarelo para vermelho
e vice-versa sem que os carros andassem.
Alguns motoristas curiosos saram dos car-
ros para ver o carteiro que fora atropelado.
As cartas manchadas de sangue espalha-
das no asfalto eram o testemunho da
barbrie. Um celular tocou perto do inci-
dente e a mulher que o atendera descre-
via a cena para uma vizinha do outro lado
da cidade que naquele momento fazia um
bolo. Os mendigos aproveitavam o espri-
11
to de caridade e reforavam suas esmolas
com aquelas pobres almas que doam pelo
carteiro. O carro que o jogou tinha desa-
parecido. A senhora que vinha da feira dis-
se que parecia um importado verde, en-
quanto o jornaleiro achava que era um jipe
azul. As informaes daltnicas pulavam
de boca em boca sem que se chegasse a
uma concluso. A ambulncia abriu cami-
nho raspando o pra-lama do carro de um
executivo que jurava que ia processar o es-
tado. Os atendentes imobilizaram o qua-
se-morto e o levaram para dentro do fur-
go. Enquanto confirmavam qual hospital
poderia atend-lo, um nibus na rua trans-
versal retirava vrios espectadores e os
levava embora. A confirmao veio. A
sirene voltou a gritar por passagem. As
portas da ambulncia se fecharam. Um
cachorro vagabundo que lambera o saco
de cartas corria atrs dela. O bolo seria
servido naquela mesma tarde. Os legumes
e as frutas da feira estavam frescos. O ve-
lho po com manteiga na chapa ainda era
a melhor sugesto.
12
O DESENHO DO PRATO
A cozinha agitada indicava que havia
gente naquela casa. Os meninos no terre-
no baldio ao lado ouviam o barulho das pa-
nelas enquanto corriam atrs de uma lagar-
tixa. A filha sonhava enquanto a me enxu-
gava as mos no avental. O cheiro de co-
mida impregnava os pensamentos. A meni-
na lentamente era atirada ao passado.
L brincava de realidade. Via o pai che-
gando cansado aps mais um dia de tra-
balho rduo e repleto de desesperanas.
Corria em sua direo para ganhar um
abrao. Aquele abrao era uma fotografia
na imaginao. O pai ajeitava o cabelo que
caa sobre os olhos e agachava para rece-
ber o conforto. A justificativa para a exis-
tncia se realizava ali.
Trs dias depois deste abrao o pai
havia partido. Segundo sua me, um ser que
ela no conseguia explicar o havia levado
para muito longe. A nica lembrana daque-
le dia foram as flores que enchiam a casa.
13
De repente a me ao seu lado coloca-
va comida no prato e aos poucos tampava
o desenho de rosas azuis. Novamente era
possvel ouvir as vozes dos meninos. Pe-
los gritos a lagartixa j deveria estar no
mesmo jardim que o seu pai.
14
O FILHO DE MRIAM
Ela era jovem. Bonita. Quando ele a
conheceu ela j carregava a vida em seu
ventre. Apaixonada com o amor que s
uma jovem sente. Havia se entregado ao
que naquele instante tinha sido a eternida-
de. Ele nunca soube se era uma vida vin-
da do amor pelo inimigo invasor ou de den-
tro da comunidade. No quis saber. Nun-
ca soube. Ele quis Mriam. Ela o aceitou.
O menino nasceu. O chamou de pai
at os sete anos e depois nunca mais.
Havia um desejo de preenchimento na pa-
lavra pai. O menino j rapaz e mais tarde
homem sempre quis o pai. O pai era o amor
de sua me. O pai era qualquer um na rua
e ningum no mundo. A solido devorou
sua alma corroendo seus sentimentos. O
grito abalou a todos. A dor despertou os
inimigos e a conscincia. Hoje o filho de
Miriam conhecido em todas as esquinas:
filho do amor que viveu no vazio da procu-
ra. Morreu injustamente. No virou rei nem
fez milagres. Pendurado com outros dois
homens sem nomes deixou Mriam sem
nada. Sua ltima frase foi dirigida ao pai
15
que nunca experimentara. A me nunca
dissera o nome. O no-pai estava esque-
cido. Ele era a nica realidade.
Trs dias depois da execuo a me
localizou o corpo indo para o incinerador...
As fbricas de morte da Europa funci-
onaram por vrios anos durante a guerra.
Hoje: o mundo respira o filho junto com o
vento a procura do pai.
16
O IRMO
Noite quente de vero: quarto abafa-
do. Suor. O tempo gruda nas paredes e
passa to lentamente que chega a ser per-
cebido. Calado um homem pensa. Pensa
se teria brincado com o irmo. Se teriam
ido a algum parque juntos. Se teriam se
gostado. Sido amigos ou rivais. O quanto
teriam rido ou chorado. Ou teriam apenas
um e no outro. Pensa e imagina o tempo
escorrendo pelas paredes trazendo a figu-
ra de seu pai para junto dele no quarto.
Conversando imaginativamente com um
morto. O delrio da perda subia lentamen-
te por suas veias j entristecidas com a ce-
rimnia de stimo dia. A partir daquele
momento o mundo e o ambiente daquele
quarto no mais seriam compartilhados e
divididos por pai e filho. Sozinho. Pensa-
va. A imagem do irmo era uma incgnita
sem fim. Um labirinto sem entrada e um
mar sem gua. H momentos que somos
enganados por nossos desejos e devemos
apenas dormir. O tempo se encarregar de
nos trazer superfcie da existncia mes-
mo que no desejemos. Ele pensava. Pen-
17
sava no irmo. Imaginava repetidamente
a mesma coisa: se teriam ido juntos a al-
gum parque, se teriam sido rivais ou ami-
gos, se teriam se odiado como somente
irmos se odeiam, se teriam divido com
choros e lgrimas o mesmo pai, o mesmo
quarto. Enquanto isso, o tempo escorria
lentamente para o fundo do relgio que
gritava com sons frenticos que era hora
de qualquer pessoa normal estar dormin-
do. Obedecendo s ordens, trocou rapida-
mente de roupa e se deitou. Chorou por
dezoito minutos e adormeceu. A dor ficaria
como ele, adormecida. Sonhou sonhos j
sonhados e repetitivos. Quando acordou
na manh seguinte abriu os olhos com mais
tranqilidade. Ele nunca teve um irmo.
Seu pai havia solicitado que a me abor-
tasse devido ao risco que ela correra para
ele estar ali. Tomou um copo de caf re-
quentado e foi trabalhar.
18
O J ARDINEIRO
A morte a melhor maneira de se co-
nhecer um ser humano. O silncio de um
morto a vingana pela indiferena. As fa-
ces de um velrio retratam as pessoas de
um modo to explcito que seria inadmiss-
vel a eternidade. Um homem que gosta de
ir a velrios no necessariamente um
necrfilo. Ele pode ser qualquer um. Imagi-
nar o prprio corpo apodrecendo no nada
mais do que uma conscincia extrema.
Na esquina de uma praa com uma
avenida que leva a um bairro classificado
como nobre h um canteiro central. No
canteiro h rvores e grama. Na grama
objetos espalhados: latas, papelo e sa-
cos pretos. O cheiro que exala das plantas
intimidado pelo odor de um homem que
ali apodrece vivo. Carcomido pelo tempo
cada instante uma ausncia. O mundo
ao seu redor passa a oitenta quilmetros
por hora e pra no farol a cem metros. A
indiferena do sol e das pessoas queima
suas entranhas j quase que totalmente de-
bilitadas. No h suor. No h lgrimas.
S buzina quando o farol abre e algum
19
tem a ousadia de se distrair. No conse-
gue mais se levantar. As pernas j no o
respeitam. Arrasta-se para perto de uma
das rvores quando obrigado a urinar.
Os tornozelos feridos, ressecados e com
vermes que saltam da pele raspam na gra-
ma gelada dando um instante de alvio. Dor.
Alvio e dor se alternam como o passar dos
segundos. Pesado para si prprio rasteja
para voltar e sentar num colcho abando-
nado. Deita. Nunca mais acorda. Aquela
foi a ltima vez que ele viu o sol. Trs dias
depois um jardineiro, desconfiado de um
co que corria para o canteiro central e
voltava com sangue nos plos, encontrou
o resto daquele ser. Aps a remoo o jar-
dineiro o acompanhou at ser enterrado.
O canteiro foi limpo. Horrorizado, o jardi-
neiro passou a roubar flores de tmulos e
salas de velrio para dar a qualquer um
que ainda tivesse vida.
20
O NIBUS
Era um dia quente. O nibus abria ca-
minho no meio do trnsito sem nenhuma
piedade. Solavancos jogavam os sonhos
dos passageiros para mais tarde. Naquele
recinto ambulante cada um vivia um ins-
tante pessoal e distante. Estar l era como
no existir. O som de buzinas e a fumaa
ficavam para fora da janela. A senhora bem
idosa observava suas veias saltadas na
mo enquanto lamentava a morte do mari-
do. O cobrador escorregava em sua pol-
trona e contava o dinheiro das passagens
como se fosse seu. Imaginara fugir com
tudo, porm a imagem de uma santa ao
lado do motorista continha sua idia. Um
senhor engravatado tentava ler um jornal.
As letras frenticas pulavam para dentro
de seus olhos ao mesmo tempo que arru-
mava o bigode. L dentro ningum tem
nome. A cada minuto mais alguns metros
so conquistados. Mais pensamentos so
consumidos. Ao lado da porta traseira um
rapaz murmurava numa lngua indecifrvel
uma msica bem animada. O nibus pra
de repente.
21
Trs senhoras sobem e cumprimentam
o motorista, enquanto um garoto pergunta
sobre o trajeto do nibus. Uma moa sobe
silenciosamente e senta atrs do motoris-
ta. Cada um experimenta no nibus uma
imagem inslita de si mesmo. Todos aut-
nomos num transporte coletivo. Cada um
indo para um destino diferente; todos no
mesmo lugar. Somente o motorista est
sozinho. Conduz em silncio. Solitrio.
Olhando o mundo l fora: um relgio no
pulso de um pedestre, trs moas atraves-
sam a rua fora da faixa, um senhor pas-
seia com o cachorro. Outro nibus no sen-
tido contrrio refletia a insolubilidade da
alma deste homem. O nibus pra definiti-
vamente. o ponto final. Os passageiros
descem. O cobrador fala com o fiscal. O
motorista lana os documentos pessoais
para fora da janela. Rasga o bolso da ca-
misa. Pega uma arma. Aponta. Atira. O
sangue escorre pelo vidro e cai na sua pr-
pria fotografia do lado de fora do nibus.
22
O PREGO
O prego caiu de um caminho. Pulou
duas vezes antes de parar na pista central
com a cabea no sentido oposto ao trfe-
go. Conforme os carros iam passando o
prego girava. Refletia a luz do sol. Brilhava
com uma naturalidade perversa. Girava.
Danava no asfalto. nibus, caminhes,
carros e motos desprezavam sua
luminosidade. Silncio. Veculos. Silncio.
Veculos. Estouro: um carro de passeio
teve o seu pneu perfurado pelo prego. O
homem que o guiava voltava para casa um
dia antes do previsto para fazer uma sur-
presa para sua mulher e seu filho aps se-
manas de trabalho. Tinha estado na frente
do caminho nos quilmetros iniciais, po-
rm havia resolvido parar num posto para
tomar um refresco. O prego tinha sido fa-
bricado h semanas numa cidade vizinha
e utilizado numa obra. No final fora coloca-
do no caminho para ser levado a outra
localidade. O caminhoneiro estava guian-
do por todo o trajeto com a habilitao
vencida. Alm de ter tomado o suco, o ho-
mem tambm havia urinado. Comprara al-
23
gumas flores. Entrara no carro, voltando
estrada para em vinte minutos ser abatido
pelo prego. No acidente perdeu o controle
da direo. Atravessou o canteiro central
e bateu de frente em um caminho com
um container que vinha do exterior com
materiais eltricos que seriam vendidos
pela metade do preo dos materiais nacio-
nais. Os veculos de emergncia chega-
ram minutos aps o desastre. Socorreram
o motorista do caminho que teve um cor-
te na testa. O homem e as flores ficaram
no canteiro oposto. Os curiosos observa-
vam o corpo rasgado pelos estilhaos e
ferragens enquanto outro prego caia da-
quele mesmo caminho 30 quilmetros
adiante.
24
O PROFESSOR
No intervalo entre dois pensamentos
os desejos fluem sem medo. O planeta gira
indiferente. Anoitece. As luzes das estre-
las alcanam a retina trazendo um passa-
do geometricamente morto. As estrelas
nem mais existem, porm continuam a in-
vadir os olhos. O silncio noturno rasga-
do por doses de barulhos que os carros e
motocicletas fazem. Lentido. A noite pas-
sa vagarosamente. Uma luz acesa no ter-
ceiro andar de um prdio residencial reve-
la a insnia do professor. Sozinho. Cala-
do. Fumando um cachimbo, observa o pas-
sar do tempo. Morosidade. Pedagogica-
mente analisa-se. Mos, braos, expecta-
tivas, juntas. Plos, unhas, sonhos, pernas,
dentes, paixes e ossos. Tudo revisto
como num teste. Passa outra motocicleta
e o raio das rodas refletem a luz da rua.
Gradualmente o planeta vai devorando o
cu. Em instantes o sol aparecer.
Demoradamente preguioso. Ele vai at a
cozinha, prepara o caf. Bebe. Escova os
dentes sem se olhar no espelho. Joga gua
nos olhos que brilham sem motivo. Veste
25
uma camisa com bolso. A cala e o sapato
de sempre. Pega uma caneta no pote ao
lado da estante e parte para mais um dia.
Se ele agentar o tdio orbital cotidiano,
conseguir se aposentar em trs semanas
com honra e estrelas no currculo.
26
O SACRIFCIO DE ISAAC
O menino voltava para casa de mos
dadas com o pai. Chorando com tanta dor
que a me at se assustou ao v-lo. Ela
nem sabia que os dois tinham sado. Ela
agiu durante aquele perodo como se o
mundo transcorresse normalmente. Foram
as lgrimas que caram em seus ps des-
calos que a deixaram sem compreenso.
O pai calado nada disse. O silncio s era
quebrado por soluos que o menino dava
nos intervalos entre um grito de medo e
outro de desespero. Sarah pegou seu filho
e foi at o canteiro olhar flores e pssaros
enquanto o pai calado permaneceu em
casa fitando o teto. O menino aos poucos
ia se distraindo e o sal de suas lgrimas
grudado na volta de seus olhos ainda re-
fletia a luz do sol que se punha no horizon-
te. Ele poderia no estar mais l. Poderia
deixar de ser. Nunca mais ter visto o pr-
do-sol. No ter mais sonhos. Ele poderia
no mais sentir o vento em sua face. No
ver as flores nem paisagens. Nem nunca
mais regar sua planta preferida no jardim.
Contudo, o menino voltara para casa com
27
uma ferida que seus filhos j no teriam
de carregar: o vazio. Vazio que nos teria
tragado para to longe que hoje no esta-
ramos julgando a atitude do pai que j
havia adormecido quando a me e o filho
retornaram do jardim.
28
O SONHO
Terminou de escrever a ltima linha.
Dobrou o papel. Jogou o restante dos
papeis no lixo. Pegou um pincel reservado
para as ocasies especiais e assinou seu
nome: Isaas. Fechou a porta que dava
para um vestbulo anexo. Tirou as roupas
pesadas e adormeceu. Sonhou sonhos e
memrias to profundos que numa frao
de segundos j era outro dia. Rezou. Foi
at a porta certificar-se de que tudo estava
bem como sempre. Rezou. Lavou as mos
e o rosto acariciando a face com uma tran-
qilidade angustiante. Sentou-se mesa.
Rezou. Bebeu e comeu e rezou. Instantes
passados no silncio da mais ntima satis-
fao. Aguardou o mensageiro que chegou
rasgando a porta, vindo do outro canto da
casa. Pegou os escritos e correu para o
seu ofcio enquanto a irm permaneceria
em casa. Os escritos debaixo do brao no
sabiam que s muitos anos mais tarde al-
gum desconfiaria de que houve dois es-
critores. Hanna sonhava com o futuro...
inatingvel... longe...
29
O VARREDOR DE CARCAA
Era segunda-feira, ningum havia com-
parecido para preencher aquela vaga. O
selecionador municipal aguardava sem
nenhuma pressa. Arrumava o jornal sobre
a mesa, tirava o p do telefone que quan-
do no berrava por horas era atendido
como se um doutor estivesse sendo inter-
rompido no meio de uma cirurgia.
A fumaa do cigarro se misturava ao
ar grosseiro do departamento e tornava-
se ntida com o filete de luz que trazia vida
quela sala morta. As poeiras danavam
ritmadas no vazio do ambiente, enquanto
o selecionador coava os fios do bigode
pensando no almoo que sua mulher teria
colocado na marmita. O tempo passava
lento com o nada que acontecia. Os pen-
samentos daquele homem eram to vaga-
rosos quanto sua vida centrada na carrei-
ra pblica, no deus comum e no futuro b-
vio. A mediocridade era parte da alma des-
te ser moldado nas mais frias armas do
sculo XX.
30
Dois minutos aps a seo ter sido
aberta, um senhor magro com os olhos in-
seguros e com a pele retorcida pelo tempo
entra calmamente na repartio. O jeito
acanhado e medroso, submisso e brasilei-
ro de um pobre que ainda tem respeito pelo
significado da repartio to evidente
quanto o descaso que ambos representam.
O velhote pediu licena e perguntou sobre
a vaga. O selecionador municipal o devo-
rou com os olhos treinados para avaliar o
maltrapilho perfeito para o cargo. Parecia
ser esta a chance de promoo. Contrata-
se um para ficar de joelhos para outro le-
vantar o pescoo. Um ar de felicidade se
ergueu sobre o setor. Explicou que o tra-
balho consistiria em pegar os sacos plsti-
cos pretos e caminhar pelas rodovias, que
so as artrias da cidade, retirando as car-
caas dos cachorros abandonados e atro-
pelados pelo destino. Assinou a ficha. Mas
nunca registrou uma s carcaa e o uso
de algum dos sacos. Com a reforma feita
anos mais tarde, descobriram que o ho-
mem magro catalogado como revisor da
limpeza urbana se alimentava do fruto de
seu trabalho para sobreviver...
31
EU
Quando esquecemos de nosso nome
que a liberdade se faz presente. Cansa-
do da inao, levantei. Recusei-me a abrir
a janela, pois a presena do sol se fazia
indiferente minha. No troquei de roupa,
apenas me despi. Abri a porta do quarto
que j no era mais meu. Aquele ambiente
seria lembrado pelos outros como um lu-
gar estranho. No me importava. Atraves-
sei a sala cheia de mveis e sem vida. A
televiso ligada fora do ar era a prova de
que havia estado l durante a noite. No
desliguei. Agarrei as chaves como um guer-
reiro segura sua arma. Abri a porta com
conscincia e fora. Sa. Vi o hall do ele-
vador vazio e gelado. Resolvi utilizar as
escadas. Subi degrau por degrau. Andar
por andar. Passo a passo. At o momento
em que percebi que no estava completa-
mente nu. O relgio em meu pulso esquer-
do mostrava a hora, os minutos, os segun-
dos, o dia, o ms, o ano. Era quinta-feira.
Chegando no ltimo andar abri a porta que
leva cobertura. Uma brisa gelada com
uma maciez violenta tentou me perturbar.
Meus cabelos revelaram a velocidade dos
32
fatos enquanto voavam ao vento. Olhei
para baixo e vi pessoas gritando e apon-
tando para mim. Subi no parapeito. Vi os
prdios vizinhos. Uma agitao marcava o
momento. Meu corao acelerou. Olhei.
Respirei. Tirei o relgio e o deixei no cho.
Dei um passo... um frio na barriga... tudo
muito agitado diante de meus olhos repa-
rei que... se pulasse teria de dizer tudo
muito rpido.
Fui preso. Agora providenciaram uma
cala, uma camiseta e um psiquiatra. Ama-
nh talvez possa voltar para casa. A polici-
al que me acompanhou at aqui pegou
minha identidade em casa e a trouxe para
o doutor. Amanh. Talvez amanh quando
ela devolver meu nome eu possa voltar
para casa. Normal. Talvez.
33
SO PAULO
So Paulo. Quarta-feira. Um dia a mais,
qualquer. Os despertadores j haviam to-
cado h pelo menos duas horas. Ruas e
avenidas estavam cheias. Os motores exi-
giam combustvel enquanto motoristas pro-
curavam por algum espao. Somos livres
por isso acordamos cedo, vamos ao tra-
balho e voc escola, dizia um pai ao fi-
lho, inconformado com aquela lentido.
So Paulo assim: imensido de espao
comprimido. Tudo apertado. Tem de dar
tempo. Noutro veculo um celular chama-
va desesperadamente por resposta. Um
pedestre atravessava por entre os vecu-
los sem medo. O sinal brincava e coloria a
urbanidade. Uma secretria passava ba-
tom. Os olhos atentos ao trnsito. Dois mi-
nutos, cinco metros. Mais dois minutos
mais metros. Aquela morosidade dos ve-
culos era justificada a cem metros dali. H
dez minutos um motoqueiro e sua garupa
caram. Um caminho qualquer teria sido
um possvel responsvel. Sirenes gritavam
por uma brecha. Policiais apitavam com fu-
ror. Mas era tudo intil. O sangue no asfal-
to comeava a coagular. Os olhos parados
34
nada mais viam. As buzinas imploravam
por lugares inexistentes. Um a um os car-
ros passavam pelos corpos como num ve-
lrio. Diferentes reaes em cada face,
muitas vezes nenhuma. Os apitos frenti-
cos tentavam apressar as reverncias. Um
menino via os dois abraados. Um execu-
tivo continuou fazendo a barba para ganhar
tempo. Todos queriam sair dali. Os sonhos
no podiam se perder naqueles minutos.
No choveu naquele dia.
Misturando o cenrio paulistano
frentico e annimo a elementos
judaicos bblicos e modernos, os
contos refletem uma urbanidade
catica da vida em sociedade.
Personagens sem nomes,
profissionais, transeuntes e motoristas
tentam vencer o tempo, o vazio e a
prpria cidade para realizar seus
desejos banais ou devaneios mais
ntimos. A frieza e a indiferena so
marcadas por sadas violentas que
levam o leitor a uma reflexo mais
profunda do significado da
modernidade trazendo para a fico
um cotidiano comum e muito rpido.
Transformando a crtica falta de
sensibilidade e perspectiva em
palavras e situaes tpicas das
grandes cidades, somos atirados
diante de um espelho cujo reflexo
depender exclusivamente de
detalhes que devem ser apreendidos
durante a leitura. A responsabilidade
de cada um e a culpa vm tona
atravs de referncias bblicas que
adotam pontos de vistas e cenrios
diferentes da leitura tradicional. E, por
fim, a psicologia de cada personagem
construda dentro de uma tcnica
que utiliza o mnimo de palavras
possvel, fazendo uso da situao
vivenciada, deixando sua construo
final para o leitor.
j
t
f
i
d
i
l
t
i
K
l
i
C
i
t
i
B
t
t
Você também pode gostar
- Chão de giz e cowboy fora-da-leiDocumento93 páginasChão de giz e cowboy fora-da-leiJoão Mario Casaldáliga SilvaAinda não há avaliações
- Boas Vibrações, Boa Vida - Vex King (TRADUZIDO)Documento211 páginasBoas Vibrações, Boa Vida - Vex King (TRADUZIDO)Valeria SantosAinda não há avaliações
- Aquilino Ribeiro - O MALHADINHADocumento167 páginasAquilino Ribeiro - O MALHADINHAVitorino Cruz100% (1)
- Livro - SEGREDOS DA MAGIADocumento147 páginasLivro - SEGREDOS DA MAGIAAustrum91% (22)
- Historias Dos Mares Do Sul W Somerset MaughamDocumento294 páginasHistorias Dos Mares Do Sul W Somerset MaughamMateus_Utzig_6854100% (1)
- Exercícios para ativar o campo magnético MerkabahDocumento5 páginasExercícios para ativar o campo magnético Merkabahnettomn7Ainda não há avaliações
- Prólogo sobre a psicomagia e seus métodos terapêuticosDocumento37 páginasPrólogo sobre a psicomagia e seus métodos terapêuticosLuis Boris SantosAinda não há avaliações
- Perfil profissionalDocumento240 páginasPerfil profissionalKaroliny Almeida100% (5)
- O Sublime PeregrinoDocumento339 páginasO Sublime PeregrinolarissabsaAinda não há avaliações
- Projeto interdisciplinar para Ciências e MatemáticaDocumento4 páginasProjeto interdisciplinar para Ciências e MatemáticaNacélio Rodrigues100% (2)
- A importância dos contos de fadas no resgate do femininoDocumento19 páginasA importância dos contos de fadas no resgate do femininoMax Torrezan100% (1)
- Guiao de Trabalho Do Filme BabiesDocumento6 páginasGuiao de Trabalho Do Filme Babiesfjsantus100% (1)
- Agustina Bessa Luís - A BruscaDocumento71 páginasAgustina Bessa Luís - A BruscaVitorino Cruz100% (1)
- O Último Papa chega ao CéuDocumento161 páginasO Último Papa chega ao CéuVitorino CruzAinda não há avaliações
- Almada Negreiros - Manifesto Anti-DantasDocumento5 páginasAlmada Negreiros - Manifesto Anti-DantasVitorino CruzAinda não há avaliações
- O diário secreto de Alexandre Puskin de 1836-1837Documento108 páginasO diário secreto de Alexandre Puskin de 1836-1837uoudrojiAinda não há avaliações
- A. J. Hartley - A Máscara de AtreuDocumento445 páginasA. J. Hartley - A Máscara de AtreuVitorino CruzAinda não há avaliações
- Alec Ferrari - A Terceira OrdemDocumento109 páginasAlec Ferrari - A Terceira OrdemVitorino CruzAinda não há avaliações
- Alec Ferrari - A Terceira OrdemDocumento109 páginasAlec Ferrari - A Terceira OrdemVitorino CruzAinda não há avaliações
- PranaDocumento92 páginasPranamapapeAinda não há avaliações
- A mentira na natureza humanaDocumento187 páginasA mentira na natureza humanaVitorino CruzAinda não há avaliações
- Introdução à Quinta Força e Estudos Iniciáticos de Psicologia EspíritaDocumento53 páginasIntrodução à Quinta Força e Estudos Iniciáticos de Psicologia EspíritaVitorino CruzAinda não há avaliações
- Aleister Crowley - A TerraDocumento6 páginasAleister Crowley - A TerraVitorino CruzAinda não há avaliações
- Contrato de Prestação de Serviços de Psicologia Clínica IndividualDocumento2 páginasContrato de Prestação de Serviços de Psicologia Clínica IndividualEveraldo de CarvalhoAinda não há avaliações
- Programação 2022 do CEPDocumento166 páginasProgramação 2022 do CEPPaula S RodriguezAinda não há avaliações
- Grelhas AvaliaçãoDocumento22 páginasGrelhas AvaliaçãoIsabel Monteiro da Silva67% (3)
- Teste 1Documento2 páginasTeste 1Luísa CarmoAinda não há avaliações
- Declaração de Independência dos EUA: história e influênciaDocumento5 páginasDeclaração de Independência dos EUA: história e influênciaricamiAinda não há avaliações
- Importância do desenho arquitetônicoDocumento19 páginasImportância do desenho arquitetônicoAline DiasAinda não há avaliações
- Fases desenvolvimento humano PiagetDocumento7 páginasFases desenvolvimento humano PiagetPanzoAinda não há avaliações
- Intermidialidade: Esboços para uma Bibliografia BrasileiraDocumento26 páginasIntermidialidade: Esboços para uma Bibliografia BrasileiraGustavo Ramos de SouzaAinda não há avaliações
- Luciano Maffia Gep Abrh 2016Documento38 páginasLuciano Maffia Gep Abrh 2016Matheus DiasAinda não há avaliações
- TESAURO Linguagem de Representacao Da Memoria Documentaria PDFDocumento119 páginasTESAURO Linguagem de Representacao Da Memoria Documentaria PDFCarolina FiaschiAinda não há avaliações
- Lacan e a gramática do inconscienteDocumento32 páginasLacan e a gramática do inconscienteCassandra VérasAinda não há avaliações
- Adorando A Deus em Toda Nossa Maneira de ViverDocumento13 páginasAdorando A Deus em Toda Nossa Maneira de ViverDangelo NascimentoAinda não há avaliações
- Entrevista Paul Lovejoy PDFDocumento5 páginasEntrevista Paul Lovejoy PDFPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Ficha de Avaliação FisioterapêuticaDocumento3 páginasFicha de Avaliação FisioterapêuticabrunogfvAinda não há avaliações
- Recrutamento e Seleção para Telemarketing - Gestão de GruposDocumento2 páginasRecrutamento e Seleção para Telemarketing - Gestão de GruposEduardo Varela100% (1)
- As Relações Entre Canção, Imagem e Narrativas Nos VideoclipesDocumento12 páginasAs Relações Entre Canção, Imagem e Narrativas Nos VideoclipesCarolina RochaAinda não há avaliações
- Plano de Curso Antropologia FinalDocumento6 páginasPlano de Curso Antropologia FinalslrfariaAinda não há avaliações
- Cristovao Tezza-O Filho EternoDocumento4 páginasCristovao Tezza-O Filho EternoCodsi HurbanAinda não há avaliações
- Revisão de Literatura Pedagogia WaldorfDocumento20 páginasRevisão de Literatura Pedagogia Waldorfandreia006Ainda não há avaliações
- Desenvolvimento de indivíduos e grupos com a KailoDocumento27 páginasDesenvolvimento de indivíduos e grupos com a KailoSilas Capiroto100% (2)