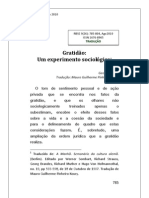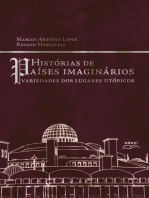Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
GAIGER, L. I. G. A Economia Solidária Diante Do Modo de Produção Capitalista PDF
Enviado por
Lidia MeloTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GAIGER, L. I. G. A Economia Solidária Diante Do Modo de Produção Capitalista PDF
Enviado por
Lidia MeloDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Luiz Incio Germany Gaiger
RESUMO: A literatura atual sobre a economia solidria converge em afirmar o carter alternativo das novas experincias populares de autogesto
e cooperao econmica: dada a ruptura que introduzem nas relaes de
produo capitalistas, elas representariam a emergncia de um novo modo de organizao do trabalho e das atividades econmicas em geral. O
trabalho discute o tema, retomando a teoria marxista da transio e analisando, sob esse prisma, dados de pesquisas empricas recentes sobre os
empreendimentos solidrios. Delimitando a tese anterior, conclui estarmos diante da germinao de uma nova forma social de produo, cuja tendncia abrigar-se, contraditoriamente, sob o modo de produo
capitalista. Extrai, por fim, as conseqncias tericas e polticas desse entendimento, posto que repe, em termos no antagnicos, a presena de
relaes sociais atpicas, no interior do capitalismo.
PALAVRAS-CHAVES: trabalho, cooperao, alternativas, Karl Marx, transio.
UM DEBATE TERICO E POLTICO
Na paisagem social dos ltimos anos, visvel a presena crescente de grupos informais, associaes e empresas de trabalhadores,
organizadas em bases cooperativas e em regime de autogesto. Embora sua forma mais comum sejam as cooperativas (de produo,
prestao de servios, comercializao ou crdito), tais princpios tm
sido observados em distintas organizaes econmicas, num verdadeiro poliformismo institucional, de empreendimentos situados em
diferentes setores produtivos da produo familiar indstria de
transformao envolvendo diversas categorias de trabalhadores. No
Brasil, o fato tem gerado uma profuso de estudos empricos (Gaiger,
1996; Singer & Souza, 2000) e de formulaes toricas (Mance, 2000;
1
Esse trabalho fruto de estudos do Grupo de Pesquisa em Economia Solidria da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (www.ecosol.org.br), com apoio do CNPq
e da FAPERGS.
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Artigos
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MO1
DO DE PRODUO CAPITALISTA
182
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
Cattani, 2003), alm de debates de natureza poltica (Singer e Machado, 2000), ao mesmo tempo em que se multiplicam estudos comparativos entre pases e continentes nos quais fenmenos similares se verificam (Laville, 1994; Defourny, Develtere e Fonteneau, 1999; Santos,
2002).
Segundo as teses correntes,2 essas iniciativas representariam
uma opo efetiva para os segmentos sociais de baixa renda, fortemente atingidos pelo quadro de desocupao estrutural e pelo empobrecimento. Em diferentes pases, pesquisas apontam que os empreendimentos solidrios, de tmida reao perda do trabalho e a condies
extremas de subalternidade, esto convertendo-se em considervel
mecanismo gerador de trabalho e renda, por vezes alcanando nveis
de desempenho que os habilitam a permaneceram no mercado, com
perspectivas de sobrevivncia (Nyssens, 1996; Gaiger et al., 1999).3
A caracterizao da economia solidria e o balano das principais teses acerca do seus fatores explicativos, ou do seu potencial
transformador, dados os diferentes aspectos a observar, demandaria
um artigo especfico, conforme indicado em linhas gerais em outros
trabalhos (Gaiger, 2003b; 2003c). A bem da verdade, desde o sc. XIX
registram-se tentativas de instituir formas comunitrias e democrticas de organizar a produo e o consumo, em resposta a aspiraes
de igualdade econmica e necessidade de garantir meios de subsistncia para a massa de trabalhadores. A expanso atual desses empreendimentos remete tanto a captulos anteriores dessa histria, quanto
a correntes de pensamento e ao poltica. Suas razes mais longnquas situam-se no sc. XIX europeu, quando a proletarizao do
mundo do trabalho provocou o surgimento de um movimento operrio associativo e das primeiras cooperativas autogestionrias de produo. Essa experincia esteve intimamente ligada a matrizes intelectuais que, desde ento, evoluram por caminhos diversos: socialistas
utpicos, anarquistas, cooperativistas, cristos e socialistas. O caldeamento operado entre essas vertentes, medida do aparecimento de
Duas coletneas, entre outras, contm elementos importantes desta discusso:
Kraychete, Lara e Costa, 1999 e Ponte Jr., 2000.
3 A primeira pesquisa nacional sobre o tema, de carter emprico comparado,
promovida pela Rede de Estudos e Pesquisas UNITRABALHO, ser publicada em
breve: Gaiger, L. (Org.). Sentidos e experincias de economia solidria no Brasil [no prelo].
2
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
183
experincias semelhantes em outros continentes e dos episdios marcantes na histria poltica do sc. XX, conduziu a uma profuso de
abordagens e entrada em cena de novas referncias, particularmente
no campo do pensamento cristo e do socialismo (Gaiger, 2003a).
Ao lado da ampla gama de experincias ditas de economia solidria, cotejam-se formulaes conceituais hoje em boa medida convergentes, mas no mutuamente redutveis, tais como empresas de economia popular, empresas sociais e cooperativas populares, por sua vez vinculadas a leituras interpretativas igualmente em confluncia, como economia do trabalho, socioeconomia, socialismo autogestionrio, economia plural, terceiro setor, economia da ddiva e outras. Apenas no momento, registramse as primeiras tentativas, valiosas, de ordenamento e clarificao dessa ampla gama de abordagens (Frana Filho, 2001; Cattani, 2003).4
O quadro promissor da economia solidria, alm de carrear rapidamente o apoio de ativistas, organizaes sociais e rgos pblicos,5 suscitou um interesse especial sobre o problema da viabilidade
desses empreendimentos, bem como sobre a natureza e o significado
contido nos seus traos sociais peculiares, de socializao dos bens de
produo e do trabalho. Setores da esquerda, reconhecendo ali uma
nova expresso dos ideais histricos das lutas operrias e dos movimentos populares, passaram a integrar a economia solidria em seus
debates, em seus programas de mudana social e em sua viso estratgica de construo socialista. Vendo-a seja como um campo de trabalho institucional, seja um alvo de polticas pblicas de conteno da
pobreza, seja ainda uma nova frente de lutas de carter estratgico,
vises, conceitos e prticas cruzam-se intensamente, interpelando-se e
buscando promover a economia solidria como uma resposta para os
excludos, como base de um modelo de desenvolvimento comprome-
Uma primeira reunio de vertentes e leituras tericas foi propiciada pela Revista de
Cincias Sociais da UNISINOS, em seu nmero temtico 59, de 2001. A
sistematizao terico-conceitual deve avanar medida que se concluam teses
sobre a economia solidria, atualmente em nmero expressivo nas universidades
brasileiras. Ter impulso igualmente na recm-criada Rede de Investigadores
Latinoamericanos de Economa Social y Solidria RILESS.
5 Cujos reflexos mais notrios so o Frum Brasileiro de Economia Solidria e a Secretaria
Nacional de Economia Solidria, do Ministrio do Trabalho e Emprego, ambos
criados em 2003.
4
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
184
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
tido com os trabalhadores, como sada diante do aprofundamento das
iniqidades, das polticas neoliberais, do prprio capitalismo.
A questo tornou-se objeto de intensa discusso, na qual se
manejam com freqncia teses e categorias da economia poltica marxista - leito de navegao tradicional do pensamento da esquerda sustentando argumentaes e respostas de natureza, sobretudo, ideolgica e programtica. Nesse contexto, as tentativas de teorizar o tema, com os cuidados que a tarefa requer, correm o risco de serem
apreciadas diretamente por seu impacto poltico, por seus efeitos de
legitimao sobre as elaboraes discursivas politicamente em confronto, dotadas de elevado grau de finalismo, de ingredientes teleolgicos prprios das ideologias. O fato suscetvel de ocorrer sobretudo com as formulaes mais audaciosas, que associam a economia
solidria a um novo modo de produo, no-capitalista (Tiriba, 1997; Singer,
2000; Verano, 2001), quer pela insuficiente explicitao conceptual
das mesmas, quer porque tendem a no serem vistas como problematizaes do tema, ou hipteses revisveis, mas sim como respostas
seguras, chancelando tomadas de posio e juzos definitivos.
Assim, convm ir devagar com o andor. Tomada como uma
sentena afirmativa, a tese em tela possui conseqncias amplas e
profundas, pois resolve de vez com a questo principal acerca do carter alternativo da economia solidria: o advento de um novo modo
de produo, como buscarei demonstrar, representa in limine a superao do modo de produo capitalista e das formaes sociais que
lhe correspondem, a instaurao de algum tipo de sociedade pscapitalista, cujas caractersticas tornar-se-iam historicamente predominantes. Interpretaes ligeiras dessa importante questo podem,
em verdade, manifestar uma pressa de encontrar respostas tranqilizadoras, por sua aparente eficcia poltica, pressa de que parecem ressentir-se os grupos de mediao, desorientados com a regresso da
agenda social, a falncia dos modelos de transio ao socialismo e a
carncia de teorias credveis que respaldem uma nova (ou apenas retocada) estratgia de interveno. Como assinala Jos de S. Martins
(1989, p. 135), h anos instalou-se uma crise na intelectualidade de
esquerda, por sua dificuldade em produzir uma teoria da prtica atual
e real das classes subalternas. O fato talvez revele um fenmeno cclico, posto que esse desencontro entre teoria e prtica, a primeira esCADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
185
tando em descompasso, registrou-se em outros momentos da nossa
histria poltica (Souza, 2000).
Naturalmente, os fatos avalizam uma viso politicamente otimista sobre o papel da economia solidria. No h dvidas de que o
concreto real, manifesto em tais acontecimentos o verdadeiro ponto
de partida (do pensamento) e, em conseqncia, o ponto de partida tambm da intuio e da representao (Gorender, 1978, p. 39). Todavia,
para ultrapassar esse ponto de partida e aceder ao concreto pensado, que
reproduz racionalmente o real, o pensamento necessita de um trabalho de elaborao que transforma intuies e representaes aqui,
do senso comum militante em conceitos. Entre os acontecimentos
e a teoria h uma lacuna a ser preenchida, no num salto, mas percorrendo um caminho de ida e volta. Um meticuloso vai-e-vem, em que
os dados empricos e as formulaes abstratas se esclarecem e vm
adequar-se mutuamente, tornando inteligvel a realidade, sob forma
de proposies, que no so simples reedio da teoria, tampouco
uma reproduo pura do real na primeira alternativa, estaramos
cristalizando a teoria e encerrando-nos em grades interpretativas aprioristas e inquestionveis; na segunda, ocultando involuntariamente
nossos conceitos e premissas implcitas.6
A inteno desse trabalho estabelecer esse movimento, a partir da teoria em que se situa originalmente a categoria modo de produo,
inadvertidamente ou no colocada no cerne do debate sobre o carter
alternativo da economia solidria. Passos nessa direo foram dados
em ocasies anteriores, inicialmente com objetivo de sugerir a adequao e o valor interpretativo da teoria de Marx, acerca da produo
e da reproduo das grandes formaes histricas (Gaiger, 1998);
mais adiante, buscando evidncias empricas, analisadas com aquela
teoria de fundo, de modo a verificar o seu poder elucidativo e articulador das concluses alcanadas (Gaiger, 2001b). A tarefa que proponho, agora, impe um tratamento sistemtico das categorias e da teoria
da transio em Marx, para confront-las com os resultados apurados
6
A realidade histrica como toda realidade existe puramente,
independentemente de que a conheamos. Nisso consiste sua objetividade. Mas,
desde que a queiramos conhecer, sua existncia perde a pureza e se torna
referencial ao sujeito de conhecimento. Por isso, o dado puro uma fico, uma
ilogicidade. (Gorender, 1978, p. 43).
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
186
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
em pesquisas e com suas respectivas interpretaes. H um agudo
senso de filigranas, uma riqueza pouco conhecida na teoria da transio de Marx,7 que a vulgarizao nos meios intelectuais e militantes
tratou de eliminar, fixando-a em regras gerais supra-histricas, desprovidas de qualquer capacidade heurstica. O texto uma tentativa
de explorar essa riqueza. Suas concluses matizam e contradizem
parcialmente a tese do novo modo de produo, antes evocada; espero que
sejam apreendidas, tambm elas, em sua funo terica primordial, de
ponto de partida estimulante ao seguimento do nosso trabalho intelectual.
AS GRANDES CATEGORIAS ECONMICAS DE KARL MARX
Sabemos que modo de produo a categoria mais fundamental e
englobante, cunhada por Marx, para expressar sinteticamente as principais determinaes que configuram as diferentes formaes histricas. Essas determinaes encontram-se no modo como os indivduos,
de uma dada sociedade, organizam-se no que tange produo, distribuio e ao consumo dos bens materiais necessrios sua subsistncia; mais precisamente, na forma que assumem as relaes sociais
de produo, em correspondncia com um estado histrico de desenvolvimento das foras produtivas.
O emprego do termo modo de produo, nos textos de Marx, todavia no unvoco. O fato provocou apreenses diferenciadas,
tipologias suplementares (modos de produo perifricos,
secundrios, etc.) e tipos incompletos, como o modo de produo
simples.8 Tomando por base a exegese cuidadosa realizada por autores
dedicados ao assunto, tais entendimentos ficariam sem guarida, sendo
por outro lado necessrio reconhecer, ao menos, um outro uso
comum nos escritos de Marx, em que modo de produo possui um
carter meramente descritivo, referindo-se a uma certa forma
concreta de produzir (artesanato, manufatura) ou, mais amplamente, a
7 Na conferncia proferida no X Congresso Brasileiro de Sociologia (Fortaleza,
09/2001), intitulada Sociologia e sociedade; heranas e perspectivas, Gabriel
Cohn salientou que Marx possui todos os ingredientes para uma reflexo
organizada sobre o problema do tempo; do tempo das transies, acrescentaria.
8 Em que o trabalhador o proprietrio dos meios de produo, os pe em
movimento, individualmente ou em diminutas unidades de produo, geralmente
familiares, e negocia seu produto em condies que fogem sua lgica e domnio.
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
187
nato, manufatura) ou, mais amplamente, a um estgio geral de desenvolvimento tecnolgico (maquinismo, grande indstria).
A distino, como veremos adiante, tem interesse. Segundo M.
Godelier, nesse caso Marx est designando um modo material de produo, isto , os elementos e as formas materiais dos diversos processos de trabalho,
pelos quais os membros de uma sociedade agem sobre a natureza que os cerca para
extrarem os meios materiais necessrios s suas necessidades, produzirem e reproduzirem as condies materiais de sua existncia social. (1981, p. 169). Produzindo bens semelhantes, modos materiais de produo podem repousar, ou no, sobre idntica base tcnica. Um modo material de
produo no existe jamais isolado dos arranjos sociais do processo
de trabalho, a que corresponde um acionamento determinado das
foras produtivas ao alcance dos agentes econmicos. Vice-versa, a
instaurao plena de um modo de produo exige engendrar previamente
um novo modo material de produo, que lhe seja prprio e apropriado,
pois isso o que lhe faculta dominar o conjunto do processo de produo social e subverter as instituies que ainda sustentam a ordem
social, contra as novas necessidades de desenvolvimento. A alterao
profunda do modo de apropriao da natureza , ao mesmo tempo,
requisito e vetor de toda nova formao social (Godelier, 1981).
O conceito de modo de produo diz respeito totalidade histrica, dada pelo conjunto de relaes que vinculam os indivduos e
grupos ao processo de produo, no sentido amplo de suas condies
materiais de existncia, compreendendo igualmente a circulao e
troca dos bens materiais (Godelier, 1981). Representa a forma estruturante de cada sociedade, pela qual so providas as suas necessidades
materiais, em um dado estgio do seu desenvolvimento. Em seu cerne, como elemento distintivo, comporta um mecanismo social especfico de criao, controle e apropriao do excedente social gerado pelo
trabalho, o que lhe confere uma lgica e traos prprios, imanentes
sua reproduo e ao padro dinmico de sua evoluo histrica (Shanin, 1980, p. 61).
O modo de produo capitalista nasce da reunio de quatro caractersticas da vida econmica, at ento separadas: a) um regime de
produo de mercadorias, de produtos que no visam seno ao mercado; b) a separao entre os proprietrios dos meios de produo e
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
188
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
os trabalhadores, desprovidos e objetivamente apartados daqueles
meios; c) a converso da fora-de-trabalho igualmente em mercadoria, sob forma de trabalho assalariado; d) a extrao da mais-valia, sobre o trabalho assim cedido ao detentor dos meios de produo, como meio para a ampliao incessante do valor investido na produo.
O capitalismo est fundado numa relao social, entre indivduos desigualmente posicionados face aos meios de produo e s condies
de posta em valor de sua capacidade de trabalho. Uma relao classista, que se efetua, atravs de uma colaborao ilusria, mas no menos real,
das trs classes bsicas, os assalariados, os capitalistas e os proprietrios fundirios, na qualidade de donos dos fatores responsveis pelos custos da produo de
mercadorias. (Giannotti, 1976, p. 164).
No curso do seu desenvolvimento, o capitalismo provocou
uma contnua transformao da sua base tcnica, mediante enorme
impulso das foras produtivas. Criando sua base prpria, renovando-a continuamente segundo suas necessidades, o capitalismo realiza
o que mais importa num modo de produo: instaura o processo que
vem a repor a sua prpria realidade, a reproduzi-la historicamente.
Por isso mesmo, formas econmicas desprovidas de uma estrutura
relativamente auto-suficiente, capaz de reconstituir continuamente as
relaes de expropriao e acumulao de excedentes prprias quelas formas, no remeteriam ao modo de produo como unidade de
anlise, sob pena de retirar dessa categoria seus insights analticos mais
importantes. (Shanin, 1980, p. 65) o caso da economia camponesa,
ou da produo simples de mercadoria, a menos que sejam vistas como formas incompletas, remanescentes de modos de produo outrora dominantes. No presente, tais formas passam ordinariamente a
funcionar como momentos do ciclo de acumulao do capital, muito
9
.10
Como recorda Singer, As revolues industriais tornaram-se economicamente
viveis porque a concentrao do capital possibilitou o emprego de vastas somas
na atividade inventiva e na fabricao de novos meios de produo e distribuio.
(2000, p. 12).
10 Assinala Giannotti: somente para evitar que se coloque num mesmo nvel de
realidade o modo de produo capitalista e os modos de produo subsidirios,
que se torna ento conveniente reservar a categoria de modo de produo para
designar o movimento objetivo de reposio que integra, num mesmo processo
autnomo, a produo, a distribuio, a troca e o consumo, deixando outros
nomes para as formas produtivas subsidirias, que o modo de produo capitalista
exige no seu processo de efetivao. (1976, p. 167).
9
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
189
embora possam dispor de margens de autonomia apreciveis, ao ocuparem os interstcios do processo capitalista. Os tempos atuais, de
acumulao flexvel, possuem como caracterstica, justamente, o emprego de formas variadas de organizao do trabalho, em que as relaes
de produo adquirem uma natureza aparente diversa, sendo todavia
partes de uma mesma estratgia de acumulao (Harvey, 1993), livre
ademais da obrigao de tolerar a resistncia de coletivos de trabalho
estveis.
Por certo, inmeras formas secundrias podem surgir, expandir-se e desaparecer durante a vigncia de um modo de produo,
como bem demonstra, na histria, a vitalidade das formas no dominantes de vida material. Sempre existiram margens de liberdade entre
esses nveis de organizao das prticas sociais e econmicas, sendo a
economia capitalista, em verdade, prdiga em exemplos. A questo
est em saber como o capitalismo atua ao fundo da cena, como tais
formas existem e perduram, submetendo-se ou reduzindo sua vulnerabilidade diante do modo de produo. Ou ainda, como tais formas,
a partir de seu lugar subalterno ou perifrico, podem encetar movimentos de alargamento do seu prprio campo e da sua lgica interna,
subtraindo-se, em alguma medida, ao controle do capital.
Para isso, necessrio saber se tais formas so tpicas ou atpicas para o modo de produo vigente. A questo conduz a uma terceira categoria, implcita nos textos de Marx e decorrente de sua preocupao em distinguir a aparncia da estrutura interna de toda relao social. A estrutura nuclear de um modo de produo, seu carter distintivo,
repousa no conjunto de propriedades de que se reveste o processo de
apropriao da natureza, nas relaes mtuas que nele se engendram entre
os indivduos, conforme sua posio diante das condies e dos resultados dos diversos processos de trabalho e segundo as funes que desempenham. Ou seja, tal estrutura est determinada pelas relaes sociais
de produo que lhe correspondem, por uma forma social de produo,
mediante a qual extorquido o sobre-trabalho do produtor direto.
11
Desde seus primrdios, o capitalismo valeu-se de formas de organizao do
trabalho que escapam s estritas condies de assalariamento e de extrao de
mais-valia. No sc. XIX, por exemplo, a substituio do sistema domstico pelo
sistema fabril foi longa e percorreu diferentes caminhos, havendo o maquinismo,
em certos casos, surtido um efeito multiplicador do trabalho a domiclio, j em
plena era industrial (Fohlen, 1974).
11
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
190
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
Cada modo de produo caracterizado por uma forma social
de produo especfica. Nas sociedades tribais primitivas, pelas relaes de parentesco, que ordenavam a apropriao do territrio, chave
para garantir os meios de subsistncia; no feudalismo, pela manumisso das obrigaes servis, exercida pelos senhores da terra sobre
quem nela trabalhava; no capitalismo, pelas relaes assalariadas, entre os vendedores da fora-de-trabalho o proletariado e os detentores dos meios de produo a burguesia. Mais do que um contrato
jurdico, o vnculo salarial o mecanismo que permite a apropriao
do trabalho excedente no interior do processo produtivo, sob forma
de mais-valia, conduzindo subseqentemente a um patamar superior
desta, por meio do incremento da produtividade do trabalho e do excedente extrado, contra os quais ao trabalhador indefeso pouco resta
fazer.
Por isso, o trabalho domstico, integrado na Idade Mdia ao
regime dominial da economia agrcola e artesanal (Neers, 1965), mudou radicalmente de sentido com o aparecimento do empresrio burgus, cuja finalidade de ganhos crescentes, nas relaes com os trabalhadores que aos poucos foi subordinando, redundou na proletarizao destes e na sua destituio progressiva do domnio objetivo e subjetivo de seu prprio trabalho. A introduo dessa nova lgica teve
variantes regressivas, como o sweating-system, empregado em cidades
como Nova Yorque e Londres ainda em meados do sc. XIX (Fohlen,
1974). Mais tarde, a evoluo do maquinismo culminou com o regime
fordista e taylorista, estabelecendo-se o limiar para a plena explorao
do trabalho assalariado, sob forma de mais-valia relativa. As estratgias adotadas pelo atual capitalismo avanado, de segmentao do
processo produtivo, emprego de operrios polivalentes e adoo de
contratos de trabalho precrios, nada mais so do que variaes jurdico-formais da relao assalariada, com fim na continuidade da acumulao (Harvey, 1993).
A chamada economia camponesa um caso ilustrativo das
formas sociais de produo capazes de adaptarem-se a modos de produo das quais so atpicas. Seu trao peculiar, comum s suas
diversas aparies histricas, o fato de as relaes de produo re12
12
Literalmente, sistema de suor ou transpirao.
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
191
pousarem na unidade familiar e na posse parcelar da terra. A famlia
define a existncia e a racionalidade do campesinato, rege sua organizao interna e suas interaes com o meio circundante. O clculo
econmico, a aprendizagem ocupacional, os laos de parentesco, os
princpios de respeito e obedincia, as regras de sucesso, eis alguns
sinais impressos pela dinmica familiar sobre o cotidiano campons.
Todavia, o campesinato reproduz-se a si mesmo, mas no sociedade
inteira. Alm disso, os sistemas externos de explorao do excedente,
com os quais se relaciona, so via de regra mais significativos do que
os mecanismos prprios ao seu modo de vida. No possvel compreender o funcionamento das unidades de produo camponesa sem
o seu contexto societrio. Nessas totalidades histricas, eles aparecem
com as suas singularidades, por vezes inerradicveis, ao mesmo tempo que adquirem feies introjetadas desde a estrutura social mais
ampla. Eles transitam entre modos de produo; para isso adaptamse, acomodam-se ou... rebelam-se.
13
UMA FORMA SOCIAL SOLIDRIA DE PRODUO?
O fenmeno da economia solidria guarda semelhanas com a
economia camponesa. Em primeiro lugar, porque as relaes sociais
de produo desenvolvidas nos empreendimentos econmicos solidrios so distintas da forma assalariada. Muito embora, tambm aqui,
os formatos jurdicos e os graus de inovao no contedo das relaes sejam variveis e sujeitos reverso, as prticas de autogesto e
cooperao do a esses empreendimentos uma natureza singular, pois
modificam o princpio e a finalidade da extrao do trabalho excedente. Assim, naquelas prticas: a) predomina a propriedade social dos
meios de produo, vedada a sua apropriao individual ou sua alienao particular; b) o controle do empreendimento e o poder de deciso pertencem sociedade de trabalhadores, em regime de paridade
de direitos; c) a gesto do empreendimento est presa comunidade
O fato de que esse cotidiano transcende a materialidade econmica e compreende
a vida social e cultural, inflexionada a partir da matriz familiar, nos previne contra
uma interpretao economicista da teoria de Marx, pois se trata de compreender, a
partir da lgica social que preside a organizao da vida material, as diferentes
formas da existncia humana.
13
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
192
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
de trabalho, que organiza o processo produtivo, opera as estratgias
econmicas e dispe sobre o destino do excedente produzido (Verano, 2001). Em suma, h uma unidade entre a posse e o uso dos meios
de produo.14
De outra parte, a cooperao mostra-se capaz de converter-se
no elemento motor de uma nova racionalidade econmica, apta a sustentar os empreendimentos atravs de resultados materiais efetivos e
de ganhos extra-econmicos. Pesquisas empricas vm apontando que
a cooperao na gesto e no trabalho, no lugar de contrapor-se aos
imperativos de eficincia, atua como vetor de racionalizao do processo produtivo, com efeitos tangveis e vantagens reais, comparativamente ao trabalho individual e cooperao, entre os assalariados,
induzida pela empresa capitalista (Gaiger et al., 1999; Peixoto, 2000).
O trabalho consorciado age em favor dos prprios produtores e confere noo de eficincia uma conotao bem mais ampla, referida
igualmente qualidade de vida dos trabalhadores e satisfao de
objetivos culturais e tico-morais.
A densidade dos vnculos coletivos certamente varivel, por
vezes restringindo-se a meros dispositivos funcionais para economias
de base individual ou familiar, por vezes alcanando a socializao
plena dos meios de produo e sobrepondo, aos interesses de cada
um, a sorte de um empreendimento associativo plenamente autogestionrio. O xito deste passa a decorrer decisivamente dos efeitos positivos do seu carter cooperativo (Gaiger, 2001b). Ademais, o trabalho exerce um papel nitidamente central, por ser fator preponderante, seno
exclusivo, em favor do empreendimento. Nessa condio, determina
uma racionalidade em que a proteo queles que detm a capacidade
de trabalho torna-se vital.15 Ao propiciar uma experincia efetiva de
dignidade e eqidade, o labor produtivo enriquecido do ponto de
O polimorfismo caracterstico das diversas iniciativas populares, includas no rol
da economia solidria, no impede que se opere uma reduo desta morfologia a
seus traos essenciais, como se faz aqui, para identificar a estrutura interna de suas
relaes constituintes, posto que nessas reside a sua lgica de desenvolvimento,
mesmo em estado de potncia.
15 O fenmeno foi observado h mais tempo, antes da atual crise do mercado de
trabalho provocada pela reestruturao produtiva do capitalismo: O nvel de
demisses nas empresas autogeridas praticamente invariante a curto prazo e
certamente menos varivel que nas empresas capitalistas. (Vanek, 1977, p. 266,
apud Coutrot, 1999, p. 109).
14
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
193
vista cognitivo e humano. O maior interesse e motivao dos associados, o emprego, mutuamente acordado, da maior capacidade de trabalho disponvel, a diviso dos benefcios segundo o aporte em trabalho, so fatos relacionados com a cooperao, no sentido de acionar
ou favorecer um maior rendimento do trabalho associado.
medida que essas caractersticas acentuam-se, provocam uma
reverso do processo ocorrido nos primrdios do capitalismo, quando o trabalhador foi separado dos objetos por ele produzidos e converteu-se em propriedade de outrem, em mercadoria adquirida e destinada ao uso do capital. A autogesto e a cooperao so acompanhadas por uma reconciliao entre o trabalhador e as foras produtivas que ele detm e utiliza. No sendo mais um elemento descartvel
e no estando mais separado do produto do seu trabalho, agora sob
seu domnio, o trabalhador recupera as condies necessrias, mesmo
se insuficientes, para uma experincia integral de vida laboral e ascende a um novo patamar de satisfao, de atendimento a aspiraes no
apenas materiais ou monetrias. Por conseguinte, as relaes de produo dos empreendimentos solidrios no so apenas atpicas para o
modo de produo capitalista, mas contrrias forma social de produo assalariada: nesta, o capital emprega o trabalho; naqueles, os trabalhadores empregam o capital.
A crtica marxista do capitalismo est centrada na anlise das relaes de produo.16 Por conseguinte, a defesa de uma alternativa
econmica, quando lana mo desta abordagem, deve sustentar-se em
evidncias de que, no modelo alternativo proposto, tais relaes adquirem outro carter e possuem chances reais de vigncia histrica,
ou seja, refletem interesses subjetivos dos trabalhadores e respondem
a condies objetivas. A exigncia no se deve, ento, a um gosto ou
Embora o modo de produo constitua uma totalidade orgnica e um processo
reiterado de produo, distribuio, circulao e consumo de bens materiais, todas
elas fases distintas e, ao mesmo tempo, interpenetradas no fluir de um processo
nico... produo que pertencem a determinao fundamental e o ponto
recorrente. (Gorender, 1978, p. 23). A esse primado da produo sobre as demais
esferas da vida econmica (Marx, 1976, p. 1011), segue-se a hiptese de
investigao, metodologicamente materialista, anunciada no Prefcio (Marx: 1974,
p. 22-3), postulando uma hierarquia invariante entre as funes sociais, na qual a
funo de produo da vida material detm um poder explicativo precedente
sobre as demais.
16
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
194
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
vis economicista, mas a uma necessidade metodolgica prioritria
(Gorender, 1978 p. 25).
Esse tratamento leva a entender os empreendimentos solidrios
como expresso de uma forma social de produo especfica, contraposta
forma tpica do capitalismo e, no entanto, com ela devendo conviver,
para subsistir em formaes histricas ditadas pelo modo de produo capitalista. No dias atuais, as inovaes principais que a nova
forma traz e mostra-se capaz de reproduzir concentram-se no mbito
das relaes internas, dos vnculos mtuos que definem o processo
social imediato de trabalho e de produo dos empreendimentos solidrios. A economia solidria no reproduz em seu interior as relaes
capitalistas, pois as substitui por outras, mas tampouco elimina ou
ameaa a reproduo da forma tipicamente capitalista, ao menos no
horizonte por ora apreensvel pelo conhecimento. Argumentos correntes em defesa da profundidade da mudana contida na economia
solidria, considerando a melhora significativa nas condies de vida
advinda do trabalho numa empresa autogestionria, o fortalecimento
que tais fatos representam para a luta geral dos trabalhadores e, por
outro lado, a necessidade para esses de aprendizado de um novo modelo econmico (Singer, 2000, p. 18), em verdade dimensionam a
transformao social a longo prazo, o que retira de perspectiva, por
um outro caminho, entender a alternativa solidria, em si mesma,
como a posta em marcha de um novo modo de produo, no sentido
abrangente e profundo que o termo contm.
esclarecedor observar o que se passa com um exemplo importante de economia solidria, praticado nos coletivos de produo
que se multiplicam nos assentamentos rurais, sob forma de cooperativas agropecurias e outros formatos associativos. A socializao da
terra e do trabalho, quando em graus avanados, rompe com a lgica
e a tradio da pequena produo familiar e introduz vnculos de outra natureza entre os trabalhadores rurais (agora, assim chamados).
Modifica-se, portanto, a forma social de produo. Contudo, na
grande maioria dos casos, a base tcnica, derivada do estado das foras produtivas, permanece intocada ou superficialmente alterada, ao
menos por um certo tempo; o modo material de produo no difere
daquele empregado antes pela economia familiar, sobretudo quando
essa j incorporava uma parcela razovel das inovaes tecnolgicas
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
195
promovidas pelo capitalismo. Do mesmo modo, com os agentes
deste que os assentados transacionam, diante de suas instituies
que devem reafirmar os seus interesses.17
Podemos igualmente pensar nas empresas autogestionrias presas a cadeias produtivas ou a contratos de terceirizao, para concluir
que esse dficit de autonomia atesta o carter incompleto da emancipao do trabalho solidrio diante do predomnio do capital, seja na
esfera da circulao e distribuio, seja na renovao contnua das
foras produtivas. Como assimilar a base tcnica da economia moderna, especialmente naqueles setores de maior densidade tecnolgica
e complexidade organizacional, sem fazer compra casada com o
contedo social, introduzido pela lgica produtiva capitalista nos respectivos processos de trabalho?
No obstante, conforme Marx, no seio da velha sociedade
que se geram as novas condies materiais de existncia. No necessrio que a mesma esteja exaurida para dar curso dialtica entre
as foras produtivas e as relaes de produo. Pode ocorrer, ainda,
que formas no essencialmente capitalistas sejam representadas como
se o fossem, pelo efeito de dominao ideolgica do modo de produo dominante.18 Donde resta a questo de descobrir as possibilidades,
latentes ou encobertas, para que esses novos agenciamentos do processo de trabalho e dos fatores produtivos, inseminados por novas
relaes entre os trabalhadores, encontrem caminhos propulsores,
rumo a uma funo ativa nos prximos ciclos histricos.
A TEMPORALIDADE LONGA DAS TRANSIES
Nos termos da teoria proposta, a transio significa uma passagem, de uma sociedade estruturada sobre um modo de produo determinado, incapaz de se reproduzir, a uma outra sociedade, definida
por outro modo de produo. No se resume, portanto, a mudanas
momentneas ou setoriais, mesmo as de carter evolutivo, cujo efeito
normalmente um novo acomodamento ordem vigente, por meio
Da porteira para fora, dizem eles, o que conta a lei dos capitalistas.
A comear pelo fato trivial de que todo agente econmico, para angariar algum
reconhecimento, forado a apresentar-se como empresrio de um ramo qualquer,
seja-o ou no.
17
18
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
196
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
da subordinao de lgicas sociais especficas lgica geral dominante. Apenas em circunstncias especiais, tais mudanas podem criar
gradualmente as condies de superao daquela ordem, na medida
em que sua resultante global seja o incremento dos bices, internos
ou externos, reproduo do sistema econmico que sustenta aquela
ordem, combinada ao aparecimento de bases substitutivas, geradoras
de uma nova formao social.
Uma conseqncia imediata reside em que a transio ancorase em processos de longa durao e, como tais, seus pontos de inflexo constituem momentos incomuns, de excepcional importncia na
vida das sociedades, viradas histricas em que se condensa e manifesta intensamente o movimento das coletividades humanas (Godelier,
1981, p. 162). Ela requer deficincias estruturais crticas, insolveis no
quadro do sistema existente, aliada a uma nova reunio de elementos,
formando um todo coerente, capaz de se reproduzir e de impor a sua
lgica reprodutiva ao sistema social. Enquanto isso no estiver demonstrado, no h razo em defender a hiptese de que estamos nessa iminncia, ou nessa perspectiva.19 Numa linguagem lapidar, no
basta desejarmos ter a sorte de sermos protagonistas ou testemunhas
oculares desse grande momento, tampouco repetirmos vaticnios pessimistas ou catastrficos sobre a ordem presente, esperando com isso
apressar a sua runa. Importa saber se, no horizonte, est selada a derrocada do capitalismo, ceifado que estaria por foras endgenas autodestrutivas, ou exposto a choques exteriores, com suficiente capacidade de abalo e substituio.
De outro lado, considerando o extraordinrio avano das foras
produtivas j alcanado e a bagagem de conhecimentos sobre a histria e a dinmica social com que contamos hoje, plausvel admitir
que a passagem a um modo de produo ps-capitalista resulte de
uma ao deliberada, que provoque a dissoluo da ordem vigente,
pela introduo intencional de novas relaes sociais de produo. A
presena destas induziria uma reorientao das energias humanas dis-
A insistncia quase compulsiva em colocar o debate nesses termos, perceptvel
nos meios intelectuais de esquerda supostamente incumbidos de esclarecer as
conscincias, apenas prejudica a compreenso das reais dimenses do problema e
o coloca numa nebulosa, em que os argumentos valem por sua afinidade com
nimos pessoais e preferncias ideolgicas.
19
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
197
ponveis na sociedade, redirecionando o desenvolvimento das foras
produtivas, de modo a corresponderem quelas relaes e a estabelecer-se, efetivamente, um novo modo de produo (Houtart, 1981). O
risco desta via, terico e prtico, est em supervalorizar o peso da
vontade poltica, a ponto de recair numa viso voluntarista, como verificou-se em boa medida nas malogradas tentativas de construo do
socialismo no sc. XX.20
A transio estudada por Marx, do feudalismo ao capitalismo,
exigiu uma anlise acurada sobre o aparecimento das condies histricas que deram pleno curso lgica do capital na fase da sua acumulao primitiva. Tais condies, por sucederam crise do feudalismo, a explicam parcialmente, mas no foram sua causa. Da conjuno de fatores internos e externos anteriores crise decorreu o
lento enfraquecimento do sistema feudal,21 o que deixou livre curso
para o florescimento de novas prticas econmicas, cuja expanso as
levou a choques com os limites da ordem instituda, a entrarem em
contradio com ela e, por fim, a suplant-la. O eplogo patrocinado
pelas revolues burguesas selou a destruio daquele ordenamento,
cuja fora inercial, todavia, se fez sentir por dcadas no sc. XIX.
A histria traz algumas lies. Primeiramente, a forma capitalista de produo, em sua gestao, foi mostrando-se historicamente
superior, por ser propcia e beneficiada pela expanso da atividade
mercantil, ensejada de modo irreversvel com a crise do feudalismo.
Vale a respeito recordar o critrio proposto por Morin e Kern (1995), ao
apontarem a necessidade de identificarmos, a cada momento histrico, as coeres
intransponveis, que descartam certas possibilidades, dos fatores cujo efeito
coagente depende do protagonismo dos atores sociais.
21 til lembrar a controvrsia sobre a preponderncia dos fatores internos ou
externos ao modo de produo feudal, fatores que minaram as suas bases e o
deixaram vulnervel a processos subseqentes de dissoluo. Para M. Dobb
(1987), foi a insuficincia do feudalismo como sistema de produo, em contraste
com as necessidades crescentes de renda da nobreza, o que motivou em primeiro
lugar a crise do sistema feudal; razes intrnsecas teriam provocado a
disfuncionalidade deste. Para P. Sweezy (1977), o feudalismo caiu principalmente
devido ao desenvolvimento do comrcio e da vida urbana; segundo ele, o
crescimento de uma economia de trocas no impe o fim de qualquer sistema
servil, mas isso aconteceu no caso particular do feudalismo medieval, devido, entre
outros, revogao paulatina de alguns atributos das obrigaes servis, por
iniciativa do prprio estamento senhorial. Ambos autores reconhecem o concurso
de todos esses fatores, restando em questo o seu peso especfico (a respeito,
consultar Hilton et al., 1977).
20
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
198
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
Desse ponto de vista, relativamente a uma transio ps-capitalista,
no basta identificar as insuficincias do capitalismo, sua irracionalidade e as necessidades sociais prementes que no satisfaz. necessrio apontar uma nova lgica de desenvolvimento, impulsionada sob o
capitalismo ainda que no por ele - que seria melhor correspondida
por relaes sociais de um novo tipo; no caso, as baseadas no labor
associado dos trabalhadores. Cabe identificar as propriedades daquela
nova lgica, caracterizar a sua fora e sua capacidade de expandir-se
para a toda a sociedade, alcanar paridade com a forma social de produo capitalista ou mesmo faz-la recuar. Assim sendo, esta nova
forma social estaria mais apta a impulsionar o desenvolvimento das
(de outras) foras produtivas, renovando o modo material de produo e gerando as bases para a supremacia de um novo sistema. Esse
desafio intelectual nem sempre pode encontrar, em sua poca, as evidncias de que necessita. Como veremos, sinais no desprezveis so
oferecidos por experincias de economia solidria.
Uma segunda lio consiste na necessidade de deixar patente
como as contradies inerentes s relaes capitalistas as tornam inaptas para corresponderem quela nova lgica, vindo ento a dissolverem-nas. Contradies no faltam ao capitalismo, mas isso tampouco significa que esteja em colapso, ou que haja fatores que impeam sua entrada em uma crise agnica, reiterativa (Kurz, 1992), incapaz de dar lugar, por um largo tempo, para outras formas promissoras, livres daquelas contradies.
Em situaes histricas afastadas de momentos culminantes,
no tarefa fcil discernir os prenncios de contradies fatais, insuperveis sem uma recomposio profunda da ordem social. Em todo
o caso, nos meandros dos processos de maturao do novo modo de
produo capitalista, Marx captou algumas sutilezas, de elevado interesse heurstico. Suas constataes do conta de diferentes articulaes entre as formas econmicas singulares e a totalidade social, segundo os estgios e modos de subsuno que se instauram entre elas.
Assim, num primeiro momento, a forma de produo capitalista nascente, introduzida com o recrutamento e o subseqente despojamento dos mesmos trabalhadores das oficinas artesanais domsticas, empregou o modo material de produo ento existente, com
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
199
isso havendo iniciado a subordinao do processo de trabalho. Alterou-se a forma, mas nada mudou nas foras produtivas, materiais e
intelectuais, e no processo de transformao material. Essa apropriao do trabalho pelo capital, nas condies tcnicas herdadas de formas sociais anteriores, configurou uma situao de subuno formal,
no restando ento ao capital, para incremento da captao do trabalho excedente, seno recorrer ao alongamento da jornada de trabalho,
ou a intensificar o seu ritmo fsico, extraindo assim a mais-valia absoluta. A base tcnica inicialmente subsumida pela nova forma capitalista
no foi um produto do seu prprio desenvolvimento, mas uma base
temporria para o mesmo.
A seguir, o imperativo da acumulao estimulou uma, a princpio lenta, renovao da base material, mediante aprimoramento da
manufatura, maior diviso do trabalho e uso de novas ferramentas
manuais. O sucesso das primeiras mquinas abriu a temporada de invenes sucessivas, precipitando a Revoluo Industrial. Com o maquinismo e a grande indstria, o capitalismo finalmente passou a contar com sua prpria base, com um modo material adequado, que seguiu sendo extraordinariamente impulsionado. As leis do valor capitalista realizam-se doravante em plenitude. As foras produtivas pertencem inteiramente ao capital, a extrao do excedente se vale da maisvalia relativa, o trabalho encontra-se numa condio de subuno real,
sobreposta aos mecanismos de subordinao anteriores, que persistem como expresso da forma geral de produo capitalista e so reativados sempre que o aumento do excedente, pelo caminho da produtividade, revela-se ineficaz ou insuficiente. Assim, a nova forma social
de produo quem deu o impulso definitivo transformao da base material. Essa no se modificou em razo de alguma inexorabilidade histrica, mas em resposta a uma nova lgica social, concretamente
posta em marcha na sociedade. Resultou ento nova correspondncia,
ensejando o domnio da forma capitalista sobre outras formas de vida
econmica precedentes e levando maturao do modo de produo
de mercadorias. medida que avana, o capitalismo dissolve, submete ou mantm reclusas outras formas sociais de produo.22
Para essas, s vezes, a nica sada adotar a base material moderna e curvar-se ao
capital comercial e financeiro, do que temos um exemplo cabal nos pequenos
produtores rurais integrados agroindstria. Nesse caso, a forma de produo
22
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
200
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
Dessa reconstituio histrica, vale sublinhar dois fatos: a) a
nova forma social de produo capitalista originalmente aproveitou o
modo material de produo j existente; b) uma vez que seu desempenho mostrou-se superior, diante da demanda criada pela expanso
da economia mercantil, as relaes de produo capitalista emergentes provocaram novo desenvolvimento da base material, havendo sido tais relaes sociais, por conseguinte, a condio necessria, embora
parcial, dos novos avanos tecnolgicos. Em futuras transies, os
fatos obviamente no precisam ocorrer nessa ordem. Importa, no
entanto, registrar o seu carter dialtico, em que foras ainda por vir
insinuam-se como episdios a seu tempo laterais e pouco significativos, atravs de mutaes quase imperceptveis, sem virem, seno ao
cabo de um longo perodo histrico, a suprimir as estruturas de vida
social s quais tendero a sobrepor-se, em prazo mais curto, mas igualmente indeterminado.
Nota final de extrema importncia, observando a transio sobre outro ngulo: o conceito de foras produtivas compreende igualmente os recursos e faculdades intelectuais, o estado geral de conhecimento, sua difuso na populao, a adoo e manuseio das tcnicas,
a capacidade de organizao do processo produtivo, etc. justo falar
de uma transio cultural, significando descompasso e novo acomodamento entre infra e superestrutura (Houtart, 1981), ou entre possibilidades objetivas e capacidades subjetivas de utiliz-las. A transio,
sob esse prisma, requer a socializao de novas prticas, sua extenso
ao conjunto da sociedade, ou a grupos e classes sociais; prticas que
correspondem a novos modelos de conduta, a novas representaes,
legitimadas e instituintes (Houtart e Lemercinier, 1990). Nesse campo
tambm h sinalizaes da economia solidria.
familiar se reproduz sobre uma base nova, que ela no consegue desenvolver por
si prpria, sendo ento por essa base subsumida, ao contrrio do acontecido nos
primrdios do capitalismo. Trata-se de uma subsuno formal inversa, que deixa as
formas sociais atpicas em situao de instabilidade, mas no as descredencia de
todo a sobreviverem no interior do modo de produo capitalista.
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
201
UMA ECONOMIA DO TRABALHO EM PERSPECTIVA
Nas condies atuais, os empreendimentos cooperativos autogestionrios experimentam uma dupla subsuno economia capitalista: de um lado, esto sujeitos aos efeitos da lgica de acumulao e
s regras de intercmbio impostas ao conjunto dos agentes econmicos, de contedo eminentemente utilitrio; de outro, como forma de
responder premissa de produtividade competitiva, esto compelidos
a adotar a base tcnica do capitalismo, os processos materiais de produo por ele introduzidos continuamente, configurando-se com isso
uma subsuno formal inversa, de uma base sobre uma forma, similarmente ao caso da economia camponesa. Essas coeres, naturalmente, cerceam a lgica econmica solidria, pois a obrigam a conviver
com tensionamentos e a conceder em seus princpios.
Que exigncias apresentam-se aos empreendimentos solidrios,
para que mantenham os seus traos distintivos? Penso serem trs: a)
assumir a base tcnica herdada do capitalismo, dela retirando benefcios para a sua forma social de produo prpria ou, ainda, alcanando desenvolver, paulatinamente, foras produtivas especficas e apropriadas sua consolidao; b) cotejar-se com os empreendimentos
capitalistas, dando provas de superioridade do trabalho associado perante as relaes assalariadas, medida que impulsionam, em seu interior, uma dialtica positiva entre relaes de produo e foras produtivas; c) resistir s presses do ambiente econmico, por meio de mecanismos de proteo e da externalizao da sua lgica cooperativa s
relaes de intercmbio e de troca. Se isto vier a ocorrer, estaremos
presenciando uma experincia econmica genuinamente sob a tica
do trabalho, fundada em relaes nas quais as prticas de solidariedade e reciprocidade no so meros dispositivos compensatrios, mas
fatores operantes no mago da produo da vida material e social.
No atual ponto de partida, sejam quais forem os desdobramentos futuros, vale ter em vista um critrio fundamental: apenas uma
nova prtica aquela de uma nova insero no mundo do trabalho e
da economia pode gerar uma nova conscincia e provocar, sucessivamente, novas mudanas na prtica. Esse o requisito bsico, posto
nas experincias de economia solidria atualmente em curso, que motiva a ir em busca das possibilidades de cumprimento daquelas exiCADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
202
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
gncias. Cabe frisar, uma vez mais, que o xito em tal cumprimento
no significar que os empreendimentos solidrios estejam em vias de
sobrepujar as empresas capitalistas, tornando-se disfuncionais ao sistema econmico para, a seguir, colocar em risco o prprio capitalismo. O papel possvel da economia solidria, a ser inquirido, o de
dar a prova palpvel de que a autogesto no inferior gesto capitalista no desenvolvimento das foras produtivas (Singer, 2000, p. 28),
por dispor de vantagens comparativas, derivadas da sua forma social
de produo especfica.
Passando em revista os trunfos de que objetivamente dispem
os empreendimentos autogestionrios, uma de suas caractersticas
tangveis a eliminao da parcela do excedente antes apropriada pelo estamento patronal para fins privados, pois sua destinao, agora,
fica ao arbtrio dos trabalhadores, quer somando-se remunerao do
trabalho, quer sendo reinvertida na empresa. A coexistncia de proprietrios abastados, empresas insolventes e folhas de pagamento irrisrias, deixa de ter lugar. A supresso das relaes assalariadas e do
antagonismo entre o capital e o trabalho a elas intrnseco, desonera a
empresa igualmente por diminuir custos com estruturas de controle e
superviso, com estmulos pecunirios fidelidade e eficincia dos
que ocupam funes no topo da hierarquia, com programas destinados a conquistar a adeso dos trabalhadores aos objetivos da empresa;
em suma, com estratgias as mais diversas da empresa capitalista, fadadas a recompor continuamente o esprito corporativo, sempre que
situaes crticas deixam a nu as contradies de classe que inescapavelmente a atravessam.
Alm do mais, a empresa capitalista, a partir de certos limites,
apenas pode flexibilizar os seus custos econmicos assumindo em
contrapartida os custos sociais decorrentes. Por sua vez, nas cooperativas e empresas autogestionrias, em que os ganhos so socializados
de per se, o mesmo se admite mais facilmente com as perdas. O incremento unilateral da jornada de trabalho, ou sua reduo e conseqente abatimento das retiradas individuais, como estratgias de ajuste s flutuaes do mercado, uma vez aprovadas de forma democrtica e transparente, em boa lgica so a melhor garantia contra o desemprego para os cooperados. De certo modo, a empresa associativa
est dotada de maleabilidade similar a dos autnomos e profissionais
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
203
liberais, com a faculdade adicional de diluir custos fixos, assumidos
individualmente nos demais casos, e de poder ampliar mais facilmente
sua planta produtiva ou de servios (Sorbille, 2000, p. 131).23
Aduzindo um terceiro argumento, sendo o zelo e a atitude de
colaborao dos trabalhadores, comprovadamente, indispensveis a
qualquer empresa e geralmente mais eficazes do que as estratgias
patronais de convencimento ou coao (Coutrot, 1999), com maior
razo h de verificar-se quando existe um vnculo imediato entre a
performance do empreendimento e os benefcios individuais auferidos, ao lado de menor rotatividade da fora-de-trabalho e da partilha
dos valores e objetivos da organizao. O interesse dos trabalhadores
em garantir o sucesso do empreendimento estimula maior empenho
com o aprimoramento do processo produtivo, a eliminao de desperdcios e de tempos ociosos, a qualidade do produto ou dos servios, alm de inibir o absentesmo e a negligncia. Efeitos como esses,
sublinhados pela literatura especializada (Defourny, 1988; Carpi,
1997) e conferidos em estudos empricos (Gaiger, 2001b), ao derivarem da natureza associada e cooperativa do trabalho e das caractersticas participativas dos empreendimentos, lhes conferem uma racionalidade prpria, virtualmente superior a das empresas capitalistas
que acionam os mesmos fatores materiais de produo.
Do ponto de vista dos fatores humanos, os fundamentos democrticos da autogesto vm precisamente ao encontro dos requisitos de envolvimento e participao dos trabalhadores, preconizados
pelos mtodos de gesto modernos. Clulas de produo, grupos de
trabalho e postos multifuncionais, a par outras tcnicas de gerenciamento horizontal e responsabilizao do trabalhador, tpicas das
normas de gesto de qualidade em voga, acomodam-se com naturalidade estrutura participativa dos empreendimentos solidrios.24 A
Sem dvida esse o motivo da proliferao de cooperativas entre profissionais
tradicionalmente vistos como independentes, tais como terapeutas, contabilistas,
consultores e outros.
24 Resta como problema a freqente inexistncia de um gerenciamento profissional,
dotado do cabedal especfico de conhecimentos desse campo e, sobretudo,
apropriado metodologicamente a um contexto organizacional de autogesto. A
esse propsito, vale recordar que administrar uma empresa funo de
competncias adquiridas no lidar com problemas concretos, dadas antes pela
experincia prtica socialmente compartilhada e subsidiariamente informadas pelo
saber cientfico; este, no necessita estar plenamente sistematizado e revestido de
23
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
204
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
formao dos recursos humanos seja escolar, tcnico-profissional
ou geral, visando ao desenvolvimento de uma cultura autogestionria
e ao aperfeioamento permanente favorecida pelo compromisso
de todos com a empresa e pelo papel decisivo exercido pelo fator trabalho; valoriza-se mais o potencial de competncia interna (Peixoto,
2000, p. 55). Ora, educar simultaneamente para a participao e para o
labor produtivo equivale a formar trabalhadores-gestores e a suplantar
a diviso tpica da empresa capitalista. Desenham-se as bases de uma
nova cultura profissional, dada pelo conjunto de competncias produtivas, pelo envolvimento mtuo com o futuro do empreendimento e,
conforme prprio a todo mtier (Coutrot, 1999, p. 73), por uma deontologia referida a uma comunidade de pares.
Vista de modo mais amplo, a questo incide na criao de novas foras produtivas nesse caso, intelectuais impulsionada por uma
nova forma social de produo, a exemplo do ocorrido na aurora do
capitalismo. Instaurada socialmente aquela demanda, pela presena da
nova forma, introduz-se o processo inovador e criativo de desenvolvimento das faculdades humanas, cuja solues, por seu turno, so
suscetveis de retroalimentar a demanda, em ciclos sucessivos. Alm
de o trabalho associado como tal equiparar-se a uma fora produtiva
especfica da maior importncia, factvel, nos empreendimentos autogestionrios, que o avano das capacidades subjetivas tome o passo
da renovao dos processos materiais de produo, forando a que
esses venham a reconstituir-se progressivamente sobre outras bases.
Desta feita, ento, a nova forma social de produo no estaria criando uma nova base tcnica em sentido estrito (inovaes tecnolgicas,
instrumentos, etc.), mas sim em vias de absorver solues j disponveis (inclusive as chamadas tecnologias alternativas), convertendo-as
sua lgica prpria.25
autoridade hierrquica para ter vigncia e ser chamado a intervir, tanto mais se a
experincia a ele referida encontra-se favorecida pelo interesse mtuo e pelo
aprendizado coletivo (Singer, 2000, p. 19-22).
25 Considerados os impasses de nossa atual marcha civilizacional, a supremacia a ser
alcanada no futuro por formas de produo superiores, diante dos padres
mpares de produtividade e eficincia do capitalismo, provavelmente repouse em
parmetros de outra ordem, relacionados, por exemplo, racionalidade social e
sustentabilidade.
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
205
A introduo de novas foras produtivas, em anttese s que
sustentam o modo material de produo dominante, um processo
eminentemente social, sujeito a descontinuidades e a reveses, no um
fruto instantneo da materialidade. Novos arranjos sociais lhe so imprescindveis para que ponha em xeque, por contraposio e substituio, as relaes de produo com ela incompatveis, assim reafirmando, ao longo do tempo, a sua forma social especfica. Desdobrada em repetidos vais-e-vens, em captulos de desenlace incerto, a essa
dialtica os fatos levam a crer que estamos presenciando.
Assim, coloca-se a possibilidade de reverso daquele processo
vital ocorrido nos primrdios do capitalismo, de separao entre o
trabalhador, os meios de trabalho e o seu produto, separao em que
se assentam a alienao e a submisso ideolgica do proletariado. As
experincias concretas de solidarismo econmico teriam a faculdade
de arrancar os trabalhadores de um contexto prtico de reiterao da
conscincia alienada, quer no agir, quer nos fins que elege. So reais
as chances para que se recupere e se reintegre s pessoas a riqueza
dos contedos do trabalho e da vida coletiva em geral, de modo que
interajam por suas qualidades, no na pobreza e na homogeneidade
das suas carncias (Razeto, 1997, p. 94).
Sob o prisma das relaes que cultivam entre si e com os demais agentes econmicos, as iniciativas solidrias vivem um momento
de ebulio, ao mesmo tempo que de debilidade. A todo instante,
surgem novas organizaes de crdito, troca e consumo solidrio,
alm de notcias de avanos nas que j existiam, gerando um ambiente prdigo em encontros e projetos de cooperativas de crdito, bancos populares, moedas sociais, redes de troca, etc. Entretanto, salvo
poucas iniciativas de maior porte ou relativa maturidade, esses mecanismos so experimentais: valem por seu significado intrnseco, no
pelo seu impacto. Para assegurar sua reproduo, os empreendimentos solidrios precisam lidar adaptativamente com as externalidades
capitalistas. As tentativas de romper o crculo, por meio de contatos,
trazem reforo moral e poltico, mas carecem por hora de prticas
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
206
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
efetivas de intercmbio econmico, tanto mais quando envolvem
segmentos e atores sociais diferentes.26
No obstante, possvel sumariar elementos com razovel potencial para que circuitos de economia solidria prosperem.27 De um
lado, o forte enraizamento local da economia solidria favorece a que
possa apoiar-se no que est mo - trabalho, saberes populares, energias morais, recursos polticos e institucionais realimentando sinergias e explorando matrizes econmico-produtivas dotadas de alta racionalidade social. Ela contribui para dinamizar o enorme potencial de
recursos humanos e materiais que jaz em repouso nas esferas no-mercantis e
mercantis da sociedade (Franco, 1996, p. 12). Est apta a inserir-se em
um padro de desenvolvimento sustentvel, estao final da lgica
predatria da economia meramente concorrencial. Por outro lado,
contrariando a idia de que o espao econmico esteja tomado completamente pelo capitalismo global, as empresas solidrias tendem a
ocupar nichos de mercado, parcialmente protegidos da grande concorrncia, e a estabelecerem prticas de troca favorecidas pelos laos
de confiana conquistados junto aos seus clientes.28 Por fim, as experincias de intercooperao de maior vulto, ao se expandirem e multiplicarem, vm a revitalizar formas de vida econmica diversas, igualmente atpicas diante do capitalismo, das quais dependem fraes
importantes de trabalhadores. Elas estimulam e sustentam expresses
de uma economia do trabalho, atenuando sua vulnerabilidade s imposies do capital.29
Vem de longe o debate sobre a eficincia das empresas autogeridas, em confronto com aquelas de iniciativa privada. A fora dos
O que no um demrito, posto que inexiste provavelmente outra maneira de
comear. Mesmo no sul do pas, regio considerada solidariamente frente, no se
constata uma integrao sistmica, mas sim a coexistncia de experincias
modelares, em linha de convergncia ou de desencontro, direcionadas a setores
sociais distintos, em cuja rbita gravita um certo nmero de atores e organizaes.
27 Para uma defesa, terica e poltica, das redes solidrias, ver Mance, 2001.
28 Tais relaes de proximidade, cuja ausncia onera formidavelmente a grande
empresa com estratgias de marketing, so na verdade um patrimnio da
economia popular, ou do andar de baixo da civilizao, como diria F. Braudel.
29 Vale a respeito ter em conta a CRESOL, a mais abrangente e comprovada
experincia de crdito a produtores rurais, operante nos trs Estados do sul do
pas, por seu impacto positivo sobre a pequena produo familiar (Cf. Singer e
Souza, 2000). Sobre a importncia do desenvolvimento local e regional, ver
Coraggio, 2001.
26
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
207
argumentos em prol da superioridade das primeiras dos quais evidenciamos, acima, apenas os aspectos mais visveis luz de anlises
empricas recentes no permite desconhecer que a sorte da economia solidria depende igualmente de um novo sistema de regulao,
capaz de ordenar dinamicamente as regras do jogo econmico, de
modo a generalizar suas prticas ao conjunto da sociedade e viabilizar
uma transposio de escala das iniciativas que proliferam em pequena
dimenso. Uma questo poltica, portanto, de escolha entre sistemas
econmicos alternativos, conforme os interesses que se queira prevalecer. Ao mesmo tempo, uma via de combate contra os efeitos negativos da economia de mercado, em defesa das formas de vida econmica dotadas de outros fundamentos.
* * *
Uma dificuldade das teorizaes politicamente motivadas escapar de formulaes genricas, habitualmente dotadas de alguma
dose de voluntarismo, o que as faz recarem, sob aparncia de cincia
crtica, numa filosofia da histria marcada por apriorismos e teleologias. Fugindo s armadilhas da predio, cabe teoria, firmemente
apoiada na anlise histrica, elucidar as condies para que determinados processos de mudana social tenham lugar. A cada passo da
anlise, importa dar conta do escopo dos processos histricos, distinguindo suas respectivas causaes e temporalidades. Havendo desacordo, deve-se demonstrar, tambm teoricamente, que tais requisitos
so infundados ou j encontram-se atendidos.
O exerccio a que nos livramos deixa estremecida a noo de
que a economia solidria constitui uma alternativa ao capitalismo, ao
evidenciar a complexidade dos fatores em jogo. De outra parte, no
alimenta as teses mais reticentes, ao concluir que os empreendimentos solidrios esto aptos a credenciarem-se como formas consistentes de vida econmica, sem forosamente cingirem-se por limites
prprios ou por externalidades que os condenariam a um solidarismo
de casamata ou a um fenmeno sazonal, reativo s flutuaes da economia de mercado.
Entretanto, o rigor da anlise torna insuficiente afirmar a fora
da solidariedade, uma vez esteja introjetada como princpio do agir.
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
208
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
Antes, cabe admitir que a adeso dos trabalhadores s prticas de cooperao e reciprocidade no se mantm porque os mesmos se vem
instados moralmente a faz-lo, mas primordialmente por verificarem,
por eles prprios, que desse modo satisfazem mais plenamente os
seus interesses, que obviamente no necessitam ser apenas utilitrios,
embora em certa medida no possam deixar de s-lo. Reside nesse
ponto a importncia decisiva de demonstrar a superioridade da forma
social de produo solidria, diante de outras alternativas oferecidas
ao trabalhador.
Da percepo dessa simbiose entre interesses prprios e alheios, nasce o interesse comum, base da ao de classe, entre indivduos
similarmente situados no processo de produo da vida material.
Quando uma nova forma de vida econmica corporifica-se, projeta
consigo novos grupos, compelindo-os, segundo as circunstncias, a
lutarem por sua afirmao. Na transio para o capitalismo, os alvos
da burguesia nascente foram as corporaes de ofcio e tudo mais que
entravava a livre iniciativa. A lgica objetiva das transformaes histricas, posta em exergue nessas pginas, definir o seu curso medida que os atores em cena incidam sobre as condies que encontram,
e na proporo em que essas sustentem, por sua vez, aqueles protagonismos.
(Recebido para publicao em novembro de 2003)
(Aceito em dezembro de 2003)
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BRAUDEL, Fernand. Civilizao material, economia e capitalismo. So Paulo: Martins
Fontes, 1998.
CARPI, Juan. La economa social en un mundo en transformacin. Ciriec-Espaa.
Valencia, n. 25, p. 83-115, 1997.
CATTANI, Antnio (Org.). A outra economia. Porto Alegre: Veraz, 2003.
CORAGGIO, Jose Luis. La relevancia del desarrollo regional en un mundo
globalizado. Revista de Cincias Sociais Unisinos. So Leopoldo, v. 37, n. 159, p. 235-258,
2001.
COUTROT, Thomas. Critique de lorganisation du travail. Paris: La Dcouverte, 1999. (Col.
Rpres, 270).
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
209
DEFOURNY, Jacques. Coopratives de production et entreprises autogres: une
synthse du dbat sur les effets conomiques de la participation. Mondes en
Dveloppement. Bruxelas, v. 16, n. 61, p. 139-53, 1988.
DEFOURNY, Jacques; DEVELTERE, Patrick; FONTENEAU, Bnedicte (Eds.).
Lconomie sociale au Nord et au Sud. Paris. Bruxelles: De Boek, 1999.
DOBB, Maurice. A evoluo do capitalismo 9.ed.. Rio de Janeiro: Livros Tcnicos e
Cientficos. 1987.
FOHLEN, Claude. O trabalho no sculo XIX. [S. l]. Editorial Estdios Cor. 1974.
FRANA FILHO, Genauto. Esclarecendo terminologias: as noes de terceiro setor,
economia social, economia solidria e economia popular em perspectiva. Revista de
Desenvolvimento Econmico, [S.l.], v. 3, n. 5, 2001.
FRANCO, Gustavo. Uma nova perspectiva estratgica ps-liberal para enfrentar a
questo social no Brasil. Revista Proposta. Rio de Janeiro, n. 70, p. 10-17, 1996.
GAIGER, Luiz Incio. A solidariedade como alternativa econmica para os pobres.
Contexto e Educao. Iju, v. 13, n. 50, p. 47-71, 1998.
GAIGER, Luiz Incio. Sentido e possibilidades da economia solidria hoje. In:
KRAYCHETE, Gabriel; LARA, Francisco; COSTA, Beatriz (Orgs.). Economia dos setores
populares: entre a realidade e a utopia. Petrpolis: Vozes, 2000a. p. 67-198.
GAIGER, Luiz Incio. Os caminhos da economia solidria no Rio Grande do Sul. In:
SINGER, Paul; SOUZA, Andr (Orgs.) A economia solidria no Brasil: a autogesto como
resposta ao desemprego. So Paulo: Contexto, 2000b. p. 267-286.
GAIGER, Luiz Incio. As organizaes do Terceiro Setor e a economia popular
solidria. Revista de Cincias Sociais Unisinos. So Leopoldo, v. 37, n. 159, p. 103-151,
2001a.
GAIGER, Luiz Incio. Virtudes do trabalho nos empreendimentos econmicos
solidrios. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Buenos Aires, v. 7, n. 13, p.
191-211, 2001b.
GAIGER, Luiz Incio. Empreendimentos econmicos solidrios. In: CATTANI,
Antnio (Org.). A outra economia. Porto Alegre: Veraz, 2003a. p. 135-143.
GAIGER, Luiz Incio. Lconomie solidaire au Brsil. Revue du M.A.U.S.S. Paris, n. 21,
p. 80-96. 2003b. (Alter-conomie: quelle autre mondialisation?).
GAIGER, Luiz Incio. A economia solidria frente a novos horizontes. So Leopoldo:
UNISINOS (disponvel em www.ecosol.org.br), 2003c.
GAIGER, Luiz Incio et al. A economia solidria no RS: viabilidade e perspectivas.
Cadernos CEDOPE n. 15, 1999. (Srie Movimentos Sociais e Cultura).
GIANNOTTI, Jos Arthur. Notas sobre a categoria modo de produo para uso e
abuso dos socilogos. Estudos CEBRAP. So Paulo, n. 17, p. 161-168.
GODELIER, Maurice. Dun mode de production lautre: thorie de la transition.
Recherches Sociologiques Louvain-la Neuve, v. 12, n. 2, p. 161-193, 1981.
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 2.ed. So Paulo: tica, 1978. (Coleo
Ensaios 29).
,
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
210
A ECONOMIA SOLIDRIA DIANTE DO MODO DE PRODUO CAPITALISTA
HARVEY, David. Condio ps-moderna. So Paulo: Loyola. 1993.
HILTON, Rodney et al. A transio do feudalismo para o capitalismo. 4.e.d. Rio de Janeiro:
Paz e Terra., 1977.
HOUTART, Franois. La transition au mode de production socialiste; rflxion au
dpart des socits colonises. Recherches Sociologiques. Louvain-la-Neuve, v. 12, n. 2, p.
229-237, 1981.
HOUTART, Franois; LEMERCINIER, Genevieve. Culture et transition: le cas du
Nicaragua. Sociologies et socits. v. 22, n. 1, p. 127-142, 1990.
KRAYCHETE, Gabriel; LARA, Francisco; COSTA, Beatriz (Orgs.). Economia dos setores
populares: entre a realidade e a utopia. Petrpolis: Vozes, 2000.
KURZ, Robert. O colapso da modernizao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
LAVILLE, Jean-Louis (dir.). Lconomie solidaire: une perspective internationale. Paris:
Descle de Brouwer. 1994.
MANCE, Euclides. A revoluo das redes. Petrpolis: Vozes. 2000.
MANCE, Euclides. A consistncia das redes solidrias. Revista de Cincias Sociais
Unisinos. So Leopoldo, v. 7, n. 159, p. 177-204, 2001.
MARTINS, Jos de Souza. Caminhada no cho da noite; emancipao poltica e libertao nos
movimentos sociais no campo. So Paulo: Hucitec. 1989.
MARX, Karl. Manuscritos econmicos e filosficos e outros textos escolhidos. So Paulo: Abril
Cultural . 1974. (Coleo Os Pensadores).
MARX, Karl. O capital: crtica da economia poltica.. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira., 1976. Livro 3, v.6.
MORIN, Edgar.; KERN, Anne. Terra-Ptria. Porto Alegre: Sulina. 1995.
NEERS, Jacques. Le travail au Moyen ge. 3.ed. Paris: PUF, 1965. (Col.eo Que Sais-Je?).
NYSSENS, Marthe. Economie populaire au sud, conomie sociale au nord: des germes
dconomie solidaire?. In: SAUVAGE, Pierre et al. Rconcilier lconomique et le social.
Paris: OCDE, 1996. p. 95-120. (Coleo que sais je?).
PEIXOTO, Jos. Autogesto: um modelo alternativo de reestruturao da produo.
In: PONTE Jr., Osmar (Org.) Mudanas no mundo do trabalho; cooperativismo e autogesto.
Fortaleza: Expresso, 2000.
PONTE JR., Osmar (Org.). Mudanas no mundo do trabalho; cooperativismo e autogesto.
Fortaleza: Expresso, 2000.
RAZETO, Luis. O papel central do trabalho e a economia da solidariedade. Revista
Proposta. Rio de Janeiro, n.75, p.91-99, 1997.
SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). Produzir para viver; os caminhos da produo no
capitalista. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002.
SHANIN, Teodor. A definio de campons: conceituaes e desconceituaes; o
velho e o novo numa discusso marxista. Estudos CEBRAP. So Paulo, n.26, p.44-80,
1980.
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Luiz Incio Gaiger
211
SINGER, Paul. Economia solidria: um modo de produo e distribuio. In: SINGER,
Paul; SOUZA, Andr. (Orgs.) A Economia solidria no Brasil; a autogesto como resposta ao
desemprego. So Paulo: Contexto, 2000.
SINGER, Paul; MACHADO, Joo. Economia socialista. So Paulo: Fundao Perseu
Abramo. 2000.
SINGER, Paul; SOUZA, Andr (Orgs.). A Economia solidria no Brasil; a autogesto como
resposta ao desemprego. So Paulo: Contexto, 2000.
SORBILLE, Reynaldo. A autogesto e o desafio da viabilidade econmica. In: JNIOR,
Osmar (Org.). Mudanas no mundo do trabalho; cooperativismo e autogesto. Fortaleza:
Expresso. 2000.
SOUZA, Luiz Alberto. Um pas dinmico, um pensamento claudicante. Estudos
Avanados. So Paulo, v. 14, n. 40, p.77-90, 2000.
SWEEZY, Paul et al. Do feudalismo ao capitalismo. So Paulo: Martins Fontes. 1977.
TIRIBA, Lia. Los trabajadores, el capitalismo y la propiedad colectiva como estrategia
de supervivencia y de sociedad: rastreando el debate histrico. Contexto e Educao. Iju,
v. 46, n. 7, p. 34, 1997.
VANEK, John. The labor-managed economy. Ithaca: Cornell University Press. 1977.
VERANO, Luis. Economia solidria, uma alternativa ao neo-liberalismo. Santa Maria: Cesma
Edies, 2001.
CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003
Você também pode gostar
- Da pizza ao impeachment: uma sociologia dos escândalos no Brasil contemporâneoNo EverandDa pizza ao impeachment: uma sociologia dos escândalos no Brasil contemporâneoAinda não há avaliações
- Simmel Sociologia Das Cidades (Libro)Documento472 páginasSimmel Sociologia Das Cidades (Libro)gpdaveniaAinda não há avaliações
- Bourdieu e a auto-análise sociológicaDocumento5 páginasBourdieu e a auto-análise sociológicaJulyana KetlenAinda não há avaliações
- Análise comparativa dos modos de existência na obra de Latour e cosmopolíticas indígenasDocumento23 páginasAnálise comparativa dos modos de existência na obra de Latour e cosmopolíticas indígenasKauã VasconcelosAinda não há avaliações
- Resenha As Origens Sociais Da Ditadura e Da DemocraciaDocumento16 páginasResenha As Origens Sociais Da Ditadura e Da Democraciajosemir_fortunato100% (9)
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- Autonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisNo EverandAutonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisAinda não há avaliações
- 5.TRONTO. Mulheres e CuidadosDocumento18 páginas5.TRONTO. Mulheres e CuidadosGustavo de Oliveira AlexandreAinda não há avaliações
- A Constituição Da Sociedade Giddens Resumo Cap2Documento5 páginasA Constituição Da Sociedade Giddens Resumo Cap2Juliana QueirozAinda não há avaliações
- Resenha A Origem Do Capitalismo - Ellen WoodDocumento4 páginasResenha A Origem Do Capitalismo - Ellen WoodDuduMF100% (1)
- A tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXINo EverandA tragédia de Sísifo: Trabalho, capital e suas crises no século XXIAinda não há avaliações
- O FIM DE UMA ÉPOCADocumento117 páginasO FIM DE UMA ÉPOCAMano Pedro100% (1)
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 2021 Foucault Sujeito PoderDocumento36 páginas2021 Foucault Sujeito PodermaralfcAinda não há avaliações
- Avaliação de História Diagnóstica Ensino MédioDocumento3 páginasAvaliação de História Diagnóstica Ensino MédioFabrício CecíliaAinda não há avaliações
- Patrimônio Público e Penalidades AdministrativasDocumento3 páginasPatrimônio Público e Penalidades Administrativasantonio_grsAinda não há avaliações
- PEIRANO, Marisa. Teoria VividaDocumento4 páginasPEIRANO, Marisa. Teoria VividarosamariasouzAinda não há avaliações
- Gestão de Documentos em Minas Gerais: experiências e perspectivasNo EverandGestão de Documentos em Minas Gerais: experiências e perspectivasAinda não há avaliações
- Exercícios de biologia e químicaDocumento3 páginasExercícios de biologia e químicaMichele SilvaAinda não há avaliações
- Socio Rural Mata SulDocumento3 páginasSocio Rural Mata SulFabioFerreiraAinda não há avaliações
- Resenha - Antropologia Da CidadeDocumento4 páginasResenha - Antropologia Da CidadeMiguel BustamanteAinda não há avaliações
- Teoria antropológica desde os anos 60Documento48 páginasTeoria antropológica desde os anos 60Lucris Morais da Silva100% (1)
- As microssociologias de LapassadeDocumento47 páginasAs microssociologias de LapassadeVinny Sá100% (1)
- Estilo Tardio - Edward Said PDFDocumento6 páginasEstilo Tardio - Edward Said PDFIvon RabêloAinda não há avaliações
- Durkheim sobre representações coletivas e origem social das categoriasDocumento1 páginaDurkheim sobre representações coletivas e origem social das categoriasHermes De Sousa Veras100% (1)
- Resenha do livro Viver nas ruínas de Anna Lownhaupt TsingDocumento7 páginasResenha do livro Viver nas ruínas de Anna Lownhaupt TsingJeronimo Amaral de CarvalhoAinda não há avaliações
- Estilos de vida e gostos de classe segundo Pierre BourdieuDocumento20 páginasEstilos de vida e gostos de classe segundo Pierre BourdieuPaulo DiasAinda não há avaliações
- Trajetórias Sociais e Formas Identitárias - DubarDocumento12 páginasTrajetórias Sociais e Formas Identitárias - DubarPamellasssAinda não há avaliações
- Sociologia Da EducacaoDocumento22 páginasSociologia Da EducacaoLalitaKamalaAinda não há avaliações
- Resenha - Teoria Tradicional e Teoria Crítica - Max HorkheimerDocumento2 páginasResenha - Teoria Tradicional e Teoria Crítica - Max HorkheimerPercy Fernandes Maciel Junior100% (1)
- Pegada de PatrãoDocumento121 páginasPegada de PatrãoGime RoqueAinda não há avaliações
- O Homo Sociologicus em Weber e DurkheimDocumento10 páginasO Homo Sociologicus em Weber e DurkheimRaphael T. SprengerAinda não há avaliações
- Texto 05 Pags 108-123 Cipriano-LuckesiDocumento16 páginasTexto 05 Pags 108-123 Cipriano-LuckesiAbiru1902Ainda não há avaliações
- Paradigmas Ou CenariosDocumento14 páginasParadigmas Ou CenariosJoão Felipe NascimentoAinda não há avaliações
- Origens da Ecologia: Da Grécia Antiga a DarwinDocumento7 páginasOrigens da Ecologia: Da Grécia Antiga a DarwinAlbertoHenriquePiresJuniorAinda não há avaliações
- Solidariedade em Durkheim, Mauss, e MarxDocumento25 páginasSolidariedade em Durkheim, Mauss, e MarxGlaucia CampregherAinda não há avaliações
- Prefácio Contribuição Economia Política de Karl MarxDocumento6 páginasPrefácio Contribuição Economia Política de Karl MarxLucas GuedesAinda não há avaliações
- Antropologia JurídicaDocumento3 páginasAntropologia Jurídica1513110% (1)
- CW Porto Goncalvez - Geografando Nos Varadouros Do MundoDocumento22 páginasCW Porto Goncalvez - Geografando Nos Varadouros Do MundoEmmanuel Quiroga RendónAinda não há avaliações
- Resumo - BersteinDocumento3 páginasResumo - BersteinJuliana CarolinaAinda não há avaliações
- Sahlins análise do HavaíDocumento15 páginasSahlins análise do HavaíRaQuel QueirozAinda não há avaliações
- A antropologia, a micro-história e o papel do tempoDocumento11 páginasA antropologia, a micro-história e o papel do tempoYasmin MonteiroAinda não há avaliações
- Gostos de Classe e Estilos de Vida (Pierre Bourdieu)Documento41 páginasGostos de Classe e Estilos de Vida (Pierre Bourdieu)Artionka CapiberibeAinda não há avaliações
- Teatro Épico e Bóias-FriasDocumento519 páginasTeatro Épico e Bóias-FriasMaurício CaetanoAinda não há avaliações
- Teoria da Reciprocidade e sócio-antropologia do desenvolvimentoDocumento28 páginasTeoria da Reciprocidade e sócio-antropologia do desenvolvimentoMelinaSantosAinda não há avaliações
- Antropologia brasileiraDocumento3 páginasAntropologia brasileiraDarlaineb100% (1)
- AS CIÊNCIAS SOCIAIS E A QUESTÃO DE GÊNERODocumento14 páginasAS CIÊNCIAS SOCIAIS E A QUESTÃO DE GÊNEROprisissiAinda não há avaliações
- O limiar dos afectos: nomeação e constituição socialDocumento38 páginasO limiar dos afectos: nomeação e constituição socialMarina FrançaAinda não há avaliações
- Alberto Melucci - Entrevista - Movimento Social, Renovação Cultural e o Papel Do ConhecimentoDocumento15 páginasAlberto Melucci - Entrevista - Movimento Social, Renovação Cultural e o Papel Do Conhecimentotavaresinspetor6953Ainda não há avaliações
- Cultura política e democratização: uma crítica às teorias da transiçãoDocumento12 páginasCultura política e democratização: uma crítica às teorias da transiçãoMaria Cláudia ReisAinda não há avaliações
- Luta pela cidadania das colônias de pescadoresDocumento8 páginasLuta pela cidadania das colônias de pescadoresHenri E KarineAinda não há avaliações
- Weber e A Educao PDFDocumento13 páginasWeber e A Educao PDFPedro FranciscoAinda não há avaliações
- Interacionismo SimbólicoDocumento25 páginasInteracionismo SimbólicoJuliane BertuzziAinda não há avaliações
- Razão ontológica e razão fenomênica na modernidadeDocumento15 páginasRazão ontológica e razão fenomênica na modernidadeMaria Julia MarchiniAinda não há avaliações
- Relação patrão-trabalhador na região da mata pernambucanaDocumento4 páginasRelação patrão-trabalhador na região da mata pernambucanaSabrina Sales araujoAinda não há avaliações
- J. L. Borges, Filosofia Da Ciência e Crítica Ontológica: Verdade e EmancipaçãoDocumento16 páginasJ. L. Borges, Filosofia Da Ciência e Crítica Ontológica: Verdade e EmancipaçãoLeandro Velasques LimaAinda não há avaliações
- Análise Antropológica Do Texto Cosmologias Do Capitalismo de Marshall SahlinsDocumento12 páginasAnálise Antropológica Do Texto Cosmologias Do Capitalismo de Marshall SahlinsFrederico Custodio Pinheiro SilvaAinda não há avaliações
- Pluralismo, crise de sentido e busca individual de significado na modernidadeDocumento5 páginasPluralismo, crise de sentido e busca individual de significado na modernidadeMarcelo Pustilnik VieiraAinda não há avaliações
- PUCRS: Resenha sobre Desenvolvimento SustentávelDocumento4 páginasPUCRS: Resenha sobre Desenvolvimento Sustentávelpripeta12100% (1)
- (SIMMEL, Georg.) Gratidão Um Experimento SociológicoDocumento21 páginas(SIMMEL, Georg.) Gratidão Um Experimento SociológicoRicardo Bruno Cunha Campos100% (1)
- História de países imaginários: variedades dos lugares utópicosNo EverandHistória de países imaginários: variedades dos lugares utópicosAinda não há avaliações
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- A Questão Alimentar e o Desenvolvimento dos Territórios: Diálogos a Partir da Experiência do Território Vertentes em Minas GeraisNo EverandA Questão Alimentar e o Desenvolvimento dos Territórios: Diálogos a Partir da Experiência do Território Vertentes em Minas GeraisAinda não há avaliações
- Agroecologia e SSANDocumento100 páginasAgroecologia e SSANSamuel SantosAinda não há avaliações
- Programa Especial de Bolsas No ExteriorDocumento3 páginasPrograma Especial de Bolsas No ExteriorBreno FragaAinda não há avaliações
- Experimental Hefeweizen 13-08-15Documento1 páginaExperimental Hefeweizen 13-08-15Lidia MeloAinda não há avaliações
- Poema Sem NomeDocumento1 páginaPoema Sem NomeLidia MeloAinda não há avaliações
- Agroecologia e SSANDocumento100 páginasAgroecologia e SSANSamuel SantosAinda não há avaliações
- Curando As Folhas Do TabacoDocumento4 páginasCurando As Folhas Do TabacoLidia MeloAinda não há avaliações
- Livro Agricultores Que Cultivam ArvoresDocumento166 páginasLivro Agricultores Que Cultivam Arvores300espAinda não há avaliações
- Des Carre GoDocumento1 páginaDes Carre GoLidia MeloAinda não há avaliações
- TabelaalmutemfigurisDocumento2 páginasTabelaalmutemfigurisLidia MeloAinda não há avaliações
- Curando As Folhas Do TabacoDocumento4 páginasCurando As Folhas Do TabacoLidia MeloAinda não há avaliações
- Testamento ReichDocumento4 páginasTestamento ReichLidia MeloAinda não há avaliações
- Banco Comunitário - 100 Perguntas Mais FrequentesDocumento40 páginasBanco Comunitário - 100 Perguntas Mais Frequentesluciano.cidrackAinda não há avaliações
- APACC - Miolo ULt2Documento56 páginasAPACC - Miolo ULt2Oiregor EtoxipAinda não há avaliações
- Maurício Tragtenberg MemorialDocumento21 páginasMaurício Tragtenberg MemorialMud100% (1)
- Camponeses e Mundo Rural na Literatura MedievalDocumento3 páginasCamponeses e Mundo Rural na Literatura MedievalGabrielAinda não há avaliações
- A Sociedade Feudal e suas Classes DistintasDocumento3 páginasA Sociedade Feudal e suas Classes DistintasRichard Hammer StevensonAinda não há avaliações
- Do Caipira Picando Fumo A Chitaozinho e Xororo Ou Da Roça Ao RodeioDocumento26 páginasDo Caipira Picando Fumo A Chitaozinho e Xororo Ou Da Roça Ao RodeioDiogo SilvaAinda não há avaliações
- Conversa Na Mesa Com HitlerDocumento642 páginasConversa Na Mesa Com HitlerSetores RevisãoAinda não há avaliações
- A industrialização da agricultura e a destruição do campesinato no século XXIDocumento23 páginasA industrialização da agricultura e a destruição do campesinato no século XXIAlessandro MeloAinda não há avaliações
- Servos – Os trabalhadores da terraDocumento10 páginasServos – Os trabalhadores da terraAlexandra Freitas100% (1)
- James Scott - Formas Cotidiana de Resistencia Camponesa PDFDocumento22 páginasJames Scott - Formas Cotidiana de Resistencia Camponesa PDFLíviaGuimarãesAinda não há avaliações
- O diabo, o fetichismo e a luta de classes na América do SulDocumento13 páginasO diabo, o fetichismo e a luta de classes na América do SulJuliana Dourado Bueno0% (1)
- Entre sociologia rural e antropologiaDocumento6 páginasEntre sociologia rural e antropologiaSammy Samuel Samuel100% (1)
- Sistemas agrícolas e atividades rurais no BrasilDocumento32 páginasSistemas agrícolas e atividades rurais no Brasilguilherme100% (1)
- O Feudalismo - Paulo Miceli - ResenhaDocumento3 páginasO Feudalismo - Paulo Miceli - Resenhakibezoca100% (2)
- Debatendo classes sociais no BrasilDocumento88 páginasDebatendo classes sociais no BrasilFernando IannicelliAinda não há avaliações
- Paulo Freire - Como Trabalhar Com o PovoDocumento9 páginasPaulo Freire - Como Trabalhar Com o PovoSabrina DiasAinda não há avaliações
- Ensino de Matemática e atividades camponesasDocumento14 páginasEnsino de Matemática e atividades camponesasDiego JonataAinda não há avaliações
- WOLF e o Marxismo - Mauro Almeida - 2004Documento11 páginasWOLF e o Marxismo - Mauro Almeida - 2004gil999999Ainda não há avaliações
- Origem do Capitalismo na InglaterraDocumento4 páginasOrigem do Capitalismo na InglaterraMario TinocoAinda não há avaliações
- O Campesinato Contemporaneo Como Modo de Produção e Como Classe SocialDocumento44 páginasO Campesinato Contemporaneo Como Modo de Produção e Como Classe SocialJoão CamposAinda não há avaliações
- Produção do algodão agroecológico no Agreste e Cariri ParaibanoDocumento9 páginasProdução do algodão agroecológico no Agreste e Cariri Paraibanodecora nichosAinda não há avaliações
- FRIZZO, F. e KNUST, J. (2012-CEMARX) Expropriação e Mediação Nas Formas de Exploração Pré-Capitalistas.Documento10 páginasFRIZZO, F. e KNUST, J. (2012-CEMARX) Expropriação e Mediação Nas Formas de Exploração Pré-Capitalistas.professorfabiofrizzoAinda não há avaliações
- Os Irmãos Graco e a Reforma Agrária em RomaDocumento2 páginasOs Irmãos Graco e a Reforma Agrária em RomaDelfim TavaresAinda não há avaliações
- Uma revolução perdida e seus ensinamentosDocumento168 páginasUma revolução perdida e seus ensinamentosmackandall sinisAinda não há avaliações
- E - Book RuralDocumento408 páginasE - Book RuralEmerson Carlos100% (1)
- Agricultura Familiar - Heribert SchmitzDocumento12 páginasAgricultura Familiar - Heribert SchmitzRogério Aparecido BeraldoAinda não há avaliações