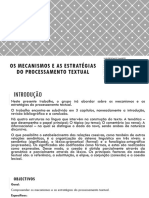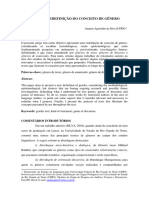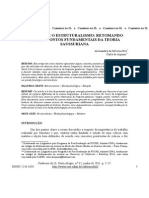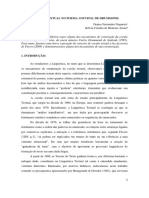Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dissertação - Funções Da Linguagem
Enviado por
Douglas EnglishDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dissertação - Funções Da Linguagem
Enviado por
Douglas EnglishDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR
A SELEO LEXICAL LUZ DA FUNO POTICA
EM TEXTOS DE CAETANO VELOSO
Por
Jos Amrico Bezerra Saraiva
Dissertao apresentada
Coordenao do Mestrado em
Lingstica da Universidade
Federal do Cear, como requi-
sito parcial para obteno do
Grau de Mestre.
Fortaleza, 06 de agosto de 1998.
Esta dissertao constitui parte dos requisitos necessrios obteno do Grau
de Mestre em Lingstica, outorgado pela Universidade Federal do Cear, e encontra-se
disposio dos interessados na Biblioteca Central da referida Universidade.
A citao de qualquer trecho desta dissertao permitida, desde que seja feita
em conformidade com as normas da tica cientfica.
Jos Amrico Bezerra Saraiva
Dissertao aprovada em julho de 1998.
Prof. Dr. Paulo Mosnio Teixeira Duarte
Orientador
Prof. Dra. Diana Luz Pessoa de Barros
Prof. Dr. Snzio de Azevedo
DEDICATRIA
Ao amigo Paulo Mosnio Teixeira Duarte, o no-doutor e o sempre professor,
cujo papo rico e agradvel.
A Seu Joo e Dona Ivone, meus pais, com quem muito aprendi.
A R Guimares, por ter despertado em mim o gosto pela leitura.
A Mira, minha mulher, razo para tudo que fao.
A Vincius, meu filho, razo para tudo que farei, nascido trs meses antes da
defesa desta dissertao.
A Aline, minha sobrinha.
AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Paulo Mosnio Teixeira Duarte, pelo gnio e pela generosidade com
que nos orientou, sempre acessvel e disposto a dialogar.
A Mira, pela pacincia e dedicao.
A Cristina Carvalho, pelo zelo com que procedeu leitura crtica deste trabalho.
Aos professores doutores Rafael Snzio de Azevedo, da Universidade Federal do
Cear, e Diana Luz Pessoa de Barros, da Universidade de So Paulo, que, como
membros da banca examinadora desta dissertao, fizeram crticas pertinentes,
que incorporo a este trabalho.
RESUMO
Baseado na funo potica, tal como assentada por Jakobson, analisamos as
seguintes composies de Caetano Veloso: o quereres, meu bem meu mal, pipoca
moderna, odara, luz do sol e chuva suor e cerveja. Tentamos investigar no apenas
aspectos estruturais derivados da definio da funo potica, mas tambm os
fundamentos semnticos. Estes implicam dois conjuntos de noes bsicas: denotao x
conotao; dicionrio x enciclopdia. O texto o ponto de partida que orienta a anlise
dos itens lexicais. Assim, tivemos de abandonar as concepes semnticas que apiam o
dicionrio, fundamentado em palavras isoladas. Conforme o ponto de vista textual, o
sentido de uma palavra emerge do contexto, o que no implica que alguns aspectos
estabelecidos e consolidados do sentido no devam ser levados em considerao. Antes
de considerar as perspectivas formais e semnticas referentes aos lexemas, enfocamos
cada texto como um todo, a fim de tornar a anlise enxuta e clara.
ABSTRACT
Based on the poetic function as stated by Jakobson, I analyse the following
compositions by Caetano Veloso: o quereres, meu bem meu mal, pipoca moderna
odara, luz do sol and chuva suor e cerveja. I try to investigate not only structural
aspects derived from the definition of the poetic function itself but also semantic
grounds. These ones imply two groups of basic notions: denotation x connotation;
dictionary x encyclopaedia. Text is the starting point that guides the analysis of the
lexical itens. So I had to leave the semantic conceptions that support dictionary founded
on isolated words. According to the textual point of view, the meaning of a word
emerges from the context, which does not imply some established aspects of meaning
should not be taken into account. Before formal and/or semantic considerations
concerning the lexemes, I focus each text as a whole in order to make my analysis terse
and clear.
NDICE
INTRODUO
09
1. FUNES DA LINGUAGEM 13
1.1. Funo: um termo polissmico 13
1.2. Funes da linguagem: enfoques filosfico e antropolgico 19
1.3. Funes da linguagem: enfoque lingstico 27
1.3.1. As perspectivas de Carvalho e Halliday 27
1.3.2. As perspectivas de Bhler e Jakobson 35
1.4. Funes da linguagem: aspectos crticos 41
1.4.1. Funes da linguagem: funes do discurso ou funes da frase? 41
1.4.2. H uma hierarquia das funes da linguagem? 43
1.4.3. Haver funes bsicas? 50
2. A FUNO POTICA 53
2.1. A ttulo de recapitulao 53
2.2. Da funo potica em especial 54
2.2.1. Funo potica e funo metalingstica 54
2.2.2. A singularidade da funo potica 59
2.3. Funo potica e motivao semntica 64
2.3.1. Consideraes preliminares 64
2.3.2. A noo de desautomatizao 69
2.3.3. A noo de acoplamento 71
2.3.4. A noo de interpretante contextual 74
2.3.5. As noes de dicionrio e enciclopdia 75
2.3.5.1. Esclarecimentos 75
2.3.5.2. Dicionrio 78
2.3.5.3. Denotao e conotao 82
2.3.5.4. Dicionrio e enciclopdia 85
2.3.6. Sntese 90
3. QUESTES PENDENTES 96
3.1. Funo potica e texto potico 96
3.2. Funo potica e estilo 103
3.3. Texto e recepo 105
4. ANLISE DO CORPUS 114
4.1. Do corpus 114
4.2. Textos para anlise 116
4.2.1. O quereres 116
4.2.2. Meu bem meu mal 139
4.2.3. Pipoca moderna 146
4.2.4. Odara 152
4.2.5. Luz do sol 156
4.2.6. Chuva suor e cerveja 165
CONCLUSO 171
BIBLIOGRAFIA 174
INTRODUO
Este trabalho tem como desiderato analisar alguns textos da autoria do
compositor baiano Caetano Veloso, sob o enfoque da doutrina funcionalista de
Jakobson (s/d). Nossa anlise justifica-se no apenas por colocarmos em tela textos de
um dos mais clebres nomes da Msica Popular Brasileira, mas tambm por darmos a
eles uma dimenso lingstica, ancorada na funo potica, em suas mltiplas
manifestaes e configuraes.
Trabalhos de extrao diversa tm sido escritos acerca das composies de
Caetano Veloso. Uns, de natureza histrica, salientam o papel do compositor na MPB
dos anos 70, como o de Bahiana (1980); outros, de cunho antropolgico, destacam
aspectos relativos ao mito, a exemplo do de Melo (1993); outros, por fim, se atm aos
aspectos intertextuais, caso da dissertao de Schimti (1989). Embora se trate de
trabalhos de mrito, sinalizam uma lacuna: a necessidade de estudar a obra do
compositor baiano luz dos subsdios tericos da lingstica moderna.
Ocorreu-nos ento a idia de apelar para a doutrina funcionalista de Jakobson,
salientando a funo potica, ao que nos consta ainda no aplicada obra do compositor
baiano. Adicionalmente, h que se considerar os seguintes reparos tericos necessrios
consecuo do objetivo-mor:
a) reviso das funes da linguagem, nos planos filosfico e lingstico, sob
um ponto de vista crtico; dificilmente encontrado nos compndios de
divulgao sobre o assunto;
b) reenfoque da funo potica como funo lingstica por excelncia,
dado que o foco a mensagem;
c) redimensionamento dos aspectos semnticos que a supracitada funo
acarreta.
Como tributrios dos objetivos supra, tambm julgamos por bem, em captulo
parte:
a) verificar a relao entre as funes expressiva, conativa e potica,
principalmente esta ltima, com a noo de estilo;
b) estabelecer vnculos entre funes da linguagem e a trade:
autor/texto/leitor;
c) questionar a relao entre funo potica e Potica.
Partimos da hiptese de que o jogo potico em Caetano Veloso mormente de
natureza sgnica, j que no se perspectiva um simples jogo de significantes. Chamou-
nos em particular a ateno o seguinte texto, que transcrevemos abaixo, no qual se
salientam os jogos com os fonemas /p/ e /n/:
e era nada de nem noite de negro no
e era n de nunca mais
e era noite de n nunca de nada mais
e era nem de negro no
porm parece que a golpes de p
de p de po
de parecer poder
(e era no de nada nem)
pipoca ali aqui
pipoca alm
desanoitece a manh
tudo mudou
Hipotetizamos tambm que h diferentes graus de transparncia semntica,
desde os mais simples at os que exigem releituras contnuas, em virtude da singular
opacidade da funo potica e do estranhamento por ela causado.
Com o retroexposto, esperamos contribuir, selecionando os pontos de vista que
julgamos adequados, e procedendo devida sntese, para a apreciao do texto,
conforme uma abordagem j tradicional entre ns, calcada nas funes da linguagem,
redimensionada, todavia, em nosso trabalho. nosso desejo assim fornecer subsdios
para uma abordagem textual em bases mais firmes.
Tendo em vista os objetivos e hiptese acima formulados, traamos o nosso
plano de trabalho. Pomos em revista, no captulo 1, questes relativas polissemia do
termo funo. Ainda neste captulo, apresentamos algumas contribuies de cunho
filosfico e/ou antropolgico referentemente s funes da linguagem. Mais adiante,
discutimos o enfoque lingstico dado questo por Carvalho (1983) e Halliday (1976,
1978 e 1985), comparando as propostas destes dois autores.
Em seguida, encetamos a discusso acerca da proposta tridica das funes da
linguagem, do psiclogo austraco Bhler, sobre cujo alicerce ergueu Jakobson o seu
modelo hexdico, baseado particularmente nas contribuies da Teoria da
Comunicao. Analisamos ento o modelo jakobsoniano e questionamos alguns de seus
postulados, um dos quais diz respeito ao domnio das funes da linguagem: a frase ou
o discurso? Outro questionamento diz respeito impossibilidade de se estabelecer uma
hierarquia, extradiscursiva ou intradiscursiva, para as funes da linguagem. Um
terceiro ponto, e motivo de controvrsia entre diferentes autores, visa a discutir se h
funes da linguagem bsicas ou se elas atuam em feixe, qualquer que seja a mensagem.
No captulo 2, abordamos a funo potica em sua especificidade face s
demais funes da linguagem e procuramos estabelecer os aspectos identificadores da
referida funo, no que concerne aos seus parmetros lingsticos. Num primeiro
momento, procuramos examinar se a funo potica se aproxima da funo
metalingstica, conforme sugesto de Lopes (s/d). Feito isto, apresentamos a funo
potica no que ela tem de singular: a relao entre os eixos paradigmtico e
sintagmtico, a projeo das equivalncias de um eixo no outro e os paralelismos de
toda ordem decorrentes desta projeo.
Um ponto ficou, no entanto, pouco claro para ns. Trata-se da questo dos
paralelismos semnticos. Que parmetros ou linhas gerais colocar para a existncia de
tais paralelismos, muito pouco esclarecidos por Jakobson? Passamos em revista vrias
propostas como a de desautomatizao, de Kloepfer (1984), a de acoplamento, de Levin
(1975) e a de interpretante contextual, de Lopes (1978). Examinamos igualmente as
propostas de Eco (1974, 1984, 1986, 1991c e 1991d), porque redimensiona os itens
lexicais no contexto, tendo feito prvias objees teoria dicionarial de Katz-Fodor
(1977) e a teorias referenciais do significado. Ora, se a funo potica instaura o
estranhamento pelo emprego inusitado de itens lexicais, julgamos procedente nossa
suspeita de que, em algum ponto, a teoria de Eco nos ser de valia.
O captulo 3 trata de algumas questes pendentes, que no pretendemos
resolver, mas apenas apresentar de forma crtica. So questes referentes relao entre
funo potica e texto potico, funo potica e estilo, texto e recepo.
O quarto captulo dedica-se anlise de seis textos de Caetano Veloso (o
quereres, meu bem meu mal, pipoca moderna, odara, luz do sol e chuva suor e cerveja)
luz da funo potica jakobsoniana. Neles, procuramos detectar as equivalncias de
toda ordem que concorrem para a seleo lexical operada. O levantamento destas
equivalncias, obviamente, no foi exaustivo: primeiro, em virtude do prprio escopo a
que nos propusemos inicialmente, ou seja, demonstrar como a funo potica atua na
seleo lexical realizada por Caetano Veloso; segundo, em virtude das restries
relacionadas s dimenses do trabalho; e, terceiro, em virtude da exigidade do tempo.
Mais pormenores sobre o corpus sero fornecidos no captulo dedicado anlise.
1. FUNES DA LINGUAGEM
1.1. Funo: um termo polissmico
No dizer de Fontaine (1978: 55), a noo de sistema e a de funo constituem
os dois plos em torno dos quais se organizam as idias do Crculo Lingstico de Praga
(CLP). A noo de sistema vem contrapor-se, no mbito da cincia da linguagem, ao
atomismo historicista praticado pelos comparativistas e encontra em Saussure sua
formulao lingstica. O referido conceito se concatena naturalmente com o de funo,
se se quer contemplar os aspectos interacionais da linguagem e evitar a forma como fim
em si mesma. Falemos, pois, detidamente de funo, j que mantm relao com a
forma nas teorias funcionalistas, ainda que diversamente matizada
1
.
A concepo de lngua como sistema funcional, explicitada no bojo da primeira
das nove teses do CLP, redigidas como contribuio aos debates do I Congresso de
Fillogos Eslavos, realizado em Praga em outubro de 1929, reconhece na lngua seu
carter de finalidade, na medida em que os meios por ela utilizados o so em vista de
um fim, como sucede aos demais produtos da atividade humana (TOLEDO, 1978: 82).
Tal concepo identifica, teleologicamente, a lngua como instrumento de
comunicao, uma estrutura-meio para fins determinados, consubstanciados na
comunicao, sua funo basilar e, secundariamente, na expresso, o que no nos parece
claro. Afinal expresso tambm no comunicao? Ou por comunicao entende-se a
mera funo referencial
2
? Como bem assinala Neves (1997: 9) comunicar no se pe
como funo da linguagem porque a capacidade que a linguagem tem de funcionar
comunicativamente exatamente o que condiciona todo o complexo que constitui o
evento da fala.
1
Na verdade, h vrios funcionalismos, que podem ser grosso modo postos sob trs vertentes: a
conservadora, que apenas aponta a inadequao do formalismo ou do estruturalismo, sem propor uma
anlise da estrutura; a moderada, que no apenas aponta a inadequao, mas vai alm, propondo uma
anlise funcionalista da estrutura; e a extremada, que nega a realidade da estrutura como estrutura, e
considera que as regras se baseiam internamente na funo, no havendo, pois, restries sintticas
(NEVES, 1997: 55-6).
2
O mal reside no termo comunicao, que tem adquirido uma acepo bastante vaga. Ducrot (1977) faz
aluso a este respeito. Depois de Saussure, comum encontrar-se a declarao de que a funo
fundamental da lngua a comunicao. No h muita objeo a fazer a isto, j que a prpria noo de
comunicao bastante vaga, e susceptvel de receber um grande nmero de orientaes (p. 9).
O certo que, sendo a lngua entendida como sistema de comunicao, seus
elementos componentes mantm relaes em rede, de tal modo que um elemento s
concebido no seio do sistema, isto , em funo do sistema ao qual pertence. Da
decorre um primeiro sentido para o termo funo, a que vem ligar-se estreitamente os
termos funcional e funcionalismo (FRANOIS, 1976: 146).
Nas duas teses seguintes do manifesto do CLP, o termo funo empregado
quer em acepo anloga supramencionada, quer numa acepo algo generalizante. A
segunda tese, intitulada Tarefas do estudo de um sistema lingstico, do sistema eslavo
em particular, salienta a importncia da distino entre o som como fato fsico objetivo,
como representao e como elemento do sistema funcional. Destarte, no que diz
respeito ao estudo dos fenmenos acstico-motores, tarefa do lingista tanto
caraterizar o sistema fonolgico identificando as unidades que desempenham uma
funo significativa diferenciadora numa dada lngua quanto descrever as possibilidades
de combinao de tais unidades em estruturas maiores (TOLEDO, 1978: 85). Ainda na
mesma segunda tese, apresentam-se algumas orientaes, fundadas neste conceito de
funo, acerca das pesquisas sobre a palavra e o agrupamento das palavras e de uma
teoria dos procedimentos sintagmticos.
A terceira tese, intitulada Problemas da pesquisa acerca das lnguas de
diversas funes, busca determinar as diferentes funes da lngua, que, em sua
manifestao, se caracterizam por certo grau de intelectualidade ou de afetividade,
variando essas duas qualidades em propores difceis de mensurar-se. Funo, neste
momento, tomada como variedade de emprego ou modo de realizao. Segundo esta
acepo, a linguagem pode ser intelectual ou emocional. A primeira destina-se s
relaes com outrem; a segunda pode servir para exteriorizar emoes ou para agir
sobre outrem. Diferenciao ambgua, reconheamos, porque exteriorizar emoes e
agir sobre o outro pressupem igualmente interao
3
.
3
Aqui j nos antecipamos a algumas concluses neste trabalho, no tocante separao entre emissor e
receptor, com que concordamos. Valemo-nos do seguinte excerto, de Neves, aludente a Halliday: (...) a
linguagem serve funo interpessoal, isto , o falante usa a linguagem como um meio de participar do
evento da fala: ele expressa seu julgamento pessoal e suas atitudes, assim como as relaes que estabelece
entre si prprio e o ouvinte, em particular, o papel comunicativo que assume. (...) O elemento interpessoal
de linguagem, alm disso, vai alm das funes retricas, servindo num contexto mais amplo, ao
estabelecimento e a manuteno dos papis sociais que, afinal, so inerentes linguagem. A funo
interpessoal , pois, interacional e pessoal, constituindo um componente da linguagem que serve para
organizar e expressar tanto o mundo interno como o mundo externo do indivduo (1997: 13).
Do ponto de vista da relao com a realidade extralingstica, ao lado da
funo de comunicao, reconhece-se a funo potica, diferindo elas entre si pelo fato
de esta ter o enunciado voltado para o significante e aquela, para o significado.
Diferenciao ainda mal formulada (tal como as j referidas acerca da comunicao,
expresso e conao), pois o exerccio da funo potica pressupe esta noo por
demais ampla, chamada comunicao.
Fontaine identifica ainda uma terceira acepo para o termo funo, que, diz-
nos, est muitas vezes insuficientemente explicitada nos escritos dos lingistas de
Praga. Alm dos dois sentidos a que j aludimos, estreitamente relacionados, funo
como complemento da noo de sistema, e funo como atribuio finalstica de um
elemento no seio de um sistema, convm destacar que funo pode ser compreendida
como uma contribuio de alguma forma exterior ao sistema, em todo caso visando o
sistema em sua integralidade, o qual se v assim atribuir uma vontade autnoma que
evoca a reconhecida ao locutor que profere o enunciado (FONTAINE, 1978: 46-7).
A polissemia do termo funo reafirmada em Franois (1976: 143-9), no
verbete funes da linguagem, no qual se desenvolve uma discusso bastante didtica
das acepes que o termo tem apresentado em lingstica, estas relacionadas com as
supracitadas ou adicionais. Esta lingista raciocina acerca do termo funes da
linguagem e reconhece nele o sentido corrente de papel, atividade til. Estabelece,
no entanto, outras distines, nomeadas abreviadamente por funes
1
, funes
2
e
funes
3
.
As funes
1
, afirma Franois, no so apreendidas na linguagem mas
atribudas a esta, de algum modo, a partir do exterior: por exemplo, o lgico tradicional
torna-as no instrumento do raciocnio; o estilista faz delas um material de criao
esttica; o cientista, um meio de nomenclatura (op. cit.: 143). Tal significado, ensina-
nos Franois, caracteriza-se pela sua parcialidade porquanto no tem sido reconhecida a
coexistncia de vrias funes da linguagem. O fator norteador passa a ser o uso a que
se presta a linguagem pelos homens nos diversos domnios do saber e da arte. Por ser
genrica a caracterizao das funes nestes moldes, no h sugesto de aplicabilidade,
h s taxonomia. Neste caso, as funes constituem um a priori intimamente
relacionado ao que se pretende que a linguagem manifeste.
A noo de funes
2
da linguagem surge a partir do estudo dos materiais
lingsticos e est estreitamente ligada ao desenvolvimento de mtodos de observao e
anlise de lnguas diversas. tambm utilizada para referncia aos diversos papis
desempenhados por uma lngua e est fundamentada na concepo de lngua como
instrumento. Assim, as diferentes funes so estabelecidas a posteriori, a partir de
observaes dos empregos e do estudo interno da lngua, em seu funcionamento real.
Em consonncia com esta concepo, admite Franois a coexistncia
hierarquizada de vrias funes
2
da linguagem, com predominncia da funo de
comunicao, entendida por ela como central por servir de suporte ao pensamento.
Conforme vimos, a esta acepo do termo que vem ligar-se o adjetivo funcional e o
substantivo funcionalismo.
Partindo da noo de lngua como instrumento de comunicao, estabelecem-
se, no nvel fnico, as funes distintiva, demarcativa e culminativa. A anlise funcional
utilizada para descrever o nvel fnico passa a constituir um modelo para os outros
nveis. A noo de funo
2
ganha aqui uma maior coerncia, visto que oferece um
critrio vlido, em todos os planos da lngua, para destacar e classificar as unidades e
para estabelecer, sobre a base indispensvel desta crivao funcional, as estruturas
lingsticas, diz-nos Franois, ao que acrescenta: neste elo entre funo e estrutura
que reside a originalidade da noo de estrutura em lingstica (op. cit.: 144). O
mtodo funcionalista, portanto, confirma a preponderncia da funo de comunicao,
uma vez que nela que ele se fundamenta.
Ao lado desta funo de base, ampla e geral, Franois reconhece funes
2
secundrias que so caracterizadas como desvios, na medida em que constituem recusas
de comunicao ou comunicao mais qualquer coisa.
Como funes
2
secundrias, a lingista francesa arrola a funo de expresso e
a esttica. Define, paradoxalmente, a primeira como no comunicao (ainda que
utilize a lngua de comunicao), j que emissor e receptor correspondem a uma nica
pessoa, e, por isso, no h, por parte do emissor, preocupao com relao s reaes do
receptor, o que nos parece uma indefensvel posio sobre monologismo. A funo
esttica, por sua vez, surge mais como utilizao da lngua com vistas a uma melhor
comunicao do que como uma funo autnoma isolvel; faz uso do instrumento de
comunicao e no parece susceptvel de ser concebida sem inteno comunicativa
(1976: 147).
Alm das funes
1
e
2
da linguagem, Franois atribui ao termo uma terceira
acepo, que decorre do aperfeioamento da anlise do ato semiolgico global. Esta
acepo encontra-se diretamente ligada aos fatores intervenientes no processo
comunicativo, a saber: destinador, destinatrio, mensagem, contexto, contato e cdigo.
A cada um destes seis fatores esto ligadas seis funes da linguagem, as quais
necessariamente participam de toda e qualquer mensagem, com predominncias
variveis. Neste sentido do termo (funes
3
), numa dada mensagem a funo central
pode no ser a de comunicao, ao contrrio do que ocorre com a acepo de funes
2
,
conforme deixa claro Franois, em que as outras funes so sempre subsidirias da
funo de comunicao.
No verbete seguinte, funes gramaticais, Mahmoudian (1976: 151-6) trata de
outras quatro acepes do termo, sob as designaes de funo
1
, funo
2
, funo
3
e
funo
4
. Funo
2
toma o sentido de funo de comunicao, tal como ocorre no verbete
precedente, j mencionado. A esta acepo encontra-se estreitamente ligada a funo
3
,
tambm j aludida por ns, a funo de informao, de cuja postulao depende o
conceito de lngua como instrumento de comunicao, como sistema lingstico cujas
unidades so identificadas por sua pertinncia informativa, isto , pela informao que
veiculam. Como novidades, apresentam-se apenas a funo
1
que se caracteriza pelo
sentido que apresenta na tradio gramatical, ou seja, como papel que um segmento
desempenha em relao ao todo do qual parte (funes de sujeito, objeto direto,
predicativo do sujeito etc), e a funo
4
, funo no sentido helmsleviano, entendida como
dependncias ou relaes que grandezas mantm entre si, na medida em que umas
pressupem outras
4
.
4
Para Hjelmslev (1975: 39-45), o termo funo tem uma acepo equidistante entre o sentido lgico-
matemtico e o sentido etimolgico. A dependncia que se estabelece entre uma classe e seus
componentes, entre os componentes de uma classe so exemplos de funes.
So denominadas functivos as grandezas envolvidas numa relao funcional. Um functivo
constante aquele cuja presena imprescindvel para a presena do functivo com o qual tem funo.
Um functivo varivel aquele cuja presena j no necessria para a presena do functivo com o qual
mantm funo. Baseado nas relaes entre functivos constantes e variveis, Helmslev preconiza trs
tipos de funes: a interdependncia, que envolve duas constantes; a determinao, que se estabelece
entre uma constante e uma varivel; e a constelao, que envolve duas variveis.
Como se v, o termo funo multissignificativo e assume matizes distintos,
decorrentes dos muitos empregos que tem conhecido em lingstica, no somente no
funcionalismo. O retomar alguns textos que trataram do assunto vem, portanto, atender
a nosso propsito de ressaltar essa plurissignificao, detectvel no apenas nas diversas
correntes mas tambm dentro de uma mesma orientao lingstica, e, qui, em textos
de um mesmo autor
5
.
Neves assim se pronuncia quanto aos termos funo e funcional, nos moldes
das correntes e obras do Crculo Lingstico de Praga:
Em primeiro lugar, h, nessas obras, muito poucas tentativas de definio dos termos
usados; em segundo lugar, o conceito aplicado a variados domnios e fenmenos da
linguagem, e, por isso, sofre muitas modificaes, aparecendo com variaes
nocionais; em terceiro lugar, h diferenas e vacilaes entre os diferentes autores;
em quarto lugar, o termo funcional usado, em alguns casos, num sentido muito
vago, como uma espcie de simples rtulo; e, em quinto lugar, os termos funo e
funcional no so os nicos relevantes para a interpretao da abordagem finalista:
de um lado, outros termos provindos da interpretao finalista (teleolgica,
teleonmica), como meios, fins, instrumento, eficincia, necessidades de expresso,
servir para evidenciam a abordagem finalista; de outro lado, essa abordagem pode
estar presente e ser determinvel na discusso cientfica dos fatos da lngua sem o uso
explcito dos termos teleonmicos (por exemplo, expresses com adjetivos como
traos distintivos/expressivos/... devem ser interpretados como traos que tm uma
funo distintiva/expressiva/...) (1997: 7).
Dentre as variadas acepes que o termo em tela tem conhecido,
fundamentamos nosso trabalho na que descreve o ato comunicativo como
preeminentemente teleolgico. Conforme tal acepo, a lngua vista como um
instrumento de comunicao, um sistema funcional, cujas funes so estabelecidas a
posteriori, mediante observaes dos empregos e do estudo interno da lngua, tal como
ela realmente funciona.
Hjelmslev refere-se ainda s funes e...e, ou conjuno, e ou...ou, ou disjuno. Sugere, em
seguida, a denominao de correlao para o primeiro tipo e reserva o termo relao para designar o
segundo tipo, tendo em vista que a distino entre processo e sistema pode, de certa forma, ser expressa
atravs destes termos, outra funo a que ainda alude a funo semitica, situada entre as grandezas da
expresso e do contedo (p. 53).
Esta diversidade de funes no escapa ao conceito lgico-matemtico, pois est em consonncia
com o princpio da imanncia na descrio lingstica, defendido por Hjelmslev, j que o autor no faz
qualquer referncia a elementos extralingsticos. As grandezas descritas so internas ao sistema, e as
diversas funes que Hjelmslev descreve estabelecem-se entre tais grandezas.
5
Para detalhes mais pormenorizados sobre o termo, consulte-se Neves (1997: 5-8).
bvio que algumas das acepes supramencionadas guardam estreita relao
entre si; pressupem-se, na verdade, mutuamente. Apenas a noo de funo
1
, de que
nos fala Franois no verbete funes da linguagem, j mencionado por ns, que destoa
das outras a olhos vistos, uma vez que ela recobre funes que no so apreendidas na
linguagem mas atribudas a esta, de algum modo, a partir do exterior (cf. pg. 3).
Cumpre deixar claro desde j que no nos furtaremos a empregar o termo em
qualquer de suas acepes. O conceito que estivermos adotando para o termo, ao longo
deste trabalho, ser sempre explicitado quando necessrio, isto , quando o contexto
lingstico no fornecer, de forma inequvoca, evidncias que permitam inferir seu
significado.
1.2. Funes da linguagem: enfoques filosfico e antropolgico
A questo das funes da linguagem tem constitudo objeto de reflexo para
investigadores dos mais diversos domnios do saber. No s lingistas, mas filsofos,
psiclogos, socilogos, etnlogos, entre outros, tm refletido acerca do problema, na
medida em que, a certa altura de seus estudos, vem-se obrigados a pensar na faculdade
humana da linguagem. No raramente, a discusso sobre a linguagem e suas funes a
que primeiro se impe. Nestes casos, a perspectiva da qual a linguagem estudada
depende fundamentalmente das diretrizes doutrinrias que balizam os estudos.
Na Antigidade Clssica, por exemplo, Aristteles reconhece e examina duas
funes bsicas da linguagem, ligadas s noes de lgos e lxis. A funo do lgos,
fundamentalmente terica, linguagem em seu uso racional, lgico, portanto
representativo, distingue-se da funo prtica da linguagem, a lxis, funo proeminente
na arte da retrica e da potica, por meio da qual no apenas se dizem as coisas ou se
dizem as relaes entre as coisas e, portanto, a verdade das coisas (NEVES, 1987: 72),
mas ressalta-se o aspecto significante da linguagem. O que est mais visivelmente em
primeiro plano, na funo lxis, o como dizer e no o dizer enquanto tal.
Eco (1991b: 72-6) assevera que este como dizer que constitui, na Antigidade
Clssica, o objeto da Retrica. Segundo ele, reconheciam-se, neste perodo, trs tipos de
discursos: o apodtico, o dialtico e o retrico. O discurso apodtico conduz a
concluses silogsticas que se apiam em premissas indiscutveis, fundadas nos
princpios primeiros. O discurso dialtico fundamenta-se em premissas provveis e
conduz a duas concluses, esforando-se o raciocnio por definir qual das duas
concluses seria a mais aceitvel (op. cit.: 73). O discurso retrico, que nos interessa de
perto, tambm parte de premissas provveis e tenciona delas extrair concluses no
apodticas, que visam a obter, alm do assentimento racional, um consenso emocional.
O como dizer passa, portanto, a desempenhar um papel de fundamental importncia na
Retrica, vista como a arte da persuaso, uma vez que o consenso emocional dele
depende. Em outros termos, a Retrica constitui uma tcnica cujo escopo conduzir o
ouvinte, convencendo-o do que dito, a partir do como diz-lo.
Eco observa ainda que Aristteles reconhece trs tipos de discurso: o
deliberativo, sobre o til na vida associada; o judicirio, sobre a justeza das coisas; o
epidtico, discurso de elogios ou vituprios acerca das coisas. O poder persuasrio de
cada um destes trs tipos de discurso depende diretamente do lugar que os argumentos
tomam no discurso, de sua disposio (dispositio) e das translaes e das figuras
retricas (elocutio ou lxis, acima referida), que estimulam a ateno do leitor-ouvinte,
obrigando-o a voltar-se para premissas e argumentos, j que o discurso apresenta-se
ornado, eivado do inusitado e do novo, contendo uma imprevista cota de informao.
V-se logo que, embora atribua proeminncia ao aspecto racional da linguagem,
Aristteles no deixa de reconhecer a funo conativa, que visa a agir sobre o outro para
obter-lhe mais que o simples assentimento racional, ou seja, para obter-lhe o consenso
emocional.
Transmitida pela Antigidade Idade Mdia, renovada pela poca Clssica, a
Retrica constitua, como bem assinala Guiraud (1975), uma estilstica da expresso e
uma tcnica de linguagem considerada como arte. Isto corria, de algum modo, paralelo
com os estudos lgicos representacionais da linguagem, ilustrados na Gramtica
Especulativa dos medievais, que via a lngua como reflexo do pensamento
6
, e na obra de
um Scaliger, na Renascena (cf. KRISTEVA, s/d: 172-7). Em suma, no se abandonou,
a despeito das injunes histricas que submeteram os estudos lingsticos a
reformulaes, a dupla dimenso da linguagem: enquanto sistema representativo de
6
Cf. Robins (1979: 52-73) para os pormenores sobre a fundamentao aristotlico-tomista dos gramticos
especulativos, que raciocinavam sobre as diversas classes de palavras em termos de modi significandi
passivi (modos de significao passivos), em virtude dos quais as qualidades das coisas so significadas
por palavras.
sinais referenciais e enquanto sistema de meios expressivos, do ponto de vista do
contedo afetivo para nos socorrermos aqui de estilstica de Bally (1951, i-16).
Berkeley (1992) outro filsofo, j da filosofia moderna, que reconhece na
linguagem funes diversas da de simples suporte ou comunicao de idias. Admite
que a linguagem atende a propsitos ligados aos participantes de um ato comunicativo,
servindo como meio de exteriorizao psquica ou como meio de ao sobre outrem. E,
ao colocar em xeque a doutrina escolstica das idias abstratas, cuja fonte privilegiada
parece ser a linguagem, observa:
... a comunicao de idias por palavras no o fim principal ou nico da linguagem.
H outros fins, como exaltar uma paixo, excitar ou combater uma ao, dar ao
esprito uma disposio particular. O primeiro em muitos casos apenas secundrio
e s vezes inteiramente omitido quando os outros o dispensam, como suponho
freqente na linguagem familiar. (1992: 10)
Wittgenstein (1987), filsofo bem mais contemporneo, reconhece, por sua
vez, na segunda fase de sua filosofia
7
, que a linguagem se presta a uma multiplicidade
de usos, a que ele se refere como jogos de linguagem. Para ele, h inmeras espcies
diferentes de emprego daquilo a que chamamos de smbolos, palavras, proposies.
Esta pluralidade de empregos no se caracteriza pela fixidez, muito pelo contrrio,
dinmica, pois novos jogos de linguagem surgem enquanto outros envelhecem e caem
no esquecimento. Para tornar claro o que entende por jogos de linguagem, nesta
perspectiva pragmtica, Wittgenstein compara a linguagem a uma caixa de ferramentas,
em virtude da funo instrumental de ambas, e elenca os seguintes exemplos de jogos
de linguagem: dar ordens e agir de acordo com elas; descrever um objeto a partir do seu
aspecto ou das suas medidas; construir um objeto a partir de uma descrio (desenho);
relatar um acontecimento; fazer conjecturas sobre o acontecimento; formar e examinar
uma hiptese; representao (sic) dos resultados de uma experincia atravs de tabelas e
diagramas; inventar histria, l-la; representao (sic) teatral; contar numa roda;
resolver adivinhas; fazer uma piada, cont-la; resolver um problema de aritmtica
7
A segunda fase do pensamento de Wittgenstein est consubstanciada nas Investigaes Filosficas, que
forte influncia exerceu nas idias desenvolvidas pelo Grupo de Oxford.
aplicada; traduzir de uma lngua para outra; pedir, agradecer, praguejar, cumprimentar,
rezar (1987: 190).
Cumpre salientar, tambm no terreno filosfico, a forte influncia que o
pensamento de Wittgenstein exerceu na concepo da teoria dos atos de fala, cuja
formulao inicial foi apresentada por Austin (1990), e, posteriormente, desenvolvida
por Searle (1984). Fazendo tabula rasa das diferenas entre uma e outra abordagem,
nos pormenores, constatamos que tal teoria ostenta como unidade bsica de suas
preocupaes no a palavra ou a orao, mas o ato realizado pelo falante por meio de
palavras ou oraes. Segundo tal teoria, em cada ato de fala realizado, existe um
aspecto: a) locucionrio, que consiste na sua forma fontica, na construo gramatical
em que se expressa e no sentido a elas associado; b) ilocucionrio, que consiste no valor
do ato praticado pelo falante de acordo com a situao extralingstica em que as
palavras so proferidas (ato de prometer, garantir, jurar etc.); c) perlocucionrio, que
consiste no efeito produzido pelo ato nos sentimentos, pensamentos ou aes do
ouvinte, do falante ou de outras pessoas (efeito de ameaar, convencer, irritar etc.).
Ainda de acordo com esta teoria, as oraes tm um valor ilocucionrio e um
potencial ilocucionrio. O valor advm do ato de fala efetivamente praticado pelo
falante ao proferir uma orao. O potencial o conjunto dos atos de fala atribuveis a
uma orao. Temos, ento, que uma mesma orao pode corresponder a atos de fala
distintos, no havendo, pois, paridade entre dada estrutura oracional e dado ato de fala
praticado.
Admitindo tal ausncia de correlao entre estrutura oracional e ato de fala
praticado, Searle rejeita a concepo chomskyana de linguagem como sistema formal
abstrato e advoga que o conhecimento que um falante tem do sentido das oraes de sua
lngua consiste, em grande parte, na sua capacidade de usar oraes em situaes
concretas para dar ordens, fazer perguntas, pedidos, promessas etc. Portanto, de
concluir-se que o conhecimento lingstico do falante, sua competncia, tambm
consiste na capacidade que ele tem de praticar e entender atos de fala, de forma que a
competncia no uma competncia lingstica stricto sensu mas, como sugere Hymes
(apud SILVA, 1978), uma competncia comunicativa
8
.
Nos atos de fala que a teoria supracitada identifica e classifica, podemos
divisar, grosso modo, diversos dos jogos de linguagem wittgensteinianos.
Face pluralidade de jogos em Wittgenstein, Copi (1978: 47-71) cr ser
possvel postular usos gerais da linguagem que imponham alguma ordem a esta
multiplicidade de empregos, dividindo-os em trs tipos: informativo, expressivo e
diretivo. Esta diviso tridica pode parecer, conforme palavras do autor, uma
simplificao excessiva, mas de muita utilidade para pesquisadores de lgica e
linguagem.
Atravs do uso informativo da linguagem, o falante procura descrever o mundo
e raciocinar sobre ele. O uso da linguagem, em sua funo expressiva, serve expanso
e manifestao de sentimentos e emoes experimentados pelo falante. E, em sua
funo diretiva, a linguagem usada pelo falante com o propsito de causar ou impedir
uma ao manifesta. Estas funes esto sempre presentes nos diferentes tipos de
discurso, razo por que Copi afirma que a maioria dos usos ordinrios da linguagem
mista, no havendo, pois, formas puras. Ou seja, o discurso de um cientista pode deixar
vazar seu entusiasmo para com os resultados obtidos a partir de suas pesquisas. Um
discurso de natureza potica pode, ao mesmo tempo, ser expressivo, diretivo e
informativo. O que caracteriza efetivamente o discurso em uma de suas trs
modalidades, no ver de Copi, a predominncia de uma destas funes, visto que as
mensagens exemplificam, de uma maneira geral e em maior ou menor grau, os trs usos
da linguagem j aludidos.
Convm, no entanto, salientar que Copi analisa estes trs tipos de usos da
linguagem de um ponto de vista lgico. Est efetivamente interessado no valor altico
das sentenas. Portanto, deixa margem de seu estudo as funes expressiva e diretiva,
em virtude da impossibilidade de considerar-se os discursos desta natureza verdadeiros
ou falsos. Admite, todavia, a inexistncia de um mtodo mecnico para distinguir, com
8
A propsito disto, Hymes fala numa funo contextual da linguagem, em que se leva em conta a
descrio do ambiente fsico que cerca emissor e receptor. Tal funo completaria o quadro de funes
proposto por Jakobson (ver mais adiante), reconhecendo, ao lado dos seis fatores intervenientes no
processo comunicativo, um stimo, o contexto, muitas vezes determinante para a decodificao de uma
mensagem. Na compreenso de uma mensagem, deve-se, ento, com efeito, considerar conjuntamente a
forma em que expressa e a situao em que transmitida.
preciso absoluta, os discursos que servem funo informativa e argumentativa da
linguagem dos que servem a outras funes. No obstante, observa que importante
evitar-se, num discurso que se pretende emotivamente neutro (o discurso cientfico, por
exemplo), palavras ou expresses de carter emotivo.
Ogden e Richards (1972: 230), numa postura menos logicista, julgando esgotar
o assunto dos usos da linguagem, reconhecem como fatores que modificam a forma ou
estrutura dos smbolos cinco funes:
(I) A simbolizao da referncia;
(II) A expresso de atitude para com o ouvinte;
(III) A expresso de atitude para com o referente;
(IV) A promoo dos efeitos pretendidos;
(V) Apoio da referncia.
A primeira, dizem, parece abranger todas as principais funes da linguagem
como meio de comunicao. A segunda deriva da atitude assumida pelo elocutor em
relao aos seus ouvintes. A terceira advm da atitude do elocutor em relao ao
referente. A quarta relaciona-se com a inteno do elocutor em promover certos efeitos
atravs do uso da linguagem. E, por fim, a quinta relaciona-se com o que os autores
chamam de Facilidade ou Dificuldade das referncias, isto , os sentimentos delas
acompanhantes. Ogden e Richards ensaiam deixar clara a distino entre esta funo
cinco e a funo trs afirmando que duas referncias ao mesmo referente podem
divergir em termos de facilidade, embora ambas sejam verdadeiras. o caso dos
smbolos Parece-me recordar a ascenso ao Monte Everest e Subi ao Everest que
...podem, ocasionalmente, no representar diferena alguma na referncia e, assim,
dever exclusivamente a sua dessemelhana a graus de dificuldade na recordao
dessa incomum experincia. (...) Essa facilidade ou dificuldade no deve ser
confundida com certeza ou dvida, ou com um grau de crena ou descrena, que cabe
muito mais naturalmente na epgrafe (II), relativa atitude para com o referente. (op.
cit.: 229)
Pelo que se v, o processo de simbolizao considerado pelos autores como
aquele em que se funda a linguagem. Portanto, para eles, a funo de simbolizao
torna-se facilmente a mais importante. A propsito, Ogden e Richards criticam aqueles
autores que seguem uma orientao psicologizante e que destacam a expresso como
funo bsica, no tanto por negligenciarem o papel do ouvinte, mas, principalmente,
pelos efeitos danosos decorrentes do emprego de palavras como expresso, que, dada
sua opacidade significativa, tm um efeito narcotizante, inviabilizando, assim, qualquer
progresso cientfico.
Neste ponto da discusso, importante ressaltar que, j no incio do sculo, os
autores assumem que o domnio no qual as funes da linguagem se inscrevem e,
portanto, no qual devem ser estudadas, no se limita ao da frase isolada, mas estende-se
ao discurso, embora no deixem explcitas as condies de enunciao e indiquem
apenas a necessidade de contextos de enunciado cada vez mais amplos (frase, perodo,
pargrafo, captulo, volume) para a avaliao supostamente inequvoca do sentido, na
iluso de que a relao entre enunciados em sua totalidade suficiente na maior parte
das vezes. Vejamos o que dizem os autores a esse respeito no trecho abaixo transcrito,
no qual se destaca ainda o que pensam os autores sobre a falta de isomorfismo entre
forma e funo.
... a plasticidade do material da fala, em condies simblicas, menor do que a
plasticidade das atitudes, finalidades e esforos humanos, isto , do sistema afetivo; e,
portanto, as mesmas modificaes na linguagem so requeridas por razes muito
diferentes e podem ser devidas a causas muito diversas. Da a importncia de se
considerar a frase no perodo, o perodo no pargrafo, o pargrafo no captulo e o
captulo no volume, se quisermos que as nossas interpretaes no sejam equvocas
nem a nossa anlise arbitrria (op. cit.: 230)
Quanto presena de tais funes nos discursos, Ogden e Richards so claros
ao afirmar que h pequena probabilidade de existirem smbolos que sirvam
simultaneamente a todas as funes. O mais freqente algumas de tais funes serem
sacrificadas. Um dos casos mais extraordinrios de abandono de uma ou mais funes,
extremamente discutido, o do uso potico da linguagem, em oposio ao uso prosaico.
Cumpre, no entanto, sublinhar, uma vez mais, a hegemonia atribuda pelos
autores funo de simbolizao. Esta funo constitui a base mesma de linguagens
primitivas. A propsito disto, afirmam os autores que pessoas rsticas, com pequenos e
concretos vocabulrios, adquiriram, naturalmente, a maioria de suas palavras em
conexo direta com a experincia. Neste momento, os autores aproximam-se do que o
antroplogo Malinowski (1972: 295-330) preconiza ao estudar o significado em
linguagens primitivas.
Malinowski desenvolve estudos acerca do significado em comunidades
primitivas e observa que a linguagem assume, nestas comunidades, um carter
essencialmente pragmtico. A fala, como reflexo do pensamento, constitui, segundo o
autor, um uso derivativo e muito artificial, um estgio posterior, numa comunidade j
civilizada, em que a linguagem usada tanto na estruturao quanto na expresso do
pensamento. Ou seja:
A linguagem, originalmente, entre os povos primitivos, no-civilizados, jamais foi
usada como um mero espelho do pensamento reflexivo. (...) Em seus usos primitivos, a
linguagem funciona como elo na atividade humana concertada, harmnica como uma
pea de comportamento humano. um modo de ao e no um instrumento de
reflexo. (op. cit.: 309)
As observaes de Malinowski acerca da linguagem como meio de ao, diz-
nos Palmer (1979:62), tm uma importncia considervel, pois deixam claro que a
linguagem no funciona apenas como um meio para transmisso de informaes.
Palmer diverge, no entanto, dos argumentos aduzidos pelo antroplogo, pois no v a
linguagem como meio de ao apenas em relao com as necessidades mais bsicas do
homem primitivo ou da criana. Primeiro, porque recusa o rtulo de primitiva para
qualquer lngua. Admite, sim, que o termo aplicvel a agrupamentos humanos no-
civilizados, mas no o a lnguas, como quer Malinowski. Segundo, porque as opinies
de Malinowski no bastam para a construo de uma teoria do significado, na medida
em que este antroplogo no busca sequer uma sistematizao dos contextos, na base da
qual tal teoria pudesse ser erigida. Palmer observa ainda que, nestas comunidades
primitivas, nem toda atividade lingstica est relacionada com o contexto. Toma, como
exemplo, situaes descritas pelo prprio Malinowki em que a linguagem empregada
na narrativa. Neste uso especfico, o contexto sempre o mesmo, ou seja, uma pessoa
conta uma histria a outra. E nem por isso atribui-se o mesmo significado a todas as
histrias narradas. A noo de contexto secundrio, em Malinowski, que uma espcie
de contexto intranarrativo, concebida para resolver tal dificuldade, no tem qualquer
consistncia, pois esse contexto no susceptvel de observao imediata nem de ser
objetivamente definido, mais do que os conceitos e os pensamentos, os quais ele tanto
se empenhou a afastar da discusso (PALMER, 1979: 63). Palmer mostra mais
benevolncia com a teoria de Firth, mais explcita, que considera a ao verbal e a no-
verbal dos intervenientes, os objetos relevantes e os efeitos da ao verbal, em torno da
qual desenvolve pertinentes comentrios, que no exporemos aqui, para o que
remetemos leitura de Palmer (op. cit.: 63-6).
Feitas as consideraes supra, aludentes s funes da linguagem, nos aspectos
filosfico e antropolgico, que deixam transparecer alguns pontos de convergncia entre
os autores mencionados, particularmente no que tange variedade de funes a que a
linguagem serve, segue-se a anlise dos diferentes tratamentos que o assunto tem
recebido no mbito especfico da cincia da linguagem.
1.3. Funes da linguagem: enfoque lingstico
1.3.1. As perspectivas de Carvalho e Halliday
Conforme o que ficou dito no incio da seco anterior, os rumos que a
discusso em torno das funes da linguagem pode tomar depende dos pressupostos
tericos do investigador. Podemos dizer que o mesmo ocorre entre os lingistas. H
autores que destacam o papel da relao social como fundamento para o quadro de
funes da linguagem que postula. Outros enfatizam o conhecimento e a apreenso da
linguagem enquanto reflexo, construo nominal e categorial da realidade interior e
exterior ao indivduo, como papel fundamental da linguagem. Outros ainda vem na
linguagem, basicamente, um instrumento construdo pelo homem para a exteriorizao
de seus sentimentos, pensamentos e volies. Destas perspectivas decorrem distintas
classificaes funcionais, em que as funes so hierarquizadas de acordo com os
pressupostos priorizados pelos investigadores.
Identificamos, porm, um ponto em comum nas diversas abordagens que o
assunto tem conhecido. Os estudiosos, em geral, atribuem linguagem uma funo de
comunicao (mesmo porque o termo tem amplitude demasiada para encampar outros
aspectos funcionais), quer a considerem predominante quer no. Mesmo aqueles que
assumem como hegemnica a funo cognitiva tm de curvar-se evidncia da
finalidade comunicativa da linguagem. Esta funo representa, portanto, um ponto de
consenso entre aqueles que se dedicam ao estudo das funes da linguagem.
Carvalho (1983: 36), por exemplo, comentando, em nota de p-de-pgina, a
concepo de linguagem de Erdmann, segundo a qual a linguagem um instrumento, e
precisamente o instrumento ou rganon do pensar que nos peculiar enquanto seres
humanos, diz ser equivocada esta ou qualquer outra concepo de linguagem que
negligencie uma de suas duas funes bsicas: a de conhecimento ou a de comunicao
(particularmente, a exteriorizao).
Nesta linha de raciocnio, Carvalho preconiza uma distino bsica entre a
funo interna e a externa da linguagem. A primeira corresponde funo do conhecer,
que precede todas as outras, uma vez que constitui um pressuposto para as funes ditas
externas, de manifestao ou de exteriorizao. Segundo Carvalho, o ato cognoscitivo,
por um lado, pode realizar-se independentemente da atividade verbal, numa espcie de
intuio espiritual, o que caracteriza as forma internas do conhecimento imediato. Por
outro lado, o ato de conhecer tambm se d na e pela linguagem. Nesta perspectiva,
pode-se dizer que atravs do exerccio da linguagem que o conhecimento humano
encontra sua forma mais perfeitamente elaborada. Para Carvalho:
O conhecimento que se designa pelo nome de conhecimento discursivo
__
o discurso
da razo
__
, mas antes desse j o prprio juzo, constituem fundamentalmente modos
de conhecer verbalmente realizados, que utilizam as palavras (mesmo quando no
sonoramente produzidas) como formas e instrumentos de apreenso da realidade (op.
cit.: 27).
Na verdade, esta distino preliminar proposta por Carvalho encontra-se na
base de sua definio de linguagem
9
, que transcrevemos:
Definiremos assim linguagem como actividade simultaneamente cognoscitiva e
manifestativa (destaque nosso), manifestada pela utilizao de um sistema de duplos
sinais, que se apresentam fisicamente como objetos sonoros produzidos pelo aparelho
fonador do homem (op. cit.: 28).
9
Tal definio est fundada na crtica que Carvalho faz a outras concepes que no consideram o
aspecto cognoscitivo da linguagem e priorizam apenas seus aspectos scio-interativos.
No obstante Carvalho fale de simultaneidade entre o aspecto cognoscitivo e
manifestativo da linguagem, como fica claro pelo trecho acima transcrito, noutra
passagem (p. 27), afirma que, em certo sentido, a funo cognoscitiva (ou interna) da
linguagem precede as demais, de modo que essas no poderiam sequer subsistir sem
aquela. Essa precedncia, no entanto, no de ordem cronolgica, mas ontolgica. Isto
, essa prioridade no significa haver primeiro um conhecimento que, depois,
manifestado, pois o ato de conhecer tambm se d na linguagem. Significa, sim, dizer
que o conhecimento e no a ao o que constitui a causa teleolgica da linguagem, ou
seja, em termos de inteno que o conhecimento precede a manifestao. O ato
lingstico pressupe uma inteno significativo-comunicativa. Vejamos o que diz a
respeito o prprio autor:
Visto que o homem se define relativamente aos animais como ser espiritual e portanto
racionalmente cognoscente; visto que o conhecimento racional aquilo que o
caracteriza especificamente e continuaria a especific-lo mesmo quando no fosse
exteriorizado ou transmitido a outro, evidente que aquilo para que a linguagem se
encontra orientada antes o conhecimento e no a exteriorizao (op. cit.: 36)
Quanto funo externa da linguagem (de manifestao ou exteriorizao), em
que os contedos cognoscitivos j esto dados e, portanto, prontos para serem
transmitidos ou simplesmente exteriorizados, Carvalho admite, na base da relao entre
emissor e receptor, uma pura manifestao ao lado de uma manifestao para outrem.
Na pura manifestao, ou monlogo, a presena de um receptor no necessariamente
exigida. Todavia, Carvalho reconhece que o monlogo, mesmo que no esteja orientado
especificamente para um receptor, sempre o pressupe. Assim, que
Todo o monlogo pressupe portanto a existncia de outros sujeitos distintos do
sujeito que o realiza. Mas h mais ainda: que o prprio monlogo pode, em certo
sentido, considerar-se como um dilogo, embora um dilogo, no verdadeiramente
mutilado, mais imperfeito, em que o sujeito se desdobra simultaneamente num sujeito
falante e num sujeito ouvinte, em que fala e se escuta a si mesmo. Para isso, pode
suceder que o ato verbal chegue a explicitar-se em palavras sonoras, materialmente
produzidas e por isso audveis, mas no necessrio que assim acontea: o
monlogo, enquanto dilogo interior, implcito, pode realizar-se, e realiza-se quase
sempre no mais perfeito silncio, no ntimo da conscincia, sob a forma de
pensamento silencioso (op. cit.: 42)
10
.
10
A propsito da pura exteriorizao, ou monlogo, e das funes dialgicas no monlogo interior,
Lopes (s/d: 58-9) fala das funes outrativa e autoconativa da linguagem.
Na manifestao para outrem, ou comunicao, instala-se o dilogo, ou seja, o
emissor se dirige para um receptor, cuja presena imprescindvel. No se trata de
presena fsica, obviamente, pois, no caso de um discurso escrito, o receptor no se
encontra fisicamente presente, mas concebido pelo escritor que para ele dirige a
mensagem. Prova disto que o discurso tambm organizado em funo do receptor.
Um discurso endereado a uma pessoa ntima tem caractersticas distintas das de um
discurso destinado, por exemplo, a uma autoridade pblica. No processo
comunicacional, da manifestao para outrem, emissor e receptor so, pois, peas
indispensveis para a instalao e manuteno do dilogo.
A funo externa de comunicao pode ser informativa (representativa),
expressiva ou apelativa conforme a natureza do contedo manifestado na mensagem. Se
o contedo manifestado for de natureza predominantemente intelectual (intuitiva e/ou
discursiva), temos a funo informativa. Se o contedo for de natureza eminentemente
emotiva, temos a funo expressiva. E se o contedo manifestado for de natureza
volitiva, tendo como fim prtico a ao, temos a funo apelativa. Quanto a tal
classificao das funes de comunicao (ou dialgicas), de notar-se que Carvalho
no apresenta divergncias com relao ao pensamento tradicional e cita o psiclogo
austraco Bhler em nota de p-de-pgina.
Carvalho entende que todo ato de linguagem concomitantemente informativo,
expressivo e apelativo, ao que ele se refere como compresena das funes no ato
verbal. Esta compresena no implica, obviamente, que as trs funes gozem de um
mesmo estatuto nas diferentes mensagens. Com efeito, variam e organizam-se
hierarquicamente de acordo com os contedos manifestados.
A exemplo de Bhler, ao qual nos referiremos ainda neste captulo, Carvalho
atribui funo comunicativa de informao uma importncia maior que s outras duas.
A propsito da compresena das funes no ato verbal e do destaque dado funo
informativa, Carvalho assim se expressa:
No h finalmente informao pura, porque aos contedos intelectuais sempre se
misturam em maior ou menor grau a emoo e a vontade do sujeito falante. Por outro
lado porm, no existe verdadeira informao que se no realize na linguagem, quer
imediatamente na sua forma verbal, quer mediatamente nalgumas formas secundrias
que adiante estudaremos; pelo que se v se pode ainda afirmar que, se nas funes
externas a comunicao a funo essencial da linguagem, dentro da comunicao
informao que cabe o primeiro lugar (op. cit.: 53).
Um ponto chamou-nos a ateno na teoria das funes da linguagem em
Carvalho. Perguntamo-nos quais os parmetros que bem poderiam caracterizar o que o
autor denomina funo interna, ou do conhecer, em oposio funo externa
monolgica. Nesta, o autor admite a presena tanto das funes expressiva e apelativa
quanto da funo informativa. A dvida que temos , sobretudo, saber o que diferencia
a atividade monolgica informativa da atividade cognoscitiva que se realiza na e pela
linguagem, em sua funo interna. Parece-nos que o autor no explicita suficientemente
bem esta distino, que, no entanto, assume como verdadeira.
Carvalho no , todavia, o nico lingista que se refere funo interna
(cognoscitiva) da linguagem. Tambm Halliday (1986: 67), ao comparar seu modelo de
funes da linguagem ao modelo tridico de Bhler (cf. adiante), introduz, ao contrrio
deste, uma distino entre experincia e lgica. Tal distino, parece-nos, aproxima-se
bastante daquela a que Carvalho procede quando raciocina acerca da funo interna da
linguagem. Ao lado da funo de apreenso da realidade que se efetua atravs da
linguagem, temos o conhecimento discursivo, o discurso da razo, aludido por
Carvalho, que corresponde funo lgica da linguagem, em Halliday.
A aproximao, entre Carvalho e Halliday, porm, , em parte, aparente, em
virtude dos fundamentos scio-interativos proeminentes em Halliday, que tornam a
funo interna mais tangvel. Carvalho funda seus alicerces no tomismo-aristotelismo e
na filosofia crist (de um So Joo da Cruz).
Dada sua base sociolgica, o pensamento de Halliday aproxima-se tambm do
de Malinowski, mormente no que diz respeito teoria da aquisio da linguagem.
Halliday parte de uma concepo de lngua que poderamos chamar de interativo-
funcional, inspirada em pesquisas acerca do desenvolvimento da linguagem na
criana
11
. Segundo esse modo de ver as coisas, a criana percorre trs fases, no muito
bem delineadas por Halliday, at atingir a maturidade lingstica, ou seja, at adotar a
lngua adulta como sua. Numa primeira etapa:
a criana aprende: a funo instrumental, que a funo eu quero da linguagem, a
linguagem utilizada para satisfazer uma necessidade material; a funo reguladora,
que a funo de faa o que eu digo, a linguagem para dar ordens s pessoas ao
seu redor; a funo interativa, voc e eu, que a linguagem usada para a ao
recproca com outras pessoas; a funo pessoal, aqui estou, que a linguagem
utilizada como expresso da prpria individualidade da criana; a funo heurstica
se apresenta pouco depois, e a linguagem como forma de explorar o meio, a funo
diga por que da linguagem; e, finalmente, a funo imaginativa, finjamos, que
verdadeiramente a linguagem para a criao de um entorno prprio
12
.
Na fase sucednea, d-se a renncia do sistema pessoal erigido pela criana,
que adota o sistema lingstico do adulto, e verifica-se uma generalizao do quadro
funcional precedente. As seis funes da fase anterior organizam-se em torno de duas
funes mais gerais: funo pragmtica e funo mattica. A primeira, diz-nos o
pesquisador ingls, evoluiu a partir das funes instrumental e reguladora; a segunda, a
partir das funes pessoal e heurstica. Numa fase posterior, estas funes so
11
Esclarecendo melhor este ponto, ao qual ainda retornaremos nesta seco, convm observar que
Halliday preconiza que a funo constitui o princpio organizador do sistema lingstico, mas, ao
contrrio de Franois, no reconhece qualquer organizao hierrquica entre as funes da linguagem que
postula. Para Halliday, o sistema lingstico funcional tanto em origem como em orientao (1986:
66), ou seja, a partir da necessidade de interao social que a criana comea a elaborar uma lngua
particular, diferente da do adulto, para atender a certas funes iniciais (instrumental, reguladora,
interativa, pessoal, heurstica, imaginativa e informativa). Aps este estgio, a criana abandona seu
projeto de construo de uma lngua particular para assumir como sua a lngua do adulto, uma estrutura j
elaborada, em que aquelas funes iniciais encontram-se formalizadas em trs metafunes bsicas: a
ideacional, a interpessoal e a textual, no havendo, conforme frisamos, qualquer relao de
predominncia entre estas. Desta forma, podemos ver que funo apresenta-se, em Halliday, como o
princpio organizador de um sistema de comunicao, que nos primeiros meses de vida da criana
constitui um sistema rudimentar e na lngua adulta, um sistema mais complexo, edificado consoante as
metafunes supracitadas. Noutras palavras, a lngua constitui um instrumento de interao social, uma
resultante das intenes do indivduo que a utiliza e a elabora no ato de sua utilizao. A linguagem, por
sua vez, um potencial de significado, ou seja, ela representada por aquilo que o falante pode dizer,
isto , o sistema lxico-gramatical em geral que opera como realizao do sistema semntico, sistema este
fundado na noo de funo, tal como a entende Halliday.
12
... el nio aprende: la funcin instrumental, que es la funcin yo quiero del lenguaje, el lenguaje
utilizado para satisfacer una necesidad material; la funcin reguladora, que es la funcin de haz lo que te
digo, el lenguaje utilizado para dar rdenes a las personas a su alrededor; la funcin interactiva, t y
yo, que es el lenguaje utilizado para la accin recproca con otras personas; la funcin personal, aqu
estoy, que es el lenguaje utilizado como expresin de la propria unicidad del nio; la funcin heurstica
se presenta poco despus, y es el lenguaje como medio de explorar el medio, la funcin de dime por qu
del lenguaje; y, finalmente, la funcin imaginativa, finjamos, que es verdaderamente el lenguaje para la
creacin de un entorno propio (Halliday: 1986: 76).
incorporadas ao prprio sistema lingstico, sob a forma sumamente abstrata das
metafunes ideacional, interpessoal e textual, assim definidas:
a) na funo ideacional, a linguagem expressa a experincia do falante acerca
do mundo interior e exterior, ou seja, expressa um contedo, cuja estrutura
correspondente a da transitividade, caracterizada pelos papeis temticos de
agente, processo, meta etc.
b) na funo interpessoal, a linguagem expressa a relao entre os participantes
de uma dada situao, ou seja, o papel que o falante adota e o papel ou as
opes de papis que ele decide imputar ao ouvinte; tal relao
particulariza-se na estrutura modal;
c) na funo textual, a linguagem se estrutura em termos de tema e rema, de
modo a estabelecer a mensagem enquanto processo de comunicao global.
De acordo com Halliday, a funo pragmtica incorporada pela funo
interpessoal do sistema lingstico e a funo mattica, pela funo ideacional, como
deixa transparecer o esquema abaixo:
f. instrumental
f. reguladora f. pragmtica f. interpessoal
f. interativa
f. pessoal
f. heurstica f. mattica f. ideacional
f. imaginativa
O modelo funcional da linguagem, preconizado por Halliday com base nas
fases do desenvolvimento lingstico experienciado pela criana, tem como princpio
organizador as intenes da criana quanto ao relacionamento que ela estabelece com o
meio que a circunda. A linguagem atende a uma srie de necessidades da criana e pode
ser descrita em termos dos usos a que se presta. Vejamos o que diz a respeito o prprio
Halliday:
O que chamamos modelos so as imagens que temos da linguagem surgindo destas
funes. A linguagem se define para a criana atravs de seus usos; ela algo que
serve a esta gama de necessidades
13
.
Comparando os pontos de vista dos dois autores retrocitados, Carvalho e
Halliday, identificamos, sem esforo, alguns aspectos dissonantes entre eles. Alm de
no fazer referncia a uma funo textual nem postular uma teoria acerca de como a
criana adquire (ou desenvolve) sua linguagem, Carvalho advoga uma precedncia
ontolgica da funo interna da linguagem em relao funo externa. Assim, a
funo interna do conhecer , como vimos, um pressuposto para a sua exteriorizao,
isto , s se pode manifestar o que j conhecido. Halliday, por sua vez, no preconiza
qualquer hierarquia funcional. Admite, porm, que, no processo de aprendizagem de
uma lngua, algumas funes precedem cronologicamente outras. Para ele, a funo
heurstica da linguagem, prxima, apenas em parte, da funo interna de Carvalho,
aparece numa fase posterior do surgimento das funes instrumental, reguladora,
interativa e pessoal.
Ressalte-se que uma e outra concepo apresentam lacunas: a ausncia de uma
teoria da aquisio da linguagem em Carvalho e a falta de preciso de Halliday no
descrever como se d a passagem de um sistema funcional com seis funes,
desenvolvido pela criana numa primeira fase do processo de aquisio da linguagem,
para o sistema adulto, com trs metafunes. Por outro lado, assim nos parece, Halliday
mais conseqente quanto aos desdobramentos do seu funcionalismo, no qual as
funes esto presentes na forma lingstica e nela se refletem. Prova disto o seu An
Introduction to a Functional Grammar (1985), no qual a orao, eixo e ncleo de sua
gramtica, tratada como mensagem, intercmbio e representao. O mais est abaixo
dela (sintagmas), acima (o complexo oracional ou perodo), ao lado (entonao e ritmo),
ao redor (coeso e discurso) e alm (modos metafricos de expresso). H, no entanto,
pontos de contato entre as duas concepes, particularmente no que tange s funes da
linguagem adulta, em que fica patente a influncia exercida pelas idias do psiclogo
austraco Bhler (1950: 35-45), de cujas concepes passaremos a falar.
13
What we have called models are the images that we have of language arising out of these functions.
Language is defined for the child by its uses; it is something that serves this set of needs (Halliday,
1981: 17).
1.3.2. As perspectivas de Bhler e Jakobson
Para a representao do fenmeno verbal atravs de um modelo concreto e
acabado, considerando as circunstncias nas quais o aludido fenmeno ocorre, Bhler
parte da concepo de linguagem como um rganon, tal como encontrada no Crtilo,
obra em que Plato discute fundamentalmente a questo da relao entre nomes e
coisas.
Plato reconhece, no referido dilogo, que a linguagem serve para algum
comunicar alguma coisa a outro. A partir da, Bhler traa um esquema triangular e
localiza no centro da figura um quarto ponto que simboliza o fenmeno percebido pelos
sentidos e que mantm algumas relaes com os outros trs. Vejamos o que diz o
prprio Bhler a esse respeito:
O quarto ponto no centro simboliza o fenmeno perceptvel pelos sentidos,
habitualmente acstico, que evidentemente tem que estar em alguma relao, seja
direta ou mediata, com os trs fundamentos dos ngulos. Traamos linhas pontilhadas
do centro at os ngulos de nosso esquema e meditamos sobre o que significam estas
linhas pontilhadas
14
.
Tal esquema representado como segue:
objeto e fenmenos
organon
um (dos dois
interlocutores)
outro
14
El cuarto punto en el centro simboliza el fenmeno perceptible por los sentidos, habitualmente
acstico, que evidentemente tiene que estar en alguna relacin, sea directa o mediata, con los tres
fundamentos de los ngulos. Trazamos lneas de puntos desde el centro hasta los gulos de nuestro
esquema y meditamos en lo que simbolizan esas lneas de puntos (Bhler: 1950: 36).
Em seguida, Bhler alude aos nexos causais estabelecidos pelos
behavioristas no seio do rganon, em termos de causa-efeito entre os pontos
constituintes do esquema. Bhler julga insuficientes estas consideraes causais acerca
do fenmeno lingstico, quer por no levarem em conta a complexidade dos sistemas
psicolgicos dos interlocutores que operam como seletores e atuam segundo o princpio
da relevncia abstrativa, quer por no apresentarem um conceito explcito de sinal
lingstico.
Por conta disto, o estudioso austraco sugere uma reformulao do rganon
para obter a representao abaixo:
Objeto e fenmenos extra-
lingsticos que fazem o objeto da
mensagem
smbolo
expresso
apelo
emissor
(da mensagem)
receptor
(da mensagem)
E explica:
O crculo do centro simboliza o fenmeno acstico concreto. Trs momentos
variveis nele so chamados para al-lo, por trs vezes distintas, categoria de
signo. Os lados do tringulo inserto simbolizam esses trs momentos. O tringulo
compreende num aspecto menos que o crculo (princpio da relevncia abstrativa).
Noutro sentido, por sua vez, abarca mais que o crculo, para indicar que o dado
sensvel experimenta sempre um complemento no-perceptivo. Os grupos de linhas
simbolizam as funes semnticas do signo lingstico (complexo). smbolo em
virtude de sua ordenao a objetos e relaes: sintoma (indcio) em virtude de sua
dependncia do emissor, cuja interioridade expressa, e sinal em virtude de seu
apelo ao ouvinte, cuja conduta externa ou interna dirige como outros sinais de
trfego
15
.
Em tal modelo de rganon, Bhler reconhece trs funes semnticas da
linguagem: a representao, a expresso e o apelo. Cada uma destas funes surge a
partir da relao entre o sinal e as trs instncias intervenientes no fenmeno verbal: os
objetos e relaes, o emissor e o receptor.
Bhler destaca a predominncia da funo representativa face s outras
duas, mas adverte tambm que o emissor, como sujeito da ao verbal, e o receptor,
enquanto direo da referida ao, ocupam posies prprias na estrutura da situao
verbal. No devem ser entendidos simplesmente como parte daquilo acerca do qual se
produz a comunicao. So partes atuantes deste intercmbio, e, portanto, mantm com
o signo relaes peculiares.
Bhler exerceu notvel influncia nos estudos sobre as funes da
linguagem, especialmente no pensamento de Jakobson (s/d), que, considerando o
modelo tridico proposto por aquele, colocou-o sob nova perspectiva.
As funes da linguagem so a resultante do enfoque plural adotado por
Jakobson, avesso a qualquer insulamento disciplinar, absolutamente prejudicial, no seu
modo de ver as coisas, vida cientfica. Por essa razo, cuida de aproveitar as
contribuies de disciplinas direta ou indiretamente relacionadas com os estudos
lingsticos.
Jakobson era um lingista de convices ideolgicas hauridas em muitas
fontes. Uma delas o filsofo Husserl, que o influenciou no tocante questo da
referncia ao sujeito. O observador parte da observao. Os mesmos objetos podem
ser apreendidos e percebidos de diferentes formas. Na apreenso so os traos
15
El crculo del centro simboliza el fenmeno acstico concreto. Tres momentos variables en l estn a
elevarlo por tres veces distintas a la categora de signo. Los lados del tringulo inserto simbolizan esos
tres momentos. El tringulo comprende en un aspecto menos que el crculo (principio de la relevancia
abstractiva). En otro sentido, a su vez, abarca ms que el crculo, para indicar que lo dado de un modo
sensible experimenta siempre un complemento aperceptivo. Los grupos de lneas simbolizan las
funciones semnticas del signo lingstico (complejo). Es smbolo en virtud de su ordenacin a objetos y
relaciones; sntoma (indicio), en virtud de su apelacin al oyente, cuya interioridad expresa, y seal en
virtud de su apelacin al oyente, cuya conducta externa o interna dirige como otros signos de trfico
(Bhler, 1950: 41).
invariantes de um objeto ou de uma significao que so investigados, ou seja, as
abstraes eidticas. Isto se evidencia, por exemplo, na orientao subjetiva em poesia,
esta colocada como centro da percepo graas a um conjugado de traos lingsticos
que se voltam para a mensagem e a realam, e na orientao subjetiva em fonologia,
pois mais que a articulao de sons, interessa a percepo auditiva, na qual s so
pertinentes os sons opositivos. Configura-se o ponto de vista mico, segundo o qual
no h percepo nem formao de teoria inteiramente amorfa, isto tica (cf.
HOLENSTEIN, 1978: 55-95).
Jakobson, porm, no se filiou doutrinariamente apenas Fenomenologia
husserliana. Interessou-se tambm por outras reas do conhecimento, na procura de
interdisciplinaridade.
Admite, por exemplo, com Levi-Straus, que a Lingstica est
estreitamente ligada Antropologia Cultural (JAKOBSON, s/d: 17), uma vez que a
linguagem deve ser compreendida como parte da vida social e, portanto, estudada em
toda sua complexidade.
Remete-nos tambm, com freqncia, Semitica de Peirce, que, a seu ver,
deve ser considerado o autntico e intrpido precursor da Lngstica Estrutural,
quando estabelece, j em fins do sculo passado, a necessidade de uma cincia dos
signos em geral, e esboa-lhe as grandes linhas. A propsito disto, citemos o prprio
Jakobson:
Quando se estudarem cuidadosamente as idias de Peirce a respeito das teorias dos
signos, dos signos lingsticos em particular, ver-se- o precioso auxlio que trazem
s pesquisas sobre as relaes entre a linguagem e os outros sistemas de signos. (op.
cit.: 17)
Em seguida, Jakobson admite que a teoria matemtica da comunicao, tal
como foi desenvolvida por Shannon e Weaver, parece-lhe uma boa escola para a
Lingstica estrutural, assim como a Lingstica estrutural uma escola til para os
engenheiros de comunicao (op. cit.: 22).
Convicto da necessidade de uma abordagem interdisciplinar do fenmeno
lingstico, Jakobson bebe, como vimos, em fontes diversas. E neste clima que
desenvolve sua teoria das funes da linguagem, em que patente, sobretudo, a
influncia dos tericos da comunicao. Alis, a propsito disto declara Jakobson:
De fato, os lingistas tm muito a aprender da teoria da comunicao. Um processo
de comunicao normal opera com um codificador e um decodificador. O
decodificador recebe a mensagem. Conhece o cdigo. A mensagem nova para ele e,
por via do cdigo, ele a interpreta. (op. cit.: 23)
Nestas bases, Jakobson amplia o modelo tridico das funes da linguagem
de Bhler e preceitua um outro, com seis funes, tomando como fundamento os fatores
intervenientes no processo de comunicao, isto , contexto, remetente, destinatrio,
mensagem, cdigo e contato.
Cada um desses seis fatores determina uma funo da linguagem diferente.
Assim, se a mensagem est orientada para o contexto, a funo referencial; se, para o
remetente, funo emotiva; se, para o destinatrio, funo conativa; se nfase dada ao
contato, funo ftica; se, para o cdigo, funo metalingstica; se, para a mensagem,
funo potica.
As funes da linguagem, assim entendidas, podem coocorrer numa mesma
mensagem e isto o que sucede amide. Na realidade, diz-nos Jakobson, a diversidade
das mensagens no reside no monoplio de alguma dessas diversas funes, mas numa
diferente ordem hierrquica de funes. A estrutura verbal de uma mensagem depende
basicamente da funo predominante (op. cit.: 123).
De acordo com o pensamento de Jakobson, cada uma destas funes possui
marcas lingsticas caractersticas. Por exemplo, numa mensagem cuja funo
preponderante a referencial, verificamos a nfase no contexto, e, por conseguinte, um
predomnio da terceira pessoa do verbo, matiz comum em mensagens de carter
cientfico, cuja finalidade fundamentalmente transmitir informao terica.
Mensagens deste tipo possuem uma dimenso cognitiva preponderante.
A funo emotiva, em termos lingsticos, marcada pela primeira pessoa
do verbo, pela interjeio, pelos adjetivos que veiculam, no mais das vezes, o ponto de
vista do emissor, por alguns advrbios e por sinais de pontuao.
A funo conativa se destaca pelo verbo na segunda pessoa e pelo uso do
imperativo e do vocativo, que constituem as principais marcas lingsticas deste tipo de
funo.
Caracterstica da funo ftica so expresses consagradas pelo uso e pouco
relevantes do ponto de vista informativo, tais como: bom dia!, como vai?, al! A
tautologia trao caracterstico da faticidade.
Baseada no cdigo, a funo metalingstica, por sua vez, pressupe a
existncia de uma lngua-objeto da qual se fala por intermdio de uma metalngua, que,
por ser melhor conhecida, funciona como um modelo decodificador daquela.
Por fim, dirigida para os elementos da mensagem efetivamente utilizados,
temos a funo potica. Segundo Jakobson, tal funo aprofunda a dicotomia
fundamental entre signos e objetos (op. cit.: 128), ao promover o carter palpvel dos
signos.
A propsito disto, o lingista russo-americano menciona o recurso potico
da paronomsia, utilizada para destacar este carter palpvel do signo lingstico numa
mensagem.
Uma moa costuma falar do horrendo Henrique. Por que horrendo? Por que eu o
detesto. Mas por que no terrvel, medonho, assustador, repelente? No sei por
que, mas horrendo lhe vai melhor. Sem se dar conta, ela se aferrava ao recurso
potico da paronomsia. (op. cit.: 128)
Ainda a esse respeito, analisa o slogan poltico I like Ike, referente
campanha poltica de Eisenhower.
O slogan poltico I like Ike (ai laic aic, eu gosto de Ike), sucintamente estruturado,
consiste em trs monosslabos e apresenta trs ditongos /ai/, cada um dos quais
seguido, simtricamente, de um fonema consonantal /.. l .. k .. k/. O arranjo das trs
palavras mostra uma variao: no h nenhum fonema consonantal na primeira
palavra, h dois volta do ditongo, na segunda, e uma consoante final na terceira.
Um ncleo dominante similar /ai/ foi observado por Hymes em alguns dos sonetos de
Keats. Ambas as terminaes da frmula trissilbica I like / Ike rimam entre
si, e a segunda das duas palavras que rimam est includa inteira na primeira (rima
em eco), /laic/ - /aic/, imagem paronomtica de um sentimento que envolve totalmente
o seu objeto. Ambas as terminaes formam uma aliterao, e a primeira das duas
palavras aliterantes est includa na segunda: /ai/ - /ai/, uma imagem paronomstica
do sujeito amante envolvido pelo objeto amado. A funo potica, secundria deste
chamariz eleitoral refora-lhe a impressividade e a eficcia. (op. cit.: 128-29)
Isto posto, Jakobson busca definir a funo potica em termos lingsticos.
Para tanto, recorda os dois modos de arranjo utilizados no comportamento verbal,
seleo e combinao. Num ato de comunicao, o falante escolhe, por exemplo,
unidades lxicas para atualiz-las no discurso, combinando-as. A seleo, diz-nos
Jakobson, feita com base em equivalncia, semelhana e dessemelhana, sinonmia e
antonmia, e a combinao se baseia na contigidade. Por essa razo que define a
funo potica como a funo que projeta o princpio de equivalncia do eixo de
seleo sobre o eixo de combinao (op. cit.: 130). E acrescenta: a equivalncia
promovida condio de recurso constitutivo da seqncia (op. cit.: 131).
Tais equivalncias projetadas sobre o eixo da combinao so de natureza
bem distinta. Temo-las a nvel fonolgico, morfolgico, sinttico, lxico, semntico.
Sob a denominao de paralelismos, Coquet (1972: 37) apresenta os tipos infra-
relacionados:
os paralelismos gramaticais (ou sua ruptura);
os paralelismos dependentes do eixo das convenes (ou sua ruptura);
os paralelismos fnicos e prosdicos (ou sua ruptura);
os paralelismos semnticos (ou sua ruptura).
1.4. Funes da linguagem: aspectos crticos
1.4.1. Funes da linguagem: funes do discurso ou funes da frase?
Ao comentar o quadro hexdico das funes da linguagem proposto por
Jakobson, Lopes (1978) afirma que o mestre russo-americano chama a ateno para o
fato de que o sentido de uma mensagem :
uma varivel dependente das mltiplas correlaes que os actantes do discurso
possam estabelecer entre a mensagem tomada como um fator invariante, e cada um
dos seis fatores (o destinador, o destinatrio, o contexto, o canal, o cdigo, e a
prpria mensagem), tomados como variveis. (op. cit.: 87)
De acordo com este raciocnio, o valor semntico da mensagem estabelece-se,
pois, em funo das variaes do fator focalizado e privilegiado pela prpria mensagem.
Erige-se, aqui, o que Lopes chama de princpio das covariaes significativas do
discurso e que assim enunciado por ele: o sentido de uma mensagem varia na razo
direta das variaes do fator que ela focaliza, privilegiando-o como um functivo para a
organizao de uma funo, uma relao (op. cit.: 87).
Lopes, todavia, prope uma primeira e oportuna reformulao no modelo
jakobsoniano. Observa que o mestre russo-americano sugere uma distino entre funo
conativa e funo encantatria, fundamentada na oposio actorial /humano/ x /no-
humano/, e indaga por que Jakobson no adota procedimento semelhante no que
concerne aos destinadores, postulando igualmente funes diversas de acordo com a
mesma oposio actorial. Ainda acerca da oposio humano x no-humano, vlida em
termos de dicionrio (grosso modo, equivalente lngua), Lopes demonstra que ela no
apresenta necessariamente valor discursivo, razo por que no deve prestar-se para
orientar decises no que concerne ao estabelecimento das funes. E acrescenta:
Ora, a propriedade da animalizao e da personificao de atores
extradiscursivamente definidos como /no-animais/ ou /no-humanos/ um dado
inerente aos discursos que incluem uma narratividade subjacente, pois que a
narrativa goza o privilgio de desqualificar ou de requalificar, contextualmente, as
qualificaes produzidas pela lngua. (op. cit. 91)
Lopes indaga ainda se lcito considerarem-se as funes conativa e
encantatria, supracitadas, como tipos diferentes ou apenas subtipos de uma mesma
funo, entre as quais se estabeleceria uma relao de gnero/espcie. No desenvolve,
todavia, o tema.
Assevera, no entanto, que tais questes servem para demonstrar a precariedade
de teorias funcionais tratadas no mbito da frase. O discurso o seu verdadeiro
domnio. no discurso, entendido como um conjunto de frases coerentizadas para a
obteno de um nico efeito-de-sentido, que uma frase semantiza-se, depois do que se
torna possvel determinar sua funo. A propsito das teorias que do um tratamento
frasal s funes da linguagem, Lopes assim se expressa:
O defeito que as vicia na base o de supor que a funo se inscreva no domnio da
frase (enunciado isolado) quando certo que, por ser uma relao de covariao
significativa, ela se inscreve no domnio do discurso. (op. cit.: 89)
A frase deve, ento, ser compreendida como parte constituinte de uma unidade
maior (o discurso), deixando assim de ser unidade constituda e autnoma, sinttica e
semanticamente falando.
Neste sentido, ilustrativo o exemplo empregado por Lopes (1978: 89-90).
Comentando a frase Faam silncio!, o autor faz notar que a funo da qual a
mensagem est dotada depende do sentido integral do texto como resultado da
interpretao discursiva. Assim, a interpretao funcional da referida frase vai depender
do contexto em que ela ocorre. Por exemplo: um professor dizer a seus alunos Faam
silncio! e um narrador dizer que o professor disse a seus alunos Faam silncio! no
so a mesma coisa, pois a mesma frase est dotada de uma funo conativa, no primeiro
caso, e de uma funo referencial, no segundo.
Alm disto, o sentido textual, observa Lopes, tambm uma decorrncia das
classificaes dos discursos que uma dada cultura distingue (prosa/poesia; discurso
cientfico/discurso ficcional etc.) Por exemplo, expresses do tipo Era uma vez...,
identificadora de uma dada categoria de discursos, porque comparveis mutuamente em
termos de estrutura matricial, prestam-se para classificar os discursos que assim
principiam como discursos ficcionais.
No que diz respeito s observaes supra, endossamos a posio de Lopes que
assevera, em tom conclusivo, que as funes da linguagem, entendidas como
covariaes significativas, devem ser estudadas no mbito do discurso e no mais no da
frase isolada, uma vez que, a seu ver, elas podem ser consideradas como o resultado da
articulao diferencial de uma dupla relao:
a) a relao entre um dado discurso e todos os demais discursos produzidos
pela mesma cultura, de um lado;
b) a relao entre o dado discurso, como um todo constitudo, e uma frase (ou
fragmento qualquer), que o integre como parte constituinte.
1.4.2. H uma hierarquia das funes da linguagem?
Conforme vimos, Jakobson (s/d) postula a existncia de uma hierarquizao
funcional, operada na mensagem, de acordo com o fator primordialmente focalizado por
ela. Entende que esta hierarquizao determinada pelos elementos lingsticos
atualizados em cada mensagem, de modo a fazer uma das funes do feixe sobrelevar-
se, destacando-se das demais, adquirindo, assim, o status de funo principal em relao
s outras, secundrias.
Aguiar e Silva (1994) objeta contra esta assuno de Jakobson e argumenta,
apoiado nas prprias observaes deste lingista acerca do slogan I like Ike, que nada
h nesta mensagem, em termos de expresso, que autorize indicar a funo conativa
como a preponderante. E se Jakobson assim procede, explica Aguiar e Silva, porque
recorre a elementos contextuais e pragmticos. Neste ponto, assiste razo ao crtico
portugus. Se se desconhece o contexto de produo do slogan supracitado, torna-se
inexeqvel a deteco da prioridade da funo conativa, haja vista a inexistncia de
marcas lingsticas que denunciem tal prioridade.
A esta altura uma pergunta se impe: h, de fato, parmetros seguros que nos
possam orientar na indicao da hierarquia funcional constante de uma dada
mensagem? s vezes, torna-se difcil, por exemplo, separar emissor e receptor a fim de
delimitar, de modo preciso, a funo expressiva da funo conativa.
A distino entre emissor e receptor na linguagem parece, com efeito, artificial.
O emissor se exprime para um receptor, gerando um processo interacional, do qual
emerge o sentido da mensagem. Talvez se deva pensar em termos de uma funo
interpessoal da linguagem, que serve para estabelecer e manter relaes sociais
16
, ou
ainda, em termos de uma funo pessoal (uma das funes pragmticas de Kloepfer,
cujo modelo veremos mais adiante), sendo que ambas conglobam as funes expressiva
e conativa de Jakobson.
Alm desta impossibilidade de separao entre emissor e receptor, torna-se
difcil determinar a funo preponderante de uma determinada frase, dada a ausncia de
caractersticas lingsticas particulares para a expresso e a conao (e mesmo para a
referncia). Uma mesma orao pode ser expressiva ou conativa, referencial ou
metalingstica. A fase faz frio aqui, por exemplo, pode ter uma funo
preponderantemente referencial, pode constituir fundamentalmente expresso de uma
sensao, e ainda pode ser um pedido indireto para que se fechem portas e janelas. O
16
Conferir: HALLIDAY, M. A. K. in: LYONS, John (1976: 134-60) e HALLIDAY, M. A. K. (1978 e
1985).
que vai determinar, muitas vezes, a funo proeminente na prpria mensagem o
contexto lingstico e/ou extralingstico no qual esta se desenvolve.
Na teoria dos atos de fala (AUSTIN, J. L., 1990 e SEARLE, John R., 1984), p.
ex., a questo das circunstncias nas quais um ato de fala proferido ganha relevo.
Segundo esta teoria, ao falarmos praticamos pelo menos trs atos distintos. O primeiro
consiste propriamente no ato de dizer alguma coisa. O segundo o ato que praticamos
ao dizer alguma coisa. E o terceiro o efeito provocado pela enunciao de uma frase.
Assim, ao pronunciarmos uma frase como Prometo quitar minha dvida com voc ainda
hoje, estamos praticando o ato locucionrio de proferir certas palavras com determinado
sentido, o ato ilocucionrio de fazer uma promessa e o ato perlocucionrio de
tranqilizar algum.
Nesta teoria, a noo de contexto de fundamental importncia. A ttulo de
ilustrao, citemos o exemplo empregado por Searle, em que se mostra a
correspondncia entre uma mesma orao e seus diversos atos ilocucionrios em funo
do contexto. Suponhamos que uma senhora, a certa altura de uma festa, diz J bem
tarde. Este enunciado pode ser, simultaneamente: a) uma declarao de fato; b) uma
objeo se o interlocutor da dama tiver acabado de afirmar que cedo; c) uma sugesto
para o marido, manifestando o desejo de ir-se embora; ou mesmo d) uma advertncia.
Diante disto, parece que a funo predominante, em termos jakobsonianos, no pode, no
mais das vezes, ser reconhecida na estrutura lingstica da mensagem. Ela est
diretamente relacionada ao ato de fala efetivamente praticado.
Qualquer postulao de hierarquizao das funes da linguagem teria que se
apoiar em evidncias lingsticas. Apenas seria possvel admitir como proeminente a
funo que fosse marcada lingsticamente, de forma inequvoca. Ora, como se pde
ver, tais marcas s vezes inexistem e, quando existem, no bastam.
Duarte (1998: 199), p. ex., indaga se existe expresso gratuita, conao sem o
auxlio de mecanismos expressivos ou mesmo referenciais, mesmo considerados os
artifcios tericos e conclui:
possvel encontrarmos funes bem diferenciadas em textos bem comportados, nos
quais certos traos lingsticos saturem ou convirjam de modo a ganhar salincia.
Julgamos, todavia, precipitado generalizar o princpio da hierarquia funcional (op.
cit.: 199)
Participamos da mesma opinio de Duarte, mesmo porque o prprio
Jakobson que a pe em xeque recorrendo a dados extralingsticos, de conhecimento de
mundo, para apontar a proeminncia da funo conativa no slogan I like Ike, ao passo
que reconhece a funo potica como prioritria na frase Vini, vidi, vici, fundamentado
apenas em sua estrutura lingstica. Permance, pois, ainda vivo o problema da eleio
de critrios parametrizantes para a deteco da hierarquia funcional numa dada
mensagem.
A propsito da determinao da funo principal em meio ao feixe funcional,
Duarte recomenda cautela e assevera:
No que concerne, por exemplo, s funes expressiva e conativa, corre-se o risco,
repetimos, de separar funes que so, pelos menos, freqentemente indisjungveis.
Alm disto, os indcios lingsticos so meros subsdios para chegar-se ao emissor
e/ou receptor. Para que subsidiem bem, devem saturar, de modo a transbordar para
elementos exteriores linguagem. No basta, por exemplo, a simples presena de
morfemas de primeira pessoa e dos pronomes pessoas eu, me, mim ou migo para
assinalar expressividade, pois pode perfeitamente haver pura e simples informao.
Podemos, verbi gratia, imaginar um texto publicitrio em que se enumeram, com
razovel objetividade, as comodidades de um bem. lcito falar de funo
representativa como saliente? Por que no conao, se nos valermos do contexto de
produo da mensagem? (op. cit.: 199-200)
Estas indagaes de Duarte levam-nos a reforar o coro dos que no vem
apenas na estrutura lingstica das mensagens os indcios de uma possvel hierarquia
funcional. Na realidade, no se pode prescindir, pelo menos no que concerne s
mensagens do tipo das supra-referidas, das informaes advindas do entorno lingstico,
do contexto de produo. No h como saber, muitas vezes, qual a funo predominante
de uma mensagem sem que se lhe caracterizem as circunstncias de produo, j que a
noo de funo est calcada no conceito de finalidade (no sentido de para que serve).
Ao desenvolver este tema (hierarquizao funcional), Lopes (s/d) faz-nos ver
que, esta questo implica, com efeito, outra, que a precede e de cuja soluo depende.
Trata-se do problema de saber se no existe uma hierarquia funcional autnoma, fora
da prpria mensagem e anterior prpria hierarquia snoma (contextual), de modo
que determinadas funes se subordinem extradiscursivamente a outras (op. cit.: 93).
Para responder a esta pergunta, Lopes redimensiona as funes da linguagem
no mbito do discurso. funo ftica, por exemplo, opem a funo polmica. Esta
corresponde atitude de no-falar, quando o comportamento do grupo exige o falar, ou
atitude de falar, quando o esperado pelo grupo o no-falar. A funo ftica, por sua
vez, assegura, mediante a abertura de condies prvias para o dilogo, a solidariedade
entre os membros do mesmo grupo. Para Lopes, a funo ftica:
no , absolutamente, funo de uma frase especfica, nem mesmo de um tipo de
frases; ela , mais exatamente, a caracterstica bsica do discurso, de todas as frases
de qualquer discurso, queremos dizer, na medida em que todas as frases de um
discruso opem-se ao egocentrismo do silncio e mantm os vnculos do
relacionamento interpessoal. (op. cit.: 94)
Nestes termos, a funo ftica alada a um nvel metafuncional, pois todas as
outras funes so fticas, isto , dotadas de faticidade. Logo, seguindo este raciocnio,
a funo ftica teria um estatuto superior na hierarquizao extradiscursiva das funes
da linguagem.
A funo metalingstica, por seu turno, apresentar-se-ia tambm num status
superior. Vejamos como isto se d. De acordo com a teoria do interpretante
desenvolvida por Lopes, o discurso visto como um plano da expresso (E) invariante,
virtualmente relacionvel (R) com um plano do contedo (C) varivel, a ser fornecido
ou pelo cdigo extradiscursivo (C
1
), dicionrio, ou pelo cdigo intradiscursivo (C
2
),
contexto lingstico, ou pelo cdigo heterodiscursivo (C
3
), ideologia (op. cit.: 96).
Nestes termos, o contedo encarado como uma informao tradutora, um
interpretante, proveniente de um dos trs cdigos. A esse vnculo de um dado plano da
expresso a um plano do contedo especfico corresponde, pelo que ficou de nossa
leitura de Lopes, a funo metalingstica, que nestes termos ganha em abrangncia.
Alis, o prprio Lopes que, na tentativa de integrao das funes da
linguagem jakobsonianas sua teoria do interpretante, permite-nos inferir como
caraterstica bsica da funo ftica a mera existncia de um plano da expresso, e da
funo metalingstica a existncia de um plano do contedo.
Nesta altura, convm fazer um exame da noo de metalinguagem em Lopes,
que no coincide com a de Jakobson. Para aquele, a funo metalingstica constitui
mesmo a prpria instaurao da funo sgnica, tal como a define Hjelmslev, uma
relao entre os planos da expresso e do contedo. Nestes termos, a funo
metalingstica abrange o que o estudioso dinamarqus procura distinguir: denotao,
conotao e metalinguagem.
Hjelmslev separa, de forma clara, metalinguagem, conotao e denotao como
processos semiticos distintos. Para ele, a conotao verifica-se quando a funo sgnica
envolve um plano da expresso que j uma semitica, ou seja, quando o significante
mais o significado de um signo tornam-se o significante de outro signo. Ao contrrio, a
metalinguagem se d quando o plano do contedo de um signo constitui-se de uma
semitica. A denotao, por sua vez, entendida como uma funo sgnica em que nem
o significante nem o significado constituem-se de uma semitica. Feita esta distino,
Hjelmslev fala em uma semitica conotativa e uma metassemitica (onde pe a
lingstica)
17
. Classifica a primeira como uma semitica no-cientfica em oposio
segunda (cientfica), tendo como base o conceito de operao
18
. Em seguida, admite
uma semitica cientfica (a semiologia) cuja semitica-objeto uma semitica no-
cientfica, abrindo assim a possibilidade de um tratamento cientfico para a conotao
19
.
17
Vale ressaltar a este respeito que Barthes (s/d) dedica um captulo ao estudo da denotao e da
conotao, em bases hjelmslevianas. Nele, no apenas a conotao mas tambm a metalinguagem
definida a partir da denotao, entendida esta como a relao que se estabelece entre uma expresso (E) e
um contedo (C), no constitudos nenhum dos dois por uma outra funo sgnica.
Na conotao, por exemplo, o primeiro sistema (E R C) torna-se o plano de expresso ou o
significante do segundo sistema:
2 E R C
1 E R C
Na metalinguagem, o primeiro sistema (E R C) constitui o plano do contedo ou o significado
do segundo sistema:
2 E R C
1 E R C
Em termos de significante e significado, estes dois esquemas assumiriam a seguinte
configurao:
Se So Se So
Se So Se So
Conotao Metalinguagem
Como se v, Barthes segue as lies do mestre dinamarqus ao lidar com as noes de
denotao, conotao e metalinguagem.
18
Para Hjelmslev, operao uma descrio que est de acordo com o princpio de empirismo, segundo o
qual uma descrio deve ser no contraditria, exaustiva e to simples quanto possvel. A exigncia de
no contradio prevalece sobre a da descrio exaustiva, e a exigncia da descrio exaustiva prevalece
sobre a exigncia de simplicidade (1975: 11).
19
Hjelmslev (1975: 11) d prosseguimento s suas postulaes de semiticas que tratam de semiticas.
Afirma que, em termos de lgica formal, possvel pensar numa semitica cientfica que estude uma
metassemitica e numa metassemiologia que se ocupe de semiticas-objetos que so semiologias. A seu
ver, a teoria da linguagem, a fim de explicar no somente os fundamentos lingsticos mas tambm suas
Para Lopes (1978), a funo metalingstica configura-se a partir da relao
entre uma expresso (E) e um contedo (C), que pode advir da lngua, do contexto
lingstico ou do contexto extralingstico. Ora, evidente que o conceito de funo
metalingstica de Lopes no coextensivo ao de metalinguagem, pelo menos como o
compreendem os dois autores europeus. A funo metalingstica a prpria funo
sgnica de Hjelmslev e, por conseguinte, participa das semioses denotativa e conotativa;
da ser uma funo geral ao lado da funo ftica.
Assim, podemos concluir que, para Lopes, ambas as funes ocupam um lugar
privilegiado na hierarquia funcional autnoma, isto , fora da prpria mensagem e
anterior hierarquia contextual, uma vez que so pressupostos para a constituio da
mensagem enquanto tal.
Ainda seguindo o raciocnio de Lopes, podemos dizer que num patamar
inferior, agrupar-se-iam as funes restantes: a designativa (referencial)
20
, a potica e
a retrica (emotiva e conativa), todas subtipos da funo metalingstica. A funo
referencial instauraria a semiose extradiscursiva, organizadora dos signos da lngua. A
funo potica instauraria a semiose intradiscursiva, organizadora dos signos do
discurso. E a funo retrica (ou ideolgica) instauraria a semiose heterodiscursiva,
organizadora dos signos retricos ou ideolgicos.
A partir dessas consideraes de Lopes, -nos lcito depreender que apenas
estas trs funes (a designativa, a potica e a retrica) so susceptveis de uma
hierarquizao contextual, uma vez que as funes ftica e metalingstica independem
da mensagem construda. So, na verdade, seus pr-requisitos.
Note-se que, para postular uma hierarquia funcional autnoma, Lopes no
apenas redimensiona as funes da linguagem de Jakobson como tambm redefine cada
uma delas. Algo destas postulaes de Lopes ser por ns endossado nesta dissertao:
o caso, por exemplo, da assuno da funo potica como um subtipo de funo
metalingstica. No final das contas, parecem dois modos de ver, cada um com seus
fundamentos e justificativas. Jakobson toma como fio condutor os fatores de
conseqncias ltimas, v-se obrigada a acrescentar ao estudo das semiticas denotativas um estudo das
semiticas conotativas e das metassemiologias.
20
Lopes (1978: 97-8) julga pertinente distinguir entre uma funo designativa e uma funo referencial.
Para ele, aquela nasce da relao entre os signos do discurso e os signos da lngua, ao passo que esta
corresponde relao entre os signos da lngua e a realidade (que, enquanto realidade interpretada
uma realidade ideolgica, uma imago semiotica, e se exprime, portanto, como discursos comunais).
comunicao e Lopes, as noes semiolgicas de interpretante e ideologia. Porm, o
resultado a que Jakobson chega incngruo, porque elege dois parmetros: a mensagem
e fatores extrnsecos a ela. Lopes, pelo menos, ensaia uma abordagem unificada das
funes, nos domnios ilimitados da semiose.
1.4.3. Haver funes bsicas?
Nos autores consultados, encontramos alguns que defendem explicitamente a
onipresena de uma ou mais funes em toda e qualquer mensagem. De nosso lado,
perguntamo-nos se existe mesmo alguma funo cuja presena seja sempre detectada,
no importando o tipo de mensagem considerado.
Franois (1976: 143-9), por exemplo, afirma que a funo de comunicao tem
sido considerada pela maioria dos lingistas a funo central da linguagem, sempre
presente num ato comunicativo. As demais funes (ver o captulo 1) so, a seu ver,
desvios desta funo basilar e, por isso, devem ser encaradas como secundrias em
relao a ela. Estas funes secundrias nem sempre esto presentes. E da confluncia
destas funes secundrias com a funo primria, a comunicativa, que depende a
mensagem enquanto estrutura lingstica.
Este modo de ver as coisas no resiste crtica que Ducrot (1977) dirige
noo de funo comunicativa. Segundo este autor, o conceito de comunicao, e
portanto o de funo comunicativa, que dele deriva, muito amplo e de tal generalidade
no se poderia obter seno impreciso. Nesta perspectiva, tudo comunicao, nada
escapa ao escopo desta abrangente conceituao. No primeiro captulo do Princpios de
semntica lingstica, Ducrot assevera:
Depois de Saussure, comum encontrar-se a declarao de que a funo fundamental
da lngua a comunicao. No h muita objeo a fazer a isto, j que a prpria
noo de comunicao bastante vaga, e susceptvel de receber um grande nmero
de orientaes (op. cit.: 9).
Riffaterre (1973), por sua vez, admite a co-presena das funes estilstica
(equivalente potica) e referencial em toda mensagem. Para ele, aquela funciona como
reguladora desta, bem como das outras funes. Vejamos o que diz o autor acerca disso:
Sou de opinio que s duas funes estilstica e referencial esto sempre
presentes na mensagem, e que a funo estilstica a nica centrada na mensagem,
ao passo que as outras esto todas orientadas para algo exterior a ela, e organizam o
discurso em torno do codificador, do decodificador e do contedo. por isso que me
parece mais conveniente dizer que a comunicao estruturada por cinco funes
direcionais e que sua intensidade (desde a expressividade at a arte) modulada pela
funo estilstica. (op. cit.: 146)
No obstante defenda a co-presena das duas funes em qualquer mensagem,
Riffaterre confere maior importncia funo estilstica. E chega mesmo a dizer que,
em mensagens eivadas de ambigidades, a funo referencial obnubila-se, cessa, ao
passo que a funo estilstica reina soberana. No preciso muita acuidade analtica
para constatar a contradio: se a funo referencial sempre est presente em qualquer
mensagem, junto com a estilstica, conforme deixa claro a citao supra, como ento
falar na cessao de uma delas? As questes no param a. Cremos, por exemplo, que
nem sempre a funo estilstica est co-presente numa mensagem com a funo
referencial.
Lopes (1978) outro estudioso que sugere a co-presena de duas funes em
qualquer mensagem: a ftica e a metalingstica. A primeira, como j dissemos, pela
simples presena de um plano da expresso. E a segunda, devido existncia de um
plano do contedo.
Quanto a esta segunda funo, cumpre ressaltar que, no processo semitico da
interpretao descrito por Lopes, i. , da construo de um texto a partir de um dado
discurso, a primeira informao tradutora advm do cdigo extradiscursivo (lngua), a
segunda, do contexto discursivo, e a terceira, da ideologia. Neste percurso
interpretativo, estariam em jogo, portanto, as funes designativa, potica e retrica (ou
ideolgica), respectivamente. Donde se conclui que a funo designativa deve
igualmente figurar entre aquelas outras duas, no que tange obrigatoriedade da
presena em toda e qualquer mensagem. Isto porque estes trs estgios interpretativos
constroem-se sobre o signo da lngua, autorizando-o ou desautorizando-o, para a
constituio de outro signo, o do contexto ou o retrico (ideolgico).
O modelo de Lopes diverge, na realidade, do modelo dos dois outros autores.
As funes da linguagem, em Lopes, so postas numa perspectiva algo diversa da de
Franois e Riffaterre. Serve-nos, entretanto, para evidenciar a preocupao destes
autores com o indicar, respeitadas as devidas diferenas de abordagem, certas funes
da linguagem como inquestionavelmente presentes em toda e qualquer mensagem, seja
ela de que natureza for. Cremos no haver ainda como equacionar o problema. Na
verdade, ao lado desta questo, outra se nos apresenta: trata-se de saber se o feixe de
funes est em toda mensagem, existindo apenas uma diferena de intensidade entre as
funes, intensidade esta dependente da natureza da mensagem considerada.
Esboadas, em linhas gerais, as teses de Jakobson, passemos agora instncia
crtica das mesmas, mormente no que respeita funo potica. Isto ser escopo do
captulo subseqente.
2. A FUNO POTICA
2.1. A ttulo de recapitulao
No primeiro captulo desta dissertao, discorremos acerca da polissemia do
termo funo, decorrente dos inmeros empregos a que ele tem-se prestado nos estudos
lingsticos, no apenas naqueles de orientao funcionalista. Esta plurissignificao do
termo pode, de fato, ser detectada nos estudos realizados em diferentes correntes
lingsticas.
Na primeira seco do segundo captulo, apresentamos algumas consideraes
acerca das funes da linguagem, procurando demonstrar que este tema no constitui
preocupao recente. Remonta, na realidade, aos primeiros escritos da filosofia
ocidental. Tambm constitui objeto de reflexo para antroplogos, socilogos,
psiclogos e outros.
O assunto transborda para a lingstica, em que o tema se torna o centro das
preocupaes, porquanto a linguagem passa a ser definida a partir das funes a que
serve, conforme o que j ficou estabelecido.
Quanto ao aspecto multifuncional da linguagem, no h desacordos. Os
investigadores dos campos do saber acima referidos so unnimes ao afirmar esta
multifuncionalidade. Divergem no hierarquizar as tantas funes da linguagem que
postulam. Noutro ponto, o da presena de uma funo comunicativa, os pesquisadores
das mais variadas tendncias so concordes. A citada funo representa ponto fulcral
para a maioria dos autores mencionados, exceto para os que admitem a linguagem como
meio de pensamento, a exemplo de Carvalho (1983), que nos fala em uma funo
interna da linguagem, ou cognoscitiva, cuja precedncia ontolgica em relao funo
manifestativa (ou externa) por ele postulada.
Enfatizamos, em seo parte, as contribuies de Bhler, com sua proposta
tridica: representao (Darstellung), expresso (Ausdruck) e apelo (Appel), que serviu
de base para que Jakobson apresentasse, digamos assim, servindo-nos de neologismo, o
seu modelo hexdico conforme os fatores de comunicao envolvidos. em Jakobson
que temos o nosso ponto de partida terico, que submeteremos apreciao neste
captulo.
Dentro do quadro das funes da linguagem proposto por Jakobson, daremos
primazia funo potica e faremos os reparos crticos que julgarmos necessrios. Tal
constitui o escopo central deste captulo. A este tema j fizemos referncia e sobre ele
desenvolvemos as devidas consideraes preliminares.
Fica assente, portanto, que, dentre as variadas acepes que o termo tem
conhecido, fundamentamos o nosso trabalho na que descreve o ato comunicativo como
preeminentemente teleolgico. No deixaremos, porm, de utilizar o termo em outras de
suas acepes, explicitadas por ns ou pelo contexto, caso isso se faa necessrio.
Deixamos tambm estabelecido que:
as funes da linguagem so de cunho discursivo;
no h evidncias em favor da generalizao de um princpio
hierarquizante das funes da linguagem;
no h plenas evidncias em favor de funes bsicas.
Passaremos agora a tecer algumas consideraes acerca da funo potica, tal
qual formulada por Jakobson.
2.2. Da funo potica em especial
2.2.1. Funo potica e funo metalingstica
Nesta seco, procederemos a uma reorganizao do quadro das funes da
linguagem proposto por Jakobson. Partiremos da sugesto de Lopes (s/d) que identifica
certa similaridade entre as funes metalingstica e potica. Antes, porm,
conveniente fazer remisso a outros autores que vislumbraram a aproximao.
O prprio Jakobson, em seu clssico artigo Lingstica e Potica, j ensaiava
aproximar a funo potica da metalingstica, embora em parmetros distintos dos de
Lopes, por operarem ambas com um mesmo mecanismo, projeo das equivalncias do
eixo da seleo sobre o eixo da combinao. Porm, logo rechaa tal aproximao,
conforme atesta o excerto abaixo:
Pode-se objetar que a metalinguagem tambm faz uso seqencial de unidades
equivalentes quando combina expresses numa sentena equacional: A = A (A gua
a fmea do cavalo). Poesia e metalinguagem, todavia, esto em oposio diametral
entre si; em metalinguagem, a seqncia usada para construir uma equao, ao
passo que em poesia usada para construir uma seqncia (op. cit.: 130).
O lingista russo-americano constata esta oposio diametral entre as funes
metalingstica e potica e pra por a, deixando de extrair da comparao os traos que
as aproximam.
Riffaterre (1973: 146-9) faz algumas achegas s funes jakobsonianas.
Diverge do mestre russo-americano no que tange s relaes de dominncia das funes
numa mensagem, embora reconhea o mesmo nmero de funes. Prefere, em vez da
funo potica, admitir uma funo estilstica, que, a seu ver, juntamente com a funo
referencial, est sempre presente na mensagem
21
. Aquela a nica que est centrada na
21
Quanto questo do nome funo potica, convm, desde j, evitar o freqente equvoco de consider-
lo equivalente a outros termos afins, como funo esttica (Franois), funo estilstica (Riffaterre),
funo retrica (Dubois et alii), sem fazer as devidas ressalvas no que diz respeito orientao terica na
qual cada um destes conceitos foi forjado. bem verdade que os conceitos que os trs ltimos termos
recobrem guardam estreita relao com o de funo potica, na medida em que todas estas funes
contribuem para dar nfase mensagem. Porm, igualmente verdadeiro afirmar que elas divergem
conceitualmente.
Para Franois (1976: 147), a funo potica secundria em relao funo de comunicao, tida como
basilar, e no constitui uma funo propriamente autnoma, sendo utilizada mais para otimizar a
comunicao, isto , para torn-la mais eficiente. J para Riffaterre (1973: 138-49), o termo potico para a
funo em foco melhor que o esttico, visto que o fato estilstico transcende o lingstico e o potico
no ultrapassa a dimenso do lingstico. Mas nem por isso Riffaterre adota o termo. Prefere chamar a
referida funo de estilstica. E explica: embora Jakobson tenha afirmado que a funo potica no devia
limitar-se poesia, diz-nos Riffaterre, h uma insistncia excessiva sobre o a poesia versificada em
detrimento da variedade prosaica da arte verbal. No entanto, ainda segundo Riffaterre, a objeo
fundamental esta: quando falamos de arte verbal, pressupomos que o objeto da anlise ser escolhido
em funo dos julgamentos estticos, ou seja, de variantes que evoluem com o cdigo lingstico e o
gosto literrio (p. 40). Da a opo pela denominao funo estilstica.
Dubois et alii (1974: 29-30) sugerem o termo funo retrica, pelo fato de que a funo potica no
exclusiva da poesia, lembram os autores, conforme definira Jakobson. Segundo eles, para evitar qualquer
equvoco e para lanar mo de um termo j consagrado pela Retrica clssica, cujo escopo no consistia
apenas em estudar textos literrios, convm substituir um termo pelo outro.
Como se v, no podemos simplesmente tomar um termo pelo outro inadvertidamente,. Franois relega
sua funo esttica a um papel secundrio, cujo nico propsito tornar a comunicao mais eficiente.
No entanto, o que muitas vezes ocorre a funo potica tornar o texto mais opaco, mais ambguo, porm
eficiente a seu modo, justamente por sua opacidade e ambigidade que desafiam leituras. Por outro lado,
para compreender a funo potica em Franois, cumpre saber o que ele quer dizer com a expresso uma
melhor comunicao.
Riffaterre, por sua vez, v a funo estilstica como moduladora das demais funes da linguagem, que
sempre est presente em todas as mensagens ao lado da funo referencial, e cuja intensidade faz variar o
teor da mensagem, desde a expressividade at a arte.
Mesmo o termo funo retrica, proposto por Dubois et alii, cujo conceito se aproxima do de funo
potica, traz no seu bojo toda uma tradio de estudos retricos no suscitados pelo termo funo potica
mensagem, ao passo que as outras se direcionam para algo exterior a ela. Riffaterre
assevera:
... que a comunicao estruturada por cinco funes direcionais e que sua
intensidade (desde a expressividade at a arte) modulada pela funo estilstica.
(1973: 146)
A funo estilstica afasta a mensagem de um grau zero, de uma pura
referencialidade, graduando a intensidade das outras funes. Afirmao perigosa, pois
pode conduzir a interpretao da funo potica como reforo, nfase, que Riffaterre
(1973: 32) rejeita
22
.
Por reconhecer a funo estilstica como moduladora da intensidade das demais
funes, que Riffaterre volta seu interesse para a relao entre elas. E nestes termos
que compreende a imbricao existente entre a funo estilstica e a metalingstica.
Esta funo regulada por aquela, observa ele. A funo metalingstica torna
remetente e destinatrio capazes de verificar se esto utilizando o mesmo cdigo e tal
verificao, assinala Riffaterre, est orientada para a mensagem, uma vez que a
atualizao do cdigo, com as ambigidades possveis, a prpria razo de ser da
mensagem potica (s/d: 147). Em outros termos, dado o grau de opacidade
(peculiaridade da mensagem potica), remetente e destinatrio freqentemente voltam
ao cdigo para assegurar-se de que utilizam o mesmo cdigo. Riffaterre acrescenta
ainda:
Num emprego pensado da lngua, particularmente nos textos escritos, as glosas ou
esclarecimentos sobre o cdigo poucas vezes so realmente necessrias (sic): o
remetente tem toda liberdade de evitar qualquer obscuridade ao atualizar o cdigo; a
funo metalingstica constitui ento mais uma forma de realce (emphasis) (s/d:
147).
e, tambm, a funo potica tem domnio mais amplo que o de meros metaplasmos e metataxes, vistos
como desvios e no como equivalncias.
Assim, achamos por bem manter o termo funo potica proposto por Jakobson, uma vez que todos os
outros sugeridos como sucedneos no esto infensos a crtica. Este termo ostenta aind a vantagem de ser
o mais propagado nos meios lingsticos.
22
O que evidente exagero de Riffaterre. Alis, como pode modular a funo referencial e conviver com
ela, se, como o prprio autor afirma, a opacidade a que a funo potica submete o texto faz a funo
referencial obnubilar-se (cf. Riffaterre, 1973: 147).
evidente que Riffaterre est com razo quanto necessidade que o
decodificador tem, muitas vezes, de recorrer ao cdigo para compreender uma
mensagem potica, dado seu alto grau de opacidade. Todavia, tambm evidente que
no se deve considerar a funo estilstica como moduladora da funo metalingstica,
em termos de puro cdigo.
Parece-nos que Riffaterre prende-se em demasia ao momento da codificao,
no que concerne funo metalingstica, restringindo assim o conceito de
metalinguagem. Ora, o fato de o remetente ter toda liberdade para evitar obscuridades
na atualizao do cdigo no implica, necessariamente, que o destinatrio receber a
mensagem isenta delas. Este pode recorrer com freqncia a dicionrios e gramticas,
no caso de textos escritos. No caso de textos falados, a informao tradutora pode ser
requerida ao prprio remetente da mensagem. Portanto, se as funes estilstica e
metalingstica aproximam-se, no devido a tais razes, mas sim ao fato de ambas
requererem uma informao tradutora, como veremos mais adiante.
Acrescente-se ainda que Riffaterre reconhece que estas duas funes diferem
entre si na medida em que uma seqncia metalingual paralisa o ato de comunicao
criando uma crculo vicioso, algo irritante. A funo estilstica, por sua vez, entendida
como moduladora das demais funes, modifica uma seqncia metalingual extraindo-
lhe a eficcia, isto , regula a intensidade da funo metalingstica, sem, todavia,
suprimi-la.
Lopes (s/d: 68-9), em nota de p de pgina, tambm aborda o assunto e sugere
ter a funo potica o mesmo estatuto bsico da metalingstica. Para chegar
aproximao das duas funes tradicionalmente separadas, parte ele da noo de
interpretante, de Peirce, a qual emerge de uma relao tridica objeto-signo-
interpretante.
O interpretante definido como um signo que interpreta outro, garantindo o
que se chama semiose ilimitada (cf. Eco, 1974: 18 e 1991c: 60-2), a autonomia e a
perptua circulao sgnicas. Todo signo determina, pois, um interpretante, ele prprio
um signo
23
. Interpretante no , frisemos bem, nem o intrprete nem a interpretao, no
23
Para detalhamentos sobre a rica e complexa teoria do interpretante, que no temos condies de
delinear aqui, sob risco de incidirmos em digresso, recomendamos a leitura de Santaella (1995), que no
obstante Eco (1974: 17) reconhea que, no prprio Peirce, uma confuso desse tipo
pode ser gerada. Na trade retro, o interpretante emerge como terceiro, ou, como
terminologiza o semioticista americano, uma terceiridade. Lcia Santaella (1995)
adverte que, embora o intrprete e o ato interpretativo sejam uma das partes embutidas
na relao entre signo e interpretante, eles no se confundem com o interpretante por
duas razes. Primeiro, porque o signo sempre um tipo lgico, geral, muito mais geral
do que um intrprete particular, existente, psicolgico que dele faz uso. Segundo,
porque o interpretante, que o signo como tipo geral est destinado a gerar, tambm
ele um outro signo (op. cit.: 86-7). 0 interpretante uma propriedade objetiva que o
signo possui em si mesmo, haja um ato interpretativo particular que a atualize ou no
(op. cit.: 85). Logo, o interpretante consiste num signo que interpreta outro signo.
Com base na teoria do interpretante, sumariamente caracterizada acima, Lopes
estabelece que a diferena entre a funo metalingstica e a potica que, na primeira,
os elementos que interpretam a mensagem esto no cdigo, ao passo que, na segunda,
os elementos interpretantes da mensagem esto contidos na prpria mensagem.
Passemos, neste momento, a palavra ao prprio Lopes:
No fundo, qual a diferena? Num dos casos (o das funes metalingsticas,
estudadas por Jakobson), a informao tradutora, no plano de contedo da
mensagem-objeto, provm do cdigo, da langue; no presente caso, o da funo
potica, a informao tradutora (interpretante, segundo Peirce), do plano de
contedo da mensagem-objeto, provm dessa mesma mensagem, ou de partes dela
guindadas condio de subcdigo metalingstico. (s/d: 69)
Lopes acrescenta ainda que, ao lado do papel desempenhado pelo interpretante
do cdigo, importante reconhecer o papel desempenhado pelo interpretante do
contexto (lingstico) e conclui:
Esse interpretante do contexto, outro nome da funo potica, dotado de funo
metalingstica a igual ttulo que o interpretante do cdigo. (op. cit.: 69)
s procura definir rigorosamente o interpretante, mas dividi-lo em suas manifestaes e em seus
momentos lgicos.
Por tais razes que Lopes reelabora a concepo de funo metalingstica,
preconizando dois tipos: a propriamente dita, cujo interpretante provm do cdigo, e a
potica, cujo interpretante provm do contexto lingstico.
A tal concepo corresponde o esquema abaixo:
Funes metalingsticas
Funo metalingstica
propria-mente dita (interpretante
do cdigo)
Funo potica
(interpretante do contexto)
Dada a aproximao entre funo metalingstica e funo potica, sugerida
por Jakobson bem como por Riffaterre, e levada a efeito por Lopes, que chegamos a
uma reformulao parcial do esquema das funes da linguagem proposto por
Jakobson.
Admitimos, neste primeiro momento, a existncia de cinco funes, sendo que
a funo potica, a exemplo do que sustenta Lopes, deve ser considerada como um tipo
de metalinguagem lato sensu. Ainda conforme o estudioso paulista, inclinamo-nos a
crer que as funes no so frsicas, mas discursivas.
Caracterizado o quadro funcional que nortear o nosso trabalho, procederemos,
no seco seguinte, anlise da funo potica, no que concerne sua singularidade
face s demais funes.
2.2.2. A singularidade da funo potica
Desenvolveremos esta tese com base em dois subtemas: a) o carter peculiar da
referida funo, centrada na mensagem, por oposio s outras de natureza
extralingstica, e b) a questo da funo potica, entendida como adio, como nfase,
fuga ao grau zero.
No que concerne natureza extralingstica das demais funes, j havia sido
feita uma observao da parte de Halliday nestes termos, com relao a Bhler (e
tambm a Malinowsky):
Uma descrio puramente exterior das funes lingsticas, que no esteja baseada
na anlise da estrutura lingstica, no responder pergunta; no podemos explicar
a linguagem com simplesmente arrolar seus usos, e um arrolamento que tal poderia,
de qualquer modo, ser prolongado indefinidamente. A explicao etnogrfica de
Malinowski das funes da linguagem, baseada na distino entre funo
pragmtica e funo mgica, ou a bem conhecida diviso tripartite de Bhler, em
funes representativa, expressiva e conotativa, mostram que possvel
generalizar; mas essas generalizaes orientam-se para pesquisas sociolgicas ou
psicolgicas, e no pretendem, basicamente, esclarecer a natureza da estrutura
lingstica. Ao mesmo tempo, uma abordagem da estrutura lingstica que no
considere as demandas que fazemos da linguagem carece de perspiccia, uma vez que
no oferece princpios para explicar por que a estrutura lingstica est organizada
de um modo e no de outro. (1976: 135)
Aguiar e Silva tambm destaca a natureza exterior das funes supra em
relao potica, ancorada no fator interno, a mensagem:
Ora, num modelo do processo comunicativo, a mensagem no pode ser considerada
sob o ponto de vista ontolgico e funcional, como fator equipolente como o emissor, o
receptor, o cdigo etc; pois que ela o produto, o resultado da interao destes
outros fatores (1994: 65).
Referentemente funo potica, tal equipolncia constitui, no entender de
Aguiar e Silva, um absurdo lgico, mormente se se admite, com Jakobson, que cada um
dos fatores intervenientes no ato comunicativo faz nascer uma funo lingstica
diferente. Em consonncia com este modo de ver as coisas, a mensagem potica
organizada pelo fator mensagem, como se este fator preexistisse, num acto
comunicativo, mensagem produzida neste mesmo acto (op. cit.: 66), o que constitui
um contra-senso terico, como bem acentuou o crtico portugus. Citemo-lo mais uma
vez:
Pensamos que o ilustre lingista falseou um pouco a anlise do fenmeno da
linguagem fazendo da mensagem um fator entre outros do ato de comunicao. Na
realidade, a mensagem no passa do produto de cinco fatores de base, que so o
destinador e o destinatrio entrando em contato por intermdio de um cdigo a
propsito de um referente (1974: 38).
Outra objeo feita por Aguiar e Silva diz respeito interpretao da funo
potica como um desvio, um acrscimo, um reforo, uma nfase. Cremos que o
equvoco se deve ao prprio Jakobson, quando, comparando o famoso slogan I like Ike,
e a clebre frase Vini, vidi, vici, de Csar, afirma que aquele por se prestar
propaganda, de natureza conativa. Isto no obstante a rica anlise feita por Jakobson
sobre o slogan (cf. Jakobson, s/d: 130).
O equvoco acerca de uma e outra frase foi, inclusive, notado por Riffaterre,
que assevera:
Nos dois exemplos, a funo estilstica no nem acrscimo, nem reforo
secundrio: a funo fundamental dos dois atos de comunicao. O primeiro no
constitui o enunciado mnimo de uma preferncia sentimental, mas uma profisso de
f, uma proclamao; o segundo no um comunicado oficial, mas um boletim de
vitria e um ato de propaganda. (1973: 148)
No obstante os reparos de um Riffaterre, Aguiar e Silva entende a funo
potica descrita por Jakobson como uma funo que se impe ao texto literrio em dois
momentos e investe:
O texto literrio no se organiza, porm, bifasicamente, digamos assim: primeiro,
constituir-se-ia como texto lingstico; depois, atravs de um processo de
semiotizao que transformaria as estruturas verbais do texto lingstico,
outorgando-lhe qualidades literrias, constituir-se-ia como texto literrio (op. cit.:
575).
No somos concorde com o autor luso para quem Jakobson d a entender que a
mensagem potica produto da aplicao da funo potica a uma mensagem comum.
Seria empobrecer o pensamento de Jakobson. No nosso entender, no h uma
mensagem-fator e uma mensagem-produto. H, sim, no processo mesmo da elaborao
da mensagem potica uma preocupao com o lado palpvel dos signos. Lembremos a
este respeito, o prprio Jakobson quando define a funo potica como princpio que
projeta as equivalncias do eixo da seleo sobre o eixo da combinao, no momento
mesmo da elaborao da mensagem, seja-nos permitido inferir e reiterar.
Jakobson fala apenas na funo potica como um processo que salienta
aspectos contidos na prpria mensagem, que deve ser encarada, no como um dos
fatores do processo comunicativo, mas sim o resultado deste. Ora, se Jakobson inclui a
mensagem como um dos fatores do referido processo, f-lo com o intuito de representar
esquematicamente este processo em sua globalidade. Por isso, no devemos deixar de
considerar o fato de o autor ter localizado o fator mensagem no epicentro do esquema,
insinuando, com isto, que os demais fatores visam a ele e contribuem para a sua
constituio.
Posio equvoca tambm a de Delas e Filliolet (1975), para os quais, nos
textos no-poticos, a funo potica constitui um segundo momento na gerao da
mensagem, a fim de torn-la apenas mais eficaz, ao passo que, nos textos poticos, a
funo potica condio sine qua non para a realizao da prpria mensagem. Assim,
o texto potico no absolutamente mais rico; constitui um todo e, por isso, adquire
outra dimenso e obedece a outros condicionamentos (op. cit.: 54). Perguntamo-nos:
os textos no-poticos, em que a funo potica seria secundria, como o slogan j
citado, so apenas mais ricos, no constituem um todo e, por isso, no esto sujeitos a
estes mesmos condicionamentos? Assumimos que no, em clara divergncia. A posio
dos estudiosos franceses francamente ad hoc e discriminatria, como se a questo do
potico x no-potico fosse de simples resoluo.
Delas e Filliolet (1975), que resguardam o texto potico deste
desmembramento da mensagem em duas fases no momento de sua gerao, acabam por
tomar o texto no-potico, constitudo de duas fases, como ponto de referncia e no
encontram critrios exclusivamente textuais para classificar o que potico, em
oposio ao que no . Como fazer, ento, para detectar a preeminncia da funo
potica numa dada mensagem, sem recorrer a elementos extratextuais? Os autores no
do uma resposta definitiva.
Observam que Jakobson, embora tenha tratado o texto potico como um todo
em funcionamento, no formulou explicitamente a teoria de tal prtica, pois isto o
levaria a distinguir poeticidade de literariedade, o que Jakobson recusa-se a fazer,
segundo os autores, para tentar preservar a unidade do literrio: aquilo que se diz do
literrio deve valer para o potico, e vice-versa (1975: 53).
Em suma, no pertinente tratar a funo potica em termos de nfase, porque
os traos que a configuram j se plenificam, unitrios, como em feixes, em virtude dos
quais h o estranhamento. No concebendo assim o processo, incidimos no erro do grau
zero, que Riffaterre (1973: 32) critica nestes termos: induz crtica de intenes, leva o
analista traduo do texto, por meio de avaliao das intenes de efeito produzido.
Fica como lio a ser retida a objeo de Aguiar e Silva consoante a qual no
possvel pr, no mesmo patamar, o fator mensagem e os demais. A funo potica seria,
assim, a nica a ser marcada lingsticamente de forma inequvoca e, por conseguinte, a
nica definida em termos lingsticos. incontestvel a atuao da funo potica que
coloca em relevo o material fnico da mensagem atravs da paronomsia referida por
Jakobson.
Contudo, se nos limitarmos a elencar fenmenos, sem a devida contraparte
explicativa, ficamos no campo de uma mera descrio, descrio pobre, diga-se de
passagem. Por isto, julgamos necessrio empreender aqui o estudo das dimenses que
concorrem para configurar o significado, para alcanarmos a outra faceta do signo (quer
seja este palavra, frase ou texto): o significado.
No nos referimos apenas significao cristalizada na lngua por oposio
significao oriunda do nosso conhecimento de mundo e que ainda no se soldou na
linguagem. Conglobamos ambas as significaes, mesmo porque, no raras vezes,
difcil distingui-las e porque entre ambas no h to grande fosso, existem antes
significaes intermdias, a meio caminho dos dois extremos. Alm do mais, o que
chamamos conhecimento de mundo pode se tornar tambm conhecimento de lngua,
quando aquele coalesce neste ltimo. Ou, j nos antecipando a dois conceitos de
importncia: a enciclopdia de hoje pode ser o dicionrio de amanh, desde que tenha
suficiente difuso scio-cultural. Em semntica, infrutfero tambm o tentar separar os
dois tipos de conhecimento
24
.
Em suma, a dimenso semntica, para ns, abrange o que em um ou outro
compndio se distingue: o semntico e o pragmtico.
24
Exemplo disto a objeo feita por Palmer (s/d: 106) distino estabelecida por Katz-Fodor entre
marcadores, ligados noo de classe ( humano, animado, potente) e distinguidores, caractersticas
semnticas especficas (cf. KATZ, J. J. e FODOR, J. A.. Estrutura de uma teoria semntica, in:
LOBATO, Lcia Maria Pinheiro, 1977). Palmer ilustra com a frase The bachelor wagged his flipper A
foca sacudiu as barbatanas em que sabemos que o significado de bachelor foca macho jovem que
ficou sem companheira na poca do acasalamento por causa de flipper barbatanas.
2.3. Funo potica e motivao semntica
2.3.1. Consideraes preliminares
Em um artigo intitulado A denominao potica e a funo esttica,
Mukarovsky (1978: 159-66) distingue a denominao potica das demais espcies de
denominao (as quais chama de comunicativa). Tal distino assenta no fato de que a
primeira, ao contrrio do que ocorre com a segunda, no determinada por sua relao
com a realidade significada, mas pelo contexto em que se encontra inserida. Assim, o
contexto que sugere ao leitor a significao atribuda palavra pela deciso individual
e nica do poeta, conforme evidencia o excerto:
Podemos afirmar at mesmo que todos os procedimentos estilsticos (os diversos
meios fnicos, por exemplo), que provocam reaes semnticas recprocas entre as
palavras que ligam, esto a servio da tendncia essencial da poesia para determinar
a denominao sobretudo pela sua insero no contexto (Tynianov). (op. cit.: 160)
Cumpre salientar que Mukarovsky parte do quadro tripartite das funes da
linguagem de Bhler para sugerir uma funo esttica, oposta representao,
expresso e ao apelo, que perfazem o que Mukarovsky designa por funes prticas. A
funo esttica no se orienta para instncias exteriores lngua, com fins que
ultrapassam o signo lingstico, antes transforma o signo mesmo em centro das atenes
(op. cit.: 161). As funes prticas assim so designadas por determinarem as conexes
da lngua com a praxis, donde emerge o significado, ao passo que a funo esttica
tende a desautorizar estas conexes, fazendo emergir um significado com base no
contexto lingstico, ou a denominao potica, nos termos de Mukarovsky.
A denominao potica como emergente do contexto, tal qual nos faz ver
Mukarovsky, , pois, a resultante das imbricaes textuais a nvel fnico, morfolgico,
sinttico e semntico. O autor, todavia, no oferece maiores subsdios, de modo a
delinear os parmetros para a especificao da noo de contexto, que, por si s, muito
vaga.
Riffaterre (1989) v igualmente a interpretao do sentido potico como
originria do contexto, das relaes semnticas que se encontram inteiramente dentro do
texto. Guardadas uma e outra diferena de enfoque, persevera na linha de uma estilstica
fundada no contexto
25
, no na norma, muito menos no sistema, uma vez que as
dificuldades decorrem de ser este um sistema de possibilidades
26
. Riffaterre repudia a
interpretao fundamentada apenas no eixo das significaes verticais, isto , na lngua,
que, a seu ver, no caso do texto potico, desencaminha o leitor.
Na semntica do poema, diz-nos Riffaterre, o eixo das significaes
horizontal; o texto constitui, por si s, seu prprio sistema referencial. Destarte, a
funo referencial no texto potico exercida de significante a significante, de tal forma
que certos significantes sejam percebidos pelo leitor como variantes de uma mesma
estrutura
27
.
De acordo com Riffaterre, este eixo horizontal:
... representado materialmente pelo sintagma: , portanto, organizado por uma
sobreposio de estruturas. Primeiramente, pela estrutura lingstica. Em seguida,
pela estrutura estilstica, srie de contrastes com relao s normas contextuais, que
asseguram a percepo da mensagem como forma. Em terceiro lugar, pelas estruturas
temticas, isto , as estruturas cujas variantes so temas. Em quarto lugar, e aqui
tocamos naquilo que exclusivo do poema, pela estrutura lexical. Ou seja, as
semelhanas formais e posicionais entre certas palavras do texto, semelhanas que
so racionalizadas, interpretadas em termos de significao. Essas palavras, de fato,
parecem repetir a mesma mensagem porque se assemelham morfologicamente ou tm
funes anlogas e porque suas semelhanas so enfatizadas. (op. cit.: 31-2)
Jakobson (s/d) outro autor que, ao estabelecer o estatuto da funo potica
face s outras funes da linguagem, alude a tais peculiaridades do significado em
textos poticos.
25
Com base no supra-exposto, cria-se uma estilstica do desvio, basicamente sintagmtica, na qual
desponta a noo de microcontexto e macrocontexto (cf. Riffaterre, 1973: 66-8). Vale lembrar aqui que
contexto no tomado em sua acepo corrente: O contexto lingstico um pattern lingstico rompido
por um elemento imprevisvel (op. cit.: 56). A propsito, em obra muito anterior, Riffaterre (1973: 62)
assevera que o contexto, inseparvel em definio do processo estilstico, 1
o
automaticamente
pertinente (o que necessariamente verdadeiro para a norma); 2
o
imediatamente acessvel por ser
codificado, de modo que no precisamos recorrer a uma vaga e subjetiva Sprachgefhl; 3
o
varivel e
forma uma srie de contrastes com os processos estilsticos sucessivos. S esta variabilidade pode
explicar por que uma unidade lingstica adquire, modifica ou perde seu efeito estilstico em funo de
sua posio, por que cada desvio da norma no necessariamente um fato de estilo e por que efeito de
estilo no implica em anormalidade.
26
Acerca da noo de sistema de possibilidades, vejam-se Sistema, norma e falar concreto, in
COSERIU, Eugenio. Teoria da linguagem e lingstica geral, 1979.
27
Note-se como esta passagem lembra-nos as tematizaes e figurativizaes da semntica discursiva da
teoria semitica de Greimas.
No que diz respeito ao verso, por exemplo, Jakobson admite que ele se
caracteriza, fundamentalmente mas no exclusivamente, por uma recorrncia de som e
alerta-nos para o fato de que:
Todas as tentativas de confinar convenes poticas como metro, aliterao e rima,
ao plano sonoro so meros raciocnios especulativos, sem nenhuma justificao
emprica. A projeo do princpio de equivalncia na seqncia tem significao mais
vasta e profunda. A concepo que Valry tinha da poesia como hesitao entre o
som e o sentido muito mais realista e cientfica que todas as tendncias do
isolacionismo fontico. (op. cit.: 144)
Para o mestre russo-americano, verbi gratia, tratar a rima de um ponto de vista
meramente fonolgico configura uma atitude abusivamente simplista. Jakobson (op.
cit.: 145) indaga se existe acaso proximidade semntica entre unidades lxicas que
rimam, como dor-amor, raro-claro, trao-espao, lama-fama e se os elementos que
rimam tm a mesma funo sinttica. E reconhece que a rima um caso particular de
uma questo mais geral, o paralelismo, princpio fundante da estrutura em poesia,
baseado na projeo das equivalncias paradigmticas sobre o eixo sintagmtico.
Jakobson assim sumaria o quanto diz acerca da recorrncia de sons num texto:
...a equivalncia de som, projetada na seqncia como seu princpio constitutivo,
implica inevitavelmente equivalncia semntica, e em qualquer nvel lingstico,
qualquer constituinte de uma seqncia que tal suscita uma das duas experincias
correlativas que Hopkins define habilmente como comparao por amor da
parecena e comparao por amor da dessemelhana. (op. cit.: 147)
Como se v, Jakobson assume explicitamente que, aos paralelismos de som,
correspondem, no mais das vezes, paralelismos semnticos. Jakobson, no entanto, no
delineia com preciso o papel da semntica em suas formulaes. Mas ela de suma
importncia para a caracterizao plena da funo potica. E mais: no pode confinar-se
aos limites de um dicionrio. Como bem assinala Eco (1986: X-XI), a propsito de um
estudo feito por Jakobson e Lvi Strauss sobre um clebre poema, Les Chats, de
Baudelaire
28
:
28
A propsito deste estudo surgiram vrios trabalhos, entre os quais o de Riffaterre (1973).
Sequer necessrio citar o que Jakobson havia escrito em 1958 sobre as funes da
linguagem, para lembrar como tambm de um ponto de vista estruturalista categorias
como Emitente, Destinatrio e Contexto eram indispensveis para tratar do problema
da comunicao, ainda que esttica. Ser antes suficiente encontrar argumentos a
nosso favor justo no estudo sobre Les Chats, citado por Lvi Strauss, a fim de
compreender que funo ativa assume o leitor na estratgia potica do soneto:
Les chats non figurent en nom dans le texte quune seule fois... Ds le troisime
vers, les chats deviennent un sujet sous-entendu... remplacs par les pronoms
anaphoriques ils, les, leurs... etc
29
.
Ora, impossvel falar da funo anafrica de uma expresso sem invocar,
quando no um leitor emprico, pelo menos um destinatrio como elemento abstrato
mas constitutivo do jogo textual.
No mesmo trabalho, duas pginas adiante, se diz que existe afinidade
semntica entre Erbe e lhorreur des tenbres
30
. Essa afinidade semntica no se
acha no texto como parte explcita da sua manifestao lingstica: mas ela , isto
sim, postulada como o resultado de operaes complexas de inferncia textual
baseada em sua competncia intertextual. E, se este o tipo de associao semntica
que o poeta queria estimular, prever e solicitar, ento esta cooperao de parte do
leitor constitua parte da estratgia gerativa posta em ao pelo autor.
Alm do mais, segundo os autores do ensaio, parecia que esta estratgia
visava provocar uma resposta imprecisa e indeterminada. Mediante a associao
semntica citada, o texto associa os gatos aos coursiers funbres
31
. Jakobson e Lvi-
Strauss se perguntam:
sagit-il dun dsir frustr, ou dune fausse reconnaissance? La signification de
ce passage, sur la quelle les critiques se sont interrogs, reste dessein
ambige
32
.
De todo modo, Jakobson no nega a interveno do sentido, diferentemente de
Cohen (1966), que define verso como antiprosa. Para este autor, fenmenos como o
metro e a rima contribuem para a estruturao da linguagem potica na medida em que
a desviam da linguagem prosaica.
Cohen reconhece o paralelismo som-sentido como caracterstica fundamental
do discurso, paralelismo este que o verso busca subverter. Ao contrrio do que ocorre na
prosa, por exemplo, em que as pausas tendem a acompanhar a evoluo semntica do
texto, fazendo coincidir blocos fnicos com blocos semnticos, o verso caracteriza-se
por desviar-se de tal paralelismo. O enjambement um exemplo desta negao ao
paralelismo entre som e sentido na versificao.
29
Os gatos no figuram nominalmente no texto seno uma s vez... Desde o terceiro verso, os gatos
tornam-se um sujeito subentendido... substitudos pelos pronomes anafricos eles, os, seus... etc. (Eco,
1986: X)
30
rebo e o horror das trevas.
31
Agente funerrio.
32
trata-se de um desejo frustrado ou de um falso reconhecimento? A significao desta passagem, a
respeito da qual os crticos se interrogam, permanece com desgnio ambguo. (Eco, 1986: XI)
Tambm a rima, diz-nos Cohen, representa uma ruptura com um dos princpios
fundamentais do funcionamento lingstico: as relaes entre significantes so as
mesmas que as relaes entre significados (op. cit.: 66). Em outras palavras, pode-se
dizer que a significantes diferentes correspondem significados diferentes e que a
significantes total ou parcialmente semelhantes correspondem significados total ou
parcialmente semelhantes. Este modo de ver as coisas leva Cohen a afirmar que:
Na verdade, e trata-se de um ponto essencial, a experincia prova que a tendncia de
todos os usurios a motivao. Uma semelhana sonora sugere sempre um
parentesco de sentido, e para lutar contra essa tendncia que a fala aplica
espontaneamente uma regra de compensao: evita associar homnimos ou reunir
homfonos numa mesma frase e, quando no pode evit-lo, insiste na diferena.
Dizemos, por exemplo, no fiz porque no quis, colocando um acento de insistncia
nas duas consoantes de ataque dos dois homfonos. justamente este princpio de
compensao que a rima inverte. (op. cit.: 67)
Nesta outra passagem, Cohen se mostra conclusivo no que concerne s relaes
entre significantes e significados no texto versificado:
H semelhanas de som onde no h semelhanas de sentido. A significados
diferentes correspondem significantes percebidos como semelhantes. A rima inverte o
paralelismo fono-semntico em que se baseia a segurana da mensagem. Tambm
neste caso, como se o poeta, ao invs das exigncias normais da comunicao,
procurasse aumentar os riscos de confuso. (op. cit.: 67)
Em suma, Cohen afirma que, se homometria e homorritmia so significantes
(naturais) de uma homossemia, o poema se configura na exata ruptura deste
paralelismo, por no ser homossmico, embora homomtrico e/ou homorrtmico. na
quebra do paralelismo som-sentido que o verso desempenha sua verdadeira funo.
Quanto divergncia entre Jakobson e Cohen acerca das correspondncias
entre os paralelismos fnicos e semnticos, endossamos, em parte, a posio do
primeiro, muito embora reconheamos inexistir uma correspondncia absoluta entre os
referidos fenmenos. H, por exemplo, como se verificar, rimas no motivadas, o que
confere razo a Cohen. Todavia, o que muitas vezes ocorre tomar-se como imotivadas
rimas motivadas, ou porque as conotaes so desprezadas, ou porque a interpretao
circunscreve-se ao estreito mbito de um dicionrio. Por isso, ao considerar a correlao
entre paralelismos sonoros (bem como os sintticos) e paralelismos semnticos,
julgamos por bem operar com o significado emergente do contexto lingstico (a
denominao potica para Mukarovsky, o significado horizontal para Riffaterre ou o
interpretante do contexto para Lopes). S assim, lidando com os elementos presentes na
mensagem e buscando o significado nas relaes que entre eles se estabelecem, que
podemos falar de motivao semntica entre, por exemplo, duas palavras que rimam.
Isto alarga obviamente os horizontes semnticos, mas convenhamos, no d cem por
cento de garantia. Em parte, porque depende da competncia, digamos, textual do
analista e, em parte, porque depende de informaes sobre o texto, que no variam,
como daremos a conhecer, quando da anlise dos textos, do maior ou menor grau de
transparncia semntica
33
.
As consideraes supra remetem-nos noo de estranhamento e, portanto, de
desautomatizao. Passemos, pois, a ela.
2.3.2. A noo de desautomatizao
O esquema das funes da linguagem de Jakobson foi objeto de um sem-
nmero de ressalvas, entre as quais a de Kloepfer (1984), que, assumindo os conceitos
semiticos de Morris
34
, admite ser um significante alado condio de signo mediante
a relao que estabelece: a) com algum que o possa utilizar, b) com aquilo a que se
refere e c) com outros signos. Dessa trplice relao surgem, respectivamente, as
dimenses pragmtica, semntica e sinttica, que determinam igualmente funes em
trs nveis. A funo semntica (referencial para Jakobson) se subclassifica em
sigmtica (referncia a objetos da realidade aceita) e semntica em sentido restrito
(referncia relativa s nossas representaes). A funo pragmtica se subcategoriza nas
funes: situacional, pessoal (que incluem a emotiva e a conativa de Jakobson), accional
33
Talvez por isto Riffaterre (1973) tenha formulado a noo de arquileitor. A nosso ver, esta no decorre
apenas da tendncia positivista do lingista norte-americano (vivamente criticada por Elia (1978: 99),
para quem a objetividade no se reduz mera soma de subjetividades), que se opunha s estilsticas,
como a spitzeriana, cujos pressupostos dariam azo ao subjetivismo e ao impressionismo. Resulta tambm
da necessidade de haurir informaes, sem que se incida numa dvida metdica radical que zeraria toda e
qualquer anlise. Mas isto no tira do analista a obrigao de escolha ante anlises conflitantes.
34
Charles Morris, seguindo os ensinamentos de Peirce, foi quem primeiro delineou uma diviso da
semitica em sinttica, semntica e pragmtica, na tentativa de circunscrever os domnios desta rea do
saber. Para Eco (1995: 219), um tal delineamento tende a configurar a semitica como uma confederao
de trs disciplinas diferentes, cada qual com seu objeto especfico, ou seja, nestes termos, semitica
passaria a ser um rtulo to geral como o de cincias naturais.
e lingual. A funo sinttica, por sua vez, se subdivide em sinttica em sentido restrito e
textual.
Kloepfer rene as funes emotiva e conativa de Jakobson em uma nica
funo, a pessoal, a exemplo do que foi sugerido por Halliday (1976, 1978 e 1985)
atravs da funo interpessoal, evitando assim separar artificalmente emissor e
receptor, coisa que Vanoye (1986) criticou no modelo hexdico de Jakobson. Kloepfer
postula, ainda, uma funo situacional, relacionada a uma situao concreta, espacio-
temporalmente constituda, na qual se usa um canal que torna possvel a comunicao,
e, vale lembrar, inspirada na funo contextual de D. Hymes. Alm das j citadas
funes, o autor admite uma funo accional, ligada, de modo mais ou menos direto,
ao lingstica (em que o autor inclui a plenitude dos contextos sociais), e a funo
lingual, referente s respectivas sublnguas (ou variedades, na terminologia
sociolingstica), determinadas pela classe social, grupo etrio, regio etc.
Alm das funes acima, Kloepfer (p. 45) menciona as funes metalingstica
e potica, aquela voltada para um cdigo, veculo possibilitador da construo de
mensagens e da intercompreenso, e esta direcionada para a mensagem, como lugar do
processo da desautomatizao/atualizao, como procedimento potico geral.
Tanto a funo metalingstica como a potica buscam, para valermo-nos mais
uma vez de Lopes (s/d: 68-9), uma informao tradutora, um interpretante
35
. No
primeiro caso, a informao tradutora proveniente do cdigo. No segundo, ela provm
da prpria mensagem.
No que tange funo potica em particular, podemos afirmar que ela atribui
peculiar relevncia ao contexto, que, como adiante veremos, desautomatiza o signo da
lngua para atualizar um outro, o signo retrico (ou ideolgico). Para falarmos em
termos hjelmslevianos, trata-se da instaurao de uma nova funo sgnica em que um
dos functivos, o plano da expresso, j uma funo sgnica.
A desautomatizao pressupe a automatizao
36
, fenmeno de associao
imediata do signo, ou de apenas uma de suas partes, a um determinado sentido, a um
35
Segundo Peirce (1995: 46), um interpretante um segundo signo criado na mente de uma pessoa a
partir de um primeiro que lhe dirigido, representmen, e ao qual equivalente ou talvez mais
desenvolvido. Isto , o interpretante pode ser entendido como outra representao que se refere ao mesmo
objeto imediato. (cf. 1.2.3.3.2., mais adiante)
36
O termo automatizao foi tomado de emprstimo ao Formalismo Russo.
determinado conceito ou a determinados fatos (op. cit.: 50), fenmeno que configura o
cdigo como o conjunto de todas as regularidades semnticas, sintticas e pragmticas
que pressupem uma comunicao eficaz. Nestes termos, todos os elementos, partes do
cdigo e suas inter-relaes so susceptveis de automatizao.
O processo de desautomatizao inverso do de automatizao. Tem-se
desautomatizao quando a associao imediata do significante com o significado, em
uma de suas trs dimenses (semntica, sinttica e/ou pragmtica), desautorizada,
evidenciando a natureza da funo sgnica, relao entre expresso e contedo.
Cumpre ressaltar que Kloepfer estende o conceito esfera do pragmtico,
exorbitando a proposta original de Jakobson.
(...) quando dizemos bonjour, noite, em vez de durante o dia, quando o falante a
um merci do interlocutor responde com um sil vous plat em vez de um il ny a
pas de quoi como equivalente de bitte (ou no responde mesmo), ou quando conta ao
polcia o acidente dramaticamente (em vez de o relatar), o processo semitico
automtico interrompido no seu todo ou pelo menos nos seus elementos. A nossa
ateno , por meio do signo, concentrada no prprio signo. A este processo inverso
chama-se desautomatizao. Atualizada ou desatualizada pode ser no s a relao
Sa-Se no signo, mas tambm o funcionamento do signo, ou seja, o funcionamento
pragmtico, semntico ou sinttico. (op. cit.: 50)
Pela passagem supratranscrita, pode-se constatar que a extenso conceitual do
termo significado em Kloepfer no apenas abrange o significado semntico, mas
tambm o significado pragmtico, dependente da situao comunicativa. Neste
particular, o autor revela-se favorvel a uma compreenso menos restritiva de
significado, a exemplo dos tericos dos atos de fala.
Alm da noo de desautomatizao, uma outra constitui um subdomnio
particular da funo potica: o acoplamento. Dele passaremos a falar na seco
subseqente.
2.3.3. A noo de acoplamento
Convicto da necessidade de estudar-se estruturas maiores que as frases,
particularmente no texto de natureza potica, Levin (1975) procura estabelecer regras
para uma gramtica gerativa do texto potico. Parte ele da clebre definio de funo
potica fornecida por Jakobson para demonstrar como se processa a projeo das
equivalncias do eixo paradigmtico no eixo sintagmtico, projeo esta que confere
unidade estrutural ao texto potico e o torna memorizvel.
De sada, Levin distingue dois tipos de paradigma: o de posio, ou de tipo I, e
o natural, ou de tipo II. O primeiro se estabelece a partir de traos lingsticos exteriores
(tertium comparationis) aos membros do paradigma. Tais traos so contextuais,
definidos pela matriz sintagmtica. Isto , as formas que constituem um paradigma so
susceptveis de ocuparem a mesma posio dentro de uma construo maior e, por isso,
equivalem-se. O segundo tipo se funda a partir de traos extralingsticos, interiores aos
membros do paradigma. Envolve formas que se equivalem por algum tipo de
convergncia semntica e/ou fontica. Neste caso, j no a matriz sintagmtica (ou a
posio), que determina os traos caracterizadores do paradigma, mas as semelhanas
fonticas e/ou semnticas entre as formas que o constituem.
No que respeita especificamente estrutura da linguagem potica, Levin a
define como um tipo especial de paradigma, em que se d a fuso dos paradigmas de
tipo I e II. Em outros termos, as formas a envolvidas so semntica e/ou foneticamente
equivalentes e ocupam posies sintagmticas equivalentes. A esta convergncia de
paradigmas, fenmeno que d ao texto potico uma base estrutural, Levin chama
acoplamento.
Ao lado da matriz sintagmtica, geradora dos paradigmas de tipo I, mediante as
posies sintagmticas, Levin alude matriz convencional, que, ao contrrio daquela,
no deriva do sistema sintagmtico da linguagem, mas sim do corpo de convenes que
um poema, como forma literria organizada, observa (op. cit.: 71). Desta matriz obtm-
se igualmente paradigmas de posio, ou de tipo I. Como exemplo de convenes
bastante freqentes em textos poticos, citemos o metro e a rima.
O fenmeno do acoplamento tem, assim, duas bases matriciais: a sintagmtica
e a convencional. Semelhante ao que vimos no acoplamento com base na matriz
sintagmtica, o acoplamento fundado na matriz convencional d-se quando formas
fontica e/ou semanticamente equivalentes ocorrem em posies convencionais
equivalentes. A rima um exemplo clssico desta convergncia paradigmtica.
Embora Levin tenha dado uma maior sistematizao s propostas de Jakobson,
atravs da noo de acoplamento, alguns pontos ficam por ser dirimidos, como, p. ex.,
este acerca da massa de pensamento correlata da noo de equivalncia semntica:
duas formas so semanticamente equivalentes na medida em que se imbriquem ao
cortar a massa de pensamento geral a qual se situa fora das lnguas individuais;
no entanto, as formas das lnguas individuais se reportam a ela (op. cit.: 42).
Ora, a expresso massa de pensamento nos diz muito pouco em termos
semnticos, dada sua abrangncia e inespecificidade. Levin, no entanto, esboa uma
explicao para equivalncia semntica ao considerar que ela pode estar calcada em
similitude de significados, oposio de sentidos ou na relao com uma idia geral, o
que nos remete aos estudos da semntica de campos. Reconhece, todavia, que as
equivalncias geradas a partir dos paradigmas de tipo II, com respeito a um fator
extralingstico, tambm poderiam receber um tratamento lingstico, isto , poderiam
ser descritas em funo das distribuies equivalentes em textos ou enunciados. Mas
logo afasta tal possibilidade, como deixa ver o excerto:
A diferena entre este tipo de equivalncia lingstica e o tipo que produz meras
classes formais (equivalncias de Tipo I) seria ento a de que os equivalentes
semnticos, embora ainda de Tipo I numa anlise que tal, teriam possibilidades de
concorrncia mais restritas. No seria questo de simples concorrncia com outras
classes de formas, mas sim com membros particulares dessas classes. A razo de
considerarmos que a equivalncia semntica se constitui com base num critrio
extralingstico, todavia, vem de que as gramticas ideadas para a nossa lngua no
so suficientemente articuladas para dar conta de certas equivalncias que ocorrem
em poesia (op. cit.: 43).
O fato de as gramticas ideadas serem insuficientemente articuladas para dar
um tratamento adequado a certas equivalncias, como reconhece Levin, motiva-nos a
procurar um modelo semntico capaz de lidar satisfatoriamente com a motivao
semntica, um modelo que d conta da especificidade semntica dos discursos, que
decorrem da cultura e dos contextos intradiscursivos (cf. ECO, 1984). A noo de massa
de pensamento ainda muito abstrata e muito intelectualista, parece guardar conexo
com a noo ainda inespecfica e genrica de pensamento.
Se, de um lado, as matrizes levinianas tm suficiente explicitude para embasar
preliminarmente a equivalncia semntica, a noo de massa de pensamento no
auxilia. Podemos inclusive afirmar que Levin ainda est muito preso a associaes
semnticas estabelecidas dicionarialmente, maneira dos estudiosos da semntica
lxica, como Coseriu e Pottier.
A partir das sugestes de Mukarovsky, Riffaterre e Lopes, atinentes a um
significado que emerge do contexto lingstico, analisaremos a proposta de Eco,
segundo a qual o contexto opera como um mecanismo de narcotizao e magnificao
de semas, orientando os percursos de leitura possveis.
2.3.4. A noo de interpretante contextual
Para Lopes (1978), o contexto constitui uma das instncias de interpretao de
um texto
37
, mais precisamente a instncia mediadora entre uma lngua e uma ideologia.
Lopes recorre a Peirce para erigir sua teoria dos interpretantes, segundo a qual haveria:
a) um limiar mnimo de significao de um discurso, constitudo, no caso dos discursos
verbais, pelo interpretante do cdigo lingstico; b) um limiar mximo, constitudo pelo
interpretante ideolgico; e c) um nvel intermedirio, representado pelo interpretante do
contexto, cabendo a este o papel de estatuto mediador entre lngua e ideologia.
De acordo com estes trs nveis, organizar-se-iam trs espcies de signos: os
signos da lngua (E R C
1
), os signos do contexto (E R C
2
) e os signos retricos (ou
ideolgicos) (E R C
3
). Saliente-se que, tal como faz Hjelmslev, Lopes parte da noo de
signo como funo entre uma expresso e um contedo e, por via de conseqncia,
define os dois ltimos signos com base numa funo sgnica j realizada, ou numa
semitica, uma vez que os planos da expresso dos signos contextuais e retricos so j
constitudos por signos:
Signo retrico (nvel 3) E R C
3
Signo do contexto (nvel 2) E R C
2
Signo da lngua (nvel 1) E R C
1
37
O termo texto, em Lopes (1978), deve ser compreendido como a resultante da interpretao de um
discurso, isto , uma dada leitura, para cuja construo podem ter contribudo um ou mais de um dos trs
nveis semiticos.
ou em termos de significante (Ste) e significado (Sdo):
Signo retrico (nvel 3) Ste Sdo
Signo do contexto (nvel 2) Ste Sdo
Signo da lngua (nvel 1) Ste Sdo
A partir destes trs nveis de significao que o semilogo paulista postula os
trs tipos de semiose operados na interpretao de um discurso, a saber: a) semiose
extradiscursiva, baseada nos interpretantes do cdigo lingstico; b) semiose
intradiscursiva, baseada nos interpretantes do contexto lingstico; e c) semiose
heterodiscursiva, baseada nos interpretantes ideolgicos
38
.
Um fato chama-nos a ateno nas postulaes de Lopes. Trata-se do papel que
o contexto desempenha na interpretao de um discurso para que este ltimo se torne
texto. Os interpretantes contextuais, na qualidade de mediadores entre lngua e cultura,
desempenham um papel, seno mais importante, pelo menos equivalente ao dos
interpretantes do cdigo e da cultura. Portanto, Lopes, assim como fazem Mukarovsky,
Riffaterre e Kloepfer, salienta o papel do contexto na construo do sentido, contexto
que, em Lopes, opera desautomatizando (para usarmos um termo de Kloepfer) a simples
semiose denotativa (extradiscursiva) para instaurar uma nova semiose, a conotativa.
2.3.5. As noes de dicionrio e enciclopdia
2.3.5.1. Esclarecimentos
Para postular um modelo semntico reformulado, Eco parte de uma crtica
noo de referente e define o significado como unidade cultural.
De acordo com Eco, ligar a verificao de um significante ao objeto a que se
refere (prtica que se infiltrou por toda moderna reflexo acerca dos signos a partir do
conhecido diagrama de Ogden e Richards) conduz-nos a dois problemas: a) faz
38
Nesta altura, algumas semelhanas entre a proposta de Lopes e a de Riffaterre podem ser identificadas.
Este autor fala numa significao vertical em oposio a uma significao horizontal, a do texto potico, e
aquele lida com os significados paradigmtico e sintagmtico, operados, respectivamente, nas semioses
extradiscursiva e intradiscursiva.
depender o valor semitico do significante de seu valor de verdade; b) obriga a
individuar o objeto a que o significante se refere. Isto no , com efeito, sempre
possvel, na medida em que existem signos que no possuem um referente
(Bedeutung)
39
, como entidade fsica: unicrnio, centauro, por exemplo, que nem por
isso deixam de funcionar como signos. Como o prprio Eco assevera: para a Semitica,
os signos interessam como foras sociais. O problema da mentira (ou falsidade),
importante para os lgicos, pr ou ps-semitico (1974: 14). A presena dos
referentes, sua ausncia, ou sua inexistncia no incidem no estudo de um smbolo como
usado numa certa sociedade em relao a determinados cdigos (Eco, 1991b: 23).
O signo na realidade uma unidade cultural cujo referente tambm ele
cultural, pois toda tentativa de dizer o que o referente de um signo implica o uso de
termos de uma entidade cultural abstrata, a qual no passa de conveno cultural (p.:
15). Veja-se o difundido exemplo da unidade cultural /neve/, que, para os esquims,
corresponde a pelo menos quatro unidades culturais, conforme os estados em que a neve
se encontra. Essa multiplicidade de unidades culturais modifica o lxico esquim, de
modo a fazer corresponder a cada unidade cultural um termo especfico.
O significado assim entendido faz-nos ver a linguagem como fenmeno social
e, por conseguinte, dinmico, uma vez que as definies e explicaes dos termos em
jogo numa dada mensagem so fornecidas pela prpria cultura que os utiliza. E mais: os
termos empregados nas definies e explicaes so, por sua vez, tambm definveis em
outros termos, de tal sorte que no se pode romper as fronteiras do universo semitico,
universo das unidades culturais. Eis o que Eco (1974: 17) diz a respeito deste processo
ininterrupto:
Cada definio era uma nova mensagem lingstica (ou visual), a qual, por sua vez,
devia ser esclarecida nos seus prprios significados graas a outras mensagens
lingsticas que definiriam as unidades culturais trazidas pela mensagem precedente.
A srie dos esclarecimentos que circunscrevem num movimento sem fim as unidades
culturais de uma sociedade (as quais sempre se manifestam sob a forma de
significantes que as denotam) a cadeia do que Peirce chamava de interpretantes.
39
Em Semitica e Filosofia da Linguagem, Eco reflete sobre a acepo do termo alemo Bedeutung na
obra de Frege e intenta mostrar que, embora o filsofo afirme ser Bedeutung o objeto a que o signo se
refere, sua noo de objeto mais ampla do que a de objeto concreto ou classe de objetos concretos.
Segundo Eco, o objeto de Frege qualquer sujeito de juzo (p. 69).
Uma vez que o significado de um signo, visto como unidade cultural,
fornecido pelos interpretantes, que no passam de outros signos, num processo ad
infinitum, urge esclarecer o conceito peirceano de interpretante.
Segundo Eco (1974: 18), a noo de interpretante assustou muitos estudiosos
que se apressaram em exorciz-la tomando-a por outra coisa (interpretante = interprete
ou destinatrio da mensagem). O semilogo italiano adverte, todavia, que tal equvoco
deve logo ser evitado porque o interpretante independe de um intrprete: na verdade ele
aquilo que garante a validade do signo ainda que na ausncia do intrprete.
E o que signo? Peirce (1995: 46) define-o como aquilo, representmen, que,
sob certo aspecto ou modo, representa algo para algum. Dirige-se a algum, isto , cria,
na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. A
esse segundo signo, criado na mente de uma pessoa a partir de um primeiro, Peirce
chama interpretante. O interpretante ento um signo que interpreta outro signo e que,
para ser interpretado, requer a interveno de outro signo, e assim por diante
40
. A esta
altura, diz-nos Eco (1974: 18), abrir-se-ia um processo de semiose ilimitada, que,
embora paradoxal, a garantia nica para a fundao de um sistema semiolgico capaz
de justificar-se a si mesmo e unicamente com seus prprios meios. A linguagem seria
ento um sistema que se esclarece por si, mediante sucessivos sistemas de convenes
que se explicam reciprocamente.
De acordo com a perspectiva semiolgica adotada por Eco (1974: 18), a noo
de interpretante abrange no apenas os signos lingsticos, mas diversas outras formas,
quer dizer, o interpretante pode ser:
a) um signo equivalente (ou aparentemente equivalente) em outro sistema
comunicacional (caso do desenho de um co correspondente palavra
/co/);
b) o indicador apontado para o objeto isolado, talvez subentendendo um
elemento de quantificao universal (todos os objetos como este);
c) uma definio cientfica (ou ingnua) nos termos do prprio sistema de
comunicao (/sal/ significando cloreto de sdio);
40
Peirce (1995) opera com duas categorias de objeto: o dinmico e o imediato. Aquele a coisa-em-si
(Kant), o continuum (Hjelmslev), o que estimula a produo do signo e que nunca capturvel em sua
totalidade. Este a maneira como o objeto dinmico dado pelo signo, ou seja, o prprio significado.
d) uma associao emotiva que adquire valor de conotao fixa (/co/
significando fidelidade);
e) uma simples traduo do termo em outra lngua.
Conforme este modo de ver, qualquer entidade destas pode constituir-se num
dos functivos de uma funo sgnica, quer dizer, expresso ou contedo (significante ou
significado). Assim que sal pode ser o interpretante de /NaCl/ e vice-versa. Assim
tambm um punhado de sal pode tornar-se o interpretante de /sal/, bem como o signo
gestual e fisionmico que imita quem distribui pitadas de substncia salgada sobre a
ponta da lngua (op. cit.: 19).
Para Eco, a noo de interpretante tal qual ele a entende, pode ser retraduzida
como segue:
(...) o interpretante o significado de um significante, entendido na sua natureza de
unidade cultural ostentada atravs de outro significante para mostrar sua
independncia (como unidade cultural) em relao ao primeiro significante. (op. cit.:
19).
Uma tal concepo de significado, como unidade cultural definvel mediante
outros signos, dispara o processo que Eco denomina semiose ilimitada, em que um
signo remete a outro, e assim por diante, mecanismo cuja melhor representao seria a
do modelo Quillian (Eco: 1991c: 112). Um dicionrio representaria a estagnao deste
processo semitico, pelo menos o que se pode dizer, conforme Eco, acerca de algumas
propostas lingsticas de descrio do sistema de contedo de uma lngua, a exemplo da
proposta Katz-Fodor abaixo referida.
2.3.5.2. Dicionrio
Eco (1974, 1980 e 1991c e d) faz severas crticas ao clebre modelo de
dicionrio proposto por Katz e Fodor, apontando suas insuficincias, sua incapacidade
de dar conta de alguns fenmenos semnticos, entre os quais, por exemplo, podemos
citar a conotao.
Este modelo consiste, grosso modo, numa descrio do item lexical a partir de
uma diagramao arbrea de ns que se ramificam a partir de um n principal,
indicador da classe gramatical a que pertence o lexema. O clebre exemplo bachelor
servir-nos- como ilustrao.
O termo classificado como nome, e se ramifica conforme os marcadores
semnticos inseridos entre parnteses, marcadores que desembocam em distinguidores,
entre colchetes. Existem as selees restritivas, expressas por letras gregas inseridas no
sinal < >, postas abaixo da ltima indicao semntica, seja ela marcador ou
distinguidor. Estas indicam uma condio necessria e suficiente para que uma dada
leitura se combine com outra.
Como se disse, Eco tece algumas crticas a este modelo de descrio semntica,
julgando-o insuficiente por no dar conta de uma srie de fenmenos que ocorre no uso
cotidiano de uma lngua.
O semilogo italiano aponta a estreiteza do modelo KF, que, baseado na
competncia ideal de um falante ideal, permanece indiferente s contradies histrico-
culturais a que os indivduos de um grupo esto sujeitos. O modelo KF, diz-nos ele,
limita-se a construes intemporais e imutveis, restringe-se ao que chama de
dicionrio. Tal modelo, conforme salienta Eco, pode corresponder a uma elegante
construo formal, mas revela-se intil, de aplicao prtica desprezvel. Por outro lado,
um modelo que considerasse as crenas efetivas, contraditria e historicamente
radicadas, pecaria por certa perda da perfeio formal na descrio. Esta , no entanto, a
melhor opo para Eco, porque mais realista.
Eco reconhece a pertinncia da objeo de Katz (1972: 75), consoante a qual
uma teoria como esta, que opera com o histrico-cultural, tomaria as palavras como
algo extremamente mutvel, dependente do entorno extralingstico, do conhecimento
de mundo compartilhado por um dado grupo, j que novas descobertas acerca do
homem e das coisas, uma vez passando a conhecimento comum (compartilhado),
deveriam ser inseridas na representao semntica de um item lexical. Isto resultaria um
trabalho inesgotvel e de difcil sistematizao, concorda Eco. Mas, por outro lado,
observa que, infelizmente, esta a operao que uma cultura desenvolve
ininterruptamente, enriquecendo e criticando seus prprios cdigos. Logo, h que se
postular, ao lado da noo de dicionrio, a de enciclopdia (a cujo arcabouo terico nos
referiremos mais adiante), como uma teoria semntica mais ampla, para dar conta da
dinamicidade histrico-cultural dos itens lexicais de uma dada lngua.
Quanto aos resultados a que tal teoria semntica poderia conduzir, Katz teme a
insero de todas as modificaes idiossincrticas relativas experincia cotidiana do
falante. Pelo menos, esta a preocupao que manifesta ao criticar propostas que
aludem ao mesmo princpio da relevncia histrico-cultural na descrio do estrato
semntico de uma lngua. Outro ponto sobre o qual Katz se indaga diz respeito aos
critrios que nos fazem reconhecer a legitimidade de uma nova opinio acerca do
significado de uma palavra. Noutros termos, Katz se pergunta pelos parmetros que nos
orientariam na eleio de uns significados como pertinentes e outros como no-
pertinentes na descrio semntica de um dado item lexical.
Quanto ao primeiro ponto, ou seja, insero de idiossincrasias na teoria
semntica, Eco assim se expressa, de modo a elimin-la:
...as opinies correntes, ainda que muito difusas, devem ser CODIFICADAS ou de
algum modo reconhecidas e INSTITUCIONALIZADAS, pela sociedade. (1991: 89)
No que concerne ao segundo ponto, o de como se d o reconhecimento da
legitimidade de uma nova opinio, Eco afirma, em tom de ironia:
A resposta : na mesma base a que se refere Katz ao admitir que um bachelor um
homem no-casado e no uma pasta de dentes. Ou seja, na base que autoriza no s
uma enciclopdia mas tambm um modesto dicionrio a registrar que um dado item
lexical se acha estatisticamente associado pelo corpo social a um dado significado,
mudando de significado em certos contextos fraseolgicos especficos e registrveis.
(op. cit.: 89)
Eco no v relevncia nas crticas de Katz. Admite, no obstante, que um
modelo semntico que contemple as transformaes histrico-culturais tende a ser
menos formalizvel que um modelo semntico semelhante a um dicionrio. Mas atribui
quele uma capacidade descritiva bem superior deste, razo por que advoga a
construo de um modelo baseado na noo de enciclopdia.
Eco critica tambm o fato de o modelo KF no levar as conotaes em
considerao, fato este decorrente da estreiteza de seus limites. O modelo prope-se
como uma representao estritamente denotativa e, por isso,
(...) fornece as regras para um dicionrio por demais elementar, do tipo do usado por
turistas num pas estrangeiro, que permitem pedir um caf ou um bife, mas no falar
realmente uma lngua. (op. cit.: 90)
Eco pondera ainda que um dado item lexical pode ocorrer em diversos eixos
semnticos, pondo inclusive em contradio suas prprias conotaes, e que a escolha
entre uma e outra conotao deve ser motivada por fatores contextuais e circunstanciais.
Segundo ele, o modelo KF:
(...) no consegue explicar por que um dado termo, expresso numa dada circunstncia
ou inserido num contexto lingstico especfico, adquire um ou outros dos seus
sentidos de leitura. (op. cit.: 91)
E assim que Eco conclui seu pensamento:
Com muita preciso, esclarecem os autores [Katz e Fodor] no estarem interessados
neste problema. Mas deveriam estar. De fato, apresenta-se aqui o elo faltante entre a
teoria dos cdigos e a teoria da produo sgnica, e esse elo na realidade o espao
de uma interseco, do contrrio se teriam dois conjuntos tericos privados de um
liame que lhes garanta a mtua funcionalidade. (op. cit.: 91)
Em suma, Eco critica o modelo KF por ter os estreitos limites de um dicionrio
e por no levar em considerao as conotaes, nem os contextos e as circunstncias
que envolvem a atualizao de um dado item lexical. Por tais razes que vai postular
um modelo reformulado que, apesar da perda de perfeio formal, se revela mais
profcuo, com um poder de descrio ampliado.
Alm destes trs pontos, Eco (1991c) alude ainda natureza platnica das
marcas semntica (inanalisveis), impureza extensional dos distinguidores e
incapacidade do modelo KF de descrever as expresses no-verbais e os termos
sincategoremticos.
2.3.5.3. Denotao e conotao
Um ponto nas propostas de Eco merece a nossa especial ateno, porque
constitui um tema nevrlgico de onde parte ele, quer para a crtica endereada a Katz e
Fodor, quer para a fundamentao de seu modelo de descrio semntica. Trata-se da
distino entre denotao e conotao.
Tendo expurgado o referente da funo sgnica e definido o significado como
unidade cultural, Eco caracteriza a denotao como uma valncia no interior do sistema
semntico de uma lngua. A denotao seria a referncia imediata que o cdigo atribui
ao termo numa dada cultura (1974: 46). O lexema /casa/, por exemplo, denota, em
portugus, aquela valncia semntica que faz de casa aquilo que se ope, no sistema
semntico da lngua portuguesa, a choupana e manso.
Neste primeiro momento, denotao aproxima-se da noo de significado
como oriundo da oposio entre unidades de parte do sistema do contedo
pertinentizado (campo semntico); noutros termos, o significado constitui um valor
emanante do sistema, individuado apenas negativamente por opor-se s outras regies
do plano do contedo de um dado campo semntico.
Noutro momento, Eco (1991c: 45-8, 73-5) subscreve o que diz Hjelmeslev ao
caracterizar a denotao como uma semitica cujos planos da expresso e do contedo
no so, eles mesmos, constitudos por uma outra semitica; e a conotao, ao contrrio,
como uma semitica em que o plano da expresso j uma semitica
41
. Utiliza
inclusive o esquema de Barthes para representar o processo da conotao. Procede,
depois, a uma alterao do esquema (reproduzido abaixo), de modo a contemplar os
mltiplos cdigos conotativos que podem estar ligados a um mesmo cdigo denotativo,
sendo que as conotaes assim geradas no dependem uma da outra, podem at mesmo
se contradizer.
contedo expresso expresso contedo
contedo expresso contedo
expresso contedo
Pelo exposto, podemos facilmente perceber que, por um lado, Eco considera a
denotao uma funo sgnica operada antes mesmo de qualquer contextualizao
discursiva, isto , uma relao entre um significante e um significado, sendo que este,
como posio no campo semntico, puro paradigma (op. cit.: 45). Trata-se, neste
primeiro caso, do significado do significante isolado, ou, se se quiser, do lexema. Por
outro lado, Eco opera com a definio hjelmsleviana de denotao como indicao
(funo sgnica) de uma unidade cultural em primeira instncia, sem prvias mediaes.
Assim que, ao tratar das marcas semnticas do semema
42
, Eco (1991c) esboa
uma distino entre marcas denotativas e conotativas, que aproxima mais uma vez suas
postulaes das de Hjelmslev. Eis o que assevera Eco:
Chamamos DENOTATIVAS s marcas cuja soma (ou hierarquia) constitui e identifica
uma unidade cultural qual o significado corresponde em primeira instncia e sobre
a qual se baseiam as conotaes sucessivas.
Ao contrrio, chamamos CONOTATIVAS s marcas que contribuem para a
constituio de uma ou mais unidades culturais expressas pela funo sgnica
anteriormente constituda. (op. cit.: 74)
41
Eco (1991c: 45) define conotao (ou a semitica conotativa) como uma espcie de supra-elevao
de cdigos em que se tem uma significao veiculada por uma significao anterior.
42
Para Eco, semema corresponde a um percurso de leitura, gerado pela narcotizao ou enfatizao de
semas, a partir do retculo smico, que constitui o lexema.
O contedo do excerto acima parece conflitar com o outro, j mencionado, no
qual a denotao se ope conotao nestes termos: aquela constituiria apenas uma
posio valencial no sistema semntico de uma lngua (nos termos de Eco, ser puro
paradigma), ao passo que esta corresponde a toda a seqncia dos interpretantes,
atravs da qual o processo de semiose faz viver o lexema e o torna praticvel (op. cit.:
42). Ora, para Eco, a seqncia de interpretantes disparada por um signo constitui o
processo da conotao. Logo, o sentido denotativo tem um carter demasiado pouco
especfico, porque se o tentarmos representar no o faremos seno atravs de um
interpretante, o que dispara o processo semitico gerador da conotao
43
. Quer dizer, o
sentido de denotao encampado pelo de conotao, tornando-se intil. Prova-o o
texto infra no qual se define a conotao:
...a conotao um conjunto de todas as unidades culturais que uma definio
intensional do significante pode pr em jogo; e , por conseguinte, a soma de todas as
unidades culturais que o significante pode revocar institucionalmente mente do
destinatrio. Onde o pode no alude a nenhuma possibilidade psquica, mas a uma
disponibilidade cultural. Numa cultura, a seqncia dos interpretantes de um termo
demonstra que esse termo pode ligar-se a todos os outros signos que de alguma forma
a ele foram reportados (op. cit.: 42)
Prova-o tambm a tipologia conotacional que segue:
a) conotao como significado definicional;
b) conotao das unidades semnticas componentes do significado;
c) definies ideolgicas;
43
Isto fica claro quando Eco elenca os tipos de conotao, entre os quais inclui a conotao definicional,
que, primeira vista, parece constituir a prpria denotao. Ainda mais quando encontramos em Eco
passagens como esta: Ademais, considere-se que uma representao semntica satisfatria pretenderia
que | solteiro | conotasse [destaque nosso] tambm o contrrio de seu antnimo, portanto << - casado >>
(1991: 90). Ora, neste caso, o significante mencionado conota no-casado, remetendo-nos assim para o
campo semntico estado civil e para as oposies que o estruturam. Seria de esperar-se que uma tal
marca, << - casado >>, ao remeter-nos para o eixo semntico referido, constitusse uma marca denotativa,
o que no ocorre. Portanto, seguindo o raciocnio supra, -nos lcito concluir que tudo na mensagem
conotao, no passando a denotao de um valor (extremamente abstrato, diga-se de passagem)
valencial, cuja razo de ser est nas relaes opositivas estruturantes de um campo semntico. Contudo,
os traos que poderiam ser utilizados para a individuao da regio do contedo correspondente a um
dado significante so, eles mesmos, considerados por Eco marcas conotativas.
O conceito hjelmsleviano de conotao e denotao, que Eco tambm abraa, est melhor
fundamentado e nos permite compreender as relaes entre denotao e conotao como algo dinmico,
como um processo que desliza de interpretante para interpretante, um processo em que o significado
denotativo configura-se a partir do feixe de semas imediatamente associado a um significante pelo grupo
falante, isto , CODIFICADO ou de algum modo reconhecido e INSTITUCIONALIZADO pela
sociedade (Eco 1991: 89).
d) conotaes emotivas;
e) conotaes por hiponmia, hiperonmia e antonmia;
f) conotaes por traduo em outro sistema semitico;
g) conotaes por artifcio retrico;
h) conotaes retrico-estilsticas;
i) conotaes axiolgicas globais.
Esta lista, diz-nos Eco, no pretende ser exaustiva, quer apenas mostrar quais
e quantos so os modos pelos quais o par formado por um significante e seu significado
denotado (o que Saussure chamava o signo em sua unidade) pode remeter a outras
unidades culturais que, por sua vez, a cultura exprime mediante outros signos (op. cit.:
45). Mais do que isso, ela abrange o que muitos poderiam chamar de sentido denotativo
de um termo, o significado definicional (item a da lista supra).
Feito o balano sobre as noes de denotao e conotao em Eco,
constatamos que caminham em paralelas duas acepes: uma de Hjelmslev, outra do
prprio Eco, sem que, assim nos parece, haja uma possibilidade de sntese entre ambas.
Ao nosso ver, sustenta-se ainda a noo tradicional, tal como formulada pelo lingista
dinamarqus.
2.3.5.4. Dicionrio e enciclopdia
Eco (1991c e d) demonstra a insuficincia dos modelos de dicionrio baseados
nas propostas da anlise smica, sobretudo por tentarem operar com primitivos
inanalisveis. Os adeptos desta anlise, como sabemos, aspiram a restringir os
inventrios das figuras de contedo, de modo a alcanarem um nmero limitado de
primitivos.
Ora, exatamente contra este postulado que se insurge o semilogo italiano.
Para ele, as figuras de contedo devem ser compreendidas como interpretantes, na
acepo que Peirce atribui a este termo. E, como vimos, o interpretante um outro signo
que interpreta um primeiro, tambm este interpretvel mediante outro signo e assim por
diante. Este mecanismo, denominado por Eco princpio de interpretao, afasta de vez
a possibilidade de se trabalhar com modelos semnticos globalizantes que operem com
primitivos inanalisveis. Tais primitivos poderiam, no mximo, ser postulados como
ns ltimos de algumas rvores de um dicionrio parcial, oriundas do consenso
histrico-cultural radicado no modo de pensar de uma civilizao. Eis a a funo de um
dicionrio.
Admitamos, tendo como base este consenso histrico-cultural, que certos
interpretantes, como marcas ou propriedades, sejam hierarquizveis e que alguns destes
interpretantes ocupem os ns ltimos de uma representao em rvore. Tal assuno,
embora artificial, , sem dvida, bastante til para analisar pores mais ou menos
estveis dos universos semnticos. O que no se deve fazer, no entanto, esquecer a
artificialidade deste preito. Alm disto, devemos admitir que lidamos, o mais das vezes,
com universos semnticos instveis, em que o significado de um dado lexema -nos
fornecido a partir das relaes contextuais entre este lexema e os demais que o ladeiam
ou a partir das circunstncias em que foi ele proferido. Acrescente-se a isto que at
mesmo a hierarquizao das propriedades dicionariais esto sujeitas a uma reordenao
operada pelo contexto e/ou pela circunstncia de enunciao.
Pelas razes acima que Eco afirma no haver, numa semntica de
interpretantes, entidades metalingsticas nem universais semnticos, porque toda
interpretao passvel de nova interpretao. Ademais, num modelo como este, toda
hierarquizao de interpretantes resulta provisria, tendo em vista que o contexto e/ou
as circunstncias de enunciao que orientam a organizao hierrquica dos
interpretantes.
A partir da, Eco vai postular um modelo semntico reformulado baseado na
noo peirceana de interpretante, que no negligencia o contexto e leva em conta
instrues pragmaticamente orientadas: a enciclopdia, que Eco assim define:
(...) a enciclopdia uma hiptese reguladora com base na qual, na ocasio das
interpretaes de um texto (seja ele uma conversa na esquina ou a Bblia), o
destinatrio decide construir uma poro de enciclopdia concreta que lhe permita
reconhecer como caracterstica do texto ou do emissor uma srie de competncias
semnticas. (1991b: 114)
Em outra passagem, ele afirma:
O modelo atm-se idia de uma semntica de instrues, com formato
enciclopdico, orientada para a insero contextual do termo analisado, segundo o
modo de inferncia: se se pressupe p, ento se emprega a expresso no contexto q.
Subtrair essas pressuposies da vaguidade das normas pragmticas e inseri-las
numa representao semntica fundamental para explicar a fora persuasiva que
resulta do emprego dos termos. (op. cit.: 130)
Como se v, o modelo semntico reformulado objetiva inserir na
representao semntica todos os interpretantes codificados (inclusive as conotaes
que dependem das denotaes correspondentes), juntamente com as selees
contextuais e/ou circunstanciais. Tais selees distinguem os diferentes percursos de
leitura de um semema como enciclopdia, e determinam a atribuio de muitas
denotaes e conotaes (op. cit.: 94). No devemos todavia ver, nas denotaes e
conotaes assim atribudas, a matria de um conhecimento emprico ad hoc dos
referentes, mas elementos de informao codificados, ou seja, unidades semnticas do
mesmo tipo das marcas, salvo que desenvolvem uma funo de DESVIO (no sentido
ferrovirio do termo) (p. 130).
Eco representa o que chama de uma funo sgnica-tipo enciclopedicamente
bastante complexa, de modo a mostrar os diversos gneros de percursos de leitura
diversamente organizados, atravs do esquema abaixo:
- c
1
, c
2
[circ
] - c
3
- (cont
a
) - d
3
, d
4 -
[circ
] - c
4
significante- ms - <<semema>> - d
1
, d
2
- (cont
b
) - d
5
, d
6
- c
5
, c
6
...
(cont
c
) - d
7
, d
8
- c
7
, c
8
...
-[circ
] -
(cont
d
) - d
9
, d
10
- c
9
, c
10
...
- [circ
] - d
11
, d
12
- c
11
, c
12
...
onde os ms so as marcas sintticas; os d e os c so denotaes e conotaes; (cont) so
selees contextuais; [circ] so selees circunstncias.
A fim de clarificar ainda mais este modelo de descrio semntica, Eco refere o
lexema baleia, que pode ser lido diferentemente de acordo com o contexto em que ele
ocorra. Para um zologo, por exemplo, trata-se de um semema altamente hierarquizado
e organizado de tal forma que as propriedades secundrias dependam daquelas mais
gerais, numa espcie de rvore semelhante de Katz-Fodor. Para um autor de bestirios
medievais, o semema, tambm organizvel em forma de rvore, tem como uma de suas
marcas o ser peixe, e no mamfero, como para o zologo. Para o homem comum
contemporneo, trata-se de um semema um tanto desconexo em cujo corpo se
identificam, como coexistentes, as propriedades de ser peixe e mamfero. A figura
abaixo a representao grfica deste semema:
(cont
antigo
) - d
1
, d
2
- c
1
, c
2
...
d
3
baleia = << baleia >> (cont
cientfico
) d
4
d
7
d
5 -
(cont
moderno
) - d
1
, d
2
- d
6
d
8
(cont
popular
) - c
1
, c
2
, c
3
...
Qual destes percursos de leitura deve ser seguido um problema a ser
solucionado com base no contexto em que o lexema se encontra (antigo, moderno-
cientfico ou moderno-popular).
Eco adverte que o semema, na verdade, no deve ser entendido como um
conjunto de marcas hierarquizadas, mas hierarquizveis, o que se d, com freqncia, a
partir do contexto e/ou das circunstncias de enunciao.
Ao tratar da metfora, Eco (1984, 1991c, 1991d) alude a um processo de
reordenao de semas, operado pelo contexto e/ou pelas circunstncias de enunciao,
que provocam uma enfatizao/narcotizao de semas, de modo a reorganizar
hierarquicamente as propriedades de um dado semema, isto , seus interpretantes.
A este mesmo fenmeno refere-se Riffaterre quando assevera que a seqncia
verbal tem um efeito alternativamente cumulativo e eliminatrio. Ela destaca os semas
comparveis e elimina os que no o so, retendo, das palavras, apenas os semas que elas
tm em comum. Em resumo, opera uma filtragem semntica. Essa filtragem resulta
inteiramente da contigidade das palavras no sintagma: ela que impe a comparao
(1978: 31).
Nas palavras de Riffaterre (abaixo transcritas), v-se uma tomada de posio
anloga assumida por Eco, quanto imobilidade a que est condenado um modelo
semntico de base dicionarial, incapaz de dar conta deste processo de reordenao
smica caracterstico de um texto de natureza metafrica.
As combinaes verbais mudam de aspecto, seu sentido modifica-se constantemente
com a progresso da leitura. Toda interpretao que tende a imobilizar esse
mecanismo conduzindo o texto ao real e ao atomismo esttico do dicionrio s pode
desconhecer a funo da poesia como experincia e alienao. (op. cit.: 37)
Eco (1991d: 187-8) vai alm da simples magnificao/narcotizao de semas.
Delineia cinco regras para a interpretao co-textual, a propsito da metfora. So elas:
a) Construa-se uma primeira representao componencial do semema metaforizante
(parcial e experimental). Chame-se ao semema metaforizante de veculo. Esta
representao deve magnificar somente as propriedades que o co-texto sugeriu
como relevantes, narcotizando as outras (cf. Eco, 1979). Esta operao
representa uma primeira tentativa abdutiva.
b) Localize-se na enciclopdia (localmente postulada ad hoc) um outro semema que
possua um ou mais dos mesmos semas (ou marcas semnticas) do semema veculo
e que, ao mesmo tempo, apresente outros semas interessantes. Torne-se este
semema um candidato ao papel de semema metaforizado (teor). Se houver mais
sememas em competio para este papel, tentem-se outras abdues, com base em
indcios co-textuais. Fique claro que por os mesmos semas se entendem os
semas exprimveis atravs do prprio interpretante. Por outros semas
interessantes entendem-se somente os representveis por interpretantes
diferentes, mas de modo que possam ser opostos segundo algumas
incompatibilidades hipercodificadas (como aberto/fechado, morto/vivo, e assim
por diante).
c) Selecione-se uma ou mais destas propriedades ou semas diferentes e construa-se
sobre eles uma rvore de Porfrio, de modo que estes pares de oposies se
conjuguem num n superior.
d) Teor e veculo apresentam uma relao interessante quando suas propriedades ou
semas se encontram num n comparativamente muito alto da rvore de Porfrio.
Expresses como /semas interessantes/ e /n comparativamente mais alto/ no
so vagas, porque se referem a critrios de plausibilidade co-textual.
Semelhanas e diferenas podem ser avaliadas somente de acordo com o possvel
sucesso co-textual da metfora e no h critrio formal que estabelea o grau
exato de diferena e a posio exata na rvore de Porfrio. Segundo estas
regras, parte-se das relaes metonmicas (de sema para semema) entre dois
sememas diferentes e, controlando a possibilidade de uma dupla sindoque (que
interessa tanto o veculo quanto o teor), aceita-se em concluso a substituio de
um semema pelo outro. Uma substituio de sememas, portanto, aparece como o
efeito de uma dupla metonmia realizada por uma dupla sindoque (cf. tambm
Eco 1971). Podemos, portanto, passar para a quinta regra.
e) Controle-se, com base na metfora suposta, se se podem localizar novas relaes
semnticas, de modo a enriquecer ulteriormente o poder cognitivo do tropo.
Numa semntica deste tipo, fundada na noo de enciclopdia, perde-se, com
efeito, muito do acabamento formal prprio de um dicionrio. Todavia, uma semntica
assim constituda reflete com maior fidelidade os mecanismos envolvidos no processo
comunicativo, pois faz ver quo dependente do contexto (lingstico e/ou
extralingstico) o significado de uma dada unidade lxica, particularmente se se trata
de contextos metafricos. Como vimos, semas conotativos perifricos podem ser
alados condio de centrais, de acordo com determinaes contextuais e/ou
situacionais. Este processo apenas recebe um tratamento adequado num modelo
semntico aberto, que permita um redimensionamento smico de um semema, em
funo do contexto em que ele ocorre e a partir da base reticular de interpretantes
culturalmente relacionados a um dado item lexical.
2.3.6. Sntese
Conforme vimos, Mukarovsky (1978) fala de uma denominao potica
emergente do contexto, oposta a uma denominao comunicativa, com base no cdigo.
Riffaterre (1989) distingue um significado vertical de um significado horizontal, este
oriundo do contexto, a partir de uma filtragem semntica, e aquele oriundo do cdigo.
Lopes (1978) diferencia um significado extradiscursivo de um significado
intradiscursivo, fundamentado em bases semelhantes. E Eco (1984) refere-se a um
processo de narcotizao e/ou magnificao de semas operado pelo contexto.
Podemos ver, nas propostas de cada um destes autores, alguns pontos de
convergncia. O primeiro deles o reconhecimento (implcito em alguns casos e
explcito em outros) de que o cdigo, embora aparentemente estvel numa dada
sincronia, caracteriza-se pela dinamicidade, ou seja, tem por caracterstica ser
instavelmente estvel. Noutras palavras, o discurso tem como pressuposto de sua
compreenso estar construdo segundo um cdigo pr-estabelecido, estvel, socialmente
aceito como tal. Porm, o discurso pode operar alteraes neste cdigo, isto , o
discurso redimensiona o cdigo, da sua instabilidade
44
.
O segundo ponto de convergncia, decorrente do primeiro, est no fato de os
autores postularem um significado paradigmtico, estabilizado em termos de dicionrio,
e um significado sintagmtico, que emerge da presso contextual, uma vez que o
contexto pode reordenar hierarquicamente o complexo smico, que o semema. Como
vimos, tanto Mukarovsky como Riffaterre e Lopes admitem, no mnimo, duas fases na
interpretao de um lexema: uma paradigmtica, que instaura o sentido socialmente
estabilizado, institucionalizado, dicionarial, e outra sintagmtica, fruto de presses
contextuais, que validam a interpretao paradigmtica ou refutam-na, provocando,
neste caso, uma reorganizao na hierarquia smica de um semema.
Em Eco (1984), o contexto opera de forma semelhante. Funciona como um
filtro que reordena hierarquicamente os semas de um semema, mediante magnificao
ou narcose de semas, apontando para um percurso de leitura.
Eco entende o lexema como algo que dispara uma srie de associaes
smicas, que conduz de um signo a outro, de um interpretante a outro, originando um
feixe de semas que constitui o semema. Este feixe de semas no deve porm ser
entendido como hierarquizvel apenas contextualmente, como s vezes parece sugerir
Eco. Em outra obra sua, Os Limites da Interpretao, admite existir, no que diz respeito
aos lexemas, semas mais institucionalizados que outros, isto , semas que os falantes
relacionam automaticamente a certos lexemas, razo por que Eco postular um sentido
literal.
Cotejando as propostas supra, percebe-se que o significado sintagmtico muitas
vezes se funda a partir da desautomatizao do significado dicionarial, como sugere
Kloepfer. Para nos certificarmos disto, basta vermos o papel que o contexto nelas
assume. O contexto opera, muitas vezes, desautomatizando a funo sgnica
44
Saussure, em seu clebre Curso de Lingstica Geral, j trata do assunto ao abordar o tema da
imutabilidade e mutabilidade do signo lingstico. Reconhece que a parole, atravs da massa falante e do
tempo, opera mutaes na langue.
automatizada dicionarialmente para atualizar uma nova funo sgnica, fundada na
anterior e passvel tambm de automatizao
45
.
Os termos utilizados pelos autores denunciam a interseo de suas propostas
neste ponto:
a) denominao comunicativa / denominao potica (Mukarovsky);
b) significado vertical / significado horizontal (Riffaterre);
c) automatizao / desautomatizao (Kloepfer).
d) interpretante extradiscursivo / interpretante intradiscursivo (Lopes);
e) sentido literal / narcotizao e magnificao de semas, em funo do
contexto (Eco).
Tais oposies apontam para uma mesma direo: a funo do contexto como
instaurador da significao, por confirmao ou refutao, parcial ou total, de um
significado automatizado, dicionarial, institucionalizado.
Das propostas acima, as duas ltimas, a de Lopes e a de Eco, so as que nos
interessam particularmente. Procuramos resenh-las nas sees 2.3.4. e 2.3.5.
Procederemos agora a uma comparao entre elas, a fim de buscar uma sntese.
Tanto Lopes quanto Eco fundamentam-se na noo peirceana de interpretante.
Lopes (1978), por exemplo, admite, como vimos, a existncia de trs interpretantes: a)
um interpretante do cdigo, cuja funo traduzir a mensagem luz das informaes
fornecidas pelo cdigo de partida que o organizou (p. 34) ; b) um interpretante do
contexto, cuja funo a de localizar, na contigidade sintagmtica, a lei de
similaridade que preside ao arranjo de toda a seqncia dotando-a de uma certa
redundncia informacional (p. 35); e c) um interpretante ideolgico, cuja funo
decodificar a mensagem como prtica social, a partir dos cdigos e discursos alheios
que formam o complexo dos sistemas modelizantes atravs dos quais uma sociedade se
interioriza em cada um dos indivduos que a integra (p. 37).
Eco (1991c), por sua vez, em consonncia com Peirce, entende o interpretante
como aquilo que um signo produz na quase-mente que o intrprete. Assinala que,
para se estabelecer o significado de um significante necessrio recorrer a um outro
45
Por este processo, podem-se explicar, por exemplo, fenmenos como o da conotao.
significante que nomeie o primeiro. Este processo dispara uma semiose ilimitada, posto
que o interpretante de um signo sempre outro signo, que s pode ser interpretado
mediante outro signo e assim por diante.
No obstante professe a semiose ilimitada como processo interpretativo e, a
partir disso, reconhea o semema como um feixe de traos no hierarquizados, mas
hiearquizveis, de acordo com contextos e circunstncias, Eco (1995) admite um
sentido literal (cf. seco 1.3. do captulo subseqente), a partir do qual nos sentimos
autorizados a extrapolar todos os sentidos possveis de uma dada mensagem. Esta
assuno parece-nos aproxim-lo de Lopes, uma vez que o sentido literal tende a ser
interpretado a partir das regras estabelecidas pelo cdigo em que se forjou a mensagem.
Assim sendo, como quer Lopes, o cdigo (extradiscursivo) constitui uma primeira
instncia no ato interpretativo. Nesta altura, uma pergunta se impe: o que este autor
quer dizer com o termo cdigo?
Lopes utiliza o termo cdigo para referir-se tanto lngua, quanto mensagem
e ideologia (como imago semiotica). Como vimos, o cdigo extradiscursivo serve
tanto para a codificao da mensagem quanto para sua decodificao, pelo menos
inicialmente. Em seguida, entram em jogo o cdigo da mensagem e o cdigo ideolgico
(nesta ordem), para reforar a funo sgnica fundada no cdigo extradiscursivo ou para
instaurar uma nova funo sgnica, fundada naquela. Este processo, entre cdigo,
contexto e ideologia, pode acarretar mutaes no cdigo que serviu de ponto de partida
para a elaborao da mensagem. Nestes termos, embora o cdigo constitua um
pressuposto para a mensagem, ele deve ser entendido como algo instvel, em construo
permanente, no de todo sistematizvel.
Nesta altura, pode-se verificar a ntima relao que se estabelece entre os trs
tipos de cdigo postulados por Lopes, to estreitamente ligados que no possvel dizer
com preciso o que o cdigo extradiscursivo, mormente se o compararmos com o
cdigo ideolgico e tentarmos estabelecer fronteiras entre eles. Com efeito, parece-nos
que, de acordo com Lopes, o cdigo extradiscursivo so a gramtica e o lxico. Mas, o
que se pode entender por lxico em Lopes? Trata-se do dicionrio? Se assim for, ento
qual a sua extenso? Aqui nos vemos novamente diante do problema da falta de
limites precisos entre dicionrio e enciclopdia.
Eco (1991d), por sua vez, faz um mea culpa ao mostrar que, ao longo de seus
textos, o termo cdigo sobejamente utilizado. Reconhece, todavia, a pouca
operacionalidade deste conceito, e advoga a favor do de enciclopdia. Para ele, o
emprego do termo deve-se ao fato de ele j estar consagrado nos meios lingsticos e
semiticos, no sua excelncia. O autor admite ainda que tem corrigido
progressivamente o conceito de cdigo em favor do de enciclopdia, talvez porque o
primeiro s se possa resolver neste ltimo. Alm disso, segundo Eco, o que se v em
outros autores o emprego do termo numa acepo mais ampla, prxima da de
enciclopdia, conforme deixa claro o excerto:
Quem quer que no quadro da semitica contempornea tenha empregado a categoria
de cdigo no pretendia reduzi-la de lxico simplificado, de mera lista de
homonnia. Tentava-se, certo ou errado, incluir tambm nesta categoria outras sries
de regras e normas: em outras palavras, a categoria de cdigo devia dar conta de
uma gramtica em seu conjunto (semntica e sintaxe, e at mesmo uma srie de
normas pragmticas que dessem conta de uma competncia executiva). (op. cit.: 248)
Segundo Eco, no se pode entender o cdigo como uma cifra, mas sim como
uma matriz que permite infinitas ocorrncias, a nascente de um jogo. Eco pondera:
Mas nenhum jogo, nem mesmo o mais livre e inventivo, procede ao acaso. Excluir o
acaso no significa impor a todo custo o modelo (empobrecido, formalizado e falaz)
da necessidade. Fica a fase intermediria da conjectura exposta sempre, como Peirce
sabia, ao princpio do falibilismo, regida pela confiana de que as leis, que
inventamos para explicar o informe, o expliquem, de alguma maneira, numa
definitiva. (op. cit.: 290)
Ao que acrescenta:
Mas pode-se tambm pensar na matriz aberta de um jogo e na tendncia a um
clinamen que no seja necessariamente dada, mas de alguma maneira estabelecida
continuamente pela atividade humana da semiose. Pode-se pensar na enciclopdia
como labirinto, globalmente indescritvel, sem admitir nem que no se possa
descrever localmente, nem que, j que em todo caso existir o labirinto, no possamos
estud-lo e construir seus percursos. (op. cit.: 290)
Do cotejo entre Lopes e Eco, podemos assinalar como ponto de convergncia,
alm da base terica peirceana comum (um e outro opera com o conceito de
interpretante), a noo de cdigo. Como vimos, Lopes compreende trs fases na
interpretao de um texto: a semiose extradiscursiva, a intradiscursiva e a
heterodiscursiva, sendo que cada uma delas faz remisso a um cdigo especfico. Eco
no opera tal distino. Parece-nos que isto se d porque ele entende o processo de
interpretao de um texto como a confluncia destes trs tipos de cdigo, sem que haja
necessariamente a precedncia de um ou de outro, num mecanismo fundador de
instrues indicadoras de um percurso de leitura.
No mximo, Eco admite, como vimos, um sentido literal, calcado no que est
codificado, institucionalizado. Mas isto no quer dizer que o ato interpretativo obedea
rigorosamente a esta ordem. Segundo Eco, o que, com efeito, ocorre no ato
interpretativo uma srie de tentativas, erros e acertos (a abduo de Peirce) na qual o
intrprete joga com instrues provenientes da lngua, do contexto e da ideologia (como
cultura), simultaneamente.
Em conformidade com esta forma de ver, podemos admitir que, assim como
Eco, Lopes fala de cdigo para lidar verdadeiramente com a noo de enciclopdia. O
processo interpretativo postulado por Lopes nos conduz mesma abertura aludida em
Eco. Ressalte-se que o termo cdigo tem acepes diferentes em Lopes. Refere-se tanto
lngua como ideologia, esta menos formalizvel que aquela. Alm disto, Lopes
admite uma estreita relao entre lngua e ideologia, mas no explicita como isto se d.
Para ns, a classificao de Lopes vlida por criar categorias operacionais,
atravs das quais se pode descrever em fases sucessivas a desautomatizao/atualizao
de uma funo sgnica. Porm, na realidade, este mecanismo mais complexo do que
pode sugerir esta proposta de interpretao trifsica.
Em suma, no obstante divirjam em alguns pontos, a proposta de Lopes e a de
Eco guardam certa semelhana entre si. Conforme vimos, apesar de no empregar o
termo enciclopdia, Lopes faz implicitamente uso dele, o que o aproxima de Eco. Tal
a razo por que julgamos poder utilizar as sugestes de um e outro neste trabalho.
Cremos que o texto constitui o ponto para onde convergem o cdigo da lngua e o
cdigo ideolgico (cultura), apontando, mediante instrues contexto-situacionais, para
percursos de leitura.
3. QUESTES PENDENTES
3.1. Funo potica e texto potico
Aguiar e Silva (1994) busca desqualificar a noo de funo potica de
Jakobson ao asseverar, de forma conclusiva:
Pensamos, pelo contrrio, que se trata de uma teoria fragilmente fundamentada, com
uma formulao equvoca e carecente de rigor conceptual, destituda de capacidade
descritiva e explicativa em relao ao seu explanandum o texto literrio. (op. cit.:
64)
Ao supracitado, acrescenta depois, guisa de arremate:
Pensamos, pelo contrrio, que a mensagem literria no produzida nem analisvel
em termos de comunicao lingstica, que no existe uma funo potica da
linguagem e que a potica no um subdomnio da lingstica. (op. cit.: 74)
As ressalvas do terico portugus parecem, de fato, ter justificativa em
afirmaes como esta, de Jakobson, pelo tom radicalizante:
A funo potica no a nica funo da arte verbal, mas to somente a funo
dominante, determinante, ao passo que, em toda as outras atividades verbais, ela
funciona como um constituinte acessrio, subsidirio. (s/d: 128)
No entanto, se olharmos com ateno, verificaremos que a maior parte das
crticas de Aguiar e Silva com relao teoria de Jakobson apontam para uma mesma
direo: sua insuficincia em definir os traos caractersticos do texto literrio a fim de
distingui-lo dos demais textos. nesta perspectiva, portanto, que o crtico portugus
tenta minar o conceito de funo potica, aproveitando o flanco deixado pelo prprio
Jakobson. Eis os argumentos:
a) Aquele princpio [o de funo potica como projeo das equivalncias do eixo da
seleo no eixo da combinao], de per si, no possibilita distinguir com preciso
entre um texto potico e um texto no potico. Em estrita conformidade com o seu
teor, deveramos aceitar que em muitos textos no literrios textos publicitrios,
provrbios, adivinhas, etc. se realiza a funo potica em grau mais elevado do
que em muitos textos literrios (op. cit.: 68-9);
b) Como demonstrou Paul Werth, os modelos de paralelismo fnico-gramatical que
Jakobson apresenta como especficos da funo potica e como fatores
constitutivos do verso e sublinhe-se que, para Jakobson, o verso implica
sempre a funo potica , alm de poderem no possuir nenhum intrnseco
valor literrio possvel estabelecer numa medocre composio potica
modelos de paralelismo fnico-gramatical to ou mais complexos do que aqueles
que Jakobson detectou nas suas anlises de Les chats de Baudelaire e do soneto
129 de Shakespeare , podem ocorrer copiosamente em qualquer texto no
literrio e no versificado (op. cit.: 69);
c) Em princpio, a teoria jakobsoniana da funo potica devia possuir capacidade
explicativa em relao a qualquer texto literrio, pois que a pergunta qual
Jakobson se prope responder a seguinte: O que faz de uma mensagem verbal
uma obra de arte? (op. cit.: 70)
46
.
Percebe-se que, nos trechos supra, Aguiar e Silva lida sempre com a noo de
valor literrio, conforme deixam transparecer as expresses negritadas. No entanto, esta
noo consabidamente problemtica e ainda aguarda um tratamento adequado. Nela
muito se fala, a despeito de sua impreciso conceitual. Diga-se tambm de passagem
que a crtica de Aguiar e Silva se aplica, a nosso ver, a qualquer teoria que vise a
enfocar o texto literrio. Em vo, procuram-se parmetros: conotaes,
plurissignificao do signo, sinfronismo etc.
Todavia, se se pode acusar Jakobson de reducionismo por ter ele condicionado
a arte verbal primazia da funo potica, no se pode ignorar que este lingista sugere,
em tom mais ameno, uma diferenciao entre Potica stricto sensu e Potica lato sensu,
em cujo bojo est contida a distino entre mensagens em que a funo potica a
central e mensagens em que ela subsidiria.
46
Os destaques do trecho supracitado so nossos.
Em resumo, a anlise do verso inteiramente da competncia de Potica, e esta pode
ser definida como aquela parte da Lingstica que trata a funo potica em sua
relao com as demais funes da linguagem. A Potica, no sentido mais lato da
palavra, se ocupa da funo potica no apenas na poesia, onde tal funo se
sobrepe s outras funes da linguagem, mas tambm fora da poesia, quando
alguma outra funo se sobreponha funo potica (s/d: 132).
Nestes termos, o princpio da funo potica formulado por Jakobson
permanece vlido, desde que no se queira promov-lo a parmetro fundamental para o
discernimento do que e do que no potico, no sentido literrio do termo. O processo
a que este princpio faz referncia detectvel na estrutura de uma mensagem quer seja
ela validada literariamente ou no. Por conseguinte, a Potica, no seu sentido mais
amplo, parece-nos poder constituir uma disciplina voltada para o estudo da funo
potica em diferentes tipos de texto, inclusive nos considerados no-literrios.
A propsito desta questo, convm mencionar aqui a contribuio de Kloepfer
(1984), que dedica o primeiro captulo de seu livro definio do objeto de uma Potica
bem como descrio preliminar de um procedimento epistemolgico para examin-lo.
Dada a aproximao que se verificou nos ltimos anos entre Lingstica e Potica
(razo das crticas supra de Aguiar e Silva a Jakobson), Kloepfer busca responder a duas
perguntas fundamentais, resultantes desta aproximao, que se impem a quem queira
proceder a uma anlise cientfica do potico: a Lingstica contm a Potica? Ou a
Potica que contm a Lingstica?
No que diz respeito primeira destas duas perguntas, Kloepfer identifica trs
posies que, embora diversas, sustentam-se num alicerce conceitual comum, ou seja, o
de que a Lingstica tem como objeto de estudo a linguagem e, sendo a poesia uma
forma de linguagem, tambm ela situa-se sob o domnio da Lingstica.
Apesar da base conceitual comum, estas trs posies divergem no tipo de
relao que se configura entre a linguagem potica e a lngua natural. Numa, a
linguagem potica constitui uma sublngua, ao lado de outras sublnguas (linguagem
tcnica, cientfica etc.), da lngua natural. Noutra, a linguagem potica apresentada
como secundria ou parasitria, derivada da lngua natural. Numa terceira, a
linguagem potica uma das muitas linguagens [inclusive a normal] que se distinguem
umas da outras pela funo, pelo contexto social ou por outros critrios e que, s a um
nvel muito elevado, formam uma lngua (op. cit.: 32). Estas trs posies so
corolrios de uma mesma tese, pois o tratamento que nelas se reserva linguagem
potica determinado pela episteme lingstica, isto , a linguagem potica
susceptvel de um tratamento semelhante ao que se d lngua natural. Nos dois
primeiros casos, a linguagem potica definida em funo da lngua natural. No
terceiro, em funo de sua finalidade comunicativa.
Quanto questo da continncia da Lingstica na Potica, Kloepfer assinala
que tal ponto de vista se sustenta na concepo de poesia como lngua-materna do
gnero humano e que, assim sendo, a lngua normal e as outras sublnguas fortemente
reduzidas na sua funcionalidade derivam da linguagem perfeita da poesia, que desdobra
toda a polifuncionalidade da lngua (op. cit.: 33). No entanto, Kloepfer chama ateno
para o fato de que nenhum dos autores que defendem este modo de ver explicita o como
se d a relao entre o Potico e o Lingstico.
Para Kloepfer, qualquer uma das posies supra peca por unilateralidade. A
seu ver, a Potica e a Lingstica devem ser encaradas como duas perspectivas
diferentes de um mesmo fenmeno, porque apontam para dois aspectos de uma s
coisa, ou seja, a materializao da faculdade de semiose, a aptido do Homem,
subjacente a todos os sistemas lingsticos, de transformar qualquer coisa em signo. (...)
A Lingstica se interessa principalmente pelos resultados desta faculdade, enquanto a
Potica preocupa-se com os processos e as possibilidades da criao de novos signos e
sistemas de signos
47
(op. cit.: 35).
Nesta linha de raciocnio, a funo potica, sendo lingstica, no deve
constituir isoladamente o fator determinante da poeticidade de um texto, uma vez que,
segundo Kloepfer, a Potica se distingue da Lingstica pelo enfoque dado ao fenmeno
verbal em cada uma destas disciplinas. Por isso, engrossamos a fileira dos que, como
Aguiar e Silva, no vem na funo potica o critrio parametrizante do potico-
literrio, muito embora o crtico portugus parea entender equivocadamente os termos
potico e literrio em Jakobson como termos afins, na medida em que, na obra deste, os
conceitos de arte verbal, poeticidade e literariedade parecem convergir para um mesmo
ponto: o da primazia da funo potica.
47
Neste sentido que Eco, em seu Tratado Geral de Semitica, procura desenvolver a pesquisa semitica
em duas perspectivas, que se articulam: uma teoria dos cdigos e uma teoria da produo sgnica.
Consoante a proposta de Jakobson, a funo potica constitui, como vimos,
uma das seis funes a que a linguagem serve e a relao de predominncia entre elas
que vai determinar o teor da mensagem. Nestes termos, o texto potico aquele em que
a funo potica tem primazia sobre as demais. Jakobson, no entanto, no resume
peremptoriamente os textos poticos funo potica. Na verdade, adverte tratar-se de
uma reduo excessiva e enganosa confinar a mensagem potica esfera da funo
potica. A propsito, vale lembrar, uma vez mais, o slogan I like Ike, mencionado no
captulo precedente, em que Jakobson faz-nos ver a presena da funo potica na
configurao da mensagem, muito embora no seja ela a predominante, mas a conativa,
uma vez que o codificador da mensagem pretende mesmo agir sobre o outro,
convencendo-o a apoiar Eisenhower rumo Casa Branca. Assim, segundo Jakobson,
no se pode dizer que no referido slogan temos um caso de texto potico pelo simples
fato de no ser a funo potica a funo preeminente.
Em conformidade com Jakobson, cremos que a mensagem, potica ou no,
constitui um todo para o qual a funo potica, como processo, contribui. No h como
estabelecer, seno muito artificiosamente, duas etapas na gerao de textos no-
poticos, sendo a segunda delas a aplicao da funo potica, como algumas teorias do
desvio
48
insistem em propalar.
Em essncia, este o equvoco de Aguiar e Silva, j citado, e de Delas e
Filliolet (1975). Estes, baseados na noo de totalizao em funcionamento, distinguem
as mensagens onde a funo potica tem primazia daquelas em que tal funo
desempenha apenas um papel secundrio. Neste segundo caso, a exemplo do que faz
Aguiar e Silva, os autores reconhecem dois momentos na gerao da mensagem.
Os autores no nos convencem com os seus argumentos. Para eles, o texto
potico identificado, insistamos, mediante a constatao de que a funo potica se
sobrepe s demais, o que confere unidade ao texto, tornando-o totalizao em
48
Entre aqueles que advogam a estilstica do desvio encontramos Cohen (s/d: 23). Ele assume o estilo
como desvio de uma norma, definida como sendo a linguagem dos cientistas, cujo desvio, se no nulo,
tende a zero. A propsito disto, alude noo de grau zero da escritura, de Roland Barthes, afirmando
que com ela que o poema ser confrontado sempre que necessrio. Nestes termos, diz-nos, a diferena
entre poesia e prosa romanesca uma questo mais quantitativa que qualitativa. , pois, pela freqncia
do desvio que esses dois gneros literrios se distinguem, podendo a diferena de freqncia ser a menor
possvel. Cumpre ressaltar aqui que a distino entre os gneros se reduz a uma questo meramente
estatstica, limitada que foi a aspectos quantitativos.
funcionamento. Porm, os meios pelos quais esta constatao viabiliza-se no so
configurados pelos autores de forma clara e precisa. Parece-nos que, no obstante sua
tentativa de separar poeticidade de literariedade, Delas e Filliolet resvalam novamente
na conceituao do texto potico, em que a poesia se mantm como o lugar
privilegiado da manifestao da funo potica (op. cit.: 53). Como, ento, mensurar o
peso da funo potica numa dada mensagem, se, em conformidade com esta teoria,
somos impelidos a admitir que a poesia (como literatura) definida como mensagem
onde a funo potica soberana? A deteco do texto potico passaria a obedecer a
critrios meramente quantitativos, dependendo sua identificao da densidade da funo
potica no texto focalizado?
Os autores supervalorizam a perspectiva advogada por eles em detrimento de
outras abordagens, que consideram vises redutoras. A propsito disto, assim se
expressam:
Pode-se, certamente, consider-lo [o texto potico] como um sistema semitico
particular, pode-se estud-lo como a emergncia de um eu consciente-inconsciente
que se faz ao dizer (J. Cl. Chevalier), mas, nos dois casos, trata-se de uma viso
redutora. Falar do eu no texto potico resulta em situar a mensagem potica em
funo de um esclarecimento particular, que no poder iluminar seno aspectos
particulares, enfim secundrios. (1975: 54)
Ancorados na viso supra, os autores chegam a descredenciar os enfoques
dados ao texto potico pela anlise do discurso e pela lingstica da enunciao.
Vejamos o que dizem eles a este respeito no trecho abaixo, que, embora extenso, vale
ser transcrito em sua inteireza:
(...) essa definio [totalizao em funcionamento] no se aplica seno ao texto
potico, no qual a lngua no utilizada como suporte de um discurso, mas como
constituinte da mensagem. Vale dizer que o ponto de vista escolhido implica em que
(sic) o esclarecimento descritivo visa a resgatar aquilo que considerado como
essencial: a razo de ser do texto, considerado em sua realidade lingstica
particular, que consiste em formar um todo vertido sobre si mesmo. Desde a abertura,
o movimento centrpeto primordial; caso contrrio, a mensagem no liberaria seno
a carga emotiva, inanalisvel, de palavras isoladas... Pois a incidncia de recursos a
fatos que transcendem a realidade textual permite situar os dados em conjuntos mais
vastos, e o fato de conferir um papel preeminente a certos constituintes lingsticos
no altera sua funo textual. Tal unidade poderia ser justificada (isto , encontrar
uma funo) atravs de consideraes histricas, psicolgicas, sociolgicas, at
mesmo tcnicas (gneros, teoria literrias), mas no obteria, desse modo, sua
justificao textual. Diramos que ela significa hic et nunc, pelo fato de entrar em
relao com as demais unidades do conjunto analisado. Ora, essas unidades so em
nmero finito, pois o texto possui um incio e um fim. Aquilo que no texto no passa
de uma caracterstica puramente externa, torna-se, aqui, essencial (1975: 56).
Noutra passagem afirmam diretamente:
O estudo da enunciao - ato individual de utilizao da lngua - pode perfeitamente
revelar-se essencial para a compreenso da relao entre aquele que instaura a
mensagem e o mundo de que fala, mas inessencial para a tomada de conscincia do
funcionamento potico. (1975: 58)
O raciocnio dos autores parece-nos pecar por um erro de base. Eles partem da
premissa de que o texto potico assim identificado por ter como funo preeminente a
funo potica. Ora, como j dissemos, no h parmetros seguros para se determinar,
com absoluta preciso, quando a funo potica tem primazia sobre as demais num dado
texto.
Isto posto, queremos, desde j, deixar clara a posio que adotaremos no que
diz respeito relao entre funo potica e o potico-literrio. Consideramos fluidos os
critrios apresentados como definidores do que seja o potico-literrio. E a simples
assero de Delas e Filliolet de que ele um texto cuja funo preeminente a potica
diz pouco, como vimos, mesmo que, em conseqncia disto, acrescentemos a noo de
totalizao em funcionamento postulada por eles, pois, como afirmamos no captulo
anterior, no h postular, em generalidade, quando emerge inequivocamente a funo
central de um texto.
Parece-nos, enfim, que os critrios de definio do potico-literrio redundam
sempre, em ltima instncia, em julgamentos de valor, que variam conforme o
indivduo, emissor e/ou receptor, sua classe social, seu nvel intelectual, a poca em que
vive e assim por diante (cf. Spillner, 1979). Basta no esquecermos o movimento
modernista que rompe com o cnon potico do verso isomtrico rimado para
certificarmo-nos disto. O que nos interessa de perto, ento, a funo potica em sua
definio lingstica e o processo que ela envolve como instrumento para a urdidura
textual, mais particularmente na seleo lexical, escopo de nossa dissertao.
Estabelecidas as grandes linhas referentes relao entre texto potico e
funo potica, outra questo emerge para posterior aprofundamento: o vnculo entre
funo potica e estilo. Trataremos dela na seco seguintes.
3.2. Funo potica e estilo
Camara Jr. (1978) um dos autores que, na linha de Bally (1951), procurou
associar estilstica e funes da linguagem:
O sujeito falante rege-se por um sistema lingstico de representaes intelectivas que
estabelece a comunicao pela linguagem, e simultaneamente o utiliza para satisfazer
os seus impulsos de expresso.
Nestas condies, a estilstica defronta-se com trs tarefas: 1) caracterizar, de
maneira ampla, uma personalidade, partindo do estudo da linguagem; 2) isolar os
traos do sistema lingstico, que no so propriamente coletivos e concorrem para
uma como que lngua individual; 3) concatenar e interpretar os dados expressivos,
determinados pela Kundgabe e pelo Appell, que se integram nos traos da lngua e
fazem da linguagem esse conjunto complexo e amplo de enrgeia psquica.
A primeira tarefa que se objetivou h muito na crtica literria, e cria uma
disciplina em que hoje coopera a lingstica com figuras como Vossler e Leo Spitzer.
Na segunda, concentra-se especialmente Marouzeau no seu conceito e na sua
aplicao de estilstica. Com a terceira, enfim, encontramos a concepo de Charles
Bally, e com ele amplicamos o mbito da lingstica num nosaussurianismo cheio de
sugestes fecundas. (1978: 15)
De algum modo, indulge com as trs perspectivas, uma vez que a
personalidade lingstica caracteriza-se pelos traos no-coletivos do seu sistema e pela
manifestao psquica que permeia sua linguagem. Estes traos no-coletivos do
sistema, segundo o autor, acabam por desembocar no plano da emoo e da vontade
expressiva. A liberdade condicionada da lngua permite-nos a originalidade e, de certa
maneira, a inteligibilidade. Todas essas premissas culminam numa estilstica da lngua
nos moldes ballyanos. Como pe Camara Jr.:
Tanto vale dizer, por conseguinte, que a conceituao nos moldes de Bally que vai
ao cerne do assunto. A depreenso da personalidade lingstica e o estudo das
possibilidades de escolha nela repousam e dela se nutrem.
Compreende-se, por outro lado, que, assim como a lngua, no conceito saussuriano,
se define primordialmente um sistema de representao sobre ser um bem coletivo,
tambm o estilo caracteriza-se como um conjunto de expresses, independentemente
da circunstncia de ser um predicado do indivduo. (op. cit.: 16)
Em suma, para Camara Jr. as funes expressiva e conativa amparam a
proposta estilstica do discpulo genebrino de Saussure
49
, o que no aceito
pacificamente por Elia, conforme explicita o texto abaixo:
A sistematizao individual feita necessariamente sob a presso da Kundgabe e do
Appell? No poder ser polarizada simplesmente pela conjuntura da
intercomunicao em plano intelectivo? De onde a inconvenincia de identificar
lngua individual e estilo, entendido este como o aspecto afetivo da sistematizao dos
fatos da linguagem. (1978: 74)
O confinamento da estilstica s funes emotiva e conativa no consensual.
Monteiro, por exemplo, parece inclinar-se hegemonia da funo potica:
Resta, porm, uma dvida: a de saber qual das funes limita de fato os domnios da
estilstica, se a emotiva ou a potica. Na realidade, o potico sempre emotivo, mas a
recproca no verdadeira. Por isso, desde que o modelo de Karl Bhler seja
ampliado, convm centralizar o estudo estilstico na linguagem que se desvia da
norma, nos procedimentos que geram conotaes, como resultado de um trabalho de
recriao exercido na prpria linguagem. Assim, a funo potica no se acha
confinada aos textos poticos, mas a todo discurso que se afasta da linguagem
denotativa para obter efeitos expressivos. (1991: 26-7)
Ressalte-se que nem todos os estudiosos aceitariam de bom grado um desvio
em relao norma. Riffaterre (1973), por exemplo, prefere falar de estilstica em
termos de desvio no contexto
50
.
49
Mas Camara Jr. no est imune a contradies, como a verificada neste trecho, que no se concilia com
a proposta estilstica de Bally, de extrao sociolgica: A estilstica a cincia da linguagem expressiva,
independentemente do mbito particular em que a expressividade lingstica funciona. Tambm aqui, -
como Sapir assinala para o sistema representativo - se pode dizer que - Plato vai de par com um
porqueiro da Macednia, Confcio com um caador de cabeas do Assam (XLVIII-234). Apenas cabe
ressaltar que num poeta, da mesma sorte que em Plato ou Confcio no mbito da linguagem
representativa, os traos so mais tpicos e mais ntidos, pois os processos estilsticos se acham a servio
de uma psique mais rica e especialmente educada para o objetivo de exteriorizar-se. (1978: 25). Em
outro trabalho, Contribuies sobre o estilo (1975: 133-41), analisando o famoso exemplo de Machado
de Assis, no Quincas Borba, ele pegou nada, ergueu nada e cingiu nada, j fala em estilstica do desvio,
no nvel da norma. Veja-se, tambm, a sugesto de uma estilstica do desvio no contexto, a propsito da
inverso V^OD/OD^V e Adj^N/N^Adj, no poema A Cavalgada de Raimundo Correia (1975: 143-9).
Para Elia (1978: 73), o motivo desses conflitos de doutrina talvez se encontre no anseio
indefinido que paira nas pginas da tese do prof. Mattoso Camara, mas que no chegou a se objetivar. De
um lado, Camara Jr. declara que a lngua sistema organizado, enquanto o discurso um conglomerado
de fatos assistemticos (1978: 9).
50
Riffaterre (1973: 52-4) julga no-pertinente a noo de norma lingstica como parmetro para a
definio do estilstico, primeiro porque os leitores baseiam seus julgamentos (e os autores seus
A noo de estilo fundada nas funes da linguagem no , pois, questo bem
assente. A questo transcende a das funes: ele pode ser entendido conforme a
inclinao de um autor, em termos positivos de norma, em termos de desvio, em termos
de escolha ou mesmo do conjunto de probabilidades contextuais dos itens lingsticos
de um texto (cf. Enkvist et alii, 1974, cap. I)
51
. Tratar destes fatores aqui escapa aos
objetivos deste trabalho.
3.3. Texto e recepo
Para Spillner (1979: 105), a categoria estilo no pode ser abstrada nem do
texto, nem do autor nem do leitor. Formula, como princpio, o que vem no excerto
abaixo:
Pode-se tambm tentar formular uma teoria a mais ampla possvel que seria em todo
caso a mais apta e presumivelmente exigiria em sua prtica mtodos analticos de
diversos tipos. H de evitar-se aqui o risco de construir uma teoria estilstica
demasiado geral, quer dizer, em ocasies j impossveis de aplicar.
52
Elege como eixo o conhecido modelo hexdico jakobsoniano. As condies
fundamentais da comunicao literria (como o conhecimento do cdigo, a relao com
referentes, a existncia de um canal) so dadas como pressupostas. O diagrama seguinte
ilustrativo:
processos) no em uma norma ideal, mas nas concepes pessoais daquilo que aceito como norma e
segundo porque, mesmo no caso de uma norma global que se referisse a um perodo histrico curto ou a
uma categoria social, ela no serviria, pois um estado relativamente estvel da lngua o teatro de
transformaes que o estilo provavelmente reflete (p. 53). Ento, Riffaterre advoga uma norma fundada
no contexto. O contexto criaria expectativas no leitor, e estas expectativas seriam confirmadas ou no no
decurso do texto. O fato de estilo consistiria em desvio de um micro- ou macrocontexto, subvertendo-se,
desta forma, as expectativas geradas pelo prprio texto.
51
Cf. tambm, para outros enfoques sobre o estilo, Monteiro (1986: cap. I) e Spillner (1974: cap. IV).
52
Puede tambin intentarse formular una teora lo ms amplia posible que sera en todo caso de ms
capas y presumiblemente exigira en su prctica mtodos analticos de diversos tipos. Hay que evitar aqu
tambin el riesgo de construir una teora estilstica demasiado general, es decir, en ocasiones ya
imposibles de aplicar. (1979: 105-6)
sistema da
lngua
expectativa do
leitor
eleio reelaborao
autor
texto estilo leitor
situao da
produo
situao da
recepo
As possibilidades de eleio do autor so limitadas por uma srie de fatores
entre os quais a inteno do mesmo, isto sem mencionar as condies pragmticas da
situao de produo, no momento da elaborao do texto: circunstncias
autobiogrficas e conhecimentos prvios do autor, por exemplo. Outros fatores
determinantes podem ser o conhecimento de obras literrias e a reao perante as
mesmas, alm de influncias retricas, normativas e estticas, convenes lingsticas
condicionadas socialmente etc. Acerca de tudo isto, pondera Spillner:
As motivaes da eleio do autor no so reconstruveis em geral para a
investigao estilstica. Excluem-se at certo ponto aqueles textos dos quais so
conhecidas variantes estilsticas ou diversas redaes. No entanto, podem-se
reconstruir as diversas possibilidades de eleio que esto disposio do autor.
Mas, sobretudo, a eleio realizada num dado momento tem evidentemente
conseqncias no texto, quer dizer, marcas estilsticos para o leitor. Da se seguem
naturalmente conseqncias metodolgicas para a anlise estilstica.
53
Spillner confere uma grande significao categoria leitor, mesmo porque ela
menos evidente que a categoria autor. Relaciona-se com aquela toda a reelaborao do
estilo, determinada pela expectativa do leitor e tal expectativa, por seu turno, depende
53
Las motivaciones de la eleccin del autor no son reconstruibles en general para la investigacin
estilstica. Se excluyen hasta cierto grado aquellos textos de los que son conocidas variantes estilsticas o
diversas redacciones. Sin embargo, se pueden reconstruir las diversas posibilidades de eleccin que estn
a disposicin del autor. Pero, sobre todo, la eleccin realizada en un momento dado tiene evidentemente
consecuencias en el texto, es decir, seales estilsticas al lector. De ah se siguen naturalmente
consecuencias metodolgicas para el anlisis estilstico. (1979: 111)
do conhecimento prvio do leitor, do gnero literrio e da classe de texto ante o qual se
encontra. A expectativa do leitor se modifica ou se estabiliza no decurso da leitura. Este
trecho da obra de Spillner auto-explicativo:
A introduo da categoria leitor na teoria estilstica tem algumas conseqncias
importantes. Uma que o estilo de um texto pode ser distinto segundo o ponto
temporal no qual o texto recebido. Esta idia, talvez desconcertante a princpio,
todavia absolutamente convincente. Os textos literrios escritos podem ser lidos muito
depois de seu nascimento e portanto atualizados em processos de recepo
constantemente novos. Uma vez que os leitores participam ativamente nesta parte do
processo de comunicao mediante a reelaborao do estilo, introduzem consigo a
situao de recepo mutvel historicamente e as distintas expectativas. Tambm a
parte da expectativa condicionada literariamente , naturalmente, muito distinta na
recepo de um texto antigo do que na poca imediatamente posterior ao nascimento
do texto. Pode-se imaginar facilmente que o surgimento pela primeira vez da rima
Herz/Schmerz na poesia alem foi considerada como eminente novidade estilstica
pelos contemporneos do poeta. Hoje seria muito distinta a expectativa de leitura:
depois que cada leitor tivesse lido com suficiente freqncia esta rima, julgaria
estilisticamente de maneira muito distinta inclusive a mesma poesia. Literariamente,
esta circunstncia no oferece dificuldade alguma: sabe-se que um s e mesmo texto
pode ser recebido de maneira diferente em poca posterior. H de considerar-se
seriamente por que, a princpio, no deveria ser vlido o mesmo com relao ao
estilo.
54
Spillner d relevo tambm, em suas consideraes sobre a relao autor/leitor,
s noes de congruncias e contrastes, estas ltimas oriundas de Riffaterre (1973), que,
em perspectiva behaviorista, j tinha o leitor e as expectativas do mesmo em foco
quando concebeu o desvio em um texto, no pr-ditado por uma norma, mas pelo
aparecimento de contrastes, estes resultantes do surgimento inesperado de unidades
lingsticas que se opem em dado contexto: coordenaes inslitas, quebra de
54
La introducin de la categora lector en la teora estilstica tiene algunas consecuencias importantes.
Una es que el estilo de un texto puede ser distinto segn el punto temporal en el que el texto es recibido.
Esta idea tal vez desconcertante en un principio es sin embargo absolutamente convincente. Los textos
literarios escritos puedem ser ledos mucho despus de su nacimiento y por tanto actualizados en procesos
de recepcin constantemente nuevos. Puesto que los lectores participan activamente en esta parte del
proceso de comunicacin mediante la reelaboracin del estilo, introducen consigo la situacin de
recepcin cambiante histricamente y las distintas expectativas. Tambin la parte de la expectativa
condicionada literariamente es, naturalmente, muy distinta en la recepcin de un texto antiguo que en la
poca inmediatamente posterior al nacimiento del texto. Puede imaginarse fcilmente que la aparicin por
primera vez de la rima Herz/Schmerz en una poesa alemana fue considerada como eminente novedad
estilstica por los contemporneos del poeta. Hoy sera muy distinta la expectativa de lectura: despus de
que cada lector ha ledo con suficiente frecuencia esta rima, juzgara estilsticamente de manera muy
distinta incluso la misma poesa. Literariamente, esta circunstancia no plantea dificuldad alguna: se sabe
que un solo y mismo texto puede recibirse de diversa manera en poca posterior. Se ha de considerar
seriamente por qu, en princpio, no debera ser vlido esto mismo respecto al estilo. (1979: 113)
paralelismo sinttico, mudana de metro ou mesmo registro lingstico. Por vezes, o
contraste se estabelece externo a um dado contexto, como, por exemplo, uma srie de
hiprboles s quais se segue um trecho em linguagem no-hiperblica.
Mas para Spillner (1979: 118), to importantes quanto os contrastes so as
congruncias contextuais, cuja percepo pelo leitor importante na psicologia
gestltica. Exemplo de congruncia so os paralelismos: rima, aliterao, assonncias,
anforas. O autor assim interpreta as congruncias na relao autor/leitor:
A maioria destes fenmenos s so estilisticamente descritveis se se supe que so
reelaborados pelo leitor como congruncias estilsticas como conseqncia de uma
eleio do autor. Podem ser um importante meio estilstico para a estruturao de
passagens maiores do texto. Assim, por exemplo, a composio pica de Pguy, Eve,
se mantm em conexo quase exclusivamente por tais congruncias: 23 estrofes
comeam com a frase Heureux ceux qui sont morts..., e assim mesmo mais cem
estrofes comeam por Et ce ne sera pas...
55
Contrastes e congruncias podem coexistir. Longa srie de congruncias
podem converter-se em contraste. Fenmenos de congruncia podem estar em contraste
com o contexto.
Spillner tambm admite contrastes contextuais situativos estilisticamente
relevantes, tomando como ponto de partida a expectativa do leitor, o que possibilita, por
exemplo, uma oposio entre o enunciado do texto e o autor.
Os fenmenos de congruncia e contraste podem ser esquematizados desta
maneira (p. 123), com base nos seguintes traos:
55
La mayora de estos fenmenos estilsticamente slo son descriptibles si se supone que son
reelaborados por el lector como congruencias estilsticas como consecuencia de una eleccin del autor.
Pueden ser un importante medio estilstico para la estructuracin de pasajes mayores del texto. As, por
ejemplo, la composicin pica de Pguy, Eve, se mantiene en conexin casi exclusivamente por tales
congruencias: 23 estrofas comienzan con la frase Heureux ceux qui sont morts..., y asimismo ms de cien
estrofas empiezan por Et ce ne sera pas... (1979: 118)
fenomenolgico identidade, semelhana,
simetria
diferena, assimetria
de teoria da informao previsibilidade, redundncia imprevisibilidade,
informao nova
psicolgico
confirmao surpresa
esttico-potico
harmonia variao
estilstico
congruncia contraste
lingstico paralelismo, repetio etc inconcinnitas, oposio
semntica etc.
Adverte o autor quanto aos traos:
Em primeiro lugar h que se observar que os traos estilsticos so por princpio
polivalentes sobre a base de sua diferente funo no texto. Um s e mesmo tipo de
contraste pode ser valorado de maneira muito diversa segundo o contexto, a classe de
texto, a situao pragmtica, a poca literria etc. Num caso, pode produzir um efeito
lrico; em outro, um efeito irnico ou de pardia. Tampouco h que se admitir que
todos os traos estilsticos sejam do mesmo valor. Ao tentar alcanar uma sntese do
estilo de um texto ou de um autor partindo dos traos estilsticos isolados, h que se
ponderar sobre cada um dos traos estilsticos. Em caso em que se considerem
necessrios literariamente, poder-se-ia avanar deste modo em ocasies inclusive at
a definio do estilo de pocas ou de gneros literrios. Aqui haver-se-ia de incluir
tambm mtodos estatsticos.
56
56
En primer lugar hay que observar que los rasgos estilsticos son por principio polivalentes sobre la
base de su diferente funcin en el texto. Un solo y mismo tipo de contraste puede ser valorado de manera
muy diversa segn el contexto, la clase de texto, la situacin pragmtica, la poca literaria, etc. En un
caso puede producir un efecto lrico; irnico o de parodia. Tampoco hay que contar con que todos los
rasgos estilticos sean del mismo valor. Al intentar alcanzar una sntesis del estilo de un texto o de un
autor partiendo de los rasgos estilsticos, hay de ponderar cada uno de los rasgos estilsticos. En caso de
que se consideren necesarios literariamente, podra avanzarse de este modo en ocasiones incluso hacia la
definicin del estilo de pocas o de gneros literarios. Aqu habra que incluir tambin mtodos
estadsticos. (1979: 123-4)
Assim como faz Spillner ao examinar o estilo em relao complexidade do
processo da comunicao, Eco (1995), quando ensaia estabelecer os limites da
interpretao, no despreza qualquer das trs instncias envolvidas neste processo
(autor/mensagem/leitor), bem como no negligencia as relaes entre elas. Assim
que observa existir em um texto trs tipos de intenes: a intentio auctoris, a intentio
operis e a intentio lectoris e, da decorrentes, trs tipos de interpretao, ou pesquisa. Na
verdade, lembra Eco, esta tricotomia corresponde oposio clssica entre o enfoque
gerativo (que prev as regras de produo de um objeto textual indagvel
independentemente dos efeitos que provoca) e o enfoque interpretativo (que leva em
conta tambm o momento da recepo) (p. 6).
Segundo Eco, de fundamental importncia para o estabelecimento do sentido
de um texto que o analista se situe em relao s duas vias que se lhe apresentam
(gerativa ou interpretativa): ou busca-se no texto aquilo que o autor queria dizer ou
aquilo que o texto diz, independentemente das intenes do autor. Optando pela
segunda orientao, o analista se v diante de uma opo bvia:
a) buscar no texto aquilo que ele diz relativamente sua prpria coerncia
contextual e situao dos sistemas de significao em que se respalda;
b) buscar no texto aquilo que o destinatrio a encontra relativamente a seus
prprios sistemas de significao e/ou relativamente a seus prprios desejos,
pulses, arbtrios;
Quanto s questes supra, que dizem respeito s operaes que legitimam o ato
de constituio do sentido de um texto, Eco defende como ponto de partida para a
interpretao de toda e qualquer mensagem um sentido literal, isto , o sentido das
formas lexicais tal como vem arrolado em primeiro lugar no dicionrio ou, noutros
termos, o sentido que todo cidado comum indicaria como sendo atribuvel a um item
lexical caso lhe fosse perguntado o que ele significa. Para Eco, no se pode conceber
uma teoria da recepo que no observe tal restrio: quando se pretende interpretar um
texto, imprescindvel partir do sentido literal, o sentido institucionalizado. Qualquer
ato de liberdade por parte do leitor pode suceder e no preceder a aplicao dessa
restrio.
Para demonstrar a inevitabilidade desta restrio, Eco rememora uma entrevista
coletiva concedida pelo presidente norte-americano, Ronald Reagan, que disse mais ou
menos o seguinte: Dentro de poucos minutos darei ordem para bombardear a Rssia.
Em seguida, Reagan foi duramente criticado pela imprensa; isto porque a frase foi
enunciada num perodo conturbado da histria mundial. Estvamos em plena Guerra
Fria, perodo em que estas superpotncias representavam duas foras poltico-
econmicas antagnicas: os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista, enquanto a
URSS, o bloco socialista. Pois bem, Reagan logo tratou de esclarecer que se tratava de
uma brincadeira, pois ao dizer aquela frase no pretendia dizer o que ela significava.
Assim sendo, aquele que tivesse tomado a intentio auctoris e a intentio operis como
coincidentes ter-se-ia equivocado. Segundo Eco:
Reagan foi criticado, no s porque dissera o que no pretendia dizer (um presidente
dos Estados Unidos no pode dar-se ao luxo de brincar de enunciao), mas
sobretudo porque, insinuava-se, dizendo o que dissera, embora depois houvesse
negado ter tido a inteno de diz-lo, na verdade ele o dissera, ou mesmo delineara a
possiblidade de que tivesse podido diz-lo, tivesse tido a coragem de diz-lo e, por
razes performativas ligadas ao cargo, tivesse tido o poder de faz-lo. (op. cit.: 10)
Na opinio de Eco, para interpretarmos a histria de Reagan, mesmo que
estivssemos diante de uma verso narrativa dela, e para nos sentirmos autorizados a
dela extrapolar todos os sentidos possveis, cumpre-nos, antes de mais nada, registrar o
fato de que o presidente dos EUA disse - gramaticalmente falando - que tencionava
bombardear a URSS. Se no compreendssemos isso, no compreenderamos nem
mesmo que (sem tencionar faz-lo, conforme ele prprio o admitia) estivesse fazendo
uma piada (p. 11).
Esta defesa do sentido literal, como princpio de interpretncia, e a conseqente
sua dependncia de sentido em relao intentio operis no visam a excluir as
contribuies advindas dos arrazoados acerca do autor nem a colaborao do
destinatrio. Em primeiro lugar, porque a construo do objeto textual deve ser
estendida, segundo Eco, sob o signo da conjectura por parte do intrprete, a partir da
inteno da obra, que se encontra estreitamente ligada inteno do leitor. O que deve,
com efeito, nortear a interpretao a intentio operis para que assim se possa proteger a
interpretao do texto contra o seu uso.
Em segundo lugar, informaes sobre o autor so muitas vezes relevantes para
a interpretao de um texto, desde que tais informaes sejam de domnio pblico,
institucionalizadas, no-idiossincrticas. Assim que, para convalidar uma hiptese
interpretativa, o destinatrio:
(...) dever, no mnimo, adiantar conjecturas preliminares sobre o possvel remetente
e sobre o possvel perodo histrico no qual o texto foi produzido. Isso nada tem a ver
com a pesquisa sobre as intenes do remetente, mas tem, sim, a ver com uma
pesquisa sobre o quadro cultural no qual se insere a mensagem. Diante da mensagem
Senhor, protegei-me, espontnea e honestamente que nos perguntamos se ela foi
pronunciada por uma freira em orao ou por um campons que presta homenagem a
um feudatrio. (op. cit.: XVII)
Como se v, Eco postula um modelo de interpretao baseado na intentio
operis, que traa os limites dentro dos quais o leitor (intentio lectoris) deve se mover.
Neste modelo, a intentio auctoris, entendida como aquilo que o autor queria dizer, no
deve constituir parmetro para o interprete. Porm, informaes acerca do autor, do
contexto histrico-cultural em que o texto foi produzido, das relaes estabelecidas
entre o texto e os contextos histrico-culturais posteriores etc. so de fundamental
importncia para a confutao de alguns percursos de leitura e a convalidao de outros.
Para Eco, o texto passa a ser muito melhor e mais produtivamente interpretado segundo
sua intentio operis, que as inmeras intentiones lectoris precedentes, camufladas de
descobertas da intentio auctoris, haviam atenuado e obscurecido (p. 18), o que dispara
o fenmeno da semiose ilimitada.
Para concluirmos, vejamos a passagem abaixo transcrita, em que Eco (1995)
sumaria o que pensa:
Em suma, dizer que um texto potencialmente sem fim no significa que todo ato de
interpretao possa ter um final feliz. At mesmo o descontrucionista mais radical
aceita a idia de que existem interpretaes clamorosamente inaceitveis. Isso
significa que o texto interpretado impe restries a seus intrpretes. Os limites da
interpretao coincidem com os direitos do texto (o que no quer dizer que coincidam
com os direitos de seu autor). (op. cit.: XXII)
Ao falar de sentido literal, Eco no se refere ao item lexical isolado, pelo
menos esta a impresso que nos deixaram os seus livros. No Tratado Geral de
Semitica, refuta esta possibilidade quando v, no semema, a globalidade dos semas
atribuveis ao lexema, que , via de regra, plurvoco. O sentido de um dado lexema
emerge do contexto (lingstico e/ou extralingstico) em que ele ocorre, de modo que o
contexto faz, assim, atualizar-se um percurso de leitura, dentre outros possveis. Nestes
termos, o sentido literal, do qual fala Eco, parece ser prprio do nvel frasal, j que a
frase, para ele, uma categoria do discurso.
A noo de sentido literal , contudo, bastante controversa e merece uma
reflexo mais detida, pois pressupe, em parte, uma teoria do dicionrio (entendido
como parte socialmente estabilizada da enciclopdia), que no foi desenvolvida por
Eco. Trata-se de uma questo que transcende os objetivos deste trabalho, e, por isso,
deixamo-la entre as questes pendentes, no completamente resolvidas no corpo desta
dissertao.
4. ANLISE DO CORPUS
4.1. Do corpus
Estabelecidas as premissas tericas no tocante funo potica da linguagem,
mais especificamente quanto aos parmetros formais e semnticos desta funo,
encontramo-nos preparado para a ltima etapa deste trabalho, voltada para a anlise do
corpus. Convm fazer os imprescindveis comentrios sobre este.
Eliminaram-se, naturalmente, os textos em lngua estrangeira. Tambm foram
eliminados aqueles compostos em parceria. Optou-se por selecionar aqueles de
exclusiva autoria de Caetano Veloso. Em seguida, pensou-se em analisar as primeiras
letras de cada disco solo, ordenados conforme a data de lanamento. Chegou-se a um
nmero muito elevado de textos. Decidiu-se ento considerar apenas os discos pares ou
mpares. O nmero continuava alto. Aqui, imaginvamos ser possvel trabalhar com um
total de 10 letras e selecionamos as que, num primeiro momento, revelavam uma
notria proeminncia da funo potica. Feita a primeira anlise, sentimos, em virtude
de sua extenso, que o nmero ainda era elevado. Reduzimo-lo para um total de seis
textos.
Os textos escolhidos para anlise tm como caracterstica a proeminncia de
um aspecto instaurador da funo potica. Assim, escolhemos o quereres, por ser uma
composio marcada nitidamente por acoplamento. Esta , pelo menos, a primeira
percepo, o ponto de partida para ulteriores indagaes. Por exemplo, em que medida o
referido texto se pauta pelas exigncias das matrizes sintagmticas e convencionais, tais
como postuladas por Levin (1975)? Como interpretar as rupturas ou desvios existentes
em nvel matricial, em termos riffaterrianos? De que modo interpretar semanticamente a
distribuio dos lexemas na matriz sintagmtica? Existem lexemas de legibilidade
semntica mais transparente que a de outros? Neste particular, apelamos para as noes
de dicionrio e enciclopdia, de denotao e conotao, tais como estatudas por Eco
(1974, 1986, 1991c e 1991d). As perguntas retro valem tambm para duas outras
composies, meu bem meu mal e pipoca moderna.
Outros textos foram analisados. Um deles luz do sol, que nos chamou a
ateno por algumas equivalncias sintagmticas, como se dar a conhecer. Tambm
nos provocou a presena de determinados estmulos sonoros (crrego pro rio, o rio pro
mar / reza correnteza, roa a beira). Indagamo-nos em que medida estes estmulos
contriburam para a seleo e organizao lexical. Aventuramo-nos descobrir, com certo
detalhamento, at que ponto se estende a estruturao do texto, pautada em fatores de
ordem sinttica e fonolgica e at que ponto o sentido caminha pari passu com a
organizao formal, ancorada nos citados fatores.
Analisamos aqui tambm composies aliceradas mormente em fatores de
carter fonolgico, os quais so facilmente localizveis em textos como: odara, luz do
sol e chuva suor e cerveja. Procuramos examinar, luz desses condicionantes, a seleo
lexical e, naturalmente, as implicaes semnticas da mesma.
Para efeito de ordem, antes de cada texto, procedemos ao exame geral da
macro-organizao, de modo que pudssemos oferecer uma viso didtica, do geral para
o especfico, que , reiteramos, a seleo e a organizao lexicais.
Evitamos propositalmente composies em que, a nosso ver, os condicionantes
da funo potica se acham pulverizados, porque isto nos levaria a um enfoque
atomizado das letras. Porm, ressaltemos, a limitao do repertrio analisado a textos de
exclusiva autoria do compositor e gravados por ele impediu que analisssemos, por
exemplo, composies do porte de sndalo.
4.2. Textos para anlise
4.2.1. O quereres
onde queres revlver sou coqueiro
e onde queres dinheiro sou paixo
onde queres descanso sou desejo
e onde sou s desejo queres no
e onde no queres nada nada falta
e onde voas bem alta eu sou o cho
e onde pisas o cho minha alma salta
e ganha liberdade na amplido
onde queres famlia sou maluco
e onde queres romntico, burgus
onde queres leblon sou pernambuco
e onde queres eunuco, garanho
e onde queres o sim e o no, talvez
e onde vs eu no vislumbro razo
onde queres o lobo eu sou o irmo
e onde queres cowboy eu sou chins
ah! bruta flor do querer
ah! bruta flor bruta flor
onde queres o ato eu sou o esprito
e onde queres ternura eu sou teso
onde queres o livre, decasslabo
e onde buscas o anjo sou mulher
onde queres prazer sou o que di
e onde queres tortura, mansido
onde queres um lar revoluo
e onde queres bandido sou heri
eu queria querer-te e amar o amor
construir-nos dulcssima priso
e encontrar a mais justa adequao
tudo mtrica e rima e nunca dor
mas a vida real e de vis
e v s que cilada o amor me armou
eu te quero (e no queres) como sou
no te quero (e no queres) como s
ah! bruta flor do querer
ah! bruta flor bruta flor
onde queres comcio, flipper-vdeo
e onde queres romance, rocknroll
onde queres a lua eu sou o sol
onde a pura natura, o inseticdio
e onde queres mistrio eu sou a luz
onde queres um canto, o mundo inteiro
onde queres quaresma, fevereiro
e onde queres coqueiro sou obus
o quereres e o estares sempre a fim
do que em mim de mim to desigual
faz-me querer-te bem, querer-te mal
bem a ti, mal ao quereres assim
infinitivamente pessoal
e eu querendo querer-te sem ter fim
e, querendo-te, aprender o total
do querer que h e do que no h em mim.
Do ttulo
Antes de tudo, impem-se alguns comentrios acerca da escolha do ttulo da
composio. O texto trata do desencontro entre o desejo de um eu (em toda sua
imprevisibilidade) e o de um outro, identificveis topicamente (isto , espacialmente)
atravs do emprego do advrbio de lugar onde, que faz referncia a uma configurao
do ser contingente, no espao, que uma dimenso do sensvel. Na verdade, h duas
regies nticas opostas: a do espao desejado, virtual, versus a do espao real,
sinalizados pela expresso onde queres X sou Y.
Note-se que o ttulo constitudo por uma forma substantivada de segunda
pessoa do singular do infinitivo pessoal: o (tu) quereres, ligada a tu e no a voc, pois
se fosse o querer, a forma verbal substantivada seria homnima da primeira pessoa do
singular do infinitivo pessoal ou do infinitivo impessoal
57
. Quer-nos parecer que a
nfase no outro fica assim melhor explicitada.
O autor no deixa dvidas de que o ttulo fruto de uma seleo lexical
consciente, conforme faz-nos ver o trecho abaixo, em que a substantivao do infinitivo
pessoal se reitera (o quereres e o estares sempre a fim). Alm disso, o autor emprega o
advrbio infinitivamente, em lugar de um possvel infinitamente, que seria o esperado,
57
A forma querer, de infinitivo, s aparece substantivada em ah! bruta flor do querer, para permitir a
generalizao.
na expresso infinitivamente pessoal, qualificadora do quereres, ou seja, do querer do
outro, da alteridade, refratrio ao querer do eu:
o quereres e o estares sempre a fim
do que em mim de mim to desigual
faz-me querer-te bem, querer-te mal
bem a ti, mal ao quereres assim
infinitivamente pessoal (...)
Infinitivamente, portanto, de leitura ambgua, pois funciona como
intensificador (sinnimo oracional de infinitamente) e como item de metalinguagem,
pois, por via dele, o autor nos d a chave para o entendimento do texto, a partir da qual
possvel construir hipteses de interpretao. Pessoal tambm possibilita uma dupla
leitura: pode-se entender por caracterstico, idiossincrsico e como item
metalingstico, que remete ao ttulo do texto. O sintagma, em seu conjunto,
obviamente, polissmico.
Da composio em geral
O texto composto por seis oitavas (octsticos), separadas em grupos de duas
estrofes por um mesmo dstico. O padro rimtico varivel e no constitui uma s
matriz. Predominam as rimas externas (cruzadas e encadeadas) e internas.
Os versos de cada octstico so predominantemente decasslabos hericos
(com ictos na 6
a
e na 10
a
slabas), paralelismo que determina um padro rtmico
constante, ou, na terminologia de Levin (1975), uma matriz convencional
58
.
Ao lado destes paralelismos de ordem rtmica, identificam-se outros de carter
sinttico. A estrutura sintagmtica onde queres X / sou Y recorre ao longo das estrofes I,
II, III e V, originando um paralelismo na estrutura sinttica dos versos, que vem a
58
Alguns versos desviam-se desta pauta acentual. Caso se queira nela enquadr-los, basta recorrermos
aos processos de acomodao: sinalefa, dialefa e sstole. Todavia, estes desvios podem ser entendidos
como mais um reforo oposio que se erige entre as estrofes I, II, III, V e as estrofes IV e VI, uma vez
que os versos que fogem ao padro rtmico-acentual encontram-se localizados na estrofe IV e sobretudo
na VI. Para detalhes tericos acerca deste assunto, voltado para questes mtricas, consulte-se Azevedo
(1997).
constituir o que Levin denomina matriz sintagmtica. Vejamos alguns exemplos
retirados das quatro estrofes.
onde queres revlver sou coqueiro
coqueiro paixo
famlia maluco
lobo irmo
cowboy chins
ato esprito
ternura teso
comcio flipper-vdeo
H tambm algumas nuanas diferenciais no que tange ao nome ps-cpula,
que, acompanhados de determinantes, se comportam mais nitidamente como
substantivos
59
, embora tambm ostentem conotaes:
a) onde queres o lobo eu sou o irmo
a lua o sol
b) onde (queres) a pura natura o inseticdio
onde queres um canto o mundo inteiro
Em outros casos, o determinante atinge apenas um nome, do que resulta um
contraste entre um legtimo substantivo e um quase-adjetivo:
onde queres um lar revoluo
onde queres mistrio eu sou a luz
Marginalmente, o contraste pode dar-se entre adjetivos inequvocos ou entre
substantivo e adjetivo oracional:
59
Para maiores detalhes sobre as noes de substantivo e adjetivo, conferir Borba (1996: 141-75).
onde queres o (verso) livre o (verso) decasslabo
onde queres prazer sou o que di
No ltimo caso o predicativo o que di mais preciso que simplesmente a dor,
que poderia significar mera atribuio de estado, como se fora eu represento a dor. A
presena de di confere leitura agentiva: causa dor.
Os termos contrastantes assumem a funo predicativo do objeto, se ligado a
queres, ou do sujeito, se ligado a sou. No primeiro caso, podemos supor que h
apagamento do objeto direto pronominal de primeira pessoa: onde queres revlver sou
coqueiro < onde (me) queres revlver sou coqueiro. H, portanto, duas coisas a
assinalar: me, que objeto em termos de gramtica, , do ponto de vista do contedo,
objeto do desejo. Ocorre, tambm, certo paralelismo de estruturas, pois o que se
contrasta so termos predicativos, sendo um do objeto e outro, do sujeito. Quer dizer: o
predicativo funciona como elemento conjuntivo; o sujeito e o objeto, como elementos
disjuntivos
60
. Assinale-se que existe a evidente iconicidade, uma vez que a oposio
gramatical reflete oposies de ordem referencial, entre o sujeito e o objeto. Nada
impede, todavia, que se faam leituras de outra ordem: oposio entre o termo objeto
direto e o predicativo do sujeito.
Ambos os predicativos, referentes primeira pessoa, funcionam por fora das
conotaes como atributos lato sensu, violam as mximas de normalidade griceanas e
tm implicaturas. Por outro lado, o eu (nas formas pronominais eu e me) denuncia que
se est a indicar um ente com trao [+ humano] (cf. Benveniste, 1989: 81-90), ao qual
se devem atribuir leituras compatveis de cunho nominal
61
.
Cabem aqui algumas ressalvas no que concerne ruptura do padro (cf.
Riffaterre, 1973), constituindo, pois, desvios contextuais. Uma delas diz respeito
primeira estrofe em que, em vez do esquema onde queres X sou Y, se salientam estas
construes:
a) e onde voas bem alta eu sou o cho
b) e onde pisas o cho minha alma salta
e ganha liberdade na amplido
60
As noes de conjuno e disjuno so de Greimas (1973).
61
A terceira pessoa, por sua vez, que no-pessoa (cf. Benveniste, 1989: 81-90), pode articular-se, por
meio do verbo ser, a termos de diversa leitura semntica, nem sempre atributos: hoje domingo, a festa
foi ontem, isto devido ao fato de a terceira pessoa ser [ humano] (cf. Borba, 1996: 69-72).
Na primeira, o contraste persevera entre um grupo verbal, formado de verbo
nocional e eu sou Y. No entanto, o primeiro elemento no mais o verbo transitivo
querer, mas um verbo intransitivo, cujo circunstante alta
62
acompanhado do advrbio de
intensidade bem (= muito) informacionalmente importante porque auxilia no contraste
com o SN metafrico o cho. Voas alta j permitiria o contraste, mas este se acentua
com o modificador bem.
Na segunda, o contraste se d entre dois grupos verbais, constitudos de dois
verbos nocionais. O primeiro, pisar, transitivo direto que, em conjunto com o objeto o
cho, agora retomado em outra dimenso, porque alude ao outro, contrasta com um
verbo intransitivo salta, pertencente a uma orao coordenada a outra, e ganha
liberdade na amplido. Rigorosamente o contraste entre um perodo simples e um
perodo composto por coordenao. O binarismo continua, sendo o segundo plo
constitudo de duas oraes, o que prova nem sempre o binarismo ser necessariamente
implicador de plos unimembres
63
.
Na segunda estrofe, h outras rupturas como estas: onde vs eu no vislumbro
razo, em que o contraste entre o SV vs e o SV no vislumbro razo.
interessante a forma flectida vislumbro, mais sugestiva que uma possvel
forma vejo. Vislumbro significa mais ou menos entrevejo, enquanto vejo marca
percepo forte.
Na quarta estrofe desponta outro contraste: e onde buscas o anjo sou mulher.
O contraste semelhante ao da primeira estrofe, j citado e comentado. Porm,
semelhantemente a querer, buscar transitivo direto e guarda certa implicao
62
Na verdade alta fronteirio entre o advrbio e o adjetivo. Como advrbio, modifica voas e como
adjetivo se liga ao sujeito por vnculo de concordncia.
63
Isto nos evoca Mathews (1981) e tambm Tesnire (1969), principalmente o primeiro, que explicita,
em perspectiva sinttica, o binarismo em termos de dois plos, no sendo necessrio que haja um s
elemento em cada plo. Assim em Joo bom, mas ingnuo e impulsivo, h a seguinte configurao:
bom
Joo mas ingnuo
e
impulsivo
Bom se ope a ingnuo e impulsivo. Ingnuo, por sua vez, forma par com impulsivo.
metonmica
64
com querer, descontadas naturalmente certas diferenas de ordem
semntica
65
.
Passemos agora a uma anlise mais detida dos lexemas das estrofes at agora
referidas. No pretendemos obviamente esgotar as possibilidades, mas to-somente
ilustrar. Caso contrrio, a anlise nos levaria excluso de outras composies, em
virtude das dimenses que tomaria, ou a um descompasso em relao a outras anlises,
que pretendemos empreender. No que tange s conotaes, tambm para no nos
alongarmos muito, nem sempre faremos o trajeto que nos levou s mesmas.
Dos lexemas
Os termos que ocupam as posies de contraste constituem antnimos
contextuais, uns facilmente detectveis em termos de dicionrio, outros nem tanto. Estes
ltimos, porm, no deixam dvida quanto sua antonmia, devido motivao gerada
pela matriz sintagmtica, mesmo que esta oposio semntica no seja facilmente
identificvel. Muitas vezes, para a interpretao de antonmias deste ltimo tipo,
necessrio se faz recorrer a um modelo semntico enciclopdico, em que possam ser
consideradas como propriedades de um lexema interpretantes de ordem bem diversa,
conforme lio de Eco (1991d).
Alm de apresentarem simetria quanto sua distribuio na matriz
sintagmtica, os termos em contraste ocupam igualmente posies simtricas na matriz
convencional. Noutras palavras, podemos dizer que os termos em oposio semntica
distribuem-se de forma sistemtica no corpo do texto. Ocupam posies simtricas na
matriz sintagmtica e sobre eles, mais precisamente sobre a slaba tnica, que incidem
os ictos da matriz convencional. Esta confluncia de simetrias que configura o
acoplamento, definido por Levin como convergncia de equivalncias.
64
bom lembrar que quaerere, em latim, significa procurar, buscar conforme lio de Saraiva (1993) e,
por metonmia diacrnica, passou a significar querer em portugus, do mesmo modo que plicare (>
chegar), dobrar as velas, aportou em chegar e afflare (> achar), farejar, em achar.
65
Buscar verbo de ao com sujeito agente, e querer, verbo de estado, com sujeito experienciador (cf.
Borba, 1991, verbetes BUSCAR e QUERER).
As oposies semnticas, assim geradas, a partir do contexto, e fundadas nas
matrizes sintagmtica e convencional, apresentam-se em graus diferentes de
transparncia semntica. Algumas delas so explicveis em termos dicionariais,
levando-se em conta sentidos j institucionalizados. Outras no o so: para dar conta
delas, necessrio recorrer ao conhecimento de mundo, ainda no organizado em
termos dicionariais, ao conhecimento enciclopdico, que possibilita operar-se com
interpretantes de natureza diversa.
Tomemos como exemplo a oposio entre lobo e irmo. Em certos contextos, a
cultura j nos apresenta estes lexemas como antnimos e o Aurlio, por exemplo, j
arrola nestes verbetes propriedades que os antonimizam. Em sentido figurado, lobo
um homem sanguinrio, cruel, possivelmente por conta da propriedade ferocidade,
atribuvel a lobo
66
. Alis, com base nesta acepo que o lexema lobo empregado na
frase o homem o lobo do homem, j lugar-comum, em oposio ao lexema irmo em
frases do tipo: todos os homens so irmos.
O papel do contexto constitui, como vimos, fundamentalmente em operar a
reordenao das propriedades semnticas atribuveis aos lexemas, a partir do que Eco
chama narcotizao e magnificao de semas. Neste caso especfico, a acepo 3 de
lobo (cf. pargrafo acima) selecionada como central e as demais periferizam-se, ou,
nas palavras de Eco, narcotizam-se, a fim de que a oposio a irmo se atualize no
texto.
evidente que o retculo smico dos lexemas permanece atuante em toda sua
complexidade
67
. E no poderia ser diferente, uma vez que a acepo de lobo ora em tela
se constri fundada na de lobo como mamfero da ordem dos carnvoros e mais nas
informaes que a cultura si atribuir a este animal. Se quisermos representar este
processo em termos de interpretantes, teramos:
/lobo/ mamfero
carnvoro
feroz
/irmo/ filho da mesma me e/ou do mesmo pai
companheiro
cordial
66
Damos como pressuposto que os semas atribudos ao universo natural so humanizados. Por conta
disto, que raposas so espertas.
67
Na realidade, o processo semitico, por ser ilimitado, continua a jogar com os semas narcotizados.
, todavia, aproveitado apenas o sema feroz pela implicao que traz e pelo
lexema a que se ope, irmo, do qual aproveitado tambm uma leitura, cordial.
Conforme vimos, a oposio entre estes dois lexemas ganha relevo em funo
da posio que ocupam nas matrizes sintagmtica e convencional. Ao lado disso, os
ictos fundamentais da matriz convencional (decasslabos hericos) incidem
precisamente sobre as slabas tnicas dos lexemas em oposio. Temos aqui um caso
tpico de acoplamento: uma convergncia matricial geradora de um paralelismo rtmico-
sintagmtico que se estende pelas estrofes I, II, III e V e que refora o valor
antonmico dos itens lexicais assim organizados.
Coisa semelhante pode-se dizer de outros pares deste grupo. Alis, alguns deles
so facilmente interpretveis em suas antonmias, identificveis dicionarialmente.
Tomemos o par opositivo o sim e o no/talvez. Temos neste caso dois
advrbios, um de afirmao e outro de negao, que, por converso, tornam-se
substantivos. A anteposio do artigo reconfigura o complexo sememtico, eliminando
o trao categorial /+ advrbio/ e conservando o sentido afirmativo para o sim e o sentido
negativo para o no. Da o interpretar-se o sim como afirmao geral e o no como
negao geral. Um e outro relacionam-se metonimicamente com o hipernimo certeza,
ao qual se ope o sema dvida, atualizado atravs do advrbio talvez.
Todavia, h pares que no apresentam uma tal transparncia semntica. o
caso de eunuco/garanho, cuja oposio antonmica se d por etapas. Primeiro, tanto
eunuco quanto garanho relacionam-se metonimicamente com rgo sexual.
caracterstica do eunuco ser marcado negativamente quanto a este sema, ou seja, o
eunuco definido dicionarialmente a partir da ausncia da genitlia, donde decorre o
seu no-uso.
A propriedade no-uso da genitlia para eunuco encontra-se, com efeito, j
dicionarizada. Aurlio, no verbete homnimo, reconhece o sentido figurado de homem
impotente, fraco, ao lado do sentido denotativo homem castrado que, no Oriente, era
guarda dos harns.
pares opositivos semas em possvel oposio
o sim e o no/talvez certeza/dvida
canto/mundo inteiro parte/todo
Garanho, por sua vez, significa cavalo destinado reproduo. Da a
relevncia que se atribui ao sema rgo sexual, j que o garanho se destaca dos
demais cavalos por se tratar justamente de um reprodutor. Assim que ao termo
tambm vem associar-se o sentido figurado de homem femeeiro, isto , fortemente
marcado pelo desejo sexual.
O eunuco marcado pela castrao, da o ser ele destinado a guardar o harm,
e o garanho, que tem como funo precpua a reproduo, marcado pela potncia.
Nestes termos, os lexemas se opem de forma a fazer o destinatrio receb-los como
antnimos, dicionarialmente respaldados.
Aplicando a mesma representao empregada para a oposio lobo/irmo,
obteramos o seguinte esquema:
/eunuco/ /garanho/
castrado diz-se de cavalo especial destinado
reproduo; muito potente
diz-se do homem impossibilitado de usar o
rgo genital para cpula
diz-se do homem possibilitado para a
cpula, em excesso
Quanto oposio lua/sol, pode-se dizer que tambm ela j se encontra
dicionarizada.
Alm do sentido denotativo de lua, satlite da Terra, e de sol, estrela que o
centro de um sistema planetrio, significados que se opem porque os seus referentes
se sucedem na linha do tempo: um aparece durante o dia e o outro torna-se ntido apenas
durante a noite. Acrescente-se que o Aurlio reconhece um sentido figurado para sol:
alegria, felicidade (a filha um sol em sua vida). Isto se d provavelmente por conta
da associao destes estados anmicos com a luz. Tambm para lua reconhece-se, no
Aurlio, um sentido figurado: mau humor, neurastenia, significado este j
institucionalizado como deixam transparecer expresses como estar de lua. No
preciso ir muito longe no labirinto semitico para detectar os possveis traos
responsveis pela oposio semntica. Na verdade, a cultura prdiga em exemplos em
que estes lexemas so apresentados antonimicamente. Seno vejamos:
/sol/ centro /lua/ no-centro
diurno noturno
luminoso no-luminoso
masculino feminino
alegria tristeza
A oposio livre/decasslabo, alm de constituir uma referncia interna, pois
que as estrofes so vazadas em decasslabos hericos, nos remete ao contexto da
esticologia, no por conta do lexema livre, mas por causa de decasslabo, o verso no-
livre por excelncia, de extrao clssica, em oposio ao qual se encontra livre
68
. Neste
contexto que se pode falar de antonmia entre estes dois lexemas. Livre conota sem
regras, heterodoxo, no-clssico e decasslabo, o contrrio.
Para reconhec-los como antnimos, faz-se referncia ao contexto da
versificao (verso livre/decasslabo) ou opera-se com hipteses reguladoras que
recuperem propriedades dos lexemas em jogo que se oponham. A livre, por exemplo,
vem ligar-se o interpretante no-coercitividade, que no se pode associar a
decasslabo, dado o rigor formal prprio dos versos metrificados, com acentuao fixa.
Neste caso, ter-se-ia a oposio no-coercitividade/coercitividade correspondendo
oposio livre/decasslabo.
Como se v, algumas das antonmias do texto so facilmente recuperveis, na
medida em que, ao selecionar os itens lexicais para comporem o par, o autor parece
recorrer a propriedades enciclopdicas estveis, dicionarialmente institucionalizadas,
individuveis sem que se tenha que percorrer muito do espao semitico,
enciclopedicamente labirntico.
A oposio ato/esprito se fundamenta na acepo de esprito como potncia
ou inteno, portanto o que precede a realizao. O lexema esprito assume, na nossa
cultura, tal acepo com relativa freqncia, pelo menos o que deixam transparecer
frases feitas como as que seguem: o esprito da lei, voc no entendeu o esprito da
coisa.
68
O sema extrao clssica que justifica, por exemplo, no ter sido usado octosslabo, que justificaria
a mtrica. Ademais, decasslabo remete indiretamente ao texto, que decassilbico.
H, todavia, exemplos bem mais problemticos. Por exemplo: no primeiro
verso da primeira estrofe, temos a oposio revlver/coqueiro, que reiterada no ltimo
verso da quinta estrofe. Temos, neste caso, dois versos que se encontram em posies
extremas relativamente s estrofes cujos versos seguem o padro sintagmtico
predominante no texto. Se comparados estes dois versos, v-se que eles iconizam a
prpria falta de harmonia entre os quereres, pois os itens lexicais a envolvidos
encontram-se em quiasmo
69
:
onde queres revlver sou coqueiro (...)
onde queres coqueiro sou obus
evidente que a antonmia entre revlver e coqueiro e entre coqueiro e obus
no fundamentalmente dicionarial. O contexto que a produz. Do ponto de vista
funcional, isto , o para que serve, revlver e obus so organizveis num esquema
arbreo (rvore de Porfrio) sob o hipernimo armamento blico, ou seja, pertencem
ao campo semntico da guerra. Coqueiro, por seu turno, prende-se ao campo semntico
das rvores tropicais e associa-se, na nossa cultura, com roteiros descritivos (frames)
de terras paradisacas.
Esta mesma oposio poderia ser encarada sob o ponto de vista do agente:
cultural para armamento de guerra e natural para coqueiro. Estas duas possibilidades
de interpretao no so, de maneira alguma, excludentes; ao contrrio, somam-se no
salientar a relao antonmica dos itens lexicais em exame.
Outro par digno de nota quaresma/fevereiro. O interpretante carnaval para
fevereiro, pois em fevereiro que freqentemente ocorre o carnaval, magnificado a
partir de sua contigidade contextual com quaresma, assim definida no Aurlio, em
sentido religioso: os 40 dias que vo da quarta-feira de cinzas at domingo da Pscoa,
destinados, pelos catlicos e ortodoxos, penitncia. A oposio, dessa forma, parece
erigir-se com base na propriedade sagrado, dicionarialmente atribuda a quaresma, e
na propriedade profano, atribuvel, a partir do nosso conhecimento de mundo (cultura
brasileira), a carnaval e, na seqncia, a fevereiro.
69
Figura comum no texto e que, a exemplo da passagem transcrita, tem, na reiterao do primeiro
elemento, no uma repetio do mesmo, mas uma retomada dele a partir de um outro item lexical
pertencente ao mesmo campo semntico.
Se assim no for interpretada, a oposio descaracteriza-se, uma vez que tanto
a quarta-feira de cinzas, marco inicial da quaresma, quanto boa parte da quaresma
podem coincidir com o ms de fevereiro. A referncia quarta-feira de cinzas como
limtrofe entre dois perodos, carnaval e quaresma, aponta na direo em que a oposio
quaresma/fevereiro deve ser interpretada. Neste caso, o sema carnaval, como
interpretante de fevereiro, selecionado contextualmente a partir das propriedades:
religioso, quarta-feira de cinzas, Pscoa, catlicos, ortodoxos e penitncias, atribuveis
dicionarialmente a quaresma.
O problema do qual parte o intrprete : o que h de profano em fevereiro
para que ele se constitua antnimo de quaresma? A resposta vem num timo, pelo
menos para os que conhecem nosso calendrio e seus dias festivos: carnaval.
O par pura natura/inseticdio, por sua vez, constitui igualmente uma relao
opositiva interessante em que tambm se salientam as oposies entre natureza e
cultura. O lexema natura, de extrao latina e mais freqentemente empregado em
contextos poticos, alm da rima com pura que refora o seu timo
70
, apresenta, se
comparado com o termo equivalente natureza, a vantagem de contrapor:
a) o sema potico, decorrente do contexto em que natura si ocorrer, ao
sema no-potico, prprio dos contextos em que inseticdio comumente
empregado;
b) o sema vida, atribuvel a natura (do latim nascor, nascer), e o sema
morte, atribuvel a inseticdio;
c) e, como j dissemos, o sema natureza ao sema cultura e da: pureza e
impureza etc.
Os pares famlia/maluco e lar/revoluo podem ser analisados em sua
antonmia contextual sob um mesmo prisma.
Famlia, por exemplo, segundo o Aurlio, tem como primeira acepo:
pessoas aparentadas, que moram, em geral, na mesma casa, particularmente o pai, a
me e os filhos. A esta acepo vm ligar-se propriedades conotativas como ordem,
70
O adjetivo pura, em rima interna com natura, refora a primitividade do contedo semntico do
substantivo. Trata-se da natureza, anterior a qualquer interveno da cultura, anterioridade esta que se
reflete na seleo da forma alatinada natura, devido ao fato de constituir arcasmo, inserindo-se, pois,
entre palavras evocativas, segundo Bally (1951).
hierarquia, estabilidade, relativas ao modo como se organizam as famlias em nossa
sociedade. Saliente-se que so conotaes deste tipo que esto por trs de expresses
como esta, inclusive j dicionarizada: ser famlia. E mais: tais conotaes so ativadas
por tratar-se, neste caso, de um adjetivo converso, como o caso de famlia,
originalmente um substantivo. o processo sinttico-semntico da converso que opera
a reordenao smica, dando salincia aos semas conotativos.
Pois bem, estas propriedades so aladas condio de centrais por intermdio
do contraste contextual que famlia estabelece com maluco, alienado mental (cf.
Aurlio), e, por isso, avesso ordem. Neste contexto, magnificam-se semas do tipo:
desordem, no-hierarquia, instabilidade e, se viajarmos mais pelo tnel semitico,
at revoluo ser indicado como um interpretante de maluco.
Por isso, pode-se dizer que o par lar/revoluo um corolrio das duas
oposies anteriores. Lar, por tratar-se de um ambiente de acolhimento, apresenta como
interpretantes os semas tranqilidade, sossego, e ainda os de ordem, estabilidade,
aos quais a cultura associa o sema conservadorismo, que, por sua vez, ope-se a
revoluo.
Os pares romntico/burgus, ato/esprito e ternura/teso podem ser reunidos
sob uma oposio mais geral: esprito / matria. Esta isotopia evidencia-se quando
recorremos ao dicionrio em busca dos significados, j institucionalizados, de alguns
destes termos (cf. Aurlio):
a) burgus = indivduo que se estabeleceu nos burgos e posteriormente nas
cidades medievais em que estes se transformaram, e que se caracterizava
pelas atividades lucrativas e por no exercer trabalho manual ou artesanal.
Desta acepo, sobretudo em virtude da atividade que exercia o burgus,
decorre o significado depreciativo, tambm j dicionarizado, indivduo sem
elevao ou largueza de idias, apegado a valores materiais, a hbitos e
tradies convencionais;
b) romntico = relativo a romance (= descrio longa de aes e sentimentos
de personagens fictcios), donde decorre o significado sonhador,
devaneador, fantasioso, relativos a atividades do esprito.
Um esquema como o que segue serve para representar graficamente esta cadeia
de oposies:
/burgus/ /romntico/
que lida com o
lucro
que lida com o
sentimento
que busca
valores
materiais
que busca valores
no-materiais
O par anjo/mulher parece aproximar-se mais deste ltimo, se se perspectiva em
anjo sua propriedade ser assexuado, em oposio a mulher, fortemente marcada pelo
sexo em nossa cultura, smbolo de erotismo e sensualidade.
Outro dado que nos faz aproximar estes dois pares o fato de eles
encontrarem-se em posies invertidas nos seus respectivos versos, a exemplo dos pares
em oposio revlver/coqueiro e coqueiro/obus (j analisados), recurso este, bom que
se enfatize, bastante comum no texto em anlise.
Outras oposies semnticas entre lexemas so mais difceis de estabelecer.
Algumas se caracterizam por traos muito gerais e de natureza diversa, redundando s
vezes em conotaes puramente axiolgicas.
Como interpretar, por exemplo, a oposio leblon/pernambuco?
Se se parte de leblon como designativo de um bairro nobre do Rio de Janeiro,
podemos entender a oposio como que fundada nesta outra: Rio de
Janeiro/Pernambuco. Mesmo assim, as propriedades que os antonimizam no so
facilmente detectveis, ou o so atravs de propriedades muitos gerais, constituindo
apenas hipteses plausveis.
Neste caso, a oposio semntica poderia ser explicitada a partir da localizao
geogrfica destes estados no Pas. O Rio de Janeiro um estado da regio centro-sul.
Pernambuco se acha no nordeste brasileiro. O Rio de Janeiro, como capital do Estado e
ex-capital do Pas, uma cidade cosmopolita, universal. Pernambuco um Estado
fortemente marcado pela cultura nordestina. , se comparado com o Rio de Janeiro,
provinciano. Possui as cores locais da nordestinidade, da regionalidade.
Seguindo esta linha de raciocnio, poderamos construir o seguinte esquema
representativo gerador desta antonmia contextual:
/leblon/ /pernambuco/
Rio de Janeiro (Pernambuco)
cosmopolitismo provincianismo
universalidade regionalidade
No entanto, dever nosso salientar que esta apenas uma das possibilidades de
interpretao. Como j dissemos, alguns dos pares aqui analisados caracterizam-se por
permitir leituras diversas, em virtude da inexistncia de semas dicionariais em oposio,
imediatamente atribuveis aos antnimos contextuais.
Ao par cowboy/chins pode-se associar uma srie de propriedades que
justifiquem a oposio. Temos, em primeiro lugar, que considerar o fato de cowboy ser
um tipo caracterstico, habitante do oeste americano durante o perodo de sua
colonizao, que guardava gado. Chins, por sua vez, o natural ou habitante da China.
Em seguida, podemos pensar no chins tpico, em oposio ao cowboy, em
seus valores, suas crenas, hbitos alimentares, vesturio etc. Neste momento, j se tem
explicitada a oposio. Mas, se se quiser semas mais generalizantes para a oposio,
pode-se tomar chins por oriente, o que de fato ocorre no imaginrio ocidental, e
cowboy por ocidente. No entanto, trata-se de mais um caso em que no se pode
identificar, com certa preciso, quais propriedades motivaram a seleo lexical.
Falemos agora da oposio romance/rocknroll. A rocknroll o Aurlio
atribui a seguinte acepo: dana muito movimentada, de origem norte-americana, que
surgiu na dcada de 50, tendo por base a msica de jazz, em compasso quaternrio.
Diante deste significado, perguntamo-nos pelas propriedades geradoras da
oposio semntica e, mais uma vez, no as encontramos com presteza, pois romance
gnero literrio ou idlio. Podemos sempre dizer que romance sugere suavidade,
leveza de gestos, contrapondo-se assim a rocknroll, como dana movimentada. Ou
ainda tomarmos a oposio como equivalente a esta outra: literatura/dana, j que
romance um gnero literrio e rocknroll um tipo de dana e, portanto, artes distintas
que simbolizam a discrepncia entre o querer do outro e o do eu, to marcante como a
que existe entre literatura e dana (arte do movimento no tempo/arte do movimento no
espao). Mas, neste caso, estamos lidando com propriedades que a cultura no
reconhece como imediatamente ligadas a romance. Nas palavras de Eco (1991d), este
caso permite (ou impe) uma viagem mais longa no labirinto semitico para que a
antonmia entre estes dois lexemas se explicite em termos de propriedades semnticas.
J o par flipper-vdeo no consta no Aurlio. Encontramos, todavia, o primeiro
termo do composto na segunda edio do The Random Dictionary of the English
Language, que o define como um agentivo derivado de flip (um tipo de jogo de cartas).
O composto designaria, ento, o jogo em vdeo ou o vdeo jogador. Comcio, por seu
turno, significa, segundo o Aurlio, reunio pblica de cidados para tratar de assuntos
de interesse geral, ou em que um candidato a cargo eletivo divulga seu programa.
Como podemos ver, no h no feixe de propriedades dicionariais atribuveis
aos lexemas em antonmia semas que justifiquem a oposio semntica. Neste caso, o
decodificador da mensagem deve contribuir, pondo em jogo o seu conhecimento de
mundo, para elucidar a oposio. E somente uma representao enciclopdica dos
lexemas em questo pode ser adequada neste caso.
Se tomarmos, por exemplo, as propriedades formais de comcio, reunio de
cidados e, a partir delas, buscarmos estabelecer a antonmia com flipper-vdeo,
poderamos apontar como base da oposio o fato de a realizao de um comcio
pressupor a interao entre homens, cidados, para fins polticos, o que pressupe
engajamento, politizao, ao contrrio do que ocorre com o flipper-vdeo, em cujo
frame temos a relao entre o homem e a mquina para a distrao, o ldico. As
conotaes axiolgicas em torno dos jogos com mquinas so negativas, indiciadoras de
alienao.
Mas isto ainda diz pouco da oposio semntica que se estabelece entre estes
itens lexicais. Sabemos, por exemplo, que, por motivao semntica fundada na matriz
rtmico-sintagmtica, temos aqui um caso certo de antonmia. No entanto, detectar as
propriedades que se atualizam em virtude desta oposio no tarefa fcil.
Encontramo-nos, neste caso, mais uma vez instados a percorrer o espao
semitico que nos conduz de um interpretante a outro, num processo ininterrupto, que
nos oferece possibilidades interpretativas, sem que aportemos de forma conclusiva em
nenhuma.
Algumas das oposies semnticas no dependem do contexto, funcionando
este apenas como operador de uma reordenao smica mais simples, narcotizando e
magnificando propriedades. Outras, cuja oposio bastante complexa, so dependentes
do contexto e permanecem numa espcie de nebulosa semntica, em que as
propriedades em oposio so fluidas, identificveis de forma ainda imprecisa.
Estrofes divergentes
Duas estrofes desviam-se do macrocontexto at o momento referido: a IV e a
VI
71
. Queremos crer que isto se deve ao fato de elas tematizarem a desarmonia dos
quereres de outras formas; na IV, o querer potencial do eu , em contraste com a efetiva
apresentao deste mesmo querer; na VI, a aluso ao efetivo querer do outro, em
contraste com o querer do eu. A VI, bem como a IV estrofe, apresenta contrastes, mas
diferentes e menos padronizveis.
A complexificao da forma, por meio de estruturas sintagmticas diversas
daquela predominante nas estrofes I, II, III e V, compensa a transparncia semntica dos
lexemas. Desta forma, as estrofes IV e VI se opem s demais: primeiro, porque seus
versos no reproduzem o esquema sinttico matricial das outras estrofes; segundo,
porque, em conseqncia disto, no se configuram os acoplamentos, resultantes da
localizao dos termos contrrios em funo das matrizes sintagmtica e convencional,
verificvel nas outras estrofes; e, terceiro, como j dissemos, porque a desarmonia dos
quereres tematizada mais diretamente, sem o recurso s antonmias constantes das
outras estrofes.
Outras particularidades nos chamam a ateno nestas estrofes divergentes. O
verbo querer empregado em mais de uma acepo. Eu queria (v. 1, est. IV) equivale a
eu tinha vontade de; querer-te equivale a gostar de ti, ter afeio por ti, cujo
71
Schmti (1989: 249) chama a ateno para o fato de que Caetano Veloso constri um poema que, por
sua natureza antittica e seu carter de cuidadosa elaborao potica, remete-nos aos textos do perodo
barroco, lembrando a rica poesia de Gregrio de Matos, de Lus de Cames, de Francisco S de Miranda
(e de outros). Quanto ao texto cantado, cumpre ressaltar que o ritmo corresponde ao martelo agalopado
da poesia popular nordestina (cf. Batista, 1982: 36).
sentido duplamente reforado pela contigidade com amar, em posio comparvel
com querer, pois ambos constituem objetos diretos de queria, e pela presena de amor,
complemento de amar, e cognato deste verbo.
Alm desta polissemia do verbo, de notar-se que o primeiro verso da estrofe
IV, por exemplo, inicia-se com o verbo querer, de carter modal, flexionado na primeira
pessoa do singular do imperfeito do indicativo, com valor optativo, equivalendo ao
futuro do pretrito
72
. Estabelece-se, aqui, uma oposio modal entre esta estrofe e as
anteriores. O tempo verbal predominante nos trs primeiros octsticos o presente do
indicativo, ao passo que, neste octstico, o primeiro verso comea com o verbo querer
no imperfeito do indicativo. Temos, neste caso, uma oposio modal entre o presente do
indicativo, como expresso da realidade, e o pretrito imperfeito do indicativo, como
expresso da irrealidade, da impossibilidade de o sujeito da enunciao poder orientar o
seu desejo.
Acrescente-se a isto que os complementos do verbo querer (no imperfeito) so
verbos transitivos diretos, modalizados pelo citado verbo. de notar-se que os objetos
pronominais esto em nclise, o que os coloca em paralelo entre si e com os nomes (ou
SNs) que a eles se relacionam sinttica e semanticamente:
Eu queria querer- te (X)
(e) amar o amor (Y)
construir- nos dulcssima priso (W)
(e) encontrar a mais justa adequao (Z)
Observe-se a seqncia: os sintagmas oracionais (X) e (Y) se coordenam
sindeticamente, adjungindo-se assindeticamente a (W), sendo este sntese semntica
de (X) e (Y), uma hipottica conseqncia do que seria, dadas as premissas (X) e (Y).
(Z), coordenada sindeticamente a (W), tanto desenvolve semanticamente esta ltima
como tambm, em bloco com (W), arrematam (X) e (Y), no plano hipottico
obviamente.
72
Camara Jr. (1984) refere-se ao uso do pretrito imperfeito em vez do futuro do pretrito como uma
decorrncia da neutralizao entre futuro e presente, com o uso do presente para os fatos futuros. Ainda
segundo o lingista patrcio, a correspondncia entre futuro do pretrito e imperfeito do indicativo se
estende ao emprego atemporal dos tempos verbais para assinalar modo.
Vejam-se agora os complementos:
a) te: objeto indireto (objeto do desejo);
b) o amor (que liga o eu ao tu);
c) nos (objeto indireto, beneficirio da ao, relativo ao eu e ao tu);
d) dulcssima priso (o que une o eu e o tu);
e) a mais justa adequao (o que harmoniza o eu e o tu).
Podemos, para fins esquemticos, pr de um lado os objetos pronominais,
leitmotiv do texto e dos desencontros narrados, e os SNs, que guardam certa conexo
parafrstica, sem perdermos de vista a teia semntica que congloba todos os
complementos
73
.
Destaque-se que o segundo quarteto principia pela conjuno adversativa mas,
que bem evidencia o contraste entre as duas partes deste octstico. H um retorno s
formas do presente do indicativo, como expresso da realidade, fato que recebe reforo
atravs do lexema real, presente no quinto verso.
Os quatro versos finais do octstico so emblemticos no que diz respeito ao
desencontro, desarmonia entre o querer do outro e o ser do eu. O substantivo vida
duplamente modificado: primeiro, por intermdio do adjetivo simples real e, depois,
pela locuo adjetiva de vis. Ambos os modificadores predicativos esto coordenados
pela conjuno e, o que os enquadra no que Levin (1975) denomina posies
73
Isto sem falar na nclise pronominal que, em contraste com a prclise, conota, em termos de registro,
um afastamento do emissor em relao ao destinatrio (cf. Camara Jr., 1978: 68-9).
Observem-se tambm certos detalhes atinentes aos lexemas nominais. O amor, que difere do
verbo do qual complemento apenas pela oposio de timbre fechado/aberto, relaciona-se
semanticamente com ele, no apenas porque so palavras de uma mesma famlia. Note-se tambm a
semelhana fnica entre armou e amou, respectivamente sujeito e ncleo do predicativo, a qual refora o
elo sinttico e semntico entre um e outro.
Outros detalhes tambm podem ser mencionados: priso poder-se-iam ligar muitas marcas
negativas, como o caso em nossa cultura. No entanto, este lexema positivamente marcado por efeito
da adjuno do adjetivo no grau superlativo absoluto dulcssima, que opera a narcotizao dos semas de
valor axiolgico negativo e faz sobressairem-se os semas de valorao positiva, calcados na significao
denotativa do verbo prender (= tornar unido, ligar, atar, unir). Ocorre como que uma transferncia de
traos no eixo sintagmtico de que nos fala Weinreich (1977: 217-20).
Outra construo no superlativo relativo de superioridade e, por isso, paritria parcialmente com
dulcssima priso, a que se segue: a mais justa adequao, a que se ape tudo mtrica e rima, que
funciona metalingisticamente, pois fala sub-repticiamente do texto, que tem certa ordenao, conforme
assinalamos.
comparveis, pois um e outro modificam o sujeito. Segundo as orientaes de Levin,
pode-se dizer que o adjetivo simples e o locucional reclamam-se semanticamente na
medida em que real ser de vis. Noutros termos, a locuo adjetiva torna-se um
sinnimo contextual do adjetivo.
No interior deste segundo quarteto, mais emblemticos ainda so os dois versos
finais: o primeiro constitui uma frase afirmativa e o segundo uma frase negativa. Cada
uma delas composta por trs oraes: a principal, com o sujeito de primeira pessoa e o
objeto expresso por um pronome de segunda pessoa; a subordinada em que o sujeito
de primeira pessoa na primeira frase e de segunda na segunda frase; e a intercalada,
iguais nos dois versos.
Nesta estrutura cumpre salientar dois aspectos. O primeiro diz respeito
relao entre a orao principal afirmativa e a subordinada com o sujeito de primeira
pessoa e, por outro lado, relao entre a orao principal negativa e a subordinada com
sujeito de segunda pessoa.
Em ambas, o outro negado de maneiras diversas. Em termos esquemticos,
temos a representao abaixo, sendo A um smbolo para indicar actante (A
3
predicativo do objeto):
A
1
A
2
V A
3
Eu te quero como sou
(Eu) te quero como s
no
Na primeira, afirma-se um querer sobre um tu, semelhana do eu, e na
segunda nega-se o querer sobre o tu como um tu efetivo, ontolgico. O escopo da
negao no incide apenas sobre o te, mas tambm sobre a subordinada predicativa.
A negao do outro, no primeiro caso, inferida e, no segundo caso, explicitada
no tem o mesmo estatuto em ambos os excertos, pois se poderia hipoteticamente dizer,
por exemplo, eu te quero como sou e tambm como s, sinalizando uma comunho
perfeita entre sujeito e objeto do desejo, como alis deixam entender as duas estrofes
finais:
e, querendo-te, aprender o total
do que h e do que no h em mim.
O segundo aspecto diz respeito s oraes intercaladas. Como se pode ver, os
sujeitos destas oraes contrastam com os das oraes principais: o sujeito de primeira
pessoa nas oraes principais e de segunda nas intercaladas. Junte-se a isto o fato de as
oraes intercaladas interromperem o fluxo informacional, entre a orao principal e a
subordinada, o que salienta ainda mais o contraste entre o querer do eu e o do tu.
A outra estrofe dissonante quanto ao padro sinttico geral a de nmero VI.
Assim como ocorre na estrofe IV, o discurso deixa de ser apenas constatativo
do desencontro entre o querer do outro e o ser do eu e passa a tematizar tanto o querer
do outro quanto o querer do eu.
Esta estrofe remete a ateno do leitor para o ttulo da composio,
desenvolvendo-o. Note-se que esta remisso est explicitada no sujeito do verbo fazer,
que composto por dois infinitivos substantivados: o quereres, ttulo da composio, e
o estares (sempre a fim). Um e outro encontram-se em posies comparveis, por
constiturem os sujeitos de um mesmo verbo, e equivalem-se semanticamente. Alm
disso, os complementos so coincidentes, fato que refora a sinonmia entre eles.
Observe-se tambm as seguintes paridades, para no nos delongarmos:
a) em mim (SP) / de mim (SP)
b) querer-te bem / querer-te mal (paradoxo menor que o citado no item c
abaixo, porque os objetos diretos antnimos (bem e mal) se encontram
separados em estruturas coordenadas, encabeada cada uma por querer-te);
c) querer-te mal / bem a ti (paradoxo, como se houvesse uma concretizao
visual da conjugao de opostos, dada a inexistncia de um lexema que
veiculasse a seqncia bem mal)
Pode-se dizer que a configurao lingstica deste ltimo octstico reflete o
jogo dos desejos, conflitantes, fluindo entre dois sujeitos, um eu e um outro. O verbo
querer tem um sujeito de segunda pessoa e um complemento expresso pelo pronome de
primeira pessoa ou expresso por algo a ela relacionado (o que em mim de mim to
desigual). A segunda ocorrncia deste verbo na estrofe (v. 3) tem um sujeito de primeira
pessoa e um objeto de segunda. Como se v, o eu e o tu se alternam na funo de sujeito
e objeto e se excluem, semntica e gramaticalmente falando, pois onde est o eu ali no
se encontra o tu e vice-versa. Assim, no h um eu estanque, no-correspondente ao
desejo do outro. H um desencontro entre o desejo do outro e o ser do eu, nunca
coincidentes, pois onde (quando) o tu quer que o eu seja algo, o eu no ; por outro
lado, o eu onde (quando) o tu no quer que ele seja.
4.2.2. Meu bem meu mal
voc meu caminho
meu vinho, meu vcio
desde o incio estava voc
meu blsamo benigno
meu signo, meu guru
porto seguro onde eu vou ter
meu mar e minha me
meu medo e meu champanhe
viso do espao sideral
onde o que eu sou se afoga
meu fumo e minha ioga
voc minha droga
paixo e carnaval
meu zen, meu bem, meu mal
Do ttulo
O ttulo j comea por sinalizar o leitmotiv da composio, que a
perspectivao do outro em termos de bem e de mal, cujos delineamentos em pormenor
se encontram no corpo do texto
74
. O ttulo por si s pe em foco uma angulao dual
do outro, em termos da antinomia bsica. O texto dimensiona e concretiza, particulariza,
historiciza a polaridade estabelecida, ainda muito abstrata.
As palavras-chave, bem mal, so modificadas com base no pronome pessoal
adjetivo meu, que as subjetiviza. As noes por elas veiculadas despojam-se de
universalidade, ou mesmo de genericidade, por fora do carter singularizante do
pronome. Alis, esta a tnica que h de perseverar ao longo do texto: a perspectivao
do outro, a partir do ngulo de um eu, que se projeta no enunciado por marcas
gramaticais apropriadas.
A oposio bsica meu bem/meu mal, sem marcas grficas de vrgula que
assinalem a pausa na dicotomia, talvez porque a oposio seja apenas um jogo de
superfcie, uma aparncia. Observe-se o verso final:
meu zen, meu bem, meu mal
74
Schmti (1989: 133-6), investigando a intertextualidade em Caetano Veloso, mostra que a oposio do
par meu bem / meu mal recorrente em sua obra. Citem-se como exemplos as canes Ela e eu e Vaca
profana.
e constate-se que, a despeito da presena do sinal de pontuao, a unidade sugerida no
se desfaz em virtude da presena do item lexical zen.
O citado item no consta do Aurlio em significado compatvel com aquele
presente no texto. Zen uma forma de budismo que se difundiu, sobretudo no Japo, a
partir do sculo VI (...), caracterizado por valorizar a contemplao intuitiva (em
oposio meditao racional abstrata) (...). Deste significado computvel, para a
decodificao do texto, o sema contemplao intuitiva. O adjetivo cognato de
intuio, este significando, segundo o Aurlio:
contemplao pela qual se atinge em toda sua plenitude uma verdade de
ordem diversa daquelas que se atingem por meio da intuio ou do
conhecimento discursivo ou analtico;
apreenso direta, imediata e atual de um objeto na sua realidade individual.
O que separado na linguagem por fora de sua natureza discursiva e de sua
natureza especular (j que reflete o pensamento e este, por sua vez, o real)
compensado na prpria linguagem. No texto em questo: a ausncia de pausa no ttulo e
a presena do item lexical zen.
Do texto e dos lexemas
O texto pode ser marcado formalmente desta maneira:
1) Apresentao do tema bsico, que envolve as perspectivaes polares do
outro em termos de bem e mal, ainda muito abstrato:
voc meu caminho
meu vinho, meu vcio
Os SNs so de natureza predicativa e constam de um pronome pessoal adjetivo
(ou pronome possessivo, na tradio gramatical), acompanhados de substantivo. O
pronome matiza os contedos nominais em termos de subjetividade, conforme j
afirmamos.
No primeiro verso, meu caminho, se ope tanto a meu vinho quanto a meu
vcio. Explicamos.
Caminho tem a leitura de orientao, direo, rumo, destino e vinho, que rima
com este lexema, j tem consagrada a leitura de coisa que embriaga, que inebria,
conforme assente no prprio Aurlio. Sugere-se, pois, uma leitura adicional de
desorientao, falta de rumo, no-caminho. Note-se que vinho tem semelhana fnica
parcial com vcio, com base na slaba tnica /vi/, e vcio tem incorporado ao seu
significado conotaes axiolgicas negativas, consoante o mesmo Aurlio, conotaes
estas ancoradas na noo de mal, que o texto poda e matiza em sua singularidade. Vcio
rima com incio, lexema do verso seguinte, sendo, todavia, mais tangvel a relao se
tomarmos o SP desde o incio.
2) Desenvolvimento: que comea de desde o incio estava voc e vai at meu
fumo e minha ioga.
Depois do primeiro verso do desenvolvimento seguem-se apostos em formas
de SN, mas de textura interna irregular. Comparem-se:
meu blsamo benigno
meu signo meu guru
porto seguro onde eu vou ter
viso do espao sideral
Isto sem citar no verso onde o que sou se afoga, que se liga adjetivalmente ao
SN encaixado o espao sideral.
Em alguns versos, falta o pronome adjetivo, a exemplo de porto seguro onde
eu vou ter, porm isto compensado pela presena sintaticamente, mas no
estilisticamente dispensvel do pronome substantivo eu em onde eu vou ter.
Em viso do espao sideral, o pronome falta, mesmo porque a insero do
mesmo influiria no sentido. Poderia tambm significar aspecto, ponto de vista. Note-
se que o pronome eu outra vez aparece no verso seguinte, onde o que eu sou se afoga,
sendo sintaticamente, mas no estilisticamente suprimvel.
As aproximaes fonolgicas entre os vocbulos so melhor explicveis nos
sintagmas em que eles se situam. Exemplificamos:
meu blsamo benigno
meu signo meu guru
porto seguro onde eu vou ter
As rimas so obviamente: benigno/signo e guru/seguro
75
. Porm a plenitude da
aproximao semntica s compreensvel se tomarmos como plos comparativos:
meu blsamo benigno / meu signo
meu guru / porto seguro (onde eu vou ter)
No vemos maiores problemas na identificao das aproximaes semnticas.
Guru, que significa guia ou lder espiritual que sua volta congrega seguidores, s
vezes fanticos, conforme o Aurlio, se acomoda semanticamente com reduo de
semas e passa a significar guia, embora no perca as conotaes msticas no texto,
decorrentes do seu valor evocativo de origem
76
. Mesmo com as acomodaes smicas,
no se pode afirmar, todavia, que guru recobre os significados implicados em guia ou
lder, pois guru implica ascendncia dogmtica, dominao incontestvel, o que decorre
da extrao religiosa do vocbulo.
Meu blsamo benigno e meu signo tambm convergem positivamente em
termos de conotao axiolgica. Blsamo j traz dicionarizados os significados de
conforto, lenitivo, consolao, cuja positividade afirmada por meio do adjetivo
benigno, que traz o bem.
O caso de signo j outro devido sua polissemia. Ele pode significar: sinal,
smbolo; cada uma das doze constelaes que se localizam na faixa do Zodaco
(contexto da astronomia); cada uma destas constelaes, as quais, acredita-se,
influenciam o destino e o carter daqueles que nascem a cada perodo do ano
correspondente a um signo (contexto da astrologia).
Dadas as pistas fornecidas pelo contexto no qual o termo est inserido, no
tarefa muito complicada selecionar as propriedades que podem ser utilizadas como
interpretantes do lexema contextualizado. A acepo a que o contexto nos remete a
75
Vale ressaltar que a pauta acentual de guru alterada no texto cantado. De uma forma oxtona passa a
paroxtona, para que a rima com porto seguro seja uma rima perfeita. Temos aqui um caso de sstole.
76
Para a noo de valor evocativo de uma palavra, ligado variedade lingstica ou ao registro da
mesma, consulte-se Bally (1951).
astrolgica, isto , signo deve ser interpretado como aquilo que influencia o destino e o
carter (sobretudo por influncia dos termos guru e porto seguro). No contexto em que
se encontra, o lexema recebe marcas axiolgicas positivas. Com efeito, trata-se de uma
boa influncia, orientao, porquanto signo rima com benigno. Cumpre notar ainda
que a rima destaca o adjetivo enquanto expresso no grupo nominal. Este destaque
contamina o contedo, de forma que, embora dependa sintaticamente de blsamo,
semanticamente benigno parece ganhar relevo.
Analisemos agora estes dois versos:
meu mar e minha me
meu medo e meu champanhe
O que h de comum entre eles? Novas matizaes do bem e do mal, nos termos
que delineamos a seguir.
bom ter em vista que a percepo, sensorial ou psicolgica, pode, em boa
parte dos casos, ser matriz para um sem-nmero de metaforizaes. o caso de mar, em
que a acepo de grande massa de gua salgada situada no interior do continente
deriva a de grande extenso, e da ausncia de limites precisos, no-abrigo. Me,
na acepo de mulher em fase de gestao, traz, por fora deste trao, a noo de
abrigo, lugar seguro e de limites precisos
77
.
Medo, por sua vez, retrai ou, pelo menos, visto como emoo retractora. O
champanhe bebida alcolica, embriaga e funciona como estimulante, como convite
expanso.
tambm interessante distinguir algumas nuanas no par sintagmtico meu
fumo e minha ioga.
Fumo, na cultura brasileira, gria e significa maconha, que droga
entorpecente. Ioga o lado prtico da filosofia ortodoxa da ndia em que se expem os
meios fisiolgicos e psquicos para se atingir um estado de perfeio. No contexto, fumo
77
A propsito dos lexemas mar e me, Mello (1993: 133), por exemplo, que investiga os mitos e os
smbolos em Caetano Veloso, os aproxima, porque, para ela, a reunio destes lexemas projeta a imagem
ideal materna-marinha no mar, este primordial e supremo engolidor, e associa-se imagem de abismo
femininizado e matermo, descida e retorno s fontes originais da felicidade.
e ioga tm traos em comum, pois concorrem para alterao de conscincia. H,
contudo, traos diferenciais, que podemos assim esquematizar:
fumo ioga
embota os sentidos libera os sentidos
meio imanente meio transcendente
meio mundano meio religioso
causa dependncia no causa dependncia
Em ambos os casos existe o trao [+ expanso] veladamente, num por negao
e no outro por afirmao. Dependncia implica no-liberao do eu, retrao, o
contrrio do implicado por no-dependncia.
Paixo tambm pode ser assim interpretado; coisa que entorpece na medida
em que um forte sentimento ou emoo levados a um tal grau de intensidade que se
sobrepe lucidez e razo. Carnaval, enquanto perodo anual de festas profanas
dedicado a diferentes sortes de diverses, folias, folguedos, apresenta-se igualmente
traduzvel pelo interpretante entorpecente. Assim sendo, estes lexemas podem ser
lidos num mesmo sentido: -lhes comum a propriedade entorpecente, pois, de uma
maneira ou de outra, eles entorpecem, e, por isso, ausentificam a razo.
Intrigante o uso da forma verbal flectiva afoga ligada a afogar, asfixiar-se
por imerso. Como pode ser tal imerso no espao sideral? A dimenso horizontal ou
vertical do processo (na acepo de Chafe, 1979, que vincula processo noo de
afetao) no importa, alis narcotizada no contexto. O que de fato conta a imerso.
3) Concluso: encontra-se nos trs ltimos versos que mantm certa similitude
com o primeiro. S que:
a) o predicativo, no primeiro verso, de cunho axiolgico negativo. Droga
funciona como uma retomada dos semas ligados a fumo. Mais uma vez, os
aspectos axiolgicos negativos sofrem um redimensionamento de natureza
contextual. A negatividade ligada noo de dependncia, de
represamento do eu;
b) o ltimo verso, ternrio, destoa das estruturas anteriores, geralmente binrias
ou unitrias;
c) neste ltimo verso, apresenta-se um elemento de sntese, zen, sobre o qual j
comentamos e retomamos.
Como vimos, o verso final rompe com o macrocontexto e apresenta-se sob a
forma de uma seqncia de trs predicativos do sujeito, quando, de acordo com
contexto anterior, era de esperar-se uma orao subordinada. O verso meu zen, meu
bem, meu mal, alm de configurar-se como ruptura em relao a este macrocontexto,
constitui ainda um fechamento circular para a composio, conferindo-lhe unidade, pois
termina pela retomada dos sintagmas que deram ttulo ao texto.
O fato de este ltimo verso principiar pelo lexema zen icnico. Seno
vejamos. Segundo o Aurlio, zen vem do chins chan na, atravs da forma reduzida
chan, e significa meditao. E neste sentido que o lexema aparece em expresses do
tipo voc est to zen, ou seja, voc est num estado de pura meditao, alm do bem e
do mal, alm do mundo moral humano. Em expresses deste tipo, zen parece significar
exatamente isto: meditativo, contemplativo. Pois bem, por significar a superao da
disjuno bem x mal que zen precede os sintagmas meu bem, meu mal. O enunciatrio
, para o enunciador da mensagem, ao mesmo tempo, o bem, o mal e a superao desta
dicotomia.
Outro poderia ser o percurso de sentido. Poderamos encarar desde o incio
estava voc como um parntese discursivo do autor, uma intercalao, aps a qual se
retomam os predicativos. Deste modo, a diviso no interior do texto ficaria antes de
voc minha droga. Assim seria a diviso:
de voc meu caminho (...)
at meu fumo e minha ioga
de voc minha droga (...)
at meu zen, meu bem, meu mal.
Isto, todavia, no produziria alteraes substanciais na anlise, uma vez que as
estruturas predicativa e apositiva funcionam, no caso do texto em anlise, como
atributos de um tu, a partir da perspectiva de um eu.
4.2.3. Pipoca moderna
e era nada de nem noite de negro no
e era n de nunca mais
e era noite de n nunca de nada mais
e era nem de negro no
porm parece que a golpes de p
de p de po
de parecer poder
(e era no de nada nem)
pipoca ali aqui
pipoca alm
desanoitece a manh
tudo mudou
Do ttulo
O ttulo uma notria referncia segunda parte da composio. O lexema
pipoca, com a seqncia de oclusivas orais, /p...p...k/, sugere a exploso que marca o
momento de ruptura com um estado de coisas anterior, representado pela predominncia
da nasal /n/
78
.
Pipoca, segundo o Aurlio, vem do tupi p poka, e significa estalando a pele.
Segundo Tibiri (1984), o termo j significa em tupi o mesmo que em portugus:
milho rebentado. Neste contexto em particular, o termo parece ainda significar estalo,
estouro, acepo esta reforada pela aliterao da plosiva /p/, em toda a segunda parte
do texto, que vai do quinto ao dcimo terceiro verso, e pelo seu emprego um tanto
ambguo nos versos 9 e 10, em que a leitura verbal torna-se possvel
79
. Veja-se, por
exemplo, que, numa leitura verbal, pipoca ali aqui / pipoca alm sujeito oracional em
relao ao predicado modalizador parece, verso 5. Por outro lado, numa leitura nominal,
o sujeito oracional deste predicado desanoitece a manh e pipoca passa a ser uma
retomada do ttulo da cano, em que este lexema possui uma leitura nominal
inequvoca.
78
Cumpre observar que a nasalidade tem o poder de causar um efeito de vu (DELAS e FILLIOLET,
1975: 157), responsvel pelo apagamento das sonoridades orais correspondentes s oclusivas
homorgnicas, efeito este a que se costuma atribuir culturalmente a idia de escurido.
79
A propsito desta cano, Schimti (1989: 209) afirma que se trata de uma letra no-discursiva e que
permite ver-se claramente o espoucar de efeitos sonoros, dominando a composio e abafando o
estabelecimento do nexo semntico.
, com efeito, essa dupla possibilidade de leitura, nominal e verbal, que faz o
autor preferir o termo pipoca a qualquer das duas formas pipoco e papoco, existentes no
lxico portugus. Ademais, no de se desprezar a qualidade das vogais tnica e
postnica de pipoca, ambas abertas, claras, em contraste com as vogais de pipoco e
papoco
80
. As exploses ficam mais perceptveis quando da passagem de uma oclusiva
oral para vogais abertas, donde resulta mais uma razo para a seleo lexical realizada.
Ao lexema pipoca vem adjungir-se o adjetivo moderna, que refora a leitura
segundo a qual o texto trata da ruptura entre duas fases, uma primeira, negativa,
conforme veremos, qual se ope uma segunda, de afirmao, esta considerada
moderna em comparao com aquela. Moderna, neste caso, significa dos tempos atuais
ou mais prximos de ns, recente (Aurlio)
81
.
Da composio e dos lexemas
O texto inicia-se com uma conjuno aditiva, sugerindo continuidade de um
estado de coisas anterior, que se perde no tempo, cujo princpio no pode ser
delimitado. Tal estado de coisas sofre uma ruptura a partir da qual se instaura uma nova
fase. A conjuno adversativa porm marca essa ruptura.
Nesta linha de raciocnio, o texto pode ser segmentado em trs partes:
a) uma primeira que compreende os quatro versos iniciais: principiada pela
aditiva e, com verbo no pretrito imperfeito e aliterao da nasal /n/;
b) uma segunda que se estende do quinto ao dcimo verso: iniciada pela
adversativa porm, com verbo no presente (parece, pipoca) e aliterao da
oclusiva oral /p/;
80
Obviamente no estamos desprezando o carter menos aberto de /a/ em slaba postnica, em relao ao
/a/, realizado em slaba tnica. O que salientamos que, dos vocides em posio postnica, este o mais
aberto.
81
Note-se que moderno , neste particular, o elemento regional, uma vez que pipoca moderna , segundo
o prprio autor, uma referncia banda de pfaros de Caruaru, de cuja informao musical nasceu o
germe para o movimento tropicalista, capitaneado sobretudo pelas figuras de Caetano Veloso e Gilberto
Gil. A esse respeito, Caetano Veloso diz, em seu livro Alegria, Alegria (s/d: 160-1): Em 67 Gil passou
um tempo no Recife. De l ele trouxe o pique para o tropicalismo. E, principalmente uma fita cassete com
o som da banda de pfaros de Caruaru. Desde ento, a pipoca moderna ficou em nossa cabea, alguma
coisa transando entre os neurnios, umas joiazinhas de iluminao. De l at aqui no perdi a esperana.
(...) Sou feliz na pipoca desse canto e isso muito firme. Estou inteiro quando h esse canto de pipoca
moderna.
c) uma terceira que corresponde aos dois versos finais, que tematizam a
passagem de uma a outra fase: com dois verbos, um de valor terminativo
desanoitece, e outro designando ao acabada mudou; e sem aliterao.
O que nos chama em particular a ateno o efeito aliterante dos lexemas do
primeiro e do segundo segmentos, atravs da reiterao da nasal /n/ e da plosiva /p/,
respectivamente.
No se duvide da conscincia da seleo lexical por parte de Caetano Veloso,
pois, alm de ser patente, o texto ainda nos d indcios claros disto. H referncia direta
aos fonemas oclusivo nasal dento-alveolar, /n/, e oclusivo bilabial surdo, /p/, atravs das
formas n e p, modo pelo qual eles so vulgarmente designados. A inteno de tratar
os dois fonemas como formas opostas, com o fito de estabelecer um contraste entre a
primeira e a segunda fase do texto, constitui um dos fatores norteadores da seleo
lexical operada pelo autor. Veja-se, por exemplo, a oposio no/po. Como justificar a
escolha do item lexical po, seno em virtude do fato de ele constituir um par mnimo
com no, favorecendo assim o contraste entre os dois fonemas?
Assim, no h negar a inteno notria do autor em usar o potencial expressivo
destas formas ao selecionar, para compor o primeiro segmento do texto, lexemas dos
quais conste pelo menos um fonema nasal, preponderantemente /n/. O mesmo se diga
quanto plosiva /p/, no segundo segmento da composio.
J no terceiro segmento no se constata a presena sistemtica de nenhuma
destas consoantes, fato que o distingue dos dois outros precedentes.
O primeiro segmento do texto, que vai do primeiro ao quarto verso,
caracteriza-se pela atualizao de formas de valor negativo: nada, nem, no e nunca. O
substantivo noite e o adjetivo negro tambm se enquadram nesta valorao negativa, em
virtude do sintagma em que se inserem: nem noite e negro no.
O primeiro e o terceiro versos permitem leituras variadas, de acordo com a
estruturao sinttica que se atribua a eles. A ausncia de sinais de pausa ou de
conjunes coordenativas contribuem para isto. Por exemplo, no que concerne ao
primeiro verso, temos, entre outras, as seguintes possibilidades interpretativas:
1) uma estrutura com dois predicativos coordenados:
nada de nem
e era
noite de negro no
2) uma estrutura com dois SPs coordenados:
de nem noite
e era nada
de negro no
3) uma estrutura com um bloco predicativo nico em que um SP se encaixa
em outro:
e era nada de nem noite
de negro no
Ademais, nada pode receber uma leitura quantificadora
82
, substantiva ou
adjetiva
83
, conforme se o considere como ncleo sintagmtico ou, acrescido da
preposio de, como especificador, o que amplia as possibilidades interpretativas dos
aludidos versos.
Tal plurivocidade de leitura, decorrente das diversas possibilidades de
estruturao sinttica, contribui para o efeito geral de caoticidade, dominante nesta
primeira fase do texto.
Acrescente-se a isto que noite e negro aproximam-se em termos semnticos
por apresentarem a propriedade comum escurido. Ora, se se admitir que escurido
est para negao, assim como claridade est para afirmao, os lexemas noite e
negro podem ser reunidos, juntamente com os outros lexemas desta primeira parte, sob
o mesmo trao genrico: negao.
82
Assim entendido, nada pertence classe dos quantificadores, que, segundo Mateus et alii (1989: 192-
5), um especificador que serve, como o prprio nome deixa ver, para quantificar os nomes. Incluem-se
nesta classe os pronomes indefinidos e os numerais da gramtica tradicional.
83
Os termos substantiva e adjetiva so aqui utilizados na acepo que lhes atribui Camara (1991: 77-80),
que considera o nome sob uma trplice perspectiva funcional: substantiva, adjetiva e adverbial.
Os nicos lexemas que, neste primeiro segmento, no sugerem a noo geral de
negao desempenham, na verdade, funo discursiva bastante clara.
A conjuno inicial, como j dissemos, sugere que o texto a continuao do
que o precede. A forma verbal era, no imperfeito, alm de ser utilizada na indicao da
noo aspectual de durao, se comparada ao perfeito (cf. Camara, 1984, verbete
modo), lembra a expresso era uma vez, consagrada como introduo de narrativas
infantis.
Todos estes detalhes parecem contribuir para um nico efeito: a instaurao, no
discurso, de uma fase primeira, algo imprecisa, envolta numa aura de irrealidade, cujo
princpio no se pode determinar; uma fase confusa, nebulosa, marcada pela negao.
A reiterao da nasal /n/ tem por funo tornar a seleo lexical ainda mais
motivada, uma vez que as consoantes nasais produzem um efeito de vu (DELAS e
FILLIOLET, 1975), reduzindo a sonoridade das oclusivas orais homorgnicas,
tornando-as mais escuras. Assim, tambm a seqncia fnica refora o contedo e o
signo torna-se ainda mais motivado.
No segundo segmento do texto, prepondera a plosiva /p/, como a marcar o
momento de ruptura com a fase anterior. No por acaso que esta segunda parte
principia pela adversativa porm, assim como no foi casual a presena da aditiva no
incio da primeira. A seleo desta adversativa em particular obedece organizao
snica geral da mensagem, que prima por priorizar lexemas aliterantes. No caso
especfico deste segundo segmento, a plosiva bilabial sugere o momento de ruptura.
A opo por palavras que aliteram indubitavelmente consciente por parte do
autor. Vejam-se, por exemplo, as pistas que ele faz questo de deixar no texto. Alm da
j mencionada oposio entre n e p e do par no/po, que salienta esta oposio, o
sintagma preposicional a golpes de p revela a conscincia do autor acerca do poder
sugestivo das oclusivas, que podem simular golpes, pancadas.
, pois, a golpes (de p de p de po, monosslabos aliterantes simuladores das
pancadas) que a pipoca moderna parece poder romper com a fase anterior, referida
neste segundo segmento atravs da insero parentetizada da frase e era no de nada
nem, que retoma os trs lexemas de valor negativo do primeiro verso e no se sujeita a
uma leitura semntica pela soma dos lexemas presentes, como acontece no primeiro
segmento, no obstante a diversidade de leitura a que este se submete. O contraste entre
as duas fases, o momento de ruptura (pipoca ali aqui) e o com que ele rompe, mais
uma vez acentuado.
Repare-se que os advrbios ali e aqui, juntos, reforam a puntualidade da ao
verbal, localizando-a em termos espaciais, segundo a perspectiva do enunciador. O par
ope-se, em termos estruturais, a alm, porque aquele conecta-se a uma das ocorrncia
do lexema pipoca, ao passo que este, outra. Ali aqui e alm opem-se tambm
semanticamente, pois, a nosso ver, se a inteno fosse estabelecer a distribuio espacial
do pipocar em relao pessoa do enunciador, o advrbio mais apropriado seria o l,
em virtude de ele, segundo Pontes (1992: 15), indicar o ponto mais extremo no
continuum espacial, que vai, em termos de proximidade-distncia em relao ao
enunciador, do aqui ao l, passando pelo ali
84
. Alm, portanto, neste contexto, parece
significar a transio definitiva para a fase posterior.
Os dois versos finais resumem este processo de transio de uma para outra
fase. Veja-se, por exemplo, o verbo desanoitece, de valor terminativo, formado a
partir do incoativo anoitece. interessante observar que o prefixo de negao des-,
quando adjungido forma anoitece, faz com que o processo verbal seja flagrado no
mais em seu comeo mas em seu trmino, isto , o estado de noite encontra-se em seu
fim. A inteno parece ser evidente: desanoitece uma forma cognata de noite, o que
garante a referncia ao estado anterior (e era noite) e conseqente gradativa sada dele
(des - anoitece).
Tudo, no verso final da composio, contrape-se quantificao negativa
nada. O verbo mudou contrasta com a forma verbal era, por revestir-se de carter
perfectivo.
84
A autora, pgina 16, oferece o seguinte quadro representativo das relaes semnticas que vigoram
entre os advrbio aqui, a, ali e l, em funo da pessoa e da distncia:
Pessoa Distncia
1 aqui
2 a
3 ali l
4.2.4. Odara
deixe eu danar
pro meu corpo ficar odara
minha cuca ficar odara
deixe eu cantar
que pro mundo ficar odara
pra ficar tudo jia rara
qualquer coisa que se sonhara
canto e dano que dar
Do ttulo
Odara, conforme Franchetti e Pcora (1988: 90), provm do dialeto ioruba
(africano) e significa estar bem, ser bom, sentir-se feliz.
No entanto, tais informaes sobre a provenincia do termo e seu significado
na lngua original no so imprescindveis para a decodificao da mensagem. O
prprio contexto verbal j d indcios suficientes para entender-se odara como um
estado de alma, eufrico, com o qual o sujeito enunciador deseja entrar em conjuno,
por intermdio da dana e do canto.
A prpria composio sonora da palavra nos conduz a esta interpretao. Veja-
se, por exemplo, que predominam as vogais abertas. Na posio tnica, tem-se um [a],
cujas propriedades articulatrias sugerem amplitude, iluminao, alegria (MONTEIRO,
1991: 101 e MARTINS, 1989: 34). Na slaba pretnica, a mdia pode ser aberta ou
fechada. Neste contexto em particular, deve-se esperar a mdia aberta, em virtude de o
termo evocar o dialeto ioruba, do qual herdamos um vasto vocabulrio (sobretudo na
culinria e na religio: vatap, abar, orix etc.), caracterstico do nordeste brasileiro,
particularmente da Bahia, onde se prioriza a pronncia aberta para as vogais mdias
pretnicas
85
. Na slaba postnica final, ocorre a vogal de maior abertura que poderia
ocorrer nesta posio, [], uma vez que a apenas comparecem trs vogais, dada a
85
Macambira (1985: 217-42) distingue trs tipos de estados fonolgicos: operiente, ascendente e
aperiente. No primeiro, caracterstico da regio centro-sul do pas, toda vogal mdia, pretnica ou
postnica pr-final, se pronuncia fechada. No estado ascendente, prprio da pronncia de Portugal, estas
vogais alteam-se para /i/ ou para /u/, conforme o caso. No estado aperiente, peculiar da regio norte-
nordeste do pas, elas so pronunciadas abertas.
neutralizao completa que ocorre entre a vogal alta e as mdias anteriores, bem como
entre a alta e as mdias posteriores (Camara Jr. 1977 e Macambira , 1985)
86
.
Alm de orientar a pronncia do o, pretnico, o saber-se a origem do termo
abre-o para uma srie de conotaes ignoradas a princpio. O fato de ser um termo
ioruba lembra o elemento negro na nossa cultura e dispara uma rede de interpretantes,
associados negritude, ao culto da dana e do canto afro
87
.
Da composio e dos lexemas
O texto se deixa dividir em trs partes: a primeira iniciada por deixe eu danar,
a segunda por deixe eu cantar, sendo clara a vogal tnica final /a/, devido ao fato de os
verbos serem o leitmotiv do tema. A terceira parte constituda do ltimo verso, em que
se renem os referidos verbos em primeira pessoa do singular, como que enfeixando
sinteticamente os contedos das duas partes iniciais. Nela ocorre tambm a forma verbal
dar, que aproveita parte do corpo fnico de odara, com alternncia acentual.
Ressalte-se ainda que o texto composto por oito versos, dois dos quais,
primeiro e quarto, so tetrassilbicos. Os outros, salvo o ltimo, so octossilbicos.
Este, um verso heptassilbico.
Tal composio mtrica no nos parece aleatria. Basta ver, para se constatar
isso, que os versos octossilbicos coincidem com a tematizao do bem-estar que o
enunciador deseja instaurar, para si e para o entorno. Estes versos rimam. E odara, que
d ttulo ao texto, repete-se, em posio final, em trs destes versos. Jia rara, qualquer
coisa que se sonhara e odara, rimam entre si e equivalem-se no s sintaticamente,
porque em funo predicativa, (veja-se o quadro infra), mas tambm semanticamente,
pois odara , como vimos, um estado de bem-estar, comparvel a uma jia rara, a
qualquer coisa que se sonhara. Temos, neste caso, trs predicativos: o primeiro
expresso por apenas um lexema (odara); o segundo, por um nome acompanhado por um
86
Procuramos evitar aqui o equvoco, freqente, de considerar-se os grafemas parmetro norteador para a
contagem das ocorrncias de vogais, com vistas a uma interpretao estilstica de um dado segmento
fnico. O fonema /a/, por exemplo, tem no mnimo trs realizaes distintas conforme ele ocorra em
slaba pretnica, tnica ou postnica, do que depende o seu grau de abertura.
87
Mello (1993: 101-2), destaca o esprito de comunho na dana e no canto, que caracteriza esta cano,
utilizada, segundo ela, como msica-manifesto do movimento black jovem de Salvador porque valoriza
(assim como vrias outras que Caetano comps) a influncia da cultura negra africana na cultura
brasileira.
modificador (jia rara); e o terceiro, expresso por uma locuo pronominal
acompanhada por uma orao adjetiva (qualquer coisa que se sonhara), conforme
melhor deixa ver o quadro abaixo:
pro meu corpo ficar dara
minha cuca ficar dara
mundo ficar dara
pra tudo ficar jia
rara
qualquer coisa
que se sonhara
Importa notar ainda as relaes semnticas que se estabelecem entre os termos
supra. Tudo, quantificador universal, refere-se a corpo, cuca, mundo e muito mais.
Qualquer coisa, locuo pronominal indefinida, equivale a jia e , assim como este
lexema, predicativo de tudo, de sorte que temos uma relao predicativa entre um
quantificador univesal e uma expresso indefinida, que serve para relativizar. Se odara
equivale, conforme entendemos, a jia rara e, por conseguinte, a qualquer coisa que se
sonhara, o estado de bem-estar torna-se o mais indefinido possvel e por demais
abrangente.
Para este efeito geral de indefinio, de relatividade do bem-estar, contribuem
ainda a forma verbal sonhara e o pronome que a acompanha, se. Este pronome, como se
sabe, pode ser interpretado como partcula apassivadora ou ndice de indeterminao do
sujeito, o que torna a passagem ambgua. Caso esta segunda interpretao prevalea, o
grau de indefinio da passagem amplia-se mais ainda. Por outro lado, o verbo sonhara
pode valer como imperfeito do subjuntivo e exprime, como o caso dos tempos do
subjuntivo, a possibilidade de um fato ocorrer, com todas as conseqncias que essa
atitude de incerteza pode trazer para o esprito do homem: o sentimento de dvida, o
desconhecimento, o desejo, a surpresa, a probabilidade, etc. (LAPA, 1991: 152). Pode
tambm equivaler ao pretrito mais-que-perfeito. Em um e outro caso, temos formas
verbais em desuso, sendo a interpretao de imperfeito do subjuntivo mais antiga. Est
em expresses como Quem dera!, Pudera! De qualquer modo, o valor evocativo, nos
termos de Bally, de arcasmo e condiz com a atmosfera nostlgica do texto. Vale tanto
a interpretao modal subjuntiva quanto a interpretao temporal do mais-que-perfeito.
Os versos de quatro slabas so em quase tudo semelhantes. Principiam por
uma expresso de tom coloquializante, deixe eu, que conota espontaneidade, se
levarmos em conta a construo equivalente, formal, deixe-me
88
.
Deixar verbo modalizador e indica o pedido do enunciador no sentido da
no interferncia do enunciatrio na ao que aquele intenta praticar. Este verbo
modaliza dois outros, danar e cantar. Ambos so verbos de ao, empregados
intransitivamente, de modo a no restringir a ao verbal. Danar e cantar so
dissilbicos e contm quatro fonemas: dois dos quais coincidentes: /a/, na slaba tnica e
//, na pretnica. As primeiras consoantes de cada um compartilham o trao [+
oclusivo]; as segundas, tm o mesmo ponto de articulao.
Os dois versos em tela apresentam uma seqncia envolvendo duas vogais
fechadas, /e/, e uma semivogal /w/, aps a qual vm uma vogal nasal // e uma oral /a/,
em slaba tnica. Esta ordem na disposio das vogais, de fechadas para abertas, at a de
maior abertura, reflete o contedo das duas frases, isto , a passagem de um estado
inicial de opresso para um estado de bem-estar, marcada pelos dois verbos de ao:
danar e cantar.
O verso heptassilbico, ltimo da composio, destoa dos demais no s pela
mtrica, mas tambm por tratar-se de uma frase com uma possvel interpretao
interrogativa. Na frase, so retomados os dois verbos acima, no mais na forma
infinitiva, no marcada temporalmente, mas flexionados na primeira pessoa do presente
do indicativo, representando aes que esto em pleno curso, agora conjugadas pela
conjuno e.
O verso termina com o verbo dar no futuro do presente, indicando alguma
incerteza e dvida, com relao ao resultado das aes, ora em processo, uma quase
interrogao. O pronome que, no obstante a ausncia de pontuao, parece ter valor
interrogativo
89
.
88
Tambm o lexema cuca, por ser gria, evoca o contexto de coloquialidade em que geralmente
empregado.
89
A exemplo do que ocorre na expresso que ser, se fizermos o intertexto com a cano o que ser (
flor da terra), de Chico Buarque de Holanda. Para alguns aspectos da intertextualidade em Caetano
Veloso, conferir a dissertao de mestrado de Schimti (1989).
4.2.5. Luz do sol
luz do sol
que a folha traga e traduz
em verde novo
em folha, em graa
em vida em fora em luz
cu azul que vem at
onde os ps tocam a terra
e a terra inspira e exala seus azuis
reza, reza o rio
crrego pro rio, o rio pro mar
reza correnteza, roa a beira doura a areia
marcha o homem sobre o cho
leva no corao uma ferida acesa
dono do sim e do no
diante da viso da infinita beleza
finda por ferir com a mo essa delicadeza
a coisa mais querida, a glria da vida
luz do sol
que a folha traga e traduz
em verde novo
em folha, em graa
em vida em fora em luz
Da composio
O ttulo, um nome seguido de um SP, reitera-se no primeiro verso da
composio, e ressurge, agora sem o SP, no final do quinto verso. Estes cinco versos
iniciais configuram-se como uma unidade estrfica e repetem-se ao final do texto, de
modo a fazer a ateno do leitor voltar-se para o princpio da composio e, por via de
conseqncia, para o prprio ttulo, destacando-o ainda mais. Dito de outra forma, o
lexema luz, constante do ttulo da composio, principia a estrofe inicial e a finaliza.
Esta estrofe, que abre a composio, tambm a estrofe que a fecha. Configura-se
assim uma perfeita simetria entre o contexto da primeira estrofe, em cujos extremos
atualiza-se o lexema luz, e o texto como um todo, principiado e finalizado pela mesma
estrofe. Acrescente-se que o lexema luz, em conseqncia desta repetio estrfica,
constitui tambm os extremos da composio. Trata-se, a nosso ver, de uma motivao
icnica no que tange s distribuies extremas do lexema luz. Tais distribuies
sinalizam semanticamente a presena da luz nos plos inicial e final do processo
descrito na composio
90
.
Alm disto, a configurao sinttica da estrofe reiterada reflete o destaque
atribudo ao lexema luz, por conferir-lhe o papel de centro estrutural. A estrofe tem o
lexema como ncleo, e a ele vem adjungir-se um sintagma preposicional, do sol, que
forma com aquele uma unidade sintagmtica mais complexa, a que, por sua vez, vm
juntar-se as oraes adjetivas subseqentes. Assim, o termo que preside a hierarquia
sinttica luz, termo do qual os outros dependem e ao qual esto vinculados
91
.
Luz, portanto, preside a toda a composio, quer como ttulo, quer como
extremos no poema ou na estrofe reiterada (em que a luz diretamente tematizada),
quer como ncleo da construo sinttica desta estrofe, assim como a luz solar preside o
espetculo da vida; espetculo este descrito, em alguns de seus aspectos, nos versos
subseqentes, que podem ser reunidos em duas estrofes, cada qual com seis versos:
uma, em que se apresentam alguns elementos da natureza, e outra, em que o homem,
como elemento disfrico, tematizado.
Atentemos ainda para alguns detalhes estruturais na terceira estrofe,
encabeada por sintagmas nominais (N + SP):
Crrego pro rio, o rio pro mar
90
A idia de iconicidade aludida por Jakobson (s/d: 105), que a atesta em outros contextos, que no o
potico. Afirma o autor: Se a cadeia vini, vidi, vici nos informa acerca da ordem das aes de Csar,
primeiramente porque a seqncia de perfeitos coordenados utilizada para reproduzir a sucesso dos
acontecimentos relatados. A ordem temporal dos processos de enunciao tende a refletir a ordem dos
processos do enunciado, quer se trate de uma ordem na durao ou de uma ordem segundo a posio.
Uma seqncia como O Presidente e o Ministro tomaram parte na reunio bem mais corrente de que a
seqncia inversa, porque a escolha do termo colocado em primeiro lugar na frase reflete a diferena de
posio oficial entre as personagens. Em outras passagens, Jakobson, a propsito do assunto que remete
controversa questo da arbitrariedade do signo, arrola vrios exemplos de motivao refletida na forma
(cf. A procura da essncia da linguagem, in: Jakobson (s/d)).
91
Muito embora tenhamos deixado de examinar os aspectos entonacionais da cano, por razes bvias,
cumpre destacar aqui uma invariante, identificvel em todas as gravaes ouvidas, que refora a leitura
empreendida quanto centralidade do lexema luz. Trata-se da curva entonacional descendente da
primeira estrofe. A cano principia num tom alto, que vai baixando gradativamente. Assim, a entonao
reflete a organizao sinttica da estrofe.
em que a ausncia do verbo concorre para a apreenso fotogrfica das cenas
92
.
Seguem-se sentenas verbais, referentes ao mundo natural, com estrutura
V^SN, com V em posio de tpico:
Reza correnteza, roa a beira doura a areia
93
Seguem-se tambm estas sentenas, referentes ao mundo hominal:
Marcha o homem sobre o cho
Leva no corao uma ferida acesa
A sentena verbal seguinte antecedida de dois circunstaciadores, aludentes
condio do homem, sendo:
a) um encabeado por SN, de natureza apositiva: dono do sim e do no;
b) e outro encabeado por SP, de natureza adverbial: diante da viso da infinita
beleza.
O primeiro e o segundo so causais, sendo a primeira causalidade essencial (o
livre arbtrio) e a segunda, acidental (a beleza do espetculo).
Aps estes circunstanciadores, segue-se a estrutura SV^SN, sendo SV
constitudo de locuo verbal: finda por ferir.
Dos lexemas
Quanto estrofe reiterada, importa destacar que o SN-sujeito e o SN-objeto
direto so os mesmos nas duas oraes adjetivas, coordenadas sindeticamente. Os
verbos das adjetivas, tragar e traduzir, so ambos verbos de ao-processo, fortemente
92
Quanto frase nominal, Garcia (1986: 15) diz tratar-se de um recurso que se generalizou a partir do
romantismo e que, na literatura brasileira contempornea, quase todos os novelistas e cronistas delas se
servem em maior ou menor grau - mas preciso frisar bem: de preferncia ou quase exclusivamente no
estilo descritivo. A propsito deste processo de composio, Franchetti e Pcora (1988: 59) afirmam, em
nota de p de pgina, que comumente interpretado como uma assimilao na linguagem verbal dos
processos de montagem cinematogrfica que, inclusive, poca deste poema, era o foco das
preocupaes dos jovens cineastas em todo o Ocidente.
93
Doura ambguo: pode ser considerado verbo de ao-processo ou verbo de processo, mas o contexto
prvio roa a beira parece impor a leitura de ao-processo.
motivados em termos fnicos, uma vez que o efeito imitativo do grupo /tr/, seguido da
vogal clara /a/, em posio tnica, e das oclusivas (/g/ e /d/, num e noutro casos), sugere
o prprio processo de quebra e processamento da luz.
Os verbos traga e traduz, ligados por uma conjuno aditiva, ostentam uma
complementaridade semntica. As aes por eles indicadas se sucedem
cronologicamente, isto , o objeto afetado, luz do sol, primeiro tragado (movimento
orientado para o interior), para depois ser traduzido (movimento orientado para o
exterior). Estrutura anloga a da estrofe subseqente. Tambm nela tem-se uma
construo envolvendo dois verbos, inspira e exala, um e outro indicando movimento,
no primeiro caso, para o interior, e, no segundo, para o exterior. A oposio semntica
, neste caso, mais transparente que no primeiro, em virtude da motivao mrfica, dado
o contraste entre in-, de inspira, e ex-, de exala, a que o falante desconhecedor das
etimologias chega atravs da comparao com os respectivos antnimos: expira e inala.
Alm disto, a comparao entre os dois verbos da primeira estrofe, traga e traduz, com
inspira e exala, permite-nos classificar estes ltimos como verbos de ao-processo, em
que o actante sujeito , em ambos os casos, a terra, e o objeto, seus azuis
94
.
Voltando estrofe reiterada, note-se que a seqncia de SPs, complementos do
verbo traduzir, coordenam-se assindeticamente. A reiterao da preposio em afasta a
possibilidade de considerar-se qualquer dos nomes como tendo uma funo apositiva;
com efeito, todos os nomes vo ligar-se diretamente ao verbo, mediante a preposio.
Dois dos complementos so substantivos concretos, verde (novo) e folha, e
trs, graa, vida e fora, substantivos abstratos, o que parece configurar uma ordenao
linear para os nomes complementos de traduzir, que vai do concreto ao abstrato. Assim
sendo, a segunda ocorrncia de luz, ao final da primeira estrofe, parece constituir um
substantivo abstrato, o mais abrangente dentre os substantivos-complemento, sntese
dos sentidos inerentes aos substantivos dos SPs precedentes. Acrescente-se a isto que
luz fonicamente motivado em relao a traduz, o que lhe confere maior relevncia
sonora e faz com que ele se destaque dos demais complementos.
94
Esta no a classificao de Borba (1991), que v em inspirar um verbo de ao. No entanto,
interessante observar que o autor no titubeia ao apontar os verbos respirar e inspirar como significando
o mesmo que aspirar, muito embora atribua classificao diversa a eles. Para Borba, respirar e inspirar
so verbos de ao, ao passo que aspirar um verbo de ao-processo. Em virtude destas incongruncias,
recorremos ao contexto para interpretar o verbo.
Destaque-se ainda que dentre os SPs ligados a traduz, apenas um destoa dos
restantes no tocante estrutura interna: em verde novo, porque o nome expandido por
adjetivo, que assinala o atributo informacionalmente importante relativo ao verde.
Trata-se de um verde entre outros, no processo cclico da natureza.
Embora os SPs subseqentes a verde novo no tenham carter apositivo,
legtimo considerar que, de um ponto de vista semntico, constituam desdobramentos
deste estado inicial qualitativo. Da segue-se folha, que singulariza o atributo em uma
substncia e lhe d concretude, suporte. Cumpre ressaltar que os desdobramentos, o
traduzir da folha se reflete lingisticamente em SPs constantes de nomes dissilbicos:
verde (novo), folha, graa e fora, que culmina no substantivo monossilbico luz, a
fonte primria de tudo.
Poder-se-iam apontar como interpretante intradiscursivo (Lopes, 1978) para o
lexema luz, que j um signo extradiscursivo, as expresses contextualmente
equivalentes e de significao algo imprecisa: a infinita beleza, essa delicadeza, a coisa
mais querida e a glria da vida, que rimam em pares. A luz encontra-se no princpio e
no fim do processo descrito na composio, fato que, conforme vimos, se reflete na
prpria organizao da mensagem, mediante a distribuio do lexema luz. Por isso, o
referido lexema pode ser tomado contextualmente como representativo de todo o
processo (decomposio da luz).
Note-se ainda a cadeia de SNs de tessitura interna irregular, cujos efeitos se
somam, porque convergem para o espetculo lingisticamente esboado. As rimas
chamam ateno pelo efeito de sentido que materialmente apiam no todo sintagmtico:
essa delicadeza / a infinita beleza; a coisa mais querida / a glria da vida
95
.
Perceba-se, igualmente, a presena do verbo ferir nesta estrofe. Trata-se de um
verbo transitivo que, conforme sua significao, pode pedir, como complemento, um
substantivo concreto ou um substantivo abstrato. Neste contexto em particular, o verbo
faz-nos esperar, em virtude do instrumental, com a mo, metonimicamente relacionado
a homem, um nome concreto como complemento. No entanto, o substantivo abstrato
delicadeza o que completa o sentido do verbo. A expectativa foi assim frustrada:
esperava-se um nome concreto como complemento e atualiza-se um nome abstrato. Esta
95
Verifique-se tambm a oposio entre os SNs, balizada na rima: a infinita beleza / uma ferida acesa,
sendo o primeiro referente ao universo natural e o segundo, ao universo hominal.
passagem deve ento ser interpretada nos moldes do que Weinreich (1977: 217-220)
chama de transferncia de traos.
Dada a contigidade com ferir com a mo, o termo essa delicadeza ganha o
trao [+ concreto]. Assim, os outros sintagmas supra (infinita beleza, coisa mais querida
e glria da vida), igualmente recebem a marca da concretude, e passam a designar,
intradiscursivamente, o processo da decomposio da luz, como gerador da vida,
anterior interveno do homem. A propsito de ferir, note-se que a vogal alta /i/,
tambm presente em finda, sugere agudeza (LON, 1993: 51 e MARTINS, 1989: 31), e
a sensao sinestsica de finura (MONTEIRO, 1991: 101), que se coadunam com o
significado do verbo, reforando-o
96
.
Em suma, o lexema luz permeia toda a composio e apresenta, ao longo do
texto, uma tripla acepo: uma primeira, de carter concreto, que se atualiza no
sintagma inicial e no ttulo da composio; uma segunda, de carter abstrato, algo
imprecisa, que se consubstancia no SP final da primeira estrofe, em que luz o
resultado da ao-processo traduzir
97
; e uma terceira, a que se chega por inferncia
textual: luz designando o prprio processo que converte luz em luz, ou seja, luz a
fonte da vida e, por via de conseqncia, a prpria vida.
No se pode, todavia, dizer que o lexema est presente na segunda estrofe, pelo
menos como elemento do plano da expresso: luz. O que se tem, efetivamente, nesta
96
Quanto motivao sonora entre os itens lexicais, destaque-se que estamos seguindo o cnon
estabelecido na maior parte de livros de divulgao sobre o assunto, com o qual estamos parcialmente de
acordo. De fato, parece haver certa compatibilidade entre clareza voclica e um estado anmico de
alegria, por exemplo. Porm, muitas outras oposies no eixo semntico podem atualizar-se por
motivaes sonoras no previstas. A propsito disto, Barros (1990: 81), citando o poema Passatempo, de
Carlos Drummond de Andrade (O verso no, ou sim o verso? / Eis-me perdido no universo / do dizer,
que, tmido, verso, / sabendo embora que o lavra / s encontra meia palavra), alude aos traos
consonantais opostos de continuidade e descontinuidade, oposio que se correlaciona oposio do
contedo, que distingue o fluir, o passar, o verter, o correr do verso e do universo, do estancar, do parar,
do interromper, no perdido, no tmido, no encontra e no embora. Mas, como nota a prpria autora, as
estruturas textuais esto fora do percurso gerativo do sentido, e o exame do plano da expresso no faz
parte das preocupaes da semitica. Tal ponto de vista pode ser mantido sempre que a expresso
transparente assume apenas um encargo de suportar o significado ou, como o nome o diz, de expressar o
contedo. (...) Alm de cumprir o encargo acima mencionado de expressar o contedo, o plano da
expresso assume outros papis e compe organizaes secundrias da expresso. Tais organizaes
secundrias, como observa ainda Barros, tem o papel de investir e concretizar os temas abstratos e de
fabricar efeitos de realidade.
97
Este fato reporta-nos ao exemplo referido por Lopes (1978: 54), um homem um homem, em que a
segunda ocorrncia do substantivo deve ter um sentido, ainda que impreciso, diferente do da primeira, sob
pena de a mensagem pecar por tautologia. Com efeito, a segunda ocorrncia, colocada em distribuio
contextual diferente da do primeiro, constitui um ponto de incidncia de diferentes dependncias, o que a
torna numa palavra diferente.
estrofe, a descrio da esfera do visvel, decorrente do haver luz, expresso
particularmente por lexemas relacionados cor: (cu) azul, (seus) azuis e doura; e a
descrio do prprio movimento, o fluir, representado pela gua
98
.
Importa destacar que cu azul corresponde, em termos de organizao textual,
a luz do sol. Ambos constituem ncleos sintticos de frases nominais e iniciam as
estrofes da qual participam, o que, de alguma forma, nos remete para a organizao
espacial do referente: cu e sol caracterizam-se por encimar terra e gua
99
.
Terra, por sua vez, equivale primeira ocorrncia de folha, pelo fato de serem
ambos sujeitos de verbos de ao-processo, cujos objetos afetados, seus azuis e luz do
sol, tambm se equivalem. Note-se que, assim como a primeira estrofe principia e finda
no lexema luz, objeto transmutado e resultado da transmutao, os trs primeiros versos
da segunda estrofe comeam por cu azul e findam por seus azuis, em tudo
assemelhados, inclusive quanto ao aspecto fnico, pois, no fosse a alternncia de
timbre [] / [e], seus azuis poderia ser interpretado como plural de cu azul. Acrescente-
se a isso o fato de azuis rimar com luz.
O que nos chama em particular a ateno nesta segunda estrofe a seqncia
dos trs ltimos versos, cujos lexemas referem-se gua, como algo que flui: rio,
reiterado trs vezes; crrego e correnteza, em cujo corpo fnico encontra-se contida a
forma corre e, naquele ltimo, a forma reza, esta reiterada trs vezes na passagem
referida.
Esta repetio de alguns itens lexicais tem uma funo estilstica. Reza, por
exemplo, tem um significado, cremos, s apreensvel contextualmente. No se pode, em
termos de dicionrio, capturar o sentido deste lexema. Na verdade, ele parece valer, no
contexto, em virtude de sua composio fnica: a fricativa velar ou glotal, /x/ ou /h/, e a
alveolar, /z/, aliadas s vogais abertas, // e /a/, sugerem o correr das guas, e o fato de
este lexema vir reiterado faz ressaltar mais ainda a composio snica. claro que no
98
Uma senda susceptvel de ser explorada, o que no fazemos devido natureza de nosso trabalho, o
jogo que se estabelece entre os quatro elementos da natureza: terra, gua, ar e fogo. Nestes termos, poder-
se-ia propor uma segmentao, de cunho prioritariamente conteudstico, para o trecho que vai de luz do
sol at doura a areia:
1) de Luz do sol... a...luz.
2) de Cu azul... a ...terra.
3) de e a terra... a ...azuis.
4) de reza, reza... a ...areia.
99
Tambm aqui, nesta segunda estrofe, ocorre o descenso de tom, referido na nota 1.
se pode desprezar o fato de o referido lexema pertencer ao domnio do religioso.
Alicerado nisto, possvel aventar hipteses interpretativas segundo as quais a
descrio da natureza, anterior interveno do homem, e, portanto, da cultura, guarda
algo de divino. Mas no o caso: a nosso ver, o que mais parece merecer destaque sua
composio fnica.
Rio outra forma que se repete. Mas, ao contrrio do que sucede com reza, o
contedo dicionarial neste caso relevante. A reiterao envolve aqui tanto a expresso
quanto o contedo. Em termos semnticos, rio sempre gua que corre, contedo
reiterado; em termos fonolgicos, rio constitudo pela fricativa velar /x/, seguida de
um ditongo, o que sugere fluidez. Assim, contedo e expresso contribuem, em virtude
da repetio do lexema, para um s efeito: a sensao de fluidez.
Esta mesma sensao se manifesta na seqncia roa a beira doura a areia.
Veja-se, por exemplo, a sugesto desta fluidez no jogo das fricativas /x/ e /s/ em roa, e
na presena da vibrante simples, ou tepe, /r/ e do ditongo ei, dos dois ltimos lexemas
nominais.
Convm salientar que os verbos roa e doura, de ao-processo, e reza, de
ao, no verso que fecha a estrofe, so eufricos, se comparados com o verbo ferir, este
disfrico. Mais uma vez, salienta-se a oposio entre natureza e cultura, em que o
homem visto como o nico ator capaz de alterar a ordem natural do mundo, para o
bem ou, na maior parte das vezes, para o mal.
Quanto terceira estrofe, note-se que ela composta por trs oraes, cada
uma das quais apresenta o homem como tema, disfrico. interessante notar, por
exemplo, que a primeira orao sinttica e semanticamente equivalente segunda da
estrofe dois. Nesta o homem expresso atravs do lexema ps, tratando-se, neste caso,
de um representante do gnero humano. Marcha equivale a ps, relacionado
metonimicamente a homem, e sobre o cho equivale a a terra. Alm disto, os verbos
so verbos de ao, com sujeito agente. Estas oraes so, portanto, comparveis entre
si.
Diferem, no entanto, estas frases, quanto localizao estrfica. Na estrofe
dois, o homem configura um elemento eufrico, dado que vem representado
metonimicamente por ps, o que parece ressaltar apenas a condio animal do homem,
ou seja, o homem apenas um dos muitos animais que marcham sobre a terra.
natural, portanto. Na terceira estrofe, porm, o homem apresentado em sua condio
cultural, como animal moral, disfrico, portanto, em relao natureza.
O texto finda, como se pode ver, pela reiterao da primeira estrofe, o que
significa uma volta ao comeo, numa descrio circular de algo que sempre se repete, o
fenmeno da decomposio da luz, como fonte geradora da vida.
4.2.6. Chuva suor e cerveja (rain sweat and beer)
100
no se perca de mim
no se esquea de mim
no desaparea
a chuva t caindo
e quando a chuva comea
eu acabo de perder a cabea
no saia do meu lado
segure o meu pierr molhado
e vamos embora ladeira abaixo
acho
que a chu-
va aju
da a gente a se ver
venha
veja
deixa
beija
seja
o que deus quiser
a gente se embala
se embora
se embola
s pra na porta da igreja
a gente se olha
se beija se molha
de chuva suor e cerveja
100
Segundo Franchetti e Pcora (1988: 89), o subttulo entre parnteses uma brincadeira com a
expresso inglesa blood, sweat and tears (sangue, suor e lgrimas), expresso inglesa proferida pelo
primeiro ministro britnico Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, o qual teria dito a seu
povo, aps vrios bombardeios alemes sobre Londres: S vos posso oferecer sangue, suor e lgrimas.
O trocadilho do compositor baiano chega-nos como tendo o fito de promover a comparao entre as
expresses, de modo a fazer ressaltar o tom alegre que caracterizar a composio analisada, em oposio
ao tom trgico sugerido pela expresso inglesa. Poder-se-ia ir mais longe na interpretao e ver nestas
duas expresses uma referncia metafrica aos modos de ser do brasileiro e do ingls, que suam, mas por
motivos diferentes: um, de alegria; o outro, de pesar. Trata-se de duas perpectivaes da vida: o brasileiro
expansivo, alegre, brincalho; o ingls, concentrado, contido, srio.
Do ttulo
Os lexemas constantes do ttulo referem-se a lquidos assim como os da
expresso inglesa, com a diferena de que chuva e cerveja so exteriores ao homem e
sangue e lgrimas, interiores. O lexema suor participa das duas seqncias e apresenta-
se axiologicamente conotado de modo diverso em cada uma delas. Com efeito, suor
pode associar-se tanto alegria quanto tristeza. No caso do texto em tela, trata-se do
suor proveniente do esforo fsico do folio, que brinca o carnaval (pierr), sob a chuva
e regado por cerveja.
interessante notar ainda que a composio d maior relevncia ao aspecto
material do signo lingstico. Os estratos fnico e ptico desempenham um papel
fundamental na interpretao do texto. O ttulo, por exemplo, no vem virgulado,
sugerindo que os trs lquidos embaralham-se num s. Ademais, as consoantes que
compem o ttulo (fricativas: alveopalatal desvozeada, alveolar desvozeada, lbiodental
vozeada e alveopalatal vozeada, sobretudo estas duas ltimas) repetem-se ao longo do
texto, como a produzir, por assim dizer, o efeito da queda da chuva ou do movimento da
dana.
Da composio
A composio perpassada por formas verbais no presente, do indicativo ou
do subjuntivo, que expressam aes ou estados atuais. Trata-se de um presente
momentneo, que lembra a linguagem cinematogrfica e, mais particularmente, a
tcnica narrativa cinematogrfica de montagem da realidade a partir de recortes dela.
A composio apresenta trs movimentos. Um primeiro, que vai de no se
perca de mim at ...perder a cabea, marcado pelos lexemas comea, referente ao incio
da chuva como marco inaugural de um processo, e acabo, final de outro, que marca o
abandonar-se do sujeito da enunciao enunciada ao processo que se inicia com o cair
da chuva, isto , o abandonar-se definitivamente folia momina, s completada com a
presena do elemento chuva.
A perfrase verbal t caindo, referente chuva, indica o prolongamento do
processo, que perdura por toda a composio. Alis, chuva o elemento que perpassa
todo o texto, quer pela sua reiterao, quer atravs dos lexemas molhado e molha, ou
ainda por intermdio das motivaes sonoras, mediante a repetio de determinados
fonemas, que lembram o cair da chuva.
Este primeiro movimento caracteriza-se pela presena predominante de verbos
de processo, com sujeito paciente.
Nos trs primeiros versos, por exemplo, os verbos apresentam-se no
subjuntivo, com valor optativo, e expressam, por isso mesmo, o desejo do enunciador de
que o fato a que eles se referem se d efetivamente
101
. E o serem eles verbos de
processo refora esta leitura. O que deseja, com efeito, o enunciador que o outro no
se deixe levar pela turba para longe de si, ou seja, que o processo no qual se esto
inserindo no os separe. Para este efeito contribuem ainda a estruturao sinttica das
duas primeiras frases, em quase tudo semelhantes, e o fato de os trs verbos
apresentarem as mesmas vogais, tnica e postnica. Estes indcios textuais nos fazem
ver como semanticamente equivalentes os trs verbos, como significando afastar-se
de.
No segundo movimento, que vai de no saia do meu lado at seja o que deus
quiser, o enunciador exorta o enunciatrio ao. Os verbos aqui empregados so, em
sua maioria, verbos de ao ou de ao-processo e, por isso, inserem enunciador e
enunciatrio no processo descrito, no mais como meros pacientes, mas como sujeitos
agentes.
Neste movimento, os verbos no subjuntivo no possuem valor optativo, mas
exortativo: saia, segure, vamos (embora), venha, veja, deixa e beija. Aps essa
seqncia de verbos com valor exortativo, surge a expresso fossilizada seja o que deus
quiser, indicando novamente o abandonar-se ao processo.
Um terceiro movimento, que vai de a gente se embala at ...de chuva suor e
cerveja, resume o processo descrito e tematiza a relao entre enunciador e
enunciatrio, expressos sob a forma de valor pronominal a gente. Os lexemas esto
dispostos de forma a obedecer ordem cronolgica dos acontecimentos: embala, (ir-se)
101
No que concerne ao valor optativo do subjuntivo, Cmara Jr. (1984: 225) assinala que o subjuntivo
nas formas do presente tem valor OPTATIVO (que nalgumas lngua indo-europias, como o grego e o
snscrito, formava um modo especial) e se ope ao imperativo, pela impossibilidade de ter o desejo
carter de ordem (...); como porm, o imperativo s tem formas especficas de 2 pessoa, singular e plural,
em que se usa supletivamente o subjuntivo, desaparece a oposio entre optativo e imperativo.
embora, embola e pra. Alm disso, os verbos deste movimento, salvo pra, aliados
forma a gente se..., exprimem reciprocidade de ao.
Dos lexemas
Os estratos fnico e ptico desempenham um papel muito importante na
composio.
Repare-se, por exemplo, o jogo de aliteraes a que os itens lexicais esto
sujeitos. A mesma seqncia fnica /achu/, repete-se trs vezes, de forma a constituir
um tipo de rima que envolve no apenas as slabas finais dos vocbulos, como em
abaixo e acho, mas tambm slabas iniciais, como o caso da rima com o lexema
chuva, cuja primeira slaba, acompanhada do determinante a, fornece a mesma
seqncia /achu/, desde que alterada, por fora do contexto, a pauta acentual de a
chuva.
A rima que se segue (com aju-da) imperfeita, porque no se constata mais a
presena da fricativa alveopalatal desvozeada, mas de sua homorgnica vozeada. No
entanto, importante notar que esta consoante tambm est presente em trs dos verbos
da seqncia ver, venha, veja, deixa, beija e seja, ligados entre si pela rima toante. O
antepenltimo destes seis verbos diverge do padro rimtico que se estabelece a partir
de veja. Semelhantemente ao que vimos no tocante rima em /achu/, neste trecho a
seqncia /eju/ repete-se trs vezes, sendo intermediada por uma forma em /echu/
102
:
102
Acerca da monotongao dos ditongos de abaixo, deixa e beija, Callou e Leite (1990: 92), assinalam
que a supresso da semivogal fenmeno antigo em nossa lngua e ainda hoje constitui uma tendncia
do portugus. Citando os estudos de Maria da Conceio A. de Paiva, sobre a supresso das semivogais
nos ditongos decrescentes, afirmam que a monotongao dos ditongos [aj] e [ej] est ligada a fatores
relativos composio da cadeia fontica, ponto e modo de articulao do segmento seguinte. Os
segmentos mais favorecedores seriam: tepe, fricativas alveopalatais desvozeada e vozeada. Tambm
Camara Jr. (1977: 99) assinala que o carter mecnico da semivogal de ditongos deste tipo, sem funo na
identificao da palavra, condiciona uma pronncia sincopada, em que o iode se esvai. Da a
denominao que o autor atribui a este tipo de rima: rima aparentemente imperfeita.
abaixo /achu/ /eja/ veja
acho /achu/ /echa/ deixa
a chu- /achu/ /eja/ beija
aju- /aju/ /eja/ seja
A nosso ver, a distribuio das consoantes fricativas alveopalatais
homorgnicas no aleatria. Na verdade, elas distribuem-se equanimemente nas duas
passagens verticalizadas, o que demonstra a preocupao do autor em organizar o
material sonoro por ele trabalhado. Na primeira seqncia de vocbulos dispostos
verticamente, ocorrem trs desvozeadas e uma vozeada; na segunda seqncia, ao
contrrio, temos trs vozeadas e uma desvozeada.
Ora, esta seqncia de chiantes tem a finalidade de sugerir o cair da chuva e o
descer ladeira abaixo, assim como a aliterao em ver, venha e veja, cujas fricativas,
contnuas por definio, ilustram o fluxo ininterrupto de ambas as aes. Esta sugesto
ainda reforada pela translinearizao dos itens lexicais e/ou de partes deles, de modo a
fornecer uma disposio espacial dos lexemas, verticalmente organizados
103
.
Outro jogo de significantes que nos chama a ateno, pelo que nele h de
motivao semntica, o que se verifica na seqncia se embala / se embora / se
embola, cuja ordenao linear iconiza o movimento como um todo. Veja-se que o
primeiro verbo um verbo de processo, que indica o processo no qual esto envolvidos
o enunciador (sujeito da enunciao enunciada, marcado no discurso pelos pronomes
eu, mim, meu e a expresso de valor pronominal a gente) e o enunciatrio (tambm
actancializado no discurso, por intermdio da srie de imperativos e da expresso a
gente)
104
. Este processo absorve-os to completamente que o enunciador afirma: e
quando a chuva comea eu acabo de perder a cabea ; e insta para que o outro se deixe
tambm levar ladeira abaixo, junto com a turba, at a con-fuso final, aps a qual vem a
103
Seguindo a senda da estratificao fenomenolgica da obra literria, aberta por Roman Ingarden,
Ramos (1974: 59) afirma que o estrato ptico o primeiro fator de percepo de uma obra impressa, o
que proporciona desde logo a intuio de captulos, atos, estrofes ou estncias. No caso em exame, a
disposio verticalizada de lexemas e/ou de partes deles que chama a ateno do leitor e lhe fornece
indcios para a interpretao do texto.
104
A expresso de valor pronominal a gente, equivalendo a ns, mais freqente em discursos informais,
distensos, conforme constata Monteiro (1994: 152). Ora, no outro o caso do discurso em tela. O
contexto situacional o mais descontrado possvel, portanto o pronome ns no se adequaria bem aos
propsitos do autor.
tomada de conscincia. Da a presena do lexema igreja, indicador do sagrado, em
contraponto com os precedentes, relativos ao profano do carnaval.
Este processo todo, do incio at a con-fuso final, reflete-se no plano da
expresso por intermdio das formas embala, embora e embola. Seno vejamos: o
primeiro lexema apresenta /a/ como vogal tnica, que vem seguida da lateral /l/; o
segundo tem /o/ como vogal tnica, aps a qual vem a vibrante simples (tepe). O
terceiro lexema, por sua vez, constitui uma fuso dos outros dois, porque recupera a
consoante /l/ do primeiro e a vogal /o/ do segundo, de forma que embola constitui-se de
embala e embora embolados.
Acrescente-se a isso ainda o fato de a consoante lateral sugerir as sensaes
cinticas de fluncia e deslizamento e a vibrante, as de rapidez e tremor (MONTEIRO,
1991: 102 e MARTINS, 1989: 36). Essas duas sensaes conjugadas ilustram bem o
processo em seu curso, o deslizamento rpido, a vibrao caracterstica dos que brincam
o carnaval.
CONCLUSO
Vimos, por todo exposto, quo simplificadora a maior parte das teorizaes
sobre as funes da linguagem. Em primeiro lugar, homogeneiza-se todo o rol de
funes apresentadas por Jakobson, e consagradas sem muitos questionamentos,
exceo de Lopes, que, como demos a conhecer, aproxima as funes metalingstica e
potica: a primeira, interpretante do cdigo, se ope segunda, interpretante do
contexto.
Mostramos tambm que:
a) a funo potica assume um carter sui generis por centrar-se na mensagem,
opondo-se expressiva, conativa e ftica, que remetem a fatores
extralingsticos;
b) no se sustenta conceber a funo potica como adio, adorno, uma vez
que a mensagem no pode ser analisada, mesmo por artifcio, em dois
distintos momentos;
Demonstramos igualmente que, s vezes, paralelismos formais correspondem a
paralelos semnticos. Jakobson, todavia, no mostrou com preciso como se dariam
estes ltimos, no obstante a anlise empreendida por ele sobre o poema Les Chats, de
Baudelaire.
Levin ensaiou algo sobre a motivao semntica com a noo de acoplamento.
Contudo, ainda estava muito preso s aproximaes semnticas de ordem dicionarial.
Por isto, recorremos s noes de dicionrio e enciclopdia, denotao e conotao, tal
como traadas por Eco. Sabemos, no entanto, que uma teoria nos moldes da do
semioticista italiano tem como nus a perda da formalizao e da elegncia de um
dicionrio. o preo que temos a pagar por procurarmos trazer a lume os mecanismos
semnticos envolvidos nos circuitos comunicativos. graa a tais mecanismos que,
conforme as imposies contextuais, semas conotativos perifricos ascendem
condio nuclear.
Todo o exposto decorre do fato de as funes da linguagem serem funes do
discurso. Vale a pena enfatizar aqui outra vez a posio de Lopes, segundo a qual no
mbito do discurso, caracterizado como um conjunto de frases marcados pela coerncia
ou continuidade dos sentidos, que uma frase ganha sentido e determinaes em termos
de funo.
Cabe apenas um reparo: nem sempre possvel determinar qual funo
predomina em dado texto. Os livros banalizam o assunto, trazendo textos ad hoc, no que
tange identificao das funes. Isto sem falar no artifcio da separao entre emissor
e receptor. No foi toa que Halliday preferiu falar de funo interpessoal.
Outro assunto, mais geral, concerne a funes bsicas. Seria possvel
identific-las? Uns mencionam a funo de comunicao e outros, a funo ftica.
Acreditamos que a generalidade de uma dada funo traz como implicao a pouca
especificidade da mesma. Isto o mais importante a destacar.
guisa de ltimas consideraes, acreditamos que muito resta a palmilhar,
principalmente no tocante s linhas gerais e bsicas que devem fundar a enciclopdia,
de modo a conferir a este conceito um misto de certa ordenao, para fins analticos, e
de certa flexibilidade, imposta pela natureza do prprio conceito. Ficam para outro
trabalho os assentamentos ou princpios que devem orientar a poderosa noo de
enciclopdia, nos limites da realizao textual.
A abertura da referida noo, decorrente do conceito de interpretante, deriva do
fato de Eco no ter formulado uma teoria ordenada. O autor mistura diferentes planos,
narrativo e discursivo, e confere muita importncia anlise smica redimensionada de
modo que, a uma primeira leitura, ganha especial relevo a palavra em sua organizao
semntica por injuno contextual. Fica para outro trabalho uma maior explicitao da
semiologia textual nos termos de Eco.
Outro ponto merecedor de estudo mais acurado a conotao, entendida como
funo sgnica fundada numa outra funo sgnica anterior. Isto est a merecer um
trabalho mais detido e tambm fica para um trabalho futuro.
Em nvel mais tpico, sentimos tambm necessidade de refinar as bases fono-
estilsticas, de sorte a extrair-lhes o operacional, o tangvel. Reconhecemos que, por
falta de espao e por coeres de tempo, no houve condies para sistematizar o
assunto, por demais trivializado em termos de valores semnticos a priori. Ademais, sua
insero no texto resultaria destoante. No futuro, quando nos debruarmos sobre as
equivalncias, daremos nfase ao fator fonolgico, em meio tipologia geral delas.
Com respeito anlise do texto, reconhecemos uma ou outra limitao
analtica. Para darmos um exemplo, o estudo do fator entonacional, que, mesmo
variado, pode contribuir para uma significao plural. Exemplo disto o caso de luz do
sol, em que a primeira estrofe tem uma entonao descendente, que reflete a
organizao sinttica da estrofe e refora a leitura da centralidade do lexema luz na
composio do texto.
BIBLIOGRAFIA
AGUIAR E SILVA, Vtor Manuel de (1994). Teoria da literatura. Coimbra: Almedina.
AUSTIN, J. L. (1990). Quando dizer fazer: palavras e aes. Traduo de Danilo
Marcondes de Souza Filho. Porto Alegre: Artes Mdicas.
AZEVEDO, Snzio de (1997). Para uma teoria do verso. Fortaleza: EDUFC.
BAHIANA, Ana Maria (1980). Nada ser como antes: MPB nos anos 70. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira.
BALLY, Charles (1951). Trait stylistique franaise. Paris/Geneve: C.
Klincksieck/Georg.
BARROS, Diana Luz Pessoa de (1990). Teoria semitica do texto. So Paulo: tica.
BARTHES, Roland (s/d). Elementos de semiologia. Traduo de Izidoro Blikstein. So
Paulo: Cultrix.
BATISTA, Sebastio Nunes (1982). Potica popular do Nordeste. Rio de Janeiro:
Fundao Casa de Rui Barbosa.
BENVENISTE, mile (1988). A natureza dos pronomes. Problemas de lingstica
geral I. Traduo de Maria da Glria Novak e Maria Luiza Neri. Campinas:
Pontes.
BERKELEY, George (1992). Os pensadores. Traduo de Antnio Srgio. So Paulo:
Nova Cultural.
BORBA, Francisco da Silva et alii (1991). Dicionrio gramatical de verbos: do
portugus contemporneo do Brasil. So Paulo: UNESP.
__________ (1996). Uma gramtica de valncias para o portugus. So Paulo: tica.
BHLER, Karl (1950). Teora del lenguaje. Traduccin de Julin Maras. Madrid:
Revista de Occidente.
CALLOU, Dinah e LEITE, Yonne (1990). Iniciao fontica e fonologia. Rio de
Janeiro: Zahar.
CAMARA Jr., Joaquim Mattoso (1975). Um caso de colocao. Dispersos de J.
Mattoso Cmara Jr. Seleo e introduo por Carlos Eduardo Falco Ucha. Rio
de Janeiro: Fundao Getlio Vargas.
__________ (1977). Para o estudo da fonmica portuguesa. Rio de Janeiro: Padro.
__________ (1978). Contribuio estilstica portuguesa. Rio de Janeiro: Ao Livro
Tcnico.
__________ (1984). Dicionrio de lingstica e gramtica. Petrpolis: Vozes.
__________ (1991). Estrutura da lngua portuguesa. Petrpolis: Vozes.
CARVALHO, Jos G. Herculano de (1983). Teoria da linguagem: natureza do
fenmeno lingstico e a anlise das lnguas. Vol. 1. Coimbra: Coimbra.
CHAFE, Wallace L. (1979). Significado e estrutura lingstica. Traduo de Maria
Helena Moura Neves, Odette Gertrudes Luiza Altmann de Souza Campos e Snia
Veasey Rodrigues. Rio de Janeiro: Livros Tcnicos e Cientficos.
COHEN, Jean (s/d). Estrutura da linguagem potica. Traduo de lvaro Lorencini e
Anne Arnichand. So Paulo: Cultrix.
COPI, Irvin (1978). Introduo lgica. Traduo de lvaro Cabral. So Paulo: Mestre
Jou.
COQUET, Jean-Claude (1976). Potica e lingstica. Ensaios de semitica potica.
Traduo de Anne Arnichand e lvaro Lorencini. So Paulo: Cultrix/EDUSP.
COSERIU, Eugenio (1979). Teoria da linguagem e lingstica geral. Traduo de
Agostinho Dias Carneiro. Rio de Janeiro: Presena/EDUSP.
DELAS, Daniel e FILLIOLET, Jacques (1975). Lingstica e potica. Traduo de
Carlos Felipe Moiss. So Paulo: Cultrix/EDUSP.
DUARTE, Paulo Mosnio Teixeira (1998). A funo potica e a gramtica da poesia.
Revista da ANPOL, n 5, p. 195-216, jul./dez.
DUBOIS, Jacques et alii(1974). Retrica Geral. Tradduo de Carlos Felipe Moiss,
Dulio Colombini e Elenir de Barros. So Paulo: Cultrix/EDUSP.
__________ (1980). Retrica da poesia. Traduo de Calos Felipe Moiss. So Paulo:
Cultrix/EDUSP.
DUCROT, Oswald (1977). Implcito e pressuposio. Princpios de semntica
lingstica. Traduo de Carlos Vogt, Rodolfo Ilari e Rosa Atti Figueira. So
Paulo: Cultrix.
ECO, Umberto (1974). As formas do contedo. Traduo de Prola de Carvalho. So
Paulo: Perspectiva.
__________ (1984). Conceito de texto. So Paulo: T. A. Queiroz/EDUSP.
__________ (1986). Lector in fabula. Traduo de Attlio Cancian. So Paulo:
Perspectiva.
__________ (1991a). Obra aberta. Traduo de Giovanni Cutolo. So Paulo:
Perspectiva.
__________ (1991b). A estrutura ausente. Traduo de Prola de Carvalho. So Paulo:
Perspectiva.
__________ (1991c). Tratado geral de semitica. Traduo de Antnio de Pdua
Danesi e Gilson Cesar Cardoso de Souza. So Paulo: Perspectiva.
__________ (1991d). Semitica e filosofia da linguagem. Traduo de Mariarosaria
Fabris e Jos Luiz Fiorin. So Paulo: tica.
__________ (1995). Os limites da interpretao. Traduo de Prola de Carvalho. So
Paulo: Perspectiva.
ELIA, Slvio (1978). Orientaes da lingstica moderna. Rio de Janeiro: Ao Livro
Tcnico.
ENKVIST, Nils Erik et alii. (1974). Lingstica e estilo. Traduo de Wilma A. Assis.
So Paulo: Cultrix/EDUSP.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda (1986). Novo dicionrio da lngua
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
FONTAINE, Jacqueline (1978). O crculo lingstico de Praga. Traduo de Jos Pedro
Mendes. So Paulo: Cultrix/EDUSP.
FRANCHETTI, Paulo e PCORA, Alcyr (1988). Literatura comentada: Caetano
Veloso. So Paulo: Nova Cultural.
FRANOIS, Denise (s/d). Funes da linguagem. In: MARTINET, Andr (org.).
Conceitos fundamentais da lingstica. Tradues de Znia de Faria, Reasylvia
Toledo e Dionsio Toledo. Brasil/Portugal: Presena/Martins Fontes.
GARCIA, Othon M. (1986). Comunicao em prosa moderna. Rio de Janeiro:
Fundao Getlio Vargas.
GREIMAS, A. J. (s/d). Semntica estrutural. Traduo de Haquira Osakabe e Izidoro
Blikstein. So Paulo: Cultrix/EDUSP.
GUIRAUD, Pierre (1975). La stylistique. Paris: Press Universitaire de Frace.
HALLIDAY, M. A. K. (1978). El lenguaje como semitica social: la interpretacin
social del lenguaje y del significado. Traduccin de Jorge Ferreiro Santana.
Mxico: Fondo de Cultura Economica.
__________ (1976). Estrutura e funo da linguagem. In: LYONS, John (org.). Novos
horizontes em lingstica. Traduo de Jesus Antnio Durigan. So Paulo:
Cultrix/EDUSP.
__________ (1985). An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold.
HELMSLEV, Louis (1975). Prolegmenos a uma teoria da linguagem. Traduo de J.
Teixeira Coelho Netto. So Paulo: Perspectiva.
HOLENSTEIN, Elmar (1978). Introduo ao pensamento de Roman Jakobson.
Traduo de Roberto Cortes de Lacerda. Rio de Janeiro: Zahar
JAKOBSON, Roman (s/d). Lingstica e comunicao. Traduo de Izidoro Blikstein e
Jos Paulo Paes. So Paulo: Cultrix.
KATZ, Jerrold J. e FODOR, Jerry A. (1977). Estrutura de uma teoria semntica.
Traduo de Maria Helena Duarte Marques. In: LOBATO, Lcia Maria Pinheiro.
A semntica na lingstica moderna: o lxico. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
KLOEPFER, Rolf (1984). Potica e lingstica: instrumentos semiticos. Traduo de
Maria Jos Peres Herhuth. Coimbra: Almedina.
KRISTEVA, Julia (s/d). Histria da linguagem. Traduo de Maria Margarida
Barahona. Lisboa: Edies 70.
LAPA, M. Rodrigues (1991). Estilstica da lngua portuguesa. So Paulo: Martins
Fontes.
LON, Pierre (1993). Prcis de phonostylistique: parole et expressivit. France: Nathan
Universit.
LEVIN, Samuel R. (1975). Estruturas lingsticas em poesia. Traduo de Jos Paulo
Paes. So Paulo: Cultrix/EDUSP.
LOPES, Edward (s/d). Fundamentos da lingstica contempornea. So Paulo: Cultrix.
__________ (1978) Discurso, texto e significao: uma teoria do interpretante. So
Paulo: Cultrix/Secretaria da Cultura, Cincia e Tecnologia do Estado de So
Paulo.
MACAMBIRA, Jos Rebouas (1985). Fonologia do portugus. Fortaleza: Secretaria
de Cultura e Desporto.
MAHMOUDIAN, Mortza (s/d). Funes gramaticais. In: MARTINET, Andr (org.).
Conceitos fundamentais em lingstica. Traduo de Wanda Ramos.
Brasil/Portugal: Presena/Martins Fontes.
MALINOWSKI, Bronislaw (1972). O problema do significado em linguagens
primitivas. OGDEN, C. K. e RICHARDS, I. A. O significado de significado.
Traduo de lvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar.
MARTINS, Nilce Santanna (1989). Introduo estilstica. So Paulo: T. A.
Queiroz/EDUSP.
MATEUS, Maria Helena Mira et alii (1989). Gramtica da lngua portuguesa. Lisboa:
Caminho.
MATHEWS, P. H. (1981). Syntax. London: Cambridge University Press.
MELLO, Glucia Boratto Rodrigues de (1993). Caetano Veloso: um estudo de smbolos
e mitos. Recife: Universidade Federal de Pernambuco (Dissertao de Mestrado).
MONTEIRO, Jos Lemos.(1991). A estilstica. So Paulo: tica.
__________ (1994). Pronomes pessoais. Fortaleza: EUFC.
MUKAROVSK, Jan (1978). A denominao potica e a funo esttica da lngua. In:
TOLEDO, Dionsio (org.). Crculo Lingstico de Praga: estruturalismo e
semiologia. Tradues de Znia de Faria, Reasylvia Toledo e Dionsio Toledo.
Porto Alegre: Globo.
NEVES, Maria Helena de Moura Neves (1987). A vertente grega da gramtica
tradicional. So Paulo: HUCITEC/Ed. Universidade de Braslia.
__________ (1997). A gramtica funcional. So Paulo: Martins Fontes.
OGDEN, C. K. e RICHARDS, I. A. (1972). O significado de significado. Traduo de
lvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar.
PALMER, F. R. (1979). A semntica. Traduo de Ana Maria Machado Chaves.
Lisboa: Edies 70.
PEIRCE, Charles S. (1995). Semitica. Traduo de Jos Teixeira Coelho Neto. So
Paulo: Perspectiva.
PONTES, Eunice (1992). Espao e tempo na lngua portuguesa. Campinas: Pontes.
RAMOS, Maria Luiza (1974). Fenomenologia da obra literria. Rio de Janeiro:
Forense-Universitria.
RIFFATERRE, Michel (1971). Estilstica estrutural. Traduo de Anne Arnichand e
lvaro Lorencini. So Paulo: Cultrix.
__________ (1989). A produo do texto. Traduo de Eliane Fitipaldi Pereira Lima de
Paiva. So Paulo: Martins Fontes.
ROBINS, R. H. (1979). Pequena histria da lingstica. Traduo de Luiz Martins
Monteiro de Barros. Rio de Janeiro: Ao Livro Tcnico.
SANTAELLA, Lucia (1995). A teoria geral dos signos: semiose e autogerao. So
Paulo: tica.
SARAIVA, F. R. dos Santos (1993). Novssimo dicionrio latino-portugus. Rio de
Janeiro: Garner.
SAUSSURE, Ferdinand de (s/d). Curso de lingstica geral. Traduo de Antnio
Chelini, Jos Paulo Paes e Izidoro Blikstein. So Paulo: Cultrix.
SCHIMTI, Lucy Maurcio (1889). Caetano Veloso: memria e criao. Assis:
Universidade Estadual Paulista (Dissertao de Mestrado).
SEARLE, John R. (1984). Os atos de fala. Traduo de Carlos Vogt, Ana Ceclia
Maleronka, Balthazar Barbosa Filho, Maria Stela Golalves e Adail Ubirajara
Sobral. Coimbra: Almedina.
SILVA, Carly (1978). Gramtica transformacional: uma viso global. Rio de Janeiro:
Ao Livro Tcnico.
SPILLNER, Bernd. (1979). Lingustica y literatura. Versin espaola de Elena Bombn.
Madrid: Gredos.
TENIRE, Lucien (1969). lments de syntaxe structurale. Paris: Kliincksieck.
TIBIRI, Luis Carlos (1984). Dicionrio de tupi-portugus. So Paulo: Tao.
TOLEDO, Dionsio (org.) (1978). Crculo lingstico de Praga: estruturalismo e
semiologia. Porto Alegre: Globo.
VANOYE, Francis (1986). Usos da Linguagem. Traduo e adaptao de Clarisse
Madureira Sabia, Ester Miriam Gebara, Haquira Osakabe e Michel Lahud. So
Paulo: Martins Fontes.
VELOSO, Caetano (s/d). Alegria, alegria. Rio de Janeiro: Pedra que Ronca.
WEINREICH, Uriel (1977). Pesquisas em teoria semntica. Traduo de Alzira Soares
da Rocha e Helena Camacho. In: LOBATO, Lcia Maria Pinheiro. A semntica
na lingstica moderna: o lxico. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
WITTGENSTEIN, Ludwig (1987). Investigaes filosficas. Traduo de M. S.
Loureno. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian.
Você também pode gostar
- Análise estilística do poema Água-Forte de Manuel BandeiraDocumento17 páginasAnálise estilística do poema Água-Forte de Manuel BandeiraGabriel AlencarAinda não há avaliações
- Análise enunciativa do poema Jabberwocky de Lewis CarrollDocumento10 páginasAnálise enunciativa do poema Jabberwocky de Lewis CarrollLuiz Francisco DiasAinda não há avaliações
- Recorte dos temas de Literatura, Teoria Literária e Literatura BrasileiraDocumento13 páginasRecorte dos temas de Literatura, Teoria Literária e Literatura BrasileiraChristian AragãoAinda não há avaliações
- Estilo, éthos e enunciação na linguística e literaturaDocumento8 páginasEstilo, éthos e enunciação na linguística e literaturaEliane_SoliAinda não há avaliações
- Os Mecanismos e As Estratégias Do Processamento TextualDocumento22 páginasOs Mecanismos e As Estratégias Do Processamento TextualIrene da rabia ChiungueAinda não há avaliações
- Análise estruturalista de 'Les Chats' de BaudelaireDocumento2 páginasAnálise estruturalista de 'Les Chats' de BaudelaireAdriano PequenoAinda não há avaliações
- 1250-Texto Do Artigo-3341-3380-10-20160328Documento14 páginas1250-Texto Do Artigo-3341-3380-10-20160328Swelen Freitas Gabarron PeraltaAinda não há avaliações
- Modelo de Resenha PDFDocumento4 páginasModelo de Resenha PDFMagno AugustoAinda não há avaliações
- Guilherme, Artigo AnaniasDocumento14 páginasGuilherme, Artigo AnaniasSimone BotegaAinda não há avaliações
- Ha Separacao Entre Lingua e DiscursoDocumento17 páginasHa Separacao Entre Lingua e DiscursoCustodio CossaAinda não há avaliações
- Tradução de sentenças proverbiais bantu-kongo e diálogo com o pensamento de Bunseki Fu-KiauDocumento14 páginasTradução de sentenças proverbiais bantu-kongo e diálogo com o pensamento de Bunseki Fu-KiauMarie OrfAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento4 páginasResenhaservilio Vieira brancoAinda não há avaliações
- Pedro Barbieri AntunesDocumento578 páginasPedro Barbieri AntunesLuís da SilvaAinda não há avaliações
- REP's REP's REP's REP's - Revista Even. Pedagóg. Revista Even. Pedagóg. Revista Even. Pedagóg. Revista Even. PedagógDocumento13 páginasREP's REP's REP's REP's - Revista Even. Pedagóg. Revista Even. Pedagóg. Revista Even. Pedagóg. Revista Even. PedagógFlavio Maia CustodioAinda não há avaliações
- 2008 Tese JabsaraivaDocumento358 páginas2008 Tese JabsaraivaGabriel HolandaAinda não há avaliações
- Análise de poemaDocumento5 páginasAnálise de poemaMaria DanielaAinda não há avaliações
- FERNANDES, C. A. Análise Do Discurso. E-Book, 2008 - Domínio - Público - FINAL. 2Documento51 páginasFERNANDES, C. A. Análise Do Discurso. E-Book, 2008 - Domínio - Público - FINAL. 2AlguémAinda não há avaliações
- Bakhtin e Benveniste: convergências e divergências na enunciaçãoDocumento13 páginasBakhtin e Benveniste: convergências e divergências na enunciaçãoRaquel RosarioAinda não há avaliações
- Arbitrariedade e Iconicidade na LinguísticaDocumento3 páginasArbitrariedade e Iconicidade na LinguísticaManoela BarbaraAinda não há avaliações
- Lingüística Textual - Retrospecto e Perspectivas - KockDocumento12 páginasLingüística Textual - Retrospecto e Perspectivas - KockprofessordeportuguesAinda não há avaliações
- Koch LTDocumento12 páginasKoch LTIsa GuedesAinda não há avaliações
- Linguística Textual e CoesãoDocumento28 páginasLinguística Textual e CoesãoIlidio SamboAinda não há avaliações
- Um Estudo Fonoestilístico em Língua Portuguesa PDFDocumento159 páginasUm Estudo Fonoestilístico em Língua Portuguesa PDFBruno FerreiraAinda não há avaliações
- Sobre o Sujeito em BréalDocumento10 páginasSobre o Sujeito em BréalRoseli Nasciemento MoreiraAinda não há avaliações
- Indicios de autoria: redefinindo a noção de autoria em textosDocumento20 páginasIndicios de autoria: redefinindo a noção de autoria em textosPaula Ávila Nunes100% (1)
- 8 O Lugar Da Poesia Brasileira Contemporânea Um Mapa Da ProduçãoDocumento10 páginas8 O Lugar Da Poesia Brasileira Contemporânea Um Mapa Da ProduçãovvitoyAinda não há avaliações
- Trabalho de MorfologiaDocumento10 páginasTrabalho de MorfologiaMichelly VitalAinda não há avaliações
- Bíblia Leitura CientíficaDocumento13 páginasBíblia Leitura CientíficaFernando Kelly Brito100% (1)
- O Resumo Academico - Um Estudo SociorretóricoDocumento16 páginasO Resumo Academico - Um Estudo SociorretóricoJohn Hélio Porangaba de OliveiraAinda não há avaliações
- O Lugar Da Poesia Brasileira Contemporânea - Sylvia Helena CyntrãoDocumento10 páginasO Lugar Da Poesia Brasileira Contemporânea - Sylvia Helena CyntrãoJu PSAinda não há avaliações
- Funções linguagemDocumento7 páginasFunções linguagemMermãoAinda não há avaliações
- 4092-Texto Do Artigo-9488-1-10-20101021Documento15 páginas4092-Texto Do Artigo-9488-1-10-20101021Ricardo NetoAinda não há avaliações
- Saussure e o Estruturalismo: Retomando Alguns Pontos Fundamentais Da Teoria Saussureana.Documento13 páginasSaussure e o Estruturalismo: Retomando Alguns Pontos Fundamentais Da Teoria Saussureana.Carine HauptAinda não há avaliações
- A antropodiceia rousseauniana: teologia-política-laicidadeNo EverandA antropodiceia rousseauniana: teologia-política-laicidadeAinda não há avaliações
- Estudo comparativo de Bakhtin e Benveniste sobre enunciaçãoDocumento22 páginasEstudo comparativo de Bakhtin e Benveniste sobre enunciaçãoLuciana SimãoAinda não há avaliações
- Baygon,+Gerente+Da+Revista,+Carlos JesusDocumento10 páginasBaygon,+Gerente+Da+Revista,+Carlos JesuscontateumaconsultoriaAinda não há avaliações
- Coesão no poema Noturno de DrummondDocumento9 páginasCoesão no poema Noturno de DrummondThaís SouzaAinda não há avaliações
- Inquietudo: Uma Poética Possível No Brasil Dos Anos 1970Documento179 páginasInquietudo: Uma Poética Possível No Brasil Dos Anos 1970Renan NuernbergerAinda não há avaliações
- PêcheuxDocumento12 páginasPêcheuxmarcio.duransAinda não há avaliações
- MOURA NEVES, M. H. De. 2018 Art. O Que Se Há de Entender Por Gramática - A Voz de Bechara e Seu Tributo A Outras VozesDocumento24 páginasMOURA NEVES, M. H. De. 2018 Art. O Que Se Há de Entender Por Gramática - A Voz de Bechara e Seu Tributo A Outras VozesEduardo VieiraAinda não há avaliações
- Fabio Paifer CairolliDocumento124 páginasFabio Paifer CairolliCorvinvsAinda não há avaliações
- Analise de Cobra NoratoDocumento113 páginasAnalise de Cobra Noratoriobaldoz100% (1)
- O guia completo para análise textualDocumento6 páginasO guia completo para análise textualPriscila CastroAinda não há avaliações
- Causative-ergative alternation in Brazilian Portuguese: semantic restrictions and propertiesDocumento114 páginasCausative-ergative alternation in Brazilian Portuguese: semantic restrictions and propertieswilliamfmouraAinda não há avaliações
- AGUIAR, Saulo Santana De. Mímesis e Didáxis Uma Investigação Acerca Da Poesia Didática em Hesíodo e LucrécioDocumento256 páginasAGUIAR, Saulo Santana De. Mímesis e Didáxis Uma Investigação Acerca Da Poesia Didática em Hesíodo e Lucréciojamersonvitorsilvadelira36Ainda não há avaliações
- Roman Jakobson Fonologia e FoneticaDocumento6 páginasRoman Jakobson Fonologia e FoneticaMiguel SilvaAinda não há avaliações
- Resenha - Um Olhar para Dentro Do Texto e Outro para o ContextoDocumento7 páginasResenha - Um Olhar para Dentro Do Texto e Outro para o ContextoCARINA ZDUNIAKAinda não há avaliações
- Tratamento das Classes de PalavrasDocumento18 páginasTratamento das Classes de PalavrasLeticia Pereira Veloso MunizAinda não há avaliações
- Análise do Discurso e Literatura: A Constituição de Sentidos e Sujeitos em "As Horas Nuas" de Lygia Fagundes TellesNo EverandAnálise do Discurso e Literatura: A Constituição de Sentidos e Sujeitos em "As Horas Nuas" de Lygia Fagundes TellesAinda não há avaliações
- Dissertacoes Giovana Reis LunardiDocumento161 páginasDissertacoes Giovana Reis LunardiEduardo Thales Maschio SoaresAinda não há avaliações
- Tema 1a O Discurso e o sujeito discursivo - ideologia, efeito de sentido, polifonia, heterogeneidade e identidadeDocumento40 páginasTema 1a O Discurso e o sujeito discursivo - ideologia, efeito de sentido, polifonia, heterogeneidade e identidadeallan.meloAinda não há avaliações
- Debaixo Dos CaracoisDocumento16 páginasDebaixo Dos CaracoisAle W.S.Ainda não há avaliações
- Linguística Textual e PragmáticaDocumento23 páginasLinguística Textual e PragmáticaDaniel Silva100% (1)
- Prática de Texto Leitura e Redação by Luiz Roberto Dias de Melo Celso Leopoldo PagnanDocumento258 páginasPrática de Texto Leitura e Redação by Luiz Roberto Dias de Melo Celso Leopoldo PagnanFernando Silva MendesAinda não há avaliações
- 5 KinhoDocumento13 páginas5 KinhoAmandaAinda não há avaliações
- A Imperfeição em Charles BukowskiDocumento69 páginasA Imperfeição em Charles Bukowskifabiano_alonsoAinda não há avaliações
- POSSENTI, S. Indícios de AutoriaDocumento20 páginasPOSSENTI, S. Indícios de AutoriaGilda BBTTAinda não há avaliações
- Construção de sentidos em letras de canção de Roberto e Erasmo Carlos da década de 1980: uma análise do framingNo EverandConstrução de sentidos em letras de canção de Roberto e Erasmo Carlos da década de 1980: uma análise do framingAinda não há avaliações
- Letras e educação: encontros e inovações: Volume 1No EverandLetras e educação: encontros e inovações: Volume 1Ainda não há avaliações
- Sujeitos em Crise, FoucaultDocumento16 páginasSujeitos em Crise, FoucaultDouglas EnglishAinda não há avaliações
- Fausta - ArtigoDocumento11 páginasFausta - ArtigoDouglas EnglishAinda não há avaliações
- Alegorias infinitas: análise da obra de Cortázar sob a ótica da alegoria e do cinemaDocumento205 páginasAlegorias infinitas: análise da obra de Cortázar sob a ótica da alegoria e do cinemaDouglas English100% (1)
- Dissertação - Funções Da LinguagemDocumento180 páginasDissertação - Funções Da LinguagemDouglas EnglishAinda não há avaliações
- Jakobson, Duchamp e A Função Poética Terezinha - LosadaDocumento15 páginasJakobson, Duchamp e A Função Poética Terezinha - LosadaDouglas EnglishAinda não há avaliações
- Dissertação - Funções Da LinguagemDocumento180 páginasDissertação - Funções Da LinguagemDouglas EnglishAinda não há avaliações
- Anais E Book Fluxos Literarios Etica e EsteticaDocumento900 páginasAnais E Book Fluxos Literarios Etica e EsteticaDouglas English100% (1)
- GENETTE, Gerard - PalimpsestosDocumento24 páginasGENETTE, Gerard - Palimpsestoscesarthur100% (3)
- Genilda - Azeredo - Tradição LíricaDocumento7 páginasGenilda - Azeredo - Tradição LíricaDouglas EnglishAinda não há avaliações
- Jakobson, Duchamp e A Função Poética Terezinha - LosadaDocumento15 páginasJakobson, Duchamp e A Função Poética Terezinha - LosadaDouglas EnglishAinda não há avaliações
- A Metalinguagem Samira ChalhubDocumento44 páginasA Metalinguagem Samira ChalhubDouglas EnglishAinda não há avaliações
- Entre Funções e MetafunçõesDocumento15 páginasEntre Funções e MetafunçõesDouglas EnglishAinda não há avaliações
- Dissertação de MestradoDocumento131 páginasDissertação de MestradoDouglas EnglishAinda não há avaliações
- 5 Ilha62 AzeredoDocumento24 páginas5 Ilha62 AzeredoDouglas EnglishAinda não há avaliações
- 2010 MariaLinaCarneiroCarvalhoDocumento153 páginas2010 MariaLinaCarneiroCarvalhoDouglas EnglishAinda não há avaliações
- DELEUZE A Imagem Tempo Cinema 2 Capitulo1Documento19 páginasDELEUZE A Imagem Tempo Cinema 2 Capitulo1Douglas EnglishAinda não há avaliações
- A Estética - Histórias e TeoriasDocumento30 páginasA Estética - Histórias e TeoriasDouglas EnglishAinda não há avaliações
- DELEUZE, Gilles. Conversações PDFDocumento118 páginasDELEUZE, Gilles. Conversações PDFDavi Ribeiro Girardi100% (1)
- Leitura e Leitores em Jane AustenDocumento130 páginasLeitura e Leitores em Jane AustenDouglas English100% (1)