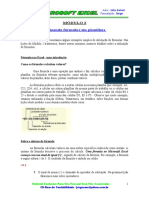Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dworkin, Ronald - Império Do Direito - Cap.02
Enviado por
Jessé Antunes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
29 visualizações28 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
29 visualizações28 páginasDworkin, Ronald - Império Do Direito - Cap.02
Enviado por
Jessé AntunesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 28
54 oIMPERIO DO DIREITO
inclusive aqueles fundamentais, nao se trata de uma piada gro-
tesca. Significa alguma coisa afirmar que os juizes devem
aplicar a lei, em vez de ignora-Ia, que 0 cidadao deve obedecer
alei, a nao ser em casos muito raros, e que os funciomirios publi-
cos sao regidos por suas normas. Parece estupido negar tudo
isso simplesmente porque as vezes divergimos sobre 0 verda-
deiro conteudo do direito. Desse modo, nossos filosofos do
direito tentam salvar aquilo que podem. Para faze-Io, agar ram-
se a qualquer coisa que encontram: afirmam que, nos casos
dificeis, os juizes apenas fingem di vergir sobre 0 conteudo do
direito, ou que os casos dificeis nao passam de discussoes li-
mitrofes, amargem daquilo que eclaro c comum a todos. Ou
entao pensam que devem entrar em alguma forma de niilismo
a proposito do direito. A logica que preside a essa devasta<;ao e
aquela que descrevi ha pouco, 0 argumento de que, a menos
que os advogados e juizes compartilhem criterios factuais so-
bre os fundamentos do direito, nao podera haver nenhuma
ideia ou debate significativos sobre 0 que e0 direito. Nao te-
mos outra op<;ao a nao ser confrontar esse argumento. Trata-se
de um argumento filosOfico, razao pela qual a pr6xima etapa de
nosso esquema deve ser tambcm filosOfica.
Capitulo II
Conceitos de interpretar;iio
o aguilhao semantico
Chamarei de aguilhao semantico 0 argumento que dcscre-
vi ha pouco, e que tem causado tantos problemas afilosofia do
direito. Suas viti mas sao as pessoas que tem uma certa imagem
do que ea divergencia e de quando ela epossivel. Elas pensam
que podemos discutir sensatamente se (mas apenas se) todos
aceitarmos e seguirmos os mesmos criterios para dccidir quan-
do nossas posi<;oes sao bem fundadas, mesmo que nao possa-
mos afirmar com exatidao, como seria de esperar de um filo-
sofo, quc criterios sao esses. Eu e voce so poderemos discutir
sensatamente quantos livros tenho em minha estante, por exem-
plo, se ambos estivermos de acordo, pelo menos em linhas ge-
rais, quanto ao que e um livro. Podemos divergir sobre osca-
sos limitrotes: posso chamar de livrinho aquilo que para voce
seria um panfleto. Mas nao podemos divergir sobre aquilo que
chamei de easos centrais. Se para voce meu exemplar de Moby
Dick nao e um livro, pois em sua opiniao romances nao sao
livros, qualquer divergencia sera necessariamente absurda. Se
essa imagem simples das circunstancias em que a verdadeira
divergcncia epossivel esgota todas as possibilidades, ela cleve
aplicar-se aos conccitos juridicos, inclusive ao conceito de di-
rei to. Eentao que se coloca 0 dilema que exponho a scguir. Ou
os advogados, apesar das aparencias, realmente aceitam, em li-
56 o IMPERIO DO DIRElTO
nhas gerais, os mesmos criterios para decidir quando uma afir-
sobre 0 direito e verdadeira, ou nao pode existir absolu-
tamente nenhum verdadeiro acordo ou desacordo sobre 0 que e
o direito, mas apenas a estupidez de pessoas pensando que di-
vergem porque atribuem significados diferentes ao mesmo
som. 0 segundo termo desse dilcma parece absurdo. Portanto,
os fil6sofos do direito adotam 0 primciro e tentam identificar
as regras fundamentais ocultas que devem estar contidas, mas
nao reconhecidas, l1a praticajurldica. Eles produzem e discutem
as teorias semanticas do direito.
Infelizmentc para essas teorias, a imagem do que toma a
divergencia possivel ajusta-se mal aos tipos de di vergcncia que
os advogados realmente tern. Ela e coerente quando advogados
e juizes divergem sobre fatos hist6ricos ou sociais, sobre que
palavras dcvem ser encontradas no texto de alguma Ici, ou
quais cram os fatos em alguma decisao judicial anterior. Em
direito, porel1l , grande parte das divergcncias e tc6rica, nao
empirica. Os fil6sofos do direito cm cuja opiniiio uevem exis-
tir regras comuns tentam subestimar a divcrgencia tc6rica por
meio de Dizcm que os advogados e jLlizes apenas
fingcm, ou que so divergem porque 0 caso que tcm em maos se
situa numa zona cinzenta OLI pcriferica das regras comuns. Em
ambos os casos (dizem eles), 0 melhor a fazcr e ignorar os ter-
mos usados pelos juizes c trata-Ios como se divergissem quan-
to a fidelidade ou rcforma do dircito, e nao quanta ao direito.
Ai esta 0 aguilhao: estamos marcados como seu alvo por uma
imagcm demasiado tosca do quc dcve ser a divergencia.
Urn exernplo irnaginario
A atilude interpretativa
Talvez essa imagem do que torna a divergencia possi vel
scja muito tosca para captar qualquer divergencia, ainda que
sobre livros. Mas sustentarei apenas que cia nao e exaustiva e,
em particular, que nao contem LIm conjunto importante de cir-
CONCEITOS DE lNTERPRETA (:A0 57
cunstancias que inclua a te6rica em direito. Ela
nao se sustenta quando os membros de comunidades especi-
ficas, que compartilham pr<iticas e produzem e de-
batem sobre as melhores de tais pra-
ticas e -- quando divergem, melhor dizendo, sobre
aquilo que alguma ou pratica real mente requer em cir-
cunstancias concretas. Essas sao muitas vezes po-
lemicas, e a divergencia cgenllina mesmo que as pessoas usem
criterios diferentes para dar forma a essas e ge-
nuina porque as confiitantes voltam-se para os
mesmos objetos ou cventos a interpretar. Tentarei mostrar como
esse modele nos ajuda a comprecnder melhor 0 argumento
juridico e a ver com mais clarcza 0 papel do dircito na cultura,
considerada em sentido mais vasto. Antes, porcm, sera util exa-
minar como 0 modele se aplica a uma muito mais
simples.
Imagine a seguinte hist6ria a prop6sito de uma comunida-
de ficticia. Sells membros segucm urn conjunto de regras, que
chamam de "regras de cortesi a", usando-as em um certo nu-
mere de sociais. Eles dizem: "A cortesi a exige que os
camponeses tirem 0 chapeu diante dos nobres", por exemplo, e
sustentam c aceitam outras desse tipo. Por algum
tempo, cssa pratica tcm urn caniter de tabu: as regras simples-
mente estao ali, e ninguem as qucstiona nem tenta muda-Ias.
Mas em seguida, talvez lentamente, tudo isso muda. Todos
desenvolvem uma complcxa atitude "intcrpretativa" com rela-
as regras de cortcsia, lima atitude que tem dois componen-
tes. 0 primeiro c 0 pressuposto de que a pnitica da cortesia nao
apenas existe, mas tern um valor, serve a algum interesse ou
prop6sito, ou algum principio - COl resumo, tem algu-
ma finalidadc - que pode ser afirmado, independentemcnte da
mera das regras que constituem a pnitica. 0 segundo
e 0 pressuposto adicional de que as exigcncias da cortesia - 0
comportamento que ela evoca ou os juizos que ela autoriza -
nao sao, nccessaria ou exclusivamente, aquilo que semprc se
imaginou que fossel11, mas, ao contrario, suscctiveis a sua fi-
nalidade, de tal modo que as regras cstritas devem ser com-
59 58 o IMPERIO DO DIREITO
preendidas, aplicadas, ampliadas, modificadas, atenuadas ou
limitadas segundo essa finalidade. Quando essa atitude inter-
pretativa passa a vigorar, a institui<;ao da cortesia deixa dc ser
medinica; nao c mais a deferencia espontanea a uma ordem
runica. As pessoas agora tentam impor urn sign!/icado ainsti-
tuic;;ao - ve-Ia em sua melhor luz - e, em seguida, reestrutura-
la aluz desse significado.
Os dois componentes da atitude interpretativa sao inde-
pendentes urn do outro; podemos adotar 0 primeiro componen-
te des sa atitude com relaC;;ao a alguma institui<;ao sem que seja
necessario adotar tam bern 0 segundo. E0 que fazemos no caso
de jogos e competic;;oes. Recorremos afinalidade dessas pniti-
cas ao discutirmos a possibilidade de alterm' suas regras, mas
nao (a nao ser em casos muito raros)1 aquilo que elas sao no
momento; isso e determinado pela historia e pela convenc;ao.
A interpretac;;ao, portanto, desempenha urn papel apenas exte-
rior nos jogos e competic;;ocs. Contudo, e fundamental para a
minha filbula sobre a cortesia que as pessoas da eomunidade
hipotetica adotem 0 segundo eomponente dessa atitude, bern
como 0 primeiro; para eles, a interpreta<;ao decide nao apenas
por que a cOltesia existe, mas tambem 0 que, devidamente com-
preendida, ela agora requer. Valor e conteudo sc confundem.
Como a cortesia se modi/iea
..,
Vamos supor que, antes de a atitude interpretativa entrar em
vigor com seus dois componentes, todos presumam que a fina-
lidade da cortesia esteja na oportunidade que ela oferece de
demonstrar respeito aos membros superiores da hierarquia
social. Nao se questiona se as formas tradicionais de respeito
sao, de fato, aquelas que a pnitica exige. Estas sao, pura e sim-
plesmente, as fonnas de deferencia, e as opc;;oes disponiveis
I . Ver, em Illeu li vro Taking Righls 101 -5 (Cambridge, Mass.
e Londres, (977). a discussao de um problema inl crprctativo ineomum num
torneio de xadrez. .
CONCEITOS DE INTERPRETAr;A-O
sao a conformidade ou a revolta. Portm, quando a atitude in-
terpretativa se desenvolve plenamente, as pessoas comec;;am a
exigir, a titulo de cortesia, formas de deferencia anteriormente
desconhecidas, ou a desprezar ou rejeitar formas anteriormen-
te reverenciadas, sem nenhum sentido de revolta, afirmando
que 0 verdadeiro respeito e mais bem observado por aquilo
que elas fazem que pOl' aquilo que outros fizeram. A interpre-
tac;;ao repercute na pratica, alterando sua forma, e a nova forma
incentiva uma nova reinterpretac;;ao. Assim, a prMica passa por
uma dramatica transformac;;ao, embora eada etapa do proeesso
seja uma interpretac;;ao do que foi conquistado pc/a etapa ime-
diatamente anterior.
A concepC;;ao das pessoas sobre os fundamentos apropria-
dos do respeito, pOl' exemplo, pode variar de acordo com a po-
sic;;ao social, idade ou sexo, ou algum outro atributo. Os princi-
pais beneficiarios do rcspeito entao seriam, em urn periodo, os
membros superiores da escala social, os idosos em outro perio-
do, as mulheres num terceiro, e assim por diante. Ou as opi-
nioes podem mudar quanto anatureza ou qualidade do respei-
to, passando do ponto de vista de que a demonstrac;;ao externa
constitui respeito ao ponto de vista oposto, de que 0 respeito e
apenas uma questao de sentimentos. Ou, ainda, as opinioes
podem mudar num ambito diferente, sobre se 0 respeito tem
algum valor quando se dirigc a grupos ou quando deeorrc de
atributos naturais, e nao a individuos em atenc;;ao asua realiza-
c;;ao pessoal. Se 0 respeito do primeiro tipo nao mais parece
importante, ou mesmo parece errado, entao uma nova interpre-
tac;;ao da prMica vai se fazer necessaria. As pessoas passarao a
ver a finalidade da cortesi a quase como 0 inverso daquilo que
era no comec;;o, no valor de formas impessoais de rela<;oes
soeiais que, devido a sua impessoalidade, nao exigem nem ne-
gam nenhum significado mais vasto. A cortesia passara entao
a ocupar urn lugar menor e diferentc na vida social, e ja se
pode antever 0 fim da fabula: a atitude interpretativa perdcra
sua forc;;a, e a pratica retornara ao estado mecanico e estatico
que tinha de inicio.
60 o IMPERIO DO DIRE1TO
Urn prirneiro exarne da
Este eum exame rapido, a partir da perspectiva hist6rica,
de como a tradic;:ao da cortesia muda com 0 passar do tempo.
Precisamos agora considerar mais de pelto a dinamica da trans-
forrnac;:ao, observando os tipos de juizos, decisoes e argumen-
tos que produzem cada res posta individual a tradic;:ao, as res-
postas que coletivamente, durante longos period os, produzem
as grandes mudanc;:as que cxaminamos primeiro. Precisamos
de informac;:oes sobre 0 modo como a atitude que chama de in-
terpretativa funciona a partir do interior, do ponto de vista dos
interpretes. Infelizmentc, mesmo um relato preliminar sera
controvertido, pois, se uma comunidadc faz uso dos conceitos
interprctativos, 0 proprio conceito de interpretac;:ao sera um
deles: uma teoria da interpretac;:ao e uma interpretac;:ao da pni-
tica dominante de usar conccitos intcrpretativos. (Desse modo,
qualquer relato apropriado da intcrpretac;:ao devc scr verdadei-
ro para consigo mesmo.) Neste capitulo, apresento uma abor-
dagem te6rica particulannente destinada a cxplicar a inter-
pretac;:ao de praticas c cstruturas sociais como a cortesia, e de-
fcndo essa abordagem contra algumas objec;:6es fundamentais
e aparentemcnte vigorosas. Receio que a discussao nos leve
muito al6m do direito, ao dominio das controversias sobre in-
terpretac;:ao das quais sc tem ocupado sobretudo os criticos li-
tcrarios, os cientistas sociais e os fil6sofos. Mas, se 0 direito e
um conccito interpretativo, qualqucr doutrina digna desse n6-
me deve assentar sobrc alguma concepc;:ao do que einterpreta-
c;:ao, e a analise da interpretac;:ao que claboro e defendo neste
capitulo constitui a base do restante do livro . A l11udanc;:a de di-
rec;:ao ccssencial.
Intcrpretar uma pnitica social eapcnas uma forma ou oca-
siao de interpretac;:ao. As pessoas interprctam em muitos con-
textos difercntes e, para comec;:ar, dcvcmos procurar entender
em que esses contcxtos diferem. A ocasiao mais conhecida de
interpretac;:ao tao conhecida quc mal a reconhecemos como
tal - ca conversac;:ao. Para decidir 0 que uma outra pessoa dis-
se, interpretamos os sons ou sinais que cia faz. A chamada in-
CONCEITOS DE INTERPRETA C;AO
61
terpretac;:ao cientifica tem outro contexte: dizemos que um cien-
tista comec;:a coletar dados, para depois interpreta-Ios. Ou-
tro, ainda, tem a interpretac;:ao artistica: os criticos interpretam
poemas, pec;:as e pinturas a fim de justificar algum ponto de
vista acerca de seu significado, tema ou prop6sito. A forma de
interpretac;:ao que estamos estudando - a interpretac;:ao de uma
pratica social - e semeJhante a interpretac;:ao artistica no se-
guinte senti do: ambas pretendem interpretar algo criado pelas
pessoas como uma entidade distinta delas, c nao 0 que as pes-
soas dizem, como na intcrpretac;:ao da conversac;:ao, Oll fatos
nao criados pelas pessoas, como no caso da interpretac;:ao cien-
tifica. Vou concentrar-me nessa semelhan<;a entre a interpreta-
c;:ao artistica e a interpretac;:ao de uma pratica social; atribuirei
a ambas a designac;:ao de formas de interpretac;:ao "criativa",
distinguindo-as, assim, da interpretac;:ao da conversac;:ao e da
interpretac;:ao cientifica.
A interpretac;:ao da conversac;:ao e intencional, e nao causal
em algum sentido mais mecanico. Nao pretende explicar os
sons que alguem emite do mesmo modo que um bi610go expli -
ca 0 coaxar de uma ra. Atribui significados a partir dos supos-
tos motivos, intenc;:5es e preocupa<;6es do orador, e aprcsenta
suas conclus6es como afirmac;:5es sobre a "intcnc;:ao" deste ao
dizer 0 que disse. Podemos afirmar que todas as form as de in-
terpretac;:ao tem por finalidade uma explicac;:ao intencional
nesse sentido, e quc cssa finalidadc estabelece uma distinc;:ao
entre a intcrpretac;:ao, enquanto um tipo de cxplicac;:ao, c a ex-
plicac;:ao causal em sentido mais amplo'? Essa dcscri<;ao nao
me parcce, aprimeira vista, ajustar-se ainterpretac;:ao cicntifi-
ca, e poderiamos nos sentir forc;:ados, se nos deixarmos atrair
pel a id6ia de que toda illterpretac;:ao genuina e intencional, a
afirmar que a interpretac;:ao cientifica nao e, de modo algum,
interpretac;:ao de verdade. Poderiamos dizer que a cxpressao
"interpretac;:ao cientifica" c apenas uma metafora, a metafora
de dados que "fa lam" com 0 cientista do mesmo modo que uma
pessoa fala com outra; cIa mostra 0 cientista como algu6m que
se empenha cm entender aquilo que os dados tenta111 dizer-Ihc.
Poderiamos perfeitamcnte acreditar quc epossivel descartar a
62
63
oIMPERIO DO DIREITO
metafora e falar com precisao, simplesmente retirando de nos-
sa descriyao final do processo cientifico a ideia de intenyao.
Sera entao que a interpretayao criativa tambem nao passa
de um caso metaf6rico de interpretayao? Poderiamos dizer
(para usaI' a mesma metafora) que, quando falamos de inter-
pretar poemas ou praticas sociais, estamos imaginando que
eles nos falam, que pretendem dizer-nos alguma coisa, tal qual
faria uma pessoa. Mas entao nao podemos descartar a metafo-
ra, como no caso da ciencia, explicando que na verdade temos
em mente uma explicayao causal comum, e que a metafora de
intenyao e significado e apenas decorativa. Pois a interpreta-
yao das prMicas sociais e das obras de arte diz respeito, essen-
cialmente, a intenyoes, nao a meras causas. Os membros da
comunidade ficticia nao tencionam encontrar, quando inter-
pretam sua pratica, os diversos determinantes econ6micos, psi-
col6gicos ou fisiol6gicos de seu comportamento comum. Tam-
pouco um critico tem por objetivo uma dcscriyao fisiol6gica
de eomo um poema foi escrito. Precisamos, pOlianto, substituir
a metafora das praticas e das imagens falando com suas pr6-
prias vozes, de modo a reconhecer 0 lugar fundamental da in-
tenyao na interpretayao criativa.
Ba uma soluyao muito conhecida. Ela descarta a metafora
de poemas c imagcns que nos falam, ao insistir em que a in-
terprctayao criativa e apenas um caso especial de interpreta-
yao convcrsacional. Ouvimos nao as obras de arte em si, como
sugere a metafora, mas sim os seres ,humanos que sao .,'?eus
autorcs. A interpretayao criativa pretende decifrar os proposi-
tos ou intenyoes do autor ao escrever detenninado romance ou
conservar uma tradiyao social especifica, do mesmo modo que,
na convcrsayao, pretendemos perceber as intenyoes de um
amigo ao falar como fala
2
Defenderei aqui uma soluyao dife-
2. Nas paginas seguintes avalio 0 pn:ssuposto de quo: a interpreta<;ao
crialiva devc scr inlerpreta<;30 eonversaeional, sobreludo ao diseutir uma
ideia familiar aos te6rieos da litcralura: de que interprctar uma obra literaria
signifiea reeapturar as intell<;i5es de seu autor. Mas esse pressuposlO tern uma
hase mai s geral na literalura lilos6fica da illterpreta<;1io. Wilhelm Oilthey, urn
fil6sofo alemao quc roi espeeiallllcnle influenle em dar forma ao debate sobre
CONCEITOS DE INTERPRETAc;:JO
rente: a de que a interpretayao criativa nao e conversaeional,
mas construtiva. A interpretayao das obras de arte e das prati-
cas sociais, como demonstrarei, na verdade, se preocupa es-
sencialmente com 0 proposito, nao com a causa. Mas os pro-
p6sitos que estao em jogo nao sao (fundamentalmente) os de
algum autor, mas os do interprete. Em linhas gerais, a interpre-
tayao construtiva e uma questao de impor urn propos ito a urn
a objetividade nas eicneias soeiais, usou a palavra verstehen para deserever
especifieamente 0 tipo de entendimento que adquirimos ao saber 0 que outra
pessoa quer dizer com aquilo que diz (poderiamos di zer que esse (: um senti-
do da eomprecnsao no qual entellder alguem impliea ehegar a um entendi-
mento com tal pessoa), em vez de deserever todas as possivcis manei ras ou
modalidades de entender seu eomportamento ou sua vida mental. (Vel'
Meaning in History: Dilthey 's Thought on Ilisto/]' lIl1d Society [H. P. Rickman,
trad. C org., Londres, 1961 ].) Oilthey eoloeou a quest ao de saber se e como
esse tipo de cnlendimenlo e passivel a despeito das diferen<;as eulturais;
eoeontrou a ehavc para seu problema na conseicneia "historica": 0 estado de
espirito aleal1<;ado pOI' rams e dedieados intcrprdes atraves da refl exiio sobre
a estrutura c as eategorias gerais de suas pr6prias vidas em um nivel de abs-
tra<; ao tao alto que se pode supor, pelo menos como uma hip6lese metodol6-
giea, que perduram no tempo. Os mcstres eontcmporancos que deram eonli-
nuidadc ao debate, como Gadamer e Habermas, tomam dire<;oes diferentes.
Gadamer aeha que a solu<;iio de Dilthey pressupoe 0 aparato hegeli ano que
Dilthey ansia va por exorcizar. (Vcr H. G. Gadamer, 7"utl1 and Me/hod, em
particular pp. 192-214 [traduC;30 inglcsa, 2 ~ cd., Londres, 1979].) Aeredita
que a eonseicneia hist6riea arquimediana que Oilthey imaginoll possivel,
livre daquilo que Gadamer chama, no sentido especial que oil ao termo, de
preeoneeilos, (: imposs ivel, que 0 m{lximo que podemos esperar alean<;ar e
uma "eonscicneia hist6riea efetiva" que prelende ver a historia nao a partir
de nenhum ponto de vista especifieo, mas sim eompreender como nosso pr6-
prio ponto de visla e influeneiado pclo mundo que desejama$ interpretar.
Habermas, pOI' sua vez, eriliea Gadamer pOI' sua visao demasiado passiva de
que a dire<; 30 da comuniea<;ao e de mao uniea, que 0 intcrprele deve esfor<;ar-
se par aprender e aplicar aquilo que interpreta com base no prcssuposto de
que esta subardinado a seu aulor. I-Iabermas [az a ohserva<;ao crucial (que
aponta mais para a intcrprcta<;aa eonsl ruliva do que para a eonversaeional) de
que a interprelac,:ao pressupoe que a aulor poderia aprender com 0 int6rprete.
(Vel' Jurgen Haberlllas, I, The Theory o/Commul1icalive Action [trad. de T.
McCarthy, Boston, 19S4].) 0 interlllimlvel debate prosscguc, dominado espe-
eialmenle pelo pressuposto que deserevo no texto: de que a lmiea allernaliva
ao entendimenlo eausa-e-efeito dos falos sociais (: 0 entendimenlo conversa-
eional com base no modelo do verstellen.
64 o IMPERIO DO DIREITO
objeto ou pr<itica, a fim de torna-lo 0 melhor exemplo possivel
da forma ou do genero aos quais se imagina que pertenc;am.
Dai nao se segue, mesmo depois dessa breve exposic;ao, que
um interprete possa fazer de uma pratica ou de uma obra de
arte qualquer coisa que desejaria que fossem; que um membro
da comunidade hipotetica fascinado pela igualdade, por exem-
plo, possa de boa-fe afirmar que, na verdade, a cortesia exige
que as riquezas sejam compartilhadas. Pois a hist6ria ou a
forma de uma pr<itica ou objcto exerce uma coen;ao sobre as
interpretac;oes disponiveis destes ultimos, ainda que, como ve-
rcmos, a natureza dessa coen;:ao deva ser examinada com cui-
dado. Do ponto de vista construtivo, a intcrpretac;ao criativa e
urn caso de interac;ao entre prop6sito e objeto.
Segundo esse ponto de vista, urn participante que inter-
preta uma pnltica social propoe um valor a essa pnitica ao des-
crever algum mecanismo de interesses, objetivos ou principios
ao qual, se supoe, que ela atende, expressa ou exemplifica. Mui-
tas vezes, talvez ate mesl110 quase sempre, os dados comporta-
mentais brutos da pratica- 0 que as pessoas fazem em quais
circunsHincias -- vaG tornar indcterminada a atribuic;ao dc va-
lor: esscs dados serao compativeis com atribuic;ocs diferentes e
antagonicas. Uma pessoa poderia ver nas pniticas da cortesia
um meio de assegurar 0 respeito a quem 0 merec;a devido a sua
posic;ao social ou outro atributo qualquer. Outra pessoa pode-
ria ver, com a mesma nitidez, urn meio de tornar as relac;oes
sociais mais convencionais e, portanto, menos indicativas de
juizos diferenciais de respeito. Se os dados brutos nao estabe-
lecem diferenc;as entrc essas interpretac;oes antagonicas, a op-
c;ao de cada interprete deve refletir a interpretac;ao que, de seu
ponto de vista, atribui 0 maximo de valor apr<itica - qual delas
e capaz de mostra-Ia com mais nitidez.
Apresento essa exposic;ao construtiva apenas a titulo de
analise da interprctac;ao criativa. Mas devcmos observar, de
passagem, de quc modo a exposiC;30 construtiva poderia ser ela-
borada para se ajustar aos olltros dois contextos de interpreta-
c;ao que mencionci, para mostrar, assim, uma profunda relac;ao
entre todas as formas de interpretac;ao. Para .entender a conver-
CONCEITOS DE INTERPRETA(:tfO 65
sac;ao de outra pessoa e preciso que se usem expedientes e pres-
supostos, como 0 chamado principio de "caridade", que, em
circunstancias norma is, tern 0 efeito dc transformar aquilo que
a pessoa diz no melhor exemplo de comunicac;ao possiveP. E a
interpretac;ao de dados na ci C: ncia faz urn grandc uso dc pa-
droes da teoria da construc;ao, como simplicidade, elegancia e
possibilidade de vcrificac;ao, que refletem pressupostos con-
test<iveis e variaveis sobre os paradigmas de explicac;oes, isto
e, sobre quais caractcristicas tornam uma forma de explicaC;30
superior aoutra'. Portanto, a exposic;ao construtiva da interpre-
tac;ao criativa talvcz pudesse nos fornecer uma descric;ao mais
geral da interpretac;ao em todas as suas fOlmas. Diriamos, en-
tao, que toda interpretac;ao tenta tornar um objeto 0 mclhor
possivel, como exemplo de algum suposto empreendimento, e
que a interpretac;ao s6 assume formas diferentes em diferentes
contextos porque empreendimentos diferentes cnvolvem dife-
rentes criterios de valor ou de SLlcesso. A interpretac;ao 3ltistica
s6 difere da interprctac;ao cientifica porque julgamos 0 sucesso
das obras de arte segundo crit6rios diferentes daqueles que uti-
lizamos para julgar as explicac;ocs de fcnomenos fisicos.
e do autor
A exposic;ao construtiva da interpretac;ao, contudo, pare-
cera bizarra a muitos leitores, mesmo quando restrita ainter-
pretac;ao criativa ou, mais ainda, a interpretac;ao de praticas
sociais como a cortesia. Irao faza-Ihe objcc;ocs pOl'que prefc-
rem a versao corrente da interpretac;ao criativa que ha pouco
3. Ver W. V. O. Quine. Word and Object , 58-9 (Cambridge, Mass.,
1960). 0 prineipio de earidade capresentado e aplicado num contexto dire-
rente em Wilson, "Substance without Substrata", 12, Review (!!'Metapilysics,
521-39 (1959).
4. Vcr T. Kuhn. The Essen/ial T('nsioll: S<:lec!ed Studies in Scientific
Tradition and Change. 320-51 (Chicago, 1(77); Kuhn, The Strttc!ure a/ Sciell-
tific Revolution (2:' ed., Chicago. 1970); K. Popper. The Logic III' Scientific
Discovely (No va York , 1959).
66
oIMPERIO DO DIREITO
mencionei: de que a interpretayao criativa e apenas interpreta-
yao de conversayao dirigida a um autor. Eis uma declarayao
que ilustra bem seus protestos: "Sem duvida as pessoas podem
fazer afirmayoes do tipo que voce atribui aos mcmbros da co-
munidade hipotetica a proposito das praticas sociais que com-
partilham; sem duvida elas podem propor e contestar opinioes
sobre como se devem entender essas pr<iticas e dar-lhes continui-
dade. Mas euma grave confusao dar a esse ponto de vista 0
nome de inlerpreta9iio, ou sugerir que, de certo modo, ele atri-
bua um sentido .it pratiea em si. Isso eprofundamente engana-
dor em dois sentidos. Primeiro, interpretar quer dizer tentar
entender algo - uma afirmayao, urn gesto, um texto, um poe-
ma ou uma pintura, por exemplo - de maneira particular e es-
pecial. Signifiea ten tar descobrir os motivos ou as intenyoes do
autor ao falar, representar, esc rever ou pintar como 0 fez.
Assim, interpretar uma pratica social, como a pratica da corte-
sia, significa apenas diseernir as intenyoes de seus adeptos,
uma por uma. Em segundo lugar, a interpretayao tenta mostrar
o objeto da interpretayao - 0 comportamento, 0 poema, a pin-
tura ou 0 texto em questao - COm exatidiio, cxatamente como
ele e, c nao como voce sugere, visto atraves de uma lente cor-
de-rosa ou em sua melhor luz. Isso signifiea recuperar as ver-
dadeiras intenyoes historicas de scus autores, e nao impingir os
valores do intcrprete aquilo que foi criado pelos autores."
Vou responder a essa objeyao por ctapas, e 0 esboyo de
argumentayao que se segue poderia ser utiI, ainda que seja ne-
cessariamcnte condensado. Sustentarei primeiro que, mesmo
considerando 0 objetivo da interprctayao artistica como uma
recuperayao da intenyao de um autor, como recomenda a obje-
yao, nao poderemos fugir ao uso das estrategias de interpreta-
yao construtiva que a objeyao condena. Nao podemos evitar a
tentayao de fazer do objeto artistico 0 melbor que, em nossa
opiniao, ele possa scr. Tentarei demonstrar, em seguida, que se
rea I mente considerarmos que 0 objetivo da interpretayao artis-
tica e a descoberta da intenyao do autor, isso deve ser uma con-
seqiiencia da aplicayao, .it arte, dos metodos da interpretayao
construtiva, e nao da recllsa em recorrer a tais metodos. Sus-
67 CONCEITOS DE INTERPRETA9AO
tentarei , por ultimo, que as tecnicas da interpretayao conversa-
cional comum, nas quais 0 interprete procura descobrir as inten-
yoes ou significados de outra pessoa, seriam de qualquer modo
inadequadas ainterpretayao de uma pratica social como a cOlte-
sia, pois e essencial aestrutura de tal pratica que sua interpreta-
yao seja tratada como algo diferente da compreensao daquilo
qlle outros partieipantes querem dizer com as afirmayoes que
fazem ao coloca-la em operayao. Segue-se que um cientista so-
cial deve participar de uma pratica social se pretende compreen-
de-la, 0 que e diferente de compreender seus adeptos.
A arte e a natureza da i n t e n ~ o
A interpretayao artistica consiste inevitavelmente em des-
cobrir as intenyoes de um autor? Descobrir as intenyoes de um
autor e um processo factual independente dos valores do pro-
prio interprete? Comeyaremos pela primeira dessas perguntas
e por uma afirmayao cautelosa. A interpretayao artistica nao e
simplesmente uma questao de recuperar a intenyao de um au-
tor se por "intenyao" entendermos um estado mental conscien-
te, e nao se atribuirmos aafirmayao 0 significado de quc a
interpretayao artistica sempre pretende identificar um pensa-
mento consciente especifico que coordenava toda a orquestra-
yao na mente do autor quando este disse, escreveu ou criou sua
obra. A intenyao e sempre mais compIcxa e problematica. Por-
tanto, precisamos reformular nossa prime ira pcrgunta. Se, na
arte, uma pessoa quer ver na interpretayao a recuperayao da
intenyao de um autor, 0 que ela deve entender por "inten<;ao"?
Assim rcformulada, essa primeira pergunta vai dar uma nova
forma asegunda. Existe de fa to uma distinyao tao nitida, como
supoe a objeyao entre descobrir a intenyao de um artista e en-
contrar valor naquilo que eIe fez?
Precisamos primeiro lembrar uma observayao crucial de
Gadamer, de que a interpretayao deve p/Jr em pratica uma in-
tenyao
j
0 teatro nos oferece um exemplo elucidativo. Alguem
5. Ver Uadamcr, acima (n. 2).
68 o IMPERIO DO DIREfTO
que atualmente resolva produzir 0 mercador de Veneza deve
eneontrar uma coneepGao de Shylock que possa evocar, para 0
publico contemporaneo, 0 eomplexo significado que a figura
de urn judeu tinha para Shakespeare e seu publico, e por esse
motivo sua interpretaGao deve, de alguma maneira, unir dois
periodos de "conscieneia" ao transpor as intenGoes de Shakes-
peare para uma eultura muito diferente, situada no termino de
uma historia muito diferente
6
. Se eonseguir faze-lo, eprov3vc1
que sua leitura de Shylock seja muito diferente da visao eon-
creta que Shakespeare tinha desse personagem. Sob eertos as-
pectos, poden:' ser 0 eontrario, substituindo desprezo ou ironia
por simpatia, por exemplo, ou pode haver uma mudanGa de
enfase que talvez tome a relar,:ao entre Shylock e Jessica muito
mais importante do que aos olhos de Shakespeare como diretor
da peGa
7
A intenGao artistica c, portanto, complexa e estrutu-
rada: diferentes aspectos ou niveis de intenGao podem entrar
em conflito da maneira que se segue. A fidelidade a cada uma
das diversas opinioes concretas de Shakespeare sobre Shylock,
ignorando 0 efeito que teria sua eoncepr,:ao desse personagem
sobre 0 pLlblieo eontemporaneo, poderia configurar uma trai-
<;ao a seu proposito artistieo mais abstrato'. L "apliear" esse
proposito abstrato a nossa situa<;ao emuito mais que um neu-
tro exercieio historico de reconstruGao de um estado mental
anterior. De modo inevitavel, envolve as opinioes artisticas do
proprio intcrprete exatamente como 0 sugere a cxplieaGao
eonstrutiva da interpretaGao criativa, porque tenta eneontrar a"
melhor maneinl de expressar, dado 0 texto em qllestao, gran-
des ambiGoes artiSlicas que Shakespeare nunca formulou ou,
talvez, nem mesmo definiu eonscientemcnte, mas que sao pro-
dllzidas pOl' nos ao perguntannos como a peGa que de csereveu
leria sido mais esc1areccdora ou convineente para sua epoea.
(,. Dcvo est c cxcmpl o a Thomas Grey.
7. Jonathan Mill cr cnf'alizoll () papcJ de .lessica em sua produyao de
1069.
8. Ess<l ql1Cs li\ o 6 dcscnvolvida, no con(cxlO da inl crprelUyao das leis e
da nos capilulos IX e X. Vcr larnbelll '/ (Iki ng Rights Seriously,
cap. 5, e mcu li vro A Mafler o/Principle, cap. 2 (Cambridge. Mass ., 1985).
69 COtVCEfTOS DE f NTERPRETAC;AO
Stanley Cavell adiciona um novo grau de complexidade
ao mostrar de que modo ate mesmo as intenGoes eoncretas e
detalhadas de um artista podem ser problematieas". Ele obser-
va que urn personagem do filme La strada, de Fellini, pode ser
visto como uma refereneia alend a de Filomela, e pergunta 0
que preeisamos saber sobre Fellini para afirmar que a referen-
cia era inteneional (ou, 0 que e diferente, nao indeliberada).
Ele imagina um dialogo com Fellini no qual 0 cineasta diz que,
embora nunea antes tenha ouvido falar sobre essa lenda, ela
reflete 0 sentimento que ele tinha aeerca do personagem du-
ninte as filmagens, isto e, que ele agora a aceita como parte do
filme. Cavell diz que, em tais circunstancias, tende a tratar a
refereneia como deliberada. A analise de Cavell e importante
para nos, nao porque a questao agora e saber se ela ccorreta
em seus detalhes, mas porque sugere uma coneepGao de inten-
Gao muito diferente da tosca eoncepGao de estado mental cons-
ciente. Segundo esse ponto de vista, uma intuiGao faz parte da
intenGao do artisla quando se ajusta a seus propositos artisticos
e os ilumina de tal modo que ele a reconheeeria e endossaria
mesmo que ainda nao 0 tivesse feito. (POItanto, 0 teste do dia-
logo imaginario pode ser aplicado a autores mortos ha muito
tempo, como deve ser se pretendemos que tenha alguma utili-
dade critica geral.) Isso introduz 0 senso de valor artistico do
inter prete na reconstruGao da intenGao do artista pclo menos de
uma mane ira comprobatoria, pois 0 julgamento que faz 0 in-
terprete sobre aquilo que 0 autor teria aeeito vai ser guiado por
seu senso daquilo que 0 autor deveria ter aeeito, isto C, seu sen-
so de quais leituras tornariam a obra melhor e quais a lorna-
nam pior.
A conversa imaginaria com Fellini eomer,:a com Cavell
achando que 0 [ilme [icaria melhor se visto como incluindo
uma refereneia a Filomela; Cavell supoe tambcm que Fellini
poderia ser levado a compartilhar esse ponto de vista, a descjar
tal leitura do filme e a ver que suas ambiGoes tem melhor re-
9. Stanley Cavell, MuSI We Mean What We Say?, cap. R (Nova York,
1969). Comparar corn GadaJllcr, acillla (n. 2, pp. 39-55).
70 o IMPERIO DODIREITO
sultado admitindo essa intenc;:ao. A maioria das razoes que
Cavell apresenta para fundamentar tal suposic;:ao sao as razoes
dele para preferir sua propria leitura. Nao quero dizer que esse
uso da intenc;:ao artistica seja uma especie de fraude, um disfar-
ce para 0 ponto de vista do interpretc. Pois essa conversa ima-
ginaria tem um importante papel negativo: em algumas cir-
cunstancias, um interprete teria bons motivos para supor que 0
artista rejeitaria uma leitura que agrade ao intcrprete. Tambem
nao quero dizer que devemos aceitar a id6ia geral de que a in-
terpretac;:ao consiste em recuperar ou reconstruir as inten<;6es
de um determinado autor uma vez que abandonemos a concep-
c;:ao tosca do estado mental consciente. Hoje, muitos criticos
rejeitam cssa ideia geral de maneira ainda mais sutil, e mais
adiantc teremos de examinar de que modo essa querela persis-
tente deve ser entendida. No momento, pretendo apenas afir-
mar que a id6ia da inten<;ao do autor, quando se torna um me-
todo ou um estilo de interpretac;:ao, implica em si mesma as
convicc;:6es artisticas do interprete: estas serao muitas vezes
fundamentais para estabelecer aquilo em que, para tal intcrpre-
te, realmente consiste a intenc;:ao artistica desenvolvida.
Podemos, se desejannos, usar 0 relata de Cavell para ela-
borar uma nova descric;:ao daquilo que fazem os cidadaos de
minha imaginaria comunidade interessada na cortesia ao in-
terpretarem sua pnitica social, um relato que poderia ter pare-
cido absurdo antes desta discussao. Cada cidadao, diriamos,
esta tentando descobrir sua propria intenc;:ao ao manter cssa
pratica e dela participar - nao no sentido de recuperar seu es-
tado mental da ultima vez em que tirou 0 chapeu em sinal de
respeito a uma senhora, mas no sentido de encontrar uma ex-
plicac;:ao significativa de seu comportamento que 0 fac;:a sen-
tir-se bem consigo mesmo. Essa nova descriGao da interpreta-
Gao social como uma conversa consigo mesmo, como comb i-
nac;:ao dos pap6is de autor e critico, sugere a importancia, em
termos da interprctac;:ao social, do choque de reconhecimento
que tem um papel tao importante nos dialogos que Cavell ima-
gina ter com os artistas. ("Sim, isso confere sentido ao que fa-
c;:o ao tirar meu chapcu; ajusta-se i\ noc;:ao que tenho de quando
71 CONCEITOS DE INTERPRETA9AO
seria errado faze-lo, noc;:ao que ate entao nao fui capaz de des-
crever, mas que agora se torna possive!." Ou "Nao, nao faz
sentido".) De outro modo, a nova descric;:ao nada acrescenta a
minha primeira descric;:ao que possa mostrar-se util a nos. Re-
vela, apenas, que a linguagem da intenc;:ao, e pelo menos al-
gum aspecto da idcia de que a interpretaGao e uma questao de
intenc;:ao, encontra-se ao alcance tanto da interpretac;:ao social
quanto da interpretac;:ao artistica. Na id6ia de inten<;ao, nao
existe nada que necessaria mente separe os dois tipos de inter-
preta<;ao criativa.
Agora, porem, chegamos a um aspecto mais importante:
ha, nessa id6ia, aJguma coisa que necessariamente as une. Por-
que, mesmo se rcjcitarmos a tese de que a interpretaGao criati-
va pretende descobrir alguma inten<;ao hist6rica real, 0 concei-
to de inten<;ao ainda assim oferece a estrutura formal a todo
enunciado interpretativo. Quero dizer que uma intcrpretac;:ao e,
por natureza, 0 relata de um proposito; cIa prop6e uma forma
de vel' 0 que einterpretado - uma pratica social ou uma tradi-
c;:ao, tanto quanto um texto ou uma pintura -- como se este fosse
o produto de uma decisao de perseguir um conjunto de temas,
vis6es ou objetivos, uma dire<;ao em vez de outra. Essa estrutu-
ra 6 necessaria a uma interpreta<;ao mesmo quando 0 material
a ser interpretado e uma pnitica social, mesmo quando nao
existe nenhum autor real cuja mente possa ser investigada. Em
nossa hist6ria imagimiria, uma interpreta<;ao da cortesia tent
um ar intencional ainda que a inten<;ao nao possa ser atribuida
a ninguem em particular, nem mesmo as pessoas em gera!.
Essa exigencia estrutural, considerada como indcpendente de
qualquer outra exigencia que ligue a interpreta<;ao as intenc;:6cs
de um autor especifico, prop6e um estimulante desafio do qual
nos ocuparemos mais adiante, em especial no capitulo VI. Por
que valeria a pen a insistir na estrutura formal do prop6sito, da
maneira como explicamos os textos ou as institui<;6es juridi-
cas, para alem do objetivo de recuperar alguma intenc;:ao auten-
tica atua!?
I
72 oIMPERIO DO DIREITO
Intent;do e valor da arte
Afirmci , ha pouco, que 0 metodo de interprcta<;ao artisti-
ca que se fundamenta na inten<;ao do autor e discutivel ate
mesmo em sua forma mais plausivel. Muitos criticos afirmam
que a interpreta<;ao liteniria deve ser sensivel a certos aspectos
da literatura - os efeitos emocionais que ela cxeree sobre os
leitores, ou 0 modo como sua linguagem foge a qualquer redu-
<;ao a um eonjunto especifieo de significados, ou a possibilida-
de de dialogo que cria entre 0 artista e 0 publico, por exemplo
-- qucr esses aspectos fa<;am ou nao parte da inten<;ao do autor,
mesmo no sentido eomplexo em que at6 0 momenta a cxami-
namos. E mesmo aqueles que ainda insistem em afirmar que a
inten<;ao do artista deve ser decisiva quanto a "verdadeira"
naturcza da obra divergem sobre 0 modo como essa inten<;ao
deve scr reconstruida. Todas essas divergcncias sobre a inten-
<;ao e a arte sao importantes para nbs nao porque devamos
tomar partido - 0 quc 11ao se faz nccessario aqui -', mas porque
devemos tcntal' compreender a natureza da discussao, aquilo so-
bre que rcalmente ha divergencia.
Aqui esta uma resposta a essa questao. As obras de arte se
apresentam a nos como portadoras- ou peIo menos assim 0
pretendem - de um valor especifico que chamamos de esteti-
co: esse modo de apresenta<;ao faz parte da ideia mesma de tra-
di<;ao artistica. Mas 6 scmpre uma questao um tanto aberta, so-
bretudo na tradi<;ao critiea geral que ehamamos de "modernis"
ta", saber on de se eneontra esse valor e ate que ponto ele se
coneretizou. Os estilos gerais de interpreta<;ao sao, ou pelo
menos pressupoem, respostas gerais aquestao que, portanto,
fieou em aberto. Sugiro, entao, que 0 argumento acadcmico
sobre a inten<;ao do autor seja eonsiderado como um argumen-
to partieularmente abstrato e teorieo sobre onde se situa 0 va-
lor na artc. Assim, esse argumento descmpenha seu papel,jun-
tamente com argumentos mais concretos e valiosos, voltados
principal mente para objetos particulares, nas praticas essen-
eiais que nos propicia a experiencia estetica.
Essa maneira de ver 0 debate entre os criticos expliea por
que alguns periodos de atividade literaria sao mais associados
CONCEITOS DE INTERPRETA9AO 73
1"1
do que outros com a inten<;ao artistica: sua cultura intelectual
vincula 0 valor na arte mais firmemente ao proeesso de cria<;ao
artistiea. Cavell observa que "na arte moderna, 0 problema da
inten<;ao do autor ... assumiu um papel mais visivel, em nossa
aeeita<;ao de suas obras, do que em pcriodos anteriores", e que
"a pnitica da poesia se transforma nos seeulos XIX e XX de tal
modo que as questoes de inten<;ao ... sao impostas ao lei tor
pelo proprio poema"' O. Essa mudan<;a reflete e eontribui para 0
desenvolvimento, naqueles periodos, da eonvie<;ao romantiea
de que a alte tem 0 valor que tem - e concretiza esse valor em
objetos e eventos cspecifieos - porque e quando enearna 0 ge-
nio criador individual. 0 predominio dessa coneep<;ao do valor
da arte em nos sa cultura explica nao apenas nossa preoeupa<;ao
com a inten<;ao e a sineeridade, mas muito mais - nossa obses-
sao com a originalidade, por exemplo. Assim, nosso estilo de
interpreta<;ao dominante fixa-se na inten<;ao do autor, e as dis-
cussoes, no interior desse esti/o, sobre 0 que e, mais preeisa-
mente, a inten<;ao artistica refletem duvidas e divergencias
mais afinadas sobre a natureza do genio criador, sobre 0 papel
do conscientc e do inconseiente, e sobre 0 que hfl de instintivo
em sua composi<;ao e expressao. Alguns critieos que divergem
mais explicitamente do estilo autoral, pois enfatizam os valo-
res da tradi<;ao e da continuidade nos quais 0 lugar de um autor
muda amcdida que a tradi<;ao se constroi, defendem uma in-
terpreta<;ao retrospectiva quc faz a melhor leitura da obra de-
pender daquilo que foi eserito um seculo mais tarde". Desafios
ainda mais radicais, que insistem na importiincia das conse-
quencias soeiopoliticas da arte, ou da semantica cstruturalista
ou desconstrueionista, ou que insistcm na narrativa construida
entre 0 autor e 0 leitor, ou que pareccm rejeitar por completo a
atividade interpretativa, recorrem a concep<;oes muito diferen-
tes do lugar em que de fato sc encontra 0 valor conceitualmen-
te pressuposto da arte.
10. Cavell, acim:l (n. 9, pp. 22R-9).
II. Vcr T. S. Eliot, "Tradition and the Individual Talent", Selected
Essays (Nova York, 1(32).
74 o IMPERIO DO DIREITO
Essa exposic;ao da complexa interac;ao entre a interpreta-
r,:ao e outros aspectos da cu)tura e perigosamente simplista;
prctcndo apenas sugerir como a discussao sobre a intenc;ao na
interpretac;ao, situada na pratica social mais ampla de discus-
sao do modo de avaliar a arte, pressupoe, ela mesma, 0 objeti-
vo mais abstrato da interpretac;ao construtiva, visando tirar 0
melhor proveito daquilo que e interpretado. Preciso ter cuida-
do para que nao me entendam mal. Nao estou afirmando que a
teoria da interpretac;ao artistica com base na intenc;ao do artista
seja errada (ou certa), mas que, certa ou errada, essa qucstao e
aquilo que ela significa (ate onde seja possivel refletir sobre
essas questoes no ambito de nossa tradir,:ao critica) dcvem vol-
tar-se para a plausibilidade de alguma hip6tese mais funda-
mental sobre a razao por que as obras de arte tcm 0 valor que
sua aprcsentac;ao pressupoe. Tampouco quero dizer que 0 criti-
co empenhado em rcconstituir as intenr,:ocs de Fellini ao reali-
zar La strada deva ter em mente, enquanto trabalha, alguma
teoria que ligue a intenc;ao ao valor estetico: a intenc;ao critica
nao e urn estado mcntal mais do que a intenc;ao artistica. Nao
estou prctendendo afirmar, tambem, que se 0 critico relatar es-
sa intenc;ao como sc cia incluisse uma reelaboraC;ao de Filo-
mcla, cmbora isso nunca tenha sido admitido por Fellini, cle
deve ter conscicncia de estar pensando que 0 filme sera melhor
sc intcrpretado dessa maneira. Quero di zer, apenas, que nas cir-
cunstancias habituais da critica, devemos ser capazes de atri-
buir-lhe tal ponto de vista, do mesmo modo que em geral atri-
buimos convicc;ocs as pessoas, se quisermos entender suas
afirmac;oes como interpretativas, e nao, por exemplo, como
zombeteiras ou enganadoras
l2
Nao nego 0 que e6bvio, isto e,
12. Cireunsliincias incomuns ausentes. Imagine esta sequencia: um cri-
ti co insistc em que, embora 0 proprio l'cllini nan se tcnha dado conla enquan-
to filmava, a ITlclhor rnaneira de interprcl ar La strada 6 atravcs on hisloria de
FiJoInela. Em segu ida 0 cri lieo acrcscenla que 0 /ilme, ass im cnlcndido, e
parlicularmcnle banal. Ficamos scm saber por que cle faz tal interprela9ao.
Nao quero di zer que IOcJo lipo de alividade que chamamos de interpreta9ao
pretenda fazer 0 mclhor daquilo que intcrprcta - uma inlcrprela930 "eienti fi-
ca" do Holocausto nao leillaria mostrar os motivos dc Hitler sob 0 ponto de
CONCEITOS DE INTERPRETAr;AO 75
que os interpretes pensam no ambito de uma tradic;ao interpre-
tativa a qual nao pod em escapar totalmente. A situar,:ao inter-
pretativa nao e um ponto de Arquimedes, nem isso esta sugeri-
do na ideia de que a interpretac;ao procura dar ao que e inter-
pretado a melhor imagem possivel. Recorro mais uma vez a
Gadamer, que acerta em cheio ao apresentar a interpretar,:ao
como algo que reconhece as imposir,:ocs da hist6ria ao mesmo
tempo que luta contra elas!.l.
e praticas
Em rcsposta aobjec;ao que apresentei ao iniciar esta dis-
cussao, afirmo que em nossa cultura a interpretac;ao artistica e
uma interpretac;ao construtiva. A grande questao sobre ate que
ponto a melhor interprctac;ao de uma obra de arte devc ser fiel
aintenc;ao do autor volta-se para a questao construtiva de saber
se a accitar,:ao dessa exigencia permite que a interpretac;ao
aprimore ao maximo a experiencia ou 0 objeto artisticos. Os
que admitem essa possibilidade, por acharem que 0 genio ea
essencia da arte, ou por alguma outra razao, devem fazer uma
avaliac;ao mais detalhada do valor artistico ao decidirem qual
e, de fato, a intenc;ao pertinente ao autor. Devemos, agora, exa-
vista mais atracnte, assim como algue.n que tentasse mostrar os efeilos scxis-
tas de uma hisl6ria cm quadrinhos nao se empenharia cm cncontrar uma in-
terpreta9iio niio-scxista - , mas apenas que assim sao as eoisas nos casos nor-
mais ou paradigmaticos de interpreta9ao eriati va. Algucm poderia tenlar
desacreditar urn escri tor ao mostrar sua obra naqu ilo que ela tem de pior, nao
de melhor, c natural mente apresentaria seu argumento como uma inlcrpreta-
930, uma afirma9lio sobre 0 que "rcalmenlc e" a obra do eseritor em questao.
Se 0 crilico real mente acredila que ncnhuma outra intcrpreta<;1io mais favon\-
vel se ajusta tao bem, seu argumento se cnquadra cm minha dcscri<;ao. Mas
suponhamos que ele nao acredite, C esteja omitindo uma intcrprcta<;flo mais
atraente, que tambcm cacei tavcl tendo-sc em vista 0 lex to. Ncsse caso, sua
estrategia edepcndente da avalia<;ao normal , poi s ele s6 sera bem-succdido sc
seu publico nao pcrccber scu vcrdadeiro objetivo; somcnte se aereditar quc
de tentou produzir a mclhor intcrprcta9ao possi vel.
13. Gadamer, acima (n. 2).
76
oIMPERIO DO DIREITO
minar a do modo como ela se apliea espeeifieamente a
outra modalidade de criativa, a interpreta<;:ao das
pnitieas e estruturas soeiais. Como poderia essa forma de in-
pretendcr dcscobrir algo como a dc um
aut or? Observamos um sentido no qual alguem poderia cogitar
tal possibilidade. Um participante de uma pratica social pode-
ria pensar que a interpreta<;:ao de sua prMica significa desco-
brir suas proprias no sentido que descrevi . Mas essa
hipotese nao faz frente a pois a sustenta que a
interpreta<;:ao deve ser neutra, e que, portanto, 0 interprete deve
tentar descobrir os motivos e propositos de outra pessoa. Que
sentido podcmos dar a essa sugestao no contexto da interpreta-
social?
Existem duas possibilidades. Alguem poderia dizer que
interpretar uma pratiea social significa deseobrir os prop6si-
tos ou intel1<;:oes dos outros participantes da pratiea, os cida-
daos da hipotetiea eomunidade, por exemplo. Ou que significa
descobrir os prop6sitos da comunidadc que abriga essa prati-
ea, coneebida .como tendo, ela mesma, alguma forma de vida
mental ou de eonsciencia de grupo. A primcira dessas suges-
toes parece mais atraente, por ser a menos misteriosa. Mas e
excluida pela estrutura interna de uma pratica social argumen-
tativa, pois e uma caracteristica de tais pniticas que uma afir-
intcrprctativa nao seja apenas lima sobre
aquilo que outros interpretes pensam. As praticas sociais sao
compostas, sem dllvida, pOl' atos individuais . Muitos desses
atos tem por objetivo a e, pOl'tanto, convidam a
seguinte pcrgunta: "0 que clc quis di zer com isso?", ou "Por
que ele disse isso exatamente naquelc momento?" Se um mem-
bro da comunidade hipotetica diz a outro que a institui<;ao
exige que se tire 0 chapeu diantc dos superiores, torna-se per-
feitamente sensa to fazer tais perguntas, e responde-las seria
tentar compreender tal pessoa da maneira quc 6 usual na inter-
preta<;:ao conversacional. Mas uma pdltica social cria e pressu-
poc uma distin<;:ao crucial entre interpretar os atos c pcnsamen-
tos dos participantes um a um, daquela maneira, e interpretar a
pratica em si, isto e, interpretar aquilo quc fazcm coletivamen-
CONCEITOS DE INTERPRETAr;AO 77
teo Ela pressupoe essa porque as afirma<;:oes e os ar-
gumentos que os participantcs apresentam, autorizados e esti-
mulados pela pratica, dizem respeito ao que ela quer dizer, e
nao ao que cles querem dizer.
Essa nao teria importancia efetiva se os partici-
pantes de uma pra.tica sempre estivessem de acordo quanto a
melhor dela. Mas eles nao concordam, pelo me-
nos em detalhes, quando a atitude interpretativa e intensa. De-
vem, na verdade, concordar sobre muitas coisas para poderem
compartilhar uma pnitica social. Devem compartilhar um voca-
b.ulario: devem ter em mente mais ou menos a mesma coisa
quando mencionam chapcus ou exigencias. Devem compreen-
der 0 mundo de maneira bastante parecida, e ter interesses e
suficientemente semelhantes para reconhecer 0 sen-
tido das de todos os outros, para trata-Ias como afir-
nao como meros ruidoso Isso significa nao apenas usar
o mesmo dicionario, mas compartilhar aquilo que Wittgenstein
chamou de uma forma de vida suficientemente concreta, dc tal
modo que um possa encontrar sentido c propos ito naquilo que 0
outro diz e faz, ver que tipos de e de motivos dariam um
sentido a sua a seus gcstos, a seu tom de voz, e assim
por diante, Devem, todos, "falar a mesma lingua" em ambos os
sentidos da expressao. Mas essa semelhan<;:a de interesses e
so deve manter-sc ate um certo ponto: deve ser sufi-
cientemente densa para permitir a vcrdadeira divcrgencia, mas
nao tao densa que a divergencia nao possa manifcstar-se.
Portanto, cada um dos adeptos de uma pnltica social devc
estabelccer uma entrc tentar decidir 0 que outros
membros de sua comunidadc pensam quc a pratica exigc, e
tentar decidir, para si mesmo, 0 que cia rcalmente requer.
Uma vez quc trata de questoes difercntes, os mctodos inter-
pretativos que cle usa para responder a esta ultima questao
nao podem scr os metodos da convcrsacional,
dirigida a individuos um a um, que usaria para responder a
primeira. Um cicntista social que sc oferece para intcrpretar a
pratica deve estabelecer a mesma Se assim 0 dese-
o IMPERIO DO DJRElTO 78
jar, ele pode dedicar-se apenas a reportar as diversas opinioes
que diferentes membros da comunidade tem a respeito daqui-
10 que a priitica exige. Mas isso nao configuraria uma inter-
prctac;ao da pn,\tica em si; se de se dedicar a esse outro projc-
to, deve abrir mao do individualismo metodologico e empre-
gar os m6todos que os que estao submetidos a sua am\lise L1sam
para formar suas pr6prias opinioes sobre aquilo que a cortesia
realmente exige. Ele devc, portanto, aderir a pratica que se
propoe compreender; assim, suas conclusoes nao serao relatos
neutros sobre 0 que pensam os mcmbros da comunidade, mas
afirmac;oes sobre a cortesia que competem com as deles
14
.
Que dizer da sugesiao mais ambiciosa de que a interpreta-
yao de uma pratica social einterpretayao conversacional diri-
gida acomunidade como um todo, concebida como uma enti-
dade superior? Os fil6sofos tem explorado a id6ia de uma cons-
ciencia co let iva ou de grupo por muitas razoes e em muitos
contextos, alguns dos quais pertinentes ainterpretayao; discuto
14. Ilabcrmas observa que a cicncia social difere da cicncia natural cxa-
tamcntc por eSla raziio. Afinna que, mesmo quando dcscartamos it coneepGao
newtoniana da cicncia natural como cxplicaGao dos fcn6mcnos t<:oricamcnte
neutros, cm favor da coneepG30 moderna de que a teoria dc UI1l cienlista
detcnninara aquilo que ele vc como dados, ainda assim continua cxistindo
Lima importante diferenGa entre a ciencia natural e a social. Os cientistas so-
ciais ja encontram scus dados pre-intcrprctados. Devcm compreendcr 0 com,
portamcnto do modo como cste ja ccomprcendido pclas pessoas que lem tal
cOlllportamcnto; um cicnlista social deve ser pclo i11cnos um participante
"virtual" das pniticas que pretcndc descrcver. Dcvc cstar pronto ajulgar, bCi11
como a rcportar, as afirmaGoes quc fazci11 scus sujcitos, pois, a mcnos que
possa julga-Ios, nao podent compreendc-Ios. (Vcr Habermas, acima, n. 2, pp.
102-11.) Argumento no lexlo quc Ui11 eientisla social quc tente comprccnder
uma prMica social argumcn!ativa eOlllo a pn\!ica da cortesia (ou, como afir-
marei, do dircito) dcvc parlicipar do espirito de seus participantcs, i11csmo
quc sua participaGao seja apenas "virtual". Uma vcz que nlio prctcndcm inter-
pretar-se entre 5i it mancira eon versacional quando aprcscntam scus pontos dc
vista sobre as verdadeiras exigcncias da cortesia, tampouco pode faze-Io
cientista quando apresenta scus pontos dc vista. Sua interpretac,:ao da cortcsia
dew contestar a deles e, portanto, ser ullla intcrpretaG30 construtiva, c nao
conversacional.
CONCEITOS DE INTERPRETAC;AO 79
alguns deles em uma nota
l5
. Mesmo que aceitemos a dificil on-
tologia dessa sugestao, contudo, ela e invalidada pelo mesmo
argumento que e fatal a menos ambiciosa. A interpretayao
conversacional einadequada porque a pratica a ser interpreta-
da determina as condiyoes da interpretayao: a comunidade hi-
15. A ideia de uma consciencia social ou de grupo parcce oferecer uma
fuga a uma seria dificuldade que, como pensam muitos, amca9a a possibilida-
de da interpretaGiio conversacional atraves dc culturas e epocas. Como pode-
mos esperar comprccndcr 0 que alguem escrevcu ou pensou em uma cultura
difcrente, muito tempo arras, ou 0 que suas praricas c instituiGoes sociais sig-
niticavam para ele? Nao podemos compreendc-Io a menos que vejamos 0
mundo como eic 0 ve, mas nao podemos deixar dc ve-Io do modo como ja 0
vemos, o modo como 0 cxprcssamllossa linguagcm e nossa cultura, c a partir
desse pOlltO de vista suas aflrmaGocs podcm parecer tolas e imotivadas. (Para
uma versao dcssc argumcnto cm um contcxto juridico, vcr I{obcrt Gordon,
"Historicism in Lcgal Scholarship", 90 Yulc LuwJournall01 7, 1021 [1981].)
Nao podcmos cspcrar aprccndcr 0 quc a palavra "casta" significa para pessoas
que nLinca foram afctadas por cia, assim como nao podcmos comprccnder
alguem quc afirma cstar sofrcndo c nao so nao sc importa, como tamb6m nao
entende pOl' que algucm devcria sofrer. Contudo, 5e pudcrmos accitar quc as
culturas c as 6pocas podcm ter lima esp6eic de co nscicncia duradoura, c que a
propria historia tem sua vida mental abrangcntc, as pessoas dc um periodo
podem csperar comprecndcr as de oulro, po is todas participam de uma cons-
eicncia comum com signiticados duradouros quc compartilhai11. Essa ambi-
eiosa id6ia scpara os aros con ve rsacionais dc dctenninadas pessoas, cxpres-
sando scus intcresses c pressupostos individuais, 0 que exprime os prop()sitos
e motivos de unidacles sociais mais amplas, cm ultima instancia da propria
vida (lll da mente.
Nao posso cliscutir aqui a olltologia do cspirito dc grupo ou a va lidadc
cia sugcstao dc que clc ofcreec uma soluc,:ao ao problcma do isoiamcilto cultu-
ral. (Vcr (lcima, n. 2, as citmilics de Dilthcy, Gadamcr c Habcrmas.) Valc assi-
nalar, contu<io, que 0 problcma sera dificil c amcac;ador somentc se 0 que
estiver em qucstao for a interprerac;ao conversacional , c nao a interpretaGao
construriva. Quando {:; convcniente adotar a atitudc intcrprctativa quc descre-
vo no tcxto com rclaG30 a alguma cultura difcrentc (vel' , por cxcmplo, a dis-
cussao dos sistemas juridicos pcrvcrsos e estrangciros, no capitulo Ill), tcnta-
mos comprcc ndc-I a nan Clll termos convcrsacionais, mas antes faz<:ndo dcla 0
melhor possivcl, dados os nossos propositos c nossas convicGoes. Se pensar-
1110S que esse objctivo exige que descubramos ou adotemos as cOllvicGoes
reais - que pockriam nao ser as nossas <los protagonistas historicos, 0 pro-
blema do isolalllcnto continua existindo. (:: possivcl que nao eonsigamos, de
maneira sCllsata, at ribuir a Shakespeare ncm mcsillo a intenc,;f1o rclativamcnte
o IMPERIO DO DIREITO 80
potetica insiste em que interpretar a cortesia nao se reduz a
uma questao de descobrir 0 que uma pessoa em particular pen-
sa sobre ela. POltanto, mesmo supondo que a comunidade e
uma pessoa distinta, com opinioes e convicyoes proprias, al-
gum tipo de consciencia de grupo, esse pressuposto apenas
acrescenta it historia uma outra pessoa cujas opinioes urn inter-
prete deve julgar e contestar, nao simplesmente descobrir e re-
portar. Ele deve ainda estabelecer uma distin<;ao, entre a opi-
niao que a consciencia de grupo tern sobre aquilo que eexigi-
do pela cortesia, que ele pensa poder descobrir ao reflctir sobre
seus motivos e prop6sitos distintos, e aquilo que cle, 0 inter-
prete, pensa quc a cortesia realmente exige. El e ainda precisa
de um tipo de metodo interpretativo que possa usar para por it
prova 0 julgamcnto daquela entidade, uma vez descoberto, e
esse metodo nao pode consistir numa cOllversa<;ao com essa
entidade, ou com qualquer outra coisa.
Come<;amos essa longa discussao cstimulados pOl' uma
importante objc<;ao: de que a descri<;ao cOllstrutiva da interpre-
ta<;ao criativa eerrada porquc a intcrpreta<;ao criativa esempre
interpreta<;ao conversacional. No caso da interpreta<;ao das
pr<lticas sociaif>, essa obje<;ao c ainda mais inadequada que no
caso da intcrpreta<;ao artistica. A descri<;ao cOllstrutiva deve de-
frontar com outras obje<;oes, em particular com a obje<;ao que
examinarei mais adiante, neste capilulo: de que a interpreta<;ao
construtiva nao pode ser objetiva. Mas devemos estudar um
pouco mais esse modo de interpretayaO, antes de coloca-Io de
novo apro va.
ahstrata de provocar, entre seus eonteillporflncos, uma detcnninada reaGao
complcxa a Shylock. Mas csscs prohlemas, quando scrios, se transformam em
razoes para ariaptar as exigencias da intcrpretaGao construtiva aquilo que po-
dcmos alcanGar, para clJcontrar no tcatro algullla ciimens50 de valor que nos
pcrmitJ !ilzer 0 mel hoI' possi vel de 0 mereudo,. de Vel1eza (ou dos anteceden-
tes germallicos do ciireito consuetudiJ1ilrio) scm uma cspcculaGao duvidosa
sobrc cstados de espirito aos quais nao tcmos accsso dcvido as barrciras eultu-
rai s. Pois na interprelaGii o eonstruliva as inlcnGocs hist6ricas nao sao os lunda-
Illcntos constituti vos <in interpretativa. A incapacidade de rccu-
peni-Ias nao eum dcsastrc intcrpretativo, poi s cxistcll)outras maneiras, quuse
sempre muito mclhores, de cneonl.rar valor nas traciiGiics as quais aderimos.
CONCEITOS DE INTERPRETA C;A-O
81
Etapas da
Precisamos eomeyar a refinar a interpreta<;ao construtiva,
transformando-a em um instrumento apropriado ao estudo do
direito enquanto pr<itiea social. Teremos de estabelecer uma dis-
tin<;ao analitica entre as tres eta pas da interpreta<;ao que apre-
sentaremos a seguir, observando como sao necessarios, em
uma comunidade, diferentes graus de consenso para cada eta-
pa quando se tem em vista 0 florescimento da atitude interpre-
tativa. Primeiro, deve haver uma etapa "pre-interpretativa" na
qual sao identificados as rcgras e os padroes que se conside-
ram fornecer 0 conteLldo experimental da pratica. (Na interpre-
ta<;ao de obras I itenlrias, a etapa equivalente eaquela em que
sao textual mente identifieados romances, pe<;as, etc., isto e, a
etapa na qual 0 texto de Mohy Dick eidentificado e distinguido
do texto de outros romances.) Coloco "pre-interpretativo" en-
tre aspas porquc, mesmo nessa etapa, algum tipo de interpreta-
c.;ao se faz necessario. As regras socia is nao tem rotlilos que as
identifiquem. Mas epreciso haver um alto grau de consenso -
talvez uma cOIllLlnidade interpretativa seja bem definida como
I1ccessitando de conscnso ncssa etapa - . sc se espera que a ati-
tude interpretativa de frutos, c podemos, portanto, nos abstrair
dessa etapa em nossa analise ao pressupor que as elassi fica-
<;oes que ela nos oferecc sao tratadas como um dado na refle-
xao e argumenta<;ao do dia-a-dia.
Em segundo lugar, deve haver uma etara interpretativa
cm que 0 interprete se concentre nurna justifieativa geral para
os principais elementos da pratica identificada na etapa pre-
interpretativa. Isso vai consistir numa argumenta<;ao sobre a
conveniencia ou nao de buscar uma pratiea com essa forma gc-
rat. A justificativa nao precisa ajustar-se a lodos os aspectos
ou caracteristicas da pn'ttiea cstabelecida, mas deve ajustar-se
o suficiente para que 0 interprete possa ver-se como algucm
que interpreta essa pratica, nao COIllO alguem que inventa uma
nova pratiea"'. Par ultimo, deve haver uma etapa p6s-interprc-
16. Para uma di scussao mais apruflll1dada dessa di stin,:iio, e da inter-
pretaGao eriativa em tcrmos gerai s, vcr Dworkin, "Law as Interpretation", em
82
o IMPERIO DO DIREITO
tativa ou reformuladora aqual ele ajuste sua idcia daquilo que
a pnitica "realmente" requer para melhor servir ajustificativa
que ele aceita na etapa interpretativa. Um interprete da comu-
nidade hipotetica em que se pratica a cortesia, por exemplo, podc
vir a pensar que uma aplica<;ao coerente da mclhor justificativa
dessa pratica exigiria que as pessoas tirassem os chapeus tanto
para soldados que voltam de uma guerra quanto para os no-
bres. Ou que ela exige uma nova exce<;ao a um padrao estabe-
lecido de deferencia: isentar os soldados das demonstra<;oes de
cortesia quando voltam da guerra, por exemplo. Ou, talvez, ate
mesmo que uma regra inteira estipulando defercncia para com
todo urn grupo (ou toda uma classe) de pessoas deva ser vista
como urn erro aluz daquela justificativa 17.
Em minha sociedade imagimlria, a verdadeira interpreta-
<;ao seria muito mcnos deliberada e estruturada do que sugere
essa estrutura analitica. Os juizos interpretativos das pessoas
scriam mais uma questao de "ver" de imediato as dimcnsoes
de sua pratica, urn prop6sito ou objetivo nessa pratica, e a con-
seqiiencia p6s-intcrpretativa desse prop6sito. E "ver" desse mo-
do nao seria, habitual mente, mais penetrante do que 0 mero fato
de concordar com uma interpreta<;ao entao popular em algum
grupo cujo ponto de vista 0 interprete adota de maneira mais ou
The Politics o/fnterpretatioll 2&7 (W . .I. T. Mitchell , org., Chicago, 1983); S.
Fish, "Working on the: Chain Gang: Int erpretation in t,.aw and Literature", 60
Texas Law Review 373 (19R2); Dworkin, "My Reply to Stanley Fi sh (and
Waltcr Henn Michaels): Please Don't Talk about Objectivity Any More", em
The Politics 0/ Interpretation, 2R7; S. Fish, "Wrong Again", 62 Texas Law
Review 299 (19R3) . Os artigos de Dworkin forum reeditados, ainda qu-c 0
segundo estcja modificado c abreviado. Clll A Maller 14Pril1!'ip/e, caps. (i e 7.
17. Poderiamos resumir essas tres ctapas na observal,:ao de que a intc:r-
prctac;ao proeura cstabelccer urn C4uilibrio entre a deseric;iio prc-interpretati-
va de uma priltica social c uma justificativa apropriada de tal pratica. Tomo a
palavra "equilibrio" emprestada de Rawls, mas essa descri<;ao da interpreta-
Gao 6 difcrcntc de sLia do raeiocinio sobrc a justiC;<l. Elc contempla 0
equilibrio cntre 0 que chama de "intuic;oes" sobre a j ustic;a e uma te:oria for-
mal que une c:ssas intuil,:ocs. Ver John Rawl s. A Theo,), ofJustice, pp. 20- 1,
48-50 (Cambridge. Mass., 1971). A interpretac;ao dc uma pn\tica social procura
equilibrio cntre ajllstificativa da pratica c e:xigcncias p6s-intcrprctativas.
(, DNCEITOS DE INTERPRETAr;XO 83
menos automatica. Nao obstante, havera uma controversia ine-
vitavel, mesmo entre os contemporaneos, a prop6sito das exatas
dimensoes da pratica que cles todos interpretam, e a controver-
sia sera ainda maior quanta amelhor justificativa para tal pra-
tiea. Pois ja identificamos, em nossa exposi<;ao prcliminar da
natureza da interprcta<;ao, t1luitas maneiras de divergir.
Podemos agora retomar nossa exposi<;ao analitica para
compor urn inventario do tipo de convic<;oes, cren<;as ou supo-
si<;oes de que uma pessoa necessita para interpretar alguma
coisa. Ela precisa de hip6teses ou convic<;oes sobre aquilo que
evalido, enquanto parte da pratica, a fim de definir os dados
brutos de suainterpretac;ao na etapa pre-interpretativa; a atitu-
de interpretativa nao pode sobreviver a menos que membros da
mesma comunidade interpretativa compartilhem, ao menos de
maneira aproximada, as mesmas hip6tescs a prop6sito disso.
Ela tambem precisara dc convic<;oes sobre ate que ponto a jus-
tificativa qLle propoe na etapa interpretativa deve ajustar-se as
caracteristieas habituais da pnitica, para ter va lor como uma
interpreta<;ao dela e nao como inven<;ao de algo novo. Pode a me-
Ihor justificativa das praticas da cortesia, que para quase todo
o mundo significa basicamente a demonstra<;ao de deferencia
para com seus superiores sociais, ser aquela que de fato nao
vai exigir, na etapa da rcformula<;ao, nenhuma distinc;ao em ter-
mos de posi<;ao social? Seria esta lima rcforma demasiado ra-
dical , uma justificativa demasiado inadequada para valer como
uma interpreta<;ao? Uma vez mais, nao podc haver uma dispa-
ridade muito grande entre as convicc;oes de diferentes pessoas
sobre tal adequa<;30; s6 a historia, porem, pode nos cnsinar 0
que deve ser visto como excesso de discrcpancia. Finalmente,
essa pessoa vai precisar de convie<;oes mais substantivas sobre
os tipos de justificativa que, de fato, mostrariam a prfltica sob
sua meJhor luz, e de j uizos sobre se a hierarquia social 6 dcsc-
javel ou deploravcl, por exemplo. Essas convic<;oes sllbstanti-
vas devem scr independentcs das convic<;oes sobre adequa<;ao
que descrevemos ha pouco; do contrario, estas ultimas nao po-
deriam exercer coer<;ao sobre as primeiras, e, ao final, a pessoa
84 o tMPERfO DO DiREtTO
nao poderia distinguir entre interpreta<;ao e inven<;ao. Mas, para
que a atitude interpretativa flores<;a, essas convic<;oes nao pre-
cisam ser tao compartilhadas pela comunidade quanto a no<;ao
do interprete acerca dos limites da pre-interpreta<;ao, ou mesmo
quanto a suas convic<;oes sobre 0 devido grau de adequa<;ao.
Filosofos da cortesia
Idenlidade inslilucional
No capitulo 1, passamos em revista as teorias ou filosofias
Cl{lssicas do direito, e sustentei que, lidas da maneira habitual ,
essas teorias sao inuteis, uma vez que paralisadas pelo aguilhao
semantico. Podemos perguntar agora que tipo de teorias filos6-
ficas seriam uteis as pessoas que adotam a atitude interpretativa
que venho dcscrevendo a prop6sito de certas tradi<;oes sociais.
Vamos supor que nossa comunidade imaginaria de cortesia se
vanglorie de ter urn fil6sofo ao qual se pede, nos verdes anos da
atitude interpretativa, que prepare uma exposi<;ao filosOfica da
cortesia. fIe recebe as seguintes instru<;oes: "Nao queremos
suas pr6prias concep<;:oes autonomas, que tem tanto interesse
quanta quaisquer outras, sobre aquilo que a cortesia real mente
exige. Queremos uma teoria mais conceitual sobre a natureza
da cortesia, sobre 0 que e a cortesia em virtude do proprio senti-
do da palavra. Sua teoria deve ser neutra sobrc nossas contro-
versias cotidianas; deve fomecer os antecedentes conceituais
ou as normas que regem essas controversias, sem tomar parti-
do." 0 que pode de fazer ou dizer em resposta? Estel. na mesma
si tua<;ao do cientista social quc mencionei , que deve aderir as
praticas que descrcve. Nao pode ofereccr um conjunto dc re-
gras scmanticas para 0 usa apropriado da palavra "cortesia",
como as regras que poderia ofereccr no caso da palavra "livro".
Nao pode dizer que, por defini<;ao, tirar 0 chapeu diante de uma
senhora e um caso de cortesia, do mesmo modo que sc diria
que, por defini<;ao, Moby Dick e um livro. Ou que mandar uma
nota de agradecimcnto e urn caso limitrofe que sc pode consi-
('ONCEtTOS DE tNTERPRETAC;lo
85
derar como pertencente ou nao it esfera da cortesi a, da mesma
mane ira que um grande folheto pode ou nao ser considerado
como urn livro. Qualquer passo que ele de nessa dire<;:ao trans-
grediria de imediato a linha demarcada pela comunidade como
o limite de sua tarefa; ele teria oferecido sua propria interpreta-
<;ao positiva, e nao analise neutra dos antecedentes. Assemelha-
se a urn homem do P610 Norte a quem se diz que va para qual-
quer parte, menos para 0 SuI.
Ele se queixa da tarefa que Ihe atribuiram, e recebe novas
instru<;oes. "Pelo menos, voce pode dar uma resposta a essa
questao. Nossas praticas sao hoje muito diferentes do que cram
varias gera<;:oes atras, e diferentes tambem das praticas de cor-
tesia que vigoram nas sociedades pr6ximas e distantes. Contu-
do, sabemos que nossa pratica e0 mesmo lipo de pratica que a
deles. Portanto, todas essas diferentes praticas devem ter al-
gum atributo comum, que faz de todas elas versoes da cortesia.
Esse atributo ecertamente neutro tal como queremos, uma vez
que e compartilhado por pessoas com ideias muito difercntes
acerca das verdadeiras exigencias da cortesia. Por favor, diga-
nos que atributo e esse." Ele pode, sem duvida, responder a
essa questao, mas nao da mane ira que as instru<;oes sugerem.
Para explicar em que sentido a cortesia permanece a mes-
ma institui<;:ao ao longo de todas as mudan<;:as e adapta<;oes, e
em comunidades distintas com normas muito diferentes, 0 fi-
losofo nao vai recorrer a nenhum "tra<;o caracteristico" comum
a todos os casos ou excmplos dessa institui<;:ao". Pois, por
hipotese, nao existe tal atributo: em uma etapa, a cortesia e vis-
ta como uma questao de respeito; em outra, como algo muito
diferente. Sua explica<;ao sera historica: a institui<;ao tem a
eontinuidade - para usar a conhecida imagem de Wittgcnstein
- de uma corda constituida de inLllueros fios dos quais nenhum
corre ao longo de todo 0 seu comprimcnto nem a abarca em
toda a sua largura. Eapenas um fato historico que a presentc
18. Para U1l1a tentaliva il11portante de oi'ercccr "caracteristicas clefinido-
ras" de U1l1 sistema juridico, vcr Joseph Raz, The Concept o/a Legal.s:VItem
2 ~ ed., Ox rord, 1980).
86
oIMPERiO DO DIREITO
instituic;ao descenda, atraves de adaptac;oes interpretativas do
tipo que aqui apresentamos, de instituic;oes mais antigas, e que
as instituic;oes estrangeiras tambem descendam de exemplos
anteriores semelhantes. As mudanc;as dc um periodo a outro,
ou as diferenc;as entre uma sociedade e outra, podem ser gran-
des 0 suficiente para que a continuidade seja negada. Que mu-
danc;as sao grandes 0 bastante para eortar 0 fio da continuida-
de? Esta c, em si, uma questao da interpretac;ao, e a resposta
dependeria do porque do surgimento da questao da continuida-
de"'. Nilo ha nenhum atributo que alguma etapa ou exemplo da
pnltica deva possuir em razao do significado da palavra "corte-
sia", e a busca dc tal atributo scria apcnas mais um exemplo da
prolongada int1uencia que produz 0 aguilhao semantico.
Conceito e concep9ao
Pode 0 filosofo ser menos negativo e mais eficiente? Sera
ele capaz de oferccer algo no sentido que seus clientes dele
esperam: uma exposic;ao da cortesia mais conceitual e menos
autonoma que as teorias que eles .if! possuem e usam? Talvez.
Nao 6 improvavel que os debates habituais sobre a cortesia na
comunidade imagimiria tenham a estrutura em forma de arvore
que vercmos a seguir. Em termos gerais, as pessoas concordam
com as proposic;oes mais genericas e abstratas sobre a cortesia,
que formam 0 tronco da arvore, mas clivergem quanto aos refi-
namentos mais concretos ou as subinterpretac;oes dessas pro-
posic;oes abstratas, quanto aos galhos da arvore. Por exemplo,
numa certa etapa do desenvolvimcnto da pratica, toclos concor-
dam que a eortesia, em sua descric;ao mais abstrata, e uma
questao de respeito. Mas ~ l uma importante divisao sobre a
correta interpretac;ao da id6ia de respeito. Alguns consideram
que se deve, de maneira mais ou menos automatica, demons-
1(). Ver 0 cxcelcntc I? ellson.\ lind Persons, de Derek Partit (Oxford,
1984), sobre a idcnlidadc das comunidadcs c - de modo mais disculivcl - a
identidade pessoal.
('ONCEITOS DE INTERPRETAC;A-O 87
Irar respeito a pessoas de certa posic;ao ou grupo, enquanto
(Jutros pensam que 0 respeito deve ser merecido individual-
Illcnte. Os primeiros se subdividem ainda mais, questionando
"lu3is grupos ou posic;oes sociais sao dignos de respeito; os
scgundos se subdividem a proposito de quais atos eonferem
Il'speito. E assim por diante, ao longo de infindaveis subdivi-
soes de opiniao.
Em tais circunstancias, 0 tronco inicial da arvore- a liga-
(;,)0 ate 0 momento incontestavel entre cortesia e respeito -
i'uneionaria, tanto nos debates publicos quanta nas reflex5es
privadas, como uma especie de patamar sobre 0 qual se forma-
fiam novos pensamentos e debates. Seria entao natural que as
pessoas eonsiderassem essa ligac;ao importante e, a guisa de
conceito, dissessem, por exemplo, que 0 respeito faz parte do
" proprio significado" da eortesia. Nao querem dizer com isso
que alguem que 0 negue seja culpado de autocontradic;ao, ou
Ilao saiba como usar a palavra "cortesia", mas apenas que 0
que ele diz coloea-o amargem da comunidade do diseurso util,
Oll pelo menos habitual, sobre a instituic;ao. Nosso fil6sofo ser-
vira a sua comunidade se puder demonstrar essa estrutura e iso-
lar essa ligac;ao "conceitual" entre cortcsia e respeito. Ele pode
;lpreende-Ia na proposic;ao de que, para essa eomunidade, 0
respeito ofereee 0 conceito de cortesia, e que as posic;oes anta-
g()nicas sobre as verdadeiras exigcncias do respeito sao con-
(' ('fJ90eS desse conceito. 0 contraste entre conceito e concep-
~ i i o eaqui um contraste entre niveis de abstrac;ao nos quais se
pode estudar a interpretac;ao da pratica. No primeiro nivel, 0
acordo tem por base ideias distintas que sao incontestavelmen-
Ie utilizadas em todas as interpretac;ocs; no segundo, a contro-
vcrsia latente nessa abstrac;ao eidentificada e assumida. Expor
cssa estrutura pode ajudar a aprimorar 0 argumento, e, de qual-
'Iller modo, ira melhorar a comprecnsao da cOl11unidade acerea
ti L: seu ambiente intelcctual.
A distinc;ao entrc conccito e concepc;ao, assim comprcen-
dida e criada com esscs propositos, c muito diferente da co-
Ilhecida distinc;ao entre 0 significado de uma palavra e sua ex-
I1,; 11Sao. Nosso fil6sofo teve exito, supomos, ao impor apratica
88 89 o IMPERIO DO DIRElTO
de sua eomunidade uma estrutura tal que certas teorias inde-
pendentes podem ser identifieadas e entendidas como sub inter-
pretayoes de uma ideia rnais abstrata. Em celio sentido sua ana-
lise, se bem-sueedida, deve tambem ser incontestavel, porque
sua alega<;ao - de que 0 respeito estabelece 0 conceito de corte-
sia - nao produz efeito, a menos que as pessoas estejam total-
mente de aeordo que a eOliesia e uma questao de respeito.
Contudo, apesar de ineontestavel nesse aspeeto, sua afirmaGao
e interpretativa, e nao semantiea; nao se trata de uma afirma<;ao
sobre as regras basieas da lingiiistiea que todos devam observar
para se fazerem entender. Sua afinnayao tamb6m nao e atempo-
ral: cia se mantem grayas a um padrao de acordo e dcsaeordo
que poderia, como na hist6ria que eontei ha poueo, desaparecer
amanha. E sua afirmayao pode ser eontestada a qualquer
momento; 0 contestador pareceni. cxccntrico, mas sera perfeita-
mente bem eompreendido. Sua eontesta<;ao marcara 0 aprofun-
damento da divergcneia, e nao, como no easo de alguem que
diz que Moh)1 Dick nao e um l i v r ~ sua superfieialidade.
Paradigm as
Hil mais uma tarefa .- menos desafiadora, ainda que nao
menos importante -. que 0 fil6sofo deve reali zar para aqueles
que 0 nOlllearam. A cada etapa hist6riea do desenvolvimento
da instituiyao, eertas exigeneias eoneret,as da cortesia se m()s-
trarao a qllase todos como paradigmas, isto e, como requisitos
da eortesia. A regra dc que os homcns dCVClll levantar-se quan-
do uma mulher entra na sala, pOl' exemplo, poderia ser consi-
derada um paradigma numa certa epoca. 0 papel que esses
paradigmas descmpenham no raciocinio c na arglllllentaGao
sera ainda mais crucial do que qualquer acordo abstrato a pro-
p6sito de LIm conceito. Pois os paradigmas scrao tratados como
exemplos concretos aos quais qualquer interpretaGao plausivel
deve ajustar-se, cos argumentos contra uma interpretaGao con-
sistirao, sempre que possivel, cm dcmonstrar que ela 6 incapaz
de incluir ou cxplicar LIm caso paradigmMico.
('ONCEITOS DE INTERPRETA9AO
Em decorrencia desse papel especial, a relaGao entre a
institui<;ao e os paradigmas da epoca sera estreita a ponto de
estabelecer urn novo tipo de atributo conceitual. Quem rejeitar
um paradigma dara a impressao de estar cometendo um erro
cxtraordinario. Uma vez mais, porem, ha uma importante dife-
ren<;a entre . esses paradigmas de verdade interpretativa e os
casos em que, como dizem os fil6sofos, um eonceito se susten-
ta "por definiGao", assim como 0 celibato se sustenta graGas
HOS homens que nao se casam. Os paradigmas fixam as inter-
preta<;oes, mas nenhum paradigma esta a salvo de contestaGao
por urna nova interpretaGao que considere melhor outros para-
digmas e deixe aquele de lado, por considera-Io um equivoco.
Em nossa comunidade imaginaria, 0 paradigma do sexo pode-
ria ter sobrevivido a outras transfonnayoes por muito tempo,
apenas pOl' parecer tao solidamente arraigado, ate que um dia
se tornasse um anacronismo nao mais reconhecido. Um dia,
cntao, as mulheres passariam a nao mais admitir que os ho-
menS se levantassem na sua presenya; poderiam vcr em tal ati-
lude a mais profunda falta de cortesia. 0 paradigma de ontem
seria 0 chauvinismo de hoje.
Uma digressao: a j ustil;a
As distinyoes e 0 vocabulario ate aqui introduzidos vao
mostrar sua utilidade quando passarmos, no capitulo seguinte,
ao direito como conceito interpretativo. Convem, no momento,
fazer uma pausa para vcr ate que ponto nossa exposiGao dos
conceitos interpretativos sustenta outras importantes ideias
politicas e morais, particularmente a id6ia de justiya. A ima-
gem tosca de como a linguagem funciona, a imagem que nos
torna vulneraveis ao aguilhao scmantico, falha tanto na justiGa
quanto na cortesia. Nao seguimos criterios lingiiisticos co-
muns para decidir quais fatos to1'11am lima situaGao justa ou in-
justa. Nossas discussoes mais intensas sobre a justiGa - sobre 0
imposto de renda, pOI' exemplo, ou sobre os programas de aGao
afirrnativa - dizem respeito as provas apropriadas para verifi-
90 91
o iMPERiO DO DlREiTO
car 0 que e a justiya, e nao aadequayao (ou nao) dos fatos a al-
guma prova consensual em urn caso especifico. Um libertario
pensa que 0 imposto de reoda e injusto porquc se apropria de
bens sem 0 consentimento de sell proprietario. Ao libcrtario
nao interessa que os impostos contribuam ou nao para a maior
felicidade a longo prazo. Um utilitarista, por outro lado, pensa
que 0 imposto de renda s6 sent justo se realmente contribuir
para a maior felicidade a longo prazo, e nao Ihe interessa que
haja apropriayao de bens scm 0 consentimento do proprietario.
Assim, se aplicassemos ajustiya a imagem de divergencia que
rejeitamos para a cortesia, coocluiriamos que 0 Iibertario e 0
utilitarista nao podem oem concordar nem divergir sobre qual-
quer questao relativa ajustiya.
[sso seria um crro, pois a justiya euma instituiyao que inter-
pretamos
20
Como a cortesi a, tem uma hist6ria; cada um de nos
20. A just.ic;a e outros conceitos marais de nalun;'.a superior sao eoneei-
tos intcrpretalivos, mas sao muilo mais eomplexos e interessantes do que a
cort.:sia, e tambem menos [Itcis cnquanto analogia com 0 dircito. A diferenc;a
Illais importuntc entre a justi<;a c a eortesia, ness..: contcxto, csl{1 no alcance
globallatcntc da primcira. As pcssoas de minha comunidade imagin{u'ia usam
a "eortesia" para reportar suas interprctac;ocs de uma pn\tica quc, para si, eon-
sideram local. Sabclll que a l11elhor inkrpreta<;fio de sua pnltiea nao seria,
neeessariamentc, a melbor das pnitieas compan\veis de qualqucr outra eomu-
nidade. Contudo, se entendennos a justi<;a como um conceito intcrpretativo,
leremos de tratar as coneep<;oes de justi<;a de diferentcs pessoas, enquanto
inevitavelmenle dcscnvoJvidas C0l110 interprda<;1ies de pratieas das quais elas
pr6prias participalll, COIllO rei vindieando uma' lllltoridade mais g l o b ~ ou
transcendental, de modo qlle possam servir dt: bast: para critical' as pn\ticas de
justi<;a de outTas pessoas atl: mesmo, ou sobretudo, quando forem radical-
mente difcrentcs. Conscqiicntemenle, as margens de scguranc;a da intcrprcta-
<;ao sao Illuito mcnos rigidas: nao se cxigc qlle uma leoria da j lIsli<;a ofere<;a
urna boa adcqua<;iio as pr{lticas politicas ou sociai s de qualqucr eomunidade
espccifica, IlIllS apenas ,is convic<;oes mais abstratas e elclllcntares de cada
intcrpretc. (Uma di seussao reccntc das difcrcn<;as entre jusli<;a e dircito pode
ser eneontrada em A Malter oj' Principle, cap. J0, e em mcu debate com
Michael WaL,er, New York Review o/Rook.l, 14 dc abril de 19R3.) A jllsti<;a e
especial em oulro semido. Ullla vez que 51:: trata do mais nitidamcnte poliliieo
dos ideais morais, ofereee lim eiclllcnio natural c conheeido ,) intcrpreta<;ao
de outras pnltieas soeiais. As intcrprcta<;ocs do dircito, como vercmos, quase
sempre reeorrclll ajusti<;a como parte da id6ia que desenvolvem na ctapa
('ONCElTOS DE iNTERPRETAC;XO
adere a essa historia quando aprendemos a adotar a atitude in-
tcrpretativa a proposito de exigencias, justificativas e descul-
P:.lS que vemos outras pessoas formulando em nome dajustiya.
Poucos de nos intcrpretam conscientemente essa historia, do
modo como imaginei 0 povo de minha comunidadc hipot6tica
illterpretando a cortesia. Mas cada um - alguns mais reflex iva-
mente que outros - forma uma id6ia da justiya que e, nao obs-
tante, uma interpretayao, e alguns de n6s chegam mesmo a re-
ver a propria interpretayao de vez em quando. Talvez a institui-
y30 da justiya tenha comeyado da maneira como imaginei 0
comeyo da cortesia: por mcio de regras simples e diretas sobre
o crime, 0 castigo e a divida. Mas a atitude interpretativa 10-
t'csceu na epoca dos primeiros escritos de filosofia po[itica, c
(":mtinua florescendo desde entao. As succssivas reinterpreta-
y5es e transformayoes tem sido muito mais comp[exas do que
;tque[as que descrevi a prop6sito da cortesia, mas cada qual se
(;r igiu sobre a reorganizayao da pratica e cia atitude consuma-
dus pela precedente.
Os fi[osofos politicos podem desempcnhar os diferentes
papeis que imaginei para 0 filosofo da cortesia. Eles nao
podem desenvolver teorias scmanticas que estabeleyam regras
para "justiya" como as regras que consideramos para "[ivro".
I'odem, contlldo, tentar apreender 0 patamar do qual proce-
dcm, em grande parte, os argumentos sobre a justiya, e tentar
dcserever isso por meio de alguma proposiyao abstrata adotada
para definir 0 "conccito" de justiya para sua comunidade, de
tal modo que os argumentos sobrc a justiya possam scr enten-
didos como argllmentos sobre a melhor cOnCepy30 desse COI1-
ccito. Nossos proprios filosofos da justiya raramentc fazem
cssa tentativa, po is edificil encontrar uma formulayao do con-
i nlcrpretativa. As inlerprcta<;oes da justi<;a nao podcm elas proprias rceorrer II
justi<;:a, e isso ajuda a cxplicar a eomplcxidade filosl>lica c a ambi<;ao de mui-
las teorias da justi<;:3. Puis, 1I1lla vez que sc deseartc ajustic;a como 0 objetivo
de uma pratiea politica fundamental e abrangcntc, Cnatural quc nos voltcmos
para lima justifiealiva de idcias inicialmcnte nao politicas, COIllO a natureza
humana ou a teo ria do eu, c n30 para outras idt;ias politicas que nao pareccm
mais importantes ou fundamentais que a propriajusli<;a.
92 o IMPERlO DO DIREITO
ceito ao mesmo tempo suficientemente abstrata para ser incon-
testavel entre nos e suficientemente concreta para ser eficaz.
Nossas controversias sobre a justic;a sao muito ricas, e ha no
momento muitos tipos diferentes de teorias nesse campo. Va-
mos supor, por exemplo, que um filosofo proponha a seguinte
formulaC;ao do conceito: a justic;a e diferente de outras virtudes
politicas e morais porque e uma questao de titularidade, uma
questao daquilo que tern 0 direito de esperar todos os que forem
atingidos pelos atos de individuos ou instituic;oes. lsso parece
ter pouca utilidade, po is 0 conceito de titularidade se encontra,
elc proprio, demasiado proximo da justic;a para ser esclarece-
dor, e de certo modo e excessivamente polemico para que pos-
samos considera-Io conceitual no sentido em quc 0 estamos
examinando, pois algumas importantes teorias da justic;a - a
tcoria marxista, se eque tal teoria existc
21
, e mesmo 0 utilitaris-
mo - 0 rejeitariam. Talvez nao haja nenhuma formulaC;ao efi-
caz do conceito de justic;a. Se assim for, isso nao lanc;a nenhu-
rna dllvida sobre 0 sentido das discussoes sobre a justic;a, mas
apenas oferece urn tcstemunho da imaginac;;ao de pessoas que
tentam ser j ustas.
Em todo caso, tcmos algo que e mais importante do que
uma formulaC;ao eficaz do conceito. Compartilhamos a mesma
percepC;ao pre-interpretativa dos limites aproximados da prati-
ca na qual nossa imaginac;ao devc exercitar-se. Usamos essa
perccpc;ao para distinguir as concepc;oes de justic;a que rejeita-
mos, ou mesmo deploramos, das posi c;;oes que nao considera-
riamos conccpc;ocs de justic;a mesmo que nos fossem apresen-
tadas como lais. Para muitos de n6s, a etica libertaria e uma
teoria da justic;;a sem atrativos. Mas a tese de que a arte abstrata
e injusta nao e nem mesmo carente de atrativos; e incompreen-
sivel enquanto teoria da justiya, pois nenhuma exposiC;ao pre-
21. Mas 0 falo de que a teo ria politica de Marx nao seja, de modo tao
evidenle, arreendida pOI" essa declarayilo do conceito, explicit SUiI pr6pria
ambivalencia, e a ambivaleneia de seus esludiosos e erilicos, quanto it se con-
siderar ou nao sua teoria como ullla teoria da justi Y3. Uma intriganlc discus-
sao desse problema pode ser enconlrada em Stephen Lukes, Marxism and
Moralily (Londres. 19R5).
CONCEITOS DE INTERPRETAC;AO 93
interpretativa competente da pratica da justic;a engloba a criti-
ca e a avaliaC;;ao da arte
22
Os filosofos, ou talvez os sociologos, da justic;a tambem
podem fazer um trabalho util identificando os paradigmas que,
nos argumentos referentes ajustic;a, desempcnham 0 papel que
eu disse que desempcnhariam nos argumentos referentes acor-
tesia. Para n6s, hoje, eparadigmatico que punir inocentes seja
injusto, que a escravidao seja injusta, que roubar dos pobres
para favorecer os ricos scja injusto. A maioria de nos rejeitaria
de imediato qualquer concepc;ao que parecesse exigir ou permi-
tir a puniC;ao de um inocente. EUI11 argumento corrente contra 0
. utilitarismo, portanto, que cle seja incapaz de nos fornecer uma
boa descric;ao ou justificativa desses paradigmas centrais; os
utilitaristas nao ignoram essa acusac;ao como irrelevante, mas,
ao contrario, reCorrem a uma inventividade heroica para ten tar
refuta-Ia. Algumas teorias da justic;a, porem, contcstam grande
parte daquilo que seus contemporaneos consideram paradigma-
tico, e isso explica por que essas teorias - a de N ictzsche, pOI'
exemplo, ou as id6ias aparentementc contraditorias dc Marx
sobre a justic;a - nao apenas pareccral1l radicais, como pareccram
talvez nao ser de fa to teorias da justic;a. Em sua maior patte,
porem, os filosofos da justic;a respcitam e usam os paradigmas
de sua epoca. Scu principal trabalho consistc nao em tentar for-
mular 0 conceito de justic;;a, nem em redefinir os paradigmas,
mas em desenvolver e defender tcorias polcmicas que vao bem
alem dos paradigmas e chegam aesfera da politi ca. 0 filosofo
libertario se opoc ao imposto de renda e 0 filosofo igualitario
pede por uma redistribuic,:ao maior porque suas conccpc;5es de
justic;a diferem. Nao ha nada neutro nessas concepc;oes. Elas
sao interpretativas mas ha nelas compromisso, e edeste ultimo
que, para nos, provem seu valor.
22. Uma vcz que meslllo a ctapa prc-interpretativa ex ige Interpretayiio,
esses linlites da pn\ tica l1ao sao nCIll precisos I1cm scguros. Porlanlo, discor-
dall10s qual1to it queslao de saber se aigucill pode scr injusto com os anima is,
ou apenas cruel, e se as relayoes entre grupos. it difcrenya daquelas que se dao
entre os individuos, sao quesloes de justi <;a.
94 o IMPERIO DO DIREITO
Ceticismo sobre a
Um desafio
Ate aqui, minha exposiGao da interpretaGao foi subjetiva
em um dos sentidos dessa palavra problematica. Descrevi como
os interpretes veem a interpretaGao criativa, 0 que alguem deve
pensar para adcrir a uma interpretaGao e nao a outra. Mas a
atitude interpretativa que descrcvi, a atitude que, em minha
opiniao, os interpretes adotam, parece ser mais objetiva. Eles
acham que as interpretaGoes que adotam sao melhorcs -- e nao
apenas diferentes - daquelas que rejeitam. Essa atitude faz
senti do? Quando duas pessoas divergem sobre a COl-reta inter-
pretaGao de alguma coisa - um poema, uma peGa, uma pnitica
social como a cortesia ou a justiGa -, 6 razoavel pensar que
uma delas esta certa e outra errada? Precisamos ser cautelosos
ao distinguir essa questao de uma outra, diferente, que diz res-
peito a complexidade da interpretaGao. Parecc dogmatico, e
em geral e umerro, supor que uma obra de arte complexa -
Hamlet, por exemplo -- e "sobre" uma certa coisa e mais nada,
de tal modo que uma produGao dessa peGa seria a unica corre-
ta, e qualquer outra produyao que enfatizasse outro aspccto ou
dimensao seria errada. Pretendo colocar uma questao sobre 0
desafio, nao sobre a complexidade. Pode um ponto de vista
interpretativo ser objetivamente melhor que outro quando sao
nao apenas diferentes, pondo em relevo aspectos diferentes e
complcmentares de uma obra complcxa, mas contradit6rios;
quando 0 conteudo de um inclui a afirmayao de que 0 outro e
enado?
A maioria das pessoas acha que sim, que algumas inter-
pretayoes sao real mente melhores que outras. Algucm que te-
nha feito uma releitura de Paraiso perdido, tremendo dc exci-
tac:;ao com sua descoberta, pensa quc sua nova leitura e a certa,
que e melhor do que aquela que abandonou, quc os ainda nao
iniciados perderam algo verdadeiro e importante, que nao veem
o poema como ele real mente e. Ele pensa que foi conduzido
pela verdade, e nao que escolheu uma interpretaGao para usar
95 CONCEITOS DE INTERPRETAC;lo
naquele dia, como se fosse lima gravata nova. Pensa que tem
boas e verdadeiras razoes para aceitar sua nova interpretaGao, e
que os outros, os que se apegam ao antigo ponto de vista que
agora Ihe parece errado, tem boas e verdadeiras razoes para
mudar de id6ia. Alguns criticos litenirios, porem, acreditam
que isso nao passa de uma profunda confusao; dizem que e um
erro pensar que uma interpretaGao pode ser real mente melhor
que outra
21
Veremos, no capitulo VII, que muitos estudiosos do
direito afirmam coisas muito semelhantes sobre as decisoes
que os juizes tomam em casos diflceis como os que usamos
como exemplos no capitulo 1: em sua opiniao, nos casos difl-
ceis nao pode haver uma resposta certa, mas apenas respostas
diferentes.
Grande parte do que afirmei sobre a interpretac:;ao ao lon-
go deste capitulo pode dar a impressao de sustentar essa critica
23. Alguns eritieos que em gcral dcmonstrarn cntusiasmo com essa
imagem da interprcta<;iio tcnlam seu impulso eetico. Baseiam-sc na
ideia de que as "comunidades criticas" normalmente desenvolvem "eonvcn-
sobre aquilo que sc considcra como boa ou ma interpreta<;ao de ll111
cletenninado texto, e afirmam que cssas con ven<;oes dao aos indi viduos uma
sensa<;iio de rcstri<;ao cxterna, c, portanto, de uma descoberta, quando passam
a ver as implica<;6cs dessas convenG()cs para uma obra de arte cspecifica. Vcr
Stanley Fish, Is 711ere a Text in This Class? (Cambridge, Mass., 19!iO). Mas
cssa "solu<;ao" cenganosa. Vercmos, no capitulo IV, que a ideia de uma eon-
ven<;ao e em si mcsma um tanto incompreensive l; em seu prescntc uso, e
iguaJmente insatisfat()ria. Pode-sc imaginar que os eolegas de profissao com-
partilham lima conven9iio sobre a melhor mane ira de intcrpretar 0 paraiso
perdido, por exemplo, quando divergclll sobre qual ca melhor? Sc admitir-
mos que, nesse caso, clcs nao compartilham lIllla eOllvcn<;iio - que os colcgas
podem pertenccr a "comunidades" intcrprctativas muito dil'crcntcs, ainda que
seus escritorios fiquem lado a lado -, ainda assim deixaremos por explicar
como alguclll pode pensar que sua inlerpreta<;iio cmelhor que a de Ulll eolega
que pertenee a uma outra cOlllunidadc. Ncsse caso, ele acredita n30 somcntc
que as conven<;6es das duas comunidadcs sao difercntes, Illas que as de sua
comunidadc sao melhorcs, as que devcm ser usadas por sercm corretas.
Portanto, a ideia de convenGucs e dc comunidades profissiona is l1ao nos e
uti! , raziio pela qual de vemos cl1frentar a ousada posi<;ao de quc nao existc
uma "resposta celia" ;1 pergunta de como se devc interprel ar Paraiso perdido,
e que 56 ex istem interpreta<;oes difcrentes, nenhuma delas melhor ou pi or que
as demais.
96
97 o IMPERIO DO DIRITO
cetica da concep<;ao corrente do certo-errado. Apresentei esta
caracteriza<;ao geral e muito abstrata da interpreta<;ao: ela tern
por finalidade apresentar em sua melhor luz 0 objeto ou a pra-
tica a sercm interpretados. Assim, uma interpreta<;ao de Hamlet
tenta fazer do texto a melhor pe<;a possivcl, e uma interpreta-
<;ao da cortesia tenta fazer das diversas praticas da cortesia a
melhor institui<;ao social que essas pfilticas poderiam ser. Essa
caracteriza<;ao da interpreta<;ao parece hostil a toda afinna<;ao
da unicidade de significado, pois insistc em que pessoas dife-
rentes, com gostos e valores diferentes, sao predispostas - exa-
tamente por essa razao _. a "ver" significados difcrentes naqui-
10 que interpretam. Parcee sustentar 0 ceticismo, pois a ideia
de que pode haver uma resposta "certa" a qucstoes de valor
est6tico, moral ou social parece, a muitas pessoas, ainda mais
estranha do que a possivel existeneia de uma resposta certa a
questoes relativas ao significado de textos e pniticas. Portanto,
minha descri<;ao abstrata do objetivo mais geral da interpreta-
<;ao pode muito bern refor<;ar, para muitos Icitores, a tese cetica
de que e urn erro filos6fico supor que as interpreta<;oes podem
ser certas ou erradas, verdadeiras ou falsas.
Ceticismo interior e exterior
No restante destc capitulo, avaliaremos 0 alcance e a for<;a
desse desafio colocado pelo ceticismo" e eome<;aremos por
uma distin<;ao crucial: entre 0 ceticismo no interior da ativida-
de de interpreta<;ao, como uma posi<;ao autonoma sobre a me-
Ihor intcrpreta<;ao de alguma pratiea ou obra de arte, e 0 ceti-
cismo no exterior e em lorno dessa atividade. Vamos sup or que
alguem diga quc a melhor forma de entender Hamlet e como
lima pe<;a que examina a evasiva, a simula<;ao e a protela<;ao;
essa pessoa sustenta que a pe<;a tern mais integridade artistica e
que, lida com essas ideias em mente, harmoniza melhor os
temas lexicais, retorieos c narrativos. Urn cetico "interior" po-
deria dizer: "Voce est a errado. 0 texto de Hamlet e por demais
confuso e desordenado para dizer respeito a qualquer coisa:
(DNCEITOS DE INTERPRETAI' ;AO
l:ssa pe<;a nao passa de uma miseelanea sem coerencia algu-
ma." Um cetico "exterior" diria entao: "Concordo com voce;
tambem penso ser essa a leitura mais esclarecedora da pe<;a.
Esta e, veja bem, apenas uma opiniao que compartilhamos;
nao podemos, de modo razoavel, supor que 0 fato de Hamlet
ser uma pe<;a sobre a protela<;ao seja urn dado objetivo que
descoblimos aprisionado na natureza da realidade, 'la' em
algum mundo metaflsieo e transcendente onde subsistem os
significados das pe<;as."
Sao formas difcrentes de ceticismo. 0 cetico interior se
interessa pela substancia das afirma<;oes que contesta; insiste
. em que sera sempre um erro afirmar que Hamlet trata da pro-
tela<;ao e da ambiguidadc, um equivoco supor que a pe<;a se
torna melhor quando lida dessa mane ira. Ou, na verdade,
quando lida de qualquer outro modo. Nao porque nenhuma
concep<;ao daquilo que torna uma pe<;a melhor possa scr "real-
mente" certa, mas porque uma concep<;ao Ii certa: aquela se-
gundo a qual uma interpreta<;ao bem-sucedida deve oferecer 0
tipo de unidade que, em sua opiniao, nenhuma interpreta<;ao
de Hamlet pode ofereeer. 0 eeticismo interior, portanto, apoia-
se na solidez de uma atitude interpretativa geral para pOI' cm
duvida todas as possiveis interpreta<;oes de urn objeto de inter-
preta<;ao especifico. Pode-se ser cetico assim nao apenas com
rela<;ao a uma pe<;a em particular, mas tam bern, em termos
mais genericos, a prop6sito de um cmpreendimento. Vamos
supor que um cidadao estude as praticas de cortesia que seus
vizinhos consideram valiosas e conclua quc essc pressuposto
comum 6 um erro comum. Ele tern convic<;oes sobre os tipos
de institui<;oes sociais que podcm ser uteis ou valiosas para
uma comunidade; ele conclui que as pr<iticas de cortesia, radi-
calmente, nao servem a nenhum born proposito, ou, pior ainda,
que servem a um prop6sito perverso. Desse modo, eondena
como perversas todas as diferentes interpreta<;oes de eortesia
que seus colegas elaboram e defendem umas contra as outras;
com rela<;ao acortcsia, seu cetieismo interior 6 global. Mais
uma vez, em vez dc desdenhar ele ap6ia-se na id6ia de que
algumas pnHicas sociais sao melhores que outras; a partir de
98 a IMPERIO DO DIREJTO
uma opiniao global sobre 0 valor social, condena todas as in-
terpretac;oes da cortesia oferecidas por seus eolegas. Presume
que suas opinioes globais sao bern fundadas, e que as opinioes
contrarias sao erradas.
Se fosse plausivel para 0 direito, e nao apenas para a cor-
tesia, esse tipo de eetieismo interior de total abrangencia amea-
c;aria nosso proprio empreendimento. Pois esperamos desen-
volver uma diseussao te6rica correta dos fundamentos do
direito, urn programa para deliberac;ao judicial que possamos
recomendar aos juizes e uSar para avaliar 0 que eles fazem. As-
sim, nao podemos ignorar a possibilidade de que algum ponto
de vista global mente cetieo sobre 0 valor das instituic;oes juri-
dicas seja, no final, 0 mais poderoso e convincente de todos;
II'
nao podemos di zer que essa possibilidade e irrelevante para a
'"
1;1
teoria do direito. Voltaremos a tratar dessa ameac;a no capitulo
VII. No momento, nosso interesse esta voltado para a outra for-
ma de eeticismo, a exterior.
o eeticismo exterior euma teoria metafisica, e nao uma
posic;ao interpretativa ou moral. 0 c6tieo exterior nao contesta
nenhuma afirmac;ao moral ou interpretativa especifica. Ele
nao di z que e um equivoeo, de ecrta maneira, pensar que
HamLet versa sobre a protelac;ao ou que a cortcsia e uma ques-
tao de respeito, ou quc a escravidao e iniqua. Sua teoria C, na
verdade, uma teoria em segundo grau sobre a posiC;ao ou a
classificac;ao filosMicas dessas afirmac;oes. Ele insi ste em
que elas nao sao descric;oes que possam ser comprovadas QjJ
testadas, como na fisica: nega que os valores est6ticos ou mo-
rais possam ser parte daquilo que chama (em uma das metafo-
ras perturbadoras que parecem eruciais a qualquer afirmac;ao
de sells pontos de vista) de "fundamentos" do uni verso. Seu
cetieismo e exterior por nao ser engajado: afirma dei xar ver-
dadeiro proeedimento da interpretac;ao a margem de suas con-
clusoes. 0 cetico exterior tern suas opinioes sobre Hamlet e a
escravidao e pode apresentar as razoes pelas quais prefere es-
sas opinioes aquelas que rejeita. Insiste, apenas, em dizer que
todas essas opinioes sao projetadas na "realidade", e nao des-
cobertas nela.
99 ('ONCEJTOS DE INTERPRETAt:;AO
Ha urn antigo e floreseente debate filos6fico sobre a ques-
lao de saber se 0 ceticismo exterior, particularmente 0 ceticis-
IllO exterior voltado para a moral, e uma teoria significativa e,
sC assim 0 for, se 6 correta
24
Nao entrarei nesse debate por ora,
,I nao ser para examinar se 0 ceticismo exterior, se for con-eto,
condenaria de alguma maneira a crenc;a que tern a maioria dos
interpretes: de que a interpretac;ao de algum texto ou pnitica
social pode ser, levando-se tudo em conta, melhor que as ou-
tras; de que pode haver uma "resposta certa" a pergunta "qual e
a melhor", mesmo quando existam divergencias sobre 0 que se
. pode considerar como resposta certa
l
'. lsso depende de como
\;ssas crenc;as "objetivas" (como poderiamos chama-las) de-
vcm ser compreendidas. Vamos supor que eu afirme que a es-
cravidao e iniqua. Em seguida, fac;o uma segunda serie de afir-
ll1ac;oes: digo que a escravidao e "real mente" ou "objetivamen-
Ie" iniqua, que nao se trata apenas de uma questao de opiniao,
qlle seria verdade mesmo que eu (e qualqucr outra pessoa)
I,,; nsasse de outro modo, que ai est a a " resposta certa" aques-
i, IO de saber se a escravidao einiqua, que a resposta contraria
nao e apenas diferente, mas configura um erro. Qual e a rela-
<,:ao entre minha opiniao inicial de que a escravidao e iniqua
e esses varios juizos "objetivos" que acrescentei a ela?
Eis aqui uma sugestao. As afirmac;oes objetivas que acrcs-
ccntei devem fornecer algum tipo especial de comprovac;ao de
lI1inha opiniao inicial, ou algllma justificativa para 0 fato de eu
por ela. Elas pretendem sllgerir que posso provar a
iniqiiidade da escravidao do mesmo modo que poderia com-
provar algum enllnciado da flsica, por meio de argumentos fac-
luais ou logicos que qualquer pessoa dotada de razao deve
aceitar: ao mostrar que as vibrac;oes morais atmosfericas con-
rirmam minha opiniao, por exemplo, ou que ela esta de acordo
com urn fato metafisieo numenico. Se fosse esta a maneira
24. Vel', por excmplo, Morality and Obiecfivity (Ted Hcndcrich, org.,
Londres, 1985); Bernard Williams, Ethics and the Limits (!/Philosophy (Cam-
bridge, Mass., 1985), c Thomas Nagel , The View.fiom Nowhere (no prclo).
25. Vcr A Maffer o/Principle, caps. V, VI eVIl.
/I
100 101 o IMPERIO DO DIREITO
certa de entender minhas afirma<;oes objetivas, minhas
afirma<;oes declarariam aquilo que 0 ceticismo exterior nega:
que os juizos morais sao descri<;oes de algum dominio moral
especifico da metafisica. Mas essa nao ea maneira correta de
compreende-Ias. Ningucm que afirme que a escravidao e"real-
mente" iniqua vai pensar que, desse modo, ofereceu - ou mes-
mo sugeriu - um argumento demonstrando que ela 6 ini-
qua. (Como poderiam as vibrar,;5es ou as entidades numcnicas
oferecer algum argumento para as convic<;oes morais?) 0 uni-
co tipo de evidencia que posso apresentar em defesa de meu
ponto de vista de quc a escravidao e iniqua, 0 unico tipo de jus-
tificativa que posso ter para guiar-me por esse ponto de vista, c
um tipo de argumento moral autonomo que as afinna<;oes "ob-
e: '
jetivas" nem mesmo tem a pretensao de ofereccr.
A verdadeira rela<;ao entre minha opiniao inicial sobre a
escravidao c meus comentarios "objetivos" posteriores emuito
difcrcnte. Usamos a linguagem da objetividade nao para dar a
nossas afinna<;oes morais ou interpretati vas habituais um fun-
damento metaflsico bizarro, mas para repeti-Ias, talvez de um
modo mais preciso, para enfatizar ou qualificar seu
Usamos essa linguagem, por exemplo, para estabelecer uma
distin<;ao entre as verdadeiras afirma<;oes morai s (ou interpre-
tativas, ou esteticas) C 0 que seriam meras exposiyocs dc nos-
sos gostos. Como nao acredito (ao contrario de outras pcssoas)
que os sabores de sorvetes possuam um valor estetico genui-
no, entao diria apenas quc prefiro pas,sas com rum, e nao.;lcres-
ccntaria (como alguns 0 fari am) que passas com rum e"real-
mente" ou "objetivamente" 0 melhor sabor
2
" . Tambem usamos
26. Se eu del'endcsse u ponto de vistH contrari o e dissessc que rcalmente
considcro a slIpcrioridaue ua L1 va-passu com rum como ullla questilo de fa to
obj eti va e l1ao apcnas meu gosto subj cti vo; sc afirmasse, tambem, que estava
Ucscrevendo Lima propriecladc do sorvele cm si, e nao as l11inilas pre-
ferencias, () lei tor nan eoncordaria, mas nossa uivcrgeneiu nao seria alguma
divcrgenc ia de seg unda ordcm sobre a possibilitlade de enuneiados esleti cos
va lidos. Seri a uma di splita entre dois cstilos ou atitudes estct icas: minha opi -
ni ao tola de que todos tem lima razao para valorizar a experiencia da uva-
passa eom 11l111, gostem ou nao dessi! experi cncia, eo cet ici smo (interno) mais
atraent e uo leitor, de que 0 sorvete possa tel' urn valor esteti co desse tipo. Voce
('ONCEITOS DE INTERPRETA(:AO
(\ linguagem da objetividade para distinguir entre as afirma-
que s6 devem valer para pessoas que tem crenc;:as, rela-
"oes, necessidades ou interesses particulares (talvez apenas
para 0 orador) c aquclas que devem valer impessoalmente para
lodos. Suponhamos que eu diga que devo dedicar minha vida a
reduzir a amea<;a da guerra nuclear. Faz sentido perguntar se
acho que essa tarefa vale "objetivamente" para todos, ou ape-
nas para os que sentem, como eu, uma compulsao especial a
lidar com esse problema. Combinei esses dois usos da lingua-
gem objetiva no di::lIogo que ha pouco imaginei sobre a escravi-
dao. Afirmei que a escravidao era "realmente" infqua, e 0 res-
lante para deixar claro que minha opiniao era um jui zo moral, e
que eu considerava a cscravidao iniqua em toda parte, nao ape-
nas nas comunidadcs cujas tradi<;oes a condenam. Portanto, se
Lima pessoa disser que estou errado em meu julgamento, e
Ilossa divergencia for genu ina, ela deve querer dizer que a es-
cravidao niio e iniqua em toda parte, ou, talvez, que nao e ini-
qua em parte alguma. Essa euma versao do ceticismo interior:
',o poderia ser defendida por argumentos morais de algum tipo,
por exemplo ao se recorrer a uma forma de relativismo moral
que sustenta que a verdadcira moral consistc apenas em rcspei-
lar as tradic;:6es da comunidade aqual se pertcn<;a.
Portanto, nao existe diferen<;a importante de categoria ou
posic;:ao filos6fica entre a afinna<;ao de que a escravidao 6 ini-
qua e a afirma<;ao de que existe uma resposta certa aquestao
ci a escravidao, isto e, que ela c iniqua. Nao posso, racional-
mente, considerar a primeira dessas opinioes como uma opi-
Iliao moral scm fazer 0 mesmo com rela<;ao asegunda. Uma
vcz que 0 ceticismo exterior nao oferecc razoes para repudiar
ou modificar a primeira, tambem nao oferece razoes para
repudiar ou modificar a segunda. As duas sao afirma<;oes in-
lernas amoral, e nao sobre ela. Ao contrario da forma global
pensaria nao que minha ontologia e defeituosa porque penso que 0 sorvete
tcm valor, do mesmo modo que 0 [em 0 creme e 0 ,u;llcar, mas sim que tenho
lima sensibilidade defcltuosa, que nao eompreendo a natureza de uma verda-
ueira expe ri eneia estctiea.
]02 oIMPERIO DO DIREtTO
de ceticismo interior, portanto, 0 verdadeiro cetieismo exte-
riornaopodeameayarnenhum projetointerpretativo.Mesmo
pensando queentendemos eaceitamosessa forma de ceticis-
mo, isso nao podeofereeernenhumarazao pela qual tambem
nao devamos pensar que a escravidao einiqua, que Hamlet
tratada ambiguidadeequeaeortesia ignora aposiyao social,
ou, 0quevem adarno mesmo, quecadaumadessasposiyoes
e melhor (ou "realmente" melhor) que suas concorrentes. Se
f6ssemos cctieos exteriores, entao, num tranquiIo momento
filosOfieo, longe das guerras moraisou interpretativas, ado-
tariamosuma concep<;ao externamenteceticada posturafiIo-
s6fica de todas essas opinioes. Classificariamos todas como
proje<;oes, nao como descobertas. Mas nao fariamos distin-
:1': yoes entre elas ao supor que somente as ultimas cram erros.
Apresso-me a acrescentar que 0 reconhecimento da questao
crucial que venho enfatizando - de que as crenyas "objeti-
vas" que a maioria de n6s sustenta sao crenyas morais, na.o
metafisicas; que elas apenas repetem e qualifieam outras
crenyas morais - de modo algum enfraquece essas crenyas,
nem as leva a afirmar alguma coisa menos importante, ou
mesmo diferente, daquilo que se esperaria que afirmassem.
Pois nao podemos atribuir-Ihes nenhum sentido, fieis ao pa-
pel que na verdade desempenham em nossas vidas, que as
faya deixarem de ser afirmayoes morais. Se hft algo que essa
questao torna menos importante, e0 cetieismo exterior, nao
nossasconvicyoes.
'"
Queforma de ceticisnw?
Dc que modo,entao, devemos compreender0cetieo que
faz um bicho-de-sete-cabeyas ao declarar qlle nao pode haver
respostascertasemquestoesde moral oude interpretayao? Ele
usa a ret6rica metaf6rica do cetieismo exterior; diz que estft
atacando 0ponto de vista de que os significados interpretati-
vos estao "hI"no universo, ou que as decisoesjuridieascorre-
tas sesituam em alguma"realidadetranscendental". Usa argu-
(.()NCEITOS DE INTERPRETA(.'A-O
103
II"I (; ntos conhecidos dos eetieos exteriores: diz que, uma vez
qlle as pessoas de diferentes eulturas tem opini5es diferentes
abelezaeajustiya,essasvirtudes nao podemseratribu-
fosdo mundo independentementedasopini5es. Masele pensa,
ilon..:stamente, que seu ataque tem a./hrra do eetieismo inte-
I Jt)r: insisteem que as pessoasque interpretam poemas ou de-
l.' ldem casos dificeis em direito nao deveriam falar ou agir
",llno se um ponto de vista pudesse estar eerto, e os outros
' (" rados. Ele nao consegue lidarcom ambas as eoisas ao mes-
IIIII tempo.
Ele ataca nossascrenyas habituais porquenos atribui afir-
IlltH, OeSabsurdas que nao fazemos. Nus nao dizemos (nem
pmil:mos compreenderalgucm que0diga) que ainterpretayao
I'(.; orno a fisica, ou que os valores morais estao "la", ou po-
dCill serprovados. Dizernos apenas, corn enfascs diversas,que
1/llInlet tratada protelayao,equeaeseravidaociniqua. As pra-
IILIS da interpretayaO eda moralidade dao aessas afirmayoes
II)do0significadode que neeessitam, Oll que poderiam tel'. Se
(I c(: ti copensaque sao erros- maus desempcnhos dentro des-
ISpraticas corretamente entendidas - ele prceisa comparar
liossusrazoes eargumentos, nosso propriorelatoenquantopar-
ilClpantes, com razoes contrarias eargumentos de sua pr6pria
\ Ii:l(,:ao. Atenderemos melhoI' a esse critico, portanto, obser-
\lIndo ate que ponto podemos reformular seus argumentos
01 no argumentosdo ceticismo interior. Podcmosentenderquc
1' 1... nos acusa de errosmorais, naodeerros metafisicos?"Uma
\\:/que ninguem se mostra de acordo aproposito da injustiya
dll hicrarquia social",poderiaele dizcr,"euma vezque as pes-
III ISso tendem aconsiderarahierarquiasocial injusta quando
1t[lsccmem determinadas culturas, einjllsto afirmarque todos
dl' vcmdesprezar e rejeitar a hierarquia.0 maximo quc deve-
1IHIliOS dizer eque as pessoasque aeonsideram injusta devc-
IIUIl1 despreza-Ia erejeita-Ia, ou que as pessoas que vivel11 cm
LCl lllLlllidades em que vigora essa opiniiio deveriam fazer 0
Ou:"0fato de que outros,em difcrentescLllturas, rc-
1"I!l:m nossos pontos de vista morais, 1110stra que s6 tcmos
\":scspontosdevistapOI'causada edueayao moral quc poraca-
104
o IMPERIO DO DlREITO
so recebemos, e perceber isso lan<;:a duvidas sobre esses pontos
de vista."27
Esses sao argumentos de ceticismo interior porque pres-
supocm alguma posi<;:ao moral geral e abstrata _ .. aquela scgun-
27. Quando algllem tem uma crell<;:a ou uma convic<;:ao, faz sentido per-
guntar por sua procedeneia, isto e, pedir uma expliea9an de como tal chegou a
le-Ia. Em alguma parte da hist6ria que contam, algumas expliea<;:oes pressu-
poem a verdadc da crcn9" ou da eonvic9ao, c, se se aeeita uma explica9iio
desse lipo, 0 fato da constitui, em si, uma pro va de sua <111tenticidade.
Se pudennos expliear a crenGa das pessoas de que a grama s6 e verde de algu-
ma maneira que supoe que a grama e verde - pOl' cxemplo, explicando que
viram gralllu verde -, cntao, obviamcnte, a cren<;:a comum e a prova do fato.
Mas sc as erenGas de todos sobrc algum assunto podem ser cxplicadas de
alguma mane ira que nan pressupoc 0 fato, cntno 0 fa to da cren<;:a nao eprova
de sua autenticidadc. Por cxemplo, aehamos quc podcJlloS cxpliear plena-
mcnte a das pessoas em bruxas cxplieando suas superstiGoes; nao im-
porta ate que ponto chcgue, nossa expliea<;:ao nunca recorrcria a nenhum
encontro real entre pessoas e bruxas. Se assim for, entao 0 fato de que algu-
mas pessoas acreditam em bruxas uilo constitui a prova de sua cxistcncia.
Uma pessoa poderia elaborar um argumento internamentc cetico sobre
a moral eomc<;:ando com essa Ela argumenta que podcmos expli-
car 0 lato de que as pessoas tern crcn<;:as mora is scm admitir a exi stencia de
fatos morais c:spcciais que levaram a essas eren<;:as. Nossas crcn<;:as morais,
diz tal pessoa, sao provoeadas nao pdo eneontro com latus cspeciais, mas por
se desenvolverem no interior dc urna cultura cspecitica; isso explica por que
pessoas de culturas diferentes tem convic<;:oes diferentcs. Ate aqui, port m,
essa historia causal plallsivel mostra apenas que 0 fato de nossas
morais nao cprova de que c1as sejam hem fundadas, e isso pouco tem de sur-
preendcnte. Ninguem, a nao ser 0 egotista mais entusiasta, pensa quc 0 fatO>J
de ter uma opiniao moral particular constitua, em si, lIm argumcnlo elll favor
de tal opiniao. De qualquer modo, ninguem devcria preocupar-se muito com
o fato de scr fon;ado a abHndonar esse ponto de vista, porque no ma ximo esta-
ria abandonando apenas llln argulllento em fa vor da consislencia de suas opi-
nioes morai s, deixando intocados todos os argumentos que se sClltiria tcntado
a apresentar. 0 cetieo devc mostrar nao arenas que nossas eouvic90es mo-
rais podem ser totalmenle explicadas scm que seja necessario fazer nenhuma
referencia a qualquer propriedade Illoral causal do universo, mas que a
fortna adotada pela lnelhor cxpliea91io de nossas convic<;:oes lan<;:a dllvidas
sobre elas.
Sob celias descobrir como passantus a acreditar elll al-
guma coisa faz com que duvidemos dela, mas isso acontece pOl'que descobri-
mos algo que identi ficamos como lllll de(ei/o em nosso metodo de instru<;:ao.
("ONCEITOS DE INTERPRETA(;AO 105
do a qual as afirma<;:oes morais so tem uma verdadeira for<;:a
moral quando sao extraidas dos costumes de uma comunidade
cspecifica, por exemplo, ou que as crenc;as morais sao falsas, a
menos que sejam passlveis de aceitac;ao por qualquer cultura-
(;0111 0 base para rcjeitar as afirmac;oes morais mais concretas
em questao. Argumentos morais s6lidos como esses foram
I-calmente apresentados, sem duvida, e sua atrac;ao latente po-
deria explicar pOl' que 0 ceticismo, disfarc;ado de ccticismo ex-
Sc eu tivesse aprendido tudo que sei sobre hist6ria medieval em um livro que,
lIlais tarde, descubro ser uma obra de lic<;:ao popular, duvidaria de tudo que
;'tcreditava saber. Mas 0 simples lato dc que lllinhas cOllvic<;:oes morais seriam
diferentes se eu mc livesse cducado de malleira diferenlc, ou em uma epoea
Illuito diferente, nao mostra em si ncnhum defeilo na cuJtura, na forlll3<;ao e
II1IS processos dc reilexao c obserwlG1io que finallllentc produzirlltll as convic-
,,'(les que agora lcnho. lsso puderia - dcvcria - tomar-Ille euidacloso quanta a
l:ssas convic90cS, a perguntar se tenho boas ra7.oes para pensar
\'1)1ll 0 penso. Poderia levar-me a pereeber rclaGoes entre os prcssupostos
Illorais de minha comunidad" e suas cstrutura, dc poder econtllllico e oulras
Illt>dalidades de poder, co fato de pcrceber cssas rela<;:oes poderia cnfi-aquc-
0 dominio que, antcl-iorlllentc, Illinhas eonvict,:oes exereiam sobre mim.
I sao, todas, conseqi.icilcias possivci s do Cato de ell passar a ver-mc como
Ilina criatura da cultura, mas sao conseqiicncias do fato de ver mais que ape-
Ill/S isso, e e necessario mai s se 0 discernimento vai terminar em algum tipo
de ceticismo interior.
Em geral se pensa qlll: 0 argutncnto da causalidade que aeaho de des-
"rever e um bOIll argumenlo elll delesa de alguilla forma de cctieismo extc-
rim. (Ver Williams, aeima, n. 24. Contudo, a importiincia do argumcnto eau-
para a moral creduzida pdo lato dc que, se acreditamos na iniqi.iidadc da
l'scravidao, nao podemos imaginar Ulll Illundo difercntc do nosso apenas sob
" aspecto de qu e a escravidiio nao (: um crro.) Mas nao estallloS, aqui, prcoell-
pados com os Illeritos do ceticismo cxterior. 0 que nos oeupa sao as objc<;:oes
ao ponto de vista COtllUIll de que uilla convicG30 moral podc ser Illclhor qu e
(Hltras que contradiz, c niio apcnas dilCrente dela;;; quc cia Jlossa ser a respos-
1<1 certa e, as outra" as rc spostas cn-adas. 0 texto alirma que esse ponto de
vista e, em si meSIllO, nll.>ral , que cpartc cssencial das convicGoes Illorais elll
<.jue reside. Um ponto de vista moral so pode ser prejudicado por lllll argu-
mcnto moral. Ass illl , 0 celicisillo que tememos C 0 celicislllo interior, co ar-
gUlllento da causalidade nao ac,urcta, em si, nenhum prejuiz.o. Sei que mi-
nhas opinioes serialll diferentes sc cu tivesse vivido nUllla cpoca Illuito dife-
rente. Mas acho que minhas sao Illclhorcs, e talllbem difercntcs, e
nenhuma explica<;:iio causal pode obrigar-mc a abandonar csse ponto de vista,
<linda que um argumcnlo moral ccrtamenle pudesse fa ze-Io.
106 oIMPERIO DO DIRE/TO
terior, tornou-se tao difundido na interpreta<;ao e no direito.
Talvez esses argnmentos nao pare<;am bons ao leitor, uma vez
que se abandone esse disfarce, mas penso que isso se deve ao
fato de voce cOl1siderar improvavel 0 ceticismo interior global
acerca da moral.
A metamorfose que descrevo nao e gratuita, pois os argu-
mentos do cetico, reconstruidos como argumentos de ceticis-
mo interior, nao podem continuar sendo peremptorios ou a
priori. 0 cetico precisa dc argumentos que sc apresentem como
argumentos morais (ou esteticos, ou interpretativos); ou, se nao
de argumentos, pelo menos de convic<;oes do tipo apropriado.
Seu ceticismo nao pode mais ser descompromissado ou neutro
a proposito das opinioes morais (ou esteticas, ou interpretati-
"' .-,
vas) correntes. Ele nao podc reservar sen ceticismo para algum
.::
momento de serenidade filosMica e for<;ar suas opinioes pes-
soais sobre a moralidade da escravidao, por exemplo, ou sobre
a rela<;ao entre cortesia e rcspeito, quando nao esta em servi<;o
e atua da maneira habitual. Ele abandonou sua distin<;1io entre
as opinioes correntes e as opinioes objetivas; se de fato acredi-
ta, amaneira do ceticismo interior, que nenhum juizo moral e
real mente melhor que qualquer outro, nao pode entao acres-
centar que, em sua opiniao, a escravidao einjusta.
ConcLusoes e programa
Concluo csta vasta se<;ao com uma desculpa e alguns con-OJ
selhos. Subimos por uma colina ingreme e entao fizemos 0
percurso de volta. Nao sabemos mais sobre a interpreta<;ao, a
moral, a cortesia, a justi<;a ou 0 direito do que sabiamos quan-
do comc<;amos a examinar a impugna<;ao dos ceticos. Minha
argumenta<;ao foi totalmente defensiva. Os ceticos identificam
um grave crro na atitude interpretativa do modo como a des-
crevi; di zcl11 que eum erro supor que LIma interprcta<;ao dc uma
pdltica social, ou de qualqucr outra coisa, possa ser ccrta ou
errada, ou realmente melhor do quc outra. Se interpretarmos
essa acusa<;ao nos moldes do ceticismo exterior, entao, pelas
r r)Nf ',,:nos DE INTERPRETAC;io
107
!4lhll': S que ofereci, a acusa<;ao e confusa. Se a interpretarmos
I IIIII !' naturalmente, como uma parte do ceticismo interior glo-
ill d, l! ntao toda a argumenta<;ao ainda esti por ser feita. Esta-
1110l-< no mesmo ponto em que estavamos antes, apenas adquiri-
III11S lima percep<;ao mais clara da possivel amea<;a que apre-
l'l lla csta ultima forma de argumenta<;ao, potencialmente mui-
In
Subi e desci a colina somente porque a impugna<;ao ceti-
I II, pcrcebida como a impugna<;ao do ceticismo exterior, exer-
j I ' mila poderosa influencia sobre os advogados. A proposito
qualquer tese sobre a melhor maneira de avaliar uma situa-
iuridica em algum dominio do direito, cles dizem : "Essa 6
I NlI:l opiniao", 0 que C ao mesmo tempo verdadeiro c inlltil.
(} I I pcrguntam: "Como voce sabe?", ou "Dc onde provem cssa
111i: lenSao?", exigindo nao um caso que possam accitar Oll rc-
wil;! r, mas uma demonstra<;ao metafisica avassaladora it qual
il i iO possa resistir ningucm que a consiga comprccnder. E, quan-
do percebem que nao estao diante de nenhum argumento dota-
rill de tal for<;a, resmungam quc a doutrina etao-somentc sub-
1..: 1iva. Depois, finalmente, voltam a seu ramcrrao fazer, acci-
resistir e rejeitar argumentos da maneira de sempre, con-
Idillando, revisando c mobili zando convie<;ocs que Ihes perm i-
I1 1I11 decidir qual , dentre as avalia<;oes conflitantes da situa<;ao
IIlridica, constitui a melhor dcfesa de tal posi<;ao. Meu conse-
1110 (: direto: essa dan<;a prcliminar do ceticismo e tola e inutil ;
acrescenta nada ao assunto em questao, e dele tambem
lIaJa subtrai. 0 unico ceticismo que vale alguma coisa eo ceti-
cisl110 interior, e e preciso alcan<;a-Io por meio de argumentos
da mesma natureza duvidosa quc os argumentos aos quais cle
',c opoe, e nao ser reivindicado de antemao pOl' alguma preten-
sao acomplexa metafisica empirica.
Devemos prosscguir com esse espirito nosso estudo da in-
Icrpreta<;ao e do direito. Aprescntarei argumentos sobre aquilo
qLle toma LIma interpreta<;ao de uma pratica social melhor que
outra, e sobre a exposi<;ao do dircito que ofcrece a intcrpreta<;ao
mais satisfat6ria dessa pn'ttica complexa c crucial. Esses argu-
mentos nao serao - nem podem ser - demonstra<;oes. Convi-
a IMPERIO DO DlRElTO
108
dam a divergencia, e ainda que nao seja um erro responder: "Mas
essa e apenas a sua opiniao", tampouco de nada servini. 0 lei-
tor deve entao perguntar-se, depois de refletir, se essa e tam-
bem a sua opiniao. Se assim for, pensara que meus argumentos
e conclusoes sao bem fundados, e que sao frageis e equivoca-
dos os outros, que a eles se opoem. Se tiver outra opiniao, ca-
bera a voce explicar por que, confrontando meus argumentos
ou minhas convic90es com as suas. 0 exercicio em questao e
de descoberta, pelo menos neste sentido: descobrir qual ponto
de vista das questoes importantes que discutimos se ajusta me-
Ihor as convic<;oes que, juntos ou individualmente, temos e
conservamos a proposito da melhor avalia<;ao de nossas prati-
cas comuns.
' .
.Ipitldo III
'jurisprudencia revisitada
1 1111:1 nova imagem
I':xtraimos 0 aguilhao semantico, e nao precisamos mais
.I" ';lIricatura da pratica do direito que nos ofcrecem as teorias
, IlI ii lllicas. Agora podemos ver com maior clareza, e cis 0 que
' I II lOS. 0 direito eum conceito interpretativo como a cortesi a
i III tneu exemplo imaginario. Em geral, os juizes reconhecem
" di;vcr de continuar 0 desempcnho da profissao aqual aderi-
lil llI, em vez de descarta-Ia. Entao desenvolvem, em resposta a
proprias convic<;5es e tendencias, teorias operacionais
'\ !hre a melhor interpretayao de suas responsabilidades nesse
Quando divergem sobre aquilo que chamei de
Illnda I idade teorica, suas divergencias sao interpretativas. Di-
\ ' 1'1 gem, em grande parte ou em detalhcs sutis, sobre a melhor
IId wrpreta9ao de algum aspecto pertinente do exercicio da ju-
11 1,di<;ao. Assim, 0 destino de Elmer vai depender das convic-
I. LI es interpretativas do corpo de juizes que julgani 0 caso. Se
tJllljuiz acha que para alcan<;ar a mclhor interprcta<;ao daquilo
'1 II Cos juizes geralmente fazem a prop6sito da aplica<;ao de uma
Il' i de nunca deve levar em conta as intc!1<;ocs dos legisladores,
I" llkra entao tomar uma decisao favoravel a Elmer. Mas se,
.1<1 eontrario, acha que a melhor interpreta<;ao exige que ele
,''(amine essas inten<;:oes, 6 prov<ivel que sua decisao favoreya
'](lIlcril e Regan. Se 0 caso Elmer for aprescntado a um juiz
'PIC ainda nao refletiu sobre a questao da interpret3y30, ele
Você também pode gostar
- Apostila SENAI Fundamentos de InformáticaDocumento198 páginasApostila SENAI Fundamentos de InformáticaVivaldo Pinto100% (3)
- Redacao Instrumental PDFDocumento185 páginasRedacao Instrumental PDFVitor Anjos100% (1)
- Argumentos Dedutivos e Regras de InferênciaDocumento30 páginasArgumentos Dedutivos e Regras de InferênciaCarlos Eduardo SouzaAinda não há avaliações
- Definição e classificação de textosDocumento16 páginasDefinição e classificação de textosLeonardo FagundesAinda não há avaliações
- Ran Teste Anpad Fevereiro 2022Documento10 páginasRan Teste Anpad Fevereiro 2022Maria Luisa PimentaAinda não há avaliações
- Agrumentos. Validade e Inferencia LogicaDocumento26 páginasAgrumentos. Validade e Inferencia LogicaJaneiro Hermínio100% (1)
- A hipnose forense como método de investigação criminalDocumento29 páginasA hipnose forense como método de investigação criminalJessé AntunesAinda não há avaliações
- Análise dos argumentos para a existência de DeusDocumento38 páginasAnálise dos argumentos para a existência de DeusMaria Ines EstevesAinda não há avaliações
- ARTIGO GestaoInovacaoDocumento21 páginasARTIGO GestaoInovacaoNadicleiton SoaresAinda não há avaliações
- Transferência TecnologiaDocumento36 páginasTransferência TecnologiaJessé AntunesAinda não há avaliações
- Danilo Mariano Pereira Tese A Ciencia Que Vira Pib PDFDocumento246 páginasDanilo Mariano Pereira Tese A Ciencia Que Vira Pib PDFJessé AntunesAinda não há avaliações
- Teoria da Constituição: origens, debates em Weimar e desafios interpretativosDocumento3 páginasTeoria da Constituição: origens, debates em Weimar e desafios interpretativosJessé AntunesAinda não há avaliações
- Caderno de Processo Civil III - Juliana (Nat)Documento189 páginasCaderno de Processo Civil III - Juliana (Nat)Jessé AntunesAinda não há avaliações
- Direito SanitárioDocumento346 páginasDireito SanitárioJoiceACAinda não há avaliações
- Legislações Profa. Fernanada BarbozaDocumento7 páginasLegislações Profa. Fernanada BarbozaJessé AntunesAinda não há avaliações
- RECIDocumento25 páginasRECIJessé AntunesAinda não há avaliações
- 5 - o Conceito de Direito - H L A HartDocumento177 páginas5 - o Conceito de Direito - H L A HartKarlo Eric Galvão Dantas100% (1)
- Declaração de Bens e Direitos ITCDDocumento79 páginasDeclaração de Bens e Direitos ITCDJessé AntunesAinda não há avaliações
- Bench MarkingDocumento26 páginasBench MarkingJessé AntunesAinda não há avaliações
- ACAO - Parte 2 - ElementosDocumento31 páginasACAO - Parte 2 - ElementosJessé AntunesAinda não há avaliações
- 01 Lingua PortuguesaDocumento61 páginas01 Lingua PortuguesaIsis GarciaAinda não há avaliações
- Investigação CientíficaDocumento55 páginasInvestigação CientíficaAugusto Souza100% (1)
- Lógica e argumentaçãoDocumento4 páginasLógica e argumentaçãoQuiduxaAinda não há avaliações
- Diferenças entre leitura e escrita acadêmicas e cotidianasDocumento27 páginasDiferenças entre leitura e escrita acadêmicas e cotidianasGabriel MarchettiAinda não há avaliações
- Debate Existência DeusDocumento3 páginasDebate Existência DeusMafalda PereiraAinda não há avaliações
- Donald Davidson, "Conhecer A Própria Mente" 1Documento33 páginasDonald Davidson, "Conhecer A Própria Mente" 1PHILLSOPHIAAinda não há avaliações
- Reflexão sobre a importância da cultura escritaDocumento6 páginasReflexão sobre a importância da cultura escritasilviamarta_c8910Ainda não há avaliações
- Relação Retórica-DemocraciaDocumento13 páginasRelação Retórica-DemocraciaDiogo AlvesAinda não há avaliações
- ApocalipseDocumento14 páginasApocalipseAltair AlvesAinda não há avaliações
- O surgimento do conceito de anarquia nas Relações InternacionaisDocumento5 páginasO surgimento do conceito de anarquia nas Relações InternacionaisGustavo LagaresAinda não há avaliações
- Como fazer uma boa redação em 6 passosDocumento4 páginasComo fazer uma boa redação em 6 passosJovani gamerAinda não há avaliações
- Plano de Curso 4º Bim. 9º Ano Ensino Fund. 2022 LPDocumento6 páginasPlano de Curso 4º Bim. 9º Ano Ensino Fund. 2022 LPRodrigo RochaAinda não há avaliações
- SBCopy Ebook Os 5 Passos Da Venda PDFDocumento41 páginasSBCopy Ebook Os 5 Passos Da Venda PDFJohnAinda não há avaliações
- Os limites do conhecimento e a retórica de RumsfeldDocumento28 páginasOs limites do conhecimento e a retórica de RumsfeldJo FagnerAinda não há avaliações
- Redação - CEEJADocumento15 páginasRedação - CEEJAGiulio BenevidesAinda não há avaliações
- Vincent Cheung - Apologética Na ConversaçãoDocumento47 páginasVincent Cheung - Apologética Na ConversaçãoFernando100% (1)
- O Que São Silogismos Perfeitos?Documento36 páginasO Que São Silogismos Perfeitos?Felipe AlvesAinda não há avaliações
- Problemas da argumentação no direito: sofistas, Platão e AristótelesDocumento6 páginasProblemas da argumentação no direito: sofistas, Platão e AristótelesJuliano LeandroAinda não há avaliações
- Utilizando fórmulas em planilhas: operadores e funçõesDocumento59 páginasUtilizando fórmulas em planilhas: operadores e funçõesLeonardo NeivaAinda não há avaliações
- Falacia e Sofismos 04-02-2021Documento57 páginasFalacia e Sofismos 04-02-2021Igor Santos100% (1)
- Descartes e Hume empirismo racionalismoDocumento7 páginasDescartes e Hume empirismo racionalismopaulofeitaisAinda não há avaliações
- A perspectiva retórica da argumentaçãoDocumento16 páginasA perspectiva retórica da argumentaçãoLidibonjoviAinda não há avaliações
- AYER, A. J. The Problem of Knowledge.Documento17 páginasAYER, A. J. The Problem of Knowledge.ClaudiaBucheAinda não há avaliações