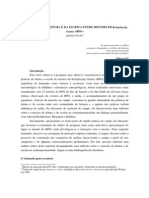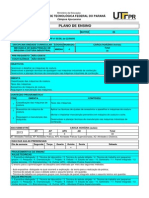Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
03 Cap 01
Enviado por
Rafael RibeiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
03 Cap 01
Enviado por
Rafael RibeiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
MASSA DE QUALIDADE
1.1
Um passo frente
Isto e aquilo.
Isto como degrau para aquilo.
Isto sem aquilo: alienao;
Aquilo sem isto: soluo?
O poeta e crtico literrio J os Paulo Paes
1
, ponderando sobre a literatura de
entretenimento, props, a partir das reflexes de Umberto Eco sobre a cultura de
massa
2
, uma teoria do degrau
3
:
estimuladora do gosto e do hbito da leitura, [a literatura mdia de entrete-
nimento] adquire o sentido de degrau de acesso a um patamar mais alto
[o da literatura de proposta] onde o entretenimento no se esgota em si mas
traz consigo um alargamento da percepo e um aprofundamento da com-
preenso das coisas do mundo.
Na acepo de Paes, literatura mdia de entretenimento correspondem os
best-sellers de fico das listas de mais vendidos, que toda semana arrolam as
preferncias de leitores que se localizam entre um pblico menos discriminativo
apreciadores de um uma literatura de entretenimento de nvel popular e um
outro de maiores exigncias o pblico da literatura erudita ou de proposta, de
nvel superior.
Retomando essa classificao e expandindo a gama de consideraes sobre
o best-seller, Sandra Reimo
4
apresenta outras duas teorias que enfocam a lite-
ratura de mercado. Em oposio teoria do degrau situa-se a teoria do hiato e
da regresso, bastante prxima s idias propagadas pela Escola de Frankfurt,
nas quais o consumo da literatura de massa no deixa rastro: ela transmite uma
1
PAES, op. cit., pp. 27-28.
2
ECO, Apocalpticos e integrados, pp. 36-38.
3
Definio formulada por Sandra Reimo, op. cit., p. 29.
4
Idem, ibidem, pp. 29-32.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
18
experincia que no acumula, mas faz regredir
5
; nesse sentido, a efemeridade da
literatura de entretenimento incapaz de produzir conscincia crtica autnoma e,
conseqentemente, eterniza a lacuna insupervel entre a alta literatura e a de
mercado. Esta nunca ser degrau para aquela.
Nem contra nem a favor da literatura trivial acha-se a teoria do filtro, que,
para Reimo, tem em Alfredo Bosi
6
seu representante nacional. Esse terceiro
ponto de vista atribui ao sujeito, em pessoa, a capacidade de selecionar, assimilar
e descartar elementos da cultura de massa a partir de sua vivncia cultural seja
ela a alta cultura ou a cultura popular se, e somente se, o indivduo estiver inse-
rido em seu contexto especfico de maneira plena e, assim, protegido pelos ele-
mentos filtrantes que so essas prprias esferas culturais.
Das comunidades interpretativas singularidade, do feijo com arroz ao
banquete: isto , preciso tambm servir outros cardpios, para que o sujeito no
permanea fechado no seu horizonte cultural.
Da corrente de representaes e estmulos o sujeito s guardar o que sua
prpria cultura vivida lhe permitir filtrar e avaliar. Mas para que se faam a
seleo e a crtica das mensagens, preciso que o esprito do consumidor
conhea outros ritmos que no o da indstria de signos.
7
Considero que podemos pensar na teoria do filtro como a etapa seguinte
ao processo iniciado pela teoria do degrau: ao aumentar o alcance de compreen-
so do indivduo e de seu conhecimento do mundo, estar agindo na expanso de
seu senso crtico. Esse passo frente ampliar a capacidade do leitor mdio
de quem tratamos nesta dissertao , j equipado com alguns mecanismos de
seleo, de submeter ao seu controle os produtos da indstria cultural, e dentre
eles separar o essencial. Como bem prope Luce Giard
8
, preciso interessar-se
no pelos produtos culturais oferecidos no mercado de bens, mas pelas operaes
de seus usurios, o consumo que deles o fazem, no sentido de uma arte de utili-
zar aqueles [produtos] que lhe so impostos, como explica Michel de Certeau
9
.
Num vis que amplia a dimenso poltica da teoria do degrau, recorro a Antonio
5
J gen Habermas, Mudana estrutural da esfera pblica, em REIMO, op. cit., p. 30.
6
REIMO, ibidem, p. 31.
7
Alfredo Bosi, Plural mas no catico, em Cultura brasileira: temas e situaes, p. 10.
8
Luce Giard, em Michel de CERTEAU, A inveno do cotidiano, p. 13.
9
CERTEAU, ibidem, p. 94.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
19
Gramsci
10
e sua proposta da literatura como prtica fundamental para combater
toda forma de determinismo seja ele econmico, social ou cultural ao fornecer
ao homem elementos que reforam a sua identidade e, mais do que isso, que o
fazem superar esses limites impostos. Essas questes, porm, sero melhor exa-
minadas no Captulo 3 Voc tem fome de qu?, a partir das experincias de Da-
niel Pennac e de Luzia De Maria com leitura na escola, e da formao de leitores,
no campo social mais amplo, pelo Proler.
Complementando o seu exame sobre o best-seller no Brasil, Reimo passa a
questionar a adequao de tais teorias realidade do pas tanto social quanto
relativa ao mercado editorial. Para a autora, o alcance da teoria do degrau li-
mitado pela inexistncia de uma slida cultura livresca entre ns, atropelada pela
televiso antes mesmo de criar razes como opo de entretenimento de um pbli-
co mais amplo. Segundo ela, defender essa categoria de literatura serviria apenas
para consolidar um teor de distrao igualvel ao da televiso. No entanto, lem-
bremos que o tipo de narrativa ao qual J os Paulo Paes se referiu como suporte
teoria do degrau faz parte da literatura mdia de entretenimento. Esta literatu-
ra, como j foi citada aqui, a que consta das listas de mais vendidos. Como
podemos observar em 2.2: A mdia O livro no jornal, so escritores consagrados
em nosso sistema literrio que esto disputando, na maioria, as melhores coloca-
es no ranking. Em ltima instncia, a literatura trivial nacional atua, nos ltimos
anos, em uma espcie de defesa de nossa cultura, ao no sucumbir nem ceder es-
pao para os bestclssicosellers
11
como Sidney Sheldom, J ohn Grisham ou Ste-
phen King.
J a teoria do filtro, por sua vez, reflete bem o momento intelectual pelo
qual estamos passando e no qual se insere esta dissertao:
(...) para ela, a defesa contra os efeitos nocivos da indstria cultural e da pa-
raliteratura (afirmao que esta posio partilha com a teoria do hiato)
passa no s pela defesa e salvaguarda da alta cultura e da obra de arte liter-
ria (como na teoria do hiato) mas tambm por esferas e problemas como
cidadania, vivncia, interao em um corpo social, formas de produo e
mecanismos de acesso a produtos culturais outros, diferentes e divergentes
dos da cultura massiva e massificada.
12
10
Cf. SARLO, Valores: arte, mercado, poltica, pp. 48-49.
11
Paulo Bernardo Vaz, A um passo da barbrie, Leitura e leitores, p. 5.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
20
Essa perspectiva, sem dvida, a que proporciona maior desafio e respon-
sabilidade para os analistas da cultura no pas. Isso porque neste ponto que os
nimos se exaltam e nos vemos em meio a uma discusso em torno do valor de
mercado versus o valor literrio que em nada contribui para a questo fundamen-
tal: a de que no a existncia da literatura trivial que gera pessoas sem senso
crtico, mas sim uma m formao educacional, familiar e cidad. No a inds-
tria editorial a criminosa. A inabilidade de julgar intelectualmente as obras triviais
resultado dos graves problemas sociais e educacionais brasileiros. confeco
de um filtro de defesa contra os efeitos nocivos da indstria cultural que os cr-
ticos e pensadores literrios devem se ater. E para isso est na hora de se pergun-
tar por qu o leitor mdio prefere a literatura trivial literatura de proposta,
como funcionam seus mecanismos de seduo. E no simplesmente condenar uma
prtica consolidada e cada vez mais abrangente.Tratar o mercado livreiro como se
ELE fosse o responsvel ignorar as matrizes que cercam a questo. No por
falta de lanamentos de alta literatura que o povo no os l! De fato, h clssi-
cos para todos os bolsos, oferecidos em diversos formatos, suportes e mesmo nas
bancas de jornais a preos bem acessveis. Mas quem ler Kierkegaard se no
saborear Machado? Essa questo, porm, ser desenvolvida mais frente, nos
Captulos 2. Trivial variado e 3. Voc tem fome de qu?.
Quanto teoria do hiato e da regresso, ela vai ao encontro daquela par-
cela da crtica literria que condena a literatura de entretenimento, mas no apre-
senta alternativas viveis e realistas de contornar a crise de leitura. Na verdade, a
nica alternativa por eles considerada a de aquilo sem isto: a supresso da
literatura trivial, supostamente involutiva. Ao seu discurso imobilista, contrapo-
nho o pensamento de Paes
13
:
Numa cultura de literatos como a nossa, todos sonham ser Gustave Flaubert
ou J ames J oyce, ningum se contentaria em ser Alexandre Dumas ou Agatha
Christie. Trata-se obviamente de um erro de perspectiva: da massa de leitores
destes ltimos autores que surge a elite de leitores daqueles, e nenhuma cul-
tura realmente integrada pode se dispensar de ter, ao lado de uma vigorosa li-
teratura de proposta, uma no menos vigorosa literatura de entretenimento.
12
Sandra Reimo, op. cit., p. 33.
13
PAES, op. cit., p. 37.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
21
Antes de passarmos s reflexes sobre valor e crtica literrios, faz-se ur-
gente solucionar o problema de todo debate sobre a cultura de massa: a conceitua-
o de seus produtos best-seller, literatura de entretenimento, literatura de
mercado, paraliteratura, subliteratura, literatura de massa, contraliteratura etc.
Entretanto, a dificuldade est em que nomear pressupe atribuir qualidade
ou caracterstica a outrem ou a si mesmo; classificar. Dessa forma, a tentativa de
romper com esquemas que involuntariamente resultam hierrquicos esbarra na
necessidade de se fazer entender dentro de um sistema pr-determinado. Sendo
assim, utilizarei as denominaes que, aos meus ouvidos, soam menos precon-
ceituosas e que se encerram nos limites de suas enunciaes.
Livros mais vendidos: como alternativa ao termo best-seller, j desgasta-
do por seu uso indiscriminado tanto no sentido quantitativo quanto qualitativo,
adotarei esta acepo para tratar exclusivamente do comportamento de vendas de
um livro em um determinado mercado editorial.
Literatura de entretenimento ou trivial: vis narrativo dos livros mais
vendidos, abarca tanto as obras de fico quanto s de no-fico. Descarto inte-
gralmente, a partir de agora, formulaes que atrelam o termo a uma idia reduto-
ra de literatura de massa para as massas, como subliteratura, paraliteratura, con-
traliteratura, best-seller, literatura de mercado e a j citada literatura de massa.
Outra designao que no se enquadra neste conceito literatura popular, pois
entendo que dela fazem parte manifestaes outras como o cordel e os romances
aucarados vendidos em bancas de jornais, por exemplo.
Literatura de proposta: Como alternativa s expresses alta literatura,
boa literatura, literatura sria, culta, erudita, que preconceituosas e elitistas,
no definem nada alm de sua arrogncia aristocrtica, prefiro a definio de lite-
ratura de proposta sugerida por Umberto Eco como uma obra que cria as solici-
taes do pblico que decide formar
14
.
14
ECO, Sobre os espelhos e outros ensaios, p. 104.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
22
1.2
Valor do prazer versus prazer do valor
O ttulo deste subcaptulo chama a ateno para um antagonismo que se
instaura no instante em que surgem a cultura de massa e um de seus primeiros
produtos do qual a literatura trivial descende o romance-folhetim. Muito j se
falou sobre as origens da literatura de entretenimento. Ainda assim, vale a pena
recuperar um pouco de sua histria.
Antes mesmo de se tornar um romance publicado em fatias dirias nos jor-
nais
15
, o feuilleton era o espao reservado no rodap dos jornais ao entreteni-
mento, crnica de costumes, s resenhas teatrais e literrias e aos autores de fic-
o, novatos ou no, que quisessem exercitar sua pena. Foi em 1836, no jornal La
Presse, de mile de Girardin responsvel pelas transformaes que moderniza-
ram a imprensa francesa ps-revolucionria de 1830 , que tiveram origem a ex-
presso e a expanso do roman-feuilleton. De um incio simples, a receita se so-
fisticou e atingiu sua excelncia no incio da dcada de 1840: o romance-folhetim,
adaptado s novas condies de corte, suspense, com as necessrias redundncias
para reativar memrias ou esclarecer o leitor
16
se tornou a frmula de sucesso
dos jornais e sua base de sustentao financeira. De objeto a sujeito da indstria
cultural, modificou as prticas editoras de fico contemporneas: antes de virar
livro, as obras eram publicadas seriadas nos jornais e revistas e, mediante seu su-
cesso, eram reunidas em brochura.
A consagrao desse gnero se deveu, em grande parte, sua estrutura nar-
rativa, mas tambm foi possibilitada pelas transformaes econmicas e sociais
que fizeram parte de um processo muito maior: a revoluo industrial que, com
sua demanda por trabalhadores melhor qualificados, promoveu a alfabetizao em
massa o que forneceu s empresas jornalsticas um grande nmero de leitores; e,
ao impulsionar o crescimento das cidades, disparou sua conseqente urbanizao,
abastecendo os peridicos com os fait-divers que em breve seriam a matria-prima
da fico em srie.
15
Marlyse Meyer, Folhetim: uma histria, p. 55.
16
Idem, ibidem, p. 59.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
23
Apesar de adorado pelo pblico todo o mundo os l, a aristocracia e a
burguesia, a sociedade polida e a intelligentsia, jovens e velhos, homens e mulhe-
res, patres e criados
17
, o folhetim foi amplamente criticado pelos intelectuais
conservadores da poca, como Sainte-Beuve, que o classificou de literatura in-
dustrial. Baseados certamente na grande empresa em que a literatura seriada
havia transformado a criao literria, na qual mestres como Balzac e Dumas pai
empregavam colaboradores Hauser cita 73 somente sob superviso de Dumas e,
uma curiosa particularidade, refere-se ao fato de que numa ao judicial, fica
provado que Dumas publica mais com seu prprio nome do que poderia escrever
mesmo que trabalhasse dias e noites a fio sem uma pausa
18
, os crticos temiam
que a literatura trivial ocupasse o lugar da literatura de proposta ou, pior, corrom-
pessem sua autonomia.
A partir desse momento a prosa literria passou a ser dividida, por uma li-
nha de demarcao que viria a no admitir o borrar de fronteiras, entre textos que
se devotam ao consumo fcil e narrativas que se consagram arte. Essa bipar-
tio, caracteristicamente maniquesta e redutora, fomentou o erro de perspectiva
a que se refere J os Paulo Paes, e forneceu munio para que os defensores do
cnone literrio conceituassem a literatura de entretenimento como produto de
estratagemas mercadolgicos e subproduto da literatura culta, destituda de qual-
quer valor que no seja o comercial.
Esses mesmos crticos alegaram que, para um texto ser considerado literrio,
ele deveria principalmente ser original e requerer esforo da parte de quem o l. A
originalidade resultaria de sua capacidade de pr em crise as nossas expectati-
vas, de nos oferecer uma nova imagem do mundo que renova as nossas expe-
rincias, nas palavras de Eco
19
. O empenho em atravessar um texto com essas
intenes seria recompensado pela fruio de uma obra sensvel e inteligente, que
ampliaria nosso conhecimento da realidade atravs de sua natureza mimtica.
Por oposio, a literatura trivial passou a ser caracterizada por sua repetiti-
vidade e condescendncia para com o leitor. Produto de uma indstria que fabrica
objetos em srie e, por esse motivo, despojada de valor artstico, tudo o que essa
17
Arnold Hauser, Histria social da arte e da literatura, p. 740.
18
Idem, ibidem, p. 741.
19
ECO, Sobre os espelhos e outros ensaios, p. 120.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
24
narrativa teria para oferecer ao seu pblico mais do mesmo, e a encorajar so-
mente uma viso passiva, superficial e acrtica do mundo. Feita para o entreteni-
mento e o lazer, para vender mais facilmente o que produz explora o pitoresco, o
sentimental, o emocionante e o divertido.
Essas so, em linhas gerais, as marcas que dicotomizam a produo literria.
Elas esforam-se em sugerir, no caso da literatura de entretenimento, a precarie-
dade de contedo, de linguagem, de consistncia, de qualidade moral e esttica,
esquecendo-se de que
Essas formas narrativas organizam-se ao redor de outra lgica; lgica que
no prope rupturas estticas, mas resgata, como em qualquer outra literatu-
ra, matrizes tradicionais aparentemente perdidas na imensa fragmentao do
cotidiano modernizado. As bases de sustentao dessas formas literrias lo-
calizam-se na repetio de um modelo que se renova pela variao e no
pela ruptura e na forte presena dos gneros como dimenso prioritria de
ficcionalidade. Divertem, entretm, restituem e estabelecem com o leitor
uma relao em que prazer, riso, medo, lgrimas, ansiedades e, fundamen-
talmente, excessos afetivos e emocionados afloram, possibilitando tam-
bm o resgate de experincias: experincias de outra esttica presente em
qualquer tempo e em qualquer espao da histria da cultura.
20
Reconhecemos que, como bem nos lembra Steven Connor
21
, uma das ca-
ractersticas dessa oposio entre o absoluto e o relativo reside no fato de ela no
oferecer um quadro comum a partir do qual avaliar as duas alegaes. Isso por-
que, em princpio, no existe concordncia entre esses pontos de vista: ou defen-
dem-se valores transcendentes, universais e absolutos, ou aceitam-se a pluralida-
de, a relatividade cultural e a contingncia. Entretanto, a tese desta dissertao
que, ao invs de isolar a literatura trivial e a literatura de proposta em seus nichos
antagnicos, devemos encontrar um meio de convivncia cooperativa entre essas
duas alas.
Felizmente, nas ltimas dcadas, a discusso em torno do valor literrio vem
rompendo as barreiras que separam as literaturas trivial e de proposta, numa acei-
tao de que, para que uma cultura forme um todo coerente, necessria uma
convivncia saudvel entre suas variadas manifestaes e discursos. A prpria
universalidade do valor vem sendo questionada proporo que sua relatividade
20
Silvia Helena Simes Borelli. Ao, suspense, emoo, p. 50.
21
CONNOR, Teoria e valor cultural, p. 11.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
25
ganha terreno entre pensadores como Raul Antelo
22
, que contrape a noo de
pluralidade unanimidade e exemplaridade do grande texto, e para quem na
poca da reproduo tcnica da arte, vrios intelectuais e mesmo alguns artistas,
descobrem, simultaneamente, que os valores no tm lugar cativo, mas encon-
tram-se disseminados. De fato, a disseminao dos valores fator sine qua non
de sua prpria sobrevivncia no sistema de condicionamentos estabelecido pela
indstria cultural, que j no mais consente um plano unidimensional de cultura e,
por isso, dela demande um dilogo recproco e no-hierarquizado que resulte em
uma relao dialtica entre seus discursos.
nesse ambiente multidimensional que o produtor de cultura literria au-
tor, editor, crtico deve operar de maneira ativa e consciente, at mesmo reavali-
ando, se necessrio, sua funo, para atingir o seu objetivo: comunicar-se com o
leitor. At porque, preocupa-se o leitor mdio com o cnone? Na maioria das ve-
zes, o cnone so aqueles livros que os alunos so obrigados a ler na escola e
acham chatos. No entanto, considerar que se no fosse por culpa dos Paulos
Coelhos, Harries Potters e outros males de planto, as pessoas passariam seu
tempo lendo e discutindo Dom Casmurro ou Grande Serto: veredas, por de-
mais ingnuo. Se continuarmos a insistir em associar agradvel com no-artstico,
esperado com banal e efmero com inconsistente, o cnone corre o risco de vir a
ser composto unicamente daquilo que os americanos chamam de GUB, great
unread book, como a Bblia e como Proust
23
.
Porque, ainda segundo Eco, um livro obtm sucesso somente em dois ca-
sos: se d ao pblico o que ele espera ou se cria um pblico que decide esperar o
que o livro lhe d
24
. Estamos falando aqui de dois nveis de leitores e de leitura
que podem ser associados a duas teorias que propem solues efetivas para a
crise de leitura brasileira: a teoria do degrau e a teoria do filtro. Em ambos os
casos, porm, seus autores querem igualmente algum a quem agrade ler o seu
produto. Na primeira doutrina temos o ledor de obras de entretenimento, o leitor
de primeiro nvel, que se nutre de fast-books, narrativas gastronmicas prontas
para serem consumidas com a rapidez com que se devora um hambrguer. Porm
com menos calorias. J a segunda diz respeito ao leitor de segundo nvel, apre-
22
ANTELO, Valor e ps-crtica, in Valores: arte, mercado, poltica, p. 147.
23
Umberto Eco. Sobre os espelhos e outros ensaios, p. 104.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
26
ciador da literatura de proposta, que se diverte no com o que foi contado, mas
com o modo como foi contado, e se delicia em saborear as estruturas narrativas
como se fossem hors duvre. A questo que nos interessa neste trabalho justa-
mente oferecer ao leitor de primeiro nvel a possibilidade de degustar receitas e
sabores mais elaborados. E, por que no tambm, de levar o gourmet a apreciar o
trivial sem sentir dor de estmago depois.
24
Idem, ibidem.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
27
1.3
Narciso acha feio o que no espelho...
Diversos setores da crtica literria mundial e brasileira h muito vm fa-
zendo seu mea-culpa e reavaliando suas consideraes sobre a literatura de entre-
tenimento. Mas alguns pensadores ainda resistem a admitir o significado que esta
adquiriu no campo cultural contemporneo e sua irreversvel aceitao entre leito-
res dos mais diversos nveis. Eneida Maria de Souza
25
descreve perfeitamente a
situao:
(...) sempre mais fcil optarmos por uma defesa do semelhante e do mesmo
do que do diferente e do outro. A alteridade constitui um dos inimigos invi-
sveis do pensamento conservador e acomodado, pois a mera constatao de
sua existncia j provoca um sentimento de repulsa e de fechamento entre
aqueles que recusam o dilogo.
A insistncia em ignorar a diversidade de manifestaes literrias e suas in-
ter-relaes, alm de tornar evidente a posio defensiva na qual hoje se encontra
parte da crtica, demonstra algo mais do que seu apego a referenciais cristalizados:
reflete o medo da perda de sua autoridade intelectual. Porque no s a leitura
que est em crise (E est? Ou no ser este mais um pretexto para condenar a lite-
ratura trivial?), mas tambm os papis da crtica literria, do intelectual e da pr-
pria cultura letrada esto sendo questionados neste momento de total fragmenta-
o das certezas. Essas questes sero melhor elaboradas mais adiante; por ora,
voltemos aos argumentos desse discurso imobilista, cuja tendncia conferir
literatura o grau mais alto numa suposta escala de valores das cincias humanas,
de onde ela, em sua funo hegemnica, e a partir de sua ancestral autoridade,
exerce sua dominao discursiva pela outorga de chancelas aos melhores entre os
bens culturais, atravs de seus guardies, os crticos.
Seus critrios de qualidade j foram examinados anteriormente nesta dis-
sertao (Cf. 1.2 Valor do prazer versus prazer do valor), por isso passarei para
seus protestos que, calcados na desconfiana, partem da impossibilidade, em sua
opinio, de se discutir valores em um contexto onde estes no mais se encontram
institucionalizados, mas disseminados por novos lugares de enunciao, como o
25
SOUZA, Crtica cult, p. 12.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
28
mercado, a mdia e os demais meios de divulgao cultural. Na disputa por seu
territrio, a crtica tradicional arrola as conseqncias dessa quebra da hegemonia
discursiva: neutralizao valorativa do texto, nivelamento da recepo, su-
jeio da obra ao gosto mediano do leitor, sem falar no incentivo ao texto de
consumo fcil, em detrimento da qualidade literria. Tudo isso com o apoio da
posio condescendente da crtica cultural. A crtica cultural, alis, mais uma
pedra no sapato (ou no caminho?) da crtica literria.
Essa rixa, porm, no atual. Ela tem incio em meados de 1940, quando
se inaugura a crtica moderna oriunda das recm-criadas faculdades brasileiras
de Filosofia , e instala-se a oposio entre dois modelos de crticos: de um lado o
homem de letras, que fazia crtica de rodap com contornos de crnica aliada
eloqncia e aos apelos narrativos dos jornais da poca; de outro o crtico uni-
versitrio, preocupado com a pesquisa acadmica e a especializao, cujo veculo
primordial de divulgao de sua produo intelectual era o livro, apesar de ela se
apresentar tambm na imprensa diria, local de embates memorveis entre os dois
grupos. Entre os anos 40 e 50, o poder esteve nas mos desses homens de letras.
Seu prestgio foi diminuindo at que, j na dcada de 1960, foram postos de lado
pelos acadmicos, agora envolvidos com suas prprias querelas internas, onde a
questo central a ser resolvida eram as relaes entre a literatura e a histria soci-
al, tendo em Afrnio Coutinho e Antonio Candido os representantes das duas cor-
rentes: a esttica e a dialtica, respectivamente.
O espao para esse debate, entretanto, era muito pequeno na imprensa, onde
alguns suplementos culturais estavam sendo suprimidos e outros reformulavam
sua linha editorial, aproximando-se mais do aspecto comercial da literatura, alm
de a mdia ter outra vez voltado a considerar o jargo acadmico incompreensvel.
Outro fator contribuiu para essa vingana do rodap: o desenvolvimento desen-
freado da indstria cultural no Brasil a partir dos anos 60, que trouxe a regula-
mentao profissional dos jornalistas (17/10/1969) e com isso lhes conferiu reno-
vada autoridade.
De l para c o poder de influncia da crtica acadmica junto ao pblico
diminuiu significativamente e hoje j no h muito espao para ela fora das revis-
tas especializadas, que apenas os happy few consultam. Seu confinamento a bo-
xes nos suplementos literrios demonstra bem a urgncia de uma mudana de
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
29
mirada dessa parcela da intelectualidade. De fato, sem tanto espao nos meios de
comunicao (de massa!) a crtica literria est restrita universidade, ltimo ba-
luarte para a sobrevivncia de um discurso hermtico que chega logo cunha-
gem de frmulas e se nutre dessas frmulas at que sobrevenham outras que as
substituam
26
e que em nada ajuda na ampliao do debate literrio. Atual media-
dora entre a sociedade e a alta cultura, os cadernos literrios so sua via de con-
sumo dos bens simblicos e hoje podem ser caracterizados como cadernos de
livros que tratam de literatura, dos escritores e do mercado editorial. No sendo
mais um espao de crtica literria, mas um lugar predominantemente jornalstico
com contribuies mais ou menos freqentes dos acadmicos
27
. Isso significa
dizer que nenhum deles se define ou rotula como suplemento literrio. So ca-
dernos de livros, de literatura, de idias, de polmicas
28
. Segundo Travancas,
nesses cadernos a lgica jornalstica que impera, e sendo o conceito de notcia a
fundamentao dessa lgica, o principal critrio de seleo dos livros que aparece-
ro em suas pginas que eles sejam recm-lanados (Cf. Captulo 2. Trivial va-
riado). A partir disso entra em ao o fator gosto pessoal de seus editores, com-
pletamente arbitrrio e subjetivo, associado a uma rede de colaboradores com do-
mnio nos mais diversos campos professores, psicanalistas, cientistas sociais,
escritores, filsofos, artistas plsticos etc. , que se combinam com elementos
concretos como a importncia do autor no sistema literrio alguns dos quais a
imprensa obrigada a falar e o espao finito do caderno. Diante de todos esses
fatores, sobra muito pouco espao para a crtica negativa ou polmica. O que o
leitor do caderno quer informao, para poder elaborar seu prprio julgamento e
fazer suas escolhas literrias.
Tambm quanto ao mercado editorial sua influncia praticamente nula, as-
sim como muito pequeno o interesse deste por sua produo intelectual (um
sintoma disso o aumento, nos ltimos anos, de editoras universitrias que tm
como principal objetivo escoar as obras de seu corpo docente). A indstria livrei-
ra, na verdade, faz suas escolhas editorias independentemente da validao da
crtica. Ela tem, inclusive, autonomia para produzir referenciais literrios que
prescindam
26
Alfredo Bosi, Dialtica da colonizao, p. 320.
27
Isabel Travancas, O livro no jornal, p. 16.
28
Idem, ibidem, p. 43.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
30
da aprovao acadmica e cujo valor ultrapasse critrios exclusivamente narrati-
vos.
Ao perceber seu enfraquecimento enquanto classe, essa parcela da crtica
chama em seu auxlio conceitos como cnone, valor e especificidade para,
sob a forma camuflada de uma decadncia da cultura, tentar recuperar seu poder
de enunciao que apontaria para uma nova ascenso da arte, na contramo dos
estudos culturais ps-modernos. Contudo, inseridos eles mesmos em um sistema
binrio de classificao elaborado por Eco, no qual foram batizados de apocalp-
ticos, sua atitude visa, para o pensador italiano, consolar
(...) o leitor porque lhe permite entrever, sob o derrocar da catstrofe, a
existncia de uma comunidade de super-homens, capazes de se elevarem,
nem que seja apenas atravs da recusa, acima da banalidade mdia. No li-
mite, a comunidade reduzidssima e eleita de quem escreve e de quem l,
ns dois, voc e eu, os nicos que compreendem, e esto salvos: os nicos
que no so massa.
29
29
ECO, Apocalpticos e integrados, p. 9.
P
U
C
-
R
i
o
-
C
e
r
t
i
f
i
c
a
o
D
i
g
i
t
a
l
N
0
1
1
5
3
9
8
/
C
A
Você também pode gostar
- 03 Cap 02Documento28 páginas03 Cap 02Rafael RibeiroAinda não há avaliações
- 12 StollDocumento10 páginas12 StollIzabela MatosAinda não há avaliações
- 03 ConclusaoDocumento3 páginas03 ConclusaoRafael RibeiroAinda não há avaliações
- 03 Cap 03Documento20 páginas03 Cap 03Rafael RibeiroAinda não há avaliações
- CancioneiroDocumento47 páginasCancioneirodoug0820Ainda não há avaliações
- A Atividade de TeleatendimentoDocumento12 páginasA Atividade de TeleatendimentoRafael RibeiroAinda não há avaliações
- O Telemarketing e o Perfil Sócio-Ocupacional DosDocumento23 páginasO Telemarketing e o Perfil Sócio-Ocupacional DosThiago PriscoAinda não há avaliações
- Saberes e Estratégias Dos Operadores de TelemarketingDocumento10 páginasSaberes e Estratégias Dos Operadores de TelemarketingRafael RibeiroAinda não há avaliações
- Avaliação Da Resiliência Controvérsia em TornoDocumento8 páginasAvaliação Da Resiliência Controvérsia em TornoRafael RibeiroAinda não há avaliações
- Pedro Oro - Dinheiro e MagiaDocumento15 páginasPedro Oro - Dinheiro e MagiaanacandidapenaAinda não há avaliações
- 02Documento12 páginas02Carú Vila RamosAinda não há avaliações
- CancioneiroDocumento47 páginasCancioneirodoug0820Ainda não há avaliações
- Satisfação Com o Emprego em Call CentersDocumento12 páginasSatisfação Com o Emprego em Call CentersRafael RibeiroAinda não há avaliações
- 2065 5459 1 PBDocumento8 páginas2065 5459 1 PBRafael RibeiroAinda não há avaliações
- 795 34480 1 PBDocumento21 páginas795 34480 1 PBRafael RibeiroAinda não há avaliações
- Mercado Editorial Brasileiro 1960 1990Documento48 páginasMercado Editorial Brasileiro 1960 1990Rafael RibeiroAinda não há avaliações
- (234686035) Patterson - Introdução e ConclusãoDocumento28 páginas(234686035) Patterson - Introdução e ConclusãoRafael RibeiroAinda não há avaliações
- Manual Dos IngressantesDocumento25 páginasManual Dos IngressantesRafael RibeiroAinda não há avaliações
- Fundamentos de FilosofiaDocumento376 páginasFundamentos de FilosofiaRamon SoeiroAinda não há avaliações
- AMATUZZI - Artigo - Religião e Sentido Da VidaDocumento8 páginasAMATUZZI - Artigo - Religião e Sentido Da VidaCarlosErickAinda não há avaliações
- Chico Xavier e A Cultura Brasileira - LEWGOYDocumento64 páginasChico Xavier e A Cultura Brasileira - LEWGOYCintia Alves da SilvaAinda não há avaliações
- 754FTDocumento44 páginas754FTMichael AlcântaraAinda não há avaliações
- 063Documento9 páginas063Rafael RibeiroAinda não há avaliações
- A Aventura Da Leitura e Da Escrita Entre Mestres de RoleplayingDocumento16 páginasA Aventura Da Leitura e Da Escrita Entre Mestres de RoleplayingRafael Correia RochaAinda não há avaliações
- Artigo - Ciencia Religião Psicologia Conhecimento e Comportamento Geraldo José de Paiva - USP-SPDocumento7 páginasArtigo - Ciencia Religião Psicologia Conhecimento e Comportamento Geraldo José de Paiva - USP-SPAndre FalboAinda não há avaliações
- Teoria das Representações Sociais e GêneroDocumento21 páginasTeoria das Representações Sociais e GêneroEduardo AmorimAinda não há avaliações
- Representações Sociais e SociedadesDocumento7 páginasRepresentações Sociais e SociedadesRafael RibeiroAinda não há avaliações
- 331 338 PublipgDocumento16 páginas331 338 PublipgRafael RibeiroAinda não há avaliações
- Técnicas Básicas Duplo Espelho e Inversão de PapeisDocumento4 páginasTécnicas Básicas Duplo Espelho e Inversão de PapeisSusana87% (15)
- 2017 Lista de Publicacao - 01 A 31 AgoDocumento3 páginas2017 Lista de Publicacao - 01 A 31 AgoLoiAinda não há avaliações
- Reflexões sobre desenvolvimento emDocumento115 páginasReflexões sobre desenvolvimento emIvan Ferreira de Araujo100% (1)
- Resenha - 01 - Breve Histórico Do Espaço Enquanto Campo DisciplinarDocumento2 páginasResenha - 01 - Breve Histórico Do Espaço Enquanto Campo DisciplinarJefferson M. Sandrin0% (1)
- Ribeiro Et Al., 2018 (Org) - Olhares - Geograficos - Paisagem - NaturezaDocumento178 páginasRibeiro Et Al., 2018 (Org) - Olhares - Geograficos - Paisagem - NaturezaOscar LimaAinda não há avaliações
- O HABITAT URBANO - Novas Formas de Viver MarvilaDocumento20 páginasO HABITAT URBANO - Novas Formas de Viver MarvilaDanielaEuzebioAinda não há avaliações
- Estratégias competitivas das distribuidoras de GLP no CearáDocumento137 páginasEstratégias competitivas das distribuidoras de GLP no Cearáedilma_silva_2Ainda não há avaliações
- Plano de Aula - Tratamento de Águas Residuárias e Efluentes Industriais AtualizadoDocumento5 páginasPlano de Aula - Tratamento de Águas Residuárias e Efluentes Industriais AtualizadoEduardo Chaves de AzevedoAinda não há avaliações
- Apostila Sobre LOGISTICADocumento33 páginasApostila Sobre LOGISTICAFelipe LunardiAinda não há avaliações
- Manutenção de máquinas de costuraDocumento2 páginasManutenção de máquinas de costuraCarlos CruzAinda não há avaliações
- Remessa LA 19-12Documento1 páginaRemessa LA 19-12Engenheiro Josimar MacedoAinda não há avaliações
- 50 anos de inovação em compressoresDocumento8 páginas50 anos de inovação em compressoresEber.CVAinda não há avaliações
- WPT - Acoplamento Ressonante (VERSAO FINAL)Documento80 páginasWPT - Acoplamento Ressonante (VERSAO FINAL)Tiago MottaAinda não há avaliações
- VinagreDocumento40 páginasVinagrecrislianecamargo100% (1)
- Ecosan Catalogo PDFDocumento83 páginasEcosan Catalogo PDFpizzaiollouco47100% (1)
- Seleção de Materiais para Projetos MecânicosDocumento13 páginasSeleção de Materiais para Projetos MecânicosmarcioulguimAinda não há avaliações
- Admin Estratégia - Competência à AvaliaçãoDocumento28 páginasAdmin Estratégia - Competência à AvaliaçãoHelenaAquatiliumAinda não há avaliações
- Tumolo Trabalho Capital PDFDocumento190 páginasTumolo Trabalho Capital PDFeditoriaemdebateAinda não há avaliações
- Operadores de máquinas de terraplenagemDocumento5 páginasOperadores de máquinas de terraplenagemMagnatas ReggaecevarockAinda não há avaliações
- l1. Carbonetos em NodularDocumento25 páginasl1. Carbonetos em NodularrsomsmdudaAinda não há avaliações
- Exemplo de Mapa Da Empatia Construído para Uma Empresa de Serviços de TIDocumento4 páginasExemplo de Mapa Da Empatia Construído para Uma Empresa de Serviços de TISilvia FerreiraAinda não há avaliações
- A Concepção de Infancia Presente No Manifesto Dos Pioneiros Da Educação Nova de 1932 PDFDocumento150 páginasA Concepção de Infancia Presente No Manifesto Dos Pioneiros Da Educação Nova de 1932 PDFCesar Evangelista Fernandes BressaninAinda não há avaliações
- Tratamentos Térmicos: Recozimento e NormalizaçãoDocumento63 páginasTratamentos Térmicos: Recozimento e NormalizaçãoMarcelo Dos Santos Lídio100% (1)
- Análise de sistemas de medição em empresa automotivaDocumento15 páginasAnálise de sistemas de medição em empresa automotivaedumm001Ainda não há avaliações
- Cultura e diversidade emDocumento9 páginasCultura e diversidade emTiago Portela0% (1)
- QUALISSEG - Catálogo Eletrônico de Dispositivos de Bloqueio e Etiquetagem Lockout-Tagout - E12Documento63 páginasQUALISSEG - Catálogo Eletrônico de Dispositivos de Bloqueio e Etiquetagem Lockout-Tagout - E12thiagobodosAinda não há avaliações
- Fabricação de móveis com madeira e chapasDocumento10 páginasFabricação de móveis com madeira e chapasRoberto CamargoAinda não há avaliações
- 24 06 2019 REVISÃO PARA AVALIAÇÃO 8º Ano Revolução Industrial e Iluminismo 2º BIMESTREDocumento2 páginas24 06 2019 REVISÃO PARA AVALIAÇÃO 8º Ano Revolução Industrial e Iluminismo 2º BIMESTRESebastian VetonAinda não há avaliações
- Dinâmica Da Indústria Transformadora (11.º)Documento2 páginasDinâmica Da Indústria Transformadora (11.º)profgeofernando100% (1)
- Cangaceiros e Fanáticos: O despertar dos pobres do campo e os males do monopólio da terraDocumento226 páginasCangaceiros e Fanáticos: O despertar dos pobres do campo e os males do monopólio da terraCassandra Véras100% (1)
- Construção de Portal no Município de São Francisco do BrejãoDocumento4 páginasConstrução de Portal no Município de São Francisco do BrejãoWagner NascimentoAinda não há avaliações