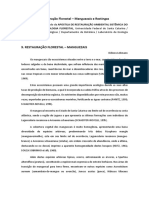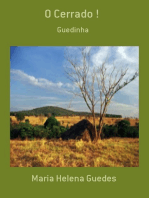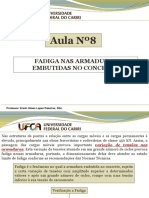Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Rodrigues Et Al., 2010
Enviado por
Gisele SantosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Rodrigues Et Al., 2010
Enviado por
Gisele SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
815
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
Avaliao da chuva de sementes em reas de...
AVALIAO DA CHUVA DE SEMENTES EM REAS DE RESTINGA EM
DIFERENTES ESTGIOS DE REGENERAO
1
1
Recebido em 03.06.2008 e aceito para publicao em 02.03.2010.
2
Doutorado em andamento pela Universidade J lio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. E-mail: <mar.ambiente@gmail.com>.
3
Universidade Estadual Paulista J lio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.
4
Instituto de Botnica, IBT, Brasil.
Maurcio Augusto Rodrigues
2
, Adelita Aparecida Sartori Paoli
3
, J os Marcos Barbosa
4
e Nelson
Augusto dos Santos J unior
4
RESUMO Este estudo foi desenvolvido numa rea de restinga localizada no Municpio de So Vicente (SP).
O trabalho teve como objetivo avaliar a chuva de sementes em trs condies diferentes de regenerao. Para
tanto, foram selecionadas as seguintes condies: Floresta Alta de restinga em estgio mdio de regenerao,
uma rea de clareira na mesma condio citada anteriormente e uma terceira em estgio inicial de regenerao.
Em cada condio foram instalados 10 coletores de sementes confeccionados com madeira e tela sombrite
80% no fundo, mantidos a uma altura de 20 cm do solo. Foram avaliadas mensalmente, pelo perodo de um
ano, as densidades de propgulos depositados nos coletores, sendo esses propgulos identificados e categorizados
com base na sua sndrome de disperso e na sua classe sucessional. Na rea de Floresta Alta de restinga foi
realizado um levantamento fitossociolgico de forma a identificar quais propgulos presentes na chuva poderiam
ser oriundos dessas reas. Foi verificado que as densidades de propgulos so relativamente baixas se comparadas
com outras formaes de florestas pluviais atlnticas, mas compatveis com outros estudos realizados com
a mesma formao vegetal considerada neste estudo. Com relao s sndromes de disperso e classes sucessionais,
houve predominncia da sndrome zoocrica e de espcies de classes sucessionais secundrias. Os resultados
permitem concluir que a rea apresenta boa capacidade de manuteno da sua dinmica sucessional.
Palavras-chave: Floresta Tropical Atlntica, Disperso de sementes e Recuperao de reas degradadas.
EVALUATION OF SEED RAIN IN AREAS OF RESTINGA WITH DIFFERENTS
REGENERATION STAGES
ABSTRACT This study was conducted in an area of restinga in the municipality of So Vicente (SP). The
study aimed to evaluate the seed rain in three different conditions of regeneration. Was selected the following
conditions: High Forest of Restinga in the middle stage of regeneration, an area of clearing in the same condition
mentioned above and a third in early stages of regeneration. In each condition were installed 10 seed collectors
made of wood and screen with 80% of shade, supported to a height of 20cm of soil. They were evaluated monthly
for one year, the densities of seed deposited in the collector, these seedlings are identified and categorized based
on their dispersion syndrome and successional classes. The Area of High Forest area was carried out a phytosociological
survey to identify which seedlings present in the rain could be from these areas. It was found that the densities
of seedlings are relatively low compared to other formations of the Atlantic rain forest, but consistent with other
studies of the same type of vegetation used in the study. Regarding dispersal syndromes and successional classes,
there was prevalence of the zoocoric syndrome and species of secondary successional classes. The results indicate
that the area has good ability to maintain their succession dynamics.
Keywords: Atlantic Rain Forest, Seed dispersion e Restoration of degraded areas.
816
RODRIGUES, M.A. et al.
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
1. INTRODUO
O termo restinga geralmente utilizado para
caracterizar as plancies costeiras ou plancies litorneas
arenosas (SUGIYAMA, 1998; CARRASCO, 2003;
TESSLER e GOYA, 2005). Souza et al. (2008), com base
em ampla reviso de literatura, indicam caractersticas
como: feio de linha da costa alongada, de natureza
arenosa e de muito baixa amplitude, que tende a fechar
reentrncias costeiras, comuns nas diferentes
designaes para caracterizar as restingas. Entretanto,
nos estudos ecolgicos o termo restinga utilizado
para se referir a todos os tipos de vegetao estabelecidos
nas plancies costeiras quaternrias, incluindo-se em
alguns casos as formaes vegetais encontradas nas
baixas e mdias encostas da Serra do Mar (SOUZA
et al., 2008), com pouca riqueza de espcies, baixa
produtividade e pequena complexidade, se comparadas
a outras formaes florestais (SCARANO, 2002; 2006).
Mesmo assim, as variaes nas formaes vegetais
das restingas devem-se diversidade de origem,
topografia e condies ambientais das plancies
arenosas, assim como a fatores de carter sucessional,
que propiciam a formao de muitos hbitats e,
consequentemente, a existncia de uma flora rica e
variada (ARAJ O, 1984; SUGIYAMA, 1998; LOPES
2007), apresentando, de maneira geral, aumento na
complexidade da vegetao no sentido oceano-
continente (MANTOVANI, 2000; LOPES, 2007); e a
floresta atlntica a principal fonte de espcies
ocorrentes nas restingas das regies Sul e Sudeste
brasileiras (SCHERER et al., 2005).
Por estarem estabelecidas sobre solos arenosos,
altamente lixiviados e pobres em nutrientes, essas
formaes vegetacionais so muito frgeis e passveis
de perturbaes, o que dificulta a recuperao das
reas degradadas (ARAJ O e LACERDA 1987) e a
obteno de dados mais conclusivos que, segundo
Rodrigues (2000), so escassos.
Um mecanismo intrnseco em comunidades como
essa a disperso de sementes, considerada um
dos processos demogrficos-chave na vida das
plantas, pois funciona como uma ponte unindo as
fases de polinizao com o recrutamento que levar
ao estabelecimento de novas plantas adultas
(HARPER, 1977).
A sobrevivncia e dinmica das florestas
dependem, em grande parte, desse aporte de sementes
determinado pela chuva de sementes, consequncia
da composio florstica da rea e de suas vizinhanas,
da variao espacial e temporal de propgulos e do
comportamento dos dispersores de sementes
(HARPER, 1977).
Consequentemente, conhecer as caractersticas
fitossociolgicas da rea de estudo fundamental
para o entendimento da chuva de sementes, j que,
segundo Kent e Coker (1992), independentemente
das abordagens uti l i zadas, as descri es da
composio, estrutura e funcionamento so as
principais ferramentas para o conhecimento da
vegetao, componente dominante e mais acessvel
das comunidades ecolgicas terrestres.
Dessa forma, torna-se fundamental entender a
dinmica da chuva de sementes nas vrias fisionomias
de restinga, sujeitas a diferentes fatores de degradao
e em estgios de regenerao distintos. Partindo-se
desta premissa, este estudo teve como objetivo avaliar
a chuva de sementes em reas de restinga em diferentes
estgios de regenerao, de forma a inferir sobre o
estado de cada uma delas, confrontando-se com os
dados da fitossociologia.
2. MATERIAL E MTODOS
O trabalho foi desenvolvido numa rea pertencente
empresa mineradora STAF (Sociedade Tcnica de
Areias para Fundio Ltda.), situada a noroeste do
cruzamento da Ferrovia FEPASA com a Rodovia Pedro
Taques, altura do km 70, no local denominado Samarit,
Distrito do Municpio de So Vicente (SP), com as
seguintes coordenadas de referncia: S 23 573 e
W 46 2315. De acordo com a Resoluo n 7 do
CONAMA, de 23/07/1996, a vegetao ocorrente no
local caracterizada como Floresta Alta de Restinga.
De acordo com a classificao de Kppen, o clima
da regio definido como tropical super mido, Af
(CEPAGRI, 2009). A regio apresenta grande nebulosidade
e altos ndices pluviomtricos, principalmente entre
outubro e maro, com valores mdios anuais de chuva
de 1.600 mm a 3.000 mm. A umidade relativa do ar varia
entre 65% e 97%, e a temperatura nos meses quentes
varia de 22 a 34,4 C e nos meses frios, entre 13 e
27,6 C, com mdia anual de 24,7 C.
817
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
Avaliao da chuva de sementes em reas de...
A observao da chuva de sementes foi realizada
em trs diferentes reas: rea1 (Floresta Alta de
Restinga), rea 2 (Clareira na Floresta Alta de Restinga)
e rea 3 (Restinga em Processo de Recuperao).
Segundo informaes da Gerncia da STAF, as reas
de estudo 1 e 2 foram os primeiros locais a serem
minerados na propriedade, justamente por se encontrar
ao lado da linha frrea, nico meio de escoamento
da produo na dcada de 1950. Consta, ainda, que
a rea sofreu processo de minerao por um perodo
de 10 anos, de meados dos anos 1950 at meados
dos anos de 1960.
Em cada uma das trs reas foram instalados,
a uma altura de 20 cm do solo, 10 coletores de sementes
de 1,0 m x 1,0 m x 10,0 cm confeccionados com madeira
e sombrite, totalizando 30 coletores. Esses coletores
foram distribudos ao acaso da seguinte forma: nas
reas 1 e 3, os coletores foram dispostos seguindo-se
um transecto longitudinal, alocados a cada 25 m ao
longo da linha de transeco, em lados alternados,
a uma distncia de 10 m do eixo do transecto e no
mnimo 20 m das bordas. Na rea 2, foi aberta uma
clareira quadrada com dimenses de 10 m x 10 m,
subdividida em 100 subparcelas de 1 m
2
, totalizando-se
10 colunas com 10 linhas cada uma. Os coletores foram
instalados ao acaso, sorteando-se o nmero da linha
nas diferentes colunas.
Mensalmente, durante o perodo de um ano
(de 10/2004 a 9/2005) todo o material recolhido nos
coletores de chuva de sementes foi levado para a Unidade
de Pesquisa e Tecnologia de Sementes do Instituto
de Botnica de So Paulo, onde foi triado, separando-se
manualmente as sementes do restante da serrapilheira
(com o auxlio de uma lupa) em morfoespcies e
quantificando-se as diferentes espcies ocorrentes
em cada um dos coletores, individualmente e no total,
para cada uma das trs reas. Aps a triagem e
quantificao, as sementes foram colocadas em potes
de vidro individualizados por morfoespcie para posterior
identificao. As espcies amostradas foram classificadas
quanto categoria sucessional (BUDOWSKY, 1965)
e sndrome de disperso (PIJ L, 1972).
A similaridade entre as reas foi comparada
utilizando-se o ndice de Jaccard (MAGURRAN, 1988).
Para anlise estrutural da vegetao, foi utilizado
o mtodo de parcelas (MUELLER-DUMBOIS e
ELLENBERG, 1974), considerando-se parcelas de
10 x 10 m. As parcelas foram delimitadas com estacas
de bambu e fitilho. Em cada parcela foram considerados
os indivduos com permetro do caule altura do peito
(PAP) igual ou superior a 10 cm. Cada um dos indivduos
amostrados foi numerado com uma plaqueta de alumnio.
O permetro foi medido com fita mtrica a 1,30 m do
solo e a altura, estimada com o auxlio de uma vara
telescpica.
A partir dos dados obtidos no campo, foram
calculados os valores de importncia, cobertura,
frequncia e densidades absolutas e relativas de cada
espcie (MUELLER-DUMBOIS e ELLENBERG, 1974)
e o ndice de diversidade de Shannon e Weaner da
comunidade (PIELOU, 1975).
3. RESULTADOS
Das 43 espcies encontradas na rea de estudo,
as primeiras 11 so responsveis por 61,24% do total
de indivduos amostrados (Tabela 1). Essas mesmas
espcies so as mais significativas com relao %IVI,
somando nesse caso 62,09% do total, apresentando
ndice de diversidade e equabilidade elevados,
respectivamente, H =3,335 e J =0,887.
Com relao ao padro de distribuio vertical dos
vrios estratos encontrados nessa vegetao (Figura 1a),
verificou-se alta concentrao de indivduos nas classes
de altura variando de 2 a 4,5 m (37,83%) e 5 a 7,5 m
(41,44), com algumas poucas espcies apresentando
alturas iguais ou superiores a 10 m.
O mesmo padro pde ser observado com relao
distribuio dos indivduos emclasses de PAP (Figura 1b),
obtendo-se novamente a grande maioria dos indivduos
distribudos nas duas primeiras classes, que variam
de 10 a 17,5 cm(45,07%) e 18 a 25 cm(20,72%), refletindo,
portanto, em reduzida fitomassa.
Foram amostradas nos coletores de chuva de
sementes, nas trs reas, 16 famlias, sendo aquelas
que apresentaram maior nmero de espcies Fabaceae,
Lauraceae, Melastomataceae (todas representadas por
trs espcies), Annonaceae, Bignoniaceae,
Euphorbiaceae, Myrsinaceae e Myrtaceae (todas
representadas por duas espcies). As demais famlias
foram representadas por apenas uma espcie, totalizando
29,62% do total de espcies (Tabela 2).
818
RODRIGUES, M.A. et al.
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
experimentos, constatando-se que 44,4% das espcies
coletadas (12 espcies) nas reas 1 e 2 eram
autctones.
Veri fi cou-se que as fam l i as mai s
representativas na chuva de sementes eram de
espcies ocorrentes nas reas de entorno dos
Tabela 1 Parmetros fitossociolgicos das espcies amostradas na floresta alta de restinga, Municpio de So Vicente,
SP, organizadas segundo o ndice de Valor de Importncia (IVI), emque DRe =Densidade Relativa; DoRe. =Dominncia
Relativa; FRe. =Frequncia Relativa; e AM =Altura Mdia.
Table 1 Phytosociological parameters of the species in the High Forest of Restinga, in So Vicente / SP, organized according
Value Index of Importance (IVI), where: Dre = Relative Density, Dore. = Relative Dominance, Fre. = Relative
Frequency and AM = Average Height.
Espcies DRe DoRe FRe IVI AM
Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. 11,71 11,76 6,67 30,13 5,3
Tibouchina pulchra Cogn. 9,91 14,94 5,00 29,85 5,8
Ocotea pulchella (Ness.) Mez 9,91 12,27 6,67 28,85 6,4
Actinostemon concolor (Spreng.) Mll. Arg. 7,21 6,41 5,00 18,61 7,3
Maytenus robusta Reissek 4,50 11,72 1,67 17,89 6,2
Didimopanax angustissimum Marchal 4,50 5,49 3,33 13,33 7,1
Miconia cabucu Hoehne 1,80 3,29 3,33 8,43 7,0
Clusia criuva Cambess 1,80 2,88 3,33 8,01 10,0
Pera glabrata (Schott) Baill. 2,70 1,60 3,33 7,64 7,7
Ocotea aciplylla (Ness.) Mez. 2,70 1,46 3,33 7,50 7,3
Gomidesia spectabilis (DC.) O. Berg. 4,50 1,07 1,67 7,24 3,6
Licania nitida Hook. F 1,80 3,74 1,67 7,21 8,5
Clethra scabra Pers. 1,80 1,41 3,33 6,54 6,0
Ocotea elegans Mez. 0,90 3,79 1,67 6,36 8,0
Tapirira guianensis Aubl. 0,90 3,40 1,67 5,97 12,0
Abarema lusoria (Benth.) Barn. & Grimes 1,80 0,31 3,33 5,45 4,8
Erythroxylum amplifolium Baill. 2,70 1,05 1,67 5,42 5,2
Geonoma schottiana Mart. 2,70 0,99 1,67 5,36 2,8
Guapira opposita (Vell.) Reitz 1,80 0,96 1,67 4,43 7,3
Andira anthelmia (Vell.) Macbr. 1,80 0,89 1,67 4,36 3,8
Eugenia monosperma Vell. 0,90 1,60 1,67 4,17 11,0
Pouteria caimito (Ruiz & Pav) Radlk. 1,80 0,65 1,67 4,12 4,5
Sorocea hillarii Gaudich. 0,90 1,51 1,67 4,08 4,0
Eugenia florida DC. 1,80 0,40 1,67 3,87 3,8
Miconia cubatanensis Hoehne 0,90 0,98 1,67 3,55 7,0
Miconia dodecandra (Desr.) Cogn. 0,90 0,73 1,67 3,30 3,5
Psidium cattleyanum Sabine 0,90 0,62 1,67 3,18 6,0
Piptocarpha oblonga (Gardner) Backer 0,90 0,62 1,67 3,18 4,5
Matayba juglandifolia Radlk. 0,90 0,56 1,67 3,13 5,5
Miconia sp. 0,90 0,44 1,67 3,01 6,0
Ocotea oppositifolia S. Yasuda 0,90 0,38 1,67 2,95 5,0
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 0,90 0,25 1,67 2,81 5,0
Eugenia stigmatosa DC. 0,90 0,23 1,67 2,80 6,0
Gomidesia anacardiaefolia (Gardner) O. Berg. 0,90 0,23 1,67 2,80 7,0
Podocarpus sellowii Klotzsch 0,90 0,20 1,67 2,76 4,5
Cabralea cangerana (Vell.) Mart. 0,90 0,17 1,67 2,74 3,5
Tabebuia obtusifolia (Cham.) Bureau 0,90 0,17 1,67 2,74 3,0
Pouteria beaurepairei (Glaz. & Raunk.) Bae. 0,90 0,17 1,67 2,74 4,0
Guateria hilariana Schltdl. 0,90 0,14 1,67 2,71 3,5
Daphnopsis schwackeana Taub 0,90 0,14 1,67 2,71 4,0
Ocotea sp. 0,90 0,14 1,67 2,71 2,5
Croton sphaerogynus Baill. 0,90 0,14 1,67 2,71 3,5
Eclinusa ramiflora Maer. 0,90 0,12 1,67 2,68 3,5
819
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
Avaliao da chuva de sementes em reas de...
Comrelao sndrome de disperso, verificaram-se,
respectivamente, na rea 1: 15,38% de espcies
anemocricas e 84,62% de zoocricas; na rea 2: 20%
de anemocricas, 15% de autocricas e 60% de
zoocricas; e na rea 3: 60% de anemocricas e 40
de autocricas.
Famlias / Espcies reas Sndromes Classes
1 2 3 de Disperso sucessionais
Annonaceae
Guateria hilariana Schltdl. x Zoocrica Secundria
Xylopia sp. x Zoocrica Secundria
Aquifoliaceae
Ilex sp. x Zoocrica Secundria
Arecaceae
Geonoma schottiana Mart. x x Zoocrica Secundria
Asteraceae
Baccharis singularis (Vell.) GMBarroso x Anemocrica Pioneira
Bignoniaceae
Jacaranda puberula Cham. x x Anemocrica Secundria
Tabebuia obtusifolia (Cham.) Bureau x Anemocrica Secundria
Cecropiaceae
Cecropia pachystachya Trcul x x Zoocrica Pioneira
Cl usi aceae
Clusia criuva Cambess x Zoocrica Secundria
Elaeocarpaceae
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. x x Zoocrica Secundria
Euphorbiaceae
Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. x x Zoocrica Secundria
Pera glabrata (Schott) Baill. x Zoocrica Secundria
Fabaceae
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip x Autocrica Pioneira
Clitoria laurifolia Poiret x Autocrica Pioneira
Inga sp. x Zoocrica Pioneira
Lauraceae
Ocotea aciplylla (Ness.) Mez. x Zoocrica Secundria
Ocotea oppositifolia S. Yasuda x Zoocrica Secundria
Ocotea pulchella (Ness.) Mez x x Zoocrica Secundria
Melastomataceae
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin x Zoocrica Secundria
Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack x Anemocrica Pioneira
Tibouchina pulchra Cogn. x x Anemocrica Pioneira
Myrsinaceae
Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) x Zoocrica Pioneira
Rapanea parvifolia (A. DC.) Mez x Zoocrica Pioneira
Myrtaceae
Eugenia sp. x Zoocrica Secundria
Gomidesia spectabilis (DC.) O. Berg. x Zoocrica Secundria
Poaceae
Brachiaria decumbens Stapf. x Anemocrica Pioneira
Rubiaceae
Diodia radula (Roem. & Schult) Cham & Schult. x Autocrica Pioneira
Tabela 2 Listagem das famlias/espcies ocorrentes na chuva de sementes da rea 1 (Floresta Alta de Restinga), rea
2 (Clareira na Floresta Alta de Restinga) e rea 3 (Restinga em Processo de Recuperao), com as respectivas
sndromes de disperso e classes sucessionais, no Municpio de So Vicente, SP.
Table 2 Families/species listing occurent in seed rain of the Area 1(High Forest of Restinga), Area 2 (Clearing of the
High Forest of Restinga) e Area 3 (Recovery Process Restinga), with respectives dispersal syndromes and sucessional
classes, in So Vicente, SP.
820
RODRIGUES, M.A. et al.
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
Quanto distribuio temporal, observou-se que
as sementes foram depositadas ao longo de todo o
ano. Entretanto, verificou-se pico de deposio das
sementes, que no geral ocorreu no perodo de outubro
a maro (Figura 2).
Entre as reas 1 e 2, observou-se um ndice de
similaridade igual a 31,81%, comsete espcies emcomum.
Apenas Jacaranda puberula Cham. e Cecropia
pachystachya Trcul no foram encontradas no estudo
fitossociolgico.
Analisando a similaridade florstica das reas 1
e 2 em relao ao levantamento florstico realizado,
foram verificados ndices de similaridade,
respectivamente, iguais a 21,73% e 14,28%. Das 27
espcies encontradas nos coletores de sementes, cinco
foram exclusivas da rea 3, sendo todas autctones.
As demais espcies foram depositadas nos coletores
das reas 1 e 2, sendo 10 alctones (45,5%); dessas,
oito espcies eramzoocricas (80%), uma era anemocrica
(10%) e a outra, autocrica (10%).
N
m
e
r
o
t
o
t
a
l
d
e
i
n
d
i
v
d
u
o
s
(
%
)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10 - 17,5 18 - 25 25,5 - 32,5 33 - 40 40,5 - 47,5 48 - 55 55,5 - 62,5 63 - 70 70,5 - 78,5 78 - 85
Classe de PAP (cm)
N
m
e
r
o
t
o
t
a
l
d
e
i
n
d
i
v
d
u
o
s
(
%
)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2 - 4,5 5 - 7,5 8 - 10,5 11 - 13,5 14 - 16,5 17 - 19,5
Classes de Altura (m)
Figura 1 a: Distribuio dos indivduos amostrados na
rea de estudo por classes de altura; e b:
distribuio dos indivduos amostrados na rea
de estudo por classes de permetro na altura
do peito (PAP).
Figure 1 a: Distribution of the individuals in the study area
by height classes; and b: distribution of the
individuals in the study area for classes perimeter
at breast height (PAP).
Quanto classe sucessional das espcies,
verificaram-se, respectivamente, na rea 1: 15,38% de
pioneiras e 84,62% de secundrias; na rea 2: 37,5%
de pioneiras e 62,5% de secundrias; e na rea 3: 100%
de espcies pioneiras.
Foram depositados no perodo um total de 2693
propgulos, correspondendo a uma densidade absoluta
de 269,3 propgulos/m; sendo 67,4 propgulos/m na
rea 1; 74,4 propgulos/m na rea 2; e 127,5
propgulos/m na rea 3.
Tabela 2 Listagem das famlias/espcies ocorrentes na
chuva de sementes da rea 1 (Floresta Alta de
Restinga), rea 2 (Clareira na Floresta Alta de
Restinga) e rea 3 (Restinga em Processo de
Recuperao), com as respectivas sndromes de
disperso e classes sucessionais, no Municpio
de So Vicente, SP.
Table 2 Families/species listing occurent in seed rain
of the Area 1(High Forest of Restinga), Area
2 (Clearing of the High Forest of Restinga) e
Area 3 (Recovery Process Restinga), with
respectives dispersal syndromes and sucessional
classes, in So Vicente, SP.
821
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
Avaliao da chuva de sementes em reas de...
4. DISCUSSO
De forma geral, os resultados da fitossociologia
esto muito prximos aos obtidos em outros
levantamentos realizados em florestas de restinga ao
longo do Estado de So Paulo (CSAR e MONTEIRO,
1995; SUGIYAMA, 1998; GUEDES e SILVA et al., 2005;
CARRASCO, 2003; REIS-DUARTE, 2004; SILVA, 2006;
SACRAMENTO et al., 2007), nos quais tambm foi
verificada a predominncia de Myrtaceae em nmero
de espcies, podendo em alguns casos podendo formar
praticamente uma comunidade exclusiva, conforme
observado por Sugiyama (1998) no estudo realizado
na Ilha do Cardoso, SP, onde se constatou que 45%
dos indivduos amostrados pertenciam a essa famlia.
De acordo com o histrico de ocupao da rea,
constata-se que ela sofreu interferncia antrpica bastante
intensa e, apesar de no ser manejada a pelo menos
50 anos, apresenta vegetao em estgio mdio de
regenerao (Resoluo n 7 do CONAMA, de 23/07/
1996). Isso pode ser explicado pelo fato de as trs espcies
com maiores valores de IVI serem consideradas helifilas
e apresentarem ampla ocorrncia em reas perturbadas,
bem como em clareiras e bordas de matas (SO PAULO,
2005; TABARELLI e MANTOVANI, 1997).
Apesar de fortemente antropizada, a rea em estudo
apresentou diversidade de espcies considerada elevada,
uma vez que o ndice de Diversidade de Shannon tende
a variar de 1,5 a 3,5, sendo ainda menor em solos pouco
frteis e com excesso de umidade (MARTINS, 1993).
Com relao ao ndice de Equabilidade (J ), o valor
encontrado indica que as populaes encontram-se
distribudas de forma homognea na comunidade.
A avaliao das classes sucessionais, no estudo
de chuva de sementes, indicou predominncia elevada
de espcies secundrias na rea 1, situao essa
perfeitamente de acordo com o observado no estudo
da fitossociologia, sendo constado que a vegetao
se encontra em estgio mdio de regenerao e, portanto,
com nmero maior de espcies de classes sucessionais
intermedirias. Na rea 2, foi verificado que a taxa
de espcies secundrias apresentou valores mais
elevados que na rea 1, ainda que menos pronunciados,
e a taxa de espcies pioneiras tambm foi maior, o que
provavelmente est relacionado abertura do dossel,
que facilitaria a chegada de sementes em quantidade
maior, principalmente de espcies anemocricas.
O predomnio de espcies zoocricas verificado
nas reas 1 e 2 comum em florestas tropicais e de
restinga (ALVES e METZGER, 2006; OLIVEIRA et al.,
2001; PIVELLO et al., 2006), com ocorrncia mnima
de 50% at 75%, na maioria dos trabalhos (HOWE e
SMALLWOOD, 1982), e esto relacionadas a
comunidades com menor grau de perturbao (J ESUS
et al., 2005).
Apesar de estarem situadas numa regio sob forte
presso de degradao, a atividade de frugvoros
bastante intensa no fragmento, possibilitando a chegada
de propgulos oriundos de outras localidades,
garantindo, assim, a heterogeneidade florstica desse
fragmento. Outro fator favorvel a representatividade
da famlia Fabaceae, muito importante para a recuperao
de reas litorneas degradadas (CUNHA et al., 2003).
Na rea 3, por se tratar de rea em processo de
recuperao, com a vegetao exclusivamente composta
por indivduos arbustivo-herbceos, 100% das espcies
coletadas so autctones, o que reflete a diversidade
baixa de espcies ocorrentes nesse local, bem como
a grande fragilidade diante de novas perturbaes.
De acordo com Souza e Rodrigues (2005), a chuva de
sementes em clareiras da floresta apresenta diferenas
evidentes quando comparadas com as reas abertas
por perturbaes antrpicas. Esses resultados se
assemelham aos observados por Duncan e Chapmam
(1999), estudando a chuva de sementes zoocricas
numa pastagem abandonada, com um remanescente
no entorno. Esses pesquisadores verificaram que a
maioria das sementes coletadas era de rvores e arbustos,
que tipicamente crescem em pastagens perturbadas
e em reas de agricultura, no em clareiras na floresta.
Essa situao pode estar ocorrendo pelo fato de
os dispersores de sementes evitarem reas limpas, devido
ao risco de predao (DUNCAN e CHAPMAM, 1999;
J ESUS et al., 2005). Dessa forma, a chuva de sementes
pode estar correlacionada negativamente com a distncia
da borda da floresta (SOUZA e RODRIGUES, 2005).
Tallora e Morellato (2000) afirmaram que muitos
estudos realizados em florestas tropicais mostram
a presena de sazonalidade na produo de frutos.
Neste estudo, verificou-se um pico de deposio
de sementes nos meses de outubro a maro,
coincidindo com a poca de umidade mais elevada
na regio, o que, segundo Morellato e Leito-Filho
(1992), so as pocas mais favorveis para a disperso
e estabelecimento das espcies.
822
RODRIGUES, M.A. et al.
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
Comparando as densidades obtidas neste estudo
com resultados de outros trabalhos realizados com
chuva de sementes no Estado de So Paulo (SOUZA
e RODRIGUES, 2005; BARBOSA e PIZO, 2006; VIEIRA
e GANDOLFI, 2006), observou-se que os valores
encontrados foram extremamente baixos, estando em
maior conformidade com o estudo desenvolvido por
Guedes et al. (2005), realizado no mesmo tipo de formao
florestal.
Um dos principais fatores responsveis pela
densidade baixa de propgulos pode estar relacionado
ao fato de a floresta ser formada, na sua grande maioria,
por indivduos jovens; assim, esses indivduos ainda
no apresentam mxima produo ou, no atingiram
a idade reprodutiva.
5. CONCLUSES
O fragmento estudado encontra-se em estgio mdio
de regenerao, com predominncia de espcies de
classes sucessionais intermedirias e, apesar de
apresentar ndices de diversidade e equabilidade elevados,
este ainda se encontra com elevado grau de antropizao.
A maioria dos disporos das espcies amostradas
alctone, dos quais a grande parte zoocrica,
evidenciando-se que, apesar de a rea ainda estar sob
forte presso antrpica, h intensa atividade de
dispersores no local.
Na rea em processo de regenerao no foi
verificada a deposio de propgulos oriundos dos
fragmentos adjacentes, o que evidencia a necessidade
de implementao de outras tcnicas de recuperao
para o incremento de propgulos de espcies de classes
sucessionais mais avanadas.
Ainda que em baixas densidades, evidenciou-se
que tanto na floresta alta de restinga quanto na clareira
aberta nessa floresta a chuva de sementes apresenta
grande potencial de manuteno e renovao das
espcies que se estabelecero nesses locais, mantendo
o fluxo gnico e garantindo a perpetuao da floresta.
6. AGRADECIMENTOS
Sociedade Tcnica de Areias para Fundio
Ltda. (STAF) por ter permitido a realizao deste
estudo em sua propriedade; e ao CNPq, pela bolsa
concedida.
7. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVES, L.F.; METZGER, J .P. A regenerao
florestal em reas de floresta secundria na
reserva Florestal do Morro Grande, Cotia, SP.
Biotaneotropica, v.6, n.2, p. 1-26, 2006.
ARAJ O, D.S.D.; LACERDA, L. A natureza das
restingas. Cincia Hoje, v.6, p. 42-48, 1987.
ARAJ O, D.S.D.. Comunidades vegetais. In:
LACERDA, L.D.; ARAJ O, D.S.D e CERQUEIRA,
R. (Ed.) Restingas: origem, estrutura e
processos. Niteri: CEUFF, 1984. p.157-158.
BARBOSA, K.C.; PIZO, M.A. Seed Rain and Seed
Limitation in a Planted Gallery Forest in Brazil.
Restoration Ecology, v. 14, n. 4, p. 504515, 2006.
BUDOWSKY, G. Distribution of tropical American
rain forest species in the light of sucession
process. Turrialba, v 15, p. 40-42, 1965.
CARRASCO, P.G. Produo de mudas de
espcies florestais de restinga, com
base em estudos florsticos e
fitossociolgicos, visando a
recuperao de reas degradadas, em
Ilha Comprida SP. 2003. 186p. Tese
(Doutorado em Biocincias) - Universidade
Estadual Paulista, Rio Claro, SP, 2003.
CEPAGRI. Centro de Pesquisas meteorolgicas e
climticas aplicadas agricultura. <http://
www.cpa.unicamp.br/o-cepagri.html
CESAR, O. & MONTEIRO, R. Florstica e
fitossociologia de uma floresta de restinga em
Picinguaba (Parque Estadual da Serra do Mar),
Municpio de Ubatuba-SP. Naturalia, v.20,
p.89-105, 1995.
CONAMA. Resoluo CONAMA 007/96.
CONAMA, Braslia, DF, 23 jul.1996.
CUNHA, L. O.; FONTES, M. A. L., OLIVEIRA,
A. D. de; OLIVEIRA-FILHO, A. T. de. Anlise
Multivariada da Vegetao como Ferramenta
para Avaliar a Reabilitao de Dunas Litorneas
Mineradas em Mataraca, Paraba, Brasil.
Revista rvore. Viosa, MG, v.27, n.4,
p.503-515, 2003.
823
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
Avaliao da chuva de sementes em reas de...
DUNCAN, R. S.; CHAPMAM, C. A. Seed
dispersal and potential forest sucession in
abandoned agriculture in Tropical Africa.
Ecologycal Applications, v. 9, n. 3, p. 998-
1008, 1999.
GUEDES e SILVA, D. C.; BARBOSA, L.M. e
MARTINS, S.E. Densidade e composio florstica
do banco de sementes do solo de fragmentos de
Floresta de Restinga no Municpio de bertioga-SP.
Ver. Inst. Flor, v. 17, p. 143-150, 2005.
HARPER, J . L. Population biology of
plants. London: Academic Press, 1977. 892p
HOWE, H.; SMALLWOOD, J . Ecology of seed
dispersal. Annual Review of Ecology
and Systematics, n. 13, p. 201-228, 1982.
J ESUS, F. M.; Pivello, VR; Geraldo Franco; Srgio
Tadeu. Seed rain in the Atlantic Rain Forest
fragments, Caucaia do Alto, SP. In: Frontiers in
Tropical Biology and Conservation - ATBC, 2005,
Uberlndia. Frontiers in Tropical Biology and
Conservation - ATBC, 2005.
KENT, M.; COKER, P. Vegetation
description and analysis - a practical
approach. London: Belhaven Press, 1992.
LOPES, E. Formaes Florestais de Plancie
Costeira e Baixa Encosta e sua relao com o
substrato geolgico das Bacias dos Rios Itaguar
e Guaratuba (Bertioga, SP). 2007. 126p
Dissertao. Instituto de Botnica da Secretaria
do Meio Ambiente do Estado de So Paulo.
Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente- Plantas
vasculares, 2007.
MAGURRAN, A. E. Ecological diversity
and its measurement. Princeton: Princeton
University Press, 1988. 179p.
MANTOVANI, W. A regio litornea paulista. In:
Barbosa, L. M. (Coord.) Anais do Workshop
sobre recuperao de areas degradadas da Serra
da Mar e formaes litorneas. 2000. Secretaria do
Meio ambiente, So Paulo. 2000. p.33-41.
MARTNEZ-RAMOS, M.; SOTO-CASTRO, A.
Seed rain and advanced regeneration in
tropical rain forest. Vegetatio, v. 107/108,
p. 299-318, 1993.
MARTINS, F. R. Estrutura de uma floresta
mesfila. Campinas: Editora da UNICAMP, 1991.
v. 1, 246 p.
MORELLATO, L. P. C.; LEITO FILHO, H. F.
Padres de frutificao e disperso na Serra da
J api. 1992. In: Morellato, L. P. C. (Org.).
Histria natural da Serra do Japi:
ecologia e preservao de uma rea
florestal no Sudeste do Brasil.
UNICAMP/FAPESP, Campinas. 1992. p. 112-141.
MUELLER-DUMBOIS, D. e ELLENBERG, H. Aims
and methods of vegetation ecology. New
York: J onh Willey & Sons. 1974. 574p.
OLIVEIRA, R.J .; MANTOVANI, W. E MELO,
M.M.R.F. Estrutura do componente arbustivo-
arbreo da Floresta Atlntica de Encosta, Perube,
SP. Acta Botnica Braslica, v.15, n. 3,
p.391- 412, 2001.
PIELOU, E. C. Ecologycal diversity. Nem
York: J onh Wiley & Sons, 1975. 165p.
PIJ L, L. VAN DER. Principles of dispersal
in higher plants. Berlim: Springer, 1972. 162p.
PIVELLO, V. R.; PETENON, D.; J ESUS, F.M.;
MEIRELLES, S.T.; VIDAL, M.M.; ALONSO,
R.A.S.; FRANCO, G.A.D.C. E METZGER, J .P.
Chuva de sementes em fragmentos de Floresta
Atlntica (So Paulo, SP, Brasil), sob
diferentes situaes de conectividade,
estrutura florestal e proximidade da borda.
Act a Bot ni ca Bras l i ca, v.20, n.4,
p.845-859, 2006.
REIS-DUARTE, R. M. Estrutura da Floresta
de restinga do Parque Estadual da
Ilha Anchieta (SP): bases para
promover o enriquecimento com
espcies arbreas nativas em solos
alterados. 2004. 258p. Tese (Doutorado em
Biologia Vegetal), Universidade Estadual Paulista
UNESP, Rio Claro, 2004.
RODRI GUES, R. R. (coord). Workshop sobre
recuperao de reas degradadas e formaes
florestais litorneas. Anais. So Paulo,
SMA, 199 p, 2000.
824
RODRIGUES, M.A. et al.
Revista rvore, Viosa-MG, v.34, n.5, p.815-824, 2010
SO PAULO (Estado). Manual de
Reconhecimento de espcies vegetais
da restinga do Estado de So Paulo.
Secretaria do Meio Ambiente, Departamento
Estadual de Proteo de Recursos Naturais
DEPRN, So Paulo. 2005.
SACRAMENTO, A. C.; ZICKEL, C. S.;
ALMEIDA J R, E. B. Aspectos Florsticos da
Vegetao de Restinga no Litoral de
Pernambuco. Revista rvore, Viosa-MG,
v.31, n.6, p.1121-1130, 2007.
SCARANO, F.R. Structure, Function na
Floristic Relationships of Plant Communities in
Stressful Habitats Marginal to the Brazilian
Atlantic Rainforest. Annals of Botany,
v.90, p.517-524, 2002.
SCARANO, F.R. Prioridades para Conservao: a
Linha Tnue Que Separa Teorias e Dogmas. In:
Carlos Frederico Duarte Rocha, Helena Godoy
Bergallo, Monique Van Sluys e Maria Alice
Santos Alves. Biologia da Conservao:
Essncias. RIMA. So Carlos. 2006, p.23-39.
SCHERER, A.; MARASCHIN-SILVA, F. E
BAPTISTA, L.R. DE. Florstica e estrutura do
componente arbreo de matas de Restinga
arenosa no Parque Estadual de I tapu, RS,
Brasil. Acta Botnica Braslica, v.19, n.4,
p.717-726, 2005.
SILVA, C. R. DA. Fitossociologia e avaliao da
chuva de sementes em uma rea de Floresta Alta
de Restinga, em Ilha Comprida- SP. 2006. 95p.
Dissertao. Instituto de Botnica da Secretaria
do Meio Ambiente do Estado de So Paulo.
Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente- Plantas
vasculares, 2006.
SOUZA, S. C. P. M. ; RODRIGUES, Ricardo Ribeiro
. A chuva de sementes em reas antropizadas no
Parque Estadual de J urupar, Ibina, So Paulo. In:
VI Simpsio Nacional e Congresso Latino-
Americano sobre recuperao de reas degradadas,
2005, Curitiba. Anais do VI Seminrio Brasileiro
sobre recuperao de reas degradada, Congresso
Latino-Americano sobre recuperao de reas
degradadas. 2005. p. 259-268.
SOUZA, C. R. G; HIRUMA, S. T.; SALLUN, A. E.
M.; RIBEIRO, R. R. e SOBRINHO, A. M. A.
Restinga: Conceitos e Empregos do
Termo no Brasil e Implicaes na
Legislao Ambiental. So Paulo: I nstituto
Geolgico. 2008, 104p.
SUGIYAMA, M. Estudo de florestas da restinga
da Ilha do Cardoso, Canania, So Paulo, Brasil.
Boletim do Instituto de Botnica, n.11,
p. 119-159, 1998.
TABARELLI, M. ; MANTOVANI, W. Ocupacao de
Clareiras Naturais Na Floresta Na Serra da Cantareira-
Sp. Naturalia, So Paulo, v. 22, n. 1, p. 89-102, 1997.
TALORA, D.C. & MORELLATO, P.C. Fenologia de
espcies arbreas em floresta de plancie litornea
do sudeste do Brasil. Revista brasileira
Botanica. v.23. n.1. p.13-26, 2000.
TESSLER, M.G.& GOYA, S.C. Conditioning factors
of coastal processes in the Brazilian Coastal Area.
Revista do Departamento de
Geografia, n. 17, p. 11-23, 2005.
VIEIRA, D. C. M.; GANDOLFI, S. Chuva de
sementes e regenerao natural sob trs espcies
arbreas em uma floresta em processo de
restaurao. Revista Brasileira de
Botnica, So Paulo, v. 29, n. 4, 2006.
Você também pode gostar
- Apostila de Desenho TécnicoDocumento54 páginasApostila de Desenho TécnicoMatheus ResendeAinda não há avaliações
- Moderno, Pos-Moderno e ContemporaneoDocumento47 páginasModerno, Pos-Moderno e ContemporaneoPeabyru PuitãAinda não há avaliações
- Agatha Christie - Três Ratos Cegos e Outras Histórias (RTF Livro)Documento216 páginasAgatha Christie - Três Ratos Cegos e Outras Histórias (RTF Livro)igorsimlesAinda não há avaliações
- Ambiente Web 2 Edição PDFDocumento100 páginasAmbiente Web 2 Edição PDFHálisson Brito Mendes FerreiraAinda não há avaliações
- Manual SR600ADocumento52 páginasManual SR600AFernanda Gioia100% (1)
- Tutorial Sketchup Make 15: Modelar Uma AsaDocumento3 páginasTutorial Sketchup Make 15: Modelar Uma AsaArtur CoelhoAinda não há avaliações
- A forma na arquitetura de Oscar NiemeyerDocumento27 páginasA forma na arquitetura de Oscar NiemeyerJéssica CasalinhoAinda não há avaliações
- Canteiro de Obras: Equipamentos, Instalações e Gestão de MateriaisDocumento9 páginasCanteiro de Obras: Equipamentos, Instalações e Gestão de MateriaisHiltonBarbosaDASilvaAinda não há avaliações
- Águas Pluviais - Dimensionamento de CalhasDocumento13 páginasÁguas Pluviais - Dimensionamento de CalhasadenilsonboeiraAinda não há avaliações
- Ecologia e conservação do CerradoDocumento430 páginasEcologia e conservação do CerradoReginaldo Cardoso83% (6)
- Heterogeneidade de Substratos e Diversidade de Herbáceas Na Caatinga Sedimentar e CristalinaDocumento9 páginasHeterogeneidade de Substratos e Diversidade de Herbáceas Na Caatinga Sedimentar e CristalinaErrico MalatestaAinda não há avaliações
- Artigo 5 - Estudo Florístico Do Componente Herbáceo e Relação Com SolosDocumento11 páginasArtigo 5 - Estudo Florístico Do Componente Herbáceo e Relação Com SolosDanielly LucenaAinda não há avaliações
- Moratória para os CerradosDocumento19 páginasMoratória para os Cerradosvalterluc100% (1)
- Escoamento Da Água Da Chuva Pelo Tronco Das ÁrvoresDocumento8 páginasEscoamento Da Água Da Chuva Pelo Tronco Das ÁrvoresJimy Joel Ureta PorrasAinda não há avaliações
- Composição e diversidade do banco de sementes em área de CaatingaDocumento12 páginasComposição e diversidade do banco de sementes em área de CaatingaDjailson Júnior - Engenheiro FlorestalAinda não há avaliações
- Deposição de serapilheira e nutrientes em três florestasDocumento10 páginasDeposição de serapilheira e nutrientes em três florestasTiago LuisAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento7 páginas1 PBana santosAinda não há avaliações
- EricamestradoDocumento11 páginasEricamestradohenlima22Ainda não há avaliações
- Diversidade do banco de sementes em áreas de Caatinga manejadasDocumento11 páginasDiversidade do banco de sementes em áreas de Caatinga manejadasDjailson Júnior - Engenheiro FlorestalAinda não há avaliações
- Relatório SerrapilheiraDocumento14 páginasRelatório SerrapilheiraPâmela ServatAinda não há avaliações
- Capitulo 5Documento28 páginasCapitulo 5Júnior SenseyAinda não há avaliações
- Composição e Diversidade de Anuros em Áreas Alteradas No Sudoeste Do Estado de São PauloDocumento16 páginasComposição e Diversidade de Anuros em Áreas Alteradas No Sudoeste Do Estado de São PauloEmua Julião Jr.Ainda não há avaliações
- 2005 - Araújo Et Al. - Diversidade de Herbáceas em Habitat de Caatinga Plano e CiliarDocumento10 páginas2005 - Araújo Et Al. - Diversidade de Herbáceas em Habitat de Caatinga Plano e CiliarWesley CordeiroAinda não há avaliações
- Adaptações estruturais de plantas em dunas de SCDocumento10 páginasAdaptações estruturais de plantas em dunas de SCGih BroccoAinda não há avaliações
- Formação anual de anéis de árvoresDocumento19 páginasFormação anual de anéis de árvoresWALLISSON COSTA FERREIRAAinda não há avaliações
- Hoehnea_36_2_T_2Documento16 páginasHoehnea_36_2_T_2Canal Alessa Pereira RosaAinda não há avaliações
- 11 ProjetoDocumento11 páginas11 ProjetoJhesse PearAinda não há avaliações
- 10 1016@j Jaridenv 2012 10 007Documento7 páginas10 1016@j Jaridenv 2012 10 007Fredson PereiraAinda não há avaliações
- Paleobotânica PDFDocumento7 páginasPaleobotânica PDFAlisson BatistaAinda não há avaliações
- Gestão de pastagens nativas e modelos conceituaisDocumento28 páginasGestão de pastagens nativas e modelos conceituaissilveirafmpAinda não há avaliações
- Artigo Estatistica Circular.Documento12 páginasArtigo Estatistica Circular.JanainaL.MunhozParanhosAinda não há avaliações
- Aspectos Ecológicos de Um Trecho de Floresta de Brejo em ItatingaDocumento15 páginasAspectos Ecológicos de Um Trecho de Floresta de Brejo em ItatingaNanny SouzaAinda não há avaliações
- Chave PteridofitasDocumento29 páginasChave PteridofitasFarley BrazAinda não há avaliações
- Anatomia Foliar de Plantas Jovens de Erva-Mate (Ilex: Paraguariensis A. St. Hill.) SOB DIFERENTES NÍVEIS DE SOMBREAMENTODocumento7 páginasAnatomia Foliar de Plantas Jovens de Erva-Mate (Ilex: Paraguariensis A. St. Hill.) SOB DIFERENTES NÍVEIS DE SOMBREAMENTOFede SuarezAinda não há avaliações
- 1138-Artigo de Submissão (Enviar No Word) - 29638-31609-10-20170221Documento8 páginas1138-Artigo de Submissão (Enviar No Word) - 29638-31609-10-20170221Geraldo Guimaraes Ribeiro JuniorAinda não há avaliações
- Composição florística e estrutura vertical floresta quaternáriaDocumento30 páginasComposição florística e estrutura vertical floresta quaternáriaAssessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- Relatório Final - MACROFAUNA NA AGRICULTURA FAMILIAR DA ALDEIA INDÍGENA DE PORTO LINDO, JAPORÃ - MS. (02-08-2018)Documento22 páginasRelatório Final - MACROFAUNA NA AGRICULTURA FAMILIAR DA ALDEIA INDÍGENA DE PORTO LINDO, JAPORÃ - MS. (02-08-2018)allanAinda não há avaliações
- CAATINGADocumento12 páginasCAATINGAMi SherryAinda não há avaliações
- Restauração de manguezais e restingasDocumento8 páginasRestauração de manguezais e restingasFernando Henrique de Lima GadelhaAinda não há avaliações
- Crescimento de Plantas Jovens de Tabebuia AureaDocumento12 páginasCrescimento de Plantas Jovens de Tabebuia AureaFernanda Duarte Araújo HimmenAinda não há avaliações
- Levantamento Fitossociológico Da Formação-Mata Do Morro Do Coco, Viamão, RS, BrasilDocumento8 páginasLevantamento Fitossociológico Da Formação-Mata Do Morro Do Coco, Viamão, RS, BrasilvaleatoriosAinda não há avaliações
- VELOSO Et AlDocumento22 páginasVELOSO Et AlHaniel MonteiroAinda não há avaliações
- 408-Texto Do Artigo-968-1-10-20071116 - 231115 - 092518Documento8 páginas408-Texto Do Artigo-968-1-10-20071116 - 231115 - 092518madu sampaioAinda não há avaliações
- 2285-Texto Do Artigo-9896-1-10-20090226Documento10 páginas2285-Texto Do Artigo-9896-1-10-20090226Juliane PenteadoAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento17 páginas1 PBmedasabAinda não há avaliações
- Componente Arbóreo, Estrutura Fitossociológica ..Documento12 páginasComponente Arbóreo, Estrutura Fitossociológica ..Fernanda Duarte Araújo HimmenAinda não há avaliações
- 00231_trab1_apDocumento7 páginas00231_trab1_apcerradoemextincaoAinda não há avaliações
- Morfologia Do Solo e Da Vegetacao em Uma TopossequDocumento12 páginasMorfologia Do Solo e Da Vegetacao em Uma TopossequAlexandre GonçalvesAinda não há avaliações
- Eficácia de Técnica Nucleadora Enleiramento de Galhada paraDocumento5 páginasEficácia de Técnica Nucleadora Enleiramento de Galhada paraJujubaAinda não há avaliações
- 00223_trab1_apDocumento7 páginas00223_trab1_apcerradoemextincaoAinda não há avaliações
- Artigo 2Documento21 páginasArtigo 2isarrsoliveiraAinda não há avaliações
- Comparação Entre Solo Do Parque Ecologico Jatoba Centenario de Morrinhos e Solo Utilizado No Cultivo de Graos Soja e FeijaoDocumento12 páginasComparação Entre Solo Do Parque Ecologico Jatoba Centenario de Morrinhos e Solo Utilizado No Cultivo de Graos Soja e FeijaoUEGMORRINHOSAinda não há avaliações
- Cortezzi Et Al.,2012 - Influência Da Ação Antrópica Sobre Macroinvertebrados de AssisDocumento8 páginasCortezzi Et Al.,2012 - Influência Da Ação Antrópica Sobre Macroinvertebrados de AssisRicardo Cardoso LeiteAinda não há avaliações
- Crescimento e Nutrição Mineral Do Nim (Azadirachta Indica A. Juss.) eDocumento9 páginasCrescimento e Nutrição Mineral Do Nim (Azadirachta Indica A. Juss.) evictor souzaAinda não há avaliações
- Caracterização Das Unidades Fitogeográficas Do Estado Do ParanáDocumento51 páginasCaracterização Das Unidades Fitogeográficas Do Estado Do ParanáJoelmir MazonAinda não há avaliações
- Características de uma pastagem nativa de cerradoDocumento20 páginasCaracterísticas de uma pastagem nativa de cerradoleandroflorestaAinda não há avaliações
- Fragmento Florestal MaranhãoDocumento17 páginasFragmento Florestal MaranhãoAlyne Freire de MeloAinda não há avaliações
- Levantamento florístico de área de capoeira na UFAMDocumento6 páginasLevantamento florístico de área de capoeira na UFAMJuan Redley TavaresAinda não há avaliações
- 15352-52700-1-PBDocumento9 páginas15352-52700-1-PBCanal Alessa Pereira RosaAinda não há avaliações
- Paepalanthus SPDocumento7 páginasPaepalanthus SPbio.stephanoAinda não há avaliações
- Macrófitas da Lagoa MassiambuDocumento17 páginasMacrófitas da Lagoa MassiambuCintia HenckerAinda não há avaliações
- Relatorio de Ecossistemas Regionais - RestingaDocumento16 páginasRelatorio de Ecossistemas Regionais - RestingacintiakeAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento17 páginas1 PBFernanda Duarte Araújo HimmenAinda não há avaliações
- Levantamento florístico Cerrado Bonito de MinasDocumento3 páginasLevantamento florístico Cerrado Bonito de MinasLeonardo QuaresmaAinda não há avaliações
- 0100 6762 Rarv 39 01 0069Documento11 páginas0100 6762 Rarv 39 01 0069Danilo Nascimento SilvaAinda não há avaliações
- PLANTIO DE Ipomoea Pes-Caprae - NTF - 2004 - v8 - 03 PDFDocumento6 páginasPLANTIO DE Ipomoea Pes-Caprae - NTF - 2004 - v8 - 03 PDFJuliano CordeiroAinda não há avaliações
- Introdução Ao CerradoDocumento16 páginasIntrodução Ao CerradoDemian Almeida Albuquerque0% (1)
- Aspectos ecofisiológicos, morfológicos da anatomia foliar em espécies florestais amazônicasNo EverandAspectos ecofisiológicos, morfológicos da anatomia foliar em espécies florestais amazônicasAinda não há avaliações
- Costa Et Al., 2009Documento7 páginasCosta Et Al., 2009Gisele SantosAinda não há avaliações
- FRV Aula 2Documento128 páginasFRV Aula 2Gisele SantosAinda não há avaliações
- Marimon&Felfili, 2005Documento10 páginasMarimon&Felfili, 2005Gisele SantosAinda não há avaliações
- Costa Et Al., 2013Documento12 páginasCosta Et Al., 2013Gisele SantosAinda não há avaliações
- Fatos Florestais Da Amazônia 2010 - ImazonDocumento41 páginasFatos Florestais Da Amazônia 2010 - ImazonGisele SantosAinda não há avaliações
- Revista Do Meio Ambiente 072Documento36 páginasRevista Do Meio Ambiente 072Gisele SantosAinda não há avaliações
- REMADE - Revista Da MadeiraDocumento5 páginasREMADE - Revista Da MadeiraGisele SantosAinda não há avaliações
- Leal Filho Et Al., 2013Documento10 páginasLeal Filho Et Al., 2013Gisele SantosAinda não há avaliações
- De Onde Veio Seu Corpo - SuperinteressanteDocumento4 páginasDe Onde Veio Seu Corpo - SuperinteressanteGisele SantosAinda não há avaliações
- Agatha Christie - Mary Westmacott - O Retrato PDFDocumento336 páginasAgatha Christie - Mary Westmacott - O Retrato PDFiulianabrasilAinda não há avaliações
- Bravos e Loucos Contra o Reich - SuperinteressanteDocumento7 páginasBravos e Loucos Contra o Reich - SuperinteressanteGisele SantosAinda não há avaliações
- Agatha Christie - Um Acidente e Outras HistóriasDocumento197 páginasAgatha Christie - Um Acidente e Outras HistóriasBruno AlmeidaAinda não há avaliações
- Semen TesDocumento1 páginaSemen TesGisele SantosAinda não há avaliações
- Atividades Não Sujeitas Ao Licenciamento Ambiental Do IpaamDocumento2 páginasAtividades Não Sujeitas Ao Licenciamento Ambiental Do IpaamMaria Lucivania AraujoAinda não há avaliações
- Agatha Christie - Um Destino IgnoradoDocumento237 páginasAgatha Christie - Um Destino IgnoradoGisele SantosAinda não há avaliações
- Rio SF abastece NordesteDocumento3 páginasRio SF abastece NordesteGisele Santos0% (1)
- Apresentação Relatorio final-PCIDocumento20 páginasApresentação Relatorio final-PCIGisele SantosAinda não há avaliações
- Lista NovaDocumento11 páginasLista NovaGisele SantosAinda não há avaliações
- Introdução à Botânica Sistemática e Taxonomia VegetalDocumento155 páginasIntrodução à Botânica Sistemática e Taxonomia VegetalDaguliAinda não há avaliações
- ( ( (Atividades de Matemática 1 - 2º AnoDocumento2 páginas( ( (Atividades de Matemática 1 - 2º AnoAngélica FigueredoAinda não há avaliações
- Zimbra Backup e RestoreDocumento19 páginasZimbra Backup e RestoreJoao Pedro PodlasniskyAinda não há avaliações
- História e Importância do Vale do AnhangabaúDocumento18 páginasHistória e Importância do Vale do AnhangabaúDanillo SilvaAinda não há avaliações
- Tutorial para Configurar o Spicewors para Acessar Maquinas RemotasDocumento3 páginasTutorial para Configurar o Spicewors para Acessar Maquinas RemotasGesempAinda não há avaliações
- Manipulação de ArquivosDocumento21 páginasManipulação de ArquivosjonasgcostaAinda não há avaliações
- Hackiando Usando Pascal - Delphi - CDocumento16 páginasHackiando Usando Pascal - Delphi - CFabrício MattosAinda não há avaliações
- Caracterização do solo e capacidade de uso da terra PBDocumento4 páginasCaracterização do solo e capacidade de uso da terra PBHaroldo MarinhoAinda não há avaliações
- Conceito de Sistema ConstrutivoDocumento2 páginasConceito de Sistema ConstrutivoNatália Pereira100% (3)
- Orçamento de peças e componentes para máquina agrícolaDocumento3 páginasOrçamento de peças e componentes para máquina agrícolapedro gabrielAinda não há avaliações
- Simulador Rede Virtual para Web 2Documento21 páginasSimulador Rede Virtual para Web 2Jeferson PresottoAinda não há avaliações
- Caracol - MS | Bairro Centro: Estudos sobre a imagem da cidade e seus elementosDocumento29 páginasCaracol - MS | Bairro Centro: Estudos sobre a imagem da cidade e seus elementosISAAC LEITE AMARALAinda não há avaliações
- Praças medievais: funções e característicasDocumento18 páginasPraças medievais: funções e característicasElen RodriguesAinda não há avaliações
- Produção de argamassa cimento-areia 1:3Documento33 páginasProdução de argamassa cimento-areia 1:3Agnaldo MatosAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2023-10-09 À(s) 9.35.45 AMDocumento144 páginasCaptura de Tela 2023-10-09 À(s) 9.35.45 AMJoão Gabriel MendonçaAinda não há avaliações
- Renzo Piano e a sustentabilidade na Academia de Ciências da CalifórniaDocumento9 páginasRenzo Piano e a sustentabilidade na Academia de Ciências da CalifórniaMariana VarjalAinda não há avaliações
- Activlab 5Documento2 páginasActivlab 5Marco AntónioAinda não há avaliações
- Planos - de - Ensino - THAU ARQ E URB IVDocumento4 páginasPlanos - de - Ensino - THAU ARQ E URB IVAna Paula GurgelAinda não há avaliações
- Composição Sintética de Serviços-Padrão por Custo UnitárioDocumento88 páginasComposição Sintética de Serviços-Padrão por Custo UnitárioPaulo FrançaAinda não há avaliações
- Aula Nº8 Fadiga - Prof. Erwin Lopez P PDFDocumento17 páginasAula Nº8 Fadiga - Prof. Erwin Lopez P PDFfelipesr1996Ainda não há avaliações
- Catalogo Electrolux QIQEDocumento2 páginasCatalogo Electrolux QIQEEric SandesAinda não há avaliações
- Configurando Os Ramais AsteriskDocumento10 páginasConfigurando Os Ramais AsteriskMarcelo BissolatiAinda não há avaliações
- JFL Download Monitoraveis Active 8 Ultra New PDFDocumento44 páginasJFL Download Monitoraveis Active 8 Ultra New PDFwrlck80100% (1)
- Dner Es338 97Documento4 páginasDner Es338 97João FontesAinda não há avaliações