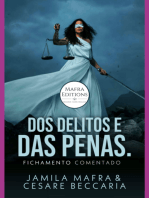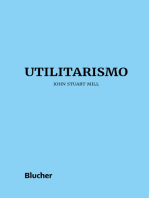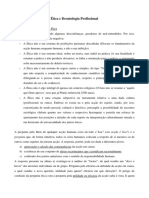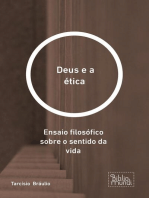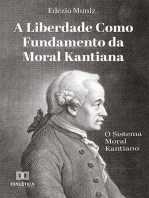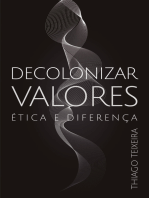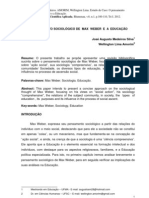Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O problema ético segundo Sócrates
Enviado por
FelisbelaBritoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O problema ético segundo Sócrates
Enviado por
FelisbelaBritoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
O PROBLEMA TICO
A tica ou moral, conforme uma das definies mais corriqueiras, o estudo da
atividade humana com relao a seu fim ltimo, que a realizao plena da humanidade.
O problema tico toma dois aspectos principais: um relativo ao fundamento e ao valor
dos cdigos, dos princpios, das normas, das convices morais j existentes; trata-se do
problema crtico. O outro diz respeito s condies que possibilitam a ao moral em absoluto;
o critrio daquilo que moral e imoral para o homem; o fim ltimo da vida humana e os meios
mais aptos para atingi-Io. Este o problema terico. Os dois problemas, entretanto, no esto
separados um do outro, mas sim intimamente ligados, na medida em que o primeiro introduz o
segundo: antes de implantar sistematicamente a moral, coloca-se em questo, problernatiza-se
a moral comum.
1. O PROBLEMA CRTICO
O problema crtico impe-se por si, enquanto os cdigos morais prescrevem deveres,
estabelecem leis, ditam normas, que os membros de uma determinada sociedade esto
obrigados a observar. Ora, se tais cdigos no so aprovados pela autoridade inconteste da
divindade, lgico e natural que aqui se pergunte por que e em que medida se obrigado a
observar os mencionados cdigos. Quem os estabeleceu? Que valor tm eles? Podem ser
mudados? A quem cabe o direito de substitu-los por outros? Compete coletividade, a cada
um ou aos governantes?
Na histria da filosofia essas so algumas das questes que abriram caminho
reflexo moral. J foram discutidas vivamente pelos sofistas, sendo depois retomadas tambm
pela filosofia moral de Scrates, Plato, Aristteles e pelos esticos.
O contexto poltico e cultural da poca de Pricles foi particularmente propcio ao
desenvolvimento da crtica da moral tradicional. As guerras com os persas e o comrcio com
os outros povos revelaram aos gregos novos estilos de vida e de pensamento, constituies
civis e costumes morais diferentes dos seus. Isso induziu os sofistas, que j haviam renunciado
reflexo sobre o mundo para concentrar sua ateno no homem, a interrogar-se sobre o
fundamento das normas reguladoras da conduta humana. A constatao de que tais normas
apresentavam notveis divergncias entre os vrios povos, induziu-os a concluir que elas no
se fundavam na natureza humana, mas sim sobre determinadas convenes sociais. Os
estados fixam para seus cidados as convenes que julgam mais oportunas a seu bem-estar
individual e social. bvio que os sofistas consideram que o povo grego possua convenes
morais mais elevadas do que qualquer outro povo (brbaros). Porm, como no se trata de
princpios morais inatos, mas sim adquiridos, deve-se ensin-los juventude atravs de uma
instruo e educao adequadas. Vem da a importncia que o ensino moral assume na plis
grega. Os sofistas dizem assumir a responsabilidade por tal ensino e apresentam-se, por isso,
como "mestres de virtude".
O problema do fundamento dos cdigos e dos costumes morais foi retomado e
aprofundado por Scrates, que o fez com tal originalidade de ideias que mereceu ser
considerado o criador da filosofia moral: "Scrates o principal ponto de partida, de quem
2
partem todas as linhas sucessivas de desenvolvimento do pensamento tico grego; as
especulaes sobre a conduta humana, antes de Scrates so, a nosso ver, simplesmente um
preldio representao efetiva".'
Scrates assume uma clara posio contra as duas teses bsicas dos sofistas. Contra
a primeira, segundo a qual os cdigos morais, as convices ticas, os conceitos fundamentais
da tica (como "bom", "justo", "honesto" etc.) so fruto de convenes sociais, Scrates
sustenta, pelo contrrio, que estes encontram o seu fundamento na prpria natureza das
coisas e do homem. Igualmente contra a segunda tese, a qual afirma que as ideias e os
princpios morais aprendem-se atravs do ensino, Scrates mostra que o ensino pressupe a
posse desses princpios e ideias, contribuindo no mximo tomada de conscincia em relao
aos mesmos. Mas Scrates no se satisfaz em rebater as teses dos sofistas, contrapondo-Ihes
outras teses inspiradas numa viso filosfica oposta: ele transfere a investigao moral para
um nvel mais profundo, perguntando-se como podem ser justificadas as avaliaes morais.
claro que avaliaes morais eram feitas tambm antes de Scrates. Por exemplo, Eutfron
(personagem do dilogo homnimo de Plato) considerando "mpia" a conduta de seu pai,
decidiu, por isso, denunci-Io; porm, o encontro com Scrates imps-lhe, em resumo, este
problema: "Por que julgo mpia a conduta de meu pai? O que o mpio e o que, ao contrrio,
o seu oposto, o santo?" Preste-se bem ateno, a questo no "o que mpio e o que
santo" - isto pode ser indicado at pela ordem constituda (aquela ordem pela qual Eutfron
decidira agir contra seu pai) - mas sim "o que o mpio e o santo", ou seja, o que so a
impiedade e a santidade, o que so aqueles valores em base aos quais pode-se declarar mpia
ou santa uma certa ao e justificar essa avaliao.
Como se nota, Scrates no se satisfaz de pr em exame os cdigos morais habituais e
verificar-Ihes a legitimidade. Ele vai mais alm, interrogando-se sobre o fundamento ltimo da
moralidade enquanto tal. Desse modo ele ultrapassa o problema crtico e aventura-se pelo
terico. Sua soluo deste problema conhecida. Escavando sob as aparncias que do a
impresso de que no exista nenhum princpio moral absoluto, universal, Scrates mostra que
o homem est na posse de um critrio supremo de moralidade, que o ajuda a diferenciar o bem
do mal. verdade que os homens consideram boas coisas diferentes: um coloca seu bem na
riqueza, um outro nas glrias, outro ainda na virtude; mas tambm verdade que cada homem
possui a mesma noo de bem e de mal. Um homem pode amar a riqueza e onsider-Ia boa,
um outro pode considerar boas as glrias, um outro os prazeres; entretanto, observa Scrates,
nenhum dir que o bem o mal e que o mal o bem; cada um procurar aquilo que ele
considera bem e fugir daquilo que considera mal. evidente, portanto, que em cada homem
h a noo ou conceito de bem e de mal, em si mesma sempre igual, embora sua aplicao
seja diversa.
Depois de Scrates, o problema crtico do fundamento e do valor dos cdigos e dos
costumes morais foi retomado frequentemente por muitos outros filsofos, mas sem jamais sair
da alternativa que emergiu da disputa entre Scrates e os sofistas, a alternativa entre
convencionalismo (soluo dos sofistas) e naturalismo (soluo de Scrates). A favor do
convencionalismo enfileiram-se os epicuristas, os cticos, os nominalistas, Descartes, os
empiristas, os positivistas, os neopositivistas, os existencialistas, os marxistas e outros ainda.
Do lado do naturalismo colocam-se Plato, Aristteles, Plotino, os neoplatnicos, a maior parte
dos escolsticos, os idealistas, neo-realistas e neotomistas.
3
4
2. O PROBLEMA TERICO
Como j foi dito, o problema terico versa sobre as condies transcendentais do agir
moral e sobre o critrio supremo para diferenciar o bem do mal.
Quanto s condies transcendentais, todos os filsofos esto de acordo em
reconhecer que a primeira de todas a liberdade. Podero debater sobre a possibilidade ou
no de provar teoricamente que o homem possui essa qualidade, mas no sobre o princpio de
que se o homem no livre no se pode absolutamente falar de moralidade. Esta verdade,
lucidamente ilustrada por Aristteles na tica a Nicmano, posteriormente foi aprofundada
pelos escolsticos, em particular por S. Toms, Descartes e Kant. Este considera a liberdade a
conditio essendi da moral e faz dela o primeiro postulado da razo prtica, isto , da filosofia
moral.
A respeito da liberdade Vanni Rovighi observa, com razo, que ela no somente uma
condio, mas tambm uma componente constante do ato moral. No precede a escolha e
depois posta de lado, mas acompanha a escolha do incio ao fim. "A opo sempre livre,
pois sempre o traduzir-se em ao um juzo valorativo exige esforo. O valor nunca determina,
necessariamente, o atuar de forma concreta, porque nunca encarna totalmente o valor, porque
no nunca a plenitude do valor. Uma ao justa e generosa sempre bastante incmoda e
penosa para poder ser olhada sob esses aspectos negativos e ento descartada, julgar que
hic et nunc meu verdadeiro bem, que a atuao autntica de mim mesmo esta, mesmo que
imponha um sacrifcio, requer sempre, como se dizia, um empenho, um ato de Outra condio
transcendental da moral o conhecimento ou conscincia. Por si s, esta j est implcita na
condio anterior: para ser verdadeiramente livre, uma ao implica em que se conhea aquilo
que se faz. Um dos princpios mais elementares da moral crist diz justamente que, para ser
grave, uma m ao deve ser cometida com pleno conhecimento, isto , com conscincia de
causa. A ausncia dessa condio pode ser determinada por dois motivos: a) erro relativo
quilo que se faz (opta-se por uma coisa em vez de outra); b) falta da faculdade de raciocnio
ou impedimento do seu uso em quem age (por exemplo, a criana que ainda no tem o uso da
razo, o louco, o brio etc.).
A terceira condio transcendental da moral que a liberdade seja guiada por alguma
norma, por algum princpio diretor. Uma liberdade absoluta, que recusa sujeitar-se a quaisquer
leis, como a afirmada por Nietzsche e Sartre, torna-se necessariamente uma liberdade amoral.
A que normas, porm, deve sujeitar-se a liberdade? Aqui tocamos a questo do critrio
supremo da moralidade, questo na qual os filsofos esto profundamente divididos. De um
lado, encontra-se uma grande fila de autores que atribuem a funo de critrio supremo ao fim
ltimo para o qual se dirige o homem em suas aes. De outro lado, encontra-se um grupo
bastante grande de filsofos que atribuem o papel de critrio supremo s leis e aos deveres.
As morais construdas sobre o princpio do fim chamam-se teleolgicas; as construdas sobre o
princpio do dever chamam-se deontolgicas. No entanto, visto que os dois princpios - fim
ltimo e dever - so suscetveis de variadas interpretaes (por exemplo, o fim ltimo pode ser
identificado com o prazer, ou como o interesse, o til, o privado ou o da sociedade, com a
felicidade, com os valores ... e o dever pode ser fundado sobre leis divinas, ou naturais, ou
civis, etc.), segue-se, por isto, que podem ser desenvolvidos vrios tipos de moral teleolgica
ou deontolgica.
5
No grupo das morais teleolgicas, os principais tipos so: hedonismo, utilitarismo,
eudemonismo e tica dos valores. No grupo das morais deontolgicas, os principais tipos so
dois: estoicismo e formalismo kantiano.
Contudo, h alguns filsofos que se recusam a construir a moral sobre um princpio
absoluto, seja o fim ltimo, seja o dever. Admitem, sem dvida, que o homem tem deveres a
cumprir, leis a observar, fins por realizar, mas estes mudam de uma poca para outra, de um
lugar para outro, de uma circunstncia para outra. Portanto, consideram que se podem
elaborar somente ticas relativistas ou situacionais.
Nas pginas seguintes exporemos sucintamente esses tipos fundamentais de moral
teleolgica, deontolgica e situacional, referindo-nos a alguns dos autores mais
representativos.
a) Hedonismo. O hedonismo adota como critrio supremo da moralidade o prazer sensvel e,
portanto, identifica o bem moral com este ltimo. Foi professado, acima de tudo, por algumas
correntes filosficas gregas: os sofistas, cirenaicos, epicuristas e posteriormente por autores
vrios da poca moderna: Montaigne, Hobbes, Helvetius, Bentham, Stuart Mill, Freud.
Os mais conhecidos defensores da tica hedonista so os epicuristas, aos quais se
deve, sem dvida, a elaborao mais exata desse tipo de moral. Epicuro justifica a escolha do
prazer como critrio supremo da moral do seguinte modo: "Ns dizemos que o prazer
princpio e fim da vida feliz, porque reconhecemos que, dentre os bens, o prazer o primeiro e
aquele que nos mais conatural". Com efeito, sempre por prazer que escolhemos fazer ou
fugir de alguma coisa.
O prazer em que Epicuro diz consistir a felicidade a vida pacfica, a ausncia de
qualquer preocupao (ataraxia). O prazer , pois, concebido como ausncia de dor, antes do
que a satisfao de qualquer paixo: "Quando dizemos que o prazer o bem supremo no
estamos nos referindo aos prazeres do homem corrupto, que pensa apenas em comer, beber e
nas mulheres".
A virtude o meio para obter o verdadeiro prazer. Virtuoso aquele que aproveita o
verdadeiro deleite com moderao e medida, e limita seus desejos queles prazeres que no
perturbam a alma. Para alcanar a plena ataraxia, a felicidade, Epicuro recomenda libertar-se
das trs preocupaes que atormentam mormente o homem: os deuses, a morte e a poltica.'
A teoria da tica hedonista elaborada por Epicuro e divulgada peIos seus discpulos,
em todas as regies do imprio helenstico, j havia encontrado defensores convictos nalguns
filsofos do sculo V a.c., especialmente entre os sofistas e cirenaicos (estes ltimos
comandados por Aristipo). Suas teorias chamaram a ateno de Plato e Aristteles, os quais
elaboraram suas doutrinas morais em constante polmica com as posies dos hedonistas,
mostrando seus serssimos limites. De fato, a natureza humana caracteriza-se pela sua
componente espiritual, a alma, e por conseguinte no pode ter por finalidade o prazer, mas sim
a virtude, em particular a virtude da sabedoria. Esta, e no o prazer, constitui o critrio supremo
da moralidade e, para obter a sabedoria, o homem deve estar disposto a cumprir qualquer
sacrifcio.
6
Uma outra crtica to peremptria do hedonismo veio com o cristianismo, que exalta o
amor como superao do egosmo e do hedonismo, revelando os aspectos positivos da dor, os
quais a tornam at mesmo suave, no em si, mas como meio insubstituvel de purificao,
perfeio individual e de redeno para os demais.
b) Utilitarismo. O utilitarismo toma como critrio supremo da moral o til, o interesse, a
vantagem. Dele so dadas duas verses principais, ditas utilitarismo egostico e utilitarismo
altrustico ou social. O primeiro faz valer como critrio a utilidade, o interesse de cada um; ao
contrrio, o segundo faz valer o interesse, a vantagem da coletividade. O defensor mais
convicto do utilitarismo egostico Hobbes, enquanto que quase todos os outros expoentes
mximos da filosofia inglesa (Bacon, Locke, Hume, Stuart Mill, Russell) sustentam o utilitarismo
altrustico e criticam severamente a posio daquele. Assim, por exemplo, Hume observa,
contra Hobbes, que o elogio e a censura que concedemos a aes virtuosas efetuadas longe
de ns (afastamento de tempo e espao) ou mesmo por um adversrio nosso e que podem
tambm nos prejudicar, provam a existncia, origem dos nossos sentimentos, de algo que
foge ao instinto egosta e que no pretende apelar para um interesse privado imaginrio.
Existem em ns, alm disso, inclinaes (como a generosidade, o amor, a amizade, a
compaixo, a retido) que tm "causas, efeitos, objetos, operaes" totalmente diferentes
daquelas das paixes egostas. A hiptese de uma benevolncia desinteressada, distinta do
amor prprio, realmente mais simples e mais conforme experincia do que a hiptese que
pretende resolver cada sentimento humanitrio atravs do egosmo. Existem exigncias
naturais e paixes mentais que nos dirigem para o objeto sem nenhuma considerao de puro
interesse.
A Stuart Mill cabe o mrito de haver elaborado uma forma sofisticada de utilitarismo, no
qual tenta coincidir o prazer individual (fixando uma engenhosa "escala de prazeres") com a
utilidade da coletividade. A coincidncia acontece no momento em que se d preferncia aos
prazeres do "corao" (devoo e altrusmo), produtores inesgotveis de alegrias renovadas
permanentemente tanto queles que do como queles que recebem. O alvo dessa admirvel
fuso no fruto de clculos egoisticamente sutis, mas, antes de tudo, de um processo
psicolgico de associao de ideias. Graas a esse processo, segundo Stuart Mill, a noo de
interesse prprio e a de interesse alheio tornam-se assim to estritamente fundidas, que o
indivduo no pode mais pensar na prpria felicidade, sem automaticamente pensar na dos
outros: da o aspecto de obrigao e de espontaneidade, a um s tempo, que assume a vida
moral do indivduo realmente virtuoso.
c) Eudemonismo. O critrio supremo da moral, para o eudemonismo, a felicidade, de
tal modo que uma ao julgada moralmente elogivel ou reprovvel, conforme ela seja ou
no cumprida em vista da felicidade. Os expoentes mximos desse tipo de moral so
Aristteles e Toms de Aquino. Segundo ambos os autores, toda ao est dirigida para um
fim, mas isso no suficiente para torn-Ia eticamente vlida; isto acontece somente no caso
em que o fim particular em vista do qual feita esteja harmonizado com o fim ltimo para o
qual est orientado aquele que a cumpre. O fim ltimo de cada ente constitui a sua realizao
completa, a qual conseguida com o desenrolar, a pleno ritmo, daquela atividade que lhe
inerente, ou seja, daquela atividade que age em sua natureza especfica. Do alcance deste fim
ltimo depende a sua felicidade. Relativamente ao homem, a atividade que o distingue dos
animais o pensamento, cuja expresso mxima a contemplao. Portanto, a felicidade do
homem no consiste nem na riqueza nem nas honras e muito menos no prazer (todas coisas
7
que, antes de contriburem para a realizao plena da mente humana, perturbam-na e at a
ofuscam inteiramente), mas sim na contemplao. Contemplao de qu? Sobre esse ponto
h uma divergncia parcial entre Aristteles e Toms de Aquino. Segundo Aristteles, a
contemplao que assegura plena felicidade ao homem a da verdade absoluta nos campos
da fsica, da matemtica e da metafsica. Ao contrrio, para S. Toms, a contemplao possui
um sentido eminentemente teolgico: a nica contemplao que pode exaurir todas as
exigncias do pensamento, e que por isso pode tornar repleta a alma de felicidade, a
contemplao de Deus. Para compreender perfeitamente o pensamento de S. Toms sobre
esse ponto, necessrio, porm, fazer-se uma preciso: o conhecimento de Deus, no qual ele
repe a plena felicidade do homem, no certamente aquele conhecimento analgico de Deus
que a nossa mente pode alcanar durante a vida presente. Nem o conhecimento metafsico
mais alto pode bastar para nos fazer felizes, visto que a reflexo filosfica faz com que
vejamos mais o que Deus no do que o que ele . At o conhecimento que conseguimos por
meio da f insuficiente para nos tornar felizes: esta incomoda a nossa mente em vez de
satisfaz-Ia. O nico conhecimento em que S. Toms deposita nossa felicidade est na viso
beatfica de Deus, um conhecimento sobrenatural que podemos obter apenas na vida futura.
Foi dito que a moralidade de uma ao, conforme Aristteles e Toms, depende da
relao decorrente entre o fim para o qual ela est realmente dirigida e o fim ltimo. Ora, a este
respeito aparece espontaneamente a pergunta: como o homem pode determinar a moralidade
das prprias aes? Quem o ensina sobre as relaes existentes entre aes que deseja
cumprir e seu fim ltimo? Tanto para Aristteles quando para S. Toms, essa a funo
prpria da lei, que essencialmente a expresso da moral idade de uma ao. Entretanto,
existem dois tipos principais de lei. H, antes de mais nada, uma lei natural, a qual conhecida
infalivelmente somente em seus princpios mais universais, como, por exemplo, "faa o bem e
evite o mal". O homem, a partir desses princpios gerais da lei natural, pode determinar a
moralidade de cada ao por meio do raciocnio. Esta a tarefa principal da tica e de quem
faz filosofia moral, isto , do sbio. No obstante essa uma tarefa que bem poucos tm a
possibilidade e a capacidade de desenvolver. A ento entra a lei positiva (humana para
Aristteles, mas divina para Toms de Aquino), que tem por funo determinar a lei natural e
aplic-Ia a casos concretos.'
d) Estoicismo. O estoicismo adota como critrio supremo da moral a prtica da virtude.
Os traos essenciais do estoicismo tico j esto presentes em Plato. No Grgias, ele
demonstra que merece mais compaixo quem comete injustia que aquele que a sofre; com o
mesmo raciocnio, na Repblica demonstra que mais feliz o justo na cruz do que o injusto
que navega num mar de prazeres. Finalmente, no Fdon ensina que, para alcanar a
felicidade, preciso renunciar aos prazeres e s riquezas e dedicar-se prtica da virtude." Os
ensinamentos ticos de Plato foram retomados e desenvolvidos, com maior organicidade, por
Zeno e seus discpulos (ou seja, pelos esticos). Seu princpio fundamental diz que a conduta
moral significa conduta segundo a razo (isto , segundo o Logos). Conduta segundo a razo
quer dizer prtica da virtude. Portanto, a virtude constitui o critrio supremo da moralidade.
O que os esticos entendem por virtude? A virtude uma disposio interna da alma
pela qual ela se acha em harmonia consigo mesma, ou seja, com o prprio Logos. A virtude
no consiste, como acreditava Aristteles, no meio exato entre duas imperfeies opostas,
mas sim em um dos dois extremos: precisamente no extremo de acordo com a razo
(enquanto o outro extremo conforme s paixes). Entre virtude e vcio no existe meio-termo;
8
um no mais vicioso ou mais ou menos virtuoso: ou virtuoso ou vicioso. Com efeito, quem
vive conforme a razo, isto , o sbio, faz tudo bem e de modo virtuoso; em contrapartida,
quem est privado da razo correta, o nscio, faz tudo mal e viciosamente.
A prtica da virtude, segundo os esticos, consiste na apatia (apatheia), isto , na
anulao das paixes e na superao da prpria personalidade. Somente superando a prpria
personalidade, o ndice extremo do egosmo, e perdendo a prpria individualidade que
possvel unir-se ao Logos. Por isso, preciso libertar-se das paixes, que so as correntes que
ligam a alma ao corpo, impedindo-a de juntar-se ao Logos. Para alcanar essa liberdade de
esprito, necessrio ser indiferente s contingncias da vida diria e a tudo aquilo que no
est em nosso poder."
A moral estica, com seus pontos de vista fortemente as cticos e com seu esforo
primorosamente interior e espiritual, apresenta considervel afinidade com a moral crist. Isto
explica porque ela encontrou o favorecimento da Igreja primitiva e induziu os Padres da Igreja
e muitos escolsticos a incorporarem-na em sua doutrina moral. Isso perdurou at quando S.
Toms, reabilitando Aristteles, introduziu uma nova viso do homem e das coisas, na qual
celebram-se no s os valores da alma e do cu, mas tambm os do corpo e deste mundo. O
feliz conbio, que durou por tantos sculos entre estoicismo e cristianismo, foi ento
interrompido.
e) Formalismo tico. O formalismo tico coloca o critrio supremo da moral na prtica da
virtude, no exerccio dos deveres e na obedincia da lei, do mesmo modo que o estoicismo.
Mas muito mais rigoroso do que este ltimo sobre a no pertinncia dos contedos a fim de
determinar o valor moral de uma ao; o que conta exclusivamente a forma, e esta dada
pela obedincia lei pela lei, pela execuo de uma ao apenas pelo puro amor do dever.
Essa a concepo da moral que Kant desenvolve na Crtica da razo prtica. Nesta obra, Kant
sustenta que o critrio supremo da moral no pode derivar da experincia, pois em tal caso
teramos um critrio subjetivo e particular, portanto varivel e contingente, que determinaria a
vontade de agir por um fim externo a ela e no pela lei moral que a vontade d a si mesma: a
vontade seria heternoma e no autnoma como exige a moral idade da ao. Para que o
critrio supremo da moralidade tenha validade absoluta e universal, preciso que seja
independente de cada objeto particular possvel e refira-se a uma forma a priori incondicionada.
Como o conhecimento universal e necessrio no pelo contedo fornecido pela experincia
mas pela forma a priori que o reveste, assim uma ao adquire valor moral no pela fora do
objeto para o qual est dirigida, mas sim, por uma forma a priori, uma lei pura. Para Kant, essa
forma a priori, essa lei pura, o imperativo categrico: "obedea lei pela prpria lei e por
nenhum outro motivo". A obedincia a esse imperativo categrico constitui a essncia da
moral. "O essencial de toda determinao da vontade por intermdio da lei : que ela como
vontade livre, portanto no s sem a contribuio dos impulsos sensveis, mas tambm com a
excluso de todos aqueles impulsos, com prejuzo de todas as inclinaes, mesmo que
possam ser contrrias quela lei, seja determinada somente por meio da lei".'
Kant, entretanto, est ciente de que a norma do imperativo categrico muito abstrata
e indeterminada para constituir um guia vlido e eficaz da vida moral; por isso sugere algumas
frmulas que permitem queles que agem verificar se a prpria ao est de acordo com o
imperativo categrico ou no. So as seguintes:
9
Primeira: "Age de modo que a mxima de tua ao possa sempre valer tambm como
princpio universal de conduta".
Segunda: "Age de modo a tratar a humanidade, seja na tua pessoa seja nos outros,
como fim e nunca como meio".
Terceira: "Age de modo que tua vontade possa considerar-se como instituindo uma
legislao universal", ou seja, age segundo mximas tais que a vontade de todo homem,
enquanto vontade legisladora universal, possa-as aprovar,"
f) tica dos valores ou axiolgica. Pata alguns autores (Meinong, Hartmann, Scheler
etc.) a tentativa de Kant de sair do subjetivismo, invocando um princpio a priori, no
considerada vlida. Isto por duas razes. Primeira, porque o critrio do imperativo categrico
deriva unicamente de um ditame da conscincia individual. Segunda, porque prescinde
completamente dos contedos das aes. Com o fito de restituir a objetividade ao critrio
supremo da moral, esses autores reportam-se tradio clssica, a qual, como vimos, atribui a
funo de norma suprema da moral ao bem. Este por eles concebido no tanto como fim
ltimo, mas sim como valor. Da o nome desta tica.
O expoente mximo dessa concepo do fundamento da moral Max Scheler. Na obra
Formalismo na tica e tica material dos valores, ele mostra que a crtica kantiana tica
material pode valer somente se referida a bens particulares, mas no vale se referida ao bem
entendido como valor. De fato, este no absolutamente um dado emprico, como pretende
Kant, mas algo de absoluto. Scheler diz com preciso que o valor o objeto prprio da tica,
da mesma Forma que o ser o objeto da metafsica, o belo da esttica, o sagrado da religio,
o fato da histria. Por isso, como para a percepo do belo, do sagrado, do ser etc., atuam
rgos especficos, analogamente a alma possui um rgo particular para a percepo do
valor. Este rgo no nem a fantasia, nem o sentido, nem a razo, mas alguma coisa
diferente, que Scheler denomina "rgo emocional".
O rgo emocional, que nos coloca em contato com os valores, articula-se a um
"sentir" que capta cada um dos valores, a um "preferir" que no estabelece a hierarquia e a um
"amar" que antecede o sentir e o preferir na procura de novos valores, "como um pioneiro e um
guia". Semelhante apreenso emocional no tem nada a ver com a sensibilidade emprica,
pois o valor uma qualidade que subsiste de todo independentemente, no uma propriedade
relacionada substancialmente com o objeto que o seu portador. Scheler observa que isto
to verdadeiro, que o "matiz de valor" de um objeto, por exemplo o carter simptico ou
antiptico de uma pessoa, captado antes mesmo de que se perceba o prprio objeto.
Tampouco se trata de um sentimento psicolgico, mas de um sentimento intencional, que
"um referir-se ou um direcionar-se originrio para algo de objetivo, como propriamente o
valor.
Determinado o critrio fundamental da tica e a faculdade cognoscitiva prpria para
reconhec-lo, Scheler passa a considerar quais so de fato os valores conhecidos pelo homem
e em que ordem hierrquica eles se apresentam. Scheler diferencia duas classes de valores:
"valores de pessoa" (Personwerte) e "valores de coisa" (Sachwerte). evidente que os
"valores de pessoa" so aqueles que se referem pessoa e principalmente o valor do prprio
ser da pessoa e, depois, os valores da virtude. Ao contrrio, os "valores de coisa" so aqueles
10
que contribuem para formar as unidades axiolgicas das coisas que constituem os "bens", os
bens materiais (teis ou agradveis), os vitais (como os econmicos), os espirituais (como a
cincia e a arte) ou os culturais em geral. Dessas duas classes somente a primeira abrange os
valores propriamente ticos, pois estes, como observava Kant, tm por portador
essencialmente a pessoa. Isto significa que uma ao que contribua formao e ao
desenvolvimento da pessoa, do ponto de vista tico, merece ser julgada positivamente,
enquanto que,uma ao que prejudique a pessoa ser julgada negativamente.
g) Relativismo e situacionismo. Por estes dois termos designa-se uma teoria tica que
se empenha em demonstrar que as exigncias morais so determinadas por condies
mutveis, das quais se derivam, para tais exigncias, contedos no apenas diferentes, mas
tambm contraditrios em parte, de modo que lgico pensar que nenhuma instncia moral
possa ser verdadeiramente vinculadora.
O relativismo moral como tambm o situacionismo apresentam-se sob duas formas
principais. A primeira forma de base gnosiolgica e foi difundida alm do campo da tica
filosfica e da prpria cincia. Seus principais defensores acham-se entre os sofistas, cticos
nominalistas. A segunda forma de base ontolgica: o relativismo prprio do materialismo
histrico que foi elaborado por Marx e Engels.
Em ambas as formas de relativismo, justamente porque se nega a existncia de um
critrio supremo de moralidade, qualquer discurso tico torna-se arbitrrio e, em ltima anlise,
destitudo de sentido.
Ultimamente, a essa concluso chegou tambm a corrente filosfica do neopositivismo,
com 'base em consideraes que primeira vista so de ordem lingstica, mas que, ao serem
observadas a fundo, so de ordem gnosiolgica: trata-se ainda de uma concepo empirista e,
portanto, relativista do conhecimento humano.
Os neopositivistas e seus descendentes, os analistas da linguagem, consideram errada
a colocao tradicional da filosofia moral, como tambm de todas as outras partes da filosofia.
A questo primria e especfica da filosofia, em todos seus setores, no examinar contedos
e muito menos estabelec-los, mas sim estudar a linguagem atravs da qual eles so
expressos. Com efeito, no que concerne tica, a tarefa do filsofo no pesquisar o critrio
supremo da moralidade, mas sim examinar a linguagem prpria da moral com o fim de
determinar o verdadeiro significado.
A linguagem da moral, segundo os neopositivistas, no pode ter significado objetivo,
pois no se pode control-Ia atravs da "verificao experimental": esta exprime disposies
subjetivas de quem fala ou destina-se a suscitar determinadas disposies subjetivas em quem
ouve. , por conseguinte, uma linguagem dotada de valor essencialmente emotivo.
Os filsofos analticos consideram arbitrria e falsa a teoria neopositivista da linguagem,
na medida em que privilegia indevidamente um tipo de linguagem, o das cincias
experimentais, com excluso de todos os outros. A linguagem modelo, em sua opinio, no a
cientfica, mas sim a comum. O significado e o valor das outras linguagens ficam determinados
ao serem postas em comparao com a linguagem comum. O xito dessa confrontao, no
que diz respeito linguagem moral, varia de autor para autor. Contudo, h uma tendncia a
11
reconhecer-lhe o valor objetivo e universal."
O quadro que nos apresenta a histria da filosofia moral , sem dvida, um dos mais
desconcertantes: ela oferece ao homem, necessitado de diretrizes seguras para suas aes e
de indicao certa sobre o sentido e o significado ltimo de sua existncia, sugestes as mais
disparatadas e contraditrias. Que significa tudo isso? Possivelmente, que nos encontramos
diante de problemas insolveis? Muitos filsofos, entre os quais alguns de inspirao crist,
pensam que sim.
No somos dessa opinio. Admitimos sem mais que tambm para a moral, como para
as demais partes da filosofia, seja impossvel obter solues dogmticas; trata-se, com efeito,
de problemas difceis cuja soluo alcanada somente pelo tortuoso caminho da
especulao. Isso no significa, porm, que tal especulao no possa ter xitos positivos e
conseguir solues vlidas.
Para atingir esse objetivo, cabe desenvolver a tica sobre bases tericas
suficientemente seguras, derivando-as da antropologia, da metafsica e da teologia natural.
Uma moral autnoma, totalmente separada da metafsica e da teologia natural e independente
da filosofia do homem, tal como a concebe Kant, desemboca necessariamente no subjetivismo
e no relativismo. Alis, inadmissvel que se possa dar autonomia tica para um ser como o
homem, um ser finito, criado por Deus, do qual recebe alm da existncia, tambm o escopo
da sua vida e as regras e meios para atingi-la.
Portanto, a moral est essencialmente ligada metafsica e tal vnculo apreende-se
corretamente no conceito de valor. Como dizem muitos autores, a moral a cincia dos
valores e seu objetivo promover valores (a justia, a caridade, a paz, a esperana, a
sabedoria, a modstia etc.). Mas o que so essencialmente esses valores? Qual o seu
fundamento? Talvez o capricho individual? a vontade humana que estabelece o que bem,
o que justo, o que verdadeiro, o que puro, ou a prpria realidade que traz consigo esses
caracteres? A reflexo metafsica pode mostrar que a prpria realidade que possui esses
valores. Por outro lado, o conceito de valor diz respeito a uma vontade (valor a caracterstica
pela qual uma coisa digna de ser desejada). Isto significa que a realidade , como tal,
desejada; "quer dizer que na origem das coisas est uma Vontade inteligente, quer dizer o
poltico como associao de indivduos. A tradio contratualista que o Ser supremo, aquele do
qual provm toda realidade, vontade inteligente".
Sobre essas bases metafsicas pode-se levantar um edifcio moral suficientemente
robusto, universalmente vlido e, ao mesmo tempo, solidamente ancorado realidade concreta
e histria.
[Fonte: MONDIN, Battista. Introduo filosofia: problemas, sistemas, autores, obras. 17.
ed. So Paulo: Paulus, 2009. pp. 106-121]
Você também pode gostar
- Ética e moral: conceituação e aplicações nos dias atuaisDocumento11 páginasÉtica e moral: conceituação e aplicações nos dias atuaisSANDRO COUTINHO0% (1)
- A Teoria Do Conhecimento É Uma Disciplina Filosófica Que Investiga As Condições Do Conhecimento VerdadeiroDocumento3 páginasA Teoria Do Conhecimento É Uma Disciplina Filosófica Que Investiga As Condições Do Conhecimento VerdadeiroAna MariaAinda não há avaliações
- Etica e Moral ApostilaDocumento6 páginasEtica e Moral ApostilaMateus LimaAinda não há avaliações
- Ética Geral - O que é e objetivosDocumento10 páginasÉtica Geral - O que é e objetivosDeyvison CardosoAinda não há avaliações
- Ética Grega e Valores SociaisDocumento5 páginasÉtica Grega e Valores SociaisMayarete100% (2)
- Ética e sua evoluçãoDocumento8 páginasÉtica e sua evoluçãoMarcia Dos Santos GizelaAinda não há avaliações
- Ética e MoralDocumento2 páginasÉtica e MoralLuciana MouraAinda não há avaliações
- Apostila de ÉticaDocumento47 páginasApostila de ÉticaMarcelo NascimentoAinda não há avaliações
- O que é éticaDocumento3 páginasO que é éticaBastos LanHouseAinda não há avaliações
- Dos Delitos E Das Penas. Fichamento ComentadoNo EverandDos Delitos E Das Penas. Fichamento ComentadoAinda não há avaliações
- Ética e Moral na AntiguidadeDocumento35 páginasÉtica e Moral na AntiguidadeLeidiana MendesAinda não há avaliações
- Atividade Filosofia - Significado de Ética 3 SérieDocumento7 páginasAtividade Filosofia - Significado de Ética 3 SériebonifacioAinda não há avaliações
- Tica e Filosofia Moral GeralDocumento21 páginasTica e Filosofia Moral GeraltpolliAinda não há avaliações
- Ética, Moral e HistoriaDocumento20 páginasÉtica, Moral e HistoriaEdson PequeninoAinda não há avaliações
- Apostila BioéticaDocumento39 páginasApostila BioéticaLailton Vicente SoaresAinda não há avaliações
- Ética Grega e MedievalDocumento4 páginasÉtica Grega e MedievalJota Pêh VargasAinda não há avaliações
- Ética e Deontologia ProfissionalDocumento5 páginasÉtica e Deontologia ProfissionalConstanca MachadoAinda não há avaliações
- A Dimensã Da Ética-Filósofo GregoDocumento6 páginasA Dimensã Da Ética-Filósofo GregoJORGE VINICIUS FERREIRA BRANDÃOAinda não há avaliações
- A ética: seus problemas e fundamentosDocumento41 páginasA ética: seus problemas e fundamentosSILENOAinda não há avaliações
- Ética e MoralDocumento2 páginasÉtica e MoralCiep 048 Djalma MaranhãoAinda não há avaliações
- Fichamento capítulo 1 Yves de La TailleDocumento8 páginasFichamento capítulo 1 Yves de La TailleIssufo Ibrahimo da NsfAinda não há avaliações
- Filosofia 5 Moral Ética Henrique Esteves Nº15 CT4Documento5 páginasFilosofia 5 Moral Ética Henrique Esteves Nº15 CT4marisa silvaAinda não há avaliações
- 2 Noções de ÉticaDocumento27 páginas2 Noções de ÉticaRenato LinsAinda não há avaliações
- Ética e desenvolvimento moralDocumento4 páginasÉtica e desenvolvimento moralElisabete MoraisAinda não há avaliações
- Alunos Ética Filosofia No Enem 2020 2Documento56 páginasAlunos Ética Filosofia No Enem 2020 2Ronald Honorio de SantanaAinda não há avaliações
- Apostila de Filosofia 3anoDocumento14 páginasApostila de Filosofia 3anoAna Paula JadersonAinda não há avaliações
- ETICADocumento22 páginasETICALeonardo MateusAinda não há avaliações
- (5a06dada 6c32 468d 8b4a C3d9fdfe637c) Os ValoresDocumento9 páginas(5a06dada 6c32 468d 8b4a C3d9fdfe637c) Os Valoresromualdo2512Ainda não há avaliações
- Os fundamentos da ética grega antiga e os pensadores Sócrates e PlatãoDocumento11 páginasOs fundamentos da ética grega antiga e os pensadores Sócrates e PlatãogiseladinizAinda não há avaliações
- Conceito da Moral e ÉticaDocumento32 páginasConceito da Moral e ÉticaIgor CardosoAinda não há avaliações
- 4 EticaDocumento22 páginas4 EticascarmoaAinda não há avaliações
- TESTE 1 Sobre ÉticaDocumento11 páginasTESTE 1 Sobre ÉticaGracinda ValoiAinda não há avaliações
- Resumo do livro Ética de Adolfo Sánchez VázquezDocumento51 páginasResumo do livro Ética de Adolfo Sánchez VázquezAdriane Santos100% (4)
- O Que e Moral e o Que e EticaDocumento11 páginasO Que e Moral e o Que e EticaUlisses LopesAinda não há avaliações
- C - 1 Ética, Moral e BioéticaDocumento12 páginasC - 1 Ética, Moral e BioéticaWander PereiraAinda não há avaliações
- semana 2 PET IVDocumento4 páginassemana 2 PET IVfernandaAinda não há avaliações
- Apostila Etica e Relações InterpessoaisDocumento18 páginasApostila Etica e Relações InterpessoaisFerreira EustAinda não há avaliações
- O Que É ÉticaDocumento9 páginasO Que É ÉticaBobSilvaAinda não há avaliações
- A Liberdade como Fundamento da Moral Kantiana: o Sistema Moral KantianoNo EverandA Liberdade como Fundamento da Moral Kantiana: o Sistema Moral KantianoAinda não há avaliações
- A. Santos - Introdução A Ética - Princípios, Teorias e FundamentosDocumento19 páginasA. Santos - Introdução A Ética - Princípios, Teorias e FundamentosAndrei SantosAinda não há avaliações
- Ética Na Conduta HumanaDocumento7 páginasÉtica Na Conduta HumanaPaulo JuniorAinda não há avaliações
- Escola de Governo - Curso de Ética No Serviço PúblicoDocumento29 páginasEscola de Governo - Curso de Ética No Serviço PúblicoPaula lAinda não há avaliações
- AntoDocumento10 páginasAntoSongane de Araujo AraujoAinda não há avaliações
- Moral, Ética e Educação (Juarez Sofiste)Documento5 páginasMoral, Ética e Educação (Juarez Sofiste)Jessica MeloAinda não há avaliações
- Apostila de Filosofia - 3º Ano emDocumento14 páginasApostila de Filosofia - 3º Ano emGilberto AmorimAinda não há avaliações
- Ética SôniaDocumento32 páginasÉtica SôniaSongane de Araujo AraujoAinda não há avaliações
- Ética Profissional em Curso Técnico de MecânicaDocumento28 páginasÉtica Profissional em Curso Técnico de MecânicaEduardo ReisAinda não há avaliações
- Ética ProfissionalDocumento10 páginasÉtica ProfissionalAniceto BuckAinda não há avaliações
- 8 Atividade - Filo - 3º AnoDocumento4 páginas8 Atividade - Filo - 3º AnoHERICA-SMEC SMECAinda não há avaliações
- Moral e Ética Na Perspectiva Dos Grandes FilosofosDocumento5 páginasMoral e Ética Na Perspectiva Dos Grandes FilosofosDouglas HenriqueAinda não há avaliações
- Ética - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento86 páginasÉtica - Wikipédia, A Enciclopédia LivreGustavo LucioAinda não há avaliações
- A importância da psicanálise para o resgate dos valores humanosNo EverandA importância da psicanálise para o resgate dos valores humanosAinda não há avaliações
- Jovens e CidadaniaDocumento18 páginasJovens e CidadaniaDamaris ViannaAinda não há avaliações
- Maria Emilia - A Construção Do Eu Adolescente Na Relação Com O(s) Outro(s) - O Igual, o Diferente e o Complementar Através Do RorschachDocumento12 páginasMaria Emilia - A Construção Do Eu Adolescente Na Relação Com O(s) Outro(s) - O Igual, o Diferente e o Complementar Através Do RorschachCarla SantosAinda não há avaliações
- PDFDocumento126 páginasPDFFelisbelaBritoAinda não há avaliações
- Exclusão Social e Fracasso EscolarDocumento12 páginasExclusão Social e Fracasso EscolarNanci Barillo0% (1)
- Como elaborar provas que avaliem a aprendizagemDocumento5 páginasComo elaborar provas que avaliem a aprendizagemPytoto Di Jisus100% (1)
- Evolução da visão sobre a adolescência através dos séculosDocumento8 páginasEvolução da visão sobre a adolescência através dos séculosRoselle MatosAinda não há avaliações
- Autoconceito, Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento PDFDocumento11 páginasAutoconceito, Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento PDFFelisbelaBritoAinda não há avaliações
- Violência Extra e Intramuros PDFDocumento20 páginasViolência Extra e Intramuros PDFriobaldozAinda não há avaliações
- Teorias do Desenvolvimento e a Concepção da AdolescênciaDocumento8 páginasTeorias do Desenvolvimento e a Concepção da AdolescênciaTamirisMarquesAinda não há avaliações
- Amizade Na Adultez - Fatores Individuais, Ambientais, Situacionais e Diádicos PDFDocumento9 páginasAmizade Na Adultez - Fatores Individuais, Ambientais, Situacionais e Diádicos PDFFelisbelaBritoAinda não há avaliações
- Bullying Na EscolaDocumento2 páginasBullying Na EscolaPytoto Di JisusAinda não há avaliações
- Apresentação Do LivroDocumento14 páginasApresentação Do LivroFelisbelaBritoAinda não há avaliações
- Conservadorismo PDFDocumento28 páginasConservadorismo PDFPytoto Di JisusAinda não há avaliações
- O PENSAMENTO DE MAX WEBER E A EDUCAÇÃODocumento11 páginasO PENSAMENTO DE MAX WEBER E A EDUCAÇÃOAnalice MarinhoAinda não há avaliações
- Katia Marques - EXEMPLO DE TESE FINALIZADO - Estudo Qualitativo PDFDocumento78 páginasKatia Marques - EXEMPLO DE TESE FINALIZADO - Estudo Qualitativo PDFFelisbelaBritoAinda não há avaliações
- Vocabularies - CópiaDocumento56 páginasVocabularies - CópiaFelisbelaBritoAinda não há avaliações
- Voluntary Product Standard PS 1-19 - PTBRDocumento67 páginasVoluntary Product Standard PS 1-19 - PTBRGisele PaimAinda não há avaliações
- Lista de Geometria Circunferencias e Quadrilc3a1teros1Documento6 páginasLista de Geometria Circunferencias e Quadrilc3a1teros1zilmarsoares5618Ainda não há avaliações
- 2o Encontro Regional História MídiaDocumento981 páginas2o Encontro Regional História MídiaRodrigoAinda não há avaliações
- Evolução morfológica em áreas de deformação tectônicaDocumento14 páginasEvolução morfológica em áreas de deformação tectônicaGeoman BahiaAinda não há avaliações
- Bojana Cvejić - Notas para Uma Sociedade Da Performance - Sobre Dança, Esportes, Museus e Seus UsosDocumento17 páginasBojana Cvejić - Notas para Uma Sociedade Da Performance - Sobre Dança, Esportes, Museus e Seus UsosJbrt OueAinda não há avaliações
- Sistema Da OrdoDocumento13 páginasSistema Da OrdoJoão100% (1)
- Análise Linguística 2Documento8 páginasAnálise Linguística 2minatinhuhkunAinda não há avaliações
- A Realidade Do Meu Pecado - Salmo 51Documento4 páginasA Realidade Do Meu Pecado - Salmo 51gomesdm585100% (1)
- Genealogia ConstelacoesDocumento50 páginasGenealogia Constelacoesraviresck100% (1)
- Direito a 1/3 hora-atividade para todos os profissionais da educaçãoDocumento7 páginasDireito a 1/3 hora-atividade para todos os profissionais da educaçãoTiago TondinelliAinda não há avaliações
- Arte 7 AnoDocumento2 páginasArte 7 AnoMárcia BarrosAinda não há avaliações
- Karl Popper, o filósofo da ciênciaDocumento5 páginasKarl Popper, o filósofo da ciêncialex-fsAinda não há avaliações
- Vim20 Ti P339 07 PortuguesDocumento9 páginasVim20 Ti P339 07 PortuguesAndreAinda não há avaliações
- (Da Dor Ao Alívio) Ebook 3Documento16 páginas(Da Dor Ao Alívio) Ebook 3kaoliveAinda não há avaliações
- Franquia Barbearia Seu Elias - Menos deDocumento21 páginasFranquia Barbearia Seu Elias - Menos deDaniel RodriguesAinda não há avaliações
- Análise de riscos de escavaçãoDocumento5 páginasAnálise de riscos de escavaçãoAna Carolina NascimentoAinda não há avaliações
- Felicidade e Objeções Á Teoria de MillDocumento2 páginasFelicidade e Objeções Á Teoria de MillTiago Afonso LopesAinda não há avaliações
- Ficha de atendimento previdenciárioDocumento8 páginasFicha de atendimento previdenciárioEmanuely Lima100% (1)
- Cartilha PetDocumento36 páginasCartilha PetMarília BezerraAinda não há avaliações
- Ajudante de Produção-ServenteDocumento1 páginaAjudante de Produção-ServenteElisaldo SilvaAinda não há avaliações
- Estácio - Alunos PDFDocumento4 páginasEstácio - Alunos PDFMauricio Lucas AlbertiAinda não há avaliações
- Importância da sexualidade no casamentoDocumento3 páginasImportância da sexualidade no casamentoIsaac AngeloAinda não há avaliações
- Curso de Piano - Prefácio e Visão das TeclasDocumento1 páginaCurso de Piano - Prefácio e Visão das TeclasAmanda PizolAinda não há avaliações
- Crimes em Especie Unidade 3Documento16 páginasCrimes em Especie Unidade 3clichardson hipolitoAinda não há avaliações
- PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA X BEM DE VALOR SENTIMENTALDocumento3 páginasPRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA X BEM DE VALOR SENTIMENTALCaio MartinsAinda não há avaliações
- Orçamento Familiar: Educação FinanceiraDocumento18 páginasOrçamento Familiar: Educação Financeiraeu.maysilva1995100% (1)
- Especificações Técnicas Da Embalagem de Papelão OnduladoDocumento4 páginasEspecificações Técnicas Da Embalagem de Papelão Onduladocadsantana100% (1)
- Partilha de Imovel em IRC e No Socio PT18751 1 de Março2017Documento14 páginasPartilha de Imovel em IRC e No Socio PT18751 1 de Março2017Americo AraujoAinda não há avaliações
- Manual de Instalação Do Aquecedor SolarDocumento6 páginasManual de Instalação Do Aquecedor SolarClaudia Mourão FernandesAinda não há avaliações
- Ldia12 Questao Aula Ed Lit Alberto CaeiroDocumento2 páginasLdia12 Questao Aula Ed Lit Alberto CaeiroDiogo FrescoAinda não há avaliações