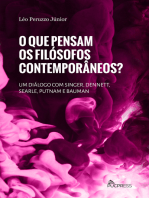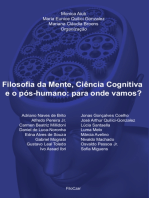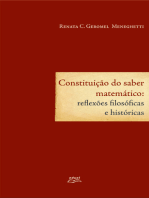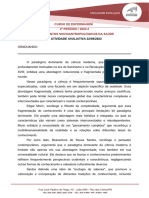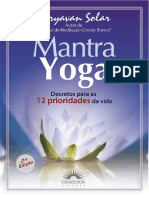Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Metafísica Como Onto Teo Logia
Enviado por
Apeiron30Descrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Metafísica Como Onto Teo Logia
Enviado por
Apeiron30Direitos autorais:
Formatos disponíveis
1
Elsa Helena Buadas Wibmer
METAFSICA COMO ONTO-TEO-LOGIA
Uma interpretao da filosofia de Plato
luz do pensamento de Martin Heidegger
Tese de Doutorado
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao
em Filosofia da PUC-Rio como requisito parcial para
a obteno do ttulo de Doutor em Filosofia
Orientador: Eduardo Jardim de Moraes
Rio de Janeiro
Abril de 2008
Elsa Helena Buadas Wibmer
METAFSICA COMO ONTO-TEO-LOGIA
Uma interpretao da filosofia de Plato
luz do pensamento de Martin Heidegger
Tese apresentada como requisito parcial para
obteno do grau de Doutor pelo Programa de PsGraduao em Filosofia do Departamento de
Filosofia do Centro de Teologia e Cincias Humanas
da PUC-Rio. Aprovada pela Comisso Examinadora
abaixo assinada.
Prof. Eduardo Jardim de Moraes
Orientador
Departamento de Filosofia da PUC-Rio
Prof. Luiz Carlos Pinheiro Dias Pereira
Departamento de Filosofia da PUC-Rio
Profa. Maura Iglesias
Departamento de Filosofia da PUC-Rio
Prof. Emmanuel Carneiro Leo
UFRJ
Profa. Virgnia Figueiredo
UFMG
Prof. Paulo Fernando Carneiro de Andrade
Coordenador Setorial do Centro
de Teologia e Cincias Humanas PUC-Rio
Rio de Janeiro, 3 de abril de 2008
Todos os direitos reservados. proibida a reproduo total
ou parcial do trabalho sem autorizao do autor, do
orientador e da universidade.
Elsa Helena Buadas Wibmer
Graduou-se em Filosofia na PUC-Rio em 1987. Obteve,
na mesma Universidade, o ttulo de mestre em Filosofia,
com a dissertao intitulada A Transfigurao do
Pensamento na Origem da Metafsica, em 1990. Leciona
no departamento de Filosofia desta Universidade desde
1988 at hoje. Foi responsvel pela publicao O que nos
faz pensar Cadernos de Filosofia da PUC-Rio de junho
de 1989 a maio de 1993. Participou da elaborao do
projeto do Curso de Especializao em Filosofia
Contempornea da PUC-Rio, coordenando-o de agosto de
1996 a dezembro de 1999. A partir do ano 2000, grande
parte da sua atividade docente foi dirigida ao ensino de
filosofia no mbito extra-acadmico, coordenando
diversos projetos e ministrando aula. Atualmente coordena
o Instituto de Estudos Contemporneos Antonio
Abranches.
FICHA CATALOGRFICA
Buadas Wibmer, Elsa Helena
Metafsica
como
onto-teo-logia:
uma
interpretao
da
filosofia
de
Plato
luz
do
Ficha Catalogrfica
pensamento de Martin Heidegger / Elsa Helena
Buadas Wibmer ; orientador: Eduardo Jardim de
Moraes. 2008.
280 f. ; 30 cm
Tese (Doutorado em Filosofia)Pontifcia
Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2008.
Inclui bibliografia
1. Filosofia - Teses. 2. Metafsica. 3.
Fundamento. 4. Substncia. 5. Historialidade. 6.
Tecnologia. I. Moraes, Eduardo Jardim de. II.
Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro.
CDD
Departamento de Filosofia. III. Ttulo.
100
CDD: 100
Dedico este estudo
a Nelly e Walter, meus pais queridos,
a Antonio, com saudades,
e a Ins e Joo, pela graa da presena prxima do amor.
Agradecimentos
A Claudia Silveira, Cristina Ribas, Ethel Menezes Rocha, Helena Lustosa,
Humberto Alvim, Irley Franco, James reas, Jlio Kopelowicz, Lcia Fonseca e
Luiz Camillo Osrio, por essa outra indefinvel graa, a da proximidade da
amizade no esprito e no corao.
A Eduardo Jardim de Moraes, pela longa estrada percorrida juntos e que, alm de
amigo no esprito e no corao, sempre assumiu a responsabilidade de ser meu
orientador acadmico, responsabilidade que, em alguns momentos, foi
embaraosa e difcil.
A Fernando Anta, Marta Agun e Jorge Barreiro pela experincia, para mim
quase paradoxal, da amizade na distncia.
A Luiz Carlos Pereira e Maura Iglesias, membros da banca examinadora que, ora
mais perto, ora mais distantes, sempre estiveram presentes no dilogo silencioso
do pensamento, mostrando uma disposio para a escuta do diferente, hoje rara.
A Edna Maria Sampaio, do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, pelo cuidado
e ateno com que sempre contei, inmeras vezes se antecipando a quaisquer
solicitaes minhas.
Aos membros externos da banca examinadora que prontamente aceitaram fazer
parte da mesma: a Virgnia Figueiredo, pela leitura cuidadosa do texto e as
interessantes questes levantadas, e a Emmanuel Carneiro Leo, pelas
observaes sempre pertinentes.
Ao Departamento de Filosofia da PUC, onde estudo e trabalho h vinte anos.
Por fim, obviamente, queles a quem dedico este estudo, pelo sustento da doce
fora do amor.
Resumo
Buadas Wibmer, Elsa Helena. Metafsica como Onto-teo-logia Uma
interpretao da filosofia de Plato luz do pensamento de Martin
Heidegger. Rio de Janeiro, 2008. 280p. Tese de Doutorado Departamento
de Filosofia Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro.
Trata-se de uma interpretao dos principais aspectos da filosofia platnica
como origem da Metafsica, luz do pensamento de Martin Heidegger. Com o
olhar fincado no mundo contemporneo e na compreenso da essncia da
tecnologia que Heidegger pela primeira vez traz presena, o trabalho procura
esclarecer o impensado da essncia onto-teo-lgica da metafsica que se origina
com Plato, a saber, o retraimento da aletheia como acontecimento originrio, em
favor de um modo de desvelamento do ser como substncia, com a correlata
postulao de um ente supremo que fundamenta a adequao entre ser e pensar.
Mostra-se como este acorde inicial da metafsica inicia seu declnio na
modernidade, com o pensamento de Descartes, dispensando um outro modo de
desvelamento: o Gestell, a essncia da tecnologia. Sob esta tica, so abordados
os seguintes dilogos de Plato: Mnon, Repblica, Banquete, Sofista e Timeu.
Faz-se tambm uma anlise dos desdobramentos do eclipse da noo de
substncia na modernidade, nas filosofias de Descartes e Kant, assim como uma
exposio crtica das concepes contemporneas que entendem a tecnologia
como sendo de carter essencialmente instrumental.
Palavras-chave
Metafsica, Fundamento, Substncia, Historialidade, Tecnologia.
Abstract
Buadas Wibmer, Elsa Helena. Metaphysics as Onto-theo-logy An
interpretation of Platos phylosophy enlightened by Martin Heideggers
thinking. Rio de Janeiro, 2008. 280p. PhD Thesis Departamento de
Filosofia Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro.
This work is an interpretation of the main aspects of Platos philosophy as
Metaphysics beginning, enlightened by Martin Heideggers thinking. With the
regard founded in the contemporary world and the comprehension of the
technologys essence that first came to light with Martin Heidegger, it aims to
enlighten the forgotten ground of metaphysics onto-theo-logical essence that
begins with Plato, i.e., the retrial of the aletheia as original happening favoring a
way of unconcealment of being as substance, with the correlate postulation of a
supreme being that founds the adequacy between being an thinking. It shows how
this original accord starts metaphysics decline in the modernity, with Cartesian
thinking, giving another way of
unconcealment: o Gestell, the technologys
essence. In this perspective the study analyses the next Platos dialogues: Meno,
Republic, Symposium, Sophist and Timaeus. The work presents too an analysis of
the consequences of the decline of substance notion in the modernity, in Descartes
and Kants philosophies, as well as a critical exposition of those contemporary
conceptions that understand technology as essentially having an instrumental
character.
Key-words
Metaphysics, Grounding, Substance, Historiality, Technology.
Sumrio
Introduo
Heidegger e as noes de Origem,Destino e Historialidade
O Destino como stio a partir de onde interroga-se: o Gestell
A origem como o impensado que sustenta nosso ser
e como a questo a se pensar
1. Ser e Pensar I: A Doutrina da Anamnesis no Mnon de Plato
9
13
17
19
38
2. Ser e Pensar II: A Repblica de Plato
2.1. A Analogia entre o Bem e o Sol
2.2. A Linha Dividida
2.3. A Alegoria da Caverna
58
58
74
100
3. Ser e Pensar III: O Parricdio Parmendico
e o Esquecimento da Aletheia
122
4. Ser e Pensar IV: A Gerao na Beleza e a Inveno da Tradio
157
5. Do Declnio da Ousia Essncia da Tecnologia
5.1. A Filosofia Moderna como Preparao
da Essncia da Tecnologia
5.2. Descartes e o Deslocamento do Fundamento:
do Declnio do Ente Supremo Irrupo da Subjetividade
5.3. Kant, o Destruidor da Metafsica:
da Subjetividade Transcendental
Atividade Reflexionante como Fundamento
Concluso
186
186
Bibliografia
228
Anexo: A concepo instrumentalista
do saber tcnico-cientfico
a) A concepo instrumentalista do saber tcnico-cientfico
luz da filosofia de Kant
b) A concepo instrumentalista do saber
tcnico-cientfico luz do pensamento
de Jrgen Habermas
233
189
197
223
237
245
O pensamento , sem dvida, uma causa toda
especial. A palavra dos pensadores no tem
autoridade. A palavra dos pensadores no possui
autor, no sentido de escritor. A palavra do pensamento
pobre em imagens e sem atrativos. A palavra do
pensamento repousa numa sobriedade, na sobriedade
que leva ao que ela diz. E, no obstante, o
pensamento que transforma o mundo. E o transforma
na profundidade sempre mais escura da fonte, onde
viceja o mistrio que, mais escuro, nos promete uma
claridade superior.
Martin Heidegger
10
Introduo
O estudo que animou o trabalho que aqui apresentamos teve sua
motivao na tentativa de compreender o que, poder-se-ia chamar, da experincia
contempornea do fracasso da vontade. Acredito que cada pessoa tenha uma
origem, sua origem, um acontecimento que a marca de tal modo que a partir
dele que se comea a desenhar o perfil de quem ser. Como fonte que jamais
estanca, essa origem nos envia vida afora e, se formos afortunados, ela prpria se
nos oferece, de tempo em tempo, para ser revisitada. Se formos ainda mais
afortunados, a cada nova visita que lhe fazemos, nos concedido viv-la
novamente. Viv-la novamente no quer dizer reviv-la, pois no me refiro aqui
possibilidade de traz-la memria, acompanhada da intensidade com que outrora
fora vivida. Viv-la novamente experimentar nela dimenses at a ignoradas.
Quando isso acontece, o todo da nossa vida vivida ganha uma outra luz. Quando
isso acontece, a origem destina origem, destina um nascer de novo e, assim, d-se
a graa de sermos e nos sabermos livres.
Porque a origem fonte que no se exaure, falar da prpria origem
sempre tarefa difcil e necessariamente incompleta. O melhor nome que hoje
encontro para a minha aquele que os fundadores da Amrica, h
aproximadamente 250 anos, deram para a experincia que com eles tinha
acontecido: a chamaram de felicidade pblica. Hannah Arendt arrancou do
esquecimento esse nome, trazendo lampejos do seu tesouro, lampejos que
permitiram a mim, que vim depois, reconhecer o meu tesouro. L como aqui, na
feliz reunio de muitos, esteve presente a espontaneidade partilhada do comeo: o
tempo repentinamente se abrindo para um depois que prometia um mundo se
fazendo sob os cuidados do amor. Passados poucos anos, essa espontaneidade se
recolheu. Imperceptivelmente os anseios plenos de serena paixo, porque
marcados por uma generosa indeterminao, foram dando lugar a uma
voluntariosa ao, tanto mais insistente, quanto mais ela os cristalizava em clichs
11
que ofereciam a segurana de saber o que se quer. A reunio espontnea, a
felicidade do comeo, o tempo aberto, tudo isso tinha ficado para trs. A solido
da conspirao, o sacrifcio sem perspectivas, o tempo fechado a qualquer
depois tomaram o seu lugar. E, entretanto, nessa indigncia, a origem me mostrou,
pela primeira vez, sua prodigalidade, sob a forma de um apelo ao pensamento. Era
necessrio reconhecer, no apenas o fracasso na implementao do projeto;
urgia aceitar lcida e desarmadamente que o que o mantinha no era um saber o
que se quer, mas a necessidade da vontade em se assegurar no seu movimento
insistente. E, sobretudo, era necessrio olhar esse fenmeno com desassombro,
pois esse movimento no tinha tomado exclusivamente a ns, mas perpassava
todos os afs humanos, e isso de modo tanto mais obcecado, quanto mais a
vontade acreditava estar de posse das rdeas da sua ao.
Foi primeiro Hannah Arendt na sua crtica compreenso da
poltica como fabricao da vontade e depois Martin Heidegger, com sua
compreenso da essncia da tcnica como um modo da aletheia, que me guiaram
nesse renascimento. Nele, de outro modo, a alegria da reunio de muitos, a serena
paixo compartilhada, o abrir-se do tempo, enfim, as ddivas da origem, foramme novamente presenteadas.
O trabalho que se segue fruto deste caminho. O seu ttulo pode
induzir a erro pois, embora os quatro captulos centrais se ocupem com a filosofia
platnica, o fazem sempre com vistas compreenso do destino do Ocidente. A
presena do que desenvolveremos a seguir nesta introduo, onde se explicita qual
a razo da volta ao pensamento platnico, de um quinto captulo em que se aborda
a metafsica moderna e seus desdobramentos na contemporaneidade e, por ltimo,
de um anexo onde se aborda a compreenso instrumental da tecnologia e suas
limitaes, assim o testemunha. O carter do quinto captulo meramente
indicativo do movimento de retraimento da poiesis como modo de desvelamento,
em favor do Gestell. Em razo deste carter indicativo, o tratamento das filosofias
de Descartes e de Kant aspira, apenas, a mostrar esse movimento historial, atravs
de uma exposio sucinta que revele o que considero ser o seu sentido mais geral:
como o legado da tradio por eles recebido, apropriado e lanado posteridade.
O anexo, diferentemente, possui um carter mais crtico: ali se pretende evidenciar
12
a insuficincia de certos empreendimentos contemporneos ao pensar a essncia
da tecnologia.
Mais uma advertncia: meus conhecimentos da lngua grega clssica,
assim como da lngua alem, so muitssimo rudimentares. Entretanto,
permitiram-me cotejar a traduo que, de certos termos nos originais, fizeram-se
no ingls e nas diversas lnguas latinas. Este exerccio, embora limitado, foi
sempre de grande valia para meu pensamento, pois na sua ressonncia em lnguas
que me so bem mais familiares a questo a ser pensada se apresentou com mais
riqueza. Heidegger, no fim do seu seminrio A constituio onto-teo-lgica da
metafsica, diz:
A presena desta dificuldade que emana da linguagem <a dificuldade
de que as lnguas ocidentais so, de maneiras sempre diversas, lnguas
do pensamento metafsico> deveria prevenir-nos de transformar
precipitadamente a linguagem do pensamento agora tentado numa
terminologia e j amanh falar em de-ciso, em vez de consagrar todo
esforo ao aprofundamento do que foi dito. Pois o que foi dito, o foi
em um seminrio. Um seminrio , a palavra j o sugere, um lugar e
uma oportunidade de, aqui e ali, semear uma semente, uma semente
de meditao que um dia possa, sua maneira, pouco importa quando,
nascer e frutificar.1
A ateno para o perigo de transformar precipitadamente a
linguagem do pensamento numa terminologia, amordaando, com o exerccio de
um rigor estril, o que a se pensar, sempre me acompanhou. Porque a palavra
pensada tem carter seminal, ela pede de quem a cultiva que amorosa e
pacientemente deixe s potncias do tempo fazer o seu trabalho. O rigor prprio
ao cultivo da palavra pensada, o rigor no estril, sabe que
o pensamento sem dvida, uma causa toda especial. A palavra dos
pensadores no tem autoridade. A palavra dos pensadores no possui
autor, no sentido de escritor. A palavra do pensamento pobre em
1
Heidegger, M., A constituio onto-teo-lgica da metafsica in Heidegger, col. Os
Pensadores, trad. Ernildo Stein, Abril Cultural, So Paulo, 1983, p. 202. O professor Ernildo
Stein faz o seguinte comentrio, que aqui endosso: O filsofo adverte o leitor contra o vcio de
transformar uma linguagem flutuante, essencialmente experimental, num jargo em que se quisera
aprisionar aquilo que, como objeto do pensamento, sempre est em questo.
13
imagens e sem atrativos. A palavra do pensamento repousa numa
sobriedade, na sobriedade que leva ao que ela diz. E, no obstante, o
pensamento que transforma o mundo. E o transforma na profundidade
sempre mais escura da fonte, onde viceja o mistrio que, mais escuro,
nos promete uma claridade superior.2
Heidegger e as noes de Origem, Destino e Historialidade
Em dezembro de 1949, em Bremen, Martin Heidegger proferiu uma
srie de conferncias intitulada "Einblick in das was ist", o que poderia ser
traduzido por "Um lance (de olhos) no que ". Esta srie constituda por quatro
conferncias, uma das quais ser depois editada sob o nome de "A Questo da
Tcnica". Na ocasio, a mencionada conferncia recebeu o nome de "Das
Gestell". As quatro conferncias constituem a primeira tentativa de Martin
Heidegger, pelo menos expressamente assumida, de manter atento o pensamento
para aquilo que somente nesse momento, e de forma incipiente, vinha presena:
a essncia da tcnica moderna.3
Heidegger, Martin, Logos (Herclito, fragmento 50) in Ensaios e Conferncias, trad.
Emmanuel Carneiro Leo, ed. Vozes, Petrpolis, 2006, p. 203.
3
As outras trs conferncias que compem a srie so: "Die Kehre", "Das Ding"e "Die Gefahr".
"Das Ding" foi publicada junto com "Die Frage nach der Technik" em Vortrage und Aufsatze -"Ensaios e Conferncias". As citaes das duas conferncias publicadas neste livro sero retiradas
da edio francesa Essais et confrences, cujo tradutor Andr Preau, ed. Gallimard, Paris, 1958.
As tradues para o portugus so minhas.
A possibilidade deste assumir expresso da questo foi, certamente, o resultado do surdo
amadurecimento de todo pensamento genuno. Pensar leva tempo. Na trajetria do pensamento
de Martin Heidegger, foi um evento decisivo, segundo meu entender, a posse e posterior renncia
do reitorado da Universidade de Freiburg. A experincia do fracasso do projeto que aspirava a que
a universidade alem, colocando-se na direo do movimento nacional-socialista, restaurasse o
esprito originrio de Ocidente, salvando a Alemanha, e a Europa em geral, do processo de
degenerescncia espiritual que o imprio da tcnica, sob a forma da crescente especializao,
primeira vista parecia sugerir, convocou Heidegger para a mais radical interrogao dos limites da
filosofia moderna e, particularmente, da sua ltima figura, a filosofia da vontade. A
interpretao que, na segunda metade da dcada dos 30, Heidegger faz das noes nietzschianas
de transvalorao dos valores, niilismo, vontade de poder e super-homem, e a ntima
relao que, no seu entender, elas tm com a essncia do que chamamos tecnologia, fruto
direto desse fracasso. Sobre este assunto, ver Anexo I.
14
Como se sabe, a razo que fez Heidegger dirigir um olhar atento
questo da tcnica no guiada pela opinio de que as cincias tecnicizadas
contemporneas constituam um interessante fenmeno, especfico da cultura de
nosso tempo, da qual tambm fariam parte outros, relativos esfera da arte, da
religio, da tica ou da poltica, fenmenos estes que poderiam, a despeito de
idiossincracias particulares do pensador, requerer semelhante ateno. O que
Heidegger nomeia como essncia da tcnica moderna constitui, na sua
compreenso, um modo fundamental de desvelamento do ente em sua totalidade,
o modo prprio da nossa era, modo este a que ele, praticando uma violncia
consciente linguagem ordinria, d o nome de Gestell.5 Segundo sua
compreenso, a essncia da tcnica governa a totalidade dos fenmenos e
manifestaes espirituais da nossa poca, o que quer dizer que tanto a poltica,
quanto a arte ou a religio so, em nosso mundo, essencialmente tcnicas.
No volume da coleo "Os Pensadores" dedicado a Martin Heidegger, o prof. Ernildo Stein
decidiu-se, na sua traduo do termo Gestell, por acompanhar as tradues francesas que optaram
pelo termo arraisonnement, "arrazoamento". Este termo mantm etimologicamente presente um
dos usos do verbo alemo stellen que opera como sufixo de uma srie de outros verbos dessa
lngua e que , no contexto da tcnica moderna, de grande poder iluminador. Stellen significa,
nesse uso, "prestar contas" no sentido de dar razes quando estas so exigidas. De fato, o Gestell,
como modo de desvelamento, pe o real na condio de "prestar contas", ou como cedo Kant j o
dissera, "obriga a natureza a responder s suas <da Razo> perguntas, sem <a Razo> se deixar
conduzir por ela <a natureza> como se estivesse presa a um lao". (Cf. Crtica da Razo Pura,
"Prefcio", 2a. edio, XIII). Simultnea e solidariamente, ele tambm coloca o homem na posio
de ser aquele que dispe do fundo nas modalidades do planejamento e da calculabilidade. A
traduo espanhola de Gestell por imposio, isto , pr o ente na posio passiva de inquirido e
o homem na posio, somente em aparncia ativa, de inquiridor, caminha tambm na mesma
direo. Na coletnea de textos inglesa organizada por David Farrell Krell, Martin Heidegger Basic Writings, o tradutor Albert Hofstadter escolheu o termo enframing para traduzir o alemo
Gestell. A palavra enquadramento, acompanhando esta traduo, afigura o sentido imediato do
termo Gestell alemo, a saber, estante, prateleira. Este sentido imediato evoca um aspecto decisivo
da essncia da tcnica moderna, que o fato de organizar a natureza de forma tal que ela possa
estar acessvel e disponvel, isto , a postos, para eventuais aes posteriores, no sentido em que,
por exemplo, organizamos documentos numa prateleira ou num arquivo, de forma a estarmos
certos de encontr-los rapidamente, ou, num exemplo bem mais atual e iluminador para o que est
em questo, da mesma forma em que as cincias da informao organizam seus dados para
estarem imediatamente disponveis para o usurio. O professor Emmanuel Carneiro Leo, em sua
traduo da conferncia A questo da tcnica recentemente publicada (Martin Heidegger,
Ensaios e Conferncias, editora Vozes) optou pelo termo com-posio para traduzir o alemo
Gestell. Esta traduo, embora de imediato no sugira nenhum dos aspectos mais ostensivos do
dispor e encomendar prprios da tcnica moderna, guarda, na sua sobriedade, os timos presentes
no termo, a saber, stellen, pr, precedido pelo prefixo ge (que indica reunio), com: composio.
Todas estas tradues apontam para elementos significativos do que deve ser nomeado; elementos
que se oferecem para que o pensamento os recolha numa unidade essencial. Neste trabalho
esperamos caminhar na direo do clareamento dessa unidade essencial. Dar bom nome a ela,
tarefa da mais alta, concisa e concentrada poesia. Por no estarmos altura de semelhante tarefa,
manteremos o termo alemo Gestell.
15
Na referida conferncia, Heidegger introduz o assunto partindo do que
ele chama de concepo instrumentalista da tcnica, nomeao da qual nos
apropriamos em anexo deste trabalho, onde explicitamos muito sucintamente as
categorias fundamentais que a estruturam.6 Considerar o saber tcnico e o
conjunto de implementos de que ele se serve como sendo um instrumento, um
meio para atingir fins previamente estabelecidos , sem sombra de dvidas, o
modo "espontneo" como a maioria de ns compreende, sem maiores esforos
reflexivos, o que ela . Entretanto, Heidegger denuncia nesta compreenso algo de
patentemente insatisfatrio, e isso revelia da sua coercitiva exatido: armados
com ela sequer conseguimos distinguir a tcnica tradicional da tcnica
contempornea.7 Em outras palavras, se renunciarmos a ir alm da compreenso
da tcnica como um meio, aquilo que nos detm em espanto num lance de
olhos sobre o que na superfcie do globo nos escapa e, assim, o pensamento no
consegue estar altura desse espanto, no consegue corresponder sua fonte. Pois
onde tnhamos o saber do campons, que confiando o crescimento da semente s
foras da natureza conhecia o momento de semear e de colher, e no intervalo de
ambos, docilmente esperava que a terra, exonerando-o de mais labuta, fizesse o
seu trabalho, temos agora o saber da empresa agrcola. Fazendo parte de uma
indstria de alimentos, ela serve-se de uma quantidade de irrigao exata, de
6
Heidegger fala, nesta conferncia, de duas compreenses "imediatas" que nos vm cabea
quando nos detemos para refletir o que seja a tcnica: as compreenses instrumentalista e
antropolgica. Segundo a primeira, a tcnica seria um meio para alcanar certos fins --neste
sentido, ento, ela seria um instrumento. Parece-me que Heidegger tem em mente, aqui, as
concepes que, a partir de Max Weber, se estruturaram em torno da categoria de racionalidade
instrumental e que postulam uma diferena entre valores e fins, de um lado, e estados de coisas
possveis e instrumentalidade, de outro. Tais concepes remontam, em ltima instncia,
diferena entre ser e dever ser. J, de acordo com a segunda concepo, a chamada de
antropolgica, a tcnica seria uma atividade humana. Aqui se tem em mente o modo em que boa
parte da antropologia, entendida como cincia especfica do zoon homem, organiza seus estudos: o
homem realiza suas atividades com vistas a certos fins e, dependendo destes, as atividades
assumem sua feio. A tcnica compreenderia, assim, a manufatura de utenslios, de ferramentas e
a produo de conhecimentos aplicveis ao vasto mbito da satisfao das necessidades vitais.
Estas concepes, a instrumentalista e a antropolgica, diz Heidegger, so solidrias, pois "dar-se
fins, constituir e utilizar-se de meios, so atos do homem". (Cf. Essais et confernces, p. 10.) Com
isto Heidegger quer dizer que ambas as concepes encontram apoio para compreender aquilo que
elas se propem compreender, a saber, a essncia da tcnica, nas categorias de meios e fins, e
assim, na instrumentalidade. a caducidade e anacronismo destas categorias que Heidegger
mostrar com sua anlise da essncia da tecnologia como modo de desvelamento. Para uma anlise
mais demorada do carter da compreenso instrumental da tcnica, ver Anexo neste trabalho.
7
"A concepo instrumental da tcnica exata de uma forma to pouco confivel que ela
tambm aplicvel tcnica moderna, da qual, alis, se afirma, e com um certo direito, que em
relao tcnica artesanal anterior alguma coisa de totalmente diferente e consequentemente de
nova." (Op. cit., p. 10.)
16
alteraes na composio do solo, de transformaes genticas que podem
modificar desde o grau de crescimento e o ciclo de reproduo at as
caractersticas decisivas da espcie. Assim, em virtude desse infindvel elenco de
possibilidades com que a natureza, posta na posio de estoque primordial,
convoca o homem sob o insistente mote de aumento da produtividade, a
essncia da tecnologia acaba por no permitir que ele encontre repouso em lugar
ou tempo algum.8 Entre ambos saberes, o do campons e o da empresa agrcola,
h uma incomensurvel diferena.
Mas, caso se aviste tal diferena e se queira corresponder a ela, cabe
perguntar onde reside a distino entre a tekhne e a tcnica que hoje conhecemos.
Heidegger responde: uma e outra encontram sua determinao em dois modos de
desvelamento diferentes: a poiesis, o desvelamento pro-dutor, e o Gestell, o
desvelamento pro-vocador.
por todos conhecida a insistncia quase obstinada com que
Heidegger defende a traduo do termo grego aletheia por desvelamento ou
desocultao. Para quem tem uma mnima familiaridade com seu pensamento,
esta insistncia est longe de representar um capricho filolgico que poderia ser
denunciado apelando para as fontes de que dispomos da cultura grega, onde
haveria ocorrncias que evidenciariam outros significados para o termo aletheia e
seus derivados.9 Para Heidegger o que aqui est em jogo a prpria questo do
8
O slogan So Paulo no pode parar absolutamente pertinente, caso se o oua
desassombradamente. Pois So Paulo no pode parar um dizer absolutamente prprio, no sentido
de que no dada cidade de So Paulo esse complexo-feixe de uma sociedade planetria-- a
possibilidade de parar. Entretanto, tambm o sentido imperativo que se pode ouvir no slogan, a
saber, So Paulo no deve parar, guarda sua verdade. E isto, no em razo de que seja necessrio
reforar a convocao dos habitantes da cidade ao trabalho, afastando o perigo de que eles, numa
espcie de surto de savoir- vivre, um belo dia decidissem entrar de frias sem autorizao dos
governantes ou dos patres. So Paulo no deve parar quer dizer: vs, habitantes desta cidade,
deveis-vos alegrar pelo fato de serdes um elemento essencial ao seu funcionamento. Ou, dito em
outras palavras: No vos ressintais pela constatao de que sis apenas funcionrios ao servio do
funcionar, alegrai-vos!. Um tal apelo, vale dizer, no deixa fora governantes e patres.
9
Na sua conferncia O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, Martin Heidegger diz: Seja
como for, uma coisa se torna clara: a questo da Altheia, a questo do desvelamento como tal,
no a questo da verdade. Foi por isso inadequado e, por conseguinte, enganoso denominar a
Altheia, no sentido da clareira, de verdade. O discurso da verdade do ser tem seu sentido
justificado na Cincia da Lgica de Hegel, porque nela verdade significa a certeza do saber
absoluto. Mas tampouco Hegel como Husserl questionam, como tambm no o faz qualquer
metafsica, o ser do ente, isto , no perguntam em que medida pode haver presena como tal. S
h presena quando impera a clareira. Esta, no h dvida, nomeada com a Altheia, com o
17
pensamento,
aquilo que digno de ser interrogado e que hoje graas ao
desdobrar-se da tcnica moderna assoma de modo inusitado, tornando possvel
a experincia de um mtuo pertencer de homem e ser, antes jamais trazida ao
aberto.
O Destino como stio a partir de onde interroga-se: o Gestell
Diz Heidegger:
O que no arrazoamento (Gestell), como constelao de ser e homem,
experimentamos atravs do moderno universo da tcnica, um
preldio daquilo que se chama acontecimento-apropriao
(Ereignis).10
Prestemos ateno primeira parte desta citao. O Gestell ali
determinado como constelao de ser e homem. isso um modo de
desvelamento, um modo da aletheia: uma constelao de ser e homem. Assim
como uma constelao zodiacal no um amontoado de astros, mas uma
determinada disposio de certas estrelas que, em sua relao, desenha um todo,
da mesma forma, um modo da aletheia um determinado arranjo de ser e pensar,
desenhado pela sua relao. Todo modo de desvelamento um envio que dispe e
desvelamento, mas no como tal pensada. E, logo a seguir, acrescenta: O conceito natural de
verdade no designa desvelamento tambm na Filosofia dos gregos. Insiste-se em apontar, e com
razo, o fato de que j em Homero a palavra aleths apenas e sempre usada com os verba
dicendi, com a enunciao, e por isso no sentido da certeza e da confiana que nela se pode ter, e
no no sentido de desvelamento. Mas esta observao significa, primeiro, apenas que nem os
poetas, nem o uso ordinrio da linguagem, nem mesmo a Filosofia, se vem colocadas diante da
tarefa de questionar em que medida a verdade, isto , a retitude da enunciao, s permanece
garantida no elemento da clareira da presena. (Cf. O Fim da Filosofia e a Tarefa do
Pensamento in Heidegger, col. Os Pensadores, Ed. Victor Civita, So Paulo, 1984, p. 80). Esta
citao parece-me o suficientemente clara como para dissipar quaisquer dvidas em relao
nfase heideggeriana na traduo de Altheia como desvelamento. As crticas da filologia
endereadas a esta traduo --a mais famosa delas a de Paul Friedlnder (cf. Plato -An
Introduction, vol. I, cap. XI, trad. Hans Meyerhoff, Princeton, Princeton University Press, 1969)-se mantm no mbito da cincia, que para realizar sua tarefa precisa subtrair seus pressupostos da
interrogao e, por isso, interdita-se de pensar que o que nesta traduo visado uma questo
para o pensamento e no o estabelecimento objetivo do significado de um termo numa dada poca
histrica se que isso , de todo, possvel.
10
Heidegger, M., O Princpio da Identidade, in Heidegger, Col. Os Pensadores, trad. E. Stein,
Abril Cultural, So Paulo, p. 185.
18
harmoniza ser e homem, ser e pensar. Como veremos, onde na expresso ser e
pensar se esconde o tesouro do a se pensar na conjuno e. Esta revelar-se a Heidegger no como acrscimo, justaposio ou sntese dos dois termos, mas
como ntima imbricao, como relao essencial entre eles, relao fora da qual os
termos desaparecem. Em outras palavras, o que faz diferena entre um amontoado
de estrelas e uma constelao revela-se, na expresso ser e pensar, no e que os
liga. Ele indica a questo do pensamento, o que a se pensar.
Na carta a Jean Beaufret, conhecida sob o nome de Sobre o
Humanismo, Heidegger serve-se, para clarear este mtuo pertencer entre ser e
pensar, da categoria gramatical do genitivo, em seu duplo carter de objetivo e
subjetivo.
Dito de maneira simples, o pensar o pensar do ser. O genitivo diz
duas coisas. O pensar do ser na medida em que o pensar, apropriado
e manifestado pelo ser, pertence ao ser. O pensar , ao mesmo tempo,
pensar do ser na medida em que o pensar, pertencendo ao ser, escuta o
ser. Escutando o ser e a ele pertencendo, o ser aquilo que ele ,
conforme sua origem essencial. O pensar isso quer dizer: o ser
encarregou-se, segundo sua destinao, da essncia do pensar.11
Passemos segunda parte da citao da pgina 10. Ereignis,
acontecimento-apropriao: com este termo nomeada, e assim indicada ao
pensamento, a sua questo. O Gestell, como modo da aletheia, um preldio do
Ereignis. Ele nos permite, pela primeira vez, a experincia, no mediada pela
representao, do elemento em que o homem e ser mutuamente se essencializam.
Para compreendermos isso, para compreendermos como hoje nos dada uma
experincia at agora negada, e mais, para que possamos corresponder a essa
experincia, permitindo a entrada de nosso pensamento naquele elemento
simples que <se designa> no rigoroso sentido verbal o acontecimentoapropriao,12 necessrio o caminho de volta, die Kehre, o regresso quilo que
foi legado pela tradio em busca do que, ao mesmo tempo que a sustenta, a ela se
recusa como seu impensado.
11
12
Idem, ibidem, Sobre o Humanismo, p. 150.
Idem, ibidem, O Princpio de Identidade, p. 185.
19
Antes de entrarmos na relao que a questo do pensamento exige
deste para com a tradio e o seu legado, e a partir do at aqui apontado, uma
indicao muito geral se impe: necessrio afastar as leituras do pensamento de
Heidegger que o entendem como uma tomada de posio contra a tecnologia,
vendo nele algum modo de resistncia ao comportamento generalizado que,
fascinado pelo clculo e a planificao, negligencia o pensamento do ser e
compromete a essncia do homem. Sob esta tica, a essncia da tcnica aparece
como demonaca e o pensamento que resiste torna-se restauracionista (ou
conservacionista) do modo de ser autntico do homem. Sob esta tica, a
metafsica aparece como mera decadncia e o pensamento assume a misso de
fundar uma nova paideia (um novo projeto formador de um tipo de humanidade),
s que agora determinada por um outro modelo de homem, aquele que se presume
estar presente na origem e que, por isso, no estaria contaminado pela decadncia
metafsica: os gregos, e dentre eles, os mais puros, os pr-socrticos. Sob esta
tica, o que h de mais radical no pensamento de Heidegger passa inadvertido, e
se o faz cair na vala dos apelos ticos que so tanto mais impotentes quanto mais
investidos de indignao e urgncia de agir ou resistir. Pois se minimamente se d
ouvidos ao que Heidegger escuta no termo grego aletheia, imediatamente deverse-ia compreender que no se pode estar a favor ou contra de um modo de
desvelamento. O Gestell no uma ideologia ou uma opinio irrefletida, mas um
modo em que ser e homem mutuamente se essencializam. E o que decisivo: ele
o modo em que o impensado da Histria do Ocidente d-se ao pensamento e que
permite ao homem entrever exatamente isso: que ser e homem se essencializam
numa co-pertena, isto , mutuamente. Por isso, diz Heidegger, que o Gestell ,
caso ainda nos seja permitido falar assim, mais real(m)ente que todas
as energias atmicas e toda a maquinaria, mais real(m)ente que a
violncia da organizao, informao e automatizao. Pelo fato de
no encontrarmos mais no horizonte da representao, que nos
permite pensar o ser do ente como presena, aquilo que se designa
arrazoamento o arrazoamento no mais nos aborda como algo
presente, ele algo estranho.13
13
Idem, ibidem, p. 184.
20
Permitimo-nos aqui parafrasear Heidegger: Aquilo que se designa
arrazoamento (Gestell), no mais podemos encontr-lo no horizonte da
representao, pois ele no nos aborda como algo presente. E, entretanto, ele
mais real(m)ente que todas as energias atmicas e toda a maquinaria, mas
real(m)ente que a violncia da organizao, informao e automatizao. Ele
algo estranho.
Na estranheza com que nos aborda o Gestell, dada pelo fato dele no o
fazer como algo presente isto , como algo capaz de ser posto na posio de
objeto de uma representao e, entretanto, ser mais real do que qualquer ente
presente, mquinas, instituies ou regulamentos, reside o novo, aquilo
surdamente preparado pela histria do Ocidente, mas que ela, como metafsica,
no consegue pensar. Assim, a questo a se pensar a prpria essncia da
metafsica, aquilo que ela e que, entretanto, se vela a ela mesma como o
impensado no qual repousa.
bem verdade que esta estranheza pelo estado de coisas em que
homem e ser so lanados na nossa era, tambm o mbito em que se enrazam
os temores que fazem suspeitar que a tecnologia tenha uma natureza demonaca.
Pois, ao fazer aparecer de modo incipiente a imbricao homem/ser, naturalmente
o homem que se entende a si mesmo, em virtude da metafsica, como apenas o
outro do ser e que por estar protegido pela distncia de um olhar que o sobrevoa
pode, por isso, contempl-lo com iseno ou mesmo control-lo no
planejamento, sente a si, e ao prprio ser, perigosamente ameaados. O Gestell
como desvelamento pro-vocador abole a distncia neutralizadora que a theoria
desde sua origem experimentou, a saber, que o olhar da mente pode livremente
perscrutar o ser, uma vez que o ser est diante dele em sua presena, isto , tal
qual ele . Ao suprimir esta distncia, a essncia da tcnica experimentada como
um ameaador turbilho que no deixa o homem e o ser serem nas determinaes
em que at agora a metafsica os concebeu, parecendo lanar tudo numa crescente
nadificao. Aquilo que comumente se chama de niilismo o aspecto que a
essncia da tcnica oferece quando exclusivamente concebida a partir das
determinaes metafsicas de ser e homem. Tal aspecto, longe de franquear ao
pensamento o ingresso no que deve ser pensado, o interdita, acarretando uma
21
sensao de total impotncia, somente aliviada pelo clamor de mais urgentes e
indignados apelos ticos, clamor este que, em nossos dias, as mais das vezes,
esconde uma grande hipocrisia.
A origem como o impensado que sustenta nosso ser
e como a questo a se pensar
Retornemos natureza da relao que um pensamento disponvel ao
apelo do elemento simples nomeado sob o termo Ereignis deve manter com a
tradio, isto , com a metafsica. Heidegger diz que um passo de volta (die
Kehre) requerido. Este passo
se movimenta para fora da metafsica e para dentro da essncia da
metafsica. <...> Exige uma durao e perseverana cuja medida ns
no conhecemos. <...> Visto a partir dos dias atuais e assumido a
partir de sua compreenso, o passo da Tecnologia e da descrio e
interpretao tecnolgicas da nossa era para dentro da essncia da
tcnica moderna que ainda deve ser pensada. Com esta explicao
quer-se manter distncia a outra interpretao falsa da expresso
passo de volta, que facilmente se insinua; a saber, a opinio de que
o passo de volta consiste no retorno histrico aos primeiros
pensadores da filosofia ocidental.14
Com esta citao pretendemos dar nfase ao fato de que, para
Heidegger, a essncia da tcnica como preldio do Ereignis sempre o
horizonte no qual est inserida a volta aos pensadores gregos. Foram apontados
acima, a partir da estranheza com que nos aborda o Gestell, dois aspectos que
constituem as duas faces do mesmo fenmeno: de um lado, o assomar do mtuopertencer de homem e ser; de outro, a radical ameaa s concepes de homem e
de ser e tambm das diversas relaes entre elas afiguradasque a metafsica
nos legou e que ainda maciamente vigoram como inquestionveis. Atentemos
para este segundo aspecto do fenmeno: como possvel que o Gestell, que
14
Idem, ibidem, A Constituio Onto-teo-lgica da Metafsica, p. 193.
22
provm da metafsica, ao ponto do Heidegger afirmar que representa a
consumao das suas mximas possibilidades,15 possa vir a ameaar to
radicalmente os fundamentos na qual ela se erige.
Para isso, tentaremos
esclarecer, a seguir, como homem e ser foram pensados metafisicamente,
estabelecendo a dinmica relao do par homem/ser com a questo da aletheia
como desocultao ou desvelamento.
Aletheia diz em grego "des-velamento", privao de ocultao. Aquilo
que os romanos traduziram pelo termo veritas foi experimentado e nomeado pelos
gregos como um arrancar da ocultao que faz vir presena.
O que imediatamente foi experimentado como o que est presente foi,
incontestavelmente, os mltiplos e variados entes, aquilo que na aurora do
pensamento ocidental, com Parmnides de Ela e Herclito de feso, foi chamado
de ta dokounta, as aparncias, por aquele, e de ta panta, os muitos, pelo efsio.
Entretanto, a presena e a familiaridade da variada multiplicidade dos
entes apresentou-se como estando perpassada a todo instante pela ocultao, em
qualquer relao que com eles os homens estabeleciam.
Indagando ao orculo os desgnios do divino, invocando as musas
para fazer presente a gnese arcaica dos deuses e do cosmo, ouvindo do aedo os
grandes feitos em terras longnquas dos melhores entre eles, surpreendendo-se
com as revelaes do estrangeiro ao narrar o ethos de povos distantes, os mortais
interrogavam o ente e o experimentavam como tecitura de ocultao e
desocultao. At mesmo quando o olhar espraiava-se at o longnquo horizonte,
que parecia circundar a totalidade do que , o prprio limite (horos) insinuava um
alm que se oculta.
Embora estas experincias possam pertencer a um mundo que j se fechou
e que, muitas vezes estejamos inclinados a pensar como pertencendo infncia
15
Cf. idem, ibidem, O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento.
23
do Ocidente, elas tornam patente a ocultao, ocultao que talvez possa ser
expressa de modo mais familiar e, por isso, mais persuasivo aos nossos ouvidos
modernos. A experincia da tradicional tripartio do tempo em passado, presente
e futuro: que o que j foi, presente apenas na lembrana, mas no na percepo,
aparea crivado pela incompletude e eventual incerteza do que no mais
explorvel; de que, quando se trata do que no futuro aguarda, aquilo que ser, a
ocultao espreite com seu inquietante desassossego de esperana e medo; e que,
mesmo quando o ente est presente, e o que se demora, oferecendo a
segurana do imediatamente disponvel, a ocultao j esteja a instalada no
prprio demorar-se que se d num a cada vez e que guarda a iminncia de
deixar de ser, enfim, a experincia de que o ente esteja lanado no tempo assinala
uma precariedade da presena imediata dos entes. De outro lado, a constatao
de que o acesso aos entes que a dimenso espacial nos propicia no elimina o fato
de que eles se escondam uns aos outros (sob os modos da interposio,
sobreposio, interioridade e exterioridade, etc., etc.) evidencia um retraimento
permanentemente entremeado com a presena.
Diz Heidegger:
"Ser significa, desde a aurora do pensamento ocidental europeu at
hoje, o mesmo que pre-sentar."16
Ser diz pre-sentar. O que isso significa?: o sendo dos entes, isto
, sua presena, instaurada e mantida no aberto, graas aletheia. Porque o ente,
no imediato da nossa relao com ele, foi experimentado como perpassado pela
ocultao, a lethe, a presena precisou ser arrancada dela e estabelecida no
aberto que a aletheia, como desocultao do sendo dos entes, do ser. Assim, a
aletheia salva o ser do seu retraimento e o mantm presente, isto , o salvaguarda.
Em que resulta esta salvaguarda do ser? Ela indica ao pensar, quando se dirige ao
ente, a direo em que o ente deve ser abordado para que encontre aquilo que nele
consistente e perdura. Como se v, trata-se de um crculo: num primeiro
momento, o ser, arrancado da ocultao que permeia os entes salvaguardado
16
Heidegger, M., "Seminrio sobre Tempo e Ser", in Heidegger, col. "Os Pensadores", ed. Abril
cultural, So Paulo, 1984, p. 280.
24
pela aletheia; num segundo momento, isso j acontecido, quer dizer, o ser j
salvaguardado e estabelecido como aei on, o sempre presente, d-se dele passar a
ser concebido como a luz que desoculta os entes no que eles possuem de
permanncia e consistncia, indicando ao homem a direo em que deve olhar: ele
torna-se o fundamento da totalidade do ente. Se no primeiro momento a aletheia
referia-se ao prprio ser, no segundo, ela torna-se, como luz j garantida, uma
fora desocultante dos entes e do saber humano a eles referido.
Mas, esta luz do ser a mesma coisa que a aletheia? No requer a
aletheia, algo a mais, um plus, como acontecimento desocultante do ser? No o
pensar o encarregado deste a mais que arranca o ser da ocultao,
estabelecendo-o como presena e, assim, como direo segundo a qual os homens
podem encontrar o que perdura nos entes? Sim; mas quer isso dizer que a aletheia
uma obra do pensar humano? Mas, como o seria, se os mortais tm sua presena
to perpassada de ocultao quanto os demais entes? Como o seria, se eles
precisam j estar instalados na luminosidade do ser para sair do extravio em que a
ocultao dos entes permanentemente os tm lanados? Ser, ento, que a aletheia
um dom extraordinrio, e por isso divino, que traz ao aberto o homem, como o
ente que pensa o ser, e este, o ser, como aquilo que para ser pensado? Como
veremos, esta indicao que Heidegger vai encontrar nos fragmentos legados a
ns, atravs da tradio, pelos pensadores primeiros, Anaximandro, Parmnides e
Herclito.17 Neles aparece algo, que depois vai eclipsar em toda a tradio
metafsica que os sucede: a aletheia como acontecimento originrio que doa
pensar e ser e que, como vimos, a questo que assoma para o pensamento na
nossa poca.
Dela fala Heidegger em A Origem da Obra de Arte:
"No seio do ente na sua totalidade advm um lugar aberto. H uma
clareira. Pensada a partir do ente, ela tem mais ser do que o ente. Este
meio aberto no envolvido pelo ente, mas antes o prprio meio
17
As referncias mais imediatas so, fora o fragmento de Anaximandro, o fragmento 3 do Poema
de Parmnides (Pois, o mesmo pensar e ser) e o fragmento 50 de Herclito (No dando
ouvidos a mim, mas ao Logos, sbio concordar: um tudo).
25
coruscante que engloba como o nada, que mal conhecemos, todo o
ente.18
Que indica Heidegger com estas palavras? A aletheia, que engloba o
todo do ente, como seu meio coruscante, nomeada aqui de clareira (Lichtung).
Ao ouvirmos este termo, estamos rapidamente inclinados a associ-lo
experincia visual. Fazendo isso, a clareira compreendida como o resultado de
uma luz que ilumina e assim clareia os entes, ela compreendida como
claridade. Na sua conferncia O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento,
Heidegger chama a ateno para o seguinte:
A claridade, <...>, repousa numa dimenso de abertura e de liberdade
que aqui e acol, de vez em quando, pode clarear-se. A claridade
acontece no aberto e a luta com a sombra.
<...> O substantivo clareira vem do verbo clarear. O adjetivo
claro (licht) a mesma palavra que leicht <leve>. Clarear algo quer
dizer: tornar algo leve, tornar algo livre e aberto, por exemplo, tornar a
floresta em determinado lugar, livre de rvores. A dimenso livre que
assim surge a clareira. O claro, no sentido de livre e aberto, no
possui nada em comum, nem sob o ponto de vista lingstico, nem no
atinente coisa que expressa, com o adjetivo luminoso que
significa claro.
Isto deve ser levado em considerao para se compreender a diferena
entre Lichtung <clareira> e Licht <claro, no sentido de iluminado>.
Subsiste, contudo, a possibilidade de uma conexo real entre ambos.
A luz pode, efetivamente, incidir na clareira, em sua dimenso aberta,
suscitando o jogo entre o claro e o escuro. Nunca, porm, a luz
primeiro cria a clareira: aquela, a luz, pressupe esta, a clareira. A
clareira, no entanto, o aberto, no est apenas livre para a claridade e a
sombra, mas tambm para a voz que reboa e para o eco que se perde,
para tudo que soa e ressoa e morre na distncia. A clareira o aberto
para tudo que se presenta e ausenta.19
Clareira e claridade: Heidegger esfora-se em apontar uma
diferena entre ambas e em mostrar que a primeira, a clareira, condio da
segunda, a claridade, e no o contrrio. Da clareira, pode se dizer que o seu
18
Heidegger, M., A Origem da Obra de Arte, trad. Maria Conceio Costa, Edies 70, Lisboa,
1990, p. 42. Retomaremos adiante a questo de se o ser, como meio coruscante que engloba o ente,
o mesmo que o nada, do qual Heidegger afirma, nesta passagem, ser mal conhecido por ns.
19
Heidegger, M., "O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento, in Heidegger, col. "Os
Pensadores", ed. Abril cultural, So Paulo, 1984, pp. 76 e 77.
26
oposto, no a sombra ou a escurido, o seu oposto a floresta fechada e densa,
onde a luz no incide, nem o som se espraia: as dimenses abertas do claro e do
escuro, do intenso e do imperceptvel, ali no se desdobram. Acompanhemos a
imagem da clareira na floresta, elevando o que ela sugere condio de
experincia do pensamento. Fazendo isso podemos conceber a floresta densa e
fechada, em meio qual a clareira se abre, como o nada, que mal conhecemos.
Costumamos pensar o nada como vazio ou ausncia completa de ente, mas
deixemos que a imagem nos conduza: a floresta fechada aquilo absolutamente
prenhe, denso a tal ponto que no permite dimenso espacial alguma onde, no
somente o claro ou o escuro, mas tambm o som, baixo ou forte, possam aparecer.
Nela, qualquer diferena carece do espao de apario necessrio para um
mostrar-se. O que nos interessa nesta experincia de pensamento ressaltar a
relao que, desde os primrdios do Ocidente, anima o par ser/aletheia,
ser/aparecer. Ser pre-sentar, diz Heidegger. A todo presentar-se, mas tambm,
a todo ausentar-se, necessrio um aberto. A indicao da floresta fechada como
o nada que circunda a clareira (que por sua vez, garante a presena dos entes)
nos conduz a pens-lo, no como falta de ente, como vazio, mas como o
fechamento da dimenso necessria para todo aparecer e se ausentar. O nada aqui
pensado, poder-se-ia dizer, por demais prenhe de ente. E, entretanto, nem por
isso deixa de ser o nada; pois adivinha-se como a completa lethes, quela qual
falta o privativo da a-letheia, da des-ocultao.20 21 claro que, na literalidade
do fenmeno da floresta fechada (j elevado pelo pensamento concepo de um
fechado absoluto), a dimenso a que se alude a dimenso espacial, sem a qual
tropos qualquer poderia acontecer. Poder-se-ia argumentar que o pensamento,
como pretensa res cogitans, isto , sem precisar ocupar espao algum, poderia
imiscuir-se nesse buraco negro, percorrendo o ser dos entes nele abrigados e,
mesmo assim, conhecer o essencial deles. Pois, afinal, mesmo sem aparecer, no
20
No fim do seu ensaio A Doutrina de Plato sobre a Verdade, Heidegger fala de ter chegado a
hora de podermos considerar o elemento positivo que guarda o alfa privativo prprio da a-letheia.
O desdobramento da metfora da floresta caminha nesta direo.
21
O caminho para se pensar o nada que aqui sugerido, nos leva ao que Heidegger nomeia no fim
do seu seminrio Tempo e Ser como Enteignis: o no-acontecer des-apropriador. (Cf. idem,
ibidem, p. 270). Como ver-se-, nossa interpretao do no-ser parmendico aponta neste sentido.
27
se trata de entes, de coisas que so? Mas, ao fazermos isso, no estamos
pressupondo um outro aberto, uma outra clareira?22 Diz Heidegger:
Em toda parte, onde um ente se presenta em face de um outro que se
presenta ou apenas se demora ao seu encontro; mas tambm ali, onde,
como em Hegel, um ente se reflete no outro especulativamente, ali
tambm j impera a abertura, j est em jogo o livre espao.23
Tudo isso a respeito da aletheia como clareira. Mas, e com respeito
claridade, como as coisas se passam? O seu oposto o sombrio e escuro. Entre a
claridade e eles h, sem dvida, uma gradao, mas esta gradao no exaure a
riqueza doadora do aberto: mesmo na noite mais escura, o som se faz ouvir. E
entretanto, toda a tradio metafsica fala em termos de luz, luz do ser ou luz
da razo. As consideraes que Heidegger faz neste pequeno fragmento so
necessrias exatamente por isso, porque em todo lugar a clareira foi tomada como
claridade. isso uma negligncia da metafsica? Vejamos a indicao que
Heidegger nos d na citao de A Origem da Obra de Arte. Diz ele: pensada a
partir do ente, ela <a clareira, aletheia> tem mais ser do que o ente.
Para introduzir o esclarecimento desta indicao, permitimo-nos
repetir uma afirmao que fizemos acima. Dissemos: trata-se de um crculo; num
primeiro momento, o ser, arrancado da ocultao que permeia os entes
salvaguardado pela aletheia; num segundo momento, isso j acontecido, quer
dizer, o ser j salvaguardado e estabelecido como aei on, o sempre presente, d-se
dele passar a ser concebido como a luz que desoculta os entes no que eles
possuem de permanncia e consistncia, indicando ao homem a direo em que
deve olhar: ele torna-se o fundamento da totalidade do ente. Se no primeiro
22
De fato assim como pensa a metafsica moderna, desde que o homem, como diz Withehead,
libertou-se dos grilhes da espacialidade, com o abandono da geometria em favor da lgebra. A
reduo de tudo o que mensurao algbrica de relaes pode suscitar a aparncia de que o ser
emancipou-se de todo aparecer. E, entretanto, o que de fato acontece um deslocamento do lugar
onde se produz a aletheia, sempre aqui pensada como clareira. Se em toda metafsica clssica a
aletheia concebida como o dom de um ente supremo acima de ser e pensar (Deus), na metafsica
moderna ela ser produzida no seio da razo, aqui entendida como subjetividade. Entretanto, os
prprios termos recorrentes da metafsica moderna, tais como introspeco, representao,
fenmeno, etc., etc., testemunham inequivocamente um mostrar-se, um aparecer.
23
Idem, ibidem, p. 77.
28
momento a aletheia referia-se ao prprio ser, no segundo, ela torna-se, como luz
j garantida, uma fora desocultante dos entes e do saber humano a eles referido.
Em outras palavras, com a visada para o ser, estabelecido como o eterno e
imutvel, d-se uma espcie de inverso, onde o ser, como que num revide, faz
com que ele, ser, que antes era o que se retraia, aparea como o que concede aos
entes sua presena e franqueia o nosso acesso a eles. O ser torna-se a luz sempre
presente que mantm os entes em sua presena, na medida em que esto presentes.
A metafsica o esquecimento do desvelamento do ser como
acontecimento. Quando aqui se fala em acontecimento, deve se ter em mente a
sbita ecloso que faz presente o ser como o que perdura. Um olhar para a
aletheia do ser, exigiria do pensamento atentar para essa subitaneidade e esse
perdurar que falam na vinda presena do prprio ser, quer dizer, atentar para o
tempo. Mas que tempo? No o tempo como imagem mvel da eternidade,
segundo o nmero, de que nos fala o Timeu de Plato. Este tempo no questiona
o sempre do sempre presente do ser, que se fecha interrogao, sob o nome
de eternidade; no questiona tampouco o eksaiphnes, o instante repentino e
surpreendente que trouxe o ser presena, e que no o instante entendido como
o agora, retirado do fluxo temporal, com que se pensou a noo de eterno. Enfim,
a metafsica no questiona o pensamento como o stio onde o ser se desvela: a
clareira.24 Como veremos, este ser o caminho da indagao da aletheia, como
desvelamento do ser, que se impe a Heidegger, caminho difcil, mas rico de vias
jamais trilhadas pela metafsica. Esta, em lugar de se orientar para o
acontecimento do ser, o pe como fundamento, olhando exclusivamente para
aquilo que, subjacente aos entes que vm e vo, que passam nessa imagem
mvel da eternidade que o tempo, no passa, isto , para o que permanece
sempre. Assim, o ser acontece na metafsica como hypokeimenon, hypostasis,
sub-stncia. Nasce a metafsica como ontologia, como o saber do ente enquanto
ente (on he on). Vejamos isso mais detidamente.
24
Pela expresso stio deve entender-se aqui o a do ser, o da do da-sein. Enquanto o
pensamento concebido como faculdade do animal homem, isto , como faculdade de um ente, o
acesso ao que aqui est sendo visado, permanece interditado. Se o pensamento experimentado a
partir dessa dimenso de tempo impensada pela metafsica, ele no pode ser concebido
temporalmente, isto como ente no tempo. Diz Heidegger em Tempo e Ser: Ser uma questo,
mas nada de entitativo. Tempo uma questo, mas nada de temporal. (Cf. idem, ibidem, p. 259).
29
A determinao do saber acerca do ser como ontologia comea com o
modo de interrogao socrtico o ti esti, isto , atravs da compreenso do
que como sendo o geral, o comum (koinon) a uma multiplicidade de entes que
partilham de um certo trao, um certo aspecto (eidos). Esta pergunta, que
primeiramente foi endereada a um certo tipo de ente, e que encontrou o comum
como o subjacente sempre presente nesse tipo de ente , assim, como o seu ser,
alargada totalidade dos entes, levantando-se agora a pergunta pelo mais geral,
pelo indiferenciado que tudo perpassa, que permanece sempre e em toda parte. O
ser assim compreendido ser aquele um (hen) em direo ao que o pensamento
(logos) deve conduzir a multiplicidade (ta panta), previamente visada pelo
logos.25
Segundo Heidegger, com o equacionamento entre a questo do ser e a
questo da "entidade do ente" (on he on), isto , com a referncia obrigatria do
"" do ente para se pensar o "" do ser, aquilo que primeiramente se desvela o
ente cativa a ateno do pensamento de forma to excludente que o ser
"pensado, a partir do ente" como diz Heidegger, na citao que estamos
esclarecendo, "parece possuir mais ser do que o ente". Este "a mais" que a
aletheia reclama para si, sempre "pensada a partir do ente", se expressa na
postulao de um ente supremo, o ente mais ente entre todos que, em razo disso,
possui o atributo de conceder ser e verdade totalidade do que .26 Como
veremos, deste modo a aletheia deixa de ser pensada como originria, para passar
a ser o dom desse ente supremo. Este modo de compreenso que Heidegger
nomeia de "ontoteologia" 27 interdita a possibilidade de pensar o que a aletheia
25
Fao aqui referncia ao famoso fragmento 50 de Herclito de feso, que ser deste modo
interpretado pelo pensamento metafsico. Uma outra interpretao nos ocupar mais tarde.
26
Como veremos, na anlise que nos ocupar mais tarde das passagens conhecidas sob o nome de
"Doutrina do Bem" na Repblica de Plato, isto que o Bem (to agathon) concede totalidade do
ente: ser e aletheia.
27
Com esta expresso --"onto-teo-logia"-- Heidegger quer apontar uma trade que, tendo no
vrtice superior um ente supremo (ontoteologia), garante que o ente (ontoteologia) seja plenamente
presente e, assim, acessvel ao conhecimento humano (ontoteologia). Trata-se, em toda
ontoteologia --e este termo sinnimo de metafsica-- de que o homem se assegure de que o ente
esteja bem fundado a partir de um ente supremo concebido como fundamento. Esta estrutura
triangular comear a ser decisivamente minada com a filosofia moderna de Descartes, no
momento em que, pela primeira vez, a atividade reflexionante expressa no cogito me cogitare
concebida, no seu acesso e na sua certeza, como sendo anterior idia de Deus, nas Primeira e
Segunda Meditaes. O movimento historial da filosofia moderna mostra como a morte de Deus
30
possui de mais prprio, a saber, a sua essncia como acontecimento, como gesto
que doa, um poder produzir e dar a compreenso do ser que nos permite alcanar
todo e qualquer ente. Em lugar do enunciado "o ser ", Heidegger prope "d-se
ser", onde o ser agora pensado como um dom, algo que liberado e que,
entretanto, permanece regido por uma origem que se reserva na exata medida em
que libera.28
aletheia como "gesto que doa", Heidegger chama de "destinar".
Acerca deste, o pensador afirma:
"O destinar no destino do ser <> caracterizado como um dar, em que
aquilo que destina retm-se a si mesmo e nesta suspenso
se subtrai desocultao." 29
Para Heidegger, todo desvelamento mostrou-se como destinador, isto
, doando com o ente uma compreenso do ser a "luz" sob a qual o ente
compreendido como sendo. Entretanto, esta doao se faz de maneira tal que essa
prpria luz guarda, como o que lhe mais ntimo, o velamento de sua origem e
assim o "" do ser no aparece como doao, mas como "sendo" na modalidade
do ente, do que ali est. esta a razo pela qual Heidegger afirma que todo modo
de desvelamento carrega perigo,30 a saber, o perigo que provm do fato de que a
coincide com o niilismo --a morte da verdade do ente, nos diz Martin Heidegger em seu ensaio
A Superao da Metafsica--, coincidindo tambm com a morte do pensar como objetividade,
isto , do defrontar-se com o objeto posto pelo pensamento, que exprime o prefixo latino ob, e que
ainda assegurava a diferena entre ser e pensar. No movimento aspirante da vontade de vontade,
tanto o homem como besta de trabalho, quanto o ente em seu carter de ser nadificvel, ficam
reduzidos a condies do querer da vontade, sendo absorvidos na homogeneidade do fundo. Este
quadro, para Heidegger o da filosofia de Nietzsche, realiza a destinao oculta em aquela estrutura
triangular que caracterizava a ontoteologia, colocando para os que vieram depois a questo do fim
da metafsica.
28
Cf. Heidegger, M., "Tempo e Ser", in Heidegger, op. cit.
29
Idem, ibidem, p. 269. Uma outra formulao da mesma conferncia diz: Um dar que somente
d seu dom e a si mesmo, entretanto nisto mesmo se retm e subtrai, a um tal dar chamamos:
destinar. (Cf. op. cit., p. 261.)
30
O destino do desvelamento como tal est em cada um de seus modos: necessariamente
perigo. Seja qual for a forma em que o destino do desvelamento exerce sua potncia, a no
ocultao, na qual se mostra a cada vez aquilo que , oculta o perigo de que o homem se perca em
meio ao no-oculto e que o interprete mal. <...> O destino do desvelamento no , nele mesmo, um
perigo qualquer, ele o perigo. (Essais et confrences, p. 35-36 )
31
compreenso do ser sob a qual o ente vem a nosso encontro seja, por causa do
velamento inerente a todo modo de desvelamento, experimentada muito
facilmente como sendo nica e exclusiva e no como uma ddiva que jamais
exaure o "gesto" doador.
bastante conhecida a frmula heideggeriana que aponta "o
esquecimento do ser" como aquilo que impera na metafsica. A compreenso da
aletheia como "gesto que d ser" oculta-se para a metafsica em favor de uma
srie de transformaes do ser que pode ser verificada historiograficamente: o ser
como
"o Hn, o unificante nico-uno, como o Lgos, o recolhimento que
guarda o todo, como a ida, ousia, enrgeia, substantia, actualitas,
perceptio, mnada, como objetividade, como formalidade do impor-se
no sentido da vontade, da razo, do amor, do esprito, do poder, como
vontade de vontade, no eterno retorno do mesmo."31
Se to repetidas vezes encontra-se entre os filsofos da tradio um
procedimento "corretivo" das interpretaes da "entidade do ente" a eles legadas
penso em Plato quando, no dilogo Sofista, afirma que sobre o ser no se deve
contar histrias, condenando implicitamente a forma de abordagem da questo
ensaiada pelos pensadores pr-socrticos, em Kant e sua caracterizao da
metafsica precedente como dogmtica, e mesmo em Husserl e seu diagnstico da
filosofia que lhe antecede como estando ainda presa "atitude natural", para citar
s alguns exemplos, procedimento que acompanha e alimenta as esperanas de
que por fim se possa, se no resolver definitivamente os impasses at a
acumulados, pelo menos assentar as bases para uma resoluo futura dos mesmos,
isso encontra sua causa no ativo velamento da aletheia, velamento que induz o
homem a pensar que o sentido do ser algo que pode ser descrito adequadamente,
contanto que se seja suficientemente rigoroso no seu tratamento. Em outras
palavras, na base da pretenso de toda metafsica de descrever adequadamente o
ser (a entidade do ente), corrigindo as descries inadequadas que o pensamento
precedente fez, encontra-se a suposio de que o do ser seja semelhante ao
31
Idem, ibidem, p. 260-261.
32
de qualquer ente. Para a metafsica, o ser algo que est a, de modo acessvel,
tal como os entes a esto, s que este, diferentemente daqueles, sempre sujeitos
ao devir, permanente, uno e o mesmo ao longo de todos os tempos. esta
consistncia absoluta do ser, esse estar a, sempre idntico a si mesmo, o que foi
destinado a Heidegger como questo a ser interrogada: a essncia impensada da
metafsica.
Para Heidegger ser acontece. Cabe, entretanto, perguntar: este
acontecimento um acontecer do mesmo tipo que o acontecer dos entes?
Certamente no. A determinao do acontecer dos entes supe um tempo e um
espao como fundo a partir de onde ela realizada. Diferentemente, o acontecer
do ser traz consigo simultaneamente um acontecer de tempo e de espao,32
acontecimentos estes que apresentam uma imbricao essencial, uma imbricao
que no comporta as relaes de fundamento e fundamentado, de anterioridade e
posterioridade, de causa e conseqncia.
Cada uma das "figuras" que o ser assumiu desvelou, a seu modo, o
ente, engajando os homens na perspectiva desse modo de desvelamento, e isso do
modo mais largo e abrangente, isto , a cada encontro e posicionamento, seja este
prtico ou terico, pensado ou impensado. O que ns chamamos de "histria
mundial" as diversas "constelaes culturais" que foram cronologicamente se
sucedendo, encontra sua mais profunda determinao no numa causalidade
entre eventos, fatos e contextos simblicos, mas na sucesso de figuras do ser
que, a cada vez, e de formas diversas, franquearam o encontro do homem com o
ente em geral e com o ente que ele mesmo, em particular. a esta sucesso de
figuras do ser que damos o nome de historialidade. Se se compreende o que
aqui est em questo, percebe-se que a noo de histria, ou de processo histrico,
no pode dela dar conta. Ao contrrio, estas noes, tais como tantas outras (a de
32
por esta razo que, por exemplo, qualquer tentativa de projetar no mundo grego a
compreenso de tempo linear mensurvel que organiza nossa historiografia, ou a compreenso de
espao vazio, homogneo e infinito, caracterstica da fsica newtoniana, interdita toda possvel
aproximao dele, trazendo como resultado uma espcie de caricatura, entre o infantil e o insano,
que nada tem a acrescentar ao que j sabemos. Se isto vale, de forma to patente para o mundo
grego, no acontece de modo diferente quando tentamos nos aproximar, sem qualquer
desarmamento, do mundo cristo ou, at mesmo, do projeto das Luzes. Sempre o resultado
assemelha-se a grosseiras pardias.
33
que h objetividade nos fatos, ou a sua adversria, a de que todo fato produto de
uma interpretao, por exemplo), s vieram tona no mbito aberto pela
metafsica moderna. Pretender com elas retraar causalmente as sucessivas figuras
do ser simplesmente no compreender o que aqui est em questo.
por esta razo que se pode afirmar que o pensamento de Heidegger,
a despeito das muitas incompreenses que o cercam, no um pensamento
"crtico" da metafsica. Diz ele:
"O pensamento de Plato no mais perfeito que o de Parmnides. A
filosofia hegeliana no mais perfeita que a de Kant. Cada poca da
filosofia possui sua prpria necessidade. Que uma filosofia seja como
, deve ser simplesmente reconhecido. No nos compete preferir uma
a outra, como possvel quando se trata das diversas vises de
mundo." 33
Heidegger no concebe seu pensamento o dilogo que ele
estabelece com a tradio na tentativa de trazer luz o que nela permaneceu
impensado como um marco que o separaria de toda filosofia anterior, pelo
pretenso fato de ter sido suficientemente perspicaz para enxergar algo que sempre
fora negligenciado. Pelo contrrio, para ele o pensamento somente pode
corresponder a um envio e, neste sentido, tanto o dito esquecimento do ser, quanto
o fato de que este tenha, pela primeira vez, se anunciado como tal mesmo que
timidamente, ambos acontecimentos devem encontrar sua possibilidade no
modo de desvelamento que impera em nossa era: o Gestell.
Qui grande parte dos mal-entendidos na relao entre Heidegger e a
tradio poderia ser evitada ao prestar-se ateno caracterizao que ele faz da
nossa poca: esta a era do "fim da metafsica". Na sua conferncia "O Fim da
Filosofia e a Tarefa do Pensamento", Heidegger esclarece que pelo termo "fim"
no devem ser compreendidos nem a mais alta perfeio possvel, nem o simples
cessar de um certo modo de pensar. Nessa expresso, "fim" significa a
consumao das mais altas possibilidades da metafsica, a sua "concentrao nas
33
Heidegger, M., "O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento", in Heidegger, op. cit., p. 72.
34
possibilidades supremas". O que isso quer dizer? Segundo Heidegger, a filosofia
atingiu o seu estgio terminal com a inverso da metafsica ensaiada por
Nietzsche que acompanha, no seu sentido, poderamos acrescentar, a inverso
da metafsica iniciada por Marx e Kierkegaard. Depois destes empreendimentos
"toda tentativa que possa ainda surgir no pensamento filosfico no passar de um
renascimento epigonal".34 A metafsica no se consuma em nenhuma filosofia,
mas nas cincias tecnicizadas da contemporaneidade. So estas as que
representam as mximas possibilidades que a ela, na medida em que foi
determinada pelo esquecimento do ser, estavam reservadas. Certamente
permanece indeterminado, nesta situao, se uma nova aurora pode nos alcanar
ou se o universo da tcnica prolongar o seu domnio na repetio que substitui o
novo pelo mais novo.
O que autoriza Heidegger a falar em "fim da metafsica", isto , no
cessar da sucesso de destinaes do ser que a origem at agora dispensou?35 A
nossa era constitui a consumao da metafsica somente porque aquilo que at
hoje se reservou a ela e que era, exatamente por isso, o seu tesouro, a fonte
secreta que libera e rege aquelas destinaes, comea a assomar. Como isso
acontece?
Dissemos acima que inerente a todo desvelamento um velamento
insupervel que protege e reserva para o desvelado a fonte de seu desvelamento.
neste estado de coisas que reside o perigo: que o homem se perca em meio ao
desvelado e no atente para a compreenso que franqueia o encontro com o ente
como o que lhe foi concedido graas a algo que simultaneamente se recusa a
apresentar-se, reservando-se. A errncia este perder-se em meio ao ente ou, o
que o mesmo, este compreender o ser entitativamente faz parte essencial do
desvelamento. Para trazer fala esta essncia ambgua de todo desvelamento, este
simultneo acontecimento de doao e reteno, Heidegger toma de emprstimo a
palavra do poeta alemo Hlderlin:
34
Idem, ibidem.
35
O verbo dispensar alude sempre aqui a acepo de conceder, doar, conferir.
35
Mas, a onde h perigo, ali mesmo
Cresce o que salva
Quando a errncia acontece e a metafsica a histria deste
acontecimento o homem no escapa do mbito de alcance das diversas
destinaes do ser. Ao contrrio, o homem sempre, quer ele o saiba, quer no,
aquele para quem as diversas figuras do ser se endeream, ao ponto de receber
destas tambm a "luz" sob a qual ele compreende a sua prpria essncia, o seu
prprio ser. Em outras palavras, o desvelamento, ao franquear o acesso ao ente,
concedendo uma compreenso do sentido do ser, tambm, e conjuntamente,
concede uma compreenso do que seja esse ente singular que o homem. Esta
dupla concesso, que o desvelamento propicia, encerra uma harmonizao, um
pr de acordo de ente e homem. O dizer mais originrio deste acordo e,
certamente por isso, o que mais ecoou ao longo da tradio ocidental
reapropriado sob a forma da interpretao platnica da relao entre ser e pensar
que desaguar, depois de dois mil e quinhentos anos, na interpretao hegeliana
da identidade entre o racional e o real o to gar auto noein estin te kai einai de
Parmnides "o mesmo pensar e ser", na traduo usual.
Para Heidegger, toda destinao do ser harmoniza o ente e o homem
tornando-os "um para o outro". O desconhecimento do carter destinador de todo
desvelamento de forma alguma libera o homem desta harmonizao; ao contrrio,
quanto mais acontece semelhante velamento, mais o ser como destinao
endereada ao homem o pe em acordo com o ente, mas de tal forma que o
homem percebe esse modo de compreenso do ente e de si mesmo como
evidente, nico e inelutvel e, consequentemente, ele perde assim a possibilidade
de estabelecer um relacionamento livre36 com ele.
Como veremos, segundo Heidegger, a essncia da tcnica moderna
concentra esta ambigidade num sentido eminente. Ela provoca o que a se
mostrar, por todo lado, como calculvel, isto , como fundo disponvel para o
36
Livre aqui quer indicar a correspondncia ao apelo do que vigora, correspondncia que exige
um olhar que desassombradamente v e docilmente escuta. Exige, antes de mais nada, o abandono
de toda urgncia de agir. Esta liberdade est muito longe da autodeterminao da vontade a partir
da distino entre ser e dever ser. Ela guarda a possibilidade do autenticamente novo.
36
trabalho que, num processo de remisses sucessivas assegura o movimento. No
domnio aberto por ela, nenhum ente no sentido daquele erigir-se que Plato
compreendeu, nas origens da metafsica, como concedido pela idia. Todo erigirse e demorar-se, nesta ou naquela configurao, passa a ser experimentado pelo
homem como algo que mascara o que propriamente , a saber, a homogeneidade e
disponibilidade do fundo indeterminado. Mas, a provocao prpria do Gestell,
por sua vez, tambm acaba por alcanar o homem sob a figura daquele que dispe
e encomenda esse fundo e o compele a persistir neste papel num movimento
frentico. O humanismo extremo, representado pela figura moderna da vontade
soberana, acaba cedendo lugar figura do funcionrio, uma vez que o Gestell
conduz o homem a compreender-se a si mesmo como sendo mais um componente
do fundo, isto , como sendo apenas algo necessrio para que o movimento de
remisses se efetive, devendo estar, como tudo o mais, a postos para cumprir sua
funo.37
Entretanto, o mximo perigo no reside no fato de que a vontade
soberana fenece diante do funcionamento. Antes, ele se encontra no movimento
insistente de querer restitu-la. Pois o pensamento contemporneo movimenta-se
pendularmente entre os extremos da potncia e impotncia, sem sequer vislumbrar
que, neste movimento, ele sacrifica qualquer viso sobre o desvelamento.38 Se a
filosofia tornou-se ou uma cincia aplicvel penso nas diversas formalizaes
que a logicizao da linguagem propiciou abrindo para ns o mundo de controle
da informtica, mas tambm na demanda de "reflexo tica" por parte de
empresas, fenmeno cada vez mais freqente e nada desprezvel no seu
significado ou seno, manifestamente, um artigo de erudio ou, at mesmo, de
"cultura geral", isso no faz mais do que testemunhar o seu fim e alertar para o
que Heidegger nomeia de "mximo perigo": a ameaa radical da possibilidade de
um relacionamento assumido com a aletheia.
37
Como j foi vrias vezes indicado, a sancionada expresso Recursos Humanos, que passou a
nomear os antigos Departamentos de Pessoal nas organizaes empresariais, mostra cabal
desta situao.
38
Os diagnsticos clnicos para os sofrimentos psicolgicos de nosso tempo parecem-me, em
geral, muito significativos, se pensados a partir do horizonte da essncia da tcnica
contempornea. Tenho em mente, a este respeito, a rpida variao, entre estados anmicos
depressivos e eufricos, que acomete grande nmero de pessoas.
37
E, no entanto, enraizado nesta situao que "cresce o que salva".
Pois, pela primeira vez, e graas ao elemento provocador do Gestell o fato dele
submeter o conjunto da humanidade sua lgica, a despeito de todos os
escrpulos ou temores que se possam aventar diante de cada empreitada
tecnolgica, assoma para o aberto a possibilidade de que o homem atente para a
sua essncia: o fato de ser o destinatrio de um envio que o engaja num apelo. A
provocao da tcnica moderna que coage poderosamente o homem, ao ponto
dele se experimentar a si mesmo como que "sugado" pelo turbilho do progresso,
permite pela primeira vez a experincia de algo do qual ele no dispe. Conjunta e
solidariamente com isso, a completa aniquilao do ente no sentido da poiesis,
do erguer-se e repousar numa configurao faz com que esse "algo" do qual o
homem no dispe no possa mais ser pensado entitativamente, seja no modo do
Deus metafisicamente concebido, seja no modo, ainda metafsico, da dominao
de classe ou da imposio de foras mais afirmativamente vitais. Em outras
palavras, a essncia da tcnica moderna que, pela primeira vez, permite que o
ser seja experimentado como o dom de um destinar endereado ao homem e que,
por sua vez, a essncia deste ltimo seja compreendida na simplicidade de ser ele
o destinatrio desse envio.
38
1
Ser e Pensar I:
A Doutrina da Anamnesis no Mnon de Plato
A metafsica nos presenteia, no dilogo Mnon de Plato, com uma
das primeiras formulaes da relao entre ser e pensar. O dilogo inicia-se com
uma pergunta que Mnon enderea a Scrates: a virtude ensinvel? Face a ela,
Scrates se declara incapaz de responder primeira, e fundamentalmente, em
razo de sequer saber o que seja a virtude, saber que seria necessrio possuir
para examinar sobre solo firme a prpria questo a ele endereada, uma questo
que versa acerca de um dos atributos da virtude, o de ser ou no ensinvel.39
Mnon, que considera a declarao de ignorncia de Scrates uma impostura
pois, pensa ele que qualquer cidado sabe o que a virtude , afinal Grgias
cansara de discursar sobre ela, passar da condio de quem interroga para a
de interrogado. Assim, ele, que acabara de declarar saber o que seja a virtude, se
ver obrigado, a partir desse momento, a responder as indagaes de Scrates.40
D-se incio, ento, a um procedimento que procura trazer luz o que seja a
virtude aquilo que estando presente em tudo o que reconhecemos como
virtuoso, responsvel por este seu carter; procura-se a definio de virtude, o
comum (koinon) a tudo aquilo que chamamos de virtuoso.
39
Plato, Mnon 71 b. Scrates afirma que no se pode dizer algo acerca de uma coisa, sem se
saber o que a coisa (ti estin). E logo a seguir, ilustra o problema perguntando se algum que no
conhece Mnon, poderia dizer se ele belo, rico ou nobre, ou o contrrio desses atributos. Nesta
exemplificao se anuncia j o caminho de pensamento que Plato percorrer com sua teoria das
idias. Porque a coisa em questo, aquela da qual se pergunta um atributo (se ensinvel ou
no) um universal, e no um particular como Mnon, o exemplo socrtico sugere que para se
saber o que seja a virtude dever-se-ia ter um acesso direto a ela, assim como quem conhece Mnon
possui um acesso direto a ele, atravs dos sentidos. A virtude, assim como Mnon, comea a se
delinear como algo que no modo do um, do indivduo (hekaston), embora, como veremos, para
quem olha em direo ao sensvel somente se possa indicar essa unidade atravs de um tipo de
recoleo (logos) com vistas ao geral ou comum.
40
A rigor, Mnon pergunta a Scrates se considera que, por exemplo, Grgias, o grande sofista,
no sabe o que seja a virtude, diante do que Scrates responde estar desmemoriado em relao
quilo que Grgias diz ser a virtude, pedindo ento a Mnon para lhe relatar o parecer de Grgias.
39
A primeira parte desse dilogo, poder-se-ia dizer, constitui uma espcie
de propedutica questo. Trata-se de esclarecer o que Scrates espera por uma
resposta formalmente boa, isto , uma resposta que, independentemente da
questo especfica focalizada se a virtude, a coragem, a retrica, ou a
amizade, e tambm a despeito da definio especfica que se proponha para a
questo visada, compreende que justamente isto, uma definio (horismos), o
que est sendo pedido na pergunta.41
Para quem pela primeira vez toma contato com os dilogos
platnicos, o aspecto indito deste modo de interrogao costuma passar
despercebido. De fato, depois de dois milnios e meio de metafsica, estamos
inclinados a pensar que a resposta diante da pergunta: o que isto? ou que
cor esta?, comporta imediata e naturalmente uma determinao conceitual do
que est sendo interrogado. Se, num passo alm, se pergunta em que consiste o
conceito que acabamos de aplicar ao indivduo particular, contamos com o
dicionrio que nos dar a definio do mesmo: aquilo que necessrio estar
presente no indivduo para que, de direito, possa ser subsumido no conceito
em questo. Entretanto, o que pede como resposta este modo de interrogao
o ti estin no para os interlocutores socrticos algo bvio e evidente. Que
assim seja testemunha o prprio esforo platnico em elucidar o sentido da
questo levantada. Os chamados dilogos socrticos, os dilogos platnicos da
juventude, ocupam-se, em boa parte, do esclarecimento de que o que se exige
que seja apontado quando se pergunta pelo ser de algo, aquilo que se pede
para que seja separado do ente interrogado o que a coisa deve ser
compreendido como o comum a tudo aquilo que chamamos ou qualificamos
com esse termo, ou seja, aquilo que a definio expressaria. Esse koinon o que
depois foi chamado de universal e mais modernamente de conceito o
41
Como se sabe, a primeira resposta de Mnon pergunta socrtica consiste na apresentao de
um elenco de virtudes, onde o que seja cada item depende da atividade em questo e da idade do
personagem que a executa: <...> a virtude de um homem isto --que seja competente para
conduzir os negcios da cidade <...>; a virtude da mulher <...> bem-administrar a casa <...> e
obedecer ao marido; a virtude para a criana <...>. Diante desta resposta Scrates, com toda
ironia, se mostra admirado pelo fato de ter pedido uma virtude, a virtude, e ter recebido por
resposta um enxame de virtudes. Deste modo comea a elucidao da forma que deve possuir uma
boa resposta para a pergunta ti estin. O elemento formal da tematizao fica claro pelo fato de que
o prprio Scrates desloca a pergunta pela virtude para a pergunta pelo que seja uma figura, com o
objetivo de mostrar a Mnon qual a forma correta de uma resposta.
40
que Plato identificar como o ser da coisa em questo e que, nos dilogos de
maturidade, identificar com a idea, o ente inteligvel responsvel pelo aspecto
(eidos) da coisa, pela sua determinao como sendo isto ou aquilo.42 A idia
platnica ser, como princpio de determinao, princpio do ser dos entes pelos
quais ela responde, ser compreendido aqui como o que a coisa (o ti do ente),
aquilo que mais tarde na escolstica chamar-se- de quidditas, quididade.
O Mnon frequentemente considerado um dilogo intermedirio entre
os socrticos e os da maturidade. Ele , sob essa perspectiva, o ltimo dos
dilogos socrticos e o primeiro dentre os da maturidade. Em comum com
aqueles, apresenta o fato de ser aportico: o procedimento de procura da
definio no chega a bom termo, uma vez que nenhuma das definies que
Mnon adianta resiste ao exame socrtico, mostrando-se rapidamente
insatisfatria. Depois de vrias tentativas fracassadas, Mnon acaba por
reconhecer que, de fato, ele tampouco sabe o que seja a virtude, diante do que
Scrates no parece desanimar-se. Antes, sua atitude a de encorajar seu
interlocutor a procurar saber aquilo que no sabe neste caso, o que a virtude.
justamente nesse momento que Plato introduz, pela fala de Mnon, uma
compreenso da relao entre ser e pensar que ser decisiva para a tradio
ocidental. Ele o faz atravs de um paradoxo, o paradoxo da busca do
conhecimento. Este paradoxo expressa a impossibilidade do conhecimento nos
seguintes termos: a busca do conhecimento impossvel, pois, ou o objeto a ser
procurado conhecido e, conseqentemente, no precisa que o procuremos
conhecer ou, caso contrrio, ele no conhecido e, se assim for, jamais
poderemos ach-lo, uma vez que, por nada saber dele, no poderamos
reconhec-lo como aquilo que procuramos. O paradoxo expressa, poder-se-ia
dizer, as duas situaes extremas: a de conhecimento completo e acabado, e a de
total ignorncia. Em ambos os casos, a busca do conhecimento desprovida de
sentido. Scrates responder a Mnon com o famoso mito da anamnesis, a
42
frequentemente apontado que a palavra eidos, palavra que Plato utiliza conjuntamente com o
termo idea para nomear as formas ou idias, significa no uso ordinrio aspecto visual, o como a
coisa se mostra para a viso. Heidegger observa a violncia que Plato faz linguagem ordinria -e isto vlido para toda linguagem autenticamente filosfica-- quando exige que se entenda por
eidos no o aspecto visvel da coisa, mas aquilo que a determina como sendo de tal ou qual modo,
determinao que no presente aos olhos, mas inteligncia (Cf. Heidegger, M., La question de
la technique em Essais et confrences, trad. Andr Prau, ed. Gallimard, Paris, 1988, p. 27).
41
rememorao na qual a alma deve se engajar para fazer presente aquilo que,
embora esquecido, ela j sabe.
A histria que Scrates narra a Mnon bem conhecida:
A alma, pois, imortal; renasceu repetidas vezes na existncia e
contemplou (eorakya) todas as coisas existentes tanto na terra como
no Hades e por isso no h nada que ela no tenha conhecido
<mematheken>! No de espantar que ela seja capaz de evocar
memria a lembrana de objetos que viu anteriormente e que se
relacionam tanto com a virtude como com as outras coisas
existentes.43
Costuma-se interpretar essa passagem como o primeiro esboo da teoria
das idias da que se considere o Mnon como o primeiro dos dilogos da
maturidade. Assim interpretada, poder-se-ia dizer que se trata de um mito de
queda: a alma de cada um de ns imortal, tendo vivido uma vida pregressa
no na presena das coisas deste mundo, mltiplas e sujeitas a toda sorte de
mutabilidade, mas perante as prprias realidades, unas e imutveis. Nessa vida
anterior, a alma estava inteiramente familiarizada com essas realidades,
conhecendo-as integralmente. Entretanto, esse conhecimento pleno esquecido
no momento em que a alma encarna num corpo e cai, por assim dizer, no
mundo sensvel, mundo onde o que , no plenamente, pois carrega a marca do
no-ser (me on) do devir, da multiplicidade e da dissimulao. por causa
dessa amnsia, desse esquecimento, que ocorre a paradoxal situao de
podermos reconhecer aqui e ali atos virtuosos e no podermos, quando se pede
que apontemos essa marca que responsvel pela virtude do ato virtuoso, dar
resposta satisfatria alguma. Assim, o esquecimento da alma, o fato de no
sabermos dizer o que seja, por exemplo, a virtude em si, esse esquecimento no
deve ser entendido como completa ignorncia, um nada saber do que . Se assim
fosse, se a alma estivesse absolutamente alheia a toda compreenso do que
seja a virtude, a este respeito vazia e fechada sobre si mesma, ns, homens
encarnados, sequer poderamos encontrar algum exemplo de virtude. Em
vocabulrio mais moderno, poder-se-ia dizer que a alma sensivelmente
43
Mnon, 81 c.
42
condicionada sabe julgar, reconhecer este ou aquele particular, mas no sabe
dizer explicitamente qual a regra que lhe permite faz-lo.
Se de fato essa interpretao no encontra, no prprio Mnon, completo
apoio, uma vez que ali, citando Pndaro e os poetas divinos, fala-se de
sucessivas vidas, tanto na Terra quando no Hades, sem postular outro mundo
transcendente, ela , entretanto, bem fiel ao que num dilogo posterior, o Fedro,
Plato afirmar.44 45 Ali, nos dito:
A alma que nunca contemplou (idousa) a verdade (ten aletheian)
no pode tomar a forma humana. A causa disso a seguinte: que a
inteligncia do homem deve se exercer segundo aquilo que se chama
Idia (eidos); isto , elevar-se da multiplicidade das sensaes
(pollon aistheseon) unidade racional (logismoi ksynairoumenon).
Ora, esta faculdade no mais do que a recordao das verdades
eternas que a nossa alma contemplou <...>.46
E, pouco depois:
44
Em Plato, a representao do Hades aparece, se comparada representao homrica,
fortemente transfigurada: enquanto em Homero a regio do Hades corresponde ao mbito da
ocultao onde as almas desencarnadas esto submetidas ao esquecimento, constituindo isto, em si
mesmo, uma espcie de punio --mesmo que no de carter moral e sim csmico--, em Plato se
d uma inverso. Assim, apesar de s vezes Plato apresentar o Hades segundo o feitio tradicional
--tenho em mente a prpria "Alegoria da Caverna" onde o habitat subterrneo da caverna
comparado ao Hades, atravs de uma referncia Odissia--, em outros momentos o Hades passa
a ser a regio onde as almas, livres da "priso do corpo", iro habitar na vizinhana dos deuses,
antecipando de algum modo a noo crist de paraso.
45
Os modelos com que a reminiscncia trabalhada nos dois dilogos so diferentes. A
construo no primeiro dilogo, Mnon, obedece seguinte lgica, mesmo que no o faa de
modo explcito: a alma imortal, o que quer dizer que ela fez o trnsito, entre o Hades e o mundo
visvel, infinitas vezes; uma vez que os estados de coisas a serem vistos so em nmero finito,
deduz-se necessariamente que ela j deve ter tido ocasio de contempl-los todos. (Semelhante
construo lgica aparece tambm em Nietzsche no que se conhece sob o nome de argumento
cosmolgico do Eterno Retorno: o tempo infinito e os estados de coisas possveis so finitos,
logo, eles em algum momento necessariamente devem voltar a se repetir.) Na construo, tal qual
aparece em Mnon, o que a alma contemplou nas suas vidas pregressas no so as idias (o que
leva a supor que tal teoria posterior da reminiscncia), mas todas as coisas do mundo visvel.
No Fedro, com a teoria das idias j explicitamente formulada, o mito da reminiscncia assume a
forma de uma queda do inteligvel (composto de entidades simples e imutveis) para o visvel,
concebido agora como constitudo de mltiplas cpias de cada entidade inteligvel, cpias estas
compostas e mutveis.
46
Fedro, 249 b.
43
<...> a alma humana, dada a sua prpria natureza, contemplou o ser
verdadeiro (ta onta). De outro modo nunca poderia entrar num corpo
humano. Mas as lembranas desta contemplao no se despertam
em todas as almas com a mesma facilidade. Uma apenas entreviu o
ser verdadeiro; outra, aps sua queda, foi impelida pela injustia, e
esqueceu os mistrios sagrados que um dia contemplou.47
Considerada sob um primeiro aspecto, a doutrina da reminiscncia
legitima que faa sentido procurar a definio, no caso, saber o que seja a
virtude, isto , buscar o um, comum e subjacente a todo ato virtuoso. No
momento em que ela formulada, no dilogo Mnon, ela interdita personagem
do mesmo nome a possibilidade de desistir da busca de saber o que seja a
virtude, baseando-se no argumento, expresso no paradoxo, de que semelhante
busca seria insensata, pois estaria fadada ao fracasso de antemo.48 Nos termos
da primeira parte da passagem do Fedro acima citada, esta legitimao soa da
seguinte maneira: possvel elevar-se das mltiplas sensaes unidade
racional, porque essa unidade j foi contemplada pela alma e o exerccio em que
esta elevaoconsiste no outra coisa seno rememorao.49
47
Fedro, 249 e.
48
O que motiva Mnon a enunciar o paradoxo dissimular seu desejo de desistir da inquirio
socrtica, evitando que essa desistncia aparea como uma covardia, e sim como algo de direito,
diante dos que assistem a conversa. Lembre-se que Mnon, como discpulo de Grgias, ressente-se
da fraqueza da sua performance, pois tendo dito saber o que era a virtude, foi obrigado por
Scrates a reconhecer no possuir esse saber. Declarando-se enfeitiado e drogado por Scrates,
compara-o com a raia eltrica que paralisa a presa para dela apoderar-se. Com esta comparao
visa incrimin-lo por fazer uso de ardis maldosos. A isto Scrates responde: Quanto a mim, se a
raia eltrica, ficando ela mesma entorpecida, assim que faz tambm os outros entorpecer-se, eu
me assemelho a ela; se no, no. Pois no sem cair em aporia eu prprio que fao cair em aporia
os outros. <...> Tambm agora, a propsito da virtude, eu no sei o que ela ; tu entretanto talvez
anteriormente soubesses, antes de me ter tocado; agora porm ests parecido a quem no sabe.
Contudo, estou disposto a examinar contigo, e contigo procurar o que ela possa ser. (Cf. 80-d).
neste momento que Mnon, encorajado pela resoluta afirmao socrtica sobre a prpria
ignorncia acerca da questo, introduz o paradoxo, com o claro intuito de tornar menos desonroso
o desejado fim da conversa. Afinal o que esta a a se fazer procurando a definio de algo que
ningum conhece? No verdade que, se por ventura algum, sabe l como, enunciasse a
definio apropriada, no haveria, nessas condies, quem a pudesse reconhecer como tal? isto
que Mnon tenta infundir nos ouvintes: semelhante conversa inteiramente desprovida de sentido.
49
A expresso pollon aistheseon (traduzida aqui por multiplicidade das sensaes) pode induzir
a erro. A sensao aqui em questo acompanhada de discurso e comporta para Plato, como
veremos adiante, um grau de inteligibilidade. Esta advertncia caminha na direo de no conceber
essa multiplicidade das sensaes como o mltiplo da intuio tal qual aparece em Kant, isto
, uma multiplicidade organizada espao-temporalmente, mas sem ainda estar submetida ao
conceito e, portanto, carente da possibilidade de ser submetida a qualquer elemento discursivo. A
multiplicidade das sensaes so os mltiplos homens, os mltiplos vermelhos presentes nas
coisas, etc., etc. que se oferecem aos sentidos acompanhados de opinio (doksa).
44
Este primeiro aspecto da doutrina da reminiscncia legitima, como
dissemos, a possibilidade de que a alma alcance a definio a partir da
multiplicidade de instncias particulares, atravs de uma atividade com cuja
atualizao se ocupa Plato nos dilogos de juventude, conhecidos como
socrticos ou aporticos. Neles, como bem assinala Hannah Arendt, a
possibilidade de um exerccio correto do juzo chamado, na linguagem
platnica, de opinio verdadeira, no problematizado, mas sim tomado, em
linhas gerais, como inconteste. No dilogo Mnon, Scrates afirmar que no
necessrio que um homem saiba o que a virtude (isto , que conhea a
definio) para ser virtuoso: sua alma, mesmo que de modo no absolutamente
presente e transparente a ela, possui a orientao que lhe permite discriminar
entre o ato virtuoso e o no virtuoso. O apelo recorrente ao contra-exemplo por
parte de Scrates, com o fim de mostrar a insuficincia da definio apresentada
pelo interlocutor, disto testemunho.50
Se, como sustenta uma opinio bastante generalizada, os dilogos de
juventude de Plato expressam com razovel fidelidade o ponto de vista
socrtico, pois ainda o pensamento prprio do discpulo que se tornaria, mais
tarde, seno o maior, um dos maiores pensadores de Ocidente, estaria em cerne,
ento bem plausvel pensar que a ausncia de problematizao da questo do
juzo correto uma marca socrtica e no platnica. O fato de que Scrates
tenha sido, at onde sabemos, um cidado orgulhoso de pertencer polis
ateniense, parece ser um sinal da sua crena na capacidade dos seus pares para
50
Um exemplo retirado deste mesmo dilogo: diante da definio de virtude apresentada por
Mnon a saber, que a aret consistiria em conseguir para si as coisas belas e boasScrates o
refuta dizendo que se tal definio fosse correta, qualquer ladro, ento, seria virtuoso, pois a
riqueza uma bela e boa coisa. Mnon imediatamente recua e tenta corrigir sua definio
acrescentando que a conquista das coisas belas e boas deve ser de modo justo e honesto. Aqui o
contra-exemplo ainda um gnero, o gnero dos atos que envolvem o roubo, e que no poderia
legitimamente ser includo no gnero mais geral dos atos virtuosos, impedimento este inconteste.
Entretanto, no Laques, o contra-exemplo j um particular: se a definio apresentada por Laques
fosse correta (a saber, que corajoso aquele que se mantm em seu posto firme contra o inimigo,
sem dele fugir), ento o feito dos lacedemnios em Platea (quando em lugar de esperar os persas
nos seus postos, lhes deram as costas e, ao desmancharem os persas suas fileiras, os atacaram) no
poderia ser considerado corajoso, o que contraria o bom-senso de todos os presentes (cf. Laqus,
190d).
45
julgar corretamente, conseguindo formar e expressar, em relao s prprias
aes e ao juzo das aes de outrem, opinies verdadeiras.51
Seja como for, claro que o principal papel da doutrina da reminiscncia,
se considerada a partir dos dilogos de juventude, o de dar sentido ao exerccio
do que se costuma chamar dialtica ascendente, aquela elevao da
multiplicidade da sensao unidade racional de que a primeira parte da citao
de Fedro nos fala. Como dissemos acima, Scrates, ao responder a Mnon o
paradoxo da impossibilidade da busca do conhecimento com a primeira
formulao da anamnesis, aspira apenas a legitimar tal exerccio. Isto fica claro
pouco adiante no dilogo quando, depois da interrogao do menino escravo,
com cautela em relao ao mito que acabara de formular, diz a Mnon:
Alguns outros pontos desse argumento <presentes no mito da
reminiscncia>, claro, eu no afirmaria com grande convico. Mas
que, acreditando que preciso procurar as coisas que no se sabem,
seramos melhores, bem como mais corajosos e menos preguiosos
do que se acreditssemos que, as coisas que no conhecemos, nem
possvel encontrar nem preciso procurar sobre isso lutaria muito
se fosse capaz, tanto por palavras quanto por obras.52
51
Esta linha de interpretao, que distingue na obra platnica uma primeira fase, propriamente
socrtica, de uma fase posterior, onde Plato formularia suas prprias doutrinas, seguida por
Arendt toda vez que analisa essa obra. Para ela, o evento crucial para a formulao da filosofia
poltica platnica, que se distanciaria da posio socrtica em relao polis, presente nos
primeiros dilogos, o julgamento e a condenao de Scrates. Segundo Arendt, o choque que a
morte de Scrates teria produzido em Plato desdobrar-se-, mais tarde, num pensamento
extremamente crtico das leis que organizam a cidade, leis que seriam responsveis pelo juzo
errado que os cidados so capazes de formar em relao aos assuntos pblicos. A partir desse
momento, a questo da possibilidade do erro e de como dele se precaver tornar-se-o, questes
decisivas, no Plato maduro. Em linhas gerais, estamos acompanhando esta leitura da obra
platnica.
52
Cf. Mnon, 86b-c. Parece-me que as coisas com as quais Scrates no quer se comprometer,
pois no poderia afirm-las com grande convico, so os aspectos doutrinrios do mito: a
efetiva imortalidade da alma, a existncia do Hades como mbito onde as almas desencarnadas
esperam uma nova volta ao mundo dos vivos, etc., etc. Em contrapartida, toda a nfase dada ao
valor intrnseco que a procura por conhecer aquilo que no se sabe, no caso em questo, o que a
virtude, possui. Novamente, fazendo referncia interpretao arendtiana da figura socrtica, nos
dilogos de juventude e tambm, neste sentido, tambm no Mnon, o exerccio da busca das
definies que expressariam aquelas medidas secretas que esto na alma (Slon) e que orientam
nossos juzos, no parece ter outro propsito do que alcanar uma vida plenamente vivida, pois
uma vida sem este tipo de interrogao seria tolhida, vivida apenas em parte. O pensamento
aparece, no seu puro elemento interrogativo, como elemento indispensvel a uma vida feliz, como
exigncia para alcanar a eudaimonia. Bem diferente aparece o Scrates do Fdon, imperturbvel
diante da iminncia da morte, por ter a plena convico de que esta o libertar do fardo do corpo,
46
Falamos de um primeiro aspecto visado pela doutrina da
reminiscncia, aspecto que, na perspectiva dos dilogos de juventude,
constituiria a principal razo para a sua formulao. Entretanto, h nos dilogos
que se seguem, os chamados da maturidade, um segundo aspecto que se tornar
central: como possvel julgar corretamente, evitando a errncia que o
esquecimento da unidade racional provoca nos mortais encarnados. A seguinte
parte da passagem do Fedro acima citada, fala de dois tipos de queda: a da alma
que, devido ao esquecimento, com muita dificuldade lembra do ser verdadeiro
que outrora contemplou, e a segunda, a da alma que se extravia na injustia e
esquece as coisas sagradas antes contempladas. A primeira destas almas, a que
apenas esqueceu o que outrora contemplou, mas que no foi impelida para a
injustia, a do homem cordato e justo que, mesmo no recordando plenamente
o que fora contemplado, age de acordo com as coisas sagradas. Trata-se do
homem dos primeiros dilogos, que capaz de se orientar pelos modelos, mas
no capaz de explicit-los. Mas, logo a seguir, Plato fala de um segundo tipo de
almas, aquele que foi preso de um poderoso esquecimento, almas impelidas para
a injustia e que vivem extraviadas. So estas almas, para Plato no em nmero
pequeno, haja vista a decadncia da cidade expressa no julgamento e
condenao de Scrates, que colocaro o problema do erro e de como preservarse dele. O pensamento que at a assumia o carter de mera interrogao,
ingrediente fundamental para uma vida feliz, passar a ser visto como visando
resultados tcnico-prticos.53
franqueando-lhe a verdadeira vida. Ali a morte assumidamente o remdio para a indigncia de se
ter um corpo: Devemos um galo a Asclpio.
53
Uso aqui a expresso tcnico-prtico em referncia direta ao sentido aristotlico dos termos
poiesis/tekhne (um uso do entendimento com vista a aes que tm o fim em outro) e prxis (um
uso do entendimento com vista a aes que tm o fim em si mesmo), distino entre o agir que
produz algo ou um estado de coisas, de um lado, e o agir tico-poltico, de outro, que visa o
aprimoramento da prpria alma. Em Aristteles, estes dois usos se contrapem ao uso terico que
no visa nenhum agir, nem em outro, nem em si mesmo, sendo puramente contemplativo.
47
Falando desse passo decisivo para a constituio da metafsica, e no
horizonte da discusso acerca da essncia do que seja o agir,54 que se estabelece
com Sartre na carta Sobre o Humanismo a Jean Beaufret, diz Heidegger:
O pensar no apenas lengagement dans laction em favor e
atravs do ente, no sentido do efetivamente real da situao presente.
O pensamento lengagement atravs e em favor da verdade do
ser.<...> Para primeiro aprendermos a experimentar, em sua pureza,
a citada essncia do pensar, o que significa, ao mesmo tempo,
realiz-la, devemos libertar-nos da interpretao tcnica do pensar,
cujos primrdios recuam at Plato e Aristteles. O prprio pensar
tido, ali, como uma tkhne, o processo da reflexo a servio do fazer
e do operar. A reflexo, j aqui, vista desde o ponto de vista da
prxis e poesis.55
Sabemos que Aristteles reservou para o pensamento no engajado
em nenhuma ao sobre os entes (seja na produo de utenslios ou na mudana
de estados naturais poiesis, seja no aprimoramento de estados anmicos
prxis; ver nota 15, supra) o lugar mais eminente no exerccio das atividades da
alma, mas ao faz-lo, longe de restitui-lhe a dignidade que lhe prpria, abriu a
porta para a idia de que essa atividade animada pela diletncia e indiferena
em relao ao mundo e aos outros homens, como se o autntico cuidado com o
mundo pudesse prescindir dela. Desde ento, como bem aponta Heidegger, o
pensamento sente-se na obrigao de defender-se dos empreendimentos
54
Conhecemos o agir apenas como o produzir de um efeito. Sua realidade efetiva avaliada
segundo a utilidade que oferece. Mas a essncia do agir consumar (vollbringen). Consumar
significa: desdobrar alguma coisa at a plenitude de sua essncia: lev-la plenitude, producere.
Por isso, apenas pode ser consumado, em sentido prprio, aquilo que j . O que, todavia, ,
antes de tudo, o ser. O pensar consuma a relao do ser com a essncia do homem. <...> No
por ele irradiar um efeito ou por ser aplicado que o pensar se transforma em ao. O pensar age
enquanto se exerce como pensar. Este agir provavelmente o mais singelo e, ao mesmo tempo, o
mais elevado, porque interessa relao do ser com o homem. (Cf. Sobre o Humanismo in
Heidegger, col. Os Pensadores, Ed. Victor Civita, So Paulo, 1984, p. 149). A carta, como se v
a partir destas linhas iniciais, pretende mostrar que a ao, no sentido mais essencial, no relativa
aos entes, no visa mudar o mundo atravs de aes que busquem efeitos aos quais se aspira. O
pensamento como interrogao que guarda e cuida do ser a suprema forma de ao e, dizemos
ns, a forma mais efetiva, porque radicalmente mais transformadora, na medida em que possibilita,
sem urgncias e afobamentos, a abertura de novos mundos.
55
Idem, pp. 149 e 150.
48
cientficos ou tico-polticos que buscam, e muitas vezes, efetivamente,
alcanam, resultados tangveis, mais ou menos imediatos. Afirma Heidegger:
A caracterizao do pensar como theoria e a determinao do
conhecer como postura terica j ocorrem no seio da interpretao
tcnica do pensar. uma tentativa reacional, visando a salvar
tambm o pensar, dando-lhe ainda uma autonomia em face do agir e
operar. Desde ento, a Filosofia est constantemente na
contingncia de justificar sua existncia em face das Cincias.56
A Filosofia que busca aplicabilidade e engajamento na situao
presente, pondo-se a servio, seja da informatizao dos diversos mbitos da
existncia humana (sob a forma da disciplina da Lgica), da investigao da
natureza (uma vez que ela pode propor novos e interessantes insights para a
pesquisa), da resoluo de impasses tico-polticos (em termos de justificao
ou crtica de aes nos domnios da poltica, da sade, da educao, etc.), do
provimento de novas idias para a produo nas artes, da terapia, que espera
dela auxlio para encontrar procedimentos capazes de lidar com os inmeros
sofrimentos que o mundo contemporneo impe ao homem, a Filosofia nestes
inmeros e variados papis, permanece sempre tcnica, e isto quer dizer, fora do
elemento do autntico pensamento. Que ela possa, de fato, exercer estes papis,
buscando salvar-se da acusao de diletncia e gratuidade, da sua prpria
essncia enquanto Filosofia, pois na sua certido de nascimento est este
carter tcnico. dele que estamos falando aqui, quando apontamos para a
passagem dos dilogos platnicos de juventude para o Plato da maturidade.
A preocupao de que o pensamento possa orientar a ao e seu
ajuizamento fornecendo padres gerais, evitando, assim, a errncia, recoloca em
termos diferentes a questo do acesso aos mesmos. Pois, se antes, o juzo efetivo
que os homens fazem das aes era um bom guia para fazer presente a unidade
esquecida, oferecendo um cho seguro a partir de onde iniciar a interrogao e
permitindo que a ele se volte com o objetivo de corrigir os possveis desvios
(atravs dos muitos tipos de contra-exemplos), agora este cho mostra-se
escorregadio: seria necessrio saber previamente quais so os juzos particulares
56
Idem, p. 150.
49
corretos, separando-os dos errados, para que este cho fosse um ponto de partida
seguro. A elevao dos muitos para o um, isto , o movimento de recoleo
ascendente, j no mais garante o acesso quela unidade. Esta garantia agora
passar a exigir um acesso unidade racional de natureza diferente da do logos,
pois a crena naquele livre trnsito entre os muitos e o um, que tambm
comportava um prestar contas do um conquistado aos muitos que ele deveria
incluir como instncias, cara em descrdito.
A constatao de que o julgar acerca dos particulares no desemboca
necessariamente num juzo unvoco insinua que nas mais simples experincias
est inserida tambm uma recoleo entre os muitos e o um. Aquilo que parece
dar-se numa apreenso direta da coisa, sem qualquer envolvimento do pensar,
carece desta suposta lisura. E se este o caso, pressente-se um enigma, enigma
que ser experimentado pela metafsica como um desafio cuja no resoluo
ofende o prprio entendimento. O imperativo de fugir dele interditar a
experincia do prprio ser do homem como aquele que interroga, graas
ddiva que o prprio enigma lhe concede. Talvez o modo mais freqente em que
esta fuga se manifesta seja como repreenso da circularidade que, sob a
expresso crculo vicioso, o suposto pensamento lgico entende como falha
passvel de ser superada. Deste estado de coisas nos fala Heidegger na sua
conferncia A Origem da Obra de Arte, referindo-se pergunta pela essncia
da prpria arte:
O que a arte, necessrio apreend-lo a partir da obra. O que a
obra apenas o saberemos atravs da compreenso da essncia da arte.
No claro que camos num crculo vicioso? O bom senso ordena
evitar este crculo que desafia a lgica. A arte, acreditamos poder
apreend-la a partir das obras de arte, em uma contemplao
comparativa. Mas como estarmos certos que so realmente obras de
arte aquelas que submetemos semelhante comparao, se no
sabemos de antemo o que a arte ela prpria? <...>O acmulo de
um grande nmero de obras, assim como a deduo a partir de
princpios se mostram aqui igualmente impossveis: aquele que as
pratica no faz seno se iludir a si prprio.
, pois, necessrio percorrer resolutamente o crculo. Isto no nem
um passo em falso, nem uma indigncia. O engajar-se em tal
caminho a fora do pensamento e permanecer nele sua festa,
admitindo que pensar seja um ofcio. No apenas circular a
50
primeira caracterizao da obra pela arte e da arte pela obra; cada
caracterizao que intentemos circular nesse crculo.57
O que aqui, referindo-se s obras de arte, parece inconteste, dada a
recorrente controvrsia em relao ao carter artstico da maior parte das obras
do acervo dos museus de arte contempornea, talvez seja apenas o caso onde se
torna patente de modo mais extremo este estado de coisas. Num sentido mais
geral, bem possvel que a crise do juzo que hoje experimentamos ao tentar
discriminar o certo do errado, em que pesem as legtimas preocupaes que ela
produz, no tenha feito outra coisa que trazer luz o hiato entre o um e os
muitos, hiato que impede as tentativas de fundamentao de uns pelo outro
(digamos, a fundamentao de cima para abaixo), ou o seu contrrio, de
alcanar o um, percorrendo os muitos (de baixo para acima).58 Que a tradio
do pensamento metafsico o tenha subtrado da investigao, atravs da
formulao da noo de fundamento incondicionado do ser e do pensar (isto ,
da idia de Deus), noo que associada de autoridade constitui sua rota de
fuga, certamente responsvel pelas cores dramticas que assumiu, e ainda
assume, a constatao da morte de todos os valores. Para a anlise presente, este
fato pode ser um indcio do que est em jogo na passagem do pensamento prsocrtico para o pensamento platnico e at mesmo, em nosso entender, pode
fornecer uma chave de compreenso para a gnese interna do prprio
pensamento platnico.
O enigma da diferena, irredutvel entre o um e os muitos (que aqui
tambm chamamos de hiato), muito bem expressa no seguinte exemplo que
Heidegger atribui a Hegel, para caracterizar a generalidade do geral, exemplo
que, pela sua aparente trivialidade, pode propiciar a serenidade necessria para
um olhar desassombrado deste estado de coisas:
57
M., Heidegger, Lorigine de loeuvre dart in: Chemins que ni mnent nulle part, ed.
Gallimard, Paris, 1980, pp. 14-15.
58
O arremedo que tenta dissimular a frustrao da primeira destas tentativas mostra-se na
expresso tantas vezes ouvida de que no fundo, cada um sabe o que certo e o que errado,
como se as perplexidades que enfrentamos fossem fruto de um capricho. J, as tentativas de fundar
o mbito tico-poltico na noo de consenso, so no meu entender, arremedos da frustrao da
segunda das tentativas.
51
<...> algum deseja comprar frutas num mercado. Pede frutas.
Estende-lhe mas, peras, exibem-lhe pssegos, cerejas, uvas. Mas o
comprador recusa o que lhe apresentado. A todo custo, ele quer
conseguir frutas. Ora, o oferecido, entretanto, , em cada caso, frutas,
no obstante, se constata: no h frutas para comprar.59
Na singeleza e clareza do exemplo, a diferena est manifesta na
constatao indiscutvel de que o oferecido , em cada caso, frutas e que, no
obstante, constata-se que no h frutas para comprar. Que quer isto dizer? O
modo em que o geral se manifesta como fenmeno no se d em nenhum lugar
no ente e, entretanto, h uma manifestao dele, manifestao que
provavelmente o que est em jogo na srie de maas, peras, uvas, etc., exibida
pelo comerciante. O geral, como um dos modos em que o ser se manifesta, faz
presente mas, peras e uvas como frutas e, entretanto, esconde-se na presena
de cada uma delas como entes que so. Poder-se-ia argumentar, acompanhando
o exemplo, que se o comprador procurasse, em lugar de frutas (um universal
genrico), apenas mas (um tipo de universal que remete a uma nica espcie),
a coisa aconteceria de maneira diferente, pois ao pedir quero mas, obteria do
comerciante as ambicionadas mas. Mas tambm neste caso, o que o
comprador ambiciona comprar (a espcie mas) no o que encontra no
mercado, e sim estas ou aquelas mas particulares.
Se pensada a partir da interrogao mais radical que a metafsica
empreendeu, a saber, a da pergunta pelo ente enquanto ente (to on he on), esta
irredutvel diferena enuncia-se como diferena entre o ser e o ente
(compreendido o ente como os panta considerados em sua totalidade e o hen
como o ser, a mais geral das unidades racionais, que tudo perpassa, fazendo o
ente ser). O ser manifesta-se como aquilo graas ao que o ente faz-se presente,
mas esta presena no um aparecer que se acresce a algo que pr-existia,
qual se junta agora o aparecer, graas interveno do ser. No, esta presena
o prprio ser. E, entretanto, o ente assim presente no coincide com o ser, ele o
esconde. Se assim no fosse, se o ente coincidisse com o ser, nenhuma
59
Cf. . A Constiuio Onto-Teolgica da Metafsica in Heidegger, col. Os Pensadores, Ed.
Victor Civita, So Paulo, 1984, p. 199.
52
interrogao (do tipo que for) se levantaria, e o ser no se manifestaria de modo
algum. Para o pensamento que representa tentador conceber que a diferena
que acrescenta o ser, ao ente que ali est, uma obra do entendimento. Diz
Heidegger:
Aceitemos uma vez que a diferena acrscimo de nossa
representao, ento surge a questo: um acrscimo destinado a que?
Responde-se: ao ente. Bem. Mas que quer dizer isto: o ente? Que
outra coisa significa seno: tal coisa que ? Assim abrigamos o
presumido acrscimo, a representao da diferena, junto ao ser. Mas
ser mesmo diz: ser que ente. J encontramos ente e ser em sua
diferena l para onde deveramos levar a diferena como suposto
acrscimo.60
O enigma desta diferena que no pode ser objetivada pelo
pensamento pode ser apenas indicado por esta situao:
<O pensamento representativo de tal modo> organizado e
constitudo que ele aplica, por assim dizer, antecipadamente, em toda
parte, alm do uso de seu intelecto e, contudo, dele emergindo, a
diferena entre o ente e o ser.61
A diferena encontrada antecipadamente e em toda parte, alm do
uso de seu intelecto, indica uma transcendncia, assinala que ela est fora do
intelecto, e, estando fora, isto , independente dele, parece natural que seja algo
subsistente por si (o ser em si mesmo). Mas, o fato dela apenas e somente
emergir do uso do intelecto, isto , de tornar-se fenmeno graas a ele, faz
parecer que ela posta pelo intelecto (o ser como representao). Entre estes
dois pontos transitou a metafsica, sem considerar o estado de coisas no seu
conjunto. Faz-lo significaria perguntar: de onde surge o entre no qual a
diferena deve, por assim dizer, ser inserida?62 Tal questionamento levaria a
60
Idem, p. 197.
61
Idem, ibidem.
62
Idem, ibidem.
53
pensar a prpria diferena enquanto diferena, isto sair do pensamento
metafsico, para pensar a sua essncia.63
O pensamento platnico, ao se deparar com o erro no juzo, em lugar
de se orientar para o enigma originrio acima apontado, formulou uma resposta
que acreditou poder assegurar-se de no cair na errncia e, com isto, deu incio a
obliterao do enigma. Tal resposta foi forjada a partir do apelo que o ser do
ente envia como eidos, a saber, como o aspecto imediatamente acessvel da
coisa e que responsvel pelo que ela . O fato de que os entes naturais (astros,
plantas, animais, etc.), oferecem um eidos permanente (embora sejam mltiplos
e, sob certos outros aspectos, diferentes e estejam tambm submetidos gerao
e ao perecimento), levou a considerar que isso que os faz ser o que eles so seja
uma espcie de modelo sempre idntico e absolutamente permanente que, de
algum modo est neles, e que a alma apenas capta. Em apoio deste apelo veio,
desde cedo, a familiar experincia da produo (poiesis, aqui no sentido limitado
de fabricao), onde o artfice contempla mentalmente um modelo e, tomando
ele como guia, produz, dando forma matria, uma srie virtualmente ilimitada
de cpias. O tipo de acabamento que a coisa fabricada apresenta, e que responde
ao modelo que orientou o artfice na fabricao, iluminou, sua maneira,64 o
modo de ser dos entes naturais. Como veremos, j em Plato, no seu Timeu,
aparece, explicitamente, pela primeira vez, a idia de que o todo do kosmos, no
que ele possui de regular e regrado, pode ser pensado como produzido por um
artfice, a partir de modelos por ele contemplados. A inteligibilidade presente no
kosmos compreendida, deste modo, como tendo sua origem na perfeio de um
modelo que orienta sua gerao e no saber deste artfice fabricador (demiurgos)
para acompanhar sem desvios o modelo.
63
A direo em que apontam estas reflexes, tambm indicada pelo hen/panta do fragmento 50
de Herclito de feso (quando afirma que no dando ouvidos <a ele, Herclito>, mas ao logos,
sbio concordar: um/tudo --hen/panta), se no logos se ouve (aquilo que o pensamento dos
homens deve escutar, e assim, recolher dizendo o mesmo--homologein, concordar--) a diferena
entre o hen e os panta. Na clarificao deste fragmento trabalha Heidegger em Logos, presente em
sua obra Ensaios e Conferncias.
64
sua maneira, porque a physis, como princpio dos entes naturais, no guarda apenas a forma
como modelo, mas tambm o princpio do seu movimento, isto , da sua gerao e perecimento.
As coisas produzidas pela mo do homem, atravs da fabricao, uma vez acabadas no
possuem movimento em si mesmas, mas devem matria retirada da natureza (e, nesse sentido,
tambm physis) a razo da sua corrupo.
54
De outro lado, a lisura experimentada em juzos tais como aquilo
uma estrela, isto uma rvore, isto um cavalo ou isto uma lana,
parecia no exigir explicao que fosse alm do que uma impresso
(pathematon) produzida na alma por este modelo. Os exemplos de erro
perceptivo, nesses casos, ou so claramente excepcionais (por ex. o do doente
que bebe o vinho e o sabe amargo, ou o daltnico que confunde o verde e o
vermelho), onde a recorrncia do padro (no prprio doente e/ou nos outros)
permite julg-los como errados, ou so produzidos pela arte, um tipo de poiesis
que no tem por objetivo a utilidade, mas apenas bajular os sentidos,
produzindo cpias intencionalmente enganosas (por ex. as uvas de Zeuxis, o
pintor que pinta uvas to naturalisticamente que as prprias aves vo bic-las, ou
o arquiteto que faz colunas levemente bojudas para que, de um ponto de vista
determinado, paream perfeitamente cilndricas). Os outros erros perceptivos, os
mais freqentes, porque ocasionados pela distncia espacial (por ex. o tomar, ao
longe, uma pessoa por outra), ou por empecilhos que ocasionam uma impresso
fraca (por ex. nvoa), so corrigveis pelo prprio juzo perceptivo, bastando
uma certificao mais apurada, oferecida novamente pela percepo (por ex.
chegar mais prximo do objeto, afastando os eventuais obstculos
percepo).65
luz deste apelo do ser que, como acima notamos, est fortemente
enraizado na lisura experimentada no juzo dos entes naturais e fabricados, o
julgar das aes humanas no encontra uma referncia evidente, uma vez que
nele o elemento discursivo do juzo se faz presente de modo muito mais
ostensivo. Esse fato parece no ter sido nem um pouco irrelevante para o
pensamento de Plato, haja vista o acolhimento nos dilogos de juventude da
preocupao central de seu mestre por este mbito da existncia humana,
preocupao que, ao que tudo parece indicar, fez sua de modo a acompanh-lo
65
este tipo de percepes, as percepes pouco intensas, o primeiro a ser responsabilizado pelo
erro no conjunto da argumentao desenvolvida por Descartes nas Meditaes Metafsicas.
Quando prosseguindo no caminho da dvida, afirma que, em princpio, acerca de percepes
ntidas como a responsvel pelo enunciado tenho duas mos no caberia duvidar, Descartes est
reproduzindo o modo de pensar clssico a que aqui estou aludindo. Como se sabe, ser o
argumento do sonho que estender a dvida a todas as percepes provindas dos sentidos.
55
at o fim da vida, tendo em considerao os ltimos dilogos, e mais
precisamente Leis. Seja como for, como bem afirma Hannah Arendt, a filosofia
poltica platnica concebeu o domnio das aes humanas, a prpria ao e o
espao pblico em que ela se desdobra, sob o mesmo modo que compreende o
fabricar: a contemplao do que seja a justia e as diferentes virtudes permitiria
a formulao de leis que, secularmente, modelariam a natureza dos homens,
tornando as comunidades polticas cpias cada vez mais fiis do que seria a
polis ideal. Os enormes problemas que levantou um tal projeto no mundo grego
basta pensar na experincia de Plato em Siracusa levou Aristteles a
reservar para a excelncia tico-poltica um saber de natureza diferente que o
saber terico, vlido este ltimo para o conhecimento da natureza, das
matemticas e das entidades supra-sensveis (o motor imvel e as divindades
que movem as diferentes esferas que constituem o kosmos). Se no mbito das
aes relativas fabricao (poiesis), o saber da tekhne, ao lidar com os
particulares, ainda exige o conhecimento das formas universais que a orientam
no seu fazer, em Aristteles, no mbito da prxis, essa referncia a formas
universais ser abandonada em favor de um saber que deve considerar de modo
eminente as situaes particulares e contingentes.
Apontamos acima, em relao ao Mnon, que a postulao da
reminiscncia serve apenas para dar sentido atividade interrogativa, sem que
seja necessrio que a mesma chegue a bom termo enunciando a definio
procurada, no sendo seu carter aportico uma falha que desqualifique todo o
processo at a empreendido. Entretanto, a aspirao a poder discriminar
justificadamente as opinies verdadeiras das opinies falsas exigir que a
interrogao se resolva em conhecimento do padro geral. A aporia, da em
diante, ser considerada como um impasse contingente enraizado na ignorncia66
que, no melhor dos casos, ensina que caminhos devem ser evitados por
conduzirem a becos sem sada e, no pior, escancara a ignorncia reforando o
imperativo da busca do conhecimento do padro geral. Como tambm dissemos
acima, a orientao que o pensamento acompanhou para corresponder a esse
imperativo foi o apelo que o ser dos entes naturais e fabricados lhe enderea no
66
Vide Aristteles, Metafsica I, cap. 2.
56
desvelamento do seu eidos. A idia de que aquilo que propriamente faz os entes
serem esse eidos, conjuntamente com a experincia do seu fcil
reconhecimento no tipo de entes acima citados, conduziu a conceber que a alma
possui uma capacidade receptiva capaz de capt-lo sem mediaes aquilo que
Plato chamar de noesis, sob a forma de uma afeco ou impresso
produzida por ele na alma.67
O eidos ser para o pensamento grego, e para toda a metafsica
clssica, o cho a partir do qual se compreende o ser dos entes. Ele pode
subsistir separadamente dos entes visveis, como o caso em Plato, ou
imanentemente a eles, como o caso em Aristteles. Mas, seja num ou noutro
caso, o aspecto recorrente dos entes, o que orientar toda investigao ulterior,
pois acompanhando-o que os entes se desvelam na sua identidade e na sua
diferena. De outro lado, que a alma tenha o poder de acesso no mediado, seja
s prprias idias, como em Plato, seja a princpios do ser mais gerais, a partir
dos quais ela consegue deslindar em pensamento, segundo semelhana e
diferena, as formas subjacentes aos entes, como o caso de Aristteles, esta
crena ser a contra-face que o eidos, assim concebido, exige da alma. Dito em
outros termos, o pensamento clssico concebe suas mais altas capacidades em
termos de receptividade de uma regularidade que est nos entes, manifesta no
seu eidos. esse arranjo entre ser e pensar que comear a ser minado com a
dvida cartesiana e que se consumar no tipo de desvelamento do ente em geral
que chamamos de tecnologia, modo de desvelamento que ignora, conjunta e
solidariamente, tanto o apelo do eidos como ser dos entes, quanto a existncia de
qualquer capacidade receptiva como mais alto poder do esprito.
No captulo que segue abordaremos as trs famosas passagens
conhecidas sob o ttulo de Doutrina do Bem, presentes no fim do livro VI e
comeo do livro VII da Repblica de Plato. Nelas, os dois aspectos centrais da
67
Como veremos no captulo que segue, na famosa passagem da Linha Dividida, a alma recebe os
pathemata de todos os tipos de ente. Ser o grau de ser e verdade dos mesmos o responsvel pelo
erro, pois quando este deficiente, a alma se v obrigada considerao discursiva, espcie de
atividade da alma fraca que suprir, com enormes riscos, a deficincia. O termo nous, antes de
Plato o assumir para significar exclusivamente o rgo superior da alma que recebe a afeco das
idias, significava apenas percepo do que quer que fosse, isto , indicava esse acesso que
chamei de liso, atravs do qual acreditamos chegar s prprias coisas.
57
metafsica clssica acima apontados, a saber, a preeminncia do eidos como
sentido para os ser dos entes e, sua contrapartida, a existncia de um poder da
alma que pode receber fielmente este eidos atravs de um tipo de afeco, sero
explicitamente tematizadas.
58
2
Ser e Pensar II:
A Repblica de Plato
2.1
A Analogia entre o Bem (to agathon) e o Sol
A primeira das trs passagens de Repblica que nos ocuparo neste
captulo nos conhecida pelo nome de Analogia entre o Bem e o sol. Ela
introduzida pelo que poderia ser chamado de uma fenomenologia da viso,
uma reflexo explcita acerca do sentido visual. Trata-se de um dilogo entre
Scrates e Glauco, onde aquele chama a ateno para o fato de ser o sentido da
viso melhor modelado do que os outros. Em que consistiria esta supremacia da
viso? No fato de que, diferentemente da audio ou do tato para falarmos nos
sentidos tradicionalmente considerados superiores, mas, como se ver, o
argumento vale tambm para o gosto ou o olfato, a viso precisa, para
consumar-se no ato de ver, de um terceiro termo, um lao de uma espcie bem
mais preciosa. O que Scrates tem em mente com essa afirmao? Que
enquanto os quatro outros sentidos so bipolares, isto , para realizar o ato
visado somente necessitam de dois elementos, um emissor e um receptor, um
agente e um paciente o som e o ouvido, o objeto ttil e o rgo ttil, etc.,
com a viso as coisas no se passam do mesmo modo.
Ainda que exista nos olhos a viso, e quem a possuir tente servir-se
dela, e ainda que a cor esteja presente nas coisas, se no se lhes
adicionar uma terceira espcie, criada expressamente para o efeito,
sabes que a vista nada ver, e as cores sero invisveis.68
Essa terceira espcie a luz. O sol, por possuir o poder de iluminar
os entes visveis com sua luz, concede-lhes a sua visibilidade. Mas,
68
Plato, Repblica, 507d-e.
59
simultaneamente, o sol realiza uma segunda concesso: d ao olho a sua
capacidade de ver com preciso. Quando se volta para objetos claramente
iluminados, a viso v nitidamente e torna-se evidente que exata.
Contrariamente, quando se volta para coisas sombrias ou escuras por
exemplo, coisas iluminadas pelo fogo ou pelo luar a viso parece quase cega.
Plato nos apresenta, assim, a relao que se estabelece entre os trs
elementos envolvidos no ato da sensao visual a saber, o olho, o objeto
visvel e o sol. Esse ltimo, em razo de um duplo conceder que lhe prprio
concesso da visibilidade ao ente visvel e da capacidade de ver ao olho
permite que o olho alcance o objeto visvel e o veja precisa e nitidamente.
A interpretao mais corrente da analogia69 a compreende como uma
transposio desta relao que se d no mundo visvel para o mbito do mundo
inteligvel, o mundo das idias. Assim, segundo esta interpretao, ao olho do
corpo corresponder o olho da mente, o nous ou inteligncia, ao ente visvel
corresponder o ente inteligvel a idia e, por ltimo, ao sol, que produz
luz, corresponder o Bem que produz verdade (aletheia). Estabelecidas as
correspondncias, a analogia assim compreendida afirmar que a relao entre
estes trs elementos do mundo inteligvel idntica relao recm descrita
entre aqueles elementos do mundo visvel: o bem ter para com a idia e para
com a inteligncia o mesmo papel que o sol tem, respectivamente, para com a
coisa visvel e para com o olho. Em que consiste agora, no mundo inteligvel, o
duplo conceder acima apontado? O Bem d idia a sua verdade o seu poder
mostrar-se inteligncia, anlogo ao fazer-se visvel da coisa para o olho e
outorga inteligncia o seu poder de conhecer anlogo capacidade de ver do
olho corpreo. Fazendo esta dupla concesso, o Bem permite que a inteligncia
compreenda a idia isto , a veja intelectualmente.
Embora esta interpretao da analogia reflita vrios elementos que
de fato so pertinentes, parece-me que h um aspecto que ela parece deixar de
lado, ou pelo menos parece no explicitar. No que foi dito acima, a expresso o
69
Cf. por exemplo as equivalncias estabelecidas por Adam em Plato, A Repblica, trad. e notas
de Maria Helena da Rocha Pereira, Fundao Calouste Gulbenkian, 1983, Lisboa, p. 311, nota 38.
60
inteligvel foi equiparada a um mundo separado o mundo das idias. Nele a
alma exerce o poder de conhecer os objetos propriamente cognoscveis graas
presena do Bem, assim como o olho corporal exerce o seu pleno poder de viso
quando se volta para objetos iluminados pela luz solar. Mas, se lemos
cuidadosamente o texto e esta leitura inteiramente conforme s duas outras
clebres passagens que seguem-se analogia, a saber, a Linha Dividida e a
Alegoria da Caverna percebemos que nos dito que a alma pode dirigir-se a
entes que esto misturados com as trevas e sujeitos ao devir.70 Neste caso, nos
diz Plato, ocorre que ela no consegue conquistar uma clara inteligncia,
seu parecer mudando de alto a baixo, do mesmo modo que o olho corporal no
alcana a viso clara e ntida quando se dirige a coisas mal iluminadas. Assim,
parece-me que a analogia entre o visvel e o inteligvel esses dois
domnios entre os quais ela se tece, torna-se pouco esclarecedora se
compreendemos que o visvel nomeia o mundo visvel e o inteligvel o
mundo das idias. Penso que seria mais correto entender aqui o visvel como o
mbito que assinala tudo o que concerne sensao visual, sem considerar
nenhum exerccio da alma nomeadamente, sem considerar o julgar da
percepo visual que, na passagem da Linha, ser chamado de opinio (doksa).
Nesta direo interpretativa, quando Scrates pede a Glauco, no incio da
analogia, para reparar que o sentido da viso teria sido melhor modelado do que
os outros pelo demiurgo, parece-me que est se falando da viso em geral, como
capacidade de um certo tipo de seres vivos, e no propriamente do julgar
perceptivo humano. Este, mesmo que visando entes que so apreensveis
visivelmente pelo rgo da viso, j comporta um grau de inteligibilidade, um
grau de exerccio da alma, um exerccio certamente precrio do ponto de vista
da possibilidade de alcanar plena inteligibilidade, mas que, nem por isso,
reduzido mera sensao visual. A expresso o inteligvel nomearia ento,
no o mundo das idias, mas aquilo que a alma alcana toda vez que exercita seu
poder e que, segundo a imagem que nos apresentada, comporta graus de
inteligibilidade de acordo com o fato de estar mais ou menos prximo do ser e
da verdade produzidos pelo bem. Veremos que esta interpretao a que mais se
conforma passagem da Linha que segue imediatamente a analogia.
70
Plato, Repblica, 508d.
61
Pouco adiante, e sempre neste mesmo fragmento, a comparao
aprofundada quando Scrates diz a Glauco:
Reconhecers que o sol proporciona s coisas visveis, no s,
segundo julgo, a faculdade de serem vistas, mas tambm a sua
gnese. <...> Logo, para os objetos do conhecimento, dirs que no
s a possibilidade de serem conhecidos lhes proporcionada pelo
bem, como tambm por ele que o ser (to einai) e a essncia (ten
ousian) lhes so adicionados, apesar de o bem no ser uma essncia
(ouk ousias ontos), mas estar acima e para alm (epekeina) da
essncia, pela sua dignidade e poder.71
Qual o sentido desta afirmao? Primeiramente, Plato quer fazer
compreender ao leitor que o poder do bem no simplesmente o de tornar
acessveis as idias inteligncia, como se estas preexistissem numa espcie de
noite de ininteligibilidade, refratrias alma, opacas e impenetrveis no seu ser,
noite sobre a qual, num certo momento, a luz da compreensibilidade seria
lanada pelo bem. Verdade, ser e essncia aletheia, to einai e ousia, so
concedidos pelo bem ao que propriamente , una e simultaneamente e isto
quer dizer: em acordo. Temos indicado, nesta passagem, um entrelaamento
destes trs termos que diz diretamente respeito quilo para o qual o pensamento
se enderea, isto , questo do ser no sentido mais largo. Torna-se necessria,
ento, uma orientao interpretativa do mesmo.
Como bem observa Heidegger, o Bem, to agathon, no tem nem
primeira, nem fundamentalmente, um sentido moral.72 O bem o que torna apto,
o que capacita. Mas, o que o Bem torna apto? Em primeiro lugar, ele torna apto
o mostrar-se das idias, a sua verdade, o seu desvelamento, para servir-nos da
traduo heideggeriana do termo aletheia. Este tornar apto no
imediatamente relacionado capacidade da alma para conhecer as idias, o nous
ou inteligncia. Antes, este tornar apto significa que o mostrar-se das idias, o
71
72
Idem, ibidem, 509b.
Cf. Heidegger, M., La doctrine de Platon sur la verit em Questions II, ed. Gallimard, Paris,
1990.
62
seu aparecer, coincide integralmente com o seu ser. No h, no mundo das
idias, em razo da postulao do Bem como entidade suprema, nenhuma
distncia entre aparncia e ser. As idias, poder-se-ia dizer, possuem uma
presena perfeita, uma presena que no comporta nenhum tipo de velamento,
de ocultao, seja esta compreendida como uma recusa a aparecer
um
subtrair-se presena, seja como um aparecer dissimulado ou distorcido
um aparecer, onde o que se mostra como sendo no corresponde ao que .
em razo desta presena perfeita das idias, propiciada pelo bem, que elas so
gignoskomenois, cognoscveis pela alma.
A aletheia, diz-nos Heidegger, no , para os gregos, primeiramente
relativa viso. A palavra evidncia, do latim evidentia, a traduo do termo
grego enargeia, cuja raiz etimolgica provm de argyros, prata. O que o termo
grego indica no , ento, aquilo que ressalta para a viso o que est
indicado no termo latino evidentia. Enargeia, diz antes, aquilo que brilha,
aquilo que se destaca e que, claro, em razo deste brilhar, pode ser acessvel ao
olhar. Entretanto, aqui no se trata de uma referncia necessria viso, mas de
uma consequncia propiciada por aquilo que decisivo que a ao de brilhar.73
frequentemente afirmado e com justa razo que, em Plato,
verdade, beleza e bem constituem uma unidade. Da conjugao entre os
dois ltimos termos, h no chamado ideal grego do kalos kai agathos
73
Heidegger vai mais longe nesta observao. Diz ele: Evidentia a palavra com que Ccero
traduz a palavra grega enargeia, interpretando-a na lngua romana. Enargeia, em que fala a mesma
raz que em argentum (prata), designa aquilo que brilha em si e a partir de si mesmo e assim se
expe luz. Na lngua grega no se fala de ao de ver, de videre, mas daquilo que luz e brilha. S
pode, porm, brilhar se a abertura j garantida. O raio de luz no produz primeiramente a
clareira, a abertura, apenas percorre-a. (O sublinhado nosso). Com estas observaes Heidegger
quer enfatizar que a abertura da aletheia anterior a todo ver e a toda visibilidade. H, entretanto,
algo de problemtico na citao: nos difcil pensar um brilhar que no seja simultneo
luminosidade, seja no caso de algo que no possui luz prpria e que brilha graas a uma fonte de
luz, seja no caso de algo que brilha a partir de si produzindo luz, como o sol. O que aqui est em
questo --e que, diria eu, a parte sublinhada da citao no ajuda a perceber-- a supremacia da
visualidade para os gregos, supremacia que, como veremos, ter consequncias decisivas para a
metafsica. Heidegger sabe perfeitamente destas consequncias quando pensa a Lichtung (que
traduz por clareira) como mais originariamente enrazada em leicht (leve, aberto) do que em
licht (claro, iluminado). De qualquer modo, em Plato, brilho e luminosidade so simultneos,
no sentido em que dizemos o sol brilha e, como tentamos frisar, so anteriores a ao de ver
do olho. (Cf. Heidegger, M., O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento em Heidegger, col.
Os Pensadores, ed. Abril Cultural, So Paulo, 1979, p. 78-79.)
63
(kaloskagathos) abundante testemunho, testemunho que reforado pela sua
identificao explcita no prprio Symposium platnico.74 Menos bvia , para
nossos ouvidos modernos, a associao expressa entre verdade e beleza.
Mas, no mesmo Symposium nos dito que Eros, toda vez que deseja, deseja
sempre e rigorosamente o Belo em si, aquilo que concede beleza ao que quer
que, particular ou especificamente, se deseje. O amante e neste momento do
dilogo, o sentido do termo "amante" j foi devidamente ampliado, se aplicando
quele que aspira a algo que belo e que no possui: o amado de carne e osso,
mas tambm a sade, a riqueza, enfim, qualquer coisa que se possa desejar75 o
amante, dizia-se, pode considerar que o objeto do seu desejo isto ou aquilo,
esse particular bem a que ele aspira. Entretanto, embora ele no o saiba e se
extravie nesse no saber, considerando que o seu desejo est posto aqui ou ali,
neste ou naquele bem particular, o que o amante desde sempre deseja, o seu
primeiro e nico objeto de desejo, o Belo em si. justamente o aprendizado
desta verdade o alvo de toda a pedagogia ertica que Diotima descreve ao jovem
Scrates: do amor de um belo corpo ao amor da beleza que est em todos os
corpos, do amor de uma bela alma quele das virtudes que fazem as almas belas,
do amor das variadas cincias ao amor daquela cincia que a primeira a
cincia do Belo em si. Em todo este exerccio que parece propor um
deslocamento do objeto de desejo em favor de um objeto mais geral e menos
sensvel, o que o amante acaba por descobrir, no fim da sua caminhada
ascendente, que o que sempre amara era esse Belo em si que estava como que
disperso no quinho de beleza que h em todos os bens que at ali ele desejara e
que, por isso, fazia que aparecessem a ele como belos e desejveis. Assim, se
acompanhamos o sentido do que Plato neste dilogo nos prope, percebe-se
74
75
Plato, Banquete, 201c.
Para explicar o sentido alargado do termo "amante", Diotima faz referncia ao uso do termo
"poeta": "Sabes que 'poesia' algo de mltiplo; pois toda causa de qualquer coisa passar do no-ser
ao ser 'poesia', de modo que as confeces de todas as artes so 'poesias', e todos os artesos
poetas. <...> Todavia, <...>, tu sabes que estes no so denominados poetas, mas tm outros
nomes, enquanto que de toda a 'poesia' uma nica parcela foi destacada, a que se refere msica e
aos versos, e com o nome do todo denominada. Poesia , com efeito, s isso que se chama, e os
que tm essa parte da poesia, poetas. <...> Pois assim tambm com o amor. Em geral, todo esse
desejo do que bom e de ser feliz, eis o que o 'supremo e insidioso amor, para todo homem', no
entanto, enquanto uns, porque se voltam para ele por vrios outros caminhos, ou pela riqueza ou
pelo amor ginstica ou sabedoria, nem se diz que amam nem que so amantes, outros ao
contrrio, procedendo e empenhando-se numa s forma, detm o nome do todo, de amor, de amar
e de amantes." (Plato, Banquete, 205c).
64
que o Belo em si possui um poder desvelador: ele que concede o mostrar-se
como desejvel a cada ente particular que se impe a Eros como seu objeto;
ele que arranca da indiferena o ente, fazendo que ele aparea como
kaloskagathos e, deste modo, permite que a alma humana se engaje nesse
movimento aspirante que o Eros. Em Repblica, o papel desse princpio
desocultador ser reservado, como veremos detidamente, ao Bem em si. Pareceme, pois, que se nos deixamos conduzir pela traduo heideggeriana do termo
grego aletheia como "des-velamento", isto , como um arrancar da ocultao, a
unidade entre verdade, beleza e bem comea a acenar para o pensamento. As
dificuldades para que este aceno seja percebido residem no fato de que foi
acompanhando estes trs termos que a metafsica pensou os objetos de uma
diviso especializada do seu saber: da verdade ocupa-se a Lgica, da beleza a
Esttica e, por ltimo, do bem, a tica. Com esta diviso que se deu muito
cedo, aparecendo j de forma incipiente em Aristteles essa unidade tende
gradativamente
se
obscurecer,
at
chegarmos
ao
seu
completo
desconhecimento, por exemplo, numa formulao como a de Max Weber, no
comeo do sculo passado, que afirma serem estes trs objetos irredutveis a
algo comum, sendo esta a causa
de que os saberes e as vocaes a eles
devotados estejam irremediavelmente em conflito. Cativados por este quadro,
que intimamente ligado ao fim de todos os valores, torna-se difcil para ns
a compreenso do que seja aquela unidade. No entanto, e apesar disso,
permanece o fato de que parece inteiramente abusivo dizer, por exemplo, que a
beleza da qual Plato nos fala no Symposium seja o objeto da contemplao
esttica, assim como afirmar que o bem de Repblica indique algo como a
bondade, isto , algo como uma virtude moral.76 A interpretao que,
acompanhando Heidegger, aqui proponho caminha para a compreenso do que
seja essa unidade, mas tambm para a compreenso de uma ambigidade no que
a metafsica e neste sentido, o pensamento platnico entende por
verdade, por ser e por aparecer o phainesthai que se ouve em
brilhar, ambigidade que traz em germe a fragmentao daquilo que na
origem tinha sido pensado como um. Pois, no momento em que o acontecimento
76
Se em Plato existe algo como a virtude moral --o que problemtico, uma vez que a aret
grega, como tantas vezes foi assinalado, bem diferente da virtude moderna que julga intenes
para a ao--essa noo seria mais uma idia no mundo inteligvel e no a idia suprema de Bem.
65
da aletheia deixa de ser compreendido como originrio e anterior a qualquer
presena ntica, para passar a ser compreendido como o atributo de um ente
supremo garantido no seu ser eterno, o pensamento se v impelido a prestar mais
ateno ao modo de fundamentao que para cada regio do ente esta entidade
suprema concede, do que para a simples ao da doao de desvelamento. Em
outras palavras, o pensamento se v engajado numa progressiva determinao
dos modos de causao desse ente supremo, tendo em vista a variedade dos
entes, o que, como consequncia, vai acarretar na sua prpria fragmentao at o
ponto em que sua unidade dada "meramente" pela ao de doar aletheia
seja completamente esquecida.
Aletheia, nestas passagens platnicas, segundo a interpretao que
antecipamos, diz respeito ao mostrar-se do ser do ente e quer indicar, quando
atribuda s idias, uma completa coincidncia entre ser e aparecer, coincidncia
esta que s est presente nestes especialssimos entes. Enfatizamos que
justamente essa coincidncia entre ser e aparecer que condio da
cognoscibilidade das idias e que, consequentemente, o termo altheia no se
refere imediatamente a essa cognoscibilidade, mas a algo anterior a ela, ao que
foi chamado de uma presena perfeita das idias. Se assim no fosse, se
verdade aqui nomeasse, como toda a tradio posterior entender, a adequao
da representao ao que , no faria sentido que Plato distinguisse cincia de
verdade, pois cincia , segundo essa mesma tradio, conhecimento
verdadeiro, conhecimento adequado ou exato77 tratar-se-ia de uma tautologia
ou pleonasmo. Plato, entretanto, diz:
Fica sabendo que o que transmite a verdade aos objetos
cognoscveis e d ao sujeito que conhece esse poder <o poder de
conhecer>, a idia do Bem. Entende que ela a causa do saber e da
verdade, na medida em que esta conhecida <hos gignoskomenes
men dianoou>, mas sendo assim belos, o saber e a verdade, ters
razo em pensar que h algo de mais belo ainda do que eles. E, tal
como se pode pensar corretamente que neste mundo a luz e a vista
77
Episteme, cincia algo mais do que conhecimento exato e adequado e, nesta acepo,
verdadeiro. Opinies podem ser verdadeiras, isto , adequadas, corretas, exatas, mas no
amarram a verdade, podendo esta fugir a qualquer momento (Cf. Mnon). Esta distino ,
entretanto, irrelevante para o que aqui tentamos mostrar, a saber, que o sentido do termo aletheia e
seus derivados no , nestas passagens, o de adequao ou exatido da representao.
66
so semelhantes ao Sol, mas j no certo tom-las pelo sol, da
mesma maneira, no outro, correto considerar a cincia e a verdade,
ambas elas, semelhantes ao bem, mas no est certo tom-las, a uma
ou a outra, pelo bem, mas sim formar um conceito ainda mais
elevado do que seja o bem.78
Aqui a aletheia concedida pelo bem s idias e no inteligncia; a
esta o bem concede a cincia. A aletheia no , pois, um atributo da
representao, mas do que . Assim, a afirmao de que o bem d s idias a
verdade quer dizer: o bem carrega as idias para o aberto, para a presena, e d a
elas uma consistncia que nenhum outro ente possui; por esta razo a alma pode
se orientar em direo a elas e corrigir gradativamente sua orientao de forma
a, como veremos, realizar sua paideia, sua formao. Esta interpretao
permanece, no entanto, precariamente determinada se no avanarmos no que
quer dizer esta consistncia que as idias possuem.
Falei acima em coincidncia entre ser e aparecer, mas o que em
509b est se entendendo por ser? Fala-se que o bem concede aos entes
inteligveis o seu ser (einai), mas tambm a sua ousia, termo que no fragmento
citado foi traduzido por essncia. Sabemos dos problemas que a traduo do
termo grego ousia apresenta, e fundamentalmente, dos problemas que ele
apresentou para a tradio. Estes problemas tm sua origem na prpria questo,
naquilo que os gregos entenderam por ser, problemas que desaguaro, vrios
sculos depois, na oposio escolstica entre essncia e existncia.
Costuma-se afirmar que o vocbulo ousia originalmente significou
algo que propriedade de uma pessoa, uma riqueza que lhe pertence de direito.
Um exemplo deste sentido do termo comparece em Plato, no Grgias (472b). O
contexto dessa ocorrncia o da famosa afirmao socrtica de que melhor
padecer o mal do que faz-lo. Essa afirmao soa aos ouvidos dos gregos
contemporneos
de
Scrates
inteiramente
implausvel,
despertando
imediatamente a sua contestao por parte de quem a oua. Assim, Polo diz a
Scrates que sua posio no pode ser verdadeira pelo fato de no ser partilhada
78
Plato, Repblica, 508e.
67
por ningum, encontrando-se ele em franca minoria. Diante disto, Scrates
argumenta que, quando pontos de vista diferentes se confrontam, no um
procedimento vlido de deciso da disputa o maior nmero de pessoas que
defendem uma ou outra posio: arrolar um grande nmero de testemunhas,
como se faz nos tribunais, no d garantias da verdade do que est em questo.
O objetivo socrtico apresentar a Polo um outro modo de dirimir o conflito: o
exame cuidadoso e bem disposto de cada posio procura da verdade, isto , o
procedimento dialtico. Em meio a esta problemtica, Scrates declara:
Todavia, eu que sou somente um, no concordo contigo, pois tu
no podes me compelir a isso: tu ests apenas produzindo vrios
falsos testemunhos contra mim na tua tentativa de desviar-me da
minha propriedade (tes ousias), a verdade (tou alethous).
Aqui Scrates reclama para si a verdade, ela sua ousia, o que lhe
cabe de direito e da qual, apesar de estar sozinho, no deve se desviar, sob o
risco de tornar-se inautntico, isto , de perder o que lhe prprio.
J no Protgoras, verifica-se um outro uso do termo ousia. Em 349b,
Scrates pede a Protgoras que ele examine se aos cinco nomes (onomata)
sabedoria (sophia), temperana (sophrosyne), coragem (andreia), justia
(dikaiosyne) e santidade (hosiotes) subjaz uma nica ousia, ou se, pelo
contrrio, corresponde a cada um deles uma entidade diferente. Trata-se da
tematizao das diferentes virtudes e de sua possvel unidade, assim como do
modo de ser dessa unidade.79 Nesta passagem, o sentido do vocbulo ousia
parece corresponder ao sentido do termo entidade, isto , nomeia
simplesmente algo que .
79
Neste momento do dilogo, Protgoras defende, contra a posio socrtica presente, por
exemplo, no Mnon, que o tipo de unidade que as cinco virtudes apresentam no semelhante
das partes do ouro, mas semelhante unidade das partes do rosto. Com esta comparao, o que
est se discutindo se a unidade das virtudes a do comum presente em todas elas, ou se, pelo
contrrio, trata-se de um arranjo de partes diferentes que compem um conjunto. Mais tarde,
sabemos, esta discusso tornar-se- a questo mais premente da Metafsica de Aristteles ao se
perguntar, no somente qual o sentido primordial do to on, mas tambm qual o seu modo de
significar, isto , como a multiplicidade dos diversos modos de dizer o "ser" se recolhe numa
unidade, a do "ser" como ousia, por exemplo. A afirmao que Aristteles, no sentido mais
eminente, faz do ser, a saber, que ele se diz de muitas maneiras, vale para todas as noes para
as quais no corresponde uma forma, um eidos: para o Bem, para a virtude (arete, excelncia), etc.
68
No Fdon, em 101c, discutindo-se a relao de participao do
mltiplo com a unidade da idia, o termo ousia comparece do modo seguinte:
<...> que tu no conheces outro modo pelo qual alguma coisa vem
existncia (gignomenon) do que pela participao de cada coisa na
essncia prpria (idias ousias) de que ela participa <...>.
Aqui, visivelmente, o termo ousia (traduzido na passagem por
essncia) nomeia a idia responsvel pelo fato de uma coisa vir a ser o que e
no outra coisa. Ousia nomeia, em outras palavras, o que da coisa, a sua
quididade.
Citei alguns fragmentos dos dilogos platnicos que testemunham
diversos sentidos da ousia, sentidos que so, muitas das vezes, incapazes de
serem univocamente traduzidos. Esta plurivocidade no provm, como pouco
depois afirmou Aristteles, de uma homonmia arbitrria. Ao contrrio, essa
homonmia indica uma unidade singular, uma unidade diferente da do comum,
isto , da do gnero que supera a diversidade na identidade distributiva de uma
marca presente em todos, e que, entretanto, como unidade, constela em torno de
si os mltiplos sentidos.80 Deixar-se guiar pela riqueza polissmica do termo
ousia nos encaminha para o que os gregos entenderam por ser.
com razo frequentemente afirmado que Aristteles parte, para sua
reflexo, dos significados que as palavras possuem na linguagem ordinria. Por
esta razo, e pela profundidade da sua compreenso, temos no seu tratamento da
ousia um til auxlio para nos encaminhar para a compreenso da plurivocidade
80
A famosa frmula aristotlica o ser (to on) se diz de muitas maneiras, vale tambm para a
ousia. Um dos lugares onde Aristteles nos aponta um outro modo de significao que no o do
conceito (o do comum) encontra-se no Livro Z IV da Metafsica, em 1030a-34. Ali ele diz: No
atribumos o ser nem por homonmia nem por sinonmia: como no caso do termo medicinal, do
qual as diversas acepces possuem relao com um nico e mesmo termo, mas no significam
uma e a mesma coisa e no so, entretanto, homnimos: o termo medicinal, com efeito, no
qualifica um paciente, uma operao, um instrumento, nem a ttulo de homonmia, nem como
exprimindo uma nica coisa <....>. A este modo de significar, Aristteles chama no livro Gamma
(1003a-34) da Metafsica de pros hen legomena, os vrios dizeres em relao a um. O exemplo
aqui o da sade: No por uma simples homonmia, mas de direito, que tudo o que saudvel
se relaciona com a sade, tal coisa porque a conserva, tal outra porque a produz, tal outra porque
o sintoma de sade, tal outra, enfim, porque capaz de acolh-la <...>.
69
de sentidos da ousia grega e isto independentemente do seu posicionamento
em relao teoria das idias platnica. Como primeira indicao desta
plurivocidade, podemos servir-nos da distino entre ousia primeira e ousia
segunda, seus dois sentidos bsicos, segundo Aristteles, distino que aparece
bastante claramente estabelecida, por exemplo, no livro Delta, VIII, da
Metafsica.81 Ali se diz:
Segue-se da que a substncia (ousia) reenvia a duas acepes:
aquilo que o sujeito (hypokeimenon) ltimo, isto que no mais
afirmado de algum outro, e ainda aquilo que, sendo o indivduo
tomado em sua essncia (tode ti on), tambm separvel (khoriston),
a saber, a configurao (morphe) ou forma (eidos) de cada ente.
Ousia, aqui traduzido por substncia, , num primeiro sentido
(ousia primeira), o indivduo auto-subsistente do qual se predicam as categorias,
o indivduo concreto, tode ti. Entretanto, dentre as categorias, h uma, a
categoria de substncia (ousia segunda), que prioritria justamente porque diz
o que o indivduo , se homem, pedra, ou estrela. O que aqui est indicado
que o ser do indivduo concreto sempre um ser determinado, um ser isto ou
aquilo, sendo a ousia segunda a responsvel por esta determinao. Se nos
guiamos pela estrutura gramatical das nossas lnguas estrutura cuja fixao
est inteiramente antecipada em Plato e Aristteles, sob a luz de uma
compreenso do sentido de ser poder-se-ia dizer que a ousia primeira
corresponde ao ente do qual se fala e que est representado na frase pelo sujeito
gramatical aquele do qual se fazem os diferentes tipos de predicao que
constituem as categorias aristotlicas. Dentre estas predicaes h, entretanto,
um certo tipo, aquele que gramaticalmente chamamos de nomes gerais ou
substantivos e que dizem o que aquele sujeito a ousia segunda.
Aristteles se serve, para distinguir os dois sentidos bsicos de ousia,
das seguintes expresses: a ousia primeira aquilo que no pode ser mais
afirmado de alguma outra coisa, ou seja, ela o indivduo singular que, pelo
fato de ser absolutamente singular no pode ser dito de mais nada. Novamente,
fazendo apelo s estruturas gramaticais, poder-se-ia dizer que este indivduo
81
Aristteles, Metafsica, 1017b-23.
70
singular representado na frase por um nome prprio, ou por um pronome que o
aponte. Como se sabe, segundo uma compreenso bastante estendida que
remonta a Plato no Teeteto e que na contemporaneidade partilhada, por
exemplo, por Wittgenstein no seu Tractatus os nomes prprios e
poderamos fazer isto extensivo aos pronomes demonstrativos no tm
significado, eles simplesmente esto na frase no lugar das coisas. Por esta razo,
sempre segundo esta compreenso, eles constituem o lao entre as palavras e o
mundo. A ausncia de significado do nome prprio, aqui apontada, equivale
afirmativa aristotlica de que a ousia primeira aquilo que no pode ser
afirmado de mais nada: o nome por sua singularidade como se trouxesse a
prpria coisa para a frase, ou dito ao contrrio, como se sasse do mbito do
falar sobre a coisa para a prpria coisa singular.
Em relao ousia segunda, nos diz Aristteles, que ela aquilo que
pode ser separado (khoriston) da coisa singular, sua configurao ou forma que,
por ser partilhada com outros entes do seu tipo, pode ser expressa numa
definio (horismos). A afirmao de que a ousia segunda separvel pode
conduzir a equvocos, pois sabemos que justamente esta separao
(kekhorismenos) o que fundamentalmente Aristteles censura na teoria das
idias de Plato. Segundo Aristteles, Plato teria sido abusivo ao atribuir a
estas determinaes uma existncia separada dos entes sensveis (ta aistheta),
dos corpos (ta somata) ou de cada ente individual (ton kath hekaston). Quando
na citao acima Aristteles fala da separabilidade da ousia segunda, o faz no
sentido de afirmar que ela capaz de ser extrada pelo pensamento, como aquilo
que comum a tudo o que partilha de uma mesma configurao ou forma. Em
outras palavras, a separabilidade da ousia segunda no faz dela um indivduo
auto-subsistente e independente da coisa individual que apresenta tal ou qual
configurao, auto-subsistncia e independncia que Plato atribura s idias,
convertendo-as assim em indivduos, alis, no que poderamos chamar de
indivduos por excelncia. justamente por esta recusa da existncia separada
da forma/configurao (eidos/morphe), a recusa de que ela seja um indivduo,
isto , uma ousia primeira, que a linguagem em Aristteles, uma vez que nomeia
algo comum, carrega sempre a precariedade de nunca alcanar coisa singular
alguma. Assim, entre a linguagem e as coisas se estabelece um hiato
71
intransponvel: as palavras so sempre gerais, enquanto as coisas so sempre
singulares.82 Esse hiato, desdobrado na estrutura interna da linguagem,
evidencia-se na compreenso gramatical que se tem de nomes prprios e nomes
gerais: enquanto aqueles, por um lado, teriam o poder de denotar as coisas, mas
careceriam de significado, os nomes comuns, por outro, embora sejam plenos de
significado, isto , passveis de definio, no conseguem denotar nada de
individual.83
As substncias primeiras so, para Aristteles, entes singulares,
individuais. Indivduo costuma ser a traduo que reservamos para a
expresso hekaston. O nosso vocbulo indivduo provm do termo
individuum, termo latino que foi, por sua vez, frequentemente utilizado como
traduo do grego atomos. Assim, individuum nomeia o indiviso e o indivisvel.
Falei acima que em Plato as idias so substncias primeiras por
excelncia, isto , indivduos no sentido etimolgico recm indicado: elas so
independentes e auto-subsistentes, entidades absolutamente singulares e
diferenciadas cujo modo de ser o da unidade indivisa. Num vocabulrio
posterior, poder-se-ia dizer que elas so totalidades, no sentido em que, por
exemplo, aparece a categoria de totalidade em Kant, isto , como sntese das
categorias de universalidade e singularidade. As idias so universais em razo
de serem elas o trao comum a tudo o que possui um mesmo nome. Mas este
trao no est disperso na multiplicidade de coisas nomeadas por aquele nome,
como acontece em Aristteles; ao contrrio, as idias so esse trao, consistem
na auto-subsistncia independente do mesmo no seu carter de determinao
82
83
Cf. Aubenque, P., LEtre chez Aristote.
Em situao semelhante encontram-se os pronomes demonstrativos. Certamente, consegue-se,
fazendo uso da linguagem, indicar coisas singulares, por exemplo, quando fazemos um pedido do
tipo: Alcana-me esse lpis. Mas nessa frase o pronome demonstrativo esse indica um sair da
linguagem, seja atravs de um gesto, seja atravs de determinaes espaciais ou temporais
ulteriores que fazem apelo a capacidades no discursivas. O que chamei de hiato entre a
linguagem e as coisas permeia a compreenso metafsica da linguagem e com esse problema se
deparou o conjunto da tradio. Um momento privilegiado encontra-se na filosofia de Kant, na
distino entre as categorias do entendimento, sempre universais, a-espaciais e a-temporais, e as
formas a priori da sensibilidade. Em Kant, se no fossem as snteses transcendentais, a radical
heterogeneidade entre estes dois mbitos acarretaria a impossibilidade do juzo, isto , da
determinao das coisas singulares por um conceito universal. O que Kant pe em relevo que
toda atividade judicativa contm um componente sensvel espao-temporal e que, neste sentido,
ela sai do entendimento e sua universalidade.
72
exclusiva so, pois, neste sentido, singularidades absolutas. Em outras
palavras, nas idias os dois sentidos de ousia tornam-se um nico e, por esta
razo, elas so as substncias de pleno direito, os nicos entes que mereceriam
ser chamados de indivduos.84 Em contrapartida, os indivduos em Aristteles,
isto , as substncias primeiras, somente o so de modo restrito, isto , pelo fato
de no poderem ser ditos de outra coisa, de no serem predicveis de mais
nada.85 A restrio deve-se a que esses indivduos so completamente divisveis,
no modo em que as categorias os dividem: de Scrates posso dizer que
homem, que branco, que velho, que msico, que est na gora, enfim,
posso considerar essa ousia primeira a partir dos diversos modos que as
categorias propiciam. justamente esta divisibilidade que a predicao
possibilita que, no caso das idias, interditada, uma vez que sua unidade
homognea rejeita a considerao perspectivada das categorias. Veremos,
logo adiante, que no dilogo Sofista, premido pela necessidade de provar a
possibilidade do discurso falso, ser necessria a Plato a postulao de gneros
supremos, espcie de predicaes que se aplicam totalidade dos entes,
inclusive s idias.86 Eles permitiro uma tessitura que permitir tanto o
exerccio judicativo (a subsuno de um particular sob um universal, no dizer
de Kant), quanto o procedimento de diairesis que, neste dilogo, ser
compreendido como o prprio procedimento dialtico e que, modernamente,
poderamos chamar de exerccio de anlise conceitual. Assim, os gneros
supremos do Sofista permitiro tambm a explicao de como so possveis
discursos significativos independentemente da sua verdade ou falsidade.
Falamos da passagem (509b) onde se afirma que to agathon
proporciona aos objetos do conhecimento no somente a possibilidade de serem
conhecidos a sua aletheia, em nossa interpretao, mas tambm o seu ser
84
Em um vocabulrio escolstico posterior, nas idias existncia e essncia coincidem.
85
Scrates jamais pode seguir-se a um uso copulativo do verbo ser, isto , jamais pode ocupar
o lugar de um predicado ou categoria.
86
O que Plato nomeia como gneros supremos no Sofista essas predicaes que se aplicam a
todos os entes-- sero nomeados depois, na escolstica, como transcendentais pelo fato de
transcenderem as categorias. Aristteles, na sua tematizao do ser, perceber que eles no podem
ser considerados gneros e que, na prpria enunciao da expresso gneros supremos
evidencia-se uma contradio. Como tudo o que mais digno de ser pensado, para Aristteles
tambm o mesmo e o outro se dizem de muitas maneiras.
73
(to einai) e sua essncia (he ousia). Este fragmento, como vimos, faz parte da
mencionada analogia entre o Bem e o sol. Permito-me cit-lo novamente:
Reconhecers que o sol proporciona s coisas visveis, no s,
segundo julgo, a faculdade de serem vistas, mas tambm a sua
gnese. <...> Logo, para os objetos do conhecimento, dirs que no
s a possibilidade de serem conhecidos lhes proporcionada pelo
bem, como tambm por ele que o ser (to einai) e a essncia (ten
ousian) lhes so adicionados, apesar de o bem no ser uma essncia
(ouk ousias ontos), mas estar acima e para alm (epekeina) da
essncia, pela sua dignidade e poder.
No momento da argumentao em que este fragmento introduzido
j foram estabelecidas as correspondncias mais evidentes, o ente visvel e o
ente inteligvel, o olho do corpo e a inteligncia, o sol e o Bem, enfim, a luz e a
verdade, s que agora se acrescenta mais uma correlao: gnese do visvel
corresponde o ser (to einai) e a ousia da idia. Como veremos logo adiante com
mais cuidado, se ao ouvir o termo "gnese" escutamos simultaneamente
"mutabilidade" e "indeterminao", entende-se por que razo Plato desdobra o
seu correspondente analgico no par to einai e he ousia, o primeiro termo
significando presena imutvel, o segundo, determinao absoluta, isto ,
unicidade, simplicidade e indivisibilidade. As idias platnicas so, como j
adiantamos nas breves referncias ao tratamento da ousia em Aristteles,
substncias por excelncia: indivduos simples existentes.87
87
Parece-me que esta a noo de ousia que subjaz a todo o tratamento que Aristteles faz da
mesma e isto, como foi dito antes, revelia dele se comprometer ou no com a existncia de tais
entes. Dito em outros termos, o "lugar vazio" desde onde se confrontam entes sensveis e
universais, os primeiros como sendo indivduos existentes, embora compostos, os segundos como
sendo "separveis atravs do pensamento", isto , abstraes que, como existentes simples
inexistem, esse lugar a mencionada noo de ousia. Sob o seu pano de fundo, nem uns nem
outros chegam a ser propriamente substncias em sentido pleno.
74
2.2
A Linha Dividida
Sabemos que logo a seguir da analogia entre o sol e a idia
suprema de Bem, no fim do Livro VI da Politeia, Plato nos apresenta a
famosa passagem que conhecemos pelo nome de Linha Dividida. Nestas
pginas, Plato nos falar dos diversos tipos de entidade que constituem o
todo do que , dispondo-os numa linha que ser dividida em segmentos
que correspondero queles. Assim, Scrates pede a Glauco para dividir a
linha primeiramente em dois segmentos desiguais que representaro
respectivamente o mundo visvel o inferior e menor, e o mundo
inteligvel o superior e maior. Por sua vez, cada um destes segmentos
ser imediatamente subdividido, respeitando a mesma proporo, em dois
outros segmentos, de forma a obter-se, como resultado, a linha dividida
em quatro partes, duas correspondentes aos horata, duas aos noeta. A
disposio dos tipos de entidade na linha obedecer a uma hierarquia, cujo
critrio ser o maior ou menor grau de verdade e ser com respeito a este
que cada capacidade da alma dever se exercer. Diz Plato:
Tu concordarias que a diviso com respeito verdade ou ao
seu contrrio (dieresthai aletheia te kai me) expressa pela
mesma proporo que a do opinvel e o cognoscvel? 88
Sem considerar ainda a correlao entre os tipos de ente e as
capacidades cognitivas da alma, teremos no segmento inferior que
Plato diz devermos conceb-lo como aquele que corresponde a imagens
(eikones), como sombras, reflexos na gua ou em superfcies brilhantes
os entes que possuem menor grau de verdade. Contrariamente, no
88
Plato, Repblica, 510a. Como ficar claro mais adiante, ao grau de verdade dos entes (grau que
se tece entre o que h de fiel no mostrar-se da coisa e o que nela h de pseuds, de distorcido e
enganador) e sua proporo (diviso e ordenamento), corresponder o grau de certeza que a alma
alcana em relao a cada tipo de ente, grau de certeza que se exprime na distino mais geral
entre opinio (onde a exatido da representao fortemente sujeita a erro) e
cincia/conhecimento (espisteme), onde o erro pretende ser excludo.
75
segmento superior, estaro alocadas as prprias entidades inteligveis, as
idias. Nos segmentos intermedirios teremos, correspondendo parte
superior do visvel, os prprios entes visveis e no suas imagens ou
duplos, e na parte inferior do inteligvel, os entes matemticos.
No nos deteremos agora para analisar o sentido do carter
intermedirio dos entes matemticos ou o prprio sentido da proporo
analogia que Plato adverte ter que ser enfaticamente respeitada na
construo geomtrica do modelo da linha. O ponto a que quero me
ater pois interessa diretamente para esta primeira aproximao da
relao entre ser e pensar, justamente essa hierarquia dos graus de
verdade segundo a qual os entes so dispostos na linha. em relao a ela
que poder ser determinado o que corresponde opinio (doksaston) e o
que corresponde ao conhecimento (gnoston).
Foi dito acima, em relao ao papel do Bem tal qual
apresentado na analogia com o sol, que ele consiste em garantir s idias a
sua verdade, o seu desvelamento, e foi acrescentado que a presena delas
perfeita, tendo superado todo tipo de ocultao. Na passagem da Linha
Dividida, nos dito expressamente que de acordo com o grau de
desvelamento de cada tipo de ente que cada capacidade cognitiva da alma
deve exercer-se. Para compreender o que seja aletheia, pouco acima nos
servimos da tradicional oposio entre ser e aparecer, ressaltando que
no mbito transcendente das idias, o ser e o aparecer o ser das idias e
o seu mostrar-se coincidem inteiramente. Podemos agora conceber o
sentido desse acrscimo ou decrscimo de verdade que os diversos tipos
de ente apresentam. Vejamos isto com maior cuidado, fazendo referncia a
outro dilogo platnico.
No Timeu, um dilogo bem posterior, Plato nos apresenta um
mito de criao do cosmo. O objeto da narrativa ilustrar a natureza mista
do mesmo, o fato dele comportar simultaneamente permanncia e
76
mutabilidade, determinao e indeterminao, ordem e acaso, ser e devir.
Trata-se, pois, do ponto de vista platnico, de um discurso que procura
uma explicao do mundo visvel. Repetidas vezes Timeu, a cargo de
quem fica a exposio, adverte que ela simplesmente plausvel e jamais
atinge, por versar sobre o visvel isto , sobre a cpia e no o modelo,
um
grau
de
conhecimento
claro
conclusivo,
mas
apenas
verossimilhana. 89 A histria que Plato nos relata parte da postulao das
duas ordens, a do modelo ou paradigma que corresponde comunidade
das idias e a do visvel, cpia produzida por um artfice divino a partir
da contemplao daquele modelo. O demiurgo, de inteligncia divina e
extrema bondade, 90 fez sua obra da melhor maneira possvel, procurando
modelar
tanto
corpo,
quanto
alma
inteligente
do
mundo,
acompanhando a harmonia e a proporo. Esta narrativa, onde o princpio
eficiente de organizao conferido, ao mundo visvel, pela inteligncia
divina do demiurgo parece, num certo momento, esbarrar com a
impossibilidade de explicar o acaso, a desordem, a mutabilidade sem regra
e medida. Assim, nesta primeira tentativa de explicao, 91 o mundo
89
Em razo de se tratar de um discurso acerca da cpia e no do modelo, Plato coloca as
seguintes palavras na boca de Timeu: Por esse motivo, Scrates, se sob vrios aspectos, acerca
de muitas questes --os deuses e a gnese do mundo-- no nos for possvel formular uma
explicao exata em todas as mincias e coerente consigo mesma, sem a mnima discrepncia, no
tens de que admirar-te. Dar-nos-emos por satisfeitos se a nossa no for menos plausvel do que as
demais, sem nos esquecermos de que, tanto eu, o expositor, como vs outros, meus juizes,
participamos da natureza humana, razo de sobra para aceitarmos, em semelhante assunto, o mito
mais verossmil, sem pretendermos ultrapassar seus limites. (Timeu, 29c-d). E pouco adiante, j
abordada a criao do corpo do cosmo e ao tratar da criao da alma, Timeu adverte novamente
para a precariedade da exposio, uma vez que o demiurgo no poderia ter acompanhado essa
seqncia na criao pois jamais permitiria que o mais velho fosse dirigido pelo mais novo.
Assim afirma-se: Mas, isso maneira de falar de quem, como ns, depende, em grau to
acentuado, do acidental e do acaso <...>. (Timeu, 34c).
90
Ele era bom; ora, no que bom jamais poder entrar inveja seja do que for. Estreme, assim de
inveja, quis que, na medida do possvel, todas as coisas fossem semelhantes a ele. (Timeu, 30a).
Foi apontado acima que o que o grego nomeia pelo termo bom agathon no aponta primeira,
nem fundamentalmente, para um sentido moral. Nesta passagem, ao contrrio, pareceria que o
sentido primordial da natureza boa do demiurgo moral, uma vez que associado ao fato de ele
estar livre de inveja. Gostaria de ressaltar em favor da interpretao adiantada que o trao
fundamental da bondade do demiurgo consiste em ser um bom artfice, quer dizer em produzir
cpias dos modelos o mais perfeitas possveis. A inveja, neste sentido, seria algo que perturbaria o
zelo de sua atividade, introduzindo nas cpias algo alheio ao modelo, algo como o que
modernamente entenderamos como a marca do gnio. Parece-me que aqui bom novamente
evoca o sentido de aquele que torna apto, no caso torna apta a cpia, isto , adequada ao modelo.
Em outras palavras, o criador bondoso, o bom criador, aquele que se apaga diante do modelo.
91
O demiurgo cria o corpo do cosmo com os quatro elementos --fogo, terra, ar e gua. Ele o cria
de forma perfeitamente esfrica e tambm submetido ao movimento mais perfeito que o de
77
certamente comporta mutabilidade, por exemplo a mutabilidade mltipla
dos astros trata-se de movimentos de rapidez e direo diferentes,
correspondendo ao sol, lua, a cada um dos cinco planetas conhecidos a
olho nu, e s estrelas fixas. Entretanto, esta mutabilidade quase perfeita,
regrada, permitindo o clculo e a previso, pois contra o pano de fundo do
cu constelado sempre o mesmo, possvel calcular os movimentos
regulares dos outros astros. Por se tratar da melhor cpia possvel do
modelo, uma vez que foi feito por uma inteligncia divina e bondosa,
embora o cosmo esteja sujeito mutabilidade, esta mutabilidade ter
nmero. 92 Desta explicao, pois, parecem ficar excludos os movimentos
aleatrios, casusticos, aqueles que carecem de toda regra. 93 Diante deste
impasse, Timeu retoma a sua explicao da seguinte maneira:
Em quase tudo o que temos dito, com exceo de algumas
breves indicaes, temo-nos referido ao que foi feito pela
inteligncia <nou dedemiourgemena>; mas devemos fornecer
um discurso em relao ao que vem a ser pela necessidade
<anankes gignomena>. <...> Assim, se se quer dizer de que
modo nasceu o mundo, tem que se fazer intervir a espcie da
rotao sobre si mesmo. A superfcie externa do cosmo, ranos, o cu, lisa e uniforme. A alma,
criada antes do corpo, ser colocada no centro da esfera e difundida por todas suas partes. Ela foi
criada pelo demiurgo a partir do Mesmo, do Outro e do Ser --os trs gneros supremos que
aparecem no dilogo Sofista e que permitiro o entrelaamento das idias possibilitando o tecido
do logos e sua inteligibilidade. Com eles o demiurgo fez uma mistura to homognea quanto
possvel, mistura que ser depois dividida em sete pores que sero dispostas em duas sries.
Toda essa composio <o demiurgo> dividiu em duas metades, no sentido do comprimento e as
cruzou pelo meio, dando-lhes a forma de um X, vergou-as em crculo e uniu as extremidades de
cada uma com ela mesma e com a da outra no ponto oposto de sua intercesso. O anel externo foi
destinado ao Mesmo cujo movimento sempre recorrente da esquerda para a direita --o que
posteriormente chamar-se- de esfera das estrelas fixas--, e o interno no sentido da direita para a
esquerda. Este anel foi cortado seis vezes, dando lugar a sete crculos correspondentes aos astros
cujos movimentos so diferenciados --sol, lua, e os cinco planetas conhecidos. Ento a alma,
entretecida em todo o cu, do centro extremidade, e envolvendo-o em crculo por fora, sempre a
girar em torno de si mesma, inaugurou para sempre o divino comeo de uma vida perptua e
inteligente. (Cf. Timeu, 33a-37a).
92
Como veremos, logo adiante, o demiurgo para regrar os movimentos cria o tempo, imagem
mbil da eternidade: <aquilo> que se movimenta com o nmero e a que chamamos tempo.
(Timeu, 37d-e).
93
Em 30a, esse demiurgo bondoso aparece como aquele que introduz a ordem no conjunto das
coisas visveis que estavam nunca em repouso, mas movimentando-se discordante e
desordenadamente. Veremos como nestas palavras antecipa-se a cogitao de um espao material
indeterminado, a khora.
78
causa errante <to tes planomenes eidos aitias>, e a forma em
que ela age. 94
Aos nossos ouvidos modernos, a expresso o que vem a ser
pela necessidade no parece imediatamente estar relacionada ao acaso, ao
que carece de regra, mas, pelo contrrio, quilo que, por possuir regra ou
lei,
acontece
de
forma
sempre
idntica,
sem
variaes,
isto
necessariamente. Entretanto, no Livro V da Metafsica, Aristteles
falando acerca das acepes do termo necessrio (anagkaion), afirma:
A necessidade considerada, com justa razo, como sendo
algo de inexorvel, por ser oposta ao movimento que est de
acordo com o propsito (proairesin) e o clculo (logismon). 95
Se relacionarmos o que aqui nos ensina Aristteles, entende-se
a razo pela qual, no Timeu de Plato, o que vem a ser pela necessidade
deva ser explicado a partir da causa errante, isto , de algo que resiste a
toda regra. Pois, se o que vem a ser pela necessidade aquilo que no tem
propsito, uma vez que no foi intencionado pelo demiurgo de inteligncia
divina e que, por isso, carece de toda inteligibilidade ou clculo,
ento o desregramento deve ser sua principal caracterstica.
Parece-me que esta retomada da explicao corresponde a um
movimento que desce do cu terra. como se Timeu, com o olhar
fascinado exclusivamente pela ordem celeste, tivesse realizado a sua
primeira tentativa de explicao do cosmo: o cosmo como melhor cpia
do modelo e, por isso, cpia absolutamente ordenada. Mas eis que a
desordem terrena se faz lembrar: nem todo o cosmo obedece ao clculo, h
uma grande poro dele, esta parte aqui embaixo, que est permeada
94
95
Plato, Timeu, 47e.
Aristteles, Metafsica, Livro D, 1015a. Aristteles tambm fala da acepo de necessrio no
sentido da necessidade lgica, isto , indicando algo que embora seja inexorvel, inteligvel e
sujeito a regra.
79
pela desordem, pelo acaso e a ininteligibilidade. Nem todo o cosmo
segundo logismos, a superfcie terrena est repleta de mudanas aleatrias
e casusticas, refratrias compreenso e, em termos mais especficos, ao
clculo, mensurao ou antecipao. Devemos ento, parece-me que assim
pensa Timeu, introduzir um novo princpio que seja responsvel por elas.
por esta razo que, nesta retomada da explicao desde estaca
zero, explicao que procura dar conta daquilo que segundo a
necessidade
que,
consequentemente,
escapou
da
inteno
do
demiurgo, Timeu acredita ter que incluir, como ponto de partida, alm
das duas ordens acima citadas o modelo e a cpia mais perfeita possvel
realizada pelo demiurgo, a khora, o espao. 96
Ora, dividamos este novo comeo mais largamente do que
fizemos com o primeiro. Neste distinguimos duas classes de
ser. -nos preciso agora descobrir uma terceira classe. As duas
primeiras nos eram suficientes para nossa anterior explicao.
<...> Mas agora, a seqncia de nosso raciocnio parece forarnos a tentar conceber, atravs das palavras, uma terceira
espcie, que resulta obscura e difcil. Que propriedades h que
se supor que ela possui naturalmente? Antes de mais nada tem
de se lhe imputar uma propriedade deste tipo: ela o suporte
(hypodokhen), como a nutriente (tithenen) de todo o nascimento
ou gerao. 97
A terceira espcie que est sendo introduzida na exposio nos
apresentada como tendo que ser concebida em dois aspectos: o primeiro
96
Em diversos momentos da exposio que se segue trataremos da khora como espao ou
receptculo, mas enfatizando o seu carter material. De fato, a palavra hyle, matria, no aparece
em nenhuma das passagens trabalhadas, o que pode conceder a nossa abordagem a aparncia de
um abuso interpretativo. Entretanto, necessrio ter presente que a noo grega de espao ou
localidade inteiramente diferente da noo moderna, que parece a ns inteiramente bvia e que
projetamos no mundo grego de maneira, agora sim, abusiva. Refiro-me noo de espao
matematizvel, vazio de matria e de quaisquer qualidades. Como se sabe, no tratamento que
Aristteles faz do fenmeno da metbole/kinesis, isto , da mudana, o espao possui qualidades,
no constituindo um puro receptculo, espcie de cenrio onde, em parceria com o tempo, foras,
massas e aceleraes fazem sua performance. Em Aristteles, por exemplo, o alto chama o leve e o
baixo o pesado. Este tipo de compreenso da espacialidade j anuncia a enorme distncia que a
separa do moderno espao homogneo e vazio.
97
Plato, Timeu, 48e.
80
deles o seu carter de suporte; o segundo o fato de ser nutriente de
todo nascimento ou gerao, isto , ser fonte de mutabilidade. Vejamos o
seu carter de suporte.
A primeira indicao oferecida para faz-lo que a terceira
espcie, se pensada como suporte, no deve
nenhum
poder
corresponder
dos quatro elementos primrios fogo, ar, gua e terra. Uma
vez que estes se transmutam uns nos outros, eles parecem ser muito mais
apropriadamente concebidos como qualidades adquiridas por um suporte
do que como o prprio suporte. Plato nos ilustra isto com a seguinte
analogia:
Suponhamos que algum modele em ouro todas as figuras
possveis e no cesse, nem um momento s, de transformar cada
uma delas em todas as demais. Suponhamos que a esse artista
se lhe mostre uma das figuras e se lhe pergunte: o que isto?.
A resposta mais adequada seria: isto ouro. Em relao
figura triangular e a todas as demais figuras que tenham podido
produzir-se nesse ouro, no se as pode designar jamais como
seres <hos onta>, uma vez que elas se transformam no prprio
instante em que se as estabelece. Entretanto, se se quer aceitar
constantemente a expresso o que tem essa qualidade, nos
parece condizente. 98
E, pouco adiante:
Por isso no diremos que a me e suporte de tudo o que nasce
e gerado, de tudo o que visvel e, de uma maneira genrica,
dos objetos da sensao, terra, ou ar, ou fogo, ou alguma
outra coisa que vem desses <elementos> ou dos quais esses
nascem. Se dissemos, pelo contrrio, que uma certa espcie
invisvel e sem forma, que o recebe tudo e participa do
inteligvel de uma maneira muito embaraosa e difcil de
entender, no estaremos mentindo. 99
98
Idem, ibidem, 50a.
99
Idem, ibidem, 51a.
81
A terceira espcie, nomeada aqui como me (gen) e suporte
(hypodokhen), ser nomeada pouco adiante como khoras, 100 vocbulo que
costuma-se traduzir por espao ou localidade. Este termo deve ser
ouvido em ntima relao com o termo suporte: a khora como espao
receptculo que vir a acolher esta ou aquela determinao ou, dito de
outro modo, o que vir a suportar ou padecer ulteriores determinaes,
sendo vazia de todas as formas, 101 pois o que tiver que receber todas as
formas, no deve possuir forma especial alguma. 102
Em relao ao segundo aspecto, o carter de nutriente da
terceira espcie, foi dito acima que esse carter sugere que ela deva ser
compreendida como fonte da mutabilidade de tudo o que possui
nascimento.
Com efeito, a introduo dessa terceira espcie, me nutriente e
suporte, far que a narrativa assuma a seguinte forma: o mundo visvel foi
produzido por um artfice divino, o demiurgo, que o fez a partir de duas
ordens: uma, representada pelas idias, servir de modelo para a produo,
a outra, a khora, constituir a matria para a mesma. A criao csmica do
demiurgo no , pois, uma criao ex nihilo, a partir do nada, como no
caso da noo de criao crist. Mantendo-se presente que o termo eidos
significa, antes de ter se tornado um termo tcnico da filosofia
platnica, tanto o aspecto que uma coisa possui, quanto o modelo que o
arteso contempla mentalmente e que orienta a fabricao do produto,
torna-se claro que estamos diante de uma referncia atividade do
100
Idem, ibidem, 52b. Ela nomeada como me e suporte em oposio ao modelo eterno e
imutvel, concebido como pai que semeia introduzindo forma: da juno de pai e me nasce o
filho, o mundo visvel. (Cf. 50c-d). Como foi dito acima, na traduo do termo khora por espao,
devemos nos abster de entender este espao do modo moderno, isto como extenso vazia de
matria. Uma tal compreenso interditaria a possibilidade de compreender o mito do demiurgo
como atividade produtora.
101
Idem, ibidem, 51b.
102
Idem, ibidem, 50e.
82
trabalho artesanal, onde uma forma (eidos) introduzida numa matria
(hyle), conformando-a. Sabemos que repetidas vezes Plato se serve da
relao modelo/cpia, prpria da atividade de fabricar, para que se
conceba o tipo de vnculo que o inteligvel possui com o visvel. Parece
razovel pensar que justamente o elemento imperecvel do modelo
que permanece o mesmo, independente do nmero de cpias que dele
possam se fazer o que faz atraente esta metfora. Ela aparece no prprio
Timeu em 28a:
Quando o artista trabalha em sua obra, a vista dirigida para o
que sempre se conserva igual a si mesmo, e lhe transmite a
forma e a virtude desse modelo, natural que seja belo tudo o
que ele realiza.
Mas, que forma e que matria quer Plato que concebamos
quando ele narra sua histria no Timeu?
Como j foi dito, forma e matria pr-existem criao, no
tendo sido criadas pelo demiurgo. Comecemos pela khora. Dissemos que
se pode compreender o seu significado tendo em mente o seu carter de
receptculo,
justamente
por
ser
aquilo
que
receber
forma,
determinao. Trata-se de uma espcie de matria prima originria que
carece de toda determinao. Por esta razo, poder-se-ia dizer que
algo, cujo nico atributo, se nos permitido falar assim, a existncia,
uma vez que carece do que mais tarde chamar-se- de quididade. A khora
no nem isto, nem aquilo, ela simplesmente existe na mais completa
indeterminao. Pensando-se a partir dos dois pares de oposies
primeiramente concebidos para delimitar o que seja ser, a saber, a
oposio entre o que permanece e o que devm, por um lado, e a oposio
entre o que e o que se mostra como sendo (o par ser/aparecer), ento a
khora parece nos obrigar a formular uma noo de ser que , diria eu, de
ponta a ponta no grega: ela o puro devir, aquilo que jamais se demora
numa configurao ou determinao e, por esta razo, ela o que no se
83
mostra, ou seja, algo que jamais conquista presena, verdade,
desvelamento (aletheia). Dito com outras palavras: pelo fato de estar
sujeita ao fluxo radical que Plato compreende como a doutrina heracltica
do panta rei, a khora nunca torna-se presente, nunca consegue aparecer.
Com a analogia do artfice imaginrio que continuamente modela
estatuetas a partir do ouro, no permitindo que nenhuma delas repouse
num aspecto determinado, Plato nos apresenta o que poderia ser uma
ontologia (ou melhor, uma no-ontologia) que prescindisse da postulao
do mundo das idias. Segundo ela, a que sustentam aqueles que acreditam
que o que propriamente , o que se oferece sensao (aisthesis), 103 s
pode afirmar-se legitimamente o ser do substrato, uma vez que este que
realmente permanece, sendo toda qualidade meramente contingente. No
exemplo analgico, o substrato ainda comporta determinao, a saber, a de
ser ouro e no outra coisa, entretanto, o que Plato aqui est chegando a
conceber
possibilidade realizada historialmente na poca
moderna de compreender o ser como mera existncia desprovida de
quaisquer atributos qualitativos, existncia capaz, no entanto, de
contingentemente se vestir com esta ou aquela qualidade. 104
Uma experincia de pensamento semelhante empreendida
neste dilogo pela personagem Timeu, nos oferecida por Aristteles no
Livro VII da sua Metafsica. Ali, no captulo 3, depois de ter focalizado o
sentido de ousia como sentido decisivo para a compreenso do ser uma
vez que to on legethai pollakhos, o ser se diz de muitas maneiras, a
103
104
Plato, Timeu, 51d.
Estou aqui aludindo grande revoluo na compreenso do que seja ser que se inaugura com
Descartes. Na metafsica cartesiana, sabemos, haver duas substncias a res extensa e a res
cogitans. A primeira, o real, uma substncia desprovida de todas as qualidades perceptveis pelos
sentidos, sendo somente portadora do que o prprio Descartes nomeia de qualidades primrias,
aquelas que podem ser tratadas matematicamente. Entretanto, o prprio Descartes com a
geometria analtica, instrumento decisivo para o desenvolvimento da fsica-matemtica, que
permitir despir essa res extensa das determinaes espaciais, expressando algebricamente , isto ,
de modo puramente quantitativo, aquilo que at ento ainda era concebvel atravs da imaginao:
as figuras como crculos, tringulos, etc., etc. De ali em diante, e de modo gradativo, a mente
libertar-se-, para tratar do que propriamente , dos grilhes da espacialidade, o que quer dizer, em
nosso contexto, dos grilhes da qualidade e em ltima instncia da substncia. inteiramente
iluminadora, a este respeito, a compreenso de ser que, segundo Heidegger, o Gestell a essncia
da tcnica modernadispensa: o real encontra-se somente como fundo (Bestand), matria
indeterminada que se oferece ao trabalho humano.
84
exposio ser encaminhada para a discusso dos possveis significados
daquela. Aristteles aponta quatro sentidos bsicos ousia como genos,
kath houlou, como to ti en einai e, por fim, como hypokeimenon. O
captulo 3 reservado para a anlise da compreenso da ousia como
hypokeimenon, aquilo que se estende (keimai) por baixo, que subjaz,
enfim, o substrato. Sero apresentados trs candidatos para compreender o
que seja este substrato: a matria (hyle), a forma (morphe) ou o synolon, o
composto de matria e forma. primeira vista, nos diz Aristteles, a
matria que parece se candidatar mais fortemente a ser o substrato, uma
vez que ela que recebe a determinao da forma. Afirmando isto,
Aristteles procede de modo semelhante a Plato: vai despindo
gradativamente o synolon de toda forma at chegar a conceber uma
espcie de prote hyle, uma espcie de matria prima isenta de toda forma.
O sujeito (hypokeimenon) ltimo no pois, por si, nem um
ente determinado, nem de uma certa quantidade, nem de
categoria alguma; ele no consiste sequer na negao destas
categorias, pois as negaes, elas tambm, s lhe pertencem por
acidente. 105
Diante
do
resultado
deste
procedimento,
Aristteles
experimenta um forte desconforto o mesmo embarao de Timeu na sua
exposio e de maneira abrupta, como se a concluso no precisasse de
maiores justificaes ou tematizaes, decreta: entretanto, isto
impossvel, pois a substncia parece ter preeminentemente o carter de ser
separvel e de ser uma coisa individual. 106 Em outras palavras, se o
objeto da investigao o sentido primrio de ser (to on) e, conduzidos
por ele via a ousia chegamos a uma matria desprovida de toda
determinao como possvel candidato, evidente que em algum lugar da
investigao nos extraviamos, pois algo que no nem isto, nem aquilo
evidentemente no pode ser. Os captulos seguintes do Livro Zeta trataro
105
Aristteles, Metafsica, Z3, 1029a-20.
106
Aristteles, Metafsica ,Z,3, 1029a-25.
85
de outros possveis candidatos e do eventual entrelaamento dos sentidos
de genos, eidos, to ti en einai e morphe, tendo se descartado
definitivamente da investigao a matria como substrato a matria qua
matria, poder-se-ia dizer.
Estas observaes referentes ao dilogo Timeu, assim como ao
Livro Zeta da Metafsica, foram realizadas com o intuito de ressaltar qual
a compreenso basilar de ser que os gregos possuam, e isto a despeito
de
compromissos
ou
ausncia
de
compromissos
com
entidades
transcendentes e auto-subsistentes capazes de conferir determinao ao
que quer que efetivamente seja. O fato de Aristteles se distanciar, a este
respeito, de Plato, no invalida a constatao de que ambos partilham da
mesma compreenso do que seja ser. O que estas passagens nos
mostram que quando o pensamento antigo se deparou com a noo de um
substrato indeterminado isto quer dizer, sem quididade alguma 107, mas
existente, experimentou um forte embarao e no duvidou em declarar que
esse tal substrato no poderia corresponder ao ser, mas antes, muito mais
apropriadamente, ao no-ser. Este embarao reside justamente no fato de o
pensamento chegar a conceber semelhante substrato, isto , dele em algum
sentido tornar-se presente ao pensamento e, entretanto, essa presena ser
experimentada como limitativa, como uma interdio para ele. Trata-se de
um pensar, cujo objeto refratrio a todo logos, recusando qualquer
discurso articulado. isto o que resumidamente diz Timeu no momento
em que conclui sua exposio acerca das trs espcies a do ser, a do
visvel que veio-a-ser, e a da khora:
Se dissemos, pelo contrrio, que <a khora> uma certa
espcie <eidos> invisvel e sem forma <amorphon>, que recebe
tudo e participa do inteligvel de uma maneira muito
embaraosa e difcil de entender <aporotata>, no estaremos
mentindo. 108
107
Sem quididade alguma quer dizer, na terminologia aristotlica, sem determinao substancial
ousia segunda. Dito em outros termos, de acordo com a compreenso metafsica clssica, todo ente
um ente substancialmente determinado.
108
Plato, Timeu, 51a.
86
E, mais adiante:
<...> e um terceiro tipo <genos> o receptculo <khoras>
sempre existente <on aei>, que no admite destruio alguma,
e d stio a todas as coisas que tm nascimento, ele prprio
sendo apreensvel por uma espcie de raciocnio bastardo
<logismo tini notho> sem auxlio algum da sensao e, sendo
dificilmente real <mogis piston>, o qual ns vislumbramos
como em sonhos. <...> Destas e outras coisas do mesmo tipo,
no que respeita verdadeira natureza do que <alethes physin
hyparkhousan> a realidade da viglia, ns temos somente
esta compreenso onrica e somos incapazes de sair do sonho e
de determinar a verdade em relao a elas. <...> <Entretanto,>
no que respeita ao que propriamente <ontos onti> o raciocnio
exato e verdadeiro <akribeias alethes logos> vem em nosso
auxlio <...>. 109
Como veremos adiante, o que aqui est em questo o que,
parafraseando Heidegger, poderamos chamar de esquecimento do noser, esquecimento chancelado para a posteridade da metafsica no dilogo
Sofista de Plato, quando o Estrangeiro se v na necessidade de cometer o
parricdio. O que chamo aqui de esquecimento do no-ser coincide com
o esquecimento de uma interdio essencial ao pensamento: a metafsica,
toda vez que se depara com algo que no feito medida do
pensamento, algo que ele no pode tornar acessvel e controlvel e, neste
sentido, tornar devassado, o declara como no-sendo e, como o que no ,
simplesmente no , no h nada ali que seja necessrio experimentar. Em
outras palavras, a metafsica, por ter o olhar cativado pelo ente e em
razo do no-ser no ser nada de entitativo e representvel acaba por
desprez-lo como questo e assim o pensamento acredita que o ente e o
ser do ente metafisicamente concebido esto sua disposio.
109
Idem, ibidem, 52a-c.
87
Repito o final da ltima citao:
<Entretanto,> no que respeita ao que propriamente <ontos
onti> o raciocnio exato e verdadeiro <akribeias alethes logos>
vem em nosso auxlio <...>.
O que propriamente nomeia aqui as idias, os modelos que
o demiurgo contempla e que sero os orientadores de sua atividade
fabricadora; esses modelos so feitos medida do pensamento e por
isso, consequentemente, permitem o raciocnio exato e verdadeiro. 110
O mito do Timeu nos apresenta, ento, o mundo como criado a
partir da khora, por um lado, e das idias, por outro. A khora, espao
material desprovido de toda determinao, conduzida pelo demiurgo
determinao
da
idia, conduzida forma, poder-se-ia dizer. esta
ltima que d ser ao mundo visvel, pois, como foi apontado, sem
concurso das idias como modelos-formas nada neste mundo, isto ,
ente algum, vingaria em ser; nada conseguiria ganhar permanncia numa
configurao, e assim coisa alguma viria presena, mostrando-se alma.
Parece-me que o que Plato sugere com esta imagem que o mundo
visvel o resultado de um permanente combate entre ser e devir, entre
desvelamento e velamento: as idias foram a khora a refreiar o seu
incansvel devir, propiciando ento que algo determinado se mostre,
aparea, se torne alethes; mas as idias, por sua vez, no so fortes o
suficiente para sobrepujar inteiramente a mutabilidade prpria da khora, o
que permitiria ao demiurgo produzir cpias idnticas idia. No, a
khora, como receptculo material de tudo o que visvel, persiste neste
mundo como fonte inexaurvel de mutabilidade e ocultao, fazendo que
110
Utilizo aqui a expresso feitos medida do pensamento para referir-me adequao entre
eles e o pensar. Como foi dito acima, os modelos no foram feitos pelo demiurgo, mas apenas
contemplados por ele. A rigor, se em Plato se quer apontar uma entidade responsvel pela
produo das idias e pela sua adequao ao pensar, esta entidade o Bem, entidade que prfigura a noo de Deus como portador dos arqutipos que daro as diversas formas criatura.
88
os horata estejam marcados pela dupla natureza da qual provm e assim,
ao mesmo tempo, sejam e no sejam, apaream e se ocultem.
Voltemos passagem da Linha Dividida do Livro VI da
Politeia. Foi dito acima que na representao espacial da linha proposta
por Scrates a Glauco, os tipos de entidade so dispostos segundo o seu
grau de verdade, isto , segundo o grau de um adequado mostrar-se, um
mostrar-se tal qual . Ali, na linha que nos proposta, encontramos
somente dois tipos de entidade: as entidades visveis (horata) e as
entidades inteligveis (noeta), cada um dos quais se subdivide, como foi j
apontado, em dois sub-tipos: cpias de toda sorte e as prprias coisas
visveis (nomeadas de ta zo) nos horata, entidades matemticas e idias
nos noeta. O Bem, a idia suprema, que nesta passagem nomeada como
o no-hipottico, o in-condicionado (anhypothetou), que concede o grau
de verdade, e poderamos acrescentar, o seu grau de ser, a tudo aquilo que
, assim como simultaneamente outorga alma a sua capacidade para
apreend-lo,
capacidade
que
apresenta
diversas
aptides,
sempre
dependentes do grau de ser e verdade dos tipos de entidade para as quais
ela se volta.
Que quer isto dizer? Em primeiro lugar que o mundo visvel
no , em Plato, uma iluso, se este termo evoca algo inteiramente
carente de ser. Ele de fato um mundo, possuindo um estatuto de
realidade. Com isto quero dizer que no se trata, como acontecer na
filosofia moderna, de um mundo fenmenico, um aparecer para o
pensamento que tem seu locus no prprio pensamento. Sabemos, que a
partir de Descartes, o sensvel as qualidades secundrias das quais ele
nos fala tem uma realidade somente em termos de pensamento (res
cogitans); trata-se de produes mentais: cores, sons, cheiros, enfim, tudo
aquilo que os sentidos captam no real, no sentido forte, mas resultado
do encontro do pensamento com um real que, em si mesmo, desprovido
dessas qualidades. Diferentemente disto, os entes visveis em Plato e
89
poder-se-ia ampliar isto para as qualidades sensveis que no as visveis
tm um grau de realidade, aquele que as idias lhes concedem. 111
Se, como diz Heidegger, o surgimento da metafsica coincide
com um cada vez mais firme esquecimento da ocultao que, de forma
gradual ir, ao longo da tradio, se deslocando do ser para o esprito,
assumindo neste a forma de ignorncia ou finitude, constatamos que em
Plato este movimento est apenas no seu incio, embora, como j o
dissemos, tenha ali sentado as bases sobre as quais ocorrer a saber, a
interpretao entitativa do ser ou, o que o mesmo, a compreenso da
aletheia como atributo de um ente supremo. Dito em outros termos: o
mundo visvel platnico portador de ocultao sob a dupla forma da
recusa e da dissimulao; ele como que lacunar, permeado de reservas e
falsas aparncias. A razo do erro humano reside, como veremos, no
numa alma intrinsecamente falha para conhecer o ser, mas no fato de
existirem entes que somente o so em parte, precariamente. por causa
desta natureza "diminuda" dos entes visveis que a alma, quando voltada
para eles, s poder produzir opinies, estando estas fortemente expostas
ao perigo do erro. De modo bem diferente concebida a res extensa
cartesiana, a "verdadeira realidade"; ela presena homognea despida de
qualquer ocultao, no mais fazendo qualquer sentido falar em "graus de
ser" ou "graus de realidade" internos a ela. Em outras palavras, o real
perdeu qualquer relevo e a ocultao, que na origem da metafsica ainda
lhe era prpria mesmo que somente no que respeita ao visvel, agora
foi definitivamente deslocada para o esprito: o visvel com todas as suas
qualidades sensveis ser pensamento, representao extraviante da res
cogitans, que somente salva se conduzida a uma expresso quantitativa.
111
Com isto no estou afirmando que para Plato no possa haver distncia entre as sensaes
subjetivas e as qualidades sensveis. O fato tantas vezes apontado de que a sensao relativa por
exemplo, no clssico caso do mel que pode parecer amargo ao doente no significa que o
sensvel no possua um grau de ser, um grau de quididade prprio, um que qualitativo.
90
Voltemos passagem da "Linha Dividida". Logo a seguir,
Scrates pedir a Glauco que imagine uma segunda linha correlata
primeira onde, agora, sero alocadas as diversas aptides da psyche, da
alma. Na primeira diviso, ao segmento dos horata, Scrates far
corresponder um tipo de capacidade cognitiva, a doksa (opinio), enquanto
que ao segundo segmento far corresponder outro tipo de aptido, a saber,
a episteme (cincia ou conhecimento). Estes dois tipos de cognio sero,
por sua vez, subdivididos do mesmo modo em que aqueles dois segmentos
o foram: no mbito da doksa teremos, correspondendo aos duplos, a
eikasia, a suposio ou conjetura, e correspondendo s prprias coisas
visveis, a pistis, a crena ou f perceptiva; no mbito da episteme
haver, na subdiviso inferior, correlata aos entes matemticos, a dianoia
ou raciocnio e, na subdiviso superior, a inteligncia (noesis), que ser
responsvel pela apreenso das idias. Concluindo a passagem, no fim do
Livro VI, Scrates pede a Glauco para fazer corresponder a cada segmento
da linha de entidades as quatro capacidades que se seguem:
<...> no mais elevado, a inteligncia (noesin), no segundo o
entendimento (dianoia); ao terceiro entrega a f (pistis), e ao
ltimo a suposio (eikasian), atribuindo-lhes o mesmo grau de
clareza que os seus respectivos objetos tm de verdade
(aletheias). 112
Plato nomeia de pathemata o que aqui foi chamado de aptides
ou capacidades da alma. Esta palavra seria mais corretamente traduzida
por "afeces", no sentido da marca que o ente deixa "impressa" na alma.
Parece-me que de fato este o modelo com que Plato pensa a relao dos
diversos tipos de entidade com a psyche: dependendo do grau de
"perfeio" da presena do ente, a marca que se produz na alma mais ou
menos ntida. Assim teremos, no caso dos entes que tm menor grau de ser
e verdade a saber, sombras, reflexos, e todo tipo de "cpias das
112
Plato, Repblica, 511d-e. Novamente nesta passagem resulta claro que o termo aletheia indica
uma propriedade dos entes em oposio ao que traduzido aqui como grau de clareza, referente
representao.
91
cpias", uma impresso na alma que como que "apagada" e imprecisa.
As coisas se passam como se a ocultao do ente, responsvel pela sua
mutabilidade e pelos escassos sinais que ele apresenta do seu ser isto ,
pela sua precria verdade fizesse com que o pathos produzido na alma
seja quase que um enigma, um enigma que ela precisa decifrar. Este
"decifrar" implica em um esforo que a alma tem que realizar para emitir
um juzo acerca do ente, isto , para poder dizer, por exemplo, que se trata
de uma sombra disto ou daquilo. porque a alma no possui clareza
acerca do ser do ente em questo, que ela, se quer avanar numa
determinao ntica, 113 precisa "arriscar" um juzo a partir das poucas
marcas que o ente deixou assinaladas nela marcas que representam
indcios ou pistas precrias para declarar o que o ente . A ausncia de
clareza, que se origina na falta de verdade do ente, deve ser suprida por
um ativo exerccio da imaginao, exerccio este que sempre est sujeito
ao perigo do erro aquele "risco" a que a alma est exposta. por esta
razo que Plato nomeia como conjectura ou suposio eikasia a
afeco da alma que corresponde a sombras e reflexos. 114 Em outras
palavras, nesta situao a alma somente pode "achar" achar que se trata
de uma sombra desta ou daquela coisa, no conseguindo jamais
pronunciar-se com respeito a isso com razovel certeza. 115 medida que
os entes vo ganhando em determinao e em um adequado mostrar-se
dessa determinao, a alma precisar realizar um exerccio menor, uma
vez que a impresso que o ente deixa nela torna-se mais ntida. Assim, em
relao aos prprios entes visveis, aqueles que possuem maior grau de ser
e verdade do que os duplos de que acabamos de falar Plato nomeia
113
Uma vez que o visvel carrega em si uma diferena ontolgica --no sentido de haverem entes
com grau maior de ser e verdade e entes com grau menor--, em relao a sombras e reflexos a
nica determinao evidente --isto , a nica determinao que se impe alma sem que seja
necessrio qualquer exerccio judicativo-- exatamente o fato de serem sombras ou reflexos.
Quando falo em "avanar numa determinao ntica" tenho em mente a possibilidade de afirmar
da sombra se sombra disto ou daquilo.
114
Isto, obviamente, quando se trata de uma afeco que no vem acompanhada pela do ente
visvel que produz a sombra ou o reflexo.
115
Antecipa-se a partir disto, o que desenvolveremos logo a seguir, a saber, que neste contexto
certeza e evidncia caminham juntas, sendo praticamente indiscernveis. Tudo mudar de figura na
era moderna onde a evidncia, seja sensvel, seja intelectual, cair por terra.
92
estes entes visveis de ta zoa, a capacidade com que a alma est
equipada para apreend-los a pistis, termo traduzido por f ou crena, no
sentido daquilo no qual confiamos. 116
As capacidades que lidam com os dois tipos de entidades
visveis a eikasia e a pistis se renem num gnero que Plato nomeia
de doksa, e que costumamos traduzir por "opinio". Para Plato, como se
sabe e j foi dito, no h cincia do visvel, mas simplesmente opinio.
Esta pode, certamente, ser verdadeira aqui empregando o termo no
sentido de um juzo exato, adequado ao ente em questo e, de fato, a
opinio ter tanto mais chances de s-lo se a alma se dirige aos "originais"
visveis e no s suas "cpias".
Numa famosa passagem que se encontra no dilogo Mnon e
que versa sobre a distino entre a opinio verdadeira e a cincia, Plato
compara aquela a um escravo fujo: da posse da verdade de uma opinio
jamais se est seguro, da mesma forma que tampouco se tem garantia da
posse de um escravo que teima em fugir. 117 A distino entre cincia e
opinio verdadeira parece residir, neste dilogo, no fato da primeira estar
encadeada por um raciocnio causal (aitias logismoi), enquanto a segunda
no. Scrates insiste no fato de que com ambas se obtm os mesmos
resultados prticos; entretanto a cincia mais valiosa do que a opinio
116
este mesmo termo, pistis, o que comparece no fim do promio do poema de Parmnides
quando a deusa, falando a Parmnides, afirma que dever instruir-se tambm sobre a opinio dos
mortais onde no h confiana verdadeira --pistis alethes. Desta expresso e do seu sentido no
Poema, falaremos mais tarde.
117
Imediatamente antes, e com o mesmo intuito que ao comparar a opinio com o escravo fujo,
Scrates afirma que ela semelhante s estatuas de Ddalos, esttuas que transmitiriam a
impresso de movimento com tal realismo que pareceriam prestes a sair andando. (Cf. Mnon,
97d).
93
verdadeira porque com aquela, em razo desse raciocnio causal que
amarra o conhecimento, estamos de antemo certos da verdade,
enquanto que com a segunda, embora se possa ter confiana nela, a posse
da verdade contingente, podendo assim escapar. 118
Pode-se perguntar, entretanto, em que reside a contingncia da
verdade da opinio, o fato de que a opinio certa pode, sem que aquele
que a detenha o perceba, transformar-se em falsa opinio. O fragmento do
Mnon no no-lo diz.
Como j foi indicado, o dilogo Mnon considerado anterior
Repblica e se o julga como sendo um dilogo de transio entre os da
juventude e os da maturidade da filosofia de Plato. Se, como tambm
costuma afirmar-se, o elemento distintivo de uma fase e outra reside na
postulao das idias como o que prpria e verdadeiramente real na
totalidade do ente, conclui-se que naquele dilogo esta doutrina est s
formulada de modo incipiente. Esta concluso condizente com a
passagem acerca da distino entre opinio correta e cincia que nos
ocupa,
119
pois o primeiro exemplo que Scrates d a Mnon para ilustrar
a problemtica em questo no parece concordar com a afirmao enftica,
que posteriormente Plato far, de que dos entes visveis, em sentido
118
Diz Scrates a Mnon: <...> esta a razo por que a cincia tenha mais valor que a opinio
verdadeira; a diferena da opinio verdadeira uma atadura. E imediatamente acrescenta: Eu
mesmo no pretendo saber isto de cincia certa; falo por conjectura, por opinio. Mas que a
opinio certa e a cincia so coisas bem distintas, coisa que me parece muito mais do que
simples conjectura! (Cf. Mnon, 98b). Em toda esta passagem, Plato utiliza alternativamente, no
que se refere opinio, o termo alethes (verdadeira) e o termo orthe (exata, certa,
correta). Bem diferente, como temos insistido o uso do mesmo termo alethes nas passagens da
Repblica que nos ocupam.
119
O contexto mais geral na qual a mencionada distino se realiza a discusso acerca do carter
ensinvel ou no da virtude. Nesse momento do dilogo, depois de se ter fracassado na procura da
definio do que seja a arete, e tendo-se encaminhado o procedimento dialgico ao que costuma
chamar-se de "mtodo hipottico", Scrates est estudando a hiptese de que a virtude possa ser
uma cincia, caso em que ela certamente ser ensinvel. Entretanto, no desenvolvimento do
dilogo tudo parece indicar que ela no uma cincia e que, portanto, no pode ser ensinvel.
Significa isto, ento, que os homens no podem jamais ser virtuosos, uma vez que no obtiveram o
conhecimento do que seja a virtude nem podem vir a obt-lo, dado que ela no da ordem do
ensinvel? A resposta socrtica negativa: h outros modos de agir virtuosamente, a saber, se o
agente da ao dotado de uma opinio correta fornecida, por exemplo, por alguma inspirao
divina. "Assim pois, a opinio verdadeira no um guia menos bom que a cincia no que diz
respeito exatido da ao, e isto algo que ns tnhamos esquecido em nosso exame das
qualidades da virtude. Dizamos que somente a razo (phronesis) capaz de dirigir corretamente a
ao; ora pois: a opinio verdadeira possui o mesmo privilgio."(Cf. Mnon, 97b-c).
94
estrito, no se pode obter conhecimento. O mencionado exemplo compara
os respectivos saberes de dois homens que conseguem conduzir um grupo
de viajantes cidade de Larissa, sendo que um deles o faz com
conhecimento, por j ter percorrido o caminho vrias vezes, e o outro,
apesar de jamais ter ido l, servindo-se de conjecturas, alcana tambm a
cidade, levando os viajantes a bom termo. Aqui, como se percebe, a
distino entre conhecimento e opinio se d, no pela natureza do ente a
ser conhecido como acontece em Repblica, mas por um acmulo de
experincia emprica: o viajante que j percorreu o trajeto um grande
nmero de vezes possui muitas mais referncias geogrficas, referncias
estas que poderiam auxili-lo caso acontea algum extravio ou obstculo
que exija um desvio da rota natural. Bem diferente o ponto de vista
sustentado na "Linha Dividida" de Repblica ou tambm, como foi
apresentado, num dilogo bem posterior a ambos, o Timeu. Neste ltimo
se fala, certamente, de opinies mais plausveis que outras, mas entre elas
no h diferena de qualidade, e sim de grau de plausibilidade ou
verosimilhana. A razo de que assim seja que ali a nfase dada ao tipo
de ente sobre o qual a alma se aplica e no ao grau de saber acumulado
pela alma.
Plato em numerosas passagens louva a geometria por considerla a melhor iniciao filosofia. O seu argumento costuma apontar para o
fato de que qualquer pessoa iniciada no saber da geometria, mesmo que se
trate de um recm aprendiz, rapidamente percebe que as propriedades que
se demonstram no exerccio da mesma no so propriedades de entidades
visveis a saber, das imagens desenhadas por ela, mais ou menos
rudimentares, para se auxiliar no procedimento demonstrativo. Se assim
fosse, os resultados de tais demonstraes seriam to efmeros e "fugidios"
quanto o so as propriedades que constatamos dos entes visveis.
Entretanto, no este o caso: as propriedades geomtricas possuem um grau
de permanncia que nenhuma propriedade de ente visvel possui,
permanecendo imutveis mesmo que a figura desenhada perea ou se altere.
95
Segundo Plato, esta percepo a que torna plausvel, para aquele que se
inclina filosofia, a afirmao de que existam outras entidades que no as
visveis e, ainda mais, que essas entidades sejam incomparavelmente mais
consistentes do que as geomtricas. 120
Reforando o carter inteligvel dos entes matemticos, Plato
diz nesta passagem:
Sabes, igualmente, que se servem de figuras visveis que do
alicerce a seus raciocnios mas que, na realidade, no nelas que
pensam, mas naquelas coisas a que elas se parecem?121
Entretanto, as entidades matemticas, a pesar de inteligveis,
ocupam um lugar inferior s idias na linha que Scrates pede que Glauco
desenhe. A inferioridade dos entes matemticos em relao s idias s
poder ser entendida em razo daqueles terem um grau menor de ser e
verdade do que estas. Quais as razes para que isto assim seja?
Plato no nos fala, nesta passagem, dos prprios entes
matemticos e sim da capacidade com que a alma est equipada para lidar
com eles a saber, a dianoia ou raciocnio. O ponto explcito a que Plato
aqui se prende o do carter no inteiramente fundamentado das cincias,
uma vez que estas partem de hipteses que, entretanto, so tomadas como
princpios, e no efetivamente como hipteses. A passagem por muitos
conhecida e refere-se precisamente ao procedimento dos gemetras, e das
cincias semelhantes:
120
Uma das mais engenhosas armas que Kant esgrime contra a "metafsica dogmtica" est
justamente em apontar para o fato de que o saber matemtico no um saber puramente intelectual
--conceitual, diria Kant. Se assim fosse, ele jamais alcanaria o estatuto de conhecimento, do
mesmo modo que a metafsica jamais o alcanou pois, como os conceitos desta, os seus no teriam
um correlato na intuio, o que faria que permanecesse um "saber" vazio. Se o conhecimento
matemtico possui esse grau de consistncia no se deve, como pensou a metafsica, ao fato de no
estar contaminado por nada de sensvel, mas ao fato de ser a sensibilidade, ali envolvida, uma
sensibilidade a priori e no emprica.
121
Plato, Repblica, 510d.
96
"Suponho que sabes que aqueles que se ocupam da geometria, da
aritmtica e das cincias desse gnero, admitem o par e o mpar,
as figuras, as trs espcies de ngulos, e outras doutrinas irms
destas, segundo o campo de cada um. Essas coisas do-nas por
sabidas e, quando as usam como hipteses, no acham que ainda
seja necessrio prestar contas disto a si mesmos nem aos outros,
uma vez que so evidentes por todos. E, partindo da e
analisando todas as fases, e tirando as conseqncias, atingem o
ponto a cuja investigao se tinham abalanado."122
E pouco adiante:
"<...> era isto o que eu queria dizer com a classe dos inteligveis
<a dos entes matemticos>, < queria dizer> que a alma
obrigada a servir-se de hipteses ao procurar investig-la, sem ir
ao princpio, pois no pode elevar-se acima das hipteses, mas
utiliza como imagens os prprios originais dos quais os objetos
da seo anterior so imagens e que, comparados com estes
ltimos so considerados mais claros e eminentes." 123
Poder-se-ia dizer que estamos diante da primeira distino entre
cincia e filosofia. Que nos diz esta passagem? Que enquanto as cincias
cujo objeto, sempre acompanhando Plato, tambm so entidades
inteligveis, embora menos eminentes que as idias, espcie de imagens
destas no colocam em questo suas premissas, as dando como evidentes,
e caminham em direo s concluses atravs de inferncia, a filosofia
consiste num questionamento radical que procura retraar toda hiptese
quilo que o no-hipottico, o incondicionado, nomeao que, nesta
passagem, Plato d idia suprema de Bem. Este questionamento radical
que busca alcanar o fundamento a dialtica.
Um outro aspecto que a passagem pe em relevo, e que ser
decisivo para a distino entre a dianoia e a dialtica, reside no fato de que
122
Plato, Repblica, 510c.
123
Idem, 511a.
97
os gemetras se auxiliam de imagens visveis, cpias desenhadas ou
modeladas desses entes que so alcanados somente pelo pensamento,
enquanto o dialtico no se apia em qualquer imagem visvel. Dito em
outros termos, pareceria que a cincia geomtrica ainda est sujeita, em
alguma medida, sensibilidade, uma vez que os entes para os quais ela se
volta so espaciais e, consequentemente, representveis pela imaginao.
Contrariamente, as idias no admitem nenhuma representao visvel, pois
sendo elas o trao comum que d ser a tudo aquilo que, sendo visvel,
partilha de um gnero, jamais poderiam vir a tomar corpo numa instncia
qualquer seja qual for o caso particular a risco, justamente, de perder
sua universalidade.
A dialtica, nesta passagem, nos apresentada como um
caminhar rumo ao incondicionado (anhypothetikos), o nome que, como
dissemos, recebe aqui a idia suprema de Bem. Ela alcana a segunda seo
do inteligvel, a seo superior, que corresponde s idias:
E no h agora dvida de que compreenders tambm a que
chamo de segunda seo do inteligvel. aquela que a prpria
razo (logos) alcana com seu poder dialtico. No ter agora
que considerar as hipteses como princpios, mas como hipteses
de fato; isto , como pontos de apoio e partida que a conduzam
at o princpio de tudo, independente j de toda hiptese. <...>
no se servir de nada sensvel, mas das prprias idias que, em
encadeamento sucessivo, a poder levar at o fim, ou o que o
mesmo, at s idias.124
Este procedimento dialtico de que aqui se fala, realiza-se
atravs da linguagem sem auxlio de imagens visveis diferentemente de
como o faz a geometria. Entretanto, se ele h de ser bem-sucedido, esperase que a alma do filsofo alcance a viso imediata do que e,
primeiramente, do incondicionado, fundamento das verdadeiras entidades.
Parece-me razovel dizer que, segundo este modelo, a dialtica uma
espcie de procedimento catrtico, um modo de purificao da alma,
124
Plato, Repblica, 511b-c.
98
procedimento que busca desimpedir o rgo com o qual a alma est
equipada para "ver" o que propriamente e que, em razo da sua
convivncia com o sensvel est como que impedido de ver. De fato, este
poder, o rgo mental com que a alma est equipada para conhecer os
entes inteligveis, o nous, concebido em vrias passagens platnicas como
um tipo de viso, uma viso no sensvel, mas intelectual.
A escolha da viso como metfora para o pensamento no tem
nada de arbitrria. Foi insistentemente observado que os termos que a
lngua grega emprega para nomear o pensamento remetem quase
unanimemente experincia da viso. Se considerarmos que o fato de ver
no exige tempo no sentido mais bsico de simplesmente estar de olhos
abertos e ver, no no sentido de inspecionar ou examinar algo
ativamente, podendo-se afirmar que fenomenicamente e isto, a despeito
de Einstein e sua relatividade a percepo visual simultnea ao estar ali
da coisa percebida, compreende-se porque o poder da alma que deve
sintonizar com o agora sempre presente do eterno, possa ser concebido
como um tipo de viso. No que respeita noo clssica de teoria,
tambm a experincia da viso a que nos fornece a noo de alcanar a
coisa sem exercer nenhuma ao sobre ela, deixando-a ser tal qual . A
audio, o nico sentido que poderia concorrer com a viso neste aspecto
pois o tato, o gosto e o olfato so sentidos que estabelecem um comrcio
muito ntimo com seus objetos, comrcio este que pode afet-los, obtendo
como resultado da experincia sensorial no a coisa ela mesma, mas
transformada pela ao do percipiente, realiza-se sempre atravs de
seqncias temporais, o que compromete aquele acesso instantneo que nos
poria em contato com os entes eternos. Assim, esta neutralidade da viso
tem como correlato a noo metafsica, qui a mais basilar das noes da
tradio, de real em si, o que tal qual em si mesmo, inteiramente
auto-subsistente.125
125
No seu artigo A Nobreza da Viso: um ensaio acerca da fenomenologia dos sentidos, Hans
Jonas desenvolve o que o ttulo anuncia: uma fenomenologia dos sentidos, um mostrar da estrutura
de cada um dos sentidos e, fundamentalmente, da viso. Entretanto, e apesar do artigo ser
extremamente interessante para compreendermos o que de fato queremos dizer por eternidade,
teoria, ser em si, etc., etc., parece-me que ali a descrio fenomenolgica dos sentidos aspira a
99
Considerado a partir do que ele deve propiciar a viso
imediata das idias e do seu fundamento, o procedimento discursivo
prprio dialtica toda considerao e reconsiderao que os dilogos
realizam , num sentido, mais prximo da dianoia do que da noesis, uma
vez que se realiza atravs da linguagem e, inevitavelmente, acontece no
tempo. claro que, e isto j o dissemos, o seu "caminhar" em direo ao
no-hipottico e no, como as cincias fazem, em direo a extrair
concluses que se assentam em hipteses no submetidas a exame. Mas, se
o procedimento dialtico bem sucedido, se ele consegue preparar a alma
para o exerccio da sua mais alta capacidade, ento, ele deve "culminar"
num cessar de todas as atividades para simplesmente assistir ao "brilhar"
das idias. Na Carta VII Plato afirma:
"O estudo da virtude e do vcio devem ser acompanhados por
uma investigao sobre o que falso e o que verdadeiro da
existncia em geral e deve ser acompanhado de uma prtica
constante durante um longo perodo, como disse no comeo. S
depois de arduamente praticar detalhadas comparaes de nomes
e definies, e de percepes visuais e dos outros sentidos, e de
examin-las minuciosamente em benevolente disputa atravs do
uso de perguntas e respostas livres de inveja, no fim, num
lampejo, a compreenso deles resplandece e a mente, na medida
em que exerce todos os seus poderes ao limite da capacidade
humana, inundada de luz."126
Sob esta tica, o carter aportico dos dilogos de juventude
isto , o fato de eles jamais chegarem concluso alguma, carter que,
como dissemos, normalmente atribudo ao fato de Plato ainda no ter
alcanado a maturidade da sua reflexo filosfica, estando fortemente sob
influxo da figura socrtica, seria condizente com a idia de um
procedimento catrtico: como se o fracasso insistente no exame das
encontrar um lugar antes de qualquer compreenso que possa servir de fundamento --de gnese,
nos diz o autor--, das noes clssicas de eterno, teoria, real em si, etc., etc. E isto, como se para
ver no se precisasse aprender a ver, como se existisse uma fenomenologia bruta da percepo
que carrega nela mesma o desdobrar-se das noes metafsicas bsicas.
126
Plato, Carta VII, 343b.
100
opinies acabasse por demonstrar que nenhuma transparncia para o
pensamento pode provir se a alma se mantm voltada para as entidades
visveis. O ensinamento residiria, ento, exatamente neste fracasso, fracasso
que acabaria por propiciar a reviravolta da alma daquilo que a tem como
que cativa, para o que possui mais ser e verdade.
Voltemos para a passagem da Linha Dividida a ttulo de
concluso. Parece-me que a atribuio dos diferentes pathemata a cada tipo
de ente obedece a um decrscimo da atividade da alma na medida em que os
entes em questo vo ganhando em consistncia. Assim, quando a alma se
dirige a entidades pouco consistentes, entidades "lacunares" no seu ser
porque submetidas a todo tipo de mutabilidade e ocultao permeadas de
ausncia de ser, poderamos dizer ela precisa, na sua atividade de ajuizar,
de um enorme investimento ativo; como se necessitasse preencher as
lacunas "arriscando" muito no seu juzo. Se, contrariamente, a alma se
orienta para um ente que pleno no seu ser e, se, como sugiro ela est
equipada com um "olho mental" que foi devidamente purgado dos
"preconceitos" da sensibilidade ento ela simplesmente tem que assistir
presena perfeita dessa entidade, no precisando nenhum logos que
considere e reconsidere, para apreender a coisa em questo.
2.3
A Alegoria da Caverna
A "Alegoria da Caverna" , possivelmente, o texto filosfico
mais divulgado da tradio; a ele j fizemos aluso e certamente
desnecessria a sua reproduo aqui. Como se sabe, trata-se da continuao
do dilogo entre Scrates e Glauco, dilogo onde o primeiro apresentar
uma histria com o objetivo de que a essncia da formao do filsofo, a
paideia, se torne compreensvel a Glauco. As interpretaes do mito
geralmente focalizam as correspondncias que o prprio Plato faz, ao
acabar a narrativa, sempre pela boca da personagem de Scrates,
correspondncias entre os mbitos da histria e a doutrina platnica dos
101
dois mundos: o interior da caverna e a fogueira que o ilumina representam
respectivamente o mundo visvel e o sol; as estatuetas carregadas pelos
homens, que transitam por trs do muro, esto no lugar das coisas visveis, e
as sombras projetadas no fundo da caverna so as cpias dessas coisas
visveis; o exterior da caverna e o sol que ali impera representam o mbito do
inteligvel
idia
suprema,
Bem
que
tudo
governa.
Estas
correspondncias nos so familiares, e apesar de no esgotarem a fora
analgica do mito, podem ser verificadas pondo-o lado a lado da passagem da
Linha Dividida que viemos de analisar. Entretanto, o mito muito mais do
que uma descrio metafrica dos mbitos visvel e inteligvel, pois trata-se
rigorosamente de uma histria, de uma narrativa que conta as peripcias do
filsofo na sua travessia do mundo das sombras para o mundo da luz, do
mundo do que s relativamente e em parte, para o mundo onde o que o
plenamente; trata-se tambm do seu retorno, das dificuldades e impasses que
lhe esperam quando for confrontado novamente com a opinio dos muitos. Se
assim no fosse, se o mito no tivesse uma figura que protagoniza uma
histria, tratar-se-ia de uma simples repetio daquilo que tinha sido
apresentado nas duas passagens anteriores, a "analogia entre o bem e o sol" e
a "linha dividida". Com o mito, Plato quer dizer mais do que j dissera, quer
expressamente apresentar, a partir de uma histria, o que a paideia, o que
essa inteira reviravolta (periagoge) da alma, essa revoluo no ser do homem
que o coloca na vizinhana do que e de seu fundamento e que lhe permite,
graas ao esforo de manter-se na direo deles, o verdadeiro conhecimento.
Martin Heidegger, em seu ensaio "A Doutrina de Plato sobre a
Verdade", chama a ateno para o fato de que a fora simblica do mito no
est nas correspondncias, mas justamente nas sucessivas perturbaes do
olhar que acometem o protagonista da histria. Acompanhando Heidegger
neste ensaio, pode dividir-se o mito em quatro momentos: em primeiro lugar,
o momento inicial em que os prisioneiros esto firmemente acorrentados com
o olhar coercitivamente endereado para as sombras na parede do fundo da
caverna; o segundo, quando um dos prisioneiros desacorrentado e virado
em direo quilo que acontece atrs dos mesmos: o muro, as estatuetas de
homens e animais que transportadas pelos homens escondidos assomam por
102
sobre o muro e o fogo que projeta na parede do fundo da caverna as sombras
das estatuetas, sombras que so a nica coisa que os prisioneiros vem; o
terceiro momento inaugurado quando esse mesmo homem desacorrentado
arrastado pelo caminho ngreme que conduz para o exterior da caverna, sendo
exposto claridade do sol que ilumina perfeitamente as coisas que vm a ser
por si mesmas, as coisas naturais, conquistando o mbito do que
propriamente e, assim, o mbito em que a paideia pode se realizar; por
ltimo tem-se o quarto momento, que consiste na volta para o interior da
caverna, onde Plato nos narra o impasse em que se encontra o agora filsofo
no confronto entre o saber essencial adquirido fora da caverna e a opinio
que nesta domina, impasse que pode resultar na morte do filsofo.
A indicao fundamental para a compreenso do que significa a
paideia que o mito quer descrever nos dada pelo prprio Plato um pouco
adiante, no mesmo Livro VII, indicao que, entretanto, aparece, sob matizes
diversos, em vrios outros dilogos: a paideia no consiste em verter
conhecimentos numa alma vazia, trata-se de uma inteira reviravolta do ser do
homem. Esta idia, no que ela nega, tambm est presente no Mnon, quando
Scrates, depois de ter interrogado o jovem escravo e de ter tornado plausvel
para o seu interlocutor a afirmao de que conhecer lembrar, enfatiza que
ningum ensina nada a ningum, que o filosofar consiste numa parturio de
um saber que a alma possui e no na transmisso de conhecimentos. No
Banquete, a mesma convico exposta quando se diz que, lamentavelmente,
a sabedoria no coisa que possa se transmitir de uma alma a outra como por
osmose, como um lquido passa de um copo cheio a um copo vazio, bastando
para isso um barbante. Plato adverte em todas estas passagens que a
formao do filsofo no transmisso de informaes, por mais sofisticadas
que estas possam ser. No se trata de nada semelhante ao que hoje, mais ou
menos generalizadamente, entende-se que a educao institucional deva
oferecer: um aprendizado que, etapa por etapa, srie a srie, vai firmando no
aluno um corpo de conhecimentos j estabelecidos. De fato, descreveramos
muito mal o que acontece ao protagonista do mito, se dissssemos que ele
primeiro aprendeu o relativo s sombras, depois o que concerne ao fogo e s
estatuetas, para, numa ltima etapa, vir a completar sua "formao",
103
aprendendo o que diz respeito s coisas naturais e ao sol. Uma tal descrio
desconheceria o que essencial no relato, a saber, que o protagonista a cada
um dos momentos acima apontados sofre um abalo radical de tudo aquilo que
at esse momento era sancionado como real. Vejamos isto com mais cuidado.
O mito um convite ao pensamento, um convite que se atualiza
toda vez que o lemos cuidadosamente. Esta afirmao no nenhum artifcio
retrico: de fato, a experincia me mostra que toda vez que o pensamento se
deixa conduzir por esse "estranho quadro", questes se levantam, questes
que nos obrigam a uma completa releitura do mesmo. Gostaria aqui de
apresentar uma interpretao "em aberto", isto , uma interpretao sempre
exposta necessidade de se refazer, justamente porque continuo a
experimentar, com certas imagens e palavras ali presentes, espanto e
perplexidade.
Se nos deixarmos conduzir pela imagem do mito, inteiramente
correto afirmar que aquilo que se mostra no primeiro momento aos
prisioneiros acorrentados as sombras das estatuetas projetadas pelo fogo no
fundo da caverna s so sombras para ns, leitores do mito, no para os
homens acorrentados dentre os quais est o protagonista da narrativa. De
fato, eles que so prisioneiros de nascena, no conhecem algo diferente do
que as sombras, e isto quer dizer, no conhecem a distino a partir da qual
um ente pode ser experimentado como "a coisa" e outro como "a sombra da
coisa". O sentido desta
imagem
parece ser
seguinte:
maioria
dos homens os prisioneiros que so "semelhantes a ns", nos diz Plato
sequer percebe no visvel a existncia de entidades que possuem mais
consistncia do que outras. O visvel , neste sentido, homogneo, isto ,
composto por entes que possuem todos eles o mesmo estatuto ontolgico.
Isto no quer dizer que se trate de um mundo indiferenciado: sabemos que,
um pouco mais adiante, no momento do relato que narra a volta para o
interior da caverna, Scrates diz que esses homens poderiam ter estabelecido
honras, elogios ou prmios para quem melhor distinguisse os objetos que
104
passavam,127 o que nos indica que no se trata de um mundo onticamente
indiferenciado. Entretanto, como se esses homens no percebessem, sequer
no mbito do visvel, qualquer diferena no grau de ser e verdade daquilo que
se apresenta a eles: qualquer compreenso da diferena ontolgica, servindonos da expresso do Heidegger em Ser e Tempo, est inteiramente fechada.
Ainda neste primeiro momento do mito, h um convite para
pensarmos acerca da fala. Plato pede que imaginemos que dentre os homens
que transitam atrs do muro carregando as estatuetas mbito que est, para
os prisioneiros, velado, uns falam e outros permanecem calados,
acrescentando que, se houvesse um eco na caverna, ento os prisioneiros
atribuiriam s sombras a emisso desses sons: nessa situao, eles
experimentariam a fala no como o atributo de um tipo de animal, o homem,
atributo que o diferenciaria de todo o resto do animado.128 No, Plato parece
ter em mente a experincia de um mundo onde todos os entes participam do
logos, de uma fala que no especificamente humana, mas de tudo o que .129
Isto reforado pelo fato de Scrates afirmar que os prisioneiros esto
acorrentados desde o seu nascimento e de tal modo que no podem ver seno
frente deles, no tendo possibilidade de se verem uns aos outros, nem
mesmo de se verem a si prprios.
"Pensas que, nestas condies, eles tenham visto de si mesmos e
dos outros, algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na
parede oposta da caverna?
Como no, se so forados a manter a cabea imvel toda a
vida?"130
127
Plato, Repblica, 516c.
128
Lembremo-nos de que as sombras esto permanentemente em movimento, pelo fato de serem
projetadas pelas estatuetas que, carregadas atrs do muro, esto continuamente em trnsito.
129
O que se costuma chamar de mundo arcaico, tendo em mente um mundo animado por uma
compreenso mtica, pode nos auxiliar no entendimento do que aqui quero assinalar, sendo
necessrio que nos desfaamos dos preconceitos que em geral nessa compreenso esto
envolvidos, o mais forte deles que se trata da infncia da humanidade. Tratar-se-ia de um
mundo onde tudo pode ser falante o vo dos pssaros, uma fera, um trovo--, situao que requer
uma sbia escuta para traduzir esses dizeres no dizer especificamente humano.
130
Plato, Repblica, 515a.
105
O que isto pode querer significar? Parece-me plausvel que Plato
esteja querendo dizer que, numa situao como a descrita, esses homens
sequer percebem que sua viso se realiza desde um lugar, a partir de um
corpo que o corpo prprio de cada um. Em outras palavras, a distino
entre "o que parece a mim" e "o que de fato " e, num sentido largo
qualquer distino entre "ser e pensar", metafisicamente concebida131,
assim como a que diferencia "o que me parece" de "o que te parece" ou
"parece a ele" o dokei moi, caracterstico do saber da doksa no parecem
estar "abertas", uma vez que eles no sabem de si, nem dos outros, somente
daquilo que est sua frente. Eles bem poderiam falar,132 mas a sua fala seria
compreendida como mais uma fala provinda desse mundo de entidades
animadas por um logos no humano.
Plato nomeia as sombras, as entidades que compem esse
mundo, esse "estranho quadro", de alethes: o que para os prisioneiros
desvelado. Mas o modo de desvelamento dessas entidades a compreenso
de ser e pensar que ele dispensa no contempla nenhuma das distines
com que a metafsica, a partir de Plato, franqueia o acesso ao ser de tudo
quanto , includo ali o nosso prprio ser, a saber, as distines entre ser e
devir, ser e aparecer e enfim, ser e pensar.
Passemos ao segundo momento do mito. Um dos prisioneiros, diz
o relato, solto por algo ou algum que o fora a endireitar-se e a voltar-se
em direo ao fogo e s estatuetas que estavam s suas costas. Abre-se ento
para ele aquilo que para os seus companheiros est oculto. Entretanto, nos diz
Plato, a forte luminosidade do fogo, junto a claridade das estatuetas por ele
iluminadas, produzem de imediato no homem liberto, no a compreenso de
que o que via outrora eram sombras do que agora v, mas um ofuscamento da
viso. O olhar deslumbrado no consegue distinguir com nitidez e
consistncia nada do que agora se apresenta, fazendo com que o homem
131
Com a expresso metafsicamente concebida quero dizer: concebida como adequao entre o
pensamento e a coisa.
132
Idem, 515b.
106
ainda considere aquilo que via antes, as sombras, como alethestera, mais
reais do que agora v.
Assistimos assim primeira periagoge, a primeira reviravolta do
homem. Antes de
mais
nada,
gostaria
de
ressaltar
elemento
dramtico diria eu, quase violento, do relato: de modo algum trata-se de
um homem que, a partir de si, livre e inquieto por natureza, se desacorrenta e
decide por vontade prpria virar-se em direo ao fogo. No, ele
desacorrentado por "algo ou algum", obrigado a endireitar-se e forado a
virar-se. Tudo isto acarreta enormes dificuldades e dor, a dor expressa no
mito pelo ofuscamento da viso, mas tambm pelo sofrimento corporal que
ali nos sugerido, em razo de que, bruscamente, a postura do corpo
obrigada a modificar-se. Trata-se de um pathos: uma afeco o que carrega
aquele homem e no uma escolha sua, "livre e autnoma. Est-se aqui muito
longe da noo moderna de autonomia da vontade que se auto-determina.
O elemento de padecimento que a periagoge nos indica
inteiramente condizente com a famosa passagem do dilogo Teeteto, onde
Plato afirma ser o thauma o assombro ou espanto a arkh da filosofia, o
princpio imperante no filosofar.133 Naquela passagem (155d), Scrates,
depois de ter saudado Teeteto pelo fato deste ter se declarado "espantado"
pois pensava ele saber o que era conhecimento, tendo percebido naquele
momento, graas ao exame socrtico, que sua opinio era irrefletida, nesta
passagem, repito, Scrates afirma ser o thauma a verdadeira marca do
filsofo, o seu verdadeiro pathos. Assim, o filsofo nos apresentado como
algum "apaixonado", no sentido em que ordinariamente usamos este termo
133
Em relao ao termo arkh que aqui, acompanhando Heidegger, estou "traduzindo" por
"princpio imperante", Hannah Arendt faz uma observao, que considero iluminadora. Afirma ela
que o verbo arkhein, antes de ser apropriado pela filosofia como termo "tcnico", refere-se ao
mbito da ao, isto , da poltica e, mais originariamente, da assemblia na guerra. Observa ela
que aquele que arkhein, aquele que principia ou origina, o chefe, por exemplo, o heri homrico.
Neste contexto, o termo tem um duplo significado: ele indica uma iniciativa, o dar incio de uma
empresa, mas tambm indica o governo sobre aquilo que iniciado. O chefe --diramos hoje, o
lder-- no algum que toma uma iniciativa e depois "lava as mos", deixando os
desdobramentos da mesma ao acaso. No, ele governa, impera sobre aquilo que foi comeado.
Neste sentido, o espanto, o thauma de que nos fala Plato origem: ele impera no filosofar, o que
quer dizer que, sem espanto, sem assombro, no h filosofar.
107
(por exemplo, na experincia da paixo amorosa), querendo descrever um
sentimento que nos toma e carrega, um sentimento do qual no dispomos e
que, ao contrrio, nos dispe.134 O thauma, o princpio imperante do filosofar
, para Plato, um pathos: ningum filsofo porque "gosta" de filosofia
como se se tratasse da resoluo de sofisticados quebra-cabeas que, por
desafiarem nosso intelecto, nos entretm, mas tampouco se filsofo por
livre deliberao ou exerccio de fora de vontade.135
O mito, parece-me, deixa isto o elemento de afeco que
comporta todo pensamento suficientemente explcito. Da situao inicial,
do primeiro momento que acabamos de comentar, nada como uma vontade
de liberdade e de "conhecimento de outros mundos" poderia surgir. Em
primeiro lugar, porque os prisioneiros nasceram e cresceram acorrentados, o
que quer dizer: eles no tm experincia de outra vida e, consequentemente,
no se entendem a si prprios como escravos eles nada sabem da
distino entre liberdade e escravido. Em segundo lugar, o mundo e
quaisquer desdobramentos desse mundo o que se encontra frente
deles, sequer suspeitando da existncia daquilo que se encontra s suas
costas: tudo o que ali acontece "no ", no sentido mais forte do termo, no
sentido de estar inteiramente velado.136 O desvelar-se do mbito que est s
suas costas e seu modo de desvelamento , portanto, uma irrupo
absoluta, uma irrupo sem antecedentes, originria. Por esta razo, como
tentarei mostrar, e j foi acima sugerido, no se trata de um tranqilo
134
Na sua conferncia "O que isto --a Filosofia?", Martin Heidegger fala na mesma direo,
afastando uma interpretao do thauma que o pudesse compreender como mero incio temporal,
como se o filsofo um belo dia tivesse se espantado e, da em diante, tivesse exercido a atividade
filosfica, tendo o espanto ficado para trs, no sendo mais do que uma referncia cronolgica que
fixa o incio dessa atividade.
135
O mito da caverna, como disse antes, possivelmente o texto filsofico mais lido da tradio.
Entretanto, recorrentemente se faz dele a aventura de um heri moderno que, por carregar em si o
princpio de sua determinao, se emancipa, desacorretando-se e "saindo caverna afora". Nada
mais longe do relato platnico.
136
Heidegger insiste no carter "duplicativo" do velamento. O velamento se desdobra como
"velamento do velamento", o que quer dizer: algo oculto est tanto mais oculto, isto , tanto mais
se preserva de qualquer tipo de desocultao, quanto menos se saiba desse seu estar oculto. Dito
em outros termos: experimentarmos algo como oculto, j comporta um grau de desocultao: a
desocultao da ocultao enquanto ocultao. De algo que nada sabemos, nada sabemos
efetivamente, sequer que "h algo do que nada sabemos".
108
acrscimo, como se ao saber acerca do mbito das sombras projetadas se
acrescentasse agora um segundo saber, saber que deixaria intacta a
compreenso anterior e simplesmente somaria a ela o saber do fogo e das
estatuetas, at esse momento velado. No, trata-se de uma reviravolta
completa: no sentido do ser e, particularmente, no sentido do ser do homem.
Mas Plato no simplesmente fala da dor representada pela
brusca modificao de postura e pelo ofuscamento do olhar. Ele ainda nos
diz:
"Se algum o forasse a olhar para a prpria luz <do fogo>,
doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia, para buscar refgio junto
dos objetos para os quais podia olhar, e julgaria ainda que estes
eram na verdade mais ntidos do que os que lhe mostravam?
Seria assim." 137
O padecimento que a irrupo do novo modo de desvelamento
e o desvelado a ele correspondente impem ao homem liberto, o
conduzem a uma rejeio deles, a dar as costas a esse novo mbito,
voltando-se para aquilo que familiar e que, nesse primeiro momento,
exatamente por causa da perturbao do olhar, ele experimenta como
alethestera, como mais verdadeiro e ntido do que agora v. O que Plato
aqui nos indica e isto est presente tambm no quarto momento, o da
volta para o interior da caverna a fora do desvelado imperante, assim
como do seu modo de desvelamento. Novamente, e de modo contrrio ao
que o senso-comum moderno costuma entender, isto no deve ser
compreendido como uma falta ou fraqueza caracterstica de espritos
mesquinhos que, preguiosos ou acomodados, "escolhem o caminho mais
fcil". Deve-se perceber que quem assim age o futuro filsofo, aquele que,
apesar de dar as costas ao desvelado por causa da imensa dor
experimentada, ser carregado para o exterior da caverna. Se assim , se o
137
Plato, Repblica, 515e.
109
que est sendo descrito a essncia da paideia138 atravs das vicissitudes
desta personagem, ento esta rejeio deve fazer parte da prpria paideia:
o futuro filsofo algum que deve experimentar o conflito entre duas
afeces, entre o desvelado sancionado, a realidade pela qual ele ainda
ele e tudo o que conhece, realidade que a mesma pela qual tambm os
seus irmos, os "amados",139 so e aquilo que somente para ele assomou e
que, mesmo incipiente e frgil, o cativa conduzindo-o, num caminho
solitrio, para longe dos seus companheiros.
Sabemos que o homem liberto, o futuro filsofo, no se
demorar nessa estada. Ele ser, sempre acompanhando o mito, arrancado
do interior da caverna, conquistando assim o mbito onde o que , est
presente,
acessvel no seu ser, uma presena sem restries ou
dissimulaes. Nos diz o mito:
"E se o arrancassem dali fora e o fizessem subir o caminho
rude e ngreme, e no o deixassem fugir antes de o arrastarem at
a luz do sol, no seria natural que ele se doesse e agastasse, por
ser assim arrastado e, depois de chegar luz, com os olhos
deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora
dizemos serem os verdadeiros objetos?
-No poderia, de fato, pelo menos de repente."140
Nesta segunda periagoge, novamente a nfase no elemento de
padecimento e na perturbao do olhar produzida pelo recm desvelado,
agora maior ainda por ser ocasionada pelo prprio sol. O pathos sofrido
138
Talvez no seja ocioso citar o incio do livro VII da Repblica: "Depois disto <do que foi dito
nas duas passagens anteriores: a "analogia entre o Bem e o sol" e a "linha dividida"> imagina a
nossa natureza, relativamente educao (paideia) ou sua falta (apaideusia) , de acordo com a
seguinte experincia <a imagem sensvel da caverna>". Como bem observa Heidegger no ensaio
acima referido, "A Doutrina de Plato sobre a Verdade", o mito tem por objetivo descrever a
essncia da paideia, para o qual imprescindvel compreender o que seja a apaideusia, a falta de
formao.
139
Diz Georg Trakl num poema que evoca essa viagem solitria: "Alma azul, escura viagem /
Separao d' Outro, do Amado. / O crepsculo muda sentido e imagem." Citado por Heidegger em
Unterwegs zur Sprache. (Cf. "La parole dans l'lment du pome - Situation du Dict de Georg
Trakl" em Acheminement vers la parole, Gallimard, Paris, 1976, p. 53.)
140
Plato, Repblica, 515e-516a.
110
pelo homem agora mais forte, fato que no-lo indica a indignao que ele
sentiria diante dessa fora que o arrasta, expondo-o a tal padecimento.
Sabemos que ser exatamente ali, na presena perfeita do que perfeita
porque garantida pelo ente supremo, to agathon que o homem poder se
tornar filsofo, poder enfim realizar a sua paideia.
A formao do filsofo nos descrita como um acostumar-se
gradual ao mbito externo caverna. Diz Plato:
Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras,
depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos,
refletidas na gua, e, por ltimo, para os prprios objetos. A partir
de ento seria capaz de contemplar o que h no cu, e o prprio
cu, durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da Lua, mais
facilmente do que se fosse o Sol e o seu brilho de dia.141
Quero me deter neste ponto. As interpretaes tradicionais
entendem que o mbito exterior caverna representa o mundo inteligvel, as
entidades trascendentes que Plato nomeia de ideas, entidades cuja presena
perfeita, como disse acima, assegurada pelo ente supremo, o Bem. Se esta
interpretao correspondesse ao que o relato nos narra, no teria sentido que
esse mbito externo caverna comportasse sombras, reflexos, os prprios
objetos, noite e dia, lua, estrelas e sol; tampouco faria sentido esse adaptar-se
gradativo com o qual Plato quer descrever a essncia da paideia. Que poderia
querer dizer que o mundo inteligvel possui sombras e coisas, noite e dia? Que
diferena interna ao inteligvel estaria Plato apontando, diferena que
obrigaria a uma gradativa adaptao? Uma primeira resposta plausvel, se
temos presente a passagem da Linha Dividida, que precede a alegoria da
caverna, que essa distino interna s entidades inteligveis seja a que h
entre as entidades matemticas e as idias. Permanece obscuro, entretanto, o
que possa significar a noite e o dia, as fontes de luz fracas a lua e as
estrelas em oposio fonte de luz soberana o sol. Uma outra resposta,
que tambm considero plausvel, a seguinte: o mbito externo caverna
representa o todo do real, a totalidade do ente, s que agora essa totalidade est
141
Idem, 516a-b.
111
inteiramente disposio do homem, acessvel a ele, nas suas diferenas de ser
e verdade. Em outras palavras, o que o mbito externo representaria, nesta
segunda interpretao, o real compreendido como completo, em si mesmo,
sem velamentos embora comportando entidades com graus de ser e verdade
diferentes. Vejamos isto com mais cuidado.
Um aspecto do mito que acho de extrema relevncia o fato de
que, na primeira periagoge na virada do homem, das sombras projetadas no
fundo da caverna, para o mbito do fogo, o muro e as estatuetas, Plato no
nos prope uma adaptao do homem ao novo domnio que lhe fora desvelado.
Ns, que estamos fora da histria, sabemos que as sombras que ele via no
primeiro momento, so projees das estatuetas produzidas pela luz do fogo
que arde. Poderamos, perfeitamente, conceber a possibilidade de que esse
homem que agora est de frente para esse domnio, pudesse adaptar-se, da
mesma forma que depois Plato nos diz que poderia faz-lo no mbito exterior
caverna. Assim, se ele conseguisse superar o que acima chamei de rejeio
graas fora do espanto que o carrega e se mantivesse na direo do que
acabou de ser desvelado, ele poderia vir a compreender que aquilo que via
outrora no passava de sombras e que o que propriamente real so segundo
o novo modo de desvelamento as estatuetas e o fogo que as clareia. Se assim
acontecesse, aquelas distines que, no primeiro momento do mito, estavam
fechadas, comeariam a assomar. O homem liberto, mesmo no interior da
caverna, poderia, depois desse perodo de adaptao, perceber que h algo
como as prprias coisas e algo, que possui menos consistncia do que elas,
que so as sombras das coisas. Poderia tambm compreender que sempre
estivera enganado quando supunha as sombras como o propriamente real e
assim, pela primeira vez, poderia ter a experincia de um pensamento que se
realiza nele e que no corresponde ao que , inaugurando a distino entre
ser e pensar incipientemente concebida ao modo metafsico. Livre,
podendo se movimentar, experimentaria os diversos pontos de vista, atravs
dos quais o que se mostra, e perceberia, tambm, que nem sempre o que me
aparece o que aparece a ele, propiciando a compreenso do que seja a
doksa. Enfim, o que estou querendo indicar que, nesta primeira reviravolta,
se o homem se mantivesse na direo do que acabou de ser desvelado num
112
esforo de adaptao, um
novo
modo de desvelamento e um novo
desvelado tomariam consistncia, acabando por desqualificar o modo de
desvelamento precedente. (Se fazemos esta experincia de pensamento,
experincia que, insisto, Plato no nos prope, percebe-se em que sentido
cada periagoge representa a irrupo originria de um mundo que revoluciona
toda a compreenso anterior: s agora aquilo que o homem via antes so
sombras, s agora ele se percebe como falante como zoon logon ekhon,
diferente de tudo quanto animado, s agora h algo como luz e escurido,
etc.142)
Entretanto, como foi dito acima, Plato no prope que o seu
protagonista se adapte ao mbito que, embora ainda interior ao invlucro que a
caverna representa, possui mais ser e verdade do que as sombras que ele at
ento conhecera. Por que isto? Por que razo a paideia, essa tenaz adaptao
quilo que tem mais ser e verdade, s pode ter o seu incio no domnio externo
caverna? Plato responderia: porque s perante aquilo que est inteira e
acabadamente desvelado e, nesse sentido, diante daquilo que disponvel para
ns porque, em princpio, acessvel, que o comportamento humano pode
obter uma orientao firme e segura, pode chegar a conhecer cada tipo de ente
que se lhe apresenta no seu grau de verdade especfico e, assim, perceber que
h entes que possuem mais ser e verdade e que h entes que possuem menos e,
fundamentalmente, que aqueles so o fundamento destes ltimos.
O que aqui estou querendo indicar o que Martin Heidegger aponta
como acontecimento historial decisivo e que eu poderia nomear como o
esquecimento da ocultao. No ensaio acima citado, A Doutrina de Plato
sobre a Verdade, Heidegger afirma que em Plato
<...> a essncia da verdade deixa de se desenvolver, a partir de sua
plenitude, como essncia do desvelamento, e se desloca para vir a
coincidir com a essncia da idia. A essncia da verdade abandona
seu trao fundamental anterior: o desvelamento.
142
por esta razo que qualquer descrio cumulativa da paideia a mal-compreende. A paideia,
mesmo a que Plato nos prope e que se d no exterior da caverna, a sucesso de revolues
na alma, onde cada modo de desvelamento substitui o anterior obrigando a uma compreenso, a
cada vez originria, da totalidade do ente que, por sua vez, a cada vez faz ser o ente a seu modo.
113
O que quer isto dizer? No termo aletheia no se ouve mais o
acontecimento da vinda--presena. O ser, transmutado em idea, o
inteiramente desvelado em sua presena perfeita, estando desde sempre
disponvel. Ainda em Plato nomeadamente na Alegoria o termo
alethes e seus derivados referem-se aos entes e neste sentido conservam uma
indicao do sentido originrio de verdade como desvelamento, uma vez que a
aletheia se diz deles e no do pensamento correto, adequado. Entretanto, o que
acontece na compreenso daquele que, mesmo sem ter realizado a paideia, se
persuade da noo de um desvelado pleno que est no fim do caminho como
que sua espera, desvelado que far que ao ser alcanado, o que h de ser na
totalidade do ente esteja, por fim, inteiramente acessvel e disponvel? Para
essa personagem, que o prprio Ocidente, como o que h de ser nos entes
est de antemo j dado, no mais sendo experimentado nem pensado o seu
vir--presena, como se a palavra aletheia em oposio a pseudos, o que
se oculta ou dissimula perdesse o seu sentido, uma vez que o ser do ente,
compreendido como determinado a partir da idea plenamente presente, por
definio no carrega ocultao nem dissimulao. Assim, onde no faz mais
sentido falar de um movimento de ocultao ou dissimulao do ser do ente,
tambm no far mais sentido falar de um movimento de desvelamento do
mesmo: a verdade, assim como o erro, se desloca para o intelecto. Da em
diante, a tradio ocidental ouvir toda vez que se fala em verdade, a
adequao do intelecto coisa.
O que nesta interpretao est em questo a irrupo da noo de
real como absolutamente presente e determinado em si mesmo. justamente
esta compreenso de real a que permite a Plato conceber a paideia como
um acostumar-se quilo que, por ser absolutamente presente e consistente,
pode oferecer uma orientao para a alma. O que me parece decisivo em tudo
isto, no tanto o fato de que se alcance efetivamente a contemplao das
idias o conhecimento absoluto do fundamento, mas o de se firmar um
certo comportamento da alma: ela deve supor sempre, como referncia para
avaliar a adequao ou inadequao do seu pensar, algo dado inteiramente no
114
seu ser, ser este que, por sua vez garante o ser relativo do que quer que, em
algum modo, seja. Somente a partir desta suposio faz sentido falar em graus
de ser e verdade e numa hierarquia entre tipos de entidade tal qual nos
apresentada, por exemplo, na passagem da Linha Dividida. O comportamento
em questo, o comportamento que o homem ocidental assumir da em diante,
aquilo que Plato descreve no quarto momento do mito, na volta para o
interior da caverna. Vejamos isto.
Retomemos a descrio do interior da caverna. Ali habitam dois
tipos de indivduo: os que, estando acorrentados, somente vem as sombras e
esses estranhos personagens que, carregando as estatuetas, escondem-se atrs
do muro, encenando para os primeiros a espcie de teatro de sombras que nos
descrita. Quem so estes indivduos? Eles desfrutam de um grau de liberdade
diferente dos outros. Se aqueles, como sugerimos em nossa interpretao,
habitam um cosmo animado por um logos que perpassa todo ente, onde
qualquer distino ontolgica distino de graus de ser e verdade
vedada, estes sabem de "coisas" e de "sombras das coisas". Mas, o que so as
coisas para eles, o que eles entendem por "ser real"? Eles transportam
entidades fabricadas; so
"estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda
espcie de lavor; como natural, dos que os transportam <os
objetos>, uns falam, outros seguem calados."143
Plato sugere que imaginemos que tais estatuetas tm por modelo
coisas naturais. Costuma-se dizer e acredito que com razo que com esta
imagem Plato quer dizer que as coisas fabricadas, coisas que vm a ser pela
mo do homem, so cpias dos entes naturais, aqueles que vm a ser por si
mesmos e que possuem um grau de ser maior do que aquelas. Em analogia com
isto, no mito, as estatuetas representariam as coisas visveis, enquanto as
coisas naturais representariam as idias. Entretanto, se como pretendo fazer
aqui, leva-se a srio o quadro platnico, podemos concluir que esses homens
143
Plato, Repblica, 514c-515a.
115
no sabem nada acerca de entes que venham a ser por si mesmos: o modo de
desvelamento que apresentaria algo como sendo "por si" lhes completamente
estranho. Obviamente, quando aqui fao apelo para levar a srio a "alegoria",
no estou sugerindo que esses homens jamais tiveram acesso a homens e
animais "de verdade", mas somente a estatuetas. No, o que quero convidar a
pensar a possibilidade de que Plato esteja inaugurando uma compreenso de
ser at ento inexistente. Neste caso, esses homens experimentariam os entes
no como possuindo algo de per se, o que Plato chamar de idea e, depois, a
tradio do pensameno cristo de essentia. O que se mostra a eles, o faz
dependendo do tipo de feitio, dependendo da "espcie de lavor", no tendo por
si mesmo a permanncia que caracteriza o ser da essentia. Mas estes homens,
estes estranhos personagens, desfrutam de uma situao diferente, se
comparados com os prisioneiros acorrentados: eles falam, e tudo nos leva a
supor que eles sabem que falam. No seu mundo h o logos humano, h a
considerao daquilo que aparece e, segundo nos narra a histria, so as falas
destes homens que os outros, acorrentados, atribuiro s sombras.
Gostaria de propor a seguinte interpretao: os homens que,
escondidos atrs do muro, exibem as estatuetas para os espectadores
acorrentados so aqueles que, como Protgoras, consideram que "o homem
medida de todas as coisas, das que so que so, das que no so que no so".
Esses homens falam logoi que os homens acorrentados atribuem no a eles
de cuja existncia sequer suspeitam144, mas s coisas que se apresentam no
espetculo de sombras no fundo da caverna. Os transeuntes faz sentido
supor, no atribuem esses logoi s coisas, uma vez que eles sabem que
constituem uma pluralidade de homens dotados de fala: eles desfrutam do
saber da doksa. Mas, para eles o saber da doksa no o saber platnico acerca
da mesma. Para Plato, a opinio um saber acerca das entidades visveis que,
por versar acerca de coisas que no possuem a consistncia caracterstica do
inteligvel, mesmo se verdadeiro, tem uma verdade precria, em razo desta
estar exposta mutabilidade e dissimulao caractersticas dos entes para os
144
O que quer dizer: sequer suspeitam que haja homens para quem o logos algo exclusivamente
humano.
116
quais ela se volta. Como veremos, o homem que j conquistou o saber de que
h algo absolutamente consistente e no somente o mundo visvel, sempre
instvel no seu ser, poder relacionar-se com os entes visveis tentando extrair
deles aquilo que d o seu ser, a saber, a idia. Diferente , entretanto, a
compreenso da opinio que os homens que jamais saram da caverna
possuem. Eles no tm o comportamento de extrair, daquilo que
inconsistente e efmero, o permanente. Ao contrrio, para eles, o logos
humano que faz as coisas serem, lhes dando medida e consistncia.145
Referi-me, acompanhando Heidegger no seu ensaio A Doutrina de
Plato sobre a Verdade, a um comportamento do homem em relao ao
visvel como sendo o que propriamente Plato inaugura. Este comportamento
s pode ser possvel porque o desvelamento como acontecimento como
vinda--presena cede lugar ao desvelado como presena perfeita: a
koinonia das idias garantida pelo Bem na sua perfeita aparncia e no seu
repousar num agora sempre presente o posterior nunc stans prprio da
eternidade. De agora em diante, a aletheia
no mais, como desvelamento, o trao fundamental do prprio
ser; mas, tornando-se exatido em razo da sua servido Idia, ela
o trao distintivo do conhecimento do ente. Da em diante, existe
um esforo em direo verdade, no sentido da exatido do olhar e
de sua direo. Depois daquele momento, em todas as posies
fundamentais adotadas em relao ao ente, a obteno de um olhar
correto dirigido para a Idia se torna decisiva.146
Com a compreenso do ser como presena acabada e perfeita,
inaugura-se uma compreenso do pensamento: ele deve ter sempre uma
145
Diante da doutrina supostamente heracltica do tudo flui, atribui-se linguagem um
desempenho: o de deter o fluxo, fixando os entes e assim fazendo-os ser. Este desempenho pode
ser considerado ou como uma iluso de carter fixista tenho em mente o dilogo de Plato
Crtilo, que nos apresenta a personagem do mesmo nome como filiado s doutrinas heraclticas e
afirmando que, para evitar-se a iluso, a rigor, os homens deveriam se abster de falar,
conformando-se situao de irremedivel mutabilidade simplesmente apontando com o dedo
ou, diferentemente, concedendo linguagem um poder estabilizador de fato. Parece-me que este
o caso de Protgoras na sua proposio.
146
Heidegger, M., La doctrine de Platon sur la verit in: Questions II, ed. Gallimard, Paris,
1990, p. 464.
117
direo, a direo que o real como dado lhe exige.147 Qui seja importante
aqui ressaltar que o decisivo para a metafsica ocidental em seu movimento
historial no est no fato de Plato afirmar que as essncias podem ser
alcanadas pelo olho da mente, conquistando-se assim o saber absoluto acerca
delas, uma postulao que somente valida para a metafsica clssica. No, o
decisivo, e isto perpassar tambm a metafsica moderna, justamente essa
direo que todo pensamento deve observar.148
Decisiva tambm, e em solidariedade com o que acabamos de
apontar, a formulao que aparece no dilogo Mnon e da qual j
falamos da noo de que todo conhecer um reconhecer: a afirmao de
que sabemos antes de saber. Como dissemos, ali assiste-se primeira
formulao do conhecimento a priori. Certamente em Plato, a possibilidade
deste conhecimento repousa na afirmao de uma capacidade da alma
receptiva s essncias e no, como em Descartes, da presena no esprito de
idias claras e distintas de carter inato, idias garantidas na sua adequao ao
real pela bondade divina; certamente o a priori platnico bem mais ntico
e neste sentido positivamente substancial do que o a priori kantiano, com
suas faculdades racionais que independem da experincia e que, no entanto, a
organizam dando-lhe a sua forma. Entretanto e sem deixar de considerar o
percurso historial da compreenso do a priori que mais uma indicao do
147
Estou me servindo dos termos ser e real como sinnimos e isto no rigoroso. O termo
real, se retraado o seu sentido, nos remete a res, substncia. No contexto da metafsica clssica
esta identificao procedente. Entretanto, j mesmo em Kant que considera que o ser posio,
uma relao da representao com as faculdades de conhecimento do sujeito, esta identificao
torna-se imprpria. Kant, que ainda reserva para o termo realidade o sentido clssico que remete
substncia diz: o ser no um predicado real, justamente para indicar que ali se trata de uma
relao e no de algo que seja substancial, real. Sabemos que a substncia em Kant uma
categoria e que no h para ele substncias em si mesmas. Se se emprega o termo realidade no
sentido de existncia torna-se clara ento a impropriedade da identificao. A categoria de
existncia em Kant consiste na relao que a matria da sensao tem com as faculdades de
conhecimento; esta matria, como se sabe, em Kant deve ser pensada como uma multiplicidade
ainda indeterminada, pois carece da organizao dada pelas intuies a priori de tempo e espao e
das categorias a priori do entendimento. Em outras palavras, a matria da sensao que determina
a categoria modal de existncia pode ser tudo menos real, se se ouve por este termo --como
ainda Kant ouve-- o sentido de substancial.
148
Que assim seja explica a razo por que, com relativa facilidade, pode-se hoje cometer o
anacronismo de ler a idia platnica como uma idia regulativa kantiana, livrando Plato do
estigma de dogmatismo que o prprio Kant lanou para toda metafsica anterior a ele.
118
declnio da noo de substncia,149 o acorde inicial da metafsica , neste
sentido, dado por Plato. porque o real est perfeitamente presente e a alma
de algum modo sabe dele mesmo que esquecida que o conhecimento
possui segurana de direo.
Assim, segundo a descrio que o mito nos apresenta do recm
filsofo que ingressa novamente na caverna, o comportamento que se espera
dele no o de uma readaptao ao saber da doksa ali imperante. O mundo
inconsistente do interior da caverna, assim como o saber que ali se desdobra
so, para o filsofo, como o Hades para Aquiles que, do mesmo modo que o
protagonista da histria, se pudesse, nos diz Plato, trocaria sua vida de rei no
mundo dos mortos por qualquer vida, mesmo uma vida de escravo, no mundo
dos vivos o mundo da luz, da verdade. O recm filsofo reingressa na
caverna, mas sem a crena prpria ao modo de desvelamento que ali se
impe de que a linguagem humana, exercida na pluralidade da doksa, seja o
que pode oferecer consistncia ao desvelado. Realizada a hierarquia de
entidades com seus respectivos graus de ser e verdade na relao
fundamento/fundamentado, o filsofo sabe que o que concede a relativa
consistncia que as coisas no interior da caverna possuem a idia: ela o ser
da coisa e para ela que o pensamento e a linguagem devem se dirigir,
recebendo dela a orientao.150 Procurar extrair do inconsistente e mutvel
aquilo que permanentemente idntico a si mesmo, o ser da coisa, ser esse o
comportamento que ali se inaugura e que modelar o homem como o animale
rationale ocidental. Este comportamento, diz Plato no mito, entra em conflito
com o saber dos que habitam na caverna. O filsofo devolvido caverna sofre
novamente uma perturbao no olhar, o que quer dizer: o filsofo j no
149
Na medida em que, como foi dito, o a priori platnico substancial, enquanto o a priori
kantiano constitudo por regras ou funes de organizao do real.
150
Assim, num imaginrio dilogo entre o filsofo e os transportadores de estatuetas, o primeiro
poderia dizer aos ltimos: --No so vocs que com suas opinies persuasivas determinam o que
e o que no . Embora vocs sequer suspeitem disso, so as idias que do ser ao que quer que
seja. Suas opinies, e o ser que elas pretendem instaurar, no passam de cpias distorcidas do que
prpria e verdadeiramente . Tanto mais elas sero distorcidas, quanto mais vocs negligenciem a
viso do modelo, em favor da iluso de que a fonte do ser e da verdade est em vocs.
119
pertence a esse modo de desvelamento e, por isso, o que desvelado para os
habitantes da caverna, assim como seu modo de desvelamento, agora lhe
estranho. A histria nos relata que esses homens zombariam dele e, em sua
zombaria, diriam que a exposio a tanta luz acabou por estragar a viso desse
indivduo. Plato fala da impotncia do filsofo em convencer os muitos da
no-verdade ali imperante; ele no tem meios para faz-lo e, caso insistisse,
nos dito, esses homens o matariam.
Parece-me que est presente no mito, perpassando todo o
desenvolvimento da histria, o elemento de pathos que prprio do homem e,
sua contrapartida, a fora imperante do desvelamento: tudo o que o homem
encontra como sendo, tudo o que para ele se abre mesmo a compreenso que
ele tem de si prprio, o seu ser o faz "luz" de um modo de desvelamento
do qual ele no dispe, mas que o dispe. Mesmo a irrupo de um outro modo
de desvelamento se d sob a forma da afeco: como se uma brecha, uma
fenda, se insinuasse no modo de desvelamento que at a imperava; quando
isso acontece, o homem, as mais das vezes, d as costas ao novo desvelado
que
tenuemente
se
apresenta e volta para o
que porque apenas
imperceptivelmente quebrado na sua solidez ainda se mostra como sendo.
Mas tambm o elemento de pathos est presente no homem fascinado que,
quase milagrosamente, em lugar de dar s costas ao novo desvelado, por
ele cativado, mantendo na sua direo.
Que sentido tem para ns esta histria? Por que ali, na origem da
metafsica, se fala de modos de desvelamento, do assomar inusitado de "algo"
inteiramente novo, do conflito entre aquilo que imperante e esse novo
desvelado? E mais: qual o sentido que para ns tem a declarao de
impotncia do filsofo? Plato no mito parece nos sugerir que o conflito ser
decidido a favor dos muitos, daqueles que habitam no interior da caverna e que
acabariam por matar o filsofo. Entretanto, e isso ns que viemos muito depois
o sabemos, o destino de ocidente reservou a vitria desse conflito figura
solitria do filsofo. A vitria da filosofia, que para Heidegger sinnimo de
metafsica, consiste justamente em no mais experimentar o desvelamento
como doao, como abertura originria de um mundo que, por ser originria,
120
no pode ser retraada a fundamento algum. No mito, ainda h um saber acerca
da aletheia e seu poder inaugurador. Com a vitria da filosofia o que se
inaugura a tradio: a compreenso do ser como plena presena e do pensar
como maior ou menor adequao ao ser assim concebido. Por esta razo a
metafsica toma a forma de uma sucessiva "correo" das interpretaes da
entidade do ente. Esse procedimento corretivo que se verifica no fato de que
toda a metafsica fala em equvocos em relaco ao ser do ente, como se o ser
do ente fosse alguma coisa dada desde sempre e se tratasse de descrev-lo o
mais adequadamente possvel nada sabe do poder inaugurador da aletheia.
Dito de outro modo: a tradio deve-se a uma origem; mas ela nada sabe do
que faz dessa sua origem ser origem; ela nada sabe de inaugurao ou irrupo.
A metafsica conhece "interpretaes" do ser do ente, interpretaes que
somente podem ser comparadas porque foram dispostas sobre um pano de
fundo o ser como presena perfeita e o pensar como correspondncia ou
adequao. Entretanto, na metafsica este "pano de fundo" jamais pensado.
Pensar no "pano de fundo" traz a possibilidade de experimentar a origem, o
elemento doador da aletheia, mas tambm e solidariamente, a possibilidade de
que o homem aceda a experimentar o seu ser como o destinatrio dessa doao
e que compreenda que "um homem que homem, unicamente por e para ele
mesmo, uma tal coisa no existe".151 No seu comentrio Alegoria da
Caverna, Heidegger afirma que a metafsica, esse acontecimento historial que
ali se d e que consiste na compreenso do ente como bem fundado a partir
do fundamento coincide com o humanismo. Diz Heidegger:
"O incio da metafsica que se observa no pensamento de Plato ,
ao mesmo tempo, o incio do 'humanismo'. Esta palavra deve ser
aqui pensada de modo essencial, e consequentemente, em sua
acepo mais larga. 'Humanismo' designa assim o processo
ligado ao incio, ao desenvolvimento e ao fim da metafsica
atravs do qual o homem, em perspectivas cada vez diferentes mas
sempre conscientemente, se coloca no centro do ente, sem ser ainda
ele mesmo, entretanto, o ente supremo. 'O homem' pode querer
dizer aqui a humanidade ou uma de suas culturas, o indivduo ou
151
Heidegger, M., "La question de la technique" in op. cit., p. 43.
121
uma comunidade, o povo ou um grupo de povos. Trata-se sempre,
partindo de uma constituio metafsica bem precisa do ente, de
permitir ao 'homem', tal qual resulta desta constituio o animale
rationale, libertar suas possibilidades, chegar certeza de sua
destinao e ganhar a segurana em sua 'vida': aquilo que tem lugar
como definio de um comportamento 'moral', ou como liberao
da alma imortal, desenvolvimento dos poderes criadores,
desabrochar da Razo, cultura da personalidade, despertar do
sentido de comunidade, disciplina asctica ou, enfim, unio
apropriada de alguns destes 'humanismos' ou de todos eles. Gravitase sempre em redor do homem, de uma forma metafisicamente
determinada e sobre rbitas mais ou menos largas. Na metafsica
uma vez consumada, o 'humanismo' (ou, por falar de forma mais
grega, a antropologia) chega a conquistar 'posies' extremas, isto
, incondicionadas."152
O mito da caverna narra a origem da metafsica e ao faz-lo narra o
originar-se da origem. Nessa narrativa, o homem nos aparece como aquele que
est exposto aletheia, exposio da qual no pode se furtar. Entretanto, o que
dessa origem se origina, esse modo de desvelamento que apresenta o ente
como bem fundado e assim disponvel para o homem e seus humanismos,
exige que essa narrao o originar-se da origem seja gradativamente
esquecida. A metafsica , neste sentido, o modo de desvelamento que se
esquece da aletheia como origem em favor do ser como presena eterna e
imutvel; a metafsica tambm,
e conjuntamente, esse modo de
desvelamento que se esquece do homem como destinatrio do desvelamento
em favor do humanismo.153
152
153
Heidegger, M., "La doctrine de Platon sur la verit", in op. cit., pp. 466-467.
O que aqui est em questo diz respeito ao que deve se entender por "historialidade do ser". No
Seminrio "Tempo e Ser" foi levantada a questo de se o Ereignis mais uma figura dessa
historialidade ou, se ao contrrio, ela um aceno do fim das destinaes dispensadas pelo modo de
desvelamento em que a metafsica consiste, a saber, o esquecimento da aletheia como gesto que
doa se retraindo. Trata-se, e nos ocuparemos disto mais tarde, da segunda opo. Heidegger, nos
seus ltimos escritos, declara que a questo visada pela palavra "ser" ambgua e que convm
abandonar esta expresso. Se assim , ento a frmula "esquecimento do ser" para descrever o
modo de desvelamento da metafsica carrega tambm esta ambiguidade. A irrupo do Ereignis ,
justamente, o assomar da aletheia como um destinar. Neste sentido, e como veremos, ela no
mais uma compreenso do "ser".
122
3
Ser e Pensar III:
O Parricdio Parmendeo e
o Esquecimento da Aletheia
O dilogo Sofista de Plato comea perguntando se os nomes
"sofista", "poltico" e "filsofo" nomeiam uma nica coisa ou coisas diferentes,
isto , se a eles corresponde uma nica definio e, consequentemente, uma
nica idia ou se, pelo contrrio, a eles correspondem substncias diferentes. O
Estrangeiro, que fica a cargo da inquirio, tentar ento definir, atravs do
mtodo da epagoge/diairesis,154 o que o sofista. Sero apresentadas
sucessivamente seis definies, dentre as quais a ltima ser aprofundada.
Enquanto as cinco primeiras definies entendiam a sofstica como uma arte de
aquisio, segundo a ltima, a sofstica uma arte de produo: o sofista
definido como um produtor de imagens, no de quaisquer imagens, mas imagens
de um tipo especfico, aquelas que distorcem o original por serem cpias infiis
do mesmo.155 As cpias em questo so logoi, discursos; assim, o que est sendo
afirmado, ento, que o sofista nos seus discursos no diz o que , mas algo que
no , tendo, entretanto, aparncia de ser.156 Assim, configura-se a situao que,
na compreenso platnica, exigir um distanciamento de Parmnides,
154
O modo de encontrar a definio do que quer que seja consiste em realizar sucessivas divises
(diairesis) do gnero ao qual se considera que a coisa em questo pertence, de modo a construir
uma rvore de cima para baixo, encontrando por fim na sua base a coisa procurada. Para que
este procedimento possa se realizar, necessria uma viso antecipadora do gnero ao qual a coisa
pertence, uma espcie de pulo at o topo da rvore, uma vez que no se pode construir a rvore,
passo a passo, de baixo para cima. Essa viso antecipadora a epagoge
155
O gnero fabricador de imagens alcanado por epagoge sofrer uma primeira diviso:
fabricador de imagem fiel (eikon) vs. fabricador de imagem distorcida (phantasma) (cf. Plato,
Sofista, 235a e ss.).
156
Assim, afirma o Estrangeiro: No devemos admitir que tambm o discurso permite uma
tcnica por meio da qual se poder levar aos ouvidos dos jovens ainda separados por uma longa
distncia da verdade das coisas, palavras mgicas, e apresentar, a propsito de todas as coisas,
fices verbais, dando-lhes assim a iluso de ser verdadeiro tudo o que ouvem e de que, quem
assim lhes fala, tudo conhece melhor que ningum? (Plato, Sofista , 234c, in Plato
Dilogos, trad. Jorge Paleikat e Joo Cruz Costa, Abril Cultural, So Paulo, 1972).
123
distanciamento que metaforicamente expresso como o "parricdio de
Parmnides". Que situao esta? Muito resumidamente pode ser descrita da
seguinte maneira: Plato acusa o sofista de falar o falso, isto , de dizer o que no
. Diante desta acusao, como se o sofista retorquisse: "Plato, o no-ser no
pode ser dito, com isto at seu mestre Parmnides concorda; como eu poderia,
ento, falar o falso, falar o que no ? O discurso s pode dizer o que : o seu, o
de qualquer um, inclusive o meu. melhor voc desistir da sua acusao,
acusao que somente pode ser movida por uma mesquinha animosidade."157
Configurada a situao, Plato entende que de fato h em Parmnides uma
compreenso inapropriada do no-ser, compreenso que permite ao sofista a
defesa que ele encena. Ser necessrio para poder desmascarar o sofista, pois,
"matar" Parmnides, isto , apontar o seu erro.158
O objetivo desta seo no fazer uma anlise pormenorizada do
dilogo platnico Sofista. O que aqui tentarei mostrar e que ser decisivo para a
compreenso metafsica de ser e pensar como Plato aceita sem nenhuma
objeo a compreenso que o sofista tem da afirmao parmendea que diz "o
no-ser foroso (kreon, necessrio) que no seja; ele impensvel e
indizvel". O sofista entende que o que esta afirmao quer dizer : "as coisas, ou
os estados-de-coisas, que no so no so e, portanto, so indizveis e
impensveis". Assim, equipara-se o que est sendo visado pela expresso "noser" com a expresso "as coisas que no so" ou os estados-de-coisas que no
so. Como veremos, trata-se de uma compreenso entitativa do no-ser,
compreenso que, na interpretao que tenho do poema, parece-me inteiramente
ausente e que, como disse acima, Plato assume sem objeo alguma. Neste
157
Cf. Sofista, 241 a-b: Como no compreender que ele nos acusar agora de dizer o contrrio do
que ento dizamos <a saber, que o no-ser indizvel> ns que temos a audcia de afirmar que h
falsidade tanto nas opinies como nos discursos? Na verdade, isso mesmo nos leva a unir o ser ao
no-ser em muitas frmulas, quando havamos concordado na sua impossibilidade, a mais
absoluta.
158
Cf. Sofista, 241 d: <...> para defender-nos, teremos de necessariamente discutir a tese de nosso
pai Parmnides e demonstrar, pela fora de nossos argumentos que, em certo sentido, o no-ser ;
e que, por sua vez, o ser, de certa forma, no . E pouco mais adiante: Enquanto no houvermos
feito esta contestao, nem essa demonstrao, no poderemos, de forma alguma, falar nem de
discursos falsos nem de opinies falsas, nem de imagens, de cpias, de imitaes ou de
simulacros, e muito menos de qualquer das artes que deles se ocupam, sem cair, inevitavelmente,
em contradies ridculas.
124
sentido, Plato est muito mais prximo do sofista do que de Parmnides. Tanto
Plato quanto o sofista tm o olhar cativado pelo ente e compreendem o ser e o
no-ser que, no poema, introduzido no incio da Via da Verdade indicando,
como tentarei mostrar, uma pertena ntima ao ser de modo entitativo.
Apresentarei a seguir o que compreendo como estando em questo na
obra de Parmnides que, acompanhando Heidegger, considero ser o mesmo que
est em questo no pensamento de Herclito.159 O que aqui ser desenvolvido no
nada como uma exegese do poema; trata-se apenas de apresentar, a partir da sua
estrutura, o sentido que, no meu entender, tem a questo por ele visada.
O que chegou at ns do poema de Parmnides organizado em trs
partes: o "Promio", a "Via da Verdade" e a "Via das Aparncias" (ou, "Via das
Opinies" as dokounta). A introduo ou promio narra a viagem de
Parmnides: ele fora procurado pelas filhas do sol as heliades kourai que,
mostrando o caminho para os cavalos que puxavam o carro, o conduzem at o
portal dos caminhos da Noite e do Dia. As filhas do sol, na proximidade do portal,
retiram os vus
que
cobrem seus rostos e persuadem Dike a deusa que
costumeiramente identifica-se com a Justia e que quem guarda o portal com
slido ferrolho a abrir os portes. Assim, conduzido pelas filhas do sol, e com a
graa de Dike, e tambm de Themis, nos ser dito logo a seguir, Parmnides chega
na proximidade da deusa que, tomando a sua mo direita o sada, afirmando que
no foi um mau destino , uma moira kake, quem o trouxe a este caminho, caminho
que est to longe do trilhado pelos homens. Feito isto, a deusa pronuncia as
palavras que antecipam o ensinamento que dar a Parmnides.
" necessrio que tu experimentes (pythesthai) tudo, tanto o nimo
intrpido (atremes etor) da verdade bem redonda (aletheies
eykykleos), como as aparncias dos mortais (broton doksas), nas quais
no h uma confiana desvelante (pistis alethes). Porm necessrio
159
Como se sabe, a interpretao heideggeriana da aurora do pensamento ocidental distancia-se da
compreenso tradicional que ope Herclito a Parmnides, oposio desenhada na filosofia de
Plato e que faz do primeiro o pensador do devir em oposio ao segundo, o pensador do ser. Para
Heidegger, os pensamentos de Herclito e Parmnides so animados pela mesma questo, questo
esta que cair no esquecimento com a origem da metafsica em Plato. Neste sentido, para
Heidegger o corte decisivo se d entre, de um lado, Herclito e Parmnides e, de outro, Plato e
no, como costumeiramente se nos apresenta, separando Herclito de Parmnides e Plato.
125
tambm isto de uma maneira totalizante conhecer: como o aparecente
(ta dokounta) necessitava ser (khren einai) tudo consumando atravs
de tudo (dia pantos panta peronta) de maneira aparecente
(dokimos)."160
Segundo Burnet, o fragmento diz assim:
Encontr-lo <o caminho que est bem longe da trilha dos homens>,
significa que aprenders todas as coisas, tanto o nimo inabalvel da
verdade bem redonda, como as opinies dos mortais nas quais no h
confiana verdadeira. Todavia, devers ainda aprender isto tambm
como as aparncias, passando atravs de tudo, devem assemelhar-se
ao ser.
Como disse acima, a deusa anuncia aqui qual o ensinamento que
dar a Parmnides. Ele, nos diz a deusa, dever aprender tudo, e esse tudo consiste
em trs ensinamentos: o primeiro diz respeito ao corao ou nimo
inabalvel da verdade bem-redonda; o segundo, s opinies dos mortais que no
tem confiana na aletheia; o terceiro que me parece ser o de mais difcil
interpretao que o que aparece precisa ser aparecente, consumando tudo
atravs de tudo, isto , consumando a totalidade do ente, perpassando todos os
entes. Assim, a deusa anuncia aquilo que ser revelado a Parmnides. Parece-me
que uma interpretao do poema deve se orientar para uma compreenso da
unidade de sentido destes trs ensinamentos. Com a expresso unidade de
sentido quero dizer: no se trata de ensinamentos justapostos ou sucessivos, dos
quais alguns pudessem ser aprendidos e outros no. Trata-se, ao contrrio, de uma
nica questo ou de uma singular articulao que se desdobra nesses trs
ensinamentos.
Comecemos pela Via da Verdade. Parmnides a ela introduzido
atravs da apresentao de dois possveis caminhos para a investigao: o do
que e no pode no ser, e o do que no e foroso que no seja.161 O primeiro
160
A traduo de Srgio Wrublewski em Os Pensadores Originrios: Anaximandro, Parmnides
e Herclito, ed. Vozes, Petrpolis, 1993.
161
O que aqui pretendo fazer, como foi dito, uma exposio sumria da estrutura e sentido do
poema. Sou consciente das enormes dificuldades de interpretao que o poema coloca,
dificuldades que se anunciam, sem ir mais longe, no fato de que o suposto ser parmendeo
nomeado pela deusa com as expresses estin (literalmente, ) o caso do incio do fr. 2 a que
aqui fizemos referncia, pelo particpio to eon por exemplo, no fr. 4 e pelo infinitivo einai
126
caminho o caminho da obedincia, daquilo que persuade (peithous) porque
acompanha a verdade, o desvelar-se. Em relao ao segundo caminho, aquele do
que no e foroso que no seja, a deusa adverte enfaticamente: esse caminho
insondvel, intransitvel para o pensamento e a fala.
O primeiro aspecto que quero ressaltar deste incio da Via da Verdade
(fr. 2) o fato de que a deusa nomeia os dois caminhos. Sabemos, a partir do
corpus aristotelicum,162 que a sofstica, e particularmente Grgias, acusaro
Parmnides de inconsistncia. O ponto em torno do qual se constri a
argumentao reside na impossibilidade de se fazer a distino entre ser e no-ser
sem cair em sucessivas contradies. Tais contradies acabam por contagiar o
dizer do prprio ser, tornando o discurso ensaiado pelo eleata no seu poema, um
discurso insustentvel. Grosso modo, para Grgias, Parmnides estaria
contradizendo-se, uma vez que ele fala sobre o no-ser, mesmo que seja para dizer
que no . Se o no-ser indizvel, pensa Grgias, ento inteiramente abusivo
aquilo que faz Parmnides pela fala de sua deusa, a saber, apresent-lo no incio
da Via da Verdade como um caminho em princpio possvel, para imediatamente
depois interdit-lo: a nica posio coerente aqui seria simplesmente esquecer o
no-ser, no pens-lo e nem dele falar.163 Com esta interdio, tambm fica
interditada a fala sobre o ser, dado que, sempre segundo Grgias, este somente
pode ser pensado como o oposto do no-ser. Assim, para ele, acerca do no-ser e
no famoso fragmento 3. S este fato coloca a questo de se estas trs nomeaes so unvocas
ou se se articulam numa unidade de sentido mais rica que precisa ser mais profundamente pensada.
162
Refiro-me ao escrito pseudo-aristotlico Sobre Melisso, Xenfanes e Grgias onde se fala
acerca da obra do ltimo, conhecida sob o nome de Tratado do No-ser (979a 12). A mesma obra
parafraseada por Sexto Emprico pouco antes de citar o promio do poema de Parmnides.
163
No-ser, diz Grgias, no (Ouk einai phesin ouden); se , incognoscvel; se e
cognoscvel , entretanto, indemonstrvel aos outros. (On Melissus, Xenophanes, and Gorgias
in The Complete Work of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, Princeton University Press, Princeton,
1985, a traduo minha). Segundo o ponto de vista mais geralmente aceito, o qual parece-me
bastante plausvel, a tese de Grgias procura derrubar a afirmao atribuda a Parmnides e aos
eleatas posteriores acerca da existncia de entidades eternas e imutveis, restabelecendo a doutrina
do devir atribuda a Herclito. Tal movimento teria por objetivo, uma vez que nada no sentido
prprio, emancipar a linguagem de qualquer vnculo ontolgico, entendendo-se por este termo o
compromisso com a existncia de uma realidade em si mesma, que a linguagem, para realizar
enunciados verdadeiros, deveria observar. Em outras palavras, a preocupao de Grgias e de
Plato parece ser a mesma, a saber, a preocupao com a possibilidade ou no do discurso
verdadeiro em relao aos entes, embora em relao a esta preocupao ambas as personagens
encampem pontos de vista diametralmente opostos. O que tentaremos mostrar que esta no , de
modo algum, a preocupao de Parmnides (nem de Herclito).
127
do ser no h discurso coerente possvel. Como tentarei mostrar, esta atitude a
que vingar com a Metafsica e que Plato chancelar, dando o adeus ao no-ser
parmendeo, no prprio dilogo ao que estamos referindo-nos.164
E, entretanto, a deusa faz isso: nomeia o no-ser; diz que foroso
que no seja e que jamais deve se esquecer que acerca dele no se pode falar nem
pensar. Trata-se, de fato, de uma inconsistncia ou, pelo contrrio, estar sendo
visada aqui uma questo que somente pode se fazer presente ao pensamento sob a
forma de uma relao a que h entre ser e no-ser? E se a questo visada uma
relao: no ser essencial compreenso dessa relao que os termos dela, o ser
e o no-ser, no possam ser pensados fora da relao, mas somente a partir dela?
Se assim , o no-ser se apresenta como impensvel somente depois de ser visado
na sua relao com o ser, nunca antes. E, por outro lado, o ser de que fala
Parmnides o ser que um, homogneo e indivisvel, ingerado e incorruptvel,
enfim, o ser que sempre presente e imutvel, tal qual determinado no fr. 8
somente poder ser compreendido luz da interdio que o no-ser coloca para o
pensamento.
A introduo da Via da Verdade nos diz assim:
"Vamos l eu <a deusa> te interrogarei, tu porm auscultando a
palavra, cuida que caminhos nicos do procurar so dignos de serem
pensados <noesai>: um, que e que no-ser no <estin te kai hos
ouk esti me einai>; o caminho da obedincia pois segue o
desvelar-se. O outro, que no , e que necessariamente no-ser no
<hos ouk estin te kai hos khreon esti me einai>; este caminho eu te
digo em verdade ser totalmente insondvel como algo invivel; pois
no haverias de conhecer <gnoies> o no-ente (pois este no pode ser
realizado) nem haverias de traz-lo fala."165
E na traduo de Kirk e Raven:
164
Cf. Sofista, 258 e 259 a. a seguinte a fala do Estrangeiro, esquivando-se da possvel
acusao do sofista: No nos venham, pois, dizer, que porque denunciamos o no-ser como o
contrrio do ser, que temos a audcia de afirmar que ele . Para ns, h muito tempo que demos
adeus a no sei que contrrio do ser, no nos importando saber se ele ou no, se racional ou
totalmente irracional.
165
Na traduo de Srgio Wrublewski in: Os Pensadores Originrios - Anaximandro,
Parmnides, Herclito, ed. Vozes, petrpolis, 1993.
128
"Vamos e dir-te-ei - e tu escuta e leva as minhas palavras. Os nicos
caminhos de investigao em que se pode pensar [literalmente: que
existem para pensar, antigo sentido dativo do infinitivo]: um, o
caminho que e no pode no ser, a via da Persuaso, pois
acompanha a Verdade; o outro, o que no e foroso que no exista,
esse, digo-te, um caminho totalmente impensvel. Pois no poders
conhecer o que no (isso impossvel), nem declar-lo."166
Insisto na questo: ser uma negligncia lgica da deusa apresentar os
dois caminhos, simultaneamente, como aqueles que so para serem pensados, para
depois dizer que um deles, o do no-ser, impensvel, assim "contradizendo-se"?
Mas, de onde provm a mencionada contradio? No est implcita nessa
acusao uma compreenso de ser, aquela que entende o termo ser como
significando algo que , a compreenso entitativa do ser que ter sua primeira
figura na metafsica da substncia? No esta uma compreenso para a qual toda
relao se d entre entes que antecipadamente detm em si a possibilidade da
relao e que, por isso, entende que ela, relao, no o que prpria e
primariamente , sendo algo derivado dos entes nela envolvidos? somente
segundo a compreenso metafsica posterior que a fala da deusa resulta
contraditria. Mas, se nos permitirmos, mais no seja por uma vez, e essa
permisso nos dada historialmente depois de dois mil e quinhentos anos de
metafsica, em razo do ocaso da noo de substncia, perguntar o que a deusa
entende por "ser" e por que razo ela introduz o seu discurso acerca do ser falando
de ser e no-ser, ento, toda uma outra perspectiva se nos franqueia. Proponho
ento fazer uma espcie de "caminho ao contrrio" que, como remontando um rio,
nos leve do que no discurso da deusa vem depois o ser com seus famosos
"atributos", ao incio da via da verdade ser e no-ser como nicos caminhos
dignos de interrogao, passando pelo fragmento 3, "o mesmo pensar e ser".
Esta remontada procurar realizar uma desconstruo daquilo que a tradio
consagrou como bvio e evidente em relao ao poema de Parmnides, para que
se possa entrever a possibilidade de uma outra leitura.
Assim, cabe perguntar primeiramente o que a deusa est significando
por "ser". Remeter-me-ei ao fragmento 8:
166
Kirk, G. S., e Raven, J. E., Os Filsofos pr-Socrticos, ed. Fundao Calouste Gulbenkian,
Lisboa, 1982, p. 275. Os colchetes so dos tradutores.
129
"O ente <to eon> in-gnito, tambm in-corruptvel, pois ntegro e
in-quebrantvel, em verdade i-limitado; tambm no era outrora, nem
ser, porque agora todo do mesmo, uno, contido <...>."167
E, segundo Kirk e Raven:
"<...>o que , incriado e indestrutvel, porque completo, inabalvel
e sem fim. No foi no passado nem ser no futuro, uma vez que
agora, ao mesmo tempo, uno, contnuo <...>".168 169
O que cabe perguntar : qual aqui o significado de to eon? o
posterior to on que a tradio ocidental ouviu de uma forma bem determinada, e
do qual se afirmam os "atributos" acima citados. Vamos primeiramente para a
segunda parte do fragmento 8, aquela que afirma que ele, to eon, nem foi nem
ser; ele . Tradicionalmente entendem-se estas palavras como representando a
primeira enunciao da noo de eternidade, a noo de supra ou a-temporalidade.
Assim entendida, o que a passagem diz : "o ser eterno", o ser est fora do
tempo. A noo tradicional de eternidade enraza-se na compreenso ordinria que
temos do tempo. Agostinho, na dcima das suas Confisses, enuncia as
perplexidades imediatas a que a compreenso vulgar do tempo conduz, quando
pergunta o que o tempo, ou melhor o que no tempo "" j decidido
historialmente que ser ser "algo" que permanece idntico e imutvel. As
perplexidades resultam da tripartio do tempo, pois passado, presente e futuro
no parecem ser candidatos a nada de permanente: o passado deixou de ser, o
futuro ainda no , e o agora aquela dimenso que mais obviamente
corresponderia ao ser, pois nomeia a dimenso temporal do que a coisa mais
fugidia e inconsistente, sendo muito mais uma pura transio do que algo
permanente. Assim, pergunta-se: onde est o "ser" do tempo? A resposta
metafsica j fora dada por Plato no seu Timeu, quando dissera que o tempo, no
caso, o tempo cclico que impera no movimento regular dos astros no cu, a
melhor cpia da eternidade, eternidade em que repousariam os modelos que
167
Os Pensadores Originrios - Anaximandro, Parmnides, Herclito, op. cit.
168
Kirk, G. S. e Raven, J. E., op. cit., p. 279.
169
Estou citando as tradues de que disponho em portugus. Como pode se observar, qui
existam poucos exemplos to elucidadores acerca da natureza interpretativa de qualquer traduo.
Peo ao leitor deixar em aberto o sentido atribudo as expresses em questo a saber, no caso, to
eon, pois justamente o sentido que deve ser associado a elas que quero pr em foco.
130
orientam a produo do demiurgo as idias. Esta eternidade concebida como
se o agora pudesse ser retirado do fluxo temporal, como se pudesse ser pinado e
alado fora do tempo, conseguindo no devir, mas "ser". S assim concebido, ele
poderia conter de modo simultneo, co-presente, a totalidade do que .170
Entretanto, o que a passagem em questo do poema diz que o ser
nyn estin, isto , que ele "agora ". Esta determinao temporal unida s outras
duas, "nem era, nem ser" (oude pot' en oud' estai), sugere que esse agora um
agora que, se considerado do ponto de vista do passado, no se torna passado, isto
, no cessa e que, se considerado do ponto de vista do futuro, "j ", nunca vindo
a ser, mas sempre vigorando: o que aqui est sendo dito que o ser dura; ele no
nada de mortal.171
O fim da citao do fragmento 8 acrescenta algo de decisivo: "o ser
agora todo do mesmo, uno, contido", acompanhando a traduo de Srgio
Wrublewski. Ele "todo do mesmo", homou pan, homogneo; assim sendo, ele
uno e contnuo, hen e synekhes.172
O ser um e homogneo, feito todo do mesmo. Se, ao escutarmos
estas determinaes, mantemos uma compreenso "substancialista" do ser, a
primeira interpretao que se impe que, perpassando todo ente diferenciado,
170
A pergunta tradicional acerca do que no tempo, pergunta por aquilo que permanece idntico
sempre presente no tempo. Basta esta constatao (a de que no "sempre" do "sempre
presente" fala a temporalidade e que no "presente" do "sempre presente" fala ser) para entender
que em ser e tempo fala uma imbricao essencial: qualquer determinao "modal" do ser exige
que se faa um apelo dimenso temporal e qualquer determinao temporal exige um apelo ao
ser ( presena). A respeito disto, veja-se a conferncia de Martin Heidegger, Tempo e Ser.
171
E seria necessrio dizer que tambm no nada de divino, no sentido em que o so as
divindades gregas. Elas possuem uma imortalidade deficiente em dois aspectos: em primeiro
lugar, embora elas no morram por causas naturais, uma vez que a fome, a doena e a velhice no
as alcanam, podem morrer por causas violentas, como o testemunham, por exemplo, os dois
parricdios narrados na Teogonia hesidica. Mas mesmo que se aceite que estas mortes as de
Uranos e Kronos, para acompanhar o exemplo so mortes extremamente sui generis, pois com
razo pode-se afirmar que estes deuses esto ainda presentes em algum ponto do espao-tempo,
mesmo assim, as divindades gregas esto incontestadamente sujeitas ao nascimento. A
imortalidade prpria do eon carece destas deficincias, mas por no salvar os entes do devir
no modo em que o Bem platnico salva dele as idias, essa imortalidade, parece-me, no
pode ser compreendida em termos de eternidade.
172
A traduo de Kirk e Raven parece no considerar o homou pan, a homogeneidade do ser. Ela
parece entender que estes termos reforam o nyn estin, ouvindo ento " agora, ao mesmo tempo".
131
todo ente que vem-a-ser e depois perece enfim, tudo o que, diferentemente do
ser, est submetido ao devir temporal, h uma substncia una e imperecvel,
substncia semelhante quelas arkhai procuradas pelos pensadores jnicos,173
uma espcie de elemento sutil que permearia idntico a si mesmo tudo o que vema-ser. Mas que elemento poderia ser este? Mesmo que o ser seja assim pensado,
necessrio que haja entre ele e aquilo que devm uma soluo de continuidade,
um hiato, pois se a imutabilidade para ser levada a srio,174 esse elemento no
poderia jamais ser um hypokeimenon, um substrato que padeceria uma afeco,
dando lugar multiplicidade das aparncias. Tratar-se-ia de um elemento todo
peculiar, uma vez que no poderia ser causa ntica da diversidade das coisas que
devm.
A segunda possibilidade interpretativa, frequentemente aceita mas,
no meu entender, inteiramente anacrnica a que faz uma leitura platnica do
ser parmendeo. Com isto quero significar para descart-la a possibilidade de
que Parmnides esteja falando em "ser" pensando no mundo inteligvel platnico,
isto , falando em um outro mundo separado daquele das aparncias (ta
dokounta), mundo este composto por entidades eternas e imutveis. Uma tal
interpretao, apesar de ter sido historialmente sancionada, enfrenta uma primeira
dificuldade bvia que a da unidade do ser. As idias platnicas constituem uma
koinonia, uma comunidade de idias, que composta, de fato, por entidades que
so, cada uma delas, unas, indivisveis e homogneas, mas que, como
comunidade, como kosmos noetos (mundo inteligvel), no possui a unidade do
ser parmendeo. Ao contrrio, em Plato, a pluralidade de idias no mundo
inteligvel a responsvel pela diversidade de determinaes do sensvel,
concedendo a cada coisa o seu que, o fato de que cada coisa seja de tal ou qual
173
No estou querendo aqui me comprometer com tal interpretao das arkhai no pensamento
jnico; essa compreenso materialista das arkhai nos jnicos nos sugerida por Aristteles no seu
primeiro livro da Metafsica e ela est, no meu entender, tambm sujeita s vicissitudes da
historialidade do ser. Refiro-me ao usual procedimento de fazer uma leitura retrospectiva que
inadvertidamente projeta no que l aquilo que trabalha na prpria compreenso, esquivando-se
de toda possibilidade de estranhamento com o que foi e no mais .
174
Como, por exemplo em Plato, quando no Sofista afirmado que os amigos das idias se
vem na dificuldade de explicar de que forma as idias podem agir no sensvel sem, entretanto,
receber como contrapartida uma afeco do mesmo, pois, se assim fosse, elas perderiam sua
imutabilidade. A mesma problemtica apresentada no Parmnides de Plato quando se afirma
que a participao das idias no sensvel no pode ser algo do tipo da presena de um fragmento
da idia em cada particular, pois a idia deve ser, por princpio, indivisvel.
132
forma. A rigor, esta "fragmentao" do ser parmendeo parece ser, no meu
entender, o primeiro parricdio que Plato realiza e o faz, justamente, porque a sua
preocupao cognitiva, isto , est engajada na determinao "correta"175 dos
entes. Em outras palavras, o que estou apontando que jamais poder-se-ia falar do
ser em Plato se, como se faz com razo, equaciona-se ser a mundo
inteligvel como possuindo os predicados de uno, indivisvel, homogneo e
contnuo e que, consequentemente, inteiramente abusivo ouvir em Parmnides
algo como o mundo inteligvel platnico.
Restaria-nos ainda, entretanto, uma possibilidade de associao entre a
compreenso platnica de ser e a compreenso parmendea. Penso na idia
suprema de Bem da Repblica ou de Beleza-em-si do Symposium. De fato, h
algo, no que Plato est visando com a postulao de uma entidade suprema, que
est mais prximo do ser parmendeo: refiro-me a afirmao de que em Plato
ela, idia suprema, quem concede ser e verdade comunidade das idias
"arrancando-as" da ocultao e mantendo-as na sua presena perfeita, de acordo
com a interpretao que acabamos de realizar das passagens de Repblica.176
Segundo ela, no ente supremo, naquilo que, segundo Plato, mais propriamente ,
estando "acima e alm das idias", fala uma doao de presena plena, doao de
um desvelamento que superaria todo velamento. Como foi apontado, Plato
concebe o desvelamento (a aletheia) como um atributo da idia suprema,
condicionando-o a um ente que estaria desde sempre presente, sendo imutvel na
sua presena. Entretanto, o que prprio do Bem ainda o fato dele conceder "ser
e verdade" ao que quer que seja, isto , conceder presena, embora ele, em algum
sentido, pensado como anterior a esta concesso, subtraindo-se do desvelamento
como acontecimento originrio doador. Adiante, tentaremos indicar que o
esquecimento do no-ser esquecimento correlato postulao de um ente
175
Como vimos na anlise da Alegoria da Caverna que nos ocupou acima e, acompanhando
Heidegger Plato est interessado na ortothes e no na aletheia, o que quer dizer: na exatido ou
correo do pensamento que representa os entes e no no desvelamento.
176
No Banquete, a Beleza em si aquilo que faz belo e bom tudo o que a alma experimentar
como desejvel exatamente pelo fato de ser belo e bom. No comeo da pedagogia ertica que
Diotima prope, o desejo da alma est como que disperso em diversos objetos de carter sensvel,
e ela pensa que so esses objetos sensveis o que verdadeiramente ela deseja. Com a gradativa
universalizao e dessensibilizao da ascese ertica, no fim do seu caminhar, a alma perceber
que o que sempre desejou nos seus objetos de desejo a Beleza em si, que ela o objeto uno e
permanente de Eros.
133
sempre presente e, por isso, em princpio acessvel ao pensar o que de fato
distanciar Plato de Parmnides, inaugurando o que nomeamos de Metafsica.
Segundo me parece, o ser parmendeo no nomeia ente algum
sequer um ente supremo. Pr-platonicamente e isto quer dizer, antes da
postulao de dois mundos, do que entitativo jamais poder-se-ia afirmar que
um, homogneo e indivisvel; assim como, tampouco poder-se-ia dizer de nada
que entitativo que "nem foi, sem ser, ". Tudo o que entitativo, as dokounta
de que fala Parmnides, mltiplo, divisvel, vem-a-ser e perece e, como
veremos, e no . Mas, ento, o que o ser parmendeo? Segundo minha
interpretao, o que ali est sendo visado a presena do que : "que h ente".
Na primeira destas expresses a presena do que , a nfase deve ser posta
no termo presena, isto , na prpria presena, no estar presente daquilo que .
Na segunda expresso que h ente a nfase deve recair no h, e no "no
que h", se este ou aquele ente. Dito em outros termos: a questo no saber que
ente no modo indicado pelos predicados apontados por Parmnides, como se se
tratasse de descobrir entre as coisas que so aquelas que so imutveis, in-geradas
e imperecveis, etc. A questo levantada no a de dirigir o olhar para a totalidade
do que e selecionar, dentre essa multiplicidade de entes que a comporiam, qual
ou quais merecem o ttulo de "serem", por possuir aqueles predicados que a
semntica do verbo ser exigiria: os de eternidade e imutabilidade. Ao contrrio,
trata-se de experimentar nessa totalidade que, se pensada como somatria de
todos os entes, composta por coisas que so mltiplas, diferenciadas e
perecveis aquilo que imortal, um e homogneo: o ser entendido como a
prpria presena e no como ente algum. Coleridge, um poeta do sculo XVIII,
fala do ser e, como Hannah Arendt observa, a referida passagem " relativamente
moderna e, consequentemente, insiste mais nas emoes subjetivas pessoais do
que qualquer texto grego poderia fazer e, por isso, qui seja mais persuasiva para
ouvidos psicologicamente treinados". A passagem diz:
"Alguma vez endereaste tua mente para a considerao da existncia
nela e por ela mesma, como mero ato de existir? Alguma vez disseste
para ti mesmo em pensamento, !, sem considerar nesse momento, se
havia um homem diante de ti, ou uma flor, ou um gro de areia sem
referncia, enfim, a este ou quele particular modo ou forma de
134
existncia? Se tu alcanaste isto, ento devers ter experimentado a
presena de um mistrio, que deve ter marcado teu esprito com
espanto e maravilhamento. As palavras No h nada! ou Houve
um tempo em que nada havia! so auto-contraditrias. H algo dentro
de ns que repele a proposio com uma luz to plena e instantnea
que parece retirar a sua evidncia de sua prpria eternidade.
No-ser, ento, impossvel: ser, incompreensvel. Se tu sustentaste
esta intuio da absoluta existncia, ento deves ter aprendido que foi
isto, e no outra coisa, o que nos primeiros tempos tomou as mentes
mais nobres com um tipo de horror sagrado. Foi isto que causou nelas
o sentimento de algo inefavelmente maior que as suas prprias
naturezas individuais."177
Ao experimentar-se isto que Coleridge nos diz, percebe-se que
somente o ser dura o ser agora entendido como a presena daquilo que se faz
presente no modo em que for seja como j passado, no modo da rememorao,
seja como ainda no sendo, no modo da antecipao, seja como estando ali mo.
Do cessar desta presena no temos experincia, pois este cessar implicaria uma
radical ausncia, uma ausncia que sequer se experimenta como ausncia o
no-ser. Em outras palavras, todo experimentar, no sentido mais largo, se move no
mbito que a presena garante. por esta razo que se pode afirmar que somente
ela no veio-a-ser e que somente ela no perece, pois se pensarmos o vir-a-ser
como passagem de um estado de coisas para um outro estado de coisas isto , se
pensarmos a metabole onticamente, ento torna-se evidente que sempre
estamos movendo-nos no mbito garantido pela presena. Em outras palavras, no
h experincia da passagem do no-ser ao ser.
Assim, somente a prpria presena dos entes e no entidade
alguma pode ser una e imutvel, no sendo "arranhada" na sua unidade e
integridade pelo perecimento de qualquer ente. No o ente que carrega a
presena, pois o que aqui est sendo visado no nada como um quinho de
presena que cada coisa porta consigo, quinho que viria a somar-se ao das outras
coisas que ali esto e que, na ocasio do seu perecimento, seria levado embora
com ela. A presena acolhe os entes mesmo na ausncia deles, quando se mostram
como o que falta, no modo do que j foi ou do que ainda no . Mas, ela,
177
The Friend, III, 192, citado por Arendt, Hannah in: The life of the Mind, Harcourt Brace
Joavanovich Publishers, Nova Iorque, p. 144-145.
135
presena, no padece o devir dos entes. Aqui, sim, pode se falar de um verdadeiro
khorismos, de uma autntica separao entre ser e ente ou, o que o mesmo, de
uma relao que no pode ser pensada, de modo algum causalmente.178
Neste ponto somos inevitavelmente conduzidos ao fr. 3: pois o
mesmo pensar e ser to gar auto noein estin te kai einai. Este fragmento,
como todo o poema, apresenta grandes dificuldades interpretativas, algumas delas
originando-se na prpria estrutura sinttica da frase que oferece duas leituras
possveis. A primeira dela seria: Pois o mesmo pensar e ser, onde o mesmo
(to auto) ocupa o lugar de sujeito e pensar e ser ocupa o lugar de predicado. Mas
tambm a estrutura invertida pode ser legitimamente traduzida em grego: ser e
pensar como sujeito da frase e o mesmo como predicado (a frase soaria: Pois,
ser e pensar so o mesmo).179
Uma das interpretaes mais freqentes nas leituras contemporneas,
entende que to auto (o mesmo) nomeado no fragmento traz subentendido o
sentido: a mesma coisa. Assim, uma possvel escuta : a mesma coisa ser e
178
Como se sabe, um dos problemas centrais que Plato enfrenta no seu dilogo Parmnides a
questo da participao do sensvel nas idias ou, o que o mesmo, o tipo de separao do mundo
sensvel que caracteriza o mundo inteligvel (ele dito kekhorismenon, separado). Pois, como j
dissemos acima, quando descartamos a concepo do ser parmendeo como elemento, necessrio
que o inteligvel cause o sensvel sem, entretanto, receber deste nenhum padecimento, nenhuma
afeco. Em outras palavras, a separao platnica deve s-lo somente num sentido, de baixo para
cima do ente sensvel para o ente inteligvel, mas no no sentido contrrio; ali, o comrcio, a noseparao, deve ser assegurada, uma vez que as idias so causas nticas do sensvel e sua
diversidade.
179
Uma referncia imprescindvel para introduzir-se na diversidade de possveis interpretaes do
poema a coletnea de ensaios organizada por Pierre Aubenque, Etudes sur Parmnide, que tem o
mrito de iluminar as dificuldades de interpretao que o poema levanta, assim como o de
apresentar uma grande variedade de leituras do mesmo. Entre as tradues anglo-saxs temos
OBrien (cf. La lecture des manuscrits: propos dune dition rcent, in Etudes sur Parmnide,
vol. I, Vrin, Paris, 1987, pp. 106-118): a mesma coisa para pensar e ser (There is the same
thing for thinking and for being), onde pensar (o infinitivo einai) lido na voz passiva ser
pensado, apoiando-se em Chantraine que cita exemplos homricos onde a voz ativa utilizada
tambm em ocasies em que o sentido admite a voz mdia ou a passiva. Tarn (cf. Parmenides. A
Text with Translation, Commentary and Critical Essays, Princenton University Press, Princeton,
1965), na mesma direo traduz: Pois a mesma coisa pode ser pensada e pode existir (for the
same thing can be thought and can exist). O mesmo Tarn atribui a Zeller a traduo somente
aquilo que pode existir pode ser pensado. Jonathan Barnes traduz: Pensar e ser so a mesma
coisa, entendendo aqui que Parmnides afirmaria a identidade entre o ser e a inteligibilidade, o
fragmento querendo dizer: tudo aquilo que pode ser pensado pode existir e, inversamente, tudo
aquilo que pode existir pode ser pensado (Cf. Barnes, J., The Presocratic Philosophers,
Routledge, Londres, 1982).
136
pensar. Sem maiores cuidados historiais, para ns, que viemos aproximadamente
dois mil e quinhentos anos depois de Parmnides, este dizer nos soa familiar; ele
parece uma antecipao precoce da afirmao hegeliana o real racional, o
racional real. Tal afirmao opera no mbito aberto pela filosofia moderna, a
filosofia da representao, e , neste sentido, inteiramente anacrnica. Segundo
ela, o dito parmendeo estaria afirmando a identidade entre ser e pensar, recaindo
a nfase neste ltimo, compreendido como representao; assim, no poema estaria
enunciando-se pela primeira vez que o que o que a razo re-apresenta para
si.
Uma segunda possibilidade interpretativa, muito presente na filosofia
contempornea anglo-sax e que tambm projeta180 a filosofia moderna nas
origens do pensamento ocidental, acrescenta a essa compreenso o noein como
uma voz passiva, significando ser pensado ou para ser pensado (dativo de
destinao). Segundo esta possibilidade to auto assume um sentido claramente
entitativo: a mesma coisa que para ser pensada para ser. Neste caso, o
contedo do fragmento prenunciaria a noo de experincia possvel em Kant,
quando ele afirma que o mbito daquilo que experimentvel (isto quer dizer,
kantianamente, capaz de ser dado na intuio sob as formas puras da mesma, a
saber, tempo e espao) coincide com o mbito daquilo que cognoscvel pela
razo e vice-versa. O estin , neste caso, compreendido como possvel, num
sentido eminentemente modal.181 Coerente com esta compreenso, o no-ser do fr.
2 ouvido como afirmando aquilo que necessariamente no no pode ser
pensado indicando a interdio kantiana da impossibilidade de conhecer aquilo
que no um objeto da experincia possvel, a saber, em Kant, a interdio de
conhecer a alma como imortal, deus e o mundo como totalidade dos fenmenos.
180
181
Projeo no sentido corriqueiro do termo, sentido emprestado da psicanlise.
Segundo Barbara Cassin (cf. Sur la nature ou sur ltant La langue de ltre?, ed. du Seuil,
Paris, 1998, p. 124) a autoridade invocada para esta construo <...> geralmente a de Zeller
<...> que escolhe editar, no esti sem acento (portanto, cpula), mas esti acentuado ao que ele d o
sentido de exesti, possvel. Na mesma obra, p. 121, na parte reservada a comentrios sobre a
acentuao, a autora observa: No que concerne ao esti, ela <a acentuao> diferencia o tipo de
uso que feito do verbo: a maioria dos autores modernos escrevem esti encltico <...> para
assinalar os empregos copulativo, de predicao ou de identidade, e esti ortotnico (sti) para os
seus empregos existenciais e potenciais.
137
Como se v, sob esta tica, o poema de Parmnides veste-se inteiramente com as
roupagens kantianas.182
Martin Heidegger, na sua conferncia Identidade e Diferena,183 nos
apresenta uma perspectiva compreensiva inteiramente diversa. A conferncia
pergunta pelo que a identidade, algo que o princpio sancionado pela lgica
ocidental A = A muito mais oculta do que mostra. Num primeiro momento
Heidegger chama a ateno para o carter relacional desse princpio: necessria,
para enunci-lo, a presena de dois termos, mesmo que seja para imediatamente
equacion-los afirmando serem o mesmo. Tal aspecto relacional j tivera sido
observado por Plato no Sofista quando, ao formular os gneros supremos do
repouso (stasis) e do movimento (kinesis), faz o estrangeiro falar:
Entretanto, cada um deles um outro, ele mesmo, contudo, para si mesmo o
mesmo (254d). Heidegger observa:
Plato no diz apenas: hkaston aut tautn, cada um ele mesmo o
mesmo, mas: hkaston heaut tautn, cada um ele mesmo para si
mesmo o mesmo.
O dativo heaut significa: cada coisa ela mesma a si mesma
devolvida, cada um ele mesmo o mesmo isto , para si mesmo
consigo mesmo. <...>Em cada identidade reside a relao com,
portanto uma mediao, uma ligao, uma sntese: a unio numa
unidade. <...> Mas nesta unidade no h absolutamente o inspido
vazio daquilo que, em si mesmo desprovido de relaes, persiste na
montona uniformidade. Contudo, para que a relao imperante na
identidade relao do mesmo consigo mesmo que j ecoa desde a
Antiguidade chegue a se manifestar decidida e claramente como tal
mediao, para que efetivamente se encontre receptividade para esta
manifestao da mediao no seio da identidade, o pensamento
ocidental necessita de mais de dois mil anos. Pois somente a filosofia
182
A interpretao do poema que assume este vis de forma mais explcita a de Jonathan Barnes
(cf. Barnes, J., op. cit.) onde a questo levantada no fr. 2 assumidamente, no a questo do
pensamento racional (sic), mas daquilo que possvel de ser conhecido cientificamente. O ser e o
no-ser do fr. 2 afirmaria simplesmente que o objeto pode ser conhecido (neste caso ele ) ou que
ele no pode ser conhecido (neste caso, ele necessariamente no ou, o que o mesmo,
impossvel que seja).
183
Trata-se do texto original de uma conferncia pronunciada por ocasio do quingentsimo
jubileu da Universidade de Friburgo, em 27 de junho de 1957. As citaes so retiradas da
traduo de Ernildo Stein presente no vol. da coleo Os Pensadores dedicado a Heidegger (cf.
O Princpio de Identidade in Heidegger, col. Os Pensadores, ed. Nova Cultural, so Paulo,
1996, p.173 e ss.).
138
do idealismo especulativo <...> funda <...> um lugar para a essncia
em si mesmo sinttica da identidade. 184
No Sofista de Plato, to auto, o mesmo, apresentado como um trao
da entidade do ente ou ser do ente: o que no ente, aquilo que nele permanece,
nos dito, idntico a si mesmo. Se assim no fosse, qualquer tentativa cognitiva
dos entes estaria destinada ao fracasso, pois o conhecimento se voltaria, no seu
empenho por conhecer o que quer que seja, para algo que no possui nenhuma
consistncia, que est permanentemente mudando e, consequentemente, no teria
um objeto, mas um simples fluxo catico de qualidades mutveis.185 Mas,
Heidegger chama a ateno para o fato de que no poema de Parmnides o auto, o
mesmo ou idntico, fala num sentido quase desmesurado, pois ele no
nomeado como um atributo do ser do ente, mas trata-se, antes, do contrrio: o ser
juntamente com o pensar so afirmados como sendo parte do mesmo, como
sendo parte da identidade, do auto. Diz Heidegger:
<Parmnides diz> algo absolutamente diverso em comparao com
aquilo que ordinariamente conhecemos como a doutrina da metafsica,
que <diz:> a identidade faz parte do ser. Parmnides diz: O ser faz
parte da identidade. Que significa aqui identidade? Que significa, na
proposio de Parmnides, a palavra t aut, o mesmo? Parmnides
no nos responde esta questo. Situa-nos diante de um enigma do qual
no nos devemos esquivar. preciso que reconheamos: nos
primrdios do pensamento, muito antes de a identidade se formular
em princpio, fala ela mesma, e precisamente, atravs de um dito que
dispe: Pensar e ser tm seu lugar no mesmo e a partir deste mesmo
formam uma unidade.186
184
Heidegger, M., idem, pp. 173-174.
185
Ressaltando este carter da entidade do ente diz Heidegger: Em toda parte,
onde quer que mantenhamos qualquer tipo de relao com qualquer tipo de ente,
somos interpelados pela identidade. Se no falasse este apelo, ento o ente jamais
seria capaz de manifestar-se em seu ser como fenmeno. Por conseguinte, tambm
no haveria nenhuma cincia. Pois se no lhe fosse garantida previamente e em
cada caso a mesmidade de seu objeto, a cincia no poderia ser o que ela .
Atravs desta garantia, a pesquisa se assegura a possibilidade de seu trabalho
(Heidegger, M., idem, pp. 174-175).
186
Heidegger, M., idem, p. 175.
139
A mesmidade (to auto, o mesmo) do fr. 3 ser, logo a seguir,
interpretada como um comum-pertencer de pensar e ser. Tal comum-pertencer nos
diz Heidegger, por sua vez, pode ser ouvido de duas maneiras. Na primeira e mais
costumeira, d-se nfase comunidade, no sentido em que duas coisas podem
pertencer simultaneamente a algo maior que elas, a uma totalidade, esta sendo
representada como um terceiro termo diferente daqueles dois que a compem,
terceiro termo produzido por um nexo ou relao que faz a mediao entre eles.187
Mas h uma segunda possibilidade de o comum-pertencer ser pensado, a saber,
dando nfase ao pertencer. Na expresso, este pertencer caracterizado como
comum e assim o sentido apresenta-se como o da recproca pertena de dois
termos, onde cada um deles somente propriamente ele na relao com o outro.
Aqui no h nada como uma sntese de duas coisas distintas numa unidade
superior e diferente delas. No, aqui a relao determina o ser dos termos. Assim,
ser e pensar so o que eles so graas ao lao que os mantm unidos o mesmo,
to auto; fora desse lao no h nada como ser, nem nada como pensar. Diz
Heidegger alis, de modo to rigoroso e conciso que no justifica nenhuma
parfrase:
O homem manifestamente um ente. Como tal faz parte da
totalidade do ser, como a pedra, a rvore e a guia. Pertencer significa
aqui ainda: inserido no ser. Mas o elemento distintivo do homem
consiste no fato de que ele, enquanto ser pensante, aberto para o ser,
est posto em face dele, permanece relacionado com o ser e assim lhe
corresponde. O homem propriamente esta relao de
correspondncia, e somente isto. Somente no significa limitao,
mas plenitude. No homem impera um pertencer ao ser; este pertencer
escuta ao ser, porque a ele est entregue como propriedade. E o ser?
Pensemos o ser em seu sentido primordial como presentar. O ser se
presenta ao homem, nem acidentalmente nem por exceo. Ser
somente e permanece enquanto aborda o homem pelo apelo. Pois
somente o homem, aberto para o ser, propicia-lhe o advento enquanto
presentar.188
187
Diz Heidegger: Neste caso, pertencer significa: integrado, inserido na ordem de uma
comunidade, instalado na unidade de algo mltiplo, reunido para a unidade do sistema, mediado
pelo centro unificador de uma adequada sntese. A filosofia representa este comum-pertencer
como nexus e connexio, como a necessria juno de um com o outro (idem, p. 176).
188
Heidegger, H., idem, p. 177.
140
Que nos diz Heidegger aqui? O homem, ao lado dos entes que so
pedra, rvore, guia pertencem em comum, isto , conjuntamente, ao ser,
totalidade dos entes. Trata-se do primeiro sentido em que a expresso comumpertencer foi ouvida acima. Mas o homem algo inteiramente diferente se
pensado em sua relao com o ser. Ele pensa o ser e homem somente na medida
em que o pensa. De outro lado o ser acontece, advm, e o faz apenas enquanto o
homem o pensa. Heidegger adverte, e nisto nos deteremos mais tarde, que tal
afirmao no quer dizer que o ser seja posto pelo homem, no modo em que a
filosofia moderna compreende, isto , como resultado da atividade representativa
do sujeito.189 Homem e ser se co-pertencem. Mas o que deve ser entendido por
homem e por ser?
Na primeira acepo da expresso comum-pertencer, aquela onde a
nfase dada na comunidade a que os termos pertencem (como totalidade
produzida pela syntesis ou juno entre os termos), homem quer dizer: aquele
ente que possui determinaes extremamente peculiares que lhe permitem
conhecer os outros entes que constituem essa totalidade o conjunto de todos os
entes. E, do seu lado, o ser entendido como aquilo que fundamenta o conjunto
dos entes, essa totalidade construda cumulativamente da qual o homem tambm
faz parte e que permite separar nos entes aquilo que efmero e inconsistente
daquilo que permanece. Como veremos, o homem determinado, sob esta tica,
como zoon logon ekhon, como animal dotado de fala, esta ltima constituindo a
diferena especfica do animal homem. Pois, assim entendido, o homem uma
coisa entre outras; sendo um ente entre os entes, ele cai sob o gnero animal
(zoon); dentre os animais, ele se distingue pelo fato de ter fala (logos). Deste
modo, chega-se tradicional definio: o homem o animal dotado de fala. A
fala, por sua vez, compreendida como atributo do homem, como esse trao to
peculiar que lhe permite voltar-se para a diversidade dos entes, conhecendo os
189
De fato, o sentido que a conferncia assinala no permite, de modo algum, compreender o
homem como sujeito, isto como substncia-substrato do qual o pensar seria um atributo e o ser o
resultado do pensar como representar. O homem na relao com o ser, o homem propriamente
esta relao de correspondncia, e somente isso, repetindo a citao acima.
141
diversos tipos ou gneros de que ela se compe e suas determinaes, isto , o seu
ser.190
Mas, o que quer dizer homem e ser na segunda acepo, aquela
que fixa a ateno na relao entre esses dois termos e que a determina como um
co-pertencimento entre eles? Em relao compreenso do que seja homem,
Heidegger j no-lo disse: o homem esta relao de correspondncia e apenas
isso. A possibilidade do homem vir a ser um ente determinado, seja qual for a
determinao que o acompanhe (a de animale rationale ou os desdobramentos
historiais posteriores de uma tal definio, isto , as diversas determinaes
historiais da humanidade do homem), est garantida por esta abertura inicial, pelo
fato dele ser meramente a relao para com o ser e receber deste o apelo que o
con-formar, fazendo com que a ele corresponda.191 O homem, assim pensado,
no nenhuma substncia, nada de dado e acabado; ele apenas o destinatrio do
apelo do ser.
Heidegger, como veremos, ao conceber o auto desta maneira, clareia o
destino da metafsica, a saber, que o lao que foi destinando sucessivamente
homem e ser nos diversos modos em que Ocidente os conheceu, acaba por se
mostrar, possibilitando pela primeira vez o pensamento daquilo que governou
essas destinaes. A este lao, ele chama de Ereignis, termo que foi traduzido pela
expresso acontecimento-apropriao. Esta traduo tenta captar em primeiro
lugar com o termo acontecimento o elemento de irrupo ou surpresa do
Ereignis: ele no um lao ou relao determinada de uma vez para sempre, o
Ereignis acontece e, com cada acontecimento seu, acontece ao mesmo tempo, e
simultaneamente, homem e ser.192 Mas, por sua vez, homem e ser
190
Esta compreenso completamente realizada no fim da metafsica, na filosofia de F. Nietzsche,
quando o filsofo afirma que o conhecimento o logos grego, que virar com os romanos ratio,
para depois ser concebido como razo, Vernunft uma espcie de instinto da espcie e por
conseguinte algo de natureza animal, ou seja, algo que ele partilha como os outros animais e que
visa a conservao e intensificao da vida.
191
O que aqui estou nomeando como com-formao do homem ao ser indica justamente as
sucessivas determinaes historiais do ser do homem na sua relao ec-sttica com o ser.
192
Pois, como veremos, dizer que a relao anterior aos termos tambm inexato, pois no h
nada como uma paisagem estvel da relao que v acomodando ser e homem em propores
diferentes ao longo dos tempos. Trata-se de um nico indivisvel estado de coisas que acontece.
142
acontecem um como propriedade do outro, entregues um ao outro; eles se
pertencem mutuamente: isto o que termo apropriao procura indicar.
Partimos do fr. 3 do poema de Parmnides, para tentarmos
compreender o que deve ser pensado pelo termo einai (ser) ali presente e
chegamos compreenso heideggeriana do Ereignis. ela, por acaso, uma
interpretao do fr. 3 do poema? Sim e no. Sim, porque Heidegger abre a
possibilidade de entendermos to auto como co-pertencimento de homem e ser.
No, porque em Parmnides no h e nem poderia haver a compreenso
heideggeriana do mesmo como acontecimento que destina historialmente pensar
e ser.193
O que, parece-me, sugere esta interpretao que h um pensar,
rigorosamente, o pensar, aquele que corresponde ao ser entendido como o prprio
estar presente daquilo que se apresenta. Este pensar, como veremos, diferente
daquele que pensa os entes, as aparncias ou dokounta e para o qual tenho
reservado o termo conhecer, pois visa a determinao deles. Quando este outro
pensar se d aquele que estou chamando de o pensar, quando ele corresponde
ao ser e dele se apropria, o ser acontece, ele se desvela, mostra-se. O fr. 6 inicia-se
afirmando: khre to legein to noein teon emmenai: necessrio dizer e pensar, e
o ente ser: , ento, ser. Certamente aqui no est afirmando-se que a
representao de um ente determinado (o pensar e o dizer desse ente), faa esse
ente existir, como, por exemplo, ocorre na concepo crist do pensamento divino
ou como, num sentido diferente, acontece na filosofia moderna com a
compreenso do ser como representao. Contrariamente tradio, que desde
sempre entendeu que o ser fundamento dos entes que, por sua vez, tambm
Neste sentido dizer que o homem a relao de correspondncia ao ser ou dizer que o ser um
apelo endereado ao homem ou, por ltimo, dizer que o Ereignis o acontecimento que apropria
mutuamente ser e o homem so trs formas de falar de um nico e singular estado de coisas,
embora se esteja sempre diante do perigo de ouvir nestas expresses algo como os papis
diferenciados de cada um dos trs elementos que comporiam um estado de coisas complexo:
homem, ser e Ereignis. Embora nenhuma imagem sensvel seja satisfatria, sugiro pensar na
relao entre dois elos de uma corrente: os elos, antes de enlaar-se, no so elos, mas anis; por
outro lado, somente o seu enlaar-se, aquilo que os faz elos, que produz a corrente como tal, algo
diferente de um simples amontoado de anis.
193
Esta compreenso o corresponder do pensamento ao acontecimento do Ereignis,
acontecimento que precisou da consumao da metafsica, isto , da realizao das suas mximas
possibilidades, para ocorrer a saber, no pensamento de Martin Heidegger.
143
ente (sejam as idias em Plato, seja Deus no pensamento crist, seja a razo na
filosofia moderna, todas entidades, embora de carter eminente pelo fato de
fundamentarem a totalidade), fundamento que necessrio alcanar para garantir
o conhecimento adequado dos entes, o poema parece dizer que o ser acontece
quando se o pensa e se o diz. Pois aqui a totalidade do ente abre uma outra
possibilidade de compreenso do ser que no aquela de somatria ou compndio
de tudo o que , discriminando numa hierarquia que entes so mais e que entes
o so em menor medida.194 Se o pensar se volta para essa totalidade e consegue
escapar do fascnio do ente, pode dar-se o desvelamento da presena como tal, e
nisto que consiste o acontecimento do ser.
Na seqncia da fala da deusa, a disjuno entre ser e no-ser
acontece antes da fala acerca do ser: o fr. 2 que abre a Via da Verdade, como j
dissemos, inaugura-se com a apresentao de uma dupla alternativa para o pensar:
e no pode no ser / no e necessrio que no seja, dupla alternativa que
ser reduzida a uma nica, a saber, o caminho do ser, dada a intransitabilidade do
caminho do no-ser para o pensamento. Levanto novamente a questo acerca do
no-ser: ser que a deusa se contradiz, nomeando o no-ser para imediatamente
depois dizer que ele indizvel? Ou, ao contrrio, ser que o acesso ao ser,
entendido como a prpria presena do que , franqueia-se por essa singularssima
experincia que consiste na tentativa de pensar a radical ausncia o nada, o
no-ente para, de imediato, padecer a impossibilidade de um tal pensamento e,
ento, ser devolvido ao ser, no j como somatria dos entes, mas como mbito
que acolhe os entes e do qual o pensar jamais escapa? Qui a experincia
abortada porque sempre fracassada do pensamento do no-ser produza a
quebra do que acima chamei de fascnio pelo ente e, assim, permita que o
pensar se volte para a clareira da presena.
Repito: por que a deusa insiste em pedir ao jovem Parmnides que
jamais esquea que o no-ser no ? Por que razo ela parece estar alertando-o
para no escapar dessa experincia paradoxal, para no furtar-se dela,
194
Compreenso que, no nosso entender, a que tem Plato, quando, com o olhar dirigido a
totalidade do ente conclui, como vimos na passagem da Linha Dividida, a existncia de uma
hierarquia de tipos de entidade, segundo seu grau de ser e verdade.
144
esquecendo-a? Em que consistiria esse esquecimento? No consiste ele,
precisamente, em cair no mbito intra-mundano, onde o homem somente possui
olhos para os entes e se entende ele prprio como mais um ente, mbito onde os
mortais esto as mais das vezes? Parece-me que o que a deusa quer indicar um
limiar, uma fronteira, aquela entre ser e nada, fronteira inteiramente diversa de
qualquer fronteira ou limite ntico, uma vez que o nada, se no trado nessa
espcie de pr-intuio pr-intuio porque nunca consumada como
intuio, pelo fato dela ser sempre abortada, mostra-se como o no-entitativo
por excelncia. Falei em traio; em que consistiria a traio dessa experincia?
Em fazer o que a deusa pede para no fazer, a saber, esquecer-se que o nada no ,
transformando-o em algum tipo de ente estranho ou esquisito, e assim permitindo
que o pensamento se perca novamente entre os entes, s que agora na tentativa de
determinar essa coisa bizarra.195
Toda a dificuldade aqui reside e por isso, as sucessivas advertncias
da deusa em manter-se nesse limiar, sem fraquejar, por assim dizer, para no
cair no intra-mundano, no ntico. como se a deusa pedisse a Parmnides e ela
j o cumprimentou por ter chegado to longe do caminho dos comuns mortais,
participando em algum sentido da divindade que se demore no inslito dessa
experincia, que no esquea dela, pois se ele o fizer, Parmnides no ter
ouvidos para o que ela quer significar por eon. Se, ao contrrio, ele se posta nesse
limiar e ali se mantm, ento o no avistar do nada permite que, do outro lado, a
clareira irrompa, clareira qual ele pertence como tudo o que ntico, mas que
normalmente permanece oculta, no manifesta, impensada. Pois, a rigor, o nico
modo de pensar a totalidade d-se pela experincia de ter no rabo do olho o
nada, sem jamais poder fixar-se nele, pois ele nada ; se assim no fosse, sempre
poderia perguntar-se e alm de tudo isto, h o que?: este chegar ao fim do
caminho o verdadeiro limite, o limite englobante do nada, a graa que a
benfazeja divindade reserva para aquele que est to longe do caminho dos
mortais e o seu nome : o acontecimento do ser.
195
Esta traio est presente na cincia contempornea e, tambm, na filosofia da cincia
contempornea, em expresses tais como teoria do caos: ou o caos a desordem radical e dela
no pode haver teoria, ou ele no to desordenado assim, e a rigor, trata-se somente do
desconhecimento de algo e no de caos.
145
Como dissemos, o poema inicia-se com a narrativa da viagem de
Parmnides, ao ser conduzido at os portes do dia e da noite pelas filhas do
Helios, o sol. A fora da narrativa gravita exatamente em torno dos portes; eles
separam dois domnios ou mbitos a noite, morada dos mortais, e o dia, morada
da divindade; ali est Dike que os guarda de modo vigilante e rigoroso. Indcio
disto o fato de que as heliades, cuja natureza luminosa evidente, entram no
mbito dos mortais da Noite cobertas por vus, vus que somente sero
retirados das suas faces quando estiverem aproximando-se do seu lar. Tudo nos
leva a crer que Dike lhes concedeu passagem ao mundo noturno dos homens,
procura de Parmnides, com a condio de que elas respeitassem a escurido,
ocultando sua luminosidade atrs dos seus vus. Em outras palavras, no lhes
permitido por Dike a Justia, zelosa de que cada coisa seja aquilo que lhe
prprio, respeitando o lugar que lhe dado para desdobrar o que ela , punindo a
desmedida da hybris196 destruir a escurido que abriga os mortais.197 De outro
lado, e como contrapartida, as heliades precisam persuadir Dike com doces
palavras para que ela permita que um mortal ingresse no mbito da divindade,
pois isto tambm significaria uma transgresso ordem do kosmos se algo de
divino no existisse em Parmnides que o investisse do merecimento dessa honra.
Um outro dado relevante a caracterizao de amoibadon para as chaves dos
portes que Dike detm chaves da alternncia, segundo a traduo de Barbara
196
Dike, a justia, guardi da ordem csmica; as mais das vezes ela chamada de vingadora
por exercer a nemesis, a punio dos atos que violentam tal ordem. Suas auxiliares so as Ernias
ou Frias, divindades vistas como de mau agouro, pelo fato de aparecerem sempre que semelhante
transgresso ocorre e com o severo intuito de punir os envolvidos. Dentre a literatura grega que
chegou at nos, qui o lugar onde elas assumem o maior destaque na tragdia de squilo As
Eumnides, terceira das trs que compem a Orstia.
197
Aqui quase obrigatria a referncia ao fragmento 94 de Herclito: Se o Sol ultrapassasse
seus limites, as Ernias, servas de Dike, o puniriam. E conjuntamente com este fragmento impese tambm a lembrana do mito de Phaineton, jovem filho de Hlios a quem este, penalizado por
s ter assumido a sua paternidade tardiamente, permite satisfazer o desejo de guiar o seu carro; o
desfecho da histria conhecido: Phaineton, jovem e inexperiente, no consegue manter o carro
solar na sua rota, aproximando-se da terra e causando todo tipo de devastao, obrigando assim o
prprio Zeus a fulmin-lo com seu raio, caindo nas guas do ridano. O fragmento 94 de
Herclito, assim como o mito de Phaineton enfatizam o fato de que a luminosidade obrigada a
respeitar a escurido, mesmo a luminosidade solar aquela que somente em aparncia parece
sobrepujar inteiramente a noite.
146
Cassin.198 Como bem ela lembra, na Teogonia de Hesodo, Noite e Dia se
encontram nas portas do Trtaro; ali se cumprimentam, cruzando-se sob a grande
soleira de bronze: um deles entrando e outro saindo; a casa jamais abrigando-os
conjuntamente.199 Cruzando-se traduz ameibomenai, verbo que remete a
ameib/ameibein (assim como o adjetivo amoibadon que caracteriza as chaves de
Dike) e que quer dizer, trocar, cambiar. Porque isto relevante para nossa
interpretao do poema?
Na leitura do fr. 1 do poema, fragmento que agora nos ocupa, impese a oposio entre Noite/mortais/dokounta (via das aparncias) de um lado,
Dia/divindade/Aletheia (via da verdade) de outro. Parece-me que so estas duas
trades as que operam a alternncia, e o aspecto central do ensinamento, que a
divindade dar, consiste em saber dela, no em super-la. Dito em outros termos:
parece-me que no poema no h um lugar privilegiado de sobrevo dos dois
mbitos, algo como um postar-se acima dos portes do Dia e da Noite e poder
abarcar sob o olhar o lado de c e o lado de l. No, o conhecimento mais
completo que reservado a Parmnides consiste em saber que no se transitam
as duas vias ao mesmo tempo ou, o que o mesmo, que h entre elas uma
excluso, o acontecimento de uma simultnea doao e retrao.
Doao-retrao, que quer isto dizer? Para aquele que possui o
thymos, a aspirao ardorosa de um Parmnides, aspirao que o conduz to longe
do caminho dos mortais, h a doao da verdade: a impossibilidade do abissal
nada que concede o demorar-se no mais simples, no corao inconcusso (atremes
etor) do desvelamento. Mas Parmnides deve saber que a aletheia somente
acontece graas distncia conquistada do mundo das aparncias, isto , pelo
favor do exlio do convvio humano e de seu mbito de mltipla e variada riqueza
fenomnica.200 Do outro lado, somente agora um tal mortal compreender que
198
Cf. Sur la nature ou sur ltant La langue de ltre, Editions du Seuil, Paris, 1998, pp. 135136.
199
200
Cf. Hesodo, Teogonia, XI, 745 e ss.
Tivemos oportunidade, ao tratar da Alegoria da Caverna de Plato, de citar o poema de Trakl,
Alma de Outono: Alma azul, escura viagem/Partida para longe do outro, do amado/ a tarde
muda sentido e imagem.
147
aquele mbito, com sua beleza cativante e sua familiaridade, d-se graas ao
retraimento da verdade, graas ao fato de que os mortais no tm olhos para ela,201
mantendo-se numa ignorncia ou esquecimento protetor.
E aqui, em consonncia com Parmnides soam, num mesmo acorde,
os dois famosos fragmentos de Herclito, o fr. 123 e o 16. O primeiro deles diz: a
physis ama ocultar-se; o segundo: como furtar-se do que jamais se pe?.202
Como Heidegger mostra no seu ensaio Aletheia, o primeiro
fragmento parece, primeira vista, contraditrio: se na palavra physis fala a
prpria vinda presena dos entes, a ecloso ou irrupo que os faz surgir no
aberto, ento pareceria que o que prprio dela no esconder, mas, ao contrrio,
mostrar. Sendo assim, ela jamais poderia amar a ocultao, ao contrrio, sua
philia deveria ser pelo phainestai, pelo aparecer dos entes.
O segundo fragmento, o 16, fala de um furtar-se ou esconder-se
daquilo que est sempre ali, daquilo que no tem ocaso, que jamais declina to
me dynon pote. Na interpretao que Heidegger faz, o fragmento expressa uma
interrogao, uma pergunta, poder-se-ia dizer que de carter at paradoxal: do que
me dynon pote, daquilo que jamais se retrai, estando sempre presente, parece
impossvel conseguir esconder-se, pois no haveria lugar para onde recolher-se,
no haveria um canto defendido de sua presena reinante. O fragmento chegou a
ns atravs de Clemente de Alexandria no seu Paidagogos (livro III, cap. 10) e
citado com um prembulo que pretende elucidar o significado das palavras de
Herclito: Qui seja possvel que algum se mantenha oculto diante da luz
perceptvel aos sentidos, mas impossvel que o faa diante da luz do
201
Estou traduzindo livremente o termo pistis. Como se sabe, o poema nos diz que os mortais no
tm pistis no desvelamento. Como j comentei acima, este termo frequentemente traduzido por
crena ou confiana. Tal traduo parece-me que no enfatiza o que aqui decisivo: a
ausncia de pistis quer dizer um nada saber acerca da verdade, uma radical ignorncia dela e de
seu corao inabalvel.
202
O fr. 123 diz: physis kryptesthai philei; o fr. 16: to me dynon pote pos an tis lathoi. Ambos os
fragmentos mereceram a ateno de Heidegger no seu ensaio Althia (cf. Heidegger, M.,
Essais et confrences, op. cit.).
148
inteligvel.203 Estas so as palavras de Clemente. Na sua compreenso do
fragmento, ele perde o seu tom interrogativo, passando a exprimir quase que uma
reprimenda, mesmo que em tom de estupefata pergunta: como possvel que os
mortais pretendam esconder-se do olhar de Deus que tudo v?. Aqui o sentido :
Que tola ou v pretenso mortal essa que quer pecar sem ter por testemunha a
onividncia divina e, consequentemente, sem ser alcanado por sua punio?
De fato, a pergunta, assim formulada, no precisa ser respondida ou, melhor,
inclui nela a sua resposta: Um tal feito impossvel e a pretenso que o
acompanha absurda. Em outras palavras, assim ouvida, no se trata de uma
autntica pergunta.
Mas exatamente uma autntica interrogao que Heidegger propenos ouvir no fragmento: como , de fato, possvel que isso acontea? E aqui a
pergunta deve ser como que levada a srio: qual o estado de coisas que
comporta que aquilo que est sempre presente, no se mostre e, consequentemente
no seja percebido pelos muitos, pelos mortais? Aqui no se trata de explicar este
fato, responsabilizando a precria ou fraca natureza humana e supondo,
implicitamente, que esta fraqueza ou precariedade contingente e que, portanto,
pode ser superada. A compreenso aqui no se orienta pela idia de uma formao
do homem, da sada de uma situao de ignorncia ou indigncia espiritual para
uma outra de plenitude, como acontece em Clemente. Em outras palavras, a
pergunta aqui levantada no de antemo humanstica, no visa descrever uma
situao que colocaria a nu a necessidade de uma paideia, de um projeto de
humanidade. Ela pergunta acerca de um fato, de uma situao ou estado de coisas
do qual os mortais no o homem, entendido metafisicamente fazem parte.
Para Heidegger, o fr. 123 responde ao fr. 16: possvel furtar-se
daquilo que jamais declina justamente porque o que no declina, a physis, ama
ocultar-se. Que quer dizer que a physis ama ocultar-se, ao afastar a leitura
humanstica que atribui a ocultao ignorncia dos mortais? Se a philia pela
ocultao da prpria physis e no uma desateno humana, ento deve haver
203
Cf. Heidegger, M., Althia em Essais et confrences, op. cit., pp. 314-315.
149
algo nela, physis, que a disfara, tornando-a inacessvel, diferentemente de tudo
aquilo que se apresenta aos homens e que, por isso, para eles experimentado
como disponvel e acessvel. O que se apresenta aos homens , em primeira
instncia, a diversa variedade dos entes. Eles apresentam-se de mltiplos modos,
inclusive o modo da sua ausncia, pois a ausncia desta ou daquela coisa, e a
experincia da sua falta, so fenmenos inteiramente familiares a todos. De outro
lado, os entes tambm se apresentam com as suas determinaes especficas,
determinaes estas que permitem que lhes concedamos a sua identidade e a sua
diferena e que os experimentemos como uma variedade de coisas. Mas o que
acontece com aquilo que jamais declina, que sempre presente e uno? Uma vez
que isso sempre presente, isto , no tem ocaso, o seu contrrio impossvel
de ser experimentado. Faz-lo consistiria na possibilidade de pensar o nada, isto ,
em convert-lo num ente; mas, no justamente isto que a deusa parmendica
pede insistentemente para no fazer? De outro lado, o que uno, homogneo e
indivisvel no possui um outro como seu diferente, contraponto necessrio para
a sua determinao como ente distinto. Que quer isto dizer? Que a relao que
diferencia ser e nada no da mesma natureza que a relao que diferencia a
presena ou ausncia deste ou daquele ente, assim como tampouco o a relao
que diferencia os entes do eon.204 Pois, o que acontece com os mortais que
somente vem entes, estando imersos entre eles?; o que ocorre com o homem que
jamais atentou para a impensabilidade do nada? ou, o que o mesmo: qual a
situao dos muitos que somente conhecem a diferena entre entes, seja no seu
estar presente ou ausente, seja nas suas determinaes? Para eles a physis se
esconde, eles no tem pistis na aletheia e nada sabem do ser.
Que nos diz o poema de Parmnides acerca dos muitos, dos mortais
que habitam a escura Noite? Eles transitam o caminho das dokounta, das
mltiplas e variadas aparncias o caminho ou via das opinies, como
costuma-se traduzir aquele termo. Do ponto de vista da presena ou ausncia
204
A argumentao ensaiada por Grgias no seu Tratado do No-ser se constri em volta da no
percepo desta diferena. Como toda determinao dos entes trabalha por oposio (que, como
veremos a seguir, tem o seu principal instrumento no princpio de no-contradio) e o no ser
impensvel (ou incognoscvel e intransmissvel), o ser tambm deve ser impossvel de ser pensado.
Grgias pretende que a diferena entre ser e no-ser seja da mesma natureza que a diferena entre
o vermelho e o no-vermelho, ou o divino e o no-divino, sem perceber que se trata de uma
diferena singularssima, a diferena originria.
150
de um ente particular, eles no atentam para o fato de que, quando o ente est
ausente no sentido de no estar ali mo e, portanto, de ser experimentado
como o que falta esta ausncia um modo da presena. Dito em outros
termos: eles no percebem que qualquer experincia dos entes implica um
acolhimento deles, e do pensamento que os experimenta, pela presena.
Mas, vejamos o que acontece em relao determinao dos
diversos e variados entes e suas diferenas. Os mortais so chamados de
dikranoi, bicfalos, divididos em duas cabeas, pelo fato de que para eles ser
e no-ser so considerados o mesmo e no-mesmo.205 Gostaria de
compreender estas palavras, de reconhecida difcil interpretao, como
antecipando a compreenso que Plato articula entre ser/no-ser e mesmo/nomesmo (outro) no seu dilogo Sofista. O que Plato nos diz ali?
Como foi dito acima, Plato est preocupado neste dilogo e
diria, que esta a motivao que anima toda a metafsica clssica com a
descrio correta dos entes atravs de um discurso que possa ser fiel s suas
determinaes, um discurso verdadeiro, no sentido da adequao ou
correspondncia da representao com o real.206 Seu grande inimigo, como
tambm foi apontado, o sofista, o fabricador de simulacros, produtor de
discursos que possuem a aparncia de correo, mas que, a rigor, distorcem, na
sua pintura, aquilo que . Esta figura escorregadia, o sofista, entrincheira-se
na proposio parmendea de que o no-ser impensvel e indizvel. Ele
contra-argumenta: se o discurso sofista falso, como Plato pretende, ele deve
dizer o que no leia-se: ele deve dizer o no-ser. Mas como dizer o no-ser
se ele indizvel? Dizer o no-ser impossvel, afirma o sofista, invocando a
autoridade de Parmnides; portanto, Plato deve desistir dessa acusao. Como
j apontamos, a tentativa platnica no dilogo consiste em desfazer-se do noser parmendeo, aquele que impensvel e indizvel, pois Plato atribui a esta
compreenso do no-ser o fato de ficar desarmado no seu combate com a
sofstica. Qual a soluo platnica? Dar o adeus quele no-ser indizvel e
205
Cf. fr. VI do poema.
206
J decidida uma compreenso deste real, a compreenso substancialista do mesmo.
151
troc-lo por um no-ser que se preste ao logos exato, ao discurso adequado ou
correto sobre as coisas. Este novo no-ser ser chamado por Plato de o
outro, o oposto de o mesmo: o no-mesmo. Vejamos com mais cuidado a
operao que Plato realiza no seu Sofista.
Neste dilogo, Plato enunciar, pela fala do Estrangeiro, a
existncia de cinco gneros supremos: o repouso, o movimento, o ser, o
mesmo e o outro (o no-mesmo). Muito resumidamente apresentaremos aqui o
sentido que Plato reserva a cada um destes gneros. Repouso e movimento
so gneros opostos: aquilo que participa do repouso no participa do
movimento e vice-versa.207 Portanto, o trao distintivo do gnero repouso
oposto (excludente) do trao distintivo do gnero movimento. Uma vez que
o que est em movimento e o que est em repouso deve ser de alguma
maneira, ento, a totalidade dos entes participa do ser ou, como dito no
dilogo, o ser se associa a ambos gneros, o repouso e o movimento. Num
primeiro momento, a esses trs gneros ser necessrio acrescentar mais um: o
mesmo, uma vez que cada gnero, considerado em relao consigo mesmo,
o mesmo que ele prprio.208 Por ltimo, ser necessrio adicionar um quinto
gnero, o outro, dado que cada gnero simultaneamente participa do
mesmo por ser, em relao a si mesmo, o mesmo e do outro por ser
outro do que os outros gneros, embora sendo o mesmo em relao a si.209 O
207
Como vimos, para Plato por exemplo, na Passagem da Linha Dividida no fim do L. VI de
Repblica, a totalidade dos entes divide-se em dois grandes grupos ou tipos: os entes visveis,
sujeitos ao devir e os inteligveis, repousando em si mesmos. Aqueles primeiros participam do
gnero supremo movimento e so excludos do gnero supremo repouso; com os segundos
acontece o contrrio.
208
Cf. Plato, Sofista, 255c ( in Dilogos, Col. Os Pensadores, ed. Abril Cultura, 1972, So
Paulo, p.187).
209
Cf. op. cit., 254b 255 a: <...> relativamente aos gneros, chegamos ao acordo de que uns se
prestam a uma comunidade mtua, outros no; de que alguns aceitam essa comunidade com
alguns, outros com muitos e de que outros, enfim, penetrando em todos os lugares, nada
encontram que lhes impea de entrar em comunidade com todos <...>. <...> os mais importantes
desses gneros so precisamente <...> o prprio ser, o repouso e o movimento. <...> Dissemos, por
outro lado, que os dois ltimos no podem associar-se um ao outro <...>. Mas o ser se associa a
ambos: pois, em suma, os dois so. <...> cada um outro com relao aos dois que restam, e o
mesmo que ele prprio. <...> Mas que significado demos a este mesmo e a este outro? Sero
estes dois gneros diferentes dos trs primeiros, se bem que sempre necessariamente associados a
eles? Deveremos ento considerar cinco seres e no trs <...>.
152
que aqui Plato comea a explicitar o que mais tarde Aristteles, no livro
Gamma da sua Metafsica, reconhecer como o princpio em que repousa
qualquer discurso significativo acerca dos entes, o princpio de nocontradio. O discurso que diz algo determinado de um ente deve
necessariamente observar este princpio, a risco de, contrariando-o, nada dizer.
Trata-se da possibilidade da predicao: ao afirmar-se de algo que ele x, e
simultaneamente afirmar-se que ele no-x, nada se diz da coisa em questo
ou, como diz Strawson, como, se no jogo de xadrez, se fizesse um lance para
imediatamente voltar atrs, desfazendo-o uma tal operao nula. Predicar,
isto , dizer algo de algo, exige, como tambm o afirma o mesmo Strawson,
traar uma fronteira num mbito de incompatibilidades. Que significa isto?
Afirmar de algo que vermelho, por exemplo, simultaneamente dizer que
todas as outras cores que no o vermelho (no-vermelho) no cabem a essa
coisa; dizer de uma coisa que ela de madeira, dizer que todos os outros
materiais que no a madeira no se aplicam na determinao da coisa.
Assim, predicar traar uma fronteira dentro de um mbito de
incompatibilidades nos exemplos que acabamos de dar, o mbito das cores
ou o mbito dos materiais para depois fazer cair a coisa em questo de um
e somente de um dos dois lados da fronteira. Plato serve-se de uma
metfora para dizer isto; ele afirma que todo enunciado como uma espcie de
tecido (symplok), mostra dois lados: pelo lado de cima o enunciado diz
positivamente o que a coisa (ela x), pelo vis, e simultaneamente, ele
diz mesmo que no o faa explicitamente tudo o que ela no (ela no
no-x). Ao usarmos este tipo de formulao que ela x e que
simultaneamente ela no no-x torna-se claro que est lidando-se
sempre com coisas que so, representando o no-x todo o leque de
possibilidades diferentes de x (dentro daquilo que foi nomeado como
mbito de incompatibilidade) e o no (da expresso no no-x) no o
nada, mas um modo privativo em que a coisa . exatamente esta a conquista
de Plato contra o sofista, a sua arma para venc-lo: a afirmao de que noser ser outro que.... Estas modalidades do no-ser no exemplo, o no
ser vermelho, ou o no-ser duplicado da expresso no no-vermelho
153
no tem nada de impensveis;210 alis, com um tal traado de fronteira que
d-se toda determinao dos entes, todo conhecimento dos mesmos. Dito em
outros termos: se o no-ser reduzido alteridade (ser outro que...), a
experincia da interdio do pensamento aquilo em que a deusa
enfaticamente insiste quando pede para jamais esquecer que o no-ser no ,
sendo portanto impensvel esquecida, pois no domnio dos entes e de sua
determinao no h nada que a lembre.
Voltemos ao poema de Parmnides e quilo que ali se afirma da
via das aparncias e de seus peregrinos, os mortais bicfalos. Que a deusa
nos diz deles? Repito: que para eles ser e no-ser so considerados o mesmo e
no-mesmo. Parece-me inteiramente plausvel ouvir a censura que a deusa
faz aos mortais, originar-se no fato de que estes, da mesma forma que Plato
faz no seu Sofista, concebem o no-ser como mera alteridade, como nomesmo, do mesmo modo, no ser algo consiste simplesmente em ser outro
que esse algo. Que quero dizer com isto?
Frequentemente se l o carter bicfalo dos mortais o fato que
eles falam ser e no-ser, mesmo e no-mesmo como se estes enunciassem
acerca das coisas contradies insustentveis no exemplo dado acima,
pensa-se que o que Parmnides tem em mente que os mortais, na sua absoluta
ignorncia, so capazes de dizer que essa rosa vermelha e no vermelha.
A crtica a este tipo de enunciado j foi feita por Aristteles e elimina o que
pareceria uma contradio realmente existente na coisa (por exemplo, que uma
ptala da rosa esbranquiada, enquanto as outras so vermelhas, sendo a rosa
branca e vermelha ao mesmo tempo), com a observao de que qualquer coisa
determinada sempre que considerada no mesmo tempo, no mesmo lugar e
sob o mesmo aspecto. Mas, ser este o sentido da fala da deusa quando atribui
a caracterstica de dikranoi aos mortais? Parece-me que no.
A via das dokounta, a pesar de ser de dificlima interpretao,
parece com bastante plausibilidade condensar o saber acerca dos entes poca
210
Mesmo que o mbito interditado o no-x no seja explicitamente enumerado
exaustivamente ou que sequer possa s-lo.
154
de Parmnides. O que ali enunciado no so disparates, ou enunciados vazios
acerca dos entes, mas o que fora conquistado pelas cincias do seu tempo.211
Neste sentido, o que a deusa estaria dizendo que os mortais, assim como
Plato e toda a metafsica por ele inaugurada, somente possui olhos para os
entes e, cativados como esto por eles, avanam no caminho do conhecimento
dos mesmos sem sequer suspeitar o que seja a aletheia. Ou melhor, este
desconhecimento absoluto da clareira da verdade e do nada que a
franqueiaque libera a iluso de que tudo pensvel (no modo do
conhecimento) e que, em ltima instncia tudo para o homem acessvel e
disponvel. Na minha leitura do Poema, toda metafsica se encontraria na via
das aparncias, pois nada sabe da via da verdade. este retraimento da
verdade que permitiu a destinao de Ocidente, hoje concretizada no imprio
da tecnologia e de sua lgica.
Para concluir esta seo, gostaria de indicar, muito sucintamente,
como a leitura platnica do poema, leitura que vingar durante sculos, baseiase numa atribuio de significado aos termos fundamentais que estruturam o
poema de Parmnides, atribuio de significado bem determinada e diferente
da que norteia nossa leitura do mesmo. Tais termos so verdade (aletheia),
aparncias/opinies (dokounta), ser (to on) e no ser (to me on) e so eles que,
a ttulo de resumo da seo, explicitaremos segundo as duas leituras do poema,
a platnica e a nossa.
1) Aletheia. Se, segundo a nossa leitura o termo aletheia nomeia o
desvelamento ou clarificao do ser (o seu corao inconcusso),
desvelamento que acontece quando o pensar, abandonando as
dokounta, corresponde a ele o que exige a singular experincia da
impensabilidade do nada, segundo a leitura platnica a via da
verdade representa o pensar que se fixa naqueles entes
211
Certamente trata-se de um saber acerca dos entes que ainda no descobriu a noo de ousia,
como aquilo que deve estar sempre sob o olhar para conquistar a segurana do conhecimento do
que, no fluxo contnuo de mudanas, permanece o mesmo e, portanto, repete-se, podendo ser
antecipado e, assim, posto sob controle. Entretanto, que a ontologia que sustenta o saber da via
das aparncias (ontologia no explicitamente expressa) no seja a mesma que a ontologia
platnica, isto , que o modo de compreenso que franqueia o acesso aos entes seja diferente no
poema do que em Plato, no meu entender no altera o fato de que em ambos os casos se trata de
ontologias, daquilo que orienta todo conhecimento dos entes.
155
responsveis pelos traos que, na multiplicidade dos entes sujeitos
mutabilidade, permanece o mesmo (as idias), assegurando a esse
pensar a verdade, entendida aqui como a adequao ou
correspondncia do pensamento a esses traos sempre presentes.
2) Dokounta. Em nossa leitura, a via das aparncias o mbito em
que habitam os mortais, mbito caracterizado pela presena da
multiplicidade dos entes em sua rica variedade e franqueado aos
mortais pelo retraimento da prpria aletheia. Assim, todo
comportamento em relao aos entes encontra-se nesta via, mesmo
aquele que, como o far a metafsica depois, procura encontrar o
consistente nos entes sujeitos ao fluxo da mutabilidade. Para Plato,
as opinies so o resultado de um comportamento humano em
relao ao sensvel que, por no discriminar, no que sujeito
mutabilidade, o contingente do que permanece, est sempre exposto
possibilidade do erro.
3) To on. Em nossa interpretao o termo ser indica a prpria
presena que acolhe tanto os entes na sua multiplicidade quanto o
pensar acerca destes. A essa presena corresponde um pensar que
no entitativo e que se conquista atravs da experincia da
impensabilidade do nada. Somente assim, descobre-se (desvelase) o ser como uno, homogneo, indivisvel e imutvel. Na
interpretao platnica ser quer dizer ser ente e trata-se de
separar, dentre a totalidade dos entes, aqueles que possuem os
predicados de unicidade, homogeneidade e imutabilidade as
idias, daqueles outros que somente so de modo deficiente e
graas aos primeiros os entes sensveis.
4) To me on. Para ns, no-ser significa a radical ausncia, o nada
que, na tentativa de pens-lo, experimenta-se como o impensvel,
mostrando, ento, que todo pensar pertence ao ser. No seu Sofista,
Plato d o adeus ao no-ser absoluto, redefinindo o no-ser como
156
alteridade, o que lhe permitir denunciar o discurso sofista como
falso.
157
4
Ser e Pensar IV:
A Gerao na Beleza e a Inveno da Tradio
O Banquete , sem lugar a dvidas, um dos dilogos mais cativantes de
Plato, no apenas por sua beleza, que parece-me incontestvel, mas em razo de
tratar de um tema dificilmente contornvel para qualquer mortal eros, o amor.
Este dilogo sempre me pareceu muito singular, fundamentalmente pelo fato dos
outros personagens da obra pelo menos aqueles que discursam: Fedro,
Pausnias, Erixmaco, Aristfanes, Agato e Alcebades no encenarem o papel
de simples coadjuvantes ao servio do esclarecimento de ponto de vista socrticoplatnico, mas apresentarem posicionamentos em si mesmos consistentes e
relevantes para a compreenso da riqueza e variedade de sentidos que eros
possua na Atenas do sculo V.212 Assiste-se aqui luta entre o mundo prmetafsico do mito e da poesia e o mundo que incipientemente a filosofia
platnica est inaugurando e isto, em vrios terrenos: no da compreenso da
divindade, da ao e da poltica, da cincia e das artes, do modo prprio de
conduzir a vida pessoal no assunto que possivelmente lhe mais singular, o amor,
enfim, em tudo aquilo que diz respeito existncia humana.
O discurso de Scrates, como se sabe, ser um no-discurso, uma vez
que ele, contrariando o procedimento adotado por aqueles que se pronunciaram
antes, pede permisso, na sua hora de falar, para estabelecer uma dilogo com
Agato, em vez de discursar. A segunda parte de sua participao manter
tambm o estilo dialgico, pois Scrates decide narrar aos outros convivas uma
212
Um outro dilogo tambm singular, no mesmo sentido aqui apontado, o Grgias, onde o
entusiasmo e a fora argumentativa em favor da retrica, ensaiada pelos discursos dos
interlocutores de Scrates o pem vrias vezes em situao delicada. Tal coisa no acontece
frequentemente na obra de Plato, na qual, as mais das vezes, a fala do interlocutor simplesmente
oferece oportunidade para um desdobramento mais aprimorado do ponto de vista socrtico, sem
constituir, a rigor, um desafio srio ao mesmo.
158
conversa que ele tivera com a sacerdotisa de Mantinia, Diotima, figura que
teria ensinado-lhe tudo aquilo que ele sabe sobre o eros, o amor.213
No meu entender, no Banquete, atravs da tematizao de eros, Plato
congrega vrias temticas que, em sua articulao, iro resultar numa noo
decisiva para a metafsica ocidental, a noo de histria ou tradio. O
objetivo desta seo ser abordar os dois dilogos socrticos o dilogo
Scrates/Agato e o dilogo Scrates/Diotima com o intuito de mostrar a
gnese desta noo. Ser necessrio apontar como os passos desta gnese
implicam um combate com as noes vigentes do mundo pr-metafsico,
noes que aparecem mais ou menos nitidamente nos discursos dos outros
convivas do Symposium.
A participao de Scrates inicia-se com uma forte carga irnica. A
situao a seguinte: Agato, o anfitrio e, fundamentalmente, o
homenageado do encontro, encerrara o seu discurso impressionando
fortemente a platia, a ponto de arrancar aplausos de admirao.214 Ele, que
acabara de ganhar o prmio anual de melhor tragdia outorgado pela cidade
de Atenas,215 iniciara o seu discurso sobre eros censurando os oradores
anteriores por no terem realizado um elogio do deus e sim, simplesmente,
felicitado os homens pelos bens que o deus lhes prodigaliza. Com isto, teriam
negligenciado por completo aquilo que seria decisivo: falar acerca da sua
natureza.216 Com tal reprimenda, Agato busca,
evidentemente, agradar
Scrates, fazendo prprio o principal dos seus ensinamentos: qualquer
indagao sobre o que quer que seja deve primeiramente dirigir-se ao ser da
coisa em questo, antes de abordar outros aspectos tais como suas qualidades,
213
Neste mesmo dilogo, no momento de dar o seu aval proposta, realizada por Erixmaco, de
fazer discursos em elogio a eros (proposta que pretende dar ouvidos a uma freqente reclamao
de Fedro, para quem o deus no seria suficientemente louvado), Scrates declara ser este, eros, o
nico assunto sobre o qual ele sabe, ele que sempre declarara somente saber que nada sabe.
214
Plato, O Banquete in Dilogos O Banquete Fdon Sofista Poltico, trad. de Jos
Cavalcante de Souza, Ed. Victor Civita, Abril Cultural, So Paulo, 1972. Cf. op. cit., 198 a.
215
Supe-se que, de fato, este prmio foi concedido a Agato no ano de 416 a.C.
216
Cf. op. cit., 195 a.
159
efeitos, etc. Embora ao fazer isto tenha sido bem sucedido no seu objetivo,217
o contedo restante do seu discurso no agrada Scrates que, por achar que
Agato est longe de cumprir a promessa de sanar o erro cometido pelos
outros oradores, pe em ao a sua ferina ironia:
Como, ditoso amigo <dirigindo-se a Erixmaco> no vou
embaraar-me, eu e qualquer outro, quando devo falar depois de
proferido um to belo e colorido discurso? <...> Eu por mim,
considerando que eu mesmo no seria capaz de nem de perto
proferir algo to belo, de vergonha quase me retirava e partia, se
tivesse algum meio. <...> Pois eu achava, por ingenuidade, que se
devia dizer a verdade sobre tudo que est sendo elogiado, <...> e
muito me orgulhava ento, como seu eu fosse falar bem, como se
soubesse a verdade em qualquer elogio. No entanto, esta a, no
era esse o belo elogio ao que quer que seja, mas o acrescentar o
mximo coisa, e o mais belamente possvel quer ela seja assim
quer no, quanto a ser falso no tinha nenhuma importncia. <..>
que eu no sabia ento o modo de elogiar, e sem saber
concordei, tambm eu, em elogi-lo na minha vez: a lngua jurou,
mas o meu peito no; que ela se v ento. No vou mais elogiar
desse modo, que no o poderia, certo, mas a verdade sim, se vos
apraz, quero dizer minha maneira, e no em competio com os
vossos discursos, para no me prestar ao riso.218
A maneira socrtica de dizer a verdade, o sabemos, no o discurso,
mas a interrogao no dilogo. Assim, ele pedir licena a Fedro pater da
idia de discursar sobre o amor e por isso, junto com Erixmaco, responsvel
pelo andamento do elogio para fazer umas perguntinhas a Agato.219
O alvo da crtica socrtica ser a afirmao, realizada por Agato, de
que eros o mais feliz dos deuses por ser o mais belo deles e o melhor. Sua
juventude e delicadeza seriam atributos que eros ostenta e que confirmam sua
plena beleza. Da primeira prova o fato de que o deus se afasta da velhice;
217
Diz Scrates ao iniciar sua participao: --Realmente, caro Agato, bem me pareceste iniciar
teu discurso, quando dizias que primeiro se devia mostrar o prprio Amor, qual a sua natureza, e
depois as suas obras. Esse comeo muito o admiro. A nfase em louvar apenas o incio do
discurso de Agato, evidencia a frustrao socrtica no que diz respeito ao seu desdobramento e
consumao. (Cf. op. cit., 199c.)
218
Cf. op. cit., 198b-199b.
219
Cf .op. cit., 199c.
160
procurando habitar na convivncia dos jovens; da segunda testemunha a
procura de moradia nas almas de deuses e homens, isto , no que neles h de
mais sutil e macio e, consequentemente, de delicado. Pois, diz Agato, est
certo, com efeito, o antigo ditado, que o semelhante sempre do semelhante se
aproxima.220
Vejamos como Scrates conduz o interrogatrio de Agato,
interrogatrio que tem por objetivo mostrar que a dupla afirmao de que
eros belo e de que ele um deus, insustentvel.
Em primeiro lugar, Scrates pergunta a Agato de tal natureza o
Amor, que amor de algo ou de nada?221 Com esta pergunta ele tem por
objetivo tornar patente a natureza relacional de eros: o amor uma relao
entre dois termos, relao cujo carter ainda precisa ser determinado, assim
como tambm precisam ser determinados os termos entre os quais tal relao
estabelecida.222
O passo seguinte ser avanar na determinao do carter da
relao. Para isto, pergunta Scrates: Ser que o Amor, aquilo de que
amor, ele o deseja ou no? E logo em seguida: E quando tem isso mesmo
que deseja e ama que ele ento deseja e ama, ou quando no tem?. Com este
par de perguntas ficar estabelecido aquilo que ser decisivo para a
compreenso platnica de eros e, poderia eu dizer, decisivo para o destino de
Ocidente: o equacionamento entre amor e desejo e a compreenso deste
ltimo segundo o modelo da epithymia, do apetite. Pois toda a nfase do
posicionamento platnico incide no fato de que as coisas desejadas
220
Cf. op. cit., 195 a-c.
221
Cf. op. cit., 199a.
222
Assim como um pai pai de algum, a saber, de um filho, e no de ningum, e a me e o irmo
tambm so me e irmo de algum e no de ningum, a saber de um filho ou de um irmo ou
irm, respectivamente, da mesma maneira, eros eros de algo, de seu objeto, e no de nada. Por
enquanto, o intuito de Scrates fixar este carter relacional de eros, deixando em suspense a
determinao dos termos que a compem. O objeto de eros o amado--, assim como aquilo em
que ele se instala o sujeito que tornar-se- o amante somente sero abordados adiante, no
dilogo Scrates/Diotima.
161
necessariamente devem faltar quele que as deseja, pois, caso ele as
possusse, no as desejaria. Diz Scrates a Agato em 200 a:
Ser que o Amor, aquilo de que amor, ele o deseja (epithymei)
ou no? <...> E quando tem isso mesmo (ekhon auto) que
deseja e ama (epithymei te kai erai) que ele ento deseja e ama ,
ou quando no tem? Quando no tem, como bem provvel
disse Agato. Observa bem, continuou Scrates, se em vez
de uma probabilidade no uma necessidade que seja assim, o
que deseja deseja aquilo de que carente (t epithymein ou endees
estin), sem o que no deseja, se no for carente. espantoso como
me parece, Agato, ser uma necessidade; e a ti?223
Pela expresso modelo do apetite me refiro a um modo de
conceber o desejo que se calca na relao fome/saciedade. Segundo esta
concepo, o desejo um movimentar-se da alma em direo ao seu
alimento o objeto desejado que, por ser pensado sob esta tica,
visado pela alma como consumvel, isto , como algo que sacia a fome,
depois de ser devidamente metabolizado e, portanto, aniquilado.
H, neste momento do dilogo, uma interessante digresso. O
objetivo da mesma afastar a possvel objeo que algum poderia levantar,
dizendo: Eu mesmo sadio, desejo ser sadio, e mesmo rico, ser rico, e desejo
isso mesmo que tenho. A ela, acompanhando o prprio dilogo, Scrates
responderia:
homem, tu que possuis riqueza, sade e fortaleza, o que
queres tambm no futuro possuir esses bens, pois no momento,
quer queiras quer no, tu os tens; observa ento se, quando dizes:
desejo o que tenho comigo, queres dizer outra coisa seno isso:
quero que o que tenho agora comigo, tambm no futuro eu o
tenha.
E logo, concluindo, afirma:
223
Cf. op. cit., 200 a e ss.
162
Esse ento, como qualquer outro que deseja, deseja o que no
est mo nem se tem, o que no ele prprio e o de que
carente.224
Esta digresso, parece-me, procura diretamente pontuar os termos
escolhidos por Agato para definir o tipo de relao que eros estabelece com
o seu objeto e, com isto, dar decisivamente a eles uma feio bem
determinada e nem pouco evidente por si mesma: refiro-me aos verbos
habitar, morar, aproximar-se.225 Como foi dito acima, segundo Agato,
eros jovem e deseja manter-se prximo do que jovem, delicado e
deseja morar no que delicado. Certamente, no seu discurso se ouvem
conotaes desejantes, no sentido indicado por Scrates, isto , onde eros
significa uma aspirao a algo que no se possui, seja isto um objeto, uma
situao ou um estado de coisas. Mas, mesmo que tais conotaes sejam
aceitas, evidente que um tal desejo no quer consumir o seu objeto para
alcanar a calma no desejante da saciedade.226 Este modo de compreenso
de eros, ao qual me refiro pela frmula modelo do apetite, no
compatvel com o termo habitar e com aqueles associados a ele227 e,
de fato, cabe perguntar-se que tipo de querer anima esse outro desejo, o de
demorar-se na proximidade do objeto amado, seja ele qual for, objeto que j
est prximo e que, em algum sentido, j possumos. Scrates responde a
esta pergunta da seguinte maneira: trata-se sempre do mesmo desejo, aquele
que animado pelo que nos falta, por aquilo de que carecemos. Assim,
introduzindo a questo da insegurana que o amanh traz consigo, Scrates
diz que o desejo de demorar-se na proximidade do objeto amoroso no mais
224
Cf. op. cit., 200 c-e.
225
Os verbos usados por Agato para nomear a relao do Amor com seu objeto so: synesti
est junto a, se prende a--; pelazei aproxima-se--; oikei, oikesin, oikizetai todas formas do
verbo habitar, morar --(cf. op. cit., 195 b3, 195 b-5, 196 e-3,4,6, respectivamente).
226
Os termos escolhidos por Agato, frequentes na experincia amorosa mesmo, ainda hoje, em
que nos transformamos nessas mquinas desejantes que Gilles Deleuze afirma sermos desde
sempre -- no indicam nada como um desejo de consumir ou devorar o objeto amoroso, mas antes,
um demorar-se na sua proximidade, demorar-se que est longe de ser pensado como uma
experincia de estagnao ou morte, mas de plenitude que se desdobra e que, para isso, exige a
duradoura repercusso entre os dois termos da relao, ambos paciente e agente, ambos sujeito e
objeto de eros.
227
Certamente seria absurdo desejar habitar com a refeio que estamos prestes a consumir.
163
do que o desejo de ter no futuro aquilo que hoje temos e cuja posse no est
garantida para ns no amanh e, no limite, nem mesmo no instante seguinte.
Com o intuito de igualar o desejo de morar junto ao objeto amado ao que
estou nomeando por apetite, Scrates opera uma partio da durao
temporal em sucesso de instantes, onde cada instante uma lanada
desejante para o futuro, lanada desejante de manter consigo aquilo que se
possui no agora e cuja perda deve ser imediata e necessariamente antecipada,
se h de manter-se o eros.
O desejo, marcado deste modo pela lgica da falta ou carncia,
constituir-se- numa espcie de motor, de lan que movimenta o sujeito
desejante em direo conquista do seu objeto, conquista que, se bemsucedida, implicar na posse do objeto e, portanto, no suprimento da falta,
fazendo que ela, assim como o movimentar da alma que lhe prprio,
deixem de existir. Para ns, a quem nos distanciam desse primeiro acorde
dois mil e quinhentos anos, e para quem o repouso sinnimo de estagnao
e morte, o destino dessa srie de inferncias desejo que implica falta de
algo que, por sua vez, implica em movimento para a conquista disso que falta
que, por sua vez, implica, se a conquista for consumada, em morte do desejo
que, por sua vez, implica em morte do movimento salta vista: se trata-se
da manuteno da vida, necessrio ser estar permanentemente desejando,
convertendo-se a conquista do objeto do desejo num mero expediente que
movimenta, mas jamais num autntico bem.228
Parece-me, assim, que h, no assentimento de Agato definio
de eros como desejo de possuir aquilo que se deseja, uma vez que isso falta a
quem deseja, algo a mais ou algo de diferente do que o prprio Agato
afirmara no seu discurso. Seja como for, o jovem trgico concede a Scrates
228
Pois, se como quer a vontade de poder nietzschiana, o movimento desejante sinnimo de vida
e seu incremento implica em intensificao da vida, salta vista que o que resulta desta
compreenso que o objeto do desejo, quando conquistado, precisa ser descartado cada vez mais
rapidamente, a risco de que, caso contrrio, se caia na paralisia, na estagnao e, por fim, na morte.
Assim, como tentaremos mostrar, a usura do ente e sua consequente aniquilao pelo movimento
que substitui o novo pelo mais novo, fenmenos caractersticos do fim da metafsica a que
assistimos na era da tcnica, encontram na compreenso platnica de amor sua origem. Mas, nos
ocuparemos disto mais tarde; voltemos agora ao Banquete.
164
aquilo que este precisa ouvir para denunciar a inconsistncia do seu discurso:
que o que eros deseja o belo; que, se assim , o belo necessariamente deve
lhe faltar e que, por conseguinte, eros no pode ser belo pois, se assim fosse,
no desejaria a beleza.229
O que se segue, na ordem das razes socrtica, bem
conhecido. Narrando um dilogo que ele, Scrates, teria tido quando muito
jovem com a sacerdotisa Diotima de Mantinia, aquela que lhe ensinara tudo
o que sabe acerca do amor, estabelece-se o carter no-divino de eros. Tal
estabelecimento deriva do mesmo princpio: uma vez que eros ama a beleza e
carente da mesma, no pode se lhe atribuir natureza divina, pois por todos
aceito a risco de cometer uma ofensa aos deuses que eles so belos e
felizes e que quem feliz , o graas posse do que bom e do que belo.230
Assim, Diotima teria obrigado Scrates a conceder que eros no um deus.
Significaria isto que ele um mortal? Diotima negar a eros tal natureza,
afirmando tratar-se de um daimon, uma entidade intermediria entre deuses e
homens.231
O conhecido mito de concepo de eros232 sancionar o seu
229
O ponto de apoio para assinalar a inconsistncia do discurso de Agato ser a afirmao que
este fizera de que o Amor <> evidentemente da beleza pois no feio no se firma o Amor (cf.
197b). Uma vez que foi dito com toda nfase que ele o mais belo dos deuses, e j decidido por
ambos, Scrates e Agato, que aquilo de que o Amor amor deve necessariamente faltar a eros,
logo a afirmao de que eros belo no pode mais ser mantida, constituindo uma auto-contradio
no discurso do poeta trgico (cf. 201 a-c).
230
Cf. 202 c: -- Dize-me, com efeito, todos os deuses no os afirmas felizes e belos? Ou terias a
audcia de dizer que algum deles no belo e feliz? Por Zeus, no euretornei-lhe. E os felizes
ento, no dizes que so os que possuem o que bom e o que belo?.
231
Afirmar que algo no belo, no significa necessariamente afirmar que feio,
pois h entre o belo e o feio um imenso leque de gradaes. Dito de outro modo,
pelo fato de se asseverar que eros no belo no fica implicada forosamente a
afirmao de que ele feio, pois eros pode ser um intermedirio entre a beleza e a
feira. Da mesma maneira, o que no sbio, no necessariamente ignorante e o
que no divino, no necessariamente mortal (cf. 202 a e ss.).
232
Eros teria sido concebido por Poros o deus Recurso-- e Penia a mortal Pobreza-- o dia do
nascimento de Afrodite, por ocasio de um banquete oferecido por Zeus. Por causa da data de sua
concepo ele est intimamente ligado a Afrodite, a beleza e, em razo da sua dupla e hbrida
linhagem, eros primeiramente sempre pobre, e longe est de ser delicado e belo, como a maioria
imagina, mas duro, seco, descalo e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao
desabrigo, s portas e nos caminhos, porque tem a natureza da me, sempre convivendo com a
preciso. Segundo o pai, porm , ele insidioso com o que belo e bom, e corajoso, decidido e
165
carter intermedirio, carter que capacita o daimon para, aninhando-se nas
almas dos mortais, conduzi-los em direo ao divino, o belo e o bom em si. A
sua natureza, por assim dizer adversa o fato de aspirar ao belo e o bom
por carecer dele quem o investe deste carter de lanada, de lan,
operando como uma espcie de ponte entre a incompletude mortal e a
suficincia divina.
Pode parecer arbitrrio nomear aqui o Belo-em-si, o objeto de eros,
como sendo a prpria divindade, uma vez que, em um certo sentido, at mesmo
no Banquete, os deuses so concebidos como anthropophyein, isto , como
possuindo, do mesmo modo que os mortais, uma alma, cujo alimento , como a
destes, o inteligvel. Mas, como tentaremos mostrar, historialmente uma tal noo
de divindade ir gradativamente desaparecer em favor da noo de mero
fundamento, onde toda conotao antropolgica se ausenta. Essa possibilidade,
segundo nos parece, antecipada no Banquete platnico. Que assim seja, deve-se
ao fato de que, como tambm tentaremos mostrar, Plato aqui entende que o
efeito de eros nas almas humanas est na produo de obras para a posteridade e,
consequentemente, caminha na direo do desenvolvimento das noes de histria
e tradio, diferentemente de um dilogo como o Fedro, onde o trabalho de eros
nas almas humanas se concretiza numa ascese da alma imortal que, depois de
sucessivas encarnaes, conquistaria sua salvao. Do Fedro ao Banquete,
parece-me, assistimos passagem da escatologia para a histria e esta passagem,
como veremos, implicar numa mudana da noo de divindade.233
Mas, voltemos Diotima do Banquete. Uma vez estabelecido o
carter daimnico de eros, Diotima passar a melhor determinar em que
consiste o seu objeto. J fora dito que eros desejo da beleza, mas Diotima, ento,
enrgico, caador terrvel, sempre a tecer maquinaes, vido de sabedoria e cheio de recursos, a
filosofar por toda a vida, terrvel mago, feiticeiro, sofista e nem imortal a sua natureza nem
mortal, e no mesmo dia ora ele germina e vive, quando enriquece; ora morre e de novo ressuscita,
graas natureza do pai; e o que consegue sempre lhe escapa, de modo que nem empobrece o
Amor nem enriquece, assim como tambm est no meio da sabedoria e da ignorncia (cf. 203c a
204a).
233
A expresso do Fedro ao Banquete no pretende inverter a cronologia sancionada que, como
sabemos, supe anterior o segundo dilogo. A antecedncia de Fedro sugere muito mais um
carter historial, do que um carter cronolgico no interior da obra platnica.
166
pergunta: Que ter aquele que ficar com o que belo?234 A resposta apresentada
equiparar, como j fizera Scrates quando interrogara Agato, o belo ao bom e a
obteno deste eudaimonia, a felicidade.
Que quer isto dizer? J nos detivemos na anlise da idia suprema, tal
qual nos apresentada por Plato na Repblica, nas passagens conhecidas sob o
nome de Doutrina do Bem. Se neste dilogo o Bem era a fonte do ser e da
verdade dos entes, tornando-os inteligveis para a alma no exerccio da sua
faculdade cognitiva, no meu entender, o Belo-em-si do Banquete a mesma idia
suprema, somente que agora considerada como fonte de beleza, isto , como fonte
daquilo que desperta a faculdade apetitiva da alma. Neste sentido, o Belo concede
simultaneamente a cada ente o brilho da sua verdade,235 seu grau de beleza,
tornando-o kaloskagaths, belo e bom e, por isso, capaz de ser desejvel. Assim,
se a alma, toda vez que se volta para um ente, conhece o que h nele de
inteligvel, isto , o que a idia respectiva pe nele e em ltima instncia, pode
se afirmar, que ela conhece aquilo que a idia suprema pe nele, pois esta idia
suprema quem d a cada idia seu ser, a alma, quando deseja, tem por objeto
sempre o que h de belo no ente, quinho de beleza que tambm ali posto pela
idia suprema, aqui chamada de Belo-em-si. Dito em outros termos, se pode
dizer-se que o verdadeiro objeto de conhecimento o Bem, no mesmo sentido
pode afirmar-se que o Belo o verdadeiro objeto de desejo. Pois a alma est
sempre a desejar o Belo-em-si, mesmo que, como acontece nas primeiras fases da
pedagogia ertica, a alma pense que o objeto de desejo aquele ente particular,
ele e nada alm dele. O aprendizado que Diotima anuncia a Scrates como
necessrio de ser feito ser justamente a gradativa descoberta, por parte da alma,
desta verdade simples: estamos sempre a desejar o Belo-em-si, s que na errncia
em que nos encontramos, o procuramos nos entes particulares, naquilo que,
segundo Plato, somente possui um plido reflexo da sua magnfica beleza, sendo
este plido reflexo o que nos cativa e o que, de fato, sem que o saibamos,
desejamos. medida que os entes, na sua hierarquia, vo chegando mais prximo
da sua fonte, a beleza dos mesmos maior e o nosso desejo torna-se mais vvido
234
Cf. op. cit., 204 d.
235
Segundo a famosa frmula presente no Fedro: a beleza o brilho da verdade.
167
e, se for o caso da alma chegar a alcanar a contemplao do Belo-em-si, ento
descobrir que aquele era o objeto que desde sempre desejara. pedagogia
ertica do Banquete corresponde, no mbito do desejo, a paideia relatada na
Alegoria da Caverna, no mbito do conhecimento; assim como, no famoso
mito, a alma somente compreende a fonte da cognoscibilidade de tudo o que at
ali conhecia quando alcana a contemplao do Bem, aqui a alma compreende, ao
completar a pedagogia ertica, que o Belo o objeto de desejo por excelncia,
fonte de tudo aquilo que at a ela desejara. A rigor, parece-me que h neste duplo
aspecto da ascese filosfica, uma supremacia da ertica, pois o carter belo e,
por isso, desejvel do inteligvel, que por em movimento a alma em direo
sabedoria. Pois, como a maioria dos manuais de filosofia ensina como verdade
inconteste muitas vezes esquecendo de citar a autoria dessa concepo, o
filsofo no o sbio, mas o amante da sabedoria. O Bem, to agathon, cujo
sentido, como j foi dito, equivale a aquilo que torna apto, desempenha o papel
de garantia de que essa almejada sabedoria no seja uma quimera, mas, ao
contrrio, algo de efetivamente alcanvel.
esta a frmula com que Diotima definir eros: o amor, amor de
consigo ter sempre o Bem.236 Tal frmula permitir-me- introduzir o que acima
anunciei: as diferentes abordagens de como eros desdobra sua natureza quando
toma a alma dos mortais nos dois dilogos em que Plato trata da questo do
amor, a saber, no Fedro e no Banquete. Pois essa frmula, como j foi dito, e
bem explcito por parte de Diotima, evidencia a interdio da entrada de eros nas
almas divinas: uma vez que elas possuem para sempre consigo o Bem em razo
do qual elas so felizes, o amor nelas no pode penetrar. De modo que somente
restam a eros, como lugar de moradia, as almas dos mortais: so elas as carentes
do Bem, so elas as que no possuem eudaimonia, e em razo dessa falta, so
elas, pois, o prprio alvo das setas de eros. Mas e eis, um quase paradoxo,
Diotima afirma o que bvio para os gregos:237 os homens, exatamente por serem
236
237
Cf, op. cit., 206 a.
Como diz Hannah Arendit: A preocupao dos gregos com a imortalidade resultou de sua
experincia de uma natureza imortal e de deuses imortais que, juntos, circundavam as vidas
individuais de homens mortais. Inserida num cosmo onde tudo era imortal, a mortalidade tornouse o emblema da existncia humana. <...> A mortalidade dos homens reside no fato de que a vida
individual, com uma histria vital identificvel desde o nascimento at a morte, advm da vida
168
mortais, no podem aspirar a ter sempre consigo coisa alguma; o sempre (aei)
da expresso no se coaduna com a marca da finitude que a mortalidade acarreta
inevitavelmente e que os homens assumem no prprio ato de nomear-se a si como
oi thnetoi os mortais.238 Assim Scrates ouvir Diotima afirmar:
, com efeito, no do belo o amor, como pensas. Mas de que
enfim? Da gerao e da parturio no belo. Seja, disse-lhe eu..
Perfeitamente, continuou. E, por que assim da gerao? Porque
algo de perptuo e imortal para um mortal, a gerao. E a
imortalidade que, com o bem, necessariamente se deseja, pelo que foi
admitido, se que o amor amor de sempre ter consigo o bem. de
fato foroso por esse argumento que tambm da imortalidade seja o
amor.239
Assim, o argumento desenvolvido por Plato tomar um vis decisivo: o
desejo de imortalidade necessrio para validar a frmula que define eros implicar
no desejo de procriao, modo em que o mortal se imortaliza. Aqui,
diferentemente do que acontece no dilogo Fedro, a alma no postulada como
imortal, fazendo uma espcie de paideia no percurso de sucessivas reencarnaes,
at eventualmente conquistar o lugar das almas divinas: a vizinhana do
inteligvel, seu alimento. A imortalidade possvel de ser conquistada por um
indivduo mortal , segundo Diotima, do mesmo carter que a que concede o
biolgica. Essa vida individual difere de todas as outras coisas pelo curso retilneo do seu
movimento que, por assim dizer, intercepta o movimento circular da vida biolgica. E conclui
ela, com o raro poder de condensao que somente a fala potica possui: E isto a mortalidade:
mover-se ao longo de uma linha reta num universo em que tudo o que se move o faz num sentido
cclico. (Cf. Arendt, H., A Condio Humana, ed. Forense Universitria, Rio de Janeiro, p. 27.)
238
Diz Diotima em 207d: <...> a natureza mortal procura, na medida do possvel, ser sempre e
ficar imortal. E ela s pode assim, atravs da gerao, porque sempre deixa um outro ser novo em
lugar do velho; pois nisso que se diz que cada espcie animal vive e a mesma assim como de
criana o homem se diz o mesmo at se tornar velho; este na verdade, apesar de jamais ter em si as
mesmas coisas, diz-se todavia que o mesmo, embora sempre se renovando e perdendo alguma
coisa, nos cabelos, nas carnes, nos ossos, no sangue e em todo o corpo. E no que s no corpo,
mas tambm na alma os modos, os costumes, as opinies, desejos, prazeres, aflies, temores,
cada um desses afetos jamais permanece o mesmo em cada um de ns, mas uns nascem, outros
morrem. Mas ainda mais estranho do que isso que at as cincias no s que umas nascem e
outras morrem para ns, e jamais somos os mesmos nas cincias, mas ainda cada uma delas sofre a
mesma contingncia. <...>.
239
Cf., op. cit., 206 e-207 a.
169
poeta ao heri, a saber, a imortalidade da doksa, da glria imortal.240 Trata-se de
uma imortalidade, por assim dizer, de carter secular, no transcendente: aquela
que, pela preservao na memria das geraes vindouras, salvaguarda na
lembrana o que j passou, evitando que caia irremediavelmente no no-ser do
esquecimento. O instrumento de tal preservao a poiesis, a obra duradoura que
ultrapassa o efeito corrosivo do tempo, atravessando os sculos. Diferentemente
do que acontece com o heri trgico, que depende, para ganhar a sua imortalidade,
do canto de um poeta como Homero, Diotima emancipa o amante da sabedoria
dessa dependncia, pois ele ser o seu prprio poietes: com o auxlio de eros, ele
ser o prprio agente da sua imortalizao atravs da obra que legar ao futuro.241
Parece-me, entretanto, que embora Plato faa, atravs do discurso de
Diotima, uma espcie de concesso aos seus contemporneos gregos, ao
concordar com a existncia, em cada mortal, de um desejo de imortalizao
daquela singularidade irredutvel que cada um deles e que somente pode
permanecer entre os vivos e, nesse sentido, no morrer definitivamente
atravs da memria, a pesar desta concesso h, na sua formulao, um carter
vago e indeterminado que considero de decisiva relevncia. Em 208e-d, Diotima
diz:
<...> , segundo penso, por uma virtude imortal e por tal renome e
glria que todos tudo fazem, e quanto melhores tanto mais; pois o
imortal que eles amam.
240
Diz Scrates, pela boca de Diotima, contestando o primeiro discurso pronunciado, o de Fedro
de Mirrinonte em 208d: Pois pensas tu, que Alceste morreria por Admeto, que Aquiles morreria
depois de Ptroclo, ou o vosso Codro morreria antes, em favor da realeza dos filhos, se no
imaginassem que eterna seria a memria da sua prpria virtude, que agora ns conservamos?
Longe disso, disse ela; ao contrrio, , segundo penso, por uma virtude imortal e por tal renome e
glria que todos tudo fazem, e quanto melhores tanto mais; pois o imortal que eles amam.
241
interessante que Diotima, pouco antes, para explicar que o amor o desejo do que bom,
seja este qual for, e que todos os homens amam, no simplesmente aqueles que cultivam o amor
dos rapazes, sentimento para o qual costumeiramente reserva-se o termo eros, apresenta o exemplo
do uso do termo poiesis que, embora seja frequentemente utilizado tambm num sentido restritivo
o da produo de msica e versos rigorosamente possui um sentido mais largo, o de produo
de qualquer coisa toda causa de qualquer coisa passar do no-ser ao ser. Parece-me que Plato
j est trazendo para a exposio, claro que de modo no argumentativo, o elo entre eros e poiesis.
(Cf. 205 b e ss.).
170
Refiro-me quilo que tal afirmao induz imediatamente a perguntar: mas,
afinal, o imortal em geral que eles amam ou, ao contrrio, amam exclusivamente
sua prpria imortalidade? A resposta afirmativa segunda possibilidade
tipicamente grega e segundo esta resposta os grandes feitos e palavras242 que
despertariam a admirao,243 e que, em razo dessa admirao conquistariam, por
merecimento, a lembrana das geraes vindouras, no tm por objetivo operar
um progresso na raa humana, melhorando suas instituies e seu carter, mas
representam simplesmente uma espcie de meio para o athanadzein, o imortalizar
de quem se , dessa frgil singularidade individual.244 J a resposta afirmativa
primeira das alternativas a saber, o amor amor do que imortal em geral
franqueia uma compreenso diferente, a saber, a de que a aspirao pela
imortalidade no para perpetuar o eu singular, e sim a obra que ele for capaz de
deixar, no fundamentalmente porque ela o imortalize, mas porque balizar um
caminho de perfectibilidade para o que h de humano no homem. Vejamos isto
com mais cuidado.
Como j dissemos, h um sentido de ascenso na pedagogia ertica
apresentada por Diotima. Como isto acontece? Segundo a sacerdotisa, tudo aquilo
que mortal, num certo momento da sua vida concebe, procurando ento gerar e
parir; o mesmo acontece com os homens que, numa certa idade, ficam prenhes no
corpo ou na alma, tendo o desejo de gerar e dar luz.245 Os primeiros,
242
A expresso de Herdoto na sua Histria.
243
Ou, no dizer de Plato, o seu sucedneo, isto , as virtudes dignas de louvor.
244
esta uma das teses decisivas da Hannah Arendt para explicar a origem e razo de ser da
poltica entre os gregos; segundo ela, a criao de um espao pblico, isto , de um espao de
apario diante de pares, tem por objetivo permitir o mostrar-se das aes que, se brilham e so
dignas de admirao, sero lembradas, conquistando para seus agentes a doksa imortal. Deste
modo, para ela, o surgimento da poltica est intimamente ligado ao desejo de imortalizar esse algo
individual e irredutvel que o quem a pessoa . Esse, quem, sempre acompanhando Arendt,
diferente, para os gregos, dos talentos e qualidades que a pessoa possui.
245
A compreenso que os gregos tm da reproduo sexuada, atribui ao macho a concepo, pois
ele o portador da semente. A fmea recebe essa semente, a acolhe e a alimenta ela , como diz
Plato, referindo-se khora , no seu Timeu, ao compar-la com a me, receptculo e nutriente. Isto
explica por que razo a concepo uma propriedade masculina que precisa do feminino somente
no caso da gerao corprea, no a espiritual, sendo este feminino, no um participante ativo da
concepo, mas simplesmente um receptculo que acolhe e nutre o que o masculino concebeu de
modo independente.
171
aqueles que esto fecundados em seu corpo voltam-se de preferncia
para as mulheres, e desse modo que so amorosos, pela procriao
conseguindo para si imortalidade, memria e bem-aventurana por
todos os sculos seguintes, ao que pensam <...>.246
Mas, dentre os segundos, os que em sua alma concebem o que a ela
convm, pensamento e o mais da virtude,
<...> quando algum <dentre estes> fecundado em sua alma, ser
divino que , e chegada a idade oportuna, j est desejando dar luz e
gerar, procura ento tambm este, penso eu, sua volta o belo em que
possa gerar; pois no que feio ele jamais o far.247
Esse belo no qual a alma do jovem vai poder gerar ir desenhando-se
numa hierarquia, segundo sua proximidade do Belo-em-si, e a imortalidade do
filho que ser dado luz depender do lugar que, nessa hierarquia, ocupa o objeto
de desejo. Quanto mais belo o objeto mais belo porque mais prximo da fonte
de beleza que o Belo-em-si mais duradouro ser o rebento que o mortal
deixar para a posteridade. Tal escala aparece no dizer de Diotima do seguinte
modo:
<...> comear do que aqui belo e, em vista daquele belo, subir
sempre, como que servindo-se de degraus, de um s para dois e de
dois para todos os belos corpos, e dos belos corpos para os belos
ofcios, e dos ofcios para as belas cincias at que das cincias acabe
naquela cincia, que de nada mais seno daquele prprio belo e,
conhea enfim o que em si belo.248 249
246
Cf. op. cit., 208 e (o itlico meu).
247
Cf. op. cit., 209 a-b. Pois como a prpria Diotima vem de dizer: <...> quando do belo se
aproxima o que est em concepo, acalma-se, e de jbilo transborda, e d a luz e gera; quando
porm do feio que se aproxima, sombrio e aflito contrai-se, afasta-se, recolhe-se e no gera, mas,
retendo o que concebeu, penosamente o carrega. Da que ao que est prenhe e j intumescido
grande o alvoroo que lhe vem vista do belo, que de uma grande dor libera o que est prenhe.
(Cf. 206 d-e.)
248
Cf. op. cit., 211 c. Pouco antes, mais explicitamente, ela falara a Scrates: <...> deve, com
efeito, o que corretamente se encaminha a esse fim <a contemplao do Belo-em-si>, comear
quando jovem por dirigir-se aos belos corpos, e em primeiro lugar, se corretamente o dirige o seu
dirigente, deve ele amar um s corpo e ento gerar belos discursos; depois deve ele compreender
que a beleza em qualquer corpo irm da que est em qualquer outro, e que, se deve-se procurar o
belo na forma, muita tolice seria no considerar uma s e a mesma a beleza em todos os corpos; e
depois de entender isso, deve ele fazer-se amante de todos os belos corpos e largar esse amor
violento de um s, aps desprez-lo e consider-lo mesquinho; depois disso a beleza que est nas
172
No que respeita aos filhos, o primeiro exemplo citado o dos filhos dos
poetas e dos legisladores:
<...> qualquer um aceitaria obter tais filhos mais que os humanos,
depois de considerar Homero e Hesodo, e admirando com inveja os
demais bons poetas, pelo tipo de descendentes que deixam de si, e que
uma imortal glria e memria lhes garantem, sendo eles mesmos o
que so; ou <...> pelos filhos que Licurgo deixou na Lacedemnia,
salvadores da Lacedemnia e, por assim dizer, da Grcia. E honrado
entre vs tambm Slon pelas leis que criou, e outros muitos <...>
por terem dado luz muitas obras belas e gerado toda espcie de
virtudes; deles que j se fizeram muitos cultos por causa de tais
filhos, enquanto que por causa dos humanos ainda no se fez
nenhum.250
Ns temos aqui dois tipos de filhos que o amor s virtudes geraram, a
poesia de Homero e Hesodo e as leis constituintes de Licurgo e Slon a
politeia de Esparta e a de Atenas, respectivamente. No mesmo esprito que anima
a sacerdotisa Diotima e com o conhecimento que temos do que depois veio,
poder-se-ia acrescentar: algum aspiraria a gerar filhos mais imortais do que a
geometria euclidiana ou os dilogos de Plato? E aqui novamente se anuncia a
ambigidade de que acima falei: pois, e isso ns o sabemos, a geometria
euclidiana vive entre ns at hoje sem que, entretanto, nada saibamos, nem
almas deve ele considerar mais preciosa que a do corpo, de modo que, mesmo se algum de uma
alma gentil tenha todavia um escasso encanto, contente-se ele, ame e se interesse, e produza e
procure discursos tais que tornem melhores os jovens; para que ento seja obrigado a contemplar o
belo nos ofcios e nas leis, e a ver assim que todo ele tem um parentesco comum, e julgue enfim de
pouca monta o belo no corpo; depois dos ofcios para as cincias que preciso transport-lo, a
fim de que veja tambm a beleza das cincias, e olhando para o belo j muito, sem mais amar
como um domstico a beleza individual de um crianola, de um homem ou de um s costume, no
seja ele, nessa escravido, miservel e um mesquinho discursador, mas voltado ao vasto oceano do
belo, e contemplado-o, muitos discursos belos e magnficos ele produza, e reflexes, em
inesgotvel amor sabedoria, at que a robustecido e crescido contemple ele uma certa cincia,
nica, tal que o seu objeto o belo seguinte.
249
Aqui, nesta hierarquia de objetos amveis--a sabedoria da bela forma na natureza corprea, a
sabedoria das artes ou ofcios, a sabedoria das cincias para chegar, por ltimo, prpria cincia
do Belo-em-si, alvo do filsofo percebe-se, quase que de modo idntico, a hierarquia dos
pathemata da alma na passagem da Linha Dividida: o amor pelo que h de regrado no visvel,
pai de toda tkhne, o amor pelo entes matemticos, pai da cincia matemtica e, por ltimo o amor
das idias e, fundamentalmente, da idia suprema, pai da cincia por excelncia, quela
conquistada com aquilo com que deve (cf. Banquete, 212 a) contemplar a alma esse ente
supremo, a saber, com a inteligncia ou nous.
250
Cf. 209 e-d.
173
precisemos saber, acerca de quem Euclides foi. No caso das cincias, muito mais
obviamente do que no caso do tipo de produo que chamamos filosofia, a
imortalidade da singularidade individual do autor da obra no foi garantida, de
modo algum, pelo seu filho imortal: estudamos geometria na escola sem sequer
tomarmos conhecimento da pessoa e do tempo de Euclides e isto no
prerrogativa do leigo, pois o matemtico profissional encontra-se na mesma
situao, caso no alimente algum tipo de curiosidade pessoal, que tambm
poderia estar presente no leigo.
Com esta observao pretendo chamar a ateno para o fato de que a
imortalidade da obra legada nem sempre vem acompanhada pela imortalidade da
singularidade individual do autor dessa obra. Pois, como bem observa Hannah
Arendt, o quem a pessoa foi diferentemente de seus talentos ou qualidades, que
podem efetivamente imortalizar-se atravs da fabricaosomente pode ser
lembrado atravs da rememorao de seus atos e palavras, rememorao
propiciada pelo canto do poeta ou pela narrativa do historiador. Neste sentido,
nenhuma obra, por mais admirvel que seja, imortaliza seu autor.
Entretanto existe claramente, para ns, uma outra possibilidade de
atribuio de sentido tarefa de legar uma obra que no resida no desejo de
imortalidade do seu autor. Max Weber, na sua conferncia A cincia como
vocao adverte ao seu auditrio da ingratido que uma vida devotada cincia
reserva para quem a escolhe. Sem entrar em considerao no fato de que a
mediocridade da vida acadmica exige sucessivas e incontveis capitulaes
aspecto que Weber to lucidamente retrata, o cerne do argumento reside na
constatao de que o autntico cientista deve saber que sua obra ser tanto mais
bem-sucedida quanto mais rapidamente ela possa ser superada e, em sentido forte,
deixada para atrs. Pois o progresso, ressalta Max Weber, essa substituio de
uma teoria por outra mais eficiente, da natureza do empreendimento cientfico, o
que quer dizer que a verdadeira vocao cientfica deve aceitar isto como um fato,
pondo-se a servio desse progresso e abdicando de qualquer pretenso de
imortalidade, no somente para si, mas tambm para o filho gerado.
174
Do Banquete de Plato a Max Weber transcorreram aproximadamente
dois mil e quinhentos anos; o mero respeito ao passar de tantos anos no nos
permite fazer projees anacrnicas e pretender que Plato pudesse ter em mente
aquilo que Weber tanto tempo depois enuncia. De fato, a preocupao grega
com a imortalidade do indivduo singular preocupao, para ns, j quase
inteiramente ausente ecoa insistentemente no discurso de Diotima. Em
relao a este aspecto, parece-me que nos lcito pensar que Plato j tivesse
em grande parte se desembaraado dela, constituindo essa insistncia muito
mais um expediente persuasivo para ouvidos pouco filosficos do que uma
autntica preocupao.251 Na ambigidade acima apontada a de se o desejo
de imortalidade tem por alvo tudo o que imortal ou se, ao contrrio, o
prprio eu singular que ele visa parece-me que Plato se inclinaria
incontestavelmente para a primeira destas opes.
Mesmo se concorda-se com o que acabamos de afirmar a saber,
que Plato no alimenta uma autntica preocupao com a imortalidade da
individualidade singular, e sim com o carter duradouro das obras que
permitir um aprimoramento das comunidades humanas parece abusivo
atribuir uma gradativa perfectibilidade s mesmas. Os filhos espirituais de que
nos fala Diotima so, no seu discurso, depositrios da esperana de atravessar
os sculos inclumes, sendo efetivamente imortais e, conseguindo, pela sua
excelncia salvar a Lacedemnia e, por assim dizer, a Grcia. Nada parece
nos autorizar a pensar em evoluo e progresso, isto , na compreenso de que
aquilo que legado para o futuro possa ser, pelos que viro, assumido,
aprofundado e relanado novamente para um futuro ainda mais longnquo.
Entretanto, gostaria de citar a prpria Diotima, poucos momentos antes de
explicitar sua pedagogia ertica. Esclarecendo Scrates acerca de como tudo o
251
A filosofia, com sua nfase no universal, desde cedo distanciara-se de qualquer preocupao
com a singularidade. No caso especfico de Plato, resulta praticamente impossvel conceber
como o Cristianismo far cada homem com uma alma singular, princpio da sua individuao.
Parece-me que as almas, no mbito supra-sensvel, seu verdadeiro lar, sero necessariamente
idnticas (pergunto-me se, a rigor, pode falar-se, aqui em nmero de almas?), porque toda
diferena e multiplicidade enraza-se, para Plato, na precariedade e imperfeio do visvel. Se
assim , na singularidade do indivduo o que palpita no nada como uma essncia de quem a
pessoa , mas um simples acmulo de acidentes inessenciais.
175
que mortal se perpetua atravs da gerao, substituindo o velho pelo novo,
ela afirmar:
A natureza mortal procura, na medida do possvel, ser sempre e
ficar imortal. E ela s pode assim, atravs da gerao, porque
sempre deixa um outro ser novo em lugar do velho; pois nisso que
se diz que cada espcie animal vive e a mesma assim como de
criana o homem se diz o mesmo at se tornar velho; este na
verdade, a pesar de jamais ter em si as mesmas coisas, diz-se
todavia que o mesmo, embora sempre se renovando e perdendo
alguma coisa, nos cabelos, nas carnes, nos ossos, no sangue e em
todo o corpo. E no que s no corpo, mas tambm na alma, os
modos, os costumes, as opinies, desejos, prazeres, aflies,
temores, cada um desses afetos jamais permanece o mesmo em
cada um de ns, mas uns nascem, outros morrem. Mas ainda mais
estranho do que isso que at as cincias no s que umas
nascem e outras morrem para ns, e jamais somos os mesmos nas
cincias, mas ainda cada uma delas sofre a mesma
contingncia.252
Nestas ltimas palavras, parece-me bastante claro que Plato chega a
cogitar que o legado que os melhores deixam para as geraes vindouras possa
ser renovado por estas. Seja como for, o que incontestvel que tal legado
salvar aqueles que viro da errncia a que estariam sujeitos, caso tivessem
que comear a sua lide, a cada vez, de estaca zero.
Quando acima me referi ao Banquete de Plato como uma passagem da
Escatologia para a Histria quis indicar este aspecto: neste dilogo concebe-se,
pela primeira vez, a prpria noo de projeto civilizatrio com o que isto
implica de nfase na dimenso temporal do futuro e no desejo de tornar-se
senhor do mesmo, evitando, na medida do possvel, o inesperado e sua carga
de insegurana e desassossego. A mesma preocupao encontra-se presente,
embora de modo menos explcito, tambm na Alegoria da Caverna. Pois,
parece-me que o constrangimento que sofre o homem liberto para retornar ao
interior da caverna smbolo do mundo visvel partilhado por todos,
somente justifica-se pela idia de promover nele uma polis governada pela
252
Cf. op. cit., 207d-208 a (o grifo meu).
176
idia de dikaiosyne, isto , de promover a melhor cpia possvel da polis ideal
neste mundo. Se assim no fosse, se a nica preocupao platnica fosse a da
salvao da alma individual pela contemplao das verdades transcendentes, o
filsofo no voltaria, preferindo, assim como Aquiles, qualquer vida no mbito
da luz, mesmo a de escravo, a uma vida de rei no mundo sombrio da caverna
como Glauco observa, no famoso mito. Sabemos, de outro lado, que o
objetivo da volta no consiste em libertar os prisioneiros para conduzi-los fora
da caverna: uma tal aspirao , para Plato, ingnua, pois desconhece a fora
da verdade ali imperante e o fato de que nem todas as almas esto aptas para
alcanar a plena realizao da paideia filosfica. Embora o mito acabe no
impasse representado pelo conflito entre o filsofo e a polis, conflito que pe
em risco a vida daquele, a soluo que Plato entrev para esse impasse a
instaurao de algo semelhante a um governo autoritrio que, tendo em vista a
eudaimonia da cidade e de suas partes constitutivas, as diferentes classes de
cidados, consiga que a grande maioria que jamais sair da caverna o
acate, sem que seja necessria a utilizao de meios de coao violenta
caractersticos da tirania.253 Se isto acontecesse, os cidados de uma cidade
governada sem violncia e com justia acabariam, mais cedo ou mais tarde,
tornando-se virtuosos, mesmo que jamais alcanassem a contemplao das
entidades inteligveis.
Com estas observaes pretendo enfatizar o aspecto mundano da
metafsica platnica, contrariando leituras ingnuas ou superficiais que
acreditam que o platonismo constitui um dar s costas ao mundo sensvel
para procurar asilo num mundo hipottico de entidades permanentes e
perfeitas, alimentando, assim, uma espcie de confortvel iluso que
amorteceria a vivncia dos perigos com que o devir contraditrio do mbito
terreno ameaa o homem. Tais leituras, em geral provindas de uma
interpretao de Nietzsche muito pouco refletida ou aprofundada, esto
253
A tese que Hannah Arendt defende no seu ensaio Que autoridade?, presente em Entre o
Passado e o Futuro, que a filosofia poltica de Plato representa uma tentativa de introduzir na
experincia poltica grega uma noo de autoridade, isto , uma alternativa simultnea
democracia cujo modo de governar baseia-se no exerccio da argumentao persuasiva e
tirania cujo dominao assenta-se no exerccio da fora. Segundo Arendt, uma tal experincia
poltica fracassa no mundo grego, vindo somente a vigorar na experincia poltica romana.
177
imbudas de uma conotao psicolgica que compromete o que essencial
para a compreenso do acontecimento historial que a metafsica platnica
representa. Elas encontram, de fato, algum respaldo no pensamento do jovem
Nietzsche e, sobretudo, na apropriao que a incipiente doutrina crist fez da
postulao platnica da imortalidade da alma. Mas, diferentemente do que
acontece no Cristianismo, onde a vida na terra concebida como vale de
lgrimas e simples passagem para a verdadeira vida,254 a vida eterna que
acontecer com a ressurreio do corpo na proximidade do Senhor, a
metafsica platnica animada por uma concepo bem diversa, como acredito
que fica evidente no Banquete. Certamente h nela a postulao desse mundo
de entidades supra-sensveis absolutamente perfeitas e permanentes, mas tal
postulao no busca um refugiar-se dos cataclismos terrenos num almmundo imaginrio. Ela constitui, antes, um desvio necessrio para instaurar
neste mundo um espao de previsibilidade, controle e segurana que mostrou,
depois de dois mil e quinhentos anos, nada ter de imaginrio, e sim de eficiente
e concreto.255 No creio haver, na metafsica platnica, nenhuma vocao
autenticamente extra-mundana.
Em concordncia com estas observaes, gostaria de assinalar para
a gnese, na filosofia platnica e, muito explicitamente, no dilogo que nos
ocupa, do deslocamento da noo de divindade para a noo de fundamento, o
deus dos filsofos. Tal deslocamento ser aprofundado pela teologia crist,
ao vestir o deus judaico-cristo nas roupagens da metafsica grega,256 mas
254
At mesmo a idia desta vida como uma provao para a vida eterna encontra-se ausente do
Cristianismo primitivo. A Boa Nova , na origem do Cristianismo, reservada a todos,
independendo dos pecados ou virtudes cometidos neste mundo.
255
No quero com isto dizer que o projeto metafsico de colocar o homem no centro do ente
atravs da postulao de um ente supremo acessvel a ele em seu carter de fundamento, no
carregue consigo, como contrapartida da sua vocao, descontrole e insegurana. Nossa era, a era
do fim da metafsica, revela exatamente isto, o feitio voltando-se contra o feiticeiro. Mas este
estado de coisas no pode ser compreendido atravs das categorias da moderna patologia
psicolgica da fantasia compensatria.
256
Contrariamente ao que Nietzsche ensina, parece-me que no foi o cristianismo quem
domesticou o esprito grego mas, antes, foi este refiro-me ao esprito socrtico-platnicoaristotlico, isto , metafsica grega quem obrigou o credo judaico-cristo a conformar-se a
seus axiomas, fato que no se deu sem gerar inmeros paradoxos, violncias e contra-sensos com
os quais a teologia crist (que grega em suas categorias mais bsicas) viu-se desde sempre
emaranhada. A fora e originalidade do pensamento de Sren Kierkegaard alguma vez chamado,
178
somente ser consumado na era moderna, prenunciando a sentena
nietzschiana Deus est morto. Vou me deter neste ltimo ponto.
As divindades gregas, o sabemos, podem ser belas e felizes, mas
de modo algum so auto-suficientes e completas; mesmo se temos em mente a
divindade mxima, Zeus, constata-se que ela no concebida como possuindo
nenhum dos predicados com que o pensamento cristo concebeu Deus:
onipotncia, oniscincia, perfeio e eternidade. Certamente, Zeus usufrui de
maior fora e poder do que as outras divindades que, por isso, o respeitam e o
temem, mas este fato no emancipa o senhor do Olimpo da tarefa de estar
permanentemente negociando com elas, arbitrando os incontveis conflitos
que h entre os seus governados imortais, tecendo, assim, acordos e
compromissos que lhe permitam manter o seu reinado numa relativa harmonia.
Como vimos, a frmula atravs da qual Diotima define eros a
saber, o desejo de ter sempre consigo o belo e o bom exclui
definitivamente a possibilidade de que ele se instale nas almas divinas, pois
estas no carecem do belo e do bom, tendo-o sempre consigo, e por isso no o
desejando. Em Fedro, na famosa imagem da alma como carruagem alada, as
almas imortais so comparadas com carruagens puxadas por parelhas de
cavalos puros e obedientes que lhes permitem manter-se no mais longnquo
cu, onde esto os confins do visvel na vizinhana do inteligvel, sem
jamais dali cair para as regies inferiores, propiciando-lhes a possibilidade de
alimentar-se permanentemente do pasto das idias; diferentemente das
imortais, as almas mortais so carruagens cuja parelha dspar, sendo um dos
cavalos nobre e de raa e, por isto, obediente e dcil ao cocheiro e o outro
mestio e arredio aos seus ditames, obrigando o cocheiro a um permanente
esforo de sujeio do cavalo indcil, esforo que, a pesar de contar com o
auxlio do bom cavalo, nem sempre bem sucedido. Semelhante situao faz
com que as almas mortais sofram, no seu caminho procura do pasto do
inteligvel, permanentes quedas, dele se afastando e vindo parar novamente nas
no meu entender muito justamente, como o nico pensador autenticamente cristo--reside nesta
convico.
179
regies inferiores. Neste dilogo, como num certo sentido acontece tambm no
Banquete, os deuses ainda so pensados como anthropophyeis, isto , como
sendo de natureza semelhante humana, no sentido de possurem uma alma
que se volta para o inteligvel, pois este o alimento de toda alma, tanto das
mortais, quando das imortais.
Como sabemos, um dos temas centrais do Fedro a imortalidade
da alma; assim, o modo de vida divino aparece como aquilo que seria almejado
pelas almas mortais, pois, a pesar da metfora de eros como apetite ser l
mais
ostensiva do que no Banquete
l, o inteligvel explicitamente
pasto, alimento das almas, o convvio das almas imortais com o inteligvel
nos convida a conceber uma relao de carter diferente da descrita pela dupla
falta desejante/saciedade no-desejante. Esse convvio evoca para eros a
semntica do morar ou do habitar e se tal modo de vida corresponde
aspirao dos mortais, ento o atingir desse telos no implicaria uma supresso
do amor e da relao com o objeto, mas uma outra forma qualitativamente
diferente do mesmo: a do contentamento pela sua proximidade e convvio,
convvio caracterstico da vida divina.
Assim, no que respeita aos efeitos que eros produz nos mortais
este modelo visivelmente diferente daquele do Banquete, que acabamos de
descrever. Em Fedro no parece haver nenhuma preocupao com o mbito
mundano e secular legado posteridade, sendo a vida neste mundo uma
simples ocasio para o aprimoramento da alma individual, com vistas
conquista de uma salvao extraterrena, representada no modo de vida divino.
Entretanto, parece-me que tambm h neste dilogo uma forte diferena com a
compreenso pr-metafsica da divindade, compreenso que, no meu entender,
claramente explicitada no fragmento 62 de Herclito, onde se diz:
Imortais/mortais, mortais/imortais: na medida em que vivem a
morte daqueles e na medida em que morrem a vida daqueles.257
257
Athanatoi thnetoi, thnetoi athanatoi, zontes ton ekeinon thanaton, ton de ekeinon bion
tetheotes. Uma magnfica interpretao deste fragmento encontra-se no nono e dcimo encontro
do seminrio sobre Herclito, dirigido por Martin Heidegger e Eugen Fink ,em Freiburg, no
inverno de 1966/67. (Cf. Heidegger, M., e Fink, E., Herclito, ed. Ariel, Barcelona, 1986.
180
Em Herclito, mortais e imortais so o que so, no graas a um
terceiro termo, mas cara a cara, numa relao essencial. Os mortais so
mortais por morrer o qu? No sua prpria vida, mas a vida imortal dos deuses.
E estes, por sua vez, so os imortais por viver o qu? No sua prpria vida
imortal, mas a morte dos homens. A prpria nomeao dupla com que
Herclito nomeia a ambos os deuses como imortais/mortais, os homens
como mortais/imortais indica o aspecto relacional inerente determinao
do seu ser. Diz Eugen Fink:
Deuses e homens no so como os outros seres vivos, mas esto
ambos determinados por uma relao de compreenso para consigo
mesmos e dos uns com respeito dos outros; a relao de
compreenso no a encerram os deuses em si, os deuses no
somente esto referidos a si mesmos, mas somente podem
experimentar seu prprio ser-sempre em relao com o ser-mutvel
e consagrado morte dos mortais. Para compreender seu prprio
ser-sempre em sua relao consigo mesmos devem observar-se, se
compreendendo na morte dos homens. Um tal observar-se
compreensivo no h que entend-lo onticamente, mas
ontologicamente ou seja cosmologicamente. E ao contrrio: os
homens que se comportam com seu prprio desvanecer-se devem
observar-se, se compreendendo no ser-sempre dos deuses.258
O que deve entender-se pela expresso relao essencial? Uma
relao onde os termos que a compem so o que eles so somente na relao;
fora dela eles desaparecem, deixam de ser. Dito em outras palavras: o lao no
se estabelece entre substncias, entidades que so o que so por si e em si
mesmas e que a posteriori entram em relao, sendo esta ltima uma
possibilidade que sua essncia guardaria consigo. No, trata-se de uma
imbricao que pode ser compreendida como anterior aos termos, pois estes
recebem seu ser dela. Neste contexto, se h algo de mais eminente e digno de
admirao do que a prpria divindade, isso essa imbricao que, separa e
distingue, ao diferenciar os mortais dos deuses, mas simultaneamente rene e
258
Heidegger, M. e Fink, E., op. cit., p. 142 (a traduo minha).
181
liga, retendo uns junto aos outros numa co-pertena. A esta relao essencial, a
esta imbricao que governa deste modo os opostos, numa simultnea reunio
e separao, Herclito chama to sophon. Dele Herclito fala nos fragmentos 32
e 41; no primeiro se diz:
Uno, o sophon: deixa e no deixa ser chamado pelo nome de
Zeus.259
No segundo, Herclito fala:
Uno, o sophon, conhec-lo (epistasthai gnomen) na medida em
que governa tudo atravs de tudo.260
O sophon que estes fragmentos nos convidam a pensar, no
consiste num alm-mundo para o qual as almas, tanto as imortais, quanto as
mortais, se voltariam. Ele no est alhures, mas a prpria carne do ser de
homens e deuses. Seu sinal no experimentado por uma periagoge da alma,
que deveria desviar-se deste mundo, onde ela estaria de passagem sendo, a
rigor, estranha a ele, para alcanar o seu lar, o inteligvel. O sophon o mago
deste mundo, governando tudo atravs de tudo; ele aquilo que em retrao
o mantm ligado e, ao mesmo tempo, diferenciado na bela e rica
multiplicidade dos entes. Por governar tudo, ele deixa, mas tambm no deixa,
ser chamado pelo nome da divindade mxima, Zeus: permite uma tal
nomeao porque ela evoca o que, dentre o familiar, os mortais reconhecem
como tendo mais eminncia e grandeza, o senhor do Olimpo; no permite
porque, por governar at mesmo os deuses e o prprio Zeus, o sophon , para
o pensamento, algo que o excede em dignidade.261
259
En to sophon mounon legesthai ouk ethelei kai ethelei Zenos onoma.
260
En to sophon, epistasthai gnomen, otee ekybernese panta dia panton.
261
Dito de outro modo, no mbito entitativo e para o pensamento que lhe corresponde, aquele
domnio em que os mortais esto em casa e para o qual tem pistis, o sophon veste-se nas
roupagens do ente mais ente entre os entes, a entidade mxima; para o mortal que est em
homologia com o logos, ele excede todo e qualquer ente.
182
Esta compreenso da divindade e da relao homens/deuses
parece-me que anima o primeiro discurso pronunciado no Banquete, o discurso
de Fedro de Mirrinonte. O elogio que Fedro faz de eros frisa o fato de que o
deus, ao soprar na alma do mortal, o torna capaz de atos cuja grandiosidade
admirada pelos deuses: o mais admirvel dentre estes atos o de dar a vida
pelo amado, como o caso de Alceste, ou de segui-lo na morte, como o caso
de Aquiles.262 Os deuses, segundo Fedro, no somente admiram os mortais,
eles o fazem exatamente com vistas quilo que constitui a sua mais radical
alteridade: a realizao de seu carter mortal.
Mas, h outro aspecto do discurso de Fedro que ganha novo
sentido, sob esta tica: refiro-me ao fato, ali apontado, de eros ser o mais
antigo dos deuses.263 Se, luz do fragmento 62 de Herclito, ouvimos em eros,
no somente o lao que relaciona o amante com o seu amado, mas o prprio
vnculo que enlaa mortais e imortais e os faz serem o que so, ento a
originariedade de eros torna-se clara. Assim, deuses e homens so, como disse
Pndaro, da mesma prognie, estando visceralmente ligados.
No dilogo platnico Fedro, d-se o primeiro passo para aquilo que
muitos sculos adiante Hlderlin chamar de separao entre homens e
deuses e que Nietzsche, menos de cem anos depois de Hldelrlin,
radicalizar ao decretar a morte de Deus. No Fedro, os deuses do as costas
aos homens e se voltam para o inteligvel; eles ainda no so, certamente,
auto-suficientes e completos, mas a relao essencial que mantinham com os
262
Para provar este carter de eros, o discurso de Fedro faz referncia a trs mitos. O primeiro
deles o de Alceste que d a prpria vida para salvar a de seu marido Admeto, diante do que os
deuses, tomados de admirao, permitem que saia do Hades, devolvendo-a ao mundo dos vivos. O
segundo o de Orfeu, o tocador de ctara que ser castigado pelos deuses, por pretender enganlos com o intuito de roubar do Hades sua esposa Eurdice, sem estar disposto a pagar o nus da sua
prpria morte para juntar-se a ela. O terceiro mito narra o gesto que os deuses consideram mais
digno de admirao: trata-se da morte de Heitor nas mos de Aquiles, que vinga a morte de
Ptroclo, mesmo advertido por sua me de que, se o fizesse, ele prprio morreria. Aquiles, diz
Fedro, acompanha Ptroclo na morte e seu gesto espantosamente admirvel pelo fato dele ser o
amado e no o amante de Ptroclo como, segundo Fedro, Esquilo considerou erradamente: neste
caso, eros consegue realizar o milagre da inverso dos papis entre amante e amado, fazendo com
que o amado, Aquiles, se comporte com a grandeza de um amante.
263
Fedro cita como autoridades que afirmam a originariedade de eros, de um lado Hesodo na sua
Teogonia, de outro, Parmnides no seu Poema.
183
mortais se rompe e estes, tanto quanto aqueles, agora direcionam-se para um
terceiro elemento, o supra-sensvel. No Banquete, esse rompimento
aprofundado: os homens no mais aspiram ao modo de vida divino,
representado pelo convvio com o inteligvel num outro patamar o do fim da
carncia. Agora, libertando-se da emulao da divindade, emancipam-se de
almejar o seu modo de vida e instauram um modo propriamente humano de
imortalidade: eles, gerando luz do inteligvel, verdadeira divindade, sero os
parturientes de uma civilizao imortal o Ocidente.264 A vida imortal desse
rebento, como bem antecipou Diotima, precisar ser garantida pela
substituio do velho pelo novo, constituindo essa atividade o tributo humano,
permanentemente retomado e
lanado adiante, para com a prpria
imortalidade. Para a realizao desta destinao, nos diz Diotima, um
colaborador da natureza humana melhor que eros no se encontraria
facilmente.265
Para concluir esta seo, gostaria de lembrar a rpida, mas incisiva
observao que Martin Heidegger faz na sua conferncia O que isto, a
Filosofia?. Ali, falando da origem do adjetivo philosophos e de sua
construo a partir dos timos philia e sophon, ele refere-se noo de philia
em Herclito, aquele que teria sido quem forjou o termo. O aner philosophos,
o homem filsofico , aquele que tem philia amizade, predileo pelo
sophon. Tal disposio est determinada por um homologein, um dizer o
mesmo que o sophon, um logos humano que repete266 em acordo ou
consonncia (harmonie) essa imbricao que governa tudo atravs de tudo.
264
Embora com o Cristianismo, a divindade assuma decisivamente os caracteres gregos da noo
de fundamento, quando as idias platnicas passam a ser os arqutipos na mente de Deus, parece
claro que o vis histrico da filosofia platnica, assim como seus possveis desdobramentos,
mantm-se a em retraimento. Pois, enquanto o pensamento cristo foi fiel ao carter extramundano de sua origem, ele enfatizou os aspectos escatolgicos da filosofia de Plato, em
detrimento de seus aspectos histricos. Somente com o advento da era moderna, a identificao
entre fundamento e divindade mostrar a sua verdadeira destinao: a morte da divindade e a
noo de fundamento valor, na linguagem de Nietzsche posta a servio da manuteno e
incremento da vida.
265
266
Com estas palavras encerra Scrates o seu elogio a eros no Banquete (cf. 212 b).
A referncia aqui ao famoso 50: No dando ouvidos a mim, mas ao logos, ento sbio
concordar: tudo um.(ouk emou, alla tou logou akousantas, homologein sophon estin en panta
einai).
184
A philia do filsofo tem, em Herclito, o elemento de reciprocidade que
caracteriza a amizade e, assim, ela tambm deve ser pensada como philia do
sophon pelo filsofo, onde aquele agente e este paciente.267 Como lao
originrio, a philia no somente d o seu ser ao filsofo, mas tambm o
concede ao sophon: este aquilo que precisa, para ser, dessa homologia, desse
dizer do filsofo. Em outras palavras, o sophon no nada em si mesmo; ele ,
na medida em que o homem o diz numa incessante repetio que o retoma e
aprofunda.268
Na conferncia a que nos referimos, Heidegger afirma que Plato
precisou afastar o sophon do convvio do filsofo, para salv-lo da tagarelice
sofstica que tudo banaliza.269 Esse afastamento se concretiza na substituio
da philia, aquele acordo ou harmonia entre o filsofo e o sophon, pelo eros:
um aspirar orksis, nos diz Heidegger270 do filsofo ao sophon. Nessa
mudana, o demorar-se pensante numa nica questo inexaurvel que a
267
Na semntica do termo amizade guarda-se a dimenso da reciprocidade: no faz sentido dizer
eu sou seu amigo e receber por resposta voc pode ser meu amigo, mas eu no sou amigo seu.
Diante de um dilogo semelhante, qualquer um afirmaria que entre essas duas pessoas no h
amizade. A mesma coisa no acontece com a semntica do termo desejo: ela comporta a
possibilidade de ouvir do outro voc me deseja, mas eu no te desejo.
268
Neste contexto, repetir no quer dizer o obsessivo voltar ao mesmo, a que estamos to
acostumados. Gostaria aqui de me referir ao thauma (espanto, admirao) de que Plato nos fala
na famosa passagem do Teeteto (155d) e que, segundo ali se afirma, arkhe da filosofia, aquilo
que, imperando nela, a governa. Esse espanto como costumeiramente traduzimos o termo
thauma, se pensado pre-metafisicamente, no pode ser suscitado por nada de entitativo,
diferentemente da interpretao que Aristteles nos d do mesmo no primeiro livro da sua
Metaf[isica (cf. A-2), onde os exemplos citados como despertando-o so o autmato ou o
problema da incomensurabilidade da diagonal do quadrado. A interpretao aristotlica do
thauma acabar por igualar a motivao do pensamento motivao do conhecimento dos entes,
identificando-a com o estado de perplexidade (aporia), suscitado pela ignorncia. O sophon de
Herclito, isto , aquilo que desperta a philia do filsofo, no um problema que precisa ser
desvendado e solucionado; antes, trata-se de algo que maravilha e em cuja proximidade o filsofo
quer demorar-se. O corresponder a esse maravilhamento no implica na sua supresso, mas no seu
aprofundamento. Pensar agradecer, nos diz Heidegger, e uma tal palavra elucida a relao
prpria em que coonsiste a philia o ressoar armnico que, ecoando a questo que se enderea ao
pensamento, a clareia, potencializando-a e aprofundando-a, fazendo dela algo ainda mais digno de
interrogao e maravilhamento.
269
Vimos, na seo que antecede, no com referncia a Herclito, e sim ao Poema de Parmnides,
como a sofstica embaraa o filsofo, emaranhando-o em seus arrazoados, e obrigando-o a uma
radical reformulao do pensamento presente em Parmnides.
270
O termo orksis, at onde eu saiba, no aparece em Plato, e sim em Aristteles. Como vimos,
o termo usado por Plato epithymia: apetite e, num sentido largo, desejo.
185
homologia evoca substitudo pelo amor sabedoria. Assim, pode perceberse que a narrativa da passagem da philia ao eros , num sentido eminente, a
narrativa da origem de Ocidente.
186
5
Do Declnio da Ousia Essncia da Tecnologia
5.1
A Filosofia Moderna como
Preparao da Essncia da Tecnologia
Na carta Sobre o Humanismo, Heidegger, falando acerca do
fracasso do pensamento experimentado em Ser e Tempo, afirma:
Se compreende-se o projeto nomeado em Ser e Tempo como um
pr que representa, ento se o toma como a produo da subjetividade
e no se pensa como a compreenso do ser, no mbito da analtica
existencial do ser no mundo, unicamente pode ser pensada, a saber,
como a relao ec-sttica com a clareira do ser. A tarefa de repetir e
acompanhar, de maneira adequada e suficiente, este outro pensar que
abandona a subjetividade foi sem dvida dificultada271 pelo fato de, na
publicao de Ser e Tempo, eu haver retido a Terceira Seo da
Primeira Parte, Tempo e Ser (vide Ser e Tempo, p. 39). Aqui o todo
se inverte. A seo problemtica foi retida porque o dizer suficiente
desta viravolta fracassou e no teve sucesso com o auxlio da
linguagem da Metafsica. 1
Nesta citao somos advertidos para um possvel extravio na
compreenso do pensamento presente em Ser e Tempo: a afirmao ali feita, de
que o sentido do ser uma projeo do Dasein, no pode ser compreendida como
se este projetar fosse uma atividade que pe representaes, no caso a
representao do que se entende por ser. Tal projeto no de modo algum, nos
diz ele, uma produo da subjetividade. Partimos desta citao para
introduzirmos este apndice acerca da relao entre ser e pensar na filosofia
moderna e de como ela prepara a essncia da tcnica contempornea, o Gestell.
271
Heidegger, M., Carta sobre o Humanismo in Heidegger, Col. Os Pensadores, p. 156. A
referncia a Ser e Tempo certamente corresponde ao pargrafo 8 da obra, onde nos informado o
plano geral da mesma e sua incompletude.
187
O que quer dizer compreender o projeto nomeado em Ser e Tempo
como um pr que representa ou, o que significa a mesma coisa, como produo
da subjetividade?
Produo da subjetividade fala-se e, para compreender o que aqui
est em questo, deve-se atentar para esta expresso. Como primeira indicao
gostaria de apontar dois modos bsicos de ouvi-la: no primeiro, a subjetividade
que produz o objeto, isto , o pe para a representao, o re-apresenta atravs de
uma atividade que lhe prpria: o representar; no segundo, a nfase recai no
termo produo um trazer (ducere) que avana (pro) e pe sujeito e objeto:
aqui a subjetividade e sua relao necessria com o objeto resultam da produo.
Assim, no primeiro caso, a produo entendida como atributo da
subjetividade; no segundo ela anterior subjetividade e esta deriva daquela.
Estas duas possibilidades de compreender a expresso no encerram
simplesmente um problema semntico; assinalam, como veremos, para o
movimento, at pouco tempo secreto, da filosofia moderna.
A primeira destas possibilidades conceber a subjetividade como
substncia/substrato (ousia/hypokeimenon) que como fundamento representa j
est fortemente indicada na filosofia de Descartes, embora nele ainda
permaneam, no combate que trava com a tradio que lhe precede, elementos
importantes herdados desta. Poder-se-ia dizer que o primeiro embate da metafsica
moderna com a metafsica clssica se deu sob a forma de um deslocamento do
fundamento: se este era antes encontrado num ente supremo do agathon da
Repblica de Plato ao Deus cristo, de agora em mais ser fincado na prpria
subjetividade como subjetividade transcendental. Este primeiro embate ,
certamente, inaugurado por Descartes, mas nele a presena da linguagem herdada
da Escolstica e isto quer dizer, a presena do seu modo de pensar no
permite ainda os seus plenos desdobramentos. Kant, com a negao da
possibilidade de toda prova da existncia de Deus, quem consumar esse
deslocamento.
Entretanto, mesmo em Kant, na medida em que esta subjetividade
transcendental concebida como carregando estruturas a priori universais e
188
necessrias sobre as quais a reflexo se debrua na sua tarefa crtica de
fundamentao, isto , estruturas dadas (embora que de modo no-emprico),
ela, como subjetividade transcendental que fundamenta, ainda presta tributo
metafsica da substncia.272 Pois, a premissa bsica deste primeiro projeto da
filosofia moderna a afirmao da possibilidade de um acesso transparente da
subjetividade sua constituio interna enquanto fundamento, acesso garantido
pelo fato de que essa constituio lhe prpria.273
A segunda possibilidade a de conceber a produo como
fundamento est de fato contida na filosofia de Descartes, mas de modo ainda
bem mais incipiente.274 No meu modo de entender, ela ser decisivamente
levantada por Kant na sua Terceira Crtica, com a afirmao de que os juzos
reflexionantes puros os juzos estticos so, em razo do livre jogo das
faculdades que lhe prprio, juzos mais originrios que os juzos determinantes.
A razo concebida como exerccio reflexionante prenuncia, como adiante ser
indicado , a vontade de poder nietzscheana,275 onde j est claramente assumido
que ela, enquanto vontade, no um atributo da subjetividade, mas dela se
apropria.
272
No mesmo sentido, o dbito para com a metafsica da substncia est presente ainda de modo
mais claro em Descartes, onde a razo, como luz natural, vem equipada com idias inatas.
273
Para corroborar isto, basta atentarmos para o ttulo que Descartes d sua
Segunda Meditao, a saber Da Natureza do Esprito Humano; e de como Ele
mais Fcil de Conhecer do que o Corpo, ou para o axioma da filosofia crtica
de Kant que reza: a razo s pode conhecer a priori o que ela mesma pe nos
objetos.
274
Por exemplo, quando Descartes pergunta, na Segunda Meditao: existo,
mas por quanto tempo? Pelo tempo que penso... (o sublinhado meu). Neste
momento indicada a anterioridade da atividade de representar em relao a
quem representa e ao representado. Com o sublinhado quero chamar a ateno
para a imbricao que Descartes adivinha entre o tempo e a existncia do eu.
Que tempo este que Descartes antecipadamente nomeia, embora no explicite?
275
Como j foi indicado, a vontade de poder nomeada por Heidegger, de uma forma que
considero muito feliz, de vontade de vontade, um querer querer.
189
5.2
Descartes e o Deslocamento do Fundamento:
do Declnio do Ente Supremo
Irrupo da Subjetividade
Conhecemos a famosa frmula cartesiana cogito, ergo sum frmula
que costumamos traduzir por penso, logo existo e que funda a filosofia
moderna, a filosofia da subjetividade.
Descartes inteiramente consciente da singularidade desta proposio
e de que o ergo nela implicado no tem o sentido de uma inferncia ou deduo.
No se trata, pois, de um silogismo onde a partir de uma premissa maior
tudo o que pensa e de uma menor eu penso, infere-se logo, eu sou.
Ao contrrio, entre o cogito e o sum, se nos ensina, deve ser pensada uma relao
imediata. A clareza e distino que se apresentam nela desempenharo, para
Descartes, um papel paradigmtico. Mas, perguntamos: esta relao
paradigmtica, uma relao absolutamente singular, possuindo, por isso, uma
certeza de natureza diversa daquela das idias claras e distintas, de cuja
realidade garantia Deus? Ou, pelo contrrio, recebe da existncia e veracidade
divinas tambm ela a sua legitimao?
Para compreender o que aqui est em questo, vejamos muito
rapidamente a ordem da exposio realizada por Descartes nas suas Meditaes
Concernentes Primeira Filosofia at formular a famosa proposio penso, logo
eu sou.
Descartes inicia a Primeira Meditao declarando ter chegado o
momento de encarar uma tarefa que at ali teria sido sucessivas vezes protelada:
submeter a exame as opinies recebidas com o intuito de estabelecer sua verdade,
uma vez que desde cedo constatara ter recebido muitas falsas opinies como
verdadeiras e que, consequentemente, aquilo que fundara em princpios to mal
assegurados no podia ser seno duvidoso e incerto. A dvida metdica ser a
ferramenta para testar esses princpios; ela consiste em no dar crdito s coisas
que no so inteiramente certas e indubitveis, pois no caso de encontrar o menor
190
motivo de dvida nelas, as mesmas devero ser rejeitadas.276 Os tais princpios a
que Descartes se refere so as fontes de conhecimento s quais atribui as
representaes, a saber: de um lado, os sentidos e a imaginao em ltima
instncia tambm tributria dos sentidos, de outro, a razo nomeada por
ele de luz natural.277
neste momento que comea um procedimento de gradativa
generalizao da dvida. Este procedimento parte da dvida das representaes
sensveis pouco ntidas aquelas a que as acompanha uma sensao fraca e
que, pela experincia, reconhece-se ser as que mais freqentemente induzem a
erro, estende-se a todas as representaes sensveis via argumento do sonho,278
alcanando por ltimo, atravs da hiptese do deus enganador, a dvida das
representaes simples aquelas que mesmo em sonhos se concebe clara e
distintamente,
consumando,
assim,
mencionada
generalizao
ou
universalizao da dvida. Este ltimo passo concerne representaes s quais no
claro que corresponda algo na natureza; antes parecem ser verdades com as
quais a razo vem equipada, verdades que julgamos serem tais pelo fato de virem
acompanhadas de uma evidncia que nos compele a assentir imediatamente
quando se as julga. Acerca destas verdades, a experincia sensvel mesmo o
poder da imaginao no sonho no nos d razes para duvidar, pois jamais so
por ela contestadas. A extenso da dvida s mesmas exige, portanto, o apelo a
uma fora extra-sensvel metafsica, no sentido usual do termo, o j citado
deus enganador. A hiptese aventada a seguinte: se em lugar de eu ter sido
criado por um deus bondoso, como acredito, tivesse sido criado por um gnio
maligno, no menos ardiloso e enganador do que poderoso, gnio que teria
276
Idem, ibidem, I-2, p. 118.
277
Estas ltimas sendo coisas certas e indubitveis, muito simples e muito gerais como as que
tratam <...>a Aritmtica, a Geometria e as outras cincias desta natureza, <...> sem cuidarem
muito em se elas existem ou no na natureza, op. cit., I-8, p. 120.
278
Grosso modo, o argumento do sonho consiste em desqualificar como imaginrios (no
existentes) os correlatos das representaes sensveis em sua totalidade, mesmo no caso daquelas
que vm acompanhadas de uma sensao intensamente vvida: uma vez que sonhando, muitas
vezes, tenho experimentado o sonhado como real pelo fato de experimentar no sonho sensao
idntica que experimentaria, caso a ocorrncia fosse real o critrio que diferencia
representaes que me afetam com uma sensao fraca de representaes que me afetam com
uma sensao intensa no me autoriza a conceder verdade a estas ltimas, isto , a conceder,
fora de toda dvida, existncia s coisas por elas representadas.
191
empregado toda a sua indstria em enganar-me,279 ento seria possvel que essa
evidncia que acompanha as verdades simples fosse um ardil para surpreender
minha credulidade, fazendo com que apressadamente eu conceda minha
aquiescncia a elas, induzido pelo fato por ele tambm propositadamente
posto em mim de que nenhuma outra representao possui tal clareza e
distino.
Chega-se assim ao momento da mxima dvida, dvida radical ou
hiperblica: a adequao das representaes sensveis ao real e, no extremo, a
prpria noo de que h algo externo a mim que eu represento na minha mente
adequada ou inadequadamente, tudo isto est posto em dvida; mas tambm as
prprias operaes claras e distintas da razo ficam suspensas na sua verdade,
uma vez que posso cogitar ter sido criado por esse gnio maligno que se
comprazeria sistematicamente em enganar-me. aqui que se alcana a certeza do
cogito ergo sum, certeza absolutamente indubitvel, toda vez que se a concebe no
pensamento. Diz Descartes:
Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que no havia
nenhum cu, nenhuma terra, espritos alguns, nem corpos alguns; no
me persuadi tambm, portanto, de que eu no existia? Certamente no,
eu existia sem dvida, se que eu me persuadi, ou, apenas, pensei
alguma coisa. <...> cumpre enfim concluir e ter por constante que esta
proposio, eu sou, necessariamente verdadeira, todas as vezes que a
enuncio ou que a concebo em meu esprito.280
Quando nos referimos a Plato como sendo o primeiro arranjo
metafsico, falamos de uma estrutura triangular onde a adequao entre ser e
pensar era garantida pela postulao de um terceiro termo: um ente supremo o
Bem. Neste modo de compreenso, o que em sua forma mais eminente o
mundo inteligvel compreendido como composto por entes reais em si
mesmos, kathauta, que se mostram tais quais eles so o que Plato chama de
alethestata, verdadeiros no mximo grau; do outro lado, o pensar na sua forma
superior entendido como a impresso (pathematon) perfeita dessas entidades
279
Idem, ibidem, I-12, pp. 122-123.
280
Descartes, R., op. cit., II-4, pp. 125-126.
192
inteligveis na alma. Como vimos, quem garante a absoluta consistncia e o
aparecer adequado das idias (adequado, aqui, no sentido de ser coincidente com
o seu ser), assim como a perfeita capacidade da alma para receber esse aparecer,
o Bem, esse terceiro termo a que acabo de referir-me. ele que pe em acordo os
dois vrtices da base do tringulo, permitindo que a alma apreenda as idias.
Entretanto, para a compreenso que motivar essa profunda revoluo
que a metafsica moderna, sem a presena deste lao que o ente supremo, um
abismo intransponvel instala-se entre o pensar e o ser (aquilo que ),
permanecendo o primeiro exilado do segundo, sem jamais poder estar certo da
existncia de ente algum. E, uma vez que este ente supremo, enquanto existente
assim como sua capacidade de pr-em-acordo ser e pensar, no mais do
que uma petio de princpio, a possibilidade do conhecimento entendida
como a adequao entre a representao do real e o prprio real parece estar
sempre ameaada.281 O que o cogito cartesiano pela primeira vez afirma que no
prprio cogitare (a atividade de representar) esse abismo transposto sem a
necessidade daquele terceiro termo que Deus: a existncia do ente que eu sou,
enquanto res cogitans coisa que pensa, imediatamente assegurada a mim no
ato de representar, e em relao evidncia de tal existncia, sequer um deus pode
me enganar.
O procedimento de alargamento da dvida, que culmina com a conquista da
certeza apodtica do cogito, representa um tipo de procedimento desconstrutivo
que ser revertido a partir da Terceira Meditao com a prova da existncia,
veracidade e bondade divinas. De fato, do ponto de vista cartesiano que, como foi
281
Com esta afirmao no estou querendo dizer que a existncia de Deus, para Descartes, tenha o
carter de uma petio de princpio. Sabemos que Descartes afirma inmeras vezes sua crena
incondicional na revelao e na graa divinas, a dvida sendo simplesmente exercida em relao
razo e sua luz natural, isto , a razo sem considerar o concurso ativo de Deus. Entretanto, e
apesar disto que tambm vale para a maioria dos pensadores modernos que no so, de modo
algum, ateus--o esprito que impulsiona a refundao moderna da metafsica est desde o comeo
inoculado pela suspeita da arbitrariedade na postulao da existncia de Deus como fundamento.
As razes disto, como bem observa Hannah Arendt, no residem num sbito eclipse da crena na
transcendncia, mas antes na prpria suspeita da falibilidade do modelo clssico o modelo de um
aparecer fiel ao ser e de uma alma equipada com capacidades receptivas adequadas. Uma vez que,
para o Cristianismo, a revelao a chave mestre do despertar da f humana em deus, a prpria
noo de revelao que acabar por ser abalada por tal suspeita, acarretando, mais cedo ou mais
tarde, a dvida na existncia de Deus.
193
dito acima, ainda est preso metafsica clssica, embora a certeza da proposio
eu penso, logo eu existo oferea garantias totais de indubitabilidade toda vez
que a penso, a extenso do que ela afirma como existente quase pontual: fora o
eu pensante e suas cogitaes, nada h no mundo que possa ser afirmado como
existente, nem mesmo permitida a afirmao de que h um mundo externo, e,
como vimos, tambm as operaes lgico-matemticas desse eu pensante esto
sujeitas suspeio, em virtude da hiptese do deus enganador.282 Ver-se- que
sequer a existncia do eu como substncia que permanece garantida pelo cogito,
pois o que asseguraria que o eu que hoje pensa, seja o mesmo que o eu que
pensar amanh? Dito em outras palavras, o mximo que o cogito conquista a
existncia do eu enquanto pensa, mas este eu est imerso num estado de
ensimesmamento ou, como tecnicamente costuma-se chamar, no solipsismo. Se a
certeza da existncia pontual do eu, num tal estado, fosse o que espera Descartes
no fim do procedimento de dvida, nada seria, aos seus olhos, que so em grande
medida os da metafsica tradicional, mais desesperador. No outra coisa o que
assombra Descartes na passagem da primeira para a segunda jornada de
meditao, quando diz:
Mas esse desgnio rduo e trabalhoso <o desgnio de no tomar por
verdadeiro seno o totalmente indubitvel> e certa preguia arrastame insensivelmente para o ritmo de minha vida ordinria. E, assim
como um escravo que gozava de uma liberdade imaginria quando
comea a suspeitar de que sua liberdade apenas um sonho, teme ser
despertado e conspira com essas iluses agradveis para ser mais
longamente enganado, assim eu reincido insensivelmente por mim
mesmo em minhas antigas opinies e evito despertar dessa sonolncia,
de medo de que as viglias laboriosas que se sucederiam
tranqilidade de tal repouso, em vez de me propiciarem alguma luz ou
alguma clareza no conhecimento da verdade, no fossem suficientes
282
E, segundo meu entender, h mais: a certeza absoluta que acompanha o cogito vigora to
somente enquanto estou pensando, se deixo de faz-lo ela imediatamente perdida, o que significa
que quando volto a pensar, nada garante que haja uma unidade entre o eu que pensara antes e o eu
que agora est pensando. Em outras palavras, nada assegura que esse eu que agora est pensando,
e se sabe imediatamente existente, venha a renascer o mesmo, depois dele ter cado na morte
da ausncia de atividade introspectiva ou, dito em termos mais tcnicos, nada garante que ele seja
de fato uma substncia, uma res, um ente cuja essncia permanece, garantindo a sua identidade. O
problema no a perda da certeza quando paro de pensar, pois este estado o estado de no estar
engajado na atividade de representar , para todos os efeitos, como se o esprito deixasse de ser,
e isto quer dizer, ele nada pensa, nem se h mundo ou no, nem se h eu ou no. O problema,
parece-me, consiste no direito que se tem em afirmar a unidade do eu como substncia.
194
para esclarecer as trevas das dificuldades que acabam de ser
agitadas.283
Com a expresso olhos da metafsica tradicional estou querendo
indicar a aceitao dos axiomas bsicos da mesma, a saber: a compreenso do real
como sendo em-si-mesmo e a compreenso do conhecimento como
representao adequada desse real. Como acabamos de apontar, ambos os
axiomas repousam na afirmao da existncia de um ente supremo que deve
garantir a determinao do real e a possibilidade de adequao do pensamento a
esse real determinado. De fato, a certeza do cogito nada garante a este respeito e,
considerada historialmente, significa antes a inaugurao do declnio desses
axiomas.
Como sabemos, na Terceira Meditao, Descartes provar a
existncia e a bondade divinas, assim como o fato de sermos criaturas de Deus. O
argumento de que se serve para tal , no essencial, recebido da metafsica
tradicional, remontando em ltima instncia mxima aristotlica que afirma que
aquilo que possui menor quantidade de substncia no pode produzir aquilo que
possui maior quantidade. Costuma-se apelidar este argumento de argumento via
causalidade e ele se serve das idias de infinito e de bondade absoluta, que a res
cogitans carrega consigo, para chegar afirmao da existncia de um deus
criador dessa coisa que pensa que eu sou, deus infinito e absolutamente
bondoso.284 Uma vez provada a existncia de Deus e daqueles atributos a sua
283
284
Descartes, R., op. cit., I-13, p. 123 (o grifo meu).
Resumidamente, a prova da existncia e bondade divinas consiste no seguinte: dentre as
cogitaes que a coisa pensante pode entreter estamos no incio da Terceira Meditao,
momento em que, como foi acima indicado, somente conhecida com absoluta certeza a
existncia do eu e de seus pensamentos, enquanto o eu os pensa h uma de carter
absolutamente singular: a idia de um deus infinito e bondoso. De outro lado, eu me sei uma
substncia finita e em pecado, o que quer dizer, uma substncia possuidora dos predicados de
infinitude e bondade somente de modo deficiente. Uma vez que o que tem menor grau de
substncia no pode causar aquilo que possui maior grau no caso, os predicados de infinitude e
bondade se eu detenho as idias de infinitude e bondade absoluta, elas no podem ser
produzidas por mim mesmo, pois careo de substncia para tal. De onde se depreende que essas
idias e, em ltima instncia, a idia de Deus-- so adventcias: algo externo a mim, capaz de
produzir essas noes --por possuir o grau de realidade representado no contedo dessas idias
as ps em mim. Da se deduz que esse ente deve existir com os predicados a ele associados, para
ter podido caus-las em mim. Logo, Deus existe com os predicados superlativos com que o penso.
195
veracidade e bondade, Descartes conclui que um tal Deus no poderia deixar
que ele se enganasse sempre; portanto, aquelas verdades das quais ele duvidara,
sob a hiptese de ter sido criado por um deus enganador, merecem agora a sua
confiante aquiescncia. Os passos que se seguem na ordem da argumentao,285
acabaro por legitimar o famoso dualismo metafsico de Descartes: de um lado, a
existncia de um real-em-si-mesmo, constitudo de substncias primeiras
aquelas que so aptas a serem descritas pela linguagem algbrica e que constituem
o que Descartes nomeia de res extensa; de outro, uma substncia pensante, no
extensa, dotada de um poder espiritual, o poder do clculo algbrico, apto para a
descrio adequada desse real. O que outrora, na metafsica clssica, chamava-se
de mundo visvel ou sensvel no mais possui realidade independente ou fora
da res cogitans, tendo nela o seu aparecer e constituindo, portanto, algo
meramente pensado. Este pensamento se origina no encontro daquelas
substncias primeiras e em-si-mesmas a res extensa com essa substncia
toda especial que no possui carter extenso a res cogitans. Certamente, a
existncia dessas representaes pensada por Descartes em termos de
causalidade algum tipo de afeco da res extensa na res cogitans mas, para
ele, um tal modo de causao um segredo que Deus no revelou: trata-se do
mistrio da unidade entre corpo e alma.286 No que respeita ao conhecimento da res
285
286
No o caso de desenvolv-los aqui.
A saber, o mistrio do modo em que substncias que possuem realidade somente em termos
de quantidade --e que, enquanto representveis adequadamente, somente podem apresentar
diferenas pela mensurao algbrica--, transformam-se, na res cogitans, em qualidades sensveis.
Sabe-se que em Descartes, a responsvel por esta mgica seria a famosa glndula pineal, to
duramente ridicularizada pelas cincias neurolgicas contemporneas, antes de mais nada, pelo
fato de supor a existncia de uma alma afetada pela matria. O que mais curioso nessa crtica
que o materialismo dessas cincias e no sentido mais amplo, das cincias da cognio, y compris
as que procuram modelos artificiais de inteligncia para explicar o modo de funcionamento do
pensamento humano--, tenham, durante tanto tempo, alimentado a esperana de flagrar o
mecanismo cerebral que converte quantidade em qualidade: essa rara habilidade que possuiria a
massa enceflica, massa a rigor desprovida de qualquer qualidade sensvel como tudo o que, nos
termos cartesianos, faz parte da res extensa de nos devolver esse mundo riqussimo em
diversidade de formas, cores, sons, aromas, etc. No se trata aqui de fazer, contra o materialismo
cru, uma defesa da existncia da alma; antes, o que est em questo a constatao da ausncia de
pensamento que impera nessas cincias quando, com o dedo em riste e investidas de um suposto
desassombro, no percebem que uma tal empresa impossvel nos prprios termos em que
colocada. Pois, como Heidegger ensina, o mundo experimentado como qualidades dadas que nos
afetam (e seu correlato no pensar: o salvar das aparncias) e o mundo experimentado como
estoque, em ltima instncia, informe, capaz de ser infinitamente reinformado (e seu correlato
no pensar: o clculo que antecipa e dispe com vistas ao sucesso); essas duas experincias --ou
compreenses, porque aqui est-se alm da diviso entre sensvel e inteligvel-- no so redutveis
a um comum-denominador ou gnero superior, antes, elas constituem modos de desvelamento
excludentes.
196
extensa o mundo tal qual em-si-mesmo, aquilo que independente de
ns o que Descartes inaugura o que deu em chamar-se paralelismo: a res
cogitans vem equipada com idias inatas e operaes de inferncia legitimadas
pela bondade divina, pois foram
postas nela por Deus, de antemo, em
concordncia com o real. De agora em diante, no ser mais necessria, para a
consumao do conhecimento, a afeco do real na mente humana; bastar
fazermos, s que do modo mais literal, aquilo que Plato no seu Mnon ensinara:
procurar em ns mesmos o que desde sempre ali estivera. A clareza e distino,
experimentadas na introspeco, que acompanham tais idias e operaes ser o
sinal suficiente para lhes concedermos confiana.
Perguntei acima se a clareza e a distino que se apresentam na
proposio penso, logo eu sou so de carter singular e paradigmtico ou, se
pelo contrrio, recebem da existncia e veracidade divinas a sua legitimao.
Estamos agora, com a rpida exposio que acabamos de realizar, em condies
de responder esta pergunta.
A prpria ordem das razes presente nas Meditaes nos mostra que o
cogito, assim como a certeza e distino que o acompanham, independente da
prova da existncia e veracidade divinas, somente conquistadas na Terceira
Meditao. Mas, quais sero as conseqncias historiais desta precedncia?
Como assinalamos, o carter apodtico da proposio penso, logo sou inaugura
o declnio da crena na necessidade de postulao de um ente supremo para que o
pensamento possa sair de si mesmo e conquistar alguma certeza: ele garante de
modo imediato o salto do representar para o ser no que diz respeito prpria
existncia do eu pensante e de suas cogitaes. Como vimos, embora Descartes
ainda experimente a necessidade de garantir a existncia de um real em-simesmo e de capacidades aptas para a representao adequada desse real (e, por
isso mesmo, a necessidade de provar a existncia e a bondade divinas), j est ali
presente a idia de que na atividade introspectiva os pensamentos que o eu
entretm so transparentes a ele. Uma tal crena acabar por tornar dispensveis
197
simultaneamente as noes de real-em-si-mesmo e de ente supremo como
fundamento, dispensa que aparece explicitamente formulada na filosofia de Kant.
5.3
Kant, o Destruidor da Metafsica:
da Subjetividade Transcendental
Atividade Reflexionante como Fundamento
No Prefcio da sua Crtica da Razo Pura, Kant afirma que a
metafsica, diferentemente de outros conhecimentos como a lgica, a matemtica
e a fsica, conhecimentos estes que teriam encontrado o caminho seguro da
cincia, um tipo de saber onde a razo tem experimentado impasses
aparentemente insolveis, permanecendo seu procedimento um mero tatear e, o
que pior, um tatear entre meros conceitos. Isto muito mais surpreendente,
sempre acompanhando o prprio Kant, pelo fato deste saber ser bem mais antigo
do que aqueles, fato que em princpio deveria apresentar vantagens, coisa que no
ocorre.
O que aqui designa para Kant a expresso metafsica? Trata-se de
um saber que aspira a conhecer entidades que possuem o carter de fundamento e
que so, por isso, incondicionadas: Deus, o mundo como totalidade dos
fenmenos e a alma como imortal. Tal metafsica concebe sua tarefa como
emancipada de toda sensibilidade, em razo de que essas entidades que ela
pretende conhecer no se apresentam aos sentidos; por isso, ela espera conheclas exclusivamente atravs de conceitos. Entretanto, nos diz Kant, a metafsica,
essa
atividade
meramente
conceitual,
apenas
conseguiu
tatear,
no
encontrando o caminho seguro da cincia. Pela expresso caminho seguro da
cincia Kant entende a formulao de um mtodo que permita a Razo proceder
com rigor no seu exerccio.
198
Segundo este diagnstico, para responder pergunta de como
possvel um conhecimento racional, um conhecimento que seja necessrio e
universal,287 a metafsica por ele herdada est inteiramente desarmada, no tendo
conseguido resposta satisfatria alguma. Quais so as razes pelas quais Kant
acusa a metafsica de no ter produzido cincia como o fizeram a lgica,288 as
matemticas289 ou a fsica moderna inaugurada por Galileu290? A resposta para
esta pergunta Kant a encontra numa reformulao do que se entende por
conhecimento, reformulao necessria para escapar dos impasses que a
metafsica at a teria experimentado, impasses responsveis pelo seu insucesso.
Com toda a tradio que lhe precede, Kant partilha a opinio de que
qualquer conhecimento humano possui um elemento receptivo: uma vez que o
homem, diferentemente do que pensamos para Deus, no cria aquilo que para
ser conhecido, necessrio que isso que para ser conhecido seja dado, isto ,
necessrio que a razo seja afetada por algo que no ela mesma. Kant fala,
utilizando a linguagem da escolstica, de um intuitus originarius a intuio
287
Em Kant, as duas noes que constituem o sentido de a priori so a de universalidade e a de
necessidade. A primeira a herana da generalidade mxima presente na pergunta grega pelo ser
enquanto ser (on he on) que indica na direo daquilo que, perpassando tudo, est sempre
presente (hypokeimenon, sub-stncia). A segunda a herdeira da remisso ao fundamento ltimo,
aquele que tudo fundamenta e que, por sua vez, causa sui: se a remisso clssica levava a Deus,
a remisso kantiana levar ao sujeito transcendental como fundamento dos conhecimentos
necessrios e universais.
288
Para Kant, a lgica seguiu desde os tempos mais remotos esse caminho seguro e prova disto
o fato de no ter podido desde Aristteles dar um passo atrs, desde que no se considere
melhorias a supresso de algumas sutilezas dispensveis ou a determinao mais clara do exposto,
coisas pertencentes mais elegncia do que segurana da cincia. (Cf. Kant, I., Crtica da
Razo Pura, Prefcio, VIII, trad. de Valrio Rohden e Udo Baldur Moosburger, 2a. ed., Abril
Cultural, So Paulo, 1983).
289
No caso das matemticas, para Kant, a conquista de um mtodo foi mais demorada em razo de
que, diferentemente da Lgica, aqui a razo, no se ocupa consigo mesma, no sentido de
simplesmente estudar as regras do bom funcionamento do raciocnio. Houve algum, Tales ou
quem quer que seja, que teve o lampejo que permitiu compreender que no se tratava de rastrear o
que via na figura ou no simples conceito da mesma, para atravs disso aprender suas propriedades,
mas, ao contrrio, conceber que o que devia ser feito era produzir (por construo) o que segundo
conceitos ele mesmo introduziu pensando e se <representando> a priori. (Cf. Idem., Prefcio,
XI-XII.)
290
Os pesquisadores da natureza conquistaram o seu mtodo quando deram-se conta que a razo
s compreende o que ela mesma produz segundo seu projeto, que ela teria que ir frente com
princpios dos seus juzos segundo leis constantes e obrigar a natureza a responder s suas
perguntas, mas sem se deixar conduzir por ela como se estivesse presa a um lao.... (Cf. idem,
ibidem, XIII.)
199
divina que criadora, pois para ela pensar algo e traz-lo existncia so um e o
mesmo ato e de um intuitus derivativus o nosso, que no criador e que,
quando conhece, se debrua sobre coisas j existentes. A expresso intuitus,
intuio, designa um tipo de conhecimento imediato, um conhecimento onde algo
que se apresenta apreendido. Para a razo finita a nossa, no a divina essa
intuio s pode ser receptiva e assume a forma do que os gregos chamavam de
pathos, uma afeco, uma impresso na alma. A tradio metafsica que Kant
criticar e chamar de dogmtica, entende que as representaes que a alma
entretm so todas da mesma espcie, a saber, da espcie dos pathemata, das
afeces.291
frequentemente afirmado que Kant o primeiro a distinguir no
conhecimento dois tipos de representao diferentes: o conceito e a intuio. At
ele, o racionalismo moderno, herdeiro neste aspecto da compreenso clssica,
estabelecia entre ambos uma diferena de grau de clareza na representao.292
Para o filsofo alemo, contrariamente, conceitos sem intuies so vazios,
intuies sem conceitos so cegas, inaugurando, assim, uma distino de gnero
entre estes dois tipos de representao. Intuies so, em Kant, representaes da
sensibilidade, isto , representaes espao-temporais particulares que apresentam
uma multiplicidade o mltiplo da intuio. Conceitos, por sua vez, so
representaes do entendimento a-temporais e a-espaciais de carter universal e
que, portanto, oferecem uma unidade quela multiplicidade da intuio. A razo
291
Novamente, o melhor exemplo que me ocorre para apresentar aquilo que Kant quer criticar --a
compreenso de toda representao como sendo da classe dos pathemata a Passagem da Linha
Dividida, presente no fim do L. VI de Repblica de Plato e que j analisamos. Como vimos,
segundo Plato impossvel haver cincia do visvel, nem do cosmo, nem da natureza, nem do
corpo humano, uma vez que este no possui o grau de ser e de verdade exigidos, isto , a
consistncia necessria para que da possa surgir um saber conclusivo; segundo Plato, pode haver
opinies mais bem fundadas ou menos bem fundadas, mas nunca conhecimento, episteme. As
capacidades da alma so chamadas de pathemata, isto afeces: os objetos afetam a alma,
imprimindo nela saberes --no sentido mais largo-- de natureza diversa. Somente os objetos
inteligveis, pelo fato deles serem eternos e imutveis, imprimem na alma um saber conclusivo,
episteme, cincia. As impresses dos outros tipos de entidade --as entidades visveis-- pela sua
prpria natureza --o fato de serem mutveis, em grande parte indeterminadas e carregadas de
dissimulao-- produzem opinies que mudam de alto a baixo, nos diz Plato.
292
Pensemos em Descartes, onde os conhecimentos provindos dos sentidos --por exemplo, tenho
duas mos-- so diferenciados dos conhecimentos matemticos por exemplo, 3+2=5 ou o
quadrado tem quatro lados--, apenas por seu grau de clareza e distino, isto , pela possibilidade
ou no de pensar a sua negao. Para Descartes trata-se de idias mais claras e distintas ou mais
confusas e indistintas, mas sempre de um mesmo gnero de representao.
200
humana, como razo finita que , possui estas faculdades: sensibilidade e
entendimento, a primeira sendo uma faculdade passiva mediante a qual objetos
nos so dados, afetando-nos, a segunda, uma faculdade ativa, atravs da qual
objetos so pensados. Com a frase citada acima conceitos sem intuies
so vazios, intuies sem conceitos so cegas Kant quer indicar que todo
conhecimento desta razo finita exige da presena de ambos os componentes; em
outras palavras, todo conhecimento requer um componente receptivo que afeta a
sensibilidade e um componente ativo ou espontneo fornecido pelo
entendimento que toma essa afeco e a subsume num conceito. Na ausncia de
qualquer um destes dois elementos no h conhecimento: havendo sensibilidade
sem entendimento, no h, em ltima instncia conscincia de si e
consequentemente
recorte,
diferenciao;
havendo
entendimento
sem
sensibilidade h um pensamento vazio, um pensamento que no pensa sobre nada
e, portanto, nada tem, para conduzir unidade.
Em Kant, esta composio entre intuio e conceito que produz o que
chamamos conhecimento no deve ser pensada como acrscimo ou
justaposio, mas como sntese. Nesta direo, aparece o par matria/forma como
modelo explicativo:293 a intuio a matria ou contedo determinvel que se
oferece a uma forma determinanteo conceito, sob o modo de uma sntese
uma subsuno de um particular sob um universal , produzindo como resultado
o conhecimento.
Com esta posio, a saber, a afirmao da existncia de poderes
receptivos e poderes ativos no esprito, Kant tomar uma distncia decisiva da
tradio metafsica clssica. Por que razo? Em Kant a receptividade ser sempre
sensvel, jamais intelectual. Isto quer dizer que fica interditada toda possibilidade,
para a razo humana, de conhecer intuitivamente universais, isto , de que as
essncias as idias de Plato, por exemplo sejam dadas ao intelecto. Uma
vez que a razo humana intui somente aquilo que dado sensibilidade, isto ,
ela somente afetada via sensibilidade (no havendo nada semelhante a um rgo
293
Kant chamar matria e forma de conceitos de reflexo e desempenharo um papel
fundamental na tarefa crtica. (Cf. Crtica da Razo Pura, Apndice Da anfibiologia dos
conceitos de reflexo atravs da confuso do uso emprico do entendimento com o uso
transcendental, B-322, p. 165).
201
que intui intelectualmente como, por exemplo, o nous em Plato), a pretenso
tradicional
de
alcanar
um
conhecimento
seguro,
emancipando-se
da
sensibilidade, deve ser definitivamente abandonada.
A
primeira
conseqncia
que
temos
desta
postulao
entendimento como um poder eminentemente ativo e a sensibilidade como nica
forma de receptividade que o que quer que possa ser pensado sem que,
entretanto, afete a razo sensivelmente ser pensvel, mas jamais cognoscvel ou,
dito de outra maneira, ser, para o conhecimento, vazio. Se todo conhecimento
exige intuies e conceitos, necessrio, para que o objeto seja cognoscvel, que
ele seja apresentvel na intuio, isto , que o objeto possa eventualmente vir a
nos
afetar
sensivelmente.
Assim,
as
entidades
transcendentes,
que
tradicionalmente foram definidas como os objetos da metafsica, so
definitivamente incognoscveis, pois o conceito que temos delas no possui
nenhum correlato na intuio, nem pode vir a possu-lo. Deus, o mundo como
totalidade dos fenmenos e a alma enquanto imortal, estas trs entidades que
dividiram a metafsica em seu trs ramos a teologia racional, a cosmologia
racional e a psicologia racional podem, sem dvida, ser pensadas mas no
podem ser conhecidas. Consequentemente, tal metafsica em seus trs ramos
no pode aspirar ao estatuto de conhecimento, isto , aspirar a constituir-se em
cincia.
Kant resume esta posio com uma imagem que eu acho muito feliz, a
famosa imagem da pomba.294 A metafsica, nos diz Kant, como uma pomba que,
ao voar, experimenta a resistncia do ar e acredita que, se no houvesse ar, voaria
melhor, muito mais livremente. Ela, assim como a pomba, no percebe que a
afeco da sensibilidade na analogia, a resistncia do ar que a pomba
experimenta e que sustenta o seu vo
condio
essencial
para o
conhecimento. Esta iluso a fonte do estado de coisas em que se encontra o
saber metafsico, a situao de no ter conseguido sair de um mero tatear entre
conceitos, pois ele persiste no engano de achar que o empecilho para conhecer as
294
Cf. Kant, I., Crtica da Razo Pura, Introduo, IX, em Kant (I), trad. Valrio Rohden e
Udo Baldur Moosburger, ed. Victor Civita, col. Os Pensadores, So Paulo, 1983.
202
entidades transcendentes reside no fato de no alcanar a emancipar-se
inteiramente da sensibilidade. Mas, significa isto que o empreendimento
metafsico, o empreendimento de aspirar a conhecer o fundamento de tudo o que
universal e necessrio, deve ser abandonado em razo de, nos termos em que foi
formulado, ser impossvel de realizar-se? A resposta de Kant a esta pergunta ser
negativa. No seu entender, trata-se de refundar a metafsica como cincia: a pedra
de toque para esta refundao consiste no que Kant chamou de revoluo
copernicana.
No mesmo prefcio da Crtica da Razo Pura, Kant prope seguir o
exemplo de Coprnico. Este, a partir de uma simples inverso de ponto de vista
em lugar de nos supormos espectadores fixos no centro do universo, considerar
que somos espectadores em movimento em torno do sol, teria solucionado
grande parte dos problemas astronmicos, facilitando infinitamente o clculo dos
movimentos celestes. Qui, nos diz Kant, se seguirmos esta indicao para os
problemas que enfrentamos no mbito da metafsica e tentarmos uma mudana de
ponto de vista, os impasses at agora experimentados possam se resolver.
Em que consiste, para Kant, esta mudana do ponto de vista na
metafsica? A metafsica at agora, diz ele, considerou que quem comanda no
conhecimento so os objetos, isto , que a razo um rgo passivo e que o
carter dos objetos que a afetam o responsvel pela natureza do conhecimento que
obtemos: se os objetos so eternos e imutveis, ento se obtm, ou melhor,
deveria obter-se, um conhecimento universal e necessrio; caso contrrio, se tratase de objetos sensveis, sujeitos toda sorte de mutabilidade, obtm-se
conhecimentos que podem ser contingentemente verdadeiros, mas que so
precrios nessa sua verdade.295
esta a compreenso, que em linhas gerais est presente em toda a
metafsica clssica na grega, mas tambm na crist, e que Kant pede para ser
abandonada em favor de uma metafsica que, como a cincia moderna fez, no
295
Vemos, aqui, novamente a crtica acima explicitada: o modelo com que a metafsica pensa o
conhecimento o modelo do pathos, da impresso ou afeco.
203
entende que a razo deva ir atrs da natureza como um co amarrado a um lao,
mas, ao contrrio, a senta no banco dos rus e a submete a um interrogatrio,
interrogatrio ao qual ela responder, assim como o fazem as testemunhas diante
do tribunal, com um lacnico sim ou no.
O que quer nos dizer Kant com estas duas metforas, a da revoluo
copernicana, e a do interrogatrio judicial? Com a primeira, que se ouse pensar
que a razo possa ter um papel no conhecimento diferente daquele
tradicionalmente concebido. Dito em outros termos, que se experimente pensar
que ela possa no ser simplesmente passiva em relao aos objetos que se lhe
apresentam, mas espontnea, possuindo um desempenho ativo. Assim, ela seria,
em relao ao conhecimento, fonte e no, simplesmente, receptculo.296 E se
for este o caso, pergunta Kant: no haver nos objetos esses que sempre
foram pensados como independentes da razo, isto , em si mesmos um
componente posto pela razo? O que experimentamos e que imediatamente nos
aparece os fenmenos, na linguagem de Kantno ser o resultado do
encontro entre algo que posto por ns, e algo que nos afeta?
E aqui chegamos ao ponto decisivo daquilo que fora nomeado como
revoluo copernicana e que permitir a mencionada refundao da metafsica:
a idia de que aquilo que a razo pe nos objetos, deve ser, para ela, cognoscvel
de modo independente de toda experincia, uma vez que ela quem o investe no
conhecimento de antemo, estando desde sempre presente nela e, portanto, sendo
aquilo que lhe h de mais prprio e de mais acessvel.
Com a imagem do interrogatrio judicial, Kant aprofunda este
movimento de pensamento. Se a razo , ao menos em parte, fonte de
conhecimento, perguntar-se-: estes conhecimentos, que ela produz de forma
independente de toda experincia, no jogaro um papel decisivo no resultado
296
Karl Popper cunhou uma expresso, que ficou emblemtica, para descrever a mudana de ponto
de vista que se operou na modernidade no que respeita compreenso do papel da razo no
conhecimento: o balde e o holofote. O balde representaria a idia da razo que, pelas sucessivas
afeces, vai se enchendo de conhecimentos, desempenhando, assim, um papel meramente
passivo: este corresponderia ao modelo da metafsica clssica. O holofote, representaria o
contrrio, isto , a razo iluminando a experincia; a luz que ela lana sobre a experincia seria
decisiva no resultado da mesma: esta imagem corresponderia ao modelo da metafsica moderna.
204
final, dispondo e organizando de acordo com eles o que a afeta o que vem de
fora dela, isto quer dizer, submetendo-o ordem que ela prpria pe?
Acompanhando os termos em que Kant fala, a pergunta assim expressa: no ser
a razo quem legisla sobre os fenmenos, dando-lhes a sua lei e obrigando-os a
aparecer como eles nos aparecem? Guiados pela metfora do tribunal, o que se
afirma : da mesma forma que se pede ao ru que simplesmente responda s
questes que a promotoria lhe enderea e no o contrrio, isto , que conte sua
verso da estria, assim, os fenmenos respondem nos aparecendo de tal ou
qual modo, sempre dentro de um mesmo quadro, quadro que no prprio deles,
mas projetado pela razo.297
Aquilo que prprio da razo o que ela pe nos fenmenos de
modo necessrio e universal constituindo-os, nos diz o filsofo. Por ser
independente de toda experincia, ele o chama de a priori. De outro lado, quilo
que no projetado pela razo, mas a afeta via experincia e isto quer dizer,
que contrariamente universalidade e necessidade do que ela investe, particular
e contingente, sendo o outro da razo, Kant chamar de a posteriori. A
relao entre estes dois componentes do conhecimento, entre aquilo que a priori
e aquilo a posteriori, tampouco deve ser pensada como acrscimo ou
justaposio; novamente, o par de conceitos de que Kant se serve para pensar esta
relao o par matria/forma, sob o modo de uma sntese. O que a razo investe
no fenmeno, de modo universal e necessrio, a forma do fenmeno; de outro
lado, aquilo que no da razo, mas a afeta atravs da sensibilidade, a matria
do mesmo. Isto que a afeta somente experimentado por ela quando submetido
forma que a razo lhe impe; sendo assim, jamais temos um acesso em estado
puro, incontaminado, ao que ns no somos: toda experincia j constituda
por estes conhecimentos projetados pela razo. Ao outro da razo, quilo que
a afeta e que responsvel pela matria dos fenmenos, Kant chama de coisa-
297
Ou, se se quer, a Razo deve compreender-se a si mesma como sendo semelhante ao cientista
que se dirige ao laboratrio armado de um sistema bem coerente de questes a partir das quais se
concebe o experimento; este obriga a natureza a responder dentro dessa grade de questes a ela
endereadas. A cincia moderna no mais observa a natureza, ela a pe no banco dos rus.
205
em-si. Ela, concebida como aquilo que independe de toda afeco em ns , para
Kant, um conceito negativo, pois se trata de algo inteiramente inacessvel.298
Falamos da existncia de duas faculdades que compem o que Kant
entende por conhecimento: a sensibilidade e o entendimento. Se conhecimento
intuio submetida a conceito e h conhecimentos a priori que organizam a
experincia, dando forma quilo que nos afeta, ento dever haver intuies a
priori, conceitos a priori e tambm snteses a priori entre eles.
Kant falar, pela primeira vez, de tempo e espao como intuies a
priori da sensibilidade. Elas so o modo em que a afeco a matria da
sensao nos alcana, ou melhor, a organizao que o elemento sensvel
prprio razo impe a esta afeco externa. Assim, tudo o que nos afeta, nos
afeta temporalmente ou espao-temporalmente. Espao e tempo no esto nas
coisas em si mesmas, nem so, eles prprios, algo em si mesmo; espao e tempo
so postos pela razo e organizam o modo em que as coisas chegam a ns, o
modo em que elas afetam nossa sensibilidade.299 Eles so formas da intuio,
sendo a matria da intuio aquilo que definitivamente no somos ns mesmos
a coisa em si; esta matria, entretanto, sempre chega a ns informada,
submetida forma espao-temporal. Como intuies a priori, tanto o tempo
quanto o espao so um mltiplo puro da sensibilidade o acima/embaixo,
direita/ esquerda, frente/atrs, no caso do espao, e o antes, o agora e o depois,
no caso do tempo. Este mltiplo oferecido pela sensibilidade ao entendimento
sem o concurso de nenhuma experincia. Assim, tempo e espao como intuies
puras da sensibilidade se oferecem s categorias, os conceitos puros do
entendimento sendo, neste sentido, a matria para o entendimento. As categorias,
298
Embora Kant pense a coisa-em-si como inteiramente inacessvel, ele a pensa como uma
positividade capaz de afetar a razo, mantendo uma relao com esta em algum modo semelhante
causalidade que rege os fenmenos. De fato, a prpria noo de afeco calcada, desde as suas
origens, sobre o modelo da causao.
299
Esta questo o assunto central da Esttica Transcendental da Crtica da Razo Pura. Ali
Kant discute a idealidade transcendental de tempo e espao idealidade no sentido de ambos no
serem nada em si mesmo, mas modos em que a sensibilidade da razo ordena a matria dos
fenmenos. Mas esta idealidade ao mesmo tempo realidade transcendental realidade no
sentido da objetividade, isto do carter universal e necessrio que essas formas possuem na
apresentao de qualquer fenmeno.
206
por seu lado, so as funes unificadoras do entendimento de carter a priori. No
o caso aqui de determo-nos na anlise kantiana das snteses transcendentais (a
priori), isto , os modos em que as intuies puras de espao e tempo so
subsumidas pelas categorias. Basta dizer que se trata de doze snteses, ordenadas
em quatro grupos de categorias: as da quantidade, qualidade, relao e
modalidade. Estas snteses, os princpios de toda experincia possvel, se dividem
em princpios matemticos e princpios dinmicos, os primeiros correspondendo
aos dois primeiros grupos de categorias (quantidade e qualidade), os segundos aos
dois segundos (relao e modalidade).300
As snteses transcendentais, princpios de toda e qualquer experincia,
levantam para Kant o problema de como possvel que coisas to heterogneas
como intuies e conceitos, multiplicidades espao-temporais e unidades aespaciais e a-temporais, possam se compor. Deve, diz Kant, haver uma mediao
e esta mediao o tempo. Ele, como estrutura a priori da sensibilidade
necessria a todo fenmeno, possui o carter de unidade, mas tambm o de
multiplicidade; segundo Kant, esta caracterstica lhe permitiria oficiar como
mediador. O que aqui est em questo o que Kant chamou de esquematismo
das categorias: a arte de esquematizar pertenceria imaginao transcendental,
mas nos diz Kant, constitui uma arte escondida no fundo da alma.301 Como
veremos, a subsuno das intuies puras de tempo e espao nas categorias do
entendimento constitui, para o filsofo, um problema que, na minha compreenso,
somente ser resolvido na terceira Crtica, onde os juzos reflexionantes puros
aparecem como sendo os mais originrios.
300
A respeito da tradio, interessante destacar a compreenso inovadora que Kant tem das
matemticas: geometria e aritmtica so conhecimento e, por s-lo, tm um componente sensvel,
mas esta sensibilidade independente da experincia, ela a priori. por esta razo que esse
saber apresenta essa certeza que lhe to caracterstica: ali a razo est lidando apenas consigo
mesma numa tarefa de construo que s envolve estruturas a priori, o tempo na aritmtica e o
espao na geometria. Os princpios dinmicos permitiro organizar aquilo que nos afeta e que
mutvel: organizar, a partir de um esquema posto pela razo, tudo aquilo que chamamos de
experincia.
301
Do ponto de vista do seu significado, o ponto cego da razo que representa, para Kant, a arte de
esquematizar escondida no fundo da alma o mesmo representado pelo mistrio da unio entre
corpo e alma, na filosofia de Descartes. Em ambos pensadores h a frustrada constatao de que a
razo no inteiramente transparente a si mesma.
207
Os princpios da experincia delimitam a experincia possvel, aquilo
que cai fora desses princpios no pode ser conhecido. A tarefa crtica concebida
por Kant, no seu sentido fundamental, como a tarefa de estabelecimento dos
limites do cognoscvel e do no-cognoscvel. Mas, feito este estabelecimento de
limites e esclarecido o mbito do que possvel conhecer, em que situao ficar
a metafsica, esse saber que aspira ao incondicionado que, por no se dar
sensivelmente, jamais poder ser conhecido?
Como dissemos, para Kant, a metafsica tradicional acreditou poder
conhecer onde s poderia haver pensamento. Entretanto, sempre acompanhando
Kant, este fato no obedece a uma negligncia da razo, a uma desateno que
poderia ser superada de uma vez por todas. Segundo ele, a razo traz em si uma
iluso transcendental insupervel ela aspira a conhecer acima dos limites da
experincia possvel. Esta pretenso pareceria ser, primeira vista, no momento
imediatamente posterior delimitao conquistada pela tarefa crtica, uma falha,
uma espcie de tendncia mrbida que deve ser zelosamente vigiada e contida, de
modo a que a Razo no ultrapasse os seus limites e se extravie. Mas, considerado
este estado de coisas mais detidamente, Kant perguntar-se-: ser isto,
efetivamente, uma falha da razo? Ser a razo definitivamente mal constituda,
tendendo com todo afinco para um tipo de conhecimento que de forma alguma ela
pode obter e que a leva a cair permanentemente em iluses falaciosas?302 Ou, ao
contrrio, haver nessa suposta falha algo de precioso que se reserva razo?
Na Dialtica Transcendental da Crtica da Razo Pura, Kant trata
desta iluso inerente Razo. Ali se abordam os paralogismos, as antinomias e os
ideais da razo.
Os paralogismos tratam dos argumentos herdados da psicologia
racional, argumentos que dizem respeito ao eu (a alma) como substncia eterna e,
consequentemente portadora de atributos os seus pensamentos. Estes
302
Nesta pergunta que Kant prope ecoa o pesadelo cartesiano de gnio maligno, cujo sentido
mais profundo, como vimos, a dvida acerca da boa conformao da razo para conhecer a
verdade.
208
argumentos, embora tenham aparncia de ser logicamente consistentes, encerram
um procedimento ilcito da Razo, pois consideram o eu, substrato das
representaes, como se fo
sse
uma
substncia
cognoscvel.
Para
Kant,
entretanto, e isto fruto da delimitao crtica j conquistada, o nico eu
cognoscvel o eu emprico, e cognoscvel como qualquer fenmeno, porque se
d sensibilidade na forma do tempo, sentido interno. A alma como imortal
no objeto de conhecimento e tais argumentos lidam com ela como se o fosse.
Entretanto, permanece para a razo a possibilidade303 de pensar a imortalidade da
alma sem contradio, embora como tal no possa ser conhecida.
Em relao ao mundo, Kant nos falar das antinomias da razo pura,
argumentos cuja problematicidade reside no fato de que partindo de premissas
antagnicas se constroem arrazoados persuasivamente consistentes. Em outras
palavras, a Razo parece poder provar de modo consistente, atravs da mera
especulao, tanto que o mundo tem um incio, quanto o seu contrrio; que a
matria infinitamente divisvel, assim como que ela constituda por partes
mnimas indivisveis; que a liberdade uma fbula e que os fenmenos obedecem
a um frreo determinismo ou, o contrrio, que somos livres e, por isto, capazes de
iniciar algo de inteiramente novo; enfim, provar que a totalidade dos fenmenos
inteiramente regrada e, portanto inteligvel, ou o contrrio, que ela comporta
uma desordem irredutvel a toda inteligibilidade. Como conseqncia, a razo se
v diante destes argumentos dividida e paralisada, ao ser lanada em contradies
aparentemente
insolveis.
Torna-se
necessrio
desfazer
estas
aparentes
contradies e a chave para faz-lo residir no idealismo transcendental de tempo
e espao para responder aos dois primeiros tipos de antinomias, as
matemticas, e na distino da natureza humana como constituda de uma parte
sensvel (fenomnica) e de uma parte racional (numnica) para responder s
duas ltimas antinomias, as dinmicas.
303
O termo possibilidade diz aqui: a razo pode entreter essa idia sem contradio com o fato
de que somente o eu emprico possa ser cognoscvel. Trata-se aqui da possibilidade meramente
lgica, no da possibilidade como horizonte da experincia, possibilidade a que se alude na
expresso experincia possvel.
209
Por ltimo, a razo se v impelida postulao de um ente supremo,
de um lado, como causa ltima da inteligibilidade e existncia dos fenmenos (no
que respeita a possibilidade de seu exerccio terico), de outro, como arqutipo de
perfeio moral, modelo ao qual o homem racional se compara e segundo o qual
ele julga e corrige suas aes, sem jamais a ele poder se igualar. Kant mostra que,
efetivamente, a existncia de tal ser incognoscvel, pois no constitui um objeto
da experincia possvel e, assim, interdita toda prova da mesma. Entretanto,
embora a razo no possa positivamente provar a existncia de Deus, ela
tampouco pode positivamente neg-la, de modo que, como idia, ela permanece
no problemtica. Veremos que a idia de Deus ter a sua realidade afirmada no
uso prtico da razo, mesmo que especulativamente seja incognoscvel.
As antinomias de carter dinmico (a terceira e quarta antinomias),
enredam a Razo em arrazoados que poderiam lan-la num ceticismo no que
respeita liberdade do homem e existncia de Deus. A tarefa crtica em relao
a elas afastar tal ceticismo, uma vez que demonstra serem essas idias pensveis
sem contradio, contanto se atente para os dois modos em que homem
constitudo: como natureza sensvel, as aes humanas esto submetidas, do
mesmo modo que qualquer fenmeno, aos princpios da experincia, o que quer
dizer, a um determinismo que exclui, com vistas ao seu conhecimento, qualquer
conceito de liberdade como comeo incausado;304 entretanto, que assim seja,
no implica que o homem seja um ente exclusivamente natural. Ao
considerar-se a possibilidade do homem ter uma segunda natureza, natureza
esta de carter supra-sensvel, possvel pensar que as idias de liberdade e
de Deus, que a razo permanentemente concebe, encontrem nessa natureza o
seu fundamento. Se assim for, estas idias so pensveis, mas no
cognoscveis especulativamente, desaparecendo a contradio com que tais
antinomias assombravam a razo.
304
Se conhecer um fenmeno dinmico, isto , um processo natural, retra-lo a suas causas,
claro que tal conceito de conhecimento deve excluir do seu quadro de premissas a possibilidade de
um comeo incausado. Se um fenmeno natural resiste a ser explicado causalmente, isto deve ser
atribudo ignorncia das condies que envolvem o seu acontecer e no a um milagre. Onde a
razo, no exerccio do seu uso especulativo, chega a admitir um milagre, ela est abdicando do
mesmo.
210
A tarefa crtica no mbito especulativo, ao limitar o interesse
cognitivo da Razo ao mbito da experincia possvel, cerceia os usos
transcendentes da razo, mostrando que os objetos de conhecimento a que
esse uso se dirige no so, de modo algum, cognoscveis para uma razo
finita. Entretanto, estes objetos que ela aspira conhecer ilegitimamente no
tm, em razo disto, negada a sua realidade: esta permanece problemtica. A
liberdade do homem, a imortalidade de sua alma e a existncia de Deus tero
sua realidade provada num outro exerccio da razo, o seu uso prtico.
Kant revelar, ainda na prpria atividade especulativa da razo,
um uso legtimo para estas idias, o chamado uso regulativo. Estas
totalidades incondicionadas serviro de linhas de orientao de todas as
regras do entendimento para que confluam num nico ponto. A aspirao do
conhecimento a constituir um sistema, isto , a interconexo de todas suas
partes a partir de um princpio, uma exigncia da razo para que o mesmo
no seja simplesmente um agregado contingente. Este carter regulativo das
idias aplica-se apenas ao exerccio cognitivo da razo, no autorizando a
mesma a conceder-lhes realidade no mbito fenomnico.305
Na anlise do uso superior da faculdade apetitiva, a razo prtica,
Kant encontrar o fundamento para a liberdade do homem. Ela repousa num
factum da razo: a lei moral. Trata-se da nica sntese a priori da razo no
seu uso prtico e ela se manifesta ao homem na forma de um imperativo
categrico,306 isto como uma obrigao que se impe ao ser racional acima
de quaisquer condies. Em Kant liberdade e moralidade se equacionam, pois
ser livre no outra coisa que determinar a vontade por esta lei de natureza
numnica, isto , supra-sensvel, desconsiderando toda motivao oriunda
das inclinaes a que a vontade de um ser, tambm natural, se v exposta.
Entretanto, esta natureza dupla do ser racional finito o lanar tambm numa
antinomia. Por que razo?
305
Trata-se de um uso regulativo da atividade de conhecer e no constitutivo dos fenmenos,
o que quer dizer: as idias no so categorias do entendimento.
306
A frmula mais conhecida do imperativo categrico : Age de tal modo que a mxima da tua
vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princpio de uma legislao universal. (Cf.
Kant, I, Crtica da Razo Prtica, pargrafo 7).
211
O ser humano, enquanto sensvel, possui uma faculdade apetitiva
inferior, aquela determinada pelas inclinaes, isto , as urgncias,
motivaes e desejos que provm da sua constituio enquanto ente natural e,
neste sentido, como fenmeno. A satisfao destas inclinaes (o que Kant
chama de conceito de felicidade) muitas vezes se ope obrigao exigida
pela lei moral. Kant chama Bem Supremo legtima aspirao do ser racional
de juntar moralidade e felicidade. Ele o objeto que a razo pura prtica se
d como vontade determinada pela lei moral.
A juno da moralidade com a felicidade pode ser pensada de
duas maneiras: ou o incentivo da felicidade ser a causa motriz para as
mximas da virtude ou, ao contrrio, a mxima da virtude dever ser a
causa eficiente da felicidade.307 Para ilustrar estes dois posicionamentos,
como exemplos paradigmticos a partir dos quais se coloca a antinomia da
razo prtica, Kant alude compreenso moral das antigas escolas helnicas,
os epicuristas e os esticos, representando os primeiros a idia de que o zelo
por levar uma vida feliz conduz virtude e os segundos a idia contrria, a
de que o cuidado em conduzir a vida virtuosamente conduzir felicidade.
Kant tomar distncia de ambos os posicionamentos. Em relao ao primeiro
deles, representado pelos epicuristas, claro que tal idia absolutamente
impossvel, porque mximas que colocam o princpio determinante da
vontade no anelo da sua felicidade de nenhum modo so morais e no podem
fundar virtude alguma. Se agir moralmente agir segundo a lei moral
incondicionalmente, isto , sem quaisquer restries, ter como mxima para a
ao o desejo de alcanar a felicidade no pode constituir, de modo algum,
um agir moral. J, a esperana estica de que as aes guiadas por mximas
morais acabem por fomentar a felicidade igualmente impossvel porque
toda a conexo prtica das causas e dos efeitos no mundo, como resultado da
determinao da vontade, no se regula pelas disposies morais da vontade,
307
Cf. Kant, I, Crtica da Razo Prtica, A, 204.
212
mas pelo conhecimento das leis naturais e pelo poder fsico de as utilizar para
os seus objetivos.308
A partir do que foi dito acima,309 a antinomia aparece clara:
pareceria que novamente a razo apresenta uma falha, uma m estruturao
intrnseca, pois ela, no seu exerccio puramente racional, se pe como objeto
o Bem Supremo, de modo a priori e indissoluvelmente ligado com a lei
moral, e este objeto mostra-se impossvel. Diz Kant:
Se, pois, o soberano bem impossvel segundo as regras
prticas, ento a lei moral, que ordena promover o mesmo, deve
tambm ser fantstica e votar-se a fins imaginrios vazios, por
conseguinte, ser falsa em si.310
Ser com vistas superao crtica desta antinomia, que
reaparecero as idias de imortalidade da alma e de Deus, sob a forma de
postulados da razo prtica. O soberano bem o objeto de uma vontade que
se determina exclusivamente pela lei moral.
Mas, a plena conformidade da vontade lei moral a santidade,
uma perfeio de que nenhum ser racional do mundo sensvel
capaz em momento algum da sua existncia. No entanto, uma vez
que ela exigida como praticamente necessria, s pode
encontrar-se num progresso que vai at o inifnito e necessrio
<...> admitir tal progresso prtica enquanto objeto real da nossa
vontade.311
Para que este progresso infinito seja possvel necessrio que a
razo postule a existncia de uma personalidade do ser racional
indefinidamente persistente, aquilo a que se d o nome de imortalidade da
alma.
308
Idem, A, 205.
309
Para uma exposio mais detalhada do uso prtico da razo pura em Kant, ver o Anexo deste
trabalho.
310
Idem, ibidem.
311
Idem, A 220.
213
De outro lado, contemplando o anseio felicidade de que
legitimamente merecedora uma vontade santa (isto , determinada
incondicionalmente pela lei moral), deve supor-se que as leis que regem a
natureza sensvel possam possibilit-la. Como o ser racional que age no
mundo no causa do mesmo, nem da sua prpria natureza, mas apenas pode
s-lo de si mesmo enquanto nmeno (determinando sua vontade pela lei
moral), necessrio que a razo postule a existncia de um ente supremo
criador dessas leis, de forma tal que elas se coadunem com uma vontade
santa, premiando-a com a felicidade.
As idias da razo, de modos diferentes, sero objetos de um saber
prtico da mesma. A razo, no seu uso prtico, sabe-se imediatamente
obrigada para com a lei moral, isto , sabe-se livre. As idias de imortalidade
da alma e de Deus, que na crtica da razo especulativa, tinham-se mostrado
passveis de serem pensadas sem contradio, mas problemticas na sua
realidade, tm agora, como postulados da razo prtica, sua realidade
comprovada. Entretanto, esta realidade das idias somente experimentada
pela razo no seu uso prtico, permanecendo problemtica toda vez que ela
aspira a conhec-la teoricamente.
No que antecede, fizemos uma pequena exposio da filosofia de
Kant, no que respeita aos dois domnios em que a razo exerce seu saber de
modo a priori: o domnio da natureza e o domnio da liberdade. No primeiro,
o entendimento legisla, isto , d suas leis (os princpios da experincia) aos
fenmenos, de modo universal e necessrio. No segundo, no domnio da
liberdade, a razo quem legisla, dando sua lei ao homem que, como ser
racional, eleva sua natureza (supra-sensvel) a fim incondicionado e supremo.
Desenhados esses dois domnios, estabeleceu-se o abismo intransponvel
entre o conceito de natureza, como sensvel, e o conceito de liberdade, como
supra-sensvel, no podendo o primeiro ter influncia alguma no segundo.
Este deve, entretanto,
214
poder tornar efetivo no mundo dos sentidos o fim colocado por
suas leis e a natureza, em conseqncia, tem que ser pensada de
tal modo que a conformidade a leis da sua forma concorde pelos
menos com a possibilidade dos fins que nela atuam segundo leis
da liberdade.
Assim, necessrio que exista uma passagem da maneira de
pensar segundo os princpios da liberdade para o modo de pensar segundo o
conceito de natureza, pois caso contrrio, o exerccio prtico da razo
permaneceria uma mera quimera; esta passagem deve consistir num
fundamento da unidade do supra-sensvel, unidade que deve ser pensada
como estando, ao mesmo tempo, na base do conceito de natureza e do
conceito de liberdade. Kant afirma com veemncia que o conceito deste
fundamento comum , para a razo, indeterminvel terica ou praticamente;
entretanto, ele deve constituir um princpio a priori para o seu exerccio:
trata-se do princpio reflexionante de conformidade a fins da natureza. Como
vimos acima, na prpria Dialtica Transcendental da Crtica da Razo Pura,
as idias de mundo e de deus tinham mostrado ter um papel regulativo na
atividade de conhecer. Este papel regulativo se consubstancia no princpio
reflexionante de conformidade a fins da natureza. Dele fazemos uma
explicitao mais acabada no Anexo, que se segue, pois com sua
formulao que se articula o que, no nosso entender, Heidegger nomeia de
compreenso instrumentalista da tcnica.
No percurso de pensamento que Kant traa nas suas dois primeiras
Crticas, por duas vezes a razo ameaa compreender-se a si mesma como
portadora de falhas aparentemente insanveis. Isso acontece num primeiro
momento, na Dialtica Transcendental da Crtica da Razo Pura, onde ela se
depara com uma iluso que a enreda e que, a pesar de toda vigilncia, no
pode superar: a tendncia a querer conhecer aquilo que no objeto de
conhecimento, permitindo que o entendimento faa um uso ilegtimo de seus
poderes, s vezes vo, outras pernicioso. Entretanto, a tarefa crtica acaba por
mostrar que se a razo escrupulosa no seu exerccio, revela-se que esse
aparente desvio guarda uma positividade: as idias de imortalidade, mundo e
215
Deus podem ser pensadas sem contradio. Ser no uso prtico da razo que
elas acabaro provando a sua realidade, postuladas a partir da lei moral que
as exige para legislar sobre os seus objetos, pois os homens enquanto
nmenos devem poder conceber a juno de moralidade e felicidade, o
supremo bem. Parafraseando o prprio Kant, com este movimento limitou-se
o conhecimento para dar lugar a f, uma f racional que constituir o
conhecimento prtico da razo. Mas eis que a, novamente, pela distino
radical entre os mbitos sensvel e supra-sensvel, a razo corre o perigo de
se conceber radicalmente dividida, experimentando uma espcie de
esquizofrenia: ser que ela legisla sobre suas mximas numa espcie de
mundo quimrico no qual deposita racionalmente toda sua f e, entretanto,
tais mximas no tm poder algum de influir nos fenmenos, pois estes
obedecem a uma frrea causalidade que repele, para o conhecimento, todo
conceito de incausado? Como vimos, neste momento vem em auxlio a
faculdade de julgar e seu princpio reflexionante de conformidade a fins da
natureza, princpio que permitir razo fazer o trnsito entre a legislao da
liberdade e o conhecimento da natureza.
Gostaria de fazer, agora, uma recapitulao do apresentado at
aqui, explicitando o seu sentido historial. Servimo-nos, naquela ocasio, da
expresso produo da subjetividade nos dois sentidos em que o genitivo
pode ser entendido: o primeiro indicaria a subjetividade como sendo aquela
que produz o objeto, isto , como subjetividade transcendental que
fundamenta; o segundo indicaria a produo como aquilo que pe sujeito e
objeto e, assim, ela prpria como sendo o fundamento. L afirmamos tambm
que o sentido historial da metafsica moderna constitui a passagem da
primeira para a segunda das acepes. O desenho desta passagem acontece,
no nosso entender, no interior da filosofia de Kant. Vejamos isto passo a
passo, de modo resumido.
1) Com Descartes acontece o vir a primeiro plano da subjetividade
como fundamento. No seu pensamento se realizam os dois
momentos acima nomeados, embora de modo incipiente e em
graus diferentes. Ao afirmar o cogito ergo sum,
abre-se o
216
cenrio da relao entre o eu que representa e suas
representaes, sob a forma da introspeco, um exame
transparente e sem obstculos das mesmas feito pelo eu. Com
a prova da de Deus como criador da coisa pensante, de sua
existncia e de sua bondade absoluta, presentes na Terceira
Meditao, esse eu ganha o estatuto de substncia, res. Nesse
momento, ento, a atividade da introspeco, assim como as
representaes inspecionadas, passam a ter como substrato o
eu que, como substncia, permanece. As idias lgicomatemticas como representaes claras e distintas, assim
como o raciocnio que lhes prprio, so assegurados na sua
adequao res extensa, sendo chancelados como capacidade
superior de conhecimento da res cogitans e liberados para a
tarefa de conhecer a natureza . Em resumo, embora nas
Meditaes cartesianas o eu, concebido como substncia,
dependa ainda da existncia de um ente supremo, poder-se-ia
dizer que ele, de fato, j se constitui em fundamento, embora
no o faa de direito.
2) Entretanto, Descartes, antes da Terceira Meditao, isto ,
antes do chamado de retorno tradio metafsica clssica sob
a forma da prova da existncia de Deus, pensa a seguinte
possibilidade que aqui expressamos ao nosso modo: Penso,
logo sou. Isto certo. Mas, por quanto tempo me acompanha
esta certeza? Pelo tempo que penso, pois pode acontecer que
ao parar de pensar e, consequentemente, ao parar de me
saber
imediatamente
como
existente
eu
possa,
eventualmente vir a deixar de existir. Que quer isto dizer? A
imediaticidade, que garante a certeza de que o eu , repousa na
atividade da introspeco, pois caso ela cesse, nada garante
que o eu permanea. Dito em outros termos: a conquista da
certeza da existncia do eu, o salto imediato do pensar para
o ser, salto que na metafsica clssica era garantido pela
postulao de um terceiro e, consequentemente, mediado por
217
um ente supremo, adivinha-se como repousando na atividade
da introspeco.
3) Dissemos acima que, com Descartes, a subjetividade, liberta e
confiante para o conhecimento da natureza, sob a forma da
fsico-matemtica, estabelece-se de fato como fundamento,
sem, entretanto, faz-lo de direito. Servimo-nos, ali, da
linguagem kantiana. Com a tarefa crtica, Kant pretende
mostrar que o sucesso da moderna cincia no somente algo
que empiricamente podemos constatar, isto , constatar de
fato, particular e contingentemente; mas, ao contrrio, que se
trata de um projeto cujo caminhar seguro assenta-se numa
questo de direito, a famosa quaestio juris. Que quer isto
dizer? A subjetividade deve poder conquistar a segurana
desse seu caminhar progressivo na determinao das leis
naturais como sistema. Para conquistar essa segurana, Kant
prope uma refundao da metafsica.
4) Em Kant, a refundao da metafsica exige o abandono do
modelo da instrospeco em favor da tarefa crtica que
pergunta por condies de possibilidade da experincia. Esta
tarefa, que Kant chamar de transcendental, dirige-se para o
exame do que a razo pe, de modo a priori, nos objetos de
conhecimento. A investigao transcendental o modo em que
Kant se apropria da certeza moderna, enunciada por Descartes,
de que o esprito mais fcil de conhecer do que o corpo.
Ela revela que, para o conhecimento da natureza ser possvel,
ele deve repousar em snteses a priori da razo. Estas, por sua
vez, para serem possveis, exigem um acordo entre uma
faculdade
passiva,
sensibilidade,
outra
ativa,
entendimento: a primeira oferece segunda um mltiplo a
priori dado (espao e tempo); a segunda conduz esse mltiplo
unidade dos conceitos (categorias). Assim, tal acordo, que
Kant nomeia de esquematismo transcendental aparece, na
218
primeira Crtica, como exigncia para a possibilidade de
conhecer. Ele permanece, entretanto, uma arte escondida no
fundo da alma. Em resumo: deve haver, para o bom exerccio
da razo, isto , para que o conhecimento seja possvel, uma
raiz comum de sensibilidade e entendimento que, por
enquanto, apenas suposta. Ela, no pode ser provada, nem
sequer criticamente tematizada. Dissemos acima que, para
Kant, a razo deve poder conquistar a segurana no progredir
da cincia. Deve poder conquistar tal segurana quer dizer:
tem que ser possvel para a razo se voltar sobre si mesma e
alcanar a certeza da raiz comum entre sensibilidade e
entendimento, raiz que necessria para qualquer legitimao
como fundamento, tanto dos fenmenos como eles nos
aparecem, quanto da atividade cientfica propriamente dita.
Entretanto, o resultado do primeiro empreendimento crtico
conduziu postulao da necessidade de um acordo entre
sensibilidade e entendimento que permanece obscuro para ela.
Esta ausncia de transparncia resulta numa incerteza: ser
que a razo bem constituda?
5) Na Analtica Transcendental demonstra-se tambm que, para
a experincia ser possvel, h uma ltima conduo unidade,
que aquela que vai das snteses a priori (que delimitam o
objeto
transcendental),
para
eu,
como
unidade
da
apercepo, isto , como sujeito transcendental. Em outras
palavras, para que a experincia seja possvel, o eu deve
acompanhar todas as representaes. Mas que eu este? Ele
no nem o eu fenomnico que alcano na minha atividade de
introspeco, eu este emprico e contingente que por isso
jamais poderia estar na base de toda e qualquer experincia,
nem uma substncia supra-sensvel que se possa conhecer.
Como vimos na exposio realizada acima, a delimitao
crtica interdita todo conhecimento de entidades suprasensveis, por faltar ali, qualquer referncia sensibilidade. O
219
eu transcendental, como fundamento, apenas uma funo
ltima de unificao: sabe-se que , mas no o que ele .
6) Se o eu, como substncia supra-sensvel (a idia de alma
imortal) incognoscvel, tambm o so as idias de mundo
como totalidade e de Deus, que esse eu entretm. A Dialtica
Transcendental mostra a possibilidade de pensar sem
contradio tais idias, caso se desfaam os emaranhados em
que a razo cai quando acredita poder conhecer estes objetos.
Mas, como vimos, mesmo assim, a sua realidade permanece,
para o conhecimento, problemtica. Sendo assim, todas as
questes relativas natureza supra-sensvel do homem, isto ,
relativas a esse quinho que lhe confere um lugar todo especial
em meio s criaturas, embora no negadas, tambm ficaram
em suspense: no que respeita ao conhecimento, o homem
como ente natural, no , em essncia, em nada diferente a
qualquer outro ente, isto ,
tudo o que a ele concerne
deterministicamente causado, tal qual o tudo o que concerne
ao sol, pedra ou ao animal.
7) Entretanto, no seu uso prtico, a razo se sabe imediatamente
livre, atravs da presena nela de um factum: o imperativo
categrico. pela presena da lei moral que ordena a vontade
humana a determinar suas mximas incondicionadamente que
o homem conhece de modo prtico (no terico) a realidade do
seu carter supra-sensvel. Este conhecimento prtico implica
numa f racional na imortalidade da alma e na existncia de
Deus. Assim, no uso prtico da razo, o carter problemtico
da natureza supra-sensvel do homem, assim como das idias
de imortalidade da alma e de Deus, desaparece. O homem tem
a certeza (no cognitiva, mas prtica) de que um ser racional,
de que sua alma imortal e de que Deus existe.
8) Mas, ainda a razo assombrada pela possibilidade de que essa
realidade supra-sensvel que o homem , no tenha, neste
mundo, poder algum. Dito em outros termos: parece possvel
que a liberdade do homem seja absolutamente impotente em
220
relao natureza e que, consequentemente, o seu carter
supra-sensvel
possibilidade
esteja
de
irremediavelmente
produzir
qualquer
separado
efeito
no
da
mundo
fenomnico. Se assim for, a felicidade, que a razo pensa que
uma vontade santa merece, tornar-se-ia impossvel.
necessrio poder pensar agora um outro acordo, aquele entre a
razo (como legisladora da vontade livre) e o entendimento
(como legislador da frrea causalidade da natureza). Em
auxlio da possibilidade desse acordo vem um princpio do
juzo, princpio este de carter teleolgico: a finalidade da
natureza. Que quer isto dizer? Que a natureza deve poder ser
pensada, no que ela tem de indeterminado pelo entendimento
(isto , a matria da sensao), como absolutamente regrada,
isto , como constituda no por ele (uma vez que ele apenas
legisla sobre a forma dos fenmenos e no sobre a sua
matria) mas por um entendimento divino. A realidade do
objeto deste princpio permanece problemtica, no provada
nem terica, nem praticamente (que a natureza seja de fato um
sistema de leis empricas). Trata-se de um princpio que
legisla apenas sobre o exerccio da razo ao conhecer a
natureza, no sobre esta. Este princpio permitir o trnsito do
modo de pensar segundo o conceito de liberdade para o modo
de pensar segundo o conceito de causalidade (natureza).
9) No que vimos at aqui, revelaram-se dois acordos nos quais
deve repousar o sadio exerccio da razo: um acordo entre
sensibilidade
entendimento,
outro
entre
razo
entendimento. Eles so condies de possibilidade desse
exerccio sadio. Mas, como conquistar a certeza acerca deles,
como saber que estes acordos, alm de possveis, so reais?
10) A resposta ser encontrada na terceira Crtica, na Crtica da
Faculdade de Juzo. Ali, nos juzos estticos, juzos
reflexionantes puros, e portanto de carter a priori, a razo
experimenta esses acordos na forma do sentimento de prazer e
de dor. Trata-se de sentimentos intelectuais, pois se
221
originam no livre jogo das faculdades da razo e no no
agrado ou desagrado que a sensao possa propiciar. O Belo
ser para Kant o sentimento intelectual de prazer originado
pelo acordo entre imaginao e entendimento. J, no sublime,
a
razo
experimentar
primeiramente
desprazer
do
entendimento diante do fracasso em abarcar a multiplicidade
oferecida pela sensibilidade, desprazer que ser aliviado, ao
ingressar a razo no livre jogo, como fonte do sentimento
moral. na atividade do julgar reflexionante esttico que a
razo experimenta-se sadia, ganha a certeza da sua boa
constituio. Tais juzos so o factum onde repousa todo o
empreendimento crtico que aspira a conquistar a segurana da
razo, atravs da transparncia dos seus vrios exerccios.
Por fim, para concluir, gostaria de fazer uma rpida indicao de
como o modo em que Kant concebe os juzos estticos, assim como o lugar
que ele reserva para os mesmos em seu sistema, prenuncia a vontade de
poder nietzschiana, compreendida como querer querer.
Nos juzos de gosto, noz diz Kant, a representao inteiramente
referida ao sujeito, que neles sente a si prprio do modo como ele afetado
pela sensao. Este sentir-se a si mesmo nomeado de sentimento de
vida.312 Ele exige o desinteresse em relao ao conhecimento do objeto,
assim como em relao a sua existncia; nos juzos de gosto, o sujeito
experimenta apenas a conservao, acrscimo ou decrscimo dos seus
poderes vitais.313 A exigncia nietzschiana de que a vontade, como vontade
de poder, deva se posicionar, frente ao que quer que seja, de modo a avali-lo
segundo o critrio do que promove a sua potncia, parece-me estar aqui
claramente antecipada, mais ainda se se considera que, para Kant, o exerccio
312
313
Kant, I., Crtica da Faculdade do Juzo, pargrafo I.
Nos demoramos na contemplao do belo, porque esta contemplao fortalece e reproduz a si
prpria... (Kant, I, op. cit.,pargrafo 12).
222
do julgar esttico, com suas conotaes vitalistas, o fundamento da
confiana e segurana da razo no seus outros diversos exerccios.
223
Concluso
A conferncia "A Questo da Tcnica" fala de dois modos do
desvelamento, dois modos da aletheia: a poiesis e o Gestell. Ali, Heidegger nos
adverte que poiesis e Gestell no se relacionam com o desvelamento na forma em
que a tradio ensina que o fazem as espcies com o gnero comum a elas.314 O
desvelamento, foi dito, um destinar que dispensa uma compreenso de ser e de
pensar uma compreenso do que o ente e do que o homem, mas que o faz
de modo tal que ao mesmo tempo que a dispensa, reserva sua origem recusando
que ela se mostre.315 Poiesis e Gestell so esses modos destinadores do
desvelamento. Ambos carregam perigo porque, por serem modos do
desvelamento, reservam inaparente a origem. Mas, como devemos nos
encaminhar para pensar esta origem? ela um terceiro termo, o qual incluiria em
si tanto um, quanto o outro modo de desvelamento? Claramente no, e isto o que
Heidegger nos quer indicar quando diz que devemos afastar a compreenso da
relao espcie/gnero para pensar a aletheia e seus modos. A origem o prprio
destinar, o desvelamento como acontecimento que concedendo mantm reservado.
Pergunta-se: como este acontecimento primeiramente acontece? Acontece como
o passar a primeiro plano de um modo de desvelamento em detrimento do
outro.316 O acontecer da aletheia como destinao o movimento historial do
privilgio da poiesis para o seu declnio em favor do Gestell o niilismo pensado
historialmente como a nadificao do ente.317 Heidegger nos fala, nesta mesma
314
O Gestell um modo destinador do desvelamento, a saber, o modo pro-vocante. O
desvelamento pro-dutor, a poiesis, tambm um modo destinador semelhante. Mas estes modos
no so espcies que, ordenadas entre elas, cairiam sob o conceito de desvelamento. (Essais et
confrences, p.40.)
315
Nisto, insinua-se a intimidade
grego aletheia indica.
essencial
entre a ocultao e a desocultao que o termo
316
O desvelamento este destino que, cada vez, subitamente e de uma forma inexplicvel para
todo pensamento, reparte-se em desvelamento pro-dutor e desvelamento pro-vocante e se d ao
homem para ser partilhado. (Essais et confrences, p.40.)
317
No desvelamento pro-dutor, o desvelamento pro-vocante tem sua origem que ligada ao
destino. Mas, ao mesmo tempo, pelo efeito do destino, o Gestell torna mal conhecida a poiesis.
(Essais et confrences, p. 40.)
224
conferncia, do "jogo secreto" das estrelas duplas que, na adversidade do
movimento de passar uma frente da outra, anunciam sua proximidade. Poiesis e
Gestell, como estrelas duplas de um nico movimento historial revelam algo
semelhante a este jogo secreto. A metafsica nasce com Plato com a idea: aquilo
que concede ao ente o seu mostrar-se como sendo "isto ou aquilo", fazendo-o
permanecer num aspecto determinado e reclamando para si a consistncia do ser.
Depois de dois mil e quinhentos anos, com Nietzsche, a metafsica enunciar a
morte de todos os valores e conceber o valor a figura que ali assume o lugar
do que determina o ente como sendo de tal ou qual maneira como mera
condio para o exerccio da vontade de poder, sendo esta, como vontade de
vontade que precisa permanentemente se conservar e intensificar, quem reclama
para si, na manuteno deste seu movimento, aquela consistncia. Solidrio com
este acontecer historial que da idea platnica resultou no "querer querer"318 da
vontade de poder, o ideal de homem e de humanidade deixou de ser o
daquele que, orientado pelas idias como medidas transcendentes, aspira a
conquistar a eudaimonia do bem-viver e passou a ser a besta de trabalho que
animada pelos critrios de eficincia e produtividade torna-se o funcionrio que se
pe ao servio da instituio. De Plato a Nietzsche, vimos a eternidade ser
substituda pelo "puro devir", a necessidade pelo acaso, a unidade pela
fragmentao irredutvel, a forma pelo amorfo, a substncia pelo evento, o
conceito pela funo, enfim, vimos a inverso da metafsica.
"Inverso da metafsica": ocultao da poiesis e desocultao do
Gestell. Que quer isto dizer? O termo "inverso" pode sugerir a possibilidade de
um jogo perptuo entre dois grupos de categorias que inverteriam de quando em
quando a sua hierarquia. Mas a metafsica no nada como um movimento
318
A vontade de poder vontade de nada, no porque no queira, mas porque, para se manter
querendo, necessrio que aniquile o ente, que no se prenda a ente nenhum. Este amarrar-se ao
ente seria justamente o fim da vontade de poder, o fim do seu movimento, a sua estagnao. Mais
radicalmente, este amarrar-se ao ente seria deixar de querer, isto , perder sua essncia de vontade.
Por esta razo que Heidegger utiliza a expresso "vontade de vontade" para referir-se vontade
de poder que to aguda e visionariamente Nietzsche apontou: o que a vontade quer no "nem
isto, nem aquilo", o que ela quer simplesmente querer. A tese da "transvalorao de todos os
valores" inteiramente solidria com o querer querer da vontade de poder. O valor a ltima
figura da idia platnica, aquilo que d determinao ao ente e faz que erija deste ou daquele
modo. Decretada a morte dos valores "em si mesmos" --decretado o direito que a determinao
reclama para si de ser, isto , de ter consistncia -- o valor no desaparece, mas torna-se uma mera
condio do exerccio da vontade, algo que permite vontade, no seu exerccio de "pr e derrubar"
valores, se assegurar de sua consistncia como vontade, isto , permite a vontade "ser".
225
pendular ou uma clepsidra que, quando esgotada a areia de um dos lados, est
prestes a se inverter. O movimento historial do Ocidente o declnio da poiesis
em favor do Gestell no tem retorno.
Qui seja necessrio dar mais nfase a esta afirmao, dado que
quando se ouvem em unssono afirmaes heideggerianas tornadas clichs como a
"volta origem" e o "papel reservado a arte no fim da metafsica" ou, mais
insistentemente, poesia, acrescidas da suposta censura tcnica
contempornea
por
ter
devastado
superfcie
do
planeta,
rpida
impensadamente se levado a achar que o pensamento de Heidegger um tipo de
pensamento nostlgico de uma idade de ouro, pensamento mais ou menos
pessimista ou otimista, dependendo dos poderes restauradores que se atribuam
poesia ou arte. Limito-me a citar as palavras de Heidegger numa conferncia
realizada em Atenas, em 1967, cujo nome foi "A provenincia da arte e a
destinao do pensamento":
"Necessrio dar um passo atrs. <...> Mas esse passo atrs no
significa que seria necessrio de um modo ou de outro fazer reviver o
mundo da Grcia antiga e que o pensamento devesse buscar seu
refgio junto aos filsofos pr-socrticos.
Passo atrs significa que o pensamento recua perante a civilizao
mundial e, tomando distncia dela, jamais negando-a, introduz-se
naquilo que teve que permanecer ainda impensado no comeo da
civilizao ocidental, mas que j est ali devidamente nomeado e,
assim, dito de antemo ao nosso pensamento."319
O que no comeo da civilizao ocidental foi "devidamente nomeado"
e, entretanto, permaneceu impensado a aletheia. A lethe, a ocultao que ela
guarda e que de um modo derivado transfere ao ente, foi experimentada pela
metafsica como um desafio e uma exigncia: a de traz-la presena, de desvella e torn-la disponvel sob o modo da completa acessibilidade do ente, e assim,
do comportamento compulsivo de devass-lo e p-lo sob o olho e a mo do
homem despudorado. A civilizao planetria, na qual estamos e unicamente a
319
Heidegger, Martin, Cahiers de LHerne, ed. de LHerne, Paris, 1973, pp. 365-379.
226
partir da qual podemos comear a pensar, permitiu a Heidegger esse
distanciamento para o qual ele nos convida. "Permitiu esse distanciamento"
significa: concedeu que, pela primeira vez, fosse experimentado o fracasso da
empreitada metafsica de tornar acessvel a lethe sob a forma da "entidade do
ente". Mas a experincia "negativa" deste fracasso coincide com uma outra
experincia de acesso lethe: a lethe pela primeira vez se mostra como lethe, pela
primeira vez "o desvelamento desvela o velamento como velamento".320 Esta
frmula, que considero muito feliz, est longe de ser um jogo de palavras. Ela diz,
na sua simplicidade: o desvelamento obriga o velamento a aparecer, mas o faz
mostrando-o como o que recusa ser devassado, como o que no se pe nossa
disposio, fechando-se sobre si. Assim, devolve-se ao homem a fonte de todo
pudor, o pudor que todo autntico amor possui e que hoje conhecemos quase que
exclusivamente pelas vivncias do amor na esfera privada: o velar pelo sono do
filho, a amizade que alegra e conforta, o agradecer pela existncia singular e
irredutvel da pessoa amada.
Gostaria de encerrar este trabalho com os versos de Georg Trakl do
seu poema "Crepsculo de Inverno".321 Na sua beleza, esses versos falam da
peregrinao da humanidade ocidental e de como, na dor da terra exaurida pela
usura, o que salva comea a crescer:
Um dentre os que esto em viagem
Dos caminhos escuros chega porta
De ouro floresce a rvore das graas
Nascida da terra e da seiva fresca.
320
Esta frmula aparece no ensaio de Martin Heidegger, A Origem da Obra de Arte. A obra de
arte ali nos revelada como o acontecimento da verdade, acontecimento que consiste num
combate entre a lethe e a aletheia e que, nela , obra de arte, se d sob a forma de combate entre
mundo e terra. Diz Heidegger: "A terra s aparece abertamente iluminada como ela prpria onde
guardada e salvaguardada como a que essencialmente insondvel, que recua perante toda a
explorao, a saber, a que se mantm fechada. <...> Todavia, este fechar-se da terra no um
manter-se fechado, uniforme e rgido, mas antes revela-se numa plenitude inesgotvel de modo e
formas simples."
321
Heidegger dedica o primeiro dos seus Unterwegs zur Sprache intitulado "A fala" anlise deste
poema de Georg Trakl.
227
Em paz entra o peregrino
A dor petrificou a soleira
Ali resplandece na pura claridade
Sobre a mesa po e vinho.
Ou, segundo uma outra verso do poeta para o mesmo poema,
Um dentre os que esto em viagem
Dos caminhos escuros chega porta
Sua ferida plena de graas
Cuida da doce fora do amor.
simples tormento do ser humano
Que mudo lutou com os anjos,
Lnguido, vencido pela dor sagrada,
Em silncio, diante: po e vinho de Deus.
228
Bibliografia
Aeschylus, Oresteia, trad. Richmond Lattimore, University Chicago Press,
Chicago, 1953.
Anaximandro, Parmnides e Herclito, Os Pensadores Originrios, org.
Emmanuel Carneiro Leo, ed. Vozes, Petrpolis, 1993.
Arendt Hannah, A Condio Humana, trad. Roberto Raposo, ed. Forense
Universitria, So Paulo, 1987.
Arendt, Hannah, A Dignidade da Poltica, org. Antonio Abrarnches, trad. Helena
Martins, Frida Coelho, Antonio Abranches, Csar Almeida,
Claudia Drucker e Fernando Rodrigues, ed. Relume Dumar, Rio
de Janeiro, 1993.
Arendt, Hannah, A Vida do Esprito, trad. Antonio Abranches, Helena Martins e
Csar Almeida, ed. Relume Dumar, Rio de Janeiro, 1993.
Arendt, Hannah, As Origens do Totalitarismo, trad. Roberto Raposo, ed.
Companhia das Letras, So Paulo,1998.
Arendt, Hannah, Entre o Passado e o Futuro, trad. Mauro de Almeida, ed.
Perspectiva, So Paulo, 1979.
Arendt, Hannah, Lies sobre a Filosofia Poltica de Kant, trad. Andr Duarte de
Macedo, ed. Relume Dumar, Rio de Janeiro, 1993.
Arendt, Hannah, The Life of the Mind, ed. Harcourt Brace Jovanovich, Nova
Iorque, 1978.
Aristote, De LAme, trad. J. Tricot, Vrin, Paris, 1992.
Aristote, thique Nicomaque, trad. J. Tricot, Vrin, Paris, 1990.
Aristote, La Mtaphysique, trad. J. Tricot, Vrin, Paris, 1981.
Aristteles, Metafsica, trad. Giovanni Reale, Edies Loyola, 2001.
Aristteles, Metafsica, trad. V. Garca Yebra, ed. Gredos, 1998.
Aristotle, Metaphysics in The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan
Barnes, Princeton University Press, New Jersey, 1985.
Aristotle, Nicomachean Ethics in The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan
Barnes, Princeton University Press, New Jersey, 1985.
Aristotle, On Melissus, Xenophanes, and Gorgias in The Complete Works of
Aristotle, ed. Jonathan Barnes, Princeton University Press, New
Jersey, 1985.
Aristotle, On the Soul in The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes,
Princeton University Press, New Jersey, 1985.
Aristotle, Physics in The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes,
Princeton University Press, New Jersey, 1985.
Aristotle, Politics in The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes,
Princeton University Press, New Jersey, 1985.
Aristotle, The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, Princeton
University Press, New Jersey, 1985.
Aubanque, P., e outros, tudes sur Parmnide, org. P. Aubanque, ed. Vrin, Paris,
1987.
Aubanque, P., Le Problme de ltre chez Aristote, PUF, Paris, 1962.
Barnes, J., The Presocratic Philosophers, ed. Routledge, Londres, 1982.
229
Beaufret, Jean, O Poema de Parmnides in Pr-socrticos, col. Os
Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1986.
Colli, Giorgio, Anaximandre in La Sagesse Grecque, vol. II, ed. LEclat, Paris,
1992.
Colli, Giorgio, Heraclite in La Sagesse Grecque, vol. III, ed. Lclat, Paris,
1992.
Costa, Alexandre, Herclito Fragmentos Contextualizados, ed. Difel, Rio de
Janeiro, 2002.
Descartes, R., Discurso do Mtodo in Descartes, col. Os Pensadores, trad. J.
Guinsburg e Bento Prado, ed. Victor Civita, So Paulo, 1973.
Descartes, R., Meditaes Metafsicas in Descartes, trad. J. Guinsburg e Bento
Prado, col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1973.
Descartes, R., Objees e Respostas in Descartes, col. Os Pensadores, ed.
Victor Civita, So Paulo, 1973.
Dumont, Jean-Paul e outros, Les Prsocratiques, Gallimard, Paris, 1998.
Euripides, Alcestis in Ten Greek Plays, org. L. R. Lind e trad. Richard
Aldington, Houghton Mifflin Company, Boston, 1957.
Friedlnder, P., Plato An Introduction, Princeton University Press, Princeton,
1969.
Gallimard, Paris, 1958.
Habermas, J., La Technique et la Science comme Idologie, trad. Jean-Ren
Ladmiral, ed. Gallimard, Paris, 1978.
Habermas, Jrgen, Tcnica e a cincia enquanto ideologia in Benjamin,
Habermas, Horkheimer e Adorno, col. Os Pensadores, Ed. Victor
Civita, So Paulo, 1983.
Heidegger, M., e Fink, E., Herclito, trad. Jacobo Muoz e Salvador Mas, ed.
Ariel, Barcelona, 1986.
Heidegger, Martin, A coisa in Ensaios e Conferncias, trad. Emmanuel
Carneiro Leo, ed. Vozes, Petrpolis, 2006.
Heidegger, Martin, A constituio onto-teo-lgica da metafsica in Heidegger,
trad. Ernildo Stein, col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So
Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, A questo da tcnica in Ensaios e Conferncias, trad.
Emmanuel Carneiro, ed. Vozes, Petrpolis, 2006.
Heidegger, Martin, A tese de Kant sobre o Ser in Heidegger, trad. Ernildo Stein,
col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, Altheia (Herclite, fragment 16) in Essais et Confrences,
trad. Andr Prau, ed. Gallimard, Paris, 1988.
Heidegger, Martin, Dpassement de la Mtaphysique in Essais et Confrences,
trad. Andr Prau, ed. Gallimard, Paris, 1988.
Heidegger, Martin, El Rectorado, 1933-1934 in Escritos sobre la Universidad
alemana, trad. Ramn Rodrguez, ed. Tecnos, Madri, 1989.
Heidegger, Martin, Entrevista del Spiegel in Escritos sobre la Universidad
alemana, trad. Ramn Rodrguez, ed. Tecnos, Madri, 1989.
Heidegger, Martin, Hegel e os Gregos in Heidegger, trad. Ernildo Stein, col.
Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, L poque des conceptions du monde in Chemins que ne
mnent nulle part, trad. Wolfgang Brokmeier, ed. Gallimard, Paris,
1990.
230
Heidegger, Martin, L origine de loeuvre dart in Chemins que ne mnent nulle
part, trad. Wolfgang Brokmeier, ed. Gallimard, Paris, 1990.
Heidegger, Martin, La autoafirmacin de la Universidad alemana in Escritos
sobre la Universidad alemana, trad. Ramn Rodrguez, ed. Tecnos,
Madri, 1989.
Heidegger, Martin, La chose in Essais et confrences, trad. Andr Prau, ed.
Gallimard, Paris, 1988.
Heidegger, Martin, La doctrine de Platon sur la verit in Questions II, trad.
Andr Prau, ed. Gallimard, Paris, 1990.
Heidegger, Martin, La provenance de lart et la destination de la pense in
Cahier de lHerne Heidegger, trad, Jean-Louis Chrtien, ed. de
lHerne, Paris, 1983.
Heidegger, Martin, La question de la technique in Essais et confrences, trad.
Andr Preau, ed. Gallimard, Paris, 1988.
Heidegger, Martin, Le Tournant in Questions IV, trad. Jean Lauxerois e Claude
Rols, ed. Gallimard, Paris, 1990.
Heidegger, Martin, Logos (Herclito, fragmento 50) in Ensaios e Conferncias,
trad. Emmanuel Carneiro Leo, ed. Vozes, Petrpolis, 2006.
Heidegger, Martin, Moira (Parmnide, VIII, 34-41) in Essais et Confrences,
trad. Andr Prau, ed. Gallimard, Paris, 1988.
Heidegger, Martin, O fim da filosofia e a tarefa do pensamento in Heidegger,
trad. Ernildo Stein, col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So
Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, O princpio da identidade in Heidegger, trad. Ernildo Stein,
col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, Que isso a Filosofia? in Heidegger, trad. Ernildo Stein,
col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, Qui est le Zarathoustra de Nietzsche in Essais et
Confrences, trad. Andr Prau, ed. Gallimard, Paris, 1988.
Heidegger, Martin, Seminrio sobre tempo e ser in Heidegger, trad. Ernildo
Stein, col. Os Pensadores, Abril Cultural, So Paulo, 1983.
Heidegger, Martin, Sobre a essncia da verdade in Heidegger, trad. Ernildo
Stein, col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, Sobre a essncia do fundamento in Heidegger, trad. Ernildo
Stein, col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, Sobre o humanismo in Heidegger, trad. Ernildo Stein, col.
Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, Tempo e Ser in Heidegger, trad. Ernildo Stein, col. Os
Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1984.
Heidegger, Martin, The question of technology in Basic Writings, trad. Albert
Hofstadter, Harper & Row Publishers, Londres, 1985.
Heidegger, Martin, A Origem da Obra de Arte, trad. Maria Conceio Costa,
Edies 70, Lisboa, 1990.
Heidegger, Martin, Aristote, Mtaphysique Theta 1-3, De lessence et de la ralit
de la force, ed. Gallimard, Paris, 1991.
Heidegger, Martin, Being and Time, trad. John Macquarrie e Edward Robinson,
Basil Blackwell, Oxford, 1988.
Heidegger, Martin, Introduo Metafsica, trad. E. Carneiro Leo, ed. Tempo
Brasileiro, Rio de Janeiro, 1987.
231
Heidegger, Martin, Kant et le Problme de la Mtaphysique, ed. Gallimard, Paris,
1986.
Heidegger, Martin, Nietzsche Metafsica e Niilismo, trad. Marco Antonio
Casanova, ed. Relume Dumar, Rio de Janeiro, 2000.
Heidegger, Martin, Nietzsche, trad. P. Klossowski, Gallimard, Paris, 1971.
Heidegger, Martin, Parmnides, trad. Andr Schuwer e Richard Rojcewicz,
Indiana University Press, Indianapolis, 1992.
Heidegger, Martin, Ser e Tempo, trad. Mrcia de S Cavalcante, ed. Vozes,
Petrpolis, 1989.
Heidegger, Martin, Sobre o Humanismo, trad. Emmanuel Carneiro Leo, ed.
Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1995.
Heidegger, Martin, The Basic Problems of Phenomenology, trad. Albert
Hofstadter, Indiana University Press, Indianapolis, 1988.
Herclito dfeso e outros, Anaximandro de Mileto in Pr-socrticos, trad. Jos
Cavalcante e outros, col. Os Pensadores, ed. Nova Cultural, So
Paulo, 1996.
Herclito dfeso e outros, Herclito d feso in Pr-socrticos, trad. Jos
Cavalcante e outros, col. Os Pensadores, ed. Nova Cultural, So
Paulo, 1996.
Herclito dfeso e outros, Parmnides dEla in Pr-socrticos, trad. Jos
Cavalcante e outros, col. Os Pensadores, ed. Nova Cultural, So
Paulo, 1996.
Hsiode, Thogonie in Thogonie et autres pomes suivie des Hymnes
homriques, trad. Jean-Luois Backs, ed. Gallimard, Paris, 2001.
Kant, I., Crtica da Razo Pura in Kant (I), trad. Valrio Rohden e Udo Baldur
Moosburger, col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo,
1983.
Kant, I., Fundamentao da Metafsica dos Costumes in Kant, trad. Paulo
Quintela, col. Os Pensadores, ed. Abril Cultural, So Paulo,
1974.
Kant, I., Resposta Pergunta: Que Esclarecimento? in Immanuel Kant
Textos Seletos, ed. Vozes, Petrpolis, 1974.
Kant, I., Crtica da Faculdade do Juzo, trad. Valrio Rohden e Antonio Marques,
So Paulo, 1993.
Kant, I., Crtica da Razo Prtica, trad. Artur Moro, Edies 70, Lisboa, 1984.
Kirk, G. S., e Raven, J. E., The Presocratic Philosophers, Cambridge University
Press, Cambridge, 1983.
Kirk, G. S., Raven, Os Filsofos Pr-socrticos, trad. Carlos Alberto Louro
Fonseca, Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1982.
Marcuse, Herbert, A Ideologia da Sociedade Industrial O homem
unidimensional, trad. Giasone Rebu, Zahar Editores, Rio de
Janeiro, 1973.
Parmnide, Sur la nature ou sur ltant, trad.e comentrio de Barbara Cassin,
Seuil, Paris, 1998.
Plato, Banquete in Plato -- Dilogos, trad. Jos Cavalcante de Souza, col.
Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1972.
Plato, Fdon in Plato Dilogos, trad. Jorge Paleikat e Joo Cruz Costa, col.
Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1972.
Plato, Grgias in Dilogos, ed. Universidade Federal do Par, trad. Carlos
Alberto Nunes, Belm do Par, 1980.
232
Plato, Poltico in Plato Dilogos, trad. Jorge Paleikat e Joo Cruz Costa,
col. Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1972.
Plato, Protgoras in Dilogos, ed. Universidade Federal do Par, trad. Carlos
Alberto Nunes, Belm do Par, 1980.
Plato, Sofista in Plato Dilogos, trad. Jorge Paleikat e Joo Cruz Costa, col.
Os Pensadores, ed. Victor Civita, So Paulo, 1972.
Plato, Teeteto in Dilogos, ed. Universidade Federal do Par, trad. Carlos
Alberto Nunes, Belm do Par, 1980.
Plato, Timeu in Dilogos, ed. Universidade Federal do Par, trad. Carlos
Alberto Nunes, Belm do Par, 1980.
Plato, A Repblica, trad. Eduardo Menezes, Hemus, So Paulo, 1970.
Plato, A Repblica, trad. Maria Helena da Rocha Pereira, Fundao Calouste
Gulbenkian, Lisboa, 1983.
Plato, Mnon, trad. Maura Iglesias e Fernando Rodrigues, ed. Loyola, So Paulo,
2001.
Plato, Parmnides, trad. Maura Iglesias e Fernando Rodrigues, ed. Loyola, So
Paulo, 2003.
Plato, Gorgias in Plato, vol. III, trad. W. R. M. Lamb, Harvard University
Press, Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Plato, Meno in Plato, vol. II, trad. W. R. M. Lamb, Harvard University Press,
Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Plato, Phaedrus in Plato, vol. I, trad. H. N. Fowler, Harvard University Press,
Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Plato, Protagoras in Plato, vol. II, trad. W. R. M. Lamb, Harvard University
Press, Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Plato, Sophist in Plato, vol. VII, trad. H. N. Fowler, Harvard University Press,
Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Plato, Statesman in Plato, vol. VIII, trad. H. N. Fowler, Harvard University
Press, Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Plato, Symposium in Plato, vol. I, trad. H. N. Fowler, Harvard University Press,
Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Plato, The Republic in Plato, vols. V e VI, trad. P. Shorey, Harvard University
Press, Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Plato, Timaeus in Plato, vol. IX, trad. R. G. Bury, Harvard University Press,
Loeb Classical Library, Cambridge, 1982.
Weber, Max, A Cincia como vocao in Cincia e Poltica, ed. Cultrix, So
Paulo, 1978.
Wezscker von, C. F., The History of Nature, University Press of Chicago,
Chicago, 1949.
233
Anexo
A concepo instrumentalista
do saber tcnico-cientfico
Se, como afirma Hannah Arendt, a convico que anima a cincia
moderna inaugurada por Galileu e Descartes a de que o homem s pode
conhecer aquilo que ele mesmo faz,322 parece evidente que o potencial fabricador
de tal crena somente veio mostrar-se em toda sua pujana no sculo XX. De fato,
os diversos saberes foram adquirindo, ao longo do sculo e de forma cada vez
mais ostensiva, aquilo que ordinariamente entende-se por carter tcnico ou
operacional, a saber, o formato de procedimentos capazes de produzir um
resultado um objeto ou um estado de coisas previamente planejado.
A cincia da natureza, sob a forma que assumiu no sculo passado,
nos presenteou com faanhas que jamais ousramos imaginar e que expem a
falncia do poder iluminador de grande parte das distines que a tradio nos
legou. Procedimentos tais como a fisso nuclear, a fabricao em laboratrio de
novos elementos, a reproduo in vitro, a clonagem, a produo de transgnicos,
procedimentos desse tipo parecem somente com muita dificuldade se deixar
encaixar na oposio que diferenciou physis de nomos323 e que trouxe consigo a
distino entre saberes terico-contemplativos e saberes tcnico-prticos,
respectivamente. Antes, tais procedimentos parecem indicar que o homem est
galgando o lugar que desde h muito fora reservado a Deus, o lugar de criador da
natureza, abolindo, assim, aquela slida e tranqilizante referncia a um mundo
natural que no dependia, para ser, das vontades, sonhos e afs humanos e que,
por isso, representava uma
322
323
Arendt, Hannah, A Condio Humana, ed. Forense Universitria, Rio de Janeiro, 1987, p. 306.
Como se sabe, esta oposio desde cedo, com os gregos e explicitamente com Aristteles, se
estruturou segundo o critrio que distingue aquilo que tem o seu princpio de vir-a-ser em si
mesmo daquilo que deve sua existncia ao fato de haverem homens que vivem em comunidade e
que deixam para as geraes vindouras no somente um mundo artificial, mas tambm leis,
costumes e convenes.
234
limitao intransponvel eventual desmedida e presuno do homem. Pois, se
verdade que tais procedimentos no constituem uma fabricao ex-nihilo
no se trata, de fato, de uma criao a partir do nada, sendo imprescindvel para a
sua realizao uma espcie de matria prima, uma reserva material ou gentica
disponvel para ser virtualmente organizada de tal ou qual maneira, tambm
patentemente evidente que no horizonte destas operaes est presente a
convico de que no h, em princpio, estruturao da matria ou da vida que no
possa ser alterada, estando a totalidade do que literalmente disponvel para a
tarefa in-formadora do homem. como se o homem tivesse conquistado no
mbito da natureza uma liberdade incondicionada, liberdade jamais cogitada, que
mais assusta do que alegra e que, longe de lhe acenar com esperana, lana uma
sombra de inquietao e dvida em relao ao futuro, pelo fato de que agora tudo
possvel.
De outro lado, se dirigirmos nossa ateno para as conquistas
alcanadas pelas reas do saber que tm por objeto a cultura humana, as
perplexidades tambm nos assaltam. O sculo XIX assistiu ao surgimento
de uma distino no mbito dos saberes que, apesar da enorme massa de
literatura produzida para justific-la, acabou, muito rapidamente, por
revelar-se inteiramente obsoleta: refiro-me to falada oposio entre
cincias da natureza e cincias do esprito. Desde o nascimento destas
ltimas, viu-se a insistente reivindicao para si de um mtodo prprio,
diferente do mtodo explicativo das cincias naturais o chamado
mtodo compreensivo, reivindicao que foi assumindo carter cada
vez mais desesperado, na exata medida em que ia se tornando bvio que o
tal mtodo
compreensivo com suas conotaes contemplativas no
operacionais constitua um radical anacronismo num mundo em que
saber cientfico e capacidade de produzir resultados se tornaram
sinnimos. Se o que animara tal distino era a preocupao de preservar
o mbito das relaes inter-humanas do carter objetivante de controle,
clculo e manipulao prprios das cincias da natureza, preservando a
liberdade inerente capacidade de iniciar algo de inteiramente novo, o que
se verifica que o aprimoramento da organizao social do trabalho com
235
vistas a um aumento sempre crescente de produtividade parece ter
adquirido o estatuto de uma lei natural diante da qual qualquer esforo
humano em sentido contrrio torna-se vo. Fenmenos como a
substituio da fora de trabalho humana seja intelectual, seja
manual por computadores ou robs que desempenham as mesmas
funes de forma mais eficiente e menos onerosa, empurrando assim
camadas cada vez mais numerosas da populao para a condio de
parasitas sociais, parecem constituir processos de carter inexorvel. De
outro lado, mas em completa solidariedade com a concepo de um
potencialmente infinito aumento da produtividade, as cincias da
comunicao particularmente, a publicidade, mas tambm a indstria de
informao veiculada diariamente atravs de noticirios de rdio ou
televiso, de jornais, revistas e internet, etc. desenvolvem seus
respectivos saberes sob o princpio, se no do carter infinito das
necessidades
humanas,
da
sua
real
indeterminao
que,
consequentemente, permite conceber como possvel a fabricao de
qualquer tipo de demanda. Simultaneamente, assiste-se a um crescente
aumento na velocidade de transmisso dos contedos veiculados, assim
como a uma tendncia irrefrevel de incorporao do conjunto da
humanidade nas diversas modalidades de redes de comunicao, o que
parece reforar os elementos de controle e manipulao que se desejaria
estivessem confinados s relaes homem/natureza. Paradoxalmente, e no
sem preocupao, as cincias do homem parecem ter se resignado
constatao de que a liberdade foi substituda pelo comportamento,
reconhecendo e assumindo o fato de que este pode ser submetido
previso e ao clculo que antes se consideravam prprios da objetivao
realizada pelas cincias da natureza.
Freqentemente compara-se a situao da civilizao ocidental
do adolescente: cresceu vertiginosamente rpido, tem um corpo de adulto e a
fora fsica correspondente, mas o acompanha uma cabea de criana
inteiramente confundida pelos recentes poderes adquiridos. Nesta linha de
pensamento que considero dominante a respeito destes assuntos,
236
obviamente no caso de haver algum pensamento sobre eles tornou-se quase
um lugar-comum apontar o perigoso desequilbrio que existiria entre o
enorme desenvolvimento do conhecimento humano e seu poder correlato
de controlar e manipular o real, natural ou histrico e a visvel estagnao,
quando no involuo, das capacidades humanas tico-espirituais. Em razo
deste desequilbrio, o feitio teria se voltado contra o feiticeiro: o imprio
de interesses particulares, assim como o imediatismo e a irreflexo muitas
vezes associados queles, seriam os responsveis pelas conseqncias
nefastas de uma aplicao insensata do saber cientfico e tecnolgico.
Uma conseqncia deste estado de coisas tem sido a vinda a
primeiro plano da discusso em torno das questes ticas e jurdicas
implicadas no exerccio destas novas capacidades, discusses que tentam
estabelecer desde princpios gerais orientadores para a aplicao do saber
adquirido, at a prpria suspenso da investigao em certas reas. A
expectativa que uma discusso responsvel sobre este estado de coisas
permitiria uma tomada de conscincia em relao aos perigos por ele
levantados, permitindo uma espcie de correo de rota que devolvesse a
esta cincia o carter humanista na acepo corrente que se reserva a este
termo que o empreendimento da razo ocidental sempre tivera.
A partir de que quadro compreensivo se organiza este diagnstico que
nos to comum? Parece-me bastante claro que quando pensamos desta forma,
est implcito que nos concebemos como sujeitos que estabelecem fins para si
mesmos, e que a partir deste estabelecimento de fins, arregimentam meios para
alcan-los. O saber cientfico-tecnolgico, pensa-se, faz parte essencial do
arsenal de instrumentos de que dispomos para atingir os fins estabelecidos. Assim,
para nomear este primeiro desenho da compreenso destes assuntos, gostaria de
servir-me da expresso concepo instrumentalista da cincia e da tcnica.324
324
Em dcadas passadas temos assistido, nos meios acadmicos, a uma discusso acerca do carter
da cincia. Nela se defrontam duas posies antagnicas: o instrumentalismo ou pragmatismo
versus o realismo ou descritivismo. Parece-me fora de discusso que o tipo de justificativa de que
a pesquisa cientfica se serve para sua legitimao de ordem pragmtica, mesmo quando, como
no caso das reas tericas (em oposio s aplicadas), o mbito de aplicao, a utilidade
especfica, etc., estejam ainda indeterminados. Em outras palavras, cada dia mais raro encontrar
237
O quadro compreensivo a que acabei de me referir, supe noes
como sujeito, fins, meios, estabelecimento de fins para si. Possivelmente
na filosofia de Kant que estas noes que norteiam a compreenso
instrumentalista da tcnica so mais precisamente formuladas. Referimo-nos,
portanto, ao pensamento do filsofo alemo como primeiro arcabouo
compreensivo a partir do qual nos possvel, contemporaneamente, compreender
o saber tcnico-cientfico como instrumento.
A concepo instrumentalista do saber tcnico-cientfico
luz da filosofia de Kant
Como se sabe, para Kant, o ser racional busca fins propriamente
racionais, isto , fins para cuja efetivao a natureza no pode ser suficiente, uma
vez que a sua realizao supe a conformidade com uma idia.325 Contrariamente
ao racionalismo dogmtico que cr encontrar estes fins racionais fora da prpria
razo, Kant argumenta que, ao colocar os seus fins supremos, a razo se toma a si
mesma como fim. Em outras palavras, os fins ou interesses da razo no so
ajuizveis nem pela experincia, nem por instncias superiores ou exteriores
prpria razo. Mas, que interesses so estes? A razo experimenta interesse pelos
objetos sobre os quais ela legisla: os fenmenos na faculdade de conhecer, e os
seres racionais considerados como coisas em si mesmas na faculdade de
algum tipo de discurso que afirme que o valor da empresa cientfica est no fato de atualizar a
busca da verdade, suprema vocao do ser humano, e isto, independentemente de todo interesse
prtico. Ao nos deparar com semelhantes pronunciamentos, tendemos a consider-los, a maioria
das vezes, como artigos de f pessoal: h algo neles que nos soa de modo anacrnico, tanto mais
quando --como acontece frequentemente-- neles se faz um apelo a justificativas teolgicas ou
mesmo metafsicas --no sentido ordinrio que se reserva a este termo. Que assim seja -constatao da qual um realista pode bem partilhar-- no , evidentemente, para esse mesmo
realista, nem para ns, prova de nada. De fato, poderia, haver uma inteira incompreenso acerca
da natureza da cincia . Neste trabalho, apesar de partir da compreenso ordinria da cincia e da
tcnica --a que chamei de instrumentalista-- no me eximirei de abordar o ponto de vista realista
e de mostrar que ele se assenta numa compreenso do ser e do pensar que Heidegger entende como
dispensada pelo modo de desvelamento poitico.
325
Cf. Kant, I., Crtica da Faculdade do Juzo, trad. Valrio Rohden e Antonio Marques, ed.
Forense Universitria, Rio de Janeiro, 1993, 397 (p. 275).
238
desejar.326 Estes dois tipos de interesse o interesse especulativo e o interesse
prtico no somente no esto em conflito, eles se articulam de forma
hierrquica: o interesse especulativo subordinado ao interesse prtico. Diz Kant:
<...> no em relao faculdade de conhecimento do mesmo <do
homem> (razo terica) que a experincia de todo o restante do
mundo recebe antes de mais nada o seu valor, talvez para que exista
algum que possa contempl-lo. Pois se esta contemplao do mundo
no lhe representasse seno coisas desprovidas de fim terminal,
somente pelo fato de aquele ser conhecido no se pode acrescentar
qualquer valor existncia do mundo, e tem que pressupor-se de
antemo um fim terminal do mesmo, em relao ao qual a prpria
contemplao do mundo tenha um valor. 327
Fim terminal quer dizer fim em si e refere-se aqui ao homem
enquanto ser racional, isto , determinado pela lei moral. O saber especulativo
possui valor somente porque est a servio do homem como ser racional. Mas, o
que significa este estar a servio? O homem supra-sensivelmente determinado
d a si prprio e natureza, includo ele enquanto ser sensvel, um fim: permitir a
juno da felicidade universal moralidade. Sendo assim, e acompanhando o
fragmento que acabei de citar, o interesse especulativo s encontra fins na
natureza sensvel porque, mais profundamente, o interesse prtico implica o ser
racional como fim em si e tambm como fim ltimo da natureza sensvel.
<...> todo o interesse finalmente prtico e mesmo o da razo
especulativa s condicionado e completo no uso prtico. 328
326
H na faculdade do juzo um terceiro interesse racional: aquele que ns experimentamos pelo
acordo contingente das produes da natureza com nosso prazer desinteressado. Este interesse no
, entretanto, relacionado com objeto algum, uma vez que o prazer esttico inteiramente
desinteressado por no implicar, de modo qualquer, a existncia de um objeto: o belo, segundo
Kant, no objeto de um interesse da razo. (Cf. Crtica da Faculdade do Juzo, op. cit., 166-16 -p. 144.)
327
Idem,410-411 (282-283).
328
Kant, I., Crtica da Razo Prtica, trad. Artur Moro, Edies 70, Lisboa, 1984, A 219 (p.140).
239
A configurao que muito sucintamente acabamos de apresentar
diferencia-se radicalmente daquela clssica, expressa magistralmente, pela
primeira vez, na Alegoria da Caverna de Plato. L, a realizao plena do ser
humano se funda na manuteno de uma orientao constante para aquilo que tem
mais ser e verdade. Somente a inteleco daquilo que causa de quanto h de
justo e belo garante ao homem a possibilidade de ser sensato na vida particular
e pblica.329 Em outras palavras, a paideia platnica compreende o homem como
aquele que vocacionado para algo que no ele mesmo e de onde ele recebe a
possibilidade de realizao da sua essncia.
Bem diferente o ponto de vista kantiano. Para o filsofo alemo, este
tipo de antropologia filosfica s pode propiciar uma compreenso heternoma
da dimenso tica do homem, heteronomia que o despoja de qualquer dignidade
inerente. Se o homem deve ter algum valor per se, este valor deve residir no fato
de que ele o seu prprio legislador, isto , no fato de que ele encontra o seu
princpio de determinao no alhures, mas na prpria razo.
O princpio de determinao prprio a lei moral no algo a ser
conquistado atravs de algum tipo de formao; antes, ele um factum da
razo. Com esta expresso, Kant quer tornar evidente o carter efetivamente
constrangedor da lei, um constrangimento que, por ser auto-imposto, no aliena o
homem em relao a nenhuma outra coisa. No preciso ser sbio para ser
homem. Com estas palavras cujo profundo significado Kant diz ter apreendido
de Jean Jacques Rousseau quer evidenciar os dois aspectos acima citados: em
primeiro lugar que no no saberpara Kant, a razo no seu uso terico,
mas na moralidade o uso prtico puro da razo que reside o essencialmente
humano; em segundo lugar, que a dimenso prtica da razo no deve ser
interpretada intelectualisticamente, isto , fundada em algum tipo de exerccio
terico que no necessariamente engaja a totalidade dos homens: o homem, desde
o mais simples trabalhador manual at o mais eminente intelectual, possui em si o
princpio de sua determinao e, por conseguinte, a fonte da sua dignidade.
329
Cf. Plato, A Repblica, trad. de Maria Helena da Rocha Pereira, ed. Fundao Calouste
Gulbenkian, Lisboa, 1983, 517c.
240
luz desta articulao acerca da essncia humana, Kant nos apresenta
uma exposio bastante clara sobre o que escolhemos chamar de concepo
instrumentalista da tcnica. A passagem a que nos referimos est presente na
Fundamentao da Metafsica dos Costumes,330 e introduzida por uma distino
entre a vontade absolutamente boa, aquela onde a determinao do querer em
relao a uma dada ao experimentada como necessria no s objetiva, mas
subjetivamente, e a vontade humana, aquela onde subjetivamente a
determinao do querer para a realizao da ao experimentada como
contingente. A vontade humana, em razo desta ciso o fato de que no
suficiente para que o homem se determine a fazer alguma coisa que ele saiba
racionalmente que essa coisa boa, uma vontade onde os ditames da razo
adquirem a forma da obrigao, obrigao que, por sua vez, se exprime no modo
de imperativos. Os imperativos, segundo Kant, expressam uma necessidade
objetiva que pode ser ou completamente absoluta e incondicionada trata-se
neste caso de um imperativo categrico ou, pelo contrrio, uma necessidade
condicionada e relativa a outra coisa o caso do imperativo hipottico. Diz
Kant:
No caso de a ao ser apenas boa como meio para qualquer outra
coisa, o imperativo hipottico; se a ao representada como boa
em si, por conseguinte, como necessria numa vontade em si
conforme razo como princpio dessa vontade, ento o imperativo
categrico.331
Em outras palavras, se uma ao ordenada objetivamente como
um fim em si isto , incondicionadamente, uma tal ordem categrica e o
princpio que a determina um mandamento ou lei da moralidade neste caso, o
imperativo comanda independentemente de qualquer inteno particular do
agente. Dentre os imperativos hipotticos, Kant distingue dois tipos: os
pragmticos e os tcnicos. Os primeiros dizem respeito a orientaes com vista
330
Kant, I., Fundamentao da Metafsica dos Costumes, trad. Paulo Quintela, col. Os
Pensadores, ed. Abril Cultural, So Paulo, 1974, 2a. Seo, Transio da filosofia moral popular
para a metafsica dos costumes, p. 217 e ss.
331
Idem, ibidem, p. 219.
241
procura da felicidade. Esta , de fato, um fim geral todos os homens tm a
inteno real de fomentar sua felicidade, mas a generalidade deste fim repousa
numa necessidade natural, e por isto, sensivelmente determinada. A felicidade,
segundo Kant, um conceito do entendimento que ganha determinao
empiricamente, o que quer dizer que seu contedo no possui universalidade
aquilo em que consiste a felicidade para algum num determinado tempo pode
perfeitamente no ser o mesmo em um outro momento ou para uma outra pessoa.
Os princpios que determinam os imperativos pragmticos so chamados por Kant
de conselhos da prudncia e estes possuem uma necessidade condicionada quele
agente naquela situao.332 O segundo tipo de imperativos, os imperativos
tcnicos, so propriamente hipotticos, uma vez que a inteno , neste caso,
meramente possvel e no efetivamente real. Os princpios que determinam a
ordem so chamados por Kant de regras de destreza. O fragmento que citamos a
seguir bem eloqente acerca do carter propriamente hipottico deste tipo de
imperativo:
Todas as cincias tm uma parte prtica, que se compe de
problemas que estabelecem que uma determinada finalidade possvel
para ns, e de imperativos que indicam como ela pode ser atingida.
Estes imperativos podem por isso chamar-se de imperativos de
destreza. Se a finalidade razovel e boa no importa aqui saber, mas
to-somente o que se tem de fazer para alcan-la. As regras que o
mdico segue para curar radicalmente o seu doente e as que segue o
envenenador para o matar pela certa, so de igual valor no sentido de
que quaisquer delas serve para conseguir perfeitamente a inteno
proposta. Como no sabemos na primeira juventude quais os fins que
se nos depararo na vida, os pais procuram sobretudo mandar ensinar
aos filhos muitas coisas e tratam de lhes transmitir a destreza no uso
dos meios para toda sorte de fins, de nenhum dos quais podem saber
se de futuro se transformar realmente numa inteno do seu educado,
sendo entretanto possvel que venha a ter qualquer deles: e este
cuidado to grande que por ele descuram ordinariamente a tarefa de
formar e corrigir o juzo dos filhos sobre o valor das coisas que
podero vir a eleger como fins.333
332
A rigor, este tipo de princpio no propriamente hipottico, se por hiptese compreendemos
um enunciado da forma se voc quer x, ento faa y. A inteno de fomentar a felicidade deve
ser admitida como certa e a priori e no como hipottica. ( isto o que Kant quer significar ao
falar dela como uma inteno real e no meramente possvel, cf. idem, ibidem, p. 220.) Entretanto,
a determinao do que seja relevante, em cada caso, para a realizao deste fim , como foi dito
acima, contingente e, consequentemente, condicionada.
333
Idem, ibidem, p. 219.
242
So dois os aspectos para os quais quero chamar a ateno nesta
citao:
1) As cincias se compem de uma parte terica e uma parte
prtica. Esta ltima estabelece finalidades possveis de serem realizadas e
modos de proceder para alcan-las no caso da vontade do agente vir a ser
determinada na direo daquela finalidade. ( possvel, claro, que uma
determinada pessoa nunca queira efetivamente realizar uma dada finalidade e
que, por esta razo, ela jamais venha a fazer uso desse particular saber
tcnico-prtico.)
2) Eleger fins, isto , determinar a vontade em relao a isto ou
quilo, nada tem a ver com aquele saber tcnico-prtico. nesta esfera que
o homem exerce propriamente o uso prtico da razo, o poder de se
determinar para a ao atravs de fins livremente escolhidos por ele mesmo.
Nela h, como aponta a passagem citada, um exerccio da faculdade de julgar
para determinar o valor das coisas que <se> podem vir a eleger como fins.
O imperativo categrico, por ser a mera forma da lei, jamais determina
concretamente esta ou aquela finalidade para a ao. Ele exerce o seu
constrangimento, se se quer, negativamente, isto , como uma espcie de
teste para avaliar se a mxima que determina a ao pode ser
universalizada. A escolha concreta de fins para a ao alcanada atravs de
um exerccio da faculdade de julgar que se orienta por regras de natureza
diferente que as regras de destreza. Trata-se de juzos teleolgicos, isto ,
fundados no princpio reflexionante da faculdade de julgar, princpio que
supe subjacente ao conjunto da criao o homem como ser, a um tempo,
sensvel e moral, e o todo da natureza uma idia racional, no seu contedo
inacessvel ao homem, mas pensada como fim para uma razo divina.334
334
por esta razo que a faculdade de julgar ocupa um lugar intermdio entre o uso prtico da
razo e o seu uso terico. Ela possibilita o trnsito de um uso ao outro --da cega causalidade da
natureza causalidade finalstica da vontade--, com o objetivo da realizao conjunta da
moralidade e a felicidade universal.
243
A partir dos dois aspectos acima destacados tem-se j um desenho
do que compreendemos sob a expresso concepo instrumental da tcnica e
da cincia. verdade que pode parecer abusivo, na filosofia de Kant,
estender o carter instrumental prprio da tcnica tambm cincia, ou para
servir-me da expresso kantiana, parte terica das cincias. Pode-se
argumentar razoavelmente que, segundo o filsofo alemo, a cincia por
exemplo, a fsica-matemtica newtoniana ainda concebida como uma
descrio adequada da realidade fenomnica e que, nesse sentido, mantm-se
os princpios que norteiam a noo de theoria desde os gregos, princpios
expressos na trade harmonia, simplicidade e beleza. Que assim seja, que
este seja ainda o ponto de vista de Kant, deve-se tambm ao princpio
teleolgico do julgar reflexionante, agora exercido no na esfera prtica
para a auto-determinao de fins racionais concretos mas na esfera do
interesse especulativo da razo. Segundo Kant, todo progresso efetivo das
cincias ou seja, o avano na determinao de regularidades empricas
se apia na suposio de que
como as leis universais tm o seu fundamento no nosso
entendimento, que as prescreve natureza (ainda que somente
segundo o conceito universal dela como natureza) tm as leis
empricas particulares, a respeito daquilo que nelas deixado
indeterminado por aquelas leis, que ser consideradas segundo uma
tal unidade, como se igualmente um entendimento (ainda que no
o nosso) as tivesse dado em favor da nossa faculdade de
conhecimento, para tornar possvel um sistema de experincia
segundo leis da natureza particulares.335
Este entendimento, que no o nosso, o entendimento divino,
e somente sob a suposio de que esse entendimento tenha criado a
natureza segundo um conceito (isto , segundo regras), que adquire sentido
para ns procurar a unidade de todos os princpios empricos sob princpios
igualmente empricos, mas superiores. Em outras palavras, a idia de sistema
335
Cf. Kant, I., Introduo, IV in: Crtica da Faculdade de Julgar, trad. Valrio Rohden e
Antnio Marques, ed. Forense Universitria, Rio de Janeiro, 1993, p. 24.
244
no emprica, mas transcendental, embora e Kant extremamente cioso
em relao a esta afirmao no se trate de uma categoria do entendimento,
isto , embora ela no legisle sob os fenmenos, determinando-os
(constituindo-os, valeria tambm dizer), mas meramente oriente (regule) o
exerccio reflexivo da razo. justamente advertindo para esta possvel
confuso que Kant conclui o pargrafo acima citado com as seguintes
palavras:
No como se deste modo tivssemos que admitir um tal
entendimento (pois somente faculdade de juzo reflexiva que
esta idia serve de princpio, mas para refletir, no para
determinar); pelo contrrio, desse modo, esta faculdade d uma lei
somente a si mesma e no natureza. 336 337
Como disse acima, pode parecer abusivo falar, quando se trata da
filosofia de Kant, de uma concepo instrumental do conhecimento
cientfico. Entretanto, pelo fato do interesse especulativo estar claramente
subordinado ao interesse prtico e o julgar deste, por sua vez, estar orientado
pela idia de um fim terminal que consiste na juno da felicidade e da
moralidade, est j presente nesta filosofia uma concepo tcnica do
conhecimento, entendendo aqui pelo termo tcnico aquele carter
instrumental a que venho me referindo.
As vicissitudes desta concepo instrumentalista da cincia e da
tcnica no foram poucas no transcurso dos dois sculos que nos separam da
formulao kantiana. Nas pginas que se seguem ser desenvolvida a posio
de um filsofo contemporneo, Jrgen Habermas, por consider-la herdeira
336
337
Idem, ibidem.
A distino entre princpios constitutivos dos fenmenos e princpios regulativos do exerccio
da razo, j no mais esclarecedora para ns que fomos obrigados, pelas cincias do nosso
tempo, a nos acomodar ao fato de que o domnio de representao das mesmas escapa cada vez
mais a toda intuio. Penso, por exemplo, na dificuldade que teramos para enquadrar em qualquer
uma destas categorias um princpio semelhante ao Princpio da Incerteza de Heisenberg. O que
aqui est em questo a afirmao kantiana de que tempo e espao so forma a priori de todos os
fenmenos externos enquanto dados. Os objetos da fsica contempornea no so, neste sentido,
fenmenos. Como veremos, uma compreenso historial do recuo da poiesis em favor do Gestell
permite entender como o crescente processo de perda da capacidade de intuir das cincias
contemporneas, longe de obstaculizar o seu sucesso, o fomenta.
245
deste primeiro arranjo conceitual sem, entretanto, ser uma mera repetio
dele.
A concepo instrumentalista do saber
tcnico-cientfico luz do pensamento
de Jrgen Habermas
Quando me referi filosofia de Kant como primeira configurao do
quadro compreensivo onde repousa o que chamei de concepo instrumental do
saber tcnico-cientfico destaquei que, segundo essa mesma filosofia, a razo
dotada a priori de um princpio teleolgico que orienta o exerccio da capacidade
de julgar, tanto no seu uso especulativo quanto, e principalmente, no seu uso
prtico. O sapere aude justamente o exerccio da razo assim orientado,
exerccio que Kant compreende como Aufklrung: o processo de esclarecimento
que conduz o homem sada da sua condio de menoridade. No seu escrito
Resposta Pergunta: Que Esclarecimento?, Kant focaliza sua argumentao
principalmente
sobre
as
questes
de
natureza
religiosa questes de
conscincia moral, nas suas palavras, afirmando que a plena liberdade no uso
pblico da razo capaz de conduzir a humanidade sua emancipao.338 Esta
nfase nos assuntos morais justificada por Kant com a seguinte observao:
Acentuei preferentemente em matria religiosa o ponto principal do
esclarecimento, a sada do homem de sua menoridade, da qual tem a
culpa. Porque no que se refere s artes e cincias, nossos senhores no
tm nenhum interesse em exercer a tutela sobre seus sditos, alm de
338
Cf. Kant, I., Resposta Pergunta: Que Esclarecimento? in Immanuel Kant - Textos
Seletos, ed. Vozes, Petrpolis, 1974. Neste texto Kant distingue um uso privado da razo de um
uso pblico. Enquanto no primeiro a palavra privado indica justamente privao --ali o homem
deve obedecer, e consequentemente determina sua ao pela razo de outrem--, a dimenso
pblica caracterizada pelo tornar manifesto aos outros o ponto de vista de cada um, sem nenhum
tipo de subservincia ou constrangimento por parte de quaisquer doutrinas ou credos. Kant encerra
o escrito com um voto de esperana de que esta vocao ao pensamento livre que anima um
exerccio da razo cada vez mais amadurecido retorne progressivamente sobre o modo de sentir
do povo (com o que este se torna capaz cada vez mais de agir de acordo com a liberdade), e
finalmente, at mesmo sobre os princpios do governo, que acha conveniente para si prprio tratar
o homem, que agora mais do que simples mquina, de acordo com a sua dignidade. (p. 116).
246
que tambm aquela menoridade <a menoridade moral> de todas a
mais prejudicial e mais desonrosa.339
Em outras palavras, o exerccio reflexivo da razo parece ser, em
Kant, enfaticamente vocacionado para as questes prtico-morais. Esta ntima
relao entre o exerccio cada vez mais amadurecido do juzo e a maior
racionalidade na auto-determinao de fins ser, um sculo mais tarde, fortemente
questionada. Tenho em mente a distino weberiana entre juzos de fato e juzos
de valor, e a insistente recusa da possibilidade de que exista, no domnio dos
segundos, algum tipo de racionalidade. Detenhamo-nos um pouco na
configurao que Max Weber nos apresenta.
Se para Kant a vontade, na sua forma superior isto , autnoma,
no outra coisa que razo prtica, para Max Weber no existe, no mbito da
determinao da vontade, racionalidade alguma. J fizemos aluso, quando
rapidamente nos referimos filosofia prtica de Kant, famosa passagem com
que Plato abre o Livro VII da sua Repblica a Alegoria da Caverna. Na
conferncia que conhecemos sob o nome de A Cincia como Vocao,340 o
prprio Weber faz referncia mesma passagem. Segundo ele, em Plato, o saber
e o sentido da existncia humana esto perfeitamente articulados: o homem liberto
que alcana a contemplar o ser na sua verdadeira aparncia conquista o bem-viver,
conquista, por assim dizer, uma vida prenhe de sentido. esta articulao que o
crescente processo de racionalizao o progressivo desencantamento do
mundo joga por terra. No sem amargura, Weber constata que aquele que
decide oferecer sua vida cincia ao saber, no sentido mais largo do termo
no mais pode esperar que o objeto de sua atividade mesmo que esta seja
razoavelmente bem-sucedida no seu desempenho possa lhe retribuir uma
orientao para viver de um modo existencialmente pleno.
A racionalizao, da qual a especializao cientfica e a diferenciao
tcnica so as maiores promotoras, organiza a vida humana dividindo e
339
340
Idem, ibidem, p. 114.
Weber, M., A Cincia como Vocao in: Cincia e Poltica, ed Cultrix, So Paulo, 1978.
247
coordenando as diversas atividades, com vistas a sua maior eficcia e rendimento.
Fazendo isto, e como sua contrapartida, os homens se vem lanados num mundo
vazio, rotineiro, cansativo e utilitrio que eles tentam preencher com um turbilho
de intensas "vivncias pessoais".341
Na anlise weberiana, a incorporao crescente de mais e mais
domnios da vida humana lgica desta racionalizao "eficiente", longe de
implicar a superao do "irracionalismo", muito mais parece acirr-lo,
desembocando num voluntarismo que de modo nada sbrio apregoa devoes de
duvidosa autenticidade. Diante desta situao, e notadamente com um profundo ar
pessimista, Weber convida aqueles que no tm coragem de suportar a
mesquinhez deste nosso tempo, isto , de suportar uma vida irremediavelmente
destituda de sentido, a retornar ao seio das velhas igrejas.342
Assim, na tica de Max Weber, embora a cincia e a tcnica, atravs
do clculo e da previso, tornem a atividade humana da fabricao cada vez mais
confivel uma vez que se pode avaliar o alcance dos efeitos eventualmente
gerados pela produo de alguma coisa artificial este mbito de
compreensibilidade somente uma espcie de ilha em meio a um mar de
irracionalidade. Se em razo da estrutura teleolgica, caracterstica da
fabricao, que o comportamento humano se torna compreensvel e "racional",
uma vez que tem por base a avaliao tcnica da relao meios-fins, ento, a
determinao dos fins e ainda mais, dos valores que animam a existncia de um
ou vrios indivduos escapa completamente de qualquer tipo de racionalidade
ou compreensibilidade.
341
Diz Weber: "Se existem conhecimentos capazes de extirpar, at s razes, a crena na existncia
de seja l o que for que se parea a uma 'significao' do mundo, esses conhecimentos so
exatamente os que se traduzem pelas cincias". E pouco adiante: "O pressuposto fundamental de
qualquer vida em comunho com Deus impele o homem a se emancipar do racionalismo e do
intelectualismo da cincia: essa aspirao, ou outra do mesmo gnero, erigiu-se em uma palavra de
ordem essencial, que faz vibrar a juventude alem inclinada emoo religiosa ou em busca de
experincias religiosas." E imediatamente, e como se corrigindo: "Alis, a juventude alem no
corre cata de experincia religiosa, mas de experincia de vida em geral." (Op. cit., p. 35.)
342
"Todas as buscas de experincia vivida tm sua fonte nessa fraqueza, que a fraqueza de no
ser capaz de encarar de frente o severo destino do tempo que se vive." (Op. cit., p. 43.)
248
O que aqui est em jogo a famosa tese weberiana da irredutibilidade
dos valores. Na conferncia a que fizemos referncia, Weber afirma que no
mundo se confrontam valores mltiplos que, por conta da sua pluralidade
ineliminvel, sustentam a irracionalidade: o belo, o bom e o verdadeiro, aqueles
que desde h muito foram considerados os valores bsicos para os quais uma
existncia poderia se devotar, no denotam uma mesma coisa, nem so redutveis
a um comum denominador.343 Os gregos, segundo Max Weber, muito cedo teriam
percebido este fundo irracional que concede sentido vida, sendo o politesmo da
sua religio uma expresso deste saber.344
Na mesma conferncia, e a partir do diagnstico que acima relatei
muito sucintamente, Weber pergunta a seu auditrio qual poderia ser hoje, ento,
o significado da cincia? O que poderia ter a cincia para nos oferecer se ela no
capaz de dotar de sentido nossas vidas?345 A resposta a esta pergunta a seguinte:
a cincia oferece, em primeiro lugar, um conhecimento de como produzir certos
efeitos, isto , ela pode ser considerada como uma espcie de receiturio que
garante a consecuo bem-sucedida de certos fins, fins estes previamente
determinados de modo extra-cientfico. Sob este ponto de vista, os termos em que
Max Weber compreende a cincia so semelhantes queles em que Kant se refere
" parte aplicada das cincias" quando afirma que esta um conjunto de
343
"Se h uma coisa que atualmente no mais ignoramos que uma coisa pode ser santa no
apenas sem ser bela, mas porque e na medida em que no bela-- e a isso h referncias no
captulo LIII do Livro de Isaas e no salmo 21. Semelhantemente, uma coisa pode ser bela no
apenas sem ser boa, mas precisamente por aquilo que no a faz boa. <...> A sabedoria popular nos
ensina, enfim, que uma coisa pode ser verdadeira, conquanto no seja bela, nem santa, nem boa."
(Op. cit., p. 41.)
344
"A impossibilidade de algum se fazer campeo de convices prticas 'em nome da cincia' -exceto o caso nico que se refere discusso dos meios necessrios para atingir um fim
previamente estabelecido-- prende-se a razes muito mais profundas. Tal atitude , em princpio,
absurda, porque as diversas ordens de valores se defrontam no mundo, em luta incessante. Sem
pretender traar o elogio da filosofia do velho Mill, impe-se, no obstante, reconhecer que ele
tem razo, ao dizer que, quando se parte da experincia pura, chega-se ao politesmo." (Op. cit., p.
41.)
345
"Qual , afinal, nesses termos, o sentido da cincia enquanto vocao, se esto destrudas todas
as iluses que nela divisavam o caminho que conduz ao 'ser verdadeiro', 'verdadeira arte',
'verdadeira natureza, ao 'verdadeiro Deus', 'verdadeira felicidade'? <...> 'Que devemos fazer?
Como devemos viver?' De fato, incontestvel que resposta a essas questes no nos tornada
acessvel pela cincia. Permanece apenas o problema de saber em que sentido a cincia no nos
proporciona resposta alguma e de saber se a cincia poderia ser de alguma utilidade para quem
suscite corretamente a indagao." (Op. cit., pp. 35-36.)
249
proposies hipotticas (resumidamente: se voc quer x, ento faa y). Mas a
cincia, segundo Weber, tambm oferece um mtodo rigoroso mediante o qual o
conjunto de proposies hipotticas ou pode ser aumentado, submetendo ao
controlada do homem domnios que at esse momento escapavam dela, ou mesmo
tornado mais exato, fazendo recuar cada vez mais a imprevisibilidade do agir com
respeito a fins. Em terceiro lugar, haveria para Weber, mais uma coisa que a
cincia pode oferecer: a clareza em relao coerncia ou incoerncia na relao
valores/fins. Segundo Weber, a cincia pode apontar as contradies que
eventualmente venham a existir entre os valores que um indivduo ou um grupo
de indivduos dizem defender e os fins que eles determinam para si.346
No quadro que Max Weber nos apresenta e que acabamos de resumir
acima, parece-me claro que o conhecimento j concebido inteiramente em
termos tcnicos e a tcnica, em sentido estrito se que cabe aqui uma distino
entre cincia e tcnica, no mais do que um prolongamento mais "concreto"
daquele, prolongamento que ganha determinao por apresentar meios e
procedimentos cada vez mais especficos para lidar com tipos de situao.
Acompanha esta concepo instrumental do conhecimento, uma outra, solidria
com aquela, que diz respeito completa indeterminao racional dos fins e
tambm das mximas ou valores que orientariam a escolha dos mesmos.347
Em 1968, em homenagem aos setenta anos de Herbert Marcuse,
Jrgen Habermas escreve um ensaio intitulado "Tcnica e Cincia enquanto
Ideologia".348 Nele apresenta, de modo bastante sucinto, sua compreenso acerca
da natureza da cincia e da tcnica, assim como do papel que elas desempenham
346
Cf. op. cit., p. 45.
347
Por enquanto, estou me servindo dos termos tcnico e instrumental como sinnimos.
Como veremos adiante, ser justamente esta identificao a que torna difcil uma compreenso
mais aguda da essncia da tcnica moderna. O Gestell, ao abolir a prpria noo de fim em
sentido estrito --fins em si mesmos, na linguagem tradicional--, destitui de todo significado a
categoria de meios e, nesse sentido, torna a prpria noo de instrumentalidade pouco iluminadora.
Os dispositivos tcnicos contemporneos cada vez mais se mostram como instrumentos num
sentido muito peculiar: so instrumentos que no esto a servio de nenhum fim, mas,
simplesmente a servio de servir.
348
Habermas, J., "Tcnica e Cincia enquanto 'Ideologia'", trad. Zeljko Loparic e Andra Maria
Altino de Campos Loparic, in: Benjamin, Habermas, Horkheimer, Adorno, col. "Os Pensadores",
ed. Abril Cultural, So Paulo, 1983.
250
no mundo contemporneo. Sua anlise parte da crtica que Herbert Marcuse faz
interpretao weberiana do processo de racionalizao tcnico-cientfica.
O quadro interpretativo proposto por Max Weber, como vimos,
sustenta a tese bifacetada da irracionalidade no estabelecimento de valores/fins e
do carter meramente instrumental da racionalidade. Com isto, Weber destitui
cincia e tcnica de qualquer contedo valorativo, proclamando-as meros
instrumentos neutros disponveis para quem, por ventura, queira se servir deles.
No seu livro One-dimensional Man -Studies in the Ideology of Advanced
Industrial Society,349 Herbert Marcuse propor uma interpretao do processo de
racionalizao, cujo ponto central ser a denncia de um contedo valorativo na
cincia e na tcnica modernas, e isto a despeito de sua aparente neutralidade.
Vejamos os pontos decisivos desta interpretao.
Segundo Marcuse, o pensamento metafsico nasce com Scrates e
Plato marcado por um elemento crtico que contesta a experincia, tal qual se
apresenta imediatamente. Esta a experincia de
"um mundo afligido pela necessidade e pela negatividade,
constantemente ameaado de destruio, mas tambm um mundo que
um cosmo, estruturado de conformidade com causas finais."350
Assinalado por este antagonismo, o mundo carrega consigo aparncia
e realidade, inverdade e verdade, sujeio e liberdade. Estas distines, diz
Marcuse, no so introduzidas pelo pensamento terico. Antes, trata-se de
condies ontolgicas, condies que descortinam um mundo que no existe em
razo do pensamento terico, mas que, ao contrrio, o determina a ele, assim
como ao.
Em que consiste a determinao do pensamento por esta prcompreenso do mundo que o carrega de ambigidade e antagonismo? Segundo
349
Este livro foi traduzido para o portugus por Giasone Rebu e editado sob o nome de A
Ideologia da Sociedade Industrial - O Homem Unidimensional, Zahar Editores, Rio de Janeiro,
1973. As citaes correspondem a esta edio.
350
Marcuse, H., op. cit., p. 127.
251
Marcuse, a filosofia tem que salvar esse mundo da ameaa permanente provinda
do devir, da aparncia ilusria e da inverdade e, "na medida em que a luta pela
verdade 'salva' a realidade da destruio, a verdade compromete e empenha a
existncia humana".351
Assim, o ti esti socrtico no pergunta pela factualidade da realidade,
tal qual experimentada primeira e diretamente. Na interpretao de Marcuse, a
pergunta pelo "ser" de algo exige como resposta, antes, o que esse algo "deve ser",
do que o que de fato ele . Que quer isto dizer? Que o julgamento da filosofia,
sobre o que quer que seja, no se realiza em consonncia com o que a realidade
na experincia imediata; inversamente, a subverso dessa realidade que visada
por ele. "Nesta subverso, a realidade chega sua prpria verdade."
352
Para que
proposies como
"<...> 'virtude conhecimento', 'justia aquele estado no qual todos
desempenham a funo para a qual a sua natureza mais bem
apropriada', 'o perfeitamente real perfeitamente conhecvel' <...>
possam ser verdadeiras, o verbo '' declara um 'deve', um
desiderato."353
Em outras palavras, "o carter subversivo da verdade impe ao
pensamento uma qualidade imperativa",354 prtica: a realizao da verdade nas
palavras e nos atos do homem.
Segundo Marcuse,
351
Idem, p. 126.
352
Idem, p. 132.
353
Idem, p. 133.
354
Idem, ibidem.
252
"<esse> estilo de pensamento contraditrio e bidimensional a forma
ntima, no apenas da lgica dialtica, mas tambm de toda Filosofia
que se preocupa com a realidade."355
Entretanto, para Marcuse, este carter contraditrio e ambivalente do
ser e o seu correlato, o carter crtico do pensamento que tem nesta prcompreenso sua possibilidade, so, na tradio metafsica, mascarados. Na
formalizao aristotlica da estrutura das proposies, formalizao que abstrai a
unidade dinmica dos opostos ser/ no-ser, movimento/repouso, um/muitos,
identidade/contradio e com isso, abstrai a materialidade da realidade vivida,
comea a "derrota lgica do protesto".356 Na dialtica platnica os termos que
compem estes pares, sempre acompanhando Marcuse, eram mantidos em aberto,
e com isso, o seu universo de significao permanecia submetido ao processo de
comunicao livre que podia, a cada vez, ser reestruturado. Neste sentido Marcuse
afirma que, para Plato,
"<as> leis do pensamento so leis da realidade, ou, antes, se tornam
leis da realidade se o pensamento compreende a verdade da
experincia imediata como a aparncia de outra verdade, que a das
verdadeiras Formas da realidade das Idias."357
Contrariamente, Aristteles, no seu Organon, ao escolher a forma
proposicional "S P" (o juzo categrico) como fundamental, esconde aquele
carter imperativo da cpula que estava presente na origem do pensamento
ocidental, e com isso despotencializa o seu contedo crtico. Mas ser justamente
a formalizao lgica onde o pensamento abstrai dos seus objetos, para
encontrar as leis gerais da organizao e do clculo, que constituir a
ferramenta decisiva que, sculos depois, com a moderna concepo de natureza,
por-se- servio da consecuo de um projeto de controle universal.
355
Idem, ibidem.
356
O nome do captulo em que Marcuse aborda as origens da metafsica e sua estrutura
fundamentalmente bidimensional "Pensamento Negativo: a Derrota Lgica do Protesto".
357
Idem, p. 132.
253
Assim, Marcuse entende que o pensamento ocidental tem seu incio
marcado pelo que ele nomeia de bidimensionalidade, essa experincia do real
como sendo ambiguamente constitudo por devir e ser, iluso e verdade, sujeio
e liberdade. Tal experincia exigiria do pensamento uma atitude transformadora
de salvar a realidade da sua negatividade, uma atitude que chamarei de
prtica, no sentido kantiano do termo, isto , como determinando pensamento e
ao a partir da oposio entre ser e dever-ser. Por sua vez, Marcuse entende
que aquilo em que consiste o dever-ser cuja determinao decisiva para o
procedimento de um pensamento que se entende como crtico foi, na origem
com Scrates e Plato, aberto livre discusso e, nesse sentido, emancipado de
toda cristalizao dogmtica. O que a justia, o que a virtude, etc., no estaria,
sempre segundo a interpretao de Marcuse, decidido de antemo, mas pelo
contrrio estaria submetido a uma aberta e constante livre reformulao. Esta
posio, se a colocamos dentro de quadro categorial weberiano, poderia ser
expressa da seguinte maneira: a esfera dos valores e, consequentemente, da
determinao dos fins no somente no retirada do exerccio discursivo, mas
experimentada como possuindo uma racionalidade prpria que fora efetivamente
exercida na origem. isto o que Marcuse quer indicar quando afirma que a cpula
em Scrates e Plato indica muito mais um deve-ser do que um descritivo
de uma realidade que ali estaria como pura positividade, positividade isenta de
todo elemento de negao.
Como veremos, o diagnstico do pensamento ocidental que Marcuse
realiza aponta para um gradativo fechamento dessa dimenso aberta pelas
oposies com que o pensamento ocidental surge, isto , um nivelamento
unidimensional em razo da abolio do espao instaurado
pelos pares de
conceitos um negativo e outro positivo que estaria na base de todo elemento
crtico do pensamento, de toda filosofia que se preocupa com a realidade.
Como resultado, e a partir deste diagnstico, ter-se-, num primeiro
momento, a compreenso do pensamento em termos de theoria, isto , a
contemplao neutra e desinteressada do ser ser que, como dissemos, j fora
despido de toda a negatividade que a materialidade do real carrega consigo. A
figura do filsofo passar a ser ento a do homem que, pelo fato de aspirar
254
contemplao de um objeto muito mais eminente, despreza toda questo secular,
voltando-se para a transcendncia. Esta ainda reserva como hipstase do
oposto positivo presente na realidade material a possibilidade de um padro a
partir de onde se poderia desenvolver uma atividade crtica; entretanto, pelo fato
desta positividade ter sido "desencarnada" de toda matria, parecendo bastar-se a
si mesma, o pensamento clssico aristotlico e ps-aristotlico resulta numa
confessa renncia a transformar a realidade.
Dito em outros termos:
no
pensamento metafsico clssico segundo Marcuse, o pensamento que tem
origem com Aristteles os fins aquilo que indica o que o real "deve ser" e
no simplesmente o que de fato ele ainda possuem um estatuto ontolgico,
mas a concesso deste estatuto, pelo fato dele ter sido completamente
desmaterializado, tornou-se inofensiva para a situao imperante.
Com a cincia moderna, como veremos logo adiante, este estatuto
ontolgico dos fins ser abolido, radicalizando ao mximo o processo de
nivelamento unidimensional do pensamento. Pelo fato da natureza ter sido
compreendida como desprovida de fins,
"aquilo por que a natureza (incluindo o homem) pode estar batalhando
cientificamente racional somente em termos das leis do movimento
fsico, qumico ou biolgico." 358
Estas leis, segundo o projeto inaugurado na modernidade, sabemos,
no obedecem a qualquer telos, estando regidas por uma causalidade em si mesma
cega. Num primeiro momento do processo moderno de aniquilao dos fins, ainda
se reserva para estes um lugar: o esprito do homem que, sob a forma da faculdade
da vontade humana, introduz numa natureza indiferente a fins, a finalidade que
guia a ao. Entretanto, e isto o que Marcuse denuncia em Max Weber, os
valores e os fins determinados por eles j "demasiado humanos" tornar-se-o
"subjetivos", "no cientficos". Diz Marcuse:
358
Marcuse, H., op. cit., p. 145.
255
"Fora desta racionalidade <a racionalidade do movimento causal
isento de fins>, vive-se num mundo de valores, e os valores retirados
da realidade objetiva se tornam subjetivos. O nico modo de salvar
alguma validez abstrata e inofensiva para eles parece ser uma sano
metafsica (lei divina e natural). Mas tal sano no verificvel, no
sendo, portanto, realmente objetiva. Os valores podem ter uma
dignidade mais elevada (moral e espiritualmente), mas no so reais e,
assim, tm menos importncia no assunto real da vida quanto
menos assim for, tanto mais sero elevados acima da realidade." 359
E logo adiante,
"Se o Bem e o Belo, a Paz e a Justia, no podem ser extrados de
condies ontolgicas ou cientfico-racionais, no podem invocar para
si validez e realizao universais".360
Assim, aquilo que fora ainda reservado para uma racionalidade da
ao humana torna-se definitivamente irracional, uma vez que no pode mais
aspirar validade e realizao universais.
A racionalidade instrumental, que Weber aponta como principal fruto
do processo de desencantamento do mundo, foi elevada por ele condio de
nico modo de racionalidade. Ao fazer isto, segundo Marcuse, o conceito de razo
instrumental desqualifica como "irracionais" todas as esferas da vida humana que
tradicionalmente foram pensadas como no-instrumentais a poltica e a tica
, mas desqualifica tambm aquelas experincias que, de modo mais ou menos
evidente, ainda hoje achamos que no se conduzem por essa lgica a
experincia da criao artstica, do amor, etc. Esta desqualificao no
inofensiva, como se fosse uma espcie de "xingamento" endereado a algum que,
se sabe imerso na no-verdade, e que, portanto se desconsidera ou despreza. No,
esses outros discursos, essas outras "lgicas" aquelas que envolvem o
estabelecimento de fins a partir de valores, usando as categorias conceituais de
Weber e que, em linhas gerais, tambm Marcuse e Habermas assumem como
359
Idem, ibidem
360
Idem, ibidem.
256
prprias361 se mostram sem alternativa diante das duas opes que o seu
suposto "irracionalismo" lhes reserva: ou serem relegadas ao ostracismo, pois ali
no h nada que possa ser compreendido, no tendo sentido qualquer tentativa de
pensamento acerca delas,362 ou se submeterem racionalidade instrumental como
colnias de um imprio totalitrio.363
Com a expresso "imprio totalitrio", o que deve ser expressamente
pensado um tipo de dominao, aquela que possui um carter total, pois no se
trata de nada como uma colonizao que exija tributos, deixando os seus sditos
livres para seguirem suas prprias formas de vida, contanto que esses tributos
sejam pagos. No, para Marcuse, o imprio que a racionalidade instrumental
exerce totalitrio porque compele homogeinizao do todo sob sua lgica; em
outras palavras, ele no admite a diferena, nem mesmo subjugada.364
361
Com o adendo "em linhas gerais" quero dizer: "em ltima instncia". Quero indicar assim, que
tanto Marcuse --emaranhado nelas e experimentando, por isso mesmo, um grande embarao para
pensar com radicalidade aquilo que sua questo, e tambm a minha --, quanto Habermas,
tentando uma "reconstruo" da distino entre racionalidade discursiva e racionalidade
instrumental , pensam com as mesmas categorias, categorias oriundas da metafsica moderna e que
so as que, com esta exposio do que chamamos "a concepo instrumental do saber tcnicocientfico", queremos trazer luz para que se perceba a sua limitao, ou melhor e mais
enfaticamente, para que se perceba o empecilho que pem ao que considero ser uma compreenso
lcida dos impasses da contemporaneidade.
362
A rigor, se falamos de Max Weber, o pai da "sociologia compreensiva", parece abusivo dizer
que sobre a esfera dos valores (e do estabelecimento de fins a partir de valores) no se pode
pensar. De fato, boa parte da obra de Max Weber toma por objeto constelaes culturais que ele
entende como se desenhando a partir de certos valores. Entretanto, e isto quase ferozmente
afirmado por Weber --e , por sua vez, o que Marcuse denuncia--, esses empreendimentos de
pensamento --se so cientficos-- s podem mostrar a coerncia interna desses sistemas
valorativos, sendo inteiramente ilegtimo qualquer enunciado valorativo sobre eles. Max Weber
reclama para si o carter cientfico da sua sociologia, exatamente porque ela se restringe terceira
das utilidades que essa desencantada cincia oferece: o esclarecimento da coerncia interna entre
valores, ou na determinao da relao valores/fins.
363
Exemplos desta segunda alternativa no faltam: desde a arte submetida indstria cultural ou
ao mercado artstico, at a f religiosa posta a servio de empresas visivelmente mundanas --e isto
explicitamente, falando-se dela como um "meio til para...".
364
Neste sentido, est se tendo em mente o mesmo que Hannah Arendt aponta, na esfera
propriamente poltica, acerca da dominao totalitria que somente veio luz no sculo passado.
Para ela, o totalitarismo no nem autoritarismo nem ditadura. O primeiro representa uma forma
de governo onde h governantes e governados, isto , onde h uma hierarquia, hierarquia que se
assenta, entretanto, na lei: todo governo autoritrio legal, e isto quer dizer, no se sustenta no uso
da fora, mas o faz legitimamente, recebendo dessa lei tambm obrigaes e limitaes. A ditadura
ou tirania, segundo a tradio, ope-se justamente ao autoritarismo: ela fecha o espao pblico,
inaugurando um tempo de arbtrio, de ausncia de lei, onde o poder do tirano se sustenta no
exerccio da violncia e que, por isso, no tem mais limitao daquela que sua relativa fora ou
fraqueza lhe impem. Mas as tiranias conhecidas at nosso sculo, segundo Arendt, no tm
pretenses totalitrias, pois o espao privado, o espao do lar, mantm-se, se no se ameaa o
257
O que Marcuse percebe, e com o que tambm Habermas concorda,
que o diagnstico weberiano do conflito irremedivel de valores que ele ilustra
com a referncia ao politesmo grego no aquilo em que resulta a dominao
da racionalidade instrumental. O seu imprio totalitrio no nos devolve um
mundo plural mesmo que em conflito onde diversos valores se deparam em
confronto e decidem, ainda que atravs de mecanismos irracionais, qual deles
eventualmente subjuga os outros. No. Poderamos dizer que este colorido mundo
de vontades querendo se afirmar num combate incessante est muito afastado do
mundo cinzento, porque tediosamente nivelado, que a dominao da racionalidade
instrumental, de fato, prepara.365 O que este diagnstico exige, exigncia para a
qual Marcuse no parece estar altura e menos ainda Habermas, uma
reflexo acerca da natureza da vontade que, a partir deste estado de coisas, no
pode mais ser antropologicamente concebida. Em outras palavras, aquilo que tudo
isto pede para ser pensado o movimento historial moderno que desemboca na
vontade de poder nietzschiana, vontade que no mais concebida como faculdade
da razo humana, e sim como carter ontolgico do real, carter que se apropria
do homem, isto , que quer o homem ao seu servio sob a forma do superhomem.
Fiz at aqui, uma rpida exposio do ponto de vista de Herbert
Marcuse. Sua compreenso do caminho percorrido pelo pensamento ocidental tem
o mrito de manter sob o olhar aquilo que Nietzsche nomeou como "niilismo
tirano, preservado. Por esta razo, pode se afirmar que o princpio de ao que impera na tirania
o medo. Este, como "bom conselheiro", orienta os dominados que, se no desafiam a vontade do
tirano, se preservam de retaliaes. O governo totalitrio de outra natureza que aqueles dois. O
totalitarismo no respeita esfera alguma, abolindo qualquer distino entre espao pblico e
privado. O seu princpio o terror, segundo Arendt, e este, diferentemente do medo, no
princpio para a ao --mesmo que seja a ao de "bem-comportar-se" para no desafiar o tirano. O
terror justamente, sempre segundo Arendt, aquilo que aniquila a ao paralisando-a, porque no
h coisa que, diante da dominao totalitria, possa se fazer ou deixar de fazer para se preservar.
Em outras palavras, o arbtrio do terror totalitrio desarma qualquer vontade, mesma a suposta
vontade todo-poderosa do lider totalitrio. O que nele impera, sua lgica, o domnio
incondicionado da totalidade. (Cf. Arendt, H., "O conceito de autoridade" in: Entre o Passado e o
Futuro e As Origens do Totalitarismo.)
365
Se nos transportamos experincia de nossos dias, o que aqui est em questo o fato de que o
multiculturalismo --ou a to frequentemente bem recebida fragmentao do discurso que se
verificaria na irrupo das inmeras minorias-- no sinal de uma vitria da diferena sobre a
homogeneidade, mas, ao contrrio, constitui o seu mais inofensivo fruto.
258
ocidental" e que Heidegger entender como o movimento historial do Ocidente, o
j citado declnio da poiesis em favor do Gestell. No meu entender, e apesar das
suas insuficincias que, como acabei de antecipar, devem-se a uma
compreenso precria da vontade e do movimento historial que nela desembocar,
redundando no comprometimento de uma viso clara acerca da origem da
metafsica, trata-se de uma anlise que de fato nos convida a pensar alm dela,
sobretudo por causa da agudeza e lucidez evidenciadas na sua abordagem da
cincia moderna que, revelia do uso insistente do termo "instrumental" para
caracteriz-la, se revela como sendo essencialmente tcnica. (Pois, como
apontamos na nota 26 e desenvolveremos adiante, a indiferena com que Marcuse
e Habermas empregam os termos "tcnico" e "instrumental", considerando-os
praticamente como sinnimos, mais um sintoma do impensado da sua
compreenso.) Passaremos, seguidamente, a uma exposio desta abordagem. A
avaliao que Marcuse faz do projeto cientfico moderno , por outro lado, o locus
de discrdia que Habermas indica entre o seu ponto de vista e o de Marcuse.
Neste sentido, e antecipando a concluso deste anexo, tentarei mostrar como
Habermas na sua crtica a Marcuse, longe de radicalizar a compreenso deste
ltimo trazendo tona o seu impensado, recua, obscurecendo, deste modo, as
contradies que em Marcuse nos convidam a pensar alm dele mesmo
contradies que so salutares, porque fruto de uma reflexo que no se esquiva
daquilo que digno de questo e oferece, por isso, um legado a ns que viemos
depois dele.
A anlise que Marcuse faz da cincia moderna, como estando marcada
desde seu nascimento pela tecnicidade, tributria e o prprio Habermas, no-lo
diz366 da compreenso heideggeriana da essncia da tcnica moderna, assim
como do ensaio de Edmund Husserl Die Krisis der Europaischen Wissenchaften
und die transzendentale Phaenomenologie.
Para Marcuse, a cincia moderna que nasce com Galileu e Descartes
foi estruturada sob princpios que fazem do conceito um instrumento prtico de
366
Habermas, J., op. cit., p. 316.
259
controle produtivo; assim "o operacionalismo terico passa a corresponder ao
operacionalismo prtico".367
A tcnica que cronologicamente veio luz de modo incipiente com a
revoluo industrial, para se consolidar um sculo depois com a inveno do
motor, encontra sua mais essencial determinao no operacionalismo terico
inerente cincia moderna. Esta cincia, segundo Marcuse e j foi anunciado o
nosso desconforto com a identificao entre tcnica e instrumentalidade,
instrumental no acidentalmente, mas de per se: clculo, antecipao,
experimentao, sucesso, todas as categorias pelas quais ela entende o que seja
conhecer, pertencem ao agir instrumental.
De acordo com Marcuse, a lgica da instrumentalidade em que
consiste todo agir com-respeito-a-fins uma lgica de controle e dominao, e
isto no de forma acidental, mas intrinsecamente. A instrumentalidade subtrai do
exame expressamente, subtrai da avaliao, a validade ou ausncia de
validade do fim, assim como das mximas a partir das quais esse fim se teria
proposto. Ela exige que se concentre a ateno no que Marcuse denomina de
relaes tcnicas, isto , a pertinncia ou no dos meios empregados para atingir
fins previamente estabelecidos, fins cuja justificao irrelevante para o agir
tcnico-instrumental.
Como foi dito acima, Marcuse considera que no momento em que a
cincia moderna destitui de fins a prpria natureza, restringindo a noo de
finalidade ao mbito humano, comea a trabalhar o imprio totalitrio da
racionalidade tcnico-instrumental. Na sua viso, so os prprios pressupostos
ontolgicos da cincia moderna que fazem dela um empreendimento tcnicoinstrumental.
Seu operacionalismo leia-se: a sua instrumentalidade
originariamente terica e por causa deste operacionalismo terico, enraizado nos
seus pressupostos ontolgicos, que a cincia moderna to facilmente torna-se
depois "cincia aplicada", isto , fabricao de tecnologia a servio de um cada
367
Marcuse, H., op. cit., p. 153-154.
260
vez mais apurado controle dos processos produtivos de trabalho. Assim, afirma
Marcuse:
A racionalidade e a manipulao tcnico-cientficas esto fundidas
em novas formas de controle social. Pode algum contentar-se com a
suposio de que esta conseqncia anticientfica seja o resultado de
uma aplicao social especfica da cincia? Creio que a direo geral
em que foi aplicada era inerente cincia pura at mesmo onde no
eram objetivados propsitos prticos, e que pode ser identificado o
ponto em que a Razo se torna prtica social.368
Marcuse visa aqui uma crtica compreenso ordinria que temos da
tecnologia. Que a tecnologia a servio do processo de produo tenha surgido dois
sculos aps da grande revoluo cientfica do sculo XVII leva a pensar que essa
serventia para o controle produtivo no inerente a essa revoluo, mas uma espcie de
sub-produto no necessrio da mesma. Solidariamente com isso pensa-se que os
empreendimentos de Galileu e Newton para citar os maiores expoentes da grande
revoluo cientfica moderna so tradicionalmente tericos, uma vez que essas
personalidades, assim como Aristteles e os filsofos de toda a tradio pr-moderna,
no so animadas, na sua investigao, por nenhum interesse imediatamente material
ou utilitrio, seja do tipo que for. Pensa-se que se trata, nas suas intenes, da procura
do "conhecimento pelo conhecimento", a satisfao daquela necessidade da natureza
humana que Aristteles no comeo da sua Metafsica declarou pertencer a todo homem
e que, segundo ele, se evidenciaria no amor que temos pelos sentidos. A despeito de
que isto seja efetivamente assim, isto , de que as intenes dos protagonistas da
revoluo cientfico-filosfica moderna se encaixem no que se chamou outrora de bios
theoretikos, nada disso impede que o que se compreende por conhecimento tenha
mudado radicalmente. E disto que se trata, para Marcuse, e, como veremos, tambm
para Heidegger. Conhecer, de a em diante, no mais ser contemplar; ao contrrio,
conhecer ser saber produzir resultados.369 Em outras palavras, segundo Marcuse, a
368
369
Marcuse, H., op. cit., p. 144.
na mesma direo que Hannah Arendt afirma que a mxima da cincia moderna --e tambm
da filosofia que nasce com Descartes-- que s se conhece aquilo que se sabe fazer. As
faculdades receptivas humanas, o fato de simplesmente testemunhar algo, observando-o e
refletindo a partir desse dado, so faculdades desqualificadas em favor da fabricao. Assim,
conhecer um fenmeno natural saber como ele veio a ser, o que significa que, em tese, -se capaz
261
compreenso ordinria que temos da tecnologia esconde o carter instrumental inerente
cincia moderna, que exige uma mudana no que se entende por conhecer. Esta
mudana, como vimos, exigida por uma profunda transformao do que se entende
que seja o que propriamente na realidade, aquilo que permanece consistente e idntico
a si mesmo.
Diz Marcuse:
A Filosofia cientfica moderna bem pode comear pela noo das duas
substncias res cogitans e res extensa mas ao se tornar a matria
estendida compreensvel em equaes matemticas que, traduzidas em
tecnologia, refazem essa matria, a res extensa perde o seu carter como
substncia independente.370
E, logo adiante:
O processo que comea pela eliminao de substncias independentes e
causas finais chega ideao da objetividade. Mas trata-se de uma ideao
muito especfica, na qual o objeto se constitui em relao assaz prtica
com o sujeito.371
Em outras palavras, que a cincia e a filosofia modernas tenham
compreendido que o que propriamente na natureza aquilo que pode ser calculado,
destituindo a verdadeira realidade de todas as qualidades perceptveis assim como
de todo tipo de teleologia, acaba por comprometer a prpria noo de substncia. O
que permanecer como real em si mesmo ser, servindo-nos de uma noo de Martin
Heidegger, simplesmente uma espcie de fundo, de estoque indeterminado, que se
oferece ao sujeito para que este o constitua aqui ou acol como sendo tal ou qual coisa,
e isto, como diz Marcuse na citao acima, de um modo assaz prtico.372
de produzi-lo artificialmente. (Cf. Arendt, H., A Condio Humana, A Vita Activa e a era
moderna, cap. VI.)
370
Idem, ibidem, p 149.
371
Idem, ibidem, p. 151.
372
O sujeito que constitui os fenmenos em Kant ainda afetado pela matria da intuio que
necessariamente se organiza espao-temporalmente. Se temos em mente o desenlace do projeto
moderno nas cincias tecnicizadas da contemporaneidade, a constituio dos fenmenos em Kant
nos aparece como extremamente tmida: a experincia dos fenmenos fsicos que aquelas
cincias realizam reduziu-se medio e estes supostos fenmenos fsicos escapam a qualquer
262
Marcuse cita as palavras C. F. von Weizscker em The History of Nature
para mostrar o desenlace desse processo que comeou com a compreenso da natureza
como um complexo de foras calculveis e acabou reduzindo-a a matria para o
trabalho, instrumento para a manipulao humana.
E que a matria? Em Fsica Atmica, a matria definida por suas
possveis relaes com as experincias humanas e pelas leis matemticas
isto , intelectuais a que obedece. Estamos definindo a matria como
um possvel objeto de manipulao do homem.373
Este homem, este sujeito que manipula a natureza no , entretanto, o
homem na plenitude das suas capacidades. Para tornar a natureza manipulvel,
necessrio que ele se submeta instrumentalidade, que reconhea em si unicamente as
capacidades de controle, antecipao e clculo como relevantes. Em outras palavras, a
reduo da natureza matria para o trabalho exige simultaneamente que o homem seja
reduzido besta de trabalho.374
Afirma Herbert Marcuse:
tentativa de intuio. Marcuse traz para o seu texto uma citao de W. V. Quine em From a
Logical Point of View, que considero extremamente pertinente para que se compreenda o que aqui
est em questo. Afirma Marcuse: Quine fala do mito dos objetos fsicos e diz que no tocante
base epistemolgica, os objetos fsicos e os deuses <de Homero> diferem apenas em grau e no
em espcie. Mas o mito dos objetos fsicos epistemologicamente superior pelo fato de ter
provado ser mais eficaz do que outros mitos como um dispositivo para incorporar uma estrutura
controlvel ao fluxo da experincia. E conclui Marcuse com o seguinte comentrio do que
acabou de citar, comentrio que considero extremamente lcido: A avaliao do conceito fsico
em termos de eficaz, dispositivo e controlvel revela seus elementos manipulativotecnolgicos. (Cf. Marcuse, H., op. cit., p. 146, nota 2.)
373
Weizscker von, C. F., The History of Nature, University Press of Chicago, Chicago, 1949, p.
71.
374
Assim, diz Marcuse: A diviso cartesiana do mundo tambm foi questionada em suas prprias
bases. Husserl mostrou que o Ego cartesiano no era realmente, em ltima anlise, uma substncia
independente, mas, antes, o resduo ou limite da quantificao <...>. Caso em que o dualismo
cartesiano seria decepcionante, e o ego-substncia pensante de Descartes seria anlogo res
extensa antecipando o sujeito cientfico da observao e medio quantificveis. O dualismo de
Descartes implicaria de imediato a sua negao; limparia em vez de bloquear o caminho para o
estabelecimento de um universo cientfico unidimensional no qual a natureza seria objetivamente
da mente, isto , do sujeito. E este sujeito est relacionado com o seu mundo de modo muito
especial: a natureza posta sob o signo do homem ativo, do homem que inscreve a tcnica na
natureza. (Marcuse, H., op. cit., p. 149. A citao final de Gaston Bachelard em LActivit
rationaliste de la physique contemporaine.)
263
"A sociedade se reproduz num crescente conjunto tcnico de coisas e
relaes que inclui a utilizao tcnica do homem em outras palavras, a
luta pela existncia e a explorao do homem e da natureza se tornaram
cada vez mais cientficas e racionais."375
E mais adiante:
"Nascemos e morremos racional e produtivamente. Sabemos que a
destruio o preo do progresso, como a morte o preo da vida, que a
renncia e a labuta so s requisitos para a satisfao e o prazer, que os
negcios devem prosseguir e que as alternativas so utpicas. Essa
ideologia pertence ao aparato social estabelecido; um requisito para o seu
funcionamento."376
O gradativo processo de nivelamento unidimensional que caracterizou o
pensamento ocidental acaba, de acordo com Marcuse, por absorver, na
contemporaneidade, qualquer comportamento humano sob a lgica do aumento do
controle produtivo. Produzir e consumir cada vez mais se torna a legitimao da
racionalidade instrumental, privando os indivduos da possibilidade de sequer
perguntarem se tal empreitada possui ou no sentido. Assim:
"a dominao s continua a depender da capacidade e do interesse de
manter e ampliar o aparato <produtivo> como um todo".377
Esta capacidade e este interesse tornaram-se incondicionados, no sofrendo
nenhuma restrio: antes de mais nada, trata-se de manter o aparato produtivo em
movimento numa crescente expanso. Que tal expanso venha requerer destruio
sob a forma da guerra, do desperdcio, da perecibilidade cada vez mais rpida dos seus
produtos, enfim, da usura da natureza no algo que perturbe a sua lgica, mas ao
contrrio, a garante.
Vimos que, para Marcuse, este desenlace histrico no acidental, mas
inerente ao projeto da cincia moderna e, se retraamos ainda mais suas origens,
375
Marcuse, H., op. cit., p. 143-144.
376
Marcuse, H., op. cit., p. 143.
377
Marcuse, H., "Trieblehre und Freiheit" in: Freud in der Gegenwart, Frankf. Beitr. z. Soz. Bd.
6., 1957 (citado por Habermas, J., op. cit., p. 314).
264
inerente ao processo simultneo de desmaterializao e formalizao do pensamento
que teria se iniciado com Aristteles. Para Marcuse, desde muito cedo o Ocidente fez
da razo "razo instrumental", razo de controle e dominao. Assim, o caminho da
crtica ensaiada por ele exige uma reconsiderao deste tipo de racionalidade e, mais
radicalmente, exigiria o seu abandono. Afirma Marcuse:
"O ponto que estou tentando mostrar que a cincia, em virtude de seu
prprio mtodo e de seus conceitos, projetou e promoveu um universo no
qual a dominao da natureza permaneceu vinculada dominao do
homem um vnculo que tende a ter efeitos fatais para esse universo
como um todo. A natureza, cientificamente compreendida e dominada,
reaparece no aparato tcnico de produo e destruio que mantm e
aprimora a vida dos indivduos, ao mesmo tempo que os subordina aos
senhores do aparato. Assim, a hierarquia racional se funde com a social. Se
esse for o caso, ento uma mudana na direo do progresso, que pudesse
romper esse vnculo fatal, tambm afetaria a prpria estrutura da cincia
o projeto cientfico. Sem perder o seu carter racional, suas hipteses se
desenvolveriam num contexto experimental essencialmente diferente (o de
um mundo apaziguado); consequentemente, a cincia chegaria a conceitos
de natureza essencialmente diferentes e estabeleceria fatos essencialmente
diferentes. A sociedade racional subverte a idia de Razo." 378
E, com isto, chegamos ao ponto de discrdia de Habermas a respeito da
interpretao de Marcuse e que reside no fato deste ltimo considerar que o agir
instrumental o agir racional-com-respeito-a-fins no somente possui um carter
intrinsecamente dominador, mas tambm que pode ser abandonado, que pode ser
fundada uma outra racionalidade de natureza essencialmente diferente daquela e com a
qual esta nova racionalidade no teria nenhum lao. Diz Habermas:
"Marcuse tem em vista no somente uma outra construo de teorias, mas
tambm uma metodologia da cincia que difere em seus princpios. O
quadro transcendental, no qual a natureza se tornaria objeto de uma nova
experincia, no seria mais a funo da esfera do agir instrumental, mas o
ponto de uma possvel manipulao tcnica cederia o seu lugar a um
tratamento que com zelo e carinho liberasse os potenciais da natureza."379
378
379
Marcuse, H., op. cit., p. 160.
Habermas, J., op. cit., p. 317. Segundo Habermas, a idia de uma relao diferente com a
natureza que permita a pacificao da mesma uma influncia que Marcuse recebe da mstica
judaica e protestante. Diz Habermas: "Marcuse tem a tentao de seguir essa idia de uma nova
cincia ligada promisso, familiar mstica judaica e protestante, de uma ressurreio da
natureza decada: um tpico que, como sabido, entrou na filosofia de Schelling (e de Baader)
atravs do pietismo bvaro, que reaparece em Marx, nos Manuscritos de Paris, determinando hoje
265
Habermas considera que o agir-com-respeito-a-fins inerente espcie
humana e, consequentemente, que a cincia moderna e a tcnica que dela deriva
constituem um projeto dessa mesma espcie "como um todo", projeto que "no pode
ser ultrapassado historicamente".380 Para justificar seu ponto de vista, ele faz apelo aos
estudos de Arnold Gehlen isto , faz apelo cincia antropolgica que entende ser
um fato demonstrvel o carter instrumental de toda tcnica, independente de qualquer
contexto histrico-cultural. Diz Habermas:
"Arnold Gehlen mostrou, de uma maneira que me parece conclusiva, que
existe uma conexo imanente entre a tcnica que nos conhecida e a
estrutura do agir racional-com-respeito-a-fins. <...> Em primeiro lugar, so
reforadas e substitudas as funes do aparato de movimento (mo e
pernas), em seguida a produo de energia (do corpo humano), depois as
funes do aparato sensorial (olhos, ouvidos, pele) e finalmente as funes
do centro de controle (do crebro)."
E, logo adiante, ele conclui:
"Se nos dermos conta de que o desenvolvimento tcnico obedece a uma
lgica que corresponde estrutura do agir-racional-com respeito-a-fins e
controlado pelo sucesso e todavia isso quer dizer: a estrutura do
trabalho, ento difcil ver como poderamos vir a renunciar tcnica, e
precisamente nossa tcnica em favor de uma tcnica qualitativamente
outra, enquanto a organizao da natureza humana permanecer inalterada,
enquanto, pois, tivermos que sustentar a nossa vida pelo trabalho social e
com o auxlio dos meios que substituem o trabalho."381
Na contestao que Habermas dirige pretenso marcusiana de que se
possa conceber uma racionalidade que no comporte o elemento de dominao inerente
ao agir instrumental, fica evidenciada a solidariedade entre as concepes instrumental
e antropolgica da tcnica que Martin Heidegger indica no seu ensaio. Como
tentaremos mostrar na concluso deste Anexo, o termo "espcie humana" ou mesmo
"natureza humana", assim como a compreenso do corpo como "funcional"
as idias centrais de Bloch e, em sua forma refletida, serve ainda de guia para as esperanas
secretas de Benjamin, Horkheimer e Adorno." (Habermas, J., op. cit., p. 316.)
380
Habermas, J., op. cit., p. 317.
381
Habermas, J., op. cit., p. 318.
266
evidenciam um fortssimo compromisso metafsico, compromisso, esse sim, que se
compraz em subtrair do questionamento categorias que, parece-me, so h bastante
tempo muito problemticas. Mas, a isso voltaremos adiante.
Sabemos que tanto Marcuse quanto Habermas so filiados tradio do
materialismo histrico inaugurada por Karl Marx. Qui no seja ocioso me remeter
compreenso "clssica" do materialismo histrico, assim como ao aggiornamento
realizado pela escola de Frankfurt, da qual ambos pensadores fizeram parte, para
compreender melhor essa juno de instrumentalidade e antropologia que aparece em
Habermas to cruamente manifesta.
A tradio marxista entende que o processo histrico fruto de uma tenso
entre dois elementos: o desenvolvimento das foras produtivas, isto , o grau de
capacidade de produzir riqueza alcanado por uma certa formao social, e as relaes
que os homens estabelecem no processo produtivo com vistas produo dessa
riqueza. O homem, do ponto de vista marxista, essencialmente um animal de trabalho,
o que quer dizer que o trabalho (a lida com a natureza na produo de riqueza) que,
em ltima instncia, o determina.
Segundo Marx, as formaes sociais primitivas no teriam alcanado um
grau de desenvolvimento das foras produtivas que permitisse um excedente, uma parte
da produo que no fosse necessria para o consumo da comunidade que a produziu.
Quando historicamente surge este excedente e isso depende de um certo
aprimoramento das capacidades tcnico-produtivas da humanidade surge a troca e a
diferenciao de atividades no processo de trabalho. Estabelecem-se assim papis
diferenciados no processo produtivo: aparecem as classes sociais. Trata-se da passagem
do que Marx nomeia de "comunismo primitivo" para a sociedade de classes e que
Jrgen Habermas nomeia, nas palavras que se seguem, como civilizations, termo
traduzido aqui por "culturas avanadas".
"As culturas avanadas se estabelecem sobre o fundamento de uma tcnica
relativamente desenvolvida e de uma organizao da diviso de trabalho
no processo social de produo que possibilitam a superproduo, ou seja,
uma superabundncia de bens que excede a satisfao das necessidades
imediatas e elementares. Elas devem a sua existncia soluo do
267
problema que s posto pela superproduo gerada, ou seja, do problema
de como dividir desigualmente, e contudo, legitimamente, a riqueza e o
trabalho, por critrios diferentes dos que so postos disposio pelo
sistema de parentesco."382
As novas relaes sociais de produo estabelecidas pelas "culturas
avanadas" nos ensina a interpretao consagrada do materialismo histrico,
promovem, no seu incio, o desenvolvimento das foras produtivas; entretanto,
alcanado um certo grau de desenvolvimento das mesmas desenvolvimento dos
"meios de produo", nos diz Marx essas mesmas relaes tornam-se um empecilho
para o mesmo, passando a obstaculiz-lo. Assim, estabelece-se um conflito entre o
movimento de incremento da produo de riqueza e as relaes sociais estabelecidas
que, pressionadas por aquele a mudar, se readequam ao aumento exigido. Deste
conflito teriam surgido as grandes mudanas histricas: por ele ter-se-ia passado do
regime de produo servil ao regime capitalista, e passar-se-ia do regime capitalista
para o comunismo: o incrvel desenvolvimento das foras produtivas capitalistas
geraria um grau tal de riqueza que as relaes sociais entre a burguesia e o proletariado
no permitiriam absorver as famosas crises de sobre-produo. Diante desta situao,
a tenso se acirraria, mostrando-se o carter irracional dessas relaes sociais, irracional
porque para perpetuar-se precisaria destruir riqueza e no mais produzi-la. Evidenciarse-ia, desta maneira, que no somente a sociedade capitalista, mas a sociedade de
classes em geral, precisa ser superada para que as foras produtivas sejam liberadas.
Assim, o proletariado tomaria em suas mos a tarefa de explodir as relaes sociais
capitalistas, no para erigir-se em classe dominante, mas para emancipar a sociedade da
dominao de classes.
No seu ensaio "Tcnica e Cincia enquanto Ideologia", Jrgen Habermas
nos apresenta aquilo que o materialismo histrico consagrado entende como sendo a
"lei da histria" como constituindo uma exceo. Segundo o diagnstico tradicional
que hoje praticamente ningum mais sustenta, por boas e fortes razes a revoluo
chegaria, mais cedo ou mais tarde, independente de maiores ou menores investimentos
382
Habermas, J., op. cit., p. 323. Os critrios que correspondem s formaes sociais do
"comunismo primitivo", s formaes sociais tribais, so critrios de parentesco entre os membros
da comunidade.
268
voluntaristas:383 a lgica inexorvel do crescimento das foras produtivas levaria, como
um vendaval, toda injustia para longe da face da Terra.
Marx j tivera percebido, entretanto, que h experincias histricas de
sociedades de classe civilizations, no dizer de Habermas onde no se verifica a
tenso acima referida. Nos seus estudos acerca do que ele chama de "modo de
produo asitico", Marx descreve sociedades em que as formas de legitimao
que perpetuam mais ou menos pacificamente a hierarquia de classes a superestrutura,
na linguagem marxista, ou seja, a religio, a organizao do estado, etc. mantm
limitado o processo de inovaes tcnicas de um tal modo que ele jamais chega a pr
em xeque as relaes sociais de produo. Assim, o que se verifica no um conflito
resultante numa revoluo que liberta, das antigas relaes sociais, as foras produtivas
represadas, mas, ao contrrio, um processo de estagnao que se prolonga
historicamente por perodos muito longos.
As anlises acerca do modo de produo asitico obrigaram, na segunda
metade do sculo passado, a uma reavaliao daquele materialismo histrico
consagrado. Embora elas originariamente no tenham visado lanar luz sobre a situao
do capitalismo maduro,384 permitiram uma valorizao da esfera do quadro
institucional, pelo menos no mbito daquele modo de produo. Dito em outros termos:
o prprio Marx j tivera se deparado com sociedades onde o papel do quadro
institucional no o de mero ornamento prestes a ser descartado quando a base material
exige mudanas nas relaes de produo.
383
Segundo Habermas, como veremos logo adiante, Marx no teria tido esta compreenso da
inevitabilidade da revoluo, inevitabilidade que prescindiria de qualquer elemento voluntarioso.
384
Fazendo jus verdade histrico-factual, o interesse pelos estudos marxistas acerca do modo de
produo asitico surgiu, fundamentalmente, da possibilidade de que aquele servisse como modelo
explicativo para a sociedade sovitica stalinista e ps-stalinista onde, visivelmente, assistia-se a
uma "estagnao" em termos de produo de riqueza sem que o suposto refreio do
desenvolvimento econmico parecesse pr em xeque a estrutura estatal burocrtica, que dava a
impresso de possuir uma solidez monoltica inabalvel, impresso que, como todos sabemos,
desfez-se da noite para o dia com a queda do muro de Berlim. J avanada a segunda metade do
sculo, e depois de "descobertas" as atrocidades stalinistas, tinha se tornado implausvel atribuir
essa "paz interna" conscincia do proletariado sovitico que dificilmente poderia estar esperando
pacientemente o momento propcio para estender a revoluo totalidade do globo. Tais tentativas
procuravam enraizar o totalitarismo sovitico no oriente e no no ocidente. por causa disto que
falo em fazer jus verdade histrico-factual: esta verdade est longe de um pensamento mais
essencial da historialidade do Ocidente.
269
Falei acima que Habermas e isto extensivo a todo o neo-marxismo
frankfurtiano entende como uma exceo aquilo que a tradio marxista herdada
entendia como "lei da histria": a virulncia da base material desafiando todo quadro
institucional e obrigando a uma readequao permanente do mesmo, com vistas a sua
crescente expanso, um fenmeno que s se verifica no capitalismo. Diz Habermas:
"O esquema estvel de um modo de produo pr-capitalista, de uma
tcnica pr-industrial e de uma cincia pr-moderna possibilita uma
relao tpica entre o quadro institucional e os subsistemas do agir racionalcom-respeito-a-fins: esses subsistemas, que se desenvolvem partindo do
sistema do trabalho social e do estoque de saber tecnicamente aplicvel
acumulado nesse sistema, apesar de progressos considerveis, nunca
atingiram aquele grau de propagao a partir do qual sua "racionalidade" se
torna uma ameaa aberta s tradies culturais que legitimam a
dominao. <...> As sociedades tradicionais s existem enquanto o
desenvolvimento dos subsistemas do agir racional-com-respeito-a fins
contido dentro dos limites da eficcia legitimadora das tradies
culturais."385
O que, segundo Habermas, caracteriza o capitalismo que o
desenvolvimento das foras produtivas a expanso crescente do agir-racional-comrespeito-a-fins a todas as esferas da vida social acaba por questionar a forma
tradicional de legitimao, a saber, a legitimao das relaes de propriedade dos meios
de produo por explicaes mticas, religiosas ou metafsicas. Segundo Habermas,
"o capitalismo um modo de produo que no somente pe esse
problema <o problema da perda das formas de legitimao tradicionais>,
mas tambm o soluciona. Ele oferece uma legitimao da dominao que
no pode mais descer do cu da tradio cultural, mas que pode ser
soerguida a partir da base do trabalho social. <...> a dominao tradicional
era uma dominao poltica. S com o surgimento do modo de produo
capitalista que a legitimao do quadro institucional pode ser
imediatamente vinculada ao sistema de trabalho social. <...> O quadro
institucional da sociedade imediatamente econmico; s de uma
maneira mediata que ele poltico."386
Graas percepo da singularidade do capitalismo como acontecimento
histrico, Habermas mostra que as categorias do marxismo tradicional, categorias que
385
Habermas, J., op. cit., p. 323.
386
Habermas, J., op. cit., p. 325.
270
foram erguidas em chave de compreenso do desenvolvimento histrico em geral, a
rigor se enrazam nesse modo de produo especfico e so iluminadoras para ele.
Assim, os conceitos marxistas de "relaes de produo", "superestrutura", "ideologia",
etc., correspondem a uma determinada formao social a capitalista e no s leis
universais do desenvolvimento histrico. Segundo Habermas, as relaes de
propriedade nas sociedades tradicionais so relaes "polticas", entendendo por este
termo, o fato de que sua legitimao se assenta nas tradies culturais, isto , numa
racionalidade que no instrumental ou seja, que no se refere ao sucesso ou
insucesso para se validar, mas que, ao contrrio apela para uma dimenso do agir que
comunicativa, isto , lingstica, mesmo que a lgica dessa linguagem seja governada
pela "gramtica de uma comunicao desfigurada e pela causalidade do destino,
determinada por smbolos cindidos e motivos recalcados".387 Somente com o
capitalismo
"<...> que a ordem da propriedade pode, de relao poltica que era,
transfomar-se numa relao de produo, pois ela se legitima pela
racionalidade do mercado, pela ideologia da sociedade de troca e no mais
por uma ordem legtima de dominao. Por seu lado, o sistema de
dominao pode, em vez disso, ser justificado pelas relaes legtimas de
produo: esse o verdadeiro contedo do direito natural racional, desde
Locke at Kant. O quadro institucional da sociedade imediatamente
econmico; s de uma maneira mediata que ele poltico (o Estado de
direito burgus, enquanto 'superestrutura')."388
Esta citao tambm nos indica a paternidade capitalista porque
originria dessa formao social do conceito de "superestrutura": nem todo quadro
institucional , para Habermas, superestrutural. Este termo denota um quadro "poltico"
que se legitima no pela tradio, mas economicamente pela lgica do sucesso
caracterstica do agir instrumental e que, por isso, pode-se concluir, est inteiramente
exposto s presses que vm da infra-estrutura o agir instrumental que se espraia a
todas as esferas da vida social. Este fenmeno no acontece com o quadro institucional
tradicional que, ao contrrio, legitima-se discursivamente sendo, nesse sentido,
imediatamente poltico, operando como limitao restritiva para a expanso do agir
racional-com-respeito-a-fins.
387
Habermas, J., op. cit., p. 324.
388
Habermas, J., op. cit., 325.
271
Segundo Habermas, o fato de Marx ter projetado para o desenvolvimento
histrico mais geral um acontecimento que prprio do capitalismo a saber, a
adaptao mais ou menos automtica do quadro institucional s presses da base
econmica, permitiu-lhe compreender esse processo como pr-histria da
humanidade que, a partir daquele momento, poderia mudar o seu carter, caso o
proletariado assumisse consciente e voluntariamente a dimenso da praxis, isto , a
tarefa da superao da sociedade de classes.
Diz Habermas:
O objetivo da crtica de Marx era o de transformar aquela adaptao
secundria do quadro institucional tambm numa adaptao ativa, e de
submeter a controle a mudana estrutural da prpria sociedade. Assim,
uma relao fundamental de toda a histria anterior devia ser superada e a
autoconstituio da espcie ser completada: o fim da pr-histria. Porm
essa idia era ambgua. Decerto, Marx encarou o problema de fazer
histria, com conscincia e vontade, como tarefa de um domnio prtico
dos processos de desenvolvimento social at ento no controlados. Mas
os outros compreenderam esse problema como uma tarefa tcnica.389
Habermas aponta, tambm na noo de ideologia, a provenincia da
formao social capitalista. Para ele, nem toda cosmo-viso ideolgica; as ideologias
so a crtica, em nome da racionalidade instrumental, " dogmtica das interpretaes
tradicionais do mundo" e por esta razo que elas se pretendem cientficas. As
ideologias conservam o papel de legitimao das relaes sociais, mas o fazem tambm
de forma indireta, no se validando a si prprias atravs de uma lgica comunicativa,
mas da prpria lgica do agir instrumental. "Neste sentido no pode haver ideologias
pr-burguesas".390
Para Habermas, Marx teria tido uma viso penetrante ao perceber que o
fundamento de legitimao do capitalismo encontra-se na ideologia da troca de
equivalentes, a suposta justia que o mercado estabeleceria na compra de horas de
389
Op. cit., p. 339. Esses outros a que Habermas se refere so, como veremos, Max Weber e
Talcott Parsons.
390
Habermas, J., op. cit., p. 326.
272
trabalho por salrio. Ao elaborar a crtica da ideologia burguesa sob a forma de
economia poltica, Marx denuncia, com sua teoria do valor, a desigualdade nessa troca
e, consequentemente, a violncia social que o capitalismo exerce consagrando a
instituio jurdica do livre contrato de trabalho. Esta primeira fase do capitalismo, a da
ideologia liberal, encontra seu fim com as crises de superproduo que comeam a
evidenciar-se no fim do sculo XIX e desembocam na grande depresso de 1929. A ela
se sucede um outro modo de legitimao do sistema. Estas ideologias recentes,
tomando distncia das promessas de regulao do livre mercado, acenam com a
satisfao indefinida e no conflitante das demandas dos diversos setores sociais,
propiciada por uma interveno criteriosa do estado trata-se do que deu em chamarse de ideologia do Welfare State, o Estado do Bem-estar Social. O seu fracasso dar
lugar, sempre segundo Habermas, mais cruel figura da ideologia: a conscincia
tecnocrtica. Em relao a ela Habermas afirma:
A conscincia tecnocrtica , por um lado, menos ideolgica que todas
as ideologias anteriores; pois ela no possui a violncia opaca de um
ofuscamento que joga apenas com a iluso de satisfao de interesses. Por
outro lado, a vtrea ideologia de fundo hoje dominante, que transforma a
cincia em fetiche, mais irresistvel e mais abrangente do que as
ideologias do tipo antigo, pois com o velamento das questes prticas, ela
no somente justifica um interesse de dominao parcial de uma classe
determinada e oprime a necessidade parcial de emancipao por parte de
outra classe, como tambm atinge o interesse emancipatrio da espcie
humana, como tal. 391
Para Habermas, o que a conscincia tecnocrtica realiza o recalque da
moralidade enquanto categoria das relaes da vida em geral.392 No seu lugar, ela
incentiva um comportamento adaptativo: que os homens emprestem suas vontades para
garantir o funcionamento lubrificado do sistema como um todo. Assim, o ncleo
ideolgico dessa conscincia a eliminao da diferena entre praxis e tcnica.393
391
Habermas, J., op. cit., p. 335. So interessantes, nesta citao, as metforas de luminosidade
empregadas por Habermas: enquanto as ideologias do welfare state ofuscam, produzindo uma
opacidade --o que parece indicar que, revelia do seu brilho, so opacas para o olhar que, cativado
pelas promessas, no pode se deter para o exame--, a ideologia tecnocrtica vtrea, isto , mostrase como inteiramente transparente, dando a impresso de que nada ali se oculta ou subtrai da
considerao.
392
393
Habermas, J., op. cit., p. 336.
Op. cit., p. 337. Habermas retraa a distino entre praxis e tcnica a Aristteles, declarando ter
sido alertado para essa distino por Hannah Arendt. Como j foi dito, em Aristteles, o agir
273
exatamente neste ponto, no mascaramento da diferena entre praxis e
tcnica, que Habermas centrar sua crtica a Max Weber e sociologia funcionalista
representada por Talcott Parsons. Marx teria denunciado que aquilo que mais tarde
Weber chamou de racionalizao esconde um partie pris, um ponto de partida
subjetivo (sic), do qual Talcott Parsons partilha de modo ainda mais patente.394 Ambos
no somente no reconhecem da mesma maneira que Karl Marx o enrazamento
das categorias que orientam o seus modelos explicativos na formao social capitalista,
como, diferentemente de Marx, tomam partido por um lado delas aquele que
corresponde instrumentalidade do agir-racional-com-respeito-a-fins e, neste sentido,
comprometem-se com o projeto da burguesia como classe dominante.395 Como j fora
anunciado, Marx, segundo Habermas, teria reconhecido a necessidade de uma atitude
consciente para a realizao da tarefa de emancipao, mesmo no percebendo a
novidade histrica do capitalismo no que respeita ao modo de legitimao das
ideologias; j a sociologia de Weber, e ainda mais fortemente a de Parsons, caminham
na direo contrria, preparando o imprio da conscincia tecnocrtica. A conseqncia
disto, a formulao por parte deles de um quadro explicativo que reconstri
a sociedade segundo o modelo dos sistemas auto-regulados do agir
racional-com-respeito-a-fins
e
do
comportamento
adaptativo,
<pretendendo> controlar a sociedade do mesmo modo que controlam a
natureza.396
prtico diz respeito a aes que encontram o seu telos em si mesmas, diferenciando este agir da
poiesis --o agir fabricador-- onde a ao encontra sua determinao por um telos extrnseco a ela e
qual ela se submete; o saber que corresponderia poiesis a tekhne. Na distino aristotlica
entre praxis e poiesis/tekhne, Habermas acredita estar visada a distino que ele estabelece, como
veremos, entre interao e trabalho, respectivamente.
394
Cf. op. cit., p. 320. no mnimo curioso que Habermas caracterize o posicionamento de Weber
e de Parsons como subjetivo.
395
Parsons pretende que sua lista expe sistematicamente decises entre orientaes valorativas
alternativas que devem, em qualquer ao, ser tomadas pelo sujeito, sem que isso dependa do
contexto particular cultural ou histrico. Contudo, se observarmos essa lista, dificilmente
deixaremos de perceber a posio histrica da formulao da questo subjacente lista. Os quatro
pares alternativos de orientao valorativa <...> que pretendem esgotar todas as possveis decises
fundamentais, foram recortados de acordo com a anlise de um processo histrico. Com o grifado
dos termos todas e um Habermas quer evidenciar o desconhecimento que h em Parsons da
paternidade do modo de produo capitalista nos pares de oposies por ele elaboradas.
396
Habermas, J., op. cit., p. 339.
274
A limitao que Habermas aponta nos modelos interpretativos de Weber e
Parsons, mas tambm nas categorias marxistas, no impede, entretanto, que ele postule
um outro alternativo que, esse sim, pretende-se universal. Tal modelo formulado a
partir da distino bsica entre dois modos de agir: o agir-racional-com-respeito-a-fins
por um lado, e o agir comunicativo por outro, o primeiro corresponde categoria do
trabalho, o segundo, ao que Habermas nomeia de interao. Trata-se de dois
modos de agir que detm cada um sua lgica prpria e independente e que Habermas
apresenta no ensaio Tcnica e Cincia enquanto Ideologia.
Quadro institucional:
Sistemas de atividade racional com
Interao mediada por smbolos
respeito a um fim (instrumental ou
estratgico)
Regras orientando a ao
Normas sociais
Regras tcnicas
Nvel de definio
Linguagem corrente, partilhada
Linguagem independente do
intersubjetivamente
contexto (context-free)
Expectativas de comportamentos
Previses condicionais, imperativos
recprocos
condicionais
Interiorizao de certos papis
Aprendizagem de diferentes
Modo de definio
Mecanismos de aquisio
competncias e qualificaes
Funo do tipo de ao considerada
Sano em caso de violao da regra
Manuteno das instituies
Soluo de problemas (realizao de
(conformidade com normas na base
um objetivo definido em termos da
de um reforo recproco)
relao meios-fins)
Punio na base de sanes
Insucesso: fracasso diante da
convencionais: fracasso diante da
realidade
autoridade
Racionalizao
Emancipao, individualizao;
Aumento das foras produtivas;
extenso da comunicao livre de
extenso do poder de dispor
dominao
tecnicamente das coisas
275
Esse quadro indica os conceitos que correspondem a cada um dos tipos de
agir o racional-com-respeito-a-fins (trabalho), e o comunicativo (interao). Ele,
parece-me bastante claro no seu objetivo e, considero, no exigir maiores
explicitaes.397
O diagnstico que Habermas realiza da contemporaneidade a partir deste
quadro conceitual e, particularmente da cincia e da tcnica modernas, denuncia
tambm uma dominao: trata-se de uma colonizao ilegtima da esfera do agir
racional-com-respeito-a-fins sobre a esfera da interao. Cincia e tcnica aspiram a
que "sua" racionalidade coincida com "a" racionalidade, reclamando para si esse
estatuto e desqualificando qualquer outra lgica como irracional ou "arcaica". A
racionalidade instrumental, racionalidade que tem o seu lugar legtimo na esfera do
trabalho isto , na lida do homem com a natureza ergue-se na nica e exclusiva
forma da razo atingindo o interesse emancipatrio da espcie humana como tal.398
Esta racionalidade se expande a todas as formas da vida social, mesmo quelas que, por
no envolverem o trato do homem com a natureza, mas as relaes propriamente interhumanas, conheceram uma outra lgica, uma outra racionalidade. Assim, o homem
torna-se tambm natureza, sendo objetivvel e manipulvel da mesma forma que
aquela. Diz Habermas:
Se considerarmos, como faz Arnold Gehlen, que a lgica interna do
desenvolvimento tcnico manifesta-se no fato de que a esfera das funes
do agir racional-com-respeito-a-fins desvincula-se passo a passo do
substrato do organismo humano e transposta para o plano das mquinas,
397
Segundo este quadro as expresses "agir instrumental" e "agir-racional-com-respeito-a-fins"
no so sinnimas. Habermas reserva para a segunda expresso um mbito mais largo do que
indicaria a primeira, porque ela referiria tambm ao que ele chama de "agir estratgico" que
consiste na determinao de fins a partir de normas sociais. O que Max Weber nomeia como
"coerncia" na relao valores/fins aparece aqui sob o nome de "agir estratgico": trata-se de uma
saber analtico, cujo princpio a coerncia, o respeito do princpio de no-contradio. Ao "agir
instrumental" corresponderia simplesmente a avaliao tcnica dos meios para alcanar aqueles
fins estabelecidos pelo "agir estratgico". "Agir estratgico" --a avaliao analtica na relao
normas/fins-- e "agir instrumental --a avaliao tcnica (emprica) dos meios para alcanar fins
previamente estabelecidos-- constituem o mbito do "agir-racional-com-respeito-a-fins". Dele fica
excludo o estabelecimento de normas sociais, mbito que obedece a uma outra lgica: a do agir
comunicativo. Em diversos momentos deste trabalho utilizo como sinnimas as expresses "agirracional-com-respeito-a-fins" e "agir instrumental". Penso que esta identificao no compromete
em nada o desenvolvimento da questo que est sendo visada.
398
Habermas, J., op. cit., p. 335.
276
ento aquela inteno orientada tecnocraticamente poderia ser
compreendida como a ltima fase desse desenvolvimento. O homem pode
no somente, enquanto homo faber, auto-objetivar-se completamente pela
primeira vez e defrontar-se com suas realizaes que, nos seus produtos,
dele se tornaram independentes; ele pode, alm disso, enquanto homo
fabricatus, ser por sua vez integrado a seus dispositivos tcnicos, caso se
consiga projetar a estrutura do agir racional-com-respeito-a-fins sobre o
plano dos sistemas sociais. O quadro institucional da sociedade, que at
agora era sustentando por um outro tipo de ao, seria agora ento
absorvido, por sua vez, em conseqncia dessa idia, pelos subsistemas do
agir racional-com-respeito-a-fins que nele estavam encaixados.399
No entender de Habermas, esta expectativa que ele afirma no ser
realizada em nenhum lugar, nem mesmo em esboo400, a expectativa de que a
sociedade alcance um nvel de auto-regulao que venha abolir toda outra racionalidade
que no a do agir instrumental, o cerne da nova ideologia, a da conscincia
tecnocrtica. O que Marcuse nomeia, a partir de uma compreenso do movimento
percorrido pela tradio metafsica, como um fechamento da dimenso bidimensional,
aberta pelas oposies que esto na sua origem, em direo a uma unidimensionalidade
que as torna caducas, tem em mente o mesmo que Habermas percebe: a tendncia a
compreender o conjunto da sociedade pela lgica da auto-regulao, retirando de
qualquer contexto discursivo o estabelecimento de valores ou, servindo-nos do
quadro habermasiano acima apresentado, de qualquer tematizao conteudstica das
normas sociais que orientam a ao.
Voltemos aos diferentes posicionamentos entre Marcuse e Habermas em
relao compreenso do que seja a racionalidade instrumental, que em ambos
caracteriza a cincia e a tcnica modernas. Parece-me que Marcuse, ao atribuir
racionalidade instrumental um pressuposto de dominao que hoje ficaria visvel,
colocando para a humanidade uma exigncia de emancipao dessa racionalidade,
supe que o que essencial ao homem a possibilidade de estabelecer valores e fins
atravs de uma comunicao livre, no distorcida aquilo que Habermas reserva
para o agir comunicativo. Marcuse acredita que na origem como vimos, representada
para ele por Scrates e Plato uma tal comunicao teria vigorado, tendo sido
399
400
Habermas, J., op. cit., p. 332.
Idem, ibidem. Voltarei mais adiante a esta tranqilidade com que Habermas parece afastar os
perigos da dominao incondicionada da tcnica.
277
abandonada posteriormente, com Aristteles. Estes valores e fins livremente
estabelecidos deveriam acenar para uma outra relao entre os homens, mas tambm
para uma outra relao deles com a natureza, relao que exigiria o abandono da
cincia e da tcnica modernas que so, de modo inerente, dominadoras. Por sua vez,
Habermas entende que este ponto de vista desconsidera que o agir racional-comrespeito-a-fins no constitui uma racionalidade a ser superada, mas antes, uma
racionalidade que precisa ser reconduzida ao seu mbito, reconquistando assim, ao lhe
ser retirado o elemento ideolgico que a perverte, a sua inocncia.
Servi-me dos termos "imprio totalitrio" e "colonizao" para nomear, em
Marcuse e Habermas, respectivamente, esse movimento de expanso da esfera do agirracional-com-respeito-a fins para todo o mbito da existncia humana: as relaes do
homem com a natureza e as relaes inter-humanas. Estas duas expresses no foram
escolhidas arbitrariamente; com elas quis indicar duas caracterizaes diferentes desse
"movimento expansionista" da racionalidade instrumental. Com a expresso "imprio
totalitrio" quis manter presente o fenmeno polifactico porque imperante em todos
os mbitos da existncia: o da poltica, o da "moralidade", o da organizao do trabalho,
o da pesquisa cientfica, o da arte, etc., daquilo que o termo "totalitarismo" indica e
que, no que essencial, poderia definir como um "aspirar dominao
incondicionada", totalidade. Esta expresso deve ser compreendida com radicalidade:
essa aspirao ao incondicionado , no sentido forte do termo; ela o que " ao redor
do planeta".401 Em oposio a esta compreenso radical, utilizei o termo "colonizao"
querendo indicar uma expanso que se apresenta como exclusiva, isto , como
incondicionada, exigindo tributos, mas que de fato fracassa nesta sua pretenso e que,
por isso, poder-se-ia dizer, num sentido fraco, uma vez que no consegue vingar em
ser.402 Penso que se se mantm sob o olhar esta diferena, ento o uso dos dois termos
pode indicar o que distancia Habermas de Marcuse. Entretanto, nem um nem outro
401
Esta uma expresso de Heidegger ao referir-se essncia da tcnica moderna. Poder-se-ia
dizer: o que ao redor do planeta e bem mais alm dele. Tenho em mente a declarao de Cecil
Rohdes no fim do sculo passado: Se pudesse, anexaria os planetas.
402
Para compreender a distino peo que se atente para a diferena que h entre o tipo de
dominao dos imprios tradicionais --por exemplo, o imprio romano-- que permitiam que os
povos submetidos, na condio de provncias, mantivessem sua religio e seus costumes contanto
pagassem os tributos exigidos, e o fenmeno do totalitarismo contemporneo que, diferentemente,
invade todas as esferas da vida promovendo uma homogeinizao radical.
278
podem, por no atentarem para a "ltima figura" da compreenso moderna do ser, o ser
como vontade de vontade, experimentar o fracasso do projeto moderno de humanidade
como vontade racional autnoma, experincia que possibilitaria um relacionamento
autenticamente livre com a tcnica.403 O que nomeio aqui de experincia do fracasso
franquearia um aprofundamento da questo que tanto a Habermas, quanto a Marcuse,
est interditado. A seguir sublinho, de forma sucinta, certos compromissos presentes
de modo mais ou menos explcito em ambos os pensadores, compromissos estes que
no so em momento algum questionados e que, no meu entender, evidenciam o que
chamei de impensado da concepo instrumentalista de tcnica.
Comeo por sublinhar o forte endosso que Jrgen Habermas faz da
compreenso, presente em Arnold Gehlen, do corpo humano como instrumento de um
esprito, res cogitans, sujeito, ou o que quer que seja. Somente porque o corpo
compreendido desta maneira, como uma espcie de habitat disponvel de algo que no
corpreo como meio natural mais prximo desse sujeito e, por isso, mais
mo, que se afirma que ele pode ser substitudo em suas funes por
implementos tecnolgicos. Como vimos, Habermas aponta esta substituio como algo
prprio da espcie humana e verificvel ao longo da histria da mesma. Ao fazer isto,
no percebe que incorre no mesmo vcio que aponta em Karl Marx: o de projetar para
toda a histria uma compreenso que somente veio luz com a modernidade, forjando
a partir dela categorias universais e a-histricas. A compreenso de sujeito que acabar
correspondendo noo do corpo como aparato disponvel e a da natureza como
matria in-formvel a do sujeito como resduo ainda no objetivado do
movimento de objetivao (como bem fora apontado por Husserl, e citado acima por
Marcuse). Neste seu carter de resduo, de sobra de um movimento que aspira a
completar-se, este
sujeito permanentemente compelido a tornar-se matria
disponvel para a atividade in-formadora, isto , compelido a nadificar-se na sua
condio de sujeito fundador.404 Que, para que o movimento continue, seja
403
"Relacionamento livre com a tcnica" uma expresso de Heidegger. Como veremos, o termo
"livre" aqui no pode ser mais pensado em termos de "autonomia da vontade"; justamente uma
tal autonomia que representa a maior perda da liberdade, a maior escravido.
404
Aqui deve-se atentar para o fato de que a clssica distino entre corpo e alma, sendo o
primeiro pertencente ao mbito sensvel e a segunda ao mbito inteligvel, antes da modernidade,
jamais teve no seu horizonte o corpo humano como matria indeterminada de uma atividade in-
279
indispensvel esse resduo ou sobra (o que outrora Kant pensara em termos de
espontaneidade do entendimento) no quer significar que o esprito, pelo fato de
jamais poder ser eliminado, mostre irrefutavelmente o seu carter de fundamento, como
muitas vezes se pretende;405 antes, isto quer dizer que, como tal, tornou-se uma funo
desse movimento, movimento este sim que quem comanda, perpetuando-se. Apontei
acima meu desconforto com a tranqila crena com que Habermas afasta como utpico
o projeto de que o homem passe de homo faber a homo fabricatus, ou, o que quer dizer
o mesmo, que ele considere a conscincia tecnocrtica uma ideologia, isto , uma
espcie de m-compreenso que mais cedo ou mais tarde ser desmascarada como
falsa conscincia. Em tudo isto h uma insistente recusa a pensar a historialidade,
recusa que se manifesta na manuteno da mais bsica das categorias tradicionais: a do
ser do ente (mesmo que este ente seja a razo com suas estruturas ou faculdades) como
permanncia atemporal que funda em ltima instncia o acontecer temporal. Um olhar
para o percurso historial do Ocidente permitiria observar que o decisivo aqui
justamente o declnio da compreenso da entidade do ente como ousia da qual a
postulao de uma razo fundadora cindida em dois tipos de exerccio, o do agir comrespeito-a-fins e o do agir comunicativo, no mais do que uma tardia figura, figura
que mostra-se, apesar da veemncia do que reclama para si, completamente inofensiva
para esse mesmo declnio.
Como vimos, Herbert Marcuse no se compromete com uma estrutura da razo
que contenha como dados esses dois tipos de exerccio da razo. Uma vez que no seu
pensamento no h apelo a estruturas transcendentais ou quase-transcendentais, no
dizer, evidentemente embaraado, que Habermas cunhou sua posio est mais
prxima da possibilidade de perceber o carter historial da racionalidade ocidental.
Mas, ao
conceber a origem socrtico-platnica, origem, para ele, ainda no
pervertida pelo projeto da racionalidade instrumental nos termos da
oposio
ser/dever-ser, onde o dever ser leia-se, o mundo das idias platnico fora
formadora. O corpo e seus rgos--, como todo o que pertence ao sensvel tinha uma natureza
que devia ser respeitada e, no melhor dos casos, desdobrada at suas mximas potencialidades,
jamais modificada. Hoje, o corpo alvo de uma aspirao eficincia funcional que implica numa
concepo ciberntica do mesmo, e os pudores estticos que possam levantar-se contra esta
aspirao em nada a enfraquecem.
405
Pretenso que somente expressa a tentativa de se furtar de um pensamento lcido sobre o
estado de coisas, procura de uma neutralizao, ou at esquecimento, do que nele h de
desorientador e doloroso.
280
retirado de toda cristalizao dogmtica e exposto a uma livre considerao
permanente, sempre segundo o prprio Marcuse, pergunto-me, de onde, nesse suposto
quadro, poderia surgir algo diferente da situao do niilismo to bem conhecida por
ns. O elogio dessa origem elogio este sim, diferentemente do que acontece em
Heidegger, envolvido por um halo de nostalgias com poder pretensamente
restaurador precisa desconhecer que a compreenso platnica da dialtica no faz
dela o fundamento instaurador do ser, mas simplesmente um exerccio para alcanar
aquilo que , e que nessa exata medida pe-se como limite a esse prprio exerccio.
Dito em outros termos, se em Plato no h niilismo, exatamente porque o ser
compreendido como permanncia absolutamente presente, acessvel por isso ao
pensamento, que por ele deve se deixar orientar, conformar e limitar. A dialtica
platnica no a aspirao a um movimento incondicionado, a aspirao a um
condicionamento ltimo e definitivo, aquele conquistado pela contemplao do
incondicionado o Bem, nomeado exatamente assim, anhypothetikos, na Repblica.
Marcuse, em conformidade com o esprito do nosso tempo, entende como
dogmatismo isto , como cerceamento liberdade do esprito a postulao de
contedos dados que referendem a procura do conhecimento e quer ver Plato livre
dessa mcula. Parece-me que no percebe que o outro lado dessa to prezada liberdade
o niilismo, isto , o vendaval arrasador de tudo aquilo que reclame para si o carter de
estabilidade e permanncia. Se h uma sada para este estado de coisas, certamente ela
no reside em tomar partido entre uma metafsica da ousia e uma metafsica da
atividade; menos ainda na procura de um pretenso caminho do meio que pudesse
encontrar um sensato ponto de equilbrio entre ambas. Trata-se de, pela primeira vez,
corresponder em pensamento a algo que permaneceu impensado ao longo de todo o
percurso historial ocidental, e que pode nos dar a chave de compreenso do aparente
paradoxo que ele encerra, isto , de como o fascnio pela verdade do ente sob a forma
da metafsica da ousia trazia em germe a prpria nadificao do ente. nisto que,
parece-me, Marcuse fracassa.
Você também pode gostar
- O que pensam os filósofos contemporâneos: um diálogo com Singer, Dennett, Searle, Putnam e BaumanNo EverandO que pensam os filósofos contemporâneos: um diálogo com Singer, Dennett, Searle, Putnam e BaumanAinda não há avaliações
- Tendências Contemporâneas de Filosofia da Mente e Ciências CognitivasNo EverandTendências Contemporâneas de Filosofia da Mente e Ciências CognitivasAinda não há avaliações
- Ética, Fenomenologia e Gestão do Conhecimento nas OrganizaçõesNo EverandÉtica, Fenomenologia e Gestão do Conhecimento nas OrganizaçõesAinda não há avaliações
- Reflexões sobre a filosofia prática de KantNo EverandReflexões sobre a filosofia prática de KantAinda não há avaliações
- Essas Doces Ações que vós Chamais de Crimes: O Pensamento Jurídico do Marquês de SadeNo EverandEssas Doces Ações que vós Chamais de Crimes: O Pensamento Jurídico do Marquês de SadeAinda não há avaliações
- Motricidade Humana: Novos Olhares e Outras Práticas - À Luz da Transdisciplinaridade e das Ciências EmergentesNo EverandMotricidade Humana: Novos Olhares e Outras Práticas - À Luz da Transdisciplinaridade e das Ciências EmergentesAinda não há avaliações
- Introdução à Psicologia Fenomenológica: A nova psicologia de Edmund HusserlNo EverandIntrodução à Psicologia Fenomenológica: A nova psicologia de Edmund HusserlNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- A fundamentação da ciência hermenêutica em KantNo EverandA fundamentação da ciência hermenêutica em KantAinda não há avaliações
- Estudos de epistemologia aristotélica I: phantasia e aisthêsis no De Anima de AristótelesNo EverandEstudos de epistemologia aristotélica I: phantasia e aisthêsis no De Anima de AristótelesAinda não há avaliações
- Ética e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyNo EverandÉtica e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyAinda não há avaliações
- Mitleid: a compaixão como fundamento da moral no pensamento de Arthur SchopenhauerNo EverandMitleid: a compaixão como fundamento da moral no pensamento de Arthur SchopenhauerAinda não há avaliações
- O método cético de oposição na Filosofia ModernaNo EverandO método cético de oposição na Filosofia ModernaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A construção estética da subjetividade: diante do abismo de siNo EverandA construção estética da subjetividade: diante do abismo de siAinda não há avaliações
- Filosofia da Mente, Ciência Cognitiva e o pós-humano: Para onde vamos?No EverandFilosofia da Mente, Ciência Cognitiva e o pós-humano: Para onde vamos?Ainda não há avaliações
- A Eterna Despedida da Modernidade: Da Subjetividade à IntersubjetividadeNo EverandA Eterna Despedida da Modernidade: Da Subjetividade à IntersubjetividadeNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Princípios da Metaciência SocialNo EverandPrincípios da Metaciência SocialAinda não há avaliações
- Constituição do saber matemático: reflexões filosóficas e históricasNo EverandConstituição do saber matemático: reflexões filosóficas e históricasAinda não há avaliações
- Cuidado e Afectividade: em Heidegger e na análise existencial fenomenológicaNo EverandCuidado e Afectividade: em Heidegger e na análise existencial fenomenológicaAinda não há avaliações
- As Declamações Deliberativas E Epidíticas De Erasmo De RotterdamNo EverandAs Declamações Deliberativas E Epidíticas De Erasmo De RotterdamAinda não há avaliações
- Compreendendo a semântica social da modernidade e sua aparente superaçãoNo EverandCompreendendo a semântica social da modernidade e sua aparente superaçãoAinda não há avaliações
- Compreensão, história, contingência: Ensaios sobre Heidegger e a HermenêuticaNo EverandCompreensão, história, contingência: Ensaios sobre Heidegger e a HermenêuticaAinda não há avaliações
- O Consenso em Jürgen Habermas e o Dissenso em Jean François Lyotard como Narrativa de Legitimação do Conhecimento Científico: Em Busca de um diálogo epistemológico interculturalNo EverandO Consenso em Jürgen Habermas e o Dissenso em Jean François Lyotard como Narrativa de Legitimação do Conhecimento Científico: Em Busca de um diálogo epistemológico interculturalAinda não há avaliações
- Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica em Sartre: Arqueologia dos ConceitosNo EverandFenomenologia e Psicologia Fenomenológica em Sartre: Arqueologia dos ConceitosAinda não há avaliações
- A ontologia em debate no pensamento contemporâneoNo EverandA ontologia em debate no pensamento contemporâneoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Processos de subjetivação:: fundamentos e movimentosNo EverandProcessos de subjetivação:: fundamentos e movimentosAinda não há avaliações
- O alvorecer de novo paradigma na(s) ciência(s) da(s) religião(ões)No EverandO alvorecer de novo paradigma na(s) ciência(s) da(s) religião(ões)Ainda não há avaliações
- Tempo, História e Psicanálise: diálogos entre Ranke, Droysen e FreudNo EverandTempo, História e Psicanálise: diálogos entre Ranke, Droysen e FreudAinda não há avaliações
- René Descartes: Análise Literária: Compêndios da filosofia, #4No EverandRené Descartes: Análise Literária: Compêndios da filosofia, #4Ainda não há avaliações
- Territórios Dissidentes: espaços da loucura na cultura urbana contemporâneaNo EverandTerritórios Dissidentes: espaços da loucura na cultura urbana contemporâneaAinda não há avaliações
- Filosofia, educação e conhecimento: subjetividade e intersubjetividade em Kant e HabermasNo EverandFilosofia, educação e conhecimento: subjetividade e intersubjetividade em Kant e HabermasAinda não há avaliações
- Introdução à epistemologia: Dimensões do ato epistemológicoNo EverandIntrodução à epistemologia: Dimensões do ato epistemológicoAinda não há avaliações
- Hegel: Vida e obra do filósofo alemãoDocumento15 páginasHegel: Vida e obra do filósofo alemãoMarcelo B. SantosAinda não há avaliações
- Evolução do Pensamento AdministrativoDocumento154 páginasEvolução do Pensamento AdministrativoNoédson Santos0% (1)
- Martin Wight A Politica Do PoderDocumento6 páginasMartin Wight A Politica Do PoderDaniela SoaresAinda não há avaliações
- Producao Textual Regular Aluno Autoregulada 3s 3b PDFDocumento40 páginasProducao Textual Regular Aluno Autoregulada 3s 3b PDFYula JesusAinda não há avaliações
- Atividade AvaliativaDocumento2 páginasAtividade AvaliativaLunara SilvaAinda não há avaliações
- A Filosofia do Direito e suas principais EscolasDocumento10 páginasA Filosofia do Direito e suas principais EscolasHerminio Raibo100% (2)
- Objectivos - 12º Psicologia BDocumento2 páginasObjectivos - 12º Psicologia BJoana Inês Pontes100% (1)
- Guy Debord e a crítica situacionista da economia política e culturaDocumento17 páginasGuy Debord e a crítica situacionista da economia política e culturaGaberutAinda não há avaliações
- Suryavan Solar - Mantra YogaDocumento205 páginasSuryavan Solar - Mantra YogaWagner Giovanni100% (1)
- Teologia Sistematica IIDocumento88 páginasTeologia Sistematica IIitamarbf100% (2)
- Sonhos e prisões em poemas simbolistasDocumento2 páginasSonhos e prisões em poemas simbolistasJulio Cesar PinheiroAinda não há avaliações
- Porque o Hooponopono FuncionaDocumento3 páginasPorque o Hooponopono FuncionaPatricia Laura KenneyAinda não há avaliações
- Livre-arbítrio vs determinismoDocumento9 páginasLivre-arbítrio vs determinismoRomeu VieiraAinda não há avaliações
- Introdução à Psicologia como CiênciaDocumento94 páginasIntrodução à Psicologia como CiênciaAlexandre AmaneAinda não há avaliações
- Monografia Emmy NoetherDocumento24 páginasMonografia Emmy NoetherLara WirtiAinda não há avaliações
- Filosofia de Maquiavel Aula 3Documento8 páginasFilosofia de Maquiavel Aula 3Matheus GaiaAinda não há avaliações
- A Mensagem Do IslamDocumento213 páginasA Mensagem Do Islamthe islam religionAinda não há avaliações
- Vendas para Quem Nao - Nasceu - Vendedor - Dick KendallDocumento197 páginasVendas para Quem Nao - Nasceu - Vendedor - Dick KendallPaulo Fernandes Dantas100% (1)
- A ideologia cientificista e o mito da neutralidade científicaDocumento7 páginasA ideologia cientificista e o mito da neutralidade científicaLana MaraAinda não há avaliações
- A Metafísica de PlatãoDocumento11 páginasA Metafísica de PlatãoJorge HegelAinda não há avaliações
- As doutrinas fundamentais da BíbliaDocumento11 páginasAs doutrinas fundamentais da BíbliaJeferson SantosAinda não há avaliações
- Currículo, imaginação e pesquisa-açãoDocumento14 páginasCurrículo, imaginação e pesquisa-açãoEvelyn Amanda Santos100% (3)
- A Arte de Reduzir Cabecas PDFDocumento208 páginasA Arte de Reduzir Cabecas PDFSilvana SilvaAinda não há avaliações
- Evolução conceito culpabilidade doutrina alemãDocumento22 páginasEvolução conceito culpabilidade doutrina alemãLucas AlvesAinda não há avaliações
- A alma segundo as antigas civilizaçõesDocumento29 páginasA alma segundo as antigas civilizaçõesSARANDELLI100% (1)
- Sociedade e DemocraciaDocumento18 páginasSociedade e DemocraciaNhaueleque JúniorAinda não há avaliações
- Antropologia Bíblica: Conceitos Veterotestamentários do HomemDocumento19 páginasAntropologia Bíblica: Conceitos Veterotestamentários do HomemRaimundo Pereira de SousaAinda não há avaliações
- Sócrates e o conhecimento de siDocumento2 páginasSócrates e o conhecimento de siVânia GasparAinda não há avaliações
- A Realidade Do Corpo de CristoDocumento30 páginasA Realidade Do Corpo de CristoNilton Elvis100% (1)
- Auto-erotismo: fragmentação e satisfação pulsionalDocumento4 páginasAuto-erotismo: fragmentação e satisfação pulsionalWenderDaFonsecaAinda não há avaliações