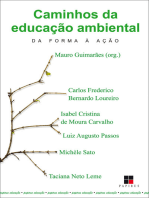Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
06 Bernard Darras
Enviado por
Cinthia MendonçaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
06 Bernard Darras
Enviado por
Cinthia MendonçaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
51
Modelizao geral das relaes
humanas com os artefatos:
estudo semitico e sistmico das interaes
Bernard Darras
Professor de Semitica e Metodologia da Pesquisa
da Universidade de Paris 1 PantheonSorbonne
E-mail: bernard.darras@univ-paris1.fr
Anatomia de um modelo: abordagem
em rede do sistema de produo e
recepo dos artefatos
General modeling of human relations with the artifacts: systemic
and semiotic study of the interactions
Abstract: What happens when we experience some situation
with an object, an image or a homepage on the internet for
example? What human or material issues, near or distants, participate, directly or indirectly, making this experience happen
in an specific moment? How can we represent or generalize
what occurred?
Key words: artefact, co-determination, communication, design, metabolism, modelling, semiotics, systemic.
MESSAGE
>
RECEIVER
>
>
>
SIG
Modelizacin general de las relaciones humanas con los artefactos:
estudio semitico y sistmico de las interacciones
Resumen: Qu sucede cuando vivimos una experiencia con
un objeto, una imagen o un sitio de internet, por ejemplo?
Qu actores humanos y materiales, cerca y lejos, participan
directa o indirectamente para que esta experiencia puede suceder en un momento dado? Cmo podemos representar y
generalizar lo que pas?
Palabras clave: artefacto, co-determinacion, comunicacin,
design, metabolismo, modelizacin, semitica, sistmica.
RE
C
SIG EIVE
NA D
L
TRANSMITER
INFORMATION
SOURCE
NA
Resumo: O que ocorre quando vivemos uma experincia com
um objeto, uma imagem ou um site de internet por exemplo?
Quais os atores humanos e materiais, prximos e distantes,
participando diretamente ou indiretamente para que essa expriencia possa acontecer em um determinado momento? Como
podemos representar e generalizar o ocorrido?
Palavras-chave: artefato, co-determinao, comunicao, design, metabolismo, modelizao, semitica, sistmica.
Buscando respostas para estas questes
aparentemente simples, pesquisadores de diferentes disciplinas propuseram inmeros modelos explicativos, cujos mais antigos so os
modelos de comunicao desenvolvidos por
Claude Shannon e Warren Weaver em 1945.
DESTINATION
>
MESSAGE
NOISE SOURCE
Figura 1: modelizao de Shannon & Weaver.
No cabe aqui estudar a evoluo destes
modelos. Para isto, indicamos as snteses realizadas por Alex Mucchielli (2008) e os estudos comparativos e crticos de Nathan Crilly
e sua equipe (2004, 2008, 2009, 2011).
De nossa parte, desde 2006, com a minha
colega Sarah Belkhamsa, temos estudado estas
modelizaes que conclumos incompletas ou
apresentando pontos de vista bastante parciais.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
52
neste sentido que buscamos elaborar
um novo modelo descritivo que ser aqui
apresentado.
Esse modelo foi publicado em 2009 e
desde ento temos buscado aperfeico-lo e
utiliz-lo em diferentes estudos.
Na primeira parte desta deste artigo apresentaremos os diversos componentes desta
modelizao assim como nossas escolhas tericas. Na segunda, buscaremos explicitar o
seu funcionamento.
os artefatos. Ele exerce igualmente um
papel essencial enquanto meio, dispositivo, rede e intersistema.
Quais os atores representados nesta
modelizao?
Os cinco atores includos em nossa modelizao fazem parte de quase todos os modelos de comunicao, os quais buscamos
rever as definies e o raio de alcance. So
os seguintes:
Os utilizadores dos artefatos, que so os
atores da demanda e da recepo. Os modelos de comunicao elaborados aps
Shannon e Weaver lhes atribuem frequentemente o papel de receptor ou destinatrio.
Os atores envolvidos na concepo e na
produo dos artefatos denominados
emissores ou destinatores nos antigos
modelos.
Os prprios artefatos, ou seja, os atores
no humanos tratando-se na maioria
das vezes de substitutos: de inteligncias
transferidas, de protses de ao, de competncias humanas materializadas, de
narraes etc.
O raio de alcance que conferimos a este
termo muito maior que a noo de
mensagem dos antigos modelos.
Os difusores de artefatos que so os atores
exercendo a funo de canal ou transmissor nos paleomodelos.
O meio ambiente exerce um papel extremamente importante em nosso modelo. Trata-se do local onde se realizam
todos os metabolismos que se manifestam nas relaes entre os humanos e
Figura 2.
Como os atores so organizados na
modelizao?
Sendo interacionista, portanto no causal e linear, nossa modelizao no comea
necessariamente com o processo de emisso
como o caso nos paleomodelos.
De fato, ns entendemos as relaes entre
os atores segundo o modelo de co-determinao das teorias neodarwinistas.
Isto nos conduz a representar essas relaes em forma de crculos e espirais de co-determinao, onde a oferta e a demanda de
artefatos so to entremeadas quanto s fases
de concepo, utilizao, transformao, etc.
A figura do crculo retrata a continuidade
destas interaes e a espiral representa sua
evoluo no tempo.
Figura 3: crculo e espiral.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
53
Nos aproximando ainda mais da realidade, as espirais precisam ser desenhadas de
forma imbricada e divergente para melhor
representar a evoluo histrica destes ciclos
de co-determinao e suas mutaes, dando
origem s divergncias e proliferaes que
enriquecem a gama de artefatos.
Este fenmeno bastante frequente no
mundo dos objetos, das imagens e da cultura digital.
igualmente processual e metablica evitando-se, deste modo, toda forma de cristalizao ou reificao.
Da mesma forma, focalizar a ateno em
um nico designer ou usurio, como de
praxe nos modelos de comunicao, reduz,
a nosso ver, a complexidade dos aspectos
mobilizados no mbito de uma experincia
e suas relaes.
Para representar as diversas relaes entre a experincia individual contextualizada,
situada e finalizada, bem como os aspectos
supra-individuais ativados durante uma expriencia, optamos por apresent-los atravs
da superposio de dois crculos concntricos.
Figura 4: divergncias e proliferaes que enriquecem a gama
de artefatos.
Ator ou polo?
Nota-se que tenho me referido aos atores
no plural e no no singular.
O uso do plural destaca nosso diferencial
com relao s concepes substancialistas,
analticas e reducionistas que, adeptas ao
conceito de existncia em si, consideram o
ator como um indivduo isolado e independente de seu meio ambiente.
Em contraste, prefirimos utilizar os conceitos polo de concepo, sistema de artefatos, metabolismo, co-determinaes
articuladas etc.
Em nossa abordagem sistmica e relacional,
os atores e a comunidade de atores so considerados como agentes de relaes dinmicas em
um meio ambiente que eles contribuem para
construir e que os constri em retorno.
Como essas relaes tambm se transformam com o tempo, nossa abordagem
Figura 5: polo.
O primeiro crculo menor, ao centro, representa o indivduo e o segundo a comunidade na qual ele atua.
Essa comunidade depende da experincia
em andamento. Na verdade, na maioria dos
casos os indivduos pertencem a vrias comunidades cujas influncias podem se complementar ou entrar em conflito.
Isso quer dizer que uma determinada
experincia pode ativar, em nveis diversos,
uma ou vrias comunidades.
Este tipo de representaco por incluso possibilita descrever as relaes de um
designer-produtor, um difusor ou um usurio com as suas comunidades, bem como as
relaes mantidas entre um artefato e o seu
sistema de objetos.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
54
Os agencies so poderes para agir com relao ao outro e com relao a determinada
rede, dispositivo, mundo-prprio ou meio
ambiente. Certos agentes dominam, dirigem,
oprimem e outros suportam, resistem, combatem, negociam etc. (Darras, 2007).
Meio ambiente, mundo-prprio,
rede, dispositivo
Figura 6: polos.
Os quatro polos, dos designers-produtores, dos difusores, da comunidade de usurios e dos artefatos constituem, portanto,
universos associados e relacionados.
Unidos a diversos graus, eles constituem
um metabolismo vivo (Peirce), uma experincia (James, Dewey), um mundo-prprio
e meio de vida (um Umwelt segundo Von
Uexkll), um sistema contido em um meio
ambiente (Von Bertallanfy, Le Moigne, Morin etc.), uma rede de atores (Callon, Latou,
Low) e um dispositivo (Foucault, Agamben).
Ator ou agente?
Uma das mais importantes contribuies
dos chamados, no mundo anglo-americano,
French theories e cultural studies trata-se da
distino estabelecida entre as noes de ator
e agente e as noes de ao e agencies.
Enquanto que o termo ator permite definir aquele que age privilegiando a ao, o
termo agente enfatiza as relaes de poder
dos atores entre si e com os componentes
de seu mundo-prprio, de seu sistema, rede,
dispositivo ou meio ambiente.
O termo ator , de certo modo, uma concepo neutralizada do agente e evitaremos
empreg-lo doravante.
Em um meio hierrquico em que os agentes provocam ou sofrem relaes assimtricas
e desiguais, cada um atribui a si seus prprios
agencies ou estes lhe so designados por sua
comunidade ou outras comunidades.
At aqui, temos empregado regularmente os
termos meio ambiente, sistema, mundo-prprio, dispositivo e rede sem defini-los nem correlacion-los. o que vamos fazer rapidamente:
O meio ambiente a entidade maior que
engloba todas as outras. Logo, toda entidade possui um meio ambiente.
Em um meio ambiente, o mundo-prprio a configurao de relaes e de
aes significantes entre os portadores de
significao e os utilizadores de significao. O termo mundo-prprio utilizado
aqui a traduo ao portugus do termo
alemo Umwelt pertencente ao biosemitico J. Von Uexkull (1956-1965).
Assim, um mesmo meio ambiente
composto por inmeros mundos-prprios
(Umwelt) e um portador de significao funciona como tal em nveis diversos dependendo de como este utilizado pelos diferentes
utilizadores da significao.
Numa sala qualquer, por exemplo, o
mundo-prprio dos humanos no o mesmo que o das formigas e o das bactrias.
Juntos, estes Umwelten constituem o meio
ambiente, a surpreendente sinfonia da natureza segundo a expresso de Von Uexkull.
Em um mundo-prprio e s vezes entre inmeros mundos prprios, os agentes humanos e no humanos (os animais e tambm os
artefatos) so organizados em forma de redes
de co-determinaes e de interdependncias.
A Teoria do Ator-Rede (Actor-Network Theory - ANT) desenvolvida por Michel Callon,
Bruno Latour e John Law uma vertente da
semitica materialista.
As relaes recorrentes entre os agentes
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
55
esto propensas a se estabilizar, se institucionalizar e se sistematizar em dispositivos.
Assim como nos descreve Michel Foucault
(1977:299) Busco designar por este nome,
em primeiro lugar, um conjunto resolutamente heterogneo, comportando discursos, intituies, arranjos arquiteturais,
decises regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados cientficos, proposies filosficas, morais, filantrpicas,
em suma: o dito, assim como o no-dito,
aqui esto os elementos do dispositivo. O
prprio dispositivo a relao que podemos estabelecer entre estes elementos.
Em seu curto livro O que um disposivo?
(Che cos un dispositivo?) Giorgio Agamben
comenta e extrapola a proposio de Foucault
(2006-2007). Generalizando ainda mais a classe j to vasta dos dispositivos de Foucault, eu
chamo de dispositivo tudo que possui, de uma
maneira ou de outra, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar,
controlar e assegurar os gestos, as condutas, as
opinies e os discursos dos seres vivos.
No somente as prises, os asilos, o
panoptikon, as escolas, a confisso, as usinas,
as disciplinas, as medidas jurdicas - cujas articulaes com o poder so evidentes - mas
tambm a caneta, a escrita, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegao, os
computadores, o telefone celular e, porque
no, a prpria linguagem pode ser o mais
antigo dispositivo pelo qual (h) muitos milhares de anos daqui um primata, provavelmente incapaz de se dar conta das consequncias que estavam a sua espera, teve ento a
inconscincia de se deixar capturar.1
Aco, relao, interao, enao
ou transao
Toda ao gera uma relao e, fatalmente,
uma reao. raro que uma ao no mo1
Todos esses atores fazem parte de uma rede servida por outros
sistemas e outras redes que so feitas e desfeitas por projetos
de diferentes atores, mas tambm encontros no planejados e
imprevisveis.
difique, mesmo que somente um pouco, o
mundo-prprio e o meio ambiente nos quais
ela atua.
Que seja em um nvel fsico, mecnico, qumico, fisiolgico, e muito provavelmente, em
um nvel psicolgico e semitico, toda ao
provoca uma dissipao de energia e de informao e, consequentemente, uma reao.
O conceito de interao permite ir alm
do ponto de vista da ao egocntrica, mas
conserva ainda assim uma relao substancialista entre duas entidades.
Para ir alm desse reducionismo substancialista, dois caminhos so possveis: o da
transao e o da enao.
Figura 7: transao.
O conceito de transao foi proposto por
John Dewey e Arthur Bentley (1949) a fim
de ultrapassar o conceito pr-cientfico de
self action como poder prprio de agir, mas
tambm para ir alm do conceito mecanista de interao como o equilbrio de foras
(Newton).
Dewey e Bentley propem o conceito de
transao que permite apreender os mltiplos aspectos e fases da ao sem recorrer
s essncias, s substncias ou s entidades
ltimas e finais.
Como nos diz Emirbayer (1999:282) A
especificidade da abordagem transacional
entender as relaes entre os termos ou unidades como eminentemente dinmicas por
natureza, como a manifestaao de um pro-
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
56
cesso em andamento e no como um ncleo
esttico entre substncias inertes.2
Assim como destaca Aurlie Cassagne(2008:25): o relacionismo revindica uma
abordagem capaz de apreender os fenmenos da vida social como processos dinmicos imbricados uns aos outros, constituindo
deste modo configuraes especficas, elas
mesmas dinmicas.
Francisco Varella (1993) resume a concepo de enao quando nos diz que a cognio
no a representao, mas sim a ao encarnada e que o mundo que conhecemos no nos
dado, mas sim enacionado pela histria de
nossa unio estrutural com o meio.
A enao , ento, uma concepo evolutiva e vinculada ao nosso mundo-prprio e
ao nosso meio ambiente. O meio ambiente
nos modela ao mesmo tempo em que ns o
modelamos.
O interior e o exterior se constituem mutualmente por meio da ao e suas mediaes.
o caso do impacto da nossa mo sobre o
mundo que co-determinamos para que sempre esteja ao alcance da mo para manipul-lo melhor (Darras; Belkhamsa, 2008).
O que ocorre entre os polos?
Todos os polos de nossa modelizao se
articulam e trocam fluxos de matria, energia, informao e significao internamente
e externamente, em diversos nveis e em diversos momentos.
Estas trocas no so ativas permanentemente, certos acontecimentos acionando
todo o ciclo e outros somente algumas partes.
Mais adiante, ns estudaremos os fluxos
que circulam entre os polos.
Neste mbito, os artefatos materiais (objetos, imagens impressas) no funcionam da
mesma maneira que os artefatos difundidos
ou acessveis.
2
What is specific about the transactional approach is that it
sees relations between terms or units as preeminently dynamic
in nature, as unfolding, ongoing processes rather than as static
ties among inert substances (Emirbayer, 1999:282).
Figura 8: fluxos.
Os tempos do metabolismo da
estabilidade dinmica mudana
O conceito de metabolismo que temos
evocado regularmente pertence a Charles
S. Peirce que, vale lembrar, foi tambm um
qumico.
Cientificamente, o termo metabolismo
pertence ao campo da qumica, correspondendo ao conjunto de mudanas de tipo molecular no interior de um corpo (qumico). O
conceito foi em seguida estendido ao campo
fisiolgico para se referir s transformaes
de um organismo.
Etimologicamente, Metbolo (em ingls
metaboly) vem do grego metabol que signica
descolamento e do latim metabola, metabole que significa mudana e troca.
Segundo Peirce (a teoria) do pragmaticismo entende o pensamento como um metabolismo vivo de smbolos inferenciais cuja
significao reside em uma resoluo geral e
condicional para agir (Peirce, 5.402).3
Como veremos mais tarde, defende-se
aqui que a signifio (purport) se realiza de
duas formas: ou como deliberao geral e
resoluo geral para agir, ou, diretamente,
por meio de uma ao habitual. A partir de
1907, o prprio Peirce mudou seu ponto
de vista sobre a questo e passou a consi3
Pragmaticism makes thinking to consist in the living inferential metabolyof symbols whose purport lies in conditional general resolution to act (Peirce ,5.402).
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
57
Ciclo de hbitos e mudanas de hbitos segundo C.S. Peirce
ACORDO
RESISTNCIA
D
A
D
VID
A
CR
CRE
N
A
HBIT
OD
EA
I
O
ICA
MT
RAG
AP
CUTIVA
AM
EXE GIR
GR
A
EM
AG DE DO
RO
L
ICO IDA
TIVO
BR IATIV
ECU
CR
. EX
OG
PR
MO
TIS
A
M
TO
AU
ISE
I
HB
TO
N
CRE
PE
SQ
EX
UIS
PL
A
OR
AO
INT
E N
O
SALTO CRIATIVO
/O
U
A
NO
CR
EN
M
GE
IZA
ND
APRE
BITO
ADOO
Ciclo curto de crenas
e hbitos
LU
PR
O
ET
VO
H
SO
Investigao
PERTUBAO
IN
IB
EC
DELIBERAO
Dvida
Hbito
de ao
ou
A
O
VIABILIDADE
EX
derar que a ao se generaliza em hbitos
de ao atuantes, ou seja, na relao (transao) significante que se produz durante
uma experincia.
Retomemos agora os diferentes polos
que constituem a nossa modelizao. No
nos contentando em representar as relaes
e as transaes internas de modo esttico,
ns lhes dotamos tambm de uma espcie
de cursor circular que representa o estado do
metabolismo interno de cada agente.
ou
REJEIO
Ciclo completo de mudana
de hbito
Figura 10: relgio do metabolismo semitico e
pragmtico dos agentes.
Hbito
Mudana
Aprendizagem
Figura 9: terminologia de C. S. Peirce.
Com relao ao seu mundo-prprio, a
sua rede ou ao seu dispositivo, um agente
pode estar numa fase semitica de rotina ou
hbito (Habit na terminologia de C. S. Peirce), isto , em uma fase pragmtica cuja significao se realiza como uma predisposio
para agir ou como um signo de ao.
O agente pode tambm estar numa fase
em que seus hbitos de ao falham, ou seja,
uma fase de perda de sentido que chamamos
fase de dvida (doubt).
Em outro momento, ele pode estar numa
fase de pesquisa, de mudana de hbito
(habit change) ou de aprendizagem (habit
taking) etc.
O movimento entre o hbito e a mudana
de habito no uma simples oscilao, mas
sim uma sequncia de cronolgica de mudanas mais ou menos rpidas.
Ao representarmos estes estados de metabolismo da mente e da ao por meio de um
crculo cronolgico, obtemos uma espcie de
relgio do metabolismo semitico e pragmtico dos agentes.
Segundo este mesmo princpio, possvel
representar o metabolismo da comunidade da mesma maneira, porque ela tambm
passa por fases similares de hbito (habitus
segundo Bourdieu), de dvida, de reconstruo do hbito etc.
Em nosso modelo, os relgios centrais
caracterizam o estado semitico de tal ou tal
agente, enquanto que os relgios perifricos
representam tal ou tal estado semitico da comunidade interpretativa e, por extenso, tal ou
tal estado da cultura material, visual ou digital.
Ciclo de hbitos e mudanas de hbitos segundo C.S. Peirce
Figura 11: relgiosencaixados e concntricos, trs casos.
Como os relgios so encaixados e concntricos, suas rotaes podem ser ajustadas ou reajustadas em diferentes fases nos
permitindo, assim, representar as diferentes
configuraes articuladas de consenso ou
de disenso do casal agente e comunidade
de agente.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
58
A rede de agentes funciona da melhor
forma possvel quando todos os relgios
situados no interior de um polo e entre os
polos so alinhados de forma complementar.
Por exemplo: um webdesigner produz
uma interface padro de acordo com os hbitos da sua agncia, os da cultura digital e,
consequentemente, os de todos os usurios e
sua comunidade que j desenvolveram rotinas e hbitos adaptados aos produtos da comunidade de produo e de difuso.
Pesquisas sobre
condutas individuais
apontam que ocorrncias
das prticas partilhadas
constituem parte de
nossas representaes
em comum
Neste caso, nenhum problema causado,
pois as representaes, os usos, os portadores
de significao e os utilizadores de significao so compatveis.
A rede dos agentes e dos polos esto alinhadas e funcionam perfeitamente.
O alinhamento a posio ideal e homeosttica almejada por todo sistema em busca
de equilbrio.
Podemos, de igual modo, representar um
estado da rede alinhado num estado de criatividade, num sistema a espera de solues
inovadoras etc.
Alm disso, basta que um dos agentes humanos ou no humanos mude de posio
para que o sistema entre em dissonncia.
Nosso modelo , ento, apto a representar
o novo estado dos agentes e, por extenso, o
estado e a dinmica da rede de agentes.
Essa modelizao dinmica do metabolismo de uma rede ou de um sistema constitui, a nosso ver, uma das originalidades do
nosso modelo.
A modelizao dos polos: um ponto de
partida e um ponto de chegada?
Em uma rede de agentes ativos, difcil
decompor e pontuar uma relao para determinar quem deu inicio transao.
A metfora de quem veio primeiro, o ovo
ou a galinha, um bom exemplo do tipo de
armadilha que pode ser evitada pela concepo de co-determinaes evolutivas.
Isto impede cair na tentao de decidir
quem primeiro chamou a ateno ou quem
primeiro prestou ateno, quem oferece e
quem pede etc.
Segundo o tipo de estudo desenvolvido a
partir desta modelizao, preciso ter sempre
em mente a dinmica contnua da transao.
Todavia, o estudo pode se focalizar em tal
ou tal polo especfico, em diferentes polos alternadamente, em suas zonas de relao ou
at mesmo na totalidade do dispositivo.
Diferentemente dos relgios internos aos
polos que so cronolgicos, o circuito das relaes entre os polos no tem pontos de chegada
nem de partida, no tem acima nem abaixo.
Alm disso, a relao entre os polos se d
nos dois sentidos.
As interfaces dos polos In e out
Cada polo de nossa modelizao possui
entradas (in) e sadas (out) e cada fluxo de
matria, de energia e de informao amoldado ou amoldvel.
Tomemos, por exemplo, o polo do artefato esquematizado aqui na forma de uma
interface contendo trs conexes principais.
De um lado, o artefato fabricado, integrando e materializando os componentes
e as regras de articulao selecionados pelo
polo de concepo-produo. Aqui como
em qualquer outro lugar, as relaes se ativam nos dois sentidos, em in e em out.
Por outro lado, este artefato relaciona-se
tambm com o sistema de artefatos enquanto um representante ou um elemento da rede.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
59
Enfim, ele est ainda relacionado com o
seu utilizador, passando inicialmente por
um polo de difuso.
Estudo dos polos
A comunidade de concepo e de produo
de bens, produtos e servios de distribuio trata-se do comandatrio, dos engenheiros de diferentes setores de estudo,
dos responsveis de marketing, da direo
artstica, do setor financeiro e, evidentemente, dos designers cuja posio e papel
exercidos dependem do tipo de produo
e de produto. Todas estas pessoas contribuem, diretamente ou indiretamente, nas
especificaes do projeto como ainda nas
diversas operaes de conselhos, selees,
testes, validao e fabricao desencadeadas durante o processo. Finalmente, mesmo se revindicado ou no, toda concepo e produo sempre o resultado de
um co-design (design participativo) e de
uma co-produo.
A comunidade dos difusores composta
por todos os sistemas de comunicao,
publicidade, estocagem, transporte, distribuio, venda, servio ao consumidor,
at mesmo o servio de reciclagem etc.
As relaes e transaes so intensas e recprocas entre essa comunidade, a comunidade de concepo e produo e o sistema de
artefatos, de uma parte, e a comunidade de
usurios, de outra parte.
A comunidade dos difusores exerce um papel indispensvel para o metabolismo global.
A interveno do polo de difuso reduzida em casos que a relao entre o produtor e o consumidor dita direta e a
curto fluxo.
Dependendo do contexto, o impacto da
difuso persiste longo tempo aps a apropriao do artefato. A difuso pode tornar-se
permanente (os objetos de distribuio) ou
ser simplesmente negligenciada.
Porm, os difusores abandonam raramente um objeto sua prpria sorte.
A publicidade, por exemplo, faz questo
de lembrar regularmente a todos os utilizadores que tal objeto perdeu seu valor identitrio, saiu de moda, que a concorrncia
mais atraente etc.
No que diz respeito ao conceito de comunidade de usurios, ele no se refere unicamente s prticas de grupo. Ele inclui
ainda todos os usurios singulares e situados que so ocorrncias de aces aprendidas e assimiladas atravs de trocas diretas (imitao e instruo) ou indiretas
com os outros membros da comunidade.
Essa comunidade produz e gera regras
e normas de uso e de experincia mais ou
menos incorporadas pelos indivduos, mas
tambm todas as interaes improvisadas
cuja causa ou objetivo so mais ou menos
determinados. As pesquisas sobre as condutas individuais apontam que so, de fato,
ocorrncias das prticas partilhadas, sobretudo na forma de crenas e hbitos que constituem uma parte de nossas representaes
em comum.
O conceito de sistema de artefatos no se
limita famlia dos objetos, imagens e
interfaces. Ele enriquecido pela ideia
de artefato como um dispositivo de inteligncias distribudas e mais ou menos
fixas exercendo relaes de transao e de
enao entre artefato e agente e entre artefato e artefato. (Zinna, 2005).
Neste ponto, nossa modelizao deriva da
concepo smitica relacional de C. S. Peirce
(1931-1935) e adere ao conceito de rede heterognea em que os atores humanos e no humanos so considerados em suas redes de relaes.
Como j mostrado, nosso modelo tem tambm muitos pontos em comum com a Teoria
Ator-Rede (Action-Network Theory, ANT).
Nesta perspectiva, as relaes dos artefatos
entre si constituem a ecologia dos artefatos.
Essas relaes podem ser de dependncia
direta (conjunto de objetos apresentados simultaneamente: um servio de jantar, uma
mesa com suas cadeiras etc.) ou indireta
(conjunto de artefatos religados distncia:
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
60
a televiso e o controle remoto, um site e outros sites ou redes sociais referenciadas etc.).
Os artefatos podem tambm estar interligados a certa distncia por diversos operadores
paralelos de ponto e contraponto mecnicos (a
chave e a fechadura) qumicos (um detector de
fumaa e uma chaleira) trmicos (o termostato
e o radiador) ou por meio de ondas (dois telefones via uma rede) (Uexkll, 1956-1965).
Apresentao do ciclo metablico de
hbitos e de mudanas de hbito
Para configurar a relao sistmica, semitica, contextualizada e situada da comunidade de agentes, do sistema de objetos e do
meio ambiente, ns aderimos aos conceitos
de hbito e mudana de hbito de C. S. Peirce.
Estes conceitos foram em seguida retrabalhados e ordenados em um ciclo de transformaes.
Este ciclo e suas diferentes fases so representados no diagrama seguinte:
Ciclo de hbitos e mudanas de hbitos segundo C.S. Peirce
ou
PERTUBAO
RESISTNCIA
D
D
VID
A
CR
ISE
SALTO CRIATIVO
I
HB
TO
N
CRE
PE
SQ
EX
UIS
PL
A
OR
AO
INT
E N
O
DELIBERAO
/O
U
A
NO
CR
EN
M
GE
IZA
ND
APRE
BITO
LU
PR
VO
H
SO
TO
JE
IN
IB
ICA
MT
RAG
AP
UTIVA
AM
XEC
GR
M E O AGIR
E
O
G
D
R
LA
DE
ICO IDA
TIVO
BR IATIV
ECU
CR
. EX
OG
PR
SMO
ATI
M
TO
AU
CRE
N
A
HBIT
OD
EA
EC
EX
ACORDO
VIABILIDADE
ADOO
Ciclo curto de crenas
e hbitos
ou
REJEIO
Ciclo completo de mudana
de hbito
Figura 12: ciclo do metabolismo de hbitos segundo a teoria de
C.S. Peirce e Bernard Darras e Sarah Belkhamsa.
Tal como apresentado aqui, o lado esquerdo
do crculo ocupado pelas fases de equilbrio.
Trata-se do campo das crenas em fase de estabilidade, dos hbitos e hbitos de ao decorrentes
que, por sua vez, reforam as crenas no caso de
uma ao conclusiva (flecha descendente).
Este equilibrio o estado em que se encontra o pensamento funcionando em um
meio ambiente previsvel.
O semicrculo da direita comea com a
dvida causada pela perturbao de um hbito de ao. Essa fase de dvida geralmente seguida por uma fase de crise, a mesma
podendo dissipar-se pela entrada em uma
fase de pesquisa e procura de soluo.
Uma vez a soluo encontrada, experienciada e aprendida, um novo hbito se constitui e o ciclo adaptativo de hbitos e de mudana de hbitos pode ento continuar.
Vamos apresentar brevemente cada uma
dessas fases notando que a passagem entre
uma fase e outra provocada por tenses.
Como j assinalado na modelizao
completa, estes ciclos ou relgios de base
esto ao mesmo tempo encaixados, a fim de
representar a articulao das fases do individuo com as da sua comunidade cultural,
e replicados, pois so as mesmas fases que
se seguem tanto em caso de concepo-produo como em caso de difuso ou de
recepo e consumo.
Somente o polo do artefato e seu sistema de
artefatos gerado por um outro dispositivo de
transformao que vamos apresentar agora.
Crenas, hbitos, ao e significao
Os conceitos de crena e de hbito que
temos evocado com frequncia pertencem a
Charles S. Peirce. Em sua teoria: uma crena significa principalmente estarmos deliberadamente prontos a adotar a frmula que
acreditamos como guia para a ao. (Peirce:
CP 5.480).4
A crena simplemente uma regra de ao,
uma predisposio para agir, uma frmula destinada a nos servir de guia. Consequentemente,
os hbitos formados a partir da so acionados
e concretizados em hbitos de ao. Para Peirce, esta prpria funo do pensamento: A
funo global do pensamento de produzir
4
A belief consists mainly in being deliberately prepared to
adopt the formula believed in as the guide to action.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
61
hbitos de ao (CP 5.400, v.13).5 A significao se realiza no hbito de ao. (CP 5.400)
O hbito, segundo Peirce, estar pronto
a agir de certo modo em funo das circunstncias e quando somos impulsionados por
um determinado motivo (CP 5.480).
Como especifica Bernard Morand: o hbito uma tendncia que fixa o comportamento atual de acordo com os comportamentos
repetidos em circunstncias semelhantes no
passado (Morand, 2004:98); toda forma de
generalizao constitui um hbito: a nica
maneira de uma lei ser suficiente por ela mesma determinar um hbito (CP 1.536). Isso,
pois, a nica regra fundamental buscada pela
mente a tendncia generalizao (CP 621) e
esta lei, naturalmente, s pode existir por meio
de um hbito. Em outras palavras, o poder
do intelecto est simplesmente na facilidade
em seguir determinados hbitos e aplic-los
em casos semelhantes (...) Pois so tpicos de
tais associaes de impresses (Connections of
feelings) a partir das quais estes hbitos foram
formados (CP.6.20) (Dumais 2010:50).
Dumais nota que da noco de hbito, excluem-se as disposies naturais (CP. 5.476),
Peirce no define o que so estas disposies
naturais. Esse um ponto que Peirce vai retomar inmeras vezes ao considerar que estas disposies naturais podem se tratar de
incorporaes dos hbitos.
Nossa modelizao distingue trs tipos de
hbitos de ao:
Os programas pragmticos so representaes internas ou externas de um plano de
ao. A tabuada memorizada ou um sistema mnemotcnico (recursos e tcnicas de
memorizao) so exemplos de programas pragmticos internos. Os programas
pragmticos externos so as instrues de
uso, as receitas, os mapas, os manuais de
montagem etc..
As bricolagens executivas so necessrias
para que possamos agir concretamente. Trata-se das aes improvisadas que ocorrem
durante nossa experincia direta e situada.
5
The whole function of thought is to produce habits of action.
Os agentes bricolam (improvisam) fazendo uso das informaes e conhecimentos
oferecidos pelo seu meio ambiente: as memrias externas ou desincorporadas e os hbitos materializados em forma de artefatos.
O caminho se faz ao caminhar j dizia
A. Machado.
O programa pragmtico uma espcie de
impulso inicial, uma inteno, ao passo que a
bricolagem executiva oportunista e busca
adaptar-se por meio da criatividade do agir.
Os programas executivos so as bricolagens executivas que, repetidas inmeras vezes, ficam registradas na memria
procedural. Elas tornam-se automticas
e inconscientes. A prtica de dirigir um
automvel ou de um especialista em digitao so exemplos de combinaes de
automatismos e bricolagens executivas.
Quando a ao passa a ser conhecida
pelo corpo, a mediao de uma representao torna-se desnecessria.
Ela chega mesmo a incomodar quando
ressurge em meio de uma ao automatizada.
De certa maneira, preciso aprender a agir
sem pensar. Porm isso no quer dizer que o
agente no pensa mais. O pensamento agora
psicomotor e no mais representacional.
Em todos os casos, passar para a ao saber funcionar com base em um destes trs modos. Como veremos mais adiante, esse processo
muito prximo daquele colocado em prtica
durante a aprendizagem de um novo hbito.
A dvida
A entrada em uma fase de dvida uma
situao normal do ciclo metablico de nossa
mente que est ao mesmo tempo em busca do
hbito e do conforto da crena, mas que tambm est propensa s aes que podem conduzir surpresa, a falhas e invalidao do hbito e da crena. Como a crena uma regra
de ao que, para ser aplicada, implica mais
dvida e reflexo, ela a ocasio de um salto
e de um novo comeo para o pensamento.6
6
Since belief is a rule for action, the application of which invol-
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
62
Na maioria dos casos, a dvida no uma
etapa insatisfatria: A dvida no um hbito, mas sim a privao de um hbito.7
Sua dissipao inaugura uma fase de pesquisa que pode submergir em uma fase de
crise ou se liberar em um salto criativo.
Em casos graves a tenso se transforma em
estado de choque bloqueando o pensamento.8
Em um meio ambiente
propenso estabilidade
e ao previsvel,
torna-se bastante
simples controlar
rapidamente as
micromudanas
pesquisa metdica e cientfica de solues
inditas fundadas nos diferentes processos
lgicos de abduo, induo e deduo. Entre os dois extremos, a imaginao e a criatividade oferecem uma grande variedade de
dispositivos de resoluo de problemas que
vo do surgimento intuitivo de solues at
as diferentes reciclagens de blocos de pensamento. Como dizia Albert Einstein Os
problemas com os quais nos confrontamos
no podem ser resolvidos no mesmo nvel e
com a mesma forma de pensar que os criou.9
Uma soluo poder levar um tempo bastante
curto ou bastante longo para aparecer, podendo mostrar-se mais ou menos vivel.
A aprendizagem de novos hbitos
(Habit taking)
Beaunieux (2009:52) revela que
A crise
Na falta de uma soluco vivel, o sujeito
e sua comunidade entram em uma fase de
crise dominada pelo transtorno, pela hesitao, pelo desacerto, pelo sofrimento, pela
inibio da ao, pelos crculos viciosos ou
por toda outra forma de bloqueio. Esperando que um novo salto criativo e adaptativo
acontea, tenta-se dar um jeito reciclando o
velho em novo.
A pesquisa
A pesquisa ou a procura de soluo pode
se dar de diferentes formas, desde a imitao
(uso e cpia de solues j existentes) at a
ves further doubt and further thought, at the same time that it
is a stopping-place, it is also a new starting-place for thought.
7
Doubt [] is not a habit, but the privation of a habit.
8
Como podemos definir esses programas pragmtico e executivo so consistentes com teorias avanadas de ao e cognio situada (Situated cognition), o conhecimento distribudo
e HMI pesquisa (Interao Homem-Mquina), como os que
eram desenvolvidos a partir dos trabalhos de Lucy Suchman
(1987 e 2007).
a aprendizagem de um procedimento se d
em trs etapas distintas: uma etapa cognitiva, uma etapa associativa e uma etapa qualificada como autnoma. Na primeira etapa,
o sujeito est ainda descobrindo o que ele
precisa aprender: ele avana no escuro e comete inmeros erros. Ele passa em seguida
para a etapa associativa, uma fase transitria
durante a qual comea a exercer um controle sob a tarefa a ser realizada, mas sem ainda
automatiz-la completamente.
Finalmente, durante a terceira etapa os gestos tornam-se automticos e atingem um
nvel mximo de eficcia.
Essa dinmica corresponde a trs zonas
cerebrais distintas (Hubert et al. 2007).
Esta transmutao (em memria procedural) explicaria porque os automatismos
so to difceis de verbalizar (Beaunieux,
2009:53).
Esta economia procedural permite que
o sujeito dedique grande parte da sua atividade a outras coisas. Se na competio entre
os hbitos disponveis um deles consegue se
9
Referncia exata desconhecida, este tema geralmente atribudo a Albert Einstein.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
63
impor, se validar e em seguida ser adotado
pela comunidade interpretativa do sujeito,
ele torna-se um hbito compartilhado (consenso) e eventualmente um habitus. Ele
ento incorporado individualmente e socialmente at a prxima hesitao, indeciso e
dvida que, por sua vez, provocar uma nova
fase de pesquisa.
Articulao entre o individual e o coletivo
Este estudo das fases e das tenses do ciclo
de hbitos e mudanas de hbito aplicvel
tanto em concepo-produo quanto em
recepo, uso e consumao. A mesma lgica vlida tanto no nvel singular do designer
quanto no de sua comunidade de produo.
Ela aplicvel, ainda, no contexto de uma
experincia individual ou no mbito cultural
das comunidades interpretativas e atuantes
nas quais os usos se estabelecem. Todo estudo
de uma experincia consiste, portanto, em um
ajustamento destes crculos embutidos em
funo das fases ativadas. De modo geral, so
os hbitos que dominam a vida cotidiana dos
humanos. Em um meio ambiente propenso
estabilidade e ao previsvel, torna-se bastante
simples controlar rapidamente as micromudanas e eliminar as dvidas para retomar os
bons e velhos hbitos.
Neste ponto, nem todos os indivduos tm o mesmo comportamento sendo os
mais criativos atrados pelas tenses provocadas pela dvida e a instabilidade.
Eles gostam de profisses e atividades desafiadoras em que os hbitos podem ser com
frequncia desestabilizados. Eles apreciam
que suas certezas sejam colocadas em dvida
e adoram ter problemas para resolver e superar os desafios estimulando a imaginao, a
criatividade e o esprito de inveno.
Em suma, eles adoram se deparar com
as mudanas que eles mesmos causaram e
adotam, por conseguinte, novas solues e
novos produtos e servios rapidamente. Eles
abalam o modelo do pensamento estvel dominado pelas crenas, os hbitos e a tradio
em benefcio de uma valorizao positiva da
dvida e da procura de solues.
Estes so seus modos de lidar com o ciclo de hbito e de mudana de hbito, mas
sobretudo sua atitude construtiva diante da
incerteza assim como sua habilidade para
transformar positivamente as tenses e as
dvidas mediante pesquisa e soluo ao
invs da crise e da rigidez.
assim que, criatividade atraindo criatividade e criativos atraindo criativos, uma
classe criativa se constitui dispondo do
poder essencial de definir os estilos de vida
do presente bem como os estilos de vida do
futuro e coordenar uma grande parcela da
economia e da produo de bens e de servio
(Florida, 2002).
Ciclo de vida dos objetos
Os artefatos so igualemente submetidos
mudana. Este assunto no ser aprofundado aqui. Vale somente pontuar que, evidentemente, a relao estabelecida com os
objetos distinta quando os mesmos so
conceitos, prottipos ou produtos inovadores destinados unicamente s experincias
da classe criativa ou quando se trata de produtos de massa, genricos j gastos ou produtos sobreviventes da banalizao, elevados
ao rang de semiforos destinados aos colecionadores.
Estudo dos fluxos de comunicao
entre os polos
Fluxo de concepo-produo voltado
ao objeto
Tal como representado em nosso modelo,
a comunidade dos designers-produtores tm
como misso integrar significao e cultura nos
materiais, nas formas, nas cores, nas aparncias,
nos volumes, etc. Assumindo o papel de intermedirios culturais: Os designers tm como
misso incorporar a cultura nos artefatos que
concebem () Eles exercem um papel ativo
para garantir o consumo e integrar nos produ-
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
64
tos significaes particulares e estilos de vida aos
quais os consumidores se identificam. Em outras palavras, eles so os fornecedores de bens e
de servios simblicos (du Gay et al. 1997:62).10
Toda esta inteligncia materializada e organizada busca desencadear uma experincia
sensvel de qualia no consumidor/usurio
e ativar em seguida a cadeia de afordances,
enao, hbitos de ao, representaes, projeces identitrias etc.
Fluxo de difuso ou de oferta
So inmeras as relaes desencadeadas
entre, de uma parte, a comunidade de difuso (ou de oferta no caso da internet) e os
produtores e, de outra parte, a comunidade
de difuso e os utilizadores potenciais.
Todos esses fluxos de informaes, comunicao, mediao e transaes so produzidos e controlados pelos agentes do packaging,
da publicidade, das mdias, do comrcio, da
instalao e da venda utilizando abundantemente imagens e interfaces digitais para vender seus produtos.
So muitos os estudos realizados neste setor e por isso no entraremos em detalhe aqui.
Fluxo de recepo e de uso do artefato
Quando a difuso atua como mediadora,
a relao com o artefato se estabelece geralmente de forma direta.
As pesquisas sobre as relaes ativadas
entre o utilizador e o artefato (objeto, imagem e interfaces) criaram paradigmas diversos, por vezes opostos, dentro da chamada
teoria de recepo.
A nosso ver, eles descrevem os diferentes
aspectos da relao dos artefatos/usurios
assim como as diversas concepes das relaes com os artefatos.
Descata-se, sobretudo, que tais pesquisas
atuam em funo das fases do metabolismo
10
Designers have to embody culture in the things they design
(...) They play an active role in promoting consumption through attaching to product and services particular meanings and
lyfestyles with which consumers will identify. Put simply they
can be defined as involved in the provision of symbolic goods
and services.
da recepo sem levar em considerao as
etapas do ciclo tal como temos configurado.
A afordance e as enaes so predominantemente situadas no universo des hbitos ao passo que as representaes so
requeridas, sobretudo na fase de mudana
de hbito, logo uma fase de pesquisa e de
aprendizagem.
Temos buscado descrever, num enfoque
sistmico e semitico, este duplo fluxo recproco de agencies que caracteriza a relao
entre um artefato e um utilizador (tanto em
fase de hbito de ao, mudana de hbito ou
aprendizagem).
Aps explorarmos diferentes abordagens,
optamos finalmente pelo modelo transacional e exosemitico desenvolvido por Jacob
von Uexkll (Uexkll, 1940, 1956, 1965).
Esse modelo corresponde perfeitamente
a nossa concepo do mundo como um sistema composto de agentes humanos e no-humanos porm humanizados.
Em um mundo-prprio (Umwelt) constitudo pelo encontro de um artefato portador
de significo e um utilizador desta, os componentes dos artefatos concebidos (designados) para o uso aparecem na forma de pontos oferecidos aos contrapontos do agente.
(Uexkll gosta de utilizar metforas musicais. Com efeito, segundo ele, a coordenao de todos os agentes semiticos na natureza ressoa como uma formidvel sinfonia).
Em termos semiticos pragmticos e sistmicos, diramos que o mundo-prprio
constitudo por um agir especfico (uma experincia). O objeto, a interface web, a sinaltica, entre outros, so portadores de significao que se atualizam durante a relao
de transao desencadeada com os complementos ou contrapontos incorporados ou
elaborados em forma de hbitos pelo utilizador da significao.
A frmula pode ser resumida como (hbito
de significar hbito de utilizar), pois, na maioria das vezes, o artefato portador de significao e o utilizador de significao vm de uma
longa histria de co-determinao e de enao.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
65
Segundo este enfoque em termos de complementao, o artefato composto por um
conjunto de zonas de atrao que se oferecem aos contrapontos complementares dos
agentes potencias , muito possivelmente, ao
uso dos utilizadores predispostos para agir
(hbito) ou almejando isso.
Esta relao ideal quando o design
particularmente ergonmico e interpelador, provocador o cativante.
Uma das grandes vantagens desta abordagem pragmtica da significao consiste em
acabar com a separao estabelecida no campo da semitica entre funo e significao.
Na perceptiva adotada, toda funo envolve a ativao de um portador de significao por um agente que estar realizando esta
significao no momento mesmo da ao.
Quando a perspectiva voltada para a recepo, os artefatos portadores de significao so percebidos inicialmente pelo
utilizador enquanto qualia, salientando
que alguns destes qualia sero tratados
em um nvel sensrio-motor elementar
mediante s relaes de afordance. neste nvel que se constitue a primeira impresso cujo impacto favorvel ou desfavorvel durvel.
A relao aqui em termos de atrao,
emergncia de interesse, pesquisa, etc.
As afordances mais afinadas pela experincia e pelas prticas da cultura material
funcionam em forma de crculos de enao,
fazendo intervenir os hbitos de ao e as representaes.
Quando a perspectiva voltada para a os
portadores de significao potenciais que
so os objetos, as imagens, etc., entende-se
que essas significaes foram integradas
pelos designers durante as operaes de
materializao diversas, de tal forma que o
artefato torna-se um ator humanizado e
cultivado que atrai e capta a ateno.
Ele , deste modo, portador de agencies performativas, fatdicas (ele faz fazer), destinadas
a interpelar o usurio a faz-lo agir conforme
o programa de ao materializado no artefato.
Durante a relao, o objeto, a interface, a imagem etc. podem solicitar e guiar as
respostas j incorporadas pelo destinatrio
quando este est em fase de hbito de ao
ou de aprendizagem e, tambm, podem induzir tentativas de resposta quando ele est
em fase de mudana de hbitos.
Quando a difuso
atua como
mediadora, a
relao com o
artefato se estabelece
geralmente de
forma direta
Fluxo entre os designers-produtores
e os usurios
Essa parte da modelizao caracteriza as
relaes desencadeadas no circuito de produo e de consumao entre os designers-produtores e os usurios.
Nossas observaes e pesquisas de campo
nos permitem distinguir duas operaes de
produo: uma fundamentada em Teorias
da mente (Theory of mind) e mindreading e
outra tratando-se do feed-back.
A teoria de mente e o mindreading
Nossas inmeras observaes da forma
como objetos, interfaces digitais e imagens
so utilizadas pelos sujeitos em circunstncia diversas nos convencem que os usurios
supem a inteno de comunicao, significao e de interpelao dos designers e produtores sobre tal artefato ou interface.
Essa comunicao indireta com o designer no acontece sempre, mas sim cada vez
que se busca encontrar uma lgica para o
funcionamento ou o disfuncionamento de
tal objeto.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
66
Isso quer dizer que ela ativada durante as
fases de elaborao de um programa pragmtico e nos momentos de bricolagem (improvisao), mas tambm nos momentos de dvida, de crise, de pesquisa e de aprendizagem.
Essa comunicao interna no mais ativada quando um hbito solidamente constitudo ou gerado por um dispositivo j bem
estabelecido.
Os comentrios registrados durante as nossas observaes ilustram bem este ponto: foi
bem pensado!, que coisa mais mal feita!,
como ser que eles imaginaram isso?, etc.
Evidentemente, por sua vez, a comunidade dos designers-produtores tambm imagina permanentemente o comportamento de
seus futuros usurios (grupo do qual, no
podemos esquecer, ela tambm faz parte).
Ela o faz por meio de testes e sondagens
diversas de comportamento, mas tambm, e,
sobretudo, se auto-projetando e supondo as
utilizaes futuras.
Todos ns j efetuamos, de uma forma ou
de outra, esta ao de supor o pensamento
do outro, ele estando ou no presente. Esse
, de fato, um dos componentes da empatia
prpria da nossa espcie e nosso modo de
vida gregrio.
Para tal, ativamos uma capacidade mental chamada Teoria da mente.
Ns ativamos uma Teoria de mente ou
uma sequncia de mindreading cada vez que
atribumos supostas intenes aos objetos
ou imagens que fazemos uso.
Este processo de personalizao , na
verdade, um prolongamento das propriedades mentais dos humanos at os artefatos
no-humanos.
O artefato se submete muito bem a esse papel, pois ele , justamente, o lugar da inteligncia transferida, distribuda e materializada.
Em nossa modelizao, o fluxo das Teorias da mente e as operaes de mindreading se d nos dois sentidos. Tais operaes
so ao mesmo tempo imaginadas e testadas
em design-produo e projetadas e ativas em
uma situao de uso.
Estes processos so, a nosso ver, um dos
lugares mximos de ativao do fluxo de
comunicao entre os humanos e o mundo
no-humano porm humanizado dos objetos.
Nota-se que estes fluxos tambm existem
no campo da difuso: o que ele quer me
vender etc.
Feed-back
Ao passo que as projees da Teoria da
mente se estabelecem sem haver uma consequncia direta na transformao do artefato,
os feed-backs so, por sua vez, destinados a
estabiliz-las e modific-las.
Ns entendemos como feed-back todo
tipo de teste de utilizao, sondagens e pesquisas de satisfao conduzidos em geral
pelo setor de marketing, mas tambm todas
as operaes de co-design conduzidas no
mbito do design participativo.
Concluso
O diagrama realizado tanto uma modelizao terica quando uma ferramenta para
o estudo dos artefatos de todo gnero.
Ele deve ser pensado de uma forma dinmica e evolutiva bem como completado por
diferentes zooms sobre as zonas complexas
de cada fase e cada fluxo. o que ns tivemos
feito at aqui.
O estudo das diferentes etapas do ciclo de
hbitos e mudanas de hbitos constitui um
aspecto essencial desta modelizao do metabolismo das trocas significantes entre os
humanos e seus artefatos.
Em nossa aborgagem, todo estudo de
uma experincia com um artefato reclama o
ajustamento dos quatro polos envolvidos nas
diversas relaes, mas tambm uma anlise
aprofundada das diferentes transaes que se
estabelecem e o estudo dos fluxos que unem
cada polo ativado.
Este diagrama no somente permite considerar a significao de uma experincia
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
67
atualizada em um hbito de ao que se faz
previsvel pelo fato de ser repetido e compartilhado por uma comunidade, mas possibilita tambm tratar da dinmica de transformao das semioses, das crises e das etapas
de aprendizagem. Esta lgica se aplica tanto
em concepo-produo, em difuso e em
recepo-uso, quanto no que se refere articulao destes trs universos com todos os
fluxos (Darras & Belkhamsa, 2009c).
Embora no tenhamos desenvolvido
aqui, uma grande parte das relaes dinmi-
cas entre um artefato e seu sistema de artefato j foram configuradas em nosso modelo.
A modelizao proposta foi testada durante todo o seu processo de elaborao e
tais testes continuam sendo realizados em
nossos estudos bem como aplicados em diversas interfaces materiais e digitais.
assim que nosso modelo tem se aperfeioado e se ajustado pouco a pouco, sobretudo graas s contribuies de pesquisadores
que j o utilizam em suas pesquisas.
(artigo recebido ago.2013/ aprovado ago.2013)
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
68
Referncias
AGAMBEN, G. Che cos un dispositivo? Roma: Nottetempo,
2006.
BEAUNIEUX, H. Comment se forment nos habitudes. La recherche, n. 432, v. 15, 2009.
BELKHAMSA, S.; DARRAS, B. Culture matrielle et construction de lidentit culturelle: discours, reprsentations et rapports de pouvoir. In: DARRAS, B. (Org.). Etudes culturelles
& cultural studies. Paris: LHarmattan, 2007, p. 201-212.
BELKHAMSA, S. Pragmatic semiotics and design: how do the
artifacts communicate?. In: CHOW, R. et al. (Org.). Question,
hypothesis and conjecture. Berlin: Design Research Network
Publication; IUniverse Publication, 2010, p. 124-139.
BRAUNGART, M.; MACDONOUGH, W. Cradle to cradle: remaking the way we make things. New-York: North point Press
Brissaud, D, 2009.
CRILLY, N.; MOULTRIE, J.; CLARKSON, P. J. Seeing things:
consumer response to the visual domain in product design.
Design Studies, v. 25, n. 6, 2004, p. 547-77. [Cross-discipline
literature review].
CRILLY, N.; GOOD, D.; MATRAVERS, D.; CLARKSON, P. J.
Design as communication: exploring the validity and utility
of relating intention to interpretation. Design Studies, v. 29,
n. 5, 2008, p. 425-457.
CRILLY, N.; MOULTRIE, J.; CLARKSON, P. J. Shaping things:
intended consumer response and the determinants of product
form. Design Studies, v. 30, n. 3, 2009, p. 224-254. [Interview
study with designers].
CRILLY, N.; CLARKSON, P. J. What the communication-based models of design reveal and conceal. In: VIHMA, S.; KARJALAINEN, T.-M. (Orgs.). Design semiotics in use. Helsinki:
Ilmari, 2011. [Critique of existing models].
DARRAS, B.; BELKHAMSA, S. Faire corps avec le monde: tude compare des concepts daffordance, denaction et
dhabitude daction. Recherche en communication, n. 29,
2008, p. 125-145.
DARRAS, B. Aesthetic and semiotic of the digital design: the
case of web international design. First INDAF International
Conference Incheon Korea proceedings, 2009.
DARRAS, B.; BELKHAMSA, S. L objet oubli des sciences
de linformation et de la communication et des cultural studies. In: PELISSIER, N.; ALBERTINI, F. (Org.). Les sciences
de linformation et de la communication la rencontre des
cultural studies. Paris: LHarmattan, 2009a, p. 155-174.
DARRAS, B.; BELKHAMSA, S. Technology and post-human
imaginary: semiotic approach of adolescents system of belief
regarding mobile digital technology. Journal for Transdisciplinary Knowledge Design, v. 2, 2009b, p. 13-30.
DARRAS, B.; BELKHAMSA, S. (Org.). Objets et communication. Paris: LHarmattan, 2009c.
DENI, M. Les objets factitifs. In: FONTANNILLE, J.; ZINNA,
A. Les objets au quotidien. Limoges: Pulim, 2005.
DEWEY, J.; BENTLEY, A. Knowing and the known. Boston:
Beacon Press, 1949.
MUSTAFA, E. Manifesto for a relational sociology. American
Journal of Sociology, v. 103, n. 2, 1997, p. 281-317.
DUMAIS, F. Lappropriation dun objet culturel: une ractualisation des thories de C. S. Peirce. Montral: Presses de
lUniversit du Qubec, 2010.
FLORIDA, R. The rise of the creative class and how its transforming work, leisure and everyday life. New-York: Basic
Books, 2002.
FORLIZZI, J. The product ecology: understanding social product use and supporting design culture. International Journal of Design, v. 2, n. 1, 2007, p. 11-20.
FOUCAULT, M. Entretien avec Michel Foucault, le jeu de
Michel Foucault. In: DEFERT, D.; EWALD, F. (Orgs.). Dits et
crits II: 1976-1988. Paris: Gallimard, 2001.
GAY, P.; HALL, S. et al. Doing cultural studies: the story of the
Sony walkman. London: Sage, 1997.
GIBSON, J. J. The perception of the visual world. Boston:
Houghton Mifflin, 1950.
GREIMAS, A-J. Du sens II: essais smiotiques. Paris: Seuil,
1988.
GREIMAS, A-J.; COURTES, J. Smiotique: dictionnaire raisonn de la thorie du langage. Paris: Hachette, 1979
HUBERT, V. et al. The dynamic network subserving the three
phases of cognitive procedural learning. Human brain mapping, v. 28, 2007, p. 1415-29.
CASSAGNE, A. Une reconstruction liasienne de la thorie
dAlexander Wendt: pour une approche relationniste de la politique internationale. Tese de doutorado. Bordeaux: Universit Montesquieu-Bordeaux IV, 2008
MUCCHIELLI, A. Les modles de la communication. In: GABIN, P.; DORTIER, J. F. (Orgs.). La communication: tat des
savoirs. 3 edio. Auxerre: Editions Sciences Humaines, 2008.
PEIRCE, C-S. Collected papers. Cambridge: Harvard University Press, 1931-1935.
SUCHMAN, L. Human-machine reconfigurations: plans and
situated actions. 2 edio. Cambridge: Cambridge Univerity
Press, 1987/2007.
UEXKLL, J. Bedeutenlehre. Hamburg: Rowohlt Verlag,
1940/1956.
___________.Thorie de la signification. In: Mondes animaux et mondes humains. Paris: Denol, 1965.
VISETTI, Y-M.; ROSENTHAL, V. Les contingences sensorimotrices de lenaction. Intellectica, n. 43, 2006, p. 105-116.
ZINNA, A. Lobjet et ses interfaces. In: FONTANILLE, J.;
ZINNA, A. (Orgs.). Les objets au quotidien. Limoges: PULIM,
2005, p. 161-192.
Lbero So Paulo v. 16, n. 31, p. 51-68, jan./jun. de 2013
Bernard Darras Modelizao geral das relaes humanas com os artefatos: estudo semitico e sistmico...
Você também pode gostar
- 1984 - A Distopia Do Indivíduo Sob ControleDocumento277 páginas1984 - A Distopia Do Indivíduo Sob ControleAdão100% (1)
- O ciclo do contato (9ª edição revista e atualizada): Temas básicos na abordagem gestálticaNo EverandO ciclo do contato (9ª edição revista e atualizada): Temas básicos na abordagem gestálticaAinda não há avaliações
- 01 Livros Do Grupo Livros Acadêmicos para DownloadDocumento10 páginas01 Livros Do Grupo Livros Acadêmicos para DownloadLivros Acadêmicos50% (2)
- Apostila de Comunicação para Concursos: Teorias e Conceitos EssenciaisDocumento204 páginasApostila de Comunicação para Concursos: Teorias e Conceitos EssenciaisSilvia Carvalho80% (5)
- Modelos de ComunicaçãoDocumento11 páginasModelos de ComunicaçãoSValente100% (3)
- O ocaso da interioridade e suas repercussões sobre a clínicaDocumento8 páginasO ocaso da interioridade e suas repercussões sobre a clínicacristiane_moreira_41Ainda não há avaliações
- Caminhos da educação ambiental: Da forma à açãoNo EverandCaminhos da educação ambiental: Da forma à açãoAinda não há avaliações
- AromoterapiaDocumento9 páginasAromoterapiaCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- OLIVEIRA Luciano - .Nao Fale Do Codigo de HamurabiDocumento26 páginasOLIVEIRA Luciano - .Nao Fale Do Codigo de HamurabiFelipe FrançaAinda não há avaliações
- Habilidades SociaisDocumento11 páginasHabilidades SociaisTati SparrembergerAinda não há avaliações
- Resposta A Derrida - Michel FoucaultDocumento12 páginasResposta A Derrida - Michel FoucaultJune CarterAinda não há avaliações
- LEMOS, André. A Comunicação Das Coisas Teoria Ator-Rede eDocumento6 páginasLEMOS, André. A Comunicação Das Coisas Teoria Ator-Rede eJéssica de AguiarAinda não há avaliações
- Cercas EcológicasDocumento80 páginasCercas EcológicasCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Teoria Da Comunicção - PDFDocumento65 páginasTeoria Da Comunicção - PDFJoelson Ramos100% (3)
- Livro Holocausto BrasileiroDocumento5 páginasLivro Holocausto BrasileiroeltonsdlAinda não há avaliações
- Resenha CriticaDocumento11 páginasResenha CriticaprmoisesbarretoAinda não há avaliações
- BONET, Octavio & TAVARES, Fátima - O Cuidado Como MetáforaDocumento17 páginasBONET, Octavio & TAVARES, Fátima - O Cuidado Como Metáforaoctbon100% (1)
- A exteriorização da memória como perda de saberDocumento21 páginasA exteriorização da memória como perda de saberestorilfilmefestival100% (1)
- Educomunicação e Os Ecossistemas ComunicativosDocumento12 páginasEducomunicação e Os Ecossistemas ComunicativosRodrigo MarinangeliAinda não há avaliações
- RHEINGANTZ, 2022. Glossário de Termos e Métodos de Pesquisa. Grupo Lugares e PaisagensDocumento58 páginasRHEINGANTZ, 2022. Glossário de Termos e Métodos de Pesquisa. Grupo Lugares e PaisagensFernanda PachecoAinda não há avaliações
- Teorias da Comunicação e Escola de ChicagoDocumento70 páginasTeorias da Comunicação e Escola de Chicagodaps100% (1)
- Diálogo e VínculoDocumento14 páginasDiálogo e VínculoLaize MinelliAinda não há avaliações
- Questões Elaboradas Do Livro Maturana e Varela - Árvore Do ConhecimentoDocumento4 páginasQuestões Elaboradas Do Livro Maturana e Varela - Árvore Do Conhecimentoalcidesloureiro5572100% (1)
- A Multimodalidade No Dicionário Aurélio IlustradoDocumento16 páginasA Multimodalidade No Dicionário Aurélio IlustradoHipolito Ximenes100% (1)
- Ecologia do Desenvolvimento HumanoDocumento18 páginasEcologia do Desenvolvimento HumanoAndressaAinda não há avaliações
- Apost17 CorolárioMacroDimDocumento16 páginasApost17 CorolárioMacroDimRaissa ArquiteturaAinda não há avaliações
- A COMUNICAÇÃO, O OUTRO E O DEVIR - PeruzzoloDocumento16 páginasA COMUNICAÇÃO, O OUTRO E O DEVIR - PeruzzoloEduardo Louis JacobAinda não há avaliações
- Modelos de ComunicaçãoDocumento7 páginasModelos de Comunicaçãomichaellanca100% (1)
- TRDLa Methode Des Parcours Commentes - FR.PTDocumento19 páginasTRDLa Methode Des Parcours Commentes - FR.PTCintia SousaAinda não há avaliações
- Bruno Latour e a Teoria Ator-RedeDocumento3 páginasBruno Latour e a Teoria Ator-RedeLemuel GuerraAinda não há avaliações
- Modelo de NewcombDocumento10 páginasModelo de NewcombSamuel Paulo PeraiAinda não há avaliações
- Explorando a taxonomia da interatividadeDocumento10 páginasExplorando a taxonomia da interatividadevenisemeloAinda não há avaliações
- Tecnica Evora Jan2009Documento16 páginasTecnica Evora Jan2009José Pinheiro NevesAinda não há avaliações
- Sociocoreologia e Processos de Transformação Sociocultural-Port - 10outDocumento10 páginasSociocoreologia e Processos de Transformação Sociocultural-Port - 10outRegina MirandaAinda não há avaliações
- Teoria da Comunicação: Funcionalismo e Teoria da InformaçãoDocumento6 páginasTeoria da Comunicação: Funcionalismo e Teoria da Informaçãopedro servelo de freitas100% (1)
- Semiótica Da ComunicaçãoDocumento9 páginasSemiótica Da ComunicaçãonunotavoraAinda não há avaliações
- Análise de Redes Sociais e Sociologia Da Acção. Pressupostos Teórico-MetodológicosDocumento17 páginasAnálise de Redes Sociais e Sociologia Da Acção. Pressupostos Teórico-MetodológicosPamellasss100% (1)
- Teoria da socialização emDocumento19 páginasTeoria da socialização emAnonymous 1WG7xKAinda não há avaliações
- Enfoques e desfoques no estudo da interação mediadaDocumento16 páginasEnfoques e desfoques no estudo da interação mediadaflavioamwAinda não há avaliações
- Discussão do modelo praxiológico da comunicaçãoDocumento8 páginasDiscussão do modelo praxiológico da comunicaçãoMaiaraOrlandiniAinda não há avaliações
- Analise Da Teoria Ator Rede TAR e Sua ReDocumento16 páginasAnalise Da Teoria Ator Rede TAR e Sua ReSabrina SerafimAinda não há avaliações
- 12856-Texto Do Artigo-59258-1-10-20210807-1Documento20 páginas12856-Texto Do Artigo-59258-1-10-20210807-1Valeri CarvalhoAinda não há avaliações
- Aconselhamento e Terapia FamiliarDocumento23 páginasAconselhamento e Terapia FamiliarCris NascimentoAinda não há avaliações
- Trabalho A Técnica de Grupos-Operativos À LuzDocumento5 páginasTrabalho A Técnica de Grupos-Operativos À LuzbrunajunqueirajulioAinda não há avaliações
- Aula 2 - 11.02 - Comunicação Organizacional No BrasilDocumento45 páginasAula 2 - 11.02 - Comunicação Organizacional No BrasilDávilla G. PAinda não há avaliações
- Rheingantz - Glossario de Termos de Filosofia e de Metodos de Pesquisa (2019) PDFDocumento37 páginasRheingantz - Glossario de Termos de Filosofia e de Metodos de Pesquisa (2019) PDFBela LugosiAinda não há avaliações
- Reflexões sobre modelo linear de comunicaçãoDocumento15 páginasReflexões sobre modelo linear de comunicaçãoEveraldo PereiraAinda não há avaliações
- Caos Criatividade e Ambientes de AprendizagemDocumento11 páginasCaos Criatividade e Ambientes de AprendizagemTatiana CobucciAinda não há avaliações
- Esquemas - e - Enquadres Tannen e WalletDocumento19 páginasEsquemas - e - Enquadres Tannen e WallettlanuttiAinda não há avaliações
- Norman Fairclough (2003)-17-46 (1)Documento30 páginasNorman Fairclough (2003)-17-46 (1)Suzana LinhatiAinda não há avaliações
- Microsoft Word - Texto Estrutura Ana Cristina e ColsDocumento14 páginasMicrosoft Word - Texto Estrutura Ana Cristina e ColsLucas CostaAinda não há avaliações
- Construtivismo, Complexidade e PragmatismoDocumento8 páginasConstrutivismo, Complexidade e PragmatismoRUAN CARLOS DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Teorias da ComunicaçãoDocumento42 páginasTeorias da ComunicaçãoMiguel MorgadoAinda não há avaliações
- Jorge Antoniode Moraes AbraoDocumento114 páginasJorge Antoniode Moraes Abraofelipe correaAinda não há avaliações
- Pós Hab SociaisDocumento11 páginasPós Hab SociaisTati SparrembergerAinda não há avaliações
- Habilidades SociaisDocumento79 páginasHabilidades SociaisAnderson VasconcelosAinda não há avaliações
- A Sociedade Enfrenta Sua Midia - Ocr PDFDocumento70 páginasA Sociedade Enfrenta Sua Midia - Ocr PDFAdeilson TorresAinda não há avaliações
- DUQUE, Paulo Henrique. A Emergência Do Comportamento Linguístico (2016)Documento22 páginasDUQUE, Paulo Henrique. A Emergência Do Comportamento Linguístico (2016)Llama VicuñaAinda não há avaliações
- Introdução à EtnometodologiaDocumento4 páginasIntrodução à EtnometodologiaIvan Do RosarioAinda não há avaliações
- A evolução da pesquisa comunicacional norte-americanaDocumento28 páginasA evolução da pesquisa comunicacional norte-americanaAlana KusmaAinda não há avaliações
- A Transmissão Transgeracional e a Fragilidade do SímboloDocumento12 páginasA Transmissão Transgeracional e a Fragilidade do SímboloRicardo Martins FreireAinda não há avaliações
- A Realidade Da ComunicaçãoDocumento9 páginasA Realidade Da ComunicaçãoAngelico Francisco Ângelo BossAinda não há avaliações
- Conceitos Educação AmbientalDocumento155 páginasConceitos Educação AmbientalPatricia Gimenez100% (1)
- A polissemia do terme 'sistema' na SociologiaDocumento14 páginasA polissemia do terme 'sistema' na SociologiaTacilvan AlvesAinda não há avaliações
- Contribuições Do Conceito Sensemaking para A Pesquisa em Relações PúblicasDocumento77 páginasContribuições Do Conceito Sensemaking para A Pesquisa em Relações PúblicasfernandocossetiAinda não há avaliações
- Escola Palo AltoDocumento4 páginasEscola Palo AltoWilliam Kamillo0% (1)
- Modelos em Psicologia ClínicaDocumento100 páginasModelos em Psicologia Clínicainescardoso13Ainda não há avaliações
- A estrutura social segundo Levi-StraussDocumento7 páginasA estrutura social segundo Levi-StraussAline AssisAinda não há avaliações
- Análise da teoria sociológica de GarfinkelDocumento5 páginasAnálise da teoria sociológica de GarfinkelJu FoltranAinda não há avaliações
- AGRODIVERSIDADE Ferramenta para Agric. Sustent.Documento22 páginasAGRODIVERSIDADE Ferramenta para Agric. Sustent.Igor NevesAinda não há avaliações
- O Tempo Nas CidadesDocumento2 páginasO Tempo Nas CidadesPsaicouAinda não há avaliações
- A Morte Do Caixeiro ViajanteDocumento53 páginasA Morte Do Caixeiro ViajanteCinthia Mendonça100% (1)
- Alexandre Araújo, Climatologista - Quem Precisa de Um SUV e Um Celular Novo - Jornal O GloboDocumento6 páginasAlexandre Araújo, Climatologista - Quem Precisa de Um SUV e Um Celular Novo - Jornal O GloboCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Marco Antonio ValentimDocumento28 páginasMarco Antonio ValentimCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- TROPIXEL RepositorioDocumento232 páginasTROPIXEL RepositorioCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Edital MetacoletivoDocumento9 páginasEdital MetacoletivoCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- O Brasil Acabou - PDFDocumento4 páginasO Brasil Acabou - PDFCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- ConvocatoriaProjetos LabICbr POR-2015Documento10 páginasConvocatoriaProjetos LabICbr POR-2015Cinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Ars 17 - 54-81Documento28 páginasArs 17 - 54-81Cinthia MendonçaAinda não há avaliações
- EditalDoutoradoArtes2015 2Documento20 páginasEditalDoutoradoArtes2015 2Cinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Edital Pnpd-Ppgac Ufrj 2015Documento2 páginasEdital Pnpd-Ppgac Ufrj 2015Cinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Allain - TEATRO FISICO EAV 2015.1 PDFDocumento4 páginasAllain - TEATRO FISICO EAV 2015.1 PDFCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- V Bienal da EBA UFRJDocumento3 páginasV Bienal da EBA UFRJCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- 07 PretextualDocumento10 páginas07 PretextualCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Hakim Bey TAZDocumento41 páginasHakim Bey TAZVanessa PaivaAinda não há avaliações
- Calendário Semestral UFRJ 2015Documento2 páginasCalendário Semestral UFRJ 2015Ed Branco VictorAinda não há avaliações
- Manual Do Aluno PPGAVDocumento26 páginasManual Do Aluno PPGAVCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- RegulamentoFinal PDSE 2011Documento13 páginasRegulamentoFinal PDSE 2011Cinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Conectores LPDocumento1 páginaConectores LPcalvarinho7487100% (1)
- Ready MadeDocumento10 páginasReady MadeJulio RazecAinda não há avaliações
- Ppgac 2015.1Documento1 páginaPpgac 2015.1Cinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Corpo, MidiaDocumento3 páginasCorpo, MidiaCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Cultura Da Autoajuda: o "Surto Do Aconselhamento" e A Bioascese Na MídiaDocumento13 páginasCultura Da Autoajuda: o "Surto Do Aconselhamento" e A Bioascese Na MídiaMaykaCastellanoAinda não há avaliações
- Calendário Mensal-2016Documento12 páginasCalendário Mensal-2016Cinthia MendonçaAinda não há avaliações
- ECO Aula 2, 3-9-2013Documento23 páginasECO Aula 2, 3-9-2013Cinthia MendonçaAinda não há avaliações
- EmisfericaDocumento5 páginasEmisfericaCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Dossie IstmosDocumento5 páginasDossie IstmosCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Gênero e Sexualidades em Intersecção e Mo (Vi) Mento No Cenário Escolar CubatienseDocumento174 páginasGênero e Sexualidades em Intersecção e Mo (Vi) Mento No Cenário Escolar CubatienseMaxwell Barbosa MedeiroaAinda não há avaliações
- Psicose - diagnóstico, conceitos e reformaDocumento14 páginasPsicose - diagnóstico, conceitos e reformaSoraia AquinoAinda não há avaliações
- "É Gay Ou É Hetero" - Notas Etnográficas Sobre PDFDocumento15 páginas"É Gay Ou É Hetero" - Notas Etnográficas Sobre PDFHenrique LimaAinda não há avaliações
- Céli R. Jardim Pinto - Feminismo, História e PoderDocumento11 páginasCéli R. Jardim Pinto - Feminismo, História e PoderJosé Luiz SoaresAinda não há avaliações
- Biopoder, psicopoder y ecopoder: estrategias de poder que afectan a la sociedad y la naturalezaDocumento15 páginasBiopoder, psicopoder y ecopoder: estrategias de poder que afectan a la sociedad y la naturalezaRobertoAinda não há avaliações
- Agamben - O Que e Contemporaneo e Outros Ensaios PDFDocumento43 páginasAgamben - O Que e Contemporaneo e Outros Ensaios PDFManoela LimaAinda não há avaliações
- A Sociedade Mundial de Controle Michael HardtDocumento13 páginasA Sociedade Mundial de Controle Michael HardtJoelBombardelliAinda não há avaliações
- Teoria Feminista de Judith ButlerDocumento84 páginasTeoria Feminista de Judith ButlerGustavo PinheiroAinda não há avaliações
- A pós-orgia e o simulacro na globalização segundo BaudrillardDocumento16 páginasA pós-orgia e o simulacro na globalização segundo BaudrillardLøløAinda não há avaliações
- Psicanálise e cinema: identificação e dispositivosDocumento182 páginasPsicanálise e cinema: identificação e dispositivosCarlos DowlingAinda não há avaliações
- Entrevista com historiador sobre cinema, gênero e ditaduraDocumento14 páginasEntrevista com historiador sobre cinema, gênero e ditaduraKarinaAinda não há avaliações
- Dialnet AsHistoriasDeMurueSuruiEKudaiTembe 6234197Documento27 páginasDialnet AsHistoriasDeMurueSuruiEKudaiTembe 6234197Fernanda SantosAinda não há avaliações
- Análise da Escola pela Perspectiva Institucional do DiscursoDocumento6 páginasAnálise da Escola pela Perspectiva Institucional do DiscursodomingoswillyamAinda não há avaliações
- Cidadaos, Voltempracasa! Império e Anonimato - Com Capa - Final Sem Revisoes PDFDocumento166 páginasCidadaos, Voltempracasa! Império e Anonimato - Com Capa - Final Sem Revisoes PDFjose aguayoAinda não há avaliações
- Historia Das Revistas PiauiensesDocumento15 páginasHistoria Das Revistas PiauiensesMayara FerreiraAinda não há avaliações
- Violência no manicômio de BarbacenaDocumento57 páginasViolência no manicômio de BarbacenaAna RamosAinda não há avaliações
- Capítulo 18Documento20 páginasCapítulo 18Franke Alves de AtaydeAinda não há avaliações
- Texto - Um Forasteiro Na Cidade - A Errancia Como PR Tica de PesquisaDocumento12 páginasTexto - Um Forasteiro Na Cidade - A Errancia Como PR Tica de PesquisaJúlio CésarAinda não há avaliações
- Livro Territórios e SociabilidadeDocumento171 páginasLivro Territórios e SociabilidadedouglasladikAinda não há avaliações
- 2018 - Eva LacerdaDocumento170 páginas2018 - Eva LacerdaEva LacerdaAinda não há avaliações
- Cuidado de Si - ResumoDocumento2 páginasCuidado de Si - ResumoRobles RoblesAinda não há avaliações
- Biopolítica e biopotência no coração do ImpérioDocumento33 páginasBiopolítica e biopotência no coração do ImpérionuilaAinda não há avaliações
- Poder e Liderança As Contribuições de Maquiavel Gramsci Foucault e Hayek PDFDocumento23 páginasPoder e Liderança As Contribuições de Maquiavel Gramsci Foucault e Hayek PDFAlexandra RoldãoAinda não há avaliações