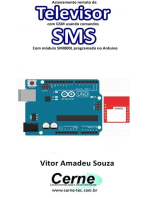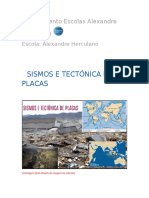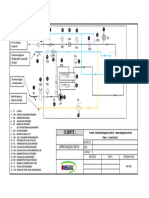Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Materiais Ferrosos Aeronáuticos
Enviado por
Paulo Henrique Ribeiro PenicheTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Materiais Ferrosos Aeronáuticos
Enviado por
Paulo Henrique Ribeiro PenicheDireitos autorais:
Formatos disponíveis
R.
S.
MINISTRIO DA DEFESA NACIONAL
FORA AREA PORTUGUESA
CENTRO DE FORMAO MILITAR E TCNICA
Curso de Formao de Praas RC
COMPNDIO
MATERIAIS E RGOS DE MQUINAS
EPR: TEN Jos Vareta
CCF 332-6
Junho 2008
S.
R.
MINISTRIO DA DEFESA NACIONAL
FORA AREA PORTUGUESA
CENTRO DE FORMAO MILITAR E TCNICA
CARTA DE PROMULGAO
Junho 2008
1. O Compndio de Materiais e rgos de Mquinas uma Publicao NO CLASSIFICADA.
2. Esta publicao entra em vigor logo que recebida.
3. permitido copiar ou fazer extractos desta publicao sem autorizao da entidade promulgadora.
REGISTO DE ALTERAES
IDENTIFICAO DA ALTERAO,
N DE REGISTO, DATA
DATA DE
INTRODUO
DATA DE ENTRADA
EM VIGOR
ASSINATURA, POSTO E
UNIDADE DE QUEM
INTRODUZIU A ALTERAO
Materiais e rgos de Mquinas
Cursos:
Curso de Formao de Praas RC
Nome do Compndio:
Materiais e rgos de Mquinas
Disciplina:
Materiais e rgos de Mquinas
Data de elaborao:
Junho 2008
Elaborado Por:
TEN/ TMMA Jos Vareta
Verificado Por:
Gabinete da Qualidade da Formao
Comando G. Formao:
Director de rea:
Director de Curso:
TCOR/ ENGAER Loureno Sade
MAJ/ TMMEL Ablio Carmo
CAP/ TMMA Antnio Fernandes
TEN/ TMMA Jos Vareta
Formadores:
SAJU/ MMA Jos Gomes
2SAR/ MMA Hlder Faria
ATENO:
Esta publicao destina-se a apoiar os formandos a frequentarem os Cursos de Formao de
Praas na disciplina de Materiais e rgos de Mquinas.
No pretendendo ser uma publicao exaustiva do curso em questo, apresenta-se como uma
ferramenta de consulta quer durante a durao do curso, quer aps a sua concluso.
-1-
Materiais e rgos de Mquinas
NDICE
MATERIAIS FERROSOS PARA AERONAVES....................................................................................................... 11
CARACTERSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAO .................................................................................................. 11
Introduo aos Materiais ......................................................................................................................................... 11
Definio de Material .............................................................................................................................................................. 11
Evoluo dos Materiais............................................................................................................................................................ 11
Classes de Materiais................................................................................................................................................................. 12
Seleco de Materiais .............................................................................................................................................................. 15
Propriedades dos Materiais ...................................................................................................................................................... 15
Processos de Obteno............................................................................................................................................. 16
Metalurgia do Ferro ................................................................................................................................................................. 16
Extraco de Minrios ............................................................................................................................................................. 17
Obteno do Ferro ................................................................................................................................................................... 18
Natureza Micro e Macroscpica .............................................................................................................................. 23
Estrutura Atmica .................................................................................................................................................................... 23
Estrutura Macroscpica ........................................................................................................................................................... 24
Estrutura Microscpica ............................................................................................................................................................ 25
Liga Metlica ........................................................................................................................................................................... 26
Caracterizao dos Aos.......................................................................................................................................... 26
Classificao ............................................................................................................................................................................ 26
Elementos de Liga ................................................................................................................................................................... 28
Designao............................................................................................................................................................................... 29
Propriedades Mecnicas .......................................................................................................................................... 29
Dureza...................................................................................................................................................................................... 30
Elasticidade.............................................................................................................................................................................. 31
Plasticidade .............................................................................................................................................................................. 31
Maleabilidade .......................................................................................................................................................................... 32
Ductilidade............................................................................................................................................................................... 32
Resilincia................................................................................................................................................................................ 33
Tenacidade............................................................................................................................................................................... 33
Resistncia Fadiga................................................................................................................................................................. 34
Propriedades Mecnicas dos Aos ao Carbono e Ligados ...................................................................................... 34
Ao ao Carbono ou Ao No Ligado....................................................................................................................................... 34
Ao Ligado .............................................................................................................................................................................. 34
ENSAIO DE MATERIAIS .................................................................................................................................................. 35
Ensaio de Dureza ..................................................................................................................................................... 35
Mtodo Brinell......................................................................................................................................................................... 37
Mtodo Rockwell..................................................................................................................................................................... 40
Mtodo Vickers ....................................................................................................................................................................... 44
Ensaio de Traco (Tension).................................................................................................................................... 48
-3-
Materiais e rgos de Mquinas
Grfico de Traco .................................................................................................................................................................. 48
Tenso Limite de Elasticidade ................................................................................................................................................. 50
Ensaio de Fadiga ......................................................................................................................................................51
Ensaio de Impacto.....................................................................................................................................................54
Fractura Frgil ......................................................................................................................................................................... 55
Factores Influenciam Comportamento Frgil dos Materiais Dcteis ....................................................................................... 55
Descrio do Ensaio de Impacto.............................................................................................................................................. 56
Corpos de Prova....................................................................................................................................................................... 57
Baixas Temperaturas ............................................................................................................................................................... 58
TRATAMENTOS DOS TRMICOS E APLICAES DE AOS DE LIGA .................................................................................59
Tratamentos Trmicos ..............................................................................................................................................60
Tmpera................................................................................................................................................................................... 61
Revenido.................................................................................................................................................................................. 64
Recozimento ............................................................................................................................................................................ 65
MATERIAIS NO FERROSOS PARA AERONAVES .............................................................................................67
CARACTERSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAO ...................................................................................................67
Metais No Ferrosos.................................................................................................................................................67
Ligas de Alumnio .....................................................................................................................................................67
Propriedades ............................................................................................................................................................................ 69
Ligas de Alumnio para Fundio............................................................................................................................................ 71
Caracterizao das Ligas de Alumnio..................................................................................................................................... 75
Outras Ligas .............................................................................................................................................................76
Titnio...................................................................................................................................................................................... 76
Cobre ....................................................................................................................................................................................... 80
Magnsio ................................................................................................................................................................................. 82
TRATAMENTOS TRMICOS E APLICAES DE AOS DE LIGA ........................................................................................87
Recozimento ..............................................................................................................................................................88
Recristalizao..........................................................................................................................................................90
Encruamento .............................................................................................................................................................90
Solubilizao das Ligas de Alumnio ........................................................................................................................91
Envelhecimento .........................................................................................................................................................91
Outros Tratamentos ..................................................................................................................................................92
Propriedades Mecnicas e Aplicaes .....................................................................................................................93
Alumnio.................................................................................................................................................................................. 94
Titnio...................................................................................................................................................................................... 95
Cobre ....................................................................................................................................................................................... 96
Magnsio ................................................................................................................................................................................. 97
COMPSITOS E NO METLICOS.........................................................................................................................99
CARACTERSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAO ...................................................................................................99
Materiais Compsitos ...............................................................................................................................................99
-4-
Materiais e rgos de Mquinas
Mtodos de Fabrico ............................................................................................................................................................... 103
Vantagens dos Materiais Compsitos .................................................................................................................................... 107
Materiais Polimricos ............................................................................................................................................ 107
Plsticos ................................................................................................................................................................................. 108
Elastmeros............................................................................................................................................................................ 111
VEDANTES E AGENTES DE LIGAO (SEALING COMPOUNDS)..................................................................................... 113
Finalidade .............................................................................................................................................................. 113
Empanques e juntas de Vedao ............................................................................................................................ 114
CORROSO................................................................................................................................................................. 115
CONCEITOS ................................................................................................................................................................. 115
FUNDAMENTOS DA QUMICA ....................................................................................................................................... 117
Reaco de Oxidao ............................................................................................................................................. 117
Potencial de Elctrodo ........................................................................................................................................... 118
Pilha Electroqumica.............................................................................................................................................. 118
FORMAS DE CORROSO ............................................................................................................................................... 120
Tipos de Corroso .................................................................................................................................................. 121
Condies Especiais............................................................................................................................................... 125
Oxidao e Corroso a Temperaturas Elevadas ..................................................................................................................... 125
Corroso Associada a Variaes Mecnicas .......................................................................................................................... 125
CAUSAS DA CORROSO ............................................................................................................................................... 126
MATERIAIS SUSCEPTVEIS CORROSO ..................................................................................................................... 127
PREVENIR MINIMIZAR E COMBATER A CORROSO ..................................................................................................... 129
ELEMENTOS DE LIGAO .................................................................................................................................... 133
TIPOS DE ELEMENTOS DE LIGAO ............................................................................................................................. 133
Removveis.............................................................................................................................................................. 133
No Removveis ...................................................................................................................................................... 136
Seleco de Materiais............................................................................................................................................. 137
ROSCAS ....................................................................................................................................................................... 137
Caractersticas Gerais............................................................................................................................................ 137
Nomenclatura ......................................................................................................................................................... 138
Parmetros ............................................................................................................................................................. 138
Outros Parmetros ................................................................................................................................................. 143
Marcao e Identificao de Roscas...................................................................................................................... 143
Identificao de Roscas.......................................................................................................................................................... 143
Identificao de um Elemento Roscado ................................................................................................................................. 144
Medio de Roscas ................................................................................................................................................. 144
PARAFUSOS ................................................................................................................................................................. 145
Tipos ....................................................................................................................................................................... 145
Classificao e Identificao.................................................................................................................................. 147
-5-
Materiais e rgos de Mquinas
Especificaes.........................................................................................................................................................148
PERNOS ........................................................................................................................................................................151
Tipos e Utilizao ...................................................................................................................................................151
Nomenclatura..........................................................................................................................................................152
Fixao e Remoo de Pernos................................................................................................................................152
Fixao .................................................................................................................................................................................. 152
Remoo ................................................................................................................................................................................ 153
PORCAS (NUTS) ...........................................................................................................................................................153
Removveis ..............................................................................................................................................................153
Auto-Frenadas ....................................................................................................................................................................... 154
No Auto-Frenadas................................................................................................................................................................ 156
Fixas........................................................................................................................................................................157
ANILHAS ......................................................................................................................................................................158
Tipos .......................................................................................................................................................................159
Lei do Binrio de Aperto.........................................................................................................................................160
DISPOSITIVOS DE FRENAGEM .............................................................................................................................161
POR ARAME .................................................................................................................................................................161
Material ..................................................................................................................................................................161
Procedimento de Frenagem ....................................................................................................................................162
OUTRAS FORMAS DE IMOBILIZAO ...........................................................................................................................163
REBITES PARA AERONAVES .................................................................................................................................165
LIGAES REBITADAS .................................................................................................................................................165
Rebites Slidos ........................................................................................................................................................167
Material.................................................................................................................................................................................. 167
Seleco do Rebite................................................................................................................................................................. 167
Rebites Cegos (Blind Rivets)...................................................................................................................................168
Rebites Industriais ..................................................................................................................................................168
ESPECIFICAES ..........................................................................................................................................................169
Aquisio de Rebites ...............................................................................................................................................169
Cdigo de Rebites ...................................................................................................................................................170
Identificao do Rebite ...........................................................................................................................................171
TRATAMENTO TRMICO DOS REBITES (RIVETS HEAT TREATMENT)............................................................................172
TIPOS DE REBITAGEM ..................................................................................................................................................173
TUBOS E UNIES .......................................................................................................................................................177
TUBAGENS ...................................................................................................................................................................177
Tipos de Presso .....................................................................................................................................................177
Classes de Presso..................................................................................................................................................178
Tipos de Tubagens ..................................................................................................................................................178
-6-
Materiais e rgos de Mquinas
Tubagens Rgidas................................................................................................................................................................... 178
Flexveis................................................................................................................................................................................. 180
TIPOS DE UNIES ........................................................................................................................................................ 181
MOLAS ......................................................................................................................................................................... 183
TIPOS .......................................................................................................................................................................... 183
Caractersticas ....................................................................................................................................................... 183
Classificao .......................................................................................................................................................... 183
Materiais ................................................................................................................................................................ 185
Aplicaes .............................................................................................................................................................. 185
CHUMACEIRAS ......................................................................................................................................................... 187
TIPOS .......................................................................................................................................................................... 187
Chumaceiras de Deslizamento ............................................................................................................................... 187
Chumaceiras de Rolamento.................................................................................................................................... 190
CARGAS ...................................................................................................................................................................... 191
Normalizao ......................................................................................................................................................... 191
Carga Aplicada ...................................................................................................................................................... 192
Seleco.................................................................................................................................................................. 193
APLICAO ................................................................................................................................................................. 193
Exemplos Prticos .................................................................................................................................................. 193
Montagem e Desmontagem .................................................................................................................................... 195
Vantagens e Desvantagens ..................................................................................................................................... 195
MANUTENO ............................................................................................................................................................ 196
TRANSMISSES......................................................................................................................................................... 197
ELEMENTOS DE TRANSMISSO .................................................................................................................................... 197
Tipos ....................................................................................................................................................................... 199
Correias e Polias .................................................................................................................................................................... 202
TRANSMISSO ............................................................................................................................................................. 206
Sentido de Rotao ................................................................................................................................................. 206
Relao de Transmisso......................................................................................................................................... 207
ENGRENAGENS ............................................................................................................................................................ 208
Constituio............................................................................................................................................................ 208
Tipos ....................................................................................................................................................................... 210
Representao De Engrenagens............................................................................................................................. 214
EXERCCIOS PRTICOS ................................................................................................................................................ 217
Tambores e Correias .............................................................................................................................................. 217
Exerccio Prtico.................................................................................................................................................................... 218
Correntes ................................................................................................................................................................ 219
Engrenagens........................................................................................................................................................... 220
-7-
Materiais e rgos de Mquinas
Tipos...................................................................................................................................................................................... 220
Condies de Engrenamento.................................................................................................................................................. 220
Exerccio Prtico.................................................................................................................................................................... 221
CABOS DE COMANDO..............................................................................................................................................223
TIPO DE CABOS ............................................................................................................................................................223
Cabos de Comando .................................................................................................................................................223
Cabo de Ao............................................................................................................................................................224
Constituio ........................................................................................................................................................................... 224
Construo ............................................................................................................................................................................. 225
Passo ...................................................................................................................................................................................... 225
Identificao .......................................................................................................................................................................... 226
Materiais ................................................................................................................................................................................ 226
Tipos de Toro ..................................................................................................................................................................... 228
Fixao .................................................................................................................................................................................. 229
TERMINAIS E TENSORES ..............................................................................................................................................229
Terminais ................................................................................................................................................................229
Tensores ..................................................................................................................................................................229
POLIAS E COMPONENTES DOS SISTEMAS DE CABOS.....................................................................................................230
SISTEMAS DE COMANDO DOS LEMES ...........................................................................................................................231
Tipos .......................................................................................................................................................................231
CABOS ELCTRICOS E CONECTORES ...............................................................................................................233
TIPOS DE CABOS, SOLUES CONSTRUTIVAS E CARACTERSTICAS ...............................................................................233
CABOS COAXIAIS .........................................................................................................................................................235
ESMAGAMENTO CRIMPING .......................................................................................................................................236
TIPOS DE CONECTORES, PINOS, FICHAS, TOMADAS E ISOLADORES ..............................................................................236
DISTRIBUIO DE CORRENTE ELCTRICA NAS AERONAVES .........................................................................................237
IDENTIFICAO............................................................................................................................................................237
ANEXOS........................................................................................................................................................................239
ANEXO A MATERIAL DE APOIO GENRICO ...............................................................................................................241
ANEXO B MATERIAIS NO FERROSOS ......................................................................................................................249
ANEXO C ELEMENTOS DE LIGAO ..........................................................................................................................253
ANEXO D DISPOSITIVOS DE FRENAGEM ....................................................................................................................257
ANEXO E REBITES PARA AERONAVES.......................................................................................................................259
ANEXO F TRANSMISSES ..........................................................................................................................................261
BIBLIOGRAFIA ..........................................................................................................................................................263
GLOSSRIO.................................................................................................................................................................265
SIGLAS E ABREVIATURAS ............................................................................................................................................265
-8-
Materiais e rgos de Mquinas
Entidades Externas................................................................................................................................................. 265
Abreviaturas ........................................................................................................................................................... 266
LISTA DE PGINAS EM VIGOR........................................................................................................................ LPV-1
-9-
Materiais e rgos de Mquinas
MATERIAIS FERROSOS PARA AERONAVES
CARACTERSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAO
INTRODUO AOS MATERIAIS
Definio de Material
uma substncia a partir da qual so feitas as coisas ou seja, a matria cujas propriedades a tornam apta
para aplicao em produtos fabricados e utilizveis pelo homem.
Materiais de Engenharia
-
So materiais que se utilizam para o fabrico de produtos tcnicos.
Cincia dos Materiais
-
Disciplina cientifica que visa fundamentalmente a descoberta de conhecimentos bsicos sobre a
estrutura interna, as propriedades e o processamento de materiais.
Engenharia dos Materiais
-
Especialidade da engenharia que se dedica essencialmente aplicao dos conhecimentos cientficos
sobre materiais, de modo, a que estes possam ser convertidos em produtos teis ou desejados pela
sociedade.
Evoluo dos Materiais
A indstria aeronutica desde sempre teve uma grande necessidade de novos materiais com melhores
caractersticas e de fcil utilizao. Grandes avanos como os associados ao desenvolvimento de ligas leves
de alumnio, ligas avanadas e materiais compsitos, tornaram possvel reduzir significativamente o peso
estrutural das aeronaves.
O processo de substituio de materiais na indstria aeronutica no dos dias de hoje, mas sempre que
descoberto um novo material ou uma nova forma prtica e econmica de usar um material j conhecido,
com vantagens competitivas essa substituio acontece.
Os primeiros avies eram construdos preferencialmente utilizando madeiras. Quando os mtodos
metalrgicos melhoraram, comearam a ser substitudas as madeiras pelo ao, depois o ao foi substitudo
por aos avanados, etc. Este, um processo contnuo que possibilita a substituio e o
aperfeioamento dos materiais existentes, isto , a disponibilizao de materiais mais leves, mais
resistentes, mais tenazes, mais tolerantes aos danos e/ou mais resistentes a altas temperaturas, reciclveis
- 11 -
Materiais e rgos de Mquinas
e fceis de reparar.
So criadas condies para o desenvolvimento para uma nova gerao de avies mais seguros, eficientes e
amigos do ambiente quer em termos estruturais, quer em termos propulsivos.
A evoluo tecnolgica permitiu: (2)
Aeronaves a voarem mais rpido, com maior alcance e com maior segurana;
Aumento de rentabilidade da explorao de linhas areas devido ao aumento da capacidade de
carga e diminuio do consumo de combustvel.
Classes de Materiais
As diferentes espcies de materiais podem ser agrupadas de diferentes formas. Normalmente so
constitudos por 5 grupos, tais como:
-
Materiais Metlicos;
Materiais Polimricos;
Materiais Cermicos;
Materiais Compsitos;
Materiais Electrnicos.
Materiais Metlicos
Substncias inorgnicas compostas por um ou mais elementos metlicos podendo tambm conter elementos
no metlicos, em geral estrutura cristalina na qual os tomos se arranjam ou organizam de maneira
ordenada.
Como exemplos: o ao, ferro fundido, bronze, etc.
Caractersticas principais:
Alto ponto de fuso;
Boa condutividade elctrica;
Boa condutividade trmica;
Baixa resistncia corroso;
Densidade varivel (consoante o elemento).
- 12 -
Materiais e rgos de Mquinas
Materiais Polimricos
Consistem em molculas orgnicas muito longas, em geral no cristalinos embora alguns possuam regies
cristalinas.
Como exemplos: Plsticos, nylon, borrachas, pvc, etc.
Caractersticas principais:
Baixa resistncia mecnica;
Baixa resistncia trmica;
Baixa densidade;
Baixa condutividade elctrica;
Baixa condutividade trmica;
Boa resistncia qumica;
Alto coeficiente de expanso.
Materiais Cermicos
So considerados como substncias usualmente formadas por compostos de elementos metlicos e no
metlicos ligados entre si. Podem ser cristalinos, no cristalinos ou uma mistura dos dois tipos.
Como exemplos: Alumina, Diamante, slica, vidro, etc.
Caractersticas principais:
Alto ponto de fuso;
Baixa densidade;
Grande dureza e resistncia ao desgaste;
Ausncia de deformao plstica;
Baixo Coeficiente de Deformao Trmica;
Baixa Condutividade Elctrica e Trmica;
Grande resistncia corroso (quimicamente estvel).
- 13 -
Materiais e rgos de Mquinas
Materiais Compsitos
So formados pela conjugao de dois ou mais materiais diferentes (Metlicos, Polimricos ou Cermicos),
no existindo solubilidade entre eles. Formam uma estrutura que combina as propriedades de cada um dos
materiais que a constitui.
Como exemplos: Estruturas tipo sandwich, laminado.
Caractersticas principais:
Baixa densidade;
Boa resistncia corroso;
Grande resistncia a elevada temperatura e velocidade;
Baixo custo de manuteno;
Longa durao.
Materiais Electrnicos
Os materiais electrnicos ainda no constituem um grupo muito forte em termos de volume de materiais,
mas so um grupo extremamente importante relativamente a tecnologias avanadas.
So materiais essencialmente com boas caractersticas elctricas. O material mais importante o Silcio puro
modificado para se lhe alterarem as suas caractersticas elctricas.
Caractersticas principais:
Podem detectar, amplificar, transmitir sinais elctricos de uma forma complexa;
Leves.
Os sistemas de microelectrnica tornaram possvel o aparecimento de novos produtos e equipamentos, tais
como:
Satlites de comunicaes;
Os computadores;
As calculadoras de bolso;
Os relgios digitais e os robots de soldadura.
- 14 -
Materiais e rgos de Mquinas
Seleco de Materiais
A cada material esto inerentes determinadas propriedades que o tornam adequado ou no a uma utilizao
especfica, garantindo o bom comportamento dos componentes que constituem quando em servio.
No caso de pretendemos um produto fivel e durvel, essencial ter em conta as propriedades de cada
material no momento da sua seleco.
Os critrios de seleco de um material de vem ter em conta:
O material, a funo, a forma e o processo como obtido.
Propriedades dos Materiais
As principais propriedades dos materiais so:
-
Propriedades Fsicas;
Propriedades Qumicas;
Propriedades Mecnicas.
Propriedades Fsicas
As propriedades fsicas, de que so exemplo a condutibilidade elctrica e a condutibilidade trmica,
dependem da estrutura dos metais. Estas propriedades fornecem indicaes sobre o comportamento destes
elementos quando sujeitos aco de campos de foras fsicas, como o campo gravitacional, os campos
elctricos e as variaes trmicas. So intrnsecas ao material, resultam da sua estrutura molecular e
atmica.
Caractersticas principais:
Cor;
Densidade;
Ponto de Fuso;
Condutividade Trmica;
Condutividade Elctrica.
- 15 -
Materiais e rgos de Mquinas
Propriedades Qumicas
Dependem da composio qumica dos metais e fornecem indicaes sobre o comportamento destes
elementos quando sujeitos aco de agentes qumicos.
Caractersticas principais:
Composio Qumica;
Reactividade (em geral);
Resistncia Corroso (muito importante na seleco dos materiais para futura aplicao).
Propriedades Mecnicas
As propriedades mecnicas fornecem indicaes sobre a resistncia dos materiais aos diversos tipos de
solicitaes mecnicas, sem correrem o risco de deteriorao, desgaste prematuro ou rotura e no so
intrnsecas ao material. As propriedades mecnicas iro ser objecto de estudo pormenorizado.
As propriedades principais:
Dureza;
Elasticidade;
Plasticidade;
Ductilidade;
Maleabilidade;
Tenacidade;
Resistncia fadiga;
Resilincia.
PROCESSOS DE OBTENO
Metalurgia do Ferro
Metalurgia
a cincia dos metais.. Sendo o ferro o metal mais abundante e o de maior aplicao, a Metalurgia do
Ferro merece um estudo mais aprofundado ao longo da prximas aulas.
- 16 -
Materiais e rgos de Mquinas
Ferro Tcnico
O Ferro, dada a sua grande afinidade com outros elementos no se encontra na natureza no seu estado
puro, mas fazendo parte de um grande nmero de compostos, essencialmente: xidos, carbonatos e
sulfuretos. Estes compostos aparecem na natureza sob a forma de Minerais.
Mineral
uma substncia inorgnica com estrutura atmica e composio qumica bem definidas ou variando dentro
de limites bem determinados. Quando estes minerais possuem uma elevada concentrao e permite ao
homem uma extraco lucrativa, designam-se por: Minrios.
Minrios de Ferro Principais
Magnetite - Fe3O4
o
Hematite Fe2O3
o
Sexquixido de ferro hidratado com 70% de Fe;
Siderite FeCO3
o
Sexquixido de ferro com 70% de Fe;
Limonite Fe2O3H2O3
o
xido salino de ferro com 72% de Fe;
Carbonato de ferro com 48% de Fe;
Siderite SFe
o
Sulfureto de ferro com 48% de Fe.
A Magnetite - Fe3O4 e a Hematite Fe2O3
-
So os mais utilizados, no s por terem maiores percentagens de Ferro, mas tambm por
facilitarem no processo extractivo.
Extraco de Minrios
Encontram-se na Natureza associados a outros compostos, tais como:
xido de Silcio, Clcio, Fsforo, Mangans e outros que constituem a chamada: Ganga.
Ganga
Atendendo sua composio tem normalmente elevado ponto de fuso, caracterstica bastante importante
como se ver quando abordarmos a constituio da carga do alto-forno.
- 17 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fases de extraco de minrios
a) Recolha dos Minrios pode ser: a cu aberto, minas e dragagem;
b) Concentrao do minrio (remoo da ganga), pode ser atravs dos seguintes mtodos:
Sedimentao (mi-se/lava-se o material);
Separao magntica;
Flutuao:
o
A ganga que no se consegue eliminar pelos processos anteriores designa-se por escria;
normalmente eliminada durante a produo do metal por reduo.
Obteno do Ferro
Povos antigos Babilnia, Egipto, Prsia, China, ndia e depois Gregos e Romanos fabricavam armas e
inmeros utenslios de ferro e ao. O ferro normalmente obtido atravs de:
-
Processo Primitivo;
Alto-forno.
Processo Primitivo
Actualmente, estes processos so utilizados em trabalhos de pouco rigor (pequenas oficinas), podendo ser:
-
Tipo poo fechado;
Tipo de forja catal Ambos usando carvo vegetal como combustvel.
Fig. 1: Poo Fechado.
Fig. 2: Forja Catal.
- 18 -
Materiais e rgos de Mquinas
Neste processo, as temperaturas atingidas no so suficientes para liquefazer o metal. O ferro obtido no
estado pastoso (lquido de alta viscosidade), encontrando-se misturado com as impurezas do minrio.
O ferro produzido desta forma apresenta-se em geral relativamente dctil, mole, malevel e podia ser
trabalhado por martelamento a temperaturas relativamente elevadas. Aps ser retirado do forno (uma bola
de ferro), este martelado para a remoo das impurezas.
Alto-forno
Ao longo dos tempos foram aumentadas, paulatinamente, a altura dos fornos primitivos. (fornos de cuba ou
fornos chamin).
Fornos chamin: Carga introduzida pelo topo;
Ar soprado pela parte inferior;
1500 Inglaterra Alto-forno mais prximo aos modernos;
1619 Inglaterra Introduo do coque;
1800 Inglaterra Aquecimento do ar.
O Alto-forno constitui o principal equipamento utilizado na metalurgia do ferro. Neste processo trabalham-se
grandes quantidades de matria-prima. As temperaturas atingidas permitem obter ferro no estado lquido e
ao mesmo tempo, retirar as impurezas que vo formar a escria. Acontece que a escria menos densa que
o metal, ficando a sobrenadar neste, o que permite ser a sua extraco mais facilmente.
Fig. 3: Alto-Forno.
A carga do alto-forno constituda por: Minrio, Coque e Fundente.
- 19 -
Materiais e rgos de Mquinas
Minrio
a matria-prima da qual se vai extrair o ferro.
Coque
Desempenha uma dupla funo na elaborao da Gusa: de combustvel e a de redutor.
O Coque provm da destilao do carvo, que deve ser o mais puro possvel para evitar resduos como
enxofre e fsforo. Como redutor absorve o oxignio combinado com outros elementos.
Fundente
Tem por objectivo reagir com ganga formando compostos que fundem a temperaturas mais baixas, visto
que como j foi dito, a ganga tem um elevado ponto de fuso.
Fig. 4: Alto-forno, incluindo o equipamento auxiliar principal.
- 20 -
Materiais e rgos de Mquinas
Sequncia da Obteno do Ferro
O ferro na sua obteno tem diversas etapas:
Introduz-se a carga, composta de:
o
Entre 300C e 350C temos a dissecao, onde:
o
O ferro se combina com o carbono formando a Gusa;
Entre 1150C e 1800C ocorre a fuso, onde:
o
O xido de ferro perde o oxignio;
Entre 750C e 1150C temos a carburao, onde:
o
O vapor de gua contido na carga liberado;
Entre 350C e 750C ocorre a reduo, onde:
o
Minrio de ferro, Coque e fundente;
A Gusa passa para o estado lquido;
Em torno dos 1600C ocorre a liquefaco, onde:
o
A Gusa se separa da Escria.
Fig. 5: Alto-forno.
A figura 5 permite observar as etapas sequenciais para obteno do ferro no alto-forno. O ferro obtido a
- 21 -
Materiais e rgos de Mquinas
partir do minrio, com a participao de combustvel e fundentes.
O minrio, o combustvel e os fundentes so introduzidos em camadas alternadas pela boca do alto-forno,
estabelecendo-se pelo calor. Uma corrente descendente de materiais, primeiramente slidos, depois
pastosos, e, finalmente lquidos.
As altas temperaturas atingidas no interior do alto-forno, vo permitir a reduo do xido de ferro (O3Fe2),
pelo xido de carbono (CO), atravs da reaco qumica:
O3Fe2 + 3CO
2Fe + 3CO2
Dentro da cuba, o ferro fica suficientemente quente para absorver at 3 a 4% de carbono. Esta massa
lquida de ferro-carbono apresenta um ponto de fuso aproximadamente 1.150C, que inferior ao do metal
puro e tem o nome de Gusa.
A Gusa separa-se da escria ainda dentro do forno, tal como nos possvel observar na figura anterior. O
elevado teor de carbono deste material, no permite que o mesmo seja imediatamente trabalhado. O seu
baixo ponto de fuso possibilita no entanto a sua fcil fundio.
A Gusa tem como aplicaes: a fundio dos lingotes destinada a segunda fuso a execuo de grandes
peas por vazamento directo nos moldes e a fabricao do ao (mais apurado).
Quanto aos tipos de Gusa existem: Gusa branca e Fundio gris.
Fig. 6: Sequncia de obteno do ferro.
Fig. 7: Operao de recepo da gusa para lingotes.
- 22 -
Fig. 8: Operao de laminagem e Perfilagem.
Materiais e rgos de Mquinas
NATUREZA MICRO E MACROSCPICA
Estrutura Atmica
tomo
Toda a matria formada por tomos e molculas. O tomo a unidade base dos elementos qumicos, tal
como o hidrognio (H), as molculas so agregados de tomos, como o caso da gua (H2O).
Num tomo, consegue-se diferenciar um ncleo onde existem protes com cargas positivas e neutres sem
carga. Em torno do ncleo move-se uma nuvem de electres, que so as partculas carregadas
negativamente (de energia elctrica), conforme se pode observar na figura 9.
Io
Fig. 9: Nuvem Electrnica.
Se o nmero de protes do tomo for igual ao nmero de electres, diz-se que o mesmo equilibrado. Se o
nmero de electres for maior ou menor que o nmero de protes diz-se que o tomo tem carga (io
negativo ou positivo).
Os ies so instveis e tm tendncia a captar ou a libertar aqueles electres, de forma a conferir a
estabilidade necessria ao tomo.
Foras Inter-atmicas
Podemos descrever uma molcula como um conjunto de dois ou mais ncleos atmicos envoltos numa
nuvem de cargas elctricas negativas, sendo a sua ligao assegurada por foras electrostticas. A
intensidade da ligao depende da variao da intensidade da nuvem electrnica no espao entre os
ncleos.
- 23 -
Materiais e rgos de Mquinas
Estado Metlico
Num metal no h saturao dos estados covalentes ligantes (electres livres). Como resultado, no h
qualquer restrio ao nmero de tomos vizinhos de tomo a no ser a restrio de natureza geomtrica.
este carcter no saturado da ligao, que permite por exemplo a formao das ligas metlicas, uma vez,
que os diferentes tomos esto ligados pela nuvem de electres livres para a qual ambos contriburam.
Um metal puro constitudo na sua totalidade por tomos de um nico elemento. Os metais puros no
existem na natureza e so difceis de obter, mesmo atravs de processos qumicos complexos. No tm
grande aplicao industrial, porque as suas caractersticas so inferiores s que se obtm quando
combinados com outros elementos.
Estrutura
forma de agrupamento de partculas elementares. Os tomos agrupam-se para formar molculas, e estas
por sua vez agrupam-se ainda para formar cristais.
As propriedades de um material dependem da natureza dos tomos e dos tipos de agrupamentos.
Estrutura Macroscpica
No caso de um metal que se obteve por arrefecimento, medida que se processa a solidificao vo-se
formar pequenos pontos slidos, volta dos quais se desenvolvem cristais, que crescem em todas as
direces. Estas formaes constituem os chamados Gros. Ao arranjo do Gros d-se o nome de:
Macroestrura.
Macroestrutura.
A Macroestrutura visvel a olho nu ou com o auxlio de pequenas ampliaes. Para se efectuar essa
observao em boas condies, necessrio fazer anteriormente um polimento, seguido de um ataque com
um cido para remover todas as impurezas que se depositam nos intervalos dos gros.
A Macroestrutura permite:
Mostrar a forma como se orientam os gros, o seu tamanho, bem como as modificaes
produzidas por Tratamentos Trmicos e Mecnicos;
Caracteriza-se por reflectir ou mostrar a disposio das partculas ou constituintes microgrficos.
- 24 -
Materiais e rgos de Mquinas
Estrutura Microscpica
A Microestrutura s visvel com o apoio de microscpicos apropriados e permite:
Observar o tamanho do gro;
A forma do gro;
As substncias puras;
Os compostos ou misturas de ambos, existentes no material.
Se fosse possvel aumentar o poder de ampliao do microscpico, poderamos ver como num Gro se
dispem e ligam os tomos. A esta disposio dos tomos, d-se o nome de: Estrutura Cristalina.
O Raio X permite observar o posicionamento dos tomos em termos espaciais. Verifica-se, que para os
metais os seus tomos se dispem no espao formando uma malha, que se repete ao longo de toda a
extenso do material e que se designa por: Clula Elementar.
Clula Elementar
As malhas mais frequentes: (4)
Cbica de Corpo Centrada (CCC);
Cbica de Faces Centradas (CFC);
Hexagonal;
Tetragonal.
Fig. 10: Malha de uma clula elementar.
A figura 10, permite observar esquerda uma malha Cbica de Corpo Centrada e direita uma malha
Cbica de Faces Centradas.
- 25 -
Materiais e rgos de Mquinas
Liga Metlica
uma mistura ntima de duas ou mais substncias, sendo pelo menos uma delas metlicas. Tem como
finalidade melhorar certas propriedades ou caractersticas do metal base.
Obteno das Ligas
As Ligas obtm-se fundindo conjuntamente os diferentes componentes e deixando arrefecer. Durante este
arrefecimento os componentes da liga podem associar-se em 3 formas:
-
Solues Slidas;
Agregados Cristalinos;
Compostos Qumicos.
As Solues Slidas podem apresentar a forma: Intersticial ou de Substituio.
Fig. 11: Solues slidas.
A figura 11 mostra esquerda uma Soluo Slida Intersticial e direita uma Soluo Slida de
Substituio.
CARACTERIZAO DOS AOS
Classificao
A presena de Carbono no Ferro ainda que em concentraes muito baixas, provoca um grande aumento da
resistncia do metal. Desta forma, passamos a ter uma liga de Ferro e Carbono (liga Fe-C).
s ligas de Ferro e Carbono, atribui-se o nome de Ao se a concentrao de carbono for menor de 2,06% e
de Fundies, se as ligas de ferro e carbono possurem um teor em carbono superior a 2,06%.
corrente classificar as Ligas Ferrocarbnicas em funo da percentagem de carbono, da seguinte forma:
-
Ferro macio: com 0,05% a 0,1 % de carbono;
Aos: entre 0,1% a 1,7 % de carbono;
Gusa ou Ferro Fundido: com mais de 1,7 % de carbono.
- 26 -
Materiais e rgos de Mquinas
A classificao dos aos usual ser feita:
1. Quanto ao Teor de Carbono;
2. Quanto Composio Qumica;
3. Quanto Aplicao.
1- Teor de Carbono
Por definio, ao uma liga ferrocarbnica com uma percentagem de carbono entre 0.1% e ~2%. Devido
s matrias-primas utilizadas e aos processos de fabrico, o ao contm sempre outros elementos metlicos
ou no. Alguns ajudam a reforar a resistncia da liga outros so apenas impurezas.
Quanto percentagem de carbono, os aos classificam-se em:
Aos extramacios (0,10% < C < 0,25%);
Aos macios
Aos semiduros (0,40% < C < 0,60%);
Aos duros
Aos muito duros (C > 1,0%).
(0,25% < C < 0,40%);
(0,60% < C < 1,0%);
De uma forma geral, podemos dizer que o aumento do teor de carbono nos aos altera as suas
propriedades da seguinte forma:
Aumenta a dureza, a resistncia e o limite elstico;
Diminui o ponto de fuso.
2- Composio Qumica
Quanto composio qumica existem:
-
Aos sem Liga ou Aos ao Carbono;
Aos Ligados.
Aos sem Liga ou Aos ao Carbono
um tipo de ao que deve as suas propriedades essencialmente ao teor de carbono, cuja composio alm
dos inevitveis elementos decorrentes da elaborao, no contm nenhum elemento de liga em quantidade
- 27 -
Materiais e rgos de Mquinas
superior aos mnimos indicados.
Ao Ligado
um ao ao qual durante a elaborao foram incorporados propositadamente elementos de liga, tal como o
Nquel, ou o Molibdnio, ou o Crmio para melhoria das suas propriedades.
Existem dois elementos, o Silcio e o Mangans, que se encontram em todos os aos normalmente em
pequenas quantidades. O teor dos elementos que estes aos contm no pode ser superior:
0,5 % Si; 1,5 % Mn;
0,1 % Al; 0,05% Ti;
0,35% Cu.
Aos Ligados so agrupados:
Aos de pouca liga - so aqueles em que o teor total dos elementos de liga no superior a 5%;
Aos de muita liga - so aqueles em que o teor total dos elementos de liga superior a 5%.
Aplicao
Existem 3 Tipos:
Aos de Construo;
Aos para Ferramentas;
Aos Especiais.
Elementos de Liga
Na composio dos aos surge um grande nmero de elementos ligados ao ferro. Alguns deles so
indesejveis e so retirados o mximo possvel durante a fuso e subsequente produo do ao, assim:
O Fsforo:
o
Torna o ao quebradio no estado frio;
O Enxofre:
o
Torna o ao quebradio no estado quente.
- 28 -
Materiais e rgos de Mquinas
So adicionados aos aos os diversos elementos de liga, para que adquiram as propriedades que melhor se
adaptem sua funo:
Para aumentar a Resistncia Traco: C, Mn, Cr, Ni;
Para melhorar a Maquinabilidade: S, Se;
Para aumentar a Resistncia ao Desgaste: Cr, W, Mo, Mn;
Para tornar os aos aptos para a Tmpera no leo ou no ar: Ni, Mn, Cr, Mo;
Para aumentar a Resistncia Corroso: Cr, Ni, Mo, Cu, Si;
Para diminuir a Resistncia a Temperaturas Elevadas: W, Mo, V, Co, Cr;
Para aumentar a Resistncia ao Desgaste a Quente: W, Mo, V, Cr.
Designao
Existem vrios sistemas de designao e identificao dos aos. Um dos mais importantes o Sistema AISISAE (American Iron and Steel Institute Society of Automotive Engineers).
Este sistema utiliza 4 dgitos (por vezes 5) XX XX:
Os dois primeiros indicam os principais elementos de liga;
Os dois ltimos indicam a percentagem de carbono;
Eventuais sufixos ou prefixos podem ser adicionados;
Exemplo: Ao 1040 => Ao Carbono (10) / 0.40% de C (40);
Ao 50100 => Ao Cr(50) / 1% de C (100).
PROPRIEDADES MECNICAS
Relembrando, as principais propriedades dos materiais so:
Propriedades Fsicas;
Propriedades Qumicas;
Propriedades Mecnicas.
- 29 -
Materiais e rgos de Mquinas
As propriedades mecnicas fornecem indicaes sobre a resistncia dos materiais aos diversos tipos de
solicitaes mecnicas, sem correrem o risco de deteriorao e desgaste prematuro ou rotura. As
propriedades mecnicas no so intrnsecas ao material, surgem como resposta do material s cargas
(esforos) que lhe so impostas.
As propriedades Mecnicas (mais relevantes):
-
Dureza;
Elasticidade;
Plasticidade;
Ductilidade;
Maleabilidade;
Tenacidade;
Resistncia fadiga;
Resilincia.
Dureza
a propriedade que os materiais tm de resistir penetrao ou a serem riscados por outros. Esta
caracterstica est intimamente relacionada com a estrutura e composio molecular dos materiais.
Fig. 12: Material a ser penetrado.
Como podemos observar na figura 12, o material A constitudo por gros maiores, logo oferece menos
resistncia penetrao do que o material B.
A escala de dureza Mohs ordena os materiais desde os menos duros para os mais duros. Os materiais que
apresentam um elevado grau de dureza so resistentes ao desgaste. Esta propriedade dever estar presente
nos componentes sujeitos a condies extremas de desgaste, por atrito ou frico por exemplo:
Engrenagens, excntricos da rvore de cames, camisas do cilindro, segmentos, etc.
Tais componentes devero ser concebidos ou pelo menos tratados, de modo a apresentar a dureza
necessria ao bom desempenho das funes.
- 30 -
Materiais e rgos de Mquinas
Elasticidade
a propriedade que permite a um material deformar por aco de uma fora exterior, e em seguida,
recuperar a sua forma e dimenses originais aps o descarregamento dessa tenso.
Como exemplos temos:
As asas das aeronaves so estruturas que devem possuir grande elasticidade, devendo por isso ser
construdas com materiais que apresentem tal caracterstica.
Fig. 13: Modelo de elasticidade: dos materiais e muscular.
Plasticidade
a capacidade de um material se permitir a sua deformao sob aco de foras exteriores, mantendo essa
deformao aps o cessar da aplicao dessas fora.
A plasticidade acontece sempre a seguir elasticidade, sendo uma propriedade inconveniente, que deve ser
retardada ao mximo.
Fig. 14: Plasticidade.
- 31 -
Materiais e rgos de Mquinas
Maleabilidade
a propriedade que os materiais tm de sofrer grandes deformaes plsticas, pela aco de foras
exteriores violentas (prensagem e martelagem), sem se deteriorarem.
Esta dever ser uma das caractersticas dos materiais empregues:
Na estrutura secundria dos avies.
Fig. 15: Maleabilidade.
Ductilidade
a propriedade que alguns materiais tm sofrer deformaes permanentes sem atingir a rotura.
Esta propriedade permite a laminagem (lminas) e a estiragem (fios), permitindo obter lminas de
reduzidssima espessura ou fios de dimetro muito pequeno, contribuindo assim para a reduo de
dimenses e peso das aeronaves.
Fig. 16: Maleabilidade.
- 32 -
Materiais e rgos de Mquinas
Resilincia
Capacidades dos materiais resistirem sem romper, aplicao de foras instantneas. Materiais resilientes
so materiais resistentes ao choque (foras de aplicao instantnea).
Como exemplos de aplicao em aeronaves, temos:
Trem de aterragem, ou zonas onde o trem acoplado estrutura principal.
Fig. 17: Resilincia.
Tenacidade
Capacidade que os materiais tm de resistir a esforos de aplicao gradual (lenta e progressiva) sem se
desagregarem. Materiais tenazes no fracturam com facilidade.
Esta propriedade dever existir nos materiais da:
Estrutura primria e da estrutura secundria, especialmente nas asas.
Fig. 18: Tenacidade.
- 33 -
Materiais e rgos de Mquinas
Resistncia Fadiga
Capacidade do material resistir a esforos cclicos, que conduzem alterao das suas propriedades e
posteriormente rotura do componente que constitui.
Esta propriedade dever existir nos materiais da:
Estrutura primria e da estrutura secundria, trem, motor, etc.
Fig. 19: Antonov 225.
PROPRIEDADES MECNICAS DOS AOS AO CARBONO E LIGADOS
Ao ao Carbono ou Ao No Ligado
Ao ao Carbono
Utilizado na estrutura primria, um elevado teor de carbono torna o ao:
o
Menos denso e mais flexvel.
Ao Ligado
Ao ao Nquel
Utilizado em longarinas e parafusos, o nquel confere ao ao:
o
Mais elasticidade, aumenta a tenacidade e a resistncia corroso.
Ao ao Molibdnio
Utilizado no trem de aterragem, a adio de molibdnio:
o
Aumenta o limite elstico e a resistncia traco;
Ao ao Crmio
Utilizado na estrutura primria, no trem, no motor, o crmio utilizado em quase toda a aeronave
porque confere ao ao:
o
Grande resistncia contra a corroso.
- 34 -
Materiais e rgos de Mquinas
ENSAIO DE MATERIAIS
A determinao das caractersticas dos materiais de capital importncia para conhecer os diferentes tipos
de solicitaes permitidas a um material, equipamento ou aeronave. Deste modo, possvel determinar e
quantificar as caractersticas mecnicas dos materiais, associando valores numricos que permitam medi-las.
Os materiais so seleccionados para determinada aplicao especfica em funo dos valores obtidos neste
tipo de ensaios. Como iremos constatar mais adiante, a obteno destas caractersticas vai revelar-se de
grande importncia no clculo do tempo de vida til de um material ou equipamento.
Existem dois grupos de ensaios mecnicos executados aos materiais:
-
Ensaios No Destrutivos (END);
Destrutivos.
Os Ensaios No Destrutivos
Este ensaio caracteriza-se por normalmente permitir uma nova utilizao do material ensaiado.
Ensaios Destrutivos
A caracterstica principal dos a de que um material ensaiado sofre vrios tipos de danos, no permitindo a
sua reutilizao (normalmente). Assim, os materiais podem ser submetidos a vrios tipos de ensaios, tais
como:
Ensaio de Dureza, Traco, Resilincia e Fadiga.
Os ensaios podem ainda ser:
Estticos (dureza e traco) ou Dinmicos (Resilincia ou Impacto e Fadiga).
ENSAIO DE DUREZA
A dureza definida como a resistncia que os materiais oferecem abraso (deixar riscar), ao corte,
furao, penetrao por outros.
A escala de dureza Mohs ordena os materiais, desde os menos duros para os mais duros. Os materiais que
apresentam um elevado grau de dureza so resistentes ao desgaste.
O ensaio de dureza dos materiais permite avaliar o comportamento ao desgaste, bem como, fornecer
indicaes respeitantes composio, estrutura e ainda embora de forma limitada, podemos relacionar a
dureza com a resistncia traco e compresso.
- 35 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 20: Durmetro.
Na figura 20, podemos observar equipamento que mede a dureza, designado por Durmetro. Existem
vrios mtodos para determinar a dureza, sendo os mais utilizados:
-
Mtodo Brinell;
Mtodo Rockwell;
Mtodo Vickers.
Fig. 21: Escala de Dureza.
Procedimento
De uma forma resumida, o ensaio de Dureza um ensaio de penetrao que consiste:
Em premir um penetrador contra a superfcie do material a ensaiar sob a aco de uma fora
conhecida, durante um determinado intervalo de tempo;
De seguida mede-se a rea da superfcie, a rea projectada, ou a profundidade da identao.
Este tipo de ensaio torna possvel comparar tratamentos trmicos diferentes, aplicados sobre um mesmo
material, por exemplo um ao ou verificar a qualidade de soldaduras ou inspeces a peas acabadas.
- 36 -
Materiais e rgos de Mquinas
Mtodo Brinell
Existem registos de que no sculo XVII j se avaliava a dureza de pedras preciosas, utilizando uma lima.
O primeiro mtodo padronizado para determinar a dureza, baseado no processo de riscagem, foi
desenvolvido por Mohs, em 1822. Este mtodo deu origem escala de dureza Mohs, que apresenta 10
minrios padro, ordenados numa escala crescente de acordo com a sua capacidade de riscar ou ser
riscado.
Fig. 22: Equipamento do mtodo Brinell.
Princpio do mtodo
Este mtodo baseia-se no princpio, de que:
Para cada material e para cada arranjo molecular, h uma relao constante entre a fora F que se
aplica sobre a esfera e a superfcie S da calote esfrica impressa no material a ensaiar;
O nmero de dureza dado pela relao:
o
HB = F/S (kgf/mm2);
F = Fora aplicada (kgf);
S = Superfcie da calote impressa no material (mm2).
Fig. 23: Vista em planta da calote de impresso, atravs de microscpico ptico.
Vantagens:
usado especialmente para avaliao da dureza de metais no ferrosos, ferro fundido, ao,
produtos siderrgicos em geral e peas no temperadas;
efectuado em equipamento de fcil operao.
- 37 -
Materiais e rgos de Mquinas
Limitaes:
Usando-se esferas de ao temperado s possvel medir durezas at 500 HB, pois durezas maiores
danificariam a esfera;
A recuperao elstica origina erros (o dimetro de impresso no o mesmo quando est em
contacto com o metal e depois de aliviada a carga);
No deve ser realizado, em superfcies cilndricas com raio de curvatura menor que cinco vezes o
dimetro da esfera utilizada, porque haveria escoamento lateral do material e a dureza medida
seria menor que a real;
Em alguns casos podem ocorrer deformaes no contorno de impresso, ocasionando erros de
leitura, devidos a aderncia do material esfera durante a aplicao da carga ou bordas abauladas
dificultando a leitura do dimetro.
Fig. 24: Dimetro de impresso.
Fig. 25: Escoamento Lateral.
Fig. 26: Deformaes contorno da impresso.
Condies de Ensaio
Para a realizao deste ensaio necessrio obedecer a parmetros condicionados e tabelados para o efeito.
Assim, o valor recomendado para o Factor de Carga igual ao quociente da Fora (F) pelo Dimetro ao
quadrado da esfera (D), e estabelecido pela norma NP106:1990.
O dimetro da esfera determinado em funo da espessura do corpo ensaiado. A espessura mnima
indicada em normas tcnicas de mtodo de ensaio. Os valores de carga foram determinados a partir das
relaes entre F e D indicados no primeiro quadro: Exemplo: F/D = 30 => F = 30 D.
- 38 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tipo de Material
Dureza Brinell
Ao
F / D2
30
<140
10
140
30
<35
35 e 200
30
>200
30
Ferro Fundido
Cobre e Ligas de Cobre
1.25
<35
2.5
5
Metais Leves e suas Ligas
35 e 80
10
15
10
>80
15
1
Chumbo, Estanho
1.25
Metal Sinterizado
Consultar ISO 4498 -1
Tabela 1: Factor de Carga.
F (kgf = 30D2
F (kgf = 10D2
F (kgf = 5D2
F (kgf = 2,5D2
10
3.000
2.000
500
250
750
250
125
62.5
2,5
187.5
62.5
31.25
15.625
Dimetro
da
Tabela 2: Dimetros de Esferas.
Dureza Brinell em Funo do Dimetro de Impresso
d (mm)
HB (F = 3000kgf)
d (mm)
HB (F = 3000kgf)
2,75
495
4,05
223
2,80
477
4,10
217
2,85
461
4,20
212
2,90
444
4,25
207
Tabela 3: Seleco de Esferas.
- 39 -
Materiais e rgos de Mquinas
Mtodo Rockwell
No incio do sculo XX registaram-se muitos progressos no campo da determinao da dureza.
Em 1922, Rockwell desenvolveu um mtodo de ensaio de dureza que utilizava uma pr-carga. Este mtodo
baseia-se na profundidade de penetrao de um corpo que se comprime sobre a pea e que tanto maior
quanto mais macio for o material.
Fig. 27: Equipamento Rockwell.
Princpio do mtodo
A carga de ensaio aplicada em etapas:
Primeiro aplicada uma pr-carga, para garantir um contacto firme entre o penetrador e o material
a ensaiar;
Depois aplica-se a carga de ensaio propriamente dita;
A leitura do grau de dureza efectuada num mostrador acoplado mquina de ensaio, de acordo
com uma faixa predeterminada, adequada faixa de dureza do material:
o
A vermelho penetrador esfrico;
A preto o penetrador cnico.
Fig. 28: Mostrador.
- 40 -
Materiais e rgos de Mquinas
Pr-carga
Esta pr-carga tem como funo eliminar a aco de eventuais defeitos superficiais e causar uma pequena
deformao permanente, eliminando os erros causados pela deformao elstica.
Fig. 29: Pormenor do mtodo Rockwell.
Tipo de Penetradores
Para materiais duros, utiliza-se um cone de diamante com um ngulo no vrtice de 120, aplicando uma
fora prvia de 10 (kgf) e uma fora principal de 140 (kgf).
Para materiais macios, utiliza-se uma esfera de ao com 1/16 de dimetro, aplicando uma fora prvia de
10 (kgf) e com uma fora principal de 90 (kgf).
Fig. 30: Penetradores.
Fig. 31: Penetrador em Cone e Esfera.
- 41 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tipo de Ensaio Rockwell
Existem 2 tipos de equipamentos:
-
A mquina padro mede a dureza Rockwell Normal: indicada para avaliao da dureza em geral;
A mquina mais precisa mede a dureza Rockwell superficial: indicada para avaliao de dureza em
folhas finas ou lminas, ou camadas superficiais de materiais.
Rockwell
Pr-carga
Carga
60kgf
Normal
10kgf
100kgf
150kgf
15kgf
Superficial
3kgf
30kgf
45kgf
Tabela 4:Tipos de Rockwell.
Escala de Dureza Rockwell Normal e Aplicaes
Escala
Cor
(Escala)
Carga
Maior
Penetrador
Faixa de
Utilizao
Campo de Aplicao
Preta
60
Diamante
cone 120
20 a 88
HRA
Carbonetos, folhas de ao com
fina camada endurecida.
Preta
150
Diamante
cone 120
20 a 70
HRC
Ao, titnio, aos com camada
endurecida profunda, materiais
com HRB>100.
Preta
100
Diamante
cone 120
40 a 77
HRD
Chapas finas de ao com mdia
camada endurecida.
Vermelha
100
Esfera de ao
1,5875mm
20 a 100
HRB
Ligas de cobre, aos brando, ligas
de alumnio e de magnsio.
Vermelha
100
Esfera de ao
3,175mm
70 a 100
HRE
Ferro fundido, ligas de alumnio e
magnsio.
Vermelha
60
Esfera de ao
1,5875mm
60 a 100
HRF
Ligas de cobre recozidas, folhas
finas de metais moles.
Vermelha
150
Esfera de ao
1,5875mm
30 a 94
HRG
Ferro malevel, ligas de cobrenquel-zinco e de cobre-nquel.
Vermelha
60
Esfera de ao
3,175mm
80 a 100
HRH
Alumnio, zinco e chumbo.
Vermelha
150
Esfera de ao
3,175mm
40 a 100
HRK
Metais de chumaceiras e outros
muito moles ou finos
Tabela 5: Escalas de Dureza.
- 42 -
Materiais e rgos de Mquinas
Escala de Dureza Rockwell Superficial e Aplicaes
Escala
Cor
(Escala)
Carga
Maior
Penetrador
Faixa de
Utilizao
Campo de
Aplicao
15N
Preta
15
Diamante
cone 120
65 a 90 HR 15N
Aplicaes similares s
escalas HRC, HRA e HRD.
30N
Preta
30
Diamante
40 a 80 HR 30N
Aplicaes similares s
escalas HRC.
45N
Preta
45
Diamante
35 a 70 HR 45N
Aplicaes similares s
escalas HRC.
15T
Vermelha
15
Esfera de ao
1,5875mm
50 a 94 HR 15T
Aplicaes similares s
escalas HRB, HRF e HRG.
30T
Vermelha
30
Esfera de ao
1,5875mm
10 a 84 HR 30T
Aplicaes similares s
escalas HRB.
45T
Vermelha
45
Esfera de ao
1,5875mm
10 a 75 HR 45T
Aplicaes similares s
escalas HRB.
Tabela 6: Escalas de Dureza.
Vantagens:
Rapidez, facilidade de execuo e iseno de erros humanos;
Facilidade de detectar pequenas diferenas de durezas e pequenos tamanhos de impresso;
Rapidez de execuo e maior exactido e iseno de erros pessoais uma vez que a leitura feita
directamente no aparelho;
Possibilidade de maior utilizao em metais duros;
Pequeno tamanho da impresso (pode ser ensaiada em peas prontas).
Limitaes:
As escalas no tm continuidade;
Os materiais que apresentam dureza no limite de uma escala e no incio de outra no podem ser
comparados entre si quanto dureza;
O resultado de dureza no ensaio Rockwell no tem relao com o valor de resistncia traco,
como acontece no ensaio Brinell.
- 43 -
Materiais e rgos de Mquinas
Mtodo Vickers
Em 1925, Smith e Sandland desenvolveram um mtodo de ensaio de dureza que ficou conhecido como
ensaio de dureza Vickers. Tem a designao de Dureza Vickers, porque a empresa que fabricava as
mquinas mais difundidas para operar com este mtodo se chamava Vickers-Armstrong.
A dureza Vickers representada pelo valor de dureza, seguido do smbolo HV e de um nmero que indica o
valor da carga aplicada.
Princpio do mtodo
Este mtodo baseia-se no mesmo princpio do mtodo de Brinell.
Utiliza uma ponta de diamante com a forma de uma pirmide de base quadrada, cujo ngulo no
vrtice de 136;
Fora-se, pela aplicao de uma carga pr-estabelecida, um penetrador de forma e dimenses
conhecidas sobre a superfcie da pea a ensaiar;
De seguida, relaciona-se a carga aplicada com a rea de impresso (como no Brinell).
Este mtodo leva em conta a relao ideal entre o dimetro da esfera do penetrador Brinell e o dimetro da
calote esfrica obtida, e vai mais longe, porque utiliza outro tipo de penetrador, que possibilita medir
qualquer valor de dureza, dos materiais mais duros aos mais macios.
Fig. 32: Mtodo Vickers.
Clculo da Dureza Vickers
A mquina que faz o ensaio no fornece o valor da rea de impresso da pirmide, mas permite obter por
meio de um microscpio acoplado as medidas das diagonais (d1 e d2), formadas pelos vrtices opostos da
base da pirmide.
- 44 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 33: Medidas das Diagonais d1 e d2.
Fig. 34: Geometria da Orientao.
Anomalias
Materiais muito macios (recozidos): pode ocorrer o afundamento do metal em torno das faces do
penetrador;
Materiais muito duros (encruados): pode ocorrer uma aderncia do metal em torno das faces do
penetrador.
Fig. 35: Impresso perfeita.
Fig. 36: Anomalias de Impresso.
Para efectuar a correco das Anomalias, deve-se alterar o valor da carga do ensaio (para mais ou para
menos), dependendo do material e do tipo de defeito apresentado.
Fig. 37: Correco de Anomalias de Impresso.
- 45 -
Materiais e rgos de Mquinas
Valor da Dureza Vickers
A dureza Vickers pode ser relacionada com o limite de elasticidade.
Fig. 38: Dureza - Limite de Elasticidade.
O valor de dureza representado seguido do smbolo HV e de um nmero que indica o valor da carga
aplicada. Ex: 440 HV 30 indica que o valor da dureza Vickers 440 e que a carga aplicada foi de 30 kgf.
O tempo normal de aplicao da carga varia entre 10 e 15 segundos. Quando a durao de aplicao da
carga diferente, indica-se o tempo de aplicao aps a carga: Ex: 440 HV 30 / 20, o ltimo nmero indica
que a carga foi aplicada durante 20 segundos.
Vantagens (Mtodo Vickers):
considerado o mtodo mais rigoroso de ponto de vista tcnico, principalmente para durezas
superiores a 400 Brinell;
aplicvel a todos os materiais metlicos, de qualquer dureza, especialmente para materiais muito
duros ou muito moles, muito finos, pequenos e irregulares;
indicado para o levantamento de curvas de profundidade de tratamentos superficiais como
tmpera e cementao;
A escala de dureza contnua;
As impresses deixadas no material so extremamente pequenas;
A deformao do penetrador nula;
Oferece grande preciso de medidas.
Limitaes:
Materiais muito macios (recozidos): pode ocorrer o afundamento do metal em torno das faces do
penetrador;
Materiais muito duros (encruados): pode ocorrer uma aderncia do metal em torno das faces do
penetrador.
- 46 -
Materiais e rgos de Mquinas
Microdureza Vickers
Requisitos
Emprega uma carga geralmente menor que 1 kgf (10 gf -1 kgf) com penetrador de diamante, produzindo
um impresso microscpica. A superfcie do corpo de prova deve ser plana e polida.
Aplicaes
Levantamento de curvas de profundidade de tmpera, cementao ou outro tratamento superficial;
Determinao da dureza de: micro constituintes individuais de uma microestrutura, materiais frgeis e
de peas pequenssimas e finas.
Microdureza Knoop (HK)
Utiliza um penetrador de diamante na forma de uma pirmide alongada.
A relao de comprimento: largura: profundidade da impresso de 30:4:1;
A relao entre diagonal e diagonal menor de 7:1.
Fig. 39: Microdureza Knoop (HK).
Fig. 40: Microidentao Vickers.
Fig. 41: Ensaio: Vrios Componentes.
- 47 -
Materiais e rgos de Mquinas
ENSAIO DE TRACO (TENSION)
Este ensaio muito importante dado que nos fornece informaes fundamentais sobre o comportamento
mecnico dos materiais. Atravs do ensaio de traco podemos determinar a resistncia traco, o limite
de elasticidade, o alongamento, a estrico e pela anlise destes valores poderemos avaliar a:
-
Ductilidade;
Fragilidade;
Plasticidade;
Tenacidade.
Procedimento
Para efectuar um ensaio de Traco necessrio:
Cortar uma amostra do material a ensaiar, da qual se faz um provete;
De seguida, o provete colocado numa mquina de traco que lhe aplica foras continuadamente
crescentes, em simultneo so medidas e registadas as cargas aplicadas e os alongamentos
provocados.
Fig. 42: Ensaio de Traco.
As foras de traco tendem a alongar o material. Como exemplos, temos o esforo suportado por cabos e
travessas ties. As travessas so membros transversais que comportam barras de compresso.
Grfico de Traco
O provete a ensaiar, ir ser sujeito aplicao, de uma forma lenta e contnua, de cargas de valor
crescente. Este, ao opor-se a estas cargas, tender a deformar-se no sentido das cargas, sofrendo um
alongamento e uma diminuio da sua seco til.
Posto isto, possvel construir um grfico, em que o eixo das abcissas representar o valor do alongamento
e o eixo das ordenadas a fora aplicada.
- 48 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 43: Ensaio de Traco.
A figura 43 representa um diagrama de traco, para um ao dctil. O grfico permite distinguir 4 zonas
importantes a saber:
a) Zona OA: Zona Elstica ou de Proporcionalidade
As deformaes so directamente proporcionais s cargas aplicadas.
Traduz a lei de Hooke.
Se interrompermos o ensaio em qualquer ponto OA, e retirarmos o provete, verificamos que ele
voltou a ter o comprimindo inicial, tendo-se comportado como um material perfeitamente elstico.
Mdulo de Elasticidade ou Mdulo de Young, representa o valor da tenso que seria necessrio
aplicar ao provete para que este atingisse o dobro do comprimento inicial, admitindo que se deformava
sempre na zona elstica. O Mdulo de Young indica-nos o valor da rigidez do material. Quanto maior for
este mdulo, mais rgido ser o material.
b) Zona AB: Patamar de Cedncia
Corresponde a uma fase em que o material se deforma sem que se registe um aumento
correspondente das tenses aplicadas.
Assinala tambm uma descontinuidade no comportamento do material, que passa a sofrer
deformaes plsticas em vez de elsticas. Podemos comprovar experimentalmente este facto,
interrompendo o ensaio em qualquer ponto entre A e B. Deixando de aplicar cargas ao provete, verifica-se
que a deformao diminui mas no se anula, mantendo o alongamento ente A e B.
- 49 -
Materiais e rgos de Mquinas
c) BC: Zona de Deformao Plstica Uniforme
Esta fase representada por um ramo de curva ascendente, as deformaes crescem de forma mais
acentuada, do que as tenses aplicadas.
O ponto C corresponde Tenso Mxima do provete, correctamente designada por tenso de
rotura.
d) CD: Zona de Estrico
Corresponde ao ramo descendente da curva e representa a fase final do ensaio.
A partir do ponto C, o provete deforma-se at romper sem que aumente a carga aplicada.
A tenso correspondente ao ponto D designa-se por Tenso Final, e dada pelo quociente entre a carga
final aplicada e a seco inicial do provete.
Ponto A: Tenso Limite de Elasticidade;
Ponto C: Tenso Mxima do Provete (tenso de rotura);
Ponto D: Tenso Final.
Tenso Limite de Elasticidade
Tenso
toda a aco capaz de produzir deformaes num corpo. Medida de intensidade das foras inter-atmicas
que resistem deformao de um corpo.
Tenso Limite de Elasticidade
o valor de carga mximo para o qual ainda se verifica a deformao elstica de um corpo.
Tenso de Segurana
o valor de carga mximo a que um componente ou estrutura dever ser submetido em operao.
Tenso de Rotura
o valor de carga a partir do qual o material entra em colapso.
- 50 -
Materiais e rgos de Mquinas
ENSAIO DE FADIGA
Quase todos os materiais quando submetidos a grandes esforos ou cargas sofrem, com o tempo um
abaixamento das suas condies de resistncia devido ao deslocamento relativos das molculas que o
constituem.
Se a carga esttica, isto , se no sofre alterao aquele abaixamento pequeno, dado que as molculas
uma vez deslocadas mantm-se no seu novo rumo; se a carga dinmica, variando periodicamente no
mesmo sentido ou sentidos contrrios, a posio relativa das molculas varia constantemente e o material
perde condies de resistncia, isto , fadiga-se.
Na maioria das aplicaes prticas, os esforos aplicados so variveis e as percusses repetidas, razo
porque submetidas a estes esforos, algumas peas quebram ao final de um tempo mais ou menos longo
sem que, no entanto, a tenso tenha ultrapassado a tenso de resistncia rotura ou, at mesmo, a tenso
limite de elasticidade. Quando se d a rotura nestas condies, diz-se que se verificou rotura por fadiga. A
nica forma de prolongar o tempo de vida de uma pea sujeita fadiga, diminuir a sua tenso de
trabalho.
Definio
A Fadiga pode ser definida como a ruptura de componentes, sob uma carga inferior carga mxima
suportada pelo material, devido a solicitaes cclicas.
Fig. 44: Ensaio de Fadiga.
Na figura 44, podemos observar um exemplo tpico do ensaio de fadiga. Neste caso o provete fixo num
dos extremos, enquanto no outro sofre uma carga cclica devida rotao de um motor.
Esta operao permite determinar o nmero de ciclos que o provete pode ser sujeito, at atingir a fadiga do
material. O ensaio de fadiga permite obter dados relativos ao comportamento de materiais que se
encontrem submetidos aos vrios tipos de solicitaes, tais como:
Traco Compresso;
Flexo e Toro alternados, ou:
Combinaes destas solicitaes.
- 51 -
Materiais e rgos de Mquinas
A ruptura por fadiga comea, a partir de uma nucleao ou pequena falha superficial, que se propaga,
ampliando o seu tamanho, devido a solicitaes cclicas. Quando o tamanho dessa falha tal que o material
restante j no suporte mais o esforo a que est a ser sujeito, a pea rompe-se repentinamente. A fractura
por fadiga tpica:
-
Cristalina na regio da ruptura repentina;
Fibrosa na regio de propagao da falha.
Fig. 45: Fractura de Fadiga Tpica.
Tenses Cclicas
Normalmente as peas sujeitas a fadiga esto submetidas a esforos que se repetem com regularidade
(tenses cclicas).
A tenso cclica mais comum caracterizada por uma funo sinusoidal, onde os valores de tenso so
representados no eixo das ordenadas e o nmero de ciclos no eixo das abcissas. As tenses de traco so
representadas como positivas e as tenses de compresso como negativas.
Fig. 46: Tenses Cclicas.
Um ciclo de tenso corresponde a um conjunto sucessivo de valores de tenso que se repete na mesma
sequncia e no mesmo perodo de tempo.
- 52 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tipos de Ensaios de Fadiga
-
Toro;
Traco - compresso;
Flexo;
Flexo rotativa.
Fig. 47: Ensaios de Fadiga.
Para que o ensaio decorra nas melhores condies importante que o provete se encontre polido e possuir
bom acabamento superficial. Regra geral, o ensaio realizado em cerca de 10 provetes, para cada um dos
diversos nveis de tenso.
Grfico S- N
Os resultados do ensaio de fadiga so geralmente apresentados numa curva Tenso -Nmero de ciclos.
Limite de fadiga ou resistncia fadiga:
Tenso mxima que se pode aplicar a um metal sem lhe provocar fractura por fadiga.
Fig. 48: Grfico S-N.
- 53 -
Materiais e rgos de Mquinas
Para a maioria dos metais, especialmente os no ferrosos, como o alumnio, a curva decrescente. Como
tal, necessrio definir um nmero de ciclos (50 milhes e, em alguns casos, 500 milhes) para obter a
correspondente tenso, que ser chamada de resistncia fadiga.
Factores que influenciam a Resistncia fadiga
O limite de fadiga depende de vrios factores tais como: a composio, a estrutura granular, as condies
de conformao mecnica, o tratamento trmico, etc.
O encruamento dos aos dcteis aumenta o limite de fadiga.
A forma um factor crtico, uma vez que a resistncia fadiga muito afectada pelas descontinuidades nas
peas, como so exemplos os cantos vivos, mudanas bruscas de seco, etc.
O meio ambiente influencia consideravelmente o limite de fadiga, pois a aco corrosiva de um meio qumico
acelera a velocidade de propagao da falha.
O tratamento trmico adequado aumenta a resistncia esttica e o limite de fadiga.
Defeitos superficiais devidos ao polimento (queima superficial de carbono) nos aos, recozimento superficial,
etc., diminuem a resistncia fadiga. Superfcies com maus acabamentos contm irregularidades que, como
se fossem entalhes, aumentam a concentrao de tenses, resultando em tenses residuais que tendem a
diminuir a resistncia fadiga.
Os tratamentos superficiais (niquelagem, cromagem, etc.) diminuem a resistncia fadiga por introduzirem
grandes mudanas nas tenses residuais, alm de conferirem porosidade ao metal, ou seja, tratamentos
superficiais endurecedores podem aumentar a resistncia fadiga.
ENSAIO DE IMPACTO
O ensaio de impacto permite estudar os efeitos das cargas dinmicas. O objectivo do ensaio de choque
determinar o trabalho necessrio para produzir a rotura de um provete de seco conhecida. Quanto menor
for esse trabalho, tanto mais frgil o material que constitui o provete. Esta resistncia pode ser
determinada atravs de vrios ensaios, sendo os mais usados: o martelo em queda livre e o pndulo de
Charpy.
- 54 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fractura Frgil
Fig. 49: Fractura Frgil e Dctil.
As fracturas produzidas por impacto podem ser frgeis ou dcteis. As fracturas frgeis caracterizam-se pelo
seu aspecto cristalino, enquanto as fracturas dcteis apresentam aparncia fibrosa, conforme pode ser
observado na figura anterior.
Os materiais frgeis rompem-se sem nenhuma deformao plstica, de forma brusca. Por isso, esses
materiais no podem ser utilizados em aplicaes nas quais sejam comuns esforos bruscos, tais como em
eixos de mquinas, bielas etc.
Para estas aplicaes so desejveis materiais que tenham capacidade de absorver energia e dissip-la, para
que a ruptura no acontea, ou seja, materiais que apresentem tenacidade. Esta propriedade est
relacionada com a fase plstica dos materiais e por isso so utilizadas ligas metlicas dcteis neste tipo de
aplicao. Porm, mesmo utilizando ligas dcteis, com resistncia suficiente para suportar uma determinada
aplicao, verificou-se na prtica que um material dctil pode romper-se de forma frgil.
Esta caracterstica dos materiais ficou mais evidente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os
equipamentos blicos foram levados a solicitaes crticas de uso, despertando o interesse dos cientistas
pelo assunto.
Factores Influenciam Comportamento Frgil dos Materiais Dcteis
Um material dctil pode romper-se sem deformao plstica aprecivel, ou seja, de maneira frgil, quando
as condies abaixo estiverem presentes:
Velocidade de aplicao da carga suficientemente alta;
Fissura ou entalhe no material;
Temperatura de uso do material suficientemente baixa.
Alguns materiais so afectados pela velocidade alta do choque, sendo designado por sensibilidade
- 55 -
Materiais e rgos de Mquinas
velocidade. A existncia de uma fissura, por menor que seja, muda substancialmente o comportamento do
material dctil. Uma fissura promove concentrao de tenses muito elevadas, o que faz com que a maior
parte da energia produzida pela aco do golpe seja concentra da numa regio localizada da pea, com a
consequente formao da fractura frgil. Esta caracterstica do material dctil, de comportar-se como frgil
devido fissura, frequentemente chamada de sensibilidade ao entalhe.
A temperatura tem um efeito muito acentuado na resistncia dos metais ao choque, ao contrrio do que
ocorre na resistncia esttica.
A energia absorvida por um corpo de prova varia sensivelmente com a temperatura do ensaio. Por outras
palavras podemos dizer, que a existncia de fissuras no material, a baixa temperatura e a alta velocidade de
carregamento constituem os factores bsicos para que ocorra uma fractura do tipo frgil nos materiais
metlicos dcteis.
Descrio do Ensaio de Impacto
O ensaio de impacto consiste em medir a quantidade de energia absorvida por uma amostra do material,
quando submetida aco de um esforo de choque de valor conhecido.
O mtodo mais comum para ensaiar metais, o do golpe desferido por um peso em oscilao. O pndulo
levado a uma certa posio, onde adquire uma energia inicial. Ao cair, ele encontra no seu percurso o corpo
de prova, que se rompe. A sua trajectria continua at certa altura, que corresponde posio final, onde o
pndulo apresenta uma energia final. A diferena entre as energias inicial e final corresponde energia
absorvida pelo material.
Fig. 50: Martelo Pendular.
De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de energia adoptada o joule. Em
mquinas mais antigas, a unidade de energia pode ser dada em kgf m, kgf cm ou kgf mm.
A mquina dotada de uma escala, que indica a posio do pndulo, e calibrada de modo a indicar a
- 56 -
Materiais e rgos de Mquinas
energia potencial.
A frmula para o clculo da energia potencial (Ep):
Ep = m x g x h, onde:
o
m = massa;
g = acelerao da gravidade;
h = altura.
No ensaio de impacto, a massa do martelo e a acelerao da gravidade so conhecidas. A altura inicial
tambm conhecida. A nica varivel desconhecida a altura final, que obtida pelo ensaio. O mostrador
da mquina simplesmente registra a diferena entre a altura inicial e a altura final, aps o rompimento do
corpo de prova, numa escala relacionada com a unidade de medida de energia adoptada.
Corpos de Prova
Nos ensaios de impacto, utilizam-se duas classes de corpos de prova com entalhe: o Charpy e o Izod. H um
tipo especial para ferros fundidos e ligas no ferrosas fundidas sob presso. Esses corpos de prova seguem
especificaes de normas internacionais, baseadas na norma americana E-23 da ASTM.
Os corpos de prova Charpy compreendem trs subtipos (A, B e C), de acordo com a forma do entalhe. A
figura seguinte, mostra as formas e dimenses desses trs tipos de corpos de prova e dos respectivos
entalhes.
Fig. 51: Corpos de Prova.
As diferentes formas de entalhe so necessrias para assegurar que haja a ruptura do corpo de prova,
mesmo nos materiais mais dcteis. Corpos de prova de ferro fundido e ligas no ferrosas fundidas sob
- 57 -
Materiais e rgos de Mquinas
presso no apresentam entalhe.
Fig. 52: Corpos sem entalhe.
A nica diferena entre o ensaio Charpy e o Izod que no Charpy o golpe desferido na face oposta ao
entalhe e no Izod desferido no mesmo lado do entalhe.
Fig. 53: Impacto atravs de martelo.
Mesmo tomando-se todos os cuidados para controlar a realizao do ensaio, os resultados obtidos com
vrios corpos de prova de um mesmo metal so bastante diversos.
Para chegar a concluses fiveis a respeito do material ensaiado, recomendvel fazer o ensaio pelo menos
em trs corpos de prova.
Baixas Temperaturas
Um dos factores que ajudou a derrotar os alemes na Rssia durante a Segunda Guerra Mundial, foi o
rigoroso Inverno russo. Podemos facilmente imaginar um soldado alemo, enfrentando um frio muito
intenso, vendo o rasto do seu blindado romper-se, sem motivo aparente, ou vendo a boca do canho partirse ao dar o primeiro tiro. Isto no necessariamente fico, pode muito bem ter acontecido.
Ao ensaiar os metais ao impacto, verificou-se, que h uma faixa de temperatura relativamente pequena na
qual a energia absorvida pelo corpo de prova cai apreciavelmente.
Esta faixa denominada temperatura de transio. A temperatura de transio aquela em que ocorre uma
mudana no carcter da ruptura do material, passando de dctil a frgil ou vice-versa.
- 58 -
Materiais e rgos de Mquinas
TRATAMENTOS DOS TRMICOS E APLICAES DE AOS DE LIGA
Estudadas as diferentes ligas ferro-carbnicas, bem como os seus principais constituintes, vimos tambm
que os aos conforme os seus elementos de liga que entram na sua composio, apresentam caractersticas
diferentes.
Perante a variedade dos elementos referidos e das diferentes percentagens com que podem entrar na
composio de um ao, para fabricar uma determinada pea, bastaria seleccionar o que melhor se
adaptasse s caractersticas pretendidas e proceder maquinao. Mas, mesmo com a melhor escolha de
ao, h necessidade de durante ou no final da maquinao tratar as peas. Vejamos como exemplos:
Durante os processos de fabrico de determinada pea, esta adquiriu tenses internas;
Uma pea, que quando acabada deve possuir grande dureza, como tal, durante o seu fabrico tem de
ser maquinada;
Um portal em ao simples deve resistir aco oxidante por parte dos agentes atmosfricos.
Ao conjunto das operaes a que se submete uma pea ou um material com a finalidade de lhe alterar as
propriedades mecnicas, fsicas ou qumicas, denomina-se Tratamento.
Existem vrios tipos de tratamentos que so classificados conforme os processos utilizados na sua
realizao:
-
Tratamentos Mecnicos;
Tratamentos Termomecnicos;
Tratamentos Trmicos;
Tratamentos Qumicos;
Tratamentos Superficiais.
Tratamentos Mecnicos
Processos de deformao (a quente ou a frio) de um ao, com a finalidade de lhe melhorar as propriedades
mecnicas graas a uma orientao preferencial das fibras.
Fig. 54: Alterao da forma do gro devido ao tratamento mecnico.
- 59 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tratamentos Trmicos
Tirando proveito do fcil controlo da formao e transformao dos constituintes por este processo, os
materiais so submetidos a ciclos trmicos (aquecimentos e arrefecimentos) perfeitamente controlados.
Altera-se assim a estrutura sem alterar a composio qumica e consequentemente, variam as propriedades
mecnicas.
Tratamentos Termomecnicos
Estes tratamentos consistem na combinao de tratamentos trmicos e mecnicos, que so aplicados em
determinada fase da produo.
Tratamentos Termoqumicos
Neste tipo de processo existe um ciclo trmico como nos tratamentos trmicos, mas feito na presena de
substncias qumicas, que cedem elementos que sero absorvidos pela pelcula superficial da pea a tratar.
Regista-se uma mudana da composio qumica e alterao da estrutura.
Tratamentos Superficiais
Neste caso, feito um depsito de certos elementos qumicos na superfcie da pea a tratar, no lhe
alterando a sua composio qumica. Este tratamento tem por finalidade melhorar as qualidades das
superfcies das peas, principalmente a resistncia corroso.
TRATAMENTOS TRMICOS
Alguns metais e ligas metlicas no podem ser utilizados logo aps a sua elaborao, uma vez que no tm
todas as propriedades necessrias para resistirem a esforos quando em servio ou porque no permitem a
fabricao imediata das prprias peas. Como tal, impe-se a aplicao de um tratamentoaos requisitos
pretendidos.
O ciclo de um Tratamento Trmico composto por 3 fases:
Aquecimento;
Estgio (tempo de manuteno temperatura de transformao);
Arrefecimento.
- 60 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 55: Ciclo de um Tratamento Trmico.
Os tipos de Tratamentos Trmicos so:
-
Tmpera (Quenching);
Revenido (Tempering);
Recozido (Annealing).
Tmpera
A Tmpera tem como objectivo, aumentar a dureza do material bem como o valor da tenso de rotura do
mesmo.
Procedimento
Para a realizao de uma tmpera, temos que aquecer toda a massa metlica de uma pea a
tratar a uma temperatura um pouco superior ao ponto de transformao;
Depois, arrefec-la rapidamente por imerso num fludo previamente preparado.
O ciclo trmico de uma Tmpera, composto por:
Aquecimento: Feito lentamente, at temperatura de tmpera (700C);
Estgio: Curto (5 a 10 minutos);
Arrefecimento: Feito rpido, at temperatura ambiente.
So vrios os factores que influenciam a Tmpera:
Composio qumica;
Tamanho do gro;
Tamanho das peas;
Meio de arrefecimento.
- 61 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tabela 7: Influncia do tamanho do gro.
Tabela 8: Velocidade de arrefecimento, em vares de ao aquecidos at 840C, em gua.
Tabela 9: Velocidade de arrefecimento, em vares de ao aquecidos at 840C, em leo.
Muitas vezes, as peas temperadas no apresentam as caractersticas desejadas, ou seja so defeituosas.
Os principais defeitos da Tmpera so:
a) Dureza Insuficiente
A dureza insuficiente resulta de vrios factores, como sejam: aquecimento incorrecto e ou arrefecimento
muito lento.
b) Deformaes e Fissuras
Geralmente as deformaes ou mesmo o aparecimento de fissuras, so devidas a aquecimentos no
uniformes ou arrefecimentos muito violentos.
A tmpera ao produzir uma modificao na estrutura do ao, vai alterar as suas propriedades mecnicas.
- 62 -
Materiais e rgos de Mquinas
A Tmpera de um modo geral, provoca os seguintes efeitos:
Aumento da dureza;
Aumento da resistncia traco;
Aumento do limite elstico;
Diminuio da resistncia ao choque;
Diminuio do alongamento.
As tenses internas provocadas pela tmpera conferem estrutura do material alguma fragilidade. Teremos
ento que eliminar as tenses internas. Aps a tmpera, aplica-se obrigatoriamente um outro tratamento
trmico ao material, designado por Revenido.
Quando pretendermos obter uma maior dureza superfcie do material a tratar, temos que efectuar uma
Tmpera Superficial.
Aplicao (Tmpera Superficial):
Tratamento de endurecimento superficial muitas vezes usado em ferramentas e elementos de
construo;
Tmpera feita apenas superfcie da pea;
O interior desta, bem como as respectivas propriedades no so afectados.
O ciclo trmico da Tmpera Superficial, composto por:
-
Aquecimento: Feito local da superfcie das peas, previamente temperadas e revenidas, at
temperaturas elevadas;
Estgio: Curto;
Arrefecimento: Rpido.
Conforme o tipo de aquecimento utilizado, podemos distinguir trs tipos:
Chama Directa:
o
Induo:
o
Feito aquecimento por meio de uma chama oxiacetilnica;
Aquecimento por meio de uma corrente de alta-frequncia induzida na pea a temperar;
Imerso:
o
Aquecimento por meio de uma imerso de curta durao num banho de metais ou de sais a
alta temperatura.
- 63 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 56: Chama directa.
Legenda:
1: Aquecimento por chama;
2: Arrefecimento por jacto de gua;
3: Pea temperada.
Revenido
um Tratamento Trmico aplicado a metais temperados, com o intuito de eliminar as tenses internas
originadas pela tmpera, conferindo s peas melhor tenacidade e resilincia possvel, ou seja, adequar as
caractersticas sua utilizao.
Procedimento
Para efectuar um revenido teremos de aquecer toda a massa metlica, a uma temperatura sempre
inferior ao ponto de transformao;
Seguido de um arrefecimento lento.
O ciclo trmico de um Revenido, composto por:
-
Aquecimento: Feito lentamente, at uma temperatura sempre inferior ao ponto de transformao;
Estgio: Longo (para homogeneizao da estrutura);
Arrefecimento: Feito lento, at temperatura ambiente.
Este tratamento trmico tem como aplicaes especiais: ferramentas (instrumentos de medida), que devam
apresentar uma grande preciso dimensional, so revenidas para evitar que se produzam variaes
dimensionais temperatura ambiente aps um certo tempo.
Este Revenido, quando muito longo e efectuado a temperaturas at 200C, designado por:
Envelhecimento Artificial.
- 64 -
Materiais e rgos de Mquinas
Recozimento
Os Tratamentos Trmicos provocam variaes de volume e deformaes, devidas principalmente a dilatao
ou concentrao trmica e a Modificao dos constituintes.
Fig. 57: Deformaes devidas a desiguais arrefecimentos.
Fig. 58: Esforos no final do arrefecimento.
O Recozimento ou Recozido tem como objectivo eliminar tenses internas, homogeneizar a estrutura do ao
e criar condies propcias para o fabrico das peas por maquinao.
Procedimento:
O recozimento consiste em aquecer um ao a uma temperatura geralmente superior ao ponto de
transformao;
Deixando-o depois arrefecer lentamente, tornando o metal:
o
Mais malevel e resistir melhor a esforos bruscos ou alternados e a choques, ou seja,
homogeneizao do material.
Ciclo trmico de um Recozimento, composto por:
-
Aquecimento: Lento, at temperaturas elevadas;
Estgio: Curto;
Arrefecimento: Lento.
- 65 -
Materiais e rgos de Mquinas
Nas figuras seguintes podemos observar: Microestruturas analisadas antes e aps ser realizado um
Recozimento a 900C.
Ferro Fundido
Fig. 59: Ferro Fundido.
Fig. 60: Ferro Fundido Recozido.
Ao Inox
Fig. 61: Ao Inox.
Fig. 62: Ao Inox Recozido (ampliaes 50 X).
- 66 -
Materiais e rgos de Mquinas
MATERIAIS NO FERROSOS PARA AERONAVES
CARACTERSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAO
METAIS NO FERROSOS
Os metais no ferrosos so aqueles que no contm ferro na sua constituio ou se o contm, a sua
percentagem to pequena que no constitui elemento estrutural.
Os metais no ferrosos raramente so empregues no seu estado puro devido ao elevado custo de obteno
quer, pela sua fraca resistncia mecnica. Fabricam-se ento as ligas no ferrosas, que em geral so mais
caras que as ligas ferrosas, mas cobrem no entanto importantes propriedades que nem sempre so
apresentadas pelas anteriores:
-
Resistncia corroso;
Alta condutividade;
Baixa densidade;
Resistncia a altas temperaturas.
As ligas metlicas no ferrosas mais utilizadas so: o Alumnio, o Magnsio e o Titnio, a partir dos quais se
fabricam as chamadas Ligas leves, muito utilizadas em Aeronutica.
LIGAS DE ALUMNIO
O processo percorrido at conhecermos o alumnio na sua forma actual foi longo. Apesar de ser um dos
mais abundantes do planeta, o metal puro no encontrado naturalmente. Foi descoberto em 1827, pelo
alemo Woehler, que conseguiu isol-lo sob uma forma de p bastante impura, ao tratar o cloreto de
alumnio pelo potssio. Em 1821 foi descoberto um jazigo de hidrato de alumnio impuro, perto da aldeia de
Baux, em Frana. Considerado como um mineral pobre, o alumnio s seria explorado industrialmente a
partir de 1859.
O procedimento que permitiu a elaborao industrial deste metal foi descoberto em 1854. Hoje em dia o
mineral serve como base s ligas para fundio, e tem o nome de bauxite, por advir da aldeia francesa de
Baux. A sua obteno feita a partir da bauxita, um minrio que pode ser encontrado em trs principais
grupos climticos: o Mediterrneo, o Tropical e o Subtropical.
- 67 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 63: Minrio.
As fases para obteno do alumnio, so: a obteno do minrio, refinaria e reduo.
Fig. 64: Refinaria.
Para obter alumnio so necessrias cerca de 5 toneladas de Bauxite para produzir 2 toneladas de Alumina, e
2 toneladas de Alumina para produzir 1 toneladas de Alumnio pelo processo de Reduo.
Fig. 65: Diagrama de uma clula de reduo.
O alumnio possui uma combinao de propriedades que o torna um material muito til em engenharia, tais
como:
Densidade baixa (2.70 g/cm3), muito utilizado em produtos manufacturados de transporte;
Boa resistncia corroso, devido estabilidade do filme de xido que se forma na sua superfcie;
Muito embora o alumnio puro apresente baixa resistncia mecnica, as ligas de alumnio podem
apresentar resistncias at cerca de 690 MPa;
No txico, sendo extensivamente usado em recipientes e embalagens para alimentos;
- 68 -
Materiais e rgos de Mquinas
O alumnio muito usado na indstria elctrica devido s suas boas propriedades elctricas;
O preo relativamente baixo do alumnio, aliado s muitas propriedades teis, fazem com que este metal
tenha grande importncia industrial.
A produo de alumnio pode ser feita atravs de vrios processos, sendo os mais utilizados:
Laminagem;
Estampagem;
Extruso;
Forjamento;
Fundio.
A deformao a frio confere encruamento ao alumnio, ou seja, aumenta os limites de resistncia traco e
ao escoamento com diminuio do alongamento. Este processo produz um metal com bom acabamento
superficial e preciso controle dimensional.
De todos materiais de um Boing 747, incluindo ligas metlicas fundidas, forjadas, extrudidas e laminadas,
surpreendente identificar uma liga de alumnio tambm usada em bicicletas. Como exemplos de ligas de
alumnio muito usadas na indstria, temos a liga 2014-T6, que tem uma resistncia mecnica de 49 kg/mm
e a liga 6061-T6, que tem uma resistncia 31,5 kg/mm.
Fig. 66: Liga Al-6061.
Fig. 67: Liga Al-6061 T6.
Propriedades
Propriedades Mecnicas:
Tenso de Rotura: Alumnio puro (Al) (13.000 psi, em liga pode atingir 100.000 psi);
Modulo de Young (Al), 70 GPa, cerca de 1/3 do ao;
Baixa tenacidade;
Bastante dctil (no estado puro);
- 69 -
Materiais e rgos de Mquinas
Quando no estado laminado apresenta-se macio e elstico;
Elevada relao Resistncia / Peso;
Fcil de maquinar;
Boa soldabilidade (em algumas ligas).
Propriedades Fsicas:
Cor, branca prateada;
Baixa densidade 2,7 (sensivelmente 1/3 do ao);
Baixo Ponto de Fuso (650C);
Boa condutividade, elctrica e trmica;
Excelente reflector da energia radiante, o melhor dos metais;
Estrutura cristalina (C.F.C.);
Metal no magntico.
Propriedades Qumicas:
Excelente resistncia corroso, devido ao recobrimento superficial por uma fina camada de xidos, a
qual evita a oxidao do interior do metal. S atacvel por cidos inorgnicos, cido clordrico e sulfrico,
mantendo-se inaltervel ao ar e mesmo no interior da gua;
No atacvel quimicamente por substncias orgnicas, como exemplos: leos, gorduras, etc.;
CLAD, uma fina camada de alumnio puro depositado na superfcie de outras ligas durante o processo
de laminagem. O objectivo desta operao combinar a alta resistncia do ncleo com a elevada resistncia
corroso do alumnio puro na superfcie.
- 70 -
Materiais e rgos de Mquinas
Ligas de Alumnio para Fundio
Este tipo de ligas tm vindo a ser desenvolvidas no sentido de melhorar quer as propriedades relacionadas
com o vazamento, a fluidez e a capacidade de alimentao do molde, quer propriedades como a resistncia
mecnica, a ductilidade e a resistncia corroso.
A principal funo das ligas de alumnio aumentar a resistncia mecnica sem prejudicar as outras
propriedades, assim, novas ligas tm sido desenvolvidas combinando as propriedades adequadas a
aplicaes especficas.
Fig. 68: Vazamento de liga de alumnio.
As composies destas ligas so muito diferentes das composies das ligas de alumnio para trabalho
mecnico. As ligas de alumnio para fundio so classificadas nos Estados Unidos da Amrica de acordo
com a nomenclatura da Aluminum Association.
As ligas de alumnio para fundio esto agrupadas segundo os principais elementos de liga que contm,
usando-se um nmero de quatro dgitos com um ponto entre os ltimos dois. Existem vrios sistemas de
designao das ligas de alumnio.
Aluminium Association
Alumnio comercial puro (99% min)
1XXX
Cobre
2XXX
Mangans
3XXX
Silcio
4XXX
Magnsio
5XXX
Magnsio e Silcio
6XXX
Zinco
7XXX
Outros
8XXX
Tabela 10: Sistema de Designao.
- 71 -
Materiais e rgos de Mquinas
O sistema Aluminium Association o mais comum, de 4 dgitos, baseado no principal elemento de liga:
Interpretao:
Alumnio puro 1 X X X
X X -Teor de Al alm dos 99%
X Grau de controlo sobre os limites de impureza
Outras ligas de Alumnio
XXXX
X -Identifica o principal elemento de liga;
X -Identifica a modificao da liga principal;
X X -Identifica a liga.
Sufixos:
X X X X F Sem tratamento;
X X X X W Endurecido por envelhecimento;
X X X X O Recozido;
X X X X H Endurecido por deformao a frio;
X X X X T Tratado termicamente.
Exemplos:
Liga 3003 H 38
- Liga com Mangans como principal elemento, submetida a deformao a frio, totalmente endurecida e
estabilizada com tratamento de baixa tmpera.
- 72 -
Materiais e rgos de Mquinas
Elementos de liga fundamentais
Srie
Alumnio, 99.00% mnimo
1xx.x
Cobre
2xx.x
Silcio, com adies de cobre e/ou magnsio
3xx.x
Silcio
4xx.x
Magnsio
5xx.x
Zinco
7xx.x
Estanho
8xx.x
Outros elementos
9xx.x
Srie livre
6xx.x
Tabela 11: Elementos de liga para Fundio.
Os trs principais processos de fundio das ligas de alumnio so: (3)
-
Fundio em molde de areia;
Fundio em molde permanente;
Fundio injectada.
A fundio em molde de areia o processo de vazamento mais simples e mais verstil das ligas de alumnio.
geralmente usado na produo de: pequenas quantidades de peas fundidas idnticas, peas vazadas
complexas, com interiores complicados, peas grandes vazadas e estruturas vazadas.
Cada elemento de liga influencia de forma diferenciada na liga de alumnio:
Cobre (Cu):
Em teores entre 1 e 4%, tambm adicionado s ligas de alumnio para fundio, para promover o
aumento da resistncia mecnica, particularmente a temperaturas elevadas;
A primeira e mais usada liga de alumnio a que contm 4 a 10% cobre;
O cobre melhora substancialmente a dureza nos fundidos de liga de alumnio com e sem
tratamento trmico;
Ligas com 4 a 6% cobre so facilmente tratveis termicamente;
Em geral, o cobre melhora a resistncia corroso, mas tambm diminui a fluidez.
Chumbo (Pb):
usado nas ligas de alumnio para melhorar a maquinabilidade.
- 73 -
Materiais e rgos de Mquinas
Estanho (Sn):
Melhora as caractersticas anti-frico, requisito extremamente necessrio para o fabrico de
chumaceiras;
As ligas de alumnio podem conter at 25% Sn;
Este elemento pode ainda melhorar a maquinabilidade dos fundidos.
Ferro (Fe):
Diminui a tendncia para a liga se agarrar em moldes permanentes;
Todavia, o aumento do teor de ferro diminui substancialmente a ductilidade;
O ferro reage, e forma vrias fases insolveis nas ligas de alumnio, estas fases so as
responsveis pelo endurecimento das ligas.
Magnsio (Mg):
Em quantidades de 0.3 a 1 %, adicionado para aumentar a resistncia mecnica, principalmente
atravs do tratamento trmico de endurecimento por precipitao;
o elemento chave para o aumento da dureza e da resistncia mecnica nas ligas tratveis
termicamente de Al-Si.
As ligas binrias de Al-Mg:
So largamente usadas em aplicaes que requerem um aspecto superficial brilhante e resistncia
corroso, assim como uma boa relao entre resistncia mecnica e ductilidade;
As composies destas ligas varia entre 4 a 10%, acima de 7% a liga tratvel termicamente.
Mangans (Mn):
considerado normalmente uma impureza nas composies do fundido,
um elemento de extrema importncia em ligas brutas;
Na ausncia de endurecimento por deformao plstica, o mangans no oferece nenhum efeito
benfico nas ligas de alumnio;
Pode tambm ser empregue de modo a alterar a resposta ao acabamento qumico e anodizao.
Nquel (Ni):
usado com o cobre de modo a melhorar as propriedades a altas temperaturas;
Tambm reduz o coeficiente de expanso trmica.
- 74 -
Materiais e rgos de Mquinas
Titnio (Ti):
extensamente usado para refinamento de gro das ligas de alumnio, por vezes em combinao
com pequenas quantidades de boro;
muitas vezes empregue em concentraes superiores ao necessrio para o refinamento de gro
de modo a reduzir a tendncia para a fissurao.
Zinco (Zn):
Por si s, em adio s ligas de alumnio no trs grandes benefcios, no entanto quando
acompanhado por adies de cobre e ou magnsio, melhora as prestaes;
As ligas podem ser tratadas termicamente ou envelhecidas naturalmente.
Caracterizao das Ligas de Alumnio
As ligas do sistema Al-Cu, conhecidas como: Ligas da srie 2XXX (trabalhadas) e 2XX.X (fundidas). Na
classificao da Aluminum Association so as ligas de alumnio de desenvolvimento mais antigo, sendo que o
seu surgimento data do incio do sculo XX, quando Alfred Wilm na Alemanha descobriu o fenmeno de
endurecimento por precipitao. Estas ligas so conhecidas como duralumnio, e entre elas, a liga a 2017 a
mais antiga e tambm a mais conhecida;
AL 2017 uma liga que contm 4 % de cobre, 0,5 % de magnsio e 0,7 % de Mangans, nas quais a
simples introduo desses elementos de liga j eleva a resistncia traco de 9,1 kg/mm2 (alumnio
comercialmente puro) para 18,2 kg/mm2. O tratamento trmico de envelhecimento (endurecimento por
precipitao) por tempo e temperatura controlados, ainda permite aumentar ainda mais a resistncia
traco para cerca de: 43 kg/mm2.
O grupo de ligas Al-Cu pode ainda ser subdividido em dois grupos principais: As ligas Al-Cu com teores de
magnsio relativamente baixos, como a 2017 mencionada e outras como a 2025 e a 2219, e as ligas Al-Cu
com teores de magnsio relativamente altos (tambm denominadas Al-Cu-Mg), superiores a 1%, como a
2024 (1,5 % de magnsio) e a 2618 (1,6 % de Mg).
As ligas Al-Cu(-Mg) podem apresentar diferentes tipos de elementos de liga adicionados com diversas
finalidades, os quais podem levar formao de diversas fases diferentes. Assim, a liga 2024 possui
mangans em teores relativamente altos, a liga 2011 no apresenta magnsio e mangans em teores
elevados, mas sim ferro e silcio.
As ligas Al-Cu(-Mg), comparativamente com outras Ligas Alumnio apresenta como vantagem a elevada
resistncia mecnica aps tratamento trmico de endurecimento. Como desvantagens, apresenta uma
resistncia corroso relativamente baixa e a conformabilidade limitada, sendo pouco adequadas a
- 75 -
Materiais e rgos de Mquinas
processos com elevada deformao, como a extruso. A soldabilidade igualmente restrita. Em geral so
soldadas somente por processos de resistncia elctrica (TIG).
No Anexo B Materiais No Ferrosos (tabelas 1,2,3 e 4), encontram-se vrias ligas fundidas e
trabalhadas, com as respectivas suas propriedades mecnicas.
OUTRAS LIGAS
Titnio
Desde 1950 o Titnio e as suas ligas tm sido o principal material para aplicaes aeroespaciais, indstria
qumica e energia. A alta resistncia especfica, excelentes propriedades mecnicas, alta resistncia
corroso e a temperaturas altas em servio, faz do titnio um excelente material para aplicaes crticas. O
alto custo do processamento do metal ainda limita o seu uso.
Propriedades Fsicas:
Cor, cinzento-escuro (branco prateado);
Baixa Densidade (4,51, cerca de 60% do ao);
Baixa condutibilidade Trmica;
Ponto de Fuso, elevado: 1.730C (maior do que qualquer ao);
Ponto de Transformao: 885C
Baixo coeficiente de expanso trmica (muito inferior ao ao e alumnio);
Pureza: Influi na dureza e biocompatibilidade;
Metal no magntico;
Suporta facilmente temperaturas de servio entre os (-299C e os 549C), sem alterao das suas
propriedades mecnicas e qumicas. No entanto, acima dos 540C o titnio e suas ligas sofrem fragilizao
na presena oxignio e azoto.
- 76 -
Materiais e rgos de Mquinas
Propriedades Mecnicas:
A mais elevada relao Resistncia / Peso;
Resistncia mecnica pouco elevada (no estado puro 50 a 80 Kpsi);
Possui a mais elevada Resistncia / Peso;
Grande ductilidade;
Termicamente estvel;
A adio de elementos de liga ao titnio permite obter ligas de elevada resistncia mecnica (120 a 230
Kpsi), mantendo uma excelente resistncia corroso;
Deficiente resistncia frico;
Susceptvel de tratamento trmico.
Propriedades Qumicas:
Excelente resistncia corroso;
Elevada reactividade com forte afinidade para o oxignio formando com este temperatura ambiente
uma camada superficial de xidos (TiO2) estveis, os quais conferem ao metal uma excelente resistncia
corroso;
Resiste bem a todos os ambientes corrosivos, como sejam: ambientes cidos minerais e clordricos;
M soldabilidade.
A elevada resistncia corroso e sua resistncia mxima traco, fazem do titnio um elemento
muito solicitado nas vrias tecnologias. A sua resistncia mxima traco varia de: 480 MPa de algumas
variedades de titnio comercial, a 1100 MPa de produtos de ligas de alumnio estrutural e acima de 725 MPa
em ligas especiais usadas em cabos e molas.
- 77 -
Materiais e rgos de Mquinas
Desvantagens:
O seu custo;
Dificuldade de fabricar;
Baixa resistncia a indentao e ao risco.
O Titnio comercialmente puro contm de 98,6 a 99,5% de Ti, so utilizados:
Pela resistncia corroso;
Possuir menor resistncia em servio.
Vantagens Ti puro (relativamente a outras Ligas de Ti):
Maior resistncia corroso e eroso;
O filme de xido formado pelo contacto com o ar temperatura ambiente muito mais fino e
condutivo;
A superfcie muito dura quando polida, limita a adeso de substncias e outros materiais;
Ti comercialmente puro: Ti grau 1,2,3,4,5,...8.
Ti - 0,3Mo - 0,8Ni (ASTM grade 12 or UNS
R533400), possuem aplicaes similares s do Ti puro e ainda
melhor resistncia mecnica, mas com menor resistncia corroso do que as ligas Ti-Al.
Para fabricao de produtos de titnio so utilizados processos NET SHAPE, como:
Metalurgia do p- Powder Metallurgy;
Tixocomformao- Superplastic Forming;
Forjamento de preciso - Precision forming;
Microfuso /ou cera perdida - Investiment Casting or Precision Casting;
Quase 70% de todo o Ti forjado e sintetizado e a liga mais utilizada Ti-6Al-4 V.
Na composio de titnio existem outros elementos. As principais impurezas so: Fe, Si, O2 e C.
Minrios utilizados:
-
Rutilo ( 99% de TiO);
Ilmenite ( FeO + TiO2).
% Ti
99,9
99,8
99,6
99,5
99,4
Dureza
100
145
165
195
225
Tabela 12: Influncia das impurezas na Dureza.
- 78 -
Materiais e rgos de Mquinas
Os principais elementos de liga, so: Alumnio, Estanho, Vandio, Cobre e Magnsio:
Nomenclatura: (UNS) United Numbering System
R5ABC:
o
R5 - ligas de Titnio;
A - % do maior elemento;
B -% do 2 maior elemento;
C - % do 3 maior elemento.
Os tratamentos trmicos caracterizam-se por:
Recozimento para Recristalizao aps trabalho mecnico (700 a 800 C);
Temperatura de Recristalizao 500 C;
Tmpera, Revenido e Envelhecimento.
Aps um tratamento trmico poderemos obter alteraes significativas, tais como:
Resistncia a Traco: 60kgf/mm2;
Aps Recozimento: 80kgf/mm2.
Como exemplos de produtos comerciais e aplicao o titnio permite uma vasta utilizao, como poderemos
ver nas figuras seguintes.
Fig. 69: Chapas laminadas.
Fig. 71: Indstria automvel.
- 79 -
Fig. 70: Perfis.
Fig. 72: Relojoaria.
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 73: Produtos da Metalurgia do p.
Cobre
O cobre um metal de cor avermelhada e depois da prata, o metal de melhor condutibilidade trmica
Devido sua elevada densidade, a aplicao do cobre em estruturas ou outros componentes limitada,
contudo, sempre que o objectivo seja garantir uma elevada e fivel condutibilidade elctrica ou trmica, o
cobre um dos metais seleccionados.
O cobre e suas ligas so o terceiro metal mais utilizado no mundo, perdendo apenas para os aos e para o
alumnio e suas ligas.
O Cobre tem como principais caractersticas:
As elevadas condutividades elctrica e trmica;
Boa resistncia corroso e facilidade de fabricao, aliadas a elevadas resistncias mecnica e
fadiga.
Massa Volmica de 8,94 g/cm (um pouco acima da do ao);
A temperatura de fuso de 1.083 C.
Fig. 74: Produo Electroltica.
- 80 -
Materiais e rgos de Mquinas
Existem vrios tipos de liga de cobre, que so adicionados ao cobre com o intuito de melhorar a sua
resistncia, a ductilidade e a estabilidade trmica, sem causar prejuzos formabilidade, condutividade
elctrica e trmica e ainda resistncia corroso caractersticos do cobre.
As ligas de cobre apresentam excelente ductilidade a quente e a frio, ainda que um pouco inferiores s do
metal puro.
As grandes ligas de cobre so divididas nos seguintes grupos:(6)
-
A Cobre comercialmente puro;
Ligas de alto teor de cobre;
Lates;
Bronzes;
Ligas de Cobre - nquel;
Ligas de Cobre nquel - zinco.
As ligas de cobre de maior aplicabilidade so:
Lato (cobre, zinco e outros);
Bronze (Cobre e estanho);
Cobre-Alumnio;
Cobre-Magnsio;
Cobre-Slicio;
Cobre-Berlio.
As ligas de cobre podem ser encontradas como produtos trabalhados mecanicamente, fundidos e metalurgia
do p.
Entre os produtos trabalhados esto:
Os arames, planos (placas, chapas, tiras e folhas), tubos, fio -mquinas, perfis extrudidos e forjados.
Os produtos fundidos podem ser produzidos por vrios mtodos, tais como em areia, contnua, centrfuga,
sob presso, cera perdida, gesso e coquilha.
Fig. 75: Bobines.
Fig. 76: Tubos.
- 81 -
Materiais e rgos de Mquinas
O sistema de classificao unificado do UNS divide o cobre em dois tipos:
-
Ligas trabalhadas;
Ligas fundidas.
No Anexo B Materiais No Ferrosos (tabelas 5 e 6), encontram-se vrias ligas de cobre fundidas e
trabalhadas com a respectiva classificao UNS e composio.
Aplicao
O Cobre e suas ligas tm aplicaes nos mais diversos sectores: Construo civil, elctrica, automobilstica,
arquitectura, electro-electrnica, mecnica, objectos decorativos, construo naval, entre outras.
Fig. 77: Moedas.
Fig. 78: Bobines.
Magnsio
O magnsio, um metal branco prateado e o mais leve que existe, cuja densidade apenas 2/3 do
alumnio. Devido ao seu baixo peso, superior maquinabilidade e facilidade de fundio, o magnsio e suas
ligas so usadas em muitas aplicaes, como por exemplo: Partes de automveis, acessrios desportivos,
equipamento aeroespacial e muitos outros.
Fig. 79: Magnsio em bruto.
- 82 -
Materiais e rgos de Mquinas
Propriedades Fsicas:
Cor, cinza prateado;
Densidade: 1,74 (2/3 do alumnio);
Ponto de Fuso: 651C;
Estrutura Cristalina: HC (hexagonal compacta);
Excelente condutibilidade trmica;
Boa condutibilidade elctrica, mas inferior ao alumnio e cobre;
No magntico.
Propriedades Mecnicas:
Elevada relao, resistncia traco / peso;
Tenso de Cedncia 8kgf/mm2 para peas vazadas fundio e 27 kgf/mm2 para peas forjadas;
Boa estabilidade dimensional em meios corrosivos (hidrocarbonetos e alcalinos), etc);
Boas caractersticas de amortecimentos e vibraes;
Baixa ductilidade, a qual pode ser melhorada com a temperatura;
M moldabilidade temperatura ambiente, tornando-se moldvel acima dos 200C;
Baixa tenacidade, a qual pode ser melhorada a quente;
Facilmente maquinvel, requerendo precaues especiais devido sua inflamibilidade.
Propriedades Qumicas:
Boa resistncia corroso, mas menos resistente do que o alumnio, devido a ter uma camada
protectora menor;
Boa resistncia a solues alcalinas;
- 83 -
Materiais e rgos de Mquinas
soldvel;
Fraca resistncia corroso em gua salgada, sendo por isso utilizado como nodo de sacrifcio na
proteco catdica;
Sofre corroso galvnica em contacto com outros metais.
Precaues Especiais:
O Ponto de Fuso do Magnsio praticamente igual ao do alumnio enquanto que o seu ponto de
ebulio (sob presso de uma atmosfera) muitssimo mais baixo;
Este facto, aliado Alta Reactividade do Magnsio com o Oxignio, faz com que a tcnica de
fundio do magnsio e suas ligas seja realizada com cuidados de Segurana.
As ligas de magnsio apresentaram no passado dois problemas que limitaram o seu uso. A corroso e perigo
de incndio. O problema foi resolvido atravs da optimizao da composio das ligas e da tcnica de
fundio, que consiste principalmente em se controlar a contaminao por ferro e os teores residuais de
cobre e nquel. O problema da oxidao violenta foi solucionado atravs da fuso sobre escrias protectoras
e o uso de inibidores especiais na atmosfera do forno.
As peas fundidas em ligas de magnsio so caracterizadas por:
Elevada relao, resistncia mecnica / peso;
Boa maquinabilidade;
Estabilidade dimensional.
As ligas de magnsio para fundio, embora tenham densidade menor que as ligas de alumnio, podem
alcanar resistncia mecnica semelhante atravs de um tratamento trmico.
As ligas de magnsio para fundio so divididas em 4 Grupos:
-
O primeiro grupo -
baseado no sistema binrio de Mg-Al e pode ser subdividido em ligas
contendo ou no Zn como outro elemento de liga;
-
O segundo grupo - baseado no sistema binrio Mg-Zn;
O terceiro e quarto grupos - so baseados nos sistemas binrios Mg-Metais de terras raras e MgTh respectivamente;
Estes dois ltimos grupos: so caracterizados pela sua resistncia mecnica a temperaturas
elevadas.
- 84 -
Materiais e rgos de Mquinas
O sistema de designao das ligas foi standardizado pela ASTM: American Society for Testing Materials).
Neste sistema as duas primeiras letras indicam os elementos de liga principais de acordo com o seguinte
cdigo:
A Alumnio
H Trio
Q Prata
B Bismuto
K Zircnio
R Crmio
C Cobre
L Berlio
S Silcio
D Cdmio
M Mangans
T Estanho
E Terras Raras
N Nquel
Z Zinco
F Ferro
P Chumbo
Tabela 13: Nomenclatura do Magnsio.
Identificao: Liga AZ81A-T4
A primeira letra indica:
o
O elemento de liga que se encontra em mais alto teor;
As duas letras so seguidas de nmeros que indicam:
o
As composies nominais (% em peso) dos principais elementos de liga.
As letras X, etc, no final, referem-se a variaes da composio nominal.
A ltima parte indica o tratamento trmico e/ou mecnico efectuado liga:
o
F No tratado;
O Recozido;
H10 e H11 Levemente Encruado;
H23, H24, H26 Encruado e parcialmente recozido;
T4 Tratamento trmico de Solubilizao;
T5 Envelhecido artificialmente;
T6 Tratamento trmico de Solubilizao e envelhecido artificialmente (T4 e T5).
A liga constituda por:
Alumnio e Zinco, com: 8 e 1% respectivamente;
Foi realizado um tratamento trmico de: Solubilizao.
As ligas de magnsio podem ser fundidas por qualquer dos mtodos conhecidos. No entanto, os mtodos
de: Fundio em areia, em molde permanente por gravidade e sob presso, representam a quase totalidade
da tonelagem fundida.
- 85 -
Materiais e rgos de Mquinas
As peas de grande porte sero normalmente fundidas em moldes de areia seca. As pequenas peas
podero ser vazadas em moldes de areia hmida, contendo inibidores especiais.
Durante a modelao o Magnsio pode sofrer 2 tipos de contraco de solidificao:
Elevada Contraco Slida:
o
Linear, da ordem de 1,8%, esta dever ser considerada ao confeccionar os modelos e
placas de moldagem;
Contraco Volumtrica:
o
Dever
ser
contrabalanada
por
adequado
dimensionamento
localizao
dos
alimentadores moldagem.
Aplicaes
So vrios os exemplos de aplicao deste metal como poderemos observar de seguida:
Peas fundidas com boa combinao de resistncia mecnica e alongamento;
AZ63A Peas fundidas em areia em geral, com boa resistncia mecnica, ductilidade e tenacidade;
AZ81A Peas fundidas em areia ou molde permanente com boa resistncia mecnica e excelente
ductilidade;
AZ91A, AZ91B, AZ91C e AZ92A Peas fundidas com elevado limite de resistncia e limite de
escoamento.
HZ32A Liga que suporta, mais do que qualquer outra liga base de magnsio, elevadas solicitaes
mecnicas a alta temperatura durante tempo prolongado;
uma liga com mdia resistncia mecnica, para ser utilizada at temperaturas de 260C.
Aplicaes prticas (Ligas Mg-Al, Mg-Al-Zn e Mg-Zn):
Equipamentos de Manuseamento e transporte: carros manuais, ps, transportadores e equipamentos de
fundio;
Ferramentas Portteis: furadores manuais, serras manuais, martelos, lixadeiras;
Mquinas Industriais: peas que operem a velocidades elevadas em mquinas txteis e de impresso;
Veculos: Jantes, blocos de motores, tampas;
Indstria Aeronutica: Rodas, colectores de admisso, peas estruturais de aeronaves;
Diversos: peas de maletas, escadas, corpos de mquinas fotogrficas.
- 86 -
Materiais e rgos de Mquinas
Aplicaes prticas (Ligas Mg-MTR e Mg-Th):
A Indstria Aeronutica principalmente: Peas para motores, compressores, etc...
Fig. 80: Jantes de automvel fabricadas por injeco Liga AM60.
Fig. 81: AZ91E.
Fig. 82: WE43A.
Nas figuras 81 e 82, podemos observar os componentes do sistema de transmisso de um helicptero.
TRATAMENTOS TRMICOS E APLICAES DE AOS DE LIGA
A metalurgia do alumnio e suas ligas permite uma vasta gama de tratamentos trmicos de modo a obter a
combinaes de propriedades mecnicas e fsicas desejadas.
Os Tipos de Tratamentos mais utilizados:
-
Solubilizao (ligas 3xx.x e 7xx.x);
Tmpera (algumas 2xx.x, 3xx.x, 4xx.x e 5xx.x);
Precipitao/Envelhecimento (ligas 3xx.x e 5xx.x);
Recozimento (geral).
A velocidade de arrefecimento um aspecto importante no resultado final do tratamento trmico. Em certos
casos, se a velocidade de arrefecimento da pea fundida no molde for suficientemente rpida, pode obter-se
uma liga para tratamento trmico no estado de soluo slida Sobressaturada.
- 87 -
Materiais e rgos de Mquinas
Deste modo, as etapas de Solubilizao e Tmpera podem ser eliminadas no endurecimento por precipitao
de peas fundidas, sendo apenas necessrio fazer o Envelhecimento aps a pea ter sido removida do
molde.
Aplicao
Um bom exemplo de aplicao deste tipo de tratamento trmico:
a produo de pistes de automveis endurecidos por precipitao;
A designao deste tratamento trmico T5.
Os fundidos em alumnio economicamente vivel em muitas aplicaes, so usados:
Na indstria aeroespacial, automvel, construo de maquinaria, instrumentos, estruturas, utenslios de
cozinha e um sem nmero de outras aplicaes.
Fig. 83: Travo aerodinmico F16.
Fig. 84: Componentes do sistema de combusto Space Shuttle.
RECOZIMENTO
O Recozimento um processo trmico que possui diversos objectivos. No entanto, os mais significativos
so:
Remover as tenses devidas aos tratamentos mecnicos a frio ou a quente;
Diminuir a dureza para melhorar a maquinabilidade do ao;
Alterar as propriedades mecnicas como resistncia, ductilidade, ajustar o tamanho de gro,
regularizar a textura bruta de fuso.
- 88 -
Materiais e rgos de Mquinas
Dureza Rockwell
Tamanho de Gro
Mnimo
total
Mximo
65
68
0,050
30
75
44
73
Recristalizado
Embutimento
(0,025 mm
Superficial (15-T)
Mximo Mnimo Mximo Mnimo
Totalmente
Recozimento
Profundo
Escala F
(mm)
Tmpera
Totalmente
Recristalizado
nominal)
Tabela 14: Correlao entre tamanho do gro e dureza.
Tamanho de Gro (mm)
Liga
210
95 Cu 5 Zn
220
90 Cu 10 Zn
Nominal
Mnimo
Mximo
0,050
0,035
0,090
0,035
0,025
0,050
0,025
0,015
0,035
0,015
Totalmente Recristalizado
0,025
0,050
0,035
0,090
0,035
0,025
0,050
0,025
0,015
0,035
0,015
Totalmente Recristalizado
0,025
Tabela 15: Tamanho de gro em funo da liga.
Grfico 1: Propriedades mecnicas de uma liga de lato aps encruamento.
- 89 -
Materiais e rgos de Mquinas
Durante o recozimento existem algumas etapas, com grande influncia no resultado final. Conforme
podemos observar no grfico anterior, a recuperao, a Recristalizao, o crescimento do gro e
temperatura de recozimento encontram-se interligados.
A Recuperao pode ser definida como o alvio de uma parte da energia deformao interna de um metal
previamente deformado a frio, geralmente atravs de tratamento trmico (temperaturas baixas).
O Crescimento do Gro o aumento do tamanho mdio de gro de um material policristalino. Para a maioria
dos materiais ocorre em temperaturas mais elevadas de tratamento trmico.
RECRISTALIZAO
A Recristalizao a formao de um novo conjunto de gros livres de deformao no interior de um gro
previamente deformado a frio, geralmente atravs de tratamento trmico (temperaturas intermedirias).
A Temperatura de Recristalizao, fronteira entre trabalho a frio e trabalho a quente
ENCRUAMENTO
Podemos definir encruamento, como o aumento da dureza e resistncia mecnica de um metal dctil
medida que o mesmo submetido a deformao plstica abaixo da sua temperatura de recristalizao, isto
, trabalho a frio (TF), onde:
Ao e Ad significam rea original da seco recta e rea aps deformao plsticas,
respectivamente.
A Ad
%TF = 0
A0
100
Fig. 85: Deformao Plstica de uma material Policristalino.
- 90 -
Materiais e rgos de Mquinas
Converso de Temperaturas:
Kelvin (K), Rankine (R), Celsius (C) e Fahrenheit (F):
o
K = C + 273,15;
C = (F - 32) * 5/9;
R = (F 459,67) * 9/5.
SOLUBILIZAO DAS LIGAS DE ALUMNIO
No tratamento trmico de solubilizao de uma liga obtida por fundio ou por trabalho mecnico, esta
aquecida e mantida a uma temperatura adequada (tabelada), at que se forme uma estrutura uniforme de
soluo slida.
O alumnio fundido dissolve outros metais e substncias metlicas como o silcio (que actua como metal).
Quando o alumnio arrefece e se solidifica, alguns dos constituintes da liga podem ser retidos em soluo
slida. Isto faz com que a estrutura atmica do metal se torne mais rgida.
A principal funo das ligas de alumnio aumentar a resistncia mecnica sem prejudicar as outras
propriedades.
O metal quente pode manter mais elementos de liga em soluo slida do que quando frio.
Consequentemente, quando arrefece, ele tende a precipitar o excesso dos elementos de liga da soluo.
Estes agregados de tomos metlicos tornam a rede cristalina ainda mais rgida e endurecem a liga.
A descoberta do envelhecimento, das ligas que contm magnsio e silcio conduziu ao desenvolvimento
das principais ligas estruturais utilizadas hoje na engenharia.
Outro importante emprego do alumnio sua utilizao nas ligas de fundio, que permitem um maior
aproveitamento das sucatas de avies.
ENVELHECIMENTO
O envelhecimento das ligas temperatura ambiente chama-se Envelhecimento Natural, enquanto que o
envelhecimento a temperaturas elevadas se designa por Envelhecimento Artificial.
A maior parte das ligas requer envelhecimento artificial, sendo em geral a temperatura de envelhecimento
aproximadamente 15 a 25% da diferena entre a temperatura ambiente e a temperatura de solubilizao,
acima da temperatura ambiente.
- 91 -
Materiais e rgos de Mquinas
OUTROS TRATAMENTOS
Para algumas aplicaes mecnicas, torna-se necessrio endurecer de maneira diferenciada a superfcie e o
interior da pea. Como nas peas de ao a concentrao de carbono constante no material, adopta-se um
tratamento termoqumico, conhecido como Cementao.
Fig. 86: Roda dentada cementada.
So vrias as aplicaes destes tratamentos trmicos. Nas figuras seguintes podemos observar uma liga de
lato submetida a:
Trabalho a frio (a);
Estgio inicial de recristalizao (b).
Fig. 87: Liga de lato.
Fig. 88: liga de lato.
- 92 -
Materiais e rgos de Mquinas
A figura anterior permite observar em pormenor:
Recristalizao parcial (c);
Recristalizao completa (d);
Crescimento de gro aps 15 minutos a 580C (e);
Crescimento de gro aps 10 minutos a 700C (f)).
PROPRIEDADES MECNICAS E APLICAES
Tal com anteriormente estudamos, os metais no ferrosos so aqueles que no contm ferro na sua
constituio, ou se o contm, a sua percentagem to pequena que no constitui elemento estrutural.
Os metais no ferrosos raramente so empregues no seu estado puro devido ao seu elevado custo de
obteno e reduzida resistncia mecnica. Fabricam-se ento as ligas no ferrosas, que em normalmente
so mais caras que as ligas ferrosas, mas permitem no entanto preencher importantes propriedades que
nem sempre so apresentadas pelas anteriores, tais como:
A resistncia corroso;
Alta condutividade;
A baixa densidade;
A resistncia a altas temperaturas.
As ligas metlicas no ferrosas mais utilizadas so:
-
Alumnio
Magnsio
Titnio:
A partir dos quais se fabricam as chamadas Ligas leves, muito utilizadas em Aeronutica.
- 93 -
Materiais e rgos de Mquinas
Alumnio
Propriedades Mecnicas:
Tenso de Rotura: Al puro (13.000 psi, em liga pode atingir 100.000 psi);
Modulo de Young (Al), 70 GPa, cerca de 1/3 do ao;
Baixa tenacidade;
Bastante dctil (no estado puro);
Quando no estado laminado apresenta-se macio e elstico;
Elevada relao Resistncia / Peso;
Fcil de maquinar;
Boa soldabilidade (em algumas ligas).
Caractersticas Gerais:
Baixa Densidade;
Alto ndice Resistncia/Peso;
Grande Ductilidade;
Alta Resistncia Corroso;
Baixa Resistncia ao Desgaste;
Baixa Resistncia Fadiga;
Baixa Resistncia a Elevadas Temperaturas.
So vrios os melhoramentos que podem ser feitos ao alumnio. Assim, a baixa densidade, o alto ndice
resistncia/peso e a facilidade com que pode ser trabalhado, fazem do alumnio um dos metais mais
utilizados na indstria aeronutica.
Os tratamentos mecnico e principalmente a formao de ligas e os tratamentos trmicos melhoram as
propriedades deste metal. Por exemplo, a resistncia traco que de 13.000 psi no estado puro, pode
duplicar se o metal for sujeito a um tratamento mecnico, ou ento subir para 65.000 psi se tratado
- 94 -
Materiais e rgos de Mquinas
termicamente, ou ligado com outros metais.
Existe uma grande variedade de ligas de alumnio, cada uma com caractersticas especficas, destinadas a
aplicaes bem determinadas. As mais utilizadas em aeronutica so as Ligas de Alumnio base de Cobre e
as Ligas de Alumnio base de Cobre (Al-Cu).
Estas ligas so normalmente conhecidas por duralumnio (utilizadas em elementos estruturais como crcias,
nervuras, travessas, longarinas, apoios entre outros), caracterizadas por aliar:
A resistncia mecnica aliada facilidade de serem trabalhadas (permite formas variadas e/ou,
facilidade de soldadura).
As Ligas de Alumnio base de Zinco (Al-Zn) so utilizadas no fabrico de elementos que requeiram em
simultneo elevada resistncia mecnica e boa resistncia corroso, tal como no caso da estrutura
secundria das aeronaves.
Titnio
Propriedades Mecnicas:
A mais elevada relao Resistncia / Peso;
Resistncia mecnica pouco elevada (no estado puro 50 a 80 Kpsi);
Possui a mais elevada Resistncia / Peso;
Grande ductilidade;
Termicamente estvel;
A adio de elementos de liga ao titnio permite obter ligas de elevada resistncia mecnica (120 a 230
Kpsi), mantendo uma excelente resistncia corroso;
Deficiente resistncia frico;
Susceptvel de tratamento trmico.
- 95 -
Materiais e rgos de Mquinas
Caractersticas Gerais:
Baixa densidade;
Alto ponto de fuso (1.727 C);
Grande resistncia mecnica;
Muito resistente corroso (abaixo de 550C);
Elevado custo;
Baixa resistncia fluncia (acima de 550C).
Vantagens:
Em termos de elasticidade, densidade, e, resistncia a elevadas temperaturas, podemos situar o
titnio entre o alumnio e o ao inoxidvel;
O principal elemento de liga do titnio o alumnio, que permite aumentar a resistncia mecnica,
a resistncia corroso, e diminuindo a densidade.
Aplicao
Fabrico e na reparao de estruturas;
Vrias aplicaes, em motores de reaco, revestimento da fuselagem, chapas de pra-fogo, zonas
sujeitas a temperaturas elevadas (blindagens do motor).
Cobre
O Cobre tem como principais caractersticas:
As elevadas condutividades elctrica e trmica;
Boa resistncia corroso e facilidade de fabricao, aliadas a elevadas resistncias mecnica e
fadiga.
Massa Volmica de 8,94 g/cm (um pouco acima da do ao);
A temperatura de fuso de 1.083 C.
- 96 -
Materiais e rgos de Mquinas
As ligas de cobre de maior aplicabilidade so:
Lato (cobre, zinco e outros);
Bronze (Cobre e estanho);
Cobre-Alumnio;
Cobre-Magnsio;
Cobre-Slicio;
Cobre-Berlio.
Aplicao
As ligas de cobre podem ser encontradas como produtos:
Trabalhados mecanicamente, fundidos e metalurgia do p;
Entre os produtos trabalhados esto:
Os arames, planos (placas, chapas, tiras e folhas), tubos, fio -mquinas, perfis extrudidos e forjados.
Os produtos fundidos podem ser produzidos por vrios mtodos, tais como em areia, contnua, centrfuga,
sob presso, cera perdida, gesso e coquilha.
Magnsio
Propriedades Mecnicas:
Elevada relao, resistncia traco / peso;
Tenso de cedncia 8kgf/mm2 para peas vazadas fundio e 27 kgf/mm2 para peas forjadas;
Boa estabilidade dimensional em meios corrosivos (hidrocarbonetos e alcalinos), etc);
Boas caractersticas de amortecimentos e vibraes;
Baixa ductilidade, a qual pode ser melhorada com a temperatura;
M moldabilidade temperatura ambiente, tornando-se moldvel acima dos 200C;
Baixa tenacidade, a qual pode ser melhorada a quente;
Facilmente maquinvel, requerendo precaues especiais devido sua inflamibilidade.
- 97 -
Materiais e rgos de Mquinas
Caractersticas Gerais:
Baixa densidade;
Grande resistncia corroso;
Elevada tenacidade;
Boa condutibilidade elctrica e trmica;
O Magnsio no tem aplicao tecnolgica no seu estado puro. A formao de ligas permite:
Melhoria da resistncia mecnica;
Boa resistncia fadiga;
Alta resistncia ao impacto.
Vantagens:
Mais leves que o alumnio (cerca de 1/3);
As ligas de magnsio so empregues na construo de aeronaves, permitindo a reduo de peso.
Aplicao:
Revestimento, nacelles de motores, antenas de rdio, tanques de fluido hidrulico, so apenas alguns
dos componentes em que o magnsico empregue.
As principais ligas de Magnsio so:
Liga de magnsio base de Alumnio:
o
Liga de magnsio base de Zinco:
o
Melhora a elasticidade;
Liga de magnsio base de Mangans:
o
Resistncia e dureza;
Resistncia corroso);
Liga de magnsio base de Silcio:
o
Aumento da fusibilidade).
- 98 -
Materiais e rgos de Mquinas
COMPSITOS E NO METLICOS
CARACTERSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAO
Os materiais no metlicos mais utilizados na indstria aeronutica so a madeira, a borracha, os plsticos e
os compsitos.
MATERIAIS COMPSITOS
A madeira tem sido utilizada na construo de aeronaves desde o incio da aviao. No sendo h partida,
um material to resistente como o ao ou o alumnio, a construo da estrutura pode ser concebida de
modo a atingir igual resistncia, beneficiando de considervel reduo de peso.
Ao contrrio do metal, a resistncia mecnica da madeira no influenciada pela fadiga. A madeira
relativamente mais fcil de trabalhar. O risco de acidentes de trabalho menor, quando comparado com a
utilizao de outros materiais.
A madeira um material compsito ocorre na natureza e que formada fundamentalmente, por um arranjo
complexo de clulas de celulose reforadas por uma substncia polimrica denominada Lenhina e por outros
compostos orgnicos.
O que um material Compsito? A palavra compsito deriva de composto, ou seja, qualquer coisa formada
por partes (ou constituintes) diferentes. formado por uma mistura ou combinao de dois ou mais micro
ou macro constituintes, que diferem na forma e na composio qumica e que, na sua essncia, so
insolveis uns nos outros.
Os materiais compsitos so normalmente constitudos por metais, polmeros ou cermicos, formando
ento, uma estrutura que combina as propriedades de cada um dos materiais que a constitui.
Fig. 89: Boeing 777.
- 99 -
Materiais e rgos de Mquinas
Podemos distinguir dois tipos de materiais no compsito:
A Matriz:
o
Metlico, polimrico ou cermico;
Reforo:
o
Fibras, lminas ou partculas.
Fig. 90: Matriz em carbono.
Fig. 91: Matriz em carbono / Grafite.
Nas figuras 90 e 91, a matriz envolve completamente o material de reforo, unindo as diferentes
camadas.
Vantagens (dos materiais compsitos em relao aos metais):
A baixa densidade,
A resistncia corroso,
A grande resistncia a elevadas temperaturas e velocidades,
Reduzido custo de manuteno e longa durao.
Os materiais compsitos utilizados desde muito cedo na aviao, evoluram para o que hoje em dia
designamos por Compsitos Avanados. Combinando os avanos da qumica na rea dos adesivos e as
novas formas de materiais estruturais, obtm-se materiais altamente resistentes e extremamente leves.
As matrizes mais utilizadas, so:
Resinas Plsticas de alta resistncia:
o
Utilizadas no fabrico dos compsitos;
Resinas Epoxy de elevado grau de aderncia:
o
Utilizadas por exemplo para ligar peas metlicas a materiais compsitos.
- 100 -
Materiais e rgos de Mquinas
Os materiais de reforo mais utilizados na construo e reparao de aeronaves so as fibras de Vidro,
Kevlar, Carbono, Boro e Cermicas.
As primeiras fibras de vidro foram produzidas para tecidos, para os quais se mostraram inadequadas devido
sua baixa resistncia abraso. Em consequncia deste facto, o seu desenvolvimento foi abandonado
durante muito tempo.
A Fibra de Vidro apresenta-se sob a forma de tecido, a mais comum e a menos dispendiosa. Utilizada
inicialmente com resinas de polister na construo de elementos no estruturais como carenagens, so
hoje em dia conjugadas com as mais recentes resinas e outras fibras, formando compsitos de elevada
resistncia e baixo custo. Por exemplo o revestimento de hlices, ps de helicptero.
Fig. 92: Fibra de vidro.
As Fibras de Aramida tornaram-se disponveis nos Estados Unidos nos finais dos anos 70 e foram as
primeiras a explorar a alta resistncia e dureza de cadeias de polmeros de carbono altamente alinhadas.
As Fibras de kevlar (aramida) caracterizam-se pela sua elevada flexibilidade, sendo utilizadas no fabrico
componentes que em servio esto sujeitos a esforos de traco e vibraes. Por exemplo, ps de um
helicptero da figura 93.
Fig. 93: P do rotor do helicptero Sea King, com vrios tipos de fibras.
A resistncia traco duma liga de alumnio em mdia 65 000 psi, ou seja, cerca de da de um
compsito de Kevlar. Nos Estados Unidos, foram feitas a partir dos finais da dcada de 60 empenagens
verticais para o avio de combate F-14.
- 101 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 94: F-14.
Fig. 95: Fibras de Kevlar.
Actualmente, as Fibras de Carbono incorporadas em resinas "Epoxy", desempenham actualmente um papel
de destaque nas estruturas de avies.
Os materiais compsitos constitudos por fibras de carbono a reforar a matriz polimrica, como por
exemplo resina epoxdica, so caracterizados pelo facto de apresentarem uma combinao de baixo peso,
resistncia mecnica e elevada rigidez. Tm aplicao no fabrico de elementos estruturais como nervuras,
ou crcias e tambm em revestimentos de asas.
Fig. 96: Fibras de Carbono.
As Fibras de Boro, foram desenvolvidas nos Estados Unidos usando tcnicas de deposio qumica de
vapores pelas quais o Boro depositado sobre um filamento de Tungstnio muito fino, o processo contudo
muito dispendioso. Estas fibras aceitam com sucesso matrizes de "Epoxy" e Alumnio. Estas fibras
proporcionam uma excelente resistncia compresso, devido ao elevado custo, a sua utilizao na aviao
civil no muito comum, no entanto podemos encontrar aeronaves militares que utilizam este material,
exemplo, o caso do F-14, que utiliza compsitos de boro na estrutura dos estabilizadores horizontais.
Fig. 97: F-14.
- 102 -
Materiais e rgos de Mquinas
Aplicao
Os compsitos de Fibras Cermicas so aplicados em locais em que requerida resistncia a elevadas
temperaturas;
So empregues por exemplo em chapas pra-fogos;
A matriz utilizada nestes materiais normalmente metlica.
Fig. 98: Locais de aplicao de fibras cermicas.
Mtodos de Fabrico
Na elaborao dos materiais compsitos existem vrios mtodos de fabrico, tais como:
1 - Moldagem por compresso;
2 - Saco de vcuo;
3 - Enrolamento;
4 - Aplicao Manual.
- 103 -
Materiais e rgos de Mquinas
1- Moldagem por Compresso
Procedimento
Este processo de fabrico utiliza um molde, formado por uma chapa macho e uma fmea;
O tecido de reforo impregnado com a matriz, e introduzido no molde fmea;
De seguida, o molde macho comprimido contra o molde fmea, fazendo o tecido adquirir a forma
do molde;
Finalmente, a secagem do componente conseguida por meio de calor, durante um tempo
perfeitamente determinado.
Fig. 99: Moldagem por Compresso.
2 - Saco de Vcuo
Procedimento
Neste processo, existe um saco com um dispositivo de vcuo, que aplicado sobre o molde e
sobre o (tecido + matriz);
Em seguida retira-se o ar por meio de um dispositivo de vcuo;
Quando o ar retirado o tecido adquire a forma do molde, pela presso exercida pela atmosfera
(dentro do saco);
Fig. 100: Moldagem por Saco de Vcuo.
Vantagens: (Moldagem por Compresso e Saco de Vcuo)
Permitem uma distribuio homognea da matriz no reforo (fibras).
- 104 -
Materiais e rgos de Mquinas
3 - Enrolamento
Procedimento
A fibra de reforo (previamente impregnada com a matriz) enrolada num molde escolhido sob a
forma de um fio contnuo e modo a garantir a preciso requerida, todo o processo mecanizado;
Uma vez enrolado o compsito seco por calor.
Fig. 101: Moldagem por Enrolamento.
Este processo tem sido utilizado para produzir estruturas extremamente resistentes, so vrios os exemplos
de aplicao com a produo de ps para helicpteros, hlices, ou mesmo fuselagens inteiras. O
inconveniente deste processo reside na dificuldade de reparao de estragos.
Procedimento (aplicao manual):
Consiste simplesmente em impregnar as fibras de reforo com a matriz aplicando depois o
compsito, ainda hmido, sobre o molde;
Este processo menos preciso que qualquer um dos referidos anteriormente, no entanto, a
facilidade de execuo e a flexibilidade que apresenta tornam-no preferido por pequenos
construtores.
Fig. 102: Moldagem por Aplicao Manual.
- 105 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 103: Mtodo de deposio manual, para moldagem de materiais compsitos de matriz plstica reforada por fibras.
Fig. 104: Utilizao de um rolo para densificar o laminado, removendo o ar aprisionado.
Fig. 105: Mtodo de spray para moldagem de materiais compsitos de matriz plstica reforada por
fibras.
Vantagens:
Derivam do facto de se poderem moldar as peas com as formas mais complexas e do processo
poder ser automatizado.
- 106 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 106: Laminado de Fibra de carbono resina epoxdica da asa do AV-8B e respectivo molde a serem
colocados no interior do autoclave, na fbrica McDonnel Aircraft.
Vantagens dos Materiais Compsitos
A utilidade dos materiais compsitos na aeronutica tem-se revelado cada vez mais importante. Mas, a
grande vantagem dos compsitos reside na elevada relao resistncia / peso, razo primria para a sua
utilizao. O factor peso nos materiais a aplicar na construo de qualquer aeronave, factor chave e
diferenciador relativamente aos outros materiais. Assim, a poupana em peso estrutural implica mais peso
disponvel para carga, combustvel ou passageiros.
A concepo de formas aerodinmicas complexas com relativa facilidade (o fabrico em metal seria mais
dispendioso) e o bom desempenho de tais componentes associado reduo de peso permite aeronave
um significativo aumento do raio de aco.
Conforme as nossas necessidades podemos conceber materiais compsitos muito flexveis, ou muito
resistentes a vibraes, eliminando os problemas de fadiga que afectam as estruturas metlicas.
Finalmente, apresentam ainda uma propriedade bastante importante, que a elevada resistncia ao
desgaste.
MATERIAIS POLIMRICOS
Etimologicamente, a palavra polmero significa muitas partes. Um material polimrico pode ser considerado
como constitudo por muitas partes ou unidas, ligadas quimicamente entre si de modo a formar um slido.
Os polmeros podem ser de dois tipos:
-
Plsticos;
Elastmeros.
- 107 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 107: C-130 Interior
Plsticos
Os plsticos constituem um grupo muito vasto e variado de materiais sintticos, que so processados por
enformao ou moldagem, de modo a adquirirem uma determinada forma.
Tal como existem muitos tipos de metais, tambm existem vrios tipos de plsticos, tais como:
Polietileno e o nylon.
Dependendo do modo como esto ligados quimicamente e estruturalmente (de acordo com a sua reaco
ao calor) podemos dividir estes plsticos em dois grupos:
-
Termoplsticos;
Termoendurecveis.
Termoplsticos
Estes plsticos necessitam de calor para serem enformados e aps o arrefecimento mantm a forma
adquirida durante a enformao.
Estes materiais podem ser vrias vezes reaquecidos e reenformados em novas formas, sem que ocorra
alterao significativa das suas propriedades.
A maior parte dos termoplsticos constituda por cadeias principais muito longas de tomos de carbono
ligados de forma covalente.
Termoendurecveis
Os termoendurecveis so enformados para uma determinada forma permanente e depois de curados (ou
endurecidos) atravs de uma reaco qumica, no podem ser refundidos ou reenformados noutra forma,
- 108 -
Materiais e rgos de Mquinas
uma vez, que se degradam ou se decompem quando aquecidos a temperaturas demasiado altas. Estes
tipos de plsticos no podem ser reciclveis.
A aplicao dos materiais plsticos muito diversificada, sendo de salientar sua utilizao em projectos de
engenharia mecnica.
Vantagens:
A eliminao de partes de peas ou componentes;
A eliminao de operaes de acabamento;
A montagem simplificada;
Diminuio de peso;
Reduo de rudo;
Eliminao da necessidade de lubrificao.
Os materiais plsticos normalmente apresentam-se de duas formas:
-
Transparentes;
Reforados.
Podemos ver este tipo de materiais em canopies, pra-brisas, e outros componentes.
Fig. 108: Alouette III.
Os Plsticos Transparentes podem ser elaborados em duas formas: Slidos e Laminados.
Os Laminados so compostos por vrias folhas de plstico mais finas unidas entre si, apresentando maior
resistncia, sendo por isso preferida, a sua aplicao em avies pressurizados.
Fig. 109: Plstico Slido.
Fig. 110: Plstico Laminado.
Nos Estados Unidos Amrica e na Europa, os trs principais tipos de fibras sintticas para reforar materiais
- 109 -
Materiais e rgos de Mquinas
plsticos, so:
-
As fibras de Vidro;
As fibras de Aramido;
As fibras de Carbono.
As fibras de Vidro e as fibras de Aramido apresentam como caractersticas:
Resistncias mecnicas elevadas;
Baixas densidades;
Preo elevado.
Aplicao
um tipo particular de plstico termoendurecido muito utilizado no fabrico de componentes de
aeronaves na forma slida ou laminada, em radomes, cobertura de antenas e pontas das asas, etc.
Este tipo de plstico ainda utilizado como matriz na produo de compsitos, combinado com fibras
de Vidro, kevlar, carbono, boro e cermicas, obtm-se materiais altamente resistentes e extremamente
leves.
Utilizando resinas epoxdicas reforadas com fibras de carbono, consegue-se uma reduo de 70% no
peso da estrutura do avio.
Em 1988 a FAA certificou o avio Beech-Starship, que foi o primeiro avio executivo em que a estrutura
primria era inteiramente construda em Compsitos.
Fig. 111: Beech-Starship.
- 110 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 112: Liga de alumnio reforada.
A figura 112, mostra a seco vertical da cauda de um avio militar, para misses tcticas. Compsito de
matriz metlica (Liga de alumnio reforada com carboneto de Silcio) ensaiada na Lockheed.
Fig. 113: Fotomicrografia de uma seco de um material compsito de polister com fibras de vidro unidireccionais.
Elastmeros
Estes tipos de polmeros so designados normalmente por Borrachas. Caracterizam-se por sofrer grandes
deformaes elsticas quando se lhes aplica uma fora e voltar forma inicial (ou quase), ao ser retirada
essa fora.
A borracha natural produzida comercialmente a partir do latex da rvore Heavea brasiliensis da Malsia e
Indonsia. Como se apresenta na natureza muito pegajosa temperatura ambiente, tornando-se
quebradia com a diminuio da temperatura.
O seu processamento feitos atravs coagulao da seiva leitosa ou ltex de certas rvores, misturada com
uma certa quantidade de enxofre (2%) a uma temperatura de 130 C, num processo designado por
Vulcanizao.
utilizada para prevenir a entrada a agentes exteriores, gua, ar, poeiras entre outros e ainda para impedir
a perda de fluidos e ainda para absorver vibrao, reduzir rudos e amortecer as cargas de impacto.
Existem dois tipos de borrachas:
-
Naturais;
Sintticas.
- 111 -
Materiais e rgos de Mquinas
Borracha Natural
fcil de trabalhar e possui melhores propriedades fsicas do que a borracha sinttica.
Essas propriedades so:
Flexibilidade;
Elasticidade;
Resistncia traco;
Resistncia rotura.
A borracha natural um produto de aplicao generalizada, no entanto a sua aplicao na aviao de
certa forma restrita, devido sua baixa resistncia maior parte dos produtos que a atacam, tais como:
combustveis e solventes.
Tendo em conta que se deteriora de forma mais rpida do que as borrachas sintticas apenas usada para
vedaes em sistemas de gua/metanol.
Borracha Sinttica
As borrachas sintticas representavam em 1980, cerca de 70% da produo mundial de materiais de
borracha. As mais importantes, so:
Estireno-butadieno;
Nitrilo;
Policloropropeno;
Silicone.
Este tipo de produto pode obter-se em diversos tipos, cada um dos quais composto de diferentes materiais
segundo as propriedades desejadas.
Os mais largamente usados so os:
BUTYL: uma borracha hidrocarbonada de elevada resistncia penetrao de gases, altamente
resistente deteriorao;
BUNA S: uma borracha fcil de trabalhar e resistente a gua;
NEOPROPENE: Esta borracha suporta melhor as condies agressivas de trabalho tem melhores
caractersticas a baixas temperaturas que a borracha natural. Possui excelente resistncia luz do
sol, ao aquecimento e ao envelhecimento.
- 112 -
Materiais e rgos de Mquinas
VEDANTES E AGENTES DE LIGAO (SEALING COMPOUNDS)
FINALIDADE
Um vedante um produto que se destina a isolar dois ou mais fluidos em seces distintas, pode
igualmente ter como finalidade evitar fugas, garantindo a estanquicidade, o que se traduz na inexistncia de
passagem de ar. A estanquicidade uma garantia de evitar contaminaes para um sistema.
Os vedantes e agentes de ligao, fazem parte de um grupo elementos que se tornaram por direito prprio,
imprescindveis na manuteno aeronutica.
O aumento do uso de fluidos nas aeronaves tais como: hidrulicos, pneumticos, de leo de fuel, de ar, etc.,
tornou necessrio desenvolver sistemas que os isolassem, isto , impedissem as fugas e contaminao dos
circuitos. Os produtos desenvolvidos com esta finalidade so os vedantes, as juntas caractersticas e
concepes variadas, que permitissem responder s mltiplas solicitaes, como a velocidade, presso,
temperatura e natureza do fluido.
Apesar das suas variadas caractersticas, a sua utilizao est sempre dependente das seguintes razes:
Presso do circuito de fluido;
Tipo de fluido utilizado no circuito;
O grau de acabamento superficial do metal e a folga entre partes;
O tipo de movimento, quando existe, circular ou alternativo.
Os Produtos de Vedao ou Vedantes (nunca podero ser utilizados como):
Compensao dimensional de peas ou como tratamento de acabamento de peas de forma a
facilitar a sua montagem.
Os vedantes so produtos qumicos que passam a um estado slido por meio da reaco qumica entre dois
ou mais dos seus componentes ou por simples oxidao. Dado que o tempo e as condies de
armazenagem degradam estes produtos, nunca se devem utilizar vedantes cujo prazo de validade esteja
aspirado.
O acondicionamento ou armazenagem destes produtos pode ser efectuado a temperatura ambiente,
enquanto em alguns casos ser a temperaturas recomendadas entre os (-18C e os 0C).
- 113 -
Materiais e rgos de Mquinas
Recomendaes de Aplicao:
A aplicao de vedantes principalmente do tipo elastmero, devem ser aplicados respeitando determinadas
condies ambientais, como sejam:
Temperatura ambiente entre 17 e 30C;
Humidade relativa de 30 a 70%.
Restries ( aplicao de Vedantes):
Exceptuando alguns casos devidamente salvaguardados, os produtos de vedao no devem ser utilizados
nas seguintes reas de localizao:
Em todas as ligaes ao sistema de combustvel do reactor;
Em todos os conjuntos cuja ligao se faz por chavetas e ranhuras;
Em todas as juntas metlicas ou juntas ranhuradas do sistema do sistema de leo;
Em qualquer pea, conjunto de peas ou rea onde exista movimento relativo entre componentes
durante a operao do reactor.
EMPANQUES E JUNTAS DE VEDAO
Os empanques e juntas de vedao so componentes normalmente do tipo elastmeros, fabricados em
borracha natural ou sinttica, teflon, etc., e cuja aplicao se destina a evitar fugas de um circuito de fluido
sob presso.
Podemos considerar que a finalidade destes produtos a mesma dos produtos de vedao, salvaguardando
algumas diferenas, tais como:
Os produtos de vedao apresentam-se numa forma pastosa ou lquida, enquanto os empanques e
juntas de vedao se apresentam no estado slido e j pr-formados;
Os produtos de vedao so aplicados entre juntas e superfcies conjugadas, enquanto os
empanques se utilizam nas ligaes de tubagens.
- 114 -
Materiais e rgos de Mquinas
CORROSO
CONCEITOS
Definio
A corroso definida como a deteriorao de um material resultante do ataque qumico, provocado pelo
meio em que o material se encontra. Uma vez que a corroso provocada por uma reaco qumica, a
velocidade qual a corroso se processa, depender at certo ponto da temperatura e da concentrao dos
reagentes e dos produtos. Outros factores tais como esforos mecnicos e a eroso tambm podem
contribuir para a corroso.
Os materiais no metlicos como os cermicos e os polmeros no sofrem ataque electroqumico, mas
podem deteriorar-se por ataque qumico directo.
Do ponto de vista do engenheiro, a corroso um processo destrutivo e representa enormes perdas
econmicas. Assim, no surpreende que quem trabalhe na indstria se preocupe com o controlo e
preveno da corroso.
No aspecto econmico englobam-se as perdas de material resultantes da deteriorao progressiva ou
quebra repentina. As perdas econmicas podem-se dividir em directas e/ou indirectas.
Custos
As Perdas Directas so normalmente mais fceis de contabilizar, encontrando-se associadas a custos de
reposio de estruturas e maquinaria corrodas ou dos seus componentes, nas quais se incluem os custos de
mo-de-obra necessria.
Perdas Indirectas so as mais difceis de determinar, mas incrivelmente superiores s perdas directas. Como
exemplos, temos:
A imagem;
Interrupes na produo;
Perdas de produtos;
Perdas de rendimento;
Contaminao dos produtos.
As perdas indirectas so ainda mais difceis de estabelecer nos casos em que impliquem perdas de vidas
humanas.
- 115 -
Materiais e rgos de Mquinas
O aspecto da conservao e consumo de recursos naturais outro factor de grande importncia. Nunca
demais salientar as quantidades de metais utilizados na indstria, cujas reservas mundiais so limitadas.
Outro aspecto importante a ter em considerao est relacionado com as perdas de reservas de energia e
gua que acompanham a produo e a montagem das estruturas metlicas.
O Potencial Humano que se emprega a projectar e a reconstruir os equipamentos metlicos corrodos,
tambm deve ser tido em conta.
A proteco contra a corroso deve ser considerada como um elemento essencial da segurana de voo.
O fenmeno de corroso ter que ser encarado como factor importante no que diz respeito:
A Segurana de pessoas e bens;
Custos das operaes de manuteno;
Custos de imobilizao dos meios areos em manuteno prolongada.
Benefcios da Corroso
Em certos casos a corroso pode ter um lado positivo, entre os quais podemos salientar:
Oxidao do ao inox, com a formao de pelcula protectora de xido de cromo;
Anodizao do alumnio, ou das suas ligas, para alm de proteger d um efeito decorativo;
Fosfatizao de superfcies metlicas que permitem uma melhor aderncia da tinta.
Fig. 114: Passivao de tubagem.
- 116 -
Materiais e rgos de Mquinas
FUNDAMENTOS DA QUMICA
REACO DE OXIDAO
Uma vez que a maioria das reaces de corroso de natureza electroqumica, torna-se importante
compreender os princpios fundamentais das reaces electroqumicas.
As ligas metlicas empregues na construo das aeronaves modernas reagem com alguma facilidade s
substncias contaminantes existentes na atmosfera. O Sal existente no ar nas regies costeiras ou outras
substncias qumicas existentes nas reas urbanas, atacam as ligas de alumnio e magnsio que constituem
as estruturas.
Antigo
Oxidao: Ganho de oxignio por uma substncia;
Reduo: Perda de oxignio por uma substncia;
Este conceito restringe-se apenas s equaes em que o oxignio participa.
Em termos de electres:
Oxidao: Ganho de electres por uma substncia;
Reduo: Perda de electres por uma substncia.
Este um mtodo bastante amplo.
Redutor ----------- Oxidante
Nmero de Oxidao:
Oxidao: Aumento do nmero de oxidao;
Reduo: Reduo do nmero de oxidao.
Este um mtodo bastante geral.
- 117 -
Materiais e rgos de Mquinas
Reaces de Oxi-reduo:
So reaces onde h variao do nmero de oxidao, com perda e ganho de electres.
Agente Redutor: a substncia que contm o elemento redutor;
Agente Oxidante: a substncia que contm o elemento oxidante.
Termo
Nmero de Oxidao
Electres
Oxidao
Aumenta
Perda
Reduo
Diminui
Ganho
Agente Oxidante
Diminui
Receptor
Agente Redutor
Aumenta
Doador
Diminui
Receptor
Elemento Oxidante
Fig. 115: Reaco de Oxi-Reduo.
POTENCIAL DE ELCTRODO
Podemos entender potencial de elctrodo, como a tendncia do material para perder electres num meio
hmido.
Quando os materiais reagem tendem a perder electres sofrendo oxidao e consequentemente corroso.
Existem tabelas de potenciais de elctrodo que indicam uma ordem preferencial de cedncia de electres.
Estas tabelas mostram a facilidade com que os tomos do elctrodo metlico perdem electres, ou da
facilidade com que a soluo os recebe.
A velocidade de passagem dos electres um indicador do perigo que poder representar esta diferena de
potencial.
PILHA ELECTROQUMICA
O estudo da corroso de pilhas electroqumicas muito importante, dado que baseado neste tipo de
reaco que a corroso acontece, normalmente de forma indesejada.
- 118 -
Materiais e rgos de Mquinas
Constituintes
nodo: Elctrodo em que h a oxidao (corroso) e onde a corrente elctrica, na forma de ies metlicos
positivos entra no electrlito;
Electrlito: Condutor (normalmente um lquido), contendo ies que transportam a corrente elctrica do
nodo para o ctodo;
Ctodo: Elctrodo onde a corrente elctrica sai do electrlito ou do elctrodo, no qual as cargas negativas
(electres) provocam reaces de reduo;
Circuito Metlico: Ligao metlica entre o nodo e o ctodo, por onde escoam os electres no sentido:
nodo ctodo.
A pilha caracterizada pele diferena de potencial entre os seus elctrodos.
E pilha = E ctodo E nodo.
A corroso uma reaco electroqumica que decompe os metais, transformando-os em sais e xidos
desses mesmos metais. Estas substncias semelhantes a p (ferrugem por exemplo) substituem o metal,
diminuindo seriamente a sua resistncia.
Para que exista uma reaco qumica temos de conjugar trs condies:
Diferena de potencial nos materiais envolvidos;
Um meio condutor entre duas reas de potencial diferente;
Existncia de um electrlito ou fludo a cobrir as diferentes reas.
Se unirmos dois pedaos de metal diferentes por meio de um condutor, a diferena de potencial far com
que os electres do metal mais negativo (nodo) se desloquem para o material menos negativo (Ctodo).
Fig. 116: Reaco Qumica.
- 119 -
Materiais e rgos de Mquinas
Procedimento:
Mergulhamos os dois pedaos de metal diferentes numa soluo aquosa electrlito;
Ligamos 2 pedaos de metal diferentes por meio de um condutor;
Os ies negativos em suspenso no electrlito so atrados pelos ies metlicos positivos do nodo;
Forma-se um sal metlico, produto da Corroso.
A corrente elctrica que se estabelece pelo movimento dos electres responsvel pela
deteriorao do metal, decompondo-o, dando origem a um sal metlico.
Fig. 117: Reaco Qumica.
FORMAS DE CORROSO
Os vrios tipos de corroso podem ser classificados de acordo com a aparncia do metal aps a corroso.
Podem identificar-se formas de corroso, mas todas esto relacionadas entre si em maior ou menor grau.
Os principais tipos de Corroso so:
-
Oxidao;
Corroso Superficial Uniforme;
Picagem;
Corroso Intergranular;
Esfoliao;
Corroso Galvnica;
Corroso por Concentrao de Oxignio;
Corroso Filiforme;
Corroso por Tenso;
Corroso por Frico.
- 120 -
Materiais e rgos de Mquinas
TIPOS DE CORROSO
Oxidao
A oxidao a mais conhecida forma de corroso. Acontece quando o metal exposto a um gs que
contenha oxignio (o ar). Ocorre ento uma reaco qumica entre o metal e o gs, dando origem uma
camada de xido metlico na superfcie do metal.
A corroso manifesta-se de forma diferente nos vrios metais. Assim no ferro o xido formado pela reaco
qumica no aderente, fazendo com que a reaco contnua leve runa do metal, caso no for seja
efectuado um tratamento. No Alumnio, forma-se xido de alumnio que adere ao metal e impede a
progresso da corroso.
Fig. 118: Oxidao de um metal.
Superficial Uniforme
A corroso uniforme ou por ataque generalizado, verifica-se em superfcies no tratadas, que quando
expostas a atmosferas qumicas so atacadas de forma uniforme em toda a sua superfcie. O metal atacado
corri-se, originando a sais metlicos que no sendo removidos, nem efectuados tratamentos superfcie,
tornaro a superfcie rugosa, que com o evoluir e se no forem tomadas medidas, provocaram pequenas
cavidades.
A corroso superficial uniforme relativamente fcil de controlar atravs de revestimentos protectores,
inibidores e proteco catdica.
Picagem
A corroso por picadas uma forma de ataque corrosivo localizado, resultado da corroso superficial
uniforme, dando origem a pequenas cavidades.
Nas estruturas de engenharia esta forma de corroso pode ser muito destrutiva, se conduzir perfurao do
metal.
- 121 -
Materiais e rgos de Mquinas
Este tipo de corroso por vezes muito difcil de detectar, as pequenas cavidades podem estar cobertas
pelos produtos da reaco. As cavidades, ou seja os Alvolos, constituem reas andicas que favorecem o
processo corrosivo, que se no for travado transformar grande parte do metal em sais.
Fig. 119: Corroso por Picagem.
Intergranular
A corroso intergranular consiste num ataque corrosivo localizado nos limites de gro ou zonas adjacentes
aos limites de gro de uma liga metlica.
A estrutura de um metal constituda por pequenos gros unidos entre si por ligaes qumicas, que no
so mais do que a interaco atmica dos vrios elementos que constituem o metal. Por exemplo, quando
um tratamento trmico mal efectuado, poder originar um crescimento exagerado do gro, que em
contacto com os diferentes elementos do metal desenvolvem propriedades andicas ou catdicas.
A forma de propagao deste tipo de corroso de extrema importncia. Assim, se a corroso superfcie
do material atingir possveis zonas de potencial diferente, a corroso propagar-se- dentro do prprio metal.
Fig. 120: Corroso Intergranular.
Esfoliao
um caso de corroso intergranular, que provoca a separao de partculas designadas por Lascas ou
Escamas, superfcie do metal.
- 122 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 121: Corroso pe Esfoliao.
Galvnica
um tipo de corroso bastante comum. Acontece sempre que se renam as seguintes condies:
Dois metais diferentes em contacto de tal modo que se estabelea entre eles uma corrente de
electres;
As superfcies de contacto esto impregnadas com um produto qualquer que serve de electrlito.
Fig. 122: Reaco qumica.
Fig. 123: Corroso Galvnica.
Concentrao de Oxignio
A gua que fica retida entre as chapas de revestimento que constituem as superfcies em contacto com o ar,
absorve oxignio e atrai posteriormente electres do prprio metal. Esta combinao (gua + oxignio +
electres) origina a formao de ies negativos (OH-), que ficam em suspenso no fluido.
A perda de electres para o fluido provoca uma diferena de potencial entre a zona do metal que cedeu os
electres (Zona Catdica) e a zona de ligao entre as duas chapas, onde a gua no esteve em contacto
com o ar (Zona Andica).
Estabelece-se uma corrente de electres entre estas duas zonas (do nodo para o ctodo), originando um
excesso de ies metlicos positivos na zona de ligao entre as chapas, que se transforma assim num
ctodo. Estes ies metlicos positivos vo atrair os ies negativos (OH -) da gua, originando nessa zona a
formao de um hidrxido metlico, designado por Corroso.
- 123 -
Materiais e rgos de Mquinas
Filiforme
um tipo de corroso por concentrao de oxignio. Verifica-se normalmente em zonas que apresentem
danos das camadas protectoras, quando a humidade relativa do ar se encontra entre 78 e os 90 %.
Quando operamos em ambientes com estas caractersticas mencionadas anteriormente, teremos que as
levar em considerao na seleco dos materiais a utilizar.
Fig. 124: Corroso Filiforme.
Corroso por Tenso
A corroso sob tenso (CST) nos metais, um tipo de corroso intergranular, consiste numa fissurao
provocada por efeitos combinados de uma tenso de traco e um ambiente corrosivo especfico que
actuam sobre o metal.
Estas tenses podem ser Internas ou Aplicadas. As Internas so resultado de tratamentos trmicos mal
feitos. As aplicadas resultam de uma presso excessiva provocada por elementos de ligao.
Este tipo de corroso provoca fendas que se propagam rapidamente.
Fig. 125: Corroso por Tenso.
Corroso por Frico
A corroso por frico ou por eroso definida como o aumento da velocidade de corroso de um metal,
devido ao movimento de um fluido corrosivo relativamente superfcie metlica. Quando o movimento do
fluido corrosivo rpido, os efeitos mecnicos de desgaste e abraso podem ser graves.
- 124 -
Materiais e rgos de Mquinas
A corroso com eroso caracterizada pelo aparecimento na superfcie do metal de estrias, vales, bicadas,
orifcios arredondados, etc.
Outra forma de aparecimento deste tipo de corroso acontece, quando duas superfcies metlicas unidas por
elementos de ligao (rebites ou parafusos), que possuam algum grau de liberdade de movimento levam a
um desgaste das superfcies. Normalmente, impossvel impedir a presena de oxignio nas unies,
ocorrendo a oxidao do metal nestas zonas. Verifica-se, que quando um metal sujeito a tenses exposto
a um ambiente corrosivo a frico contnua destri a camada oxidada que continuar a oxidar. Os detritos
resultantes da frico e da oxidao actuam como elemento abrasivo, tornando ainda mais rpida a runa do
material.
Fig. 126: Corroso
por Frico.
CONDIES ESPECIAIS
Oxidao e Corroso a Temperaturas Elevadas
O aumento da temperatura ainda agrava mais os efeitos da corroso, uma vez que cria melhores condies
para a ocorrncia das reaces e a uma velocidade consideravelmente maior.
A existncia de determinados gases a alta temperatura podem ajudar tambm ocorrncia de corroso.
Corroso Associada a Variaes Mecnicas
Este tipo de corroso resulta da interaco entre o meio em que o material se encontra e a sua resposta
solicitao mecnica.
Deve-se distinguir os casos de solicitao de origem dinmica, (corroso por fadiga), da solicitao de
origem esttica (corroso sob tenso).
Existe a necessidade de combinar materiais especficos com ambientes especficos em que nem sempre a
conjugao a melhor.
- 125 -
Materiais e rgos de Mquinas
CAUSAS DA CORROSO
Podem ser vrias as causas ou os factores que facilitam a corroso, mas normalmente as mais relevantes
so as seguintes:
-
Corroso por Frico;
Associao de metais diferentes;
rea de contacto;
Temperatura;
Tratamentos Trmicos;
Tipo e Concentrao de Electrlito;
Oxignio;
Microorganismos.
Associao de metais diferentes:
Quanto maior for a diferena de potencial entre componentes metlicos, maior ser a
probabilidade de corroso em presena de um electrlito.
rea de Contacto:
Pequenas reas andicas em contacto com superfcies menos activas (catdicas) corroem-se
rapidamente;
Se o metal mais activo (nodo) apresentar maior superfcie que o ctodo, a corroso ocorrer
lentamente e no to intensamente.
Temperatura:
O aumento da temperatura acelera as reaces qumicas;
A corroso do metal processa-se mais rapidamente.
Tratamentos Trmicos:
Um arrefecimento mal feito durante um tratamento trmico poder provocar distribuies
pouco uniformes dos componentes metlicos de uma liga;
- 126 -
Materiais e rgos de Mquinas
Em consequncia diferentes zonas do metal apresentaro diferentes composies qumicas,
das quais resultam reas de potencial diferente.
Tipo e Concentrao de Electrlito:
A presena de solues (em superfcies metlicas) aumenta a probabilidade de ocorrncia de
corroso;
Diferentes concentraes (ies) do electrlito sobre determinadas zonas de um metal fazem
com que a reaco ocorra mais rapidamente que em outros locais.
Oxignio:
Provoca variaes andicas no metal, levando-o runa.
Microorganismos:
A criao de colnias de pequenos seres vivos em superfcies hmidas faz com que essas
mesmas reas assim permaneam;
A humidade favorece concentrao de oxignio ou de ies;
A favorecer a reaco h ainda os dejectos destes seres ou enzimas segregadas em processos
digestivos.
MATERIAIS SUSCEPTVEIS CORROSO
No estudo da corroso nunca se deve perder de vista trs variveis:
-
Material metlico;
Meio corrosivo;
Condies de operao.
A avaliao deste conjunto de variveis pode ser um ptimo indicador da forma como actuar.
- 127 -
Materiais e rgos de Mquinas
Material Metlico
Importa saber:
Composio qumica;
Presena de impurezas;
Processo de obteno do material;
Tratamentos trmicos;
Tratamentos mecnicos;
Estado da superfcie;
Forma da superfcie;
Unio do material;
Contacto com outros materiais.
Meio Corrosivo
Importa saber:
Composio qumica;
Concentrao;
Impurezas;
pH;
Temperatura;
Teor de oxignio;
Presso;
Slidos em suspenso.
Condies Operacionais
Importa saber:
Solicitaes mecnicas;
Movimento relativo entre o material e o meio;
Condies de imerso (parcial ou total);
Meios de proteco;
Operao contnua ou intermitente.
- 128 -
Materiais e rgos de Mquinas
Deve-se conjugar da melhor forma possvel o mtodo para obter uma soluo de compromisso, para que os
efeitos da corroso sejam levados para valores mnimos.
Os principais meios corrosivos so:
Dureza;
Atmosfera;
guas naturais;
Solo;
Produtos qumicos;
Substncias fundidas;
Solventes orgnicos;
Madeira e Plsticos.
A madeira e os plsticos tambm sofrem de corroso, devido aco de determinados compostos, que
provocam a sua degradao. Por sua vez, podem-se tornar agressivos para outros elementos do sistema.
PREVENIR MINIMIZAR E COMBATER A CORROSO
A corroso pode ter consequncias directas e indirectas, sendo algumas de natureza econmica.
Os mtodos para combater a corroso baseados na:
Modificao do Processo;
Modificao do Meio Corrosivo;
Modificao do Metal;
Revestimentos Protectores.
Quando se pretende eliminar ou reduzir o fenmeno da corroso, sempre necessrio elaborar um estudo
econmico e tcnico, para sabermos exactamente quais as vantagens e desvantagens.
As medidas mais utilizadas minimizar e prevenir a corroso:
-
Manuteno Preventiva;
Limpeza Peridica;
Lavagens.
A corroso um processo natural. Impedi-la praticamente impossvel, podemos no entanto control-la.
Este controlo poder ser feito por meio de um programa de Manuteno Preventiva.
- 129 -
Materiais e rgos de Mquinas
Manuteno Preventiva
O programa de manuteno preventiva dever compreender as seguintes tarefas:
Previso de lavagens para cada aeronave;
Calendrio de limpeza e lubrificao de rgos e superfcies no protegidas, utilizando produtos
especficos adequados;
Limpeza diria das superfcies no protegidas, tais como hastes de cilindros actuadores;
Desobstruo de drenos;
Inspeco, remoo e aplicao de produtos inibidores da corroso;
Detectar a corroso na sua fase inicial, reparar estragos em camadas protectoras;
Controlar o teor de cloro na gua utilizada para lavagens;
Minimizar o risco de abrases ou riscos resultantes de operaes de manuteno.
Limpeza Peridica
A Limpeza Peridica fundamental para a remoo dos agentes corrosivos, que se depositam
continuamente nas superfcies metlicas e quaisquer produtos de corroso que possam acelerar o processo
corrosivo.
Se considerarmos avies operando em reas perto do mar, a sua limpeza deve ser feita pelo menos uma vez
por semana. O mesmo se aplica para zonas industriais. No entanto, de aconselhar que a frequncia de
limpeza seja estipulada consoante as condies ambientais, assim como de acordo com as exigncias
operacionais.
Lavagem Peridica
A lavagem peridica da aeronave o primeiro e o mais importante passo no controlo da corroso. Na placa
de lavagem proceder-se- remoo de sujidade, p, resduos de escape, leos e massas que tenham
secado.
A lavagem no dever ser feita ao sol para que o detergente possa actuar antes de secar. Deve utilizar-se
um detergente alcalino (algo parecido com o detergente da loia), que emulsifica a gordura tornando-a
removvel com gua. O detergente diludo em gua dever ser aplicado de modo a fazer espuma,
esperando-se algum tempo para que possa penetrar na sujidade. Por vezes, onde a sujidade mais difcil de
remover deve-se aplicar solventes base de petrleo. Terminada a aplicao do detergente, retira-se a
emulso com bastante gua (de preferncia aquecida).
Antes da lavagem deve haver o cuidado de tapar todos os orifcios, cavidades (refrigerao de instrumentos,
- 130 -
Materiais e rgos de Mquinas
de armamento, entradas de ar condicionado, etc.) com fita adesiva, para evitar a formao de depsitos,
que venham a favorecer a formao de corroso.
Especial ateno para os pneus, que devero estar cobertos durante a lavagem, especialmente se for
utilizado solvente base de petrleo e componentes elctricos, que devero estar isolados.
- 131 -
Materiais e rgos de Mquinas
ELEMENTOS DE LIGAO
TIPOS DE ELEMENTOS DE LIGAO
Elementos de ligao o termo genrico utilizado para descrever os vrios rgos mecnicos, que de forma
mais ou menos rpida podem estabelecer a ligao entre duas ou mais partes constituintes de uma
estrutura mecnica.
A maior parte desses elementos tm pequena dimenso, pelo que na muitas vezes no lhes dada a devida
importncia.
Nos princpios da aeronutica os elementos de ligao dividiam-se em dois grupos de categorias, os
elementos roscados ou parafusos e os elementos no roscados ou rebites.
Actualmente este conceito encontra-se ultrapassado, uma vez, que o factor que passou a determinar a
classificao dos elementos de ligao deixou de ser a sua constituio, passando a ser a sua utilizao.
Como tal, hoje so considerados dois grandes grupos:
-
Removveis;
Permanentes.
Fig. 127: Permanentes Soldadura.
REMOVVEIS
Os Removveis so os elementos de ligao instalados e fixados por porcas ou sistema de fixao similar.
Estes elementos permitem a sua remoo e podem ser posteriormente ser reinstalados, sem colocar em
perigo a sua operao.
Normalmente, permitem a unio de peas, tais como:
Chapas, perfis, e barras.
- 133 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 128: Duas chapas ligadas por parafuso, porca e anilha.
Em termos de indstria os principais elementos de ligao utilizados:
-
Pinos;
Cavilhas;
Troos;
Parafusos;
Porcas;
Anilhas;
Anis elsticos;
Chavetas;
Rebites.
Pino
Une peas articuladas. Neste tipo de unio, uma das peas pode ser movimentada por rotao.
Fig. 129: Pino.
Cavilha
Une peas que no so articuladas entre si.
Fig. 130: Cavilha.
- 134 -
Materiais e rgos de Mquinas
Troo
uma haste ou arame com forma semelhante de um meio cilindro dobrado, de modo a fazer uma cabea
circular e tem duas pernas desiguais. Introduz-se o troo num furo na extremidade de um pino ou parafuso
com porca castelo. As pernas do troo so viradas para trs, desta forma, impedem a sada do pino ou da
porca durante vibraes das peas fixadas.
Fig. 131: Troo.
Parafuso
uma pea formada por:
Uma cabea, que pode ter vrias formas;
Haste ou espiga;
Ponta.
Fig. 132: Parafuso de cabea cilndrica com fenda.
Porca
Tem vrias formas tais como: de prisma, de cilindro etc. Apresenta um furo roscado, e atravs desse furo, a
porca atarraxada ao parafuso.
Fig. 133: Porca sextavada.
Anilha
um disco metlico com um furo no centro. O corpo do parafuso passa por esse furo.
Fig. 134: Anilha chanfrada.
- 135 -
Materiais e rgos de Mquinas
Anis elsticos (Freios)
So usados para impedir deslocamento de eixos e posicionar ou limitar o movimento de uma pea que
desliza sobre um eixo.
Fig. 135: Anel Elstico.
Chaveta
Normalmente tem corpo em forma de prisma ou cilndrica que pode ter faces paralelas ou inclinadas, em
funo da grandeza do esforo e do tipo de movimento que deve transmitir. Alguns autores classificam a
chaveta como elementos de fixao e outros autores, como elementos de transmisso. Na verdade, a
chaveta desempenha as duas funes.
Fig. 136: Chaveta.
Os elementos mais comuns em aeronutica so:
Bolts (cavilhas);
Screws (parafusos);
Studs (pernos);
Nuts (porcas).
NO REMOVVEIS
Este tipo de elementos caracteriza-se por s admitirem remoo atravs de destruio de uma das suas
partes, impedindo dessa forma a sua reutilizao.
Os elementos de ligao permanentes mais comuns na aeronutica so os:
Lockbolts (Parafuso frenado inserida no material base);
Hi-locks (Cavilhas fixas);
Rivets e cherryloks (rebites).
- 136 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 137: Elemento Ligao permanente (Lockbolts).
SELECO DE MATERIAIS
Devemos ter alguns cuidados ao seleccionar os materiais, adequando por exemplo os elementos de fixao
ao tipo de peas que iro ser unidas ou fixadas. Se unirmos peas robustas com elementos de fixao fracos
e mal planeados, o conjunto pode apresentar falhas e ficar inutilizado.
necessrio evitar concentrao de tenses nas peas fixadas. Essas tenses causam rupturas nas peas
por fadiga do material, ou seja, a diminuio da resistncia ou enfraquecimento do material devido a
tenses e/ou esforos cclicos.
ROSCAS
CARACTERSTICAS GERAIS
A rosca assenta numa hlice cilndrica, que tem um determinado ngulo de inclinao. A rosca um
conjunto de filetes em torno de uma superfcie cilndrica.
Fig. 138: Filete da Rosca.
Uma rosca pode ter vrias funes, tais como:
Roscas de Fixao;
Roscas de Fixao e vedao;
Roscas de Transmisso.
- 137 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 139: Unio e Montagem de peas.
Fig. 140: Movimento de peas.
conveniente salientar, que uma pea roscada no deve trabalhar ao corte. Se houver esforos deste tipo
necessrio incluir um casquilho protector.
NOMENCLATURA
Fig. 141: Nomenclatura Rosca.
PARMETROS
Os parmetros principais de uma rosca so:
1 Dimetro Nominal;
2 Passo;
3 Perfil da rosca;
4 Sentido da hlice;
5 Nmero de fios.
- 138 -
Materiais e rgos de Mquinas
1 Dimetro Nominal
Rosca Exterior ou Macho: Dimetro d do vrtice do fio;
Rosca Interior ou Fmea: Dimetro D do fundo do fio.
As roscas internas encontram-se no interior das porcas.
Fig. 142: Rosca da Porca.
As roscas externas localizam-se no corpo dos parafusos.
Fig. 143: Rosca do Parafuso.
2 Passo
a distncia (medida num plano que contem o eixo) entre dois pontos homlogos de dois perfis
consecutivos do mesmo fio de rosca.
As Roscas podem ser de:
Passo Grosso (ou normal), de uso geral;
Passo Fino, de uso particularizado:
o
Caracteriza-se por existir um pequeno avano por volta e pequena profundidade;
So usados em casos especiais:
Roscagem de tubos ou regulao fina;
Para os mesmos dimetros exigem tolerncias mais severas.
- 139 -
Materiais e rgos de Mquinas
Rosca Mtrica Fina
Este tipo de rosca caracteriza-se por num determinado comprimento, possuir maior nmero de filetes do
que a rosca normal;
Vantagens
Permite uma melhor fixao da rosca, evitando afrouxamento do parafuso, em caso de vibrao
de mquinas e veculos.
No Anexo C Elementos de Ligao (tabelas 1,2 e 3), podemos observar vrios tipos parmetros de
rosca normalizados.
3 Perfil
Os filetes das roscas apresentam vrios perfis. So sempre uniformes, do nome s roscas e condicionam
sua aplicao. Os perfis mais usuais so:
Triangular; Trapezoidal; Redondo; Quadrado e Rosca dente de Serra.
Tabela 16: Perfis de Rosca.
O passo um parmetro fundamental na identificao do tipo de rosca, mesmo quando estamos perante
uma rosca de igual perfil.
- 140 -
Materiais e rgos de Mquinas
Rosca ISO (mtrica)
Rosca Whithworth
(ausncia de letra)
Rosca Gs
Rosca Rectangular
Rosca Trapezoidal
Tr
Rosca de Dente de Serra
Rosca Redonda
Rd
Tabela 17: Perfis de Rosca.
Considerando com referncia o Sistema Unificado, poderemos ter as seguintes variantes principais:
Variante
Identificao
Grosa (Coarse)
UNC (American Standard Unifield Coarse)
Fina (Fine)
UNF (American Unifield Fine)
Extra Fina (Extra Fine)
UNEF
Tipo J
UNJ
Passo Constante
UN
Tabela 18: Identificao de Rosca.
As roscas triangulares, segundo o seu perfil apresentam dois Tipos:
-
Rosca Mtrica;
Rosca Whitworth.
As roscas Mtrica e Whitworth:Grossa. Por exemplo M12 representa:
-
Rosca mtrica, de dimetro 12mm.
A rosca Mtrica e Whitworth: Fina. Por exemplo M10X1 representa:
-
Rosca mtrica, dimetro 10mm e de passo 1mm;
A designao da rosca ser eventualmente seguida da Tolerncia.
- 141 -
Materiais e rgos de Mquinas
4 Sentido da Hlice
Dependendo da inclinao dos filetes em relao ao eixo do parafuso, as roscas ainda podem ser Direita ou
Esquerda. Por exemplo esqM12x1, representa:
-
Rosca mtrica esquerda, de dimetro 18mm e de passo 1mm.
Direita:
-
O filete sobe da direita para a esquerda.
Fig. 144: Rosca Direita.
Esquerda:
-
O filete sobe da esquerda para a direita.
Fig. 145: Rosca Esquerda.
5 Nmero de Fios
Na mesma espiga podem ser abertos vrios fios de rosca.
Passo: (quando medimos em polegadas)
nmero de fios que existe no comprimento de uma polegada, ou seja, o nmero de voltas completas que
o hlice do perfil roscado tem de dar sua fmea para percorrer o comprimento linear de uma polegada.
Este nmero pode ser medido de uma forma mais precisa utilizando um equipamento designado por conta
fios.
Finalmente, conveniente referir que a compatibilizao de duas roscas, requer:
O mesmo passo;
O mesmo dimetro nominal (De), ou dimetro de rosca;
Tipo de entradas;
Sentido de orientao da hlice (direita ou esquerda).
- 142 -
Materiais e rgos de Mquinas
OUTROS PARMETROS
Classes de Tolerncia:
Para uma utilizao dos elementos roscados conveniente ter em ateno as vrias classes de ajustamento.
Assim podem ser:
-
Classe de Tolerncia 1: Indica o ajustamento com Folga, sendo a porca facilmente enroscvel
manualmente;
Classe de Tolerncia 2: Indica Ajustamento Leve;
Classe de Tolerncia 3: Indica Ajustamento Mdio;
Classe de Tolerncia 4: Indica Ajustamento Apertado (requer chave para rodar a porca).
Em Aeronutica, os elementos roscados utilizados na aeronave so fabricados normalmente na Classe de
Tolerncia 2- Ajustamento Leve, uma vez que permitem uma mais fcil montagem (giram inicialmente
mo).
MARCAO E IDENTIFICAO DE ROSCAS
Uma rosca exterior (macho) identificada pela letra A, enquanto uma rosca interior (fmea) identificada
pela letra B.
Quanto ao sentido uma rosca pode ser:
Direita (RH): se o elemento roscar no sentido contrrio ao dos ponteiros do relgio;
Esquerda (LH): se o elemento rodar no sentido dos ponteiros do relgio.
Identificao de Roscas
Exemplo => 0.250 -20 UNC -2A -LH
0.250 = Dimetro Nominal;
-20 = Passo da Rosca (em fios por polegada);
UNC = Rosca Unifica Grossa;
-2A = Rosca Exterior, Tolerncia Mdia (2);
-LH = Sentido da Rosca, neste caso esquerda; caso seja direita no necessrio assinalar uma vez que
so as mais comuns.
- 143 -
Materiais e rgos de Mquinas
Identificao de um Elemento Roscado
Cada fabricante ou entidade desenvolveu especificaes que so geralmente cdigos alfa - numricos de
utilizao geral, tal como os exemplos:
-
NA (Air Force Navy);
NAS (National Aircraft Standard)
MS (Military Standard).
Porm, podem particularmente ser identificadas em sistemas do prprio fabricante:
-
BAC (Boeing Aircraft Company).
MEDIO DE ROSCAS
Procedimento
Consiste na medio do passo da rosca;
Para obter essa medida, podemos usar:
o
Pente de rosca;
Escala;
Paqumetro.
Esses instrumentos so chamados verificadores de roscas e fornecem a medida do passo em milmetros ou
em filetes por polegada, e tambm, a medida do ngulo dos filetes.
Fig. 146: Verificadores de Rosca.
Em Aeronutica e na Indstria, os elementos roscados devem utilizar leos de corte especiais, para facilitar
a abertura de roscas.
- 144 -
Materiais e rgos de Mquinas
PARAFUSOS
TIPOS
Definio
Parafuso um elemento de fixao empregue na unio no permanente de peas, isto , as peas podem
ser montadas e desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar os parafusos que as mantm
unidas.
Os parafusos so diferenciados pela: (3)
-
Forma da Rosca;
Tipo de Accionamento;
Constituio.
Forma da Rosca
Os perfis mais usuais so:
Triangular; Trapezoidal; Redondo; Quadrado e Rosca dente de Serra.
Tipo de Accionamento
Est relacionado com o tipo de cabea do parafuso. Por exemplo um parafuso de cabea sextavada
accionado por chave de boca ou de estria.
Fig. 147: Parafuso.
- 145 -
Materiais e rgos de Mquinas
Constituio (no caso mais geral)
Cabea:
a parte destinada a transmitir o movimento ao parafuso ou a imobiliza-lo quando se
aperta a porca;
Espiga:
a parte a parte intermdia, roscada total ou parcialmente;
Ponta:
o
a extremidade do parafuso oposta cabea;
Fig. 148: Parafuso - Constituio.
O corpo pode apresentar vrias configuraes, tais como:
Cilndrico ou cnico;
Totalmente roscado ou parcialmente roscado;
A cabea pode apresentar vrios formatos, porm, h parafusos sem cabea.
Fig. 149: Parafuso de corpo Cilndrico, Cnico e Prisioneiro.
No Anexo C Elementos de Ligao (tabela 4), podemos observar vrias formas da cabea e formatos
do corpo de parafusos.
- 146 -
Materiais e rgos de Mquinas
Os parafusos podem ter as seguintes funes: (4)
Passante;
No Passante;
Presso;
Prisioneiros.
Fig. 150: Passante.
Fig. 151: No Passante.
Fig. 152: Presso.
Fig. 153: Prisioneiro
CLASSIFICAO E IDENTIFICAO
Neste tipo de elementos de ligao podemos encontrar elementos projectados para serem submetidos as
esforos de: traco, compresso, corte e fadiga.
Os parafusos bolts so indicados para esforos de fadiga, normalmente caracterizam-se por cabeas com
12 arestas e roscas um pouco mais longas. A carga de ruptura destes elementos cerca se 160 a 220 psi, o
que implica que no seu fabrico seja utilizado ao resistente corroso (A286 e Inconnel) e Titnio (Ti-6Al4V).
Os elementos referenciados para condies de trabalho ao corte, devero ter cabeas de 5 a 12 arestas. So
elaborados em material igual ao anterior e com carga de ruptura ligeiramente inferior aos 90 a 125Psi.
Em aplicaes gerais e no estruturais, podem ainda ser utilizados outros tipos de parafusos bolts.
- 147 -
Materiais e rgos de Mquinas
Os parafusos, designao dos elementos de ligao com rosca completa, podem apresentar variados tipos
de cabea, tais como: Hexagonal, philips, redonda, de embeber, etc.
Os materiais so os mesmos dos bolts, podendo surgir tambm em alumnio. A resistncia dos materiais
utilizados no fabrico de parafusos, dado que a sua aplicao no se destina a aplicaes estruturais um
pouco inferior ao dos bolts, podendo atingir valores de 160psi para parafusos a trabalhar traco e 95psi
para parafusos a trabalhar ao corte.
Metal
Ao
Cres
Titnio
Tenso Mnima (KPsi)
Liga
Corte
Traco
4340 / 8740
95
160
Inconnel 718
125
220
A286
95/110
160/220
PH 13 - 8 MO
125
220
Inconnel 718
100/125
180/220
Ti - 6Al - 4V
92
160
Tabela 19: Material para manufactura Bolts, Parafusos e Porcas.
ESPECIFICAES
Cada fabricante ou entidade desenvolveu especificaes que so geralmente cdigos alfa - numricos de
utilizao geral, tal como os exemplos:
-
NA (Air Force Navy);
NAS (National Aircraft Standard)
MS (Military Standard).
Como vimos anteriormente, podem particularmente ser identificadas em sistemas do prprio fabricante:
-
BAC (Boeing Aircraft Company).
A identificao completa dos bolts, parafusos e porcas feita pelo respectivo Part Number (P/N), que pode
ser definido por normas do prprio fabricante ou pelas diversas Normas Americanas (NA, MS e NAS) para
este fim.
Estas normas caracterizam completamente os parafusos e porcas, principalmente quanto respectiva:
rosca, material, comprimento da parte roscada, comprimento da parte no roscada, tipo de cabea, etc.
- 148 -
Materiais e rgos de Mquinas
Com o objectivo de facilitar a identificao do material destes elementos de ligao, foi criado um cdigo de
letras (prefixo) e nmeros (sufixo), que se encontra marcado na face de topo da cabea de cada parafuso, e
numa face do sextavado de cada porca (nas porcas tipo avio, com 12 faces, encontra-se no rebordo
adjacente), tal com na figura seguinte.
Fig. 154: Cdigo do material na face do parafuso e porca.
Esta codificao encontra-se devidamente normalizada e aceite pelas principais normas de elementos de
ligao, NA, MS e NAS. A parte de letras (prefixo), precedida da letra E, no caso das normas serem NA,
MS ou NAS.
As letras mais comuns deste cdigo so:
EC ou C, que designam Aos Inoxidveis;
EH ou H, que designam Ligas Refractrias, de aplicao na Zona Quente;
ET ou T, que designam Ligas de Titnio;
DD, que designam Ligas de Alumnio;
E ou S, que designam Ligas de Ao para aplicaes temperatura ambiente.
Assim o Part Number AN3DD5A, indica que:
AN, um bolt fabricado segundo a norma da Air Force Navy;
3, indica o dimetro em 1/16 da polegada ou seja, 3/16;
DD, indica o material de fabrico, neste caso uma liga de Alumnio 2024;
5, indica o comprimento em 1/8 de polegada, ou seja, 5/8;
A, indica que a espiga da rosca (parte final), no tem furo para frenagem;
Se a letra H, precedesse o 5, em conjunto com o A que lhe segue, tal significaria que a cabea
possua um furo para frenagem.
De forma mais usual, surge como nos exemplos seguintes:
AN 1/2-24:
Air Force Navy;
Dimetro meia polegada ();
Passo de rosca 24 Fios / polegada;
- 149 -
Materiais e rgos de Mquinas
NAS 10-125:
National Aircraft Standard;
Dimetro 10mm;
Passo de rosca 0.125mm;
MS 8-175:
Military Standard;
Dimetro 8mm;
Passo de rosca - 0.175mm.
Ou ainda,
M 12-50
Rosca mtrica;
Dimetro 12mm;
Passo 0,50mm.
2 1/2-8
Rosca Whitworth;
Comprimento 2 1/2;
Passo 8 Fios/polegada de passo;
1/2-8
Rosca Whitworth;
1/2;
8 Fios/polegada de passo.
- 150 -
Materiais e rgos de Mquinas
PERNOS
TIPOS E UTILIZAO
Perno Stud
uma pea cilndrica com rosca nos dois extremos, sendo a sua parte intermdia sem rosca, existindo casos
especiais de pernos com rosca total.
O perno possui duas pontas com rosca, mas cada uma dela com uma funo particular. Um dos lados est
destinado a ser ligado a uma das peas intervenientes na ligao, enquanto o outro recebe a porca. A
segunda pea que intervm na ligao fica fixada por aperto entre o perno roscado na primeira e a porca.
Fig. 155: Perno.
Os pernos so elementos de ligao entre peas, sendo um caso particular de ligao onde necessrio ter
em considerao:
Materiais envolvidos (material a ligar e a ser ligado);
Necessidade de montagem e desmontagem com frequncia;
Constrangimentos de montagem;
Etc.
Os pernos (Studs), surgem a par com juntas aparafusadas (com parafusos), nas aplicaes com necessidade
de montagens e desmontagens frequentes com relativa facilidade e sem danificar as peas a ligar.
Para melhor caracterizar um perno, convm saber as diferenas que existem entre a utilizao dos pernos e
dos parafusos. Um parafuso destina-se a ligaes removveis tal como os pernos, no entanto, estes porque
so caracterizados por dupla rosca depois de instalados (roscados) no material base da pea, no mais
sero removidos, excepto se for necessrio proceder sua reparao.
A utilizao do parafuso montado com porca no outro extremo, uma situao alternativa em muitas
circunstncias, mas o perno pode resolver a falta ou dificuldade de acesso num dos lados.
Os pernos podem servir de guiamento no processo de montagem entre as duas peas a ligar.
- 151 -
Materiais e rgos de Mquinas
NOMENCLATURA
O perno ligado a uma das peas para que fique retido para suportar o esforo axial e de toro, exercida
pela montagem da porca no outro extremo, fazendo ancorar o perno na pea.
A designao de lado de fixao define e exprime bem essa ideia. Os termos em Ingls utilizados para
referenciarem esse extremo, tambm esto ligados ideia de fixao (Anchor End). Existe a designao
(Driven End) no sentido de penetrao, porque a fixao do perno tem sempre uma operao de roscagem
deste na pea, e ainda o termo Lock Thread End (inserido no material base), no sentido do bloqueamento
da prpria rosca.
A extremidade do perno que vai receber o perno, designado por lado ou extremidade da porca (Nut End).
Com referncia montagem existe o termo Projection Lenth, para designar a altura acima da superfcie
acima da superfcie do material base que o perno deve ter. Inclui a arreigada (espiga) e a dimenso de
rosca destinada porca.
Fig. 156: Configurao de Pernos.
FIXAO E REMOO DE PERNOS
Fixao
A seleco do material para o fabrico dos pernos um aspecto de extrema importncia. Para suportar um
determinado esforo de aperto da porca, a fixao deve estar preparada para suportar esse esforo, com
uma margem de segurana.
Para a montagem recorre-se a inserts, para que o desgaste nos filetes seja feito sobre o material do
insert e no na pea, para que s este seja substitudo.
A nvel da reparao, recorre-se ao alargamento do furo com montagem de pernos de rosca oversize e ou
instalao de inserts para repor o dimetro original.
conveniente relembrar, que se o perno rodar durante a montagem da porca, pode danificar os filetes de
- 152 -
Materiais e rgos de Mquinas
rosca na pea base. No processo de desenroscamento, se perno rodar em conjunto com a porca, a
desmontagem j no se faz correctamente e ter e se resolver o problema da fixao.
A instalao de um perno nas peas passa pela aplicao de uma fora de torque nesse mesmo perno.
Na falta de uma cabea para aplicao de uma chave, existem solues alternativas tais como:
O perno pode ter as faces paralelas nas zonas no roscadas;
Existncia de uma fenda no topo;
A soluo mais comum o uso de porca e contra porca (2 porcas).
Remoo
um tipo de aco de manuteno raramente efectuado dado que na maior parte das situaes provocam
danos graves no:
Perno ou componente onde foi colocado.
PORCAS (NUTS)
REMOVVEIS
Tal como os elementos de ligao, tambm as porcas se podem considerar divididas em duas classes:
-
Fixas;
Removveis.
Fig. 157: Tipos de porcas utilizadas na Aeronutica.
As porcas removveis podem tambm classificar-se:
Porcas Traco:
o
Sendo fornecidas em material com resistncia de 180 a 220 Psi;
Porcas ao Corte:
o
Sendo fornecidas em material com resistncia de 125 Psi.
- 153 -
Materiais e rgos de Mquinas
As porcas removveis podem ter as mais variadas formas, sendo fabricadas em material similar ao dos
parafusos, no entanto, so feitas em material cuja carga de ruptura superior do parafuso.
A identificao do material idntica dos parafusos. Quanto forma de fixao, as porcas removveis
podem ser:
-
Porcas Auto-frenadas;
Porcas No Auto-frenadas.
Auto-Frenadas
As porcas Auto-frenadas tm montado um elemento de frenagem, as restantes para a frenagem necessitam
de um destes elementos:
Arame;
Troo;
Anilha ou mola de freio.
As porcas no auto-frenadas so as mais correntes e onde se incluem a porca de castelo, as sextavadas,
porcas quadradas, porcas de orelhas, etc.
Caractersticas
Cada tipo de porca deve ser aplicada de acordo com as suas caractersticas. Assim as porcas de castelo
(AN310), esto concebidas para serem utilizadas com rebites do tipo Clevis de olhal e ou com pernos. Esta
porca pode suportar tenses elevadas. Os rasgos ou castelos destinam-se a alojar os troos ou arame de
frenar.
As porcas de castelo (AN320) esto concebidas para serem utilizadas com rebites do tipo Clevis de olhal e
pinos cnicos roscados. Esta porca normalmente suportar somente esforos de corte. frenada com troos
ou arame de frenar, mas mais robusta que a (AN310).
Fig. 158: Formatos de Porcas Auto-Frenadas.
- 154 -
Materiais e rgos de Mquinas
Porcas Auto-frenadas Boots
So fabricadas em metal, sendo constitudas por uma nica pea, concebida para suportar o aperto mesmo
sob o efeito de grandes vibraes.
O seu formato assenta em duas seces de rosca. A primeira a porca resistente carga. A segunda
separada da primeira por um sector de mola, que tem de ser empurrada pela cavilha ao enroscar, at que, o
fim dos filetes de rosca alinhem com a segunda seco da porca, a qual tem a rosca mais justa do que a
primeira, exercendo desta forma, uma fora de aperto perpendicular aos fios de rosca.
Estas porcas podem ser desmontadas usando uma chave e reutilizadas sem perda da sua eficincia.
Porcas Auto-frenadas de Ao Inoxidvel
Este tipo de porcas pode facilmente ser montado mo, uma vez, que a sua aco de freio s inicia quando
a porca aperta na superfcie a fixar.
A porca consiste em duas partes: um invlucro com rebaixo biselado, um guia e um casquilho roscado
(insert), o qual rasgado e possui uma salincia circular que trabalha no rebaixo biselado. A porca gira
livremente no parafuso porque o casquilho da medida exacta daquela. Contudo, quando a porca bate na
superfcie slida e aperta a salincia circular do casquilho puxada para baixo e entalada contra o rebaixo
do invlucro. Esta aco comprime o casquilho roscado e obriga-o a fechar-se firmemente sobre o roscado
da cavilha.
Fig. 159: Porca Auto-frenada Boots.
- 155 -
Materiais e rgos de Mquinas
Porcas Auto-frenadas de Freio Elstico
um tipo de comum porca, possui uma maior altura de forma a permitir a construo de um alojamento
para um colar de fibra. Este colar resiste gua, aos solventes usuais tais como: combustveis, leos,
gorduras, etc.
O colar de fibra tem uma dimenso inferior do parafuso o qual a porca foi concebida, de forma a que a
porca gira com facilidade no parafuso at esta atingir o colar de fibra, a partir da, a rosca tende a arrastar a
fibra para dentro da porca, o que cria uma fora constante cuja presso que gera bloqueia a porca mesmo
sob severas vibraes.
O corpo destas porcas geralmente em ao inox, mas poder tambm ser em alumnio ou ao.
Normalmente estas porcas podem ser reutilizadas, no entanto o procedimento no muito recomendvel,
dado que quando utilizadas, normalmente o anel de fibra fica danificado.
A este tipo de porcas no recomendada a utilizao em zonas quentes, onde a temperatura de servio
exceda os 120C, pois a eficincia do colar diminui.
Fig. 160: Porca Auto-frenada de Colar de Fibra e Freio Elstico.
No Auto-Frenadas
Este tipo de porcas tem a particularidade de no requererem frenagem, uma vez que possuem um sistema
prprio de bloqueio.
Vantagens:
Esta caracterstica faz com que sejam as seleccionadas para a fixao de:
Elementos anti-frico e roldanas;
Tampas de caixas de engrenagens;
Ligaes sujeitas a vibraes.
Desvantagens:
No entanto so contra indicadas em montagens em que macho ou fmea estejam sujeitos a
esforo de rotao.
- 156 -
Materiais e rgos de Mquinas
FIXAS
As porcas fixas tambm designadas por porcas de prato, so normalmente empregues em montagens onde
no existe acesso para a instalao de outro tipo de porcas ou onde no seja possvel o posicionamento da
respectiva ferramenta de aperto.
Este tipo de porcas geralmente trabalha ao corte, sendo fabricadas em material com carga de ruptura, que
poder ir at aos 125psi e de uma forma excepcional, atingir os 160psi.
A fixao destas porcas pode ser feita atravs de rebites. Existem diversos tipos de porcas fixas, fabricadas
de acordo com as diversas especificaes tcnicas, e com as caractersticas adequadas a cada aplicao.
Os tipos de Porcas Fixas mais usuais so:
-
Porcas Fixas Rgidas Rebitadas (Anchor Nuts ou captive Nuts;
Porcas Fixas em Perfilados ( Nut Channels e T-slot nuts;
Porcas Fixas Abocardadas ( Clinch Nuts ou Shank Nuts;
Porcas Fixas em Encaixadas ( Speed Nuts ou U-Nuts ou J-Nuts).
Porcas Fixas Rebitadas (Anchor Nuts ou captive Nuts:
Encontram-se disponveis em dois tipos:
Porcas Fixas Rgidas Fixed:
o
Empregues em ligaes com alinhamentos rgidos;
Porcas Fixas Flutuantes Floating:
o
Empregues em ligaes onde possam existir desalinhamentos.
Nos dois casos, a base do suporte de fixao da porca tem abas com diversas formas e furos para instalao
dos elementos de fixao (rebites).
Fig. 161: Tipos de Porcas Fixas - Rgidas e Flutuantes.
- 157 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 162: Tipos de Porcas Fixas de Encaixe.
ANILHAS
Existem variados tipos e formas de anilhas na indstria, tais como:
Plana ou Lisa;
Mola ou de Presso;
Dentada;
Serrilhada;
Ondulada;
De travamento com orelha;
Anilha para perfilados;
Ou seja para cada tipo de trabalho existe um tipo ideal de anilha.
Fig. 163: Plana ou Lisa.
Fig. 165: Dentada.
Fig. 164: Mola ou de Presso.
Fig. 166: Serrilhada.
- 158 -
Fig. 167: Ondulada.
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 168: Travamento com orelha.
Fig. 169: Anilha para Perfilados.
Em aeronutica os tipos de anilhas de avio mais usuais so:
Planas;
Freio:
Freio e Mola;
Abas.
Especiais.
TIPOS
Planas
As anilhas planas proporcionam uma superfcie suave de escorregamento e actuam como calo na obteno
do correcto comprimentos de montagem do parafuso e da porca.
As anilhas AN960 e AN970 so usadas sob porcas sextavadas (a AN970 proporciona uma rea de
escorregamento maior do que a AN960).
Freio e Mola
As anilhas de Freio e Mola proporcionam a frico suficiente para evitar o desaperto em vibrao.
As anilhas de freio AN935 e AN936, so utilizadas com parafusos maquinados ou bolts onde as porcas
auto-frenadas ou de castelo no so aconselhadas.
- 159 -
Materiais e rgos de Mquinas
Aba
As anilhas de aba so concebidas de forma a evitar o laqueamento dos elementos roscados. Podem ser:
redondas e planas, providas de abas exteriores para que possam ser dobradas contra as faces da porca ou
cabea da cavilha, criando assim um sistema de bloqueio que impede o elemento de rodar. Dada a sua
construo s podem ser usadas uma vez, dado que as abas tendem a partir dobradas segunda vez.
Especiais
As anilhas de Esfera AN950 e as sede AN955, so usadas quando a cavilha faz um ngulo com a superfcie
ou onde se impe um alinhamento perfeito com a mesma. Estas anilhas so usadas em conjunto.
As NAS 144 a MS 2002 so usadas com cavilha sextavada interior, das sries NAS 144 at NAS 158 e NAS
172/176.
LEI DO BINRIO DE APERTO
Durante uma aco de manuteno antes de utilizar a chave dinammetro, deve saber-se qual o aperto
recomendado, consultando para o efeito a T.O. da aeronave ou equipamento.
O Binrio de Aperto baseado na lei fundamental da alavanca:
O momento ou binrio (TW) num ponto igual ao produto da fora aplicada (F), pela distncia ao
ponto de aplicao (L) ou brao da alavanca;
TW = F x L.
Fig. 170: Chave Dinammetro.
- 160 -
Materiais e rgos de Mquinas
DISPOSITIVOS DE FRENAGEM
A frenagem tem como finalidade assegurar o normal funcionamento de um conjunto, ou seja, no permitir
que os parafusos, porcas ou cavilhas tenham tendncia de um deles para desapertar ou folgar, sendo por
isso, contrariados pela frenagem.
Existem vrios mtodos de frenagem, destacando-se os seguintes:
-
Anilha de Frenagem;
O Arame;
O Troo;
O Freio de Mola;
A Porca Auto-frenada;
Contra Porca.
POR ARAME
MATERIAL
A frenagem com arame pode ser executada de forma manual utilizando para o efeito um alicate de frenar,
ou de forma automtica atravs de um equipamento automatizado.
Fig. 171: Alicate de Frenar de 10.
No Anexo D Dispositivos de Frenagem (tabela 1), podemos observar diversos materiais utilizados e
aplicados na frenagem de acordo com as suas caractersticas especficas.
- 161 -
Materiais e rgos de Mquinas
PROCEDIMENTO DE FRENAGEM
Sequncia:
Alinhamento dos Furos;
Inserir o arame de medida correcta;
Apertar o arame em torno da cabea do parafuso;
Enrolamento at ao 2furo;
Inserir o arame no 2furo, e esticar at o enrolamento ficar esticado;
Passar a outra extremidade em torno da cabea do parafuso e enrolar para acabamento;
- 162 -
Materiais e rgos de Mquinas
Cortar o excesso de arame, utilizando o elemento cortante do alicate;
Dobrar a ponta do acabamento para baixo.
A execuo de uma frenagem deve ser feita com um Nmero de Voltas por Polegada, que varia:
Entre 7 a 10:
o
Normalmente, so executadas 8 voltas por polegada.
OUTRAS FORMAS DE IMOBILIZAO
Existem muitas outras formas de imobilizao, mas as mais usuais em aeronutica so:
-
Fechos Rpidos;
Cavilhas;
Freios;
Pinos.
Fechos Rpidos
Os fechos rpidos so utilizados na unio de peas que no so articuladas entre si.
Fig. 172: Fechos Rpidos.
- 163 -
Materiais e rgos de Mquinas
Cavilhas
As cavilhas unem peas que no so articuladas entre si, podendo nalguns casos ser expansivas.
Fig. 173: Equipamento com Cavilha.
Fig. 174: Cavilha Expansiva.
Freios
O freio ou tambm conhecido por anel elstico usado para impedir deslocamento de eixos. Serve,
tambm, para posicionar ou limitar o movimento de uma pea que desliza sobre um eixo.
-
Norma DIN 6799.
Fig. 175: Exemplos de aplicao de Freios.
Pinos
O pino une peas articuladas. Neste tipo de unio, uma das peas pode-se movimentar por rotao.
Fig. 176: Articulao com Pino.
- 164 -
Materiais e rgos de Mquinas
REBITES PARA AERONAVES
LIGAES REBITADAS
Em aeronutica necessrio garantir a adequada ligao entre componentes, ligaes essas muitas vezes
submetidas aos mais difceis tipos de esforos. Uma vez que as ligas de alumnio so difceis de soldar e
algumas nem sequer so soldveis, optou-se por fazer a sua ligao recorrendo a elementos de ligao.
Um Rebite um pino de metal normalmente em alumnio ou ao inox, constitudo por uma cabea e um
corpo cilndrico. montado para que a sua haste possa por encalcamento ser deformada, atravs de
esmagamento, originando uma segunda cabea na face oposta da ligao.
Fig. 177: Rebite de Cabea Redonda.
Neste tipo de ligaes normalmente o custo da operao de rebitagem maior do que o do material
utilizado. Para adequao do material sua aplicao existem vrios tipos de rebites, cada um com as suas
caractersticas.
Os rebites mais comuns, quanto forma:
-
Rebite Macio;
Rebites de Tubo;
Rebites de Semi-tubo;
Rebites Explosivo;
Rebites Distanciadores;
Rebites com Seces Diferentes;
Rebite Chobert;
Rebite Cherry;
Rebite Prego;
Rebite Porca.
- 165 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 178: Tubo.
Fig. 180: Explosivo.
Fig. 179: Semi-tubo
Fig. 181: Distanciadores.
Fig. 182: Seces diferentes.
O Rebite Pop, normalmente utilizado na indstria, um elemento especial de unio, empregado para fixar
peas com rapidez, economia e simplicidade.
Fig. 183: Rebite Pop.
Em aeronutica normal os rebites serem dividos em dois grandes grupos:
-
Rebites Slidos (solid Shank Rivets);
Rebites Cegos (Blind Rivets ou Blind Fastening System).
A principal diferena entre estes dois tipos de rebites, reside na forma onde e como cada um deles
aplicado.
Os rebites slidos s so instalveis atravs de ligaes com acesso de ambos os lados. Os rebites cegos
destinam-se principalmente a serem usados em ligaes com acesso de um s lado. Ambos so aplicados
recorrendo h mesmo ferramenta.
- 166 -
Materiais e rgos de Mquinas
REBITES SLIDOS
Este tipo de rebites o mais utilizado e mais conhecido, apresentando elevada resistncia mecnica aps
cravao, no sendo sequer comparveis com os rebites cegos de igual dimenso e material.
Os rebites slidos so muitas vezes designados por rebites estruturais. Quanto ao tipo de cabea existem
dois grandes grupos: cabea de embeber e cabea saliente, cada um com vrias variantes.
Os parmetros de identificao destes rebites assentam: na natureza do material, tipo de cabea, dimenso
da espiga e tratamento trmico.
Os rebites slidos utilizados na aeronutica so quase sempre manufacturados a partir de ligas de alumnio:
2017, 2117, 2024, 5056, 1100 e a mais recente 7050.
Material
Muitos rebites apresentam marcas e sufixo que determinam o tipo de material utilizado na sua manufactura.
Liga
Sufixo
Marca na Cabea
1100
2017
DD
Ponto Saliente
2117
AD
Ponto Embebido
5056
2024
DD
Dois Traos Salientes
Monel
No tem
No tem
Cruz Saliente
Tabela 20: Rebites Marcas e Sufixos.
Seleco do Rebite
A seleco de um rebite depende nomeadamente da resistncia pretendida para a junta. Normalmente
prefervel que o rebite tenha as mesmas propriedades que o material a ligar, no entanto, sob o ponto de
vista da cravao aconselhvel que os rebites sejam mais macios.
Outro factor importante a ter em conta a espessura da chapa e a dimenso do furo. Como tal, se
utilizarmos um rebite de grande dimetro em chapas finas, o material destas romper antes de atingido o
valor da tenso de corte, por outro lado, se utilizarmos em chapas grossas elementos de pequeno dimetro,
- 167 -
Materiais e rgos de Mquinas
este fracturar antes de atingido o valor de resistncia da chapa. Com tal, deve existir um equilbrio entre o
dimetro do rebite e a espessura da chapa.
REBITES CEGOS (BLIND RIVETS)
Este tipo de rebites composto por uma espiga oca, a qual tem de um lado a cabea do rebite, enquanto a
extremidade oposta lisa. Pelo interior da espiga passa uma haste, a qual tem maior dimetro do lado da
extremidade lisa do rebite.
Tal como os rebites slidos, estes tambm apresentam dois tipos de cabea:
-
Cabea saliente / Universal Head);
Cabea de embeber de 100 (Counterssunk head).
REBITES INDUSTRIAIS
Na indstria a fabricao de rebites padronizada, ou seja, segue as normas tcnicas que indicam medidas
da cabea, do corpo e do comprimento til dos rebites.
Na tabela a seguinte podemos observar as propores padronizadas para os rebites. Os valores que
aparecem nas ilustraes so constantes, ou seja, nunca mudam.
Tabela 21: Rebites Tipos e Propores.
- 168 -
Materiais e rgos de Mquinas
O que significa 2 x d, para um rebite de cabea redonda larga?
Significa que o dimetro da cabea desse rebite duas vezes o dimetro do seu corpo.
Se o rebite tiver um corpo com dimetro de 5 mm, o dimetro de sua cabea ser igual a 10 mm, dado que
2 x 5 mm = 10 mm.
Exemplo: Cabea redonda
Dimetros padronizados: de 10 at 36 mm (d).
Comprimentos teis padronizados: de 10 at 150 mm (L).
Fig. 184: Rebite.
ESPECIFICAES
AQUISIO DE REBITES
Para adquirir os rebites adequados ao trabalho necessrio conhecer suas especificaes, ou seja:
O Material de que feito;
O tipo de sua cabea;
O dimetro do seu corpo;
O seu comprimento til.
Na especificao de um rebite importante saber qual ser:
O seu comprimento til (L) e a sobra necessria (Z).
Nesse caso, preciso ter em conta:
o
O dimetro do rebite;
O tipo de cabea a ser formado;
O modo como vai ser fixado o rebite: A frio ou a quente.
Fig. 185: Medidas teis.
- 169 -
Materiais e rgos de Mquinas
Exemplo Prtico:
Material do rebite:
Rebite de ao 1.006 - 1.010;
Tipo de cabea:
Redondo;
Dimetro do corpo:
1/4 ;
Comprimento til:
3/4".
Normalmente, o pedido de rebites feito conforme o exemplo:
Rebite de ao 1.006 - 1.010, cabea redonda, de 1/4, 3/4.
CDIGO DE REBITES
So utilizados 2 Mtodos para Identificar os Rebites:
-
Sistema Alfa Numrico;
Sistema Simbolgico.
Sistema Alfa - Numrico: MS 20426 AD 5 5
MS - Military Standard;
20426 - Tipos de Cabea;
AD - Tipos de Liga;
5 - Dimetro 5x1/32 = 5/32;
5 - Comprimento 5x1/16 = 5/12.
Tipos de Liga:
AD: Liga de Alumnio 2117-T4;
A: Liga de Alumnio 1100;
D: Liga de Alumnio 2017-T4;
DD: Liga de Alumnio 2024-T4;
B: Liga de Magnsio 2117-T4;
- 170 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tipos de Liga mais usadas:
As Ligas 2117 podem ser usadas como fabricados. As Ligas 2117 e a 2024 T4, so utilizadas imediatamente
aps tratamento trmico, ou conservados no frio:
A uma temperatura de (- 5C) ->Semanas;
A uma temperatura de (0C) ->24 horas;
A aplicao s pode ser feita 5 a 10 minutos de retirados a frio.
IDENTIFICAO DO REBITE
Os rebites mais usuais so normalmente identificados por:
Tipo de cabea:
Utilizam-se vrios tipos de cabeas de rebite elaboradas, tendo em considerao uma utilizao
especfica, um nome descritivo e um nmero de rebite standard.
Material:
Tal como para produo de aeronaves existem diferentes materiais para manufacturar rebites. O
material referenciado atravs de marcas de identificao feitas na cabea manufacturada e por
letras de cdigo que so parte do nmero do rebite standard.
Dimenses:
As dimenses dos rebites so designadas pelo dimetro da espiga, variando 1/16 in. At 1/2in., com
uma progresso de 1/32in. Os rebites so produzidos para comprimentos at 1in., com progresso
de 1/16.
No Anexo E Rebites para Aeronaves (tabela 1), podemos visualizar os sistemas de identificao de
rebites.
- 171 -
Materiais e rgos de Mquinas
TRATAMENTO TRMICO DOS REBITES (RIVETS HEAT TREATMENT)
Os rebites so manufacturados a partir de vrias ligas e devem ser tratados termicamente antes da sua
utilizao.
Os tratamentos trmicos viso melhorar as propriedades mecnicas dos rebites, ou seja, torn-los mais
maleveis de forma a resistir melhor a esforos bruscos ou alternados e a choques, por outras palavras,
permitir a homogeneizao do material.
Procedimento
Consiste em aquecer um rebite a uma temperatura geralmente superior ao ponto de
transformao, deixando-o depois arrefecer lentamente, tornando o rebite mais malevel e resistir
melhor a esforos bruscos ou alternados e a choques.
O Ciclo Trmico compreende:
-
Aquecimento: Lento, at temperaturas elevadas;
Estgio: Curto;
Arrefecimento: Lento.
Os rebites aptos para aplicao so feitos a partir das ligas 2117, 1100, e 5056. Como tal, o tratamento
trmico feito durante a sua fabricao e podem ser aplicados sem grande preocupao por parte da
equipa de manuteno. A liga 2117 possvel ser tratada termicamente, mas tendo em considerao a
condio anterior, tambm no obriga a cuidados especiais.
Os rebites feitos a partir das ligas 2117 e 2024 quando completamente tratados, so demasiado duros e
partem ao serem cravados, da a necessidade de um tratamento trmico prvio.
O tratamento trmico aplicado aos rebites 2024, consiste num recozimento parcial, aps o qual se deve
retardar o tratamento da precipitao (hardening) ou endurecimento natural. O retardamento deste
tratamento consegue-se atravs da armazenagem dos rebites a baixas temperaturas. Como tal, so
submetidos a um tratamento de soluo, sendo depois de arrefecidos e colocados em cmaras frigorficas
temperatura de (-23C), at posterior utilizao.
Este tipo de armazenamento a baixa temperatura tem como finalidade retardar o envelhecimento natural
que se regista temperatura ambiente e conservar os rebites suficientemente macios de forma a permitir a
sua cravao em boas condies.
- 172 -
Materiais e rgos de Mquinas
Ligas
Tempera
Temperatura
(F)
2017
(D)
T4
930 - 950
2024
(DD)
T4
910 - 930
Dimetro
3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
Tempo de
forno
(minutos)
11
13
15
17
19
21
(+-1)
(+-1)
(+-1)
(+-1)
(+-1)
(+-1)
(+-1)
Tabela 22: Tratamento Trmico dos Rebites.
TIPOS DE REBITAGEM
Os principais tipos de rebitagem utilizados na indstria so:
-
Recobrimento;
Recobrimento simples;
Recobrimento duplo.
Rebitagem de Recobrimento
As chapas so apenas sobrepostas e rebitadas. Este tipo destina-se somente a suportar esforos e
empregado na fabricao de vigas e de estruturas metlicas.
Fig. 186: Rebitagem de Recobrimento.
Rebitagem de Recobrimento Simples:
destinada a suportar esforos e permitir fechamento ou vedao. empregue na construo de caldeiras a
vapor e recipientes de ar comprimido. Nesta rebitagem as chapas so justa postas e sobre elas estende-se
uma outra chapa para cobri-las.
Fig. 187: Rebitagem de Recobrimento Simples.
- 173 -
Materiais e rgos de Mquinas
Rebitagem de Recobrimento Duplo:
usada unicamente para uma perfeita vedao. empregue na construo de chamins e recipientes de
gs para iluminao. As chapas so justapostas e envolvidas por duas outras chapas que as recobrem dos
dois lados.
Fig. 188: Rebitagem de Recobrimento Duplo.
A distribuio dos rebites outro parmetro de extrema importncia. Assim, o comprimento da chapa, a
distncia entre a borda e o rebite mais prximo, o dimetro do rebite e o passo, devem ser projectadas de
forma interligada.
O passo a distncia entre os eixos dos rebites de uma mesma fileira, devendo ser bem calculado para no
ocasionar empenamento das chapas.
Quanto ao processo de rebitagem ele pode ser manual ou mecnico, podendo ainda ser efectuado:
A frio ou a quente.
Fig. 189: Fases da Rebitagem.
Manual:
Este tipo de processo feito mo, com pancadas de martelo. Antes de iniciar o processo, preciso
comprimir as duas superfcies metlicas a serem unidas.
Fig. 190: Rebitagem Manual.
- 174 -
Materiais e rgos de Mquinas
Mecnico:
Este processo feito por meio de martelo pneumtico ou de alicate de rebite mecnico, pneumtico e
hidrulico.
Fig. 191: Rebitagem Mecnica.
- 175 -
Materiais e rgos de Mquinas
TUBOS E UNIES
TUBAGENS
Sempre que se pretende montar um sistema em que empregue tubagens, precisamos de ter alguns
conhecimentos para podermos adquirir o material necessrio ao nosso projecto, tais como:
Presses, dimenses das tubagens tipo de tubagens, ligaes, etc.
Para os vrios sistemas hidrulico, combustvel, de leo e pneumtico, as tubagens tm caractersticas
especiais.
A norma NP-182 normaliza o projecto de Tubagens.
TIPOS DE PRESSO
Os tipos de presso so:
-
Presso Nominal;
Presso Prova;
Presso Ruptura.
Presso Nominal (PN):
Presso qual a tubagem susceptvel de ser utilizada.
Presso Prova (PE):
-
Presso mnima que deve suportar no decurso da utilizao, sem que haja fuga ou deteriorao;
PE=2PN.
Presso Ruptura (PR):
-
Presso mnima que deve suportar uma tubagem sem que haja fuga, rebentamento, ruptura ou
separao dos terminais;
PR = 4PN.
- 177 -
Materiais e rgos de Mquinas
CLASSES DE PRESSO
As Tubagens esto divididas em 5 classes de acordo com as Presses Nominais:
Classes
Presso (Bares)
Dimetro (Polegadas)
3,5 a 20
3 a 1/8
II
6,0 a 70
3 a 1/8
III
35 a 105
1 1/2 a 1/8
IV
210 a 270
1 a 1/8
280
3/8 a 1/8
Tabela 23: Classes de Presso.
TIPOS DE TUBAGENS
As tubagens podem ser: (2)
-
Rgidas;
Flexveis.
Tubagens Rgidas
Caracterizam-se por resistir a altas presses temperaturas elevadas.
Fig. 192: Tubagem de gs.
Fig. 193: Tubagem Linha de Combustvel.
Os materiais empregues nas tubagens so as ligas de alumnio, ligas de ao, titnio e o cobre. Estes
materiais tm aplicao em zonas muito diversas (excepto ligaes a rgos com movimento relativo), tal
como, o trem e os cilindros actuadores.
Deve ser dada especial ateno a esforos devidos a dilatao e ou flexibilidade da estrutura, com evidncia
para a asa. Para compensao dos esforos devidos a dilatao e flexibilidade, concebem-se tubagens com
- 178 -
Materiais e rgos de Mquinas
pequenas curvaturas, fixam-se as tubagens com braadeiras forradas a borracha, distanciadas 30cm.
As tubagens de Alumnio tm boa relao resistncia/peso, sendo por isso as preferidas para presses
maiores de 1.750 psi. Exceptuam-se, locais sujeitos a vibraes, a altas temperaturas e zonas desprotegidas.
Unidades de Presso
Pa
N /mm2
bar
10-6
10-5
1 N / mm2
106
10
1 bar
105
0,1
1 Pa = N / m2
Psi =1 libra(lb) / polegada (pol)2)
68,96
Tabela 24: Unidades de Presso.
Exemplos de Ligas
Tubagens Ligas de Alumnio tratadas (O, T6 e T4):
5052 O
-> Magnsio;
6061 T6
-> Magnsio e Silcio;
6061 T4
-> Magnsio e Vandio.
Aplicao
Tubagens de Titnio e Ligas de Ao:
Suportam presses elevadas
o
Sistemas de altas presses;
Resistem a vibraes e temperaturas elevadas
o
Nacelles dos motores e zonas prximas de fontes do calor;
Nas zonas desprotegidas do trem.
Tubagens de Cobre:
Sistemas de oxignio de alta presso com terminais soldados a prata.
- 179 -
Materiais e rgos de Mquinas
Flexveis
Constituio: (3)
Camada Interior: em borracha ou teflon (PTFE);
Camadas de Reforo: entranado de algodo, entranado de ao, fita de ao enrolada em espiral
(pouco usada);
Camadas de Borracha (proteco).
Fig. 194: Tubagem Flexvel.
As Presses de Servio, neste tipo de tubagem so:
Tubagens sem reforo de ao: at 300 psi;
Tubagens com 2 entranados de ao: Alta Presso.
Fig. 195: Tubagem Flexvel Travo de Maxila.
Fig. 196: Componentes APU C130.
- 180 -
Materiais e rgos de Mquinas
TIPOS DE UNIES
As marcaes so impressas longitudinalmente ou sobre braadeiras ou numa unio, com a inscrio:
Marca do fabricante;
Tipo;
Data de vulcanizao, ex: 2093 (2- semestre; 93- ano);
Referncia da tubagem.
A seleco de uma unio de tubagem de ser elaborada de acordo a Normalizao, tendo em conta a funo,
material, classe de presso, etc.
A reparao de uma tubagem um processo que requer tcnica e uma sequncia de operaes efectuada
de forma correcta:
-
Remover a Tubagem;
Fabrico;
Encurvamento;
Respeitar Regras Tcnicas;
Corte;
Corte executado com mquina ou serrote;
Abocardamento.
Remover a Tubagem
Com cuidado para que possa servir de modelo e aproveitar as ligas no danificadas;
Fabrico
Cortar a tubagem com o comprimento acrescido de 10%;
Encurvamento
Seguir as especificaes para evitar:
o
Deformaes por achatamento;
Formao de pregas;
Fracturas.
- 181 -
Materiais e rgos de Mquinas
Respeitar Regras Tcnicas
Raio de curvatura, no pode ser menor que o especificado;
Comprimentos mnimos entre curvas;
Comprimentos mnimos entre curvas e extremidades.
Corte
Aps o encurvamento necessrio dar o desconto para o abocardado e proceder ao corte.
Corte executado com mquina ou serrote
Regulando a profundidade,
A programao deve ser moderada para evitar deformaes do tubo;
A separao deve acontecer normalmente.
Abocardamento
Limar os topos com lima paralela;
Retirar impurezas do interior;
Proceder ao Abocardamento evitando movimentos repentinos.
As tubagens so ligadas entre si e aos rgos por meio de unies de Ligao chamados: Fittings.
Fig. 197: Ligaes Fittings.
As ligaes podem ser do tipo:
Abocardadas;
Bicnicas;
Wig O Flex;
Ligaes Rpidas;
Etc.
Os terminais podem ser com abocardado, sem abocardado ou encordoadas.
- 182 -
Materiais e rgos de Mquinas
MOLAS
TIPOS
CARACTERSTICAS
As molas tm funes muito importantes e diversas as suas aplicaes como podemos observar nos
exemplos seguintes.
Neste caso, as molas permitem ao mergulhador elevar-se sob impulso, para o salto de mergulho.
Fig. 198: Efeito da Mola.
A mola ou elemento elstico, tem como principal caracterstica o facto que com a aplicao uma fora ficar
deformado e depois de essa mesma fora deixar de actuar, voltar ao seu estado inicial ou de repouso.
Vantagens:
As molas ao sofrerem a aplicao de uma fora absorvem energia, que poder ser utilizada mais
tarde, quando conveniente.
CLASSIFICAO
As molas so classificadas segundo a: (2)
-
A forma Geomtrica;
Forma como resistem aos Esforos.
- 183 -
Materiais e rgos de Mquinas
Forma Geomtrica
Podendo ser: helicoidal ou plana.
Fig. 199: Helicoidal.
Fig. 200: Plana.
Forma como resistem aos Esforos
Podendo ser de:
o
Traco;
Compresso;
Toro.
Fig. 201: Traco.
Fig. 202: Compresso.
Fig. 204: Compresso.
- 184 -
Fig. 203: Toro.
Materiais e rgos de Mquinas
MATERIAIS
No fabrico de molas so utilizadas principalmente: (2)
Matrias Plsticas (elastmeros) e borrachas;
Metais:
o
Ao de uso corrente;
Aos especiais;
Ao de alta tempera;
Lates;
Bronzes;
Ligas de cobre.
APLICAES
As molas so usadas principalmente quando se pretende: (5)
Armazenamento de Energia;
Amortecimento de choques e vibraes;
Distribuio de cargas;
Medio e ou limitao de esforos;
Preservao de junes ou contactos, travamentos.
Fig. 205: Armazenamento de Energia.
Fig. 206: Amortecimento de choques.
Fig. 207: Distribuio de Cargas.
- 185 -
Fig. 208: Limitao de Vazo.
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 209: Preservao de juntas ou contactos.
- 186 -
Materiais e rgos de Mquinas
CHUMACEIRAS
TIPOS
Finalidade
Geralmente, os elementos de apoio consistem em acessrios auxiliares para o funcionamento de mquinas.
Como exemplos elementos de apoio, temos:
Buchas, guias, rolamentos e chumaceiras.
Na prtica, vamos observar que buchas e chumaceiras so elementos que funcionam conjuntamente. As
chumaceiras so utilizadas nos mais diversos equipamentos industriais.
Uma chumaceira um suporte ou guia em que se apoia um eixo, ou seja, uma superfcie fixa, que serve
de apoio a outra superfcie mvel.
Dependendo do tipo de solicitao dos esforos as chumaceiras, tambm conhecidos por mancais podem
ser de:
-
Deslizamento;
Rolamento
CHUMACEIRAS DE DESLIZAMENTO
As chumaceiras de deslizamento de uma forma geral so constitudas por uma bucha fixada num suporte.
Tm aplicao variada, podendo ser usadas em mquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotao,
dado a sua baixa velocidade, evita um demasiado aquecimento dos componentes expostos ao atrito.
Fig. 210: Chumaceira.
Um dos grandes inconvenientes das chumaceiras de deslizamento o atrito. So utilizadas buchas e de
lubrificantes de modo a reduzir esse atrito e melhorar a rotao do eixo.
- 187 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 211: Chumaceira em corte.
As Buchas so corpos cilndricos ocos que envolvem os eixos, permitindo-lhes uma melhor rotao. As
buchas so feitas de materiais macios, tais como:
Bronze e ligas de metais leves.
Fig. 212: Chumaceira - Componentes.
As chumaceiras e as buchas tm a funo de servir de suporte a eixos, de modo a reduzir o atrito e
amortecer choques ou vibraes.
A lubrificao das chumaceiras de deslizamento pode ser:
hidrodinmica, hidrosttica, elastohidrodinmica, transio (fronteira) e filme slido.
Fig. 213: Filme Slido.
- 188 -
Materiais e rgos de Mquinas
Os parmetros e condies de funcionamento dos vrios tipos de casquilhos, encontram-se tabelas tal como
o catlogo da SKF.
Tabela 25: Casquilhos.
Fig. 214: Tipos de Chumaceira - Motor.
- 189 -
Materiais e rgos de Mquinas
CHUMACEIRAS DE ROLAMENTO
Quando necessitamos de maior velocidade e menos atrito, a chumaceira de rolamento o mais adequado.
Os eixos das mquinas, geralmente funcionam assentes em apoios. Quando um eixo gira dentro de um furo
produz-se, entre a superfcie do eixo e a superfcie do furo, um fenmeno chamado atrito de
escorregamento.
Sempre que necessrio reduzir ainda mais o atrito de escorregamento, utilizamos um outro elemento de
mquina, chamado rolamento. O rolamento tem como funo limitar ao mximo, as perdas de energia em
consequncia do atrito.
Geralmente os rolamentos so constitudos por dois anis concntricos, entre os quais so colocados
elementos rolantes (esferas, rolos e agulhas).
Os rolamentos so classificados em funo seus elementos rolantes: (3)
-
Esferas;
Rolos;
Agulhas.
Fig. 215: Esferas.
Fig. 216: Rolos.
Fig. 217: Agulhas.
Rolamento de Esfera
O anel externo fixado na chumaceira e o anel interno fixado directamente ao eixo.
Fig. 218: Rolamento de Esferas.
- 190 -
Materiais e rgos de Mquinas
CARGAS
NORMALIZAO
As dimenses e caractersticas dos rolamentos so indicadas nas diferentes normas tcnicas e nos catlogos
dos fabricantes. Estes valores so normalizados e devem ser sempre consultados, de forma a facilitar uma
seleco correcta de um rolamento.
Ao examinar um catlogo de rolamentos ou uma norma especfica, vamos encontrar informaes sobre os
vrios parmetros, tais como:
D: Dimetro externo;
d: dimetro interno;
R: Raio de arredondamento;
L: largura.
Fig. 219: Caractersticas de um Rolamento.
Em geral, a normalizao dos rolamentos feita a partir do dimetro interno d, isto , a partir do dimetro
do eixo em que o rolamento utilizado.
Para cada dimetro so definidas trs sries de rolamentos: leve, mdia e pesada.
As sries leves so usadas para cargas pequenas. Para cargas maiores, so usadas as sries mdia ou
pesada.
Os valores do dimetro (D) e da largura (L) aumentam progressivamente em funo dos aumentos das
cargas.
- 191 -
Materiais e rgos de Mquinas
CARGA APLICADA
Um rolamento deve ser projectado de acordo com as foras que eles suportam e podem ser: (3)
-
Radiais;
Axiais;
Mistos.
Radiais
Caracterizam-se por no suportar cargas axiais e impedirem o deslocamento no sentido transversal ao eixo.
Fig. 220: Radial.
Axiais
Caracterizam-se por no poderem ser submetidos a cargas radiais e impedem o deslocamento no sentido
axial, isto , longitudinal ao eixo.
Fig. 221: Axial.
Mistas
Suportam tanto carga radial como axial e impedem o deslocamento tanto no sentido transversal quanto no
axial.
Fig. 222: Misto.
- 192 -
Materiais e rgos de Mquinas
SELECO
Os rolamentos so seleccionados tendo em considerao, os seguintes parmetros:
As medidas do eixo;
O dimetro interno (d);
O dimetro externo (D);
A largura (L);
O tipo de solicitao;
O tipo de carga;
O n de rotao.
Fig. 223: Parmetros do Rolamento.
APLICAO
EXEMPLOS PRTICOS
Conforme a o tipo de solicitao, os rolamentos apresentam uma infinidade de tipos para aplicao
especfica, tais como:
Mquinas agrcolas, motores elctricos, mquinas, ferramentas, compressores, construo naval etc.
Rolamentos de Esferas
Os corpos rolantes so esferas e so apropriados para rotaes mais elevadas.
Fig. 224: Rolamento de Esferas.
- 193 -
Materiais e rgos de Mquinas
Rolamentos de Rolos
Os corpos rolantes so formados por:
Cilindros, rolos cnicos ou barriletes.
Suportam cargas maiores e devem ser usados em velocidades menores.
Fig. 225: Rolamento de Rolos.
Rolamentos de Agulhas
Os corpos rolantes so de pequeno dimetro e grande comprimento.
So recomendados para mecanismos oscilantes, onde:
A carga no constante e o espao radial limitado.
Fig. 226: Rolamento de Agulhas.
- 194 -
Materiais e rgos de Mquinas
MONTAGEM E DESMONTAGEM
A montagem e desmontagem de um rolamento um procedimento que envolve ferramentas especiais e
operrios especializados.
Fig. 227: Grampo.
Fig. 228: Cuidados na Montagem.
VANTAGENS E DESVANTAGENS
Chumaceiras de Rolamento
Vantagens: (5)
Menor atrito e aquecimento;
Pouca lubrificao;
Condies de intercmbio internacional;
No desgasta o eixo;
Evita grande folga no decorrer do uso.
Desvantagens: (5)
Muita sensibilidade a choques;
Maior custo de fabricao;
Pouca tolerncia para carcaa e alojamento do eixo;
No suportam cargas muito elevadas;
Ocupam maior espao radial.
- 195 -
Materiais e rgos de Mquinas
MANUTENO
A lubrificao de uma chumaceira um aspecto de grande importncia, dado que elas trabalham a altas
temperaturas, como por exemplo as chumaceiras de secadores de papel. Este tipo de chumaceira possui
cavidades, nas quais so aplicadas massas em bloco com conformao adequada.
A troca de chumaceiras ou enchimento de massa lubrificante efectuado em perodos recomendados pelo
fabricante. O prazo de troca de chumaceiras indicado em horas de servio [h] para motores (IEC) com
accionamento por acoplamento sob condies de servio normais, com o motor montado em posio
horizontal, depende: (3)
-
Temperatura;
Meio refrigerante;
Rotao do motor.
RPM / Temperatura
25C
40C
At 1800 min-1
aprox. 40.000 h
aprox. 20.000 h
At 3.600 min-1
aprox. 20.000 h
aprox. 10.000 h
Tabela 26: Valores recomendados troca de Chumaceiras.
Em caso de montagem directa de engrenagem ou condies de operao especiais, como por exemplo a
instalao vertical do motor, com grande carga de vibraes ou impactos, implica que os nmeros de horas
de servio acima citados sejam ajustados, neste caso reduzidos significativamente.
Assim, neste caso a cada 5 anos deve ser efectuada uma reviso geral do motor.
- 196 -
Materiais e rgos de Mquinas
TRANSMISSES
ELEMENTOS DE TRANSMISSO
Os sistemas de transmisso tm grande aplicao na indstria, por isso, vamos estudar alguns elementos de
mquina para transmisso atravs de:
Correias, correntes, engrenagens, rodas de atrito, roscas, cabos de ao.
Com estes elementos montados, os sistemas de transmisso podem transferir potncia e movimento a um
outro sistema.
Fig. 229: Transmisso de Potncia e Movimento.
Nos sistemas de transmisso mais usuais, a polia condutora transmite energia e movimento polia
conduzida. Utilizando um variador, podemos alterar as rotaes entre dois eixos.
A variao da rotao de um eixo pode ser feita atravs: (3)
-
Engrenagens;
Correias;
Atrito.
Engrenagens
Normalmente as engrenagens utilizam vrios tipos de rodas dentadas, que sero objecto de estudo
pormenorizado neste captulo.
- 197 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 230: Variador accionado por motor elctrico.
Correias
As correias para transmitirem movimento podem utilizar a forma ou atrito. A forma dos elementos
transmissores adequada para encaixamento desses elementos entre si. Esta forma de transmisso a
mais usada, principalmente com os elementos chavetados, eixos-rvore entalhados e eixos-rvore estriados.
Fig. 231: Elemento chavetado.
Fig. 232: Eixo entalhdo.
Fig. 233: Eixo estriado.
Atrito
O atrito permite uma boa centralizao das peas ligadas aos eixos, no possibilitando a transmisso de
grandes esforos quanto os transmitidos pela forma.
Os principais elementos de transmisso por atrito, so os elementos anelares e anilhas estreladas. Estes
elementos so constitudos por dois anis cnicos apertados entre si e que actuam ao mesmo tempo sobre o
eixo e o cubo.
Fig. 234: Transmisso por atrito.
- 198 -
Materiais e rgos de Mquinas
O atrito atravs de juntas estreladas possibilita grande rigor de movimento axial (dos eixos) e radial (dos
raios). As anilhas so apertadas por meio de parafusos, que foram a anilha contra o eixo e o cubo ao
mesmo tempo.
Fig. 235: Transmisso por junta estrelada.
TIPOS
Os elementos de transmisso podem ser vrios, tais como: (7)
-
Correias;
Correntes;
Engrenagens;
Rodas de atrito;
Roscas;
Cabos de ao;
Acoplamento.
Correias:
As correias so elementos de mquina que transmitem movimento de rotao entre eixos por intermdio
das polias. As correias podem ser contnuas ou com emendas.
As polias so cilndricas podem ser fabricadas em diversos materiais.
As correias podem ser fixadas aos eixos por meio de presso, de chaveta ou de parafuso.
Fig. 236: Correia.
- 199 -
Materiais e rgos de Mquinas
Correntes:
As correntes so elementos de transmisso geralmente metlicos, constitudos por uma srie de anis ou
elos.
Existem vrios tipos de corrente e cada tipo tem uma aplicao especfica, sendo os mais utilizados os de
correntes de elos e correntes de Buchas.
Fig. 237: Corrente de elos.
Fig. 238: Correntes de buchas.
Engrenagens:
Normalmente conhecidas como rodas dentadas, as engrenagens so elementos de mquina usados na
transmisso entre eixos, existindo vrios tipos.
Fig. 239: Engrenagem Dentes Direitos.
Fig. 240: Roda Dentada - Correia.
- 200 -
Materiais e rgos de Mquinas
Rodas de Atrito:
As rodas de atrito so elementos de mquinas que transmitem movimento por atrito entre dois eixos
paralelos ou que se cruzam.
Fig. 241: Rodas de atrito.
Roscas:
As roscas so salincias de perfil constante em forma de hlice (helicoidal). As roscas movimentam-se de
modo uniforme, externa ou internamente, em volta de uma superfcie cilndrica ou cnica.
As salincias so denominadas filetes. Existem roscas de transporte ou movimento que transformam o
movimento giratrio num movimento longitudinal. Estas roscas so usadas normalmente em tornos e
prensas, principalmente quando so frequentes as montagens e desmontagens.
Fig. 242: Rosca.
Cabos de Ao:
Os cabos de ao so elementos de mquinas feitos de arame trefilado a frio. Inicialmente, o arame
enrolado de modo a formar pernas. Depois, as pernas so enroladas em espirais em torno de um elemento
central, chamado ncleo ou alma.
Fig. 243: Cabos de ao.
- 201 -
Materiais e rgos de Mquinas
Acoplamento:
O acoplamento um conjunto mecnico que transmite movimento entre duas peas.
Fig. 244: Acoplamento.
Correias e Polias
Polias
Com a simples troca de alguns componentes de uma mquina, onde se pretende melhorar o rendimento do
sistema de transmisso, conseguiremos resolver o problema do atrito, desgaste e consequente perda de
energia.
Fig. 245: Correia e Polia.
As polias so peas cilndricas movimentadas pela rotao do eixo do motor e pelas correias.
Uma polia constituda por uma coroa ou face, na qual se enrola a correia. A face ligada a um cubo de
roda mediante disco ou braos.
Os tipos de polias so determinados pela forma da superfcie na qual a correia assenta. Elas podem ser
planas ou trapezoidais.
As polias planas podem apresentar dois formatos na sua superfcie de contacto. Esta superfcie pode ser
- 202 -
Materiais e rgos de Mquinas
plana ou abaulada, tal como podemos observar nas duas figuras seguintes.
Fig. 246: Polia Plana.
Fig. 247: Polia Abaulada.
Vantagens e Desvantagens:
A polia plana conserva melhor as correias;
A polia com superfcie abaulada guia melhor as correias;
As polias apresentam braos a partir de 200 mm de dimetro;
Abaixo deste valor, a coroa ligada ao cubo por meio de discos.
Fig. 248: Polia.
A correia trapezoidal recebe esse nome porque a superfcie na qual a correia se assenta apresenta a forma
de trapzio. As polias trapezoidais devem ser providas de rasgos (ou canais), e so dimensionadas de
acordo com o perfil padro da correia a ser utilizada.
Fig. 249: Trapezoidal.
Alm das polias para correias planas e trapezoidais, existem as polias para:
- 203 -
Materiais e rgos de Mquinas
Cabos de ao;
Correntes;
Polias (ou rodas) de atrito;
Polias para correias redondas e para correias dentadas.
Algumas vezes, os termos roda e polia so utilizadas como sinnimos.
Fig. 250: Polia para correia e cabo de ao redondo.
Fig. 251: Polia para correia dentada.
No Anexo F Transmisses (tabelas 1), podemos observar diversas formas de representao em
desenho de Polias.
Os materiais mais utilizados so o ferro fundido (o mais utilizado), aos, ligas leves e materiais sintticos. A
superfcie da polia no deve apresentar porosidade, pois, caso contrrio, a correia ir sofrer um desgaste de
forma rpida.
Correias
As correias de maior aplicabilidade so planas e as trapezoidais. A correia em V ou trapezoidal inteiria, e
fabricada com seco transversal em forma de trapzio. feita de borracha revestida de lona e formada
no seu interior por cordis vulcanizados para suportar as foras de traco.
Fig. 252: Correia Trapezoidal.
Fig. 253: Correia em corte.
- 204 -
Materiais e rgos de Mquinas
Vantagens:
O emprego da correia trapezoidal ou em V prefervel ao da correia plana porque: (3)
Praticamente no apresenta deslizamento;
Permite o uso de polias bem prximas;
Elimina os rudos e os choques, tpicos das correias emendadas (planas).
Existem vrios perfis padronizados de correias trapezoidais.
Fig. 254: Vrios Perfis de Correia Trapezoidal.
Outro tipo de correia a dentada que utilizada para casos em que no se pode ter nenhum deslizamento,
como no comando de vlvulas do automvel.
Fig. 255: Correia Dentada.
Os materiais normalmente empregues so:
O couro;
Materiais fibrosos e sintticos base de algodo, plo de camelo e nylon;
Material combinado de couro e sintticos.
- 205 -
Materiais e rgos de Mquinas
TRANSMISSO
SENTIDO DE ROTAO
Na transmisso por polias e correias, a polia que transmite movimento e fora designada por: Polia
motora ou condutora. A polia que recebe movimento e fora designada por: Polia movida ou
conduzida.
A forma como a correia colocada determina o sentido de rotao das polias. Assim, temos:
Sentido de Rotao Directo:
o
A correia fica recta e as polias tm o mesmo sentido de rotao;
Sentido de Rotao Inverso:
o
A correia fica cruzada e o sentido de rotao das polias inverte-se.
Fig. 256: Sentido Directo.
Fig. 257: Sentido Inverso.
Existe um caso especial para a Rotao entre eixos no paralelos.
Fig. 258: Rotao de Eixos No Paralelos.
Para ajustar as correias nas polias existe um esticador de correia, que permite a correco para tenso
correcta.
Fig. 259: Esticador.
- 206 -
Materiais e rgos de Mquinas
RELAO DE TRANSMISSO
Na transmisso por polias e correias para que o funcionamento seja perfeito, necessrio obedecer alguns
limites em relao:
Ao dimetro das polias e o nmero de voltas pela unidade de tempo;
Para estabelecer esses limites precisamos estudar as relaes de transmisso.
normal utilizar a letra i para representar a relao de transmisso. Ela a relao entre o nmero de
voltas das polias (n) numa unidade de tempo e os seus dimetros.
Fig. 260: Distncia ente Eixos.
Onde:
D1:
o
Dimetro da polia menor;
D2:
o
Dimetro da polia maior;
Nmero de rotaes por minuto (rpm) da polia menor;
Nmero de rotaes por minuto (rpm) da polia maior.
n1:
n1:
A Velocidade Tangencial (V) outro parmetro de extrema relevncia. a mesma para as duas polias e
calculada pela frmula:
V = . D . n (tendo em conta que as duas velocidades so iguais):
V1 = V2 <=> x D1 x n1 = x D2 x n2 = i
D1x n1 = D2 x n2 ou
i = n1/n2 = D2/D1
- 207 -
Materiais e rgos de Mquinas
ENGRENAGENS
CONSTITUIO
As engrenagens podem ser definidas como rodas com dentes padronizados, que servem para transmitir
movimento e fora entre dois eixos. Muitas vezes, as engrenagens so utilizadas para variar o nmero de
rotaes e o sentido da rotao de um eixo para o outro.
Uma engrenagem pode ser constituda por vrios elementos, dependendo da sua aplicao. Assim, no caso
de uma caixa de velocidades para engrenarmos uma velocidade necessitamos de:
1 Selector de velocidades;
1 Veio selector;
1 Tirante;
1 Garfo selector;
2 Rodas dentadas;
2 Veios;
Sincronizadores.
Fig. 261: Caixa de Velocidades.
Fig. 262: Roda Dentada.
- 208 -
Materiais e rgos de Mquinas
Existem diferentes tipos de corpos de engrenagem, tal como podemos observar nas figuras seguintes.
Fig. 263: Em forma de disco com furo central.
Fig. 264: Em forma de disco com cubo e furo central.
Fig. 265: Corpo com 4 furos, cubo e furo central.
Fig. 266: Corpo com brao, cubo e furo central.
Os dentes so elementos mais importantes das engrenagens. As partes principais do dente de engrenagem
so:
A altura da cabea, a altura do p e a raiz.
Fig. 267: Dente de Roda Dentada.
Para produzir o movimento de rotao as rodas devem estar engrenadas, ou seja, as rodas engrenam
quando os dentes de uma engrenagem se encaixam nos vos dos dentes da outra engrenagem.
As engrenagens trabalham em conjunto. As engrenagens de um mesmo conjunto podem ter tamanhos
diferentes. Quando um par de engrenagens tem rodas de tamanhos diferentes:
Engrenagem maior (coroa);
Engrenagem menor (pinho).
Fig. 268: Coroa e Pinho.
- 209 -
Materiais e rgos de Mquinas
Os materiais mais usados na fabricao de engrenagens so:
Ferro fundido;
Cromo -nquel;
Bronze fosforoso;
Alumnio;
Nylon.
TIPOS
Existem diferentes tipos de engrenagem, sendo seleccionados de acordo com a sua Funo: (3)
1- Engrenagens Cilndricas;
2- Engrenagens Cnicas;
3- Engrenagens Helicoidais.
1- Engrenagens Cilndricas
As engrenagens cilndricas podem ter os dentes:
Rectos: so paralelos entre si e paralelos ao eixo da engrenagem;
Helicoidais: so paralelos entre si, mas oblquos em relao ao eixo da engrenagem.
Fig. 269: Dentes Rectos.
Fig. 270: Dentes Helicoidais.
- 210 -
Materiais e rgos de Mquinas
O tipo de dente recto ou direito caracteriza-se:
Transmitir rotao entre eixos paralelos.
Fig. 271: Rotao em Eixos Paralelos.
Os dentes helicoidais caracterizam-se:
Transmitem tambm rotao entre eixos reversos (no paralelos);
A engrenagem cilndrica com dentes helicoidais funciona mais suavemente que a cilndrica com
dentes rectos, e por isso, o rudo transmitido menor.
Fig. 272: Rotao em Eixos No Paralelos.
2- Engrenagens Cnicas
As engrenagens cnicas so aquelas que tm a forma de tronco de cone. Os eixos concorrentes, so
aqueles que se vo encontrar num mesmo ponto quando prolongados. Os eixos das duas engrenagens
encontram-se no ponto central (A). As engrenagens cnicas podem ter dentes:
-
Rectos;
Helicoidais.
- 211 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 273: Cnica Dentes Rectos.
Fig. 274: Cnica Dentes helicoidais.
As engrenagens cnicas tambm podem transmitir rotao entre eixos concorrentes.
Fig. 275: Eixos Concorrentes.
3- Engrenagens Helicoidal:
Nas engrenagens helicoidais os dentes so oblquos em relao ao eixo.
Fig. 276: Engrenagem helicoidal.
Entre as engrenagens helicoidais, a engrenagem para rosca sem-fim merece ateno especial. Esta
engrenagem usada quando se deseja uma reduo de velocidade na transmisso do movimento.
importante salientar que os dentes da engrenagem helicoidal para rosca sem-fim so cncavos. Estes
dentes so cncavos porque so dentes curvos, ou seja, menos elevados no meio do que nas bordas. No
engrenamento da rosca sem-fim com a engrenagem helicoidal, o parafuso sem-fim o pinho e a
engrenagem a coroa.
- 212 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 277: Rosca Sem-fim.
So vrios os exemplos do emprego de rosca sem-fim. Na figura seguinte podemos observar o
engrenamento por coroa e rosca sem-fim, a transmisso de movimento e fora d-se entre eixos no
coplanares.
Fig. 278: Coroa e Rosca sem-fim.
Existem outros tipos de engrenagens, sendo a cremalheira um dos mais utilizados. A cremalheira uma
barra provida de dentes, destinada a engrenar uma roda dentada. Com este sistema, pode-se transformar
movimento de rotao em movimento rectilneo e vice-versa. A cremalheira pode ter dentes direitos ou
inclinados.
Fig. 279: Cremalheira.
Fig. 280: Cremalheira de Dentes Direitos e Inclinados.
- 213 -
Materiais e rgos de Mquinas
REPRESENTAO DE ENGRENAGENS
As engrenagens so representadas nos desenhos tcnicos de maneira normalizada. Como regra geral, a
engrenagem representada como uma pea slida sem dentes. Apenas um elemento da engrenagem, o
dimetro primitivo, indicado por meio de uma linha estreita de traos e pontos.
Fig. 281: Dimetro Primitivo.
A representao dos dentes quando excepcionalmente for necessrio representar um ou dois dentes, eles
devem ser desenhados com linha contnua larga.
Fig. 282: Representao do dente.
Os dentes constituem uma parte importante das engrenagens. Por isso, devemos iniciar o estudo das
engrenagens pelas caractersticas comuns dos dentes.
e = Espessura
a medida do arco limitada pelo dente, sobre a circunferncia primitiva (determinada
pelo dimetro primitivo)
v = Vo
o vazio que fica entre dois dentes consecutivos tambm delimitados por um arco do
dimetro primitivo;
P = Passo
a soma dos arcos da espessura e do vo (P = e + v);
a = Cabea
a parte do dente que fica entre a circunferncia primitiva e a circunferncia externa da
engrenagem;
b = P
a parte do dente que fica entre a circunferncia primitiva e a circunferncia interna (ou
raiz);
h = Altura
Corresponde soma da altura da cabea mais a altura do p do dente.
Tabela 27: Caractersticas do dente.
- 214 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fig. 283: Detalhe da engrenagem: Dentes.
Engrenagem cilndrica com dentes Rectos:
Parmetros:
De: dimetro externo;
Dp: dimetro primitivo;
Di: dimetro interno;
M: mdulo;
Z: nmero de dentes;
L: largura da engrenagem.
Fig. 284: Parmetros.
- 215 -
Materiais e rgos de Mquinas
M: mdulo:
O mdulo (M) de uma engrenagem a medida que representa a relao entre o dimetro primitivo (dp)
dessa mesma engrenagem e seu nmero de dentes (Z). Esta relao representada matematicamente do
seguinte modo: M = dp / Z.
Os elementos desta frmula podem ser usados tambm para calcular:
O dimetro primitivo: dp = M x Z
O nmero de dentes: Z =Dp / M.
Engrenagem com dentes Helicoidais:
Parmetros:
Passo normal (Pn);
Passo circular (Pc);
A hlice apresenta um ngulo de inclinao (b).
Fig. 285: Parmetros.
- 216 -
Materiais e rgos de Mquinas
EXERCCIOS PRTICOS
TAMBORES E CORREIAS
Relembrando, os parmetros caractersticos:
Dimetro (D);
Nmero de Rotao (n);
Nmero de Dentes (Z).
Os tambores e as correias podem ser:
-
Simples;
Duplas;
Triplas, etc.
Fig. 286: Correia mltipla.
Simples:
O Nmero de Rotao dos Tambores varia, isto , quanto menor o dimetro maior nmero de rotaes:
n1 / n2 = D2 / D1;
Ou seja:
n1x D1 = n2 x D2.
Fig. 287: Tambores.
- 217 -
Materiais e rgos de Mquinas
Razo de Transmisso:
O Nmero de Rotao dos Tambores varia na razo inversa dos seus dimetros, ou seja, quanto menor o
dimetro maior as rotaes, assim:
n1: RPM do Tambor Mandante;
D1: Dimetro do Tambor Mandante;
n2: RPM do Tambor Mandado;
D2: Dimetro do Tambor Mandado;
O Tambor Mandante est montado no veio motor, o Tambor Mandado est montado no veio receptor.
Exerccio Prtico
Problema 1:
O tambor mandante tem de dimetro 100mm e roda a uma velocidade de 50 RPM. O tambor mandado tem
200mm de dimetro. Determinar as rotaes do tambor mandado.
Fig. 288: Tambores.
Dados:
D1 =100 mm;
n1 = 50 RPM;
D2 = 200 mm;
n2 ?
- 218 -
Materiais e rgos de Mquinas
Resoluo:
n1 / n2 = D2 / D1;
50 / n2 = 200 / 100;
n2 = 50 / 2;
n2 = 25 RPM.
CORRENTES
A transmisso por corrente uma combinao entre transmisso por rodas dentadas e por correias,
podendo ser:
Simples;
Duplas;
Triplas;
etc.
Fig. 289: Corrente mltipla.
O Nmero de Rotao dos Tambores varia na razo inversa dos seus dimetros e nmero de dentes, ou
seja:
n2 / n1 = D1 / D2= Z1 / Z2.
Fig. 290: Correntes.
- 219 -
Materiais e rgos de Mquinas
ENGRENAGENS
Tipos
Os tipos de engrenagens so seleccionados de acordo com a sua Funo: (3)
Engrenagens Cilndricas:
o
Dentes Rectos;
Dentes Helicoidais.
Engrenagens Cnicas:
o
Dentes Rectos;
Dentes Helicoidais;
Engrenagens Helicoidais.
Condies de Engrenamento
Parmetros de 2 Rodas Dentadas
M = Mdulo;
D = Dimetro Primitivo;
Z = Nmero de Dentes.
M=D / Z;
M = p / ;
D = M x Z;
n1 / n2 = D2 / D1 = Z2 / Z1.
Fig. 291: Roda Dentada - Parmetros.
- 220 -
Materiais e rgos de Mquinas
2 Rodas Dentadas, constituem uma Engrenagem, quando:
Possuem o mesmo mdulo ou o mesmo passo e so tangentes as suas circunferncias primitivas;
Nmero de Rotaes:
Numa engrenagem o nmero de rotao das rodas dentadas inversamente proporcional aos
dimetros primitivos destas e aos seus nmeros de dentes:
o
n1 / n2 = D2 /D1 = Z2 / Z1.
Exerccio Prtico
Problema 2:
Duas rodas cilndricas de dentes direitos que engrenam tm 30 e 60mm de dimetro primitivo. Sabendo que
a primeira gira a 500 RPM e tem um mdulo de 6mm.
Calcular D1 e D2.
Dados:
D1 = 30 mm;
D2 = 60 mm;
n1 = 500 RPM;
M = 6 mm.
Resoluo:
n1 / n2 = D2 / D1 = Z2 / Z1;
500 / n2 = 60 / 30 = Z2 / Z1;
n2 = 250 RPM.
- 221 -
Materiais e rgos de Mquinas
CABOS DE COMANDO
TIPO DE CABOS
CABOS DE COMANDO
Os cabos de comando so os elementos de transmisso que suportam cargas (fora de traco),
deslocando-as nas posies horizontal, vertical ou inclinada.
A sua finalidade principal transmitir movimento s superfcies de comando e outros rgos. Os cabos so
muito utilizados em equipamentos de transporte e na elevao de cargas, tais como:
-
Elevadores;
Escavadeiras;
Pontes rolantes;
Etc.
Fig. 292: Ponte Rolante.
Fig. 293: Escavadeira.
Fig. 294: Elevador.
- 223 -
Materiais e rgos de Mquinas
CABO DE AO
Constituio
O Cabo de Ao, constitudo por: (2)
Cordo ou Perna;
Alma.
Fig. 295: Cabo de ao.
A perna ou cordo composta por:
Vrios arames em torno de um arame central.
Fig. 296: Constituio do Cabo de ao.
- 224 -
Materiais e rgos de Mquinas
O dimetro de um cabo de ao corresponde ao dimetro da circunferncia que o circunscreve.
O Arame, mais usual:
1/16- 3/32 ---- =7 x 7;
1/8-3/8
---- =7 x 19;
Construo
Um cabo pode ser construdo por uma ou mais operaes, dependendo da quantidade de fios e
especificamente, do nmero de fios da perna.
Por exemplo: Um cabo de ao industrial 6 por 19 significa que:
Uma perna de 6 fios enrolada com 12 fios em duas operaes:
Fig. 297: Cabo de ao 6 por 19.
Passo
Quando a perna construda em vrias operaes, os passos ficam diferentes no arame usado em cada
camada. Esta diferena causa atrito durante o uso e consequentemente, desgasta os fios.
O passo definido como a distncia entre dois pontos de um fio em torno da alma do cabo.
Fig. 298: Passo.
- 225 -
Materiais e rgos de Mquinas
Identificao
So vrios os elementos de identificao:
Tenso (u);
Sentido do enrolamento (sentido dos ponteiros do relgio);
N de arames;
N de cordes;
Dimetro mximo do cabo.
O dimetro de um cabo de ao corresponde ao dimetro da circunferncia que o circunscreve.
Por exemplo: 7 x 19 x 8 significa:
7 Cordes;
19 Arames;
8mm.
Materiais
Os materiais devem suportar Tenses (u)200 a 350 kg/mm2, podendo utilizar:
Ao ao carbono;
Ligas de Ao.
A alma de cabos de ao pode ser feita de vrios materiais, de acordo com a aplicao desejada. Os mais
comuns na indstria:
-
Alma de fibra;
Alma de algodo;
Alma de asbesto;
Alma de ao.
Alma em Fibra
o tipo mais utilizado para cargas no muito pesadas.
As fibras podem ser:
Naturais (AF) ou Artificiais (AFA).
- 226 -
Materiais e rgos de Mquinas
Alma em Fibra Artificial:
Vantagens:
No se deterioram em contacto com agentes agressivos;
So obtidas em maior quantidade;
No absorvem humidade.
Desvantagens:
So mais caras;
So utilizadas somente em cabos especiais.
Fig. 299: Alma em Fibra.
A Alma de Algodo
o tipo de alma que utilizado em cabos de pequenas dimenses.
Alma de Asbesto
Tem aplicao em cabos especiais, sujeitos a altas temperaturas.
A alma de ao
Pode ser formada por uma perna de cabo ou por um cabo de ao independente. Este ltimo oferece maior
flexibilidade somada alta resistncia traco.
- 227 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tipos de Toro
Os cabos de ao quando traccionados, apresentam toro dos cordes em torno da alma. Nos cordes
tambm h toro dos fios em volta do fio central. O sentido dessas tores pode variar, obtendo-se as
situaes:
-
Toro Regular ou em Cruz;
Toro Lang ou em Paralelo.
A Toro Regular ou em Cruz
Os fios de cada cordo so torcidos no sentido oposto ao do cordo ao redor da alma. As tores podem ser
esquerda ou direita. Este tipo de toro confere mais estabilidade ao cabo.
Fig. 300: Regular Direita e Esquerda.
Toro Lang ou em Paralelo
Os fios de cada cordo so torcidos no mesmo sentido dos cordes que ficam ao redor da alma. As tores
podem ser esquerda ou direita. Este tipo de toro aumenta a resistncia ao atrito (abraso) e d mais
flexibilidade.
Fig. 301: Lang Direita e Esquerda.
- 228 -
Materiais e rgos de Mquinas
Fixao
Os cabos de ao so fixados na sua extremidade por meio de ganchos ou laos. Os laos so formados pelo
enrolamento do prprio cabo. Os ganchos so acrescentados ao cabo.
Fig. 302: Gancho.
TERMINAIS E TENSORES
TERMINAIS
Existem vrios tipos de terminais, os mais usuais so: (5)
Ponta roscada;
Em forquilha;
Em olhal;
Em bola de espiga simples;
Em bola de espiga dupla.
TENSORES
Os tensores podem ser: (3)
Rosca direita;
Rosca esquerda;
Push-pull tube.
- 229 -
Fig. 303: Lao.
Materiais e rgos de Mquinas
POLIAS E COMPONENTES DOS SISTEMAS DE CABOS
Na indstria os termos Roldana e polia tm o mesmo significado. As roldanas so utilizadas normalmente
para alterar o sentido do movimento.
usual encontrar os seguintes tipos de Polias:
Fixa;
Mvel.
Fig. 304: Roldana.
Fig. 305: Roldana.
- 230 -
Materiais e rgos de Mquinas
SISTEMAS DE COMANDO DOS LEMES
TIPOS
Podem ser:
Rgidos:
o
Flexveis:
o
Feita por tirantes ou fluidos hidrulicos;
Feita por cabos de ao ou correntes por tirantes ou fluidos hidrulicos;
Semi-rgidos:
o
Feita com componentes utilizados nos sistemas rgido e flexvel.
- 231 -
Materiais e rgos de Mquinas
CABOS ELCTRICOS E CONECTORES
TIPOS DE CABOS, SOLUES CONSTRUTIVAS E CARACTERSTICAS
A electricidade comea no tomo, figura seguinte. Cada tomo contm um ou mais electres e um ncleo.
Os electres so a carga negativa do tomo.
Fig. 306: tomo.
H materiais em que os electres esto fortemente ligados ao ncleo do tomo, tais como:
A madeira, o vidro, o plstico, a cermica e algodo.
Sabendo-se que os electres tm dificuldade em se mover nestes materiais, chamam-se isoladores
elctricos.
Por outro lado, a maioria dos metais tm electres que se podem facilmente separar do ncleo dos seus
tomos e moverem-se de tomo em tomo. Estes so chamados electres livres. Os electres em
movimento transmitem energia elctrica de um ponto para outro. O ouro, a prata, o cobre, o alumnio, ferro,
entre outros, tm electres livres. Estes materiais so conhecidos como condutores elctricos.
Os principais materiais elctricos utilizados no fabrico de condutores so o cobre, o alumnio, a prata, o
lato, etc.
O condutor mais leve o alumnio. A prata o melhor condutor. O material condutor com ponto de fuso
mais elevado o cobre. O condutor com menor coeficiente de temperatura o mercrio, seguido do lato.
A corroso um factor importante na escolha do material para a funo e local a instalar. A ductilidade e a
elasticidade tambm determinam quais os materiais que se podem transformar em fios ou cabos elctricos.
- 233 -
Materiais e rgos de Mquinas
Outras propriedades dos fios condutores:
O ouro e a prata so dos metais mais elsticos e maleveis, o que lhes permite facilmente serem
reduzidos a fios condutores, no entanto so muito caros.
O alumnio em contacto com o ar cobre-se de uma camada de xido, que o protege contra a
corroso.
O cobre tambm fica revestido por um xido, que o protege contra a aco dos agentes
atmosfricos.
A figura 307 permite observar a constituio de um condutor elctrico.
Fig. 307: Cabo Elctrico.
Legenda:
1. Condutores.
2. Isolamento.
3. Proteco, quando necessrio.
4. Cobertura, em PVC, na cor preta.
Em geral, os cabos elctricos so protegidos do ambiente por coberturas de materiais isolantes PVC,
Polietileno Cloro Sulfurado (CSP OU HYPALON), Borracha, etc.
Nalguns casos, no entanto, necessria proteco adicional contra agentes externos (reforos longitudinais,
reforos transversais, contra roedores, etc). Alguns tipos de proteces: fitas, fios, ou tranas de ao,
alumnio, cobre ou bronze.
Existem cabos elctricos unifilares e multifilares. Os multifilares da figura seguinte, so constitudos por
vrios filamentos enrolados entre si.
Fig. 308: Cabo elctrico multifilar.
- 234 -
Materiais e rgos de Mquinas
CABOS COAXIAIS
O cabo coaxial um tipo de cabo condutor usado para transmitir sinais. Este tipo de cabo constitudo por
diversas camadas concntricas de condutores e isolantes, da o nome coaxial.
O cabo coaxial constitudo por um fio de cobre condutor revestido por um material isolante e rodeado
duma blindagem. Este meio permite transmisses at frequncias muito elevadas e isto para longas
distncias.
Fig. 309: Cabo coaxial.
Legenda:
A) Capa plstica protectora, que protege o condutor externo contra a induo, causada por
interferncias elctricas ou magnticas;
B) Blindagem para o condutor interno com uma malha ou trana metlica;
C) Camada isolante flexvel que envolve o condutor interno.
D) Condutor interno, que fio de cobre rgido central.
O cabo coaxial possui vantagens em relao aos outros condutores utilizados tradicionalmente em linhas de
transmisso por causa de sua blindagem adicional, que o protege contra o fenmeno da induo, causado
por interferncias elctricas ou magnticas externas. Essa blindagem constitui-se de uma malha metlica
(condutor externo) que envolve um condutor interno isolado, figura 310.
Fig. 310: Constituio de um cabo coaxial.
- 235 -
Materiais e rgos de Mquinas
Existem vrios tipos de fichas para aplicar nos cabos coaxiais. Na figura 311, dado o exemplo de uma
ficha de ligao fcil e rpida, para fazer ligaes em diferentes tipos de equipamentos.
Fig. 311: Como ligar uma ficha no cabo coaxial.
ESMAGAMENTO CRIMPING
O alicate utilizado para fazer a ligao entre os terminais e os fios condutores atravs de esmagamento.
A figura 312 apresenta trs tipos de terminais (1) e um alicate (2).
Fig. 312: Alicate para terminais.
TIPOS DE CONECTORES, PINOS, FICHAS, TOMADAS E ISOLADORES
Na figura 313, so apresentados alguns exemplos de terminais.
Fig. 313: Terminais.
- 236 -
Materiais e rgos de Mquinas
DISTRIBUIO DE CORRENTE ELCTRICA NAS AERONAVES
A energia fornecida pelo gerador e pela bateria a um terminal de potncia derivando depois para os
diversos circuitos da aeronave por condutores de seco e isolamento adequado, sendo o retorno feito pela
estrutura e revestimentos metlicos.
Cabos e Fios
Os cabos e fios so multifilares. Fio de cobre macio ou de ligas especiais em que predomina o nquel, cromo
e alumnio. Os fios so revestidos com substncias isoladoras.
Barra de Derivao
A barra de derivao um bloco de ebonite ou de outra matria semelhante, sobre a qual esto montadas
uma fila ou mais, de pernos ou parafusos (onde sero apertados os terminais dos diversos cabos ou fios).
Terminais
Os terminais so ligadores fixos aos fios por soldadura e outros de simples aperto por um alicate especial.
Fichas Mltiplas
So fichas utilizadas para ligar ou desligar fcil e rapidamente unidades ou rgos elctricos da aeronave,
permitindo, tambm, uma blindagem nica para grupos de fios ou cabos.
IDENTIFICAO
Identificao dos circuitos
A instalao elctrica de uma aeronave possui vrios circuitos. Se no houvesse um processo de
identificao dos circuitos tornar-se-ia difcil a sua localizao. Por isso existe um Cdigo de Identificao de
Circuitos.
A Armamento.
B Bombardeamento.
C Controlo de voo.
D Instrumentos.
E Instrumentos de motor.
F Instrumentos de voo.
G Sistemas de comandos do trem. R Rdio.
K Arranque.
J Ignio.
P Potncia (bateria, gerador, etc.)
L Iluminao.
Fig. 314: Cdigo de Identificao de alguns circuitos elctricos.
- 237 -
Materiais e rgos de Mquinas
Identificao de cablagem
A identificao das cablagens empregue nos esquemas elctricos coincide exactamente com a utilizada nos
cabos ou fios dos avies, figura 9.
A identificao completa de um cabo ou fio elctrico obtida mediante uma notao simblica formada por
letras e nmeros impressos na parte exterior dos cabos ou fios elctricos e lida da esquerda para a direita
como no exemplo.
Nmero da unidade (2): utilizado nos casos em que existem dois ou mais cabos ou fios idnticos
em dois ou mais circuitos.
Letra de identificao do circuito (E): Identificam a funo principal e o circuito de que fazem
Nmero do cabo ou fio (215): composto por um ou mais nmeros. Identifica parte de um
parte.
grande sistema ou conjunto.
Letra do segmento do fio (A): utilizado para assinalar os segmentos (derivaes) de cada cabo
ou fio dentro do circuito.
Calibre ou dimetro do cabo ou fio (20).
Letra de identificao de ligao massa (N): Identifica o cabo ou fio de ligao massa, como
por exemplo: um circuito trifsico, trs fases e o neutro massa N.
Fig. 315: Identificao de cablagem.
- 238 -
Materiais e rgos de Mquinas
ANEXOS
- 239 -
Materiais e rgos de Mquinas
ANEXO A MATERIAL DE APOIO GENRICO
Tabela 1: Tabela Peridica dos Elementos.
- 241 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tabela 2: Converso de Unidades de Medida.
- 242 -
Materiais e rgos de Mquinas
Sistemas de Unidades de Medida
Grandeza
Unidade
Smbolo
Segundo
Metro
Radiano
rad
Metro quadrado
m2
Metro cbico
m3
Hertz
hz
Quilograma
kg
Quilograma por metro cbico
kg/m3
Newton
Pascal
Pa
Grau Clsius
Energia
Joule
Potncia
Watt
Tempo
Comprimento
ngulo
rea
Volume
Frequncia
Massa
Densidade
Fora
Tenso
Temperatura
Tabela 3: Grandeza Unidade Smbolo.
Factores de Multiplicao
Factor
Prefixo
Smbolo
10
12
tera
10
giga
10
mega
10
quilo
10
hecto
10
deca
da
10-1
deci
10-2
centi
10-3
mili
10-6
micro
-9
nano
pico
10
10-12
Tabela 4: Factores de Multiplicao.
- 243 -
Materiais e rgos de Mquinas
Sistemas de Unidades de Medida
Comprimento
Polegada
Jarda
Metro
Milha terrestre
0,08333
0,02778
0,0254
15,786 10-6
12
0,33333
0,3048
0,189 10-3
36
0,9144
0,568 10-3
39,37
3,281
1,094
0,622 10-3
63346,33
5280
1760,25
1609
Tabela 5: Converso de Unidades de Medida.
Massa
Ona
Libra
Quilograma
Slug
0,0625
0,02835
1,94310-
16
0,4536
0,0311
35,27
2,205
0,0685
514,589
32,171
14,59
Tabela 6: Converso de Unidades de Medida.
Trabalho e Energia
Libra-p
Nm=J=Ws
kWh
kcal
Btu
1,356
376,810-9
32410-6
1,28610-3
0,7376
277,810-9
23910-6
948,410-6
2,655106
3,6106
860
3413
3,087103
4187
1,16310-3
3,968
778,6
1055
29310-6
0,252
Tabela 7: Converso de Unidades de Medida.
- 244 -
Materiais e rgos de Mquinas
Sistemas de Unidades de Medida
Potncia
hp
Nm/s=W
Kcal/s
Btu/s
745,7
0,1782
0,7073
1,34110-3
239, 10-6
948,410-6
5,614
4187
3,968
1,415
1055
0,252
Tabela 8: Converso de Unidades de Medida.
Presso
Pa
bar
atm
Torr
psi=lb/in2
10-5
0,10210-4
0,0075
0,14510-3
105
1,02
750
14,503
98,1103
O,981
736
14,22
133,322
1,3310-3
1,3610-3
0,0193
6895
0,06895
0,0703
51,713
Tabela 9: Converso de Unidades de Medida.
- 245 -
Materiais e rgos de Mquinas
Poder Calorfico Superior dos Materiais
1 Madeira
2000 a 4000
Kcal/kg
2 Carvo
6000 a 7500
Kcal/kg
3 Petrleo
8700 a 11100
Kcal/kg
4 Gasolina
8100 a 11300
Kcal/kg
5 Gasoil
9170 a 10900
Kcal/kg
10200 a 10400
Kcal/kg
4200
Kcal/m3
8000 a 10000
Kcal/m3
6 Fuel Oil
7 Gs da Cidade
8 Gs Natural
9 Electricidade
860
Kcal/kWh
10 Propano
11900 a 22000
Kcal/m3
11 Butano
11800 a 28300
Kcal/m3
Tabela 10: Poder Calorfico e Energtico.
Comparao Energtica
1kg de Propano
Ou
Equivale a:
1kg de Butano
3a6
Kg
Madeira
1,5 a 2
Kg
Carvo
1,4
Petrleo
1,5
Gasolina
1,1
Kg
Gasoil
1,2
Kg
Fuel
2,8
m3
Gs da Cidade
1,2 a 1,5
m3
Gs Natural
kWh
Electricidade
14
Tabela 11: Comparao Energtica.
Factores para Comparao de Combustveis
Custo de Instalao
Poder calorfico
Rendimento alcanvel no dispositivo de queima
Preo
Economia de:
Armazenamento
Manuteno dos Equipamentos
Limpeza
Qualidade do servio obtido
Tabela 12: Poder Calorfico e Energtico.
- 246 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tabela de Densidade
Materiais
Massa Volmica (g/cm3)
Platina
21,40
Ouro
19,30
Chumbo
11,30
Prata
10,50
Cobre
8,92
Nquel
8,90
Ferro
7,90
Crmio
7,10
Zinco
7,10
Titnio
4,50
Carbono
3,50
Alumnio
2,70
Boro
2,40
Enxofre
2,06
Magnsio
1,75
Tabela 13: Densidade dos Materiais.
- 247 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tabela de Fusibilidade
Materiais
Fusibilidade (C)
Carbono
3.500
Boro
2.300
Crmio
1.920
Platina
1.770
Titnio
1.725
Ferro
1.535
Nquel
1.450
Cobre
1.083
Ouro
1.063
Prata
960
Alumnio
660
Magnsio
650
Zinco
419
Chumbo
327
Enxofre
115
Tabela 14: Fusibilidade dos Materiais.
- 248 -
Materiais e rgos de Mquinas
ANEXO B MATERIAIS NO FERROSOS
Liga
Cobre
Magnsio
Silcio
Mangans
Outros
Alumnio
2011
5,5
0,40: Bi, Pb e Fe
Restante
2014
4,4
0,5
0,8
0,8
Restante
2017
4,0
0,6
0,5
0,7
Restante
2117
2,6
0,35
Restante
2218
4,0
1,5
2,0 Ni
Restante
2618
2,3
1,6
0,18
1,1 Fe; 1,0 Ni; 0,07 Ti
Restante
2219
6,3
0,30
0,10 V; 0,18 Zr; 0,06 Ti
Restante
2024
4,4
1,5
0,6
Restante
2025
4,4
0,8
0,8
Restante
2036
2,6
0,45
0,25
Restante
Tabela 1: Ligas Al-Cu Trabalhadas (% em massa).
Liga
Cobre
Magnsio
Silcio
Ferro
Zinco
Outros
Alumnio
201.0
4,6
0,35
0,10
mx
0,15
mx
0,7 Ag; 0,35 Mn
Restante
202.0
4,6
0,35
0,10
mx
0,15
mx
0,7 Ag; 0,4 Cr; 0,5 Mn
Restante
203.0
5,0
0,10
mx
0,30
mx
0,50
mx
1,5 Ni; 0,25 Mn; 0,25 Sb;
0,25 Co; 0,20 Zr; 0,20 Ti
Restante
204.0
4,6
0,25
0,20
mx
0,35
mx
Restante
206.0
4,6
0,25
0,10
mx
0,15
mx
0,35 Mn
Restante
208.0
4,0
0,10
mx
3,0
1,2
mx
1,0
mx
Restante
213.0
7,0
0,10
mx
2,0
1,2
mx
2,5
mx
Restante
Tabela 2: Ligas Al-Cu Fundidas (% em massa).
- 249 -
Materiais e rgos de Mquinas
Liga
Limite de Alongamento
Limite de
(%) em
resistncia escoamento
(MPa)
(MPa)
50mm
Dureza
Brinell
Limite de
resistncia
fadiga (MPa)
2011 (T8)
405
310
12
100
125
2014 (T6)
485
415
12
135
125
2017 (T4)
425
275
22
105
125
2117 (T4)
300
165
27
70
95
2218 (T72)
330
255
11
95
2618 (T61)
435
370
10
130
2219 (T87)
475
395
10
130
105
2024 (T861)
515
490
135
125
2025 (T6)
400
255
19
110
125
2036 (T4)
340
195
24
Tabela 3: Propriedades mecnicas Ligas Al-Cu Trabalhadas.
Liga
Limite de
resistncia
(MPa)
Limite de
escoamento
(MPa)
Alongamento (%)
Dureza Brinell
em 50mm
201.0 (T6)
448
379
8,0
130
208.0 (F)
145
97
2,5
55
213.0 (F)
165
103
1,5
70
222.0 (T62)
421
331
4,0
115
224.0 (T571)
380
276
10,0
123
240.0 (F)
235
200
1,0
90
242.0 (T571)
221
207
0,5
85
295.0 (T6)
250
165
5,0
75
Tabela 4: Propriedades mecnicas Ligas Al-Cu Fundidas.
- 250 -
Materiais e rgos de Mquinas
Liga
Classificao UNS
Composio
Cobre comercialmente puro
C10100 C15760
> 99% Cu
Ligas de alto teor de cobre
C16200 C19600
> 96% Cu
Lates
C20500 C28580
Cu-Zn
Lates ao chumbo
C31200 C38590
Cu-Zn-Pb
Lates ao estanho
C40400 C49080
Cu-Zn-Sn-Pb
Bronzes
C50100 C52400
Cu-Sn-P
Bronzes ao Fsforo e ao Chumbo
C53200 C54800
Cu-Sn-Pb-P
Cobres ao fsforo e prata
C55180 C55284
Cu-P-Ag
Bronzes ao alumnio
C60600 C64400
Cu-Al-Ni-Fe-Si-Sn
Bronzes ao silcio
C64700 C66100
Cu-Si-Sn
Outras ligas: Cobre-zinco
C66400 C69900
Cu-Zn
Cobres ao nquel
C70000 C79900
Cu-Ni-Fe
Alpaca
C73200 C79900
Cu-Ni-Zn
Tabela 5: Ligas Fundidas.
Liga
Classificao UNS
Composio
Cobre comercialmente puro
C80100 C81100
> 99% Cu
Ligas de alto teor de cobre
C81300 C82800
> 94% Cu
Lates vermelhos ao chumbo
C83300 C85800
Cu-Zn-Sn-Pb (75-89% Cu)
Lates amarelos ao chumbo
C85200 C85800
Cu-Zn-Sn-Pb (57-74% Cu)
Bronzes ao chumbo e ao mangans
C86100 C86800
Cu-Zn-Mn-Fe-Pb
Bronzes e lates ao silcio
C87300 C87900
Cu-Zn-Si
Bronzes ao estanho e ao chumbo
C90200 C94500
Cu-Sn-Zn-Pb
Bronzes ao nquel e ao estanho
C94700 C94900
Cu-Ni-Sn-Zn-Pb
Bronzes ao alumnio
C95200 C95810
Cu-Al-Fe-Ni
Cobre-nquel
C96200 C96800
Cu-Ni-Fe
Nquel prata
C97300 C97800
Cu-Ni-Zn-Pb-Sn
Cobres ao chumbo
C98200 C98800
Cu-Pb
Ligas especiais
C99300 C99750
Tabela 6: Ligas Trabalhadas.
- 251 -
Materiais e rgos de Mquinas
ANEXO C ELEMENTOS DE LIGAO
Tabela 1: Rosca Mtrica srie Normal.
- 253 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tabela 2: Rosca Mtrica srie Fina.
- 254 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tabela 3: Rosca Sistema Ingls.
- 255 -
Materiais e rgos de Mquinas
Tabela 4: Formas da cabea e Formatos do corpo.
- 256 -
Materiais e rgos de Mquinas
ANEXO D DISPOSITIVOS DE FRENAGEM
Materiais
Especificao
Aplicao
Liga de Cobre Nquel
QQ N 281
Gerais at 700F
(Monel)
MS 20995 NC 32
370C
Liga de Ferro - Cobre Nquel
QQ W 281
Gerais acima 700F
MS 20995 NC 32
370C
(Inconel)
Ao carbono revestido a Zinco
QQ W 461
Gerais
MS 20995 F 32
Crs
AISI 316
(ao resistente corroso)
QQ W 423
Liga de Alumnio
------------
Peas resistentes ao calor
e no magnticas
Peas em magnsio
MS 20995 CU20
Cobre
QQ W 343
Frenagens sujeitas ao
corte
MS 20995 C 32
Cinzento-escuro *
MAS 5687 ou
At 1.800F
MA 9226 04
(982C)
Tabela 1: Materiais Especificao Aplicao.
*O arame especificamente tratado para aplicaes a 1800F (982C), tem uma cor cinzenta escura a preta.
- 257 -
Materiais e rgos de Mquinas
ANEXO E REBITES PARA AERONAVES
Cabea Universal
Marca
da Cabea
Cabea de Embeber
Identificao
da
Material
Cdigo do
Material
Tratamento
Trmico
Marca
Sistema
Simbologia
Tratamento
Trmico antes
de usar
Nenhuma
2S
1100-T4
Com a de
fabrico
No
1 Cruz saliente
56 S
5056 H32
Com a de
fabrico
No
1 Ponto
profundo
A 17 S
2117 T4
AD
Com
Tratamento
Trmico
No
1 Ponto
saliente
17 S
2017 T4
Com
Tratamento
Trmico
Sim
2 Traos
salientes
24 ST
2024 T4
DD
Com
Tratamento
Trmico
Sim
Ref.
Antiga
Ref. Antiga
Sistema
Alfa
Numrico
Com
Tratamento
Trmico
Tabela 1: Sistemas de Identificao de Rebites.
- 259 -
Materiais e rgos de Mquinas
ANEXO F TRANSMISSES
Tabela 1: Formas de Representao de Polias.
- 261 -
Materiais e rgos de Mquinas
BIBLIOGRAFIA
Airframes and Systems JAA ATPL Training.
Airplane Maintenance and Repair.
Aviation Mechanic Handbook.
Cunha, Lus Veiga Desenho Tcnico Fundao Calouste Gulbenkian, 10 Edio.
Dr.Jan Roskam and Dr. Chuan-Tau Airplane Aerodynamics and Performance, 1997.
ECMFMT 144-1 Materiais de Construo Aeronutica, 1999.
Ornelas, Alberto M. S. Coelho Tecnologias de Mecnica Edies Asa.
Regulamento CE n2042/2003.
Soares, Pinto Aos, Caractersticas / Tratamentos 4 Edio.
Standard Aircraft Handbook.
William f. Smith Princpios de Cincia e Engenharia dos Materiais Mc Graw Hill, 3 Edio 1996.
- 263 -
Materiais e rgos de Mquinas
GLOSSRIO
SIGLAS E ABREVIATURAS
ENTIDADES EXTERNAS
APCER
- Associao Portuguesa de Certificao
API
- American Petroleum Institute
ASTM
- American Society for Testing and Materials
BAC
- Boeing Aircraft Company
FAP
- Fora Area Portuguesa
IATA
- International Air Transport Association
IPQ
- Instituto Portugus da Qualidade
ISO
- International Organization for Standardization
NATO
- North Atlantic Treaty Organization
OGMA
- Oficinas Gerais Material Aeronutico
TAP
- Transportes Areos Portugueses
USAF
- United States Air Force
SKF
- Svenska Kullager Frabrieken
- 265 -
Materiais e rgos de Mquinas
ABREVIATURAS
APU
- Auxiliary Power Unit
ATA
- Air Transport Aviation of America
EN
- European Standard
ISO
- International Standard Organization
EPC
- Equipamento Proteco Colectiva
EPI
- Equipamento Proteco Individual Colectiva
DIN
- Deutsch Industrie Normen
MIL
- Military Standard
MIL-T
- Military Test
MS
- Military Standard
NA
- Air Force Navy
NAS
- National Aircraft Standard
NP
- Norma Portuguesa
PTFE
- Politetrafluoretileno
TIG
- Tungsten Inert Gas
UNC
- American Standard Unifield Coarse
UNEF
- American Unifield Extra Fine
UNF
- American Unifield Fine
- 266 -
Materiais e rgos de Mquinas
LISTA DE PGINAS EM VIGOR
PGINAS
EM VIGOR
CAPA (Verso em branco)
ORIGINAL
CARTA DE PROMULGAO (Verso em branco)
ORIGINAL
REGISTO DE ALTERAES (Verso em branco)
ORIGINAL
1 (Verso em branco)
ORIGINAL
3a8
ORIGINAL
9 (Verso em branco)
ORIGINAL
11 a 130
ORIGINAL
131 (Verso em branco)
ORIGINAL
133 a 174
ORIGINAL
175 (Verso em branco)
ORIGINAL
177 a 220
ORIGINAL
221 (Verso em branco)
ORIGINAL
223 a 230
ORIGINAL
231 (Verso em branco)
ORIGINAL
233 a 238
ORIGINAL
239 (Verso em branco)
ORIGINAL
241 a 250
ORIGINAL
251 (Verso em branco)
ORIGINAL
253 a 256
ORIGINAL
257 (Verso em branco)
ORIGINAL
259 (Verso em branco)
ORIGINAL
261 (Verso em branco)
ORIGINAL
263 (Verso em branco)
ORIGINAL
265 a 266
ORIGINAL
LPV-1 (Verso em branco)
ORIGINAL
LPV -1
Você também pode gostar
- Curso de Bombas CentrífugasDocumento32 páginasCurso de Bombas CentrífugasRoberto NicolatoAinda não há avaliações
- Manual Excel 2007 Avancado PDFDocumento368 páginasManual Excel 2007 Avancado PDFPARCIDIOAinda não há avaliações
- Programação Em Assembly Para O Microcontrolador Pic12f Volume INo EverandProgramação Em Assembly Para O Microcontrolador Pic12f Volume INota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Recargas .380Documento3 páginasRecargas .380rafael_viero_1Ainda não há avaliações
- Verificações ELUDocumento9 páginasVerificações ELUAdalto OliveiraAinda não há avaliações
- Fundamentos de Eletricidade IDocumento133 páginasFundamentos de Eletricidade IMário CoutoAinda não há avaliações
- Circuitos eletrônicos básicos com semicondutoresDocumento67 páginasCircuitos eletrônicos básicos com semicondutoresarashisannAinda não há avaliações
- Bobinagem de Máquinas CADocumento7 páginasBobinagem de Máquinas CAOLIVALFILHOAinda não há avaliações
- Eletronica de PotenciaDocumento116 páginasEletronica de PotenciaFelipe de Oliveira100% (1)
- Resumo Global Fisica 10 11 AnosDocumento58 páginasResumo Global Fisica 10 11 AnosCátia VianaAinda não há avaliações
- Bancada didática de eletroeletrônica para ensino técnicoDocumento81 páginasBancada didática de eletroeletrônica para ensino técnicoGustavo RochaAinda não há avaliações
- Classificações climáticas da TerraDocumento34 páginasClassificações climáticas da TerraIsabella FerreiraAinda não há avaliações
- Manual UJT JFET osciladorDocumento16 páginasManual UJT JFET osciladorFredcrdguiAinda não há avaliações
- Apostila Eletronica Analogica CHMDocumento116 páginasApostila Eletronica Analogica CHMCarlos Henrique MonteiroAinda não há avaliações
- Definição, Classificação e Aplicação Das Máquinas de Fluxo Na EngenhariaDocumento69 páginasDefinição, Classificação e Aplicação Das Máquinas de Fluxo Na EngenhariaDouglas100% (2)
- Manual 6007 - 6008Documento51 páginasManual 6007 - 6008sosolimAinda não há avaliações
- Exercícios - Comandos ElétricosDocumento7 páginasExercícios - Comandos ElétricosGlauber Beranger JuniorAinda não há avaliações
- Apostila Comandos Máquinas Eletricas (Aprendizagem Instalações Elétricas 1ºSEM 2012)Documento177 páginasApostila Comandos Máquinas Eletricas (Aprendizagem Instalações Elétricas 1ºSEM 2012)Tiago José de CamposAinda não há avaliações
- Controladores Logicos Programaveis (CLP)Documento129 páginasControladores Logicos Programaveis (CLP)sberf100% (1)
- Fisica Do Estado SolidoDocumento26 páginasFisica Do Estado Solidobruno100% (1)
- Apresentação ContactorDocumento23 páginasApresentação ContactorTony Fast100% (1)
- Comandos Elétricos Senai-MtDocumento75 páginasComandos Elétricos Senai-MtClaudio CarvalhinhoAinda não há avaliações
- Circuitos Eletrônicos DiagramasDocumento15 páginasCircuitos Eletrônicos DiagramasErick RibeiroAinda não há avaliações
- Qdoc - Tips - Apostila Ingles Instrumental PronatecDocumento37 páginasQdoc - Tips - Apostila Ingles Instrumental PronatecJorge CarvalhoAinda não há avaliações
- Instalações Eléctricas Técnico CursoDocumento5 páginasInstalações Eléctricas Técnico CursoJoão Paulo LeãoAinda não há avaliações
- Conversores de partida progressiva Altistart 01Documento28 páginasConversores de partida progressiva Altistart 01Jose De NoniAinda não há avaliações
- Projeto de instalações elétricas residenciaisDocumento74 páginasProjeto de instalações elétricas residenciaisisraelanjos100% (1)
- Calorimetria: Fórmulas de Calor Sensível, Latente, Capacidade Térmica e PropagaçãoDocumento1 páginaCalorimetria: Fórmulas de Calor Sensível, Latente, Capacidade Térmica e PropagaçãoHélio NunesAinda não há avaliações
- Tabela de Preços IMBEL SPDocumento2 páginasTabela de Preços IMBEL SPdmginf100% (1)
- Instruções de Serviço: Compressor de Parafuso Tipo: SKDocumento126 páginasInstruções de Serviço: Compressor de Parafuso Tipo: SKCanaL Hulkesmagaa100% (1)
- Controle de cargas elétricasDocumento2 páginasControle de cargas elétricasJônisson SantosAinda não há avaliações
- Mat Apoio AulaDocumento116 páginasMat Apoio Aulawillianricardo26Ainda não há avaliações
- Fundamentos de ElectronicaDocumento235 páginasFundamentos de ElectronicadavptsoftAinda não há avaliações
- Partida direta de motores monofásicos e trifásicosDocumento14 páginasPartida direta de motores monofásicos e trifásicosSandro Luiz LopesAinda não há avaliações
- Cálculo de carga instalada e demanda elétrica para edifício público em Guaratinguetá-SPDocumento3 páginasCálculo de carga instalada e demanda elétrica para edifício público em Guaratinguetá-SPVânia TibérioAinda não há avaliações
- Prova de CLPDocumento2 páginasProva de CLPdanielfortal67% (3)
- Circuitos e instrumentação: variáveis e elementos básicosDocumento106 páginasCircuitos e instrumentação: variáveis e elementos básicosmayaprettiAinda não há avaliações
- Circuitos de Potência e Comando de Motores ElétricosDocumento20 páginasCircuitos de Potência e Comando de Motores ElétricosJoaquim Pedro Sule CoutinhoAinda não há avaliações
- Simulacao Partida Estrela TriânguloDocumento1 páginaSimulacao Partida Estrela TriânguloJeferson PaulistaAinda não há avaliações
- Partida estrela-triângulo de motores elétricosDocumento40 páginasPartida estrela-triângulo de motores elétricosdanielfortalAinda não há avaliações
- Circuitos PneumáticosDocumento45 páginasCircuitos Pneumáticospaulomarques22Ainda não há avaliações
- Manual Fluidsim 3.6Documento301 páginasManual Fluidsim 3.6Nilton Fornaciari50% (2)
- Motor DC Sem Escovas Lucas SousaDocumento16 páginasMotor DC Sem Escovas Lucas SousaLucas MahmudAinda não há avaliações
- Introdução aos Sistemas DigitaisDocumento24 páginasIntrodução aos Sistemas DigitaisRobert MaxelAinda não há avaliações
- Eletronica AnalógicaDocumento54 páginasEletronica AnalógicaGelson Vrague MachadoAinda não há avaliações
- Aula 08 - Pesquisa OperacionalDocumento26 páginasAula 08 - Pesquisa OperacionalGustavo BragaAinda não há avaliações
- CADe SIMU 2Documento14 páginasCADe SIMU 2David Augusto RibeiroAinda não há avaliações
- Curso online de Elétrica BásicaDocumento52 páginasCurso online de Elétrica BásicaUticar UticarAinda não há avaliações
- Relatorio Eletronica Basica 1Documento15 páginasRelatorio Eletronica Basica 1Álex VieiraAinda não há avaliações
- MPW16 Disjuntores-motores proteção e escolhaDocumento40 páginasMPW16 Disjuntores-motores proteção e escolhakeitonAinda não há avaliações
- Sistemas Mecânicos Automatizados - Nota de Aula 06 sobre Simbologia Hidráulica e EletropneumáticaDocumento19 páginasSistemas Mecânicos Automatizados - Nota de Aula 06 sobre Simbologia Hidráulica e EletropneumáticadanielfortalAinda não há avaliações
- WEG CFW 08 Manual Do Usuario 0899.5241 5.2x Manual Portugues BR PDFDocumento214 páginasWEG CFW 08 Manual Do Usuario 0899.5241 5.2x Manual Portugues BR PDFedrosa900% (1)
- Ferramentas essenciais para eletricistasDocumento3 páginasFerramentas essenciais para eletricistasHeloisa RomãoAinda não há avaliações
- CAD 3D - FormandoDocumento106 páginasCAD 3D - FormandoRMFCAinda não há avaliações
- Cap-01 Informacoes GeraisDocumento58 páginasCap-01 Informacoes GeraisUberlandio da Silva AlvesAinda não há avaliações
- Manual Do KeyprogramDocumento182 páginasManual Do Keyprogramfgodoy85Ainda não há avaliações
- Estudo AutomatismosDocumento4 páginasEstudo AutomatismosJoão Miguel PintoAinda não há avaliações
- SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM - Eletrônica AplicadaDocumento3 páginasSITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM - Eletrônica AplicadadanielfortalAinda não há avaliações
- Comutação de EscadaDocumento7 páginasComutação de EscadaelectrikmindAinda não há avaliações
- Sistema de Controle Industrial 6 PDFDocumento19 páginasSistema de Controle Industrial 6 PDFIgor FelipeAinda não há avaliações
- SA1 - Template - Circuitos Elétricos Resistivos - ALUNODocumento10 páginasSA1 - Template - Circuitos Elétricos Resistivos - ALUNOGabriel Silva0% (2)
- Eletropneumática PDFDocumento1 páginaEletropneumática PDFPedro SousaAinda não há avaliações
- Acionamento Remoto De Televisor Com Gsm Usando Comandos Sms Com Módulo Sim800l Programado No ArduinoNo EverandAcionamento Remoto De Televisor Com Gsm Usando Comandos Sms Com Módulo Sim800l Programado No ArduinoAinda não há avaliações
- Aço H13Documento1 páginaAço H13Diogo Souza FrançaAinda não há avaliações
- Classificação Climática de KöppenDocumento5 páginasClassificação Climática de KöppenThiago DaviAinda não há avaliações
- Estudo ondas mecânicas águaDocumento7 páginasEstudo ondas mecânicas águaRodrigo CavalcantiAinda não há avaliações
- Relação de Produtos PerigososDocumento125 páginasRelação de Produtos PerigososBrunaGoncalvesAinda não há avaliações
- Equação do calor e separação de variáveisDocumento18 páginasEquação do calor e separação de variáveisCelso Vito Gewehr JuniorAinda não há avaliações
- 3.1.métodos Estudo Interior Geosfera - 2Documento72 páginas3.1.métodos Estudo Interior Geosfera - 2Matilde AlmeidaAinda não há avaliações
- Elementos de MaquinasDocumento49 páginasElementos de MaquinasPolyana EstevesAinda não há avaliações
- Refração total e dióptro planoDocumento6 páginasRefração total e dióptro planofranklinperozaAinda não há avaliações
- Determinação de Cobre Usando Titulação Fotométrica.Documento10 páginasDeterminação de Cobre Usando Titulação Fotométrica.cardanfarAinda não há avaliações
- Lab 1 Lei de HookeDocumento5 páginasLab 1 Lei de HookeAllan SilveiraAinda não há avaliações
- Sismos e Tectónica de Placas em PortugalDocumento19 páginasSismos e Tectónica de Placas em PortugalPaulo 2031Ainda não há avaliações
- RAIO - X - HistóriaDocumento30 páginasRAIO - X - HistóriaEmerson Fernandes da CunhaAinda não há avaliações
- FLUXOGRAMADocumento1 páginaFLUXOGRAMAAndré Andrade RamosAinda não há avaliações
- 1 - 1 - Transferencia de Calor - 4 EtapaDocumento34 páginas1 - 1 - Transferencia de Calor - 4 EtapaCanal Física FácilAinda não há avaliações
- Introdução aos Aços: Composição, Estrutura e PropriedadesDocumento43 páginasIntrodução aos Aços: Composição, Estrutura e Propriedadesfagner ribeiroAinda não há avaliações
- Aula 6 - QuímicaDocumento30 páginasAula 6 - QuímicaBeatriz MenezesAinda não há avaliações
- Fluxado Arc WeldingDocumento19 páginasFluxado Arc WeldingJorge Ribeiro KokasAinda não há avaliações
- Energia e Movimentos: SubdomínioDocumento7 páginasEnergia e Movimentos: Subdomínioaamorim2Ainda não há avaliações
- Características do clima de TeresinaDocumento3 páginasCaracterísticas do clima de TeresinaErika SousaAinda não há avaliações
- Catálogo Compressor Hitachi 100B-FH4Documento12 páginasCatálogo Compressor Hitachi 100B-FH4dovaleramos100% (3)
- Oscilações Forçadas e Ressonância (2130)Documento7 páginasOscilações Forçadas e Ressonância (2130)Gabriel RibeiroAinda não há avaliações
- Cinética química - Lista de exercícios UFFDocumento3 páginasCinética química - Lista de exercícios UFFArmando GarciaAinda não há avaliações