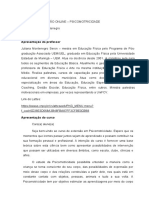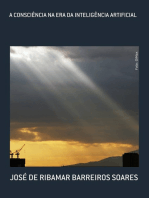Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Imagem, Percepção e Subjetividade
Enviado por
Yasmin NogueiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Imagem, Percepção e Subjetividade
Enviado por
Yasmin NogueiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ECOS
| Volume 1 | Nmero 2
Da iluso-engano
iluso verdade:
imagem, percepo e
subjetividade moderna.
From delusion to truth in the
illusion: on image, perception
and subjectivity in modernity.
Cesar Pessoa Pimentel, Luisa Motta Correa, Mateus
Thomaz Bayer, Pedro Moraes
Resumo
Em
anlises
da
sociedade
contempornea,
o
tema
da
imagem
e
da
iluso
aparece
frequentemente
articulado
expanso
tecnolgica.
Um
denominador
comum
nesses
estudos
a
afirmao
de
que
o
indivduo
perde
suas
referncias,
se
diluindo
na
indistino
entre
desejo
e
realidade.
O
presente
artigo
recua
ao
sculo
XIX
para
examinar
o
estatuto
da
imagem
e
da
iluso
e
sua
importncia
para
a
constituio
do
sujeito.
Argumentamos
que
a
iluso
no
somente
exerceu
papel
desagregador
do
indivduo,
mas
produtor
de
uma
interioridade,
sobretudo,
de
uma
autoconscincia
imbricada
com
o
advento
das
cincias
humanas.
A
passagem
decisiva
se
d
com
o
aparecimento
de
pesquisas
fisiolgicas,
filosficas
e
estticas
orientadas
para
a
determinao
dos
mecanismos
de
produo
da
imagem,
que
remetem
ao
funcionamento
do
corpo,
aos
cdigos
que
regem
a
mente
e
seus
processos
perceptivos.
Palavras-chave
Percepo;
iluso;
sujeito.
Cesar
Pessoa
Pimentel
Sociedade
educacional
fluminense
Psiclogo;
Doutor
em
Psicossociologia
pelo
programa
EICOS
da
UFRJ.
Professor
de
Psicologia
da
Sociedade
educacional
fluminense.
cesar.pimn@gmail.com
Luisa Motta Correa
Universidade Federal do
Rio de Janeiro
Psicloga; Graduada pela UFRJ.
lubatucatu@yahoo.com.br
Abstract
In
analysis
of
contemporary
society,
the
issue
of
image
and
illusion
appears
often
articulated
to
the
technological
expansion.
A
common
denominator
in
these
studies
is
the
claim
that
the
individual
loses
his
references,
diluting
the
lack
of
distinction
between
desire
and
reality.
This
article
goes
back
to
the
nineteenth
century
to
examine
the
status
of
image
and
illusion
and
its
importance
for
the
constitution
of
the
subject.
We
argue
that
the
illusion
not
only
played
the
role
of
the
disruptive
individual,
but
a
producer
of
interior,
above
all,
a
self
intertwined
with
the
advent
of
the
humanities.
The
crucial
passage
occurs
with
the
onset
of
physiological
research,
philosophical
and
aesthetic
aimed
at
determining
the
mechanisms
of
image
production,
which
refer
to
the
functioning
of
the
body,
the
codes
that
govern
the
mind
and
its
perceptual
processes.
Keywords
Perception;
illusion;
subject.
Mateus Thomaz Bayer
Universidade Federal do
Rio de Janeiro
Graduando em Psicologia
(UFRJ).
mateusbayer@ufrj.br
Pedro Moraes
Universidade
Federal
do
Rio
de
Janeiro
Graduando
em
Psicologia
(UFRJ).
pedrommduva@hotmail.com
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
Nas Meditaes de Descartes (1990 [1649]), o tema da iluso aparece
constantemente. Como adversrio a ser contido na produo de ideias claras e
distintas, aquilo que nos engana evocado diversas vezes e em diferentes
facetas. Em primeiro lugar, sob a aparncia de objetos distantes, como um
moinho, que visto ao longe aparenta ser uma torre. Mas tambm aquilo que
est bem perto, a pena ou a roupa que o filsofo veste enquanto escreve o
texto, pois experimentamos sonhos to vvidos que capazes de despertar
dvida sobre a realidade de coisas, mesmo as que nos circundam. Restam
intactas as naturezas exatas da matemtica e geometria. No por muito
tempo, pois tudo aquilo que pensamos pode ter sido instalado por um ser to
poderoso quanto Deus, entretanto avesso verdade. Ao enumerar e imaginar
iluses to diversas se trata de conjurar, anular e despojar o poder do engano.
Num pequeno compndio sobre psicologia da percepo, escrito h
quarenta anos, o tratamento dispensado iluso distingue-se do cartesiano:
pode-se ler que as iluses ptico-geomtricas definem-se como fenmenos
normais regidas pelas mesmas leis da organizao perceptiva adequada
(PENNA, 1973, p. 104). Num tratado que funde Histria da arte com estudo da
percepo, encontramos posio semelhante: no h distino rgida entre
percepo e iluso (GOMBRICH, 2007, p. 24). Mais adiante, o autor ressalta que
as iluses alm de permanecerem no campo perceptivo exercem um papel
essencial, sem o qual a arte perderia fora e variedade. Os diferentes estilos
artsticos que se sucedem na Histria movem-se pelo nexo fundamental entre o
artstico e o ilusrio: se a arte tem histria porque as iluses da arte no so
s o fruto, mas tambm os instrumentos indispensveis anlise das
aparncias pelo artista (GOMBRICH, 2007, p. 25).
O presente artigo busca retomar o espanto frente a tal modificao de
nossa experincia. Pretende descrever as linhas gerais da transformao
pela qual passou o tema da iluso entre o sculo XVII e o sculo XIX.
Segundo algumas correntes da psicologia contempornea, perante um
observador os objetos fsicos apreendidos no cotidiano comportam sempre
um contingente de ambiguidade. Desse modo, as imagens que formamos do
mundo consistem em hipteses que podem ser confirmadas ou ento
descartadas no decorrer da experincia. Nesse sentido, a separao rgida
entre iluso e imagem adequada torna-se sem fundamento (GREGORY,
1990; GOMBRICH, 2007; PENNA, 1973). Entre as iluses mais estudadas
pela psicologia, esto as ptico-geomtricas e de movimento, enquanto as
anamorfoses ou deformaes na perspectiva tm valor no estudo e prticas
estticas. Cabe ressaltar que as iluses no se referem apenas ao campo
visual, mas incluem sons e sensaes tteis distorcidas.
Iluso, transitoriedade e sujeito.
De outro ponto de vista, podemos considerar as iluses como ndice do
modo pelo qual os indivduos organizam historicamente referncias para agir e
conhecer. Nesse sentido, mais importante do que definir o que iluso e como
classific-la, saber como foi estudada, quais variaes de sentido o termo
sofreu e quais disciplinas foram mobilizadas, entrecruzando-se para seu
entendimento. Em outros termos, trata-se de entender as problematizaes, as
diversas formas pelas quais os indivduos buscam entender e modificar a si
mesmos1. A iluso recai nesse campo na medida em que foi sendo associada ao
risco da perda do controle sobre si, ao aprisionamento em um mundo efmero
que conduz ao cancelamento da liberdade.
A histria do conhecimento capaz de fornecer um pequeno, mas
precioso trecho da trama que une sonho, devaneio e engano liberdade
humana. Charles Taylor (2005), na anlise da construo filosfica da
autoconscincia, e Marcel Gauchet (2004), explorando a ligao entre os
sistemas religiosos e o advento do sujeito, contriburam nesse domnio.
148
1
Michel
Foucault
tentou
fazer
uma
Histria
do
pensamento
como
uma
Histria
dos
problemas
ou
problematizaes,
que
pressupe
a
possibilidade
dos
indivduos
se
distanciarem
daquilo
que
fazem,
tomando
suas
prticas
como
objetos
de
conhecimento.
A
noo
de
problema
frisa
menos
a
semelhana
entre
respostas
do
que
a
divergncia
entre
estas:
vrias
respostas
podem
ser
dadas
a
partir
de
nico
conjunto
de
dificuldades;
na
maioria
das
vezes,
respostas
diferentes
so
efetivamente
propostas
(RABINOW,
1992,
p.
24).
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
Ressaltam que a responsabilidade individual condicionada pelo
fechamento do indivduo s influncias exteriores, a partir das quais se
desenvolviam os fenmenos de xtase, possesso e inspirao divina.
Recuando aos primeiros sistemas religiosos, argumentam que no mundo
onde os pequenos deuses proliferavam, a ao humana dependia menos da
conscincia do que da inspirao e do arrebatamento. Quando os deuses se
afastam ou quando so reduzidos a uma nica divindade, os erros humanos,
a distncia entre inteno e ao remetida a divises e conflitos interiores.
Ao invs de uma tica do guerreiro, que valoriza alteraes sbitas da
conscincia, a tica que se prope na Grcia de Plato a da harmonia, da
conjugao entre necessidade, esprito e razo, propenses que dividem a
alma.
Desde que os estados de possesso, arrebatamento e turvamento da
conscincia foram desvalorizados pela filosofia grega, tornam-se desejveis
estados harmnicos que a alma s pode alcanar mediante conhecimento de
realidades estveis e duradouras. As aparncias, as belas imagens que a arte
produz so tomadas por entretenimentos perturbadores que fragmentam o
mundo interior.
A partir desse momento, a relao do homem com a estabilidade
sofreu diversas oscilaes; primeiramente saltando do domnio das Ideias
platnicas para o Divino e depois para dentro dele mesmo, na fora
organizadora do pensamento ou de uma fonte iluminadora que coube a
Descartes estabelecer no si (TAYLOR, 2005). Quando a separao
cartesiana entre matria pensante e matria extensa comea a ser
substituda pelo materialismo do sculo XVIII, as imagens efmeras ganham
estatuto fisiolgico e passam a ser consideradas produes do olho e do
sistema nervoso. Desde ento o ilusrio j no se reduz ao que nos afasta da
verdade, mas passa a conter regularidades que permitem compreender o
que somos e podemos fazer. No mais a no verdade, mas a verdade
invertida em um espelho (CRARY, 1990).
A iluso como ndice de transformaes culturais consiste aqui no
ponto de partida. Atravs dela, pretende-se tratar da constituio do sujeito,
das formas de autoconhecimento e autodomnio. Com clareza, Descartes
(1990 [1649], p. 97) evoca esse nexo entre iluso, conhecimento e
liberdade:
[...] como um escravo que gozava de uma liberdade imaginria, quando
comea a suspeitar de que sua liberdade apenas um sonho, teme ser
despertado e conspira com essas iluses agradveis para ser mais
longamente enganado.
Imagem e cincias humanas
Em anlises da sociedade contempornea, o tema da imagem, muito
frequentemente associado ao da iluso, aparece articulado expanso
tecnolgica. Nessa linha de anlise, Jean Baudrillard (1981) pontua um
estado de paroxismo da iluso. Se num passado ainda recente, as imagens
eram tratadas como cpias, boas ou ms, pouco importa, segundo o
socilogo, a distncia desse momento tornou-se to intensa quanto
irrefutvel. A era do conceito, do mapa ou do quadro teria sido agora
transposta por prticas, sobretudo de cunho tecnolgico, que cancelam os
critrios que permitem distinguir representao e realidade. No mapa a
realidade representada enquanto na era da simulao a realidade
produzida. Frente impossibilidade de engano, pois desde sempre estamos
imersos em realidades produzidas, Baudrillard (1981, p. 8) ironicamente
reverencia o poder da simulao: o real, e no o mapa, cujos vestgios
149
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
subsistem aqui e ali, nos desertos que j no so os do Imprio, mas o nosso.
O deserto do prprio real.
Na contramo dessas anlises, em um texto mais recente, o historiador
Jonathan Crary (1990) pondera a novidade da onipresena imagtica. A
problemtica da iluso, da produo e disseminao de imagens
remontada ao sculo XIX. Esse texto, que inspira a discusso aqui
desenvolvida, argumenta que a oposio entre imagens exteriores e
interiores j se encontra profundamente abalada no passado. Percorrendo
diversas pesquisas, ao mesmo tempo filosficas, fisiolgicas, artsticas e
tcnicas, ressalta a crescente preocupao com os mecanismos fisiolgicos
do prprio olho e aparatos tecnolgicos capazes de produzir imagens.
Nesse perodo, em que configuraes subjetivas, epistemolgicas e
tecnolgicas esto em profusa ebulio, cresce uma autoconscincia da qual
a popularidade dos dirios ntimos, a inveno de cmodos e espaos
privados ou o uso abundante de roupas destinadas a esconder o mundo
emotivo so algumas das evidncias (SENNETT, 1998; SIBILIA, 2008). Em
outros termos, a pesquisa sobre a produo de imagens foi uma importante
condio para a reflexo do homem sobre si mesmo.
Deveramos ento dizer que a iluso no somente exerceu papel
desagregador do indivduo, mas produtor de uma interioridade, sobretudo,
de uma autoconscincia imbricada com o advento das cincias humanas.
legtimo argumentar que o homem no somente se desintegra frente ao
poder da imagem, mas se torna um objeto de conhecimento por
modificaes em seu regime. O presente texto se esfora em mostrar como o
estatuto da iluso foi determinante para a constituio do homem como
objeto de conhecimento cientfico.
O argumento demonstrado por comparao histrica entre o cenrio
que antecede o sculo XVIII com as novas constelaes subjetivas,
epistemolgicas e tcnicas que se consolidam por volta do incio do sculo
XIX. Longe de uma camada dispensvel de impresses fugidias acerca do
mundo, as sensaes e os fenmenos ilusrios ganharam ento um novo
regime de verdade. Tentaremos mostrar que no sculo XIX se expandem
pesquisas sobre a produo das imagens, onde no importa tanto sua
fidelidade ao mundo exterior, mas seus efeitos e mecanismos. A criao de
saberes sobre iluso indica que ela porta uma verdade relacionada ao
homem, ao seu corpo, desejo e crenas.
Alm de permeado por pesquisas fisiolgicas e invenes tecnolgicas,
esse caminho inclui personagens mobilizados no domnio filosfico para
devolver o espanto frente aos costumes e modelos de conhecimento. nesse
ponto que a anlise se inicia at encontrar a juno entre tcnica, cincia e
arte produzidas pelo sculo XIX.
O
Cego
e
o
Bom-selvagem
Durante o sculo XVIII, no foram poucas obras que problematizaram
hbitos, instituies e tradies da Civilizao europia. Nesse debate,
arregimentavam-se personagens estrangeiros, distantes dos hbitos
europeus, atravs dos quais se tenta passar impresso de estranheza. A
estratgia de deslocamento pretendia fazer a perspectiva oscilar para que o
leitor assistisse seu cotidiano com olhos de estrangeiro. Persas, nativos
norte-americanos, bomios libertinos se revezaram no papel do bom
selvagem que denuncia a arbitrariedade e frivolidade que funda o cotidiano
dos supostos civilizados (LBRUN, 2006).
So personagens de uma linhagem dissidente daquela qual pertence
um personagem clebre das Meditaes cartesianas: o Gnio Maligno
(DESCARTES, 1990 [1649]). Incorporado no caminho de uma dvida cada
150
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
vez mais abrangente e radical sobre a existncia do mundo, o Gnio Maligno
participa de uma estratgia que usa o ceticismo para encontrar uma
perspectiva segura e estvel. Enquanto o terreno que Descartes anseia
imvel, o do sculo XVIII est mais prximo do pntano, da mobilidade
incessante e da vertigem. Da dvida dos sentidos do sculo XVII at o sculo
XVIII, a finalidade muda completamente, como destaca com preciso Grard
Lebrun (2006, p. 54):
{a dvida cartesiana} afastava provisoriamente o mundo para reencontr-
lo no brilho de uma verdade assegurada; no imaginrio do sculo XVIII, ao
contrrio, o mundo em todos os sentidos da palavra parece dissolver-se
definitivamente.
Abordando a sensao como camada instvel da realidade, Descartes
evitar, a todo custo, permanecer no mbito do sensvel. Seu estudo sobre
os sentidos servir apenas para dissipar as marcas enganosas que estes
produzem sobre o conhecimento. Em outros termos, aqui a iluso s
comparece a ttulo de erro e se o filsofo lida com as iluses para
aumentar seu controle, com inteno de dissip-las.
Curioso notar que a reflexo do sculo XVII sobre o conhecimento se
distribuir em torno de um tema recorrente: o indivduo privado de seus
sentidos. Em especial, a cegueira destacada como terreno de reflexo
sobre a gnese de nossas representaes. O famoso Problema de
Molyneux ser um dos temas mais discutidos (LBRUN, 2006). O
astrnomo William Molyneux pergunta ao filsofo John Locke como
aprendemos a ver, supondo um cego de nascena que subitamente recobra
a viso. Ele seria capaz de reconhecer e diferenciar objetos, que j sabia
discernir com o toque, somente com a observao?
Considerando que a viso deve ser corrigida e complementada pelo
tato, os autores respondem negativamente, assim como outro filsofo, o
bispo Berkeley, autor de um importante tratado sobre a viso. Para
reconhecer os objetos, seria preciso identificar profundidade e distncia,
propriedades que no so dadas pelo sentido visual, mas que adquirimos
paulatinamente explorando o meio ambiente, tocando as coisas nossa
volta. Somente assim um cego poderia apreender corretamente as
diferenas entre um cubo e uma esfera. O olhar demonstra sua insuficincia
perante uma ordenao no espao que o toque apreenderia melhor. O cego,
de certa forma, recebe sua revanche pela mo do filsofo. Sua privao
torna-o menos suscetvel ao engano, seu saber certamente mais prximo
da cincia do que o indivduo que se deixa levar pelo brilho e encantamento
do mundo sensvel.
Se o cego resplandece como o sujeito da cincia que conhece os corpos
por sua ordem no espao, talvez seja possvel dizer que a cincia tambm
abriga alguma cegueira. Esse desenvolvimento do tema aparece na obra de
Diderot, por volta de 1749, ano da publicao de Carta aos cegos. A figura
do cego gemetra, que conhece as propriedades essenciais mantida, no
entanto ocorre um deslocamento considervel. A gnese das sensaes de
distncia e profundidade no localizada no tato, mas o espao duplicado
segundo os sentidos. Em outros termos, Diderot liberta o olho da mo,
separando o espao ligado ao tato do espao ligado viso, tal como Lbrun
(2006, p. 61) esclarece nessa passagem:
No se tem o direito de fazer do cego operado o modelo do aprendiz da
viso, de procurar no nvel do patolgico a verdade da percepo visual; o
cego s ver realmente quando deixar de relacionar o espao a suas
coordenadas musculares e tteis, quando, esquecendo que foi cego, puder
151
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
mover-se com desembarao e sem espanto, no vazio movedio que se cava
a sua volta.
Como o historiador da arte Alois Riegl, Diderot insiste na dissociao
entre o espao visual e o espao ttil. So duas formas de apreenso do
mundo, exemplificados pelo historiador atravs da diferena entre a arte
egpcia, que separa e isola os objetos, e a arte romana, que destaca o
acoplamento dos objetos a cenas e fundos (CASTELLO-BRANCO, 2009). A
espacialidade fornecida pelo tato lida com estmulos descontnuos,
enquanto a espacialidade que o olho engendra lida com uma representao
geral e panormica dos objetos. Para ingressarmos no mundo visvel
preciso esquecer e no traduzir o que j sabamos pelo tato.
A partir do cego gemetra chega-se a uma nova concepo da imagem e
do visvel. Remetendo o observador a um tipo de conhecimento e espao
especfico, um entre tantos outros possveis, o tema da cegueira permitir
uma nova abordagem sobre a iluso e imagem. O conhecimento do cego o
conhecimento da cincia; mas quantas coisas so deixadas de lado na
cegueira (e na cincia). O personagem de Diderot pode compreender o que
a beleza pela via da utilidade, mas essa compreenso seria suficiente? Afinal,
admiramos frequentemente certas formas, sem que a noo de til nos leve
[...] Enfim, discernimos todos os dias a beleza nas flores, nas plantas e em
mil outras obras da natureza, cujo uso desconhecemos (DIDEROT apud
LBRUN, 2006, p. 64).
Nessa etapa, cabe notar que no se trata mais de dissipar as iluses,
mas de recobrar sua importncia no conhecimento do mundo e prticas
cotidianas. Em tal debate filosfico, o cego aproximado da verdade da
cincia, no entanto afirma-se que esto fora de seu alcance a verdade
imanente arte e cultura, campos onde a iluso o fundamento. Remover
tal fundamento seria omitir e desconsiderar o terreno de tais prticas.
A
iluso
na
modernidade
Lbrun (2006) nota que na obra de Diderot encontramos um tema que
ser muito estudado no sculo XIX: a arte como conhecimento diferenciado
e, por vezes, superior cincia. O terreno da discusso transferido da
Frana para a Alemanha, sendo alargado e entrecruzando fisiologia, filosofia
e esttica.
Desenvolvendo pesquisas inovadoras que arregimentaram biologia,
arte e filosofia, Goethe um dos primeiros autores do sculo XIX a
investigar cientfica e filosoficamente as cores. Recebendo diversas crticas,
ainda assim obteve repercusso notvel como se pode notar na obra do
pintor ingls John Turner que dedicou o quadro Luz e Cor ao pensador
alemo. Vigorava at o momento uma abordagem fsica da tica
propulsionada pelas recentes descobertas sobre a refrao da luz. Quando
Newton decomps a luz branca atravs de um prisma que emanava todo
espectro de cores, deduziu-se que o olho humano deveria portar o mesmo
nmero de receptores. (SACKS, 2010). A proeminncia da fsica na
compreenso do ver fez com que Descartes considerasse razovel estudar
os componentes do olho como conjunto de lentes regido pelas leis da
refrao da luz. E quando o filsofo realiza dissecao, ele separa o olho do
restante do corpo, rompendo todas conexes nervosas. Se o sculo XVII
falou muito de um olho-lente, silenciou quase totalmente acerca do corpo
que o aloja2.
Na medida em que as cores eram tratadas como terreno frgil e
enganoso, se fazia necessrio filtr-las, engendrando objetos plidos,
incolores. Temos na doutrina das cores de Goethe uma das primeiras
152
2
Em
Tcnicas
do
observador,
Jonathan
Crary
(1990)
frisa
descontinuidades
entre
o
modelo
de
conhecimento
em
vigor
nos
sculos
XVII
e
XVIII,
caracterizado
por
uma
perspectiva
desincorporada,
e
aquele
que
emerge
em
seguida,
marcado
pela
perspectiva
do
observador,
onde
o
corpo,
o
sistema
nervoso
interferem
irremediavelmente
no
conhecimento
tanto
do
mundo
exterior
quanto
de
ns
mesmos,
trazendo
uma
crise
para
o
sistema
de
representao
da
era
clssica.
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
investigaes a encontrar verdade no terreno rejeitado pelos sculos XVII e
XVIII, exatamente o terreno formado pelos dados dos sentidos. Abordando a
efemeridade sem elimin-la, o sculo XIX descobrir certas regularidades
nas sensaes, voltando-se para os mecanismos fisiolgicos que produzem o
que percebemos. Assim, Goethe nota como as sensaes das cores so, em
grande parte, produzidas pelo olho, doravante no mais um conjunto de
lentes, mas uma parte conectada s fibras nervosas, s suas mudanas, ao
cansao e ao vigor.
Em primeiro lugar, o afastamento de Goethe em relao tica fsica
envolve uma critica cmera escura. Como recurso difundido na pintura e
ao mesmo tempo modelo do conhecimento do mundo exterior, a cmera
escura aderia ao esforo intenso para encontrar uma perspectiva estvel
sobre o mundo e uma imagem adequada realidade. O pequeno orifcio, por
onde a luz penetra, corresponde no campo epistemolgico ao filtro com que
a razo regula as impresses fugidias. Ao invs de representar o mundo
atravs desse dispositivo, Goethe se pergunta o que aconteceria se
olhssemos diretamente para luz exterior:
Em uma habitao to escura quanto possvel, faamos uma abertura
circular na contra-janela [...]. Faamos com que o sol projete os seus {raios}
atravs dela sobre uma superfcie branca, deixemos o expectador fixar seus
olhos, desde uma certa distncia, sobre este crculo brilhante.
[...] deixemos com que olhe para a parte mais
escura do recinto; diante dele ver flutuar uma imagem circular. O centro
do crculo aparecer brilhante, sem cor ou amarelo, porm a borda
parecer roxa. Depois de um tempo esse roxo, crescendo para o centro ir
cobrindo todo o crculo, at chegar finalmente ao ponto central. Apenas o
crculo se tenha feito roxo, logo, a borda comea a azular-se, e o azul invade
gradualmente o interior roxo. Quando tudo se faz azul, a borda se escurece
e descolora. A borda escura invade o azul at que todo o crculo se mostra
incolor (GOETHE apud CRARY, 1990, p. 67-68).
Goethe nega a cmera escura como sistema tico e figura
epistemolgica quando fecha o orifcio circular da contra janela. O
fechamento da abertura dissolve a distino entre espao interior e espao
exterior da qual dependia o funcionamento mesmo da cmera, como
aparato e como paradigma (CRARY, 1990, p.68). A experincia tica que
Goethe anuncia apresenta um entendimento de viso que o sistema clssico
era incapaz de alcanar, no se trata mais de isolar um observador em um
interior cuidadosamente selado para que observe determinado contedo
especfico. Isso porque a questo que Goethe coloca ao anunciar estes
crculos coloridos e flutuantes no tem espao nem dentro, nem fora do
ambiente escuro. Para explicar tal fenmeno, os antigos paradigmas se
tornam obsoletos. Goethe entende estes crculos flutuantes coloridos como
cores fisiolgicas, que tem sua origem no prprio observador. Esta
subjetividade corprea do espectador (CRARY, 1990, p. 69), sem espao
na lgica da cmera escura, se transforma repentinamente no lugar a partir
do qual se torna possvel o observador. O humano ento produtor ativo e
autnomo de sua experincia tica. Da transparncia de um olho que
captura o mundo externo, do olho transparente (olho-lente), passa-se, no
novo regime, a um olho produtor de imagens, que reage orgnica e
temporalmente a determinados estmulos internos e/ou externos. Para
Goethe, assim como para, posteriormente, Schopenhauer, a viso um
complexo irredutvel de elementos que pertencem ao corpo do observador e
de dados que provm do mundo externo.
Segundo o historiador da arte Jonathan Crary (1990), Schopenhauer
radicaliza a noo de subjetividade da viso ao abandonar a classificao
das cores de Goethe (que as entendia como fisiolgicas, fsicas e qumicas),
153
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
para consider-las como um fenmeno puramente fisiolgico. Para
Schopenhauer, Goethe errou na sua tentativa de formular uma verdade
objetiva sobre a cor independente do corpo humano. Schopenhauer deixa
explcita a irrelevncia de distines entre interior e exterior, ele estuda a
cor somente por sensaes pertencentes ao corpo do observador.
O observador com uma nova autonomia perceptiva, defendido por
Goethe e Schopenhauer, coincidia com a constituio do observador em um
sujeito de novas tecnologias de poder. Foi na fisiologia onde esse
observador produtivo emergiu. De 1820 at 1840 a fisiologia era bastante
diferente da especializada cincia que temos hoje, e consistia no trabalho
desconexo de diversos indivduos que tinham em comum o
deslumbramento perante os segredos do corpo. Assim, o domnio somtico
estava se tornando lugar de poder e verdade. Segundo Foucault (1987), a
partir da fisiologia do sculo XIX, o homem passa a ser mapeado no
emprico. Era o descobrimento que o conhecimento era condicionado pelo
funcionamento fsico e anatmico do corpo, e talvez mais importante, dos
olhos. Troca-se ento o modelo da soberania por um modelo disciplinar,
(CRARY, 1990, p. 79), ou seja, as tcnicas, a sociedade e os saberes tornam-
se permeados por mecanismos de controle refinados e minuciosos que
administram a vida. O conhecimento do corpo seria o que possibilitaria a
formao de um indivduo adequado s necessidades da economia moderna.
Era o esboo do que viria a ser os Recursos Humanos, ideia ainda hoje to
presente na psicologia, onde se estuda o que dar ao trabalhador para que ele
trabalhe em sua mxima potncia. Os novos estudos e novos saberes
contriburam para adequar os corpos modernos a novos regimes
perceptivos, vinculados mecanizao crescente da produo e lgica do
consumo.
Em seguida, Crary (1990) analisa o pensamento cientfico da poca,
focando o fisiologista Johannes Mller, cuja obra endossou as especulaes
de seus conterrneos filsofos. Mller mostra que uma variedade de
diferentes causas provoca a mesma sensao em um dado nervo sensorial.
Descrevendo uma relao arbitrria entre estmulo e sensao, chega
concluso que a experincia de luz do observador no tem conexo
necessria com uma luz exterior e real, e pode ser obtida, por exemplo, por
um soco no olho ou estmulos eltricos ou qumicos e substncias
alucingenas.
Novamente, o modelo da cmera escura se mostra irrelevante. A
experincia de luz se torna separada de qualquer fonte de onde o mundo
pudesse ser apreendido. Para Mller, assim como antes para Schopenhauer
e Goethe, a imagem passa a ser produto de um corpo vivo, com seu modo de
funcionamento especfico e de fcil afetao. Como mostram claramente as
experimentaes em torno da ps-imagem ou da imagem entptica3, o que
visto no mais espelha o mundo exterior. O visvel pode estar nica e
exclusivamente vinculado a um corpo afetado por estmulos internos ou
externos.
Fisiologia
e
arte
Em meados do sc. XIX, a Alemanha vive um perodo de intensa
transformao poltica. Nesse contexto, a sada de um idealismo filosfico
para um realismo e pragmatismo poltico foi uma passagem
significativamente difcil. Os cientistas, assim como os artistas, deram
contribuies cruciais para essa transformao construindo as novas bases
culturais e a direo intelectual rumo unificao e industrializao.
Nesse contexto sero exibidos mais claramente os conflitos entre as
diferentes geraes. No que diz respeito fisiologia, Mller passou a
constituir um ponto de repdio para os novos cientistas alemes. Nas
154
3
No
sculo
XIX,
ps-imagens
eram
considerados
fenmenos
ligados
permanncia
do
que
visto
na
retina,
enquanto
as
imagens
entpticas
so
fenmenos
produzidos
pelo
prprio
olho,
como
manchas
que
enxergamos
aps
olhar
o
Sol.
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
palavras de Lenoir (2003, p.176): Mller veio a personificar tudo o que
estava errado no Antigo Regime.
Apesar de ser intelectualmente o maior fisiologista de sua poca, Mller
suscitava discordncias em seus alunos, dentre eles Du Bois-Reymond,
Ernst von Brcke e Hermann von Helmholtz. Isto em funo de Mller ser
defensor da doutrina do vitalismo. Essa doutrina situava uma fora vital
emergente que conferia ordem e direo s foras mecnicas e qumicas do
corpo vivo (LENOIR, 2003, p. 176). em funo disso que certos
estudantes, notadamente os citados acima, defendero uma fisiologia
fisicalista no lugar de uma fisiologia vitalista.
Os trs fisiologistas chegaram a formar um grupo reunido no intuito de
banir os princpios vitalistas do campo da fisiologia. Apesar de mais
discreto, Helmholtz tambm se via em ponto de discordncia com os
princpios adotados por Mller. Exemplo disso so seus estudos sobre a
contrao muscular, em que chegar concluso de que seria impossvel
estabelecer qualquer hiptese coerente para o funcionamento de tal
processo se no fosse atravs de formulaes qumico-fsicas. Outro
exemplo, este mais complexo em sua crtica, ser sua teoria da
representao, que teve na pintura realista alem um ponto fundamental de
estudo para suas formulaes. Assim, a importncia da arte que atravessou
as pesquisas de Goethe e Schopenhauer, por exemplo, tambm pode ser
encontrada em Helmholtz. Este entendia que o processo de pintar era
anlogo ao processo pelo qual a mente cria suas representaes do mundo.
Helmholtz via no realismo alemo um privilegiado objeto de estudo,
pois, para ele, determinar como certos pintores tm xito em criar iluses
de realidade em suas telas seria um modo importante de investigar como a
mente produz suas estratgias de representao do mundo. Para Lenoir
(2003, p. 186):
Helmholtz estava interessado em uma variedade de iluses de tica e
distores, mas a pintura lhe era particularmente significativa na medida
em que, de acordo com sua teoria, os pintores tinham xito em seu ofcio
no por copiar o objeto natural, mas antes por representar na tela as regras
e os cdigos que a mente usa ao construir representaes visuais a partir
dos dados dos sentidos.
Assim, a arte passa a conter em si a verdade do homem. Trata-se de
investig-la, pois nela encontramos expressos os modos pelos quais nos
constitumos enquanto sujeitos perceptivos. No entanto, no ser qualquer
espcie de arte capaz de abrir o acesso verdade, seja do mundo exterior ou
do sujeito da percepo. Buscando distncia da arte francesa, considerada
frvola e presa por demais efemeridade da vida cotidiana, os autores na
Alemanha buscam regular o sensvel pelo conceito. Entre o mundo
percebido e a pintura, deve haver codificao do olhar e da representao.
Helmholtz tinha seu interesse voltado em especial para a pintura
histrica movimento histrico-realista estabelecido na Berlim da poca
que tinha como grande representante Adolph Menzel. Este era um opositor
vigoroso do idealismo da pintura romntica e defendia a construo de um
realismo-histrico, que deveria pintar a realidade contempornea dos
homens e no mais uma natureza idealizada e universal. Menzel foi um dos
pioneiros nas tcnicas de representao realista.
Suas pinturas captavam seus personagens em um momento transitrio da
vida ordinria [...] Menzel representava suas cenas maneira de uma
fotografia do momento, captando o instante passageiro com ateno ao
detalhe exato e uma descrio baseada no estudo de fontes histricas. De
fato, a conexo entre seu trabalho e a fotografia era to ntima que
155
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
oponentes criticavam suas pinturas como se fossem meros daguerretipos
(LENOIR, 2003, p. 188).
Entretanto, Menzel no concebia a tcnica de representao realista
como algo que deve primar por uma cpia da natureza. Diz ele: Nem tudo o
que ansiosamente copiado da natureza faz jus natureza (MENZEL apud
LENOIR, 2003, p.189). Faltaria cpia fiel uma certa sofisticao que s
poderia ser alcanada no recurso a conceitos, pois s estes que poderiam
dar a uma tela a feio desejada. Por exemplo, como podemos ver abaixo no
quadro Das Eisenwalzwerk (1872-75) de Menzel, no so apenas os detalhes
da vida cotidiana que o interessam, mas, neste caso, cenas que representem,
a partir de uma concepo defendida de progresso, o desenvolvimento de
uma nao por mquinas a vapor e crescimento industrial.
Figura 1
A
pintura
de
Menzel,
assim
como
a
dos
demais
realistas
de
Berlim
poca,
era
marcada
fortemente
por
um
carter
poltico
de
afirmao
da
cultura
alem.
Entretanto,
seus
defensores
atentavam
aos
perigos
de
se
confundir
o
realismo
com
um
materialismo
descontrolado
em
que
a
arte
era
submetida
materialidade
das
coisas.
Alm
disso,
a
arte
contempornea
francesa
era
vista
como
um
perigo,
pois
se
tratava
de
uma
arte
eminentemente
preocupada
com
a
superficialidade
da
vida
e
com
o
exterior
das
coisas,
em
contraponto
com
a
profundidade
e
a
realidade
de
valores
mais
slidos
defendidos
pelos
alemes.
Rejeitando
a
superficialidade,
a
arte
alem
incorpora
preocupaes
polticas,
voltando-se
para
uma
espcie
de
educao
esttica.
Nesse
programa
se
preocupava
em
combater
as
tendncias
consideradas
perniciosas
do
modernismo,
promovendo
uma
educao
da
sensibilidade
das
massas.
Aqui,
toda
uma
srie
de
discursos
sobre
as
representaes
passam
a
ter
um
carter
efetivamente
normativo.
Tanto
o
processo
representacional
quanto
o
trabalho
esttico
das
obras
de
arte
passam
a
ser
transpassados
por
uma
norma.
Foucault
(2007a,
p.
61)
esclarece
esse
conceito
que
o
de
norma:
[...]
a
norma
no
se
define
absolutamente
como
uma
lei
natural,
mas
pelo
papel
que
de
exigncia
e
de
coero
que
ela
capaz
de
exercer
em
relao
aos
domnios
a
que
se
aplica.
156
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
Uma figura que caracteriza bem o empenho normativo a de Hans
Mares. Admirador das obras de Menzel no incio de sua carreira, Mares
era prximo posio de Helmholtz sobre a representao. Para ambos,
haveria uma realidade externa qual os sentidos estariam circunscritos em
seu processo de construo do mundo. No que diz respeito arte, Mares
vai afirmar que a qualidade de um trabalho de arte depender da
capacidade de representar coerentemente os cdigos adquiridos no
processo de aprender a ver. Entre a criao onrica dos artistas e o
realismo vulgar que espelha a realidade, a arte deveria situar-se a meio
caminho, pois a verdade da arte deveria estar pautada em leis naturais da
representao (LENOIR, 2003 p. 194).
Em relao ao modo como se estuda essas leis, vemos em Helmholtz
sua famosa formulao metodolgica da introspeco experimental. H de se
atentar para o fato de que tal introspeco s tinha condio de ocorrer em
sujeitos treinados e, nesse ponto, os experimentos realizados eram
limitados a uma seleta quantidade de estudantes e pesquisadores em
fisiologia visto que sobre estes se investia o referido treinamento. Mas, em
que consistia a introspeco controlada? De acordo com Helmholtz,
organizaramos o conjunto de nossas sensaes atravs de inferncias ou
juzos inconscientes, sendo que tais inferncias eram constitudas por nossas
experincias passadas. A organizao das sensaes se daria de forma
rpida e no consciente, ao passo de que na introspeco controlada o que
se pretendia, atravs de um treinamento especfico, era justamente fazer
com que o sujeito conseguisse neutralizar esses determinantes pregressos
de modo a descrever as sensaes que lhe ocorriam no presente de forma
mais pura.
O mtodo da introspeco controlada foi especialmente importante
para o conhecimento do homem sobre si mesmo, de suas funes mentais,
de como percebe, memoriza, sente. do entrecruzamento da arte, da
fisiologia e filosofia na Alemanha que surge o primeiro espao concreto e
institucional destinado ao conhecimento do homem por si mesmo: o
laboratrio que Wilhelm Wundt funda em 1879. Este espao, cuja prtica
principal a introspeco controlada, se organizou para transformar a alma,
o psiquismo ou mundo interior na mente, ou seja, para criar um objeto
cientfico observvel e passvel de quantificao. Est a oficializado o que j
vinha se delineando por todo sculo XIX: a produo a partir da imagem e
de seus mecanismos fisiolgicos, de uma conscincia reflexiva inerente
criao e expanso das cincias humanas (FERREIRA, 2007).
Consideraes finais: As alteridades da razo e a
modificao do sujeito.
Na era moderna, as alteridades da razo, como o mito, o sonho, a
religio e as alteraes da conscincia, abrem caminhos para o
conhecimento do homem. Tal como aponta Foucault: a loucura no mais
indica um certo relacionamento do homem com a verdade (...); ela indica
apenas um relacionamento do homem com sua verdade. (FOUCAULT,
2007b, p. 509)
Do mesmo modo que a iluso encarada como uma maneira possvel
de apreender o mundo, dotada de leis prprias, a loucura passa a ser vista
como uma parte constitutiva da subjetividade. Esta no mais a
exterioridade absoluta da razo, porm um de seus polos (ERENBERGH,
1998). Considerando seu estatuto moderno, pode-se esclarecer certas
relaes entre a abordagem moderna da iluso e o advento das cincias
humanas, nas quais o homem ao mesmo tempo sujeito e objeto de
conhecimento. A ideia moderna que mediante o conhecimento dos
processos prprios loucura e iluso pode-se expandir a compreenso do
157
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
homem racional. Nesse momento, a impulsividade, o desregramento dos
sentidos e a exacerbao das paixes passam a habitar todos ns, em estado
latente. O louco adquire, portanto, virtudes de espelho, mostrando ao
homem normal aquilo que est presente virtualmente na sua interioridade.
Para compreender a novidade deste modo de encarar a loucura,
retomaremos brevemente as concepes que predominaram at o sculo
XVIII. Neste contexto, desenvolviam-se concomitantemente dois olhares
sobre o tema. Embora bem distintos, ambos colocavam o louco como
estrangeiro normalidade. Por um lado, Erasmo, Brant e toda a tradio
humanista inserem a loucura no universo do discurso, onde ela se apresenta
como fraqueza do homem, que apesar de proporcionar grandes alegrias,
coloca-o em choque com a moral. Enquanto isso, Brueghel, Durer, Thierry
Bouts e Bosch revelam, atravs de suas pinturas, uma concepo csmica da
loucura, na qual ela se mostra como fora primitiva de revelao, potncia
de desvelamento dos segredos do mundo.
O destino comum destas duas vises da loucura estava no exlio, tal
como representado pelo quadro de Bosch, a Nau dos Loucos. Esta imagem
um exemplo do lugar destinado ao louco no Renascimento. Em navios, ele
vagava a esmo, entre um porto e outro, prisioneiro da prpria passagem
(FOUCAULT, 2007b). Ao ser entregue incerteza do mar, apartado de
qualquer ponto fixo, era condenado a uma condio de permanente
deslocamento. Fosse como profeta a anunciar o fim dos tempos ou porta-
voz dos defeitos e misrias humanas, o louco era lanado a viver na
distncia. A cidade era, assim, purificada de sua presena.
No decorrer do Renascimento, a conscincia crtica da loucura foi
ganhando destaque em relao viso trgica. As figuras csmicas ficaram
obscurecidas e sobre elas predominou um discurso de cunho moral, que
colocava o louco em oposio s regras prprias da verdade humana. Na Era
Clssica (sculos XVII e XVIII), esse olhar crtico ganhou destaque,
sobretudo em funo do poder que o racionalismo adquiriu atravs da
filosofia cartesiana. A razo se tornou o caminho para aceder verdade e,
segundo Descartes, enquanto o sonho no anularia o exerccio do sujeito
racional, a loucura logo de partida o anula. O pensamento, como exerccio de
um sujeito que se prope alcanar a verdade, jamais pode ser insensato
(FOUCAULT, 2007b). A loucura era vista, portanto, como uma alteridade
absoluta, que o homem saudvel deveria ter como estrangeira a si. Entre os
homens sos e o louco havia um abismo intransponvel.
A partir do sculo XIX, uma nova relao com a loucura emerge. Ela
deixa de ser encarada como o avesso da verdade e passa a revelar a verdade
do homem no seu mais ntimo, verdade esta qual no se tem acesso
diretamente. Os germes desta concepo j se mostram nas peas teatrais
do final da Idade Mdia, nas quais o louco se torna o detentor da verdade,
aquele que revela ao homem seus prprios vcios e defeitos.
Se a loucura conduz todos a um estado de cegueira onde todos se perdem, o
louco, pelo contrrio, lembra a cada um sua verdade; na comdia em que
todos enganam aos outros e iludem a si prprios, ele a comdia em
segundo grau, o engano do engano (FOUCAULT, 2007b, p. 14).
Nestas representaes artsticas, pode-se ver que a loucura concebida
como aspecto fundamental da condio humana, que ao mesmo tempo a
compe e a revela. No sculo XIX, tal viso se aprofunda e complexifica,
ganhando novos contornos. Estudos no campo da psiquiatria e da
neurologia vem na loucura uma patologia mental que no difere
qualitativamente da normalidade. Na verdade, o que separa o normal do
patolgico uma alterao quantitativa. A partir da anatomia patolgica,
criada por Morgagni, passou-se a associar a doena a variaes
158
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
quantitativas de fenmenos fisiolgicos regulares. Logo, o patolgico passa
a ser designado semanticamente a partir do normal, no tanto como a ou
dis, mas como hiper ou hipo (CANGUILHEM 1995, p. 22). Isto , na
patologia, algo da normalidade encontra-se exacerbado ou insuficiente. Esta
concepo da doena orgnica foi aplicada tambm doena mental, que
ganhou localizao no crebro. Com base nela, se passou a considerar
possvel restituir ao louco a sanidade, devolvendo-lhe o pleno
funcionamento do que est deficiente ou crivado por excessos. Ao mesmo
tempo, se reconheceu na patologia uma humanidade, j que ela e o
funcionamento normal seriam ambos produtos do mesmo substrato
fisiolgico, que poderia ser alterado mediante tcnicas teraputicas. A
localizao da loucura na biologia do corpo ou sua remisso a processos
psquicos a transforma em objeto de interveno, passvel de cura. No
sendo mais produto de uma exterioridade divina, porm de uma disfuno,
a doena mental se torna mal a ser combatido no interior do homem.
Demonstra-se a uma concepo da relao entre normal e patolgico
inteiramente diferente daquela que Diderot apresenta quando aborda o
tema da cegueira. Como foi visto na segunda seo, para este filsofo, o cego
possuiria um modo particular de apreender o mundo, que, como tal, no
poderia servir de modelo para a compreenso da percepo visual. Isto ,
no se define o normal em referncia ao patolgico, pois cada qual funciona
segundo lgicas distintas. Esta separao qualitativa entre normalidade e
patologia no cabe mais para a cincia do sculo XIX. Neste momento, o
capitalismo nascente precisa de uma sociedade munida de indivduos
saudveis e potentes para mover a economia, necessitando, portanto, que
todos se moldem a uma norma. Para promover a normatizao da
populao, se torna fundamental a ideia de que possvel restaurar a
normalidade no seio da patologia. Segundo Canguilhem (1995, p. 21):
Numa concepo que admite e espera que o homem possa forar a
natureza e dobr-la a seus desejos normativos, a alterao qualitativa que
separa o normal do patolgico era dificilmente sustentvel [...] dominar a
doena conhecer suas relaes com o estado normal que o homem vivo
deseja restaurar.
Como se pode ver, as transformaes ocorridas na Modernidade e as
novas concepes ento formuladas permitiram uma aproximao maior
entre o homem e suas alteridades, dentre estas, a iluso e a loucura. Tais
experincias, antes consideradas contrrias verdade humana, se tornaram
o lugar de investigao desta verdade. Nas alteraes prprias loucura ou
nas experincias perceptivas exploradas em laboratrio buscava-se
entender quais mecanismos e materialidades esto em jogo no
funcionamento do homem. No mais na transcendncia divina, porm no
prprio corpo os saberes e tcnicas passaram a alocar a causa do
descontrole, do engano, da separao do homem de si mesmo. Logo, a partir
da investigao de suas alteridades, o homem pde se tornar objeto de
conhecimento, dando origem s cincias humanas. Como contrapartida
disto, as tcnicas de controle, regulao e dominao do humano se
ampliaram consideravelmente, o que se mostra na proliferao dos
psicofarmcos, das abordagens teraputicas e das instituies psi.
Alm desta expanso concreta da tcnica, se observa outro processo de
consequncias subjetivas significativas na Modernidade: ao ver uma
virtualidade do si na experincia da loucura ou da iluso, o homem no
apenas advm como objeto de investigao cientfica, mas tambm como
objeto de si mesmo, passando a olhar para a prpria interioridade como
lugar a ser cuidado, regulado e inspecionado. Manter-se normal significa
regular-se para no cair na tentao da loucura ou no devaneio; e se
impossvel no nos iludirmos, que a iluso seja conhecida e seus efeitos
159
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
aplacados. Logo, positivar estas experincias no significa apenas integr-
las constituio humana, mas tambm definir parmetros para a
experincia, o que leva criao de modos de controle dessa parte do
mundo to inefvel, quanto importante para as prticas modernas: o si.
Sobre
o
artigo
Recebido:
03/10/2011
Aceito:
25/01/2012
Referncias
bibliogrficas
BAUDRILLARD, J. Simulacros e simulaes. Lisboa: Relgio d gua, 1981.
CANGUILHEM, G. O Normal e o Patolgico. Rio de Janeiro: Editora Forense,
1995.
CASTELLO-BRANCO, P. S. A visualidade hptica da televiso contempornea.
Intercom Revista Brasileira de Cincias da Comunicao, So Paulo,
v.32, n.2, p. 15-37, 2009.
CRARY, J. Techniques of the observer: on vision and modernity in the
nineteenth century. Cambridge: MIT Press, 1990.
DESCARTES, R. Meditaes sobre filosofia primeira. [1649]. So Paulo:
Abril Cultural, 1990.
EHRENBERG, A. La fatigue d`tre soi: dpression et societ. Paris: Odile
Jacob, 1998.
FERREIRA, A. A. L. A psicologia no recurso aos vetos kantianos. In: JAC-
VILELA, A.; LEAL FERREIRA, A. A.; PORTUGAL, F. T. (org.) Histria da
psicologia: rumos e perspectivas. Rio de janeiro: Nau editora, 2007, p. 85-
92.
FOUCAULT, M. As Palavras e as coisas. So Paulo: Martins Fontes, 1987.
______. Os anormais. So Paulo: Martins Fontes, 2007a.
______. A Histria da Loucura. So Paulo: Editora Perspectiva, 2007b.
GAUCHET, M. La condicin histrica. Madrid: Editorial Trotta, 2004.
GOMBRICH, E. Arte e Iluso: um estudo da psicologia da representao
pictrica. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
GREGORY, R. Eye and the brain: the psychology of seeing. Princeton:
Princeton press, 1990.
LBRUN, G. O cego e filsofo ou o nascimento da antropologia. In: MOURA,
C. A.; CACCIOLA, M.L.; KAWANO, M. (orgs.). A filosofia e sua Historia. So
Paulo: Cosac & Naif, 2006, p. 53-66.
LENOIR, T. Instituindo a Cincia: a produo cultural das disciplinas
cientificas. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2003.
MENZEL, A. Das Eisenwalzwerk. 1872-75. 1 original de arte, 158
cm 254 cm.
Retirado
de
<http://www.bilder-der-
arbeit.de/Museum/Bilder/large/Menzel.jpg>. Acesso em: 12 out. 2011.
PENNA, A. G. Percepo e realidade: introduo ao estudo da atividade
perceptiva. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1973.
RABINOW, Paul. Antropologia da razo. Rio de Janeiro: Relume Dumar,
1992.
160
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 2
SACKS, O. Um antroplogo em Marte, seis histrias paradoxais. So
Paulo, Companhia de Bolso, 2010.
SENNETT, R. O Declnio do homem pblico: as tiranias da intimidade.
So Paulo: Companhia das letras, 1998.
SIBILIA, P. O show do eu: a intimidade como espetculo. Rio de janeiro:
Editora Objetiva, 2008.
TAYLOR, C. As Fontes do self: a construo da identidade moderna. So
Paulo: edies Loyola, 2005.
161
Você também pode gostar
- Da Ilusão Engano À Ilusão Verdade Percepção, Imagem e Subjetividade ModernaDocumento15 páginasDa Ilusão Engano À Ilusão Verdade Percepção, Imagem e Subjetividade ModernaCesar PessoaAinda não há avaliações
- Gestão coletiva dos sonhosDocumento8 páginasGestão coletiva dos sonhosÉrika OliveiraAinda não há avaliações
- Da "Ilusão-Engano" À "Ilusão Verdade" - Imagem, Percepção e Subjetividade Moderna - Cesar Pessoa PimentelDocumento6 páginasDa "Ilusão-Engano" À "Ilusão Verdade" - Imagem, Percepção e Subjetividade Moderna - Cesar Pessoa PimentelTomaz PennerAinda não há avaliações
- SERBENA, Carlos A. Imaginário, Ideologia e Representação SocialDocumento13 páginasSERBENA, Carlos A. Imaginário, Ideologia e Representação SocialStéfany SilvaAinda não há avaliações
- Lucia Leao Processos de Criação em Mídias DigitaisDocumento6 páginasLucia Leao Processos de Criação em Mídias DigitaisDebora JesusAinda não há avaliações
- Artigo Thais FernandesDocumento14 páginasArtigo Thais FernandesPaula MendonçaAinda não há avaliações
- Cérebro Ciborgue - ICÉREBRO CIBORGUE - INDIVIDUAÇÃO E CONSCIÊNCIA NO PÓS-HUMANO - Rui Ndividuação e Consciência No Pós-Humano - Rui Matoso - 2015Documento31 páginasCérebro Ciborgue - ICÉREBRO CIBORGUE - INDIVIDUAÇÃO E CONSCIÊNCIA NO PÓS-HUMANO - Rui Ndividuação e Consciência No Pós-Humano - Rui Matoso - 2015RuiMatosoAinda não há avaliações
- Imaginário, ideologia e representaçãoDocumento13 páginasImaginário, ideologia e representaçãoJonatas AlexandreAinda não há avaliações
- Arte Eletronica e Percepcao de Realidade para CCAA 2008 RevDocumento15 páginasArte Eletronica e Percepcao de Realidade para CCAA 2008 RevFabio BolaAinda não há avaliações
- RESENHA o QUE É REALIDADEDocumento6 páginasRESENHA o QUE É REALIDADELucas BrantAinda não há avaliações
- Belting, Midia e CorpoDocumento29 páginasBelting, Midia e CorpoVinicios RibeiroAinda não há avaliações
- Carlos Hollanda 03 Capitulo 1Documento83 páginasCarlos Hollanda 03 Capitulo 1Silvana BarbedoAinda não há avaliações
- Arquétipos da mitologia gregaDocumento31 páginasArquétipos da mitologia gregaJaqueline Borges Belmonte100% (1)
- Rene Barbier. Sobre ImaginárioDocumento9 páginasRene Barbier. Sobre Imagináriochico323Ainda não há avaliações
- Artigo Analises Sobre o AgarradoDocumento15 páginasArtigo Analises Sobre o AgarradoDiana VieiraAinda não há avaliações
- O PAPEL DA MITOLOGIA NA PSICHE CONTEMPORÂNEADocumento17 páginasO PAPEL DA MITOLOGIA NA PSICHE CONTEMPORÂNEALuiza AvelarAinda não há avaliações
- Realismo, Ilusão, Percepção e A Impressão de Realidade PDFDocumento12 páginasRealismo, Ilusão, Percepção e A Impressão de Realidade PDFOrdepCarvalhoAinda não há avaliações
- O Que É Imagem? Uma Breve Análise - Camila FreitasDocumento1 páginaO Que É Imagem? Uma Breve Análise - Camila FreitasCamila FreitasAinda não há avaliações
- MitologemaDocumento10 páginasMitologemaYohan LeonAinda não há avaliações
- O Poder Da ImagemDocumento4 páginasO Poder Da ImagemLuís Artur Leite100% (1)
- A loucura em Foucault: arte, desrazão e exclusãoDocumento15 páginasA loucura em Foucault: arte, desrazão e exclusãoGabriel Barbosa RossiAinda não há avaliações
- Padrões da intersubjetividade na constituição subjetivaDocumento20 páginasPadrões da intersubjetividade na constituição subjetivaVitor Oliveira100% (1)
- Metáforas para Aparência - WaratDocumento10 páginasMetáforas para Aparência - WaratRaul DieguesAinda não há avaliações
- O papel do duplo especular nas psicoses não desencadeadasDocumento12 páginasO papel do duplo especular nas psicoses não desencadeadasRodolfo MacielAinda não há avaliações
- Ascensão e declínio do império sensorialDocumento25 páginasAscensão e declínio do império sensoriallplmartinsAinda não há avaliações
- Evandro Piza - Negro, Cidadão InvisívelDocumento16 páginasEvandro Piza - Negro, Cidadão InvisívelAndréa Guimarães OminfasinaAinda não há avaliações
- Os mitos como fontes simbólicas na Psicologia Analítica de JungDocumento11 páginasOs mitos como fontes simbólicas na Psicologia Analítica de JungLeandroRodrigues100% (2)
- Trabalho Thiara OkDocumento5 páginasTrabalho Thiara OkTatiane Marques de SouzaAinda não há avaliações
- RESENHA o QUE E REALIDADEDocumento6 páginasRESENHA o QUE E REALIDADEAlcy TavaresAinda não há avaliações
- Teoria da Imagem e ComunicaçãoDocumento6 páginasTeoria da Imagem e ComunicaçãoArleth RodriguesAinda não há avaliações
- Apontamentos de Antropologia FilosóficaDocumento8 páginasApontamentos de Antropologia FilosóficaRossanaAinda não há avaliações
- 1b Emidio e HashimotoDocumento15 páginas1b Emidio e HashimotoVivi PrestesAinda não há avaliações
- Corpos do Futuro e o Futuro do CorpoDocumento18 páginasCorpos do Futuro e o Futuro do CorpoEnni GoncalvesAinda não há avaliações
- Do Estado À MicropolíticaDocumento9 páginasDo Estado À MicropolíticaLuma TonelloAinda não há avaliações
- Apostila Versão FinalDocumento28 páginasApostila Versão FinalJuliana MontenegroAinda não há avaliações
- A dimensão estética da experiência do outroDocumento7 páginasA dimensão estética da experiência do outrothaynáAinda não há avaliações
- Efeitos do romantismo na fantasia para a atualidadeDocumento12 páginasEfeitos do romantismo na fantasia para a atualidadeJade SilveiraAinda não há avaliações
- ENTRE MITO E CIÊNCIADocumento8 páginasENTRE MITO E CIÊNCIAJúlia SilveiraAinda não há avaliações
- FICHAMENTO - JOVCHELOVITCH, S. (2004) - Psicologia Social, Saber, Comunidade e CulturaDocumento10 páginasFICHAMENTO - JOVCHELOVITCH, S. (2004) - Psicologia Social, Saber, Comunidade e CulturaRegina TrindadeAinda não há avaliações
- O ocaso da interioridade e suas repercussões sobre a clínicaDocumento8 páginasO ocaso da interioridade e suas repercussões sobre a clínicacristiane_moreira_41Ainda não há avaliações
- O desvelar da Graciosidade em tempos de crise da percepçãoDocumento13 páginasO desvelar da Graciosidade em tempos de crise da percepçãokaue lianza galdinoAinda não há avaliações
- A imagem-pulsão entre Peirce e FreudDocumento13 páginasA imagem-pulsão entre Peirce e FreudGuilherme Gonçalves da LuzAinda não há avaliações
- Seminários Avançados em PsicologiaDocumento4 páginasSeminários Avançados em PsicologiaTaynaraAinda não há avaliações
- A remitologização da psique de Freud a JungDocumento12 páginasA remitologização da psique de Freud a JungjocianasvAinda não há avaliações
- O Ocaso Da Interioridade e Suas Repercussões Sobre A ClínicaDocumento8 páginasO Ocaso Da Interioridade e Suas Repercussões Sobre A ClínicarojonataliaAinda não há avaliações
- Max Scheler e o projeto de uma antropologia filosóficaDocumento17 páginasMax Scheler e o projeto de uma antropologia filosóficaalexandrebahienseAinda não há avaliações
- Perspectivas sobre a relação entre o imaginário e a cegueiraDocumento15 páginasPerspectivas sobre a relação entre o imaginário e a cegueiraSandraAinda não há avaliações
- As Representações Sociais e o Inconsciente Coletivo (Jung Moscovici e Skinner Dialogo)Documento10 páginasAs Representações Sociais e o Inconsciente Coletivo (Jung Moscovici e Skinner Dialogo)Rogério Carlos da SilvaAinda não há avaliações
- Imaginação social: um conceito-chave nas ciências humanasDocumento37 páginasImaginação social: um conceito-chave nas ciências humanasRoberta Costa100% (1)
- Aula 3 - O Psiquismo Humano e A Teoria Dos Modelos Organizadores Do PensamentoDocumento16 páginasAula 3 - O Psiquismo Humano e A Teoria Dos Modelos Organizadores Do PensamentoRoberto Freire Do NascimentoAinda não há avaliações
- O ceticismo Psicológico na Fenomenologia de Jean-François LyotardDocumento4 páginasO ceticismo Psicológico na Fenomenologia de Jean-François LyotardMarcos Jeremias Tauanheque MarcosAinda não há avaliações
- PASSAGEIROS DA IMPERMANENCIA - Versao para LivroDocumento9 páginasPASSAGEIROS DA IMPERMANENCIA - Versao para LivroCarlos EAAinda não há avaliações
- Curso Técnico em Química Industrial - Fundamentos FilosóficosDocumento40 páginasCurso Técnico em Química Industrial - Fundamentos FilosóficoslubsalvianoAinda não há avaliações
- O Acaso Da Interioridade Benilton BezerraDocumento8 páginasO Acaso Da Interioridade Benilton BezerraJéssica PatrícioAinda não há avaliações
- Resenha o Tempo e o Cão Maria Rita KehlDocumento7 páginasResenha o Tempo e o Cão Maria Rita KehlCristiane RomanaAinda não há avaliações
- Resenha sobre O Ritmo da Vida de Michel MaffesoliDocumento5 páginasResenha sobre O Ritmo da Vida de Michel MaffesoligersunespAinda não há avaliações
- A Consciência Na Era Da Inteligência ArtificialNo EverandA Consciência Na Era Da Inteligência ArtificialAinda não há avaliações
- Entre o espelho e a tela: considerações psicanalíticas sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação no mundo modernoNo EverandEntre o espelho e a tela: considerações psicanalíticas sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação no mundo modernoAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade Psíquica, Miscigenação e Poder: o Caso BolivianoNo EverandVulnerabilidade Psíquica, Miscigenação e Poder: o Caso BolivianoAinda não há avaliações
- Contribuições Possíveis Da Etnografia e Da Auto-Etnografia PDFDocumento12 páginasContribuições Possíveis Da Etnografia e Da Auto-Etnografia PDFmarcelox2Ainda não há avaliações
- Olhos D'Água - Conceição Evaristo PDFDocumento58 páginasOlhos D'Água - Conceição Evaristo PDFLuciane Bernardi de Souza83% (6)
- A Virada Prática Na Pesquisa TeatralDocumento22 páginasA Virada Prática Na Pesquisa TeatralYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Considerações Metodológicas para A Pesquisa em Arte No Meio Acadêmico - Sylvie Fortin e Pierre GosselinDocumento17 páginasConsiderações Metodológicas para A Pesquisa em Arte No Meio Acadêmico - Sylvie Fortin e Pierre GosselinErnesto Lula Da Silva ValençaAinda não há avaliações
- A Cultura e Seu Contrário - Teixeira CoelhoDocumento160 páginasA Cultura e Seu Contrário - Teixeira CoelhoGabriel Chati100% (2)
- Balnca Brites e Elida Tessler - O Meio Como Ponto Zero - Metodologia Da Pesquisa em Artes PlasticasDocumento133 páginasBalnca Brites e Elida Tessler - O Meio Como Ponto Zero - Metodologia Da Pesquisa em Artes PlasticasYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- BUTLER, Judith. Relatar A Si Mesmo - Crítica Da Violência Ética PDFDocumento132 páginasBUTLER, Judith. Relatar A Si Mesmo - Crítica Da Violência Ética PDFCésar Jeansen Brito100% (2)
- Epistemologia descolonizadora e resistência no conhecimentoDocumento13 páginasEpistemologia descolonizadora e resistência no conhecimentoYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Transnacionalismo NegroDocumento14 páginasTransnacionalismo NegroYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- PDF - Maria de Fátima Da Rocha SilvaDocumento43 páginasPDF - Maria de Fátima Da Rocha SilvaYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Grande Sertão Veredas Uma Escritura BiográficaDocumento72 páginasGrande Sertão Veredas Uma Escritura BiográficaYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Afrografias Da Memória Parte 1Documento44 páginasAfrografias Da Memória Parte 1Yasmin Nogueira70% (10)
- Desenho GemoétricoDocumento58 páginasDesenho GemoétricoYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Interação Familia-Escola Na EducaçãoDocumento30 páginasInteração Familia-Escola Na EducaçãoAnonymous 8UZVFS4yJnAinda não há avaliações
- A Paisagem Sonora em Praticas Teatrais Na Escola Voz e EscutaDocumento37 páginasA Paisagem Sonora em Praticas Teatrais Na Escola Voz e EscutaYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- HALL, Stuart. Raça, o Significante Flutuante - Revista Z CulturalDocumento6 páginasHALL, Stuart. Raça, o Significante Flutuante - Revista Z CulturalAdriano Monteiro100% (1)
- Conhece R para Per Ten CerDocumento14 páginasConhece R para Per Ten CerYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Integração escola-comunidadeDocumento14 páginasIntegração escola-comunidadeYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Construindo IdentidadesDocumento12 páginasConstruindo IdentidadesYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Escola Fmilia Comunidade Estudo de CasoDocumento5 páginasEscola Fmilia Comunidade Estudo de CasoYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Descartes, Rene - Discurso Do MetodoDocumento71 páginasDescartes, Rene - Discurso Do MetodoNina Florgard0% (1)
- Livros de artista: uma categoria multifacetada e abertaDocumento14 páginasLivros de artista: uma categoria multifacetada e abertaYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Espetáculo Como Acontecimento ContextualDocumento10 páginasEspetáculo Como Acontecimento ContextualYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- A Cultura e Seu Contrário - Teixeira CoelhoDocumento160 páginasA Cultura e Seu Contrário - Teixeira CoelhoGabriel Chati100% (2)
- História e Sexualidade para Além Dos Padrões HeteronormativosDocumento1 páginaHistória e Sexualidade para Além Dos Padrões HeteronormativosYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Stuart Hall analisa identidade culturalDocumento5 páginasStuart Hall analisa identidade culturalEmily Moy100% (2)
- Práticas Educativas e Narrativas AutobriográficasDocumento15 páginasPráticas Educativas e Narrativas AutobriográficasYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Extremidades Do Vídeo - Novas Circunscrições Do Vídeo. MELLO, ChristianeDocumento14 páginasExtremidades Do Vídeo - Novas Circunscrições Do Vídeo. MELLO, ChristianeFip Nanook FipAinda não há avaliações
- Auto-ficção e autobiografia na arte contemporâneaDocumento14 páginasAuto-ficção e autobiografia na arte contemporâneaYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Direitos humanos, educação e tensões entre igualdade e diferençaDocumento13 páginasDireitos humanos, educação e tensões entre igualdade e diferençamachado1135Ainda não há avaliações
- Educação Ambiental DissertaçãoDocumento297 páginasEducação Ambiental DissertaçãoLeticia G F ChantreAinda não há avaliações
- SCHLESENER, Ana Paula. Pier Paolo Pasolini e o Cinema Como PoesiaDocumento9 páginasSCHLESENER, Ana Paula. Pier Paolo Pasolini e o Cinema Como PoesiaJoaoAinda não há avaliações
- A ordem política segundo MaquiavelDocumento6 páginasA ordem política segundo MaquiavelNina Bob BrownAinda não há avaliações
- Ética na polícia: a importância da preparação e conscientização dos agentesDocumento2 páginasÉtica na polícia: a importância da preparação e conscientização dos agentescybercelsoAinda não há avaliações
- Contexto Histórico-Filosófico Da EducaçãoDocumento5 páginasContexto Histórico-Filosófico Da EducaçãoWellington Souza100% (4)
- Educação, Escola e Formação - Caminhos para A Emancipação Humana - Joeline RodriguesDocumento114 páginasEducação, Escola e Formação - Caminhos para A Emancipação Humana - Joeline RodriguesjeffesonsilvaAinda não há avaliações
- Cultura É o Que? Vol 2 Cultura e Desenvolvimento (Marta Porto)Documento34 páginasCultura É o Que? Vol 2 Cultura e Desenvolvimento (Marta Porto)Carlos Paiva100% (1)
- Bioético UNIVASF currículoDocumento15 páginasBioético UNIVASF currículoalexandrehreis1580100% (1)
- Direito Penal Resumos Catarina CoelhoDocumento98 páginasDireito Penal Resumos Catarina Coelhodonald trumpAinda não há avaliações
- Ética - Simulado IIDocumento7 páginasÉtica - Simulado IIjheniffer OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Chauí, M. Introdução A História Da Filosofia - Dos Pré-Socraticos A AristótelesDocumento18 páginasChauí, M. Introdução A História Da Filosofia - Dos Pré-Socraticos A AristótelesDino NascimentoAinda não há avaliações
- A especificidade do desenvolvimento ocidental segundo Max WeberDocumento21 páginasA especificidade do desenvolvimento ocidental segundo Max WeberMichael BatistaAinda não há avaliações
- U Secret 3ano 1 4 Fontes Regras Etica 2009Documento5 páginasU Secret 3ano 1 4 Fontes Regras Etica 2009AndersonMeirellesAinda não há avaliações
- Monografia John RawlsDocumento46 páginasMonografia John RawlsAnderson BarteliAinda não há avaliações
- Ionta - MarildaAparecida - D As Cores Da AmizadeDocumento315 páginasIonta - MarildaAparecida - D As Cores Da AmizadeRodrigo BrasilAinda não há avaliações
- Percepções de enfermeiros sobre cuidados paliativos e bioéticaDocumento8 páginasPercepções de enfermeiros sobre cuidados paliativos e bioéticaErlianeMirandaAinda não há avaliações
- O Cérebro Aprendiz. Neuroeducação e Aspectos Da Aprendizagem Baseada No CérebroDocumento77 páginasO Cérebro Aprendiz. Neuroeducação e Aspectos Da Aprendizagem Baseada No CérebroMaurício OsórioAinda não há avaliações
- Edital 19 2022 ProITEC 2022 1Documento11 páginasEdital 19 2022 ProITEC 2022 1Gilmar AvilaAinda não há avaliações
- O Espírito Das LeisDocumento15 páginasO Espírito Das LeisGabriel Santos LageAinda não há avaliações
- Ética profissional do advogado: princípios e deveresDocumento8 páginasÉtica profissional do advogado: princípios e deveresIvonete AlmaranteAinda não há avaliações
- DERRIDA Jacques A Universidade Sem CondiDocumento5 páginasDERRIDA Jacques A Universidade Sem CondiDanillo Bragança0% (1)
- Código de Ética Dos Psicopedagogos - Atualizado 2011Documento5 páginasCódigo de Ética Dos Psicopedagogos - Atualizado 2011Anonymous zaiaJsfOhwAinda não há avaliações
- Max Weber e a relação entre religião e capitalismoDocumento33 páginasMax Weber e a relação entre religião e capitalismoThelma Moura Bergamo100% (1)
- Ensino de Programação na EscolaDocumento36 páginasEnsino de Programação na EscolaAndreAinda não há avaliações
- Vestibulinho ETEC Logística 2015Documento14 páginasVestibulinho ETEC Logística 2015MARCELO SILVAAinda não há avaliações
- Introdução à ética profissionalDocumento8 páginasIntrodução à ética profissionalvitorAinda não há avaliações
- Crises - Abraham ShapiroDocumento200 páginasCrises - Abraham ShapiroMarceloAinda não há avaliações
- Unidade I - Gestão GeralDocumento67 páginasUnidade I - Gestão Geralmateus cunaAinda não há avaliações
- A BNCC Da Educação Básica MÓDULO 1Documento29 páginasA BNCC Da Educação Básica MÓDULO 1Ana Cristina Marinho da Silva100% (1)
- Ética, violência e a crise contemporâneaDocumento17 páginasÉtica, violência e a crise contemporâneaFernanda Quatorze VoltasAinda não há avaliações