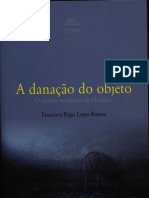Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto Aula 6 e 11 SANTANNA - Marcia - A - Cidade - Atracao PDF
Texto Aula 6 e 11 SANTANNA - Marcia - A - Cidade - Atracao PDF
Enviado por
Mariana Aguiar0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações20 páginasTítulo original
texto aula 6 e 11 SANTANNA_Marcia_A_cidade_atracao.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações20 páginasTexto Aula 6 e 11 SANTANNA - Marcia - A - Cidade - Atracao PDF
Texto Aula 6 e 11 SANTANNA - Marcia - A - Cidade - Atracao PDF
Enviado por
Mariana AguiarDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 20
5° Parte|
Cidades monumentos
Acidade-atracao
Patrim6nio e valorizacdo de dreas centrais no Brasil dos anos 90
Marcia Sant’Anna
153
Marcia Sant’Ana é arquiteto. Mestre em Conservacéo e Restauragio pela Univer-
sidade Federal do Bahia (UFBA), é professora em curso de Especializacéo na Area
de Patriménio, junto a UFBA e Universidade da Amozénia (UNAMA). Ocupou
Diretoria do Departamento de Protecio do Instituto do Patriménio Histérico e Artis-
tico Nacional (DEPROT/IPHAN) e atualmente ocupa a Diretoria do Departamento
de Patriménio Imaterial e Documentacéo nessa mesma insfituicgdo.Esta completan-
do doutorade em Urbanismo pela UFBA.
Artigo baseado na comunicacao proferide durante a meso redonda Cidades monuments, realizada
no dio 15 de outubro de 2003.
Este texto sintetiza parte dos pesquisas realizadas para a elaboragéo de tese de doutorado a ser
submetida em marco de 2004 ao programa de Pés-Graduacéo em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal da Bahia, intitulada A cidade-atragéo: A norma de preservacéo de centros
urbanos no Brasil dos anos 90.
154
Os anos 90 € os novos indicadores da pratica de preservacéo
O patriménio cultural instituido pelo Estado é uma construgao social que resulta
sempre do embate de forgas e dos consensos construidos a respeito do que deve ser
destacado da massa de objetos e praticas existentes e preservado como parte integrante
da historia e da memédria nacional. Essa produgdo social de patriménio envolve opera-
goes de selecdo, de protecdo, de conservagéo e de promocéo, que, ao mobilizarem e
produzirem saberes e discursos, estabelecerem regras e desencadearem acées, dao a
conhecer a “norma” que preside a pratica de preservacéo num dado momento!
No Brasil, hé uma tradigéo de estudos que privilegia as operacées de selecdo e
salvaguarda de bens culturais como os principais indicadores dos sentidos e objetivos da
prética preservacionista, mas a producéo social de patriménio nao se esgota nessas acdes
iniciais. Ocorre também durante o processo de manutengao e gestao do patriménio cons-
tituido, isto 6, no 4mbito das operagées que visam a conserva-lo, manté-lo e promové-lo.
Aintervencdo que conserva, restaura, reabilita ou dé uso a um bem protegido, bem como
as agGes que o promovem, poem em circulagdo na sociedade idéias, imagens e objetos
concretos que fixam uma determinada nogéo de patriménio e desencad
m uma prética
que institui uma “norma de preservacéo”. Dessas operagdes surgem os “quadros” que
permitem ver o que se instituiu como patriménio num dado periodo, a prética que essa
nogéo ensejou e que estratégias e objetivos politicos e econémicos a comandaram.
Aié os anos 70, as operacées de constituigéo e preservacéo do patriménio brasileiro
concentravam-se no plano federal e eram realizadas unicamente pelo Instituto do Patriménio
Histérico e Artistico Nacional - IPHAN. A partir daquela década, outros organismos esta-
duais e municipais passaram também implementd-las, mas, até os anos 80, em fungdo de
uma autoridade longamente construida e de um saber socialmente reconhecido, essa
ins
Go federal ainda ditava os contornos gerais da prética de preservacdo predomi.
nante. Nos anos 90, esse cendrio se transformou completamente.
O primeiro indicio da transformagao foi proporcionado pela onda de intervencdes
executadas em Greas centrais e sitios histéricos de varias cidades do Nordeste, na esteira
do projeto de “recuperagéo” do Pelourinho, em Salvador. A rua do Bom Jesus, em Recife;
155
0 bairro da Ribeira, em Natal; e a Praia de Iracema, em Fortaleza, estéo entre as interven-
Ges do género que eclodiram na primeira metade dos anos 90 e ilustram o inicio desse
processo. Essas intervencdes — que produziram espacos muito semelhantes destinados ao
turismo e ao lazer ~ alcangaram estrondoso sucesso de publico e colocaram, rapidamen-
te, as cidades onde foram executadas em evidéncia no cendrio nacional. Concebidas e
financiadas por governos municipais ou estaduais, essas iniciativas funcionaram como,
poderosas pecas promocionais das respectivas cidades, do seu patriménio e de suas ad-
traces, desempenhando importante papel nos pleitos eleitorais subseqiientes”. Para-
lelamente, em metrépoles como Rio de Janeiro, Sé0 Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte
proliferaram intervencées de requalificagao de espacos publicos e de reabilitagéo de imé-
veis nos centros antigos, acompanhadas de farta producéo discursiva sobre o cardter
estratégico dessas Greas e de seu patriménio para a cidade e para a economia urbana’.
Impulsionados por essas intervencées locais politicamente bem-sucedidas e no ras-
tro de interesses vinculados ao desenvolvimento do turismo e 4 internacionalizagéo do
setor de servicos, surgiram na esfera federal varios programas que trouxeram novas fontes
de financiamento para projetos de preservacGo e introduziram novos atores nos processos
locais em andamento*. Baseados em rendncia fiscal, empréstimo externo e recursos orca-
mentdrios, esses programas passaram a financiar boa parte das intervengées j4 iniciadas,
imprimindo-lhes novos rumos e colocando no centro da cena patrimonial agéncias finan-
ceiras nacionais e multilaterais — como a Caixa Econémica Federal e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento —, além de parceiros internacionais, como 0 governo francés.
Intervencdes e programas implementados nos anos 90 mostravam que, no Brasil do
final do século XX, 0 patriménio ressurgia como um importante recurso econémico e
assomava como um instrumento promocional de grande forga e uma excelente “porta de
entrada” para o desenvolvimento de negécios nas dreas de projeto, consultoria, venda de
know how, equipamentos e servicos urbanos. Essas acées indicavam ainda que, pela pri-
meira vez no Brasil, os principais focos de produgao e ext. izagao da prdtica de preser-
vacao haviam se deslocado para os planos estadual e municipal e, no nivel do governo
central, do IPHAN para o Ministério da Cultura e seus novos parceiros. Nos anos 90, em
156
suma, os principais pontos deflagradores de operagées de preservacao e, portanto, de
produgéo de patriménio passaram a se localizar no plano local e, no nivel do poder
central, deslocaram-se para as instituigdes executoras dos programas que foram implanta-
dos. Esvaziado, sem recursos, com fungées reduzidas e com uma estrutura operacional
tornada precdria em todos os sentidos, o IPHAN deixou de ser o locus principal de
exteriorizagéo da norma preservacionista. As intervengdes locais e os novos programas
nacionais, movimentando somas considerdveis, em comparagao com 0 magro orcamento
da instituigéo, tomaram o seu lugar. Em seguida, se destacaré, por meio da andlise das
intervencées de preservacéo e requalificagdo realizadas nas dreas centrais das cidades de
Salvador, Rio de Janeiro e Sao Paulo alguns aspectos desse proceso, assim como as
caracteristicas gerais e contornos da nova prética®.
Um pouco de histéria urbana
As Greas centrais das cidades estudadas sofreram sucessivos processos de desloca-
mento de fungées a partir do século XIX, que configuraram espagos diferenciados, tanto
em termos de dindmica, quanto de utilizagéo. Contudo, todas as trés cidades chegaram
4 metade do século XX com uma estrutura ainda fortemente polarizada em uma tnica
centralidade, a qual sé se tornou critica e inadequada com o intenso crescimento urbano
deflagrado pela aceleragéo da industrializagéo da economia apés os anos 50. Vinculado
ainda a interesses do capital imobilia
4 popularizagéo do automével, esse crescimen-
to espraiado e orientado para a periferia, formou novas centralidades em todas essas
cidades, mas teve,intensidades e duracées distintas, bem como promoveu impactos diver-
Sos nas dreas centrais mais antigas de cada uma delas. A diversidade e a abrangéncia
desses impactos decorreram de especificidades locais relacionadas ao grau de polarida-
de econémica, regional e nacional, de cada cidade; as condicées de acessibilidade e
infra-estrutura existente em cada érea central; ao volume de investimentos realizados
nesses setores e nas novas dreas de expansdo; 4 localizagao dos vetores dindmicos de
investimentos imobilidrios e, por fim, ainda que de modo secunddrio, ao grau de cons-
157
trangimento interposto pelas legislagdes urbanisticas e de protecao 4 renovacéo dos
bairros centrais.
O centro antigo mais atingido por processos de fragmentacdo e deslocamento de
fungées, esvaziamento demografico, popularizacdo e perda de qualidade urbana foi o de
Salvador, seguido pelo de Séo Paulo e, por fim, pelo do Rio de Janeiro. Assim, no que toca
@ estrutura e & dinémica urbana, bem como ao sistema de centralidades, as trés cidades
apresentavam, no inicio dos anos 90, situagées bem diversas. O Rio de Janeiro apresen-
fava uma estrutura ainda claramente polarizada no centro antigo, o qual abrigava uma
Grea central de negécios ainda relativamente forte e dindmica. Salvador, por seu turno,
apresentava forte tendéncia de transferéncia total de polaridade comercial, financeira e
de servicos do centro velho para a nova centralidade de alcance metropolitano, que se
consolidava nas cercanias do Shopping Iguatemi. Sao Paulo, finalmente, encontrava-se
imersa num processo profundo de fragmentacdo e deslocamento de funcées, que drenou
atividades do centro antigo e gerou um sistema encabecado por trés centralidades que
disputavam entre si polaridade, dinémica e investimentos.
No que diz respeito ao patriménio urbano protegido, as trés cidades também apre-
sentavam, no comeco da Ultima década, configuragées espaciais e histérias de preserva-
G0 muito distintas.
Salvador, com uma grande drea protegida continua, localizada no coragéo do cen-
tro antigo, possuia um centro histérico de configuragao morfoldgica relativamente homo-
génea e nao renovada, abrigando no seu interior apenas um pequeno setor de tecido
modernizado, onde, até os anos 60, desenvolviam-se importantes atividades comerciais e
de servicos. A grande Grea protegida — resultante de varios tombamentos realizados a
partir dos anos 30 - mantinha, no inicio dos anos 90, um uso predominantemente
habitacional, com algumas éreas de comércio popular localizadas préximas a terminais
de transportes publicos. Uma populacéo extremamente pobre e marginalizada ocupava
98 casarées existentes no coracéo do centro histérico e 0 tecido urbano ao redor era
basicamente apropriado por estratos de renda média e baixa. A ‘antiga Grea central de
negécios da cidade, localizada na Cidade Baixa em setor renovado que tangencia o
158
centro histérico, ainda apresentava, no final dos anos 80, uma razodvel dinémica. Ao
longo da Ultima década, entretanto, sofreu grande esvaziamento, na medida em que toda
a fungao financeira foi deslocando-se para a drea do Iguatemi.
No que tange as politicas de preservacéo, alguns setores do centro histérico de
Salvador, como os bairros do Pelourinho e do Maciel, foram alvo, a partir dos anos 60,
de projetos e intervencées de recuperacdo, com vistas 4 promogéo do turismo e &
melhoria da qualidade habitacional. Mas nenhuma dessas iniciativas reverteu 0 quadro
de deteriorago reinante.
Rio de Janeiro, no comeco dos anos 90, apresentava um caso de “configura-
Go espacial de patriménio" quase inversa ao de Salvador, com uma Grea central de
negécios moderna cercada — como uma “ilha” ~ de setores protegidos por todos os
lados. Esse conjunto tinha e ainda tem uso predominantemente comercial, de servicos e
institucional e apresentava, & época, uma tendéncia de popularizagao crescente. A
érea central de negécios era dotada de boa qualidade urbana, mas nos bairros perifé-
ricos a situagao de deterioragao do parque imobilidrio era grave. Habitagées ocupadas
por estratos de renda mais baixos existiam apenas nos setores que nunca foram alcan-
cados pela dinémica do nucleo principal. Toda a Grea central, entretanto, possuia exce-
lente acessibilidade, com avenidas de transito répido, sistemas de transportes ferrovid-
rio, metrovidrio, ndutico e aéreo ligando-a ao resto da cidade, & regiéo metropolitana
e a outros estados. No inicio da década passada, o trabalho de preservacdo dos con-
juntos de valor patrimonial, realizado com apoio técnico e com incentivos fiscais do
muni
‘pio, completava dez anos e apresentava bons resultados nos setores dinémicos
do centro que nao haviam sido modernizados.
O centro de So Paulo, no inicio dos anos 90, era um setor totalmente modernizo-
do, com iméveis e pequenos conjuntos prote:
los em boa parte de sua extensdo. A drea
apresentava uso predominantemente comercial, de servigos e negécios e abrigava os
remanescentes da atividade financeira, administrativa e de negécios que caracterizou a
centralidade até os anos 60. Esse nicleo apresentava-se muito esvaziado e em franco
processo de popularizagéo, especialmente devido ao grande crescimento do comércio
159
informal. De modo anélogo ao Rio, o uso habitacional vinculado a estratos de fenda
média e baixa predominava apenas nos bairros periféricos. A acessibilidade da zona cen-
tral, por meio de avenidas de transito répido e transporte de massa, era, entretanto, muito
boa. No que toca ao patriménio, & excecdo do trabalho de protegéo desenvolvido depois
dos anos 70 pela prefeitura e pelo Governo do Estado, nenhum projeto sistematico de
preservacéo havia sido ainda implantado.
As intervencées de preservacdo e requalificagdo implementadas durante os anos 90
nessas trés cidades foram, assim, marcadas por historias urbanas e de preservagéo espe-
cificas e enfrentaram distintas situagdes do ponto de vista da estrutura e da dinamica
urbana e funcional. Implementaram, entretanto, agées de natureza muito semelhante,
cujo maior ou menor sucesso, se relacionou a esse “solo” histérico e urbano sobre o qual
se implantaram, e néo aos seus préprios poderes e méritos.
As
itervencées dos anos 90
Nas trés cidades focalizadas, as intervencées executadas tiveram a intencGo de di-
namizar, intensificar e reforcar a utilizagdo das dreas centrais e do seu patriménio, bem
como transformar 0 perfil de uso popular que havia se instalado ou que ameacava se
instalar em setores considerados econémica e simbolicamente importantes. As estratégias
adotadas por cada cidade foram, contudo, distintas.
Em Salvador se perseguiu essa meta por meio da dinamizacéo do turismo e do
comércio no centro histérico, sem a implementagGo de medidas voltadas para o retorno
‘ua manutengao de funcées centrais ou para o fortalecimento do uso habitacional exis-
tente. No Rio de Janeiro, o reforco e o desenvolvimento de atividades culturais e de lazer
eo melhoramento da qualidade urbana do centro comandaram a:
ilervencées. No cen-
tro de SGo Paulo, 0 incentivo ao investimento privado e & produgdo imobilidria, conjugado
a medidas de requalificagéo de espacos publicos, preservacdo de grandes monumentos e
implantagdo de equipamentos culturais, deram 0 tom das iniciativas. Em todas as trés
cidades, essas intervengdes de melhoramento da qualidade urbana foram conjugadas a
medidas de controle do acesso e do uso dos espacos requalificados*.
160
As intervengées de melhoramento envolveram, principalmente, vias e logradouros
pUblicos; a restauracGo de exemplares arquiteténicos importantes; a valorizagéo ou inser-
Go de objetos artisticos no espaco publico; a instalagéo ou a renovagdo do mobilidrio
urbano; a recuperagéo de fachadas; a reciclagem de iméveis para novos usos; o desloca-
mento de terminais de transportes pUblicos e a provisdo de estacionamentos para automé-
veis particulares. Uma vasta empresa de criagéo de dreas centrais mais ordenadas, visual-
mente agradaveis, seguras e preservadas, foi posta em marcha, com vistas 4 atragao de
atividades e usuarios capazes de dinamizé-las economicamente e promover a valorizagéo
do parque imobiliério.
Essas intervengdes de natureza mais fisica foram acompanhadas de medidas de
controle do uso dos espacos, como a eliminagdo ou 0 ordenamento do comércio infor-
mal, a instalagéo de barreiras para controlar o acesso e 0 transi
em logradouros e vias,
a mudanca de uso, o deslocamento de moradores, a implantagéo de seguranca publica
ou privada especial e a realizagéo de eventos culturais e de lazer em logradouros
requalificados. Em Salvador, a populagéo pobre residente no Pelourinho foi retirada do
setor por meio da instalagdo de atividades comerciais nos iméveis que ocupava, do ofere-
cimento de indenizagées ou da simples transfer8ncia para outros locais. No Rio de Janei-
ro, moradores de rua foram expulsos do centro mediante agées policiais drasticas ou por
meio da implantagéo de obstdculos ao uso e acesso de determinados espacos. Apenas
‘em SGo Paulo, no final da década de 90, projetos de assisténcia e reinsergao social foram
iniciados, em resposta a fortes pressdes de movimentos sociais.
As
Paulo foram, de um modo geral, pontuais e néo obedeceram a planos que abarcassem o
itervencdes executadas nas Greas centrais de Salvador, Rio de Janeiro e Sao
conjunto dos respectivos territorios. Foram guiadas, contudo, por uma légica de dinamizacao
econémica, valorizagéo imobilidria e controle da presenga popular que integrou as acdes
executadas. Apenas em Sao Paulo planos de maior alcance foram elaborados — mas nao
foram executados’. Apesar dessa baixa execugdo do planejado, decorrente, em grande
parte, de um excesso de otimismo com relagéo 4 participagao da iniciativa privada nos
projetos propostos, os planos elaborados contribuiram para desenvolver e consolidar um
161
pensamento sobre a Grea central que, atualmente, coloca Sao Paulo a frente das outras
cidades, em termos de propostas e capacidade de viabilizacéo de projetos.
No Rio de Janeiro e em So Paulo as intervengdes tenderam a se concentrar nos
principais logradouros e arlérias dos nucleos mais dindmicos e setores de maior valor
simbdlico das dreas centrais. Em Salvador, o vinculo com o desenvolvimento do turismo
comandou a localizagao das intervencées, concentrando-as nos sitios mais deteriorados
do centro histérico e nos logradouros e corredores vidrios mais importantes que lhes dao
acesso. A maioria das intervencées nessa cidade localizou-se ao longo dos “caminhos do
turismo”, focalizando apenas parte da Grea comercialmente mais dinamica do centro e
pequenos trechos do seu antigo setor financeiro.
No final da década, o fraco desempenho dessas intervencdes, no que toca a atra-
do de investimentos privados de monta, novas atividades e transformagGo significativa
dos quadros de esvaziamento e deterioragao existentes, impulsionou o surgimento de es-
tratégias voltadas para o atendimento a demandas existentes como o desenvolvimento da
fungdo residencial para estratos sociais de menor renda. Esse “fracasso” das acées de
requalificagéo como pélos de atragéo deveu-se ao desinteresse do mercado imobilidrio
formal e dos segmentos sociais mais abastados pelas regides centrais, & existéncia de
vetores de investimentos imobilidrios mais dindmicos e lucrativos em outras zonas e ao
caréter epidérmico das intervenc6es realizadas, o que nao lhes permitiu interferir nos pro-
cessos estruturais que afetam nossos bairros histéricos. Deveu-se ainda 4 opcao de trans-
formar a todo custo o quadro de apropriagéo popular desses setores, ignorando-se suas
potencialidades como éreas para a solugéo dos problemas habitacionais desses estratos.
No Rio de Janeiro, devido ao nicleo principal do centro ter mantido importncia
funcional maior na estrutura da cidade e uma dindmica de uso e ocupagéo mais aquecida,
as intervengées de requalificagdo apresentaram um desempenho melhor em face de seus
objetivos iniciais. Nao tiveram forca, entretanto, para provocar transformagées nos bairros
periféricos, cujo quadro de deterioragdo e subutilizagao permaneceu inalterado. De um
modo geral, portanto, @ excegdo dessa cidade, a iniciativa privada ndo respondeu da
maneira esperada s estratégias de atracéo de investimentos deflagradas pelo poder pu-
162
blico, oscilando entre um comportamento indiferente, especulador ou simplesmente opor-
tunista. Os enclaves criados nas dreas centrais de Salvador e Sao Paulo para dinamizagéo
do turismo ou para animagéo cultural, por exemplo, permaneceram dependentes de re-
cursos publicos para funcionamento e manutengéo e apresentaram, até o fim da década,
um baixo poder indutor de transformacées nos quadros urbanos em que se inserem.
Os projetos de aproveitamento habitacional para rendas mais baixas — implantados
no final dos anos 90, no vacuo aberto por esses fracassos de mercado — tiveram execugao
minima nas trés cidades e permanecem ainda como intervengées de cardter experimental.
As dificuldades para desenvolvimento desses programas tém sido enormes, por causa de
entraves fundidrios, financeiros, burocréticos, legais, urbanisticos e tecnolégicos de todo
tipo e, ainda, em razéo de uma acéo pouco agressiva do setor publico no sentido de
enfrentd-los. Despontaram, entretanto, como propostas dotadas de grande potencial de
regeneracdo de certos setores e de produgdo de situagées mais adaptadas as nossas
demandas reais e 4 nossa realidade urbana e econémica.
As intervengdes habitacionais tenderam a se localizar de modo disperso nos bairros
centrais, ao sabor das oportunidades de aquisi¢éo ou desapropriagdo, privilegiando imé-
veis antigos em ruinas cuja situagGo possibilitasse um aproveitamento mais intenso de
espacos internos e lotes. Em decorréncia, entretanto, dos custos ainda altos da produgéo
habitacional em sitios histéricos e das grandes limitagdes dos financiamentos existentes,
essas intervencdes tenderam a preservar ou a resgatar apenas fachadas principais, a pro-
mover reconstrugées, a superocupar lotes e a subdividir intensamente espacos internos
remanescentes, com vistas & viabilizacdo financeira das operacées.
Em Séo Paulo, as propostas de reabilitagéo vinculadas ao uso habitacional surgiram
da presséo dos movimentos sociais que invadiram iméveis vazios ou abandonados no
centro da cidade®. Desenvolveram-se, portanto, em campo préprio e oposto ao dos pro-
jetos de requalificagdo existentes. Somente no final da década de 90 foram envidados
esforgos, em Sdo Paulo, para compatibilizar essas demandas e iniciativas. Em Salvador e
no Rio de Janeiro, contudo, os projetos habitacionais foram incorporados aos programas
de requalificagao e dinamizagGo econémica em andamento, com um caréter complemen-
163
tar. Assim, a tendéncia mais recente dos projetos de regeneragdo e repovoamento de
6reas centrais de grandes cidades é conjugar medidas de dinamizagao econémica a ou-
tras de desenvolvimento do uso habitacional para faixas de renda média e baixa, aprovei-
tando-se as linhas de financiamento disponiveis. O que se verifica, entéo, é que, na medi-
da em que o modelo de reincorporacdo de reas centrais esvaziadas ao mercado, por
meio da criagéo atragées urbanas e de Greas requalificadas, foi se revelando limitado e
inadequado ao nosso contexto social e econédmico, surgiv a tendéncia de adapta-lo as
demandas existentes. No novo modelo que surge, as acées vinculadas a reanimagao de
atividades econdmicas e imobilidrias tendem a se concentrar nos nucleos principais dos
centros € nos setores com maior potencial de renovacdo. Jé as relacionadas 4 produgéo
habitacional, nos bairros periféricos a esses ntcleos ou nos setores de grande concentra-
G0 de iméveis de valor histérico.
A promocao do uso habitacional nas éreas centrais das cidades estudadas surgiu,
entao, no final da década de 90, como o grande desafio das municipalidades, especial-
mente diante da impossibilidade de se ocupar todo 0 territério esvaziado dessas Greas
‘apenas com atividades direcionais, admit
strativas, comerciais ou produtivas. Se esse uso,
entretanto, teré ou néo um maior significado social ou contribuird, efetivamente, para um
desenvolvimento mais equilibrado e democratico dessas cidades, assim como para uma
preservacGo mais sustentdvel do seu patriménio, é uma quesiéo que esté vinculada a
opsées politicas, ao nivel de organizagéo das camadas populares e 4 ampliagdo ou néo
dos processos de proletarizagéo instalados em alguns pontos desses centros antigos. Em
suma, a relevéncia urbana, social e cultural das intervengées de preservacdo das préximas
décadas esté vinculada a um projeto de cidade que logre conciliar dinamizagéo econémi-
ca e valorizagéo do patriménio, com agées voltadas para a melhoria das condicées
habitacionais e de vida da populacao.
Anorma de produgéo e preservacéo do patriménio nos anos 90
As operacées de conservagéo do patriménio urbano deram o tom da pratica de
preservacdo nos Ultimos anos, ultrapassando em numero e freqiéncia as operacées de
164
selecdo e de salvaguarda de bens culturais. Foram comandadas basicamente pela utiliza- °
¢Go dada ao bem de valor patrimonial e pelas estratégias de dinamizacéo econémica e
valorizagéo imobilidria que o envolveram, mas vincularam-se também & qualidade da
prética desenvolvida em cada cidade em periodos precedentes. O Rio de Janeiro, por
exemplo, em decorréncia da exceléncia do trabalho desenvolvido pelo Corredor Cultural,
nos anos 80, apresentou, do ponto de vista da preservagao do patriménio, intervengdes
de qualidade técnica superior as das outras cidades. Em Salvador, atreladas a exiguos
prazos politicos e a violentas estratégias de promocéo do Governo do Estado da Bahia, as
intervencdes foram, de um modo geral, de péssima. qualidade.
As operacées de conservacao do patriménio caracterizaram-se, no periodo, pela
reciclagem de edificios e espacos publicos e, como visto, pela sua adaptacéo para
novos usos e atividades. Nessa empresa, a eliminacgao de anexos de servicgos, o rompi-
mento de relagées de parcelamento, o superaproveitamento de espacos internos e lotes
foi uma constante.
Foto 1. Salvador, interior de quarteirées do Pelourinho. Eliminacao de anexos de servicos e rompi
mento de relacées de parcelamento para e instalagéo de pracas de alimentacao.
165
foco da preservacao esteve, principalmente, na valorizacao, recuperagéo €
reconstituicéo minuciosa de fachadas principais, com grande énfase na reconstituicdo €
alé reinvencdo de elementos concebidos como de especial valor patrimonial. As opera-
des de conservacao caracterizaram-se ainda pelo uso de estratégias de isolamento entre
© novo eo antigo, verificando-se a tendéncia de se operar em pélos extremos, isto é, ou
por meio da produgao de postiches ou de formas absolutamente contrastantes.
Foto 2. Salvador, Praca da Sé:
pastiche ou contraste.
O contextualismo e as estratégias de integracao, tipicos dos anos 80, foram relati-
vamente abandonados, verificando-se uma espécie de retorno a uma estética patrimonial
de viés modernista, baseada no contraste, na monumentalidade da intervengao e na intro-
ducGo de objetos de impacto estético no espaco.
Foto 3. Sao Paulo, Praca do Patriarca. Ob-
jeto de impacto estético pare valorizacéo
do espaco recuperado.
166
Predominou, ainda, no periodo, uma postura de descolamento da arquitetura nova
‘ou recuperada do desenho ou do tecido urbano existente, que levou para o espaco publi-
co as estratégias de projeto baseadas no contraste e no rompimento de relacdes
morfolégicas. Relacgdes pré-existentes de parcelamento, de ocupacao de lotes, de distin-
Go entre espaco publico e privado e a forma original de logradouros publicos néo cons-
tituiram, no geral, elementos julgados merecedores de preservacao. As intervencées ten-
deram a ignorar a histéria urbana e a conferir aos logradouros ares pasteurizados de
shopping mall. Buscou-se trazer para o mundo da rua os estimulos visuais e as sensacdes
de ordem e seguranca que caracterizam esses equipamentos comerciais, com a transpo-
sicdo de sua linguagem estética, informacéo dirigida e materiais de acabamento para os
espacos requalificados.
Foto 4. Novo piso da Praga XV: re-qualificagao com uso de linguagem de shopping center (foto do
arquivo do prefeitura do Rio de Janeiro).
Nos anos 90, imperou, portanto, uma concepcao de patriménio urbano de cardter
fachadista e concentrado em poucos elementos arquiteténicos. Essa concepcao foi
fovorecida e reforcada pela ldgica financeira e promocional que presidiu a montagem e a
execucdo da maioria das operacées e pelo vinculo dessas agées com o entretenimento,
167
com o lazer cultural e com um turismo de espetéculos. Decorreu ainda de uma falta
generalizada de compromisso com o papel informativo, documental e social do patriménio.
Esses contornos da prética foram ainda produzidos pela entrega das intervencées a
profissionais e instancias néo especializadas em preservacéo do patriménio e a grandes
estrelas da arquitetura e do urbanismo nacional e internacional. O patriménio urbano foi
objeto de intervencées utilitérias e espetaculares, que nao tiveram grandes preocupacées
com perdas de documentacéo histérica, arqueolégica, arquiteténica e urbanistica. De um
modo geral ~ e isso foi especialmente visivel em Salvador -, as intervencées foram empre-
endidas sem um conhecimento mais fino do patriménio existente, tendo sido rara e loca-
lizada a realizagao de estudos histéricos, arqueolégicos, tipolégicos e morfolégicos con-
sistentes para apoid-las.
Essas préticas de conservagdo foram grandemente reforcadas e induzidas pelos
programas montados no plano federal. As limitagdes de suas linhas de financiamento,
modelos de intervencGo e a auséncia de um sistema adequado de subsidios promoveram
a formacao de enclaves apartados da realidade ou operagées de reabilitagao do patriménio
edilicio que preservaram apenas elementos existentes no exterior visivel dos iméveis.
O aproveitamento econémico do patriménio nos anos 90 néo significou, portanto,
um maior cuidado com as intervengdes ou com a substancia documental do patriménio.
Sistemas construtivos antigos, oficios e modos de fazer tradicionais ligados & construgéo
nao foram resgatados, exceto em algumas intervencées realizadas em grandes monumen-
tos € no trabalho de algumas oficinas-escola que se implantaram no periodo. A pratica
desenvolvida nesses nichos, contudo, néo foi disseminada nem apropriada, ainda que
parcialmente, no grosso das intervencdes. Ao contrério, nos anos 90, o aproveitamento
do patriménio urbano trouxe para o campo da preservagéo apenas as praticas mais con-
vencionais e limitadas da construgdo civil
168
Foto 5. Salvador, bairro de Santo Anténio -interior de lotes desmenbrados para abrigar empreendi-
mento hobitacional: obra convencional e projeto que preserva apenas as fachadas principais, igno-
ra relagées de ocupacio e parcelamento tipicas do conjunto tombado
Uma vez que © suporte fisico € 0 que corporifica o patriménio construido, as
operagées de conservacdo, em Ultima instncia, determinam o que seré ou ndo preser-
vado e a idéia de patriménio que entraré em circulacéo ampla no conjunto da socieda-
de. Na medida em que deixem em segundo plano ou ignorem a funcéo memorial,
informativa e documental dos bens culturais, funciona, ainda que involuntariamente,
como instrumentos de producéo de um patriménio vazio de significados e de cardter
meramente cenografico.
No bojo das intervencées realizadas na ultima década, o patriménio foi promovi-
do, principalmente, mediante a realizagao de eventos nas reas requalificadas e sua
apresentacdo como novas atracées urbanas. Esse tipo de abordagem mesclou-se as
operacées de conservacéo e utilizou estratégias de projeto que incluiram o uso de cores
vivas e chamativas nas fachadas, técnicas de iluminacao, a introdugdo no espaco de
novos objetos, mobilidrio especial, sinalizagao. Essas estratégias transformaram dreas
169
recuperadas em ambientes pitorescos e também em pecas publicitdrias de si préprits e
de seus promotores e patrocinadores’. Os sitios urbanos que passaram por intervencées
de preservagdo do patriménio funcionaram, entéo, simultaneamente, como objetos e
veiculos de promocGéo. Aliadas 4s acées de conservacéo, essas operacgées forneceram
‘os grandes quadros visuais que atualizaram e concretamente difundiram a nogéo de
patriménio urbano no periodo.
Essa nogGo, em ultima andlise, correspondeu a tudo o que pudesse ser rapidamente
identificado como antigo e divulgado como patriménio recuperado. Restrita 4 capacidade
do objeto arquiteténico ou urbano de comunicar e exibir rapidamente sua “natureza”
patrimonial, a nova concepgao resultou, se comparada 4 nogGo produzida nos anos 80 —
que tinha um caréter mais histérico e antropolégico — em redugao e estetizagdo do concei-
to. Ao mesmo tempo, por seu fundo utilitério, promocional e vinculado 4 valorizagéo
imobiliéria, promoveu uma ampliagéo do universo de bens passiveis de submisséo a légi-
ca da preservacao. Tal ampliagdo, entretanto, nao significou, no Brasil, que o patriménio
urbano tenha se transformado numa mercadoria imobilidria importante ou altamente dis-
6
neceram restritas aos setores que sofreram intervencées financiadas pelo poder publico,
putada. Nos grandes cidades, o reciclagem e a reu
izagdo do pai
edilicio perma-
sem a ocorréncia de crescimento de demanda por essas Greas ou por iméveis antigos no
mercado consumidor. Em razGo da permanéncia desse desinteresse pelo patriménio urba-
no nos segmentos sociais para os quais o mercado imobilidrio trabalha e da dificuldade
de acesso da populagdo mais pobre ao financiamento da habitagdo, o aproveitamento
econémico do patriménio, nos anos 90, se vinculou mais co fortalecimento de imagens,
90 consumo cultural e ao lazer urbano do que 4 renda fundidria ou ao valor imobilié
Na ultima década, especialmente em decorréncia de seu uso como veiculo
promocional, o patriménio urbano foi grandemente despojado de profundidade histérica
e concentrado na superficie e na aparéncia das formas.
170
Foto 6. Sao Paulo, cela da antiga Delegacia de Ordem
Politica e Social - DOPS, cujo prédio foi transformado
nos anos 90 em centro cultural. Um patriménio tem
profundidade histérica.
Foi lugar de um novo fipo de renovacdo urbana, que na realidade néo preserva —
apenas langa méo das formas antigas e usa a nocGo de patriménio como mote para um
novo tipo de homogeneizacao espacial. A cidade histérica brasileira, concebida, em ou-
tras 6pocas, como monumento artistico e como testemunho dos processos histéricos de
formagdo da nagao, fechou o século XX como mais uma atragao urbana. O patriménio
produzido e preservado nessa “cidade-atraco” foi o que sobrou dessa nova e, ao mesmo
tempo, jd velh abordagem.
Notas
1. O termo “norma” é utilizado aqui no sentido de conjunto de préticas, discursos e procedimentos
que cria podrées de comportamento e possa a orientar a abordagem, 0 tratamento, a utilizagéo €
prépria consiituicdo de cerlos objetos no seio da sociedade. A esse respeito, cf. FOUCAULT, Michel
Microfisica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 10° ed. 1984. P179-192; ___. Vigiar e punir: Nascimento.
171
172
da priséo. 10° ed. Petrépolis: Vozes, 1987; __. Historia do sexvalidade: 1-A vontade de saber. Rid de
Janeiro: Graal, 1988. Sobre a norma enquanto agente de criagéo de padrées de comportamento social,
ch. COSTA, Jurondir Freire. Ordem médica enorme familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1989, P. 50-51.
2. Sobre a apropriacéo eleitoral da intervencéo no Pelourinho, cf. FERNANDES, Anténio Sérgio.
Empresarialismo urbano em Salvador: A recuperacéo do Centro Histérico Pelourinho. Recife, UFPE-
Depto de Arquitetura e Urbonismo, 1998 (Dissertagéo de mestrado).
3. Sobre as intervencées realizadas nas éreas centrais de Salvador, Rio de Jeneiro e em Sao Paulo, ct:
VIEIRA, Natélia Mirando. © lugar da Histério na cidade contemporénea: Revitalizacéo do bairro do
Recife x recuperacdo do Pelourinho. Salvador, UFBA- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2000
(Dissertagao de mestrado); MAGALHAES, Roberto Anderson de Mirando. A requalificagéo do centro do
Rio de Janeiro na década de 1990. 2001. Rio de Janeiro: UFRJ- Faculdade de Arquitetura e Urbonis-
mo, 2001 (Dissertagéo de mestrado}; AMADIO, Décio. Alguma coisa acontece...: Uma investigacéo
sobre 0 Centro de Séo Paulo. Séo Paulo: USP. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1998 (Disserta-
do d mestrado); ARANTES, Otilia. “Uma estratégia fatal: o cultura nas noves gestées urbanos.”. In:
. VAINER, Carlos, MARICATO, Erminia. A cidade do pensomento unico: Desmanchando con-
sensos. Petrépolis (RJ): Vozes, 2000. P. 11-74; FELDMAN, Sora. “Tendéncios recentes de intervencao
em centros metropolitanos.” In: BRASIL, Camara Municipal de Séo Paulo. Comissdo de Estudos sobre
Hobitagio na Area Central: Relatério final. So Paulo, 2001, e MOTTA, Lia. “A apropriagée do patriménio
urbano: do estético-estillstico nacional ao consumo visual global.” In: ARANTES, Antonio A. (org.). O
espaco da diferenca. Campinas (SP): Popirus, 2000. P 256-287.
4. © Programa Monumenta, do Ministério da Culture, com financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID); 0 “Programa de RevitalizagGo de Sitios Histéricos”, da Caixa Econémica Fede-
ral e 0 “Programa URBIS", do Ministério da Cultura e do IPHAN. Além desses programas implementados
@ portir da segunda metade do década de 90, foram também muito utilizados em intervencées realizo-
das no Rio de Janeiro e Séo Paulo os benelicios fiscais do Programa Nacional de Apoio & Cultura
(PRONAC), criado em 1991
5. Enfatizomos, neste trabalho, os contornos da prética de preservagéo proporcionados pelos interven-
‘GOes nos éreas centrais de Salvador, Rio de Janeiro e Séo Paulo,
6. Sobre o assunto, cf. MAGALHAES, Roberto Anderson de Miranda. A requolficagée... Op. cit. P 86-117.
7. Cf. MEYER, Regina Maria Prosperi, IZZO JUNIOR, Alcino. Pélo Luz: Salo Sao Paulo, cultura e
urbanismo. $60 Paulo: Viva o Centro, 1999. P. 27; AMADIO, Décio. Alguma coisa acontece... Op. cit
8. Ver a esse respeito, BONDUKI, Nobil. “Habitacéo no érea central de Séo Poulo: uma opcéo por
uma cidade menos segregada, por um centro sem exclusdc social.” In: BRASIL, Camara Municipal de
Sd0 Paulo, Comisséo... Op. cit. P 3-10.
9. Sobre o uso do espaco urbano em estratégios publictérios pora o reforco de imagens publicos &
marcas comerciais cf. KLEIN, Naomi. Nologo: Taking aim at the brand bullies. New York: Picador,
2002.
Você também pode gostar
- "Holocausto Judeu" - O Que Aconteceu RealmenteDocumento6 páginas"Holocausto Judeu" - O Que Aconteceu RealmenteMariana AguiarAinda não há avaliações
- Guia de Patrimônio Cultural CariocaDocumento288 páginasGuia de Patrimônio Cultural CariocaMariana AguiarAinda não há avaliações
- RAMOS, Francisco Régis Lopes A Danação Do Objeto: o Museu No Ensino de HistóriaDocumento91 páginasRAMOS, Francisco Régis Lopes A Danação Do Objeto: o Museu No Ensino de HistóriaMariana Aguiar100% (4)
- Aula 11 e 12 Observando-O-Familiar-Gilberto-Velho PDFDocumento6 páginasAula 11 e 12 Observando-O-Familiar-Gilberto-Velho PDFMariana AguiarAinda não há avaliações
- BNDES - Economia PDFDocumento702 páginasBNDES - Economia PDFMariana AguiarAinda não há avaliações
- Os Exames Censórios Do Conservatório Dramático PDFDocumento412 páginasOs Exames Censórios Do Conservatório Dramático PDFMariana AguiarAinda não há avaliações
- Revpat 35 PDFDocumento349 páginasRevpat 35 PDFMariana AguiarAinda não há avaliações
- Nakamuta: A Trajetória de Preservação Dos Bens Móveis e Integrados Sob A Ótica Dos Projetos Institucionais de InventárioDocumento12 páginasNakamuta: A Trajetória de Preservação Dos Bens Móveis e Integrados Sob A Ótica Dos Projetos Institucionais de InventárioMariana AguiarAinda não há avaliações
- IPHAN Guia de Identificação de Arte SacraDocumento147 páginasIPHAN Guia de Identificação de Arte SacraMariana Aguiar100% (1)
- Dossiê Maracatu RuralDocumento167 páginasDossiê Maracatu RuralMariana AguiarAinda não há avaliações