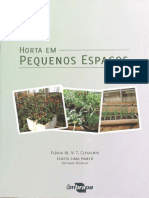Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Não Violência Como Arma Imperialista - Parte 2 - Versão Final
Enviado por
BernadetteSiqueiraAbrao0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações6 páginasSegunda parte da série que escrevi para a mídia independente eletrônica.
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoSegunda parte da série que escrevi para a mídia independente eletrônica.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações6 páginasA Não Violência Como Arma Imperialista - Parte 2 - Versão Final
Enviado por
BernadetteSiqueiraAbraoSegunda parte da série que escrevi para a mídia independente eletrônica.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
A não violência como arma imperialista
Parte 2
Baby Siqueira Abrão
O papel dos Estados Unidos na deposição “não violenta” dos governos de
países da antiga União Soviética remete ao estudo sobre a Eurásia realizado
por Zbigniew Brzezinsky (1928-2017), consultor de segurança nacional
durante a presidência de Jimmy Carter. No livro The Grand Chessboard:
American Primacy and Its Geostrategic Imperatives [O grande tabuleiro de
xadrez: supremacia estadunidense e seus imperativos geoestratégicos], Zbig,
como Brzezinsky era chamado, destaca a importância da Eurásia no cenário
internacional e afirma a necessidade de os Estados Unidos, para permanecer
como potência dominante no planeta, impedirem a hegemonia de um ou
mais países da região. O livro foi publicado depois da dissolução da União
Soviética (1991), mas o projeto de Zbig começou no Afeganistão e foi bem-
sucedido em relação à retirada dos soviéticos daquele país, em 1989 – depois
de uma guerra de dez anos cujo alto custo, segundo alguns especialistas, foi o
começo do fim da URSS. Também foi no Afeganistão, segundo confessou em
entrevista à BBC a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que os EUA
começaram a montar as estruturas iniciais para a formação, o treinamento e a
doação de armamentos para grupos especializados em terrorismo, como o
Talibã. Mas essa é outra história.
Lembremos que as chamadas “revoluções coloridas”, como vimos na parte 1
desta série, estouraram a partir dos anos 2000, depois da publicação de The
Grand Chessboard. Não admira, portanto, que em tais “revoluções” tenham
sido injetados tantos milhões de dólares pelos Estados Unidos. Mesmo assim,
foi uma economia e tanto: o gasto teria sido muito maior se, em vez de
métodos não violentos, fosse usada a guerra convencional para derrubar os
governos-alvo. E, embora alguns resultados tenham acontecido já no século
XXI, os movimentos de oposição ao regime comunista começaram nos anos
1980, com a chamada “revolução de veludo”, uma rebelião não violenta
iniciada na antiga Checoslováquia entre novembro e dezembro de 1989 e que
obrigou à renúncia do então presidente Gustáv Husák.
Movimentos não violentos de protesto e deposição de governos espalharam-
se em praticamente todos os países da antiga União Soviética, induzidos e
financiados pelos Estados Unidos – que também agiu na Polônia, dando
suporte à central sindical Solidariedade (Solidarność) e a seu líder, Lech
Walesa, famosos no mundo inteiro pela ajuda na derrocada do regime
comunista polonês. Originalmente um eletricista no estaleiro de Gdansk – um
boato dizia que trabalhava como espião do governo, o que ele nega –, Walesa
liderou grandes paralisações, ganhou o Nobel da Paz em 1983 e tornou-se
presidente do país de 1990 a 1995.
De ativistas a espiões internacionais
O trabalho da CIA no leste e no centro da Europa, porém, não se limitou a
derrubar dirigentes e a levar ao poder políticos comprometidos com os
Estados Unidos. Os líderes mais destacados da oposição aos regimes
comunistas acabaram sendo contratados por agências de inteligência
associadas à CIA, para formar e treinar grupos semelhantes ao Otpor! em
nações nas quais os EUA desejavam aplicar o regime change (mudança de
regime), eufemismo para nosso velho conhecido golpe de Estado, item
fundamental da política externa estadunidense.
Milhares de e-mails publicados pelo Wikileaks sob o título Global Intelligence
Files (Arquivos de Inteligência Global) revelaram que o Otpor! foi desativado e
que seus dirigentes fundaram o Canvas (Centre for Applied Nonviolent Action
and Strategies; Centro para Ação e Estratégias de Não Violência Aplicada),
também financiado pelos EUA. Os antigos universitários do Otpor!
terminaram seus cursos, receberam seus diplomas e profissionalizaram a
atividade de promover golpes e desestabilizações mundo afora. Em 2007,
Srdja Popovic, ex-principal líder do extinto Otpor! e fundador do Canvas, foi
convidado pela Stratfor (Strategic Forecasting, Inc.) – a empresa texana que se
apresenta como “sombra da CIA” – para uma palestra interna sobre a
derrubada de governos no Leste Europeu.
Depois disso, as duas partes passaram a trabalhar juntas. A correspondência
eletrônica revelada pelo Wikileaks mostra que Popovic repassava para a
Stratfor informações sobre os ativistas com quem mantinha contato em várias
partes do mundo. Ou seja, aproveitando a fama, e a confiança que os
militantes de diversos países depositavam nele, Popovic tornou-se uma
espécie de “agente duplo”.
Ele enviava para os serviços de inteligência dos EUA, por meio da Stratfor, os
planos dos ativistas com os quais trabalhava em países tão diferentes como
Azerbaijão, Bahrein, Belarus, Egito, Filipinas, Geórgia, Irã, Líbia, Malásia,
Polônia, Tibete, Tunísia, Venezuela, Vietnã e Zimbábue. Esse repasse era feito,
evidentemente, sem o conhecimento dos ativistas.
A diretora do Centro de Direitos Humanos do Bahrein, Maryam Alkhawaja,
afirmou conhecer Popovic há muitos anos sem nunca desconfiar de que ele
fosse um agente duplo. Só conheceu essa outra face do ativista-espião
quando o Wikileaks publicou os e-mails da Stratfor. “Foi um susto. Srdja
demonstrava apoiar a revolução em meu país e a luta por direitos humanos”,
disse Maryam.
“Antes disso ele me falou da Stratfor, mas na época eu não sabia que empresa
era aquela. Passei a suspeitar depois de ler o e-mail que a Stratfor me
enviou”, acrescentou. “Eles faziam perguntas insólitas a alguém que dirigia
um grupo de direitos humanos, do tipo que uma agência de inteligência faria:
quem custeava nossa organização, quantos membros tínhamos... Isso me
levou a questionar os reais motivos do e-mail que recebi.” Ressabiada,
Maryam nunca respondeu às perguntas.
Srdja Popovic contou uma versão altruísta da história. Disse que jamais
colocou os ativistas em perigo e que nunca falaria do trabalho que realizavam
sem pedir seu consentimento. Afirmou que o Canvas conversava com todas as
pessoas, sem discriminação, sobre a ação direta não violenta. “Se
conseguirmos convencer as autoridades mundiais (...) de que elas devem
abraçar e respeitar a luta não violenta em lugar da intervenção militar ou da
opressão de um povo, teremos obtido êxito”, declarou ele certa vez. Foi
desmentido pelos e-mails publicados pelo Wikileaks.
A verdade é que essa é uma atividade muito lucrativa. Há muito dinheiro
envolvido. O governo dos Estados Unidos e a CIA não fazem doações diretas à
Stratfor; elas vêm de organizações autodenominadas sem fins lucrativos
ligadas ao poder estadunidense, como a NED, The National Endowment for
Democracy, e suas associadas (você conhecerá essa rede na parte 3 desta
série). Dados de 2009 apontam que a ONG recebeu, somente do governo dos
EUA, mais de 135 milhões de dólares para atuar em 90 países. Fundos
privados e grandes empresas também contribuem com altas somas para obter
informações consideradas sensíveis a seus negócios. E a Stratfor é
especializada nisso. Tanto ela como outras agências menores recebem valores
difíceis de calcular porque não são obrigadas a prestar contas.
O objetivo da Stratfor, ao contratar Srdja Popovic, era conseguir as tais
“informações sensíveis” e repassá-las a seus clientes e ao governo dos Estados
Unidos. A empresa nunca teve a intenção de depender do agente sérvio para
manter contatos frequentes com os ativistas “criadores de problemas” – as
palavras são de um funcionário graduado da própria empresa, o analista para
a Eurásia Marko Papic, num e-mail de maio de 2010.
“A capacidade que ele [Popovic] tem para discernir situações na base [da
militância] pode ser limitada; sua tarefa principal é fazer os primeiros contatos
e deixar que os ativistas façam o resto”, escreveu Papic em outro e-mail
publicado pelo Wikileaks. “Ele tem informações que podem ser úteis vez ou
outra. Mas a ideia é reunir, por meio do Canvas, uma rede de contatos com os
quais poderemos contar, independentemente [do Canvas].”
Os e-mails também mostram que a Stratfor opera em sintonia com o governo
dos Estados Unidos e costuma contratar seus ex-funcionários – como Fred
Burton, ex-agente especial do serviço de segurança diplomática do
Departamento de Estado. As mensagens eletrônicas revelaram que a Stratfor
enviava informações para o Mossad, o serviço secreto israelense que atua
fora de Israel. Os intermediários dessa agenda clandestina, segundo os e-
mails, eram Yossi Melman, do jornal israelense Haaretz, e David Leigh, do
jornal britânico The Guardian.
A CIA e os livros de Gene Sharp
Em maio de 2005, o jornalista francês Thierry Meyssan publicou na rede de
notícias Voltaire, fundada e presidida por ele, um artigo sobre o uso da não
violência como tática de dominação. No texto, “The Albert Einstein
Institution: non-violence according to the CIA” (Fundação Albert Einstein: a
não violência segundo a CIA), Meyssan denunciava que a instituição, criada
por Gene Sharp em 1983, trabalhara com a Otan e depois com a CIA,
treinando os líderes dos “golpes brandos” no Leste Europeu. Na data da
publicação do artigo, esse treinamento vinha acontecendo havia 15 anos.
Sharp negou a acusação, e seu amigo Stephen Zunes, professor da San
Francisco University, escreveu uma carta aberta também assinada, entre
outros, por Noam Chomsky e Howard Zinn – renomados acadêmicos da
centro-esquerda estadunidense –, negando o envolvimento de Sharp com a
CIA. Hoje, graças ao Wikileaks, sabe-se com certeza que os livros desse ex-
professor da Universidade de Dartmouth foram utilizados por organizações
financiadas pelos Estados Unidos – como Otpor!/Canvas, Kmara e Pora –,
decididas a derrubar governos “da Lituânia à Sérvia, à Venezuela e à Ucrânia”,
como relatou Thierry Meyssan.
Também em 2005, numa entrevista à jornalista Laura Secor, do jornal The
Boston Globe, Gene Sharp confessou ter visitado a Estônia, a Latívia e a
Lituânia quando boa parte dos povos dessas nações tentavam separá-las da
União Soviética. Nesses três países os movimentos de oposição usaram as
técnicas não violentas descritas nos livros de Sharp para mudar o governo e o
regime. Ele conta como foi sua colaboração:
Tive reuniões com líderes das três nações, e eles se inspiraram fortemente num
livro meu, Defesa civil, que na época tínhamos apenas em provas gráficas, e em
inglês.
Sharp também confessou ter estado na praça Tianamen, a praça da Paz
Celestial, na China, durante a revolta popular de 1989 contra o governo
chinês. Para ele, a rebelião deu errado porque os ativistas não elaboraram um
plano nem tinham estratégia.
Foi mais ou menos um movimento acidental que acabou atraindo um grande
apoio. As pessoas se dirigiram a Tianamen, de onde aqueles que haviam
iniciado a revolta já estavam saindo. Mesmo depois da decisão de esvaziar a
praça, os recém-chegados decidiram permanecer nela, pois ainda não haviam
tido a chance de se manifestar. Mas não tinham um plano. Não entenderam a
importância fundamental de negar apoio ao sistema. Ouvimos histórias sobre
funcionários públicos civis, dentro de edifícios do governo, atirando dinheiro
aos rebeldes pelas janelas. Mas não entraram em greve. Também havia relatos
sobre soldados que se recusaram a atirar nos manifestantes. Se isso tivesse
acontecido em larga escala, o movimento teria dado certo.
Gene Sharp subestimou a força das autoridades chinesas e de seu serviço
secreto. Dificilmente os chineses ousariam fazer uma greve geral na tentativa
de derrubar o governo; sabiam que perderiam. Além disso, havia o obstáculo
de uma população grande demais, num território extenso demais. Fosse como
fosse, o Estado acabou perdendo a paciência depois de algumas propostas de
diálogo. Sabia quais grupos estrangeiros estavam em ação no movimento e
por quê. Então aconteceu o que os opositores mais temiam.
Em 3 e 4 de junho de 1989, tropas e tanques do exército tomaram as ruas de
Pequim, rumo à praça da Paz Celestial, atirando em quem se interpusesse no
caminho. Foram dois dias de luta, com os estudantes ora reagindo com
violência, ora sentados, quietos, aguardando seus representantes negociarem
com os militares. Nada disso impediu o banho de sangue que matou centenas,
ou milhares, de manifestantes: a conta ficou entre 180 e mais de 10 mil,
dependendo do lado de quem a fez. Foi a “larga escala” imaginada por Sharp.
Mas a rebelião fracassou.
Ele contou que por pouco não se tornou testemunha ocular – e decerto mais
uma vítima – da matança:
Eu estava lá naquela noite, com um amigo. Havíamos acabado de jantar e
voltávamos ao hotel pela praça da Paz Celestial quando as tropas e os tanques
chegaram. Queríamos dobrar a esquina e nos esconder para ver o que
acontecia, mas os transeuntes chineses nos obrigaram a sair correndo de lá. É
por isso que estamos vivos hoje.
Há rumores de que Sharp e seu assistente, Bruce Jenkins, viajaram à China
para ajudar a organizar a rebelião. Ele negou, mas a verdade é que chegou a
Pequim duas semanas antes de o movimento começar. E os estudantes
chineses nunca negaram ter se inspirado em seus livros. Além disso, as
autoridades chinesas acabaram por expulsá-lo do país, juntamente com seu
assistente. Isso decerto não teria acontecido se os dois fossem apenas turistas
a passeio.
Na parte 3 desta série, o papel das ações não violentas
patrocinadas pelos Estados Unidos na chamada “primavera
árabe” e na América Latina. A rede de organizações que investe
quantias altas na formação de efetivos para a derrubada de
governos não alinhados aos EUA.
Você também pode gostar
- História da Psicologia de Emergências e DesastresDocumento21 páginasHistória da Psicologia de Emergências e DesastresKeilaRomeiroAinda não há avaliações
- Manifesto de Elliot Rodger em PortuguêsDocumento235 páginasManifesto de Elliot Rodger em PortuguêsKennedy Silva75% (8)
- Flashbacks, Surfando No Caos - Timothy Leary (Completo) PDFDocumento505 páginasFlashbacks, Surfando No Caos - Timothy Leary (Completo) PDFGuilhermeSilvestre100% (2)
- Hist9 BQ 00007Documento8 páginasHist9 BQ 00007Marcia Gonçalves100% (1)
- O Paradigma do Documentarista António CamposDocumento347 páginasO Paradigma do Documentarista António CamposPamela ZechlinskiAinda não há avaliações
- Exercícios Geografia Geopolítica MundialDocumento50 páginasExercícios Geografia Geopolítica MundialMárcia Vilero100% (1)
- David Fromkin-O Último Verão Europeu - Quem Começou A Grande Guerra de 1914 - Editora Objetiva (2005)Documento385 páginasDavid Fromkin-O Último Verão Europeu - Quem Começou A Grande Guerra de 1914 - Editora Objetiva (2005)Alex MassonAinda não há avaliações
- Cultura Da Conexão Criando Valor e Significado Por Meio Da Mídia Propagável - ResenhaDocumento6 páginasCultura Da Conexão Criando Valor e Significado Por Meio Da Mídia Propagável - ResenhaNatália Vilaça100% (1)
- Horta em Pequenos Espacos PDFDocumento57 páginasHorta em Pequenos Espacos PDFBreno M. Fonseca100% (1)
- 68 A Geração Que Queria Mudar o MundoDocumento688 páginas68 A Geração Que Queria Mudar o MundoCearanews100% (3)
- 2023.01.24 - Oficina - Panorama Da Nova Estrutura Do Governo Federal PDFDocumento69 páginas2023.01.24 - Oficina - Panorama Da Nova Estrutura Do Governo Federal PDFBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Conjugação Do Verbo Inteligir - Conjugação de VerbosDocumento6 páginasConjugação Do Verbo Inteligir - Conjugação de VerbosBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Feminicídio durante a pandemia da COVID-19Documento19 páginasFeminicídio durante a pandemia da COVID-19BernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- O Sentimento Dos VegetaisDocumento1 páginaO Sentimento Dos VegetaisBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Final-EshaKrishamurtyInterview TradBabydocxDocumento5 páginasFinal-EshaKrishamurtyInterview TradBabydocxBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Guerra Pela Água - 2015, Moon of Alabama (Traduzido) )Documento3 páginasGuerra Pela Água - 2015, Moon of Alabama (Traduzido) )BernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- 2 RealNewsTranscrito2CorrigidoDocumento7 páginas2 RealNewsTranscrito2CorrigidoBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Contrato de prestação de serviços educacionais à distânciaDocumento9 páginasContrato de prestação de serviços educacionais à distânciaBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Agricultura FamiliarDocumento3 páginasAgricultura FamiliarBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Solo Fértil - Cuide Dele Se Quiser Produzir Alimentos Orgânicos PDFDocumento9 páginasSolo Fértil - Cuide Dele Se Quiser Produzir Alimentos Orgânicos PDFBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Brian Transcrito PortuguesefinalDocumento8 páginasBrian Transcrito PortuguesefinalBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Livre-Se Das Formigas Com Métodos NaturaisDocumento3 páginasLivre-Se Das Formigas Com Métodos NaturaisBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Violência Contra Mulher - Militante Relata - Acirramento Do Patriarcado - Com Bolsonaro - MST PDFDocumento4 páginasViolência Contra Mulher - Militante Relata - Acirramento Do Patriarcado - Com Bolsonaro - MST PDFBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Palavras em HebraicoDocumento1 páginaPalavras em HebraicoBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Guerra Pela Água - 2015, Moon of Alabama (Traduzido) )Documento3 páginasGuerra Pela Água - 2015, Moon of Alabama (Traduzido) )BernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Entrevista Tariq AliDocumento6 páginasEntrevista Tariq AliBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Discutindo Processo MidiatizaçaoDocumento10 páginasDiscutindo Processo MidiatizaçaoArnaldoeadAinda não há avaliações
- Confeeência SaaaDocumento1 páginaConfeeência SaaaBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Como Criar Um Viral - Produção Técnica e Avaliação Social - Giácomo Degani - Marketing DigitalGiácomo Degani - Marketing DigitalDocumento2 páginasComo Criar Um Viral - Produção Técnica e Avaliação Social - Giácomo Degani - Marketing DigitalGiácomo Degani - Marketing DigitalBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Cuidado com o solo fértil para produzir orgânicosDocumento9 páginasCuidado com o solo fértil para produzir orgânicosBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- HJARVARDDocumento24 páginasHJARVARDKênia Freitas100% (1)
- Normas para Elaborar o Projeto de PesquisaDocumento2 páginasNormas para Elaborar o Projeto de PesquisaBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Revolução Russa - AulaDocumento5 páginasRevolução Russa - AulaBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Agricultura FamiliarDocumento3 páginasAgricultura FamiliarBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Protestos No BrasilDocumento2 páginasProtestos No BrasilBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Agricultura FamiliarDocumento3 páginasAgricultura FamiliarBernadetteSiqueiraAbraoAinda não há avaliações
- Geral Espaco Economico Politica Economica MedioDocumento127 páginasGeral Espaco Economico Politica Economica MedioCarloseduardo MarquesvidalAinda não há avaliações
- Educação Puritana no Século XVIIDocumento24 páginasEducação Puritana no Século XVIILeandro Fernandes100% (1)
- Análise Marxista Sobre A Era VargasDocumento15 páginasAnálise Marxista Sobre A Era VargasDanne VieiraAinda não há avaliações
- Colonialismo europeu nos séculos XVI e XIXDocumento2 páginasColonialismo europeu nos séculos XVI e XIXRaquel LeãoAinda não há avaliações
- Roteiro de Estudo2a Serielinguagenscompletoformatadoem PDFDocumento25 páginasRoteiro de Estudo2a Serielinguagenscompletoformatadoem PDFRoberto Moreira NevesAinda não há avaliações
- TCC Heitor Martins Autonomacao PFMEA Poka-YokeDocumento111 páginasTCC Heitor Martins Autonomacao PFMEA Poka-YokeMAPROLProjetosAinda não há avaliações
- A História Da Comunicação Empresarial No Brasil PDFDocumento14 páginasA História Da Comunicação Empresarial No Brasil PDFLuiz Fabiano CarvalhoAinda não há avaliações
- Resenha avalia teses e limites de O Atlântico NegroDocumento3 páginasResenha avalia teses e limites de O Atlântico Negrosonia mendesAinda não há avaliações
- História da Revolução IndustrialDocumento84 páginasHistória da Revolução IndustrialEduardo Schmitt CarvalhoAinda não há avaliações
- Pack TrendsDocumento227 páginasPack TrendsyarareAinda não há avaliações
- Dez argumentos contra a abolição da escravidãoDocumento5 páginasDez argumentos contra a abolição da escravidãoAlexandre ApoloAinda não há avaliações
- DIREITOS DE PROPRIEDADE E ECOLOGIA NA ECONOMIA CAPITALISTADocumento132 páginasDIREITOS DE PROPRIEDADE E ECOLOGIA NA ECONOMIA CAPITALISTASofia Alexandra DiasAinda não há avaliações
- Observações Sobre A Tradução...Documento21 páginasObservações Sobre A Tradução...claudiaAinda não há avaliações
- Prova - Tipo1Documento45 páginasProva - Tipo1David RodriguesAinda não há avaliações
- 1 - Simulado de Bolsas NÍVEL 1 - PRIMEIRO DIA - 17.09.2022Documento12 páginas1 - Simulado de Bolsas NÍVEL 1 - PRIMEIRO DIA - 17.09.20221231231ajwdjkawdjkAinda não há avaliações
- Resenha - As Agonias Do LiberalismoDocumento5 páginasResenha - As Agonias Do LiberalismoSamuel MeloAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo II PDFDocumento3 páginasExercícios de Fixação - Módulo II PDFAlice SpaniAinda não há avaliações
- Combate ao fumo: riscos da nicotina e estratégias de convencimentoDocumento28 páginasCombate ao fumo: riscos da nicotina e estratégias de convencimentoJean MadsonAinda não há avaliações
- Geografia PET 6 8° ANODocumento7 páginasGeografia PET 6 8° ANOGabriel Rodrigues de OliveiraAinda não há avaliações
- História Da Fruticultura de Clima Temperado No Brasil, Com ÊnfaseDocumento17 páginasHistória Da Fruticultura de Clima Temperado No Brasil, Com ÊnfaseMaristela DiasAinda não há avaliações
- Resenha Do Filme Pão e Rosas PDFDocumento4 páginasResenha Do Filme Pão e Rosas PDFLazaro RealAinda não há avaliações
- China: potência econômica e desafios ambientaisDocumento16 páginasChina: potência econômica e desafios ambientaisRenata MouradAinda não há avaliações
- Textos de Jack P Greene e Seus Intérpretes (Autoridades Negociadas)Documento160 páginasTextos de Jack P Greene e Seus Intérpretes (Autoridades Negociadas)PedrinhoDeCubaAinda não há avaliações
- Ed 07Documento14 páginasEd 07Wellington de PaulaAinda não há avaliações