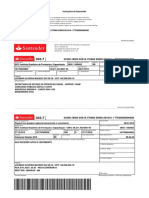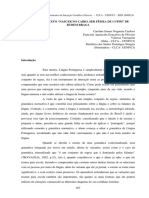Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Os Engenheiros Da Linguagem
Enviado por
ArthurLisboaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os Engenheiros Da Linguagem
Enviado por
ArthurLisboaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os engenheiros da linguagem.
A confecção da sociologia e das ciências humanas.
Quando Durkheim disse que deveríamos tratar os acontecimentos sociais como
“coisas”, ele estava tentando ensinar que o cientista social, então emergente, teria de
tomar a vida humana como os físicos estavam tomando a vida natural. Nada de colocar
no âmbito de acontecimentos da natureza qualquer antropomorfismo. Assim, se a ação
humana fosse tratada como tratamos, no âmbito da física pós-aristotélica, um raio, uma
avalanche, um choque de bolas de bilhar etc., poderíamos estabelecer uma descrição
“objetiva”, e, quem sabe, tirar leis gerais sobre uma tal coisa observada. A ideia básica
dessa sociologia era a de não levantar juízos morais, críticas, ou seja, de modo algum
criar uma narrativa negativa para se contrapor ao ocorrido – como em geral faz a
filosofia, em especial com a utopias, mas também com projetos transcendentes e
transcendentais. A questão era tirar da jogada a narrativa negativa e colocar em seu
lugar uma narrativa positiva. Daí o nome da proposta durkheimiana, já estreada por
Comte: positivismo.
Quem se educou por uma tal escola sempre achou correto, então, o uso de metáforas
vindas das ciências naturais para as ciências humanas. Mas quem se educou na escola
de Tocqueville conseguiu compreender Nietzsche e perceber também o inverso: muitas
de nossas metáforas das ciências naturais, e talvez a própria direção de investigação das
ciências naturais, só avançaram por conta da força do modo de vida social vigente. Ou
seja, o antropomorfismo já teria ocorrido bem antes, nas ciências naturais, de uma
maneira sorrateira. Tocqueville viu isso ao falar de como que povos democráticos, que
primam pela igualdade – americanos à frente – começariam a dar mais confiança para
ideias cada vez mais gerais, cada vez mais capazes de serem ideias de todos,
renunciando ao particularismo, ao detalhismo, às diferenças que, enfim, seriam mais
próprias de nações regradas por princípios aristocráticos, ou seja, por diferenciações.
Ao final do século de Tocqueville, que escreveu A democracia na América em 1835,
Nietzsche consagrou essa descoberta dizendo que leis da natureza, como as de Newton,
de igualação de comportamentos, só foram possíveis por conta das revoluções
igualitárias modernas. Nietzsche nunca deu crédito, na sua cosmologia, a princípios
igualitários. Para ele, os físicos nada eram senão decadentes democratas meio que
inconscientes.
Hoje em dia tendemos a sair dessa dicotomia Comte-Durkheim versus Tocqueville-
Nietzsche. Não estamos mais preocupados com a conversa sobre quem vem primeiro,
se o ovo ou a galinha. Se seguimos Richard Rorty, tomamos a linguagem com
completamente metafórica. E isso sem direção predeterminada. Ou seja, tudo é
metáfora sem que se tenha, na contramão, o puro literal. Não existe o literal. O literal é
uma forma de metáfora morta. Assim, tanto faz se usamos a palavra “chover” para água,
prótons ou notícias ou dinheiro. Chover é chover, que se entenda isso no âmbito da
enunciação, não no âmbito da pura linguagem. Nada de lidar com verbos e nomes sem
o funcionamento vivo da língua. “Choveu dinheiro”. Entendemos isso quase que
tomando literalmente. E se o dinheiro caiu do alto, de um avião, então acrescentamos:
“choveu dinheiro – literalmente”. Mas se dizemos “choveu odor de amor”, então
sabemos que estamos em uma terceira situação, a da linguagem poética, onde a
metáfora não quer e não pode ter contraponto literal, de modo algum.
Aprendemos aos poucos que o rigor de uma narrativa que se pretende científica não se
faz senão pelo modo que seus autores possam estabelecer palavras com significados
destacáveis, especiais, que em geral se chamam conceitos ou então “termos técnicos”.
Não se trata aí de uma disputa de significados, mas de uma disputa de impacto. Há frases
quer são impactantes, nos colocam em situações que chamamos de “rigor”, e outras
que nos impactam a ponto de falarmos que estamos no âmbito do “amor”.
Uma narrativa teórica possui conceitos e termos técnicos. Uma narrativa poética não.
Mas em ambos os casos, nada temos senão metáforas, senão disposições de transporte
de um termo de um campo para outro. Ou da natureza para o humano-social ou do
humano-social para a natureza, ou do fígado para a moral ou da moral para o micro-
físico etc. Fazemos um jogo de ir e vir na linguagem, sem que exista um porto seguro
final. Não existe o literal. Não existe o literal no sentido de o último reduto da linguagem
na qual esta espelharia de fato o que se descreve como que emanando dele, como se o
linguístico estivesse fundido no não linguístico.
Essa maneira de ver as coisas nos cativa hoje em dia. Coloca os fundacionismos de lado.
Mas não elimina nosso desejo metafísico que nos leva a achar que podemos, sim,
encontrar algo que seja mais literal que qualquer outra coisa. O literal é um fantasma
para pós modernos como nós. Quem disse que fantasmas não atemorizam?
Paulo Ghiraldelli Jr., 60, filósofo.
São Paulo, 28/03/2018
Você também pode gostar
- O Que É Teoria Da VerdadeDocumento6 páginasO Que É Teoria Da VerdadeArthurLisboaAinda não há avaliações
- Figueiredo, LOM. O Imposto S Grandes Fortunas. EdFiDocumento190 páginasFigueiredo, LOM. O Imposto S Grandes Fortunas. EdFiRicardo MirandaAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre A Saúde Na Era BolsonaroDocumento7 páginasEnsaio Sobre A Saúde Na Era BolsonaroArthurLisboaAinda não há avaliações
- Coronavírus e A Luta de Classes Tsa PDFDocumento48 páginasCoronavírus e A Luta de Classes Tsa PDFabraxas11111Ainda não há avaliações
- Vestibular Unidades 2018Documento28 páginasVestibular Unidades 2018Felipe M. Macconi0% (1)
- 303-Texto Do Artigo-622-1-10-20171230Documento11 páginas303-Texto Do Artigo-622-1-10-20171230ArthurLisboaAinda não há avaliações
- O Relativismo Não CéticoDocumento2 páginasO Relativismo Não CéticoArthurLisboaAinda não há avaliações
- Dis Joao Gilberto Engelmann Completo PDFDocumento149 páginasDis Joao Gilberto Engelmann Completo PDFArthurLisboaAinda não há avaliações
- André Lara Resende Escreve Sobre Razão e Superstição Do Déficit 1 PDFDocumento6 páginasAndré Lara Resende Escreve Sobre Razão e Superstição Do Déficit 1 PDFArthurLisboaAinda não há avaliações
- Dis Joao Gilberto Engelmann Completo PDFDocumento149 páginasDis Joao Gilberto Engelmann Completo PDFArthurLisboaAinda não há avaliações
- 32 63 1 SMDocumento4 páginas32 63 1 SMArthurLisboaAinda não há avaliações
- 2 Camilo OnodaDocumento25 páginas2 Camilo OnodaArthurLisboaAinda não há avaliações
- A interpretação de Salaquarda sobre o eterno retorno em Nietzsche e ZaratustraDocumento9 páginasA interpretação de Salaquarda sobre o eterno retorno em Nietzsche e ZaratustrarobertgtoledoAinda não há avaliações
- Linha Digitável: Número: ValorDocumento1 páginaLinha Digitável: Número: ValorJucimar OliveiraAinda não há avaliações
- O Céu Que Nos EnvolveDocumento78 páginasO Céu Que Nos EnvolveArthurLisboaAinda não há avaliações
- Heidegger Deus Está MortoDocumento56 páginasHeidegger Deus Está MortoDiogo BogéaAinda não há avaliações
- Devir CriançaDocumento18 páginasDevir CriançaJose Ravanelli RavanelliAinda não há avaliações
- RORTY A Filosofia e o Espelho Da Natureza PDFDocumento193 páginasRORTY A Filosofia e o Espelho Da Natureza PDFArthurLisboaAinda não há avaliações
- A Fortuna e Os Espacos de Animacao BoeciDocumento11 páginasA Fortuna e Os Espacos de Animacao BoeciArthurLisboaAinda não há avaliações
- Dez Li Ç Õ Es Sobre KelsenDocumento46 páginasDez Li Ç Õ Es Sobre KelsenArthurLisboaAinda não há avaliações
- MArle PontyDocumento96 páginasMArle Pontycristiano mignanelliAinda não há avaliações
- Kelsen PDFDocumento13 páginasKelsen PDFArthurLisboaAinda não há avaliações
- Os argumentos de Boécio sobre os UniversaisDocumento16 páginasOs argumentos de Boécio sobre os UniversaisDiogoAinda não há avaliações
- As Nuances Do Util Na Vida e Na Comunica PDFDocumento4 páginasAs Nuances Do Util Na Vida e Na Comunica PDFArthurLisboaAinda não há avaliações
- HESSEN, Johannes. Teoria Do ConhecimentoDocumento95 páginasHESSEN, Johannes. Teoria Do ConhecimentoArthurLisboaAinda não há avaliações
- ODocumento46 páginasOArthurLisboaAinda não há avaliações
- Rubens Rodrigues Torres Filho - O Espírito e A Letra PDFDocumento136 páginasRubens Rodrigues Torres Filho - O Espírito e A Letra PDFArthurLisboaAinda não há avaliações
- Vidas e Doutrinas Dos Filósofos Ilustres - Diógenes Laércio PDFDocumento354 páginasVidas e Doutrinas Dos Filósofos Ilustres - Diógenes Laércio PDFMateus Barradas100% (3)
- Educação Ambiental na formação de professores: revisão das pesquisas brasileirasDocumento163 páginasEducação Ambiental na formação de professores: revisão das pesquisas brasileirasLeonardo KaplanAinda não há avaliações
- Ensino da Língua Portuguesa: Metodologia e LinguísticaDocumento4 páginasEnsino da Língua Portuguesa: Metodologia e LinguísticaIrving FreitasAinda não há avaliações
- 5457-Texto Do Artigo-21664-1-10-20200415Documento22 páginas5457-Texto Do Artigo-21664-1-10-20200415Maria Luciana NóbregaAinda não há avaliações
- E Book Educacao Inclusao e ContemporaneidadeDocumento151 páginasE Book Educacao Inclusao e ContemporaneidadeevaristopraiaaAinda não há avaliações
- Comportamiento ProfecionalDocumento4 páginasComportamiento ProfecionalKarina Glp ZmbAinda não há avaliações
- Abordagem Sistêmica e ComunicaçãoDocumento66 páginasAbordagem Sistêmica e ComunicaçãoHueliton100% (2)
- Universidade na meia-idade: graduandas do curso de biblioteconomia da UFRGSDocumento185 páginasUniversidade na meia-idade: graduandas do curso de biblioteconomia da UFRGSosmar weyhAinda não há avaliações
- 2.5 Teste Seus Conhecimentos - Revisão Da TentativaDocumento62 páginas2.5 Teste Seus Conhecimentos - Revisão Da TentativaBruno GonçalvesAinda não há avaliações
- Monografia Karen Silva Pereira FinalDocumento36 páginasMonografia Karen Silva Pereira FinalGabrielli Ornellas SchrammAinda não há avaliações
- Historia Das Ciências e Ensino - Figueiroa Vissicaro AlvimDocumento11 páginasHistoria Das Ciências e Ensino - Figueiroa Vissicaro AlvimMarcia AlvimAinda não há avaliações
- Empresas no Mundo InstávelDocumento12 páginasEmpresas no Mundo InstávelTatiana Mari YamadaAinda não há avaliações
- A escuta sensível na etnopesquisa críticaDocumento18 páginasA escuta sensível na etnopesquisa críticaLucas Gesteira100% (1)
- Universidade Federal de Sergipe debate pesquisa educacionalDocumento27 páginasUniversidade Federal de Sergipe debate pesquisa educacionalMarcela SantosAinda não há avaliações
- 7 - Recuo Da Teoria - Dilemas Na Pesquisa em EducaçãoDocumento20 páginas7 - Recuo Da Teoria - Dilemas Na Pesquisa em EducaçãoVinícius Adriano de FreitasAinda não há avaliações
- Andre Batista Noronha MoreiraDocumento381 páginasAndre Batista Noronha MoreiraJoão PereiraAinda não há avaliações
- Filosofia e pensamento: origens, evolução e debatesDocumento7 páginasFilosofia e pensamento: origens, evolução e debatesVanucci EvaristoAinda não há avaliações
- Associativismo educacional: Ligas contra o analfabetismo em PE e SE (1916-1922Documento220 páginasAssociativismo educacional: Ligas contra o analfabetismo em PE e SE (1916-1922Ibson NunesAinda não há avaliações
- Habitus Elias e BourdieauDocumento8 páginasHabitus Elias e BourdieauManoel Cláudio RochaAinda não há avaliações
- Apostila Gpehm Jr. 2023.1Documento92 páginasApostila Gpehm Jr. 2023.1Felipe SantiagoAinda não há avaliações
- O Partido Comunista e a luta de classes no Livro Vermelho de Mao Tsé-tungDocumento93 páginasO Partido Comunista e a luta de classes no Livro Vermelho de Mao Tsé-tungGarrafa LacradasAinda não há avaliações
- Em Guarda Contra o Perigo Vermelho PDFDocumento315 páginasEm Guarda Contra o Perigo Vermelho PDFMatheus ChavesAinda não há avaliações
- NBR 7188 - 2013Documento2 páginasNBR 7188 - 2013Ramon MelloAinda não há avaliações
- ANGIONI, Lucas - Metafísica IV (Γ) e VI (Ε) (Tradução) PDFDocumento61 páginasANGIONI, Lucas - Metafísica IV (Γ) e VI (Ε) (Tradução) PDFDanielle Santiago da Silva VarelaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino FQ B1 SBC SemiaoDocumento2 páginasPlano de Ensino FQ B1 SBC SemiaoRafaela CardosoAinda não há avaliações
- Análise Do Texto Nascer No Cairo, Ser Fêmea de Cupim de Rubem BragaDocumento8 páginasAnálise Do Texto Nascer No Cairo, Ser Fêmea de Cupim de Rubem BragaMikeias santosAinda não há avaliações
- Textos 19 20 V PDFDocumento203 páginasTextos 19 20 V PDFCadjosse LtaAinda não há avaliações
- PO como ferramenta para tomada de decisãoDocumento7 páginasPO como ferramenta para tomada de decisãoNilva MartinsAinda não há avaliações
- Contos Fantásticos, Teófilo BragaDocumento191 páginasContos Fantásticos, Teófilo BragaFernanda De Sá MenesesAinda não há avaliações
- Aula 8 - Behaviorismo II.Documento34 páginasAula 8 - Behaviorismo II.LetíciaAinda não há avaliações
- Fundamentos em Estatistica 1Documento72 páginasFundamentos em Estatistica 1Gilberto Goulart SouzaAinda não há avaliações