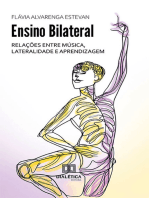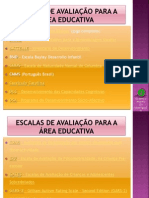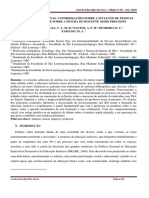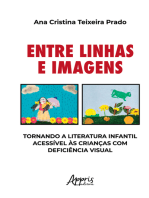Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Sindrome de Down, 2016
Enviado por
Carlos Charlotte SalvadorDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Sindrome de Down, 2016
Enviado por
Carlos Charlotte SalvadorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
www.psicologia.
pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
A SINDROME DE DOWN
2016
Charlotte Coelho
Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, UFP-FCHS, Porto (Portugal)
APEMAC, Macedo de Cavaleiros (Portugal)
E-mail de contato:
charlotte.coelho.psico@gmail.com
RESUMO
A Síndrome de Down (SD) corresponde a uma síndrome genética caracterizada por um erro
na distribuição dos cromossomos durante a divisão celular do embrião, revertendo na maior parte
dos casos, numa trissomia do cromossomo 21. A SD encontra relação com fatores como a idade
materna e a presença de alterações cromossómicas nos pais, entre as quais a própria SD. De uma
forma global, este quadro clínico traduz-se por atraso mental, morfologia típica, atrasos em
diversos planos do desenvolvimento e uma variedade de condições médicas associadas.
Atualmente, estima-se que a SD respeite uma proporção aproximada de 1:1000 nascimentos vivos
a nível mundial. A pluralidade e a importância das alterações clínicas associadas a este quadro
clínico, reverte em numerosas limitações para o indivíduo, afetando o seu desenvolvimento, o seu
funcionamento diário e a sua integração na sociedade. O diagnóstico e a intervenção precoces
constituem aspetos cruciais, devendo agregar uma perspectiva multidisciplinar e incluir programas
ajustados às características clínicas da SD e às particularidades individuais de expressão da SD.
Palavras-chave: Síndrome de Down (SD), síndrome genética, cromossoma 21,
características clínicas, condições médicas associadas, atraso mental, cognitivo, escolar.
Charlotte Coelho 1 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
INTRODUCÃO
A Síndrome de Down (SD) foi descrita em 1866 por John Langdon Down, um médico
pediatra inglês do Hospital John Hopkins em Londres. Seguindo a tendência da época, Down
relacionou na altura, de forma errónea, esta síndrome com aspetos étnicos designando-a
inadequadamente de idiotia mongolóide (Moreira, El-Hani & Gusmão, 2000). Após ter conhecido
outras denominações ao longo do tempo como imbecilidade mongolóide, cretinismo furfuráceo e
acromicria congênita, a denominação de Síndrome de Down foi oficialmente reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) a partir de 1965 (Silva & Dessen, 2002), depois de Jerôme
Lejeune, em 1959, ter descoberto a causa genética da SD contribuindo para o conhecimento
científico da doença (Martinho, 2011).
Segundo a OMS (2016), a prevalência mundial da SD concerna uma proporção estimada de
1:1000 nascimentos vivos. Diversas fontes científicas relacionam a incidência da SD com o
aumento da idade materna (após os 35 anos) (OMS, 2016; Bull & Committee on Genetics, 2011),
discriminando taxas de 1:100 entre 40 e 44 anos e de 1:50 depois dos 45 anos de idade (Jones,
1997, citado por Alao et al., 2010), apontando ainda uma relação com o fator da ausência/existência
prévia de filhos com SD.
ETIOLOGIA DA SD
A SD corresponde a uma entidade clínica de origem genética, caracterizada por um erro na
distribuição dos cromossomos das células durante a divisão celular do embrião, ilustrada na maior
parte dos casos pela presença de três cópias no cromossomo 21, em vez de duas (Bull & Committee
on Genetics, 2011). O diagnóstico laboratorial da SD pode ser efetuado através de uma análise
genética (por exemplo cariótipo). A alteração genética na SD presente desde o desenvolvimento
intra-uterino do feto pode ocorrer de três formas: trissomia 21 simples, translocação cromossómica
ou mosaicismo (Silva & Kleinhans, 2006).
A trissomia 21 simples é causada por uma não disjunção cromossómica, geralmente de
origem meiótica, respeitando cerca de 95% dos casos de SD. De ocorrência casual, este tipo de
alteração genética caracteriza-se pela presença de um cromossomo 21 extra, numa configuração
Charlotte Coelho 2 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
de tricópia (cf. Figura 1.) com a seguinte descrição de cariótipo: 47,XX+21 (sexo feminino) e
47,XY+21 (sexo masculino) (Bull & Committee on Genetics, 2011; Kozma, 2007).
Figura 1.
Cariótipo de um indivíduo com SD com trissomia 21 simples
Fonte: Ministério da Saúde, 2012, p. 20.
A SD por translocação cromossómica (ou translocação Robertsoniana) ocorre geralmente
devido a rearranjos cromossómicos com ganho de material genético, respeitando entre 3% a 4%
dos casos de SD, podendo ser de ocorrência casual ou ser herdada de um dos pais. Neste caso, o
cariótipo identifica a trissomia do cromossomo 21 não na qualidade de cromossomo livre, mas sim
de cromossomo translocado com outro cromossomo (frequentemente envolvendo o cromossomo
21 e o cromossomo 14) (cf. Figura 2.). Assim, a descrição de cariótipo corresponde à seguinte
configuração: 46, XX,t(14;21)(14q21q) no sexo feminino e a 46,XY,t(14;21)(14q21q) no sexo
masculino (Bull & Committee on Genetics, 2011; Kozma, 2007).
Charlotte Coelho 3 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
Figura 2.
Cariótipo de um indivíduo com SD por translocação cromossómica
Fonte: Kozma, 2007, p.23.
O terceiro tipo de alteração genética associado com a SD corresponde ao mosaicismo, a causa
mais rara de SD entre os três tipos, respeitando entre 1% a 2% dos casos. A sua ocorrência é casual
e o zigoto começa a dividir-se normalmente, produzindo-se o erro de distribuição dos cromossomas
na 2ª ou 3ª divisões celulares. O mosaicismo na SD caracteriza-se por conseguinte pela presença
de duas linhagens celulares, uma normal com 46 cromossomos e outra trissómica com 47
cromossomos (cf. Figura 3.), sendo o cromossomo 21 extra livre (Bull & Committee on Genetics,
2011; Martinho, 2011; Kozma, 2007).
Figura 3.
Esquema de representação de mosaicismo
Fonte: Kozma, 2007, p.25.
Charlotte Coelho 4 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
Atualmente, a maior parte dos exames específicos que permitem detetar a SD durante a
gravidez só são recomendados mediante determinados aspetos tais como a idade materna superior
a 35 anos e pais ou filho existente com SD ou outras alterações cromossómicas (Martinho, 2011).
O American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, EUA) recomenda que todas as
grávidas, independentemente da idade, tenham a oportunidade de efetuar um teste de
rastreio/diagnóstico da SD. Os métodos de triagem habitualmente utilizados no diagnóstico da SD
correspondem aos seguintes: testes sanguíneos, biópsia de velosidades coriónicas, coléta tríplice,
cordocentese, ultrassonografia 3D e amniocentese (OMS, 2016; Ganache et al., 2008). A
amniocentese representa um método de diagnóstico precoce da SD, realizado antes do nascimento
da criança, correspondendo à recolha de líquido amniótico entre a décima quarta e a décima sexta
semana de gravidez, visando um rastreio serológico e a eventual deteção de anomalias
cromossómicas (Martinho, 2011).
CARACTERISTICAS CLINICAS ASSOCIADAS À SD
A SD agrega uma multiplicidade de características clínicas, embora exista variabilidade
fenotípica entre os indivíduos. Ē importante referir que nem todas as características clínicas
associadas à SD necessitam estar presentes para a realização do diagnóstico, assim como a presença
isolada de uma dessas características não confirma o diagnóstico, constituindo por conseguinte o
diagnóstico de SD, um diagnóstico clínico (OMS, 2016; Bull & Committee on Genetics, 2011;
Silva & Dessen, 2002). O reconhecimento oficial das características clínicas associadas à SD
podem orientar o profissional para o diagnóstico da SD (OMS, 2016; Bull & Committee on
Genetics, 2011; Silva & Dessen, 2002). Entre estas características, são verificadas com maior
frequência o atraso mental, a hipotonia muscular generalizada e a dismorfia facial (Alao et al.,
2010).
A nível físico, os pacientes com SD apresentam características morfológicas típicas como a
baixa estatura. No plano da face, os olhos são pequenos e oblíquos, com epicanto, podendo ser
ainda caracterizados por sinófris superior. O nariz é pequeno e achatado e a boca apresenta
habitualmente palato alto, hipodontia, protusão e hipotonia lingual. A cabeça ostenta braquicefalia,
pequeno diâmetro fronto-occipital, cabelo fino, liso e de baixa implantação. As orelhas são com
frequência pequenas, irregulares e de baixa implantação. O pescoço é curto e exibe um excesso de
Charlotte Coelho 5 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
tecido dérmico e adiposo. As mãos são caracterizadas por hipotonia muscular, prega palmar única,
clinodactilia e uma distância entre primeiro e o segundo dedo do pé (OMS, 2016; Bull &
Committee on Genetics, 2011; Alao et al., 2010; Choi, 2008; Silva & Dessen, 2002). A prevalência
de sobrepeso ou obesidade é maior nesta população comparada à população em geral (Silva,
Santos, & Martins, 2006, citado por Freire, Costa & Gorla, 2014). A obesidade é particularmente
observada durante a adolescência e o início da idade adulta (OMS, 2016). Após o nascimento,
dificuldades na alimentação podem ocorrer devido ao baixo tónus muscular e à língua protuberante.
Todavia, com o avançar da idade, verifica-se um aumento da ingestão alimentar, que justifica uma
monitorização da dieta e a prática de exercício físico (Gaspar, 2013).
Os indivíduos com SD podem ainda apresentar múltiplas condições médicas associadas.
Entre estas condições prevalecem os problemas de visão e de audição, a apneia do sono obstrutiva
e as cardiopatias congénitas (cf. Quadro 1.).
Quadro 1.
Condições médicas associadas à SD
Condição Prevalência (%)
Problemas de visão 80-60
Problemas de audição 60-75
Cataratas 15
Ametropia 50
Apneia do sono obstrutiva 50–75
Otite 50–70
Cardiopatia congénita 40–50
Hipodontia e atrasos da erupção dentária 23
Artresias gastrointestinais 12
Doenças da tiróide 4–18
Convulsões 1–13
Problemas hematológicos
Anemia 3
Carência de ferro 10
Síndrome mieloproliferativa transitória 10
Leucemia 1
Doenca celíaca 5
Instabilidade atlantoaxial 1-2
Autismo 1
Doença de Hirschsprung <1
Fonte: OMS, 2016; Bull & Committee on Genetics, 2011.
O prognóstico da SD é variável em função das possíveis complicações, como os problemas
cardíacos, a susceptibilidade para infecções e o eventual desenvolvimento de leucemia.
Atualmente, concebe-se que a esperança de vida mínima dos pacientes adultos com SD encontra-
Charlotte Coelho 6 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
se nos 50 anos de idade (OMS, 2016). As cardiopatias constituem um fator determinante na
sobrevivência destes pacientes, que podem viver até aos 60 anos na ausência da mesma (Gaspar,
2013). Existe um consenso atual entre a comunidade científica de que não existem graus na SD e
que as diferenças de desenvolvimento decorrem das características individuais relacionadas com
diversos fatores como a herança genética, a estimulação, a educação, o meio ambiente, os
problemas clínicos, entre outros (Silva & Kleinhans, 2006).
O risco de ocorrência de otite média e de perda de audição é importante. Do ponto de vista
infeccioso, os portadores de SD apresentam uma maior susceptibilidade para infeções respiratórias
e um risco elevado para doença invasiva pneumocócica. A bactéria streptococcus pneumoniae
pode propiciar o surgimento de um largo espetro de doenças, como otite média aguda, pneumonia,
meningite e/ou sépsis (Gaspar, 2013). Os indivíduos com SD apresentam ainda geralmente
malformações musculares que afetam a função pulmonar, fomentando obstruções das vias aéreas
superiores, doenças das vias respiratórias inferiores, hipertensão pulmonar e hipoplasia pulmonar.
A hipotonia muscular na fisiologia respiratória pode propiciar uma diminuição do potencial
bronco-espástico, associado ao epitélio ciliado cilíndrico, favorecendo a acumulação de secreções
e a possível proliferação de bactérias (Soares, Barboza & Croti, 2004 citado por Schuster, Rosa &
Ferreira, 2012). O estudo comparativo de Romano (2007, citado por Schuster, Rosa & Ferreira,
2012), centrado na avaliação respiratória de 33 indivíduos portadores de SD e de 33 indivíduos
saudáveis, constatou uma diminuição em 50% da força muscular respiratória nos indivíduos com
SD em comparação com o grupo de controlo.
As crianças com SD são geralmente muito sonolentas. Logo após o nascimento, estes bébes
ostentam dificuldades para a sucção e a deglutição, assim como um atraso no desenvolvimento de
alguns reflexos, com um comprometimento na postura de semiflexão dos quadris (Silva & Dessen,
2002). A apneia obstrutiva do sono respeita entre 50% a 75% dos casos de SD, podendo propiciar
aspetos como ressonar, pausas na respiração, posturas anómalas durante o sono, sonolência diurna,
irritabilidade e fadiga (Gaspar, 2013).
CARACTERISTICAS PSICOLÓGICAS ASSOCIADAS À SD
A SD representa a causa mais comum de atraso mental (Ribeiro, Barbosa & Porto, 2011;
Silva & Kleinhans, 2006). O quociente intelectual (QI), determinado através da administração de
uma prova de inteligência estandardizada, pode variar entre os graus leve (QI entre 50 e 70),
Charlotte Coelho 7 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
moderado (QI entre 35 e 50) e severo (QI entre 20 e 35) (Bull & Committee on Genetics, 2011),
situando-se a maior parte dos casos nos graus leve e moderado (Kozma, 2007). Os indivíduos com
SD apresentam um atraso no desenvolvimento neuropsicológico, com uma predominância de
défices motores na primeira infância e de défices cognitivos na idade escolar (Schwartzman 2003;
Rosenbaum et al., 2006, citado por Ribeiro, Barbosa & Porto, 2011).
A epilepsia e doença de Alzheimer ocorrem com maior frequência em portadores de SD do
que na população em geral. As alterações do comportamento, sintomas característicos do autismo
assim como manifestações clínicas relacionadas com hiperatividade com défice de atenção também
são comuns (Gaspar, 2013; Nussbaum, 2002, citado por Siqueira, 2006).
A literatura indica a presença de dificuldades no processo de transmissão de alguns circuitos
neuronais (Silva & Kleinhans, 2006), fomentando a nível cognitivo, problemas de atenção, tempos
de reação mais elevado, problemas no processamento auditivo-vocal e na memória a curto e a
médio prazo, dificuldades nos processos de correlação, análise, cálculo e pensamento abstrato,
limitações na discriminação perceptiva, na capacidade de generalização e na simbolização
(Martinho, 2011; Barata & Branco, 2010).
A criança com SD pode ter dificuldades para fixar o olhar devido à lentidão e à hipotonia
muscular. As dificuldades auditivas podem levar a criança a não ouvir e a preferir meios de
comunicação visuais e concretos. Os problemas na memória auditiva podem interferir com o
tratamento sequencial da informação. Além disso, atendendo às numerosas características clínicas
associadas, as crianças com SD apresentam mais fadiga (Troncoso & Cerro, 1999, citado por Silva
& Kleinhans, 2006). Devido às particularidades morfológicas do quadro clínico, as pessoas com
SD podem apresentar problemas de motricidade, relacionadas com aspetos como a anatomia da
mão (dedos curtos, implantação baixa do polegar e ausência da última falange do dedo mindinho),
hipotonia muscular e lassidão nos ligamentos que afetam a força e a forma como manuseam os
instrumentos de trabalho (Martinho, 2011). O plano do funcionamento executivo pode ostentar
dificuldades. Se por um lado nestes pacientes não são verificadas dificuldades na execução de
atividades conhecidas e rotineiras (mesmo longas), por outro lado, podem ser observadas
dificuldades na execução de atividades novas, que requiram as diversas funções executivas como
por exemplo a flexibilidade e o planeamento (Flórez & Troncoso 1997, citado por Silva &
Kleinhans, 2006).
A linguagem corresponde a um domínio de desenvolvimento bastante comprometido e
heterogéneo nas crianças com SD (Lamônica & Ferreira-Vasques, 2015), como constataram
Charlotte Coelho 8 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
diversas investigações (Zampini, Salvi & D’Odorico 2015; Polišenská & Kapalková, 2014; Jarrold,
Thorn & Stephens, 2009, citado por Lamônica & Ferreira-Vasques, 2015). Alguns destes estudos
observaram que portadores de SD apresentam pior desempenho em tarefas de consciência
fonológica em comparação com os pares com desenvolvimento típico, emparelhados por nível de
escrita ou leitura (Barby & Guimarães, 2013). Lamônica e Ferreira-Vasques (2015) no seu estudo
comparativo incluindo crianças com SD (n=10) e crianças com desenvolvimento típico (n=10),
com idades entre os 36 e os 62 meses (M=41), emparelhados quanto ao género, à idade cronológica,
ao grau de escolaridade e ao nível socioeconómico, permitiu verificar que o desempenho
expressivo das crianças com SD era inferior ao grupo de controlo nos seguintes aspectos
específicos: produção de palavras e frases, narrativa, tempo de atenção e nomeação de figuras.
Todavia, as crianças com SD demonstraram habilidades comunicativas relevantes, principalmente
no uso da comunicação não verbal (Lamônica & Ferreira-Vasques, 2015).
Diversas alterações morfológicas associadas à SD podem fomentar alterações
fonoarticulatórias, motivando problemas de execução motora e comprometendo a produção
fonatória, a respiração, a articulação e a prosódia. A qualidade vocal dos indivíduos com SD é com
frequência mais baixa e marcada por instabilidade (relacionada com a hipotonia muscular),
comprometendo a inteligibilidade da mensagem emitida (Barata & Branco, 2010). Por outro lado,
os défices sensoriais, principalmente auditivos, influenciam as capacidades de comunicação. As
anomalias otológicas relacionadas com malformações dos ossículos da orelha média, bem como
as diferenças nas estruturas do tronco cerebral, também podem afetar a transmissão do estímulo
auditivo ao longo do trajeto do VIII par do nervo craniano. Os défices auditivos podem
comprometer de forma significativa a automonitoração fonoarticulatória e prosódica, tendo em
conta que é através do feedback auditivo que a criança regula a qualidade da articulação,
compreende o som, corrige a fala, a escrita e a leitura (Bishop & Mogford, 2002, citado por Barata
& Branco, 2010). A atenção auditiva parece melhor nas primeiras fases da vida na criança com
SD. As dificuldades ao nível da percepção e da discriminação auditiva podem levar a criança a não
ouvir e a não prestar atenção às instruções verbais, preferindo instruções visuais (Troncoso &
Cerro, 1999, por Silva & Kleinhans, 2006).
O atraso mental em conjunto com outros atrasos no desenvolvimento podem fomentar
lacunas ao nível da aprendizagem escolar, nomeadamente através dos planos motor, cognitivo,
linguístico e social (Lamônica & Ferreira-Vasques, 2015). No contexto escolar, os défices na
comunicação vão naturalmente interferir com a capacidade de compreensão da criança dos
Charlotte Coelho 9 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
enunciados e com a qualidade troca de informações com os seus interlocutores, condicionando o
seu processo de aprendizagem e o seu desenvolvimento global (Lamônica & Ferreira-Vasques,
2015). Estas crianças aprendem mais lentamente e têm dificuldades relacionadas como o raciocínio
complexo e o juízo crítico (Kozma, 2007).
Nestes pacientes, a idade mental evolui de forma lenta em relação à idade cronológica. O
plano comportamental pode ser caracterizado por diversas dificuldades. Um estudo comparativo
de Cuskelly e Dadds (1992) junto de crianças com SD e respectivos irmãos, verificou que as
crianças com SD tendem a apresentar mais problemas de comportamento, como por exemplo
chamadas de atenção e imaturidade. O estudo ministrado por Carr (1994, citado por Silva &
Dessen, 2002) verificou que os indivíduos com SD tendem a eleger atividades em ambiente
doméstico (por exemplo, ver televisão, ouvir música, desenhar, colorir e ver livros) em comparação
com atividades menos sedentárias como atividades desportivas. O mesmo estudo concluiu que a
maioria dos pais caracterizava os seus filhos como amáveis, afetuosos e atenciosos.
Em contexto escolar, o aluno com SD carece com frequência de comportamentos de
participação ativa nas atividades pedagógicas quando não estimulado neste sentido. Os momentos
de estimulação precoce das habilidades motoras em crianças em idade escolar pode fomentar a
aquisição de progressos na aprendizagem, melhorando por conseguinte o seu desempenho escolar
e social (Anunciação, Costa & Denari, 2015). O estudo de Brito et al. (2009, citado por
Anunciação, Costa & Denari, 2015) com 20 crianças com SD, centrado na avaliação do perfil
cinestésico-corporal e no estabelecimento de parâmetros cognitivo-motores para fundamentar
práticas heterogéneas pedagógicas de ensino e de avaliação voltadas para a inclusão social de
crianças com necessidades educacionais especiais, constatou que as crianças com SD apresentaram
dificuldades na relização de tarefas de coordenação motora fina. Outra conclusão assentou na
relação da hipotonia com o défice de coordenação motora fina, limitando o sucesso em atividades
escolares, justificando portanto, o estabelecimento de uma avaliação individual para determinar o
perfil singular e planear uma intervenção pedagógica eficaz e adaptada quer às caracaterísticas
patentes à SD, quer às particularidades individuais da criança em idade escolar (Brito et al., 2009,
citado por Anunciação, Costa & Denari, 2015).
As dificuldades cognitivas nas crianças com SD justificam abordagens que privilegiem vias
concretas e objetivas de informação, apoiadas em suportes visuais e tácteis, visando uma maior
eficácia da aprendizagem (Martinho, 2011). A hipotonia fomenta um atraso na aquisição das
habilidades motoras, apelando à exigência de programas de estimulação com atividades lúdicas e
Charlotte Coelho 10 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
atrativas para a criança, que aumentem a sua motivação e potencializem o seu desenvolvimento
psicomotor (Serés et al., 2011, citado por Anunciação, Costa & Denari, 2015). A escolarização do
aluno com SD deve ainda trabalhar no sentido da promoção da socialização em ambiente escolar.
A investigação conduzida por Anunciação, Costa e Denari (2015) permitiu verificar que as
atividades lúdicas em contexto escolar constituiam momentos de crescimento individual e coletivo
de todo o grupo de alunos, incluindo os alunos com SD. O ambiente lúdico revelou-se estimulador
fomentando progressos satisfatórios do desenvolvimento psicomotor do aluno com SD
(Anunciação, Costa & Denari, 2015).
O educador deve adaptar a sua abordagem às variáveis clínicas e individuais da criança,
apelando à sua prática, criatividade, imaginação, persistência e paciência. A escolha de uma
metodologia padrão comum e igual para todos os alunos, pode condenar a intervenção junto do
aluno com SD ao fracasso (Martinho, 2011). Neste sentido, a motivação é fundamental na
abordagem escolar junto do aluno com SD, de modo a que a criança consiga experienciar as
aprendizagens de uma forma prazerosa a agradável, tomando o sucesso na qualidade de reforço
positivo para que o aluno seja voluntário no seu processo de aprendizagem, promovendo assim o
seu desenvolvimento.
O prognóstico do desenvolvimento cognitivo é variável e depende em boa parte da
precocidade da intervenção, que deve ser multidisciplinar e coerente, assim como da interação
entre a família e os diversos profissionais intervindo com a criança (Gaspar, 2013). A família detém
um papel importante no processo de estimulação e de desenvolvimento da criança com SD. A
literatura remete para diferenças significativas no desenvolvimento destes pacientes em função da
educação e do ambiente envolvente desde os primeiros anos de vida. As condições ambientais e
familiares encontram-se relacionadas com o desenvolvimento global do indivíduo, podendo
favorecer o plano neuropsicológico do indivíduo (Ferrari et al, 2001, citado por Silva & Kleinhans,
2006). Segundo um estudo de Niccols, Atkinson e Pepler (2003, citado por Silva & Kleinhans,
2006), relacionando a motivação e a competência em crianças com SD em idade escolar, as
competências de resolução de problemas quotidianos eram maiores quando o ambiente familiar e
escolar proporcionava uma estimulação adequada às particularidades do funcionamento cognitivo
individual.
O aconselhamento genético é importante, aumentando a compreensão e o conhecimento da
família acerca da SD. As famílias que não conhecem a SD ficam apreensivas em relação a este
quadro clínico que não raramente desconhecem, justificando um aconselhamento e
Charlotte Coelho 11 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
acompanhamento profissional (Folly & Rodrigues, 2010). O acompanhamento psicológico da
família é essencial. Muitas mães recebem sozinhas a notícia (Sunelaitis, Arruda & Marcom, 2007,
citado por Folly & Rodrigues, 2010). Não sendo detetada em alguns casos no período pré-natal, a
notícia deste diagnóstico pode causar grande impacto, com repercussões psicológicas (como por
exemplo, sentimentos de negação, culpa e medo). A Psicologia pode contribuir na comunicação
do diagnóstico aos pais, numa perspectiva de auxílio de gestão e no minimizar do impacto, na
medida em que o processo de adaptação referente ao luto do filho idealizado para a aceitação do
filho real representa um processo longo e potencialmente difícil para os pais. A abordagem
terapêutica do psicólogo devrerá basear-se numa base clara e real de transmissão das informações
sobre a SD, com respeito, sem iludir ou omitir possíveis dados relevantes sobre o prognóstico da
criança. Cada família tem uma história de vida única. Assim, é importante que o profissional de
Psicologia considere os seus medos, as suas dúvidas e as suas necessidades, salientando as suas
forças e potencialidades, reconhecendo as suas fragilidades e necessidades, assim como ainda,
ressalvando o seu importante papel no processo de desenvolvimento da criança. Da mesma forma,
é importante proprocionar aos pais informações acerca dos recursos disponíveis na comunidade e
as possíveis fontes de apoio (Folly & Rodrigues, 2010).
CONCLUSÃO
Os diversos recursos proporcionados pelas ciências médicas têm permitido uma diminuição
da taxa de mortalidade entre os pacientes com SD, intervindo precocemente na minimização dos
riscos das complicações clínicas associadas a este quadro clínico. O prognóstico do paciente com
SD depende em grande parte da intervenção precoce multidisciplinar e da estimulação
proporcionada pelo meio ambiente, que oriente o indivíduo no seu desenvolvimento em rumo ao
aumento da sua autonomia.
A estimulação e a educação requerem paciência, dedicação e firmeza junto destes pacientes,
exigindo dos profissionais um bom conhecimento do quadro clínico. O acompanhamento clínico
multidisciplinar deve incluir a família do portador com SD, de forma a maximizar e a generalizar
as aprendizagens e as técnicas de estimulação, numa perspectiva de uma abordagem coerente e
ajustada.
Charlotte Coelho 12 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alao, M.J., Sagbo, G.G., Laleye, A. & Ayivi, B. (2010). Aspects Épidémiologiques, Cliniques et
Cytogénétiques du Syndrome de Down au Service de Pediatrie et Génétique Médicale du
Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou, Bénin : À Propos de 20 Cas. Clinics
in Mother and Child Health. 7, 1-6.
Anunciação, M.R., Costa, M.P.R. & Denari, F.E. (2015). Educação Infantil e Práticas Pedagógicas
para o Aluno com Síndrome de Down: o Enfoque no Desenvolvimento Motor. Revista
Brasileira de Educação Especial. 21(2), 229-244.
Barata, L.F. & Branco, A. (2010). Os distúrbios fonoarticulatórios na Síndrome de Down e a
intervenção precoce. Revista CEFAC. 12(1), 134-139.
Barby, A.A.M. & Guimarães, S.R.K. (2013). Consciência fonológica e aprendizagem da
linguagem escrita em crianças com Síndrome de Down nas pesquisas brasilerias. Revista
Educação Especial. 26(46), 293-306.
Bull, M.J. & Committee on Genetics (2011). Clinical Report—Health Supervision for Children
With Down Syndrome. Pediatrics. 128(2), 393-406.
Choi, J.K. (2008). Hematopoietic Disorders in Down Syndrome. International Jornal of Clinical
Experiments of Pathology. 1, 387-395.
Folly, D.S.G. & Rodrigues, M.R.F. (2010). O fazer do psicólogo e a Síndrome de Down: uma
revisão de literatura. Psicologia da Educação. 30(1), 9-23.
Freire, F., Costa, L.T. & Gorla, J.I. (2014). Indicadores de obesidade em jovens com Síndrome de
Down. Motricidade. 10(2), 2-10.
Ganache, I., Bélanger, S., Fortin, J-S. & Langavant, G.C. (2008). Les enjeux éthiques soulevés par
le dépistage prénatal du Syndrome de Down, ou trisomie 21, au Québec. Commissaire à la
Santé et au Bien-être, Mai, Québec.
Gaspar, L. (2013). Trissomia 21 – O ponto de vista do médico. Faro: Apatris 21.
Kozma, C. (2007). O que é a síndrome de Down?. In: Stray-Gundersen K. Crianças com síndrome
de Down: guia para pais e educadores. (pp.16-17;28-32). 2ª ed. Porto Alegre: Artmed.
Charlotte Coelho 13 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 13.03.2016
Lamônica, D.A.C. & Ferreira-Vasques, A.T. (2015). Habilidades Comunicativas e Lexicais de
Crianças com Síndrome de Down: reflexões para inclusão escolar. Revista CEFAC. 17(5),
1475-1482.
Martinho, L.S.T. (2011). Comunicação e Linguagem na Síndrome de Down. Dissertação de
Mestrado. Escola Superior de Educação Almeida Garret, Lisboa.
Ministério da Saúde. (2012). Diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down. Brasília: DF.
Moreira, L.M.A., El-Hani, C. & Gusmão, F.A.F. (2000). A síndrome de Down e sua patogênese:
considerações sobre o determinismo genético. Revista Brasileira de Psiquiatria. 22(2), 96-
99.
Ribeiro, M.F.M., Barbosa, M.A. & Porto, C.C. (2011). Paralisia cerebral e síndrome de Down:
nível de conhecimento e informação dos pais. Ciência & Saúde Coletiva. 16(4), 2099-2106.
Schuster, R.C., Rosa, L.R. & Ferreira, D.G. (2012). Efeitos do Treinamento Muscular Respiratório
em Pacientes Portadores de Síndrome de Down: Estudo de Casos. Revista de Fisioterapia e
Saûúde Funcional. 1(1), 52-57.
Silva, M.F.M.C. & Kleinhans, A.C.S. (2006). Processos Cognitivos e Plasticidade Cerebral na
Síndrome de Down. Revista Brasileira de Educação Especial. 12(1), 123-138.
Silva, N.L.P. & Dessen, M.A. (2002). Síndrome de Down: etiologia, caracterização e impacto na
família. Interação em Psicologia. 6(2), 167-176.
Siqueira, V. (2006). Síndrome de Down: translocação robertsoniana. Saúde & Ambiente em
Revista. (1)1, 123-29.
Charlotte Coelho 14 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
Você também pode gostar
- TCC para CasaisDocumento29 páginasTCC para CasaisFrancisco Guedes Filho89% (9)
- Teste Do Desenho Família (Louis Corman) + AnexoDocumento15 páginasTeste Do Desenho Família (Louis Corman) + AnexoNathalie Ferraz Marques94% (18)
- EdahDocumento1 páginaEdahgulittAinda não há avaliações
- PSICOTRAUMATOLOGIADocumento188 páginasPSICOTRAUMATOLOGIAvanessa walters100% (5)
- TCC NeuropsicologiaDocumento16 páginasTCC NeuropsicologiaElizabeth KehlAinda não há avaliações
- Ensino Bilateral: relações entre música, lateralidade e aprendizagemNo EverandEnsino Bilateral: relações entre música, lateralidade e aprendizagemAinda não há avaliações
- ConnersDocumento4 páginasConnersCarlos Charlotte Salvador100% (3)
- A Solução Do Autismo Está Na Primeira InfânciaDocumento15 páginasA Solução Do Autismo Está Na Primeira InfânciaLeandro RaferAinda não há avaliações
- As Funções Executivas na PHDADocumento54 páginasAs Funções Executivas na PHDACarolina SantosAinda não há avaliações
- MoCA Instructions PortugueseDocumento8 páginasMoCA Instructions Portuguesef_helderAinda não há avaliações
- Funcionamento Familiar, Rejeição Paterna e Comportamentos Autolesivos na AdolescênciaDocumento62 páginasFuncionamento Familiar, Rejeição Paterna e Comportamentos Autolesivos na Adolescênciaivy_intheryeAinda não há avaliações
- Manual para Sindrome de AspergerDocumento64 páginasManual para Sindrome de AspergerLetícia S. de Lima100% (1)
- Saude Mental Na Terceira Idade e PossivelDocumento22 páginasSaude Mental Na Terceira Idade e PossivelNadia SantosAinda não há avaliações
- Tarot e o Amor Vida Amorosa e Conselhos No Amor Personare 2Documento1 páginaTarot e o Amor Vida Amorosa e Conselhos No Amor Personare 2Daniel100% (1)
- Como Cantar para CriançasDocumento4 páginasComo Cantar para CriançasDenis RodriguesAinda não há avaliações
- Plasticidade Cerebral e Poda Neural: Compreenda A Conexão Com o TeaDocumento4 páginasPlasticidade Cerebral e Poda Neural: Compreenda A Conexão Com o TeaJulia HeradãoAinda não há avaliações
- DDC Desenvolvimento Das Capacidades Cognitivas 3 PDFDocumento90 páginasDDC Desenvolvimento Das Capacidades Cognitivas 3 PDFCris SanchesAinda não há avaliações
- Psicologia Vocacional (2008)Documento189 páginasPsicologia Vocacional (2008)Leonardo Nhanzimo100% (1)
- Portugues Separação de SílabasDocumento18 páginasPortugues Separação de SílabasSuelen SantosAinda não há avaliações
- Unidades AutismoDocumento41 páginasUnidades AutismoMaria Joaquina Pereira de Carvalho100% (2)
- EBOOK - Tecendo Reflexoes Sobre Criancas Infancias e Educacao InfantilDocumento220 páginasEBOOK - Tecendo Reflexoes Sobre Criancas Infancias e Educacao InfantilMichele Cristina LopesAinda não há avaliações
- 02 - Grafologia Comparativa de Grafia JanevechiDocumento81 páginas02 - Grafologia Comparativa de Grafia JanevechiMario MaluAinda não há avaliações
- Terapia de Aceitação e CompromissoDocumento24 páginasTerapia de Aceitação e CompromissoanafrancaAinda não há avaliações
- Resumo da tendência pedagógica liberal de LibâneoDocumento8 páginasResumo da tendência pedagógica liberal de LibâneoSilvia Carvalho100% (1)
- Desenvolvimento Motor Humano Nas Segunda E Na Terceira InfânciaNo EverandDesenvolvimento Motor Humano Nas Segunda E Na Terceira InfânciaAinda não há avaliações
- Mini Mental State ExaminationDocumento2 páginasMini Mental State ExaminationAna Catarina SimõesAinda não há avaliações
- Mini Mental State ExaminationDocumento2 páginasMini Mental State ExaminationAna Catarina SimõesAinda não há avaliações
- Relações e desenvolvimento infantilDocumento7 páginasRelações e desenvolvimento infantilThaís CruzAinda não há avaliações
- Autismo: abordagens psicoeducacionaisDocumento7 páginasAutismo: abordagens psicoeducacionaisFSMAHAAinda não há avaliações
- Estimulacao Precoce NEEDocumento24 páginasEstimulacao Precoce NEEnoemio correiaAinda não há avaliações
- Planos Individuais TransiçãoDocumento46 páginasPlanos Individuais TransiçãoSaraAntunes100% (1)
- Ficha de Diagnóstico Do I CicloDocumento2 páginasFicha de Diagnóstico Do I CicloJosete Cristina AridiAinda não há avaliações
- Os complexos familiares na formação do indivíduoDocumento10 páginasOs complexos familiares na formação do indivíduoGustavo SoaresAinda não há avaliações
- Teste de Aptidões EspecíficasDocumento3 páginasTeste de Aptidões EspecíficasFelix BilaAinda não há avaliações
- As Principais Faltas Cometidas Pelos Candidatos Nos Exames de Direção Podem Ser EnumeradasDocumento7 páginasAs Principais Faltas Cometidas Pelos Candidatos Nos Exames de Direção Podem Ser EnumeradasLaila LoubackAinda não há avaliações
- Monografia Versão Final (SHIRO)Documento107 páginasMonografia Versão Final (SHIRO)Anthony OshiroAinda não há avaliações
- Sexualidade Na AdolescênciaDocumento181 páginasSexualidade Na AdolescênciaNathalia PompeuAinda não há avaliações
- Registo de Avaliação 5 ANOSDocumento4 páginasRegisto de Avaliação 5 ANOSAna Santos100% (1)
- Dolz - Generos Orais e Escritos - Aula de 06-03-10Documento39 páginasDolz - Generos Orais e Escritos - Aula de 06-03-10Ellen Costa100% (1)
- Gabaritos 2º Ano Bloco VDocumento14 páginasGabaritos 2º Ano Bloco VETI LUIZ RODRIGUES ETIAinda não há avaliações
- Propriedades Psicometricas Da Figura Com PDFDocumento41 páginasPropriedades Psicometricas Da Figura Com PDFCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- 1-Como Manter-Se Ligado A DeusDocumento4 páginas1-Como Manter-Se Ligado A DeusGianluca CatignaniAinda não há avaliações
- Educação Montessori emDocumento6 páginasEducação Montessori emPriscila LopesAinda não há avaliações
- Epidemiologia do autismo em Portugal: estudo de prevalência e caracterizaçãoDocumento259 páginasEpidemiologia do autismo em Portugal: estudo de prevalência e caracterizaçãoAna Cristina Ventura100% (1)
- Musicoterapia e A Síndrome de DownDocumento73 páginasMusicoterapia e A Síndrome de DownKleiton MendesAinda não há avaliações
- Filosofia Brasileira ContemporaneaDocumento201 páginasFilosofia Brasileira ContemporaneaSebáh-1959Ainda não há avaliações
- Especial Autismo - Asperger, Um Dos Nomes Dos Autismos - Revista Psicologia, N. 033Documento7 páginasEspecial Autismo - Asperger, Um Dos Nomes Dos Autismos - Revista Psicologia, N. 033Bruna CarolineAinda não há avaliações
- Preschool and Kindergarten Behavior Scales - Second Edition (PKBS-2)Documento11 páginasPreschool and Kindergarten Behavior Scales - Second Edition (PKBS-2)Wesley Esdras Santiago100% (1)
- Apostila de Informática - ALEPE 2014 - PDF PDFDocumento46 páginasApostila de Informática - ALEPE 2014 - PDF PDFJoaoAinda não há avaliações
- Síndrome de AngelmanDocumento17 páginasSíndrome de AngelmanLuisAinda não há avaliações
- Lev S. Vigotski - Manuscrito de 1929Documento24 páginasLev S. Vigotski - Manuscrito de 1929Diegoy KimieAinda não há avaliações
- Promover-A-Literacia-Vol-I-4-A-6-Anos-Consciência Fonolólica - Importantíssima PDFDocumento16 páginasPromover-A-Literacia-Vol-I-4-A-6-Anos-Consciência Fonolólica - Importantíssima PDFNanda ModestoAinda não há avaliações
- A Seleção Por Consequências Na Análise Do ComportamentoDocumento4 páginasA Seleção Por Consequências Na Análise Do ComportamentoGabrielli Oliveira100% (1)
- Autismo infantil e vínculo terapêuticoDocumento10 páginasAutismo infantil e vínculo terapêuticoJúlia CarolinaAinda não há avaliações
- Avaliação Do Caso - Mutismo SeletivoDocumento5 páginasAvaliação Do Caso - Mutismo SeletivoDiana Mf0% (1)
- Ficha Individual de TransicaoDocumento4 páginasFicha Individual de TransicaoCésar Gomes100% (1)
- Desenvolvimento linguístico 2-3 anosDocumento14 páginasDesenvolvimento linguístico 2-3 anosBárbara Cavalcante OliveiraAinda não há avaliações
- Música e imagem no tratamento de autistasDocumento8 páginasMúsica e imagem no tratamento de autistasEwerton Soares FeitosaAinda não há avaliações
- Bem-vindo à escola: manual para alunos e paisDocumento5 páginasBem-vindo à escola: manual para alunos e paisAndréLopesAricóAinda não há avaliações
- Afetividade e suas manifestaçõesDocumento7 páginasAfetividade e suas manifestaçõesrocolmarAinda não há avaliações
- Compreendendo o autismo para melhor inclusãoDocumento35 páginasCompreendendo o autismo para melhor inclusãoEdselma NascimentoAinda não há avaliações
- A EFE: Um método de avaliação das relações familiaresDocumento32 páginasA EFE: Um método de avaliação das relações familiarespsionlineAinda não há avaliações
- Medicalização e InfanciaDocumento22 páginasMedicalização e InfanciaAlice SodréAinda não há avaliações
- Artigo - O Lúdico Na Aprendizagem Do AutistaDocumento15 páginasArtigo - O Lúdico Na Aprendizagem Do AutistaJoao Inacio Bezerra da silvaAinda não há avaliações
- A Prática Pedagógica Do Professor de Atendimento Educacional Especializado para o Aluno Com Deficiência IntelectualDocumento169 páginasA Prática Pedagógica Do Professor de Atendimento Educacional Especializado para o Aluno Com Deficiência IntelectualAurélia SilvaAinda não há avaliações
- Síndrome de Angelman: Transtorno genético raroDocumento5 páginasSíndrome de Angelman: Transtorno genético rarothais almeidaAinda não há avaliações
- Fatores Que Influenciam No Desenvolvimento InfantilDocumento19 páginasFatores Que Influenciam No Desenvolvimento InfantilAdrianaAinda não há avaliações
- LABTEA MACK ESTUDOS Comlink v2Documento316 páginasLABTEA MACK ESTUDOS Comlink v2Jennifer Soares de Souza de FreitasAinda não há avaliações
- ImpressaoDocumento20 páginasImpressaoCarmen EvangelistaAinda não há avaliações
- Resultados da formação ES'COOLDocumento34 páginasResultados da formação ES'COOLTânia Borges MotaAinda não há avaliações
- 1-20 en PTDocumento20 páginas1-20 en PTTiago Garcês100% (1)
- Escalas - Av - Área EducativaDocumento11 páginasEscalas - Av - Área EducativaPaula CruzAinda não há avaliações
- Detecção e intervenção psicomotora em crianças TEADocumento9 páginasDetecção e intervenção psicomotora em crianças TEAGabriel CurtoAinda não há avaliações
- Expressão motora, dramática, plástica e musical na educação pré-escolarDocumento3 páginasExpressão motora, dramática, plástica e musical na educação pré-escolarVera CordeiroAinda não há avaliações
- Bingo Sonoro Corpo#SomnacaixaDocumento19 páginasBingo Sonoro Corpo#SomnacaixaCristiano Campos RodriguesAinda não há avaliações
- Estruturas e organizações do sistema nervoso centralDocumento1 páginaEstruturas e organizações do sistema nervoso centralLeticia Bonatti100% (1)
- Inclusão de autistas no ensino superiorDocumento14 páginasInclusão de autistas no ensino superiorSidney JuniorAinda não há avaliações
- CP 140311Documento144 páginasCP 140311Elis HaraAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa AutismoDocumento12 páginasProjeto de Pesquisa AutismoLuana MouraAinda não há avaliações
- Entre Linhas e Imagens: Tornando a Literatura Infantil Acessível às Crianças com Deficiência VisualNo EverandEntre Linhas e Imagens: Tornando a Literatura Infantil Acessível às Crianças com Deficiência VisualAinda não há avaliações
- ADIVINHASDocumento3 páginasADIVINHASCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Como Controlar Mis Sentimientos y Comportamientos en Portugues BRDocumento1 páginaComo Controlar Mis Sentimientos y Comportamientos en Portugues BRmatiasAinda não há avaliações
- Danuta MedeirosDocumento158 páginasDanuta MedeirosCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Dialnet SintomasDeAnsiedadeEmTabagistasNoInicioDoTratament 5154988Documento10 páginasDialnet SintomasDeAnsiedadeEmTabagistasNoInicioDoTratament 5154988Carlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Autismo e Doenças Invasivas de To 12pgsDocumento12 páginasAutismo e Doenças Invasivas de To 12pgsapi-3696876Ainda não há avaliações
- Dialnet SintomasDeAnsiedadeEmTabagistasNoInicioDoTratament 5154988Documento10 páginasDialnet SintomasDeAnsiedadeEmTabagistasNoInicioDoTratament 5154988Carlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- A Sindrome de Cornélia de Lange, 2016Documento12 páginasA Sindrome de Cornélia de Lange, 2016Carlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Autismo e Doenças Invasivas de To 12pgsDocumento12 páginasAutismo e Doenças Invasivas de To 12pgsapi-3696876Ainda não há avaliações
- Autism screening and early signsDocumento10 páginasAutism screening and early signsCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Depressão parental e desenvolvimento infantilDocumento134 páginasDepressão parental e desenvolvimento infantilCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Avaliação do desenvolvimento infantilDocumento25 páginasAvaliação do desenvolvimento infantilEduardo VieiraAinda não há avaliações
- Biologia AnimalDocumento102 páginasBiologia AnimalCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Escala K Agressivo Entre Pares PDFDocumento171 páginasEscala K Agressivo Entre Pares PDFCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Depressão parental e desenvolvimento infantilDocumento134 páginasDepressão parental e desenvolvimento infantilCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- RorschachDocumento26 páginasRorschachCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Jogo de Cartas07.03Documento6 páginasJogo de Cartas07.03Carlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- CARTÕESDocumento3 páginasCARTÕESCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Escala K Agressivo Entre Pares PDFDocumento171 páginasEscala K Agressivo Entre Pares PDFCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- RoschDocumento9 páginasRoschCarlos Charlotte SalvadorAinda não há avaliações
- Cuaderno Apo Yo PortuguesDocumento35 páginasCuaderno Apo Yo Portuguescamylla1Ainda não há avaliações
- Psicopatologia do Adulto: Perturbações PsicóticasDocumento56 páginasPsicopatologia do Adulto: Perturbações PsicóticasivamariaAinda não há avaliações
- 123 241 2 PBDocumento12 páginas123 241 2 PBRaquel MarquesAinda não há avaliações
- Modelo de Relatório Projeto Final Engenharia de Software (1) 1 2Documento12 páginasModelo de Relatório Projeto Final Engenharia de Software (1) 1 2patinhaspato1Ainda não há avaliações
- The Kind Leader - Karyn RossDocumento5 páginasThe Kind Leader - Karyn Rossrobertohoss2813Ainda não há avaliações
- Código de Ética PsicologiaDocumento66 páginasCódigo de Ética PsicologialuizaAinda não há avaliações
- Prevalência Global do Transtorno do Espectro do Autismo: Revisão Sistemática e MetanáliseDocumento90 páginasPrevalência Global do Transtorno do Espectro do Autismo: Revisão Sistemática e MetanáliseAnuska ErikaAinda não há avaliações
- Perguntas por competência para entrevistas de empregoDocumento2 páginasPerguntas por competência para entrevistas de empregoaleatório 2.0Ainda não há avaliações
- Curso Gestao ComportamentoDocumento29 páginasCurso Gestao ComportamentoLetícia Corrêa FerreiraAinda não há avaliações
- Ser professor de música em projeto socialDocumento144 páginasSer professor de música em projeto socialEman AcioleAinda não há avaliações
- Slide Da Unidade - Deficiências e Transtornos - DI, TEA, TDAH e LinguagemDocumento32 páginasSlide Da Unidade - Deficiências e Transtornos - DI, TEA, TDAH e LinguagemLeandro SimãoAinda não há avaliações
- Tipos de ComunicaçãoDocumento1 páginaTipos de ComunicaçãoCarlos ReisAinda não há avaliações
- 107-Texto Do Artigo-854-1-10-20190622Documento12 páginas107-Texto Do Artigo-854-1-10-20190622Gustavo ChavesAinda não há avaliações
- Lista de Conceitos para o Glossário - Psicologia JurídicaDocumento2 páginasLista de Conceitos para o Glossário - Psicologia JurídicadanielAinda não há avaliações
- Minha Vida Sem Celular.Documento4 páginasMinha Vida Sem Celular.Gabriela CardosoAinda não há avaliações
- Liber AvohaiDocumento22 páginasLiber Avohaiwagner machadoAinda não há avaliações
- Desempenho psicomotor de crianças com problemas de aprendizagemDocumento9 páginasDesempenho psicomotor de crianças com problemas de aprendizagemLigia Bueno Zangali CarrascoAinda não há avaliações
- Entrevista Com o Autor Do Livro Roteiro de Psiquiatria ForenseDocumento4 páginasEntrevista Com o Autor Do Livro Roteiro de Psiquiatria ForenseTynara MarinaAinda não há avaliações
- A Síndrome Do Automatismo MentalDocumento5 páginasA Síndrome Do Automatismo MentalVictorAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Xavier Alice Castro MenezesDocumento70 páginasDISSERTAÇÃO Xavier Alice Castro MenezesJuliana JuAinda não há avaliações