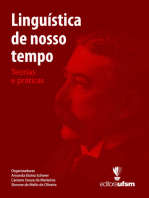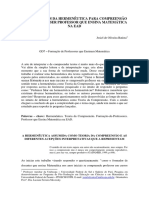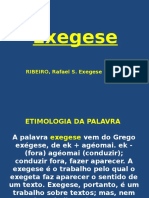Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Espinoza e a linguagem segundo Olga Pombo
Enviado por
Alessandra Buonavoglia Costa-PintoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Espinoza e a linguagem segundo Olga Pombo
Enviado por
Alessandra Buonavoglia Costa-PintoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
16
Espinoza and the Language
Olga Pombo
Doutora em História e Filosofia da Educação pela Universidade de Lisboa, Portugal.
Professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal.
E-mail: opombo@fc.ul.pt
Não há uma “teoria” desenvolvida da linguagem no sistema de Espinoza. A linguagem
não é um problema que Espinoza tenha seleccionado como merecedor de ser pensado. Na
filosofia de Espinoza, os problemas da linguagem não encontram um lugar sistemático.
Espinoza nunca se situa face à tradição de reflexão sobre a linguagem que o antecede ou lhe é
contemporânea, nem estabelece qualquer tipo de relação arquitectónica que integre as suas
teses sobre a linguagem com alguns outros lugares do seu pensamento. Como Espinoza
(1972) escreve de forma clara e categórica: “Mas o meu propósito é explicar, não o
significado das palavras, mas antes a natureza das coisas… Isto bastaria para esclarecer a
questão uma vez por todas (Ethica 3Def20, nossos sublinhados)”.
No entanto, sob a forma de enunciados dispersos e não sistemáticos, há em Espinoza
algumas teses importantes sobre a linguagem, profundas reflexões, notas subtis e observações
luminosas. Em dois momentos precisos, ou melhor, em duas direcções da sua actividade
intelectual, Espinoza é como que forçado a dar atenção aos problemas da linguagem: uma diz
respeito à sua necessidade de construir uma exegese racional das Sagradas Escrituras; outra
surge das questões colocadas no quadro da sua teoria do conhecimento. A primeira tem lugar
no Tractatus Theologico-Politicus (TTP); a segunda emerge, sobretudo, na Ethica (E), no
Tractatus de Intellectus Emendatione (TIE) e, também, em Korte Verhandeling.
Aproximação Exegética
A primeira direcção ocorre em contexto hermenêutico, mais exactamente quando, nos
capítulos teológicos de TTP, Espinoza propõe o exame dos livros sagrados, unicamente
através de uma crítica histórica e filológica, livre de qualquer restrição dogmática e
pressuposição teológica. No cumprimento dessa tarefa, Espinoza começa por estabelecer o
próprio método exegético que se propõe adoptar.
1
Texto retomado do nosso estudo intitulado “Leibniz e Espinosa sobre temas da Linguagem”, in Olga Pombo
(2010: p. 143-173).
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Olga Pombo 17
No capítulo 7 – um verdadeiro “discurso do método em matéria de exegese”, como diz
Gusdorf (1988, p. 112) – encontramos a exposição detalhada desse método,
fundamentalmente, constituído por três ordens de requisitos:
1. requisitos etimológicos e morfológicos relativos à especial atenção que deve ser dada
à: “natureza e propriedades da linguagem na qual os livros da Escritura foram
escritos” (TTP 7, 3: 99);
2. requisitos estruturais internos, relacionados com a necessidade de
organizar em diferentes grupos os enunciados de cada livro, reduzindo-os a algumas
chaves fundamentais, como modo de encontrar, com facilidade aqueles que se
relacionam com o mesmo objecto (e)… aqueles que são ambíguos ou obscuros ou
em contradição uns com os outros (TTP 7, 3: 100);
3. requisitos externos, históricos e filológicos, relacionados com a investigação da vida e
dos costumes do autor de cada livro, sobre os seus objectivos e propósitos, sobre o
tempo, a ocasião e outras circunstâncias particulares da composição dos manuscritos,
do seu destino e história posterior, etc. (TTP 7, 3: 101-102)
Ora, é justamente no contexto deste programa exegético, que Espinoza é compelido a
tratar alguns dos temas clássicos de reflexão sobre a linguagem, tais como os conceitos de
leitura, tradução, interpretação alegórica e literal, linguagem metafórica e poética, linguagem
popular e religiosa, intenção significativa do autor, estilo, significação, contexto.
Tomemos o caso de um destes temas – uma concepção original de significado que,
apesar de restrita aos livros sagrados, é extremamente interessante e próxima da “viragem
hermenêutica” que caracteriza a nossa contemporaneidade.
O “significado” em TTP
Espinoza começa pela distinção entre conhecimento natural e conhecimento revelado.
Enquanto o primeiro, apesar de divino na sua raiz, advém de um conjunto de princípios da luz
natural aos quais todos os homens dão consentimento livre e total, o conhecimento revelado é
alcançado pelos homens através da mediação de um profeta, ou seja, de um “intérprete das
revelações de Deus” (TTP 1: 15), um tradutor, alguém que recebe a Palavra de Deus, que a
compreende à sua medida, que a traduz numa língua vulgar, e que comunica aos outros aquilo
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Espinoza e a linguagem 18
que foi capaz de compreender2. Como Espinoza escreve, “assim, o conhecimento revelado é
já discurso, discurso humano que, unicamente através do prestígio do profeta e confiança que
as pessoas lhe dedicam” (TTP 1, Adn2), isto é, pode ser escutado por outros, permanecer,
perdurar através dos séculos, sob forma de tradições orais e escritas.
Ora – observa Espinoza –, dado que já não existem hoje mais profetas que pudessem
ser ouvidos de modo directo, temos que nos contentar com os textos antigos deixados pelos
antigos profetas (TTP 1, 3: 6). Tudo o que temos está lá, “fechado”, nos textos do Antigo
Testamento, guardado nas palavras (signos ambíguos e equívocos) de uma língua vulgar e
plebeia – o hebreu. Não há autoridade externa a que possamos recorrer, nenhuma doutrina
arbitrária, nenhum constrangimento dogmático, nenhuma invenção humana que deva ser
respeitada (TTP 7, 3: 97). Como Espinoza afirma: “todo o conhecimento da Escritura deve ser
retirado somente da própria Escritura.” (TTP 7, 3: 99)
Neste enunciado de importância central, Espinoza defende a tese clássica da
autonomia da letra face ao espírito, tese que é, obviamente, rica em consequências exegéticas,
nomeadamente, na oposição a todos os métodos alegóricos de interpretação das Escrituras3.
Mas, o que gostaríamos de enfatizar é o facto de que tal enunciado é também rico quanto ao
conceito de significado que Espinoza terá de trabalhar de modo a encontrar-lhe um
fundamento sólido. Quer dizer, se o propósito daquele enunciado (“todo o conhecimento da
Escritura deve ser retirado somente da própria Escritura”) é exegético, a sua defesa implicará
a formulação, ou melhor, a “invenção”4, por Espinoza, de um novo conceito de significado. E,
nesse novo conceito de significado está suposto que: 1. o significado é interno ao texto; 2. o
lugar do significado não é a letra (como os cabalistas queriam), nem a palavra e a frase (como
no caso de Leibniz), mas o texto, somente o texto.
Espinoza enfatiza muito esta interessante tese. Repete-a várias vezes, quase sempre na
mesma formulação. O significado não é algo que o leitor possa reactualizar em diferentes
épocas, consoante a sua própria visão ou compromisso privado com o texto5. Para Espinoza, o
significado está fechado nas Escrituras, desde o primeiro momento da sua escrita pelos
2
O conhecimento revelado é, portanto, uma tradução humana da Palavra de Deus, a qual consiste num só e
único percepto – a prática da justiça e da caridade. Note-se também que tal significado provém do texto das
Escrituras como um todo.
3
Nomeadamente, o método alegórico de Maimonides. Cf. TTP 7, 3: 113 e segs.
4
Usamos aqui uma expressão de Zac (1977: 623) que a qualifica até de “grande invenção”.
5
Algo que, como Lévinas (1982: 201-206) afirma, é contraditório com toda a tradição talmúdica, assim como
com o nosso sentimento hermenêutico contemporâneo, segundo o qual o leitor do texto tem um papel decisivo
na produção do significado do texto.
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Olga Pombo 19
profetas antigos. Por isso, é no próprio texto, unicamente através da lógica interna do texto,
que devemos interpretar o significado de um enunciado.
Significado e Método Exegético
Como vimos acima, o primeiro requisito metodológico defendia a necessidade de um
conhecimento profundo da língua na qual os livros da Escritura foram escritos para ser
possível levar a cabo a sua adequada exegese.
Trata-se de um requisito que pode ser visto como contraditório com a regra acima
referida, no sentido em que o significado do texto seria, de certo modo, exterior ao texto,
baseando-se não no texto, mas na língua em que o texto é escrito. Mas, por outro lado, este
requisito pode também ser visto como uma consequência necessária daquela regra: o
significado do texto é interno ao texto e, portanto, à língua na qual o texto está escrito. E isto
na medida em que um texto não é mais do que um fragmento, ou melhor, uma expressão, uma
das possíveis manifestações da língua em que está escrito.
Uma dificuldade maior ocorre quando Espinoza, vendo que a língua original das
Escrituras era fundamentalmente o hebreu – língua da qual, como diz, não temos: “nem
sequer um dicionário, nem uma gramática (…), mas só fragmentos da linguagem e poucos
livros” (TTP 7, 3: 106) –, conclui que “é impossível ter um conhecimento histórico perfeito
do hebreu” (ibid.). Além disso, dado que o hebreu é, também, uma língua na qual existem
muitas causas particulares de ambiguidade (que Espinoza assinala e descreve), Espinoza
conclui que não há nenhum método que permita determinar o verdadeiro significado de uma
passagem ambígua da Escritura (TTP 7, 3: 107).
Estamos pois perante uma conclusão que parece comprometer o princípio da
interpretação da Escritura apenas pela Escritura. No entanto, se não estamos em erro, é
possível interpretar esta mesma questão da seguinte forma:
1. se esses textos existissem, isto é, dicionários, gramáticas, literatura em geral, seria
neles e por eles que poderíamos ter um conhecimento perfeito da língua;
2. o conhecimento da língua – neste caso, o hebreu – só pode ser obtido, não pelo facto
de que alguém fale essa língua, mas pelo conhecimento de um conjunto de textos nos
quais a língua existe – dicionários, gramáticas, literatura. Caso contrário, seria sempre
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Espinoza e a linguagem 20
possível, para um falante da língua, descobrir ou, mesmo, decifrar o significado de
palavras antigas e expressões idiomáticas; haveria uma criatividade heurística da
própria língua que tornaria isso possível (algo que Espinoza não pode aceitar, tendo
em vista aquilo que afirma sobre as dificuldades inultrapassáveis de um conhecimento
perfeito do hebreu);
3. quer esses textos existam ou não – como no caso do hebreu –, seria, então, o
conhecimento desses textos que forneceria o conhecimento da língua e, por isso
(contrariamente, outra vez, àquilo que o primeiro requisito metodológico parecia
afirmar), a linguagem não é, nela mesma, a verdadeira e última (e externa) raiz do
significado, uma raiz para a qual poderíamos apelar para descobrir o significado do
texto (neste caso, da Escritura);
4. generalizando, poderíamos dizer: o significado do(s) texto(s) não deve ser pensado no
significado que a língua guarda em si mesma, mas, pelo contrário, é o significado da
língua que deve ser descoberto no e através do significado do(s) texto(s).
Estamos pois perante um conjunto de teses que, de facto, reforçam esta interessante
concepção espinosista do significado de acordo com a qual o significado habita unicamente o
interior do texto.
Verdade e Significado
No entanto, é importante perguntar: porquê uma tal tese? Qual era o problema que esta
tese tentava enfrentar?
De modo a procurar uma resposta para estas interrogações, devemos lembrar que, para
Espinoza, a Escritura apela unicamente à fé, à obediência (TTP Prae, 3: 10). Assim sendo, a
única coisa que o homem precisa de saber sobre a Escritura é se interpretou bem o que ela
afirma, se compreendeu correctamente o que ela ordena, se apreendeu adequadamente aquilo
a que deve obedecer. Por outras palavras, o homem não precisa de averiguar a verdade de tais
ordens. Quer isto dizer que a Escritura não é, portanto, para ser interpretada na sua “verdade”,
mas só no seu “significado”.
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Olga Pombo 21
Esta distinção fundamental é claramente expressa por Espinoza nos seguintes termos:
“só procuramos aqui o significado do texto e não a sua verdade.” (TTP 7, 3: 100). Mais
adiante, Espinoza acrescenta:
(…) é necessário, quando procuramos o significado da Escritura, não ter a mente
preocupada com o nosso raciocínio, o qual está fundado nos princípios do
conhecimento natural (…) de modo a não confundir o verdadeiro “significado” (de
um discurso) com a “verdade” das coisas. (ibid., sublinhados nossos.)
A verdade é a tarefa do filósofo, mas não a do crente que está unicamente interessado
em conhecer aquilo a que é suposto obedecer, aquilo que Deus quer que ele faça. O que
importa a Espinoza é o estatuto que é necessário garantir ao uso pragmático da Escritura.
Estaremos aqui face a uma outra concepção do significado segundo a qual o critério
para a avaliação de uma correcta interpretação do significado de um texto (de um texto
normativo, como no caso das escrituras), é o comportamento correspondente que esse texto
induz alguém a realizar, neste caso, o comportamento da obediência? Estaremos aqui perante
uma outra “invenção espinosista”, desta vez, não uma concepção imanentista, mas uma
concepção pragmática do significado?
De qualquer modo, o princípio espinosista de interpretação da Escritura,
exclusivamente, pela Escritura, mesmo que confinado ao contexto exegético dos livros da
Escritura nos quais, de facto, é formulado, tem o mérito de chamar a atenção para a
possibilidade de o significado estar alojado, não no nível semântico do signo, da palavra ou da
frase, mas no nível arquitectónico do texto, razão pela qual denominámos essa concepção
como imanentista.
Aproximação Gnosiológica
Uma das teses espinosistas mais importantes é a concepção segundo a qual a
linguagem é, não só o grau inferior (imaginativo, confuso, inadequado) do conhecimento, mas
também um obstáculo ao verdadeiro conhecimento, o qual “se faz manifesto por si só” (TIE:
44), não precisa de nenhuma palavra, isto é, a concepção segundo a qual a linguagem é, não
apenas causa de ambiguidades e de mal entendidos de todas as espécies, mas o próprio
“veículo do engano”, como diz Guéroult (1974, p. 434), veículo esse que não pode ser
eliminado, mas unicamente diminuído ou atenuado.
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Espinoza e a linguagem 22
Com esta tese, que vem sobretudo de Bacon e Descartes, Espinoza está em completa
oposição com Leibniz. Enquanto, para Espinoza, há uma clara distinção a fazer entre
imaginatio e ratio, para Leibniz, a única diferença é de graduação, uma vez que, sendo ambas
elementos constitutivos de uma série contínua de percepções, elas apenas diferem uma da
outra pelo grau de clareza e distinção. Além disso, enquanto para Espinoza a imaginatio é a
causa da falsidade e ratio a causa do conhecimento necessariamente verdadeiro, pelo
contrário, para Leibniz, toda a percepção contém ou envolve uma infinidade de “petites
perceptions”, relativamente obscuras, confusas e inconscientes, ou seja, imaginação e
entendimento são elementos necessariamente inseparáveis, pressupostos um pelo outro. Como
Leibniz diz, “os pensamentos mais abstractos precisam de alguma imaginação” (GP 4: 563).
No entanto, é importante notar que Leibniz estava, neste ponto, em oposição a todos
os seus contemporâneos. De facto, no século XVII, só Leibniz percebeu, em todas as suas
consequências epistémicas, o papel decisivo da linguagem na constituição e progresso do
conhecimento científico, ou seja, só Leibniz reconheceu que a linguagem não perturba o
conhecimento da realidade, mas, pelo contrário, leva à sua penetração racional, não apenas
reflectindo, mas também promovendo e clarificando o conhecimento da realidade. Como
Leibniz diz, em Carta a Tschirnhaus, de Maio, 1679: “ninguém deve temer que a
contemplação de caracteres nos possa levar para longe das coisas; pelo contrário, ela conduz-
nos ao interior das coisas. (ad intima rerum ducet)” (GM 4: 461)
De facto, Leibniz é detentor de uma importante e rara concepção cognitiva da
linguagem. Com excepcional clareza, Leibniz reconheceu e proclamou a importância
cognitiva e heurística do simbolismo que considera ser o meio próprio, necessário e essencial
da razão humana, aquilo que nos permite operar com significações ideais que só podem ser
estabelecidas por signos e que só os signos – como símbolos das determinações virtuais das
nossas ideias – permitem pensar. Como Leibniz escreve, nos célebres Dialogus de
Connexione inter Res et Verba, de 1677: “nunca serei capaz de saber, de descobrir, de provar
sem usar palavras ou sem a presença na minha mente de outros signos.” (GP 7: 191)
Ainda que estejamos perante uma das passagens onde esta tese está mais claramente
expressa6, é irrefutável que Leibniz estava completamente consciente do campo inesgotável
6
A posição de Leibniz não é, de facto, sempre tão fortemente expressa como na passagem citada acima.
Compelido pelos limites epistemológicos e linguísticos do século XVII, assim como pelas aporias da sua própria
teoria do simbolismo, Leibniz evitou algumas vezes uma forte defesa desta tese. A sua posição está marcada por
certas ambiguidades que dizem respeito ao estatuto efectivo conferido ao signo. Cf. Pombo (1997: 125-161).
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Olga Pombo 23
das possibilidades cognitivas, abertas pelo uso do simbolismo, ou seja, do poder não
meramente judicativo ou demonstrativo do simbolismo, mas também das suas possibilidades
prospectivas e heurísticas.
Espinoza, pelo contrário, segue a tese usual do seu tempo, uma tese vinda quer do
cepticismo inglês (interessado em aprofundar os obstáculos ao conhecimento), quer do
intuicionismo francês (interessado em defender o papel meramente instrumental e
comunicativo da linguagem). Tese, em geral, defendida por toda a filosofia moderna, a qual
tinha estabelecido uma ruptura, porventura, demasiadamente profunda com as inspirações
renascentistas e com o sentido analógico da sua sabedoria. Uma tese que, no caso de
Espinoza, era necessária para salvaguardar a absoluta completude do conhecimento intuitivo
divino. Ou seja, a oposição entre Leibniz e Espinoza quanto a este importante tema, mesmo
que óbvia e “trenchant”, parece-nos não ser completamente relevante, uma vez que, neste
ponto, Leibniz estava em oposição ao seu tempo, muito para lá dos limites epistémicos da sua
época. Isso pode, de facto, acontecer em filosofia, mesmo que seja só aí que os homens
consigam ir para além das suas fronteiras (temporais).
Arbitrariedade da Linguagem Humana
Prestemos agora atenção a outro importante tema, igualmente emergente nesta
segunda direcção gnosiológico. Referimo-nos à questão fundamental da arbitrariedade versus
não-arbitrariedade da linguagem humana.
O paralelo com Leibniz é aqui extremamente esclarecedor. Ao ler as passagens de
Espinoza sobre a linguagem, ficamos admirados pelo aparecimento de tantas questões
importantes e interessantes que, repentinamente, o génio de Espinoza encontra e reconhece.
Mas, dado que o seu maior interesse não está aí, ele dá-lhes uma rápida solução – mesmo que
profunda – e segue em frente. Reconhece a questão, formula sobre ela uma frase breve e
decisiva, e abandona-a. Leibniz, pelo contrário, durante toda a sua produção intelectual lida
intencionalmente com os problemas da linguagem que verdadeiramente o interessam, discute
várias hipóteses para a sua solução, estima as suas respectivas consequências, aprecia os seus
fundamentos.
Assim, depois de ter afirmado (TIE: 88) que as palavras, como a imaginação, podem
ser a causa de muitos e sérios erros, Espinoza deixa cair, no parágrafo que se segue, a seguinte
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Espinoza e a linguagem 24
afirmação: “De acrescentar que as palavras são constituídas arbitrariamente, de acordo com as
pessoas comuns.” (TIE: 89) Note-se que esta tese, que faz a sua aparição no texto de Espinoza
de um modo tão repentino, é formulada uma única vez em todo o TIE. Note-se, ainda, que
esta tese poderia ser um forte argumento e uma excelente oportunidade para Espinoza
justificar a concepção negativa da linguagem que tinha acabado de defender no parágrafo
anterior (TIE: 88). Poderíamos, portanto, esperar que Espinoza desse maior atenção a uma
tese tão fundamental. Mas ele não o faz.
É certo que há outras passagens que podem ser relacionadas com esta, por exemplo,
aquela onde Espinoza diz que os livros, sendo conservados por homens instruídos, podem ser
corrompidos, enquanto a língua, sendo conservada pelos livros e também pelo povo, não pode
ser corrompida. Quer dizer que o povo é considerado como o garante da incorruptibilidade da
língua (TTP 7, 3: 105-106), o que poderia ser lido como uma espécie de elogio indeterminado
ao povo anónimo e ao seu poder onomatúrgico, ou seja, uma espécie de reafirmação da
posição convencionalista de Espinoza, agora como que acompanhada pelo começo de uma
explicação acerca da natureza desse convencionalismo (aqui pensado na sua dimensão social
e institucional). Na Ethica há ainda uma outra passagem na qual Espinoza, sem sequer
mencionar a arbitrariedade da linguagem humana, de certo modo, aponta uma explicação
complementar para essa arbitrariedade, aí pensada, menos de um ângulo sociológico que de
uma perspectiva psicológica. É quando Espinoza explica que a razão para os erros resultantes
do uso das palavras tem a sua origem no hábito, segundo o qual as pessoas dão nomes aos
modos particulares e subjectivos pelos quais são afectadas por corpos exteriores (E: 47S).
No entanto, é claro que Espinoza não está, realmente, interessado na questão da
arbitrariedade das línguas humanas. Ela é justamente exemplo de uma dessas questões que
Espinoza encontra no decorrer do seu percurso, à qual dá uma resposta conclusiva, sobre a
qual adquire consciência das dificuldades em jogo, mas que também facilmente abandona
para seguir o seu caminho.
Locke e Leibniz
Pelo contrário, Leibniz trabalhou esta questão durante toda a sua actividade
intelectual, explorou quase todas as direcções possíveis, examinou múltiplas perspectivas
paralelas, perseguiu linhas de investigação diferentes, divergentes e, aparentemente,
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Olga Pombo 25
contraditórias. Como se Leibniz, estando de tal modo consciente do papel central dessa
questão para a compreensão da essência da linguagem humana, sentisse claramente como
cada resposta – e todas elas em conjunto – era incapaz de esgotar os mistérios da linguagem.
É assim que, naquele que é, significativamente, o mais longo parágrafo dos Nouveaux
Essais (III, III, § 1), Leibniz refuta a posição convencionalista da filosofia da linguagem de
Locke. A disputa surge, fundamentalmente, da oposição que Leibniz estabelece à tese,
apresentada por Philalethe, das múltiplas imperfeições que são inerentes às linguagens
humanas, ou seja, a questão é pertinentemente colocada no contexto da discussão da
concepção negativa da linguagem de Locke.
De facto, de acordo com Locke, as imperfeições e abusos da linguagem têm a sua raiz
na natureza arbitrária de cada língua. Como Locke afirma, num parágrafo precisamente
intitulado Da imperfeição das palavras do Essay: “Não tendo as palavras, naturalmente, uma
significação, a ideia que cada uma representa, deve ser aprendida e retida por aqueles que
trocam pensamentos e mantêm um discurso inteligível com outros, em qualquer língua”.
(Essay, III, IX).
Pelo contrário, para Leibniz, é precisamente porque a linguagem não é arbitrária que é
possível ultrapassar todas as imperfeições e “descobrir um remédio” (GP 5: 317) para cada
uma das línguas.
Reconhecendo, embora, a importância das imperfeições e abusos da linguagem,
referida por Philaleto, que discute uma a uma, Leibniz defende, de facto, dois argumentos
centrais: 1. as imperfeições listadas pró-Philaleto não advêm das próprias línguas, mas são da
responsabilidade dos sujeitos humanos que as usam; não são, portanto, inerentes às línguas
humanas, mas uma consequência que decorre do seu uso defeituoso, ou seja, da “negligência”
(Nouveaux Essais III, IX § 9) com que os homens as usam; 2. está, pois, ao alcance dos
homens a possibilidade de introduzir modificações, de preencher lacunas e fixar
indeterminações, de ultrapassar ambiguidades e estabilizar o significado das palavras (GP 5:
317-318, 320-321).
As soluções propostas por Leibniz – basicamente, o reconhecimento e a exploração
das qualidades da escrita e das potencialidades da definição – são todas internas à própria
linguagem; são processos que emergem do campo de possibilidades que a própria linguagem
nos abre. Porquê? Em consequência de duas teses centrais que Leibniz expressa de forma
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Espinoza e a linguagem 26
clara nos Nouveaux Essais, tal como em muitos outros textos: as línguas são “o melhor
espelho da mente humana” (Nouveaux Essais III, VIII, § 6) e “os mais antigos monumentos
da espécie humana” (Nouveaux Essais III, IX, § 10). Ou seja, porque as línguas não são
arbitrárias, mas, pelo contrário, são motivadas, tanto ao nível das suas estruturas gramaticais
(que espelham as estruturas lógicas da razão humana), como na sua origem perdida, na
espessura presente do seu vocabulário, nas suas palavras expressivas, na sua transparência
indicativa, na sua radical abertura ao mundo, no qual elas foram criadas e que nelas está
expresso.
Contrariamente a Locke, cujo objectivo é afirmar o efeito de opacidade que qualquer
língua, em virtude da sua arbitrariedade, introduz entre a realidade e a mente humana,
Leibniz, não só isenta as línguas naturais, lançando a culpa pelas suas imperfeições para o uso
incorrecto que delas fazem os sujeitos humanos, mas também (porque começa pela tese,
oposta à de Locke, da origem motivada das línguas naturais), tenta mostrar como, nos dois
níveis – o sintáctico e o morfológico –, em vez de ocultar a realidade que nomeia, a língua se
torna no espaço da penetração racional e prospectiva dessa realidade, o único medium que o
homem tem à sua disposição para promover e clarificar o seu conhecimento do mundo.
Não-Arbitrariedade em Leibniz
Mas a tese da não-arbitrariedade da linguagem não é apenas apresentada por Leibniz
em contexto polémico, como refutação da posição de Locke. Pelo contrário, é uma
consequência dos dois grandes princípios da metafísica leibniziana, os princípios da razão
suficiente e da harmonia preestabelecida.
A nosso ver, a tese da não-arbitrariedade da linguagem é mesmo a tese central da
filosofia da linguagem de Leibniz, cumprindo aí o papel de uma espécie de ideia reguladora
que atravessa todas as investigações linguísticas leibnizianas. Uma tese que, na nossa opinião,
pode também ser vista como dando unidade e coerência aos três diferentes e aparentemente
contraditórios projectos linguísticos de Leibniz: a) o estudo (e aperfeiçoamento) das línguas
naturais (nomeadamente, o alemão), nas quais Leibniz descobre – e elogia –, tanto a riqueza
etimológica, como a ainda presente motivação do seu vocabulário; b) a busca de uma
Gramática Racional, na base de uma estrutura universal profunda, subjacente às
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Olga Pombo 27
particularidades gramaticais das várias línguas nacionais; e c) a construção de uma Língua
Universal, dotada de uma similar (ou até mais elevada) natureza representativa.
Como procurámos mostrar num outro lugar (POMBO, 1997), o propósito fundamental
de Leibniz seria investigar a origem motivada das línguas naturais, tanto ao nível do seu
vocabulário (especialmente, o alemão) e da estrutura profunda subjacente às suas
particularidades gramaticais (Gramática Racional), tentar compreender a sua origem,
compreender os seus mecanismos, determinar as suas leis e, posteriormente, aplicar essas
descobertas na construção de uma nova língua filosófica, igualmente motivada. Ou seja, usar
esse conhecimento para (re)construir essa motivação numa língua artificial, na qual seria
possível, de certo modo, repetir (e, até mesmo, aperfeiçoar) algo que já teria sido alcançado
nas línguas naturais.
Neste sentido, podemos facilmente compreender a razão pela qual Leibniz explorou
tantos tipos de motivação nas línguas naturais, quer ao nível do seu vocabulário, distinguindo
e tentando perceber o segredo e a raiz originária das suas diferentes formas de motivação,
como da estrutura universal subjacente às particularidades gramaticais de cada língua natural,
que Leibniz tão profundamente investigou, no contexto dos seus projectos para uma
Gramática Racional.
É também fácil perceber porquê, no projecto de uma Characteristica Universalis, o
objectivo de Leibniz seja conseguir que os signos, para além da operatividade (ou capacidade
funcional, no interior do sistema formal), sejam também naturais, representativos ou
directamente abertos para a realidade que eles são supostos dizer. Assim se compreende,
também, que Leibniz tenha perseguido tantos modelos com o objectivo de alcançar essa
representatividade para os signos característicos, que tenha explorado tantos modos diferentes
de alcançar essa representatividade7.
Mesmo que cada um destes modelos (que aqui é impossível sequer referir) tenha
provado ser incompleto e insuficiente, o próprio facto de Leibniz ter delineado tantas
estratégias e hesitado, até ao final da sua vida, em relação ao sistema de signos a adoptar, esse
facto pode ser lido como sinal da importância crucial que Leibniz atribuiu ao estabelecimento
desse requisito. Facto que nos dá também a marca – e o perfil complexo, difícil e intrincado –
de uma verdadeira teoria filosófica em processo de crescimento e alargamento problemático.
7
Para uma apresentação desenvolvida deste tema, Pombo (1997, p. 223-254).
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Espinoza e a linguagem 28
Nota conclusiva
Uma última questão merece ser colocada: como explicar que, não tendo uma teoria da
linguagem desenvolvida, Espinoza tenha afirmado com tanta veemência a importância de um
estilo filosófico?
Sabemos que Espinoza usa, de forma intencional e explícita, uma metodologia
dedutiva para o estabelecimento do seu sistema, no qual, a partir de princípios primeiros auto-
evidentes (hipotéticos) e com a ajuda de definições, scholium e corolários, deduz a natureza
da humanidade. A questão é a seguinte: como explicar que Espinoza, sem ter dado uma
especial atenção aos temas linguagem, tenha deixado um monumento tão perfeito como a
Ethica, onde tenta aplicar o estilo que ele mesmo elegera?
A comparação com Leibniz é aqui de novo muito clarificadora. De facto,
contrariamente ao que poderíamos esperar, enquanto Espinoza elegeu um estilo particular –
“more geometrico” – como a forma necessária e adequada que a filosofia deveria procurar,
pelo contrario, Leibniz, para quem a linguagem é um item central, afirma que qualquer estilo
pode ser usado, desde que a verdade e a claridade estejam garantidas8.
A nossa resposta passa pela tese, aparentemente paradoxal, segundo a qual é porque o
sistema de Espinoza não reservava nenhum lugar especial ao problema da linguagem que,
justamente, Espinoza estava tão consciente do género literário que a filosofia devia adoptar.
Porque a linguagem é pensada por Espinoza como um obstáculo, e porque, além disso,
Espinoza é um convencionalista, ele tem que estabelecer um consenso inicial, ou seja, tem
que fundar o texto filosófico num princípio (ou começo) transparente. Nesta perspectiva se
pode dizer que Espinoza procura a natureza divina e intuitiva dos primeiros princípios, origem
e fonte de todas as ideias, causa de todos os seres, e tenta conservar essa verdade pelo rigor
estrito das cadeias dedutivas, procurando assim fazer surgir, não uma grande variedade de
textos e outras performances linguísticas, mas um conjunto arquitectónico como a Ethica –
suprema obra-prima da sua vida contemplativa.
8
Reconhecendo, embora, a importância da elegância para capturar a atenção e facilitar a memória do leitor,
Leibniz não deixa de considerar que as qualidades fundamentais do discurso filosófico são a clareza e a verdade
(GP 4: 138-139). Sobre este tema, o nosso estudo Pombo (1996).
.
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Olga Pombo 29
Leibniz, pelo contrário, sendo um defensor da natureza cognitiva da linguagem e da
sua abertura à realidade, pode apostar na transmissão gradual do significado, na exploração e
proliferação heurística das potencialidades da linguagem, pode tentar esgotar o horizonte
potencial dos significados anunciados por cada signo, por cada palavra, por cada frase, por
cada escrito, por cada género, por cada estilo, ou seja, Leibniz pode estar, sobretudo,
interessado na exploração activa e sistemática do dizível, no desenvolvimento e na explicação
progressiva e contínua do que está implícito no universo de sentido que estrutura a razão e a
sua linguagem.
Se em Espinoza existe uma ruptura clara entre verdade e significado – distinção que,
como vimos, está na origem da “invenção” da sua concepção imanente do significado – ou
seja, se em Espinoza deve existir uma ruptura profunda entre intuição e texto, entre razão e
linguagem, pelo contrário, em Leibniz, o significado é o caminho para a verdade, ou seja, a
linguagem é a via para o conhecimento.
Esta é, a nosso ver, a “grande invenção de Leibniz”: verdade e significado têm
unicamente uma diferença de grau.
Referências
ESPINOZA. Opera: Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hrsg, Von Carl
Gebhardt. Heidelberg : Carl Winters Universitaetsbuchhandlung, 1972. 4 Baende.
GUÉROULT, M. Spinoza II: l’âme: ethique, 2. Paris: Aubier-Montaigne, 1974. (Analyse et
Raisons, 18).
GUSDORF, G. Les origines de l’herméneutique. Paris: Payot, 1988.
LEIBNIZ, G. W. Leibniz. mathematische schriften: Hrsg. v. Carl Immanuel Gerhardt: 1-7.
Hildesheim: Olms, 1962. (GM)
______. Die philosophischen schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz:. Hrsg v. Carl
Immanuel Gerhardt: 1-7. Hildesheim: Olms, 1960. (GP)
LÉVINAS, E. L’au-delà du Verset: lectures et discours talmudiques. Paris: Minuit, 1982.
LOCKE, J. An essay concerning humane understanding in four books. 5th. Ed., with
large additions. Ed. with an introduction by John W. Yolton. Londres: Dent, 1972.
POMBO, O. The place of the dissertatio de stylo philosophico nizolii in the leibnizian praise
of the German language. In: FERRARA, M. T. Italia ed Europa nella Linguistica del
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Espinoza e a linguagem 30
Rinascimento. Roma: Franco Cosimo Panini Editore / Istituto di Studi Rinascimentali, 1996.
v. II, p. 57-67.
______. Leibniz e o problema de uma língua universal. Lisboa: JNICT, 1997.
______. Palavra e esplendor do mundo. Lisboa: Fim de Século, 2010.
ZAC, S. Spinoza et le langage. Giornale Critico Della Filosofia Italiana, n. 56, p. 612-633,
1977.
Artigo submetido em: 04 mar. 2011
Artigo aceito em: 08 abr. 2011
InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 16-30, jan./jun. 2011.
Você também pode gostar
- A origem da Semântica e suas primeiras conceituaçõesDocumento18 páginasA origem da Semântica e suas primeiras conceituaçõesDeniseAinda não há avaliações
- Análise do discurso: caracterização discursiva de um sermão de C. H. SpurgeonNo EverandAnálise do discurso: caracterização discursiva de um sermão de C. H. SpurgeonAinda não há avaliações
- Filosofia da Linguagem e Linguística: Comentários sobre Saussure, Frege, Wittgenstein e HeideggerDocumento8 páginasFilosofia da Linguagem e Linguística: Comentários sobre Saussure, Frege, Wittgenstein e HeideggerLanna SouzaAinda não há avaliações
- Linguística de Nosso Tempo: Teorias e PráticasNo EverandLinguística de Nosso Tempo: Teorias e PráticasAinda não há avaliações
- ExegeseDocumento22 páginasExegeseVanessa Araújo100% (1)
- Introdução à Linguística da Enunciação: origens e conceitos-chaveDocumento22 páginasIntrodução à Linguística da Enunciação: origens e conceitos-chavedepablaAinda não há avaliações
- Modelo de Resenha PDFDocumento4 páginasModelo de Resenha PDFMagno AugustoAinda não há avaliações
- Trabalho FDLC YuranDocumento8 páginasTrabalho FDLC YuranVictor dos ReisAinda não há avaliações
- Hermenêutica TeológicaDocumento18 páginasHermenêutica TeológicaFabiano Pizzas BarretoAinda não há avaliações
- O conceito de texto ao longo dos séculos: da Antiguidade à atualidadeDocumento34 páginasO conceito de texto ao longo dos séculos: da Antiguidade à atualidadeAnderson BezerraAinda não há avaliações
- HermeneuticaDocumento15 páginasHermeneuticaDirce Maria de Albuquerque Sanches Gonçales100% (1)
- A concepção de texto em Paul RicoeurDocumento8 páginasA concepção de texto em Paul RicoeurTaynara MendesAinda não há avaliações
- Provérbios - LatimDocumento8 páginasProvérbios - LatimDesiree100% (1)
- Apostila HermeneuticaDocumento15 páginasApostila HermeneuticaFlávia Alves Venturini100% (1)
- HERMENÊUTICADocumento11 páginasHERMENÊUTICACarla Pereira MacielAinda não há avaliações
- APOSTILA CETEPAR CompletaDocumento150 páginasAPOSTILA CETEPAR CompletaEduardo Sales de LimaAinda não há avaliações
- 1837 6250 1 PBDocumento3 páginas1837 6250 1 PBeddiekAinda não há avaliações
- 1 - Unidade I Nocões Introdutorias Sobre A ExegeseDocumento29 páginas1 - Unidade I Nocões Introdutorias Sobre A ExegeseSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- Exegese das Cartas Paulinas e GeraisDocumento50 páginasExegese das Cartas Paulinas e GeraisADENIVONAinda não há avaliações
- Síntese Da Unidade CurricularTarefaDocumento7 páginasSíntese Da Unidade CurricularTarefaPr. Jorge F. CacutoAinda não há avaliações
- Debaixo Dos CaracoisDocumento16 páginasDebaixo Dos CaracoisAle W.S.Ainda não há avaliações
- Fundamentos da Exegese do Antigo TestamentoDocumento7 páginasFundamentos da Exegese do Antigo TestamentoMarcos Wahib Dib FilhoAinda não há avaliações
- Introdução à Hermenêutica e Exegese BíblicaDocumento50 páginasIntrodução à Hermenêutica e Exegese BíblicaGuilherme FerrazAinda não há avaliações
- Tradições Discursivas e Mudança LinguisticaDocumento23 páginasTradições Discursivas e Mudança LinguisticaAndrea Marques Rosa EduardoAinda não há avaliações
- Introdução aos Estudos LinguísticosDocumento47 páginasIntrodução aos Estudos LinguísticosZieAinda não há avaliações
- EXEGESE - ValendoDocumento9 páginasEXEGESE - ValendoOtavio SobrinhoAinda não há avaliações
- Hermeneutica Matemática EADDocumento12 páginasHermeneutica Matemática EADMorane Almeida de OliveiraAinda não há avaliações
- Ha Separacao Entre Lingua e DiscursoDocumento17 páginasHa Separacao Entre Lingua e DiscursoCustodio CossaAinda não há avaliações
- Introdução aos Estudos LinguísticosDocumento47 páginasIntrodução aos Estudos LinguísticosP CAinda não há avaliações
- Exegese BíblicaDocumento68 páginasExegese BíblicaSeminário TeologicoAinda não há avaliações
- Exegese das Cartas PaulinasDocumento50 páginasExegese das Cartas Paulinasosymelo100% (2)
- Interpretação bíblica: exegese e hermenêuticaDocumento44 páginasInterpretação bíblica: exegese e hermenêuticajose mangoniAinda não há avaliações
- Laboratorio de Letras Redacao e Interpretacao de Textos Teoria e Historia Da LiteraturaDocumento382 páginasLaboratorio de Letras Redacao e Interpretacao de Textos Teoria e Historia Da LiteraturaAlex Ferreira da SilvaAinda não há avaliações
- Hermenêutica Bíblica: Seminário Teológico PenielDocumento25 páginasHermenêutica Bíblica: Seminário Teológico PenielJéssica Frederico BicudoAinda não há avaliações
- FAITERJ - Faculdade de TeologiaDocumento10 páginasFAITERJ - Faculdade de TeologiaRoberto DielloAinda não há avaliações
- A exegese bíblica: definição, objetivos e métodosDocumento96 páginasA exegese bíblica: definição, objetivos e métodosToni MouraAinda não há avaliações
- FTRB EAD - Hermenêutica I - Espiral Hermenêutica - Rev1 - 29abr19Documento5 páginasFTRB EAD - Hermenêutica I - Espiral Hermenêutica - Rev1 - 29abr19Charles XavierAinda não há avaliações
- Rodada 02 Por InssDocumento94 páginasRodada 02 Por InssFelipe RosaAinda não há avaliações
- Filologia e Linguística: encontros e desencontros conceituaisDocumento7 páginasFilologia e Linguística: encontros e desencontros conceituaisMarília VieiraAinda não há avaliações
- Princípios da Hermenêutica BíblicaDocumento71 páginasPrincípios da Hermenêutica BíblicaDomingos Welby100% (1)
- ROTEIRO DA NP-2 - Observações e Exercícios - Professor Anderson FrançaDocumento15 páginasROTEIRO DA NP-2 - Observações e Exercícios - Professor Anderson FrançaCleriston LopesAinda não há avaliações
- BRIGIDODocumento18 páginasBRIGIDOEduardo HenriqueAinda não há avaliações
- O Ensino Da Língua Portuguesa No Brasil - Mudanças de AbordagemDocumento46 páginasO Ensino Da Língua Portuguesa No Brasil - Mudanças de AbordagemMaria Dolores100% (1)
- A Gagueira de Moisés - Múltiplas Interpretações (C. A. Vailatti - Cuadernos de Teología - ISEDET) PDFDocumento30 páginasA Gagueira de Moisés - Múltiplas Interpretações (C. A. Vailatti - Cuadernos de Teología - ISEDET) PDFCarlos Augusto VailattiAinda não há avaliações
- A GAGUEIRA DE MOISÉS - Múltiplas Interpretações PDFDocumento30 páginasA GAGUEIRA DE MOISÉS - Múltiplas Interpretações PDF19700701Ainda não há avaliações
- Curso Exegese BíblicaDocumento226 páginasCurso Exegese BíblicaLiviston RuberthAinda não há avaliações
- Interpretação BíblicaDocumento23 páginasInterpretação BíblicaKairós100% (1)
- A Importância da Hermenêutica BíblicaDocumento4 páginasA Importância da Hermenêutica BíblicaHelio Francisco SilvaAinda não há avaliações
- Horta PDFDocumento16 páginasHorta PDFNanaAinda não há avaliações
- Diálogos intersemióticos: texto, imagem e textualidadeDocumento11 páginasDiálogos intersemióticos: texto, imagem e textualidadeLuciana BessaAinda não há avaliações
- MATERIAL DE APOIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (Guardado Automaticamente)Documento23 páginasMATERIAL DE APOIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (Guardado Automaticamente)Mohammed Cazevo de LemosAinda não há avaliações
- Revisão de Prova - Aula 5Documento2 páginasRevisão de Prova - Aula 5Mariana SharonAinda não há avaliações
- Trab 3 Psicolinguitica X Linguística TextualDocumento5 páginasTrab 3 Psicolinguitica X Linguística TextualRose SousaAinda não há avaliações
- Uma introdução completa à LingüísticaDocumento11 páginasUma introdução completa à LingüísticaAdo QeyAinda não há avaliações
- Discurso Da Escrita e Ensino SOLANGE GALLODocumento4 páginasDiscurso Da Escrita e Ensino SOLANGE GALLOAnonymous Syhm81TgraAinda não há avaliações
- A Gramatica ComparadaDocumento8 páginasA Gramatica ComparadaSilvanio AlmeidaAinda não há avaliações
- Apostila de HermeneuticaDocumento15 páginasApostila de HermeneuticaprguerraAinda não há avaliações
- Dicionario de Filosofia e Das Ciências SociaisDocumento0 páginaDicionario de Filosofia e Das Ciências SociaisFernando Gonçalves Silva SilvaAinda não há avaliações
- Análise de Discurso: campo interdisciplinarDocumento31 páginasAnálise de Discurso: campo interdisciplinarFamília Lins AnunciaçãoAinda não há avaliações
- Formação de formadores básicos: o que pensam outros especialistasDocumento20 páginasFormação de formadores básicos: o que pensam outros especialistasAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Porto Seguro - Turismo, Desenvolvimento Local e Pobreza No Município de Porto Seguro-BADocumento4 páginasPorto Seguro - Turismo, Desenvolvimento Local e Pobreza No Município de Porto Seguro-BAAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- POMBO EpistemologiaDaInterdisciplinaridadeDocumento29 páginasPOMBO EpistemologiaDaInterdisciplinaridadeKleber LimaAinda não há avaliações
- Saneamento - Agroambiental em Microbacias Bahia JequiricaDocumento15 páginasSaneamento - Agroambiental em Microbacias Bahia JequiricaAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Interdisciplinaridade e Integração Dos Saberes - Olga PòmboDocumento13 páginasInterdisciplinaridade e Integração Dos Saberes - Olga PòmboAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Resolução Educação Ambiental BahiaDocumento3 páginasResolução Educação Ambiental Bahiabrunolago21Ainda não há avaliações
- Educação ambiental na escolaDocumento245 páginasEducação ambiental na escolaAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- 2013 EnEPQ5Documento17 páginas2013 EnEPQ5Barbara SousaAinda não há avaliações
- Resolução CONAMA Nº 306 de 05 - 07 - 2002 - Gestão e Impacto AmbientalDocumento3 páginasResolução CONAMA Nº 306 de 05 - 07 - 2002 - Gestão e Impacto AmbientalAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Sustentavel Ou Cidades SustentaveisDocumento8 páginasDesenvolvimento Sustentavel Ou Cidades SustentaveisAna SantosAinda não há avaliações
- Educação Ambiental No Licenciamento Uma Análise CríticaDocumento155 páginasEducação Ambiental No Licenciamento Uma Análise CríticaThomaz LipparelliAinda não há avaliações
- Movimentos ambientalistas e educação ambientalDocumento25 páginasMovimentos ambientalistas e educação ambientalAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- A função social da educação ambiental nas práticas colaborativasDocumento17 páginasA função social da educação ambiental nas práticas colaborativasAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Filosofia Contemporânea - Contexto, Filósofos, Ideias - Brasil EscolaDocumento3 páginasFilosofia Contemporânea - Contexto, Filósofos, Ideias - Brasil EscolaAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Interdisciplinaridade - Primeiras Discussoes - Isabel CarvalhoDocumento36 páginasInterdisciplinaridade - Primeiras Discussoes - Isabel CarvalhoAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Aspectos da Filosofia contemporânea discutidos por Marilena ChauíDocumento5 páginasAspectos da Filosofia contemporânea discutidos por Marilena ChauíAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- BemviverDocumento18 páginasBemviverÁtila CaetanoAinda não há avaliações
- Livro - Michele SATO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL TESSITURAS DE ESPERANÇASDocumento103 páginasLivro - Michele SATO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL TESSITURAS DE ESPERANÇASLouise Braga100% (1)
- Volpato-2015. Cap. 1-SeleçãoDocumento18 páginasVolpato-2015. Cap. 1-SeleçãoAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Filosofia Moderna - Marilena Chauí - 2014 - Territórios de FilosofiaDocumento11 páginasFilosofia Moderna - Marilena Chauí - 2014 - Territórios de FilosofiaAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Renascimento - Características e Contexto HistóricoDocumento3 páginasRenascimento - Características e Contexto HistóricoAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Conflitos Entre Populações Humanas e Uc NupaubDocumento323 páginasConflitos Entre Populações Humanas e Uc NupaubAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Como Construir PP Ebook 01Documento227 páginasComo Construir PP Ebook 01Alessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- MITO e Filosofia - Chaui - Territórios Da FilosofiaDocumento6 páginasMITO e Filosofia - Chaui - Territórios Da FilosofiaAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- ProNEA 2018Documento104 páginasProNEA 2018Alessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Mirando EA Perspectiva Comunidades Interpretativas AVANZI 2003 Ou 4Documento21 páginasMirando EA Perspectiva Comunidades Interpretativas AVANZI 2003 Ou 4Alessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Tratado EA - 2a Jornada - Rio+20Documento9 páginasTratado EA - 2a Jornada - Rio+20Alessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- EA Reflexões Construção Coletiva Conhecimento Avanzi Et All 199920211116 - 19305379Documento8 páginasEA Reflexões Construção Coletiva Conhecimento Avanzi Et All 199920211116 - 19305379Alessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- O conceito de representação social na abordagem psicossocialDocumento9 páginasO conceito de representação social na abordagem psicossocialGislayneAinda não há avaliações
- Conflitos na Reserva Biológica da ContagemDocumento115 páginasConflitos na Reserva Biológica da ContagemAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Lei Municipal Nº 2.814-2012 LEI PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO CRATO CEARÁDocumento3 páginasLei Municipal Nº 2.814-2012 LEI PARCELAMENTO USO E OCUPAÇÃO CRATO CEARÁAlice MoraesAinda não há avaliações
- Atividade Online 1 - Comercio 4Documento7 páginasAtividade Online 1 - Comercio 4Armando Luizon NetoAinda não há avaliações
- Identificando e gerenciando emoçõesDocumento1 páginaIdentificando e gerenciando emoçõesAnanda Sierra GamaAinda não há avaliações
- Compact 8 10 12 14Documento138 páginasCompact 8 10 12 14AntônioAinda não há avaliações
- O relógio mágicoDocumento3 páginasO relógio mágicoPatrícia AntunesAinda não há avaliações
- Miscelânea de questões CESPEDocumento4 páginasMiscelânea de questões CESPEDandara DantasAinda não há avaliações
- Topologia dos Números ReaisDocumento40 páginasTopologia dos Números ReaisMatheus FerreiraAinda não há avaliações
- vod-Física-Cinemática Vetorial-2021Documento11 páginasvod-Física-Cinemática Vetorial-2021Matchokas VLOGSAinda não há avaliações
- Chamada Publica AGI 01 2024 Regionais Versao AtualizadaDocumento16 páginasChamada Publica AGI 01 2024 Regionais Versao Atualizadavaniaaguia4Ainda não há avaliações
- CURSO REPARAÇÃO NOTEBOOK Download Torrent, Magnet Link PDFDocumento3 páginasCURSO REPARAÇÃO NOTEBOOK Download Torrent, Magnet Link PDFThony Jhon100% (5)
- Pneumonia Associada A Ventilação Mecânica (PAV) em AdultosDocumento2 páginasPneumonia Associada A Ventilação Mecânica (PAV) em AdultosIntensimedAinda não há avaliações
- PrescricasoDocumento20 páginasPrescricasoBiancaMaschioAinda não há avaliações
- Guia para planejamento de sistema ILPFDocumento16 páginasGuia para planejamento de sistema ILPFGuilherme Factori Bianchi100% (1)
- Aplicação e Entrevista - Victoria V N WDocumento29 páginasAplicação e Entrevista - Victoria V N WletíciaAinda não há avaliações
- Colégio Theobaldo Miranda Santos: ATIVIDADE PREPARATÓRIA PARA A ATIVIDADE PARANÁDocumento5 páginasColégio Theobaldo Miranda Santos: ATIVIDADE PREPARATÓRIA PARA A ATIVIDADE PARANÁLuciane NaveAinda não há avaliações
- Catalogo de Materiais SBS-EP ES SB Rev 3 PDFDocumento567 páginasCatalogo de Materiais SBS-EP ES SB Rev 3 PDFAlexandre FreitasAinda não há avaliações
- A Realidade Do Veterinario Recem FormadoDocumento15 páginasA Realidade Do Veterinario Recem FormadoGabriel DiasAinda não há avaliações
- CAPACITORES CERAMICO ApresentacaoDocumento18 páginasCAPACITORES CERAMICO ApresentacaoJake douabeAinda não há avaliações
- Az Livro Biologia 3a Serie Aluno 1o Bimestre MioloDocumento380 páginasAz Livro Biologia 3a Serie Aluno 1o Bimestre MioloFabiana MonteiroAinda não há avaliações
- Formação de saisDocumento14 páginasFormação de saisMoacir Auzani AuzaniAinda não há avaliações
- Estudos Disciplinares XIVDocumento3 páginasEstudos Disciplinares XIVRogério SobrinhoAinda não há avaliações
- O Método de Rorschach: conceitos gerais e aplicaçãoDocumento3 páginasO Método de Rorschach: conceitos gerais e aplicaçãowillianpereirasilvaAinda não há avaliações
- Manual Medidor de VibraçãoDocumento8 páginasManual Medidor de Vibraçãoemamoraes12Ainda não há avaliações
- Tanque Rede CodevasDocumento72 páginasTanque Rede CodevasMauro BorgesAinda não há avaliações
- Exercícios de Mitose e Meiose com GabaritoDocumento21 páginasExercícios de Mitose e Meiose com GabaritoPedro Ayala CastilloAinda não há avaliações
- Lei 12.334 estabelece política segurança barragensDocumento9 páginasLei 12.334 estabelece política segurança barragensgustavo fernandessAinda não há avaliações
- Módulo II-Perícia JudicialDocumento22 páginasMódulo II-Perícia JudicialRaphael Mendes Baptista leahparAinda não há avaliações
- Profissões Das Ciências SociaisDocumento2 páginasProfissões Das Ciências SociaisMaria FernandesAinda não há avaliações
- O Inferno de Dante e A Simbologia Do Sétimo CírculoDocumento13 páginasO Inferno de Dante e A Simbologia Do Sétimo CírculoMarlon de Souza100% (1)
- Banheiro pré-fabricadoDocumento9 páginasBanheiro pré-fabricadoEd NascimentoAinda não há avaliações