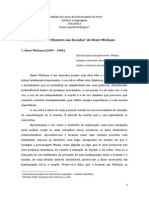Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Corpo Objeto Comunicação - KT GR PDF
Enviado por
PradoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Corpo Objeto Comunicação - KT GR PDF
Enviado por
PradoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O meio é a mensagem: porque o corpo é objeto da comunicação
Helena Katz e Christine Greiner
Resumo: Cultura tem sido entendida, seja qual definição se escolha, como aquilo que
nos distingue dos outros, dos diferentes de nós. Identifica grupos sociais, separa
humanos da vida animal e da natural. As culturas bibliográficas também delimitam
territórios e bloqueiam o acesso de estrangeiros a seus domínios. Este texto, porque
considera insustentável a demarcação de geografias epistemológicas não permeáveis
às contaminações culturais, proporá o corpo como um dos objetos da área da
Comunicação. Para tal, voltará à McLuhan, às vésperas das celebrações do centenário
de seu nascimento, para recuperar, nos seus escritos, os de um banido em processo de
re-incorporação, as indicações de que comunicação e sistema nervoso podem ser
tratados no mesmo território teórico. Para que o campo da comunicação se constitua,
de fato, como aquele que se debruça sobre os vínculos humanos e, portanto, atravessa
o corpo (Sodré, 2002), respeitando a plasticidade que lhe é própria, será necessário
investigá-lo com uma lógica nascida das conexões. Partindo da hipótese de que a
comunicação se forja no modelo de relacionamento presa-predador, não reduz o corpo
a seus produtos nem tampouco aos resultados de sua atuação no mundo (mensagens,
significações, artefatos).
Foram necessários 22 séculos para se chegar à cozinha de Deus. Porque foi no
atlas De horporis humani fabrica libri septem (Sete livros sobre a construção do
corpo humano) que Andreas Vesalius (1514-1564) apresentou o resultado das
dissecações que começara a realizar em corpos recém-assassinados. Pela primeira
vez, o que havia dentro do corpo era exposto e a visão da “cozinha de Deus” fez com
que o que até então era considerado como o conhecimento sobre o corpo fosse
transformado em referência simbólica. Poder olhar para o interior do corpo mudou
tudo - não se pode esquecer da metáfora ontológica que associa o ato de ver ao de
conhecer, de saber. Afinal, o homem já tinha olhos quando não passava de uma
gosma no fundo do mar - e, provavelmente por isso, ainda lave os seus olhos com
água salgada quando chora. O constante aprimoramento do ato de ver o dentro do
corpo, que não para de conquistar possibilidades sempre novas por conta dos
permanentes avanços tecnológicos, tem rendido conhecimentos que deveriam operar
de maneira semelhante hoje, realocando verdades antigas no seu devido papel de
referências históricas. Todavia, a experiência vem demonstrando que concepções
científicas inadequadas têm vida própria.
O mais frequente, quando o assunto é o corpo humano, tem sido começar por
Descartes e suas duas res (extensa, a máqina física reflexa, e pensante, a máquina
cognitiva não-física). Porém, explicações para o funcionamento do corpo humano
que se apoiam numa estrutura dualista de argumentação datam de muito antes dele.
Platão (428 - 348 a.C), por exemplo, formulou uma que atravessou todos os séculos e
algo dela ainda sobrevive entre nós. Quando diz, no Phaedrus, que a essência da alma
é gerar movimento, trata o corpo como aquilo que precisa de algo que não contém
para se tornar vivo e humano. A sua proposta consolida a idéia de que o movimento
necessita ser ativado, seja a partir de uma fonte interna ou não. E estabelece que só
pode ser considerado vivo o corpo movido pela força interna (com o que nomeia de
alma), ela, sim, imortal. Quanto ao corpo que se move por ação de uma fonte externa,
como não tem alma, não pode ser considerado vivo nem humano.
Escritos mais recentes, contudo, insistem numa perspectiva que descarta todas
as formas de entendimento do corpo como algo ao qual se agregam conteúdos para
apresentar o corpo como um resultado sempre transitório dos processos de co-
evolução que pautam a vida na Terra. A coleção de informações que dá nascimento ao
corpo humano o faz quando se organiza como uma mídia dos processos sempre em
curso - daí a transitoriedade da sua forma. Por isso, olhar o corpo representa sempre
olhar o ambiente que constitui a sua materialidade. O verbo precisa estar no presente
(constitui) para dar ênfase ao caráter processual dessas operações, em fluxo
inestancável, que fazem descer na enxurrada que a sua argumentação teórica
promove, as antigas separações entre natureza e cultura.
“Seu corpo não é e não poderia ser um recipiente para uma mente
desencarnada. O conceito de mente separada do corpo é um conceito metafórico.
Pode ser uma consequência, como foi para Descartes, da metáfora do Conhecer é Ver,
a qual, por sua vez, nasce da experiência embodied (materializada) desde o
nascimento, de ganhar conhecimento através da visão” (Lakoff e Johnson, 1999: 561-
562).
A noção do corpo como recipiente onde elementos se transmutam encontra-se
também nos alquimistas (Gasc, 1987), que atribuíam ao corpo humano a propriedade
de transformar comida em sabedoria e dizeram deste o modelo para a transformação
de metal em ouro.
A compreensão do corpo vivo como sendo o que possui acionamento interno
do seu movimento (o seu diferencial) implicou na necessidade de buscar a localização
desse comando (a alma platônica, a mente cartesiana) dentro do corpo. Para Galeno
(c.130 - c.200), por exemplo, a alma ficava no encéfalo, e os nervos saíam de lá ou da
coluna vertebral para controlar os músculos, que considerava como sendo os
instrumentos do movimento voluntário.
A proposta de um corpo dotado de algo que o distingue de todos os outros
corpos existentes no mundo irá atravessar muitos séculos e impregnar as mais
distintas formulações filosóficas. Nelas, o corpo será apresentado como aquilo que
recebe esse comando quando nasce e é por ele abandonado na morte (quando se torna
inerte, não vivo, sem movimento). Até mesmo Hal 9000, o computador criado por
Stanley Kubrick em 2001, uma Odisséia no Espaço (1968), repetiu algumas vezes,
com uma voz cada vez mais pausada, antes de ser definitivamente desligado: “I’m
afraid, Dave. My mind is going, Dave. I can feel it”. (“Tenho medo, Dave. Minha
mente está desaparecendo, Dave. Posso sentir isso acontecendo”).
A questão do movimento se mostra crucial quando o assunto é corpo. Todavia,
estivemos sempre tão absorvidos pela aceitação dos cinco sentidos como o teste
central do que nos cerca que não nos demos conta de que faltava arrolar o movimento
nesse mesmo conjunto de características do corpo humano. “Para colocar como
J.J.Gibson alguns anos atrás, é preciso se mover para poder perceber, mas também
perceber para poder se movimentar” (Ginsburg, 2001: 70).
Somos tão treinados nas diversas formas que o Ocidente encontrou para
manifestar que corpo e mente são separados que, por cerca de 25 séculos, tal proposta
passou a ser tomada quase como um universal da cultura. Detidos nela, não demos
ênfase suficiente ao fato de que não existe corpo universal e tampouco à questão do
movimento na constituição desse corpo como humano.
Basta uma folheada mais atenta do The expresiveness of the body and the
divergence of Greek and Chinese Medicine (1999), livro de Shigehisa Kuryiama, para
se deparar com dois mapas anatômicos que oferecem imagens de corpo inteiramente
distintas. De acordo com os gregos antigos, o corpo está recheado por músculos, mas
se a referência for a medicina chinesa, a representação do corpo não tem um único
músculo, só meridianos. Nem poderia ser diferente, uma vez que, em chinês, não
existe uma palavra específica para corpo, apenas descrições de diferentes estados do
corpo. Trata-se, provavelmente, do melhor exemplo de que não há nada parecido com
um corpo universal. O corpo, como tudo, depende do modo como é abordado. Ler o
corpo signifíca sempre reconstruí-lo. Não há um corpo único à espera de dissecação
para, então, deixar de ser um objeto mudo porque terá as suas partes identificada e
descritas. Não têm sido poupados esforços na busca de argumentos para derrubar a
idéia de corpo imutável e dado a priori. A inteligibilidade científica, como se sabe,
também depende do compartilhamento das referências que guiaram a sua
constituição. À luz da fenomenologia, por exemplo, tem sido propostas novas
nomenclaturas como a da corporalidade ao invés de corpo (Bernard, 2001) na
tentativa de afirmar a plasticidade do fluxo de informações e negar a metáfora do
organismo como aquilo que é inato e comum a todos. Emprestando uma metáfora de
outra natureza, neste caso do âmbito jurídico, Jean Luc-Nancy (2001) proporá a
palavra corpus ao invés de corpo, salientando o corpo como uma ação e não como
produto. Falar de corpus, segundo Nancy, é reconhecer que cada corpo representa um
caso particular, ou seja, a cada corpo corresponderia uma jurisdição própria. Vale
lembrar que ao tempo de Vesalius, aquele que havia refutado Galeno, o termo em
circulação nas universidades européias era corpus.
E porque assim é, vamos começar pelos modelos aceitos pelas ciências da
comunicação para o estudo de seus fenômenos. Como se verá adiante, há distintos
conceitos de comunicação aplicados em cada qual.
O corpo e os modelos da comunicação
Nove modelos de comunicação podem ser agrupados em três categorias
distintas: positivistas (emissor-receptor, comunicacão em dois níveis e tipo
marketing), sistêmicos (sociométrico, transacional, interacionista, da orquestra) e
construtivistas (hipertexto, situacional). Os positivistas entendem a comunicação
como uma mensagem em ação e se apoiam na noção de causalidade (algo produz um
efeito). Os modelos sistêmicos chamam de comunicação às diversas formas com que
as trocas se dão quando as relações entre um determinado conjunto de participantes se
estrutura. E os construtivistas tratam a comunicação como a expressão de uma
construção coletiva de sentido e de fenômenos. (Mucchielli/Guivarch, 1998)
De todos, o mais popular continua sendo o modelo emissor-receptor,
originário da Teoria da Informação dos anos 40 (Shannon et Weaver, 1945; Winner,
1954). Mas desde que McLuhan publicou, em 1964, o livro que em poucas semanas
se tornaria a Sagrada Escritura da área, Understanding Media: The Extensions of
Man, ficou claro que para falar de comunicação, em algum momento seria
indispensável falar no sistema nervoso. Não escapou à pecha de disseminar
“misticismo científico”, mas lembrou a seus opositores que Guttenberg, no século 16,
também fora acusado de precussor da anarquia intelectual, pois que seus tipos
gráficos dariam cabo da civilização (que, até então, se apoiava na transmissão oral dos
manuscritos preservados em monastérios). (Lapham, 1994: xiii)
Quando postulou que o meio é a mensagem (“The medium is the message”,
título do seu Capítulo 1) e que nós damos forma às nossas ferramentas e, então, elas
nos moldam (“we shape our tools, and therefore our tools shape us”), abriu caminho
para que toda uma área de investigação que tomaria vulto duas décadas depois, e que
se nomearia de “embodiment”1, encontrasse abrigo entre os estudiosos da
comunicação. Esse coletivo de pesquisadores não discute se corpo e mente são uma
única ou duas substâncias distintas porque assumiu que para investigar o corpo faria
das descobertas empíricas as suas hipóteses. Para eles, a razão é dependente do que
acontece ao corpo e esse corpo, seu cérebro e as interações com o ambiente, fornecem
as bases para a comunicação.
Ao final dos anos 80, formou-se no International Computer Science Institute
(ICSI), em Berkeley, um grupo de pesquisa de base fortemente conexionista intitulado
Neural Theory of Language (NTL), uma colaboração entre Jerome Feldman, Geoge
Lakoff e seus alunos. O objetivo era explicar como se dá o aprendizado e o uso de
conceitos e da linguagem. Que os neurônios se tornassem os instrumentos para a
construção de um modelo, foi mera consequência. Que atestou que são mecanismos
neurais que nos levam a perceber, se mover, sentir, bem como projetar teorias e
filosofias, assim como experiências espirituais.
Quando Varela propôs o sistema imunológico como paradigma para o
conhecimento dos processos cognitivos do corpo (1994), chamou a atenção para o
fato dos discursos sobre imunologia terem sido dominados pelas metáforas militares
(defesa do corpo, ataque de antígenos, etc), e aqueles sobre a cognição terem tomado
o computador como modelo. Para cumprir a sua função, que é a de manter a
integridade corpórea do sujeito, o sistema imunológico deve ser capaz de reconhecer
diferentes moléculas, inclusive aquelas que nunca viu antes e, para conseguir fazer
isso, precisa ter memória. A descrição dessas operações, até bem recentemente, se
utilizava da Teoria da Informação para descrever a informação como vinda de fora e
sendo recebida pelo corpo que, quando reagia adequadamente, produzia anticorpos
(modelo input/output).
Hoje se sabe que nosso corpo não funciona por reconhecimento dual entre
anticorpo e antígeno. Nós carregamos um repertório de anticorpos, permante em nós,
criado antes de qualquer confronto com antígenos externos. Quando mantidos em
níveis normais de circulação, tais antígenos não nos fazem mal. E mais: organismos
não expostos a antígenos também desenvolvem sistemas imunológicos eficientes.
Estas descobertas, datadas de meados dos anos 70 (N. Jerne, 1974), levaram a uma
mudança fundamental: a admissão de que o processo de reconhecimento se dá em
rede e com as mesmas regras de qualquer outra rede. “Isso significa que os efeitos de
um antígeno que adentra, como em qualquer perturbação numa rede rica, variará e
dependerá do contexto daquela rede” (Varela, 1994: 281).
Assim, de sistema defensivo que reage a ataques do exterior, o sistema
imunológico passou a ser tratado como o que estabelece uma identidade molecular. É
ele quem garante a nossa identidade plástica e em permanente transformação. Ou seja,
tomando-se o papel do sistema imunológico como a metáfora do modo como o corpo
funciona, fica-se fora do tratamento dual emissor-receptor.
Não há nenhum conhecimento formulado na linguagem que não tenha estado
no corpo.
A materialização da comunicação no corpo
Ao invés de um resultado biológico, um medium - eis a compreensão de corpo
que interessa aqui. E ela abre uma outra perspectiva cultural para esse fenômeno
chamado corpo.
Foi a Idade do Gelo que forjou o fundamento para o que chamamos de cultura,
e em cuja base está a comunicação: a relação predador-presa. Nessa época, nossos
ancestrais paleolíticos disputavam comida com carnívoros ferozes e, para enfrentá-los
e conseguir sobreviver, organizaram-se em pequenos grupos. Contudo, tornava-se
cada vez mais difícil encurralar um bando de presas, e foi restando aos caçadores
apenas a chance de capturá-las uma a uma. Essa nova demanda passou a depender das
habilidades individuais, que se tornaram, então, um requisito indispensável. Ao final
desse período, a especialização havia se tornado a moeda da sobrevivência e o Homo
sapiens sapiens tomou o lugar até então ocupado pelo Neanderthal. O que
aprendemos nessa ocasião dura ainda hoje: humanos identificados como diferentes,
considerados “outros” por serem exteriores ao nosso grupo, à nossa cultura, passaram
a ocupar o lugar da presa (até então, apenas animais eram caçados). Muito antes, há
dois milhões e meio de anos, o cérebro havia aumentado extraordinariamente de
tamanho, registrando a transição do Australopithecus para o Homo.
“Na luta ameaçadora em evitar o sofrimento e a morte de ser presa de outros
animais ou outros predadores, como bandos de pessoas de outros grupos culturais, o
córtex cerebral do homo sapiens desenvolveu o potencial duradouro de construir
representações do “outro” - daquele que é diferente de mim/nós e que não apresenta
as qualidades necessárias da minha/nossa própria identidade. O “outro” é uma
representação que se origina no temor e na dor, nasce no sofrimento e é ativada pelo
senso inato do paradigma predador-presa. A imagem daquele que é diferente é
mantida na mente com uma sensação de terror, uma besta selvagem simbólica”
(Steward, Edward C, 2001:12).
Num mundo regulado pela dominância dos grandes predadores, os humanos
desenvolveram circuitos neuronais capazes de transformar o medo (típico das presas)
em agressividade (materializando, assim, a estranha relação que existe entre presa e
predador). Não à toa, faz parte da nossa linguagem referir-se a uma reação explosiva
como “fulano virou um bicho”. Um lado incontrolável e muito antigo, animal, subjaz
em cada um de nós e é sempre despertado pelo outro. Será que a ameaçadora
experiência predadora deixou em nós resíduos que se tornaram inatos e responsáveis
por consequências sociais de medo e agressão? Seria a ansiedade um subproduto
inevitável do medo do ataque iminente que conservamos em nós? Devem a síndrome
do pânico e as fobias ser encaradas como soluções adaptativas? (Stewart, 2001)
Como se sabe, todo processo de comunicação pressupõe a existência da
diferença. É preciso ser capaz de reconhecer um “outro”, existir algo que se destaque
em um ambiente de iguais para que a comunicação se estabeleça. Mesmo a mais
básica das trocas de energia e/ou informação só acontece fora da homogeneidade
plena. Todavia, desde o começo da vida, todas as ações que guiam o reconhecimento
desse outro, entre os humanos, são acompanhadas do mesmo sentimento: medo. A
comunicação se desenvolve a partir daí, com um corpo que o tem carnificado na sua
corporeidade.
O tempo também desempenha um papel fundamental na identificação e no
surgimento das diferenças. E quando aparece em movimento (fluxo) já anuncia a
possibilidade do outro, porque todo sinal que ocorre em diferentes tempos (fluxo que
não estanca) se modifica. (Llinás 2002:250). Isso vale para longos períodos (escala
evolutiva, origem das espécies) e para conversas telefônicas, transmissão de impulsos
nervosos no corpo, relacionamentos dos mais diversos tipos. Quando o tempo entra
nessa discussão, além da ação de reconhecimento do outro, surgem mais duas
possibilidades que agem simultaneamente: antecipação e reconstrução. Não sem
motivos, os estudos de Sigmund Freud acerca do trauma vêm sendo lembrados e
relembrados nas diversas discussões acerca da cultura. Um evento só é reconhecido
como traumático depois que um outro, posterior, o recodifica em uma ação posterior.
A questão aqui é a seguinte. Se isso acontece em relação ao corpo e as
informações processadas no mundo, o mesmo vale para as teorias. O movimento de
antecipação e reconstrução no território epistemológico envolve ações que, a partir
dos novos observadores e seus ambientes, atualizam o que o crítico de arte Hal Foster
(1996) chama de conexões latentes. Formalizações matemáticas, assim como
primórdios da linguagem, são o resultado de comportamentos criativos
inestancavelmente recodificados em função dos processos de comunicação que
anunciam. O reconhecimento do corpo como medium resulta numa investigação que
não pode desprezar a importância do conhecimento da sua constituição como corpo,
em termos evolutivos. O estudo do corpo como a mídia onde as mensagens tomam a
sua forma, bem como criam as formas que o corpo assume, não se efetiva sem
conectividade interteórica. Trata-se de condição para o desenvolvimento de uma
teoria da comunicação que não despreza a sua própria história e, portanto, não se
ampara mais somente nos objetos das mídias de massa e seus significados, mas sim,
nas intermediações que se constróem e naquilo que Llinás (op.cit:3) considera o
grande diferencial da nossa espécie: a capacidade de previsão. Diferente dos atos
reflexos, ela só se torna possível a partir de uma aliança entre os níveis de atuação
neurofisiológico e fenomenológico. Somente ao abrigo de uma cartela de saberes,
tratados com o rigor das reduções epistemológicas (Churchland, 1998), a
comunicação poderá se apresentar como a filosofia pública que Sodre (2002) pleiteia.
Neste campo de enfrentamentos, o fluxo é inestancável, a comunicação
inevitável, e o pensamento, nada além do que os movimentos internalizados do corpo.
Referências bibliográficas:
Bernard, Michel (2001). De la Création Chorégraphique. Paris: Centre Nactional de
la Danse.
Bernard, Michel (2ed, 1986). L' Expressivité du corps. Paris: Chiron.
Blackmore, Susan (1999). The Meme Machine. Oxford: Oxford University Press.
Churchland, Patricia S. e Terence J. Sejnowski (1994). The Computational Brain.
Cambridge e Londres: The MIT Press.
Foster, Hal (5thprint, 1996, 2002). The Return of the Real. The MIT Press, October
Book.
Ginsburgs, Carl (2001). Mind and Motion. A Review of Alain Berthoz’s The Brain’s
Sense of Movement”. In Journal of Conciousness Studies, Vol. 8. No. 11, pp. 65-73.
Lakoff, George e Mark Johnson (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind
and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books.
-------------------------------------- (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of
Chicago Press.
Lapham, Lewis H. (2001). In Understanding Media: The Extensions of Man.
Cambridge, London: The MIT Press.
Llinás, Rodolfo (2002). I of the Vortex. Massachussets, Londres: Bradford Books.
McLuhan, Marshall (2001). Understanding Media: The Extensions of Man.
Cambridge, Londres: The MIT Press.
Mucchielli, Alex e Jeannine Guivarch (1998). Nouvelles méthodes d’étude des
communications. Paris: Armand Colin.
Nancy, Jean-Luc (2001). Corpus. Paris: PUF, .
Neiva, Eduardo (2001). “Rethinking the Foundations of Culture”, in Culture in the
Communication Age, pp.31-53. Londres e Nova York: Routledge.
Schlander, Judith (1995). Les Métaphores de l' organisme. Paris: Harmattan.
Sodré, Muniz (2002). A forma de vida da mídia. Entrevista à Revista Fapesp, pp.86-
89.
---------------- (2002). Antropológica do Espelho. Rio de Janeiro: Vozes/CNPq.
Steward, Edward C. (2001). “Culture of the Mind. On the origins of meaning and
emotion”, in Culture in the Communication Age, pp. 9-30. Londres e Nova York:
Routledge.
Varela, Francisco e MArk R. Anspach (1994). “ The Body Thinks: The Immune System
in the Process of Somatic Individuation” , in Materialities of Communication, ed.
Hans Ulrich Gumbrecht e K. Ludwig Pfeiffer. Standford: Standford University Press.
Você também pode gostar
- Métodos de Concentração - Grigori GrabovoiDocumento61 páginasMétodos de Concentração - Grigori Grabovoieduardo mendes ADS100% (1)
- A Atuação e Relevância Do Psicologo Juridico Nas Varas de FamiliaDocumento17 páginasA Atuação e Relevância Do Psicologo Juridico Nas Varas de FamiliaGustavo WalterAinda não há avaliações
- Balão gástrico imaginário: roteiro da sessão 1Documento16 páginasBalão gástrico imaginário: roteiro da sessão 1Johnatha Carlos100% (3)
- Wertheimer-Teoria Gestalt PDFDocumento9 páginasWertheimer-Teoria Gestalt PDFKaroline TrindadeAinda não há avaliações
- COLI-GIUBILATO-WEBER. Eugen Fink - Mundo, Fenomenologia, ExistênciaDocumento131 páginasCOLI-GIUBILATO-WEBER. Eugen Fink - Mundo, Fenomenologia, ExistênciaJoão Marcos RosaAinda não há avaliações
- O Yoga de Sri Aurobindo Partes V A VII PDFDocumento185 páginasO Yoga de Sri Aurobindo Partes V A VII PDFPedro FilipeAinda não há avaliações
- ApometriaDocumento10 páginasApometriaLuciana MarottaAinda não há avaliações
- Cultura Popular Na Idade Média e No Renascimento o Contexto de Francois Rabelais, A - BAKHTIN, Mikhail.Documento426 páginasCultura Popular Na Idade Média e No Renascimento o Contexto de Francois Rabelais, A - BAKHTIN, Mikhail.Clown e GregorianoAinda não há avaliações
- Artigo Doença PsicossomáticaDocumento19 páginasArtigo Doença PsicossomáticaPriscila Fagundes100% (1)
- Sequências de Grabovoi para doençasDocumento17 páginasSequências de Grabovoi para doençasadilsonbritoAinda não há avaliações
- A arte de pensarDocumento314 páginasA arte de pensarSandro Da Silva Santos83% (6)
- Conhecendo as causas da irritaçãoDocumento109 páginasConhecendo as causas da irritaçãoAna Lucia CostaAinda não há avaliações
- A corrida de 50 milhoesDocumento200 páginasA corrida de 50 milhoesEdsonAinda não há avaliações
- Jornada Dos ChakrasDocumento23 páginasJornada Dos ChakrasRodrigo de Oliveira Reis100% (2)
- Frases e ditos originais e recicladosDocumento27 páginasFrases e ditos originais e recicladosgrprofetaAinda não há avaliações
- SaberDocumento16 páginasSaberMoisesAinda não há avaliações
- Livro - Lingua Brasileira de Sinais - LibrasDocumento168 páginasLivro - Lingua Brasileira de Sinais - LibrasMariana Dias Girard100% (2)
- My Journey Beyond Beyond ExcerptDocumento15 páginasMy Journey Beyond Beyond ExcerptLucimar Sena100% (1)
- Minha Salvação 1 - Adriana BrasilDocumento361 páginasMinha Salvação 1 - Adriana BrasilMarcella SolAinda não há avaliações
- Michaux - Estetica PRCDocumento10 páginasMichaux - Estetica PRCPaula Cepeda RodriguesAinda não há avaliações
- BOKORDocumento4 páginasBOKORCarlos MeloAinda não há avaliações
- Aprendizagem motora, psicomotricidade e desenvolvimento humanoDocumento44 páginasAprendizagem motora, psicomotricidade e desenvolvimento humanoLuiz100% (1)
- Boa, agradável e perfeita vontade de DeusDocumento4 páginasBoa, agradável e perfeita vontade de DeusRafael Nimer100% (1)
- Relatos de infidelidade em conferênciaDocumento10 páginasRelatos de infidelidade em conferênciaSARA LOPESAinda não há avaliações
- Apostila Inteligência Positiva - Academia de LíderesDocumento11 páginasApostila Inteligência Positiva - Academia de LíderesSebastian BonhommeAinda não há avaliações
- Conceitos básicos em saúde mentalDocumento97 páginasConceitos básicos em saúde mentalHarrison RivelloAinda não há avaliações
- Sherry Turkle: Fronteiras Do Real e Do VirtualDocumento7 páginasSherry Turkle: Fronteiras Do Real e Do VirtualMariAmaro100% (2)
- Introdução ao AsatruDocumento41 páginasIntrodução ao AsatruLuiz Gustavo Costa100% (1)
- A Bíblia Demonic: Um guia para a arte mágicaDocumento36 páginasA Bíblia Demonic: Um guia para a arte mágicaShaitan Phosphoros0% (1)
- Manual de Avaliacao Formativa e Somativa No Aprendizado EscolarDocumento58 páginasManual de Avaliacao Formativa e Somativa No Aprendizado Escolarosnildo carvalhoAinda não há avaliações