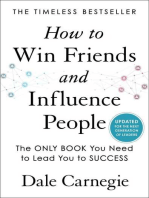Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Revista Guavira - Resenha PDF
Enviado por
Wellington CostaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Guavira - Resenha PDF
Enviado por
Wellington CostaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISSN 1980-1858
GUAVIRA
LETRAS
Programa de Pós-Graduação em Letras
UFMS/Campus de Três Lagoas
Guavira Três Lagoas n. 14 p. jan./jul. 2012
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Reitora
Célia Maria da Silva Oliveira
Vice-Reitor
João Ricardo Filgueiras Tognini
Pró-Reitor de Pós-graduação
Dercir Pedro de Oliveira
Diretor do Campus de Três Lagoas
José Antônio Menoni
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Letras
Kelcilene Grácia Rodrigues
Editores
Rauer Ribeiro Rodrigues (Chefe)
Taísa Peres de Oliveira (Adjunta)
Vitória Regina Spanghero Ferreira (Secretária)
Claudionor Messias da Silva (Técnico)
Editoração e Diagramação
Rauer Ribeiro Rodrigues
Organizadores e Coordenadores deste volume
Kelcilene Grácia Rodrigues (UFMS)
Roberto Acízelo Quelha de Souza (UERJ / CNPq)
Os autores são responsáveis pelo
texto final, quanto ao conteúdo e
quanto à correção da linguagem.
© Copyrigth 2012 – os autores
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(UFMS, Três Lagoas, MS, Brasil)
G918 Guavira Letras: Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Letras
/ Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Graduação e
Pós-Graduação em Letras. – v. 14 (1.semestre, 2012), 389 p. - Três Lagoas, MS,
2012 -
Semestral.
Descrição baseada no: v. 11 (ago./dez/ 2010)
Tema especial: Literatura / Crise
Organizadores: Kelcilene Grácia Rodrigues e Roberto Acízelo de Souza
Editor: Rauer Ribeiro Rodrigues
ISSN 1980-1858
1. Letras - Periódicos. 2. Estudos Literários
I. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de
Graduação e Pós-Graduação em Letras. II. Título.
(Revista On-Line: http://www.revistaguavira.com.br) CDD (22) 805
_________________________________________________________________________________
________________________
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 3
GUAVIRA LETRAS 14
Conselho Editorial
Eneida Maria de Souza (UFMG)
João Luís Cardoso Tápias Ceccantini (UNESP/Assis)
José Luiz Fiorin (USP)
Paulo S. Nolasco dos Santos (UFGD)
Maria do Rosário Valencise Gregolin (UNESP/Araraquara)
Maria José Faria Coracini (UNICAMP)
Márcia Teixeira Nogueira (UFCE)
Maria Beatriz Nascimento Decat (UFMG)
Rita Maria Silva Marnoto (Universidade de Coimbra – Portugal)
Roberto Leiser Baronas (UNEMAT)
Sheila Dias Maciel (UFMT)
Silvia Inês Coneglian Carrilho de Vasconcelos (UEM)
Silvane Aparecida de Freitas Martins (UEMS)
Vera Lúcia de Oliveira (Lecce – Itália)
Vera Teixeira de Aguiar (PUC/Porto Alegre)
Conselho Consultivo
Adalberto Vicente - Unesp FCL-Ar
Alice Áurea Penteado Martha
Álvaro Santos Simões Júnior
Ana Cláudia Coutinho Viegas
Ana Lúcia de Souza Henriques
Ana Maria Domingues de Oliveira
Andréa Sirihal Werkema
Angela Maria Guida
Angela Varela Brasil Pessoa
Antonio Carlos Silva de Carvalho
Antonio Rodrigues Belon
Arnaldo Franco Junior
Benedito Antunes (Unesp)
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 4
Benedito José Veiga
Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (UFU)
Celia Maria Rocha Reis
Clara Ávila Ornellas
Cláudia Amorim
Claúdia Maria Pereira da Silva
Danglei de Castro Pereira
Daniel Abrão (UEMS)
Deise Quintiliano
Eunice Terezinha Piazza Gai
Éwerton de Freitas (UEG)
Fabiane Renata Borsato
Francisco Alves Filho (UFPI)
Goiandira Ortiz
Günter Karl Pressler
Helena Bonito Couto Pereira
Igor Rossoni
José Batista de Sales
José Luís Jobim de Salles Fonseca
Katia Aily Franco de Camargo
Kelcilene Grácia Rodrigues
Leila Franco – UEMG
Leoné Astride Barzotto (UFGD)
Luiz Carlos Santos Simon (UEL)
Luiz Gonzaga Marchezan
Marcelo Módolo (USP)
Márcia Tavares Silva (UFRN e UFCG)
Maria Célia Leonel
Maria Celma Borges
Maria Cristina Cardoso Ribas
Maria Elizabeth Chaves de Mello
Maria Eulália Ramicelli
Maria Eunice Moreira
Maria Zilda Ferreira Cury
Marilene Weinhardt
Marlí Tereza Furtado
Mauro Nicola Povoas
Noberto Perkoski (UNISC)
Odalice de Castro e Silva
Patrícia Kátia da Costa Pina
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 5
Paulo Andrade (Unesp-Assis)
Pedro Brum dos Santos
Rafael José dos Santos
Rauer Ribeiro Rodrigues
Ravel Giordano Paz
Regina Baruki
Regina Kohlrausch
Renata Coelho Marchezan
Ricardo Magalhães Bulhões
Roberto Acízelo Quelha de Souza
Rogério Barbosa da Silva (Cefet – MG)
Rosane Gazolla Alves Feitosa
Sérgio da Fonseca Amaral
Socorro Fátima Pacífico Vilar Barbosa
Tânia Regina Oliveira Ramos
Tieko Yamaguchi Miyazaki
Vânia Maria Lescano Guerra
Wania Majadas
Wiebke Röben de Alencar Xavier
Wilma Patrícia Maas
Todos os pareceristas são professores doutores. Os
laudos, circunstanciados, foram — quando
necessário — enviados aos autores, para que os
artigos passassem por revisão, correções e ajustes.
Os artigos que compõem essa edição foram recebidos
em maio/2012 e aprovados em meados de junho/2012.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 6
APRESENTAÇÃO
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 7
AS MUITAS FACES DA CRISE (?) DA LITERATURA
Rauer Ribeiro Rodrigues
Editor da Guavira Letras
Anunciar que a literatura está em crise é exercício
intelectual talvez milenar. Nas últimas centúrias, a afirmação
foi reiterada cada vez mais amiúde, de tal modo que nas
décadas que envolvem a mudança de milênio a futurologia
tornou-se decreto, quando não obituário. No mesmo passo,
porventura igualmente apressado, quando não interesseiro, o
renascimento da literatura é celebrado diuturnamente nos
cadernos culturais, cadernos que mais se voltam para modas,
efemérides e relações políticas e sociais.
Discutir a crise da literatura, na proposta do Dossiê desta
edição da Guavira Letras, envolve aspectos os mais diversos,
nenhum deles abandonando a convicção de que o estado de
crise é o modo próprio de ser da literatura, o modo que
plasma o seu sentido e sua função na sociedade e para o
homem, seja aquele que transita das árvores para as cavernas,
seja aquele que confere no relógio atômico a hora exata em
que uma nave espacial desembarca a curiosidade humana em
longínquo planeta no espaço sideral, seja em sociedade tribal
ágrafa, seja no Vale do Silício, em meio aos computadores
mais avançados já concebidos.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 8
Falar assim em crise na literatura é um modo de
reconhecer o estatuto do literário em sua plenitude: aquele
momento em que a literatura rasga o real para além do
horizonte do possível, do reconhecível, no instante mesmo
em que retrata de modo fidedigno o seu referente histórico.
Em outras palavras, a literatura flagra a intimidade das grandes
linhas que configuram determinado momento, indo além dos
próprios limites que a teoria imaginava ser sua possibilidade.
Sendo limite para sempre em dilação, em corrupção e em
maleabilidade, a literatura como que se exaure a si mesma a
cada novo poema, a cada nova narrativa, a cada novo
discurso. Não cumprir tal desiderato significa frustrar o
próprio sentido de sua existência. Daí que o sinal de morte, de
fim de percurso, sempre a acompanhe, sempre lhe seja
imputado. E também daí é que sempre lhe reconhecemos o
renascer, talvez expressão inadequada, essa de nomear um
renascer, dado que a anunciada crise final da literatura
contém, inarredável, seu eterno retorno, a semente de sua
permanência inoxidável, pois a crise que parteja o seu fim é a
mesma que provoca seu renascimento.
A crise da literatura — aquela que está no interior de suas
manifestações — é propriamente sua alma, seu ânimo, a força
de sua permanência, de sua necessidade e de seu eterno vigor.
A crise da literatura como representação simbólica,
poderíamos dizer, é a própria angústia do humano, seja a da
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 9
perfectibilidade impossível, seja a da consciência da morte,
seja a do desespero que apela à fé, seja a da certeza da
pequenez diante do cosmo imensurável, seja a da razão que se
torna selvagem.
A Revista Guavira Letras, para este número, fez
chamada com a seguinte ementa:
Literatura / Crise
Crise. Insegurança. Desorientação.
Poesia. Ficção. Crítica Literária.
A disciplina Literatura.
A literatura na escola e na universidade.
A literatura em tempos difíceis.
A representação da crise.
A mimetização da crise.
A crise da representação.
A literatura está em crise?
Sob a orientação e responsabilidade dos Organizadores,
acompanhados por este Editor, foram submetidos perto de
oitenta textos, o que nos fez mobilizar quase duas centenas de
revisores, com o cuidado de que nenhum parecerista fosse
convocado mais de uma vez. Com tal volume de textos, entre
aqueles que atendiam ao Dossiê e aqueles que se voltavam
para a seção de Artigos, as tarefas se multiplicaram, mas
também se multiplicou a alegria pela qualidade das reflexões
que tínhamos para esta edição, reflexões que abordam, a
nosso ver, a gama de questões propostas pela ementa da
chamada.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 10
Abre o volume o ensaio de Britta Morisse Pimentel, a
tradutora de Manoel de Barros para o alemão, cuja tese central
é de que o poeta de Mato Grosso do Sul têm lições
fundamentais diante da crise europeia. O outro ensaio é
assinado pelo escritor Miguel Sanches Neto, que examina
detidamente, e de modo arguto, a perda de centralidade da
literatura no Curso de Letras, disciplina transformada
utilitariamente em instrumento para diversos outros saberes.
Professor universitário, Sanches Neto trata ainda da falta de
familiaridade dos universitários com o texto literário,
problema ampliado pela visão redutora, tecnicista e teorizante
do ensino superior, diante do que defende a formação de um
leitor eclético, que apreenda o poder humanizador do texto
literário.
No Dossiê Literatura / Crise, os artigos de Júlio
França, Raquel Trentin Oliveira, Maria Heloísa Martins
Dias, Germana Maria Araújo Sales e Juan Pablo
Chiappara desenvolvem reflexões sobre a teoria da literatura
e a assim chamada crise da literatura. Já os textos de
Aparecido Donizete Rossi, Verônica Daniel Kobs,
Rosana Cristina Zanelatto Santos e Alexandra Santos
Pinheiro analisam aspectos pontuais, diante de corpus
específicos, de recortes temporais ou do tema do ensino da
literatura, sem descuidarem da reflexão geral sobre o
significado do binômino Literatura / Crise.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 11
A reflexão sobre a crise da literatura também tangencia o
diálogo registrado na entrevista que João A. Campato Jr. faz
com a professora Karin Volobuef. Especialista no
romantismo alemão, ela afirma que o homem desse período
era cindido, fragmentado, fruto de um ideário estético que
considerava a literatura como algo sempre inacabado, em
processo contínuo de criação e destruição.
A seção Artigos reúne sete estudos que — de um modo
ou de outro — dialogam com o tema do Dossiê. Tânia
Sarmento-Pantoja estuda a catástrofe em contos de Luiz
Fernando Emediato que tratam da barbárie no período da
ditadura militar. Gracia Regina Gonçalves e Juan Filipe
Stacul tratam da constituição do masculino em um romance
de Caio Fernando Abreu. Já a força transgressora da literatura
de Saramago é o móvel do artigo de Augusto Rodrigues
Silva Junior e Ana Clara Magalhães. A imposição de limites
interpretativos na formação do leitor é o tema de João Luís
Pereira Ourique e Patrícia Cristine Hoff, enquanto a
poesia visceral de Bataille é o mote de Alexandre Rodrigues
da Costa. Fecha a seção dois textos sobre poesia: em
“Manoel de Barros e a busca pelo reencantamento da
linguagem”, Suzel Domini dos Santos e Susanna Busato
retomam a obra do poeta pantaneiro, enquanto José
Fernandes, em “O Poema Visual: do Esotérico ao
Cibernético”, se volta para aspectos pouco estudados do
gênero lírico.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 12
Fecha o volume uma seção nova, Memórias, na qual o
professor José Batista de Sales narra a criação do Mestrado
em Letras da UFMS de Três Lagoas e relembra a criação da
Guavira Letras. Essa seção, nos próximos números,
recuperará histórias do Mestrado em Letras da UFMS.
Devido ao grande número de submissões, ao processo de
revisão e ao atendimento — por parte dos autores — dos
laudos dos pareceristas, diversos artigos estão sendo
reelaborados, de modo que o tema Literatura / Crise terá
desdobramentos em nosso próximo volume.
Por fim, há que consignar um enfático agradecimento
público aos nossos pareceristas, cuja relação consta no
Expediente, formando nesta edição nosso Conselho Editorial
Consultivo. Não poderíamos também deixar de registrar — e
agradecer de modo efusivo — o trabalho e o judicioso
aconselhamento dos organizadores do volume, a professora
Kelcilene Grácia Rodrigues e o professor Roberto Acízelo de
Souza. Sem essa equipe, e esses organizadores, nossa tarefa
ficaria, mais que difícil, impossível.
Vamos, pois, aos textos, razão de ser da Guavira Letras,
e às muitas faces da crise (?) da literatura, mote desta edição.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 13
SUMÁRIO
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 14
Guavira Letras 14
julho/2012
Orgs.:
Kelcilene Grácia Rodrigues (UFMS)
Roberto Acízelo de Souza (UERJ / CNPq)
APRESENTAÇÃO
As muitas faces da crise (?) da literatura 8
Rauer Ribeiro Rodrigues, Editor – UFMS
ENSAIOS
Manoel de Barros e a Crise Europeia 19
Britta Morisse Pimentel – Alemanha
O Lugar da Literatura 43
Miguel Sanches Neto – UEPG
DOSSIÊ – A CRISE DA LITERATURA
Teoria em tempos de crise: três desafios da reflexão teórica hoje 57
Júlio França – UERJ
Literatura? Pra Quê? / Literatura For What? 79
Raquel Trentin Oliveira – UFSM
O texto literário: um objeto de prazer 89
Maria Heloísa Martins Dias – UNESP
A literatura está em crise? 103
Germana Maria Araújo Sales – UFPA
A ficção e a vida: alegações para pensar uma literatura em crise 117
Juan Pablo Chiappara – UFV
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 15
Sobre a Idade das Crises: As inter-relações sujeito-identidade-Feminismo
na pós-modernidade 135
Aparecido Donizete Rossi – UNESP
Asfalto selvagem: Uma narrativa em crise 161
Verônica Daniel Kobs – UNIANDRADE
A falta da literatura 181
Rosana Cristina Zanelatto Santos – UFMS / CNPq
A literatura infantil em crise?: Experiências na Educação do Campo 194
Alexandra Santos Pinheiro - UFGD
ENTREVISTA
Sobre o Romantismo: Entrevista com Karin Volobuef 217
João A. Campato Jr. – UNIESP
ARTIGOS
A catástrofe em “Não passarás o Jordão”, de Luiz Fernando Emediato 225
Tânia Sarmento-Pantoja – UFPA
Tal pai, tal filho? Considerações sobre a constituição do sujeito masculino
no romance Limite branco, de Caio Fernando Abreu 240
Gracia Regina Gonçalves – UFV
Juan Filipe Stacul – UFV
O que tem de ser tem de ser: a força da prosa e da poesia como
transgressoras do destino no Ano da morte de Ricardo Reis
260
Augusto Rodrigues Silva Junior – UnB
Ana Clara Magalhães Medeiros – UnB
Obra aberta, mas nem tanto: Limites interpretativos como
colaboradores na formação do sujeito-leitor 280
João Luís Pereira Ourique – UFPel
Patrícia Cristine Hoff – UFPel
Corpos lacerados: o sacrifício da palavra na obra
poética de Georges Bataille 297
Alexandre Rodrigues da Costa – FHA
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 16
Manoel de Barros e a busca pelo reencantamento da linguagem 312
Suzel Domini dos Santos – UNESP
Susanna Busato – UNESP
O Poema Visual: do Esotérico ao Cibernético 333
José Fernandes – UFG
RESENHA
RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Análise de
Discurso Crítica. São Paulo: Contexto, 2006. 365
Wellington Costa – IFCE
A passante solitária de Algum lugar 370
Aline Menezes – PG-UnB
MEMÓRIAS
Da criação do Mestrado em Letras em Três Lagoas à
criação da Guavira Letras 376
José Batista de Sales – UFMS
NORMAS / CHAMADA n. 15 382
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 17
DOSSIÊ / ENSAIOS
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 18
MANOEL DE BARROS E A CRISE EUROPEIA
Britta Morisse Pimentel - Alemanha 1
Notícia:
A poesia de Manoel de Barros já foi traduzida, entre outras línguas,
para o espanhol, o francês e recentemente para o inglês.
Problema:
Por que é preciso traduzi-la para a língua alemã?
Proposição:
A poesia de Manoel de Barros, poeta brasileiro, propicia condições
para o intelectual europeu superar sua crise de insegurança e
desorientação.
I.
A contribuição do intelectual na formação da união cultural europeia
II.
Uma crise complexa na Europa
III.
Espelho da crise nos trabalhos do intelectual mais rebelde e insurreto
III.1. Aernout Mik, artista de vídeo, Holanda
III.2. Kathrin Röggla, escritora, Áustria
III.3. Beatrice Götz, professora de ginástica e dança,
Universidade de Basel
III.4. Patrick Gusset, performer, música e teatro, Suíça/ Jamaica
III.5. Frank Castorf, diretor de teatro, Alemanha
IV.
Freedom Rebels, Jeunes de Balieus, Wutbürger e o Consultório
Filosófico de Viena
V.
O intelectual reconhecido revela sua resposta
V.1. Jean Luc Godard, cineasta francês
1
Tradutora do poeta Manoel de Barros para o alemão.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 19
V.2 .Peter Gabriel, músico inglês
V.3. Hans-Peter Dürr, cientista alemão
V.4. Michela Marzano, filósofa italiana
V.5. Tomas Tranströmer, poeta sueco
VI.
Bálsamo poético de Manoel de Barros
VI.1 Atenção pura e extensiva, às vezes de câmera lenta
VI.2 Percepção sonora ornitorrincósa e fitosociológica
VI.3 Olhadela descaroçadora com fantasias fanerozóicas
VI.4 Poesia numa linguagem minuciosa em altiloquência
corpórea
VI.5.Zombaria de potência perfeccionista, identidade pulha no
terreno poético dos Direitos Humanos
I.
A contribuição do intelectual na formação da união cultural europeia
Este século está na beira do caos. Ele se define por imprevisibilidade e
instabilidade especialmente na Europa, onde a vida normal é
tradicionalmente regularizada minuciosamente. Agora precisamos
aprender a viver com o incontrolável. Poder, força e energia para vencer
este desafio somente podem ser buscados em uma identidade complexa,
que se formou da pluralidade cultural dos 27 estados europeus e baseou-
se num fundamento economicamente firme e confiável.
Todavia, não se encontram iniciativas suficientes que, preocupando-se
com a descoberta de novos elementos, possam criar uma base cultural
que una os estados membros e que indiquem novos caminhos para um
futuro europeu mentalmente rico e forte. Isto leva a perguntar pelas
causas desta falta, que talvez se deva ao desinteresse, à escassez de
imaginação ou à falha em assumir sua responsabilidade por parte dos
intelectuais, dos quais normalmente se espera certo apoio.
O cumprimento da tarefa vital de construir uma Europa das Culturas só
pode ser alcançado pelo nascimento de uma identidade europeia sólida e
resistente, capaz de querer vencer qualquer tipo de crise. A convicção
positiva e a participação construtiva dos intelectuais é conditio sine qua
non para o bom êxito na missão de formar, de partes regionais litigantes,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 20
uma união intelectualmente versátil tomando posse da nova época que
está para nascer na Europa.
Iniciar o diálogo público, dar impulsos e orientação, sempre foi tarefa do
intelectual, sendo esse papel “hoje talvez mais difícil para a geração de
filósofos jovens, sendo eles os herdeiros de Jean Paul Sartre”, conforme
diz Gero von Randow (1). Antigamente, o filósofo elucidava suas
próprias teorias, defendendo ideologias, enquanto os jovens filósofos de
hoje se preocupam principalmente com o bem estar do cidadão,
levantando meramente perguntas em vez de também apresentar respostas.
Marianne Kneuer (2) analisa detalhadamente o desenvolvimento
histórico da participação do intelectual europeu no processo da formação
da identidade europeia, distinguindo quatro fases, de 1940 até hoje.
Apesar da sua conclusão triste de que os intelectuais falharam no seu
importante papel, ela manifesta, no fim do seu trabalho, uma opinião
encorajadora. Citando Peter Schneider (3), que declarou que “a utopia
da unidade na pluralidade deve ser consolidada e elaborada pelos
intelectuais, a fim de que ela esteja historicamente disponível”, Kneuer
sintetiza que “os assuntos da identidade da Europa e da sua configuração
futura serão resultado do esforço intelectualmente apontado, do
acompanhamento mental e da avaliação construtiva à base de uma
Unterfütterung visionária.”
II.
Uma crise complexa na Europa
“Eu sempre quis mais Europa”, diz o escritor e cientista político Alfred
Grosser (4). “Uma Europa unida não é uma utopia. É uma necessidade,
O problema é que ninguém quer reconhecer esta necessidade”. Com a
crise econômica que ocorre atualmente na Europa, deveria ficar claro
para todos, incluindo os políticos, que ela é devida à falta da coordenação
econômica adequada, a partir de um sistema de controle central do setor
financeiro dos estados membros por uma autoridade centralizada. Grosser
repete que é preciso uma Europa integrada com poderes centrais,
enviando uma mensagem otimista aos jovens de hoje com respeito à
solidariedade europeia: “Ela é menor do que desejamos, mas ela é maior
do que esperávamos.”
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 21
Todavia, as inseguranças causadas pelos distúrbios econômicos mundiais,
que estão discutidas e transmitidas mediaticamente vinte quatro horas por
dia, e seguem sem oferecer menores sinais de superação, jogam a
população europeia num estado emocional de desnorteamento. Observa-
se com alta frequência que o individuo que faz parte do mercado de
trabalho se sente perdido. A sensação de tristeza, de infelicidade e de
incapacidade de achar caminhos satisfatórios na realização da vida
profissional e social está aumentando. Infelizmente, a Europa anda como
um paciente adoentado.
Os sintomas são diversos. O paciente não consegue mais acalmar-se.
Sofre de dor de cabeça, de dor nas costas, de desencanto geral, da
agressividade latente e, principalmente, de lhe faltar competitividade. No
campo universitário, por exemplo, encontra-se o assim chamado
Professor Dr. Depressivo. Os jornais das faculdades mencionam que o
esgotamento emocional é tão normal hoje em dia quanto um resfriado. O
jornalista Martin Spiewak (5) e o sociólogo Hartmut Rosa (6)
informam que estudantes e professores não cuidam do seu bem estar
emocional, que o fracasso acadêmico é um tema tabu. Na realidade, o
ensino superior favorece um comportamento viciado em trabalho, que
acaba por provocar estresse, ameaças constantes, ansiedades, baixa
autoestima, enfim, todos os aspectos de um diagnóstico de moda
chamado burn-out. “Eu sou burn-out, sofro de burn-out, não devo ficar
burn-out etc.” sao expressões idiomáticas e populares. A palavra do ano
acaba de ser lançada: Stresstest . O burn-out espalhou-se como uma
Epidemia Ressentida, sendo considerado consequência natural e aceita
da acelerada vida moderna, decorrente das mudanças técnicas e sociais.
Se procurarmos, nestes tempos emocionalmente agitados, uma
interpretação artisticamente adequada, encontramos muitos exemplos de
trabalhos de artistas jovens e consagrados que se identificam com a crise.
Evidentemente, na procura de respostas, de novas receitas ou meramente
tentando fazer das suas obras um reflexo do desespero. Mas há também
os mais pessimistas, que demonstram uma renúncia, a desistência, o
afundamento, indicações de um naufrágio cultural. Um representante
extravagante dessa corrente é o cineasta Lars von Trier (7), com sua
obra Melancholia, que fala com muita poesia da saudade de pessoas cuja
vida está totalmente fora de controle. É obra formidável, que expressa
sentimentos profundos, tristes e altamente atuais na Europa de hoje. O
filme recebeu, no 24. Encontro do Filme Europeu EFA, em Berlim, o
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 22
prêmio do melhor filme do ano 2011. Tocando músicas de Tristan e
Isolde, de Richard Wagner, o filme leva o espectador a constatar o fim do
mundo pela colisão violenta de dois planetas, uma calamidade
apresentada em cenas belíssimas, cheias de alusões sexuais. Trata-se de
uma obra prima metafórica, virtuosa, fingida, patética, fascinante e, ao
mesmo tempo, assombrada e assustadora: um retrato perfeito da
perplexidade moderna. Mas em vão se procura nela alguma insinuação de
resposta às inquietações da vida atual.
III.
Espelho da crise nos trabalhos do intelectual mais rebelde e insurreto
Entrando no Museum Folkwang de Essen encontramos os trabalhos do
artista de gravações de vídeo Aernout Mik (8). Sua obra gira em torno
de guerras atuais, crises globais, depressões econômicas, racismo e
tensões sociais em geral. A exposição atual contem obras dos últimos dez
anos, incluindo uma vídeo-instalação chamada Communitas e uma nova
instalação especialmente feita para esta exposição, cujo título é Shifting
Sitting, que está exposta até dia 29.de Janeiro de 2012. Mik reflete, em
sua maneira peculiar, o estado psicológico-social da nossa sociedade,
mudando constantemente os ângulos, às vezes sem tom, às vezes em
situações irreais como estratégia de alienação, demonstrando um vazio
triste de desamparo. As coisas sempre estão levemente deslocadas,
levemente torcidas, tudo é um pouco fora do jeito conhecido. Mik
consegue configurar aquela escuridão que o preocupa de numa maneira
impressionante e muito desestabilizadora.
Outra rebelde é a escritora Kathrina Röggla (9) com os seus trabalhos
em prosa, suas peças de radiofônicas e de teatro. Percebemos que as
palavras medo e pânico estão empregados com alta frequência quando
Röggla fala dos seus assuntos preferidos, que são a mudança do clima, a
crise financeira, a dominância dos meios de comunicação, a midiatização
anônima sobre o relacionamento humano psicológico individual. Röggla
acha que estamos passando uma fase de extremas adaptações e alterações
no estilo de vida, sendo a sensação de insegurança ubíqua, bem como o
medo coletivo provocado pela situação global, da qual nenhum humano
pode fugir. Sua novela Não estamos dormindo quer provar que a
agitação e a desorientação estão interligadas. O triste pesadelo da
abolição da vida particular foi abolido em favor do sucesso profissional
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 23
— sua obra é uma tentativa de refletir esteticamente a virtualidade
crescente da vida.
Não é coincidência que no Residenz Theater de Munique e no Theater
Basel podemos assistir atualmente um revival do antigo escritor e poeta
Ödon von Horvath (10). Sua novela Joventude sem Deus foi adaptada
em Basel como peça de teatro, uma realização da equipe dirigida por
Beatrice Goetz (11) e Patrick Gusset (12). Enquanto Horvath está
olhando para a juventude pelos olhos de um professor, que consta a falta
de espírito crítico dos jovens da época de 1930, a excelente equipe de
hoje inverteu a peça dramaticamente, num espetáculo muito elogiado,
com dança e música exemplificando com criatividade aspectos atuais que
questionam a capacidade dos pais de dar uma orientação segura aos filhos
do ponto de vista da própria juventude de hoje. A Geração Google
apresenta-se perdida no gênio da época atual que oferece moção, emoção,
deslocação, informação — para todos os cantos disponíveis e a qualquer
hora, sem oferecer o mínimo apoio para a crise de identidade do jovem,
sendo o deus ausente uma metáfora para os pais inacessíveis.
Consequentemente, a juventude se perde no brejo das
irresponsabilidades.
Na peça Kasimir e Karoline, o diretor imponente e controvertido Frank
Castorf (12) pinta um retrato fulminante de um casal transferido da
época de Horvath para nossos dias, totalmente perdido no seu lifestyle
caótico. Trata-se de uma balada soturna e silenciosa, amaciada
humoristicamente. Kasimir é um motorista sem emprego, enquanto
Karoline se joga sem a menor disciplina aos prazeres oferecidos pelo
mundo consumidor, vivendo uma festa eterna na famosa Oktoberfest de
Munique, que normalmente é uma festa somente no mês de outubro.
Castorf diz que ele pessoalmente detesta a sociedade alemã de hoje. Ele
não quer fazer parte dela, já que ela é mentirosa, tediosa, estúpida, sob
tutela da mediocridade do mix mediático, e, além disso, incrivelmente
burguesa. Ele considera tudo isso uma ofensa aos intelectuais e,
consequentemente, sua encenação torna-se uma maldosa liquidação total
de tudo e de todos. Pensando no paciente europeu, sua convalescença
parece cada vez mais distante.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 24
IV.
Freedom Rebels, Jeunes de Balieus, Wutbürger e
o Consultório Filosófico de Viena
Salta a vista que os atuais conflitos europeus são iterativamente
analisados nos trabalhos dos artistas citados; todavia, não oferecem ajuda
ao espectador e concidadão comum, deixando-o sozinho na confrontação
dos conflitos. Uma reação natural poderia ser a de agressividade. No trem
de vida, a agressividade dos mais jovens manifesta-se frequentemente
com violências físicas. Como exemplos servem na Inglaterra os Freedom
Rebels e na França os Jeunes de Banlieus. A pessoa mais assazonada
exprime sua agressão numa revolta que levou à criação da palavra nova
Wutbürger que define um cidadão que tenta lutar com muita raiva contra
todas as inovações que não lhe agradam. Talvez seja isso um fenômeno
típico europeu que é um continente com o apelido “velho mundo”. Pelo
menos na Alemanha, parece que é um esporte dos mais antigos se
intrometer em tudo, querendo provar que sabe das coisas, fazer o papel
do sabichão orgulhoso de cabeça esturrada.
O jornalista Dirk Kurbjuweit (13) tem o mérito de batizar este sujeito
ativo, furioso, às vezes um pouco chato, normalmente de idade um pouco
avançado, bem instruído, financeiramente bem de vida, nada infeliz na
sua vida particular, todavia insatisfeito com as instituições políticas que
eram muito melhor antigamente. A desconfiança maior baseia-se na
suspeita de que nos projetos novos em geral o Wutbürger teme levar uma
desvantagem pecuniária. Más línguas dizem que ele quer provocar a
parada total do país com suas iniciativas de oposição comichosa e seus
protestos tísicos tentando evitar que o futuro aconteça. Um novo relatório
do Göttinger Institut für Demokratieforschung (14) feito por cientistas
jovens analisando mais de 2000 pronunciamentos destes “Wutbürger”
verificou que este grupo, que se comporta nas demonstrações de rua
como “jovens velhos”, aparentemente idealiza os valores do passado.
Gerhard Matzig (15), arquiteto e publicista, ataca no seu livro,
Simplesmente do contra, este novo tipo de compatriota com sendo
retrogrado, nostálgico, caduco, querendo fazer do país e da Europa um
lugar sem perspectivas, sem ânimo para o futuro, medroso, pessimista,
reprovando genericamente a sociedade atual que para eles é tecnicamente
acelerada demais.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 25
Bem contrária é a opinião do filósofo Eugen Maria Schulak (16), que
mantém um consultório filosófico na cidade de Viena. No seu livro
recente, Do Bobão do Sistema ao Wutbürger, ele critica veemente o ser
humano adaptado ao sistema, vivendo como arganaz dentro de uma roda,
repetindo as coisas cegamente, contaminando-se com a doença de burn-
out. O Wutbürger, porém, é a seus olhos o caminho certo, um exemplo
positivo, porque ele já faz parte de um movimento social de protestos. Ele
já conseguiu libertar-se da vida triste de determinação alheia. Para
Schulak e seu coautor, Rahim Taghizadegan (17), o comportamento
humano é intimamente ligado ao seu nível filosófico. Seu ídolo é
Voltaire, que lecionava no seu livro satírico Candide, de 1759, que o ser
humano tem que ser atento, ativo e contundente no seu cotidiano, porque
ele é o único responsável por seus atos. Schulak conclui que o bem estar
da alma e a madureza filosófica do individuo pode ser aumentada através
da reflexão filosófica como instrumento de fazer crescer a viabilidade e a
vitalidade no domínio de vencer uma crise. Pelo estudo de uma obra
literária determina-se o nível filosófico do seu autor e consequentemente
o leitor pode tomar conhecimento da presença ou da ausência dos valores
e convicções fundamentais do artista. Trazendo isso na mente, vamos
apresentar cinco intelectuais europeus e um brasileiro.
V.
Intelectuais consagrados na Europa tomam posição
V.1 O cineasta Jean Luc Godard
Godard (18) cineasta famoso e excêntrico, que adora de utilizar
aparelhos tecnicamente avançados nos seus filmes, diz que lhe parece
obscena a importância ostensiva da tecnologia do capitalismo. No seu
recente trabalho, que levou quatro anos, e que se chama Film Socialisme,
ele postula que o dinheiro deve ser um bem público como água, sendo
acessível e disponível a todos. Este filme Godard não considera uma
declaração política, mas meramente uma sugestão, uma questão, uma
colagem. A primeira parte do filme foi filmada num navio de cruzeiro no
Mar Mediterrâneo com diálogos multilíngues e inteligíveis entre os
passageiros viajando enjaulados em cabinas miúdas sem janelas. Trata-se
de uma metáfora de uma Europa decadente, flutuante numa casca de noz,
uma Europa que se encontra perdida na sua história. O filme sendo uma
montagem, consiste de três partes e não quer ser uma história linear.mas
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 26
retratar uma Europa sofrendo a doença do consumo, afundando, sendo
controlada e tiranizada pela tecnologia. Tudo está oprimido demais, cheio
demais, até nas férias tudo está lotado demais. Os seres humanos estão
perdendo a fala e tornam escravos compulsórios do divertimento porque
não conseguem se emancipar da tecnologia. Remanesce o desejo de se
retornar ao começo, que está sendo representado pela juventude, que se
encontra no seu Filmessay num estágio mais puro e primitivo, como uma
sociedade pequena não global, como antigamente, porque ele era bem
mais feliz do que a nossa.
Seu trabalho atual, que, como ele diz, vai ser seu último filme, dedica-se
a linguagem universal tendo o título Adieu au Langage. Enquanto no
Film Socialismo as pessoas não se entendam falando diversas línguas,
neste filme os protagonistas principais, marido e mulher, não se
comunicam: apesar de falarem o mesmo idioma, eles percebem que não
falam mais a mesma língua. Ajuda nesta situação vem do próprio
cachorro do Godard, que será a estrela do filme, resolvendo o problema
interferindo e falando na linguagem canina. Godard não quer revelar
detalhes do filme, mas admite que não sabe ainda como fazer o filme com
o cão falante, que ele não permite que seja adestrado. Sem dúvida, a
fantasia dele ou a do cachorro vai oferecer a resposta. Caso que não, e
resalvando que a poesia de Manoel de Barros ainda não lhe foi
apresentada, Godard poderia cogitar abrir a pagina 588 do livro La
coscienza di Zeno do escritor Italo Svevo (19), que, quando escreveu este
livro em 1925, já sabendo que o ser humano não seria capaz de respeitar a
natureza, advertiu: ”O ser humano colocou-se no lugar das árvores e dos
animais; poluindo o ar e obstruindo o espaço aberto. Isso poderia piorar
ainda. A besta triste e incansável poderia descobrir outros meios e utilizá-
los...” Aguardaremos ansiosamente a resposta do filme de Godard
querendo saber se o adeus à língua será ele também um Adieu ao foi 5 ou
talvez seja um meio indispensável na conversa com o cachorro.
V.2 O músico Peter Gabriel
Gabriel (20) é um talento múltiplo que venceu muitos desafios da sua
vida . Ele dedica-se a música, cantando e escrevendo a lírica de suas
canções, a produção de vídeos, aos direitos humanos como ativista social,
sendo ele ao mesmo tempo um empresário. Na opinião dele, a técnica em
si não tem nada de bom nem de ruim. Importa somente se deixamos ou
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 27
não nos determinar por ela. A vida lhe ensinou a estabelecer, que ele é
pai- marido-músico, nesta sequência. Além de cultivar seu lado racional,
gosta de se identificar com seus instintos, vivendo seu lado animalesco,
querendo perceber o cheiro do futuro. Ele sabe cheirar o que está no ar,
ele diz, reafirmando que a vida se modifica constantemente e a tecnologia
oferece sempre novos meios de reproduzir o velho já conhecido numa
criação totalmente diferente, de maneira desconhecida, chamado por ele
remix. Por este processo do remix, ele faz seus novos trabalhos, que ele
considera novos originais, negando que haja uma só versão do original,
válida para todos os tempos. A técnica está sendo utilizada para
documentar o processo da transmutação.
Em seu trabalho, novas correntes são incorporadas, novas
interdependências desenvolvidas, novas maneiras de interpretação
detectadas, quase sempre com ajuda da técnica que nunca atrapalha, mas
ao contrário, deve fazer parte integrante do novo produto como em seu
recente CD chamado New Blood. Esta transfusão musical é uma
testemunha conclusiva de que para Gabriel, como ele diz, não há crise.
Ele acredita no futuro, num diálogo permanente, acredita que tudo se
mexe até a morte, e que nos gravamos e seguramos só uns momentos, que
ficam, com o avançar da idade, cada vez mais sutis, mas sempre com o
ímpeto da renovação. Vista desta maneira, a crise tem implicações
positivas que podem levar a liberação da potencialidade criativa,
dependendo da atitude e da coragem do indivíduo. Gabriel revela que sua
estratégia intuitiva é convencer-se do uso amplificado da própria fantasia
para fazer um passo na frente. A própria fantasia habilidosamente
provocada e precipitada serve como garantia secreta para a saída vitoriosa
da crise. Talvez Gabriel aplique seu método do remix também ao seu
conceito de crise, que, sofrendo uma transfusão criativa, torna-se uma
anti-crise, um dilema positivo que não tenha falha.
V.3. O cientista Hans-Peter Dürr
Dürr (21) é físico e, ao mesmo tempo, representante dos movimentos
Ecologistas e Pacificadores. Pensando como cientista, ele reconhece a
grande importância do papel da análise científica no campo da física.
Mas pensando como filósofo, Dürr considera a poesia e o por ele
chamado processo poético de igual importância. Enquanto o processo
cientifico divide as coisas para serem mais bem analisadas, o processo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 28
poético reúne os elementos novamente, possibilitando assim uma
percepção complementar da realidade viva, que é essencial para
compreender o mundo. Não se trata de uma desclassificação da ciência,
mas da necessidade de lhe por limites. A linguagem poética , para ele,
corresponde a um olhar holográfico e por isso é do tremendo significado
para nossa concepção da vida.
Dürr se manifesta a favor de um contínuo do conhecimento
epistemológico. Ciência e poesia não estão em contradição. Ao contrário,
são dois aspectos intimamente ligados. Reconhecer e admitir este nexo
exige uma mudança em nossos hábitos intelectuais, que permite,
conforme Dürr, em seu novo livro, que o Vivo seja mais Vivo. Ver a
realidade por dentro significa pensar em um estilo novo, que facilita a
solução de nossa crise atual. As novas descobertas da física ensinam que
o conjunto da realidade é tão indivisível quanto um poema, que perde sua
complexidade quando subdividido em frases, em palavras ou em letras. A
perceptibilidade poética da realidade ajuda entender que o todo é bem
mais do que a soma das suas partes. O ser humano denunciou seu senso
arcaico com sua atitude materialista, querendo controlar e dominar a vida
e determinar o futuro. Abandonou seu entendimento natural e instintivo
da unidade da natureza, uma unidade entre todos os seres humanos, os
animais, as plantas e, como consequência, perdeu sua unidade essencial
de corpo e alma. A reconquista desta perda é difícil, porque não há língua
que poderia explicar esta unicidade. No seu livro Amor - Fonte do
Cosmo que é mais um dicionário das mudanças necessárias na nossa
maneira de pensar do que um ensaio, ele insiste que a nossa cultura de
consumo é somente uma alternativa minúscula entre as múltiplas
possibilidades que a vida oferece.
Dürr é considerado um cientista otimista porque acredita no potencial do
ser humano. Não é a economia nem a política que vai resolver a crise de
hoje, mas sim uma sociedade civil de indivíduos responsáveis, vivendo
uma cooperação pacífica e uma interação cultural do mundo. O
Importante é, todavia, mudar o estilo de vida e reaprender dar valor a
coesão do homem com a natureza para garantir a continuidade da
vivacidade da vida. A palavra chave é a “descentralização”, porque onde
há concentração de poder e acumulação de bens materiais não há vida
viva que é sempre variação, transformação, alteração. Matéria é nada
mais do que o espírito calcificado. Por engano, consideramos, na visão
antiquada do mundo material, o calcificado como mais importante do que
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 29
o Noch-nicht Verkalkte (o ainda não calcificado) que é o espírito vivo.
Precisamos aprender a entender que, fora das calcificações não há
matéria, nada existe, o mundo é imaterial, num processo contínuo de
criação, e o futuro é basicamente indeterminável.
Dürr chega a ponto de dizer, que não há empatia nem altruísmo, quer
dizer, sentimentos de pena em relação ao outro que sofre, porque, sendo
todos ligados um ao outro, sua dor é minha dor. Não há sentimentalidade
mas uma sensação ontológica de unidade, que dá força na vida. Quem
abandona este ajuste inicial, se sente perdido, enfraquecido, entregue às
crises, sendo destituído do equilíbrio natural.
V.4. A filósofa Michela Marzano
Marzano (22), professora de filosofia da Université Paris Descartes, é
uma representante típica dos jovens intelectuais europeus. Ela observa no
seu livro Corpo Pensare, que a filosofia de hoje esqueceu que o ser
humano é um ser físico, questionando o significado de ter um corpo e, ao
mesmo tempo, de ser um corpo. A contemplação filosófica, que se reduz
a pensar meramente em termos técnicos, de lógica e de linguagem, não
serve, necessitando incluir cuidadosamente a benquerença do corpo
físico. Pensar somente tem sentido quando o corpo participa, quando o
corpo faz parte do pensamento. “A alma sozinha só daria trocadilhos” já
dizia o poeta Paul Valéry, contestando polemicamente a exclusividade do
“cogito”.
No outro lado, Marzano agride os parâmetros perfeccionistas hoje
vigentes, que exigem ser jovem, magro, mentalmente perfeito.
Especialmente o ideal feminino a respeito da aparência física não tolera
divergências para aquele que quer vencer. Depois que Marzano
pessoalmente superou a doença de anorexia nervosa, que comenta
detalhadamente em seu livro Volevo essere una Farfalla, chega à
conclusão de que a extrema fragilidade da condição humana é
sintomática da nossa época, sendo resultado das exigências demasiadas.
Em relação ao ego feminino, em se tratando de beleza hiper chique,
educação e competência social, além do sucesso profissional, os
parâmetros são insuportáveis. O que dificulta ainda mais a situação é uma
falta geral de crença nas possibilidades do futuro. No lugar da
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 30
confiabilidade, que é a base do sucesso, a sociedade é dominada por
suspeita e desconfiança.
A confiança entre as pessoas, a chave para abrir-se aos outros, é resultado
da auto-confiança do individuo, sendo da maior importância reconstruí-
la, quando for perdida. Marzano alerta que o processo da reconquista é
muito demorado, porque começa na primeira infância e continua até
completar-se a educação. Ela diz, em seu livro Le Contrat de Défiance,
que a confiança não é somente a base indispensável para chegar a uma
sociabilidade saudável, mas que é essencial para nossa sobrevivência.
Sem a Urvertrauen (confiança básica) não se encontra o caminho
próprio para a liberdade e para a coragem necessárias para engajar-se no
mundo em que vivemos. Só quando os intelectuais dão ao corpo sano o
mesmo valor que atribuem à alma, ao pensamento e a reflexão, é que
podemos combater a fragilidade da condição humana, passando da uma
filosofia abstrata a uma filosofia que pensa por meio do corpo humano.
Isso significa uma volta à consciência da própria Lebenswelt (a vida da
cotidianidade). Conversar comigo mesmo, olhar para dentro de mim,
tentar de conhecer melhor meu ego, fortificar minha pessoa dentro de um
Schutzraum (sala protegida), para depois poder cultivar uma confiança
sólida nos outros, como poder positivo que cria uma realidade de estar em
harmonia. Humanitarismo cresce da ética de confiança.
V.5. O poeta Tomas Tranströmer
Tranströmer (23), que se identifica com a letra T, ganhou o Prêmio Nobel
de Literatura do ano 2011. Ele instrumentaliza a língua de forma
extremamente criativa, sendo elogiado pelos próprios colegas com
comentários como os seguintes: “Tranströmer abre um acesso novo à
realidade”; “ele é o maior poeta vivo do mundo”; “a poesia dele capta o
momento quando a neblina some, quando o dia-a-dia faísca”. De fato, ele
é o poeta do silêncio, de poucas palavras, dizendo “sobejo das pessoas
que vem com palavras, palavras, mas sem vir à baila” (24). Ele publicou
somente cinco livros nos últimos quarenta anos. Seu tema predileto são as
áreas mais escondidas da vida, as zonas de meia-luz, as fases do
intermédio, o entretempo do entardecer.
Tranströmer demonstra na sua poesia sua inclinação carinhosa e sua
procura cuidadosa da linguagem de serenidade daqueles seres que sabem
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 31
ouvir. O enigmático domina sua obra, as experiências vividas ao acordar
da nebulosidade. Na sua vida profissional como psicólogo, dedicou-se
aos jovens delinquentes ou desempregados, prestando a atenção da sua
alma sensível ao labirinto da diversidade do mundo, tentando criar uma
língua nova e clara, abrindo novos caminhos para salvá-los dos conflitos.
Como se fosse um ponto de convergência de estradas de ferro, onde todos
os trens confluem, os poemas produzem uma nova visão da realidade,
sem, todavia, fornecer explicações, porque suas visões crescem a partir de
seus sonhos. No mundo do barulho, só o silencioso nos toca
delicadamente. Sendo ele considerado místico, versátil e triste, por um
lado, ele permanece ceticamente otimista, transmitindo em sua poesia
uma confiança, que sobrevive ao enigma da identidade pessoal. Em vez
de tentar apresentar aspectos racionais, ele apresenta suas visões
imaginadas em quadros ricos do seu mundo, às vezes surreal. Concentra-
se nos momentos da vida, fala deles na sua língua, que sai de uma nova
maneira de ver, que reflete uma maneira mais exata de ouvir. Assim, ele
sabe transformar, melhor do que qualquer outro, o corriqueiro em uma
peculiaridade. Faz tudo isso com tanta diligência, que, numa outra vida,
ele talvez tivesse sido um alfaiate ou um relojoeiro.
A poesia do Tranströmer impressiona porque exemplifica que é preciso
evitar falar na língua safada, vazia e convencional em momentos
especiais, não permitindo que ela domine nosso intercambio emocional,
porque ela leva à falta de compreensão e até a destruição das
interligações humanas. A ausência do uso criativo da língua tira aquele
cantinho de alegria, de tristeza, de surpresa e de provocação da nossa
vida. Sem modificar as palavras, sem criar novas palavras, somente
usando as palavras num contexto desconhecido, ele cria por analogia uma
visão refrescante da realidade. A mobilidade mental, que ele adquiriu por
seu desempenho poético, deixou-o preparado, quando sofreu vários
derrames, depois dos anos de 1990. Apesar da afasia que ele teve que
enfrentar, aprendeu a tocar piano somente com a mão esquerda.
Reaprendeu a língua, sem, todavia, conseguir falar muito, mas consegue
escrever, ainda hoje, poemas de poucas linhas, claras, precisas e fáceis de
entender. Faz viagens, participa de congressos, tenta comunicar-se com
os amigos, mas, ao mesmo tempo, prova na sua poesia que se entrega a
solidão, enfrentando-a em uma aventura eterna, uma tarefa assustadora a
ser cumprida na vida, que exige que não se deve fugir da escuridão.
Superar obstáculos, seja de que maneira for, é parte integrante da nossa
existência.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 32
VI.
Bálsamo poético de Manoel de Barros
Apesar dos problemas econômicos dominando a questão da unidade da
Europa, observa-se certa aproximação do ponto imaginário, que seria a
fusão das culturas diversas num único e coletivo espaço de arte. Um
ponto positivo da globalização é que ela acelera, no campo cultural, um
envelhecimento da arte não só de países e de continentes, mas do mundo
inteiro. Finalmente, vamos chegar a uma situação que Hugo von
Hofmannsthal (25), poeta que viveu há cem anos, caracterizava, em seu
drama Tragédia Chinesa, com as seguintes palavras: o drama acontece
na china, mas não trata de pessoas chinesas, não é de hoje, nem de
ontem, nem daqui e nem dali. A crise, que Europa passava naquela época
(26) não se compara à de nossos dias, mas a ideia de que as culturas,
unindo seus conceitos opostos, criam um bálsamo artístico e saudável, já
era conhecida por Hofmannsthal.
Comparando a introdução, nos capítulos passados, de alguns artistas da
Europa, recordando alguns aspectos das suas ideias, pode-se ver que a
poesia de Manoel de Barros revela sua contraluz, iluminando conceitos
filosóficos aparentes e tangíveis para quem se abre ao cosmo do Menino
do Mato.
VI.1 Atenção pura e extensiva, às vezes de câmera lenta
Manoel de Barros (27) dedica-se num episódio continuo de 75 anos da
sua vida - quer dizer, deste que sua poesia nasceu no primeiro livro,
editado em 1937 – à exploração das suas redondezas e imediações
intelectuais, reais, locais, sentimentais, familiares, imaginadas e,
principalmente, inventadas. Sem dúvida, o fato que, nos primeiros anos
da sua vida, o lugar em que o poeta morava, que estava tão perto do
abandono, ofereceu boas condições de aprender a arte da fineza pura de
prestar atenção. Para o poeta, foi um privilégio de crescer na região
despovoada do Pantanal, permitindo que ele (e o seu avô) abastecesse a
solidão. Barros diz: o que alimenta meu espírito é inventar; fui criado no
mato isolado; a poesia é precisa para me completar. Cedo ele percebeu
sua inaptidão para o diálogo social de fazer conversação. Considerando-
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 33
se um bom escutador e um vedor melhor, e achando, que um poeta
deveria ser mais um sensual do que um intelectual, a vontade de
desenvolver seus órgãos dos sentidos era para ele algo natural,
procurando espontaneamente a conversa com a natureza, que era bem
mais fascinante para ele e sua poesia.
Com a literatura, ele se preocupou bem mais tarde. Nos primeiros anos da
sua vida, ele viveu uma infância meramente amplificando suas
perceptibilidades. Ganhar a habilidade de dirigir sua atenção, devotando-
se à sua inclinação predileta — seu olho poético —, significa adquirir
uma estrutura básica da cognição humana, que consiste num controle da
capacidade ativa de selecionar da abundância de dados, por um lado e,
por outro, de diminuir a atenção passiva, protegendo-se contra uma
ocupação não desejada. Como a vocação de Barros foi muito forte, este
processo de purificar sua atenção aconteceu naturalmente. O ponto
importante era que a distância e o abandono da sua vida lhe ensinaram
instrumentos especiais para seu diálogo interno. Os elementos da
natureza usam métodos diferentes, ensinam numa maneira leve e
convincente: no amanhecer o sol põe glórias no meu olho. Pensando na
pluralidade dos assuntos de aulas disponíveis à natureza virginal,
lembrando a variedade do seu ritmo, do repertório da sua diversidade e da
sabedoria dos seus inúmeros habitantes, o menino do mato logo aprendeu
uma lição para toda a vida: não há de ser com a razão, mas com a
inocência animal que se enfrenta um poema. A escola da natureza em que
ele se formou, sem dúvida com a nota suma com laude, lhe deu uma base
invejável para sua poesia; diz ele: o rio encosta as margens na minha voz.
Uma das poucas regras, selecionadas deste conglomerado de códigos
secretos do cosmo natural é, que a câmera lenta sabe reduzir a velocidade
da atenção de uma maneira comovente, produzindo uma lentidão
desconhecida em nossos tempos apressados, que levanta o nível da
conscientização e da concentração da poesia: a natureza avançava nas
minhas palavras tipo assim: o dia está frondoso de borboletas. A
lentidão, que é um efeito desejado na intensificação da tentação, é tanto
ligada à solidão como à apreciação da selva: quando as sombras avançam
na estrada é preciso aldear.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 34
VI.2. Percepção sonora ornitorrincosa e fitosociológica
Falando de ecologia, pensamos na ciência que analisa as interações entre
seres vivos (seres humanos, animais, plantas) e seus ambientes. Talvez
pensemos também na UNESCO que popularizou a preocupação
ecológica, postulando a necessidade de proteger um meio ambiente
intato, um convívio persistente com a natureza e um estilo de vida que
respeita a vulnerabilidade dos sistemas bioecológicos. Declarando 2010
internacionalmente Ano da Biodiversidade e 2012 como Ano das
Florestas, a UNESCO contribuiu para a conscientização da
responsabilidade ecológica. Apesar do fato, que a profissão do ecólogo
ainda não é legalmente previsto no Brasil, ha quatro faculdades que
oferecem o bacharel nesta área com aulas de biologia, química, geologia
e matemática, alem das disciplinas de poluição, impactos ambientais,
legislação ecológica e manejo de áreas silvestres.
A convicção, que a preservação do meio ambiente aprende-se pelos
estudos científicos e pela participação de encontros como Greenmeetings
é plenamente aceita. Mas a hipótese de abraçar a natureza com a própria
sensação de ardor e dar as boas-vindas à ecologia vivida pelo recado da
poesia é ocultada por uma cortina de surdimutismo. Fora dos dados não
se sabe muito da natureza e quase nada da sua essência que não se
reproduz no display. A mera imagem, mesmo sendo impressionante, não
transmite vivência nem transfiguração. Tirando a cortina, todavia,
ouvindo a mensagem da poesia de Barros, que diz: na beira do
entardecer o canto das cigarras enferruga, advinha–se uma potência
ecológica enorme contida em seus poemas. De fato, eles criam novo
acesso carinhoso à natureza, que é muito pessoal para cada um sendo
mais rico para quem compartilha com a atitude de Barros, que não é
alheio a nada, podendo-se até comparar a uma mina de ouro que aguarda
seus garimpeiros. A poesia verde de Barros permite uma aproximação
erótica ao mundo ecológico, soltando novas energias emocionais num
terreno, que e muito circunscrito, se definido meramente como um
conjunto de ciências.
Sabendo que o Brasil é aclamado o país mais verde do planeta com sua
floresta Amazônica, sua Mata Atlântica, seu Cerrado, sua planície vasta
de inundação do Pantanal, sua diversidade incalculável de espécies de
animais e de vegetais, parece lógico que a poesia verde sai desta
exuberância. O que surpreende, todavia, é que é um poeta, chegando na
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 35
pontinha dos pés, e que quase murmura no seu Livro sobre Nada: as
coisas que não têm dimensões são muito importantes; é no ínfimo que
vejo a exuberância.
Não há provas, mas pode se desconfiar que a poesia levou Barros a
adquirir sabedoria fitosociológica. Ele mesmo diz: preciso de obter
sabedoria vegetal: e quando esteja apropriado para pedra, terei também
sabedoria mineral. Provavelmente ele desenvolveu secretamente uma
percepção sonora extrema, podendo interpretar as notícias que a fauna e a
flora trocam entre si: quando as aves falam com as pedras e as rãs com
as águas – é de poesia que estão falando. Além disso, a poesia revela que
Barros deve ser fluente na língua das árvores: eu queria aprender o
idioma das árvores; sabedoria pode ser que seja estar uma árvore, e que
ele sabe a língua das abelhas: sou capaz de entender as abelhas do que
alemão. Também não se pode excluir que ele saiba escrever a língua das
aves: eu queria usar palavras de ave para escrever. Resumindo estes
dados ecologicamente relevantes, presume-se a eventualidade que a Ars
Poética de Manoel de Barros talvez tenha alma verde, rumor que circula
mais entre seus adeptos adolescentes.
VI.3. Olhadela descaroçadora com fantasias fanerozóicas
A descaroçadora é uma maquina, que tira o caroço da fruta, deixa a fruta
sem o miolo, sem seu coração. Para fazer sobremesa ou doce de fruta, a
cereja descaroçada é melhor. Mas quando a olhadela descaroça alguma
coisa, a finalidade é outra. O olhar trespassa tudo com sua visão nítida até
à essência, querendo localizar o centro como se fosse com radio x. A
intenção não é tirar o núcleo, mas de saber mais, entender melhor, fazer
visível, mesmo quando o caroço ficar intocável. Às vezes o caminho é
demorado e trabalhoso, mas é uma aventura e indispensável querendo
estabelecer uma nova orientação. É sempre ariscado, exige coragem,
determinação. E consome não só toda energia que um individuo tenha
disponível, mas também exige um engajamento incondicional. É uma
estrada de solidão, que o viajante tem que pegar sozinho, o destino é
determinar seu peso próprio, na palavra de Barros: o menino isolado
criou sozinho seu alimento espiritual.
Barros incorpora as etapas do seu caminho na sua poesia, que pode ser
vista como documento da sua experiência personalíssima. Toda sua
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 36
poesia fala exclusivamente dele, mas seria um erro achar que se trata de
um artista autofílico que exibe suas preferências egocêntricas. Ao
contrário, cada passo que ele da é uma necessidade para o processo
descaroçador da sua obra e para a formação da pessoa singular do poeta.
Os poemas acentuam isto, falando quase sempre na primeira pessoa,
citando outras pessoas, que, na realidade todas fazem parte da sua
personalidade, como no Livro do Bernardo: já me dei ao desfrute de ser
ao mesmo tempo pedra e sapo. Antes de entregar-se totalmente a este
empreendimento, Barros atesta que livrou seu olho poético de
preconceitos, cortando e atravessando qualquer coisa, que pretenda ser
obstáculo, entregando se incondicionalmente ao jogo de bicho da
natureza: para ser escravo da natureza o homem precisa ser
independente. Quando for necessário, o próprio olho poético até
descalcifica a água para enxergar melhor e tirar a máscara: sou beato de
águas de pedras e de aves.
Mesmo imaginada e inventada, a sua poesia é pura e libertada do falso:
sou livre para o silêncio das formas e das cores. Para Barros o ato de
livrar-se de conceitos alheios é básico, porque criar começa para ele no
desconhecer, sendo o forte dele desexplicar as coisas, o que seria uma
ajuda indireta até para o leitor.
Enquanto os cientistas fazem análises técnicas, teóricas e valiosas, como
observadores imparciais, eles evitam qualquer envolvimento pessoal. Eles
trabalham em águas mornas. Nota-se o impacto da vista aguda daquele
que não sentiu medo de se expor à procura dos próprios parâmetros.
Quem se acostuma viver sua vida conforme os critérios estabelecidos por
terceiros nunca vai ter acesso à percepção do mundo, enganando-se ao
pensar que conhece o mundo, mas nem sabe ficar admirado da vida, não
conhece nem si mesmo nem à natureza, como diz Bernardo no livro
dele: quase vestida de sol vi a chuva em cima do morro. Ele é um rapaz
que nunca vai esquecer sua espontaneidade, sua originalidade, sua
primordialidade e sua primitividade, suas qualidades do ser humano,
descobrindo, elaborando e sempre repetindo o que ele está sentindo. Solto
e despreocupado, ele se joga nas suas fantasias fanerozóicas dos últimos
544 milhões de anos, levado pela saudade de Deus, as suas origens, pela
nostalgia da selva. Barros diz: o que escrevo resulta de meus
armazenamentos ancestrais e de meus envolvimentos com a vida. Ele é
filho e neto de bugres andarejos, de portugueses melancólicos, tendo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 37
vivido algum tempo com os índios chiquitanos, dispondo
consequentemente de um lirismo rico e impenetrável.
VI.4. Poesia numa linguagem minuciosa em altiloquência corpórea
O mesmo cuidado que Barros aprendeu nas suas conversas com os
passarinhos, ele aplica na criação da sua própria linguagem, nunca
descuidando, todavia, do seu senso lúdico: eu sou apenas jogo de
palavras. Felizmente, a língua brasileira oferece espaço suficiente, sendo
outras línguas, como por exemplo a alemã, filologicamente bem
autoritárias em se tratando de jogos de palavras ou, mais ainda, na
ortografia poeticamente transformada. Barros pega as palavras a fim de
arrumá-las em seus poemas para adquirirem nova virgindade, salvando-as
desta maneira da morte por clichê. Evitar que o idioma adoeça de
esclerose é, na opinião dele, uma das tarefas do poeta. Por outro lado, a
palavra poética precisa-se desligar de informações porque causam
perturbações da fantasia. As funções mágicas e manipuladoras da língua
são bem vindas. Engrandecer as coisas menores, diminuir importâncias
ou dar grandeza às pobres coisas são instrumentos importantes da sua
poesia para ele mesmo e para todos os seres que precisam da poesia para
se completar do mesmo jeito como se faz com a música ou a pintura com
suas formas e cores.
Pelo fato que Barros escreve sua poesia pelo corpo, ele se sente muito
perto dela, sequer tendo distância suficiente para julgá-la. Se for avaliada,
sua poesia não vai ser submetida à razão, porque ela tem suas fontes nos
sentido. Ela não é para compreender. Ele anota que sua poesia é para
incorporar, ela se absorve através de percepção da sensibilidade. Sem
dúvida, é na aprendizagem que ele absorveu na escola das águas, das
pedras e dos sapos que achou o caminho da intuição: melhor ser as coisas
do que entendê-las. A linguagem faz o papel preferido na sua vida e com
ela faz sua poesia intuitiva, desfazendo os costumes das palavras e das
cabeças humanas: eu estou no mundo como um ser de linguagem.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 38
VI.5 . Zombaria de potência perfeccionista, identidade pulha no
terreno poético dos Direitos Humanos
O amor pelo desprivilegiado e pobre transparece na poesia de Barros. Seu
conceito de pobreza, todavia, não tem nada a ver com submissão,
resignação ou abdicação. Ao contrário, sua poesia de compaixão lembra
São Francisco de Assis, que definiu sua pobreza amada como força
inesperada de alegria de viver, que liberta o ser humano daquelas coisas
que ele não possui, mas que tomarem posse dele. Para aproximar-se deste
conceito, Barros prefere usar em sua linguagem palavras pobres e
desprezadas em vez de palavras luxuriosas, querendo revelar sua atitude
através do seu idiotismo. Sua poesia dá abrigo aos vagabundos, aos
jogados fora da sociedade, aos excluídos e àqueles que moram nos fundos
de uma cozinha; diz ele: conviver com inexistência é raiz da poesia. O
perfeccionista não-satisfeito, querendo sempre mais, não tem voz na sua
poesia, mas as coisas que não prestam mais pra nada e estão jogadas
fora por inúteis são para mim objetos de estima.
Muitos anos atrás houve a suspeita que a poesia de Barros seria um golpe
anti-materialista, por causa de certa falta de apreciação de bens e riquezas
desejadas, sendo injustificadamente diminuindo seu valor ou até negado
sua importância. Idealizando uma vida no abandono era considerado tão
grave, que poderia ser caracterizado como uma infração penal dolosa, ou
pelo menos culposa, da ordem econômica, relativamente ao
descumprimento de obrigações dos direitos reais de propriedade do
Código Civil Brasileiro. Verificou-se, todavia, neste caso concreto, uma
imputabilidade relativa da poesia, levando em consideração a capacidade
da acusada, as circunstâncias atenuantes ou agravantes, as peculiaridades
do caso e as provas existentes, que finalmente levou à sentença
absolutória. Foi provado, que o autor da poesia, formado pela Faculdade
Fauniana Piratininga de Campo Grande, nunca usando o traço
acustomado, sempre tinha tido um instinto pacífico de criar, às vezes com
o intuito sensual de causar uma excitação nas palavras, mas sem sonhar
na derrubada da gestão de materiais. Estudando com os pássaros ele falou
que entre eles a propriedade de imóvel é muito mal vista e a acumulação
de vários ninhos ou outros bens nunca poderiam servir como prova de
riqueza, mas somente de deficiência ou senilidade. Confirmando que: os
heróis de nosso tempo não são ilustríssimos nem os príncipes nem os
poderosos, ele testemunhou sob palavra de honra: eu queria crescer pra
pássaro e ganhou a causa.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 39
Confiando no direito natural, que protege todos os seres humanos,
considerando sua dignidade intocável, garantindo sua pluralidade, os
poemas de Barros estão dando ressonância artística diversificada: escrevo
meu avesso in.verso; por isso não sou de entendimento linear. Sou um ser
difícil, contraditório, inseguro. Sou um antro de incertezas. Com efeito,
estamos sendo vítimas de um sequestro querido ao reino de poesia e dos
Direitos Humanos graças à poesia de Manoel de Barros.
Notas:
I. A contribuição do intelectual na formação da união cultural europeia
(1)
Gero von Randow, escritor e jornalista, „Pariser Intellektuelle: Sartres Erben“
ZEIT Magazin, 29.09.2011
”Philosophen, was ist aus euch geworden? ZEIT, Kultur, 6.2.2009
Hans Christoph Buch, escritor e jornalista, „Deutsche und französische
Intellektuelle erinnern an die “politische Utopie Europas”, Manifest gegen
das Klein-Klein der Europapolitik, Gespräch, DLF, 30.11.2011
Thomas Assheuer, escritor, „Kalte Liebe“ Eines Tages wird man fragen: wo
waren eigentlich die Intellektuellen, als Europa zu Bruch ging“ ZEIT, Kultur,
10.11. 2011
Stephan Möbius, professor, sociologo, Universidade Graz, Debatte, “Wo sind
die Intellektuellen hin?” ZEIT, Literatur, 19.05.2011.
(2) Marianne Kneuer, professora, ciencias políticas, Universidade de Hildesheim,
“Intellektuelle und Europa” Geist und Macht, Publikation, Sonderausgabe,
KAS, Die Politische Meinung, Jan 2002
II. Uma crise complexa na Europa
(3) Alfred Grosser, escritor e professor, Paris, cientistas políticas, Universidade
de Frankfurt, “Niemand Will raus aus Europa, aber alle schimpfen”,
Interview, euronews.net, 2011
(4) Martin Spiewak, escritor e jornalista, ”Psychische Belastung: Prof. Dr.
Depressiv“; Hartmut Rosa, professor, sociólogo, Universidade de Jena,
“Burnout bei Professoren: jeden Tag schuldig ins Bett“, ZEIT, 4.11.2011;
Markus Pawelzik, médico e filósofo, chefe de clinica, EOS, Münster,
„Psychologie: Gefühlte Epidemie”, ZEIT, Gesundheit, 4.12.2011; Harro
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 40
Albrecht, medico, jornalista “Erschöpfungsdepression: Burn-ou die deutsche
Spezialität”, ZEIT, Gesundheit, 5.12.2011
(5) Lars von Trier, Kopenhagen, diretor de cinema, considerado o mais
importante da Europa. Seu filme “Melancholia” ganhou prêmios em três
categorias
III. Espelho da crise nos trabalhos do intelectual mais rebelde e insurreto
(6) Aernout Mik, Amsterdam, artista de vídeos mais fascinante do presente,
Retro Exposição Communitas, Essen de 29 de Outubro 2011até 29 de Janeiro
2012
(7) Kathrin Röggla, Salzburg, Berlin, escritora, livros: Wir schlafen nicht, 2004
(8) Ödon von Horvath (1901-1938) era na sua época extremamente crítico as
estruturas sociais existentes. Aos 35 anos, escreveu o texto “Juventude sem
Deus” tratando das deficiências da juventude em respeito à moralidade, à
manipulabilidade e ao embrutecimento dizendo que “a mentira dança com a
justiça, mas o juízo não participa da dança”
(9) Beatrice Goetz, Basel, dançarina e coreógrafa, diretora de dança e teatro
(10) Patrick Gusset, (30) suíço nato com raízes na Jamaica, ator e musico com
banda própria; ele mesmo é a forca que sabe dar a força , a essência e o
coração à performance da peça, já que ele viveu e venceu na vida particular
conflitos de identidade, adaptação e integração; o projeto foi elaborado junto
com jovens do projeto Vitamin T que cuida dos 30% da população suíça que
tem origem estrangeiro de migração.
(11) Frank Castorf, Berlin, diretor de teatro famoso da Berliner Volksbühne, que
inventou seu próprio estile de fazer teatro,com contrato prolongado até 2016;
ao mesmo tempo ele foi convidado de encenar Bayreuth em 2013.
IV. Freedom Rebels, Jeunes de Balieus, Wutbürger e o Consultório
Filosófico de Viena
(12) Dirk Kurbjuweit, Berlin, escritor e jornalista, Ensaio “Der Wutbürger“
(nascimento de um tipo de ser humano que somente existe na Alemanha) Der
Spiegel Oktober /2010; movimento que nos Estados Unidos é chamado
Nimbywars
(13) Gerhard Matzig, Munique, escritor, arquiteto e redator científico,
Süddeutsche Zeitung, livro „Einfach nur dagegen“ Editiora Goldman,
Oktober 2011
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 41
(14) Eugen Maria Schulak e (15) Rahim Taghizadegan, Viena, dois filósofos
chamam a luta contra o sitema, “Vom Systemtrottel zum Wutbürger”,
Ecowin Verlag, Salzburg, Setembro 2011
V. Intelectuais consagrados na Europa tomam posição
(16) Jean Luc Godard, diretor de cinema, Godard na France Culture, 15.09.2011,
virando 80 anos, “Wie Schnee auf dem Wasser”, Frankfurter Rundschau,
3.12.2010
(17) Italo Svevo, (Hector Aron Schmitz), Trieste, escritor italiano, (1861-1928),
La Consciência de Zeno, 1927
(18) Peter Gabriel, cantor inglês, 1967–1975 Genesis, fala sobre sua época do
REMIX Die Zeit 6.10.2011, CD New Blood, trabalho com Amnesty
International, co-fundador do Witness
(19) Hans-Peter Dürr, físico e filósofo, diretor do Max-Planck, Munique até
1997; fundador do GCN- Global Challenges Network, Learning of descision
making; “Das Lebendige lebendiger werden lassen”, Livro oekon Verlag,
München, 2011; Ensaio de Dr. Michael Schneider , Archiv KGS Berlin, Nov.
2011
(20) Michela Marzano, (Maria Michela Marizano-Parisoli) escritora, professora e
filósofa, Roma/Paris, Penser le corps, PUF 2002, Le contrat de défiance,
Grasset, 2010, Volevo essere una farfalla, Mondadori, 2011
(21) Tomas Tranströmer, Stockholm, poeta de poucas palavras com uma
linguagem comprimida, que publicou doze livrinhos de poesia com menos de
500 paginas no total, Prêmio Nobel Literatura, 2011, Fragmento de um
poema chamado “do Mês de Marco, 79” publicado em 1983
VI. Bálsamo poético de Manoel de Barros
(22) Manoel de Barros, advogado e poeta, Campo Grande, Livro: Coleção de
Encontros, apresentação de Egberto Gismonti, Beco do Azouge Editorial
Ltda., 2010; Livro: Poesia Completa, Editora Leya, 2010.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 42
O LUGAR DA LITERATURA
Miguel Sanches Neto – UEPG 1
1. Dois leitores
É notória a perda da centralidade do texto literário nos cursos de
Letras. Não se trata de algo recente, e está na gênese desta modalidade de
formação universitária. O texto literário tem ficado sujeito a um processo
de utilitarização, sofrendo usos diferentes, mas sempre em uma posição
secundária. Campo para estudos gramaticais, estilísticos, históricos,
linguísticos, filosóficos, psicanalíticos etc., o texto literário padece de
uma falta de autonomia dentro do que se convencionou chamar Ciências
Humanas. Nega-se a ele um poder formador independente, devendo o seu
estudo estar atrelado a outras questões, que lhe dariam o sentido
profundo, sem o qual ele não passaria de uma peça de entretenimento.
A leitura literária desarmada é, portanto, uma heresia nos meios
universitários, pois geraria um amortecimento analítico, uma
incapacidade de reflexões críticas, entendendo-se por reflexão crítica a
filiação a alguma tendência interpretativa, das muitas que se sucedem na
história do pensamento contemporâneo, do estruturalismo às questões
pós-coloniais. A literatura é matéria-prima que dará origem a um produto
sofisticado, a crítica, equivalente intelectual do progresso tecnológico.
Não é difícil perceber que este conceito de estudo literário está enraizado
numa visão científica, ou no mínimo racionalista, e tenta arrastar para
este campo o texto literário, cujo domínio original se encontra no tumulto
das emoções. O jogo razão versus emoção, no âmbito da crítica, tende a
anular o segundo elemento.
Temos, portanto, uma grande quantidade de pessoas que discorre
sobre literatura nos cursos de Letras, mas poucos dispostos a reconhecer a
função formadora da leitura literária em si. Aliás, ler um livro apenas
como literatura, como um texto capaz de nos colocar em situações de
deslocamentos de identidade, sem buscar outras coisas nele, é cada vez
mais raro tanto fora quanto dentro da universidade.
Num livro primoroso, de 1961, o escritor e crítico C. S. Lewis,
faz uma distinção de dois tipos de leitores: os literariamente letrados e os
literariamente iletrados.
1
Ficcionista, poeta, cronista, memorialista, professor, crítico literário.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 43
A principal marca dos integrantes do último grupo seria o
interesse pelas notícias, pelos episódios, e isso da maneira mais rápida
possível. Ele é aficcionado pelo que Lewis grafa com maiúscula: o
Acontecimento. Uma literatura de informação, poderíamos dizer, que
fale, por exemplo, de uma determinada síndrome, de um fato histórico, de
hábitos de uma sociedade desconhecida etc. É o uso mais imediato de um
texto, que não existe como potência artística, mas como instrumento de
comunicação ou mero passatempo. Ele deve ser ágil, excitante, gerar
curiosidades que serão satisfeitas, produzindo prazer ou felicidade.
Enfim, a lógica do best-seller.
No campo oposto, estariam os literariamente letrados, que se
dedicam aos textos mais complexos, com um senso de
construção/desconstrução elaborado, um leitor para quem os recursos de
linguagem e as potencialidades teórico-filosóficas contam, e que encontra
significados profundos no texto. Ele se debruça sobre o livro para
confirmar leituras críticas, aplicando conceitos teóricos. Para Lewis,
ainda aqui teríamos uma má leitura dos textos literários, embora estas
sejam qualificadas. E a palavra que melhor definiria este posicionamento
talvez fosse “Significado” – os significados em si e os da forma.
Nos cursos de Letras, as estratégias didáticas de leitura estão
voltadas para formar este leitor literariamente letrado, o que faz com que
a palavra crítica assuma um sentido maior do que a palavra literatura.
2. Alunos sem literatura
Qualquer professor atento percebe que os calouros de Letras, na
sua grande maioria, chegam ao curso ainda sem intimidade com a leitura
de textos literários. Na melhor das hipóteses, eles leram alguns livros
obrigatórios, dominam algumas informações periféricas, lembram-se de
um ou outro episódio de obras clássicas. Sinal de que o ensino médio não
consegue formar, de maneira extensiva, leitores de literatura, nem mesmo
nas boas escolas. Na introdução à edição brasileira deste livro essencial
de Tzvetan Todorov, A literatura em perigo, Caio Meira faz um breve
diagnóstico da situação nacional:
O contato maior que qualquer aluno do ensino médio tem com o
texto literário de fato se dá nas abonações e exemplos que auxiliam
na compreensão das regras e formações da língua portuguesa, seja
nas próprias aulas de literatura, que se resumem principalmente ao
ensino da história e dos gêneros literários. (p.9)
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 44
Esta relação indireta com o literário que se tem no ensino médio é
reflexo do lugar que a literatura ocupa nos cursos de Letras. Não se
prioriza o literário, mas as questões de linguagem que podem ser
extraídas do texto criativo. É uma exploração extrativista da literatura,
devastada por inúmeros interesses, sociais e teóricos, o que constrói –
quando constrói – uma percepção errônea do valor da literatura. Tratando
da realidade francesa, no ano de 2006, afirma Todorov:
A obra literária é representada como um objeto de linguagem
fechado, auto-suficiente, absoluto [...]. Sem qualquer surpresa, os
alunos do ensino médio aprendem o dogma segundo o qual a
literatura não tem relação com o restante do mundo, estudando
apenas as relações dos elementos da obra entre si. (p.39)
Podemos dilatar o diagnóstico de Todorov, focado na herança
estruturalista, lembrando que questões político-ideológicas foram
acrescentadas a este cardápio, enquanto a lógica periférica do literário
continua a mesma. Assim, até um aluno secundarista bem formado neste
modelo de ensino chegará ao curso universitário sem literatura, porque
aprendeu a tomá-la como pretexto de estudos de linguagem ou de
sociedade. Se ele se encaminhar para outras áreas, poderá nunca mais ler
literatura ou, estimulado por modismos ou pela indústria do
entretenimento (um filme baseado em um romance, por exemplo), fazer
leituras ocasionais de textos em evidência midiática. Se ele se encaminhar
para o curso de Letras, geralmente com a expectativa de se formar
professor de língua (vernácula ou estrangeira), continuará aprimorando a
sua má leitura dos textos literários. Ou seja, mesmo lendo os autores
consagrados, ele ainda continuará afastado da literatura, porque não vai
ler os livros na condição de peça literária, com as suas especificidades
formadoras, mas para atender a uma mecânica crítica que precisa desse
material para se sustentar.
É este futuro profissional que ensinará literatura no Ensino
Médio.
3. Professores sem literatura
Boa parte dos alunos universitários que se dedicam de fato ao
estudo da literatura acaba se encaminhando para as pós-graduações da
área. Assim, a passagem da graduação, com os trabalhos de iniciação
científica, para o mestrado e/ou doutorado referenda um modelo crítico.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 45
O que permite afirmações como a que testemunhei durante meu mestrado
em literatura. Disse um de meus colegas:
– Do que menos gosto no curso é de ler literatura.
A especialização, crescente no processo hierarquizador da
carreira universitária, leva a um fechamento maior. Um fechamento
teórico, com a consequente miniaturização das leituras literárias. Toda a
vastidão da biblioteca de obras criativas fica circunscrita a uma pequena
família, a que respalda o encaminhamento crítico tomado pelo estudioso,
ou a um autor ou mesmo a uma única obra. Isso decorre da visão
laboratorial de pesquisa, que reduz o todo a uma pequena parcela. Trata-
se do famoso processo representado por procedimento próprio da
pesquisa: o recorte.
Concentrando os seus interesses em um determinado eixo, e
dentro de uma dada linhagem literária, o futuro professor universitário
acaba se desvinculando de tudo que não esteja contemplado, direta ou
indiretamente, nos seus objetos de estudo. Assim, há uma fragmentação
do conhecimento que garante o estudo aprofundado de um autor, de uma
temática, mas que coloca a perder um dos principais papéis do ensino da
literatura, que é apresentar aos alunos a variedade do fenômeno literário,
para que ele possa construir a sua biblioteca pessoal.
Tal pressão age de cima para baixo. Oriundos de pós-graduações,
onde a alta especialização tem realmente o seu ambiente, os professores
reproduzem este modelo na graduação, formatando – ou adestrando, para
usar um termo mais forte – futuros professores do ensino fundamental e
médio com uma visão redutora. O regime de leitura da graduação não
dará conta assim das exigências de formar leitores literários no Ensino
Médio. Todorov aponta para este descompasso criado pela
especialização:
No ensino superior é legítimo ensinar (também) as abordagens, os
conceitos postos em prática e as técnicas. O ensino médio, que não
se dirige aos especialistas em literatura, mas a todos, não pode ter o
mesmo alvo; o que se destina a todos é a literatura, não os estudos
literários; é preciso então ensinar aquela e não estes últimos. (p.41)
Ele acredita que a universidade transfere ao professor que ela
forma uma das tarefas intelectuais mais difíceis: a de apresentar livros
literários aos alunos com os quais ele próprio não conviveu, pois fez mais
estudos críticos do que leituras literárias. Todorov fala em transformar os
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 46
conhecimentos teóricos em uma “ferramenta invisível” (p.41), para que
se possa operar o passe de mágica de trabalhar diretamente com o texto
literário no Ensino Médio.
No caso a que ele se refere, os alunos franceses chegariam ao
curso de Letras movidos pelo amor pela literatura, pelos sentidos e pelas
belezas das obras que os fascinaram (p.31), e encontrariam no Ensino
Superior uma priorização das teorias que redirecionariam este ímpeto. No
caso brasileiro, os alunos chegam sem este impulso e muitas vezes sem
sequer o contato direto com o literário.
Chegam sem literatura, saem sem literatura. E terão que ensinar
literatura.
Sobra-lhes, na maior parte das vezes, ensinar períodos e estilos
literários. E continuar assim não formando leitores de literatura.
É como se as licenciaturas em Letras se vissem, neste segmento,
como bacharelados, formando mais pesquisadores.
4. Leitor eclético
O contrário do especialista é o leitor eclético.
O argentino Alberto Manguel confessa corajosamente na abertura
de Os livros e os dias: “não sou senão um leitor eclético” (p.10), fazendo
com isso mais uma declaração de princípios do que denunciando uma
fraqueza. A capacidade de se encantar com os mais variados tipos de
texto, a recusa de uma religião literária excludente, a curiosidade
permanente de ir em busca de tudo que se escreveu (pois o leitor eclético
padece da loucura de tentar ler a biblioteca universal), o interesse erótico
pelos livros e uma renúncia à alta seletividade apontam para uma
saudável abertura para o outro, e é esta abertura que faz o grande leitor,
base para a ação pedagógica do professor de literatura.
Em um livro que é o elogio da figura do educador que vai além
do domínio de uma disciplina, Lições dos mestres, George Steiner
também contrapõe o perfil do professor ao perfil do especialista,
alertando para a sua excentricidade no meio escolar e para a sua
vulnerabilidade: “Nossa cultura embarcou em um processo de
especialização do qual jamais sairá. Quem ficar fora desse processo, o
eclético, fica absolutamente vulnerável” (p.214). Mas não há outra forma
de lidar com a literatura como instância de formação humana senão para
além do cercado das especializações. Steiner busca nos grandes mestres
uma força para conter as correntes fragmentadoras, por ele identificadas
como “cientificismo; feminismo, democracia de massa e sua mídia”
(p.222), embora elas sejam em número muito maior.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 47
Anteriormente a estes dois autores, C. S. Lewis já havia culpado,
de maneira provocadora, a leitura excessiva de textos críticos como uma
das responsáveis pelos impasses do ensino de literatura. Suas avaliações
são extremamente diretas, pois ele creditava a este regime de leitura
especializada o insucesso da formação do leitor literário.
Quem quer que analise as teses de estudantes com distinções
acadêmicas em Inglês em uma universidade já terá observado,
com certa aflição, sua tendência para ver os livros só por meio
das lentes fornecidas por outros livros. (p.111).
A especialidade cria uma reprise de abordagens das obras,
impedindo aquilo que Lewis acredita ser o grande ato crítico: uma reação
pessoal aos textos literários, na seguinte fórmula: “Leitor Encontra
Texto”. Ao invés disso, o leitor revisa, reforçando ou refutando, as visões
construídas sobre os textos literários. Perde-se o contato primário com o
livro e a leitura passa a ser conduzida pela autoridade crítica de
especialistas dedicados ou aplicáveis àquela obra literária, anulando a
iniciativa analítica dos leitores ainda em formação.
A recusa dessas especializações o leva a uma postura radical de
profilaxia. Lewis propõe, num premeditado suicídio acadêmico, uma
trégua teórica: “Sugiro que dez ou vinte anos de abstinência de leitura e
de produção de crítica avaliadora poderiam fazer muito bem a todos nós”
(p.112). Cinco décadas depois, a leitura e a produção crítica continuam
fulgurantes no ambiente universitário, enquanto a literatura aparece como
figurante.
A mesma idéia move o crítico e escritor inglês A. Alvarez, para
quem a crítica foi “sequestrada por preocupações extraliterárias” (p.22),
perdendo a sua marca e o seu poder. Não se prega aqui a abstinência
crítica, assim como também não a prega Todorov, mas um retorno a
preocupações literárias sem perder a contribuição de outros setores do
pensamento. Alvarez reivindica, no entanto, um restabelecimento do
conceito tradicional de crítica analítica: “A verdadeira crítica, do tipo
praticado por mestres como Coleridge e T. S. Eliot, nos chega sem muita
bagagem teórica e tendo pouco a provar. Para descobrir o que é uma obra
literária, o crítico deve abrir mão de sua própria sensibilidade e mergulhar
na de outro escritor, sem teorias e sem preconceitos” (p.22). Note-se que
há uma equivalência entre teoria e preconceito, uma vez que um viés
teórico cria uma indisposição para todo um universo literário, escolhendo
apenas uma fatia dele, que passa a ser a representação da Verdade.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 48
Como os cursos de Letras se organizaram para transmitir os
conceitos teóricos, sempre a partir da adesão a um deles, ensinando mais
os seus fundamentos, mata-se a disposição para entrar na produção do
outro sem ideias prévias, que seria o elemento definidor do crítico dentro
desta tradição que ficou superada. O aluno lê os livros literários que as
suas orientações teóricas pressupõem.
No capítulo “O culto da personalidade e o mito do artista”, em
que Alvarez trata dos sucessos midiáticos dos escritores, que hoje
dependem de procedimentos de exposição pública próprios do showbiz,
num enaltecimento mais da biografia do que da obra, ele identifica como
um dos fatores responsáveis por este empobrecimento cultural a ausência
de uma pedagogia da leitura nos moldes a que se referia acima: “o
público em geral parece mais interessado na personalidade dos autores
vivos e nas biografias dos mortos porque, entre outras razões, não se
ensina mais a ler” (p.145). Não está culpando aqui apenas a escola, mas
principalmente o ensino superior. Não se ensina a ler nos bancos
universitários.
Embora facilmente presumível, valeria a pena promover
pesquisas para traçar um perfil dos livros guardados nas bibliotecas dos
professores de literatura. Pelas referências bibliográficas de ensaios,
dissertações, teses e programas de curso, podemos ter uma amostra da
biblioteca desses profissionais, onde há não apenas uma reprise de títulos,
dentro de cada uma das correntes teóricas, como uma presença mínima de
obras literárias. Ler literatura, numa acepção de abertura ao outro, será
sempre ler prioritariamente os livros literários, nas relações, de
contiguidade e de contraponto, que eles estabelecem entre si. É literatura
comparada na sua concepção mais pura.
Também tem um sentido programático a observação de Alberto
Manguel em A biblioteca à noite, uma espécie de exploração mágica
desse espaço cujo sentido vem de um histórico, da formação de seu
acervo, do lugar que ele ocupa na casa, no quintal ou no local de trabalho.
Em última instância, a formação literária na universidade devia permitir
que o futuro professor constituísse um catálogo pessoal de obras, dando
assim início a uma biblioteca que fosse a sua própria identidade, uma
tradução de seu encontro com o outro, de construção de seu eu a partir
dessa relação de escuta das vozes literárias mais diversas. Diz Manguel:
Um observador arguto poderia dizer quem eu sou a partir de
uma cópia em frangalhos dos poemas de Blas de Otero, do
número de volumes do Robert Louis Stevenson, da vasta
extensão dedicada a histórias detetivescas, da seção minúscula
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 49
dedicada à teoria literária, do fato de haver muito Platão e
pouco Aristóteles em minhas estantes. Toda biblioteca é
autobiográfica. (p.162).
Entenda-se a palavra autobiográfica no sentido identitário.
Construímos um eu a partir das leituras que fazemos, principalmente a
partir das leituras literárias. Michel Foucault trata disso no ensaio “A
escrita de si”, em que ele valoriza no mundo clássico os cadernos de nota,
onde se transcreviam trechos de outros textos ou depoimentos. Tal
procedimento funcionaria “como um veículo importante [da] subjetivação
do discurso” (p.137). A biblioteca teria esta mesma função subjetivadora.
5. Duas posturas
Voltemos à questão da utilitarização da leitura. C.S. Lewis
demonstra que tanto os muitos (leitores literariamente iletrados) quanto
os poucos (os literariamente letrados) se colocam diante de uma obra com
a intenção de tirar algo dela – respectivamente, informações ou questões
teóricas. Neste processo, o leitor/fruidor (ele trata também das artes
plásticas) domina o movimento de abordagem da obra. Ele quer fazer
algo com ela. Lewis diz que esse tipo de postura é de quem usa a obra de
arte. Para ele, reside aí todo o equívoco do relacionamento entre leitor e
livro literário. O leitor universitário, principalmente aquele que ainda não
teve uma imersão prolongada na biblioteca de obras criativas, tende a
chegar com segundas intenções, poderíamos dizer, aos livros. Essas
intenções, por mais nobres que sejam, viciam a leitura, produzindo ou
uma negação do livro ou a valorização de um aspecto pré-definido. A
obra vale na medida em que ela serve para algo, em que ela esteja
adequada a um pressuposto, na medida em que ela não desestabilize o
leitor, confirmando pequenas certezas que colheu aqui e ali, em suas
leituras críticas.
Assim, os dois grupos, aparentemente tão distantes, se
aproximam pelo fato de ambos usarem a arte. A afirmação de Lewis é
categórica: só há crítica quando estamos dispostos a receber aquilo que os
livros contêm. Para receber isso, faz-se necessária uma mudança do
trânsito – é a arte, com aquilo que a potencializa, que vem a nós e nos
modifica, desequilibrando-nos: “Sentamo-nos em frente ao quadro no
intuito de que ele nos faça algo, e não para que façamos algo com ele”
(p.23). Deve haver uma entrega; o fruidor aceita receber. Este controle –
a força de conceitos prévios que nos conduzem a certos livros – é o maior
atrapalho para a subjetivação pela leitura literária. E é esta a leitura
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 50
padronizadora que prepondera na fase universitária de ensino. Nesta fase,
quando atendemos ao conteúdo de uma disciplina, seja ela de
historiografia literária ou de teoria, nós nos posicionamos acima da obra,
numa imunidade aos seus venenos. Somos pesquisadores e não leitores;
fazemos um trabalho e não uma leitura; queremos uma confirmação e não
um questionamento; estabelecemos uma relação funcional com o livro e
não nos entregamos a ele, o que leva a um amortecimento das pulsações
do literário. Não nos descontrolamos diante do contato com aquele
universo, vendo com frieza ou com distanciamento aquele objeto que só
pode ser plenamente experimentado enquanto tumulto. “Estamos tão
ocupados atuando sobre a obra que damos a ela pouca chance de atuar
sobre nós. É assim que cada vez mais encontramos apenas a nós mesmos”
(p.75), diz Lewis, que entende a leitura literária como um momento de
frequentar as opiniões, atitudes e sentimentos de outros homens.
Assim, não somos nós que vamos constituindo uma biblioteca,
mas uma biblioteca que vai nos constituindo, na dinâmica de uma
literatura com um papel de construção ou de reconstrução do eu, um
papel de extrema importância no Ensino Fundamental e Médio, mas
também no Superior, principalmente pelo fato de que isso, pelo menos no
Brasil, dificilmente consegue ser possibilitado nos estágios anteriores.
Uma biblioteca tomada majoritariamente por livros teóricos tem
um valor que é mais informativo. Quando os livros literários são
dominantes, o seu valor é humanizador. Fazemos sim uso dos livros, e
isso é inevitável, mas é preciso que saibamos também receber deles, e
esta postura é central numa concepção humanística da literatura.
6. Literatura e Direitos Humanos
A literatura funciona assim como uma passagem para o outro,
para o outro que me permite ser múltiplo, e, portanto, mais humano. O
último parágrafo de Um experimento na crítica literária resume de
maneira magistral a mecânica do outro como formador do eu, de um eu
tolerante:
A experiência literária cura a ferida da individualidade sem arruinar
o seu privilégio [...]. Lendo literatura, torno-me mil homens e ainda
permaneço eu mesmo [...]. Transcendo a mim mesmo. E nunca sou
mais eu mesmo do que ao fazê-lo. (p.121).
Ela forma o eu como superação da individualidade. Tarefa
pedagógica por excelência, porque transformadora, numa ampliação de
olhares sobre o mundo, interior e exterior.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 51
Em um de seus textos sobre a educação (“Os sete saberes
necessários para a educação do futuro”), o sociólogo Edgar Morin lista as
estratégias necessárias para modificar o quadro de nosso ensino. Na de
número três, ele trata da identidade humana, estranhando que a identidade
não conte para os programas de instrução. Depois de mostrar a
indissociabilidade do indivíduo, a sociedade e a espécie, e de que forma
um age sobre o outro, ele localiza o ensino de literatura no centro desse
processo de educação plena do ser humano. Seu texto insuspeito, vindo
de uma pessoa que não é da área das Letras, faz uma defesa do poder da
literatura, vista como conhecimento autônoma, independente de outros
ramos da ciência, e com uma natureza transdisciplinar, necessária para
fortalecimento de qualquer identidade. Diz Morin:
Chegamos, então, ao ensino da literatura e da poesia, elas não devem
ser consideradas como secundárias e não-essenciais. A literatura é
para os adolescentes uma escola de vida e meio para se adquirir
conhecimentos. As ciências sociais veem categorias e não indivíduos
sujeitos a emoções, paixões e desejos. A literatura, ao contrário,
como nos grandes romances de Tolstoi, aborda o meio social, o
familiar, o histórico e o concreto das relações humanas com uma
força extraordinária. Podemos dizer que as telenovelas também nos
falam sobre problemas fundamentais do homem; o amor, a morte, a
doença, o ci me, a ambição, o dinheiro [...], elementos [...]
necessários para entender que a vida não é aprendida somente nas
ciências formais e a literatura tem a vantagem de refletir a
complexidade do ser humano e a quantidade incrível de seus sonhos.
Matéria de realidade e matéria da imaginação, a literatura é o
conhecimento vertido em um verbo apaixonado, propiciando uma
experiência que passa tanto pelas emoções quanto pela razão, por isso
mais completo do que o da ciência. Não se pensa apenas a literatura; ela é
vivida, fortalecendo o que Michèle Petit chama de “intersubjetividades”
(p.58).
Esta pesquisadora francesa trabalha com a leitura fora do espaço
da escola, com comunidades em situações de alto risco, que passam pelas
mais dolorosas adversidades. Nesses locais, a leitura de textos literários
adquire centralidade total, porque é por meio dela que os indivíduos
podem se compreender e compreender as circunstâncias que os destroem.
Quando o peso da realidade é imenso, como no caso dessa população sem
voz e sem outros direitos, o mundo imaginário aberto pela leitura ganha
um potencial inusitado.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 52
As leituras abrem para um novo horizonte e tempos de
devaneio que permitem a construção de uma posição de sujeito.
Mas o que a leitura também torna possível é uma narrativa: ler
permite iniciar uma atividade de narração e que se estabeleçam
vínculos entre os fragmentos de uma história. (p.32)
A literatura solda vidas despedaçadas social, psicológica e
territorialmente. Este seu valor é uma garantia de sobrevivência, mesmo
que temporária, desses grupos: “A literatura é aqui uma reserva da qual se
lança mão para criar ou preservar intervalos onde respirar, dar sentido à
vida, sonhá-la, pensá-la” (p.285). Mais do que um campo de pesquisa
acadêmica ou do que uma disciplina escolar, os textos literários
funcionam como estratégia de salvação.
Michèle Petit parte de um dos conceitos mais revolucionários de
Antonio Candido, proposto em 1988, quando ele estendeu “o direito à
literatura” – título do ensaio – a todos, e não apenas a estudiosos,
eruditos, ou aos que frequentam escolas. A literatura agiria para garantir
algum equilíbrio social: “ela é fator indispensável de humanização, e,
sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque
atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente” (p.175). Este
seu poder é de natureza perturbadora, pois não há controle sobre as forças
movidas pela literatura, que podem ir contra diretrizes as mais diversas
que alimentam o sistema de ensino. Por exemplo, é mais fácil ensinar
algo sobre Gregório de Matos do que levar os alunos a ler os poemas
desbocados do poeta. Essa natureza perigosa da literatura muitas vezes a
torna proscrita mesmo entre aqueles que defendem a leitura.
Claro que para o crítico paulista o que está em questão não é
apenas o poder de tratar de determinados assuntos fundamentais para a
formação do indivíduo, mas a competência estética, a força ordenadora
que existe em todo texto literário bem realizado: “A eficácia humana é
função da eficácia estética, e portanto o que na literatura age como força
humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas
pertinentes” (p.182). Chamando-a de “alimento humanizador”, Candido
vê no acesso à grande literatura uma forma de negar a estratificação
social, as divisões de classe e de origem. As classes se solidarizariam
pelo direito de usufruir de todos os tipos de textos, sem as distinções de
cultura erudita e popular. Ele fala em uma corrente de dois sentidos,
numa explícita valorização do leitor eclético. Termina seu ensaio dizendo
que a literatura é um direito inalienável.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 53
7. Formar bibliotecas
Não é possível dissociar a literatura de outras formas de
conhecimento, tamanha tem sido a fusão entre elas. Até que ponto certos
textos filosóficos ou sociológicos não são eles próprios literatura? Assim
como as relações entre cultura popular e cultura erudita se contaminam
reciprocamente, o texto criativo e o texto crítico também exercem pressão
um sobre o outro. Não partilho, portanto, da proposta radical de Lewis de
uma abstinência crítica, ficando mais com Todorov, para quem as leituras
críticas, no exercício do magistério, devam funcionar como estruturas
invisíveis, como meios que permitam uma melhor e maior compreensão
do literário.
Mas não posso deixar de me posicionar, diante do caminho
percorrido por este texto, em prol de uma maior atenção à produção
literária tanto na escola quanto nos vários níveis da formação
universitária. Dedicar-se às obras criativas no sentido proposto por Lewis,
de saber recebê-la naquilo que ela nos nega, e não apenas usá-la para que
nos confirme. Esta visão funcionalista tem transformado boa parte das
aulas de literatura num local em que apenas se discutem questões
extraliterárias.
Talvez a grande tarefa pedagógica dos cursos de letras seja ajudar
o aluno a construir aquilo que Italo Calvino (em Por que ler os clássicos)
chama de biblioteca ideal, que atenda às suas necessidades de
subjetivação. Diante da fragmentação da biblioteca clássica, resta-nos
construir uma que nos represente. Boa parte de nossos alunos vem de
uma história escolar sem a posse de livros, posse afetiva e material, e é,
sim, nossa função ajudá-lo a construir uma biblioteca que tenha as suas
medidas. Fazê-los leitores puros, tal como propõe Ricardo Piglia, em O
último leitor: “para eles a leitura não é apenas uma prática, mas uma
forma de vida” (p. 21). Só assim, esses futuros professores poderão
modificar as práticas de leitura na escola, modificando a própria escola,
que teria como centro não as aulas, mas a biblioteca.
Finalizando o ensaio A literatura em perigo, Todorov lembra que
o objeto da literatura é a própria condição humana e que o impulso do
leitor, dentro e fora da escola, não é o de se tornar um especialista em
algo, mas de conhecer o humano, sendo portanto função do cidadão
letrado, “transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras
que ajudam a viver melhor” (p.94). Esta mesma preocupação de uma
literatura para a vida se manifesta em Ricardo Piglia, em “Uma proposta
para o novo milênio”, que termina com a ideia de que, no futuro, a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 54
literatura, anônima a intemporal, figurará como “registros em um antigo
manual de estratégia usado para sobreviver em tempos difíceis”.
BIBLIOGRAFIA
ALVAREZ, A. A voz do escritor. Tradução de Luiz Antonio Aguiar. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo / Rio de Janeiro: Duas Cidades /
Ouro Sobre Azul, 2004.
FOUCAULT, Michel. O que é um autor? Tradução de Antônio Fernandes
Cascais e Eduardo Cordeiro. Lisboa: Nova Veja, 9ª. edição, 2009.
LEWIS, C.S. Um experimento na crítica literária. Tradução de João Luís
Ceccantini. São Paulo: Editora Unesp, 2009.
MANGUEL, Alberto. A biblioteca à noite. Tradução Samuel Titan Jr. São Paulo:
Cia das Letras, 2006.
MANGUEL, Alberto. Os livros e os dias: um ano de leituras prazerosas.
Tradução de José Geraldo Couto. São Paulo: Cia das Letras, 2005.
MORIN, Edgar. http://www.edgarmorin.org.br/textos.php?p=6&tx=17
PETIT, Michèle. A arte de ler: ou como resistir à adversidade. Tradução Arthur
Bueno e Camila Boldrini. São Paulo: Editora 34, 2009.
PIGLIA, Ricardo. “Una propuesta para el nuevo milênio” , in
Margens/Márgenes, n. 222. Havana: Casa de las Américas, janeiro-março de
2001.
PIGLIA, Ricardo. O último leitor. Tradução Heloisa Jahn. São Paulo: Cia das
Letras, 2006.
TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. Tradução de Caio Meira. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 55
DOSSIÊ / ARTIGOS
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 56
TEORIA EM TEMPOS DE CRISE: TRÊS
DESAFIOS DA REFLEXÃO TEÓRICA HOJE
Júlio FRANÇA1
Resumo: Partindo da análise da enquete “Literary theory in the University: a
survey”, publicada pela revista acadêmica New Literary History, o presente
ensaio projeta as condições necessárias para o desenvolvimento da reflexão
teórica sobre a literatura na contemporaneidade. Nossa principal hipótese de
trabalho é a de que a disciplina Teoria da Literatura encontra-se em um estado de
crise, que só poderá ser superado com o enfrentamento de três obstáculos: (i) a
má compreensão de seus próprios limites, condição explicitada pelas
compreensões muito diversificadas sobre o que é a teoria; (ii) a ausência de um
sistema conceitual, perceptível na falta de poder de referência dos termos e
noções de nosso campo de estudo, e (iii) o relativismo do conhecimento
dominante nas ciências humanas, que cria enormes dificuldades para uma
disciplina que, em sua origem, aspirava ser capaz de propor discursos mais
objetivos sobre a Literatura do que aqueles produzidos pela impressionista
Crítica e pela relativista História.
Palavras-Chave: Teoria da Literatura. Relativismo. Estudos Literários.
Se pelo termo “Teoria da Literatura” compreendemos, em sentido
estrito, a proposta de estudo do fenômeno literário que emergiu com a
publicação do livro homônimo de René Wellek e Austin Warren, em
1949, estamos diante de um projeto disciplinar que está completando seis
décadas de existência. Surgida da confluência entre as idéias do
Formalismo eslavo e do New Criticism norte-americano, a Teoria –
naquele momento a “nova tendência” dos Estudos Literários – não se
realizou de forma única, espraiando-se em diretrizes diversas que, a
despeito de divergências profundas, apresentaram, a princípio, uma
afinidade de pressupostos, tais como a recusa ao historicismo e ao
positivismo, a busca de rigor metodológico, o interesse por uma
abordagem intrínseca da obra literária e a compreensão da Literatura
como sendo, essencialmente, um trabalho de linguagem.
Uma tentativa de súmula dos sessenta anos de Teoria da
Literatura talvez revele que a extensão, a complexidade e a especialização
por ela alcançadas não permitam mais pensá-la como disciplina, mas
como um caótico conjunto de discursos sobre a literatura. Contudo,
1
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Letras –
Departamento CULT. Rio de Janeiro, RJ. 200559-900. julfranca@gmail.com.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 57
gostaria de propor neste artigo uma reflexão que relacione a crise da
teoria com o fato de não se saber exatamente do que trata a Teoria da
Literatura e de quais são seus limites dentro dos Estudos Literários.
Há cerca de vinte anos atrás, a revista New Literary History
realizou uma enquete com um grupo de acadêmicos europeus e norte-
americanos. Três foram as questões formuladas: (i) Quais os objetivos e
funções da Teoria Literária no presente? (ii) Quais conseqüências práticas
teve a Teoria Literária em sua atividade de ensino da Literatura e em seu
trabalho de produção crítica? (iii) Quais seriam as deficiências, se
existentes, da Teoria Literária no ensino da pós-graduação? As perguntas
foram respondidas por mais de trinta scholars, entre eles alguns grandes
nomes dos Estudos Literários contemporâneos, tais como Eagleton,
Gumbrecht, Iser e Jauss.
Uma das primeiras impressões que se pode ter com a leitura das
respostas ao questionário é a amplitude de compreensão que o termo
Literary Theory suscitava em cada um dos professores entrevistados.
Essa imprecisão semântica – fruto, por um lado, de uma série de usos
históricos do termo “teoria”, e, por outro lado, da própria negligência
com que os conceitos são geralmente tratados no caótico ambiente
terminológico do campo dos Estudos Literários – revela-se na
multiplicidade de objetivos e de funções aventadas como pertinentes ao
trabalho teórico, bem como no caráter muitas vezes contraditório dos
problemas e das qualidades da disciplina identificados pelos acadêmicos.
As três questões formuladas pela revista funcionam, em conjunto,
como um teste da condição de existência de uma suposta disciplina
chamada Literary Theory. As duas primeiras perguntas tinham um caráter
pragmático e claramente perguntavam “para que serve a Teoria
Literária?”, embora a primeira delas – a interrogação pelos objetivos e
funções – tenha obrigado os entrevistados a refletirem sobre a ontologia
da disciplina, a fim de responder ao questionamento implícito “o que é a
Teoria Literária?”. Já a terceira questão era explicitamente de cunho
didático e institucional, interrogando pelo desempenho efetivo da teoria
como disciplina acadêmica institucionalizada e que, como tal, precisa ser
“ensinada” e “aprendida”: “como funciona, nas universidades, a Teoria
Literária?”.
Tomando a enquete de modo heurístico, procurei então
sistematizar as respostas dadas pelos entrevistados a cada um desses
núcleos temáticos. Embora a enquete tenha sido realizada há vinte anos,
as dificuldades, os embaraços, as aporias e, principalmente, a falta de
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 58
clareza do estatuto disciplinar da Teoria Literária revelados pelas
questões formuladas permanecem, em sua quase totalidade, atuais.
“O que é Teoria Literária?”
As respostas à pergunta acerca dos objetivos e funções da teoria
literária revelam o quanto se está longe de unanimidade conceitual em
torno do que vem a ser Literay Theory. Uma primeira classificação
possível para as respostas seria dividi-las entre aquelas que tomam o
termo como designação dos Estudos Literários em geral –englobando
além de abordagens propriamente teóricas, também trabalhos de natureza
interpretativa, histórica, analítica e crítica – e aquelas que a entendem
como um procedimento específico dentro do campo da investigação sobre
Literatura. No primeiro caso, a compreensão ampla de teoria literária
promove um desafio a seus defensores: ter de conjugar sistematicamente
um conjunto de práticas tão diversificadas como a busca de significados
da obra, a análise formal de seus elementos de composição, a
contextualização histórica, o julgamento de valor etc., numa amplitude
que abarcasse todos os modos já empreendidos de consideração de uma
obra literária. Nas atuais condições dos Estudos Literários, um sistema
conceitual desta monta – embora fosse certamente muito bem vindo... – é
utópico, pois exigiria a resolução de impasses diversos hoje tidos como
insuperáveis: a importância do autor para o sentido da obra, a relação das
obras literárias com o mundo, os limites da interpretação, a legitimidade
do cânone, para ficar apenas com alguns das questões mais pujantes.
Há, contudo, variantes desse entendimento lato: Michel
Glowinski, Jerome McGann e Adrian Marino2 estão entre aqueles que
compreendem a teoria como tendo uma função sistematizadora e
disciplinadora, cabendo a ela fornecer as bases e as premissas do trabalho
acadêmico, integrar as descobertas dispersas em análises particulares e
demonstrar que o estudo da Literatura não precisa ser uma desorganizada
coleção de pequenas informações sobre vários temas. Sendo da
competência da teoria a análise, a classificação e a definição de conceitos
literários básicos, ela poderia, ao unificar interesses particulares em um
contexto mais amplo, criar um espaço de comunicação e entendimento
entre os estudiosos.
2
As referências às opiniões dos autores citados são todas relativas ao artigo da
New Literary History “Literary theory in the University: a survey”
(Charlottesville: The John Hopkins University Press, XIV, (2):409-451,
winter/1983).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 59
Wolfgang Iser (LITERARY..., 1983, p. 425) pensa nessa função
sistematizadora como a garantia de que a experiência da Literatura possa
ser intersubjetivamente verificável. Embora os teóricos possam falar em
diferentes linguagens, os fundamentos de cada um poderiam ser
conhecidos graças a um sistema conceitual teórico comum. Mesmo que
não se concordasse em como se lidar com os problemas, ao menos os
acadêmicos poderiam compreender-se mutuamente. Tal função seria de
extrema necessidade, tendo em vista que o número de sentidos e
definições de uso quase individual continua crescendo, tornando urgente
uma crítica da terminologia da área. Sem uma sistematização coerente e
bem engendrada a ser realizada pela Teoria, a Crítica e a História
Literária estariam completamente desorientadas.
Mas que tipo de teoria poderia dar conta da complexidade não do
objeto literário, mas dos Estudos Literários, a ponto de se posicionar,
hierarquicamente, acima das demais abordagens? Iser imagina que essa
suposta força estruturadora, para pretender ser uma teoria, teria que ser
algo mais do que um conjunto de premissas. Seria necessário um
constante esforço de revelação e de teste de seus fundamentos,
exatamente o que distinguiria o trabalho teórico dos tipos predominantes
de Crítica Literária. Tal teoria deveria ser estruturada de modo que, tão
logo passasse a falhar em seus objetivos, fosse retificada, o que
normalmente não acontece com outros procedimentos dos Estudos
Literários, muito tendentes ao dogmatismo.
O ponto de vista de Iser aproxima-o daqueles que vêem na teoria
a instância de auto-reflexão do campo de Estudos Literários. Para Hans
Ulrich Gumbrecht (IBID., p. 422-423) e Murray Krieger (IBID., p. 432-
433), a pergunta primordial a ser feita é se há, de fato, um objeto
consistente chamado “literatura” sobre o qual teorias (compreendidas
como um conjunto de conceitos) podem ser construídas. Em outras
palavras, a principal questão teórica deveria ser não o estabelecimento de
“teorias”, mas a definição do objeto de nossa disciplina. Krieger afirma
que somente após a decisão sobre o status disciplinar seria possível
determinar as funções da teoria em relação à interpretação, à Crítica e à
História Literárias.
Em uma posição aproximada situam-se os que entendem, como
Jan Kowenhoven (IBID., p. 431-432), que a Teoria Literária deva ser
uma instância autônoma, concernente apenas a si própria e aos problemas
que ela mesmo se propõe, a despeito de modas, utilidades ou apelos do
senso comum. Evan Watkins (IBID., p. 448-450) acredita que a principal
questão é justamente tentar entender como a Literatura e seu estudo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 60
ocupam uma posição específica no conjunto de relações culturais. De
modo similar, Eugene Vance (IBID., p. 448) defende a função da teoria
como sendo a de definir a especificidade do texto literário como um
elemento constitutivo da cultura ocidental.
Entre as concepções de Teoria Literária como uma prática
reflexiva estão também as de John Ellis e de Lionel Gossman, que
identificam sua função e seus objetivos com os da teoria em qualquer
campo: a investigação técnica de um objeto, de sua natureza e de sua
relação com outras formas culturais, além do esclarecimento relativo a
questões mais gerais de uma área de estudos (os objetivos, a natureza de
seus resultados, a conveniência das metodologias, a natureza e prática da
crítica, dos tratados e da interpretação). Como as questões centrais de
uma teoria são já bastante conhecidas, o progresso teórico é sempre lento
e deve ser feito de modo paciente, através da análise cuidadosa de
conceitos, de acurados processos de distinção, sistematização e
reavaliação das linhas de argumentos mais conhecidas na busca de
incoerências lógicas. A força de uma teoria está em sua exatidão e em
suas formulações precisas – e não no seu caráter atraente ou excitante –
que funcionarão como hipóteses lógicas e filosóficas nas quais se
basearão a análise e o juízo, de modo o mais “científico” e descritivo
possível, a fim de evitar ao máximo qualquer tipo de julgamento
ideológico.
Conceber a Teoria Literária como a realização, no campo dos
Estudos Literários, de ideais teóricos comuns à produção do
conhecimento científico dá margem à geração de uma instância
metateórica que teria por objetivo questionar diretamente as condições de
existência daquele ramo da saber: “Theoretical work ought to show how
and why no one class of scholars, and no one subject (including theory)
is self-justifying, self-explanatory, and self-sustaining”3, alerta David
Bleich (IBID., p. 411), indicando que não se pode naturalizar a existência
da disciplina. A teoria deveria ter de pensar sua própria condição
acadêmica, seus problemas de identidade, suas funções e seus objetivos
no conjunto da sociedade, principalmente neste momento, em que a
função social do teórico/estudioso de Literatura não é clara e a própria
coerência interna do corpo teórico e de análise é problemática. É neste
contexto de questionamentos que a teoria deve encontrar seu modo de
3
“O trabalho teórico deveria mostrar como e porquê nenhum grupo de
acadêmicos e nenhuma disciplina (inclusive a teoria) é autojustificável, auto-
explicativa e auto-sustentável” [tradução minha].
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 61
redirecionar sua atividade crítica e social, ao mesmo tempo que
administra as pressões por maior efetividade prática (cf. Neil Larsen,
IBID., p. 433-435).
Não são poucos os que defendem que a Teoria Literária deva ter
um compromisso político. E muitos também são os sentidos possíveis
para “atividade política”. Raymond Federman, Vida Markovic e David
Punter, por exemplo, entendem que a teoria deve reafirmar o valor da
Literatura, legitimar sua presença e sua existência em nossa cultura como
uma das mais importantes atividades humanas. Procedendo assim, ela
ofereceria um ponto de partida para o combate contra a crise de valores,
manteria viva a herança dos Estudos Literários, ofereceria diretrizes para
o estudo da Literatura e ajudaria a entender qual o papel da Literatura no
mundo contemporâneo.
O comprometimento político da teoria implica, em muitos casos,
modificar as condições de existência cultural de seu objeto, propagar
valores e julgamentos, estabelecer legitimidades e ilegitimidades, realizar
exclusões, reafirmar o papel político do intelectual. Para Watkins e para
Gossman, não haveria maiores problemas com esse aspecto
normatizador, uma vez que é uma ilusão positivista acreditar que se
possam produzir discursos teóricos imaculados que transcendam à
ideologia. Os discursos humanos seriam sempre embebidos em desejo e
história. Teorias que se julgam puras agiriam de modo repressivo,
enquanto os melhores discursos teóricos reconheceriam que sua
materialidade, longe de ser uma falha, é o que lhes dá sentido, interesse e
importância.
O engajamento tem, contudo, seus riscos. Teorias fortemente
politizadas acabam tendo pouco interesse na própria Literatura, comenta
Alastair Fowler (IBID., p. 418-419). É o que parece acontecer com as
iniciativas que visam a aproximar a Teoria Literária do campo dos
Estudos Culturais. Muitos trabalhos nessa linha colocam-se como se
houvesse chegado a hora de os teóricos finalmente assumirem a
responsabilidade pelas conseqüências sociais de suas hipóteses e
procedimentos (cf. Annette Kolodny, IBID., p. 429-431), na aspiração de
que assim são capazes de contribuir para a transformação das instituições
(cf. Bleich, IBID., p. 411-413). No juízo de Larsen (IBID., p. 433-435), a
Teoria Literária deveria se transformar definitivamente em teoria da
ideologia, o que só não ocorre porque ela teme abrir mão da
exclusividade do campo do literário, sem perceber que, enquanto isso, a
Literatura vai-se esvaindo e, com ela, a própria relevância da teoria.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 62
Ainda sob a perspectiva de uma Teoria Literária que extrapole os
domínios do estudo da Literatura, há um tipo de visão – Eagleton,
Gumbrecht e Watkins – que atribui a ela a função de promover o
intercâmbio dos Estudos Literários com os interesses oriundos de
pesquisas ou de disciplinas afins, como a Filosofia, a História, a
Sociologia etc., integrando-a ao campo mais vasto dos estudos das
relações culturais em geral. Além dessa via interdisciplinar, fala-se
também em se abrir novos campos de investigação ou em sua substituição
por campos mais abrangentes, como no caso do projeto de Iser (IBID., p.
425-426), por uma antropologia cultural da Literatura, e no de Jauss
(IBID., p. 428-429), por uma teoria interdisciplinar do conhecimento.
Tendo apresentado, em linhas gerais, as respostas à primeira
pergunta da enquete, passo à segunda questão, mas não sem antes fazer
menção a George Steiner (IBID., p. 444-445), que defendeu uma posição
isolada, mas não insólita. Para ele, em outros contextos que não o dos
Estudos Literários, o termo teoria vincula categorias de verificação e de
falsificação potencial, experimentos mais ou menos controlados e
formalizações. No entanto, aplicada à Literatura e às artes, a teoria seria
apenas um empréstimo metafórico ou, pior, um caso de pretensão
obscurantista. Nossos melhores argumentos e metodologias seriam
“mitologias racionais” ou “cenários discursivos” – por exemplo, uma
leitura marxista ou psicanalítica de textos literários, construtos
ontológicos como os de Heidegger, mitos de sujeitos ausentes, como em
Mallarmé e seus epígonos desconstrutivistas. Tais mitologias
programáticas, ainda que possuam grande força de persuasão, não seriam
teorias, em qualquer sentido confiável.
“Para que serve a Teoria Literária?”
Num esforço de sistematizar as concepções descritas no item
anterior, sobre o que seja (ou o que deveria ser) a Teoria Literária, creio
que seria possível agrupá-las, de modo generalizador, em torno de quatro
linhas4 fundamentais, a saber:
(i) uma designação genérica para Estudos Literários;
(ii) uma instância sistematizadora encarregada de estabelecer
um sistema de fundamentos, conceitos e métodos que
possam ser partilhados pelos estudiosos de Literatura;
4
Abstraio aqui a posição de George Steiner, mas sua negativa da possibilidade
de existir uma Teoria Literária permanecerá como uma hipótese a ser
considerada ao longo deste artigo.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 63
(iii) uma instância filosófica, auto-reflexiva, voltada para a
ontologia de seu objeto;
(iv) uma instância empenhada em articular e relacionar o
conhecimento sobre a Literatura com um conjunto mais
amplo de questionamentos políticos, sociais e culturais.
Neste item, procuro articular esses quatro pontos de vista básicos
com as funções da Teoria Literária apontadas nas respostas à segunda
pergunta da enquete.
A posição (i) ajusta-se com a concepção lata de Teoria Literária
que defende não ser possível se falar de um texto literário sem a presença,
consciente ou não, implícita ou explícita, de um modelo de entendimento
daquilo que venha a ser a Literatura – posição comum a Ellis, Glowinski,
Gossman, Gumbrecht, Krieger e Carol Jacobs –, pois, nas palavras de
Stanley Fish (IBID., p. 418), qualquer leitura de um texto literário é uma
tematização da posição teórica do leitor. Raymond Federman (IBID., p.
417-418) vai ainda mais além, entendendo que o próprio autor precisa de
uma teoria implícita para escrever. A teoria é, portanto, um elemento
constitutivo da própria Literatura, o que leva Jacobs (IBID., 428) a
identificar o ensino desta com o daquela.
Harmoniza-se com a posição (ii) uma compreensão da função da
teoria como reguladora dos Estudos Literários. Bons exemplos
encontram-se em Jim Springer Borck (ibid.414), que fala do “rigor” que a
teoria imprimiu à sua atividade, Markiewicz (IBID., p. 436-437), que se
refere à sistematização, precisão e consciência que ela trouxe a seu
trabalho, Glowinski (IBID., p. 419-420), defensor de que, sem teoria, os
Estudos Literários seriam vítimas da ingenuidade, e McGann (IBID., p.
438), que acha impensável a prática do trabalho acadêmico sem a
aquisição de uma autoconsciência sobre as premissas críticas e
conceituais dadas pela reflexão teórica. Esta visão trata a teoria como
uma espécie de instância autocontroladora dos Estudos Literários, que
forçaria o estudioso a responder pelas conseqüências de sua prática e a
procurar entender o que se faz e por que se faz o que se faz, o que, em
linhas gerais, é também a opinião de Watkins, Punter e Fish. Ela criaria
uma ordem de valores nos Estudos Literários e os capacitaria a promover
uma constante autocrítica (cf. Ihab Hassan, IBID., p. 423). A teoria seria
assim, comenta Iser (IBID., p. 425-426), um lembrete constante para que
não se perca de vista o que se pretende saber quando se começa a estudar
Literatura.
Responsável por fornecer os parâmetros dos discursos sobre a
Literatura, a teoria teria desse modo a função de dizer o que deve ser
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 64
levado em conta e o que deve ser descartado na abordagem das obras,
pensa Robert Schwartz (IBID., p. 444), além de precisar oferecer uma
reflexão metodológica sobre modos de argumentação na Crítica Literária
e interpretações válidas, chegando mesmo ao extremo de dever propor
um cânone de descrição das obras literárias (cf. Markiewicz, IBID., p.
436-437).
Schwartz e McGann conferem à teoria a função de exercer a
consciência histórica necessária para se perspectivar ao máximo
afirmações a respeito do significado de um texto. É também nesse sentido
que Vance (IBID., p. 448) entende a Teoria Literária como responsável
por encorajar o estudante a repensar a História de Literatura e procurar
depreender os modelos históricos nela inerentes.
Concordantes com a posição (iii) estão os que defendem as
funções da teoria literária para além de sua aplicabilidade imediata na
leitura de textos, dada sua condição disciplinar de instância de reflexão
pura. Gossman, Gumbrecht e Ronald Paulson admitem que a Teoria
Literária é a filosofia dos Estudos Literários, opinião que parece ser
compartilhada por Watkins (IBID., p. 448-450), que viu nela a
possibilidade de conciliar sua formação de filósofo com a de estudioso da
Literatura. Como plano de reflexão filosófica, a teoria estaria relacionada
com a busca de generalizações, não lhe cabendo, diz Kowenhoven
(IBID., p. 431-432), tratar de obras particulares, mas promover uma
reflexão sobre as regularidades observáveis nos processos literários, com
o que concordam Markiewicz e Schwartz.
Por fim, a posição (iv), dos defensores da necessidade
“expansionista” da Teoria Literária, acolheria as concepções a respeito
das funções da teoria de Bleich, Bloomfield, Braudy, Hermeren e Iser,
que seriam, de modo geral, as de ampliar nossos modos de estudo, de
revitalizar a atividade acadêmica e de permitir que se atente para aspectos
da Literatura aos quais jamais se deu atenção. Dentro dessa perspectiva,
haveria concepções de teoria que privilegiariam as possibilidades
analíticas: a reflexão teórica teria então por objetivo capacitar a leitura da
mais ampla gama de textos, atentando sempre para a multiplicidade e a
complexidade dos processos de escrita e de leitura em relação a seus
contextos, opinião de Kolodny, David Lodge e Wallace Jackson. A teoria
seria um caminho para o livre pensamento, uma alternativa à rigidez, ao
dogmatismo e à ortodoxia de linhas de investigação estritamente literárias
(cf. Marino, IBID., p. 435).
“Como funciona nas universidades a Teoria Literária?”
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 65
A terceira questão da enquete indagava dos professores sobre os
efeitos da Teoria Literária no ensino universitário. Grande parte das
respostas apontava para as dificuldades enfrentadas pelo ensino da teoria.
Os problemas relacionados eram vastos e iam desde a denúncia da falta
de envergadura intelectual dos alunos para tratar de temas filosóficos ou
para aplicar seus conhecimentos teóricos em seu trabalho crítico – Iser,
Markiewicz, McGann e Sullivan – até a obscuridade de certas correntes –
Eagleton e Markiewicz. Outros, como Kolodny (IBID., p. 430),
replicavam que o problema não era a teoria em si, mas seu lugar no
ensino de pós-graduação. Haveria poucos cursos que reservassem espaço
para uma introdução sistemática e abrangente da multiplicidade de
correntes, escolas, teorias e debates. Marino (IBID., p. 436) acrescentava
ainda que faltariam cursos de história das idéias sobre Literatura, de
Retórica, de Poética etc.
Através das respostas, pode-se também observar como cada uma
das quatro concepções da disciplina anteriormente descritas – e as
funções a elas atribuídas – é criticada sob a perspectiva de um
posicionamento diverso, o que parece revelar que tais noções de teoria
não são complementares, mas mutuamente excludentes.
Da posição (i), muito genérica, depreende-se o seguinte
problema: seus defensores acreditam que o professor de Literatura pratica
teoria, mesmo que não seja ou não se considere um teórico – pois haveria,
segundo Kolodny (IBID., p. 430), uma teoria que subjaz a todo discurso
sobre a Literatura –, o que implica, em tais casos, a ausência de um
ensino sistemático e coerente (cf. Lodge, IBID., p. 435). A posição
teórica que não se percebe como tal é naturalizada e acaba não sendo
ensinada como “uma” teoria. É a partir desta crítica que se aponta para a
necessidade de se organizar a disciplina, o que poderia ser feito
começando-se por um estudo histórico da mesma (cf. Krieger, IBID., p.
433), pela exploração das estruturas conceituais que resultaram na
multiplicidade concreta de práticas historicamente desenvolvidas e pelo
conseqüente questionamento dos interesses ideológicos que fundam suas
práticas (cf. Watkins, IBID., p. 449).
Marino (IBID., p. 436) lembra, contudo, que, como rareiam os
trabalhos de grande fôlego, como os de René Wellek, há uma falta de
obras de referências, o que tornaria o ensino da teoria fragmentado e
incompleto, razão por que certamente não seria mais possível se falar em
um curso completo de Teoria Literária. Neste contexto, Leo Braudy
(IBID., p. 415) defende a necessidade de se avaliar, efetivamente, que
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 66
teorias têm alguma utilidade. Assim, como acontece em outras áreas,
poder-se-iam estabelecer as teorias sobre quais todos deveriam ter algum
tipo de conhecimento, ficando as demais restritas aos especialistas
naquele tópico específico.
Apesar da grande quantidade de conhecimentos e da crescente
multiplicidade de práticas críticas, a Teoria Literária raramente se
pergunta pelos fatores sociais e culturais que a conduziram a esse estado.
Com uma bibliografia muito compartimentada e em constante expansão,
o estudante costuma se sentir perdido, sem saber como os temas e as
abordagens chegaram a se tornar pontos relevantes. As idéias são
descartadas tão logo começam a ser disseminadas e não é possível
coordenar ou redirecionar o que sequer foi compreendido num primeiro
momento.
A teoria deveria então encarar a hipótese de que a multiplicidade
de práticas críticas não resulta da ausência de modelos metodológicos
organizados – aliás existentes em um número suficiente para incrementar
a confusão –, mas do desenvolvimento histórico dos Estudos Literários na
universidade e da posição anômala dos seus cultores na sociedade
contemporânea, incapazes de criticar tais modelos. Nenhuma teoria pode
seguir adiante sem ser também histórica, completa Watkins (IBID., p.
450).
A posição (ii) dá margem à censura de que se exige
constantemente do aluno, no ensino de correntes de teoria literária, a
aplicação de modelos, rebaixando os textos a meras ilustrações das
premissas teóricas, opinião partilhada por Bleich e Iser. Embora seja
essencial para o ensino da pós-graduação, a teoria, pensa Gumbrecht
(IBID., p. 422-423), deve ser dada a partir de uma discussão efetiva que
possibilite aos futuros profissionais e colegas a capacidade de pensar por
conta própria. A essa dificuldade soma-se a resistência em se permitir aos
alunos a experiência com outras correntes, que não as do professor,
problema anotado por Bloomfield, Borck, Krieger e Iser. Uma das causas
deste embaraço, entende Kolodny (IBID., p. 429-431), reside no fato de
os departamentos tenderem a se fechar em torno de apenas um escola ou
método.
Ainda sob a perspectiva da crítica a uma concepção de teoria
como instância sistematizadora dos Estudos Literários, Bloomfield,
Markiewicz e Glowinski identificam os problemas do trabalho teórico
com a tendência para minimizar o particular, superestimar o geral,
enveredar por raciocínios filosóficos e sucumbir a abstrações,
especulações e esquematismos. Sob o mesmo ponto de vista, Gossman
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 67
(IBID., p. 420-422) chega a lamentar que a teoria faça com que os
estudantes rejeitem idéias e percepções interessantes e sugestivas que não
podem ser formuladas com suficiente rigor, ou não podem ser justificadas
e validadas em termos de uma teoria abrangente. Para ele, não se pode
trabalhar apenas no escopo de uma teoria, mas se deve trabalhar também
no “escuro”, onde muitas das questões mais interessantes ocorrem.
A posição (iii) é atacada pelos que entendem que o grande
problema da Teoria Literária é, exatamente, a sua pretensão de ser um
fim em si mesma e não uma ferramenta de pesquisa que permita
descobrir coisas – opinião de Bleich, Gossman, Vance, Iser, Lodge e
Markovic. A disciplina não seria um campo auto-suficiente de
especulação e de raciocínio dedutivo, estando por isso obrigada a se
justificar em termos de seu uso. O desprezo pela aplicabilidade, diz
Bleich (IBID., p. 411-413), apenas reforçaria o estereótipo do trabalho
intelectual como sem objetivo e inútil, o que ocorre quando muitas
correntes teóricas, ao encorajarem os aprendizes a questionar, negar ou
resistir às afirmativas empreendidas por outros, acabam sugerindo que
pensar é superior e diferente de fazer. Bleich entende que qualquer idéia
que surja e termine como estritamente teórica apenas reduz o valor e a
importância da teoria.
Göran Hermeren (IBID., p. 424) entende que a teoria é discutida
isoladamente com muita freqüência, porque a relação entre as atividades
literária, teórica e acadêmica não é explícita. Isso torna a relevância do
trabalho teórico difícil de ser compreendida pelos alunos. A grande
dificuldade deles é exatamente entender as transições entre a teoria e a
interpretação, as poéticas e as descrições de obras concretas, as
descrições e a hermenêutica (cf. Glowinski, IBID., p. 419-420).
Dissociado das outras práticas dos Estudos Literários, o trabalho teórico
arrisca-se a degenerar em meras palavras e criar uma teia de abstrações
que dizem respeito apenas ao próprio teórico, o que afasta o estudo da
Literatura de outras dimensões da cultura. E o que é pior, diz Norman
Holland (IBID., 424-425), torna a teoria insensível ao desprezo que lhe
vota o senso comum.
Um grande número de acadêmicos – Bloomfield, Borck, Paulson
e Federman – ressalta que os cursos de Teoria Literária, ainda que
importantes, não podem substituir o estudo de obras e o da História
Literária, tampouco se transformar no centro da formação de um
estudante de Literatura. O conhecimento estrito de obras teóricas,
obviamente, não forma bons professores e muito do mau uso que se faz
da teoria se explicaria justamente pela falta de conhecimento que os
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 68
alunos têm dos textos literários. A solução estaria no melhor equilíbrio
entre a leitura de teoria e a de Literatura. Outros, porém, como Fowler
(IBID., p. 418-419) tratam o problema de modo mais radical, entendendo
que aquilo que se deve incentivar na pós-graduação é a familiaridade com
a Literatura, com o contexto histórico, com a periodização, não se
devendo assim dissipar tempo com a teoria, nociva porque incentivaria o
abandono do estudo diacrônico.
A dicotomia entre texto teórico e texto literário é ironizada por
Jacobs (IBID., p. 427-428), para quem a suposição de que se possa optar
entre Literatura e teoria, como se fosse uma opção política e polêmica, é
absurda. Escolher Literatura em detrimento da teoria revelaria uma
grande ignorância em relação ao seu objeto e ao próprio empreendimento
crítico, tanto quanto estudar Teoria Literária sem considerar a Literatura
seria, digo eu, no mínimo um nonsense. Os Estudos Literários, assim
pensa Ronald Paulson (IBID., p. 439), deveriam conduzir o estudante à
reflexão teórica, mas depois levá-lo de volta aos textos literários, então
iluminados pela teoria.
Uma crítica comum à posição (iv) pode ser resumida na postura
de Vance (IBID., p. 448), que entende ser o problema da Teoria Literária
sua natureza híbrida: não é pura história, nem pura filosofia, nem pura
antropologia, nem puro estudo de Literatura, razão pela qual ela é
freqüentemente superficial e assistemática. Krieger (IBID., p. 432-433)
também concorda que o grande problema da teoria seja exatamente seu
fracasso em determinar seus próprios limites.
Entre as principais causas apontadas como responsáveis pela
fluidez das fronteiras da Teoria Literária está a aceitação franqueada dos
modismos, que faz com que qualquer novidade receba prioridade em
relação aos métodos clássicos. Ignora-se, deste modo, que muitas
novidades são repetições ou redescobertas, opinião de Marino e Morton
Bloomfield. Esse tipo de teoria, que desconhece as reflexões sobre as
linguagens anteriores a de, por exemplo, Derrida, bem como sobre a
própria história da disciplina, incentiva tendências narcisistas de crítica e
oferece meios de se evitar os desafios apresentados pela tradição e pela
necessidade da prática da confirmação e da refutação, ponto de vista com
que concordam Fowler e Ellis.
Em muitos casos, a aceitação de uma perspectiva teórica se dá
pelo fascínio produzido pelo esplendor da imprecisão grandiosa, ao invés
da clareza exigida de qualquer pesquisa teórica autêntica, referindo-se
Ellis (ibid.) à pretensão de algumas correntes de que o comentário do
texto seja tão importante quanto o próprio, a ponto de poder substituí-lo,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 69
ponto de vista também de Alvin Sullivan (IBID., p. 446). A dependência
existencial-temporal do último em relação ao primeiro – isto é, do
comentário em relação ao texto – não é apenas uma questão de lógica
elementar, enfatiza Steiner (IBID., p. 445), mas também de percepção
moral.
Sistematizando o problema
Uma análise preliminar das respostas à enquete da New Literary
History pode conduzir a uma primeira hipótese: “Teoria da Literatura”
não é uma noção auto-evidente e muitas das discussões em torno do tema
são prejudicadas pela ausência de um acordo conceitual prévio. As
compreensões muito diversificadas a respeito da natureza, dos objetivos e
das funções do trabalho teórico produzem diferenciados procedimentos
de produção, de divulgação e de ensino da Teoria Literária. Se, por um
lado, a multiplicidade de caminhos de abordagem da Literatura aponta,
supostamente, para a pujança e complexidade da obra literária, por outro
lado, essa pletora de possibilidades aparentemente equivalentes em suas
irredutíveis especificidades conduz os Estudos Literários a uma situação
incômoda para uma disciplina institucionalizada. Seria efetivamente uma
qualidade poder se responder a uma pergunta como o que é ser um
estudioso de Literatura? de infinita maneiras, ou isso apenas revelaria o
quão pouco especializada vem se tornando essa área de estudos?
Em que um estudioso da Literatura se diferenciaria do leitor
comum? Nossa condição de especialistas – legitimados que somos por
nossa posição institucional – deve implicar, suponho, o domínio de um
discurso sobre a obra literária qualitativamente diverso daquele dos
demais leitores não-especializados. Em outras palavras, nossa prática
profissional pressupõe, implicitamente, que é possível um discurso e um
saber sobre a Literatura diferenciados, em qualidade, da infinidade de
discursos e de saberes – digamos de modo bastante simples – não-
teóricos.
Onde estaria o cerne desta diferença? Entre as respostas
possíveis, creio que poderia situar-se no esforço de observar a obra:
(i) não apenas naquilo que significa para mim, leitor, mas
naquilo que significa e pode significar para o conjunto
dos homens;
(ii) como um documento histórico, um retrato privilegiado de
uma época;
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 70
(iii) em suas similaridades com outras obras, chegando-se
assim a algum tipo de visão sistemática de fenômenos
aparentemente sempre tão singulares;
(iv) em suas relações, diacrônicas ou sincrônicas, com o
conjunto das demais atividades humanas;
(v) como singularidade irredutível e absoluta, como algo cuja
existência é sempre um “existir para alguém”;
(vi) como artesanato textual, fruto de técnicas de produção
que podem ser catalogadas e reutilizadas para a produção
de outras obras.
Estas são respostas justas e possíveis, como ainda seriam
possíveis e justas muitas outras. Correspondem, efetivamente, a
realizações dos Estudos Literários ao longo da história. Cada uma delas
se funda em algum tipo de pressuposto sobre a Literatura: a obra como
documento, como linguagem, como pensamento, como objeto que se
oferece aos sentidos etc. Cada uma dessas tentativas recorta, de um
mesmo campo de observação, a linguagem verbal, objetos formais
bastante diversos que vêm sendo denominados, há pelo menos duzentos
anos, com maior ou menor imprecisão, Literatura.
Chegar-se-ia assim, aparentemente, a uma solução para a questão
inicial proposta: o papel do especialista seria o de construir um discurso
sobre obras literárias fundamentado em algum pressuposto do que vem a
ser a Literatura. Entretanto, uma visada empírica poderia nos mostrar que
em certos momentos históricos, como o nosso, discursos supostamente
fundamentados sobre a Literatura parecem se propagar em progressão
geométrica. Não acabaríamos, pois, obrigados a sustentar que qualquer
discurso fundamentando em qualquer premissa é igualmente legítimo?
E tal concepção não deveria também aceitar discursos geralmente
tomados como não-especializados, como o do diletante que fundamenta
seu discurso e seu saber sobre a obra literária em, por exemplo, seu gosto
individual?
Para não acabar por se reconhecer que o resultado do estudo
profissional da Literatura é idêntico ao das muito mais agradáveis horas
de leitura e de conversa opiniática, deve-se admitir que a exigência
simples de um discurso sobre a obra literária fundamentado em qualquer
pressuposto não é suficiente para que possamos entender o que
diferencia o saber do especialista do saber do não-especialista. Uma
possível saída estaria em admitir que devemos ser capazes de empreender
uma crítica desses fundamentos (e pseudofundamentos) dos discursos
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 71
sobre a obra literária. Mas tal empreendimento é possível na condições de
pensamento do mundo atual?
Em um contexto como o nosso, de profundo relativismo cultural,
quais modelos de Estudos Literários legitimamente fundamentados são
possíveis? A resposta a essa pergunta parece passar, necessariamente,
pelo esforço de se reelaborar um estudo metódico e sistemático da
Literatura. Para tanto, antes de mais nada, seria necessário repensar nosso
entendimento do trabalho teórico, por vezes compreendido como
tentativas fracassadas de transformar o estudo da Literatura em uma
ciência nos moldes positivistas.
O que normalmente chamamos Teoria da Literatura, com T e L
maiúsculos, é, de fato, uma realização histórica no âmbito dos Estudos
Literários no século XX, que se concretizou numa pletora de correntes
cujos pressupostos são tão variados, concorrentes e contraditórios entre si
que somente com um supremo esforço de generalização podem ser
reunidas em um mesmo rótulo. Seu alastramento como “abordagem”
hegemônica trouxe, aos Estudos Literários, muito mais confusão e
contradições do que conhecimento e soluções para os problemas da área.
Contudo, o que teria morrido no século passado foi um
determinado projeto de teoria, não a necessidade e a pertinência do
estudo metódico e sistemático da obra literária. A reflexão teórica seria
uma faceta do movimento de compreensão da Literatura, juntamente com
as abordagens interpretativas, analíticas, históricas, judicativas e
prescritivas, que constituem o conjunto das atitudes possíveis diante de
objetos literários.
Se tomarmos a Literatura em seu processo mínimo – um
fenômeno que envolve um ato de escrita, um texto e um ato de leitura (e
seus respectivos contextos) – perceberemos que há uma multiplicidade de
relações entre esses elementos que podem ser exploradas por propósitos
de pesquisa diversificados. Sem nenhuma pretensão de exauri-las,
enumero algumas, com suas respectivas possíveis linhas de estudo entre
parênteses:
(i) Se atento para a escrita, posso me concentrar nas relações
entre o escritor e sua época (biografismos), o escritor e
outros artistas (estudos sociológicos do autor, estudos de
influência), o escritor e o texto (estudos do processo de
criação), a escrita e o inconsciente (estudos psicanalíticos)
etc.
(ii) Se considero o texto, posso me deixar atrair pelas ligações
entre o texto e a língua (estilística), o texto e o mundo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 72
político, social e cultural (estudos sociológicos,
antropológicos e históricos da Literatura, estudos de
ideologia, estudos culturais), o texto e outros textos (estudos
de intertextualidade) etc.
(iii) Se me dirijo à leitura, posso me dedicar às ligações entre
leitura e texto (estudos interpretativos), a leitura e seus
contextos (estudos de recepção) etc.
De que se ocuparia exatamente a Teoria da Literatura? Da
escrita, do texto, da leitura ou dos contextos, isoladamente? Creio que
não, pois não faria sentido se supor que a reflexão teórica se ocupasse
única e exclusivamente de um elemento específico da Literatura. De
todos esses elementos em conjunto? Também acredito que não, pois
então ela se confundiria com a totalidade dos Estudos Literários e
sucumbiria diante da impossibilidade de sistematizar aparatos conceituais
e metodologias provindas de inúmeros campos do saber. Da crítica a
todas as linhas de estudo que se ocupam de cada um dos aspectos da
Literatura? Não seria apropriado, pois, para tanto, ela precisaria ser uma
epistemologia das Ciências Humanas, capaz de avaliar os pressupostos de
disciplinas como História, Sociologia, Antropologia, Lingüística,
Filosofia, Psicanálise etc., e já não teria nenhuma ligação específica com
a Literatura em si. De que, então, se ocuparia ela?
Em conjunto, as abordagens aos diversos aspectos da Literatura
constituiriam os Estudos Literários. Dada a grande variedade de enfoques
justos e possíveis, é fácil perceber o porquê de nosso campo de estudos
ser tão diversificado e suscetível à influência de outras áreas do saber.
Afinal, é perfeitamente razoável que nos sintamos desorientados toda vez
que somos convocados a falar de uma obra literária, tendo em vista os
inúmeros aspectos interessantes e pertinentes que disputam nossa
atenção. Além disso, nos sendo possível relacionar a Literatura com
virtualmente qualquer coisa e nos sendo permitindo através dela falar
sobre o mundo, é compreensível que, muitas vezes, nos esqueçamos
justamente daquilo que nos possibilitou a pensar a realidade desse modo
diferenciado. Conseqüentemente, é compreensível que os Estudos
Literários tenham se tornado tão amplos e pouco específicos – ou
caóticos, numa descrição mais veemente. A Teoria da Literatura pode ser
a resposta a essa crise.
Talvez tudo o que se possa esperar da reflexão teórica é que ela
ofereça as condições para que a Literatura possa ser estudada. Uma
Teoria Literária precisaria então ser responsável por descrever de modo
generalista o objeto de estudo “Literatura” e seus elementos constitutivos.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 73
Essas descrições devem ser abertas a constantes reavaliações e
aperfeiçoamentos, mas também precisam ser metodicamente resistentes a
propostas precipitadas que pretendam transformá-las ao sabor dos
modismos que, em geral, consistem tão-somente em “velhas novidades”.
Deverão também se relacionar de forma sistemática e constituir um
modelo teórico que possa servir de fundamentação para os Estudos
Literários como um todo. Por fim, serão capazes de fornecer os elementos
a partir dos quais será possível se desqualificar discursos que, por não
respeitarem o regime constitutivo de seu objeto, não falariam da obra
literária, mas a usariam para falar de outros assuntos – e, dessa forma,
não deveriam ser entendidos como pertencentes ao campo de estudos
sobre a Literatura.
A implementação dessa proposta é uma utopia, pois três
obstáculos se interpõem entre esse horizonte da reflexão teórica e o
estado de crise atual da Teoria da Literatura: (i) a má compreensão de
seus próprios limites, (ii) a ausência de um sistema conceitual e (iii) o
relativismo do conhecimento dominante nos Estudos Literários.
Sobre o primeiro obstáculo, creio ter ficado claro que a “Teoria
da Literatura” não é uma noção auto-evidente e que as compreensões
muito diversificadas a respeito de sua natureza, de seus objetivos e de
suas funções deram e ainda dão origem a diferenciados procedimentos de
produção, de divulgação e de ensino do trabalho teórico. A reflexão
teórica não deveria se confundir com a totalidade dos Estudos Literários,
isto é, não deveria se ocupar das particularidades das obras literárias, nem
se interessar pelas múltiplas interpretações particulares suscitadas pelos
textos literários, nem deveria se identificar com as relações históricas,
psicológicas, sociológicas, culturais ou políticas de obras específicas. A
reflexão teórica deve se propor pensar a obra literária exatamente pela
perspectiva que escapa a essas abordagens, isto é, como Literatura –
nica razão de existência de uma disciplina que não se chama “teoria dos
textos” ou “teoria dos discursos” ou “teoria dos objetos culturais
produzidos com linguagem verbal”, mas Teoria da Literatura.
Muitas das dificuldades enfrentadas pelos Estudos Literários são
causadas por uma terminologia vasta, imprecisa e repleta de empréstimos
a modelos teóricos das mais diversificadas áreas do conhecimento – eis o
segundo obstáculo. Por essa razão, as diversas correntes que surgiram ao
longo do século XX experimentaram uma ininteligibilidade recíproca,
gerada pela miríade de termos e proposições incompatíveis e mutuamente
excludentes. A ausência de uma nomenclatura tem dificultado
enormemente o entendimento mútuo entre pesquisadores – e, por
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 74
conseguinte, tem prejudicado a produção de conhecimento sobre a
Literatura. Termos às vezes usados originalmente dentro de um contexto
específico de pensamento atravessam os séculos absorvendo sentidos,
agregando novas conotações e adquirem, por vezes, um sentido
radicalmente distinto de seu uso inicial. Como resultado, muitos dos
termos empregados atualmente nos Estudos Literários têm uma amplitude
que exige um tratado e não um verbete enciclopédico para dar conta da
vasta rede de significados a eles associados. Diante dessa falta de poder
de referência dos termos e noções de nosso campo de estudo, alguns
teóricos resolvem o problema do modo mais radical e contraproducente,
isto é, desprezando a importância de se conceituar e taxando os conceitos
de redutores, normativos, ideológicos etc.
Um estudo especializado deve possuir uma linguagem técnica
que seja de domínio comum entre seus praticantes. Não é pelo fato de não
se poder abarcar todos os sentidos históricos que são carregados, por
exemplo, pela palavra “literatura” que o conceito de Literatura seja
inviável. É certo que a transformação histórica dos significados é
inexorável. Também é verdadeiro que os termos podem ter diferentes
significados em sistemas conceituais diferentes. Mas o problema dos
Estudos Literários não são os sentidos dos termos em “edifícios teóricos”
distintos, mas um uso abusivo e leviano de conceitos como palavras, e
vice-versa, gerando profundas dificuldades de compreensão – ou mesmo
falsos problemas –, causadas pela imprecisão e obscuridade inerente aos
enunciados da área.
Num campo onde o conhecimento produzido não está sujeito a
experimentações, aspirar cientificidade nos postulados da Teoria da
Literatura, ao menos nos sentidos tradicionais de ciência, é pouco mais do
que uma aspiração temerária. No entanto, desde que se abandone
qualquer ilusão de positivismo lógico que suponha uma linguagem ideal
baseada no modelo da lógica formal, pode-se ter num sistema conceitual
um poderoso instrumento de produção de conhecimento.
O sucesso de um sistema conceitual está, entretanto,
condicionado à superação do terceiro obstáculo à reflexão teórica: os
pressupostos relativistas que orientam grande parte das abordagens à
Literatura na atualidade. Trata-se de uma questão de resolução mais
complexa por ser sua origem externa ao âmbito da Teoria da Literatura e
dos Estudos Literários, fato que não chega a ser excepcional, dada a
enorme permeabilidade das fronteiras de nosso campo de estudos.
As idéias relativísticas estão longe de ser uma novidade nas
Ciências Humanas. No campo da Antropologia, a noção de relativismo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 75
cultural foi formulada pelo antropólogo alemão Franz Boas e está ligada
a uma postura metodológica em que o pesquisador deve suspender ou pôr
de lado seus preconceitos culturais para tentar entender crenças e
comportamentos em contextos específicos. Representou, portanto, uma
contrapartida ao pensamento etnocêntrico que dominou a disciplina no
século XIX.
No campo dos estudos filosóficos, as idéias relativísticas
remontam pelo menos aos sofistas e constituem um tema de grande força
no campo da Ética – o relativismo dos valores morais – e no campo da
Epistemologia – o relativismo do conhecimento humano. De modo geral,
a defesa da relatividade está ligada a uma atitude de negação da
possibilidade de haver algum tipo de verdade cuja validade seja universal.
Um relativista assume, portanto, que os sentidos e os valores das crenças
e comportamentos humanos não possuem uma referência absoluta e são
sempre relacionadas a contextos históricos e culturais específicos. Em
conseqüência, não seria possível se falar de características intrínsecas aos
seres ou aos objetos e qualquer proposição sobre o mundo constitui
apenas um entre inúmeros modos possíveis de se interpretá-lo.
O relativismo que grassa em nosso campo de estudo sugere que a
limitação de nossos sentidos e nossos preconceitos culturais nos
impediriam de observar objetivamente o mundo e aparenta ser uma
combinação das idéias advindas da Antropologia e da Filosofia que teria
dado nova vida às tendências relativistas já presentes na História da
Literatura – contra as quais Wellek & Warren se insurgiram. Identificar
todas as portas de entrada dessas teses nos Estudos Literários exigiria um
trabalho alheio ao que se propõe aqui. Creio, porém, não ser temerário
apontar ao menos duas:
(i) via Lingüística, através da já mencionada má compreensão das
teorias saussurianas sobre o valor relacional dos elementos da
língua e da hipótese de Sapir-Whorf, de que a língua
“enformaria” o modo como os indivíduos vêem o mundo.
(ii) via práticas interpretativas, em especial o desconstrucionismo,
os trabalhos de Stanley Fish e Richard Rorty, que em comum
defenderiam não haver leituras melhores ou piores porque não
haveria qualidades intrínsecas aos textos – sequer existiriam
textos fora dos contextos de leitura.
Por se tratar de um tema de longa tradição filosófica, a
bibliografia sobre o assunto é extensa e são diversos tanto os modelos de
pensamento que endossam quanto os que contestam as teses relativistas.
Entre as contestações ao relativismo, duas são especialmente difundidas:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 76
a primeira sugere que a defesa da relatividade se auto-refutaria, pois uma
assertiva do tipo “tudo é relativo” só pode ser compreendida de modo
absoluto e seria, pois, uma comprovação de que, afinal, nem tudo é
relativo. A outra objeção sustenta que dizer que todas as opiniões
diferentes estão igualmente corretas é o mesmo que dizer que nenhuma
está, uma vez que se todas as convicções são igualmente válidas, então
todas são igualmente sem valor.
Não é necessário se entrar no mérito das tréplicas dos relativistas
e das contra-tréplicas de seus adversários para se entender que o
relativismo está longe de ser um truísmo. No entanto, como a fascinação
de nossa disciplina pelos temas das outras Ciências Humanas se dá
apenas em um nível superficial, desprezamos a argumentação envolvida
na discussão das teses relativistas e tomamos proposições por axiomas.
Aos que se atrevem a contestar, as denominações são variadas, mas todas
de sentido infame – absolutistas, dogmáticos, essencialistas, autoritários,
fundamentalistas.
Basear-se em uma epistemologia radicalmente relativista, por si
só, já criaria enormes dificuldades para uma disciplina que, em sua
origem, aspirava ser capaz de propor discursos sobre a Literatura mais
objetivos do que aqueles produzidos pela impressionista Crítica e pela
relativista História. A situação só se agrava quando essas teses
relativísticas surgem apartadas de seu contexto de discussão e produzem
uma desconfiança generalizada diante de qualquer proposição de modelos
metódicos e rigorosos. Quando tomado de modo dogmático, o relativismo
produz posturas céticas ou dá ensejo a projetos pragmáticos que
instrumentalizam as obras literárias e que conduzem a discussão sobre
elas para um âmbito externo aos dos estudos de Literatura.
A condição de existência de uma disciplina que possa produzir
reflexão teórica sobre a Literatura depende, pois, de nossa capacidade de
produzir modelos teóricos fundados em pressupostos não-relativistas.
Voltamos assim ao ponto de partida da Teoria da Literatura e ao projeto
não-continuado de Perspectivismo, de Wellek e Warren. Há sessenta
anos, eles já consideravam, com acerto premonitório, que o relativismo
era a grande ameaça aos Estudos Literários, uma vez que já assumia uma
feição “equivalente à anarquia de valores (...) [e] à ren ncia da tarefa
crítica” (WELLEK & WARREN, 2003, p. 43). Sem defender um
absolutismo doutrinário baseado em uma natureza humana imutável ou
na universalidade da arte, eles propunham que se devesse entender a obra
simultaneamente como algo histórico e universal: “‘Perspectivismo’
significa que reconhecemos a existência de uma poesia, uma literatura
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 77
comparável em todas as épocas, desenvolvendo-se, mudando, cheia de
possibilidades” (IBID., p. 43).
A busca por uma Teoria da Literatura perspectivista pode ser
nossa opção contra um relativismo tão disseminado quanto o são as
aporias que origina e que nos faz quedar perplexos, como se tivéssemos
alcançado o limite extremo do nosso pensamento: para além dessas
fronteiras, haveria apenas a irracionalidade e a barbárie. Duas
possibilidades nos restam: acatarmos essa supostamente irremediável
insuficiência de nossa razão e nos tornarmos espectadores de nosso
próprio fracasso, ou exigirmos da reflexão teórica, justamente aquela que
nos colocou nesse impasse, que nos indique as saídas.
Theory in Times of Crisis: Three Challenges for
Theoretical Thought in Literary Studies
Abstract: The present paper analyses “Literary theory in the University: a
survey”, published in the academic journal New Literary History, in an attempt to
project the conditions to the development of a theoretical thinking concerning
Literature in a historical moment that is marked by a deep relativism in
Humanities.
Key-words: Literary Theory. Relativism. Literary Studies.
REFERÊNCIAS
LITERARY theory in the University: a survey. New Literary History.
Charlottesville: The John Hopkins University Press, XIV, (2):409-451,
winter/1983.
SOUZA, Roberto Acízelo de. Formação da teoria da literatura. Rio de Janeiro:
Ao Livro Técnico; Niterói: EdUFF, 1987.
WELLEK, René, WARREN, Austin. Teoria da literatura e metodologia dos
estudos literários. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes,
2003.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 78
LITERATURA? PRA QUÊ? / LITERATURA FOR WHAT?
Raquel Trentin Oliveira1
Resumo: Reconhecidamente, o espaço da literatura nas escolas tem
diminuído. Poucos são os alunos que dizem gostar de ler textos literários,
e a sociedade em geral não reconhece o valor da literatura. Como
combater essa realidade e valorizar a leitura do texto literário? Qual é
mesmo o papel da literatura na nossa existência e na sociedade? Como
contribui para a formação de uma consciência histórica, ética e moral?
Essas são as questões que atravessam o presente artigo. Para respondê-
las, dialogo principalmente com os textos A Literatura em perigo (2010),
de Tzevetan Todorov, e Literatura para quê? (2009), de Antoine
Compagnon. O problema talvez esteja no enfoque que é dado aos estudos
literários na escola, esquecendo-se da relação da literatura com o mundo
e não se investindo na relação íntima do leitor com a obra: nos sentidos
que o texto ganha ao olhar do leitor, nos sentidos que o texto dá a sua
vida.
Palavras-chave: ensino de literatura, funções da literatura, relação da
literatura com o mundo e com o leitor.
“Literatura? Pra quê?”, título deste artigo, faz referência ao título
em português de uma publicação de Antoigne Compagnon, Literatura
para quê?, na qual o reconhecido crítico reflete sobre as seguintes
questões: “quais valores a literatura pode criar e transmitir ao mundo
atual? Que lugar deve ser o seu no espaço público? Ela é útil para a vida?
Por que defender sua presença na escola?” (2009, p.20). Como se
observa, as modificações imprimidas ao título de Compagnon ressaltam
uma indagação corrente na boca de muitas pessoas comuns, pronunciada
com uma entonação bastante expressiva: “Literatura? Pra quê?” Tal
pergunta geralmente aparece desdobrada em outras: “Por que ler
literatura, hoje, se temos tantas outras formas de comunicação mais
atrativas?”; “Por que perder tempo lendo textos literários, se temos tantas
coisas mais urgentes para resolver?”; “Por que desperdiçar carga horária
ensinando literatura nas escolas e nas faculdades de Letras se ela não tem
1
Professora Doutora do Departamento de Letras Vernáculas, da Universidade
Federal de Santa Maria-RS.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 79
uma utilidade prática em nossa sociedade, não intervém imediatamente
na realidade?”, etc. Sem d vida, essas são questões que permeiam o
senso comum e aumentam a angústia do professor de Letras em relação
ao sentido do seu trabalho e à importância do seu objeto de estudo.
Talvez nunca tenha sido tão necessário refletir sobre as funções
de literatura quanto o é nos dias atuais, isso porque é fácil constatar o
reduzido espaço e o pouco valor atribuído a ela em nossa sociedade,
especialmente em um dos mais importantes lugares de sua legitimação: a
escola. É dessa reflexão que trata o presente artigo, ao dialogar com o
texto A Literatura em perigo (2010), de Tzevetan Todorov, e Literatura
para quê? (2009), de Antoine Compagnon.
Como professora de Ensino Superior, constato a desvalorização
do texto literário na escola quando começo a discutir, com meus alunos
que acabaram de ingressar na graduação em Letras, o problema “o que é
literatura?” Deparo-me, então, com respostas do tipo: “literatura é um
conjunto de títulos antigos, que reproduz características de períodos
históricos determinados”; “literatura é um tipo de texto com uma
linguagem difícil, carregada de metáforas, antíteses, onomatopéias, etc.”
Minha surpresa não é menor quando os indago sobre as obras que leram
no Ensino Médio: grande parte da turma costuma ficar calada; outra parte
se refere às obras indicadas para o vestibular; uns poucos, mais sinceros,
acrescentam, que nem todas as obras do vestibular foram lidas porque tal
exame pode ser resolvido também com resumos disponíveis na internet.
Assim concluo que, mesmo entre alunos que escolheram Letras, é pouco
o interesse genuíno pela literatura. Ou, pelo menos, que a leitura da
maioria dos jovens não contempla o que a escola e o ensino superior
valorizam mais.
Por outro lado, na internet e especialmente nas redes sociais,
constato uma reprodução cada vez mais extensa de fragmentos de textos
literários, que se multiplicam infinitamente. Os recortes dos textos em
geral são motivados por uma identificação pessoal, por dizerem algo
sobre determinado momento da vida de quem os selecionou, ou mesmo
por conterem imagens surpreendentes aos sentidos e assim impactantes
aos olhos da rede de amigos.
Tais situações estimulam a pensar sobre a maneira como os
textos literários são estudados na escola. Para Todorov, o desinteresse dos
alunos pela literatura tem a ver justamente com esse ponto. “Na escola
não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os
críticos” (2010, p. 27), diz ele. O autor assinala isso em relação ao ensino
da literatura na França. Todavia, facilmente podemos constatar o mesmo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 80
em relação ao ensino da literatura no Brasil: não privilegiamos a
abordagem do nosso objeto de estudo – o texto literário –, mas a
abordagem da disciplina em si, dos seus conceitos, das suas correntes, da
sua história. Apesar de todos os avanços na discussão da metodologia de
ensino, na prática, não discutimos em profundidade acerca do que falam
as obras, acerca do mundo evocado nos textos de Machado de Assis,
Clarice Lispector e Cecília Meireles. Passamos os olhos, isto sim, pelas
características do Realismo e do Modernismo e por traços formais –
geralmente os mais clássicos – do romance, do conto e do poema.
Por outro lado, quando a análise do conteúdo do texto literário é
privilegiada, é comum desconsiderar-se a sua forma: ou são descritos os
recursos formais do texto literário, ou são discutidos os temas tratados
nesses textos. Apesar de muito repetida, a ligação necessária entre forma
e conteúdo ainda não é uma realidade no ensino de literatura. Quando os
temas entram em causa, geralmente são abordados por si mesmos,
desconsiderando-se a forma como são expressos, que tanto contribui para
o aprofundamento do sentido. A análise do texto literário não consiste em
fazer, separadamente, uma paráfrase do seu conteúdo ou uma listagem
dos seus recursos formais. A avaliação do conteúdo deve estar baseada
numa análise dos elementos formais constitutivos do texto literário, assim
como o estudo desses elementos deve visar a entender o sentido que
assumem na estrutura global da obra. A análise minuciosa do material
verbal pode nos levar à compreensão da fórmula que rege o
funcionamento do texto e, então, à visão do mundo que lhe é própria e
aos efeitos emotivos que é capaz de suscitar. Enquanto a forma e o
conteúdo não forem trabalhados em sintonia, continuará desvalorizada a
especificidade do texto literário e, assim, continuará difícil convencer o
aluno de que a forma como o texto literário fala do mundo contribuiu,
decisivamente, para a compreensão desse mundo.
Segundo Todorov, abusamos de nosso poder ao privilegiarmos os
conceitos que a disciplina e a teoria da literatura nos ensinaram,
esquecendo que nós – especialistas, críticos, professores – na maior parte
do tempo não somos mais do que “anões sentados em ombros de
gigantes” (2010, p. 31). Conclui o autor:
é verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo puramente
subjetivo do aluno, mas diz respeito a um trabalho de conhecimento.
Portanto, para trilhar esse caminho, pode ser útil ao aluno aprender
os fatos da história literária ou alguns princípios resultantes da
análise estrutural. Entretanto, em nenhum caso, o estudo desses
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 81
meios de acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim
(2010, p.31).
Em verdade, “o conhecimento da literatura não é um fim em si,
mas uma das vias régias que conduzem à realização pessoal de cada um”
(TODOROV, 2010, p. 33). Lemos as obras literárias não para melhor
dominar um método de ensino, tampouco para retirar delas informações
sobre as sociedades a partir das quais foram criadas, mas para nelas
encontrar um sentido que nos permita compreender melhor o homem e o
mundo, para nelas descobrirmos uma beleza que enriqueça nossa
existência. Nas palavras de Todorov:
o caminho tomado atualmente pelo ensino literário, que dá as costas
a esse horizonte (‘nesta semana estudamos metonímia, semana que
vem passaremos à personificação’), arrisca-se a nos conduzir a um
impasse – sem falar que dificilmente poderá ter como consequência
o amor pela literatura (2010, p.33).
Como se pode deduzir, para Todorov, valorizar a leitura do texto
literário em sala de aula é valorizar a percepção do leitor frente à obra e a
relação que o discurso da arte literária estabelece com os discursos da
vida. Se considerarmos a premissa de que a literatura mantém uma
ligação efetiva com o mundo e de que sua apreciação deve levar em conta
o que ela nos diz do mundo, fica mais fácil reconhecer e defender suas
funções na sociedade atual.
A obra de ficção, sem pretender dar a verdade, está em contato
com ela pelo verossímil. Luiz Costa Lima, em Vida e mimesis, afirma que
a arte ficcional, a partir de seu meio próprio, o meio das imagens e não
dos conceitos, põe em perspectiva a verdade, ou melhor, é capaz de
questioná-la, sendo crítica sem ser didática, ensinando sem ensinar.
Conforme o autor, “a ficção não representa a verdade, mas tem por ponto
de partida o que criadores e receptores têm por verdade [...] Empreendida
com balizas no que o criador e o receptor tomam como verdadeiro [...] a
experiência do ficcional supõe a experimentação do que não se conhece”
(1995, p. 306), ao mesmo tempo em que permite a participação do leitor
no inconsciente de sua época. Pela diferença – pois a literatura integra,
sobretudo, a imaginação, a fantasia, o sonho – a ficção literária pode
desvendar o que não é perceptível no real, aos olhos do homem comum,
entregue à vida ativa.
Considerando essa relação da literatura com o mundo, qual seria
sua pertinência para a vida? Qual é sua força, não somente para o prazer,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 82
mas também para o conhecimento, não somente para a evasão, mas
também para a transformação? Ora, no curso da história, foram dadas
várias definições notáveis do valor da literatura, de sua utilidade e
pertinência. Compagnon (2009) lembra de algumas delas, que aqui
resumo.
A tradição clássica, consagrada por Aristóteles e Horácio e
retomada no período renascentista, sustenta-se na ideia de que a literatura
deleita e instrui. A leitura do texto literário, ao mesmo tempo que agrada,
educa moralmente. Através de exemplos e casos concretos, ainda que
fictícios, a literatura pode nos educar moralmente tanto quanto, ou até
mais, que regras de conteúdo abstrato que nos são impostas. Assim, a
tragédia clássica, por seu efeito catártico, servia para purgar as emoções
dos expectadores e ensiná-los, através do exemplo do trágico destino de
homens superiores, a moderação e o equilíbrio das emoções.
No século das luzes, o XVIII, passa-se a valorizar a ideia de
beleza, a harmonia, a coerência interna da arte, não se cortando, porém,
as suas relações com o mundo: a beleza tem relação com o que é
harmonioso e proporcional. O que é proporcional e harmonioso é
verdadeiro; e o que é ao mesmo tempo belo e verdadeiro é, por
conseguinte, agradável e bom. No Romantismo, tornou-se frequente
pensar que a literatura liberta o indivíduo de sua sujeição às autoridades;
que o texto literário, “instrumento de justiça e de tolerância, e a leitura,
experiência de autonomia, contribuem para a liberdade e para a
responsabilidade do indivíduo” (COMPAGNON, 2009, p. 34), valores
caros a uma época de formação das rep blicas nacionais. “Antídoto para
a fragmentação da experiência subjetiva que se seguiu à Revolução
Industrial e à divisão do trabalho, a obra romântica pretendeu instaurar a
unidade das comunidades, das identidades e dos saberes, e assim redimir
a vida” (COMPAGNON, 2009, p.35).
Segundo uma outra perspectiva, mais moderna, a linguagem
literária ultrapassa os limites da linguagem comum. Fala a todo mundo,
recorre ao sistema linguístico ordinário para transformá-lo em particular,
especial. Segundo essa filosofia, o poeta divulga o que estava em nós,
mas que ignorávamos porque nos faltavam as palavras. Bergson assim se
expressa sobre os poetas: “À medida que nos falam, aparecem-nos
matizes de emoção que podiam estar representados em nós há muito
tempo, mas que permaneciam invisíveis: assim como a imagem
fotográfica que ainda não foi mergulhada no banho no qual irá ser
revelada” (2006, apud COMPAGNON, 2009, p.38). Compagnon,
seguindo essa linha de raciocínio, dirá ainda: “A literatura busca exprimir
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 83
o inexprimível, brinca com a língua, ultrapassa suas submissões, visita
suas margens, atualiza suas nuances e enriquece-a, violentando-a” (2009,
p.38).
É claro que hoje outras representações estéticas, como o cinema,
rivalizam com a literatura e têm uma capacidade semelhante a ela; que,
como diz Compagnon (2009, p.46), “a literatura não é mais um modo de
aquisição privilegiado de uma consciência histórica, estética e moral”.
Diante dessa constatação, o autor indaga: “isso significa que seus antigos
poderes não devam ser mantidos, que não mais precisamos dela?”. E
responde: “seria risível que os literatos renunciassem à defesa da
literatura” no momento, inclusive, que outras disciplinas passam a
reconhecer mais o seu papel.
A professora de filosofia Nadja Hermann tem estudado e
defendido o resgate da relação entre ética e estética literária na educação,
considerando o valor das forças da imaginação, da sensibilidade e das
emoções para o agir; talvez mais eficazes do que a formulação de
princípios abstratos e de uma fundamentação teórica da moral. Para ela,
“o estético, ao trazer a interpretação da vida, gera novos modos de
integração ética” (2005, p.15). Compagnon, por sua vez, lembra que a
filosofia moral analítica e a teoria das emoções investem cada vez mais
nos textos literários, crentes na ideia de que eles permitem acessar “uma
experiência sensível e um conhecimento moral que seria difícil, até
mesmo impossível, de se adquirir nos tratados dos filósofos. Ela [a
literatura] contribui, portanto, de maneira insubstituível, tanto para a ética
prática como para a ética especulativa” (2009, p. 47).
A História, ao mesmo tempo que reconhece a proximidade da sua
escrita com a da estrutura narrativa ficcional, tem valorizado o papel da
literatura como construtora de historicidade, como uma forma de fazer
memória dos fatos passados. Por sua vez, a produção literária tem
assumido cada vez mais essa função. Muitas obras da literatura
contemporânea revisitam o passado, em geral de uma perspectiva irônica
e paródica, acentuando a sua diferença em relação à história oficial e
elevando a presença de vozes que nesta permaneciam à margem ou
silenciadas. Desse modo, problematizam o sentido único e soberano do
discurso historiográfico tradicional, disseminando outras histórias que,
através do confronto dialógico, buscam a alteridade da verdade e
iluminam sentidos soterrados nas versões dominantes.
Todorov, tradutor dos textos dos formalistas russos para o francês
e teórico divulgador do formalismo – para cuja doutrina o texto só fala de
si mesmo e só interessa estudar a técnica literária –, hoje defende uma
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 84
visão mais ampla que aborde de maneira integral e, em relação, a forma e
o conteúdo, o texto e o que ele diz do mundo, as intenções críticas
codificadas no tecido textual, assim como as lacunas, os silêncios, que
permitem ao leitor exercitar sua liberdade de interpretação e, assim,
mantêm com a vida uma relação estreita. A mesma compreensão
demonstra Compagnon na obra aqui referida. Esses autores defendem,
pois, a literatura pelo que ela traz de contribuição ao mundo, pelo vetor
ético que também a constitui, e negam que a arte valha simplesmente por
si mesma, como mundo totalmente autônomo e unicamente objeto de
contemplação.
Retomemos, especificamente, algumas das funções da literatura
defendidas por Todorov e Compagnon. Para o último,
A literatura deve ser lida e estudada porque oferece um meio –
alguns dirão até mesmo único – de preservar e transmitir a
experiência dos outros, aqueles que estão distante de nós no espaço e
no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos
torna sensíveis ao fato de que outros são muito diversos e que seus
valores se distanciam de nós. (2009, p.47).
No mesmo sentido, defende Todorov: “A leitura da literatura tem
a ver com o encontro com outros indivíduos [...] Quanto menos essas
personagens se parecem conosco, mais elas ampliam nosso horizonte,
enriquecendo assim nosso universo” (2010, p. 81)
É comum lermos romances, contos e poemas, e nos
identificarmos com os homens representados; sermos afetados por seus
destinos e assumirmos momentaneamente como nossos os seus
sofrimentos e alegrias. Assim, a literatura faz com que tomemos
consciência da diversidade humana e histórica e aprendamos a respeitar o
outro na sua diferença. O que nos dá não é um novo conhecimento
abstrato, mas uma nova capacidade de comunicação com seres diferentes
de nós, pois somos levados a pensar e sentir adotando o ponto de vista
dos outros. O horizonte último dessa experiência não é a verdade
científica, mas o amor, forma suprema de ligação humana.
Compagnon defende também:
a literatura nos liberta de nossas maneiras convencionais de pensar a
vida – a nossa e a dos outros – [...] Constitutivamente oposicional
ou paradoxal – protestante, reacionária no bom sentido, ela resiste à
tolice não violentamente, mas de modo sutil e obstinado. Seu poder
emancipador continua intacto, o que nos conduzirá por vezes a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 85
querer derrubar os ídolos e mudar o mundo, mas quase sempre nos
tornará simplesmente mais sensíveis e mais sábios, em uma palavra,
melhores (2009, p.50).
Todorov (2010), por sua vez, lembra que a literatura nos ensina a
melhor sentir, e como nossos sentidos não têm limites, ela jamais conclui,
mas fica aberta. Visa menos enunciar verdades que a introduzir em
nossas certezas a dúvida, a ambiguidade e a interrogação.
Enquanto a informação é perecível e momentânea, o discurso
ficcional pode “criar tempo” sobre os acontecimentos a partir da projeção
de imagens sobre eles, alargando os seus sentidos e intensificando os seus
efeitos. O mundo literário é, por excelência, o mundo da imaginação,
fundamentado, principalmente, num discurso oblíquo, que fala por
metonímias e metáforas, e ativa o complexo intelectual e emocional do
leitor. Desse modo, o estabelecimento dos sentidos do texto literário
exige uma participação ativa do leitor, que não a simples decodificação,
um envolvimento mais profundo e prolongado com o processo de leitura.
Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento
e conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A realidade
que a literatura aspira compreender é simplesmente a experiência
humana. No entanto, enquanto a filosofia maneja conceitos, a literatura se
alimenta de experiências singulares. A primeira favorece a abstração, o
que lhe permite formular leis gerais; a segunda preserva a riqueza e a
variedade do vivido. Os propósitos dos filósofos têm a vantagem de
apresentar proposições inequívocas, ao passo que as metáforas do poeta e
as peripécias vividas pelas personagens do romance ensejam múltiplas
interpretações. Quer dizer, a literatura é uma forma de conhecimento que
privilegia em seu exercício a liberdade, o lúdico, o múltiplo.
Ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um caráter, o
escritor não faz a imposição de uma tese, mas incita o leitor a
formulá-la: em vez de impor, ele propõe, deixando, portanto, seu
leitor livre, ao mesmo tempo que o incita a se tornar mais ativo
diante do texto. Lançando mão do uso evocativo das palavras, do
recurso a histórias extraordinárias, aos exemplos e aos casos
singulares, a obra é capaz de gerar um tremor de sentimentos, abalar
nosso aparelho de interpretação simbólica, despertar nossa
capacidade de associação e provocar um movimento cujas ondas de
choque prosseguem por muito tempo depois do contato inicial
(TODOROV, 2010, p. 78).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 86
É essa relação estreita e íntima do leitor com o texto literário e
seus efeitos que Todorov e Compagnon estão valorizando, senão vejamos
esta confissão de Todorov:
Não posso dispensar as palavras as palavras dos poetas, as narrativas
dos romancistas. Elas me permitem dar forma aos sentimentos que
experimento, ordenar o fluxo de pequenos eventos que constituem
minha vida. Elas me fazem sonhar, tremer de inquietude, ou me
desesperar. Através dela, descubro uma dimensão da vida somente
pressentida antes porém a reconheço imediatamente como
verdadeira (2010, p. 75-76).
Tanto Todorov quanto o leitor comum, inclusive aquele que
recorta e posta passagens literárias na internet, estão buscando nas obras
aquilo que pode dar sentido às suas vidas. Afinal, quem, estando
totalmente mergulhado no mundo ficcional de determinada obra,
temporal e espacialmente delimitado nas fronteiras da ficção, nunca se
deparou com um fragmento que fala diretamente à sua experiência?
Quem nunca se surpreendeu diante de um arranjo de palavras e imagens
que parece lhe tocar de maneira especial, transcender o mundo criado e
atingir diretamente o seu mundo? Quando falamos que as obras de
Guimarães Rosa e Machado de Assis assumem uma dimensão universal é
justamente por essa ligação que a linguagem de suas obras permite
estabelecer com as verdades humanas mais essenciais.
Quem nunca percebeu, num poema, explicados, de maneira tão
reveladora, seus sentimentos mais íntimos? Em “Amor é fogo que arde
sem se ver”, por exemplo, Camões tenta definir, através do jogo de
imagens contraditórias, um dos nossos sentimentos mais complexos, cujo
poder todos sentimos, mas cuja explicação definitiva ninguém tem.
Manejando engenhosamente os recursos que a língua oferece, Camões
cria uma explicação convincente desse sentimento intraduzível, uma
explicação que não é como a da Psicologia, nem como a da Filosofia ou
da Medicina, mas cuja verdade ninguém ousa negar, porque tem a ver
com nossa experiência mais íntima e mais profunda.
Isto tudo aqui dito, que pode parecer óbvio, nem sempre é
salvaguardado na prática. Tanto é assim que teóricos do nível de
Compagnon e Todorov precisam insistir no assunto. A literatura tem uma
função social específica na sociedade, na medida em que complementa a
verdade da ciência em busca de uma melhor compreensão do homem e
do mundo e contribui para uma sabedoria mais ampla. Valorizar esse
potencial da literatura é o modo mais fácil de conquistar leitores. O papel
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 87
do professor de Letras é, sobretudo, o de ler extensiva e qualitativamente
o texto literário com o aluno, ativando sua imaginação e sensibilidade.
Quando o aluno entender que a literatura – pela forma como explora os
temas – aprofunda a sua visão do mundo, direciona o seu olhar para
outros horizontes e explica alguns dos seus sentimentos mais íntimos,
certamente as duas horas semanais dirigidas ao contato com a literatura
na escola transformar-se-ão em muitas mais, dependentes apenas do
desejo e da curiosidade dele.
LITERATURA? PRA QUÊ? / LITERATURA FOR WHAT?
Abstract: Admittedly, the space of literature in schools has decreased.
Few students say they like literature, and society at large does not
recognize the value of literature. How to combat this reality and enhance
the reading of literary texts? What is even the role of literature in our
lives and in society? How can it contribute to the formation of a historical
consciousness, ethics and morals? These are the questions of this paper.
To answer them, I dialogue with the texts A literatura em perigo (2010),
by Tzevetan Todorov, and Literatura para quê? (2009), by Antoine
Compagnon. The problem may be in the focus that is given to literary
studies at school, forgetting of the intimate relationship between
literature and world, between literature and the reader.
Keywords: teaching literature, literature functions, relationship between
literature and world, between literature and the reader.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 8. ed. São Paulo: T. A. Queiroz,
2000.
COMPAGNON, Antoine. Literatura para quê? Belo Horizonte: UFMG, 2009.
COSTA LIMA, Luiz. Vida e mimesis. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.
HERMANN, Nadja. Ética e estética. A relação quase esquecida. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2005.
TODOROV, Tzevetan. A literatura em perigo. 3. ed. Rio de Janeiro: Difel, 2010.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 88
O TEXTO LITERÁRIO: UM OBJETO DE PRAZER
Maria Heloísa Martins Dias – UNESP 1
Resumo: Uma das preocupações centrais do ensino de literatura é, sem dúvida,
seu objeto. Defini-lo e explicitar a metodologia crítica a ser colocada em prática
são tarefas fundamentais do professor, o que significa ter em mente conceitos-
chave como as noções de texto, contexto, história literária, recepção, gêneros,
entre tantas outras. O mapeamento destas e outras questões a serem abordadas
nos estudos literários é o que norteará nossa discussão, para a qual selecionamos
três poemas (“Tecendo a manhã”, “Mais dia menos dia” e “Corte e dobra”), de
João Cabral, Nelson Ascher e Amílcar de Castro, respectivamente. A partir de
considerações sobre esses textos e levantando alguns aspectos teóricos a
servirem como motivação ao aluno, buscamos tornar claro o que entendemos
pela abordagem do texto literário e a importância que ele assume no ensino de
literatura. Roland Barthes, Chklóvski e Adorno, entre outros autores, constituem
o apoio crítico-teórico com que contamos em nosso percurso. Conforme iremos
demonstrar, é preciso desmitificar a ideia de que o texto (ou melhor, a
textualidade) é um espaço fechado ou desligado de referentes externos; ao
contrário, sua estrutura composicional ressalta-se como universo para tornar mais
densas e ricas suas relações com outros espaços e linguagens.
Palavras-Chave: Texto literário. Ensino. Abordagem metodológica.
(Con)textos.
Ao falarmos em texto literário estamos priorizando algo
específico, ou seja, não estamos pensando na literatura como ciência ou
sistema e sim em um objeto ou produto desse sistema. A esfera mais
ampla, a da ciência literária, é um horizonte que não se pode perder de
vista, claro, mas justamente por sua natureza ser genérica e de longo
alcance é que se torna necessário recortar essa amplitude.
Portanto, podemos pensar no texto literário como um espaço a
ser ocupado pelo nosso olhar crítico, conscientes de que estamos tomando
apenas parte de uma produção e não esta inteira. Além disso, estamos
considerando algo concreto, a realização de uma linguagem e não
conceitos abstratos ou idéias genéricas, nem categorias; enfim, o texto
literário tem uma dimensão material – a concretude de sua linguagem –
bem como uma localização espácio-temporal. Essas reflexões se
1
UNESP - Universidade Estadual Paulista – Instituto de Biociências, Letras e
Ciências Exatas, Depto de Estudos Linguísticos e Literários, São José do Rio
Preto/SP, Brasil.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 89
justificam para tornarem claro o campo de nosso interesse, mais ainda
necessário se nosso propósito tiver uma natureza didática.
Lidar com literatura é um gesto fascinante, desde que situemos
bem esse fascínio e os objetos postos em relação, pois literatura
constitui um universo múltiplo e diversificado de elementos. Para um
curso, por exemplo, principalmente em nível de graduação, é
fundamental definirmos o objeto que tomaremos para discussão e o
diferenciemos de outros que poderiam ser também objeto de reflexões.
Assim, por exemplo, há profundas diferenças entre história literária,
gêneros literários, a literatura portuguesa ou a brasileira, os documentos
literários, a bio(biblio)grafia literária, a recepção da literatura, as edições
críticas, a literatura e o mercado, a fortuna crítica da literatura, a literatura
e outras artes ou midia etc.
Se o curso se intitular, por exemplo, Poesia Brasileira, é
evidente já o destaque para algo específico e será preciso definir que
propósitos serão buscados e por meio de que estratégias/caminhos se
poderá chegar até eles. Será o curso em torno da poesia, enquanto
linguagem específica, ou de uma história literária em que ela estaria
inserida? As produções poéticas serão examinadas em relação a
movimentos estéticos determinados ou esse diálogo entre texto e estética
se fará de outra forma? O critério cronológico será abolido em favor de
uma liberdade total no trato com a poesia brasileira? Haverá estudos
comparativos ou interartísticos? O contato com a poesia se abrirá também
à atividade de criação por meio de oficinas literárias? Enfim, as
possibilidades de abordagem são muitas. Cabe selecionar a que melhor se
ajusta aos propósitos do curso a ser ministrado.
Outro ponto a ser discutido é o preconceito que envolve a
expressão “texto literário”, levando este a ocupar uma incômoda posição
nos programas pedagógicos. Ou melhor, a não ocupar posição nenhuma,
como muitas vezes se observa. O incômodo vem da dificuldade que
professores e alunos têm para encarar essa coisa que parece um monstro
e, para eles, jamais será como o obscuro objeto do desejo tal qual o
cultuado pelo cineasta Buñuel. Ao contrário, ninguém quer aceitar o
desafio de penetrar na obscuridade, por mais sedutores que sejam os
mistérios (revelações?) dessa aventura. Parece sempre mais fácil (e
cômodo) partir de posições conhecidas e seguras, já convencionadas pela
tradição, do que ficar atônito, com o texto nas mãos, corpo que nos fita
esfíngico...
Estou defendendo aqui a necessidade de nos colocarmos diante
do texto com aquela espantosa (mas não ingênua) sensação de quem se
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 90
dispõe a ver o objeto e não a reconhecê-lo2. Com ou sem a postura
rigorosa do formalismo russo, o que nos interessa é a possibilidade que
este nos legou para lidarmos com o objeto artístico, de modo que nossa
abertura seja fundamental para captarmos a singularidade (e densidade)
dessa linguagem. Quando falo em singularidade, não estou querendo
apontar para a autonomia da escrita literária, com a qual aquela noção é
geralmente confundida. Pelo contrário, penso que o singular está
justamente nas soluções criativas (construtivas) postas na linguagem para
poder fazer figurar suas relações com o real. Portanto: não a autonomia
do objeto (texto) mas a simulação desse corte ou de sua emancipação do
real histórico graças às estratégias de construção engendradas pela
linguagem.
A velha e superada discussão sobre o vínculo entre texto x
contexto não tem mais razão de ser. O texto é por natureza contextual, na
medida em que a rede de relações tramadas em sua estrutura3 é por
demais complexa para ser considerada um em-si auto-suficiente a falar
para si mesmo. Daí ser descabida a preocupação em estabelecer a relação
texto/contexto, pois a própria forma com que o texto se oferece como
linguagem é a de um corpo dinâmico, cuja fala se entretece de propósitos
e funções colocando em relevo a sua densa, intrigante materialidade. Eis
o que nos cabe decifrar, por meio do gesto crítico-analítico.
Dizendo de outro modo e sintetizando, é preciso considerar que o
(con)texto está lá, diante de nós, ambos (o real da linguagem e aquilo
para o qual ela aponta) corporificando-se e produzindo sentidos no
espaço que os coloca em tensão. Não há um fora e um dentro, mas esse
lugar utópico (atópico), uma “impossibilidade topológica” de que a
literatura não quer abrir mão, conforme Roland Barthes pontua em sua
Aula. Se, como admite o crítico francês, “a literatura é categoricamente
realista, na medida em que ela tem o real por objeto de desejo”, “ela é
também obstinadamente irrealista; ela acredita sensato o desejo do
2
Nunca é demais lembrarmos o clássico alerta de Chkolvski: “O objetivo da arte
é dar a sensação do objeto como visão e não como reconhecimento (...) o
procedimento da arte é o da singularização dos objetos e consiste em
obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da percepção.” (1973,
p. 45).
3
É imprescindível considerarmos a etimologia de texto, recuperando, assim, o
que tantos já fizeram em seus estudos sobre literatura: tecido, entrelaçamento
de fios, textura, enfim, uma trama a exigir atenção de quem dela se aproxima a
fim de desentrançar essa rede (e também não ter medo de ser enredado por ela).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 91
impossível.” (BARTHES, s.d.,p.22). Desejar o impossível é existir nessa
margem periclitante e desafiadora do deslize permanente. Mas não
porque a linguagem foge ou recusa o real e sim porque o vai construindo
a partir da própria imprevisibilidade (e impossibilidade) com que o busca.
Para tentarmos ganhar um pouco mais de objetividade (se é que
tal categoria se presta à literatura...), podemos ilustrar esse espaço do
dizer em que não nos cabe delimitar o dentro e o fora, o histórico-social e
o textual; eles já vêm entretecidos na teia do discurso poético.
Todos conhecemos o antológico “Tecendo a manhã”, poema de
João Cabral de Melo Neto, contido em seu livro A Educação pela pedra
(1966). Recuperemos o texto, mas sem a preocupação de analisá-lo, pois
ele já foi objeto de numerosas abordagens.
Tecendo a Manhã
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
2.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão. (MELO NETO,
1979, p.17).
Ao lermos os dois primeiros versos do poema de Cabral,
imediatamente nos damos conta de que estamos diante de uma afirmação
conhecida, um dizer proverbial, portador de um sentido arqui-sabido e
pertencente à tradição oral: o trabalho coletivo é mais frutuoso e
produtivo do que o individual. Acontece que essa verdade, que faz parte
de um saber comum e existe como um estereótipo a reger o
comportamento social, é tão-somente o ponto de partida ou o pré-texto
para um outro “texto” ir-se impondo e construindo novos sentidos.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 92
Assim, aquilo que a ética estabelece como convenção ou lógica habitual
(a realidade se faz por meio de uma ação solidária) a estética irá
transformar num trabalho poético que penetra profundamente em seu
próprio tecido para revirar ou mobilizar aquela convenção.
Se a fala do poeta tem em mira o tecido social, este só desponta
como realidade para o leitor porque construído por uma consciência de
linguagem que vai tecendo suas formas próprias de intervenção criadora.
E uma intervenção extremamente singular, inusitada, personalíssima. É
só observarmos a estranha sintaxe elíptica criada entre os versos 3 e 4 e
entre os versos 4 e 5; a teia de signos resultante da repetição dos
vocábulos “galo”(s) e “grito”(s); ou então, o jogo paronomástico que
enlaça os signos (“entre todos”, “entrem todos”, “entretendendo”,
“tenda”, “erguendo”, “toldo”, “em tela”...); ou ainda, a colocação
suspensa da manhã, figurando entre parênteses como ícone do toldo ou
balão que se ergue.
Enfim: parece que a realidade da manhã ou aquele campo de
referência social aludido no início do poema se dissipa ou se torna etéreo,
leve, para que outro corpo ganhe densidade e possa se erguer diante do
olhar do leitor: o “balão”-poema tecido pelo poeta para entregá-lo à
fruição da leitura. E é então que o paradoxo se instala e nos convida a
refletir: se a fala poética de Cabral enuncia a consciência (ou ideal) de
solidariedade na fabricação do mundo, o modo como a escrita vai
operando esse projeto em sua arquitetura mais íntima – a da linguagem –
acaba por revelar o oposto daquele projeto, desmentindo-o. Isto porque o
texto, tecido com tanta argúcia e atenção à sua costura de fios, resulta
mais dessa singularidade e criatividade individual que de um operar
coletivo. Afinal, a sintaxe peculiar do discurso do poeta, o ritmo
encadeado e ao mesmo tempo elíptico dos versos, a materialidade
corpórea dos signos que nos vão enredando na leitura, tudo isso jamais
corresponde a um “tecido tão aéreo” “que (...) se eleva por si”, como
dizem os versos finais. Nada mais enganoso do que essa leveza ou
soltura de um corpo verbal, como se ele planasse livre de armação,
quando, na verdade, a sua montagem vem se dando desde o início do
poema, por meio da escolha cuidadosa de elementos e de uma postura
exigente do sujeito ao montá-lo.
Entendamos o sentido fabricado pelo poema: todos entram na
feitura que dará corpo ao real e o transformará em ação social. Entretanto,
e eis o mais curioso, é graças à solução engenhada pela subjetividade
lírica, no silêncio de seu canto poético tramado com tanta astúcia e
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 93
solidão, que a luz se eleva, o texto se faz, o fato se dá. Aí, sim, cabe ao
leitor assoprá-lo mais ou impulsioná-lo com sua força sensível, crítica.
Trinta anos mais tarde, em sua obra de 1996 (Algo de sol),
Nelson Ascher parece ter dado outra forma a esse mesmo motivo lírico
em seu poema “A outra voz”:
Não há voz que intricada / possa existir sem outra / capaz de se
imiscuir / nas circunvoluções // do cérebro que as cordas / vocais
enredam – cãibra / de cobra enrodilhada – / no abstruso trava-
línguas; // torna-se a voz, até / para si mesma, audível / se,
articuladamente, / mais que um eco inócuo, // revém distinta em
outra / que, ao decifrá-la, estreite / seus nós, emaranhando- / -se as
duas num diálogo.” (ASCHER, 1996, p.14).
Seria interessante que o poema acima transcrito servisse como
mais um objeto a ser analisado, atendendo a uma abordagem que
considerasse o jogo intertextual propiciado pelo próprio texto poético de
Ascher. Entretanto, não nos cabe aqui realizá-la, apenas fica o convite
para quem o desejar. Como se pode ver, tudo dependerá dos objetivos a
serem atingidos pelo estudo da literatura: se a intertextualidade for o
propósito, então o poema “A outra voz” é uma sugestão que poderá
interessar a um estudo comparativo.
Voltando àquela voz individual-coletiva tecida no poema de
Cabral, valeria a pena lembrarmos também mais uma voz, a de Adorno
quando discute como se dão as representações sociais no modo lírico, em
sua famosa conferência sobre as relações entre lírica e sociedade:
A expressão do individual na lírica deve transcender duplamente o
individual: pelo mergulho nele, descobrindo o subjacente, o ainda
não captado nem realizado no social; e pela expressão, encontrando
através da forma uma participação no universal. O paradoxo básico
da lírica – ser subjetividade objetivada – corresponde ao duplo
caráter da linguagem que a objetiva: expressão do individual
subjetivo e meio (mediação) dos conceitos (necessariamente
genéricos). (KOTHE, 1978, p.166).
Já que tocamos na noção de sociedade, não dá para deixarmos
outra de lado, a da globalização, afinal, característica de nossa cultura
contemporânea, em que o social é apenas uma de suas faces. Não cabe
aqui ficarmos discutindo aspectos específicos da globalização, interessa-
nos examinar em que sentido certos mitos presentes nessa configuração
cultural podem se articular com o estudo da literatura.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 94
Como disse no início, o recorte sempre se faz necessário, desde
que tenhamos consciência de sua inserção em um âmbito mais amplo. A
questão fundamental, porém, é não comprometer a percepção do singular
em nome de categorias abrangentes, o que se pode evitar, a meu ver, por
meio do trato cuidadoso dado a essas categorias, examinando-as não
como dados em si mesmos ou presos à sua natureza generalizante, mas
sim em sua funcionalidade relativa a outros sistemas. Desse modo, as
esferas política, histórica, social, cultural etc, embora façam parte de um
grande corpo ou tecido globalizado, não podem ser consideradas por uma
perspectiva única, por mais que o espírito de totalidade e a consciência do
múltiplo tentem se vincar como direção. Mas, onde se insere a literatura
nesse questionamento? Por que tocar nessas questões?
Porque a abordagem do texto literário não oculta nosso
posicionamento frente a um cenário mais amplo de que fazemos parte,
queira a literatura ou não. Isso significa dizer que o trato com esse objeto
específico – o texto ficcional ou poético – não nos afasta da dimensão
global, característica do mundo contemporâneo. Porém, o modo como se
dá essa relação é que torna complexa tal proximidade.
Acredito, conforme venho refletindo e ilustrando em diversos
momentos, como nos artigos “A literatura portuguesa e o renascer da
fênix” (2002) e “Antenas e plugs na captação da linguagem literária”
(2007), que a leitura atenta da literatura, sobretudo quando o que está em
foco são suas produções concretas (narrativas, poemas, peças teatrais e
outras produções textuais como propagandas, banda desenhada, roteiros
cinematográficos), não precisa partir de pressupostos teóricos e posições
ideológicas pré-determinadas para a compreensão desses objetos. Ou
dizendo de outro modo: por mais que estejamos de posse de toda uma
aparelhagem conceitual e antenados às demandas da cultura tecnológica,
não precisamos mostrar serviço por meio da aplicação desse instrumental
ou dessa conscientização histórica; esse universo irá aparecer,
certamente, sem ser necessário colocá-lo como pré-determinante ou part
pris. Não há urgência maior que a do próprio texto que, com o
imprevisível de suas imagens e o inusitado de sua organização discursiva,
mantém um diálogo vivo e inacabado com o leitor, tragando-o como uma
ressaca para o seu próprio corpo, móvel e traiçoeiro. Exemplifiquemos.
Outro texto do poeta brasileiro Nelson Ascher, “Mais dia menos
dia”, contido em sua obra Algo de sol, mencionada anteriormente, pode
nos ajudar nessa discussão. Eis o poema:
Coágulos de perda
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 95
de tempo, adiamento,
atraso e espera, ou seja,
minúsculas metástases
de caos se interpõem entre
- irrelevante qual
dos dois corre na frente –
a tartaruga e Aquiles
(o débito na conta;
no trânsito, a demora;
um ácido no estômago;
frente ao correio, a fila;
o mofo no tecido;
nos músculos, a inércia;
cupins na biblioteca;
sob o tapete, o lixo;
um óxido no ferro;
nas pálpebras, o sono)
e, como que aderindo,
à guisa de entropia,
ao âmago dos nervos,
embotam mais um pouco
o ritmo do arraigado
relógio biológico. (ASCHER, 2001, p. 15).
Convenhamos, não é difícil perceber que na poesia de Nelson
Ascher desponta um “retrato” do tempo atual em que estamos inseridos,
com as consequências ou implicações dessa inserção em nossas ações e
sentimentos. Difícil, porém, é percebermos tal realidade focalizada pelo
poeta como se descolada dessa coisa densa, corpórea e intrigante em que
ela se materializa – a textura verbal.
Quando topamos com a expressão inicial alusiva à
temporalidade, “coágulos de perda / de tempo”, por exemplo, de saída
enfrentamos o desafio dessa metáfora a nos cobrar decifração: o concreto
e o abstrato tramam suas forças simbólicas para que não passemos
imunes pelo efeito de sentido que delas advém. Qual sentido? O de que
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 96
obsessão doentia pelo tempo em nossa sociedade pode até nos paralisar,
coagulando nossa própria percepção e sensibilidade. Acontece que esse
enunciado, construído por nossa leitura, aparece no poema sob a forma de
uma enunciação totalmente outra, em que não há como ignorar ou passar
de imediato pelas “min sculas metástases // de caos”, habilmente
colocadas pelo sujeito poético para figurativizar a proliferação concreta e
deformante desse mal em que vivemos. Ou seja: perceber os efeitos
danosos do tempo sobre nós ocorre simultaneamente à percepção de
outros efeitos que a eles se sobrepõem: os da própria funcionalidade da
linguagem para torná-los visíveis.
Outro exemplo: para falar sobre a inutilidade de buscarmos
posições absolutas, já que antes e depois se tornam relativos na corrida
desordenada do tempo, o poeta não só utiliza as metáforas cristalizadas
de Aquiles e da tartaruga como também cria concretamente, em seu
discurso, um obstáculo (os versos entre travessões) que distanciam os
elementos e interrompem a fluência da leitura. É como se tal estratégia de
construção nos obrigasse a parar para a captação desse ritmo descontínuo
que nos sobressalta – o do texto e o do mundo.
E as táticas envolventes criadas pela poesia continuam no texto
de Ascher: agora, por meio dos parênteses que recortam dez versos, são
enumerados os efeitos corrosivos da temporalidade em nosso cotidiano,
mas de maneira sintética, enxuta e seca, pontuada, onde os segmentos
verbais atuam como verdadeiros golpes diretos em nossa sensibilidade.
Desponta o disfórico em diversos elementos: falta de dinheiro, mal-estar
físico, trânsito, espera, deterioração, desgaste, cansaço, porém, o que
interessa à leitura é a maneira como se dá a recolha do múltiplo nesse
espaço gráfico que os parênteses condensam.
Já nos últimos seis versos, fora dos parênteses, o conceito de
entropia aparece, sugerindo a imagem de internalização caótica que afeta
até mesmo nosso íntimo, corpo e mente guiados pelo “relógio biológico”
em compasso com a desordem exterior. Note-se como esse ritmo
entrópico se materializa no texto, graças ao encadeamento (enjambement)
entre os versos, complementando-se sintaticamente como uma só
engrenagem.
Conclusão: mesmo que o texto poético nos fale sobre um cenário
em que imperam valores de um mundo massificado e reificador, tal
cenário ganha visibilidade graças à arquitetura da linguagem que o
projeta. Se a pressa e a impaciência são as armas com que enfrentamos a
realidade globalizada, o texto literário exige de nós outro tratamento; não
podemos passar por ele com pressa, nem ficarmos impacientes para
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 97
encontrar logo respostas, muito menos desprezarmos a trama cuidadosa
de sua construção. Se assim o fizermos, estaremos compactuando com o
sistema tecnológico, insensível para com as sutilezas da arte. Para esse
ser perverso, o trânsito permanente e rápido, as trocas, o imediatismo de
lucros, a mais-valia, a produtividade desenfreada e jogo de interesses é o
que conta. Mas isso pouco interessa à literatura: neste espaço, o recorte
atento e demorado para a fruição de algo saboroso e fascinante é o que
nos interessa.
Outro ponto deve ser considerado nestas reflexões sobre o texto
literário. Já falamos anteriormente sobre a noção de texto extraída das
concepções barthesianas, em especial as que apontam para a natureza
gerativa e/ou produtiva da linguagem e os efeitos dinâmicos dessa
produção. Caberia agora assinalarmos também as contribuições que as
teorias da comunicação e informação, inseridas num processo
semiológico amplo, trouxeram à noção de texto, tornando este uma
realidade muito mais abrangente, rica de implicações. Melhor seria
falarmos de textualidade, termo que vem sendo empregado em diversos
contextos, a partir da possibilidade de se esgarçar seu atrelamento à
natureza estritamente verbal da linguagem. Assim, a textualidade
corresponderia a uma prática ou performance de linguagem cujo fazer se
dá essencialmente como interação objeto/observador, o que significa uma
construção em processo na qual se conjugam os gestos de escrita, leitura
e releituras. Por outras palavras, a textualidade implica necessariamente
os mecanismos epistemológico e estésico (artístico) na captação do objeto
pelo sujeito, acentuando-se o caráter crítico-criativo da recepção, numa
espécie de cumplicidade constitutiva entre sujeito e objeto, ambos
corporificando-se ou ganhando uma textura nessa dinâmica relacional.
Digamos, enfim, que a textualidade não é o objeto/texto em si mesmo,
mas o modo como ele se oferece ao olhar que o re-configura. Mais um
dar-se-a-ver do que o visto.
Pensando nessa dimensão de textualidade, teríamos de considerar
os diversos objetos textuais, de natureza verbal ou não, em cujo corpo se
trama uma funcionalidade ou operar artístico com efeitos de sentidos a
serem captados pelo receptor. Poesias, narrativas, cartazes publicitários,
cenas cinematográficas, vitrais, pregões públicos, fotos, desfiles,
esculturas, quadros... cada um desses (e inúmeros outros) objetos
expostos ao nosso olhar oferece-se como textualidade, a ser analisada
conforme a sua própria trama constitutiva de elementos em consonância
com a aparelhagem sensível e crítica de quem a captura. Nosso objetivo,
aqui, não é mostrar esses diversos textos/objetos artísticos por meio da
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 98
análise, pois nosso foco é o texto literário, ou seja, estamos considerando
uma textualidade verbal e, mais especificamente, uma de suas
modalidades – a linguagem poética.
Acontece que, conforme já observamos, nesse imenso e
heterogêneo tecido cultural em que vivemos, a poesia é uma das faces a
interagir com inúmeras outras, o que implica dizer que sua textualidade
não se encerra em si mesma, ou melhor, pode reclamar outras com as
quais dialoga, enriquecendo, desse modo, o processo semiológico.
Para exemplificar, podemos pensar num poema como “Corte e
dobra”, de Amílcar de Castro, mais conhecido como escultor, autor de
volumosas peças de alumínio e ferro, colocadas em diversos locais em
especial em Belo Horizonte, sua cidade de origem. Leiamos o texto:
Corte e Dobra
Toda superfície cria mistério.
O muro divide, proíbe, estanca,
não passa,
ou bloqueia: é tumba, é campa,
é tampa – não desce e não sobe.
Esse não permanente
aguça e lança:
e além? e embaixo?
e em cima? e dentro? e fora?
Cria o prazer de romper,
atravessar,
conquistar o outro lado
o ar, o ver
e amanhecer no mesmo horizonte.
Quando corto e dobro
uma chapa de ferro
ou somente corto
pretendo
abrir um espaço
ao amanhecer na matéria bruta
luz que vela e revela
a comunhão do opaco
com o espaço dos astros
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 99
espaço
que descobre o renascer
redimindo a matéria pesada
na intenção de voar
O poema de Amílcar tem nítido propósito programático, pois
define e conceitua a sua arte, ou melhor, a sua poética: a poesia, nesse
caso, serve como suporte para o artista se posicionar e relação ao material
com que opera. Tanto as palavras, portanto, a linguagem verbal, quanto a
matéria concreta – chapa de ferro – portanto, a linguagem plástica,
coabitam no espaço do texto poético onde vão se traçando os caminhos e
reflexões sobre o fazer.
A preocupação central do artista é a de poder “abrir um espaço”
(v.19), rompendo as interdições e o mistério, a fim de “conquistar o outro
lado” (v.12), o que só se torna possível a partir de sua ousadia em dobrar,
literalmente, o material difícil de manusear. Corte e dobra, título do
poema, é uma expressão ao mesmo tempo literal e metafórica: abrir
fendas e fazer dobras nas chapas metálicas é um gesto construtivo do
escultor, seu procedimento usual, mas é também indício de atitudes
tansgressoras, por meio das quais o real é burlado e ulrapassado em seus
limites lógicos. Impor a presença de formas e volumes imensos que
desafiem o esperado e desacomodem a percepção, obrigando-a a
participar ativa e criativamente da feitura dos objetos – eis o que a arte de
Amílcar nos oferece.
Mas e o poema? Como as palavras dialogam com a escultura?
Não é difícil percebermos, por exemplo, que corte e dobra acontecem
figurativamente no texto, já que a primeira estrofe (ou chapa?) se projeta
no espaço à esquerda da página, enquanto a segunda estrofe (outra
chapa?) parece se dobrar, projetando-se à direita. Também os versos vão
se deslocando, ocupando espaços ora à direita, ora à esquerda, o que
funciona como iconização do movimento realizado no material pelo
poeta-escultor.
Outros recursos estéticos concretizam o diálogo entre a poesia e a
escultura, como as interrogações dos versos 8 e 9 ( e além? e embaixo? //
e em cima? e dentro? e fora?), as quais atuam como instigações à leitura e
interpretação do objeto artístico; é como se representassem o movimento
do observador ao redor das peças-esculturas de Amílcar, tentando
descobrir o que há no e para além do espaço criado por elas. Assim, o
poema parece pulsar não apenas como linguagem verbal mas também
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 100
como uma peça concreta, aberta à visitação pelo olhar crítico que o vai
remodelando.
Como vemos, a noção de texto literário, ao contrário do que
muitos pensam, não se limita a uma escrita emoldurada pelas palavras e
fixo nesse suporte que o encerra nos limites do discurso verbal.
Conforme procurei mostrar, as possibilidades criadas pelo texto
são inúmeras, justamente pela polivalência do signo artístico em seu
funcionamento; esse “tecido” (lembremos a célebre definição de
Barthes4) não só é feito de muitos fios entrelaçados como também
esgarça sua textura para solicitar outros tecidos que o completem. É essa
(in)completude que torna o texto literário um objeto de prazer, levando-
nos a constantes descobertas.
THE LITERARY TEXT: A PLEASURE OBJECT
ABSTRACT: One of the central concerns of the teaching of literature is
undoubtedly its object. Set it and clarify critical methodology to be put into
practice are fundamental tasks of the teacher, which means keep in mind key-
concepts such as about of text, context, literary history, reception, genres, among
others. The mapping of these and other issues to be discussed in literary studies
is what will guide our discussion, for which we selected poems by João Cabral
(“Tecendo a manhã”), by Nelson Ascher (“Mais dia menos dia”) and Amilcar de
Castro (“Corte e dobra”). From these considerations and underscoring some
theoretical aspects to serve as student motivation, we seek to make clear what we
mean by approach of literary text and the importance that it assumes in the
teaching of literature. Barthes, Chklóvski and Adorno, among others, are the
critical support in our journey. As we will show, we need to demystify the idea
that the text (or rather, textuality) is an enclosed space or disconnected from
external reference; on the contrary, his compositional structure emerges as the
universe to make more dense and rich its relations with other spaces and
languages.
Key-words: Literary text. Teaching. Methodological Analysis. (Con)texts.
Referências Bibliográficas:
4
“Texto quer dizer Tecido; mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado
por um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se mantém, mais ou
menos oculto, o sentido (a verdade), nós acentuamos agora, no tecido, a idéia
gerativa de que o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento
perpétuo (...)”. In: O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1977, p.82-83.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 101
ASCHER, N. et alli. Poetas na biblioteca. São Paulo: Fundação Memorial da
América latina, 2001.
BARTHES, R. Aula. São Paulo: Cultrix, s.d.
________ O prazer do texto. SãoPaulo: Perspectiva, 1977.
CASTRO, A. www.amilcardecastro.com.br
CHKLOSVKI, V. A arte como procedimento. In: Teoria da literatura:
formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1973.
DIAS, M.H.M. A literatura portuguesa e o renascer da fênix. In: Voz Lusíada.
São Paulo: Vida & Consciência/Fundação Calouste Gulbenkian, no 18, 2002,
pp.57-61.
________. Antenas e plugs na captação da linguagem literária. Simpósio de
Estudos em Letras: congregando linguagens. Cassilândia: UMS, I SIEL, 2008,
pp.226-231.
KOTHE, F. Benjamin & Adorno: confrontos. São Paulo: Ática, 1978, p.166.
MELO NETO, João Cabral de. Antologia poética. 5 ed., Rio de Janeiro: José
Olympio, 1979, p.17.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 102
A LITERATURA ESTÁ EM CRISE?
Germana Maria Araújo Sales – UFPA 1
RESUMO: Neste ensaio, pretendo discutir uma questão polêmica sobre a
crise na e da Literatura, a partir das reflexões de Mário Vargas Llosa e
Antonio Candido, bem como revisitar o conceito do que é Literatura, ao
tomar como referencial as ponderações de João Alexandre Barbosa, que
fundamenta sua argumentação nas postulações de Northrop Frye,
Fernando Pessoa e T. S. Eliot. A partir desse referencial teórico, pretendo
debater acerca da tensão existente entre o literário e o comércio livreiro
atual no Brasil, a partir de pesquisas realizadas em três livrarias que
disponibilizam seus catálogos online – Livraria Saraiva, Livraria Cultura e
Livraria da Travessa – e, com base nos dados obtidos por meio das listas
dos livros mais vendidos, ou mais populares, conjecturar sobre a questão
proposta inicialmente: há uma crise na Literatura? Tal indagação
percorrerá toda a discussão, com base também na querela do fim do livro,
hipótese cogitada, no século XIX, por Machado de Assis, diante do
advento do jornal e, atualmente por Bill Gattes, dono da Microsoft, que
pretende, antes de morrer, ver o fim do livro.
Palavras-Chave: Literatura. Livros. Leitores. Crítica literária. Comércio
livreiro.
A crise na/da Literatura
A literatura é uma atividade sem sossego, afirma Antonio Candido,
em seu texto “Timidez do romance”, quando disserta sobre os
questionamentos e a validade desta matéria, sobre a qual avaliam desde a
corrupção dos costumes ao afastamento das tarefas sérias, o que faz com
que a literatura nunca esteja tranquila e necessite justificar-se, já que foi
considerada o “disfarce estratégico da verdade”.
A preocupação em torno da validade da literatura ou se há uma crise
na literatura tem sido motivo de preocupação e apreensão de diversos
escritores e estudiosos do assunto, além de Antonio Candido. Mario
1
UFPA – Universidade Federal do Pará. Faculdade de Letras/Instituto de Letras e
comunicação. Belém – Pará – Brasil. 66816-830 – germanasales@uol.com.br;
gmaa.sales@gmail.com.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 103
Vargas Llosa ocupa-se do assunto, quando reflete que a literatura, de
acordo com um entendimento comumente difundido, constitui uma
atividade reportada ao entretenimento, com reconhecida utilidade, mas um
“ornamento que se podem permitir os que dispõem de muito tempo livre
para a recreação”, contudo que pode ser sacrificado sem maiores
escrúpulos, pois não se institui como uma obrigação imprescindível à
sobrevivência (LLOSA, 2009, p. 19). Por esse motivo, Vargas Llosa, que
também é romancista, disserta em favor da ideia de que a literatura é “uma
das ocupações mais estimulantes e fecundas da alma humana, uma
atividade insubstituível para a formação do cidadão numa sociedade
moderna e democrática, de indivíduos livres” (LLOSA, 2009). Llosa se
posiciona, portanto, contra a ideia de que a literatura seja um “passatempo
de luxo”. (LLOSA. p. 20). A opinião de Mário Vargas Llosa é somada à
apreciação de Antonio Candido quando realça a necessidade da ficção na
sociedade e distancia a literatura do que pode ser avaliado como um
passatempo ou distração elitizada.
Entretanto, a preocupação com o fim da Literatura ou sobre a crise na
Literatura faz parte, também, da preocupação dos intelectuais,
principalmente quando se atrela a permanência da literatura à existência
do livro, formato já considerado obsoleto por alguns. Tal inquietação é
referida, igualmente por Vargas Llosa, quando relata a declaração de Bill
Gates sobre o fim do livro. O empresário afirmou que espera realizar seu
projeto mais importante que é “acabar com o papel, e, pois, com os livros,
mercadoria que, a seu entender, já é de um anacronismo contumaz”
(LLOSA, 2009. p. 25). Embora a argumentação de Bill Gates busque se
alicerçar na preservação do meio ambiente, causa estranheza àqueles que
vivem dos e para os livros, como os escritores, que teriam aposentadoria
forçada, de acordo com Llosa. Embora Gates afirme que tal medida não
põe fim à literatura nem à leitura, Llosa não recebe com tranquilidade a
ideia de que todo o devaneio e fruição da palavra possam coexistir na tela
de um computador, como também não concebe a permanência da leitura
com a ausência da intimidade e “isolamento espiritual”, que só o livro,
como material, é capaz de promover.
O raciocínio acerca do fim do livro é um consequente sepultamento da
literatura e todo o arcabouço que a acompanha – escritores, leitores e,
inclusive, professores da disciplina –, ocupa a mente das mentes
pensantes, desde o século XIX, quando Machado de Assis se perguntou,
no ensaio O jornal e o livro, publicado originalmente nos dias 10 e
12/01/1859, no Correio Mercantil do Rio de Janeiro, se o jornal mataria o
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 104
livro ou se o livro absorveria o jornal. Nem uma coisa nem outra
aconteceram. O jornal adquiriu seu perfil e forma com a passagem do
tempo, e o livro e a literatura permaneceram sem nenhuma perda de
status. Contudo, naquela ocasião, Machado de Assis entendia o jornal
como uma “locomotiva intelectual”, uma revolução no mundo social e
econômico. Além disso, o temor do romancista estava diante da
periodicidade do veículo de comunicação, pois era cotidiano, “reprodução
diária do espírito do povo, o espelho comum de todos os fatos e de todos
os talentos, onde se reflete, não a ideia de, um homem, mas a ideia
popular, esta fração da ideia humana”. E, portanto, diante dos fatos, o
livro não teria como competir e muito menos como resistir e sobreviver.
Felizmente, dois séculos se passaram e é possível respirar diante das
expectativas negativas de Machado de Assis, que felizmente foram falhas,
e o livro, bem como a literatura, sobreviveu. Entretanto, as preocupações
do romancista não decorriam somente desse aspecto material, mas das
questões qualificativas. Em 1865, onze anos após o prognóstico do fim do
livro, o escritor fluminense vociferava, em seu ensaio “Ideal do Crítico”,
sobre a situação da produção literária brasileira. Machado afirmava,
àquela altura, que as boas obras eram escassas e “raras as publicações
seladas por um talento verdadeiro” (ASSIS, 1962. p. 11). O lamento do
romancista destinava-se a dois aspectos duvidosos de avaliação, como a
crítica quase sempre voltada à camaradagem e à ausência de publicações
de valor inquestionável. Machado assegurava que as mudanças nessa
situação poderiam ocorrer e eram de responsabilidade do crítico:
Quereis mudar esta situação aflitiva? Estabelecei a crítica, mas a
crítica fecunda, e não estéril, que nos aborrece e nos mata, que não
reflete nem discute, que abate por capricho ou levanta por vaidade,
estabelecei a crítica pensadora, sincera, perseverante, elevada, - será
esse o meio de reerguer os ânimos, promover os estímulos, guiar os
estreantes, corrigir os talentos feitos; condenai o ódio, a
camaradagem e a indiferença, - essas três chagas da critica de hoje, -
ponde em lugar deles, a sinceridade, a solicitude e a justiça, - é só
assim que teremos uma grande literatura. (ASSIS, 1962, p. 12)
Machado de Assis queixava-se da qualidade das obras literárias,
mas reconhecia que tal situação emergia em decorrência da crítica que não
era independente, nem imparcial, nem tolerante, nem justa, mas sim
parcial e sem condições de urbanidade.
Obras literárias em oferta?
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 105
A situação analisada por Machado de Assis não difere muito da
circunstância atual, quando os críticos se veem perante uma modalidade
de escrita que ameaça a literatura: os livros de autoajuda ou os Best-
sellers. O fenômeno de vendas, Paulo Coelho, por exemplo, é um reflexo
dessa situação2, pois, enquanto é aclamado pelo público, é rejeitado pela
crítica, que afirma não se tratar de literatura, pois seus textos são de uma
pobreza franciscana.
Além desta conjuntura particular, outra se torna conflitante, pois, além
de Paulo Coelho, outros autores vivenciam a mesma experiência e
ocupam os primeiros patamares entre os mais vendidos, e as livrarias,
local de contato dos leitores com os livros, confundem o meio de campo
ao classificar os gêneros, quando expõem quase tudo com a categorização
de Literatura. Em meio às ofertas de artigos, como CDs de música ou
DVDs de filmes, estão as sugestões de leituras, acompanhadas de algumas
referências bibliográficas, constituídas em diferentes categorias, que nem
sempre são as mesmas nas distintas lojas.
Em 2010, ao realizar uma pesquisa sobre os livros mais vendidos nas
livrarias3, verifiquei o catálogo online de três livrarias importantes –
Livraria Cultura, Livraria Saraiva e Livraria da Travessa –, e
recomendadas aos leitores, sejam iniciantes ou iniciados, a adquirir seus
livros. A Livraria Cultura, por exemplo, para ilustrar o catálogo dos livros
mais vendidos, nomeia seis especificações, repartidas em dois grupos,
nacional e importado: ficção, não ficção, informática, administração,
2
Paulo Coelho se tornou o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Vendeu
mais de 140 milhões livros até outubro de 2011, foi lançado em 160 países, é
considerado o autor mais traduzido, contabilizando um total de 73 línguas, e o
mais celebrado nas redes sociais, com 10,5 milhões de seguidores no Facebook
e no Twitter. In: http://www1.folha.uol.com.br. Consultado em 24 de junho de
2012, às 22:32h. Paulo Coelho também foi agraciado com variados prêmios,
contabilizando 26 condecorações entre nacionais e internacionais. In:
http://www.livrospaulocoelho.com.br/. Consultado em 24 de junho de 2012, às
22:34h.
3
Dados desta pesquisa foram publicados no capítulo: SALES, Germana. ;
MENDONÇA, Simone Cristina. “Antonio Candido, Mario Vargas Llosa e
Carlos Fuentes: considerações teóricas sobre o gênero romance”. In: Carmem
Lúcia Negreiros de Figueiredo, Silvio Holanda e Valéria Augusti. (Org.).
Crítica e Literatura. 1. ed. Rio de Janeiro: De Letras, 2011, v. 1, p. 167-183.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 106
esotérico/autoajuda e infanto-juvenil. No grupo ficção nacional, o site4,
curiosamente, exibe traduções de títulos estrangeiros: A breve segunda
vida de Bree Tanner, de Stephenie Meyer; Querido John, de Nicholas
Sparks; A última música, também de Nicholas Sparks; Diários do
vampiro, V.4 - Reunião sombria, de L. J. Smith; Lua azul, de Alyson
Noel; Os homens que não amavam as mulheres, de Stieg Larsson; A
cabana, de William P. Young; Amanhecer, de Stephenie Meyer; Alice -
Aventuras de Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll; e Kick Ass -
Quebrando tudo, de Mark Millar e John Romita Jr. O internauta
desavisado só descobrirá que esses títulos não são de ficção nacional ao
clicar no link referente ao título, quando, então, verificará que se trata de
literatura estrangeira5.
Já a Livraria Saraiva, por sua vez, expõe duas listas dos livros mais
vendidos: livros e livros importados. Na primeira divisão, encontram-se
listadas as seguintes obras6: A breve segunda vida de Bree Tanner, de
Stephenie Meyer; A cabana, de William P. Young; Querido John, de
Nicholas Sparks; A última música, de Nicolas Sparks; e Vade Mecum
Saraiva 2010.
Na última livraria consultada, a Livraria da Travessa, as listas dos
mais comerciados aparecem distribuídas entre os seguintes grupos: artes,
ciências, humanidades, saúde, esporte e lazer, literatura e ficção, guias e
turismo, infanto-juvenil, línguas e referência. No que tange ao nosso
interesse, o rol dos mais vendidos está em destaque na classificação de
“Literatura e Ficção”, que considera obras biográficas, livros de ficção,
livros de poemas, literatura brasileira e estrangeira, como parte da classe
literatura e ficção. Na listagem constam: Múltipla escolha, de Lya Luft;
Juventude: cenas da vida na província 2, de J. M. Coetzee; Bussunda: a
4
Este acesso foi em 20 julho de 2010 na Livraria Cultura, na página: <
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/maisv/maisv.asp?nassunto=1&
nveiculomv=4&sid=98214522812720656023864832&k5=186D9E67&uid= >.
5
A Livraria Cultura indica alguns dos tradutores das obras, como: Patrícia de Cia,
tradutora de Querido John; Ryta Vinagre, tradutora de Diários do Vampiro, V.
4 – Reunião Sombria e Amanhecer; Flávia Souto Maior, tradutora de Lua azul;
Paulo Neves, tradutor de Os Homens que não amavam as mulheres; Maria
Luiza Borges, tradutora de Alice – Aventuras de Alice no país das maravilhas;
Fernando Lopes, tradutor de Kick ass – Quebrando tudo.
6
Site: <http://www.livrariasaraiva.com.br/>. Acesso em: 20 jul. 2010.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 107
vida do casseta, de Guilherme Fiúza; A cabana, de William P. Young;
Lua azul, de Alyson Noel; A última música, de Nicholas Sparks; A breve
segunda vida de Bree Tanner, de Stephenie Meyer; e Mil dias em Veneza,
de Marlena de Blasi.
Pela classificação das livrarias, observamos que os livros de ficção
realmente estão entre os mais vendidos e, diante dos títulos arrolados
como os mais solicitados pelo público, aparecem algumas evidências,
como o livro recorrente nas três livrarias: A cabana, de William P. Young,
um best-seller, publicado pela editora Sextante, que já alcançou quase
dois milhões de exemplares vendidos, de acordo com informações no site7
da própria editora. Um autor recorrente nas três livrarias é Nicholas
Sparks, com as obras A última música e Querido John, títulos que se
repetem entre as referências dos livreiros. Em terceiro lugar, citamos
Stephenie Meyer, a autora da série Crepúsculo, que aparece com os títulos
A breve segunda vida de Bree Tanner e Amanhecer8. Entre os títulos mais
vendidos nas livrarias, destacamos, então, uma coincidência: os três
autores mais comercializados são norte-americanos e neófitos no mundo
das letras, fatores que não impedem o estrondoso sucesso editorial no
mundo.
Retomando a listagem das livrarias, cabe a ponderação sobre o
número excessivo de traduções que afoga até mesmo os romancistas
brasileiros mais bem-sucedidos.9 Essa ocorrência suscita as perguntas: por
que há um número ínfimo de autores nacionais expostos em livrarias de
ampla representatividade no país? O que esse processo revela? Seriam
7
Site: < http://www.esextante.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?
infoid=4212&sid=2 >. Acesso em: 20 jul. 2010.
8
Este livro faz parte da saga crepúsculo também, formada pelos livros:
Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer.
9
Entre os brasileiros mais comercializados, está Luís Fernando Veríssimo, que
contabiliza mais de 50 livros publicados e já vendeu cinco milhões de
exemplares, o que constitui um verdadeiro fenômeno de vendas. Ao lado de
Veríssimo, figura seu conterrâneo Moacyr Scliar, com 63 obras editadas – entre
romances, contos, novelas e coletâneas (REBINSKI, 2010). O próprio Scliar,
em entrevista, afirmou que vendeu dez milhões de livros (REVISTA PRESS,
2010). Outro brasileiro que faz frente aos dois gaúchos é o baiano João Ubaldo
Ribeiro, cuja venda anual emplaca a média de 100 mil livros. (ROSALEM,
1999).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 108
táticas de comércio? Haveria dificuldades com distribuição e propaganda?
Ou seria dificuldades de assentimento do público leitor?
A partir das evidências, as informações também admitem outras
reflexões, que vão ao encontro da nossa apreensão, acerca da
categorização desses volumes. Quantos deles podem, de fato, ser
classificados como romance? É sabido que esses livros têm encantado e
comovido os leitores, como de acordo com a história, os romances têm
feito, mas podemos nos perguntar, ao ter conhecimento que nem toda
ficção é romance (ABREU, 2006), se é possível denominar essas séries de
livros com um mesmo título, ou com títulos diferentes que podem
continuar uma mesma história, como literatura?
Ao refletir sobre o conceito de literatura, João Alexandre Barbosa, no
ensaio “Literatura nunca é apenas Literatura”, fala apresentada no
Seminário Linguagem e Linguagens: a fala, a escrita, a imagem10, ajuíza
a partir de três posicionamentos, o de Northrop Frye, Fernando Pessoa e
T. S. Eliot. Conforme pondera Alexandre Barbosa, acerca do valor da
obra literária, em acordo com o crítico canadense, Northrop Frye, para a
compreensão do que seja literário, há a necessidade de conhecimento de
duas linguagens, como assegura Frye: “Na leitura de qualquer poema é
preciso conhecer duas linguagens: a língua em que o poeta está
escrevendo e a linguagem da própria poesia”. A assertiva do crítico
sintetiza que um leitor só pode reconhecer se tal texto é ou não literário se
tiver um conhecimento prévio para tal, isto é, como o leitor poderá
reconhecer uma boa obra da literatura brasileira, se por acaso só tiver tido
contato com os exemplares ofertados entre os mais vendidos das três
livrarias aqui referidas? Torna-se complexa qualquer leitura que não faça
parte da intimidade do leitor e, portanto, apreciar um livro de Machado de
Assis ou Graciliano Ramos, por exemplo, torna-se um verdadeiro estorvo
se não se reconhece um pouco do que seja boa leitura ou se as
informações de leitura armazenadas são precárias sobre o que se insere na
tradição literária. “É preciso ter um estoque mínimo, um repertório
mínimo, para que seja possível identificar a importância de uma obra ou
de um texto literário”, como assevera Alexandre Barbosa. Para tanto,
reconhecer que a literatura está condenada à história e à tradição,
afirmação que encontra eco nas palavras de Fernando Pessoa, que garante:
10
A reprodução da íntegra desse texto consta no site:
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_17_p021-026_c.pdf. Consultado
em 17 de maio de 2006, às 18:49h.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 109
“No mais pequeno poema de um poeta deve haver sempre alguma coisa
por onde se note que existiu Homero. O que é possível depreender dessa
afirmativa? Que as obras literárias devem permanecer, constar entre os
séculos e não só figurar por um período e depois ser esquecida, apagada
da memória, pois fez parte de uma moda, de um instante de sucesso
momentâneo. Somada às declarações de Northrop Frye e Fernando
Pessoa, T. S. Eliot sinaliza com a confirmação de que “o escritor não é
escritor, se depois de 25 anos não sentir em seus ossos o peso de uma
tradição”. A citação ratifica que o conceito de obra literária está
vinculado, principalmente, à memória, à tradição e à conservação do texto
com o passar dos anos, indiferente ao modismo ou ao sucesso breve e
instantâneo.
Se Machado de Assis, em 1865, queixava-se da circulação de boas
obras que estavam submetidas a uma crítica camarada e corporativa, o que
dizer da oferta das obras que chegam às mãos dos leitores, abalizadas pelo
comércio lucrativo, longe de uma avaliação distinta que referende e sagre
ao público uma leitura de valor reconhecido?
As publicações expostas ao público, no ano de 2010, apontam a
fugacidade das obras e a submissão destas mesmas ao instante da fama e
do entusiasmo, como a obra A Cabana, de William P. Young, publicada
originalmente nos Estados Unidos, transformou-se num arrebatamento
entre os leitores e se constituiu um feito de vendas com mais de dois
milhões de exemplares vendidos em dois anos, a partir da estreia, no ano
de 200711. O livro se manteve entre os mais vendidos durante o ano de
2009 e encabeçou o primeiro lugar durante todo o ano, conforme noticiou
a Folha online, em 21/11/200912.
Entretanto, apesar do sucesso explosivo, da participação do autor na
Bienal do livro em 2011, em São Paulo, o volume não encabeça mais a
lista dos mais vendidos, nem a dos mais populares, conforme classifica a
Livraria Saraiva, que elenca entre os seus “populares”, no ano de 2012, os
11
Dados obtidos na livraria Submarino:
http://www.submarino.com.br/produto/6719447/livros/literaturaestrangeira/gera
l/livro-cabana-a. Consultado em 25 de junho de 2012, às 21:35h
12
http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/ult10082u655672.shtml.
Consultado em 25 de junho de 2012, às 21:51h
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 110
seguintes títulos13: A Dança dos Dragões - As Crônicas de Gelo e Fogo –
vol. 5, de George R. R Martin, que puxa a lista entre os cinco mais
procurados, seguido pelos títulos, Para Sempre, de Kim Carpenter; A
Escolha - até onde devemos ir em nome do amor? e O melhor de mim - o
primeiro amor deixa marcas para a vida inteira, ambos de Nicholas
Sparks; O Filho de Netuno - os heróis do Olimpo - livro dois, de Rick
Riordan.
Já a Livraria Cultura expõe na composição da sua lista14, em primeira
chamada, Agapinho, de autoria de Padre Marcelo Rossi; seguido por
Getúlio, de Lira Neto; Guia Prático da Nova Ortografia, de Elenice
Alves; Jamie Oliver - 30 minutos e pronto, de Jamie Oliver e O
Prisioneiro do Céu, de Carlos Ruiz Zafon. Prontamente na Livraria da
Travessa, há outra listagem15, com dois primeiros volumes listados com
Amsterdam, do escritor britânico Ian Mcewan e Ulisses, do romancista
irlandês James Joyce. A disposição da lista segue com a obra Tudo ou
nada, assinada pelo brasileiro Luiz Eduardo Soares e O Prisioneiro do
Céu, do premiado autor espanhol Carlos Ruiz Zafon16. Para finalizar a
listagem dos cinco primeiros mais vendidos, a livraria oferece a obra
Morte dos reis, do escritor britânico Bernard Cornwell.
Não muito oposta às classificações de 2010, as três livrarias
apresentam uma abundância de autores estrangeiros, em detrimento a
produção nacional. Nos três estabelecimentos comerciais, somente é
13
http://www.livrariasaraiva.com.br/. Consultado em 25 de junho de 2012, às
22:22h
14
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/index.asp?&caminho=1. Consultado
em 25 de junho de 2012, às 22:31h
15
Site http://www.travessa.com.br/wpgMaisVendidos.aspx?TipoArtigo=1&Cod
MacroSegmento=3808A616-20B5-48C2-B6F6-CE8E937F3280, Consultado
em 25 de junho de 2012, às 22:46h.
16
No site oficial do autor, http://www.carlosruizzafon.com/, constam as
premiaçãos, na Espanha, o Prêmio da Fundação José Manuel Lara ao livro mais
vendido. Nos Estados Unidos, a premiação Borders Original Voices Award e
New York Public Library Book to Remember. Na França, o Prêmio de melhor
livro estrangeiro. Na Holanda, o Prêmio dos Leitores. No Canadá, o Prêmio dos
livreiros de Canadá/Quebec. Na Bélgica, o Prêmio de melhor livro do ano
(2006) e em Portugal, o Prêmio Varzim de Povoa. Consultado em 25 de junho
de 2012, às 23:00h.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 111
notada a presença de um autor brasileiro, na Livraria da Travessa, com
Luiz Alfredo Garcia-Roza, que aparece na sexta posição dos mais
vendidos. Surpreendentemente, a mesma livraria traz entre os seus cinco
primeiros a obra Ulisses, de James Joyce, autor pouco apreciado pela face
popular dos leitores comuns e que, seguramente, podemos classificar
como Grande Literatura, pois, além de carregar a tradição, modifica-a e
imprime ao texto escrito uma nova versão.
Para a maior parte das obras, o que se pode afirmar é que refletem o
molde do livro A Cabana, sucesso imediato, milhões de vendas e o
encantamento profundo dos leitores, que mudará de apreciação de acordo
com a preferência do momento. É o caso da obra de Pe. Marcelo Rossi e
os títulos A Escolha - Até onde devemos ir em nome do amor? e O Melhor
de mim – o Primeiro amor deixa marcas para a vida inteira, do celebrado
autor americano Nicholas Sparks.
O que triunfou?
Diante do quadro exibido até aqui, o que podemos rastrear a partir das
listagens, para compor o raciocínio sobre uma possível crise na/da
literatura? Uma primeira observação consiste na comprovação do
significativo número de traduções, como já observado anteriormente, mas
também é possível contabilizar um grande interesse despertado por textos
em prosa, uma vez que não há, em nenhuma das três livrarias, evidências
de poemas, entre os gêneros mais vendidos.
Do ponto de vista do conceito de literatura admitido por João
Alexandre Barbosa, são aceitáveis as obras de James Joyce, Ian Mcewan e
do brasileiro Luiz Alfredo Garcia-Roza17. As demais obras versam acerca
17
Conforme sentencia Márcia Abreu, o conceito de literatura está ajustado em
fatores externos à obra literária e não baliza a literatura apenas aos elementos
componentes do sistema literário postulado por Antonio Candido. A autora
afirma que uma obra não surge literária. Para chegar à consagração, ela
necessita passar por um processo: “Para que uma obra seja considerada Grande
Literatura ela precisa ser declarada literária pelas chamadas ‘instâncias de
legitimação’. Essas instâncias são várias: a universidade, os suplementos
culturais dos grandes jornais, as revistas especializadas, os livros didáticos, as
histórias literárias etc. Uma obra fará parte do grupo seleto da Literatura quando
for declarada literária por uma (ou, de preferência, várias) dessas instâncias de
legitimação. Assim, o que torna um texto literário não são suas características
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 112
de necessidades urgentes, como a atualização da nova ortografia e os
anseios sentimentais satisfeitos com os Best-selles ou volumes de
autoajuda. A maior incidência de ofertas em obras “vendáveis” aponta a
preferência dos leitores, pois a regra parece clara: se estão dispostos à
venda, é porque são mais fáceis de comercializar e, se a distribuição é
facilitada, o lucro é imediato. De olho na benesse que pode advir das
vendas, pouco importa ao dono do mercado se as obras em relevância são
os livros traduzidos em detrimento da produção nacional. O interesse
converge, nesse caso, para que o ganho esteja distante do prejuízo.
Do ponto de vista das ideias contempladas no ensaio O direito à
literatura, quando Antonio Candido afere acerca da leitura literária como
uma ocupação estimulante e imperativa para a alma humana e uma
atividade mandatória à formação do indivíduo, posso ser tolerante com os
milhões de livros vendidos, ao cogitar que o leitor estará tendo o direito à
fabulação, independente da qualidade do texto que lhe caia às mãos, pois,
para o crítico, a necessidade da ficção impera independente de estar ou
não diante de um texto. A leitura só amplia este espaço e satisfaz com
maior propriedade à necessidade universal à ficção:
[A] literatura aparece claramente como manifestação universal de
todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem
que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em
contacto com alguma espécie de fabulação. Assim, como todos
sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar vinte e quatro
horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado.
[...] se ninguém é capaz de passar vinte e quatro horas sem mergulhar
no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido
amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade
universal, que poderia ser satisfeita e cuja satisfação constitui um
direito. [...] Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido
um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos
currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e
afetivo. [...] A literatura confirma e nega, propõe a denuncia, apoia e
combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os
problemas. (CANDIDO, 1995, p. 174-175)
O acesso à literatura, pensada por Candido de uma maneira mais
abrangente, constitui uma necessidade e um direito de todos, nas mais
internas, e sim o espaço que lhe é destinado pela crítica e, sobretudo, pela
escola no conjunto dos bens culturais”. (ABREU, 2006, p. 40)
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 113
diversas manifestações impressas ou orais. Contudo, mesmo com o leque
aberto para as diversas manifestações que satisfazem a alma humana, não
há como deixar de questionar sobre o lugar da literatura no mundo
cotidiano? Como não deixar de refletir acerca da omissão da nossa Alta
Literatura nos catálogos de apresentação das livrarias mais famosas e
conceituadas do país? Tais questionamentos sopesam num único caminho:
o exercício do magistério. Resta, pois, aos docentes incumbidos da
disciplina de Literatura de manter vivas as Grandes obras que ilustram a
Literatura universal. É responsabilidade do professor conservar a tradição
entre seus alunos e, portanto, preservar a humanidade de uma destruição
catastrófica, pois, como confirma Vargas Llosa, só o texto pode salvar os
homens da sua insubordinação e da submissão aos impulsos:
Incivilizado, bárbaro, órfão de sensibilidade e pobre de palavra,
ignorante e grave, alheio à paixão e ao erotismo, o mundo sem
romances, esse pesadelo que procuro delinear, teria como traço
principal o conformismo, a submissão generalizada dos seres
humanos ao estabelecido. Também nesse sentido seria um mundo
animal. Os instintos básicos decidiriam a rotina cotidiana de uma
vida oprimida pela luta pela sobrevivência, pelo medo do
desconhecido, pela satisfação das necessidade físicas, em que não
haveria espaço para o espírito e a que, à monotonia sufocante da
vida, acompanharia, como uma sombra sinistra, o pessimismo, a
sensação de que a vida humana é aquilo que deveria ser e que sempre
será assim, e que nada poderá mudar o estado das coisas. (LLOSA,
2009, p. 31)
A relevância para a qual Mário Vargas Llosa chama atenção diz
respeito, também, à necessidade do público em manter a leitura no livro e
não nas telas do computador, conforme propõe o empresário Bill Gates,
mas Llosa adverte para o mal a que estaria exposto o ser humano, se por
acaso a ficção desaparecesse do mundo .
A sintonia de Vargas Llosa e Antonio Candido converge para o
mesmo núcleo, ao que seria inconcebível um mundo sem literatura. Dessa
forma, interessa-nos estender o olhar não apenas nas prateleiras da frente
das livrarias, mas escarafunchar as estantes escondidas, esticar as mãos
para os volumes ocultos e assim promover o encontro com as Grandes
obras, as que ficam, permanecem, são lidas e relidas mediante os séculos.
Ao analisar as obras dispostas à venda como as mais procuradas, no
ano de 2010 e no ano de 2012, arrisco a afirmar que o triunfo ainda se
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 114
deve à literatura, que, embora permaneça escondida entre os sucessos que
mais agradam o público, é neste rótulo que se enquadram os títulos que
recomendaríamos aos filhos e netos e, certamente, aos alunos dos cursos
de letras, responsáveis também pela manutenção dessa tradição e da
perpetuação de nomes que enaltecem nossa história cultural, como
Machado de Assis, José de Alencar, Aluisio de Azevedo, Carlos
Drummond de Andrade, Rachel de Queirós, Clarice Lispector, João
Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, entre tantos que notabilizaram as
letras brasileiras e conferiram, perante sua pena, a formação da identidade
de um povo e, somado a isso, contribuem para sejam perpetuadas as
paixões advindas de uma única fonte: o texto literário.
Finalmente, embora estejamos diante de uma reflexão semelhante a
que Machado de Assis vivenciou em meados do século XIX, é possível
assegurar que, além dos anos de produção literária que afiançam uma
tradição, o movimento literário é incessante e não raro os leitores se
deparam com novos talentos que se responsabilizam pelo triunfo da
Literatura.
IS THE LITERATURE IN CRISIS?
Abstract: In this essay I intend to discuss a controversial issue about the crisis in
and of Literature, from the reflections of Mario Vargas Llosa and Antonio
Candido, and revisit the concept of what Literature is, to be guided by the points
of view of João Alexandre Barbosa, who based their arguments on postulates of
Northrop Frye, Fernando Pessoa and T. S. Eliot. From this theoretical reference, I
intend to debate about the tension between the literary and book trade today in
Brazil, based on research carried out in three bookstores that offer their catalogs
online - Saraiva, Culture and Library Bookstore Lane and, based on data obtained
through the bestseller lists, or more popular books, to conjecture about the
question first proposed: Is there a crisis in Literature? This quest will cover the
whole discussion, based also on the squabble of the end of the book, the
hypothesis thought in the nineteenth century, by Machado de Assis, before the
advent of the newspaper and now by Bill Gattes, owner of Microsoft, who
intends, before his death, to see the end of the book.
KEY-WORDS: Literature, books, readers, book review, book trade.
REFERÊNCIAS
ABREU, Márcia. Cultura letrada: literatura e leitura. São Paulo: UNESP, 2006.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 115
ASSIS, Machado. Obra Completa.. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
BARBOSA, João Alexandre. Literatura Nunca é Apenas Literatura. Disponível
em: <www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_17_p021-026_c.pdf>. Acesso em:
26 mar. 2012.
CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática,
1987.
______. Vários Escritos. São Paulo: Duas Cidades, 2004.
LLOSA, Mario Vargas. “É possível pensar o mundo moderno sem o romance?”.
In: MORETTI, Franco (Org.). A Cultura do Romance. São Paulo: Cosac Naif,
2009. p. 17-32.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 116
A FICÇÃO E A VIDA: ALEGAÇÕES PARA
PENSAR UMA LITERATURA EM CRISE
Juan Pablo Chiappara – UFV 1
RESUMO: Nosso objetivo é reflexionar sobre o momento de crise da literatura e
dos estudos literários para propor pensar em uma forma de escrita e leitura
literárias que, ao mesmo tempo em que corroboram o esgotamento de um
paradigma, supõem a emergência de outro. Se Tzvetan Todorov se refere à
Literatura em perigo e Dominique Maingueneau se detém na análise das causas
do que chama de fim da Literatura, sugerimos deslocar o foco da discussão
propondo o valor intrínseco da ficção em relação à vida humana. Nesse sentido,
remetemos a um debate secular, o da oposição aristotélico-platônica sobre a
função da imitação estética como forma de conhecimento do mundo e da
construção da verdade. Nossa contribuição ao debate gira em torno da discussão
de uma literatura de testimonio, na linha do que propõe Márcio Seligmann-Silva,
a partir de uma concepção de sujeito fraturado que permite entender uma
mudança na forma de representar, resumida na ideia de representação-efeito.
Para concluir, levantamos o problema da relação entre ficção e vida e sugerimos
que a crise pode ser superada se reconhecemos que a elaboração ficcional da
realidade é o que nos tornou e nos torna mais humanos.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Crise. Ficção. Vida.
O que motiva este artigo é o desejo de cercar uma sensação de
mal-estar em relação ao que já há algum tempo é apontado como uma
crise da literatura. Isto significa refletir sobre aquilo que é a nossa
realidade quotidiana, pois a dita crise atinge também os estudos literários
e sua legitimidade e reconhecimento por parte da sociedade e das esferas
do poder em particular.
Segundo Tzvetan Todorov, a literatura está em perigo
(TODOROV, 2007) e, para Dominique Maingueneau, ela atingiu seu fim
(MAINGUENEAU, 2006). Seus argumentos para justificar a crise e o
fim da literatura atingem diferentes aspectos, mas, basicamente, os dois
pesquisadores chegam a uma conclusão semelhante: o poder do texto
literário de intervir na formação do espírito e de colocar os temas que
mobilizam a sociedade como um todo não existe mais como existiu entre
o final do século XVIII e o final dos anos 1970, aproximadamente,
embora a crise em si talvez tenha sido mais visível a partir dos anos 1990.
1
UFV – Universidade Federal de Viçosa. Centro de Ciências Humanas Letras e
Artes. Departamento de Letras. Viçosa – Minas Gerais – Brasil – 36.570-000;
e-mail: juanpablochiappara@ufv.br.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 117
Por outro lado, segundo eles, a crise atinge os estudos literários,
tanto na universidade como no ensino médio, por conta de uma mudança
de paradigma que cria um fosso entre os preceitos teóricos difundidos na
academia, a prática de ensino e a expectativa de um novo tipo de aluno (e
sociedade), cuja sensibilidade, interesses e modos de entender o contrato
de leitura mudaram.
Para Maingueneau, em particular, chega-se ao fim da literatura
pela dissolução do campo literário, isto é, de um sistema fechado no qual
as obras dialogavam e concorriam entre si para saber qual delas propunha
no seu âmago a quinta-essência da literariedade, redefinindo assim o
papel daquilo que devia ser considerado como o rumo a ser seguido a
partir de sua aparição. Para ele, a nova realidade da literatura a faz
funcionar dentro da lógica do que propõe chamar de arquivo e através de
uma prática interdiscursiva que privilegia, cada vez mais, a paródia das
obras do passado ou sua “re-escrita”.
Embora Maingueneau e Todorov façam referência basicamente à
realidade francesa, em vários aspectos sua análise é pertinente para
compreender uma mudança na relação de forças da literatura com as
outras áreas do saber que é útil para se pensar o que acontece no Brasil e
na América Latina. De fato, sempre fizemos parte das margens ocidentais
influenciadas pela estrutura e pelo debate surgido na Europa, ainda que
eles tenham sido atualizados em função de uma realidade local. Prova
irrefutável disso é que o novo regime do literário, sob o qual nos
encontramos, foi, por assim dizer, compreendido e, ao mesmo tempo,
efetivado na prática por um latino-americano, através de uma obra
magistral e de repercussão internacional, que transgrediu a lógica de
influências culturais leste/oeste invertendo-a; referimo-nos à obra de
Jorge Luis Borges, de quem é possível citar como peça-chave e
emblemática dessa mudança de signo na compreensão do fato literário o
texto “Pierre Menard, autor del ‘Quijote’”2, de 1941, que três anos depois
formaria parte do volume Ficciones.3
2
Publicado pela primeira vez na revista “Sur”, em Buenos Aires, em maio de
1939 (RODRÍGUEZ MONEGAL, 1997).
3
A influência de Borges na França se deu através da leitura feita, primeiro, por
Maurice Blanchot, depois por Michel Foucault e Gérard Genette. A partir de
1964, quando foi dedicado à sua obra um n mero da revista de “L´Herne”,
Borges passou a influenciar o pensamento francês e europeu e conseguiu sair
do âmbito do Rio da Prata, onde era conhecido e respeitado desde o início de
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 118
O fato é que, como diagnosticam Maingueneau e Todorov, a
literatura não convoca hoje os temas que mobilizam a sociedade para a
construção dos assuntos que mais lhe interessam; no caso de nossa
América, a latina, cabe dizer que a literatura não mobiliza mais, como o
fizera desde o século XIX de forma contundente, o interesse em tratar da
construção do imaginário nacional e os leitores também não esperam que
ela o faça e não procuram nela o debate daquilo que lhes diz respeito
como sujeitos de uma associação política organizada em torno do Estado.
De forma concreta, pode-se dizer que o que aconteceu no Brasil com o
Modernismo de 1922 e na América de língua espanhola com o boom, ou
ainda, o fenômeno da relação entre literatura e crise político-social-
econômica do último período revolucionário no continente, não pode ser
mais esperado hoje em dia. A literatura não é mais o lugar, ou um dos
lugares, pelo menos, onde se cristaliza o diálogo com os temas que
interessam à maioria.
De forma diferente, o escritor e ensaísta mexicano Jorge Luis
Volpi aborda a questão levantada no livro Mentiras contagiosas (2008),
no qual mistura reflexão e ficção para pensar na condição atual da
literatura latino-americana. As primeiras palavras deste livro, irônicas –
portanto afirmando duas coisas simultaneamente –, assumem a crise e
zombam dela: “Certifico la muerte de la novela. Según los cronistas, el
último ejemplar de esta especie apareció hace cien años: un pobre remedo
de Las aventuras del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha,
perpetrado por un tal Menard (…)” (VOLPI, 2008, p. 11). O autor situa o
texto em 2605, mas esse artifício não esconde que é o nosso presente que
está em jogo neste livro inteligente e raro pela lucidez com que analisa o
contexto atual das letras hispano-americanas e das letras em geral.
Mas é a partir de outro livro deste mesmo autor que pretendemos
desenvolver algumas ideias sobre a relação da ficção e da vida no
contexto do que chamamos de crise da literatura. No livro Leer la mente.
El cerebro y el arte de la ficción (2011), Joge Volpi começa discutindo se
a única função da ficção seria o prazer estético ou se, no final das contas,
ela não serve para nada que seja prático, que modifique nossas vidas
sua carreira, nos anos 1920, mas não necessariamente aceito como uma
unanimidade. Aliás, a revista de “L´Herne’ era dedicada a autores marginais
que causavam controvérsia na sua época. É interessante ressaltar que a
“chegada” da obra de Borges à França é contemporânea à chegada da obra de
Mikhail Bakhtin, que seria traduzido por Julia Kristeva e divulgado por
Tzvetan Todorov, dentre outros.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 119
concretamente. A pergunta aponta para uma relação diferente entre vida e
literatura daquela que vigorava no passado recente; nem supõe a defesa
de uma literatura como regime autotélico de comunicação (tradição
romântica), nem como uma prática de representação meramente imitativa
do mundo (tradição historicista e filológica). Também não supõe o uso do
termo literatura com maiúsculo, como o fazem Todorov e Maingueneau.
Volpi defende a forma ficcional como algo inerente ao
desenvolvimento da condição humana. A partir de suas reflexões, cabe
perguntar-se se, de fato, as ficções não teriam um valor civilizatório,
independentemente do momento histórico e dos paradigmas culturais
vigentes. Com o termo civilizatório buscamos enfatizar um sentido para a
ficção que seja o de forjar civilizações e, ao mesmo tempo, buscamos nos
demarcar do termo civilizador, que traz embutido um critério moral de
superioridade cultural e pode remeter à oposição civilização e barbárie.
Ao propor um caráter civilizatório, propomos entender a ficção como
geradora de cultura no sentido antropológico e etnográfico da palavra,
não somente no seu sentido de instrução ou de um tipo de instrução ao
qual ainda damos tanto valor na nossa sociedade moderno-
contemporânea, que alguns chamam de pós-moderna, embora não nos
identifiquemos com o epíteto, tantas vezes invocado de forma vazia e
superficial.
Nosso objetivo principal é, assim, pensar na importância da
ficção nas sociedades humanas, para além do momento de crise de
paradigma pelo qual passa a instituição literária, mas também em relação
a ele.
Volpi, ao colocar no centro da discussão a ficção, não a literatura
(embora seja a expressão literária ficcional a que mais lhe interessa),
desloca o problema colocado por Maingueneau e Todorov e nos remete
inequivocamente, ainda que sem fazer menção explícita, à discussão
secular entre Aristóteles e Platão, que ecoa até hoje em nosso universo
cultural e em nossa organização do saber.
Como o apontara Jorge Luis Borges em Otras inquisiciones, de
1952, ainda é possível se dizer que: “(...) todos los hombres nacen
aristotélicos o platónicos.” (BORGES, 2005, p. 143). Esta apreciação tem
um alcance amplo, mas vamos tentar compreendê-la na relação que
queremos estabelecer entre a ficção e a vida.
Segundo Luiz Costa Lima (2000, p. 36), para Aristóteles a
imagem que contém a obra de ficção não é verdadeira, mas sim
semelhante ao mundo imitado. Dita imagem ficcional, no entanto, não
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 120
supõe uma falsidade, mas inaugura no mundo, através da obra de arte, um
estado intermediário entre o verdadeiro e o falso, entre o ser e o não ser.
Como escrevera Aristóteles na Poética: “Queda claro por lo dicho
anteriormente que no es oficio del poeta contar las cosas como
sucedieron, sino como deberían o podrían haber sucedido (…).”
(ARISTÓTELES, 2004, p. 55). Por isso, para o grego, a literatura tende a
representar o universal, enquanto a história, que conta os fatos em si,
representa o particular: “Dar una idea de lo universal de las cosas
significa que cierto tipo de personas dirán o harán determinadas cosas,
conforme las circunstancias o a la urgencia de la situación dada; en lo
cual pone su mirada la poesía.” (ARISTÓTELES, 2004, p. 55-56) O
poeta, o fazedor de ficções, pode imitar coisas conhecidas do mundo, mas
também pode inventar; o que o poeta faz, no final das contas, é criar
imitando.
Por outro lado, para Aristóteles a arte supõe também um
elemento fundamental que contribuiu à formação do cidadão; a
aprendizagem da vida não se limita, segundo ele, a uma habilidade
técnica ou a um conhecimento conceitual, mas se precisa vivenciar a
experiência da arte para entender algo que só esta forma de expressão
humana oferece. A ideia é que a trama da vida somente pode ser
entendida se se convive com o “engano” ou com as “mentiras” que
contam as histórias de ficção; dito com outras palavras, esse “engano” e
essas “mentiras” são a representação do universal, daquilo que deveria ou
poderia ter sido ou ser e não daquilo que necessariamente é. Essa
ampliação do espectro de possibilidades dá a quem convive com as
ficções a possibilidade de ampliar seu repertório do possível para poder
entender o concreto da vida cotidiana, o particular.
Na tradição socrático-platónica, ao contrário, se considera que o
exercício da arte e da representação é perigoso porque poderia levar o
cidadão a se inclinar diante da mentira, do engano e do fingimento,
características dadas como inerentes à linguagem ficcional. Isto
distanciaria o homem daquilo que realmente importa para a construção da
sociedade política. Em A República (1997), Platão abomina a imitação e a
narração que não sejam “simples”, como ele diz, isto é, que não reportem
apenas o conteúdo e encenem no seu cerne o discurso reportado; em
suma, Platão se opõe ao “como se” aristotélico.
O embate entre esses dois pilares da nossa tradição filosófica nos
conduz a outro problema que, atualmente, alimenta a crise da literatura.
Trata-se de uma questão de ordem totalmente diferente do problema
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 121
teórico que tenta dirimir sobre a passagem de um regime literário que não
estaria mais sob o funcionamento de um campo, mas sim sob a influência
de um arquivo, noção que visa dar conta de uma superação dos limites
disciplinares da literatura fixados a partir da estética romântica. O
problema ao qual fazemos menção agora tem um ponto de contato com
essa questão, mas vem, por assim dizer, de fora do âmbito da literatura
em si: ele vem de uma área discursiva cujo locus de enunciação é a
sociedade industrial e as instituições que sustentam a máquina do que se
conhece como o progresso econômico e tecnológico. Este problema
permite entender, pelo menos parcialmente, o que Todorov e
Maingueneau apontam, a saber, por que a sociedade não adere mais como
o fez no passado à forma literária de elaborar os problemas que mais lhe
interessam.
O que Platão levanta como argumento filosófico, mas também
prático, parece estar presente hoje como argumento político de uma
sociedade demasiado pautada pela obsessão dos rendimentos e dos
lucros, inclusive em termos de conhecimento humanístico. Parodiando
Borges, podemos dizer que, com efeito, todos os homens nascem
aristotélicos ou platônicos.
Por outro lado, a crise atual de uma literatura que vigorou até
relativamente há pouco tempo também está ligada à segregação e à
discriminação que sofre atualmente a área das Letras na organização do
saber, em particular dentro das universidades. Se bem é necessário
entender que o mercado editorial é cada vez maior e que se vendem cada
vez mais livros, outro problema, ao se falar de crise, é que o
establishment que organiza o que vale a pena saber ou não vê a literatura
cada vez como menos necessária para compor a verdade que interessa a
nossa sociedade (obcecada pelo saber tecnológico) e, em decorrência
disso, vê aqueles que dedicam sua vida à leitura profissional (os
professores dos departamentos de Letras das universidades, por exemplo)
como figuras cada vez mais desnecessárias e cada vez mais pitorescas,
num contexto onde o que interessa à grande maioria é o progresso da
física, da química, da biologia, da medicina e, curiosamente, da
administração e do direito, que organizam o capital e o crime.
Volpi é aristotélico e zomba desta visão quando, ironicamente,
arremete contra as ficções literárias e a teimosia do ser humano antes do
século XXVII da nossa era:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 122
¿Cuánto hubiese avanzado la humanidad si, en vez de malgastar sus
energías con estos delirios, las hubiesen invertido en tareas más
provechosas? (...) ¿De qué manera se hubiese acelerado nuestro
desarrollo económico, nuestra civilidad política, nuestra andadura
tecnológica? Pero nuestros ancestros padecían una predisposición
natural hacia la mentira. (VOLPI, 2008, p. 12).
Por mais que se façam discursos, ocos, a ideia de progresso que
se tem desde as esferas governamentais e do mundo empresarial (cada
vez mais identificados um com o outro) é a que Volpi ironiza no
fragmento citado. O que conta para nossas autoridades, que representam à
sociedade, é aquilo que parece concreto: a quantidade de parafusos que se
fabricaram no final do dia para que a nação possa se sentir cada vez
maior (uma obsessão, entre nós), deixando para algum futuro cada vez
menos credível o sonho (se é que ainda se sonha sinceramente com isso)
de ser cada vez um pouquinho melhor. A ironia de Volpi denuncia um
cenário possível no futuro, no século XXVII ou bem antes, no século
XXI.
Pois bem, na contramão dessa atitude, queremos defender que o
fictício e o ilusório são mecanismos fundamentais para a constituição do
ser humano, como um ser produtivo, racional, lógico e são, mental e
socialmente falando. Como dizia Aristóteles, a imitação que se produz na
arte contribui com a construção da verdade. E é possível acrescentar que
aquilo que é verdadeiro não é necessariamente demonstrável, como
Guillermo Martínez faz dizer a um de seus personagens no romance
Crímenes Imperceptibles (MARTÍNEZ, 2011), mecanismo básico, aliás,
da ciência matemática e da física mais ousada. O saber sempre funcionou
a partir de modelos que são revistos ad-infinitum, já que sua
comprovação é, muitas vezes, impossível. A dizer verdade, a ciência é, e
seguirá sendo, uma longa lista de erros corrigidos e é esse seu ponto de
contato com o saber literário; não porque este busque corrigir erros (é
totalmente outra a lógica de sua existência), mas sim porque como forma
de saber busca o conhecimento a partir de uma tradição acumulada, como
o pensou Borges no conto “La biblioteca de Babel” (BORGES, 1999).
Com efeito, a verdade não pode ser (e nunca será) erguida apenas
com material colhido da reflexão positivista à qual a doxa dominante quer
nos obrigar a aderir, seja através da oferta de trabalho, seja através da
lógica da distribuição de fundos para a pesquisa, seja através de qualquer
outro mecanismo de exclusão social que atinge o saber literário na
atualidade. Assim como o sono é fundamental para estarmos vivos e
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 123
ativos na vigília, a ficção colabora com a construção da verdade e daquilo
que chamamos de nossa realidade. Ela nos ajuda a pensar a sociedade que
queremos, distanciando-nos de uma obsessão pelo mercado da oferta e da
demanda e do meramente quantitativo.
Volpi é aristotélico porque para ele a ficção nos faz
autenticamente humanos. Mas seu argumento não consiste em afirmar
que somente aqueles que lêem ficções são humanos ou mais humanos, e
sim que nós e eles também, somos seres de razão, como nos
autodenominamos, e somos também, inerentemente, seres de ficção. Para
Volpi, a arte e a ficção são ferramentas evolutivas que desde o início dos
tempos tem nos ajudado a sobreviver e nos converteram nisso que demos
em chamar homens. Dito com suas palavras: “El arte no es solo una
prueba de nuestra humanidad: somos humanos gracias al arte”. (VOLPI,
2011, p. 15) Poderíamos acrescentar que as sociedades que excluem de
suas práticas o contato com a ficção podem se tornar cada vez menos
sensíveis ao aniquilamento do outro.
***
A crise da literatura tem como causa também uma mudança
conceitual do sujeito e por consequência uma mudança conceitual da
representação. No que diz respeito à compreensão do texto literário,
nosso tempo superou tanto a tradição realista quanto a subjetivista e,
como bem o diz Luiz Costa Lima, hoje nos perguntamos sobre a
existência de um sujeito fraturado e de uma representação-efeito.
Muito tem se falado de um caráter de indecidibilidade (da
impossibilidade de decidir definitivamente sobre o significado de um
macroenunciado, uma obra literária), ainda que Costa Lima prefira falar
de interminabilidade do sentido (COSTA LIMA, 2000, p. 398). Esta se dá
pela certeza de que a consciência do sujeito fraturado é um efeito da
leitura do mundo, não o mundo. O real não se apresenta na nossa frente
como algo óbvio e dado, mas o real é isto e aquilo, algo que é construído,
algo frágil e inacabado, como o próprio sujeito.
A obra literária se apresenta como um fragmento do real e como
tal ela não é a representação de um estado de coisas anterior a ela, nem é
uma realidade paralela ou imanente. Ela é o resultado de uma atividade
de discurso na qual a performatividade do ato criativo lhe confere a força
que qualquer ato enunciativo tem para transformar o contexto e o ethos
do seu enunciador, o qual se forja em cada uma das obras que um escritor
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 124
produz. O sujeito escritor inscreve um sujeito enunciador e ambos se co-
constroem ao passo que constroem uma peça possível do quebra cabeça
do mundo, a obra, cujos contornos vão variar de leitor para leitor e seu
encaixe no todo será absolutamente relativo.
É evidente que isto supõe uma concepção de sujeito que nos torna
capazes de compreender que a ficção não é um artigo suntuoso, mas
também não é um produto apenas mercantil no mercado de bens
culturais, tão descartável como uma lata de alumínio ou uma garrafa pet,
embora tão reciclável quanto estas.
A noção de sujeito fraturado nos permite pensar em uma forma
de escrita literária que propõe um novo rumo dentro da tradição (sem
excluir outros), cavando assim a possibilidade de construir uma nova
realidade tanto para a literatura em tanto que prática, como para os
estudos literários em tanto que disciplina.
Gostaríamos, assim, de fazer referência a todo um corpus que
coloca a dupla vocação do texto ficcional e contribui para abrir novos
espaços de produção ficto/literária: a literatura de testemunho.
Ela narra fatos históricos traumáticos através de um relato
elaborado a partir da memória e da invenção do sujeito, que lembra e
escreve para tentar achar a verdade, embora saiba que provavelmente não
a encontrará. No entanto, dito sujeito se recusa a desistir diante da
possibilidade de armar um relato plausível daquilo que viveu e não o
deixa descansar por estar profundamente vinculado a um passado
traumático. No tipo de literatura de testemunho ao qual fazemos
referência a trama da obra (da ficção) ajuda o autor e o leitor a enfrentar a
vida, o choque que encripta a realidade e dificulta o trabalho de luto
(SELIGMANN-SILVA, 2005, p 72).
Este gênero ao qual fazemos referência é híbrido e nossa forma
de entendê-lo segue a linha do que Márcio Seligmann-Silva propõe com a
noção de testimonio em O local da diferença (2005). Não devemos
confundi-lo com a literatura de denúncia nem com a autobiografia. Trata-
se da construção do passado a partir de uma memória que se sabe
fragmentada, mas que preenche com a criação os vazios deixados pelo
relato histórico, assim como preenche os interstícios da memória
fragmentada com a imaginação, de um ponto de vista em que o sujeito,
longe de se considerar uno e todo-poderoso na sua capacidade de captar a
realidade, sabe-se, ao contrário, também fraturado.
Ao mesmo tempo em que este sujeito se reconhece a si mesmo a
capacidade parcial de conhecer a realidade (um sujeito anticartesiano,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 125
portanto, que ainda não influenciou a forma de entender e de organizar a
realidade e o saber nas esferas que tem o poder de decidir, tanto no
âmbito da universidade, quanto no âmbito estadual e federal), também
sabe que o objeto observado, a história da qual ele foi protagonista, é o
objeto de sua narração e também se dá a conhecer, inclusive para ele, de
forma parcial e subjetiva, conforme o novelo da escrita vai desenredando
os fios da memória. Portanto, estamos diante de um tipo de mímesis que
mais do que uma forma de representação clássica, deve ser entendida
como uma representação-efeito, a expressão (não a impressão) de uma
cena anterior e impossivelmente objetiva4.
Obras literárias que exemplificam este tipo de escrita, que
tematiza a tensão clássica entre ficção e realidade, são comuns na
tradição europeia posterior à ascensão do extermínio massivo e
sistemático não só de seis milhões de judeus, mas também de mais de
quinhentos mil ciganos húngaros, de crianças alemãs que não
pertenceriam ao que se definiu como a raça ariana, de doentes mentais,
ou da prática de esterilização de pessoas consideradas como peças de uma
raça imperfeita e inferior. A obra prima deste gênero provavelmente seja
É isto um homem?, de Primo Levi (1988), onde “descreve” sua
experiência dos Campos de Concentração nazistas, mas onde, sobretudo,
desenvolve um texto sobre a ética dessa microssociedade, tomada como
paradigma e parâmetro de julgamento da sociedade nazi-nacional-
capitalista como um todo.
Uma obra mais popular (muito lida até os anos 1970), ainda que
menos contundente, é o clássico Diário de Anne Frank (2010), belo
exemplo de como a literatura e a ficção cumprem a função salvadora de
vidas, assim como cumprem a função de humanizar pessoas cuja
condição humana está seriamente ameaçada.
Ambos os livros, dentre muitos que compõem um vasto corpus,
fundam um limiar (não uma fronteira), que funde ficção e vida. E é nesse
sentido que este tipo de escrita ficto-literária empurra uma forma
canônica de ler literatura para um novo território onde a condição estética
do texto literário não pode se furtar aos apelos éticos não apenas deste
tipo de literatura, mas também o que pode ser detectado nos textos
consagrados pela tradição. Quando Márcio Seligamann-Silva defende o
conceito de teor testemunhal como chave de releitura da literatura do
século XX, fala, em outras palavras, da necessidade de uma mudança
4
Pensamos na oposição do expressionismo alemão e do impressionismo francês.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 126
epistemológica que decorre das necessidades impostas pelas catástrofes
humanitárias que marcaram de forma iniludível as sociedades no século
XX e que não parecem estar prestes a atingir seu fim (SELIGMANN-
SILVA, 2005, p. 78).
Do mesmo modo, há todo um corpus na literatura latino-
americana que surge da experiência de violência de Estado perpetrada por
nossos compatriotas uma ou duas gerações anteriores à nossa.
Dentro do trabalho de pesquisa que desenvolvemos, podemos
citar como uma nova forma de inscrição no horizonte da escrita literária
pós-crise, uma obra que explora os limites entre realidade e ficção.
Referimo-nos à obra do escritor uruguaio Carlos Liscano, que esteve
preso no cárcere da ditadura militar uruguaia, de 1972 a 1985, entre seus
23 e 36 anos de idade, tornando-se escritor no presídio.
Liscano se torna escritor como forma de resistência a um
processo sistemático de aniquilação perpetrado pela ditadura. A ficção,
não a realidade, salva este homem do extermínio e da loucura. Liscano,
consciente ou inconscientemente, pôs em funcionamento um mecanismo
tão antigo como a humanidade, mecanismo que Volpi descreve da
seguinte forma: “(...) reconocer el mundo e inventarlo son mecanismos
paralelos que apenas se distinguen entre sí.” (VOLPI, 2011, p. 16). O que
faz Liscano, numa situação de absoluta falta (o preso não tem que
ascender a luz, esquentar água, fazer o nó da gravata, telefonar, abrir a
geladeira, ligar o rádio, trancar a porta, dar um abraço, etc.), é se projetar
nas ficções que leu no presídio, onde havia uma biblioteca feita com
livros doados por familiares dos presos. O resultado é uma obra na qual
palpita uma tensão constante entre uma vontade de ficção e um
testemunho involuntário.
Vamos colocá-lo de forma simples e direta: Liscano sobreviveu
porque viveu como um ser de ficção. No final de 1980, quando numa
época de castigo (que durou meses) começou a escrever seu primeiro
romance na solitária, sem papel e sem lápis, Liscano não estava fazendo
uma obra literária que pudesse deslocar a situação do campo literário,
mas realizava uma inscrição (mental, que depois transcreveria na sua
cela, às escondidas) que vários anos depois, veria a luz sob a forma de um
livro intitulado La mansión del tirano (1992). Este romance intempestivo
se infiltra no domínio da ficção e corrói as fronteiras clássicas da divisão
de gêneros testemunhal e ficcional. Da experiência do choque e do
trauma surge um desencontro com o real e, por este viés, um encontro
com a ficção, tanto no sentido lato da palavra, isto é no sentido de
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 127
fingimento, quanto no sentido restrito da mesma, isto é no sentido de
inventar/criar.
Obras como as de Carlos Liscano conseguem perfurar a divisória
que por vezes ainda teima em defender uma Literatura com maiúsculo de
uma literatura sem pedigree e conseguem afastar a noção de crise e fim
para debruçar-se no trabalho propositivo de construir as bases de uma
nova ordem literária. Que não se espere, no entanto, que ditas obras
consigam estabelecer o vínculo com a sociedade que antigamente
caracterizava ao regime literário. Nesse sentido, a crise e o fim são, é
preciso reconhecê-lo, um fato consumado no nosso presente e não se
voltará ao regime anterior tentando se adaptar ao suporte virtual, por
exemplo. Não é disso que se trata.5
E, no entanto, La mansión del tirano, assim como a obra de
Liscano em geral, é indubitavelmente da maior significância para
entender não só uma forma nova de se fazer literatura no Uruguai e no
continente, mas também uma forma de compreender o que aconteceu nas
nossas sociedades nos últimos cinquenta anos. Apesar disso, é possível
afirmar, não sem certa tristeza (porque vemos aquilo que se perde), que
dita obra não tem tido nenhuma influência na sociedade uruguaia
contemporânea como um todo.
Esse isolamento é real também em relação à capacidade de
incidir em outros escritores e influenciar suas obras, o que prova
cabalmente a desaparição daquilo que foi chamado de campo literário;
mas o isolamento também é real em relação ao debate social que se
desenvolve em torno da questão da ditadura e dos esforços que têm sido
feitos por parte da sociedade e por parte dos governantes para elaborar o
passado do período ditatorial e pós-ditatorial, momentos-chave na história
da segunda metade do século XX uruguaio, que tanto influenciam hoje a
realidade social e econômica, assim como influencia de forma
determinante a forma de imaginar a nação.
5
Experiências dessa ordem, como a que fez Paul Auster com seu último livro –
Diario de Invierno – (por sinal, uma obra talvez classificável como de
testimonio), lançado primeiro na internet, depois em espanhol na Espanha e
ainda não lançado em inglês nos Estados Unidos de América, são interessantes,
mas não mexem com a estrutura do regime atual do literário, por enquanto
ainda ligado fortemente ao salto tecnológico que significou, há alguns séculos,
a invenção da imprensa e a reprodução em série do livro.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 128
É curioso observar ainda que a obra de Liscano tem despertado o
interesse de especialistas no mundo todo e inclusive no mercado do livro
francês, língua para a qual foram traduzidas todas suas obras, sendo a
última delas publicada apenas na França até o presente momento6. Apesar
desse sucesso comercial num grande centro de confluência e
disseminação cultural como a França, a obra de Liscano não tem
suscitado o debate que uma obra com essa repercussão suscitaria no
Uruguai algumas décadas atrás quando a literatura ainda era o lugar onde
se diziam coisas que importavam ao debate social.
Evidentemente, a falta de penetração da obra de Liscano na
sociedade uruguaia não supõe uma má qualidade literária da mesma, mas
fala claramente da situação da literatura no cenário atual. O que mobiliza
e comove à sociedade, o que suscita o debate não é o discurso literário,
mas outras áreas do discurso como ser o jornalístico, o publicitário e o
mediático, em geral. Prova disso pode ser o fato de um livro como
Milicos e tupas, do jornalista uruguaio Leonardo Haberkorn (2011), ter
suscitado cinco re-edições entre maio e julho de 2011. As pessoas se
interessam em ler sobre o assunto da ditadura militar, tema que os
uruguaios ainda estão por compreender e digerir para poder seguir
enfrente. Mas não é o modo literário de tratamento desse assunto (por
mais direta ou indireta que seja sua aparição em obras literárias como as
de Carlos Liscano) o que concita a cidadania, tal como acontecera no
passado.
A literatura torna-se cada vez mais uma questão de especialistas e
entre o grande público suscita cada vez mais desconfiança aquele escritor
que não visa (ou não alcança) o grande mercado editorial e aquele leitor
que cultua uma escrita sofisticada, que relacione discursos literários ou
não, mas que, em última instância, requeira, para sua exegese, de um
conhecimento que não tem status na sociedade capitalista contemporânea.
***
Mesmo reconhecendo que a relação de forças entre a instituição
literária e a sociedade tem mudado de forma contundente, acreditamos
que o modo ficcional e a vida são indissociáveis e que há margem na
literatura e nos vários modos da ficção de lançar pontes com a existência
6
LISCANO, Carlos. Le lecteur inconstant suivi de Vie du corbeau blanc.
Tradução de Martine Breuer e Jean-Marie Saint-Lu. Paris: Belfond, 2011.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 129
em sociedade para contribuir com o sucesso das relações humanas, para
estimular a tolerância e aceitar, gostando ou não, a diferença que nos
separa do outro. A ficção cumpre papel preponderante nesta tarefa porque
sempre transforma a vida e abre possibilidades de converter-nos em
outros, menos chatos e menos donos da verdade do mundo.
Vale a pena se deter na seguinte pergunta: o que é a ficção, no
final das contas, e como ela se dá na condição humana?
No livro El concepto de ficción, Juan José Saer (2004) afirma que
a ficção não é o contrário da verdade, não é a mentira, nem o falso. Ela é,
e nesse matiz cabe toda a diferença, uma forma de tratamento da
realidade. Saer também é aristotélico. E, segundo ele, dita forma de
tratamento reconhece, de antemão, a fragilidade de qualquer relato que,
desde o vamos, se pretende objetivo e soberano no que se refere à
possibilidade de dar conta da realidade.
Como diz Volpi (2011, p 60), é o como se do universo imaginário
de uma obra de ficção o que nos permite entender o como se que nos leva
a assumir que a realidade é também uma construção de linguagem. Estes
dois como se não diferem tanto e suas águas nunca mansas costumam se
misturar em nosso emaranhado de ideias e ainda mais no sonho.
Se a ficção se parece com a vida cotidiana é porque a vida
cotidiana também se parece com a ficção. Ficção etimologicamente é
fingir, que é próprio tanto da literatura como da vida. Ademais, em última
instância, o mecanismo cerebral por meio do qual somos capazes de
conceber alguém inexistente (um personagem, um cenário, um tempo, um
lugar imaginários) é paralelo e essencialmente igual ao que nos permite
ter uma ideia do outro em sociedade. Ambos, o personagem e você, estão
feitos da mesma matéria: de ideias, de linguagem, de imagens. (VOLPI,
2011, p. 19).
É necessário que fique bem claro: a mente humana aborrece a
mentira; ela é adicta à ficção. Por isso, enquanto estamos diante de um
relato ficcional (filme, romance, conto, ópera, etc.) suspendemos nosso
juízo de realidade e o relato se torna real. Isto é verdade e quiçá valha um
argumento banal como é o de constatar que os relatos de ficção são tão
antigos quanto o é a humanidade, assim como os relatos míticos e os
religiosos. Em resumo, não lemos ficções apenas para nos divertirmos; a
ficção não é um luxo; sua função na cultura humana está ligada à
necessidade de nos identificarmos com outros e de nos inventarmos a nós
mesmos. Por último, ela também cumpre uma função vital para tratar a
realidade cotidiana e para lidar com a doença, com a morte, com a inveja,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 130
com o ciúme, com o medo do dentista, com a tortura física dos cárceres
políticos ou não, com a câmara de gás, com o forno crematório, com o
desengano com o outro, com a angústia que arremete sem avisar e, assim
o esperamos, como multiplicador da felicidade.
O modo ficcional, na verdade, pertence à constituição do ser
humano e faz parte de sua formação paulatina como pessoa. Quem viu
crescer uma criança pode dar fé desse mecanismo. As crianças crescem
num mundo de ficção onde os objetos e as pessoas cumprem uma função
real que lhes permitem se constituir em sujeitos, conforme vão se
identificando com personagens e com objetos que possuem propriedades
mágicas e fantásticas, mas que permitem à criança construir um sentido
de realidade para se inserirem com sucesso na sociedade adulta. Aliás, a
criança que é privada deste tipo de atividade não se desenvolve
intelectualmente tão bem quanto aquela que passa por esta etapa de forma
ótima.
A criança vive num limiar, espaço e tempo de um ritual de
passagem, onde se entrelaçam realidade e ficção. Nesse limiar se torna
uma pessoa – cria sua máscara – e esse processo emana da confluência de
práticas cotidianas de brincadeiras e relacionamentos com o entorno,
ambas filtradas por uma prática ficcional que seria difícil não qualificar
de inata, isto é, própria do funcionamento do cérebro humano,
independentemente da cultura da criança, ainda que esta seja fundamental
para acolher esse funcionamento ficcional inato e guiá-lo segundo suas
pautas e tradições.
Nesse sentido a capacidade de ficção não difere da aptidão à
linguagem, que sendo também inata deve ser acolhida por uma cultura
para se desenvolver. Na infância, a ficção se manifesta em absolutamente
tudo, seja ao brincar, ao comer, ao passear, ao se mexer cotidianamente
no universo familiar, ao tomar banho, etc. Na idade adulta, a ficção se dá
dentro de certos modelos culturais, que na nossa sociedade ainda são a
leitura de obras ficcionais, o cinema, o teatro, dentre outros.
Ademais, o papel da ficção é fundamental na construção do eu.
Se observarmos a criança, veremos que a formação de sua identidade está
intimamente ligada a ela. Ser eu, ser você, significa se imaginar, se
construir. O eu é, assim, a construção de uma ficção. Como bem o lembra
Volpi, o eu não corresponde a nenhuma estrutura anatômica e não se
encontra em nenhuma parte do cérebro (VOLPI, 2011, p. 61). A
consciência e o eu se dão no âmbito das ideias e não no âmbito dos
neurônios e suas conexões. Assim, pode-se dizer que estamos feitos da
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 131
mesma matéria que estão feitos os personagens de ficção: estamos feitos
de ideias. E, de fato, quem viu como se produz o crescimento de um ser
humano, percebe que o eu é algo que se constrói numa relação social e
que não é algo inato. O mesmo acontece com a consciência, que evolui à
medida que o cérebro se desenvolve fisicamente, mas também à medida
que o indivíduo vai aumentando suas experiências sociais.
Dessa maneira, é possível concluir, junto com Volpi, que o eu é
um romance que escrevemos lentamente com a colaboração dos outros
(VOLPI, 2011, p. 73).
Pouco importa se a literatura perdeu o poder social de impactar
vidas. O que devemos entender e fazer entender pelo menos a nossas
autoridades políticas, tão marcadas pelo nosso tempo – marcado pelo
quantitativo, pelo tecnológico e pelo capital –, é que existe um arquivo
literário milenar que é acrescido dia a dia e deve ser considerado como
um patrimônio da humanidade onde leitores profissionais se debruçam ao
longo de uma vida acadêmica voltada ao ensino e à pesquisa contribuindo
com o desenvolvimento humano, tão necessário, inclusive, para fabricar
parafusos, formar administradores, engenheiros e advogados.
A crise da literatura não é a crise da ficção porque esta é tão
humana quanto é a linguagem, a qual não saberia representar o mundo
sem o artifício do fingimento e a invenção da realidade e da verdade.
FICTION AND LIFE: ALLEGATIONS TO REFLECT
UPON A LITERATURE IN CRISIS
Abstract: Our objective is to reflect upon the present crisis undergone by
Literature and Literary Studies to propose rethinking a new form of literary
writing and reading encompassing both the exhaustion of a paradigm and the
emergence of another. While Tzvetan Todorov refers to Literature in danger of
extinction, and Dominique Maingueneau focusses on the analysis of the causes
of the so-called end of Literature, Jorge Volpi changes the focus of discussion by
emphasizing the intrinsic value of fiction to human life. Thus, he engages in a
secular debate, previously signaled by Jorge Luis Borges, that of the Aristotelic-
Platonic opposition on the function of the aesthetic imitation as a form of
knowledge of the world and construction of Truth. Our contribution to this
debate is the discussion of a Testimonial Literature, following the line proposed
by Márcio Seligmann-Silva, based on the concept of a fractured subject that
allows understanding change in the form of representation, summarized in the
idea of ‘representation of recriation’, as proposed by Luiz Costa Lima. In
conclusion, we dialogue with Juan José Saer and Jorge Volpi on the relation
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 132
between fiction and life, and suggest that the crisis can be overcome as we
become more and more human.
Keywords: Literature. Crisis. Fiction. Life
.
REFERÊNCIAS
ARISTÓTELES. Poética. Buenos Aires: Ediciones Libertador, 2004.
BORGES, Jorge Luis. Ficciones. Madrid: Alianza editorial, 1999.
BORGES, Jorge Luis. Otras inquisiciones. Buenos Aires: Alianza Emecé, 1993.
COSTA LIMA, Luiz. Mímesis: desafio ao pensamento. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 2000.
FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. Rio de Janeiro-São Paulo: Record,
2010.
HABERKORN, Leonardo. Milicos y tupas. 5. ed. Montevideo: Fin de siglo,
2011.
LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução Luigi del Re. Rio de Janeiro: Rocco,
1988.
LISCANO, Carlos. La mansión del tirano. Montevideo: Arca, 1992.
MAINGUENEAU, Dominique. Contre Saint Proust ou la fin de la Littérature.
Paris: Belin, 2006.
MARTÍNEZ, Guillermo. Crímenes imperceptibles. Buenos Aires: Booket, 2011.
PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Editora Nova
Cultural Ltda., 1997.
RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir. Ficcionario. Una antología de sus textos.
México: Fondo de Cultura Económica, 1997.
SAER, Juan José. El concepto de ficción. Buenos Aires: Seix Barral, 2004.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. O local da diferença. Ensaios sobre memória,
arte, literatura e tradução. São Paulo: Ed. 34, 2005.
TODOROV, Tzvetan. A Literatura em perigo. Tradução de Caio Meira 2ª ed.
Rio de Janeiro: DIFEL, 2009. Trad. Caio Meira.
VOLPI, Jorge. Mentiras Contagiosas. Madrid: Páginas de espuma, 2008.
VOLPI, Jorge. Leer la mente. El cerebro y el arte de ficción. México: Alfaguara,
2011.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 133
BIBLIOGRAFIA
BLIXEN, Carina. Palabras rigurosamente vigiladas. Dictadura, lenguaje,
literatura. La obra de Carlos Liscano. Montevideo: Ediciones del Caballo
perdido, 2006.
CHIAPPARA, Juan Pablo. Ficciones de vida. La literatura de Carlos Liscano.
Montevideo: Ediciones del Caballo perdido, 2011.
LISCANO, Carlos. El método y otros juguetes carcelarios. Stockholm:
Författares Bokmaskin, 1987.
LISCANO, Carlos. Memorias de la guerra reciente. Montevideo: Trilce, 1993.
LISCANO, Carlos. El charlatán. Montevideo: Cal y Canto, 1994.
LISCANO, Carlos. Miscellanea observata. Montevideo: Cal y Canto, 1995.
LISCANO, Carlos. El camino a Ítaca. Montevideo: Cal y Canto, 1997.
LISCANO, Carlos. El informante. Montevideo: Trilce, 1997.
LISCANO, Carlos. La ciudad de todos los vientos. Montevideo: Planeta, 2000.
LISCANO, Carlos. El lenguaje de la soledad. Montevideo: Cal y Canto, 2000.
LISCANO, Carlos. El furgón de los locos. Montevideo: Planeta, 2001.
LISCANO, Carlos. Teatro. Montevideo: Ediciones del Caballo perdido, 2001.
LISCANO, Carlos. Ma famille. Trad. Françoise Thanas. Montreuil-sous-bois:
Éditions Theâtrales Jenunesse, 2001.
LISCANO, Carlos. La sinuosa senda. Montevideo: Ediciones del Caballo
perdido, 2002.
LISCANO, Carlos. Es al ñudo rempujar. Montevideo: Ediciones del Caballo
perdido, 2003.
LISCANO, Carlos. Nulla dies sine linea. Montevideo: Ediciones del Caballo
perdido, 2006.
LISCANO, Carlos. El escritor y el otro. Montevideo: Planeta, 2007.
LISCANO, Carlos. Le lecteur inconstante suivi de Vie du corbeau blanc.
Tradução de Martine Breuer e Jean-Marie Saint-Lu. Paris: Belfond, 2011.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 134
SOBRE A IDADE DAS CRISES: AS INTER-RELAÇÕES SUJEITO-
IDENTIDADE-FEMINISMO NA PÓS-MODERNIDADE
Aparecido Donizete Rossi – UNESP 1
Resumo: O presente ensaio pretende refletir crítica e teoricamente sobre as inter-
relações entre sujeito, identidade e Feminismo no contexto da Pós-modernidade,
contexto esse aqui denominado, para o que se pretende, “Idade das Crises”.
Esses três aspectos serão abordados sob uma perspectiva histórica e
problematizados a partir de um olhar filosófico marcadamente pós-estruturalista,
na linha da Desconstrução derridiana. No conjunto, o que se objetiva
especificamente é chegar a uma discussão da inter-relação indecidível entre
pensamento feminista e Pós-modernidade, uma das configurações das diversas
crises da contemporaneidade. Para tanto, não é possível refletir sobre um e outro
sem uma prévia discussão sobre o sujeito pós-moderno e sua identidade. É essa
discussão que permitirá contextualizar e discutir o Feminismo dentro do objetivo
proposto. Tal discussão será estruturada em torno da palavra “crise” que, em
composição com a palavra “idade”, será tomada como sinônimo de “pós-
modernidade” e de “contemporaneidade”. “Idade das Crises”, “pós-
modernidade”, “contemporaneidade” e “Feminismo” serão lexemas assombrados
pelo fenômeno do phármakon, um dos aspectos-chave do pensamento
desconstrucionista derridiano, o qual será a força gravitacional que aproxima e
distancia, em uma relação indecidível, os quatro lexemas.
Palavras-Chave: Pós-modernidade. Feminismo. Desconstrução. Identidade.
Sujeito.
INTRODUÇÃO
Vivemos em uma época em que filmes como Blade Runner, o
caçador de andróides (1982), de Ridley Scott; O exterminador do
futuro (1984), de James Cameron, e A.I. – Inteligência artificial (2001),
de Steven Spielberg, parecem proféticos, pois a cada instante nos
aproximamos mais de seus contextos. Filmes como Matrix (1999), dos
irmãos Wachowski; Dogville (2003), de Lars von Trier, e Babel (2006),
de Alejandro González Iñárritu, nos colocam diante de nossa própria
condição humana hoje, século XXI, e ficamos impressionados,
estarrecidos ou horrorizados com a desagradável semelhança dessas obras
1
UNESP – FCL-Ar – Departamento de Letras Modernas. Araraquara/SP, Brasil,
CEP: 14800-901. E-mail: adrossi@fclar.unesp.br
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 135
à “realidade” (ou seria a “realidade” que é semelhante a essas obras?). No
final do século XIX e início do século XX, um austríaco chamava essa
“desagradável semelhança” de estranho (umheimliche) e dizia que “o
estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido,
de velho, e há muito familiar” (FREUD, 1969, p. 238).
Atualmente, a literatura dita “séria” permanece no Realismo do
século XIX, mesmo depois de James Joyce, Virginia Woolf, Jorge Luis
Borges e Guimarães Rosa; ou se volta para o hiper-realismo e para o
simulacro, já que talvez nem haja mais possibilidade de literatura pós
Joyce, Woolf, Borges e Rosa. A literatura dita de “diversão”, ou literatura
de massa, ora se volta para os mitos, para o épico, para o gótico ou para a
ficção científica; ora se volta para a autoajuda. E nessa contenda entre
literatura “séria” e literatura de “diversão” os dois lados se esquecem do
velho Horácio, que no século I d.C. já afirmava que qualquer forma de
expressão literária deve servir para docere et delectare. A exceção a esse
esquecimento coletivo parece ser a literatura chamada pós-moderna, uma
espécie de hymen ou fenda entre a literatura “séria” e a literatura de
massa, mas muitos nem mesmo acreditam que algo desse tipo possa
existir haja vista a resistência e polêmica que permanecem ainda hoje em
torno do próprio termo “pós-moderno”.
Em uma era em que “Fonte” (1917), de Marcel Duchamp, está
em exposição no Louvre; Madonna e Michael Jackson já são clássicos da
música pop; Lady Gaga é um fenômeno que impressiona o mundo; os
filmes de Quentin Tarantino e Robert Rodriguez são cult e Paulo Coelho
é um imortal da Academia Brasileira de Letras, o presente texto — menos
um artigo que um ensaio — tenta desenhar um panorama, fazer uma
breve arqueologia, de três aspectos que marcam e contribuem para esse
multiverso de contradições, fragmentos, caminhos cruzados e
distanciados, conexões desconexas e aproximações improváveis que é
chamado pós-modernidade2, os tempos atuais (segunda metade do século
2
Costuma-se fazer uma distinção entre Pós-modernidade (histórica/ideológica) e
Pós-modernismo (estético). Contudo, tal distinção é reconhecidamente
arbitrária e sua discussão em termos teóricos não é objeto deste ensaio. Por
essa razão, as palavras “Pós-modernidade” e sua correlata “pós-moderno(a)”
serão aqui empregadas com uma sobreposição de sentidos: significarão ao
mesmo tempo o tempo histórico atual, marcadamente pós 1950, e o desvio que
a teoria, a crítica, a literatura e as artes dessa mesma época apresenta ante as
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 136
XX até o presente), que aqui denominamos Idade das Crises, dado “crise”
ser um signo que parece urdir de modo intangível e imaterial esse
emaranhado disforme e caótico.
Os três aspectos dessas breves considerações — o sujeito, a
identidade e o Feminismo — serão abordados sob uma perspectiva
histórica e problematizados a partir de um olhar filosófico marcadamente
pós-estruturalista, na linha da Desconstrução derridiana. No conjunto, o
que se objetiva especificamente é chegar a uma discussão da inter-relação
indecidível entre pensamento feminista e pós-modernidade, uma das
configurações das diversas crises da contemporaneidade. Para tanto, não
é possível refletir sobre um e outro sem uma prévia discussão sobre o
sujeito pós-moderno e sua identidade. É essa discussão que permitirá
contextualizar e discutir o Feminismo dentro do objetivo proposto.
A IDADE das Crises
Hoje
A História, em sua sina didática de ciência dependente das
pseudo-grandezas físicas do Tempo e do Espaço, identifica várias idades,
épocas ou eras na cronologia da existência do Mundo e dos seres
humanos no Mundo. Há, por exemplo, uma Idade da Pedra, anterior à
escrita e, por isso mesmo, anterior a tudo, inclusive à própria História
(paradoxo interessante: a História historiciza algo anterior a ela mesma).
Há ainda a Idade Antiga, que abarca o surgimento da escrita e das
primeiras ideologias humanas (a própria História, sociedade, política,
economia, religião etc.). Há também a Idade Média que, ironicamente,
tem seu primeiro momento — um breve período de cerca de dez séculos
— conhecido como Idade das Trevas, época em que são gestadas e
desenvolvidas as culturas e línguas europeias. Posteriormente, tem-se a
era das grandes navegações, que resultaram na “descoberta” do Novo
Mundo (América e Oceania), e consequentemente na colonização e
exploração desses lugares. Houve ainda a Idade das Luzes, o Iluminismo,
a era dos grandes desenvolvimentos científicos, do domínio da razão e da
lógica, da solidificação dos grandes sistemas filosóficos. Mais
recentemente tem-se a Idade Moderna, era das revoluções sócio-político-
culturais, do refinamento científico-tecnológico, das várias guerras
propostas do Modernismo das duas primeiras décadas do século XX sem, no
entanto, deixar de pertencer a esse mesmo Modernismo.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 137
mundiais e da conquista espacial. Mas e hoje, século XXI, caberia ainda
perguntar em que “idade” histórica se vive?
A resposta está longe de ser simples, já que não dispomos do
distanciamento (pseudo)temporal que permitiu aos historiadores nomear
as idades do Mundo. Paralelamente a essa consideração, não é nosso
objetivo aqui traçar todo um panorama exclusivamente historicista que,
por ventura, resulte em uma possibilidade de resposta à pergunta, pois
questões de ordem metodológica se instaurariam, a começar pelo próprio
conceito de cronologia relacionado à História: a História não é
cronológica, mas sim helicoidal. Logo, há momentos de progresso,
estabilidade, retrocesso e repetição situacional em todas as idades do
Mundo, o que deita por terra a noção positivista e maniqueísta de
progresso implícita a toda concepção teórica de ordem cronológico-linear
e, consequentemente, coloca em cheque o próprio conceito de “idade” ou
“época” histórica. Tampouco é nosso objetivo atermo-nos
exclusivamente a quaisquer possibilidades dialéticas de resposta à
pergunta formulada, pois desde finais da década de 1960, com os assim
denominados pós-estruturalismos, não é mais possível falar ou utilizar
como método exegético qualquer sistema dialético sem questionamentos
prévios.
Antes, porém, para refletir sobre a questão parece-nos necessário
cercá-la em sua pluralidade de respostas possíveis, visto que estamos
vivenciando o turbilhão da contemporaneidade e, como tal, não é possível
identificar uma linha argumentativa que permita um vislumbre do que
Hegel chamaria “espírito absoluto” dessa era, mesmo porque essa era
parece não ter um “espírito absoluto”. Ainda que tenhamos nos valido da
História para propor a pergunta, a resposta é uma colcha de retalhos, uma
miríade de fragmentos que não compõe um todo, mas sim um
emaranhado de linhas de pensamento que apontam para diversas
direções, as quais levam a todos os lugares e a nenhum lugar ao mesmo
tempo.
Dentro desse escopo, a reflexão sobre “em que idade histórica se
vive?” só poderia se iniciar, como ensina Hans Ulrich Gumbrecht (1988,
p. 107), de maneira indutiva, já que não é possível deduzir algo de um
caos de fragmentos que se entrecruzam, mas não necessariamente se
relacionam: vivemos na Idade das Crises. A palavra “crises” é aqui usada
no plural como uma espécie de metáfora para uma infinidade de
nomenclaturas que tentam abarcar conceitualmente, e por isso mesmo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 138
falham, os diversos fenômenos e pensamentos sócio-histórico-artísticos-
culturais de um período da História do Mundo e da humanidade que se
inicia por volta de 1950 e estende-se até o presente momento. A título de
ilustração, eis algumas dessas nomenclaturas: sociedade de consumo;
sociedade do espetáculo; capitalismo tardio; simulacro; sociedade
transparente; pensamento fraco; anti-humanismo; cultura de massa; hiper-
realismo; Desconstrução; microfísica do poder; razão cínica; pós-
estruturalismo; pastiche; esquizofrenia; contemporaneidade; modernidade
líquida; modernidade tardia; pós-modernidade.
É claro que ao denominarmos, ainda que metaforicamente,
“Idade das Crises” o momento histórico atual estamos tentando tornar
logos algo que desarticula o logos — entendido logos como método de
instauração da Metafísica ocidental —, pois indutiva ou dedutivamente as
diversas nomenclaturas elencadas acima, que de uma forma ou de outra
também tentam racionalizar o que desarticula o próprio conceito de
Razão, apresentam um ponto em comum, qual seja a crise de algo, e aqui
reside a impossibilidade de identificar o “espírito absoluto” do nosso
tempo, visto que esse “espírito” está em crise. Ele é “só-crise”.
Tornar logos algo que desarticula o logos é uma aporia, uma
antítese que permanece insolúvel, já que o pensamento desconstrucionista
bem ensina que não é possível destruir e nem sair do logos. Isso pode ser
bastante produtivo e resultar em reflexões interessantes sobre a questão
ora proposta se acolhermos a aporia como uma marca do nosso tempo, ou
seja, se partirmos do princípio teórico de que a crise é uma característica
do agora, podendo ser historicamente passageira ou perene, como a
própria hélice da História. Sendo assim, teremos “uma consciência
intensa da historicidade, contingência, limitação, de todos estes sistemas
[as nomenclaturas anteriormente listadas], a começar pelo [nosso, por
quem somos]” (VATTIMO, 1992, p. 15).
“Mapeando” as principais crises da Idade das Crises
Ao acolhermos a aporia como marca do nosso tempo e,
consequentemente, termos uma “consciência intensa” da época em que
vivemos instaura-se um problema filosófico de ordem existencial que
levará à emergência do phármakon como fenômeno epocal, visto estar ele
“compreendido na estrutura do lógos” (DERRIDA, 2005, p. 62, grifo do
autor) à medida que “suplemento perigoso que entra por arrombamento
exatamente naquilo que gostaria de não precisar dele e que, ao mesmo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 139
tempo, se deixa romper, violentar, preencher e substituir, completar pelo
próprio rastro que no presente aumenta a si próprio e nisso desaparece”
(id., p. 57, grifo do autor). Assim, ter consciência, especialmente intensa
como quer Vattimo, da época em que se vive, além de pressupor um
distanciamento crítico em relação ao próprio momento histórico, implica,
necessariamente e na mesma medida, ser responsável por essa época.
Sendo conscientes e, portanto, responsáveis por nossa época; e sendo tal
época caracterizada por “conceituações” como “colcha de retalhos”,
“miríade de fragmentos” e “emaranhado de direções que levam a todos os
lugares e a lugar nenhum”; somos então conscientes e responsáveis pelo
nosso próprio sentimento de deslocamento e de descentramento que
resultam dessa consciência/responsabilidade. A questão que se impõe é:
nós, seres humanos do século XXI, queremos ter essa consciência e essa
consequente responsabilidade?
Pode-se argumentar se se trata de uma questão de escolha querer
ou não ter tal consciência/responsabilidade, ou se se trata de uma questão
de ser lançados inelutavelmente na contingência do momento. É sabido,
contudo, que em termos existencialistas a escolha é sempre uma
contingência, logo escolher é querer, e “querer” ou “não querer” são
prerrogativas do sujeito histórico, que só pode ser no optar por uma coisa
ou outra na contingência do existir. Esses pontos desembocam na questão
do phármakon, ou seja, ao que tange às consequências da escolha, já que
“não querer” é também uma escolha.
Assim, escolher ter consciência/responsabilidade em relação ao
momento histórico presente equivale a ter essa mesma
consciência/responsabilidade frente os próprios sentimentos de
deslocamento e descentramento que “definem”, por assim dizer, o sujeito
atual. Deter a consciência/responsabilidade desses sentimentos implica
um eterno viver na angústia e no desespero de perceber-se e saber-se
preso a um presente que é pastiche ou simulacro do passado, em um
presente que é um eterno recontextualizar e reconfigurar do passado,
estático e perpétuo, sem possibilidade de futuro, incorrendo no que
Jameson (1985, p. 18), resgatando Lacan, justapôs ao pastiche como uma
das principais características da Idade das Crises: a esquizofrenia. Sob
essa perspectiva, o sujeito histórico torna-se então um esquizofrênico, um
psicótico que tem a terrível consciência de ter, nas palavras do mesmo
Jameson, “uma visão indiferenciada do mundo no presente, uma
experiência que não é de modo algum agradável” (id., p. 23).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 140
Há, no entanto, outra possibilidade de ler essa escolha, uma
possibilidade talvez mais positiva. Se re-inscrevermos as palavras de
Gianni Vattimo anteriormente citadas — “uma consciência intensa da
historicidade, contingência, limitação, de todos estes sistemas [as
nomenclaturas anteriormente listadas], a começar pelo [nosso, por quem
somos]” (1992, p. 15) — em seu próprio texto, podemos acolher essa
“consciência intensa da historicidade” como um sentimento de igualdade
na diferença. Assim, justamente por serem características de toda a nossa
época a contingência, a limitação e a fragmentação, não estamos sós em
nosso sentimento de deslocamento e descentramento, o que acarretaria,
em um primeiro momento, num falso sentimento de pertença (pertença ao
grupo dos que fizeram essa escolha, ao grupo dos diferentes). Isso,
evidentemente, constitui uma “nostalgia dos horizontes fechados,
ameaçadores e tranquilizadores ao mesmo tempo” que “continua ainda
radicada em nós, como indivíduos e como sociedade” (id., p. 16 – 17).
Todavia se, a partir de uma mudança de paradigma da
compreensão do mundo como algo fechado e acabado para algo aberto e
em permanente mutação, o ser humana aceitar que “viver neste mundo
múltiplo significa fazer experiência da liberdade como oscilação contínua
entre pertença e desenraizamento”, então será possível nos tornarmos
“capazes de alcançar esta experiência de oscilação do mundo pós-
moderno como chance de um novo modo de ser (talvez: finalmente)
humanos” (id., ibid.). A proposta positiva de Vattimo constitui-se, dessa
forma, em acolher a “experiência de oscilação do mundo pós-moderno”
como um constituinte desse Mundo, e não lutar contra tal experiência —
luta essa que parece ser pressuposta na pessimista visão existencialista
acima apontada, da qual também participa Fredric Jameson.
Trata-se de acolher a crise, a aporia, marca do momento histórico
atual, em uma atitude anti-humanista, anti-metafísica e, portanto, anti-
logocêntrica: uma atitude fraca, em concordância com a teoria do
pensamento fraco cunhada pelo próprio Vattimo. O pensamento fraco
assim o é, na acepção pejorativa da palavra “fraco”, se colocado em
relação de oposição hierárquica frente à Metafísica ocidental, linha de
força e sustentação da existência do Ocidente. Contudo, o alento desse
pensamento reside em sua própria fraqueza: ele corrói aos poucos e sub-
repticiamente as bases de sustentação da metafísica e expõe a
arbitrariedade dessas bases, disseminando contaminações no sistema e
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 141
desarticulando centro e margem como um vírus incontrolável,
incontrolável porque produto do próprio sistema.
O outro lado da questão sobre a consciência/responsabilidade
ante o momento histórico atual é escolher não querer ter essa
consciência/responsabilidade, o que, por si só, resultam em alienação. Em
termos existencialistas, mesmo a alienação é uma escolha, logo o sujeito
não pode ser julgado ou criticado por isso. No entanto, os sentimentos de
deslocamento e descentramento permanecem presentes, mas com um
agravante: são sentidos pelo sujeito, porém estrangeiros a ele próprio e,
“estranhamente, o estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta da nossa
identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que se
afundam o entendimento e a simpatia” (KRISTEVA, 1994, p. 9).
Escolher não querer, portanto, resulta no sujeito tornar-se, para glosarmos
o texto de Kristeva, estrangeiro para si mesmo, o que o levará à mesma
esquizofrenia apontada anteriormente por Jameson, mas uma
esquizofrenia de ordem estranha, quiçá aberrante, pois lhe falta a
consciência espaço-temporal: ele sabe-se psicótico, mas não sabe por que
ou, de modo mais adverso, não quer saber por quê. Veja-se que a visão
positiva de Vattimo não se aplica a essa possibilidade de escolha, já que
há um negar em se ter “uma consciência intensa da historicidade”,
mesmo estando o sujeito na contingência da existência histórica.
Nos termos da manifestação do phármakon, escolher querer ter
consciência/responsabilidade ante o momento histórico ou não são
posturas indiferentes, pois a crise — os sentimentos de deslocamento e de
descentramento — permanece fato angustiante, sempre no limiar da
psicose, havendo apenas uma possibilidade de salvação e perdição e
apenas para um dos aspectos da escolha: o acolhimento da aporia, a
“experiência de oscilação do mundo pós-moderno”.
Configura-se assim a crise do sujeito pós-moderno, talvez o
fulcro da Idade das Crises. Mas a crise do sujeito frente ao seu tempo
histórico tem um reflexo em e é refletida por outra crise: a crise da
identidade. A questão “nós, seres humanos do século XXI, queremos ter
essa consciência e essa consequente responsabilidade?” suscita outra
questão: quem somos nós agora? A agregação do advérbio de tempo
“agora” à pergunta é propositalmente sintomática: pressupõe que há uma
diferença epistemológica entre quem somos hoje, quem fomos ontem e
quem seremos amanhã, o que implica reconhecer que não há uma
resposta unívoca e nem mesmo dialética para “quem somos nós?”. Só há,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 142
então, possibilidades múltiplas de resposta à questão, e essa
multiplicidade de respostas está, de alguma forma, vinculada às
grandezas físicas relativas do Tempo e do Espaço, condições sine qua
non da História, o que leva a uma (in)conclusão primeira de que a cada
época histórica o sujeito assume ou tem uma identidade diferente, logo a
identidade é infixa, móvel, impossibilitando tratá-la em termos de
unidade ou de todo.
Essa constatação compõe propriamente o cerne da crise da
identidade, pois desarticula a primeira concepção pós-Idade Média de
sujeito, qual seja a do sujeito Iluminista: “um indivíduo totalmente
centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de
ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior, que emergia pela
primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia” (HALL,
2006, p. 10 – 11). Sob essa perspectiva — que permaneceu corrente
durante todo o século XVIII e pelo menos durante a primeira metade do
século XIX —, a identidade do sujeito é una e imutável. Em termos
históricos, tal concepção explica-se principalmente pela ascensão da
burguesia, que privilegiou a individualidade frente à visão feudal de
coletividade até então dominante. Observe-se que, nesse período, o
Mundo e a sociedade também eram entendidos como unos e imutáveis.
Note-se também que essa concepção só começará a se esfacelar com a
ascensão e desenvolvimento do romance enquanto gênero literário.
A partir da segunda metade do século XIX, especialmente após a
publicação das teorias sócio-políticas de Karl Marx e Friedrich Engels,
outra concepção de sujeito, e consequentemente outra concepção de
identidade, entrou em cena: a de que o sujeito e sua identidade são
formados na interatividade com o meio sócio-histórico-político-
econômico. Assim, “de acordo com essa visão, que se tornou a concepção
sociológica clássica da questão, a identidade é formada na ‘interação’
entre o eu e a sociedade” (HALL, 2006, p. 11).
Essa perspectiva dialética do sujeito-identidade está inserida no
contexto histórico das grandes descobertas científicas e transformações
tecnológicas ocorridas no século XIX, que tornaram a vida cotidiana mais
dinâmica e, por conseguinte, mais instável e imprevisível, a ponto de
influenciar o próprio universo psíquico do ser humano. Descobertas como
a teoria darwiniana da seleção natural, o telégrafo, o telefone, o raio-X e,
no início do século XX, o inconsciente revelaram aspectos e
possibilidades da existência até então ignorados pelo sujeito, que passou a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 143
vislumbrar seu mundo como algo eivado de coisas desconhecidas, e não
mais como algo pronto e acabado. A percepção de mundo passa então a
ser infixa, logo as interações do sujeito com esse mundo também o são,
bem como a relação do sujeito para consigo mesmo e com o outro.
Entretanto, essa relação sujeito/mundo ainda é concebida por pares
conceituais: eu/outro, dentro/fora, individual/social etc.
Não se pode negar que é mérito dessa visão dialética ter lançado
a semente da infixidez da identidade do sujeito, algo que esteve em voga
pelo menos até o início da década de 1960. Todavia, no final dessa
mesma década tem-se o marco inicial da crise da dialética, que passou a
ser duramente contestada pela essência maniqueísta de oposição e
hierarquia que é inerente a todo par conceitual. É nesse momento crítico
que desponta uma terceira concepção de identidade, decorrente
justamente da crise da dialética e da crise de uma miríade de aspectos
sócio-político-econômicos, históricos, científicos e ideológicos: a
concepção de que a identidade é provisória e variável.
Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado [sic]
como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A
identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos
rodeiam (Hall, 1987). É definida historicamente, e não
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em
diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de
um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias,
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas
identificações estão sendo continuamente deslocadas. [...] À medida
em que os sistemas de significação e representação cultural se
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma
das quais poderíamos nos identificar — ao menos temporariamente
(HALL, 2006, p. 13).
Explica-se dessa forma a condição de deslocamento e de
descentramento do sujeito pós-moderno, dois aspectos que são, na
verdade, as crises de identidade propriamente ditas: identidade deslocada
porque a cada instante e a cada situação o sujeito precisa recorrer a uma
máscara de si que se ajuste ao dado instante e à dada situação. Essa
infinita troca de máscaras mina, descentra a própria concepção de eu, eu
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 144
esse que, em seu perpétuo deslocamento identitário e entrecruzar com
outras identidades, perde-se em si mesmo e desdobra-se em múltiplos
“eus”, em fragmentos que, assustadoramente, não são partes de um todo
originário: são fragmentos que são origem e fim em si mesmos. A
identidade do sujeito pós-moderno é, dessa forma, só-máscaras, não
existindo um rosto original encoberto ou disfarçado: o rosto/identidade
original do sujeito é a própria máscara por ele usada no dado instante e
situação em que vive. A identidade pós-moderna, a resposta para “quem
somos nós hoje?”, é, talvez, simulacro, “efeito de imaginário escondendo
que não há mais realidade além como aquém dos limites do perímetro
artificial” (BAUDRILLARD, 1991, p. 23).
A implicação mais imediata desse simulacro que é a identidade
pós-moderna resvala no fato de que “a identidade muda de acordo com a
forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é
automática, mas pode ser ganhada [sic] ou perdida” (HALL, 2006, p. 21).
Isso ocorre porque a infixidez identitária do sujeito pós-moderno se dá
em uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que há uma
fragmentação do eu em razão do deslocamento e do descentramento, há
também uma fragmentação, em várias possibilidades de identificação, do
universo social habitado por esse eu: sexual, racial, cultural, de classe, de
ideologias etc. Mais do que simulacro per se, a identidade do sujeito pós-
moderno é um jogo de simulacros, um jogo de identidades e de
identificações pautado pela política da diferença.
Essas constatações nos levam a questionar quais fatores teriam
contribuído para o surgimento dessa identidade pós-moderna, uma
identidade só e em crise. A crise da dialética, conforme evocada, é talvez
a síntese desses fatores, e por isso mesmo muito genérica para os
desdobramentos da questão. É necessário então investigar alguns desses
aspectos específicos que resultaram nessa identidade-crise pós-moderna.
As bases da Idade das Crises
Stuart Hall, em seu estudo bastante programático e lúcido sobre a
identidade cultural na pós-modernidade, aponta cinco fatores que
resultaram na identidade do sujeito pós-moderno, fatores esses que,
segundo o autor, descrevem o deslocamento e o consequente
descentramento desse sujeito “através de uma série de rupturas nos
discursos do conhecimento moderno” (2006, p. 34): o Marxismo, a
Psicanálise freudiana, a Linguística saussureana, o pensamento de Michel
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 145
Foucault e, finalmente, o Feminismo. As atenções do presente ensaio
recairão sobre o Feminismo. Contudo, não é possível abordar esse
movimento social e pensamento ideológico como (re)agente no contexto
da Idade das Crises sem problematizar os outros quatro fatores apontados
por Hall, visto que parece haver uma confluência desses na própria
emergência do Feminismo. Dessa forma, faz-se antes premente um breve
panorama de tais elementos de confluência.
No que tange ao Marxismo, conforme anteriormente dito, sua
contribuição mais premente para a composição das multifaces
fragmentadas do sujeito pós-moderno foi o pensamento dialético aplicado
à relação sujeito-sociedade. Esse pensamento rejeita a unicidade do
sujeito cartesiano — o “cogito, ergo sum” —, ou seja, rejeita tomar o ser
humano como centro e essência da existência. No pensamento marxista, o
sujeito está em permanente interação com o seu meio sócio-político-
econômico, portanto esse sujeito é resultante e determinado por tal meio,
e aqui jaz o calcanhar de Aquiles do pensamento dialético: privilegiar
apenas um dos lados dos pares conceituais. Por outro lado, o pensamento
marxista também rejeita a “coletividade” do sujeito medieval —
coletividade essa que se fazia unívoca em torno do senhor feudal — em
prol da emergência da burguesia e da consequente socialização da
economia e da política. Dessa forma o Marxismo, segundo Hall, desloca
“qualquer noção de agência individual” (2006, p. 35), desmanchando no
ar a solidez de uma essência humana.
Na mesma linha do pensamento dialético marxista encontra-se,
de maneira geral, a Psicanálise, que atribui a formação da personalidade
do sujeito à inter-relação eu-outro, ou ego-superego. Entretanto, os
estudos psicanalíticos de Sigmund Freud acrescentaram um terceiro item
a esse par conceitual, uma terceira e incômoda margem ao rio do logos: o
inconsciente. O inconsciente é e está no sujeito enquanto face
desconhecida do eu, o que em si contribui ainda mais para o
deslocamento da unicidade essencial do sujeito cartesiano. Ao mesmo
tempo, pelo seu funcionamento irracional e ilógico, o inconsciente coloca
em xeque os parâmetros logocêntricos da sociedade em que o sujeito está
inserido, o superego. Jacques Lacan, discípulo de Freud, é quem desdobra
as implicações conceituais do inconsciente em sua teorização sobre o
estádio do espelho. Lacan demonstra que a identidade é um processo
aberto de formação ao longo do tempo, processo esse que é
paradoxalmente vivenciado pelo sujeito como algo uno. Portanto, a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 146
unidade identitária do sujeito é uma (auto)ilusão de ordem inconsciente
vivenciada por esse sujeito a partir de sua formação pelo outro, ou seja, a
imago da identidade una é apenas um dos sistemas de representação
simbólica que compõem a existência humana. Como tal, a identidade
surge sempre de “uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir do
nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos
por outros” (HALL, 2006, p. 39, grifos do autor). Dessa forma, o
inconsciente desarticula a noção unitária e também a noção dual de
sujeito, cindindo assim o par conceitual eu-outro, ou indivíduo-sociedade,
e abrindo talvez o primeiro precedente do que mais tarde seria a
multiplicidade de fragmentos hoje chamada de sujeito/identidade pós-
moderno.
Na mesma corrente lacaniana dos sistemas de representação
simbólica que compõem a existência humana está a língua. A língua, na
visão da Linguística saussureana, é um sistema vivo e de cunho social no
qual o sujeito é e está lançado. Portanto, falar uma língua não é apenas a
expressão de um sujeito uno, mas também a ativação da “imensa gama de
significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos sistemas
culturais” (id., p. 40). Falar uma língua significa, nesses termos, colocar
em jogo as inter-relações individuais e sociais do sentido, visto que os
significados das palavras são infixos e se dão por uma relação de
similaridade/diferença. Assim, o sentido é sempre instável e mutante,
permanentemente aberto e impossível de ser determinado ou controlado
pelos usuários da língua. Como a existência, tanto individual
(personalidade) quanto social (cultura), é feita de signos linguísticos, a
identidade do sujeito é igualmente instável e em perpétua mutação,
incontrolável e imprevisível. Da mesma forma que não há unicidade
semântica do signo, pois ele sempre comporta ecos das infinitas relações
de similaridade/diferença com outros signos, não há unicidade essencial
do sujeito falante da língua.
Justamente pelo caráter permanentemente mutável de sua
identidade, ou seja, pela multiplicidade dessa identidade, que a torna
infinitamente aberta e inacabada e, como tal, incontrolável e imprevisível
— indecidível, para resumir a problemática em um termo chave da
Desconstrução derridiana —, o sujeito é manipulável por relações de
poder político-sociais que objetivam controlar, disciplinar a sua
indecidibilidade identitária a fim de colher benefícios para as instituições
que formam e/ou integram a sociedade, residindo aqui o caráter político,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 147
por exemplo, da propaganda, da moda e da cultura de massa como um
todo. Como se sabe, o formulador desse pensamento sobre o
sujeito/identidade pós-moderno é Michel Foucault, que o denominou
“poder disciplinar”.
O objetivo do “poder disciplinar” consiste em manter “as vidas, as
atividades, o trabalho, as infelicidades e os prazeres do indivíduo”,
assim como sua saúde física e moral, suas práticas sexuais e sua vida
familiar, sob estrito controle e disciplina, com base no poder dos
regimes administrativos, do conhecimento especializado dos
profissionais e no conhecimento fornecido pelas “disciplinas” das
Ciências Sociais. Seu objetivo básico consiste em produzir “um ser
humano que possa ser tratado como um corpo dócil” (HALL, 2006,
p. 42).
Sob essa perspectiva Hall acrescenta que, paradoxalmente,
“quanto mais coletiva e organizada a natureza das instituições da
modernidade tardia, maior o isolamento, a vigilância e a individualização
do sujeito individual” (2006, p. 43). Em suma, quanto maior a
organização social, quanto maior a institucionalização da sociedade,
maior o autoisolamento do sujeito pós-moderno, consequentemente maior
o seu drama existencial e maior o seu deslocamento e descentramento de
si mesmo, de sua própria sociedade e de seu tempo histórico.
Frente a essas implicações da concepção foucaultiana de poder
disciplinar desponta, tangencial ou marginalmente, outro aspecto da
questão: é esse mesmo poder que sustenta a existência das instituições
ocidentais, ou seja, da própria sociedade ocidental e mesmo das inter-
relações pessoais, que são também institucionalizadas. Dentro desse
escopo, o poder disciplinar, bem como todas as formas de poder, é
patriarcal, já que na tradição do Ocidente, inteiramente calcada e
resultante das religiões judaico-cristãs, é o pai quem — à maneira do seu
arquétipo, o Deus-Pai — impõe a disciplina no exercício de seu “pátrio
poder”. O poder, portanto, esteve (e, no geral, ainda está) sempre nica e
exclusivamente na mão do homem. A reação a essa ditadura falocêntrica
só se deu abertamente e em escala mundial a partir de finais da década de
1960, com o último dos cinco fatores apontados por Stuart Hall como
determinantes do aparecimento do sujeito/identidade pós-moderno: o
Feminismo.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 148
RELAÇÕES e tensões entre a Idade das Crises e o Feminismo
De certa maneira, tudo que foi dito até o momento conflui ou
reflui para o Feminismo, pois, na sua condição de movimento social de
reação ao status quo Falogocêntrico e, ao mesmo tempo, enquanto
pensamento crítico e teórico, esse movimento contribuiu sobremaneira
para o deslocamento e descentramento característicos do sujeito pós-
moderno em razão do grande impacto causado pela contestação das
categorias de gênero e sexo, fundamentais na manutenção do poder
disciplinar e ao mesmo tempo índices linguísticos, aspectos sócio-
histórico-biológicos, fatores psicológicos e pares conceituais.
Em termos sócio-históricos, o Feminismo passou por três
momentos distintos e complementares. O primeiro desses momentos —
segunda metade do século XIX até a década de 1930 — foi o das lutas
pelo direito ao voto e por melhores condições de trabalho. Alguns
acontecimentos importantes marcaram esse primeiro período. Um deles é
a convenção de Seneca Falls, nos Estados Unidos, ocorrida em 1848.
Organizada por Elizabeth Cady Stanton e contando com a presença de
mulheres e homens de várias cidades do estado de New York e de outros
estados, essa convenção chamou a atenção mundial à época por ter sido a
primeira a discutir abertamente os direitos da mulher tomando por base as
garantias igualitárias previstas a todo cidadão norte-americano na
Declaração de Independência dos Estados Unidos. A proposta de Stanton
e dos demais participantes era relembrar a toda sociedade estadunidense
que as mulheres tinham os mesmos direitos civis, jurídicos, éticos e
morais dos homens. O resultado da convenção foi um documento, The
Declaration of Rights and Sentiments (1848), talvez o primeiro manifesto
formal pelos direitos da mulheres no Ocidente.
As lutas pelo direito ao voto ocorreram em vários locais e países
no decorrer de todo esse primeiro momento, ora conjuntamente às lutas
por melhores condições de trabalho, ora isoladamente. As lutas por
melhores condições de trabalho, no entanto, foram mais marcantes por
duas razões: primeiramente por serem manifestações públicas que, em
várias ocasiões, resultaram em revezes violentos por parte das instituições
da sociedade patriarcal, como o que ocorreu em 8 de março de 1857, na
cidade de New York, em que a polícia prendeu 140 mulheres
manifestantes em uma fábrica e ateou fogo ao lugar em seguida,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 149
resultando na morte de todas3. Uma segunda razão seria o vínculo dessas
lutas feministas com o ascendente Comunismo (de linhagem marxista),
que eivou o Ocidente com as lutas de classe. Duas das principais
militantes feministas pelo direito ao voto e, principalmente, por melhores
condições de trabalho foram a alemã Clara Zetkin (1857 – 1933) e a russa
Alexandra Kollontai (1872 – 1952), ambas membros da intelligenzia do
então nascente Partido Comunista nos seus respectivos países. Por razões
políticas, o vínculo com o pensamento e a práxis marxista se tornou de
ordem fantasmática a todo o Feminismo enquanto movimento social até
os dias atuais, ainda que os escritos de Marx excluam abertamente a
mulher das inter-relações sócio-político-econômicas.
O segundo momento sócio-histórico do Feminismo é também o
momento mais marcante do movimento. Gestado no período pós Segunda
Guerra Mundial, o atualmente chamado Movimento Feminista veio à
tona em finais da década de 1960, juntamente com todas as demais
revoluções sócio-culturais preconizadas em maio de 1968 e com a
eclosão do pós-estruturalismo e da consequente crise da dialética. Trata-
se de uma intrigante coincidência histórica (ou não) que o Movimento
Feminista tenha surgido em momento tão peculiar: o momento da
emergência da Desconstrução derridiana, da Psicanálise lacaniana, do
“segundo” Roland Barthes, do pensamento de Michel Foucault e das
demais teorias que passaram em revista o Estruturalismo então corrente
em todas as áreas do saber; o momento das revoltas sociais, da
consolidação das ditaduras na América Latina, do movimento hippie, de
Woodstock, da esotérica “Era de Aquário”, do mundo bi-polarizado, da
Guerra Fria e da Guerra do Vietnã.
Catapultadas por interpretações diversas das ideias plantadas por
Simone de Beauvoir em O segundo sexo (1949); tendo à frente militantes
elevadas ao posto de ícones, como a norte-americana Betty Friedan —
autora de A mística feminina (1963), o polêmico livro considerado o
marco inicial do segundo momento feminista, e dona de uma das
afirmações mais contundentes da época: “Que espécie de criatura seria
3
Em uma convenção mundial de mulheres militantes socialistas ocorrida na
Dinamarca em 1910, a ativista alemã Clara Zetkin propôs a criação de uma
data internacional de comemoração dedicada à mulher (8 de março, em
homenagem às operárias mortas em New York), que se tornaria então o Dia
Internacional da Mulher.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 150
ela que não sentia essa misteriosa realização [o orgasmo] ao encerar o
chão da cozinha?” (FRIEDAN, 1971, p. 20) —; brandindo slogans como
“O pessoal era o político, o literário era o pessoal, o sexual era o textual,
a feminista era a redentora” (GILBERT; GUBAR, 2000, p. XX), esse
segundo momento do Feminismo enquanto movimento social é
caracterizado pelo extremo radicalismo de posições: fogueiras públicas
de sutiã, reivindicações exacerbadas de ocupação do lugar do homem em
todas as esferas sociais, igualdade absoluta e inconteste.
Nos termos de tamanha radicalização, com o tempo o Feminismo
assumiu contornos da própria ditadura falocêntrica por ele contestada e
logo se revelou díspar: ocupar o lugar do homem em todas as esferas
sociais, por exemplo, equivaleria unicamente a mudar o foco hierárquico
do par conceitual homem/mulher, desta vez privilegiando a mulher. A
oposição entre ambos permaneceria inalterada e, mais cedo ou mais tarde,
resultaria em um novo arroubou radical: um possível “Movimento
Machista” que reivindicaria os direitos do homem, nos mesmos termos
das reivindicações feministas. Ficou claro então, mesmo para as
feministas mais aguerridas, que o Movimento Feminista tinha uma falha
conceitual que o mantinha inevitavelmente ligado aos preceitos da
dialética patriarcal, contradizendo assim suas intenções políticas. A
percepção de tal lapso levou ao surgimento do terceiro momento do
Feminismo, que começou em finais da década de 1970 e desenvolve-se
até o momento: o Feminismo acadêmico, ou teoria feminista.
Durante a década de 1970 o Feminismo, seguindo os passos do
pós-estruturalismo, invadiu o universo acadêmico e tornou-se um novo
paradigma de análise ao problematizar as relações de gênero: “como as
relações de gênero são construídas e experimentadas e como nós
pensamos ou, igualmente importante, não pensamos sobre elas” (FLAX,
1992, p. 218 – 219). Nessa perspectiva, a primeira conceituação proposta
pelo Feminismo acadêmico é a diferença entre gênero e sexo. O gênero é
uma categoria cultural, portanto ideologicamente construída, que
pressupõe uma sociedade dividida entre homens e mulheres, entre gênero
masculino e gênero feminino; diferentemente do sexo, uma categoria
natural, imposta pelas leis biológicas e que separa a raça humana em sexo
masculino e sexo feminino. O maniqueísmo patriarcal fez com que, na
sociedade ocidental, o sexo também determinasse o gênero, criando assim
o par conceitual arquetípico homem oposto e superior à mulher que
resultaria também em outros pares conceituais da mesma ordem, como
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 151
homem/homossexual e homem/transexual. No pensamento feminista, a
sociedade patriarcal é organizada em torno das questões de gênero/sexo,
que constituem então relações de poder. Portanto, a identidade do sujeito
está também condicionada por essas questões.
O sistema gênero-sexo, enquanto constituição simbólica sócio-
histórica, [é um] modo essencial, através do qual uma realidade
social se organiza, divide-se e é vivenciada simbolicamente, a partir
da interpretação das diferenças entre os sexos, prisma através do
qual se lê uma identidade incorporada, modo de ser no e de
vivenciar o corpo (CAMPOS, 1992, p. 111, grifos da autora).
O sistema gênero/sexo, enquanto construto ideológico sobreposto
ao biológico e enquanto sistema de relações de poder, é a base sobre a
qual se assenta a submissão e o silenciamento da mulher pelo universo
patriarcal que, tendo a dialética como premissa fundamental, opôs a
mulher ao homem e, ao mesmo tempo, hierarquizou essa relação a partir
de essencializações: é da essência da mulher ser mãe, portanto esposa e,
por extensão, dona-de-casa; também é da essência da mulher ser
fisicamente mais fraca que o homem. Dentro desse escopo, a mulher deve
ocupar o espaço privado, longe das batalhas do espaço público, longe das
decisões que guiam a sociedade.
As críticas e contestações desse terceiro momento do Feminismo
residem justamente sobre tais essencializações impostas à mulher pelo
patriarcado. As essencializações são, como se sabe desde Platão,
ideológicas, logo devem ser discutidas no campo das ideias. É por essa
razão que o terceiro momento do Feminismo, além de continuar com as
características fundamentais de movimento social, ativista e
revolucionário, passa a contar também com um pensamento teórico
impactante e inovador, resultando então em duas linhas de frente que
atuam sob uma mesma perspectiva política: a contestação do patriarcado.
Isso, como se verá, constitui o phármakon atuando no Feminismo.
Da mesma forma que a identidade do sujeito pós-moderno, e
sendo também um componente dessa identidade, o sistema gênero/sexo é
infixo, contribuindo, dessa forma e como ponto-chave, para o
deslocamento e descentramento característicos desse sujeito, uma vez que
coloca em xeque as noções iluministas de unidade do eu, universalidade
da identidade e essência dos seres e das coisas. Como tal, o Feminismo
insere-se como um dos elementos fundamentais que compõem a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 152
(des)estrutura da Idade das Crises, sendo então uma perspectiva
sociopolítica e teórico-crítica da pós-modernidade. “Como um tipo de
filosofia pós-moderna, a teoria feminista revela e contribui para a
crescente incerteza nos círculos intelectuais ocidentais sobre
fundamentação e métodos apropriados para explicar e/ou interpretar a
experiência humana” (FLAX, 1992, p. 221).
A afirmação de que o Feminismo é uma filosofia pós-moderna
traz em si o delinear de uma problemática de ordem epistemológica, uma
arqui-tensão que permanece indecidível: apesar de pertencer a tal
filosofia, o Feminismo está em permanente tensão com essa mesma
filosofia. Como demonstramos no capítulo anterior, a identidade do
sujeito pós-moderno é fragmentária, infixa, deslocada e descentrada em
razão de todas as crises do atual momento histórico da humanidade,
sendo esse próprio sujeito em crise o que define e caracteriza o tempo
presente. Sendo assim, é possível falar em gênero/sexo quando tanto o
gênero quanto o sexo foram implodidos na identidade pós-moderna? É
possível falar em um lugar da mulher na sociedade, visto que as posições
sociais de homens e mulheres desmancharam-se no ar? É possível pensar
em um sujeito feminino quando a própria noção de sujeito se
desmantelou? É possível uma “contestação do patriarcado”, uma
contestação do Falogocentrismo, quando o próprio Falogocentrismo está
abalado? Contestar a Metafísica ocidental, como fez o pós-estruturalismo,
já não seria necessariamente contestas as relações de gênero/sexo?
É fato que o cerne da teoria feminista parte de pares conceituais,
ou seja, da dialética, para propor seus questionamentos. A dialética, no
entanto, foi desarticulada pelo pós-estruturalismo a ponto de, atualmente,
não ser mais possível desenvolver uma linha de pensamento em termos
unicamente dialéticos sob pena de se incorrer em simplismos, falhas
conceituais e anacronismos. Ante esse panorama, cabe colocar em
discussão as contestações/reivindicações feministas. Pensadoras como
Jane Flax e Patricia Waugh refletem sobre essa relação regida pelo
phármakon entre Feminismo e pós-modernismo, cada uma abordando a
questão de maneira ligeiramente diferente, já que é impossível resolvê-la
dada a indecidibilidade de seus termos e pressupostos.
Para Jane Flax, “a relação da teorização feminista com o projeto
pós-moderno de desconstrução é necessariamente ambivalente”, pois
não deixa de ser razoável para pessoas que foram definidas como
incapazes de auto-emancipação [as mulheres] insistir que conceitos
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 153
tais como autonomia da razão, verdade objetiva e progresso benéfico
através da descoberta científica devam incluir e ser aplicados a
capacidades e experiências tanto de mulheres quanto de homens. É
também atraente, para os excluídos, acreditar que a razão triunfará
— que aqueles que proclamam idéias com objetividade responderão
a argumentos racionais. Se não há base objetiva para se distinguir
entre verdadeiras e falsas crenças, então parece que só o poder
determinará o resultado da competição entre diferentes afirmações
das verdades. Essa é uma perspectiva apavorante para aqueles que
não têm poder sobre outros ou são oprimidos pelos dos outros (1992,
p. 223).
Fica premente, no pensamento de Flax, que frente à pós-
modernidade o pensamento feminista ainda está atrelado a categorias
iluministas universalisantes como razão, verdade e progresso, o que em si
caracteriza um anacronismo e uma espécie de retorno ao cerne do que foi
implodido pela pós-modernidade (o Iluminismo). No entanto, para que
uma teoria se sedimente é necessária uma fase de estruturação, um
momento em que os pressupostos sejam “racionalizados” para que
possam se tornar categorias de análise (logos). Talvez seja isso que a
autora queira dizer com “base objetiva”. Todavia, sendo o Feminismo
uma teoria pós-moderna, é contraditório que ele precise de uma
sedimentação teórica desse tipo, pois tal estruturação é fatalmente
Falogocêntrica. É por isso que Jane Flax faz uma advertência de grande
importância: “O caminho para o futuro feminista não pode se basear em
reviver ou se apropriar de conceitos do Iluminismo sobre a pessoa ou o
conhecimento” (1992, p. 223), haja vista que “O discurso feminista está
cheio de concepções contraditórias e irreconciliáveis sobre a natureza de
nossas relações sociais, sobre homens e mulheres e sobre a validade e a
caracterização de atividades estereotipadamente masculinas e femininas”
(id., p. 242).
Assim, as próprias “concepções contraditórias e irreconciliáveis”
da teoria feminista autocontradizem sua ligação com o Iluminismo. O
Feminismo passa então, em si próprio, por um deslocamento e
descentramento de seus valores e perspectivas teóricas e práticas. O
Feminismo vive nesse momento, enquanto pensamento e práxis política,
um momento pós-moderno de incertezas, um momento de crises — como
tudo no mundo atual.
Já Patricia Waugh, apesar de se aproximar da opinião de Jane
Flax sobre a relação do Feminismo com os ideais iluministas no contexto
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 154
atual da pós-modernidade, tem uma posição mais conservadora no que
diz respeito à permanência e necessidade dessa inter-relação, “For, to
accept the arguments of strong postmodernism is to raise uncertainty
even about the existence of a specifically female subject and inevitably,
therefore, about the very possibility of political agency for women”
(2001, p. 347). Para Waugh, portanto, aceitar as premissas fundamentais
do pensamento pós-moderno — que se resumem à crise generalizada do
sujeito e da sociedade, à aporia como marca histórica do tempo presente
— é colocar em xeque a própria existência da teoria feminista, o que é
algo temeroso, já que pode invalidar a essência do Feminismo (herança
direta e contraditória do Marxismo): a necessidade e a validade de uma
práxis política feminina.
The crucial question in the relations between feminism and
postmodernism would seem to be whether it is possible to preserve
the emancipatory ideals of modernity which seem necessary to the
very endeavour of feminism, whilst dispensing with those absolute
epistemological foundations which have been so thoroughly and
variously challenged. Alternatively, how far is it possible to modify
those foundations rather than urging their total abandonment? As a
political practice, surely feminism must continue to posit some
belief in the notion of effective human agency, the necessity for
historical continuity in formulating identity and a belief in some
kind of historical progress. All along it would seem that feminism
has been engaged in an effort to reconcile context-specific difference
or situatedness with universal political aims: to modify the
Enlightenment in the context of late modernity and according to the
specific needs and perspectives of women, but not to capitulate to
the nihilistic and ultra-relativist positions of postmodernism as a
celebration of the disembodied ‘view from everywhere’ (WAUGH,
2001, p. 347 – 348).
Todavia, tanto para Flax quanto para Waugh o Feminismo e os
pensadores feministas permanecem profundamente divididos no que
tange à relação do movimento com o pensamento pós-moderno, em razão
justamente das implicações do phármakon na contestação do patriarcado,
uma vez que aquele está compreendido na estrutura deste: ao mesmo
tempo em que o Feminismo contesta o patriarcado, esse mesmo
Feminismo também se utiliza e precisa do patriarcado para existir. Em
meio a essa problemática surge, no final do século XX e início do século
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 155
XXI, um terceiro fator, uma terceira implicação que lança o programa
pós-moderno diretamente no âmago do programa feminista: o fato de que
o Feminismo já não é a voz unânime representativa de todas as mulheres.
Atualmente, há mulheres que rejeitam a teoria e a práxis feminista
simplesmente para vivenciarem sua diferença ou para aceitarem o
patriarcado. Em outras palavras, dada a fragmentação da identidade do
sujeito pós-moderno — inevitável e irreversível —, que necessita ser
admitida para se compreender o hoje, tornou-se “crucial admitir a
diferença irredutível entre o sujeito (mulher) [...] e o sujeito (feminista)”
(SPIVAK, 1997, p. 282).
É certo que essa diferença crucial entre ser mulher e ser feminista
sempre existiu, visto que nem todas as mulheres aceitaram ou aceitam os
questionamentos feministas. Contudo, o Feminismo não partiu desse
pressuposto, nem o levou em consideração, esquecendo-se das
implicações mais profundas e complexas das afirmações de duas
matriarcas do movimento: “a mulher precisa ter dinheiro e um teto todo
seu” (1985, p. 8), disse Virginia Woolf em 1928, o que não implica
necessariamente excluir o homem desse “teto todo seu”, mas sim ter
consciência das diferenças homem-mulher, que não estão no espaço
físico, mas sim no ideológico, logo as palavras de Woolf, sendo ela uma
artista da palavra, são eminentemente metafóricas: independência não
significa exclusão. “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (1975, p.
9), escreveu Simone de Beauvoir em 1949. Tornar-se mulher não implica,
necessariamente, tornar-se feminista; da mesma forma que tornar-se
feminista não implica necessariamente tornar-se ou ser mulher.
Desponta dessa argumentação uma palavra que só muito
recentemente o Feminismo começou a levar em consideração: diferença.
O Feminismo, como todo e qualquer movimento emancipatório — seja
essa emancipação no nível das ideias, seja no contexto da práxis —,
precisa pautar-se, antes de mais nada, no respeito às diferenças, que é o
que as mulheres e outros grupos sociais hoje desejam. Pautar-se pela
diferença, no entanto, implica afrouxar posições rígidas; aceitar o
diferente; aceitar que, “estranhamente, o estrangeiro habita em nós”
(KRISTEVA, 1994, p. 9) e não apenas fora de nós; descentrar o centro e
deslocar a margem; acolher a aporia, o indecidível, como marcas do hoje
e do agora. Implica, portanto, fazer concessões a si e aos outros em
benefício de uma abertura e acolhimento das múltiplas significações da
existência.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 156
É por essa linha que transita o pensamento de Camille Paglia, a
feminista odiada pelas feministas. Acusada de iconoclastia, polêmica
desde sempre, incômoda para homens e para mulheres, o pensamento de
Paglia pode ser comparado ao de Fredric Jameson em sua variedade de
referências e análises e em sua correção epistemológica e teórica: a
diferença é que Jameson é um homem, e Camille Paglia é uma mulher, e
isso muda tudo na forma como ambos são lidos e no valor atribuído às
suas teorias e críticas. Enquanto Jameson é abertamente cultuado por
todos, inclusive pelas feministas, Paglia é veladamente cultuada por
todos, menos pelas feministas.
Capaz de discutir, analisar e criticar John Donne, William Blake,
Madonna e Britney Spears com a mesma desenvoltura, Paglia é
considerada, juntamente com Tania Modleski e Rita Felski, uma das
principais teóricas do pós-feminismo, a nova onda do pensamento
feminista que começa a levar em consideração o respeito às diferenças.
Em uma visita ao Brasil no ano de 2007, em que concedeu uma entrevista
ao jornal Folha de São Paulo (21/10/2007), Paglia avaliou o Feminismo
tradicional da seguinte forma:
Eu tenho dito que, por causa do capitalismo, aparece a mulher
moderna emancipada. É por causa da Revolução Industrial e do
trabalho fora de casa que as mulheres puderam ser livres do controle
do marido, do pai, do irmão.
Mas temos que ser realistas e reconhecer que isso é um produto da
cultura capitalista ocidental, de um momento particular. Feministas
têm freqüentemente valorizado ou venerado a “mulher de carreira” e
a posto num lugar mais alto que a mãe e a esposa. Isso, porém, vai
contra a maneira como a maior parte das mulheres no mundo se
sente verdadeiramente.
O movimento feminista tende a denegrir ou marginalizar a mulher
que quer ficar em casa, amar seu marido e ter filhos, que valoriza dar
à luz e criar um filho como missão central na vida. Está mais do que
na hora de o feminismo ocidental conseguir lidar com a centralidade
da maternidade para a maioria das mulheres no mundo.
Não quero as feministas ocidentais destruindo valores e tradições de
culturas locais. Feminismo deveria ser sobre mulheres terem a
oportunidade de avançar, não serem abusadas, e terem o direito de
auto-subsistência econômica para não depender de um parente
homem (FOLHA..., 2007, p. A26).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 157
Apesar da polêmica sempre inerente às suas palavras, a
pensadora e teórica traz à tona o cerne da questão do respeito à diferença
em relação ao Feminismo, questão essa que, de alguma forma, pode
constituir uma terceira via para a indecidível relação entre Feminismo e
Pós-modernismo, ou a relação entre duas formas de crise, sem excluir
uma ou outra posição.
CONCLUSÃO
O que foi discutido aqui constitui apenas breves considerações
sobre essa Idade das Crises, uma espécie de exercício arqueológico que
procura escavar as ruínas do hoje, exercício esse que não intenta uma
arqueologia do saber aos moldes de Michel Foucault, mesmo porque o
saber se tornou tão difuso e caótico na Pós-modernidade que talvez não
seja mais possível pensá-lo, mas apenas escavá-lo. Temos, portanto,
plena consciência de que os assuntos ora tratados nessas breves
considerações estão ainda em aberto, inconclusos em termos históricos ou
artísticos.
Nessas considerações sobre aspectos só-crise não era possível
abordar o Feminismo sem antes pensar sobre o sujeito e sobre a
identidade, pois o Feminismo lida diretamente com esses dois
“conceitos” (que são, na verdade, dois lados de uma mesma questão) para
tratar do sistema gênero/sexo, o paradigma de análise central da teoria
feminista. Lidos em conjunto, sujeito, identidade e Feminismo parecem
constituir as principais crises que caracterizam a Idade das Crises, a Pós-
modernidade.
Possivelmente, um quarto fator, uma quarta crise, se acrescentaria
a essa discussão: a sociedade do espetáculo, reino do simulacro. É difícil
prever a quais caminhos o acréscimo desse quarto aspecto levariam o
jogo sujeito-identidade-Feminismo. No entanto, algo parece certo: a
sociedade do espetáculo mercantilizou o simulacro, tornando mercadoria
a própria identidade fragmentada do sujeito. Uma vez mercadoria, a
identidade do sujeito é objeto de venda: as identidades são compradas.
Nessa ótica o Feminismo seria também uma identidade ou um conjunto
de identidades à venda, da mesma forma que quaisquer identidades no
contexto contemporâneo. Quais seriam as implicações de pensá-lo dessa
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 158
forma? Ou ainda, é possível pensá-lo nesses termos? As questões
permanecem em aberto.
ON THE AGE OF CRISES: THE INTER-RELATIONS AMONG SUBJECT,
IDENTITY, AND FEMINISM IN POSTMODERNITY
Abstract: This essay intends to think critically and theoretically on the inter-
relations among subject, identity, and Feminism in the context of Postmodernity,
a context which will be herein denominated “Age of Crises”. These three aspects
will be approached under a Historical perspective and put into question in a
philosophical sight guided by Post-structuralistic theories, especially Derridian
Deconstruction. In general, the main objective is to reach into a discussion about
the undecidable inter-relation between Feminist thinking and Postmodernity,
which is one of the configurations of the many contemporary crises. In order to
do so, it will be necessary a previous discussion on the postmodern subject and
its identity. This discussion will open up the possibility of contextualizing and
discussing Feminism inside the intended objective. This discussion will be
structured around the word “crises” which, in a compositional relation to the
word “age”, will be taken as a synonym for “Postmodernity” and
“contemporary”. “Age of Crises”, “Postmodernity”, “contemporary”, and
“Feminism” will be words haunted by the phármakon phenomenon, a key aspect
for Derridian Deconstruction, which will be the gravitational force that
approximates and separates, in an undecidable relation, those signs.
Key-Words: Postmodernity. Feminism. Deconstruction. Identity. Subject.
REFERÊNCIAS
BAUDRILLARD, Jean. A precessão dos simulacros. In: _____. Simulacros e
simulação. Lisboa: Relógio D’Água, 1991.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. 3. ed. São Paulo: DIFEL, 1975, v. 2:
A experiência vivida.
CAMPOS, Maria Consuelo Cunha. Gênero. In: JOBIM, José Luis (org.).
Palavras da crítica. Rio de Janeiro: Imago, 1992 (Biblioteca Pierre Menard).
DERRIDA, Jacques. A farmácia de Platão. 3. ed. São Paulo: Iluminuras, 2005.
FLAX, Jane. Pós-modernismo e relações de gênero na teoria feminista. In:
HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). Pós-modernismo e política. Rio
Janeiro: Rocco, 1992.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 159
FREUD, Sigmund. O estranho. In: _____. Edição standard brasileira das obras
psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969, v. 17.
FRIEDAN, Betty. Mística feminina. Petrópolis: Vozes, 1971.
GILBERT, Sandra M.; GUBAR, Susan. The Madwoman in the Attic. 2. ed. New
Haven; London: Yale University Press, 2000.
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Entrevista. 34letras, Rio de Janeiro, n. 2, p. 97 –
115, dez. 1988.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro:
DP&A, 2006.
JAMESON, Fredric. Pós-modernidade e sociedade de consumo. Novos Estudos,
São Paulo: CEBRAP, n. 12, p. 16 – 26, jun. 1985.
KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
PAGLIA, Camille. Entrevista: Para Paglia, feminismo erra ao excluir dona-de-
casa. Folha de São Paulo. São Paulo, 21 out. 2007, Mundo, p. A26 Disponível
em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2007/10/21/2/>. Acesso em: 20 jun. 2012.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Feminismo e desconstrução, de novo:
negociando com o masculinismo inconfesso. In: BRENNAN, Teresa. Para além
do falo. Uma crítica a Lacan do ponto de vista da mulher. Rio de Janeiro: Rosa
dos Tempos, 1997.
VATTIMO, Gianni. Pós-moderno: uma sociedade transparente? In: _____. A
sociedade transparente. Lisboa: Relógio D’Água, 1992.
WAUGH, Patricia. Postmodernism and Feminism? In: RICE, Philip; WAUGH,
Patricia (ed.). Modern Literary Theory. 4. ed. London: Arnold Publishers, 2001.
WOOLF, Virginia. Um teto todo seu. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1985.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 160
ASFALTO SELVAGEM: UMA NARRATIVA EM CRISE
Verônica Daniel KOBS1
Resumo: Este artigo objetiva analisar a trajetória de Engraçadinha, protagonista
de Asfalto Selvagem, romance escrito por Nelson Rodrigues. Com base no texto
literário, na adaptação fílmica Engraçadinha, dirigida por Haroldo Barbosa, e em
textos de Sigmund Freud e de críticos que analisam a função do desagradável
nos textos do escritor brasileiro, este trabalho coloca em evidência as crises
provocadas pela dualidade do sujeito e pela exposição da família. Assim como o
erotismo e a sexualidade contrariam a tradição social e potencializam a crise, a
religiosidade surge para restaurar a ordem e a moralidade perdidas. A partir das
demonstrações aqui apresentadas, a crítica social e uma literatura incômoda,
ambas avessas ao entretenimento, caracterizam a obra de Nelson Rodrigues
como uma crônica de costumes da sociedade brasileira dos anos de 1940 e 1950.
Além disso, ao autor cabe justo destaque pelo projeto audacioso de confrontar a
hipocrisia social com a representação de uma família desmascarada, para a
relativização da moral e dos bons costumes, por uma sociedade imperfeita, mas
mais real.
Palavras-Chave: Literatura. Cinema. Família. Erotismo. Sociedade.
Introdução
No romance Asfalto selvagem, de Nelson Rodrigues, entram em
conflito o que é obsceno e o que é religioso. A luta é social e individual e
põe em cena Deus e o Diabo. O romance Asfalto selvagem, de Nelson
Rodrigues, divide-se em duas partes. Fases distintas (a primeira dos doze
aos dezoito anos e a segunda depois dos trinta) da vida da protagonista,
Engraçadinha, compreendem núcleos de personagens e cenários
igualmente distintos. O fato de o romance ser dividido em duas partes é
de extrema relevância, pois a dualidade se instala na história, a partir da
protagonista. Engraçadinha, na segunda fase, é fervorosamente religiosa,
casada com Zózimo há muitos anos e respeitada mãe de família, o que
representa o avesso do que fora na sua juventude, em Vitória. Porém, em
1
UNIANDRADE – Centro Universitário Campos de Andrade. Departamento de
Letras, Curso de Mestrado em Teoria Literária. Curitiba, Paraná, Brasil, CEP:
81220-090. E-mail: <anfib@ibest.com.br>.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 161
dado momento, ela redescobre o prazer do sexo, momento em que a
Engraçadinha do passado aflora e, junto com ela, ressurge Letícia, uma
prima, que não só acompanhou toda a relação incestuosa entre
Engraçadinha e Sílvio, mas também se declarou apaixonada por ela.
Tal divisão evidencia a ambivalência de Engraçadinha, que
servirá para demonstrar a dualidade de qualquer pessoa, afinal, todos são
vítimas da sociedade, que cria regras para reprimir os instintos, em nome
da ordem e da harmonia coletiva. Nelson Rodrigues parte de uma
microcélula social, a família, para analisar, por amostragem, a
macroestrutura social. A partir da escolha da família como objeto de
análise, a próxima providência a ser tomada é o desvencilhamento da
representação dessa célula social como modelo a ser seguido,
dispensando a imagem ideal, em prol de um aprofundamento, permitindo,
assim, a exposição e a exploração dos problemas normalmente
escondidos e mascarados pelos membros da família:
A família, núcleo da maioria dos textos de Nelson Rodrigues, é, na
verdade, uma construção em ruína, que deixa entrever um processo
histórico recheado de contradições e recalques, escamoteados por
uma “moralidade de fachada”. Famílias de classe média,
participantes de um mundo no qual se congregam os valores
capitalistas e a tradição patriarcal, são a alegoria de um passado que
apodrece de pé, resistindo ao presente. (FRANÇA, 2008, p. 17)
Essa importância dada à família, sobretudo a partir de outra ótica,
que reage à idealização, além de ser responsável pelo tom
desagradabilíssimo da obra rodrigueana, permite a Décio de Almeida
Prado traçar um paralelo entre os textos do autor e as tragédias gregas, a
partir da “forma” e do “conte do”:
Enquanto forma, por exemplo, a divisão nítida entre os
protagonistas, portadores dos conflitos, e o coro que emoldura a
ação, formada por vizinhos, parentes, circunstantes; e enquanto
conteúdo, as famílias marcadas pelo sofrimento, designadas para o
dilaceramento interior, com a maldição que as obriga ao crime e ao
castigo passando de pais a filhos. (PRADO, 1996, p. 52)
Somando-se à universalidade das tragédias, as oposições, que
acentuam o conflito e a duplicidade dos personagens principais, são, na
opinião do crítico, outro traço comum entre a obra de Nelson e o teatro
grego:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 162
As antinomias em que se debatem são sempre extremas — pureza ou
impureza, puritanismo ou luxúria, virgindade ou devassidão,
religiosidade ou blasfêmia —, em consonância com os sentimentos
individuais que se definem (ou se indefinem) pela ambivalência,
indo e vindo constantemente do pólo da atração para o da repulsão,
em reviravoltas bruscas que proporcionam as surpresas do enredo.
(PRADO, 1996, p. 52)
As duas fases de Asfalto selvagem marcam exatamente essas
diferenças, reforçadas pela mudança de cenário e de status, afinal, depois
que se casa com Zózimo, Engraçadinha enfrenta uma realidade bem
diferente da condição que tinha, quando morava com seu pai, em Vitória.
A moça de família tradicional e abastada acaba indo morar em Vaz Lobo,
subúrbio carioca. É por suprimir essa segunda parte que a adaptação
cinematográfica da obra de Nelson, intitulada Engraçadinha e dirigida
por Haroldo Marinho Barbosa, não dá conta de todo o processo de
transformação da protagonista, apesar de ressaltar, acertadamente, as
características mais comentadas dos textos do escritor. Pelo tamanho do
romance, pode-se entender o corte, mas o fato é que isso contribui para
uma redução do texto rodrigueano apenas ao aspecto erótico e devasso
que permeia narrativa e personagens, enfatizando, sim, as “marcas
registradas” do universo ficcional do autor, mas abrindo mão da
ambivalência que detona a maioria dos conflitos e que traz à tona a
hipocrisia, já que essência e aparência opõem, respectivamente, as esferas
privada e pública, a individualidade e a alteridade.
Mesmo com a ausência da segunda fase, o filme, bem como o
romance, aposta no erotismo como tema-chave para a representação da
brasilidade. Essa ideia aparece no final de Asfalto selvagem, em um
diálogo entre Luís Cláudio e Abdias, que diz:
— O Brasil vive uma fase ginecológica!
Explicou: — “O desenvolvimento traz um medonho estímulo
erótico. Nunca o brasileiro foi tão obsceno”. E insistia: — “É uma
obscenidade histórica!” [...]. Parecia-lhe nítida e taxativa a relação
entre o sexo e a epopéia industrial.
Abdias pergunta:
— Você não acha que o meu raciocínio é batata?
Luís Cláudio exulta:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 163
— Batata! E o que faz o romance brasileiro que não vê isso? A
nossa ficção é cega para o cio nacional! (RODRIGUES, 1994, p.
552).
Retomando a informação da época em que a obra foi escrita,
entre 1959 e 1960, torna-se fácil perceber, nas falas de ambos os
personagens, o reflexo da ideologia que predominava, no período de 1956
a 1961, durante o governo de Juscelino Kubitschek, cuja prioridade era a
rapidez, que alicerçava o slogan “50 anos em 5”, para a superação e o
progresso. Apesar do aumento da inflação e da dívida externa, Juscelino
promoveu o desenvolvimento em diversos segmentos, com destaque para
o industrial, fez acordos que permitiram a vinda das primeiras
montadoras automobilísticas para o país e criou a Operação Pan-
americana, que visava combater o subdesenvolvimento. Levando-se em
conta apenas esses exemplos da imensa mudança que o governo de JK
instaurou, as quais colocaram a população em uma onda de otimismo,
pode-se entender a relação do erotismo com a euforia que dominava o
país.
O público: espectador e personagem
O erotismo, na obra de Nelson Rodrigues, funcionava como
principal agente da quebra de tabus, necessária para a transgressão das
normas sociais, instalando, assim, o conflito que essas travam com o
instinto:
As opções de Nelson Rodrigues não foram as que então se
esperavam. Crítica e público desapontavam-se com o clima
crescentemente mórbido de sua dramaturgia, com o acúmulo de
situações anômalas e de pormenores desagradáveis, com as quebras
cada vez mais freqüentes da lógica e da verossimilhança. Ele parecia
ferir de propósito, pelo prazer de quebrar barreiras morais e
estéticas, tanto o bom senso quanto o bom gosto. (PRADO, 1996, p.
53).
No fragmento transcrito, o crítico refere-se à dramaturgia, o que
não impede que sua observação seja aplicada ao universo romanesco de
Nelson, que se aproxima muito das suas peças teatrais. O mais
importante, porém, é a associação que Décio de Almeida Prado
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 164
estabelece entre o desagradável e a ruptura da “lógica e da
verossimilhança”, do que se pode depreender que o lógico e o verossímil
eram qualidades apenas das coisas que obedeciam ao “bom senso” e aos
bons costumes. Dessa forma, a posição do público e da crítica retratada
pelo autor encerrava em si mesma a hipocrisia, já que qualquer desvio de
comportamento não era encarado como realidade, parecendo que a
sociedade era formada apenas por pessoas de bom caráter, sem o
antagonismo entre o bem e o mal.
Em vários textos, do próprio dramaturgo e de Sábato Magaldi,
um dos principais estudiosos da obra de Nelson Rodrigues, há referência
ao tenaz julgamento do público e da crítica, alertando para o fato de a
repulsa ser motivada não por questões estéticas, mas éticas, ou seja, a
sociedade, sentindo-se afrontada pelo erotismo e pela profundidade dos
temas propostos pelo autor, não conseguia ver no texto qualidades,
porque já estava predisposta pelo incômodo que a violência dos textos lhe
impunha.
Em A cabra vadia, há uma passagem que comprova essa postura
do público, em relação aos textos rodrigueanos: “As senhoras me diziam:
‘Eu queria que seus personagens fossem como todo mundo’. E não
ocorria a ninguém que, justamente, meus personagens são como todo
mundo: e daí a repulsa que provocam. Todo mundo não gosta de ver no
palco suas íntimas chagas, suas inconfessas abjeções.” (RODRIGUES,
1995, p. 155). Tal comportamento prova que um dos intentos do autor, a
promoção da identificação entre público e texto, foi alcançado.
Entretanto, o cumprimento dessa meta custou caro ao autor. Interferindo
psicologicamente junto ao leitor/espectador, Nelson Rodrigues representa
a sociedade brasileira cruamente, sem adornos, de modo exemplar, mas,
paradoxalmente, é taxado de obsceno, amoral, algo facilmente explicado
a partir do processo de projeção. O público reconhecia-se nos
personagens rodrigueanos, mas, em vez de julgar a si próprio, assumindo
seus erros, julgava o autor, isentando-se de qualquer falta e também da
punição que essa implicava.
Com a aproximação entre palco e público, Nelson pretendia
descobrir a máscara social que moldava uma sociedade preocupada
em se adequar aos rótulos impostos pelo modelo burguês. Essa
aproximação fez com que o público se visse representado no palco,
ou seja, o texto rodrigueano funcionava como um espelho,
refletindo o caráter humano encoberto por máscaras impostas pela
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 165
sociedade e condenada pela religião, revelando, dessa maneira, o
inconsciente primitivo do homem. (BURLIM, 2008, p. 2)
O ato de revelar “a vida como ela é” e a consequência disso, que
era a criação de um mundo incômodo para o leitor/espectador, embora
reconhecidos, inconscientemente, pelos espectadores, como válidos e
presentes em suas vidas, passavam a ser conscientemente recusados,
através de um processo de autodefesa, pois não é fácil reconhecer e
assumir os erros, ainda mais quando esses fazem parte das emoções e
fantasias mais íntimas e, portanto, inconfessáveis. Claro que a reação do
público não poderia ser prevista pelo autor com exatidão, mas podia-se
aventar a hipótese da recusa, já que o desagradável fazia parte do projeto
estético e ideológico de Nelson Rodrigues, evidência percebida pela
insistência do escritor, que não mudou seu estilo, mesmo com as críticas
negativas e constantes que recebia, e, de modo mais direto, pelos seus
depoimentos em relação à sua obra e aos seus objetivos.
Em 1974, Nelson declarava que “teatro não tem que ser bombom
com licor. Teatro tem que humilhar, ofender o espectador.” (BURLIM,
2008, p. 1). A partir dessa afirmação, fica fácil relacionar o autor ao ideal
dos modernistas, tanto na literatura como no cinema, pois o foco é a
desalienação, alcançada através do “choque do real”, afinal, nos textos de
Nelson, “o mundo aparece como pura degradação, e as personagens, os
heróis, enfim, representam um mundo corroído, subvertido e corrompido,
se percebido sob uma perspectiva da ‘normalidade’, do ‘aceitável’ [grifo
nosso]” (FRANÇA, 2008, p. 14). Nesse trecho, a ressalva do autor,
colocada em destaque, na citação, ajuda a entender a posição de Décio de
Almeida Prado, transcrita anteriormente, no tocante à ruptura da “lógica”
e da “verossimilhança”, operada pelos textos rodrigueanos, nos quais é
indissolúvel a relação entre o desagradável e o erotismo, que serve de
instrumento para a desestabilização do leitor/espectador, além de se
revelar uma característica muito associada à brasilidade.
Dessa forma, o erótico propicia o cumprimento de duas funções:
ao mesmo tempo em que instala o confronto necessário para o
desmascaramento social, o erotismo simboliza o brasileiro, mesmo que
metonimicamente (importa ressaltar que o recorte, necessário, opta por
um traço extremamente marcante na construção e na repercussão de uma
“imagem nacional”). Associando essas duas funções, chega-se à
desmedida ou ao excesso, característica que, aos poucos, foi sendo aceita
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 166
e mesmo entendida como parte da realidade brasileira. Ismail Xavier
refere-se a essa postura mencionando o principal resultado dela:
[...] um debate que criou um novo ambiente para a recepção da obra
de Nelson Rodrigues. A discussão em torno da desmedida como
forma de colocar em discussão certos traços da vida nacional ganha
espaço, e a paródia do kitsch torna-se ingrediente legítimo na
reflexão sobre a experiência nacional, inclusive em sua dimensão
política. (XAVIER, 2003, p. 183-4)
Erotismo: tabu e libertação
O erotismo, principal instrumento de Nelson Rodrigues para o
descomedimento de sua obra, também é analisado por Christian Dunker,
em artigo publicado na revista Interações. O crítico considera o elemento
erótico como um dos estereótipos criados (e perpetuados, a posteriori)
para representar a brasilidade2. Considerando o impacto dos estereótipos
na repercussão do país junto aos estrangeiros, Dunker associa erotismo e
exotismo, já que o processo de estereotipia surge, comumente, com a
tentativa de ressaltar os diferenciais de um país em relação aos demais.
Sendo assim, essas características, que são vistas como típicas ou
peculiares, passam a ser vistas como elemento exótico e, segundo o
crítico, provocam o “gozo estrangeiro”, metáfora que traz à tona o
erotismo:
O erotismo é uma das esferas mais fortes de representação do Brasil.
Ele se manifesta nos principais estereótipos que temos sobre nós
mesmos, e também na forma como nos imaginamos sendo
imaginados pelo outro. O samba, o futebol e as nossas paisagens
paradisíacas distinguem-se justamente por esse toque de erotismo
deslocado. Mais recentemente, na música, na moda e até mesmo no
turismo, encontramos sinais claros de como nosso erotismo pode se
conjugar com a lógica cultural do capitalismo tardio. Ao que tudo
indica, a idéia de que erotismo faz parte do “nome da marca”, e que
a partir disso devemos, com o cinismo que for necessário, explorar
tal produto, foi plenamente incorporada ao projeto político nacional.
(DUNKER, 2008, p. 2)
2
No caso específico da obra de Nelson Rodrigues, cabe destacar que também o
futebol tem esse propósito, embora desencadeie efeitos diversos.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 167
Considerando o tempo que separa a publicação do livro Asfalto
selvagem, no formato de folhetim, da adaptação cinematográfica do
romance, dirigida por Haroldo Barbosa, chega-se a uma distinção
interessante, perceptível na produção cinematográfica nacional. Com base
nos estudos de Ismail Xavier, Dunker afirma: “[...] há duas tendências
dominantes no cinema brasileiro a partir dos anos 60. Uma voltada para a
dramaturgia familiar, situações de classe e vida política. Outra centrada
nas paixões, no desejo e na sexualidade. A partir dos anos 70, e
definitivamente nos anos 90, a segunda vertente torna-se hegemônica.”
(DUNKER, 2008, p. 4). De fato, Ismail Xavier refere-se às décadas de 70
e 80 como mais voltadas “para tipos eróticos de femme fatale, às vezes
com toques de decadentismo, que veremos veiculando uma idéia do
feminismo” (XAVIER, 2003, p. 174). O crítico vai além, mencionando
que, “nos anos 70, quase não haverá espaço para [...] resíduos de
normalidade que retêm as personagens num terreno de ‘vida comum’”
(XAVIER, 2003, p. 174), diferenciando, portanto, esse contexto e essa
estética do “projeto de formação para a domesticidade”, típico dos anos
60.
Sendo assim, como o lançamento do filme de Haroldo Barbosa
foi em 1981, tem-se outra razão para a direção ter optado apenas pela
adaptação da primeira parte da obra de Nelson, que corresponde à fase da
juventude de Engraçadinha, período permeado pela devassidão e pelo
erotismo. Justamente porque o filme se encaixa perfeitamente na
tendência cinematográfica da época, abriu-se mão da continuidade da
obra, que, se retratada, daria o contraponto da personagem madura ao que
ela tinha sido e feito, em sua juventude. Entre a fidelidade a essa
característica essencial ao romance rodrigueano e a obediência à nova
tendência do cinema nacional, optou-se pela segunda.
Fora isso, não se pode esquecer uma das razões mais óbvias e
práticas para o corte: a impossibilidade de representar, adequadamente,
em duas horas ou menos, quase 600 páginas de história. Até mesmo J. B.
Tanko, que, na década de 60, fez a adaptação fílmica do romance Asfalto
selvagem, não escapou à divisão. A diferença é que, ao contrário de
Haroldo Barbosa, para evitar a escolha de uma única fase da história de
Engraçadinha, em detrimento da outra, Tanko seguiu a divisão do
romance, publicado em dois volumes, e fez dois filmes: Asfalto selvagem,
em 1964, e Engraçadinha depois dos trinta, em 1966, os quais Ismail
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 168
Xavier considera “versões convencionais do folhetim” rodrigueano. A
adaptação correspondente ao primeiro volume da história teve sua
exibição proibida logo depois do lançamento, por intervenção de um
grupo de esposas de militares do alto escalão. No entanto, a censura não
demoveu o diretor da continuidade do projeto, que previa a adaptação do
segundo volume, de modo a apresentar o texto rodrigueano em sua
totalidade.
Embora o filme de Haroldo Barbosa faça a adaptação de apenas
uma parte do texto literário, tenta recuperar até mesmo o modo de
apresentação da história, que privilegia a alternância de episódios e dos
personagens que os protagonizam, além de dar grande ênfase ao uso dos
flashbacks. Some-se a isso o fato de a família, importante nas duas fases
de Engraçadinha, continuar representando, na adaptação fílmica, tal qual
no romance, um instrumento para expor a hipocrisia que domina toda a
sociedade. Já no início, Haroldo Barbosa investe na duplicidade, quando,
no enterro de Dr. Arnaldo, pai de Engraçadinha, um amigo discursa, em
tom de apologia exagerada, enquanto, à parte, várias pessoas comentam
detalhes escabrosos que souberam sobre a vida do morto ou de outro
membro da família.
Lado a lado, são mostradas a imagem da família perfeita, com
uma boa camada de verniz, como se fosse uma versão passada a limpo, e
a imagem de uma família em crise constante, desmascarada pelos
exemplos de falta de conduta que se avolumam a cada novo comentário.
O golpe de misericórdia é dado com o boato de que Arnaldo era amante
da filha, informação que causa impacto em todos os presentes, ao mesmo
tempo em que dá o tom da profundidade da análise do comportamento
humano e da sociedade como um todo, pois o mais importante era expor
a podridão que se escondia debaixo da maquiagem carregada usada pela
sociedade.
A desmistificação da família
Aproveitando a intimidade que une as pessoas de uma mesma
família, Nelson Rodrigues trata de redimensionar os laços, estreitando-os
a ponto de as relações familiares darem espaço às perversões sexuais.
Nesse ponto, o filme recupera vários temas do texto rodrigueano. O
principal deles é o incesto (tanto aquele insinuado entre pai e filha,
quanto o que acontece, de fato, entre Sílvio e Engraçadinha, que se
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 169
julgam primos, mas se descobrem irmãos), seguido pelo adultério (Sílvio
é filho de Arnaldo com a cunhada), pelo lesbianismo de Letícia (que se
declara apaixonada pela prima), pelo voyeurismo (na parte em que
Engraçadinha observa Sílvio possuindo Letícia, como se fosse ela) e pelo
comportamento oscilante, tanto de Sílvio como de Engraçadinha.
Exemplos disso aparecem quando Engraçadinha vai procurar o
primo no trabalho, insinua-se para ele, que a repele, e, como resposta ao
convite que ela lhe faz, dizendo que o esperará, no quarto, à noite, ele a
esbofeteia, ao que ela reage positivamente, como se tivesse realizado um
grande anseio e mesmo esperando que ele a esbofeteie ainda outras vezes.
Sílvio mostra-se também oscilante, porque, depois da bofetada, acaba
indo ao quatro da prima. Entre o desejo e o ódio que sente por
Engraçadinha, Sílvio vive em constante indecisão. Em outra ocasião,
quando transa com Letícia, achando que se tratava de Engraçadinha, ele a
chama de “querida” e diz que a ama, mas, segundos depois, ele a deixa,
chamando-a de “vaca”.
Como se não bastassem todos esses pontos que desconstroem a
imagem de família feliz, a virgindade da filha também serve de mote para
denunciar a necessidade social de sobrepor a aparência à essência. Depois
de Engraçadinha inventar que está grávida, Arnaldo a leva para uma
consulta ginecológica, buscando ter certeza sobre o que a filha afirmava.
Porém, para tomar tal atitude, o pai cerca-se de cuidados, buscando
pretextos para se informar sobre um médico de confiança e optando,
inclusive, por um horário fora do expediente normal, para assegurar o
segredo, afinal, era uma pessoa conhecida e não podia meter-se em
escândalos. Também o médico dá sua colaboração para ressaltar a
importância de se manter a aparência a qualquer custo, quando diz ser
possível reconstituir a virgindade da moça, saída aceita pelo pai, mas não
por Engraçadinha.
Em outros momentos, há mais referências ao radicalismo de
Arnaldo, que não mede esforços para evitar que ele e a filha caiam “na
boca do povo”. O aborto e o casamento arranjado com Zózimo já tinham
sido cogitados, caso a gravidez, naquele momento, fosse real. No caso do
“arranjo”, insistir no plano ainda representava certas vantagens, na
opinião do pai: manter a filha longe de Sílvio e assegurar que ninguém
soubesse do passo em falso da filha, pois, quando ela teve o caso com
Sílvio, ainda estava noiva de Zózimo.
Interessante é perceber o n mero de “podres” que aparecem, à
medida que se revolve a vida familiar, como se um erro desencadeasse
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 170
outro. Sobre isso, é extremamente relevante a vida que Arnaldo constrói,
para servir de fachada, apenas, e encobrir suas faltas. Habituado a
“esconder a sujeira debaixo do tapete”, ele nãos se dá conta de que, sem
saber, colabora para que outro erro seja cometido, como se mentira
gerasse mentira, afinal, se o parentesco verdadeiro ente Sílvio e
Engraçadinha fosse revelado desde o começo, o caso entre os dois
poderia ter sido evitado. O problema é que, se assim fosse, a tragédia não
aconteceria e o texto, que daí teria como objeto uma família feliz e ideal,
soaria bastante artificial, não se detendo sobre um dos piores defeitos da
sociedade: a hipocrisia. Dessa forma, seguindo os passos do pai, os filhos
não só repetem o erro, mas também sofrem com o castigo e a culpa,
passados de geração a geração, assim como ocorria nas tragédias gregas,
que primavam pela força atávica do destino.
Freud, que, aliás, também estudou as tragédias e os mitos gregos,
para formular sua teoria psicanalítica, discute essa “herança”, quando
discorre sobre tabus, considerados por ele “proibições de antiguidade
primeva”, porque “devem ter persistido de geração para geração.
Possivelmente, contudo, em gerações posteriores devem tornar-se
‘organizadas’ como um dom psíquico herdado” (FREUD, 1996, p. 48).
As maiores provas disso são as repetições das situações. Assim como
Arnaldo traiu o irmão, tendo um filho com a cunhada, Engraçadinha,
mesmo noiva de Zózimo, começa um caso de amor com o primo
(acrescente-se, aqui, o fato de ambas as traições terem acontecido no
mesmo lugar: no divã da biblioteca da casa de Arnaldo). Tais
“coincidências” são mais enfatizadas pelo romance, que, na segunda fase
da protagonista, também menciona a fixação de Durval na irmã caçula,
Silene, o que faz Engraçadinha lembrar-se de si própria e de Sílvio, ainda
mais levando-se em conta a semelhança que havia entre os personagens,
tanto no aspecto físico como no comportamental.
Na família de Zózimo e Engraçadinha havia, sim, desvios de
conduta, sobretudo envolvendo Silene, mas é a parte referente à
adolescência de Engraçadinha, justamente a que é focada no filme de
Haroldo Barbosa, que guarda inúmeras transgressões, como
exemplificado acima. Sendo assim, a opção pela primeira parte justifica-
se pelo intento de reforçar as características que mais bem definem o
estilo rodrigueano. Porém, dessa postura surge um problema: elegendo
apenas a primeira parte da história, o diretor perpetua o estilo de Nelson
como aquele desagradável e de ruptura, o que resulta em um
reducionismo, afinal, as obras de Nelson são mais do que isso. O
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 171
erotismo e a violência de seus textos não são gratuitos, apesar de serem as
marcas da arte rodrigueana.
De qualquer modo, o fato é que a seleção era necessária, pelo
tempo restrito do filme e pela extensão da trama. Cabia, então, ao diretor,
escolher entre o mais e o menos comentado e a primeira opção garantiria
duas coisas ao mesmo tempo. Primeiramente, explicações através de
flashbacks não se faziam necessárias, já que a primeira parte, ao contrário
da segunda, não obrigava o diretor a fazer relações frequentes com a
primeira fase da protagonista, de modo a levar o espectador a entender
melhor a história. Em segundo lugar, as expectativas do público seriam
atendidas, já que esse reconheceria, imediatamente, no filme, os
principais traços estilísticos das obras de Nelson Rodrigues, pois a
primeira parte do texto é responsável por dissociar a imagem da família
real daquela imagem que todos, sobretudo Arnaldo, tentavam passar e
que era propagada nos eventos sociais. Nada do que aconteceu na
biblioteca, entre Sílvio e Engraçadinha, foi conhecido pelas pessoas que
estavam na festa. Apenas a família (e, mesmo assim, nem toda ela) soube
do ocorrido.
A tensão entre as esferas pública e privada é que divide os
personagens, obrigando-os a transitar entre dois mundos diferentes. Sem
poder ter certeza de nada, as pessoas que mantêm relações sociais com a
família ficam sabendo apenas dos detalhes que lhes são contados por
alguém que “ouviu dizer” ou “soube por alto”, o que abala, mas sem
destruir por completo, a imagem que a família construiu para servir aos
outros. Quando Nelson escolhe a família como núcleo de suas histórias,
obriga o espectador/leitor a penetrar em um universo íntimo, no qual os
detalhes mais sórdidos passam a ser conhecidos, razão pela qual o
desvendamento é termo-chave para a compreensão do desagradável nos
textos rodrigueanos.
A análise da família pode, então, ser encarada como algo que
estabelece um laço indissolúvel entre o aspecto psicológico e a
onisciência e a onipresença do narrador, já que esse, ao entrar em contato
com o espaço privado, acaba conhecendo segredos relacionados aos
personagens, que, por sua vez, carecem de uma análise mais profunda.
Dessa forma, o desvendamento do plano psicológico serve,
simultaneamente, para aprofundar a ambiguidade do caráter humano, em
se tratando do aspecto individual, bem como sustenta a crítica que
estabelece a hipocrisia como principal qualidade social. Defeito ou
virtude? Sem dúvida, para Nelson Rodrigues, um defeito a ser
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 172
exterminado, mas, para a sociedade da época, uma qualidade, afinal, a
hipocrisia permitia fechar os olhos para os problemas, propiciando a
criação de um universo confortável.
A abertura ao plano psicológico permite que o narrador avance
ainda mais no abismo pessoal de cada indivíduo, o que o torna capaz de
revelar ao leitor o que de fato se esconde por trás da máscara social.
Levado por esse narrador, o leitor/espectador descobre o outro lado da
família, que pode, muito bem, em maior ou menor grau, corresponder à
dele, afinal, como afirma Renato Gomes da França:
A família, que no espaço público deve brilhar, perde o seu verniz
quando vista dentro das paredes da casa. Como um organismo vivo,
a casa e a família guardam em seu interior a doença, que espera o
momento preciso para se manifestar, como um câncer: Toda família
tem um momento em que começa a apodrecer. Pode ser a família
mais decente, mais digna do mundo. Lá um dia aparece um tio
pederasta, uma irmã lésbica, um pai ladrão, um cunhado louco. Tudo
ao mesmo tempo. (FRANÇA, 2008, p. 19)
Além da oposição entre público e privado, o crítico ressalta a
universalidade resultante do recorte familiar, o que justifica o uso da
família como metonímia da sociedade em geral. A família do texto
rodrigueano pode ser todas as famílias ou qualquer família, razão pela
qual, na citação, percebe-se um diagnóstico não só de todas as famílias,
mas também de todos os tempos, sem que a família, tal qual é
apresentada por Nelson Rodrigues, represente apenas o tempo da escrita
da narrativa ou da ação. Ressalte-se ainda a função da família para
delinear a dualidade que Nelson concretizou com a divisão de sua obra
em duas fases. Concorrem para o confronto entre realidade e idealização
a “moralidade de fachada” e a “tradição”, pois são elas que obrigam os
personagens a perpetuarem a história de seus antepassados (também
falsa), cercada da mesma hipocrisia que revelam os epitáfios ou
homenagens póstumas, que tendem a enfatizar as boas ações e esconder
as faltas.
A mulher é a chave
Outro ponto fundamental, na obra de Nelson Rodrigues, é a
função da mulher frente à “moralidade” e à “tradição patriarcal”.
Exatamente pelo patriarcalismo, o desejo feminino rompe padrões.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 173
Considerando a cultura patriarcal um dos pilares da sociedade em geral, a
ênfase na mulher opera verdadeira inversão, já que se desfaz a imagem da
mulher como subserviente e passiva na relação a dois. Engraçadinha
demonstra isso em ambas as fases de sua história, embora, aos trinta, já
tendo passado por tudo que deixara em Vitória, quando se casou com
Zózimo, a culpa e a religião servissem de baliza a seus atos, limitando-os.
É a mulher quem determina o desenrolar da história, afinal, é
Engraçadinha quem provoca a relação incestuosa com Sílvio, o que
resulta na morte do primo/irmão, assim como é ela quem cede às
artimanhas de Luís Cláudio, levando o caso ao extremo, até que a traição,
descoberta por Letícia, passa a ser um trunfo que essa usa contra a
própria prima. Em uma perspectiva mais ampla, é como se, questionando
o patriarcalismo, que orienta a sociedade, o autor promovesse o embate
entre o sujeito individual e as Instituições, que representam a esfera
pública, que, por sua vez, confrontam a essência da esfera privada, em
toda a sua crueza, e a aparência simbolizada pelo sistema.
A partir dessas considerações, conclui-se que a tensão que se
estabelece entre a família, o sistema patriarcal e “a moral e os bons
costumes” acaba comandando as fases distintas de Asfalto selvagem e a
escolha do diretor da adaptação fílmica pela primeira parte da história. É
inegável que a família de Arnaldo, até pelo status que tinha, serve melhor
para causar o impacto que sempre caracterizou as obras de Nelson. É
apenas nessa fase que se avolumam as transgressões que acabam por
detonar a tragédia. Além disso, a escolha do diretor pela adaptação da
primeira fase, apenas, deve-se ao naturalismo, traço que caracterizou o
que Ismail Xavier denomina “a segunda onda de adaptações” das obras
de Nelson Rodrigues, realizadas no período de 1978 a 1983.
A similaridade com as pornochanchadas é clara, pelo tom vulgar
que os filmes dessa época privilegiam e pela tentativa de “fazer da
promiscuidade — dentro e fora de casa — um traço nacional” (XAVIER,
2003, p. 191) e, para isso, as obras de Nelson servem bem, pois
“tematizam a aparente oposição — mas identidade notória — entre casa e
bordel” (XAVIER, 2003, p. 191). Tal afirmação reforça a relação entre
espaço público e privado, afinal, é nessa transição que a história de
Engraçadinha ganha força e parte do individual à crítica social. Sendo
assim, não resta dúvida de que a escolha da primeira fase foi adequada à
tendência cinematográfica da década de 80. O problema é que,
comparando o filme de Haroldo Barbosa ao romance Asfalto selvagem, o
naturalismo aparece como prejuízo, uma espécie de alavanca para o
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 174
reducionismo, já que essa característica não pode servir para qualificar a
obra como um todo, tendo em vista a segunda fase da protagonista, que
surpreende o leitor, ao agir de modo oposto ao que seu perfil indicara, até
o suicídio do pai.
Anos depois da tragédia, a família que Engraçadinha e Zózimo
construíram parece viver em harmonia, com problemas esporádicos, que
não atingem, portanto, o nível de degradação das situações que compõem
a fase inicial do romance, retratada no filme. A razão dessa relativa paz é
a culpa que assola a protagonista, afinal, é notória a tentativa de mudança
completa de vida, marcada pela mudança de cidade e pela conversão
religiosa. A culpa faz Engraçadinha construir uma nova vida, o que
estabelece a dualidade do personagem, divisão que, transposta para a
sociedade, tenta afirmar um sistema também dual, porque essa
característica é inerente ao ser humano. Ao mesmo tempo, ao investir
nessa duplicidade, o naturalismo cai por terra e reacende-se um debate
ético, já que os padrões sociais vigentes passam a ser relativizados.
A discussão que é promovida, sobretudo pelo fato de ser
sublinhada a ambivalência da protagonista, nos remete, mais uma vez, ao
conceito freudiano de “tabu”, termo ambivalente, porque se relaciona
tanto ao “sagrado” como ao “impuro”. Freud menciona que “as
proibições do tabu devem ser compreendidas como conseqüências de
uma ambivalência emocional” (FREUD, 1996, p. 79). A mudança é,
então, apenas aparente. O instinto faz parte do ser humano e é apenas
reprimido pelas normas sociais estabelecidas. Esse confronto é referido
por Freud da seguinte maneira: “Tanto a proibição como o instinto
persistem: o instinto porque foi apenas reprimido e não abolido, e a
proibição porque, se ela cessasse, o instinto forçaria o seu ingresso na
consciência e na operação real.” (FREUD, 1996, p. 46-7).
Isso posto, é natural que Engraçadinha continue a ser testada.
Letícia e Odorico ressurgem, levando-lhe lembranças do passado, Luís
Cláudio aparece em sua vida, também fazendo-a retomar sentimentos e
sensações há muito esquecidos, como que trazendo de volta à vida a
Engraçadinha impulsiva e inconsequente do passado, mas ela resiste,
mesmo entregando-se momentaneamente, e retoma sua vida. Em
consonância com o perfil de sua família, na segunda fase da obra, a
protagonista goza de maior equilíbrio, o que a faz evitar ou abafar os
arroubos ou excessos, evitando, assim, nova tragédia.
Em outras palavras, em ambas as partes, o erotismo está ligado ao
trágico (desencadeando-o, na primeira, e tentando desencadeá-lo, na
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 175
segunda). A diferença reside no grau de um elemento e de outro, gerando
uma espécie de proporcionalidade. O erotismo da adolescência, maior e
cercado por inúmeras transgressões, provoca uma tragédia no sentido
estrito do termo, já que não só Sílvio morre, mas também Arnaldo, fatos
que mudam completamente a vida de Engraçadinha. Já na segunda parte,
o trágico não se estabelece da mesma forma, pois a morte de Letícia serve
para preservar um segredo, impedindo embates e sofrimentos e ainda
garantindo uma vida melhor à família da prima que ela sempre amou.
A presença do trágico, na primeira parte da obra, deve-se à
sobreposição do instinto à convenção social. Engraçadinha é consciente
das proibições e, mesmo assim, entrega-se ao erro, dominada pela
irracionalidade. Nessa fase, a protagonista é una e o jogo de oposições
surge para contrapor a realidade à idealização, de modo a romper a casca
que encobria a sociedade. Esse primeiro momento é, portanto, de caos,
quando se revolvem e se expõem os problemas de todos aqueles que
compõem aquela sociedade “inventada”.
A segunda parte da história é a tentativa de organizar o caos,
através do equilíbrio. Por essa razão, Engraçadinha, neste momento, não
é apenas a santa mãe de família. A oposição vai, aos poucos, passando
para o domínio da pseudorrealidade da ficção e se instala na personagem,
revelando sua identidade verdadeira e dual. Dessa maneira, com Asfalto
selvagem, é como se Nelson Rodrigues teorizasse sobre a natureza do ser
humano e a difícil relação entre liberdade e convenção social, concluindo
que apenas as leis podem garantir um controle razoável dos instintos.
Apenas esse procedimento é capaz de evitar grandes tragédias. Outra
conclusão que se pode tirar do romance é a de que a hipocrisia pode ser
interpretada como um mecanismo de sobrevivência do homem, diante da
divisão inerente à sua própria natureza e da existência de um padrão
moral instituído.
O destaque ao erotismo e à tragédia, na primeira fase, adaptada
por Haroldo Barbosa, explica a opção do diretor, sobretudo levando-se
em conta as características dos textos de Nelson Rodrigues. Na parte
privilegiada pelo filme, as transgressões, por se avolumarem, cumprem a
função de “aniquilar a aparência e dar curso à vida” (FRANÇA, 2008, p.
12). É justamente a intensidade dessa “aniquilação” que provoca a ruína
da família de Arnaldo e a mudança radical na vida de Engraçadinha, que
reconstrói sua história sobre a culpa, para a qual busca alívio através da
religião. O que motiva a transformação do personagem é a necessidade de
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 176
equilíbrio, estado alcançado por Engraçadinha apenas no final do
romance, justificando a ausência da tragédia.
Quanto à bipolaridade da protagonista, sublinhe-se a importância
de entender essa característica como representação real do caráter
humano, pois a aniquilação de uma parte ou de outra levaria ao
reducionismo e à irrealidade, consequentemente. A partir da justaposição
do bem e do mal e da conjunção do público e do privado, chega-se à
investigação do caráter humano e da sociedade como um todo, na
tentativa de se chegar a uma anatomia social, a partir do estudo da
psicologia individual. O objetivo é o desvelamento de uma realidade até
então oculta. O que importa é conseguir uma maior aproximação da
verdade, sem preocupações sobre o impacto que isso vai causar ou quem
irá atingir.
Esse processo de elucidação só é alcançado a partir de uma
análise mais profunda da família, “submetida à concepção do pecado
como via possível de realização dos prazeres, entretanto submetida
também à condenação social caso ultrapasse a medida da normalidade e
ouse realizar-se” (FRANÇA, 2008, p. 20). O flagrante é necessário, para
que a verdade se estabeleça. Por isso, as relações familiares servem para
pôr o indivíduo constantemente à prova. Nesse espaço íntimo, a
sexualidade levará ao excesso, como em um processo de tentativa de
libertação de repressões e censuras, gerando antagonismos que Renato
Gomes da França denomina “conflitos entre pulsão e recalque”
(FRANÇA, 2008, p. 27).
Sendo assim, perpetuando e aprofundando a dualidade que se
insinua já na divisão do romance em duas fases, o erotismo e a
sexualidade, ligados ao instinto, estão para a verdade, assim como a
convenção social, desafiada e minada pelo erotismo, está para a mentira.
Renato Gomes da França equaciona esses elementos, fazendo referência a
Nietzsche, para quem “a moral é a grande mentira, ‘vontade de negação
da vida’, instinto secreto de aniquilamento, um princípio de decadência,
de apequenamento do homem, [...] um começo do fim” (FRANÇA, 2008,
p. 55). De fato, o objetivo das regras socialmente estabelecidas é negar a
vida em estado bruto, abafar o instinto, que não pode ser refreado
completamente e torna-se visível na esfera privada.
Décio de Almeida Prado, em suas análises da obra de Nelson
Rodrigues, compartilha essa ideia: “O sexo [...] atrai pelo que tem de
escuso, menos por ser fruto do que por ser proibido, causando volúpias
ignominiosas na consciência. O prazer [...] nunca é carnal, sempre é
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 177
psicológico, envolto em culpa — aquilo que D. H. Lawrence denunciava
como sex in head.” (PRADO, 1996, p. 111). Com esse comentário,
reforça-se o caráter transgressor do sexo, ingrediente indispensável nos
textos rodrigueanos, porque é capaz de revelar a essência do ser humano
em seu lado mais primitivo, sem os limites que cerceiam o
comportamento, antevendo os excessos que podem ser cometidos e
precavendo-se contra eles, afinal, como afirmava o próprio Nelson
Rodrigues: “Só não estamos de quatro urrando no bosque porque o
sentimento de culpa nos salva.” (QUARTIN, 2008, p. 5).
Conclusão
A partir do estilo de Nelson Rodrigues, este artigo demonstrou a
crise focalizada sob perspectivas variadas. No aspecto individual,
analisou-se a mudança na vida da protagonista Engraçadinha, depois de
um momento de crise excessiva, envolvendo família, sexo, moralidade e
até mesmo religião. No aspecto social, foi enfatizado o desmascaramento
do ambiente familiar e das relações interpessoais.
Entretanto, o resultado provocado pelas narrativas do autor não se
limitou ao campo subjetivo do leitor, depois de qualquer leitura, seguindo
o processo normal de qualquer atividade interpretativa. Os textos
rodrigueanos causaram verdadeira ebulição na sociedade brasileira,
especificamente na sociedade carioca, nas décadas de 1940 e 1950. A
problematização das relações familiares sob a ótica psicanalítica
contrariaram a tradição desvelando comportamentos de homens e
mulheres, que passaram a ser representados como pessoas comuns, e não
mais como pais e mães de família, já que esse tipo de recorte ofuscava e
até mesmo impedia reflexões mais profundas acerca dos conflitos morais
e da sexualidade.
Essa postura do autor funda um novo tipo de literatura, nascido
durante esse processo de impacto e de crise moral. E a implicância disso
não é apenas estética, mas também social. A partir da literatura, a
sociedade se descobre, se analisa e se modifica.
Evidentemente, a transformação veio apenas depois de um
período lento e conturbado. Contos, romances e peças de Nelson
Rodrigues passaram por momentos variados de recepção. Depois de
serem considerados “irreais” e amorais hoje são celebrados pela crítica
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 178
especializada e por um público restrito e seleto como crônicas de
costumes da sociedade brasileira, em uma época de imbricamento de
diversos tipos de crise (política, econômica, social e moral). Desafiar a
tradição foi o legado que Nelson Rodrigues deixou à Literatura com “L”
maiúsculo, que valoriza o função social do texto, em detrimento ao
sucesso comercial.
ASFALTO SELVAGEM: A NARRATIVE IN CRISIS
Abstract: This article aims to analyze the path of Engraçadinha, protagonist of
Asfalto Selvagem, novel written by Nelson Rodrigues. With base in the literary
text, in the filmic adaptation Engraçadinha, directed by Haroldo Barbosa, and in
texts by Sigmund Freud and critics that analyze the function of the unpleasant in
the Brazilian writer's texts, this work puts in evidence the crises provoked by
subject's duality and for the family's exposition. As well as the eroticism and the
sexuality contradict the social tradition and potentiate the crisis, the religiosity
appears to restore the order and the morality lost. Starting from the
demonstrations here presented, the social critic and an uncomfortable literature,
both against the entertainment, characterize Nelson Rodrigues' work as a
chronicle of habits of the Brazilian society of the years 1940 and 1950. Besides,
to the author fair fits highlights for the daring project of confronting the social
hypocrisy with the representation of an unmasked family, for the relativization of
the morals and of the good habits, for an imperfect, but more real society.
Keywords: Literature. Cinema. Family. Eroticism. Society.
REFERÊNCIAS
BURLIM, L. A. O teatro desagradável de Nelson Rodrigues. Disponível em:
http://www.abralic.org.br/enc2007/anais/23/1575.pdf. Acesso em: 08 mai. 2008.
DUNKER, C. I. L. O declínio do erotismo no cinema nacional. Disponível em:
http://64.233.169.104/search?q=cache:Xn—
qYk5KvEJ:pepsic.bvspsi.org.br/scielo.php%3FscRipt%3Dsci_arttext%26pid%3
DS1413-29072003000200006%26Ing%3Dpt%26nrm%3Diso+Erotism
o%2Bidentidade+nacional%hl=ptBR&ct=clnk&cd=2&gl=BR. Acesso em: 03
mai. 2008.
FRANÇA, R. G. da. Nelson Rodrigues: uma poética da aniquilação. Disponível
em: http://www.letras.ufrj.br/posverna/mestrado/FrancaRG.pdf. Acesso em: 03
mai. 2008.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 179
FREUD, S. Obras psicológicas completas. Totem e tabu e outros trabalhos. Rio
de Janeiro: Imago, v. 13, 1996.
PRADO, D. de A. O teatro brasileiro moderno. São Paulo: Perspectiva, 1996.
QUARTIN, C. B. Teatro do desagradável: Imagens arquetípicas na obra de
Nelson Rodrigues. Disponível em:
http://www.rubedo.psc.br/artigosc/tearodri.htm. Acesso em: 08 mai. 2008.
RODRIGUES, N. A cabra vadia. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
_____. Asfalto selvagem: Engraçadinha, seus amores e seus pecados. São Paulo:
Companhia das Letras, 1994.
XAVIER, I. O olhar e a cena — Melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson
Rodrigues. São Paulo: Cosac & Naify, 2003 .
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 180
A FALTA DA LITERATURA
Rosana Cristina Zanelatto Santos – UFMS 1
Resumo: Neste ensaio demonstramos que planejar significa, também,
transformar formas de pensar e de agir em sociedade, neste caso, tendo por
objetivo refletir sobre a importância da disciplina teoria da literatura nas Letras.
Para tanto, fazemos uso de algumas categorias emprestadas à obra de Freud –
mal estar –, à de Walter Benjamin – história, experiência e empobrecimento - e
também à de Giorgio Agamben e sua visada benjaminiana do que seja o
contemporâneo. A seu tempo, argumentamos em favor de uma certa posição
analítica, baseada nas proposições de Wolfgang Kayser, sem, no entanto, optar
por uma postura de incontestabilidade para com aquilo que está fora do eixo
exclusivamente literário, tendo em vista que outros saberes podem e devem
contribuir para a formação analítico-crítica de nós mesmos e dos leitores que
pretendemos formar. Escolhemos, a título de exemplo de nossa hipótese, realizar
um exercício de análise literária, trazendo à baila um poema de Mia Couto.
Nessa análise, de base retórico-estruturalista, contribuem sobremaneira as
miradas de Jean Cohen e de Heinrich Lausberg.
Palavras-Chave: Teoria da literatura; Experiência; Contemporâneo;
Estruturalismo; Retórica.
INTRODUÇÃO
Algumas questões passaram, de algum tempo para cá, a nos
inquietar e, por isso, orientaram a construção deste texto: por que a teoria
da literatura faz falta? Por que a situação atual e as perspectivas presentes
e futuras para os estudos literários não nos parecem benfazejas? É
preciso mudar conceitos ou adequá-los às necessidades da(s) hora(s)? A
literatura basta a si mesma ou compõe um sistema maior? Planejar é
preciso? Sabemos que não basta denunciar um estado de coisas; é preciso
atuar para que ocorram mudanças. Neste caso, nossa atuação se dá,
timidamente, por via deste ensaio. Em tempo: não respondemos às
perguntas como a um questionário; elas são o norte para o encadeamento
de um processo crítico-compreensivo.
1
UFMS/CCHS/PPGEL. PQ/CNPq. Campo Grande – MS – Brasil – 79.022-911.
rzanel@terra.com.br.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 181
PLANEJAR É PRECISO
Antes de iniciarmos a ministração de uma disciplina em qualquer
nível de ensino, deparamo-nos com o planejamento das aulas. Muitos de
nós nos indagamos: para que planejamento se já sei o que lecionar? Uma
primeira resposta, em nível lato, é que ele serve como instrumento de
transformação social e como forma de lapidar os riscos da improvisação
e da fórmula “sempre mais do mesmo”. O planejamento não é uma tarefa
específica de planejadores ou de pedagogos; não é tão somente uma
teoria ou um método; ou, ainda, uma declaração de intenções. Ele é uma
intervenção ideológica na realidade; é a possibilidade do enfrentamento
de problemas reais; é um instrumento de gestão para o desenvolvimento
com qualidade do ensino. Ele precede e preside as nossas ações em sala
de aula e fora dela.
A expressão planejamento deriva de plano, que vem do latim
pl nus –a –um, “liso, sem dificuldade” (CUNHA, 2000, p. 612). Cunha
também faz referência à plaina, também derivada do vocábulo latina
supracitado: “instrumento usado pelos carpinteiros para alisar madeiras”
(2000, p. 612). Apesar dessa base etimológica e do percurso metafórico
indicado, sabemos que o planejamento não evita as arestas, porém
oferece ferramentas para aplainá-las, contorná-las ou mesmo fazer
perceber que algumas delas sempre estarão lá, cabendo ao planejador
saber aproveitá-las em seu favor.
Considerando que o conceito de planejamento está bastante
ligado à área das Ciências Contábeis, procuramos no Dicionário de
Contabilidade o verbete “Planejamento Contábil”. Eis sua definição:
Previsão do funcionamento de uma Contadoria; previsão de fatos
patrimoniais; previsão para a organização de trabalhos contábeis.
O planejamento contábil abrange as fases de:
1 – Coleta de dados para o Plano / 2 – Elaboração do Plano / 3 –
Execução ou Implantação do Plano / 4 – Observação sistemática do
Plano / 5 – Ajustes do Plano.
Para que sejam preenchidos todos os requisitos necessários a um
bom planejamento, é imprescindível pleno conhecimento da ciência
e da técnica contábil, e especialmente das ciências correlatas:
Organização, Administração e Direito. (SÁ, 1994, p. 333).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 182
Ao plasmarmos a definição de Antonio Lopes de Sá para o
ensino, vislumbramos as condições para um bom planejamento: um
trabalho de coleta de dados, de informações para aquilo que desejamos
“aplainar”; a clareza de que quem planeja deve saber sobre o que e como
deverá agir; a definição sobre / de quem deve planejar; o marco histórico-
temporal-cultural daquilo que se planeja; e as condições do tempo
presente para como se deve proceder ao planejamento. Assim, o
planejamento tem que enfrentar problemas relativos: ao delineamento da
realidade envolvente; à concepção de um plano capaz de delinear
propostas objetivas e factíveis; a quem são os atores envolvidos; à
adequação de seus métodos; e à avaliação constante.
Falamos aqui como se o planejamento existisse por si só. Pode
parecer óbvio, porém por detrás dele há seres humanos, marcados pela
realidade histórica e pelas circunstâncias presentes.
REALIDADE HISTÓRICA E CONTEMPORANEIDADE
A realidade histórica é delineada por via de uma análise
situacional, que inclui o tempo, o lugar e a cultura, e como isso se abate
sobre os sujeitos. Não basta apresentar um diagnóstico da realidade como
aquele do médico que, diante dos sintomas, prescreve medicamentos. Se
pensarmos acuradamente, mesmo o diagnóstico médico padece com
erros: por vezes, uma disritmia cardíaca não é um problema do coração,
porém um sintoma ligado ao estado psíquico do sujeito. Nesse sentido,
não há uma explicação verdadeira e unívoca para os fenômenos; há, sim,
hipóteses que precisam ser provadas ou não. Aqui se faz uma critica ao
positivismo e ao empirismo, heranças do século XIX, e que reverberam
em nossas mentes e em nossas ações: há que se positivar tudo o que está
em nosso entorno e rechaçar (e, por vezes, até demonizar) aquilo que o
passado nos legou. Na tese 6 do ensaio Sobre o conceito de história,
escrito em 1940, Walter Benjamin (1986a, p. 224-225) já anunciava:
Articular historicamente o passado não significa conhecê-los ‘como
ele de fato foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal
como ela relampeja no momento de um perigo. [...] O perigo
ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para
ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 183
como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição
ao conformismo, que quer apoderar-se dela. [...] O dom de despertar
no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do
historiador convencido de que também os mortos não estarão em
segurança se o inimigo vencer. E o inimigo não tem cessado de
vencer. (Os destaques são nossos).
A expressão “perigo” é utilizada três vezes. E exatamente onde
reside esse perigo? Em que pese a sedução exercida pelo materialismo
histórico nas teses tecidas por Benjamin, o caráter messiânico subjaz a
ele: o Messias, quando vier, não deverá ser somente o apaziguador; ele
deverá ser também um lutador contra as forças que intentam aniquilar o
ser humano. E essas forças estavam em ação quando Benjamin escreveu
seus textos: elas não eram somente os estados totalitários em ascensão ou
já no poder, como era o caso da Alemanha; era o esquecimento do
passado, condicionando os sujeitos, nós seres humanos, a pensar que a
felicidade era / é
[...] totalmente marcada pela época que nos foi atribuída pelo curso
da nossa existência. A felicidade capaz de suscitar nossa inveja está
toda, inteira, no ar que já respiramos, nos homens com os quais
poderíamos ter conversado, nas mulheres que poderíamos ter
possuído. (BENJAMIN, 1986a, p. 222-223).
Dito de outro modo, a felicidade está também no passado,
naquilo de que nos esquecemos ou do que nos fizeram esquecer. Não nos
cabe aqui discutir o conceito de felicidade. Pensemos nela, então, como
uma situação de bem estar e que para assim o ser não deixa de lado o mal
estar.
Na busca da felicidade aclamada por Benjamin e pensada como
nós a propomos – como uma relação dialética entre bem estar e mal estar
–, há que se detectar os problemas dos atores contemporâneos, em face
de contradições histórico-sociais presentes. Nesse ponto, precisamos
pensar o que é o contemporâneo, em uníssono com Giorgio Agamben.
A pergunta feita por Agamben (2009, p. 57): “o que significa ser
contemporâneo?” já era uma preocupação, no século XIX, de Nietzsche.
Ele detectara que o estado de contemporaneidade tem uma ligação
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 184
intrínseca com o tempo, sendo essa também uma das proposições do
filósofo italiano:
Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este,
nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido,
inatual; mas, exatamente através desse deslocamento e desse
anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e
apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58-59).
Por paradoxal que possa parecer, o sujeito contemporâneo, em
seu estado de contemporaneidade, é uma imagem do não conformismo,
da crítica, da polêmica e da inquietude, por não aderir inteiramente ao
seu tempo e às suas exigências, mantendo, ao que nos parece, um olhar
de soslaio para os escombros do passado, como o Angelus Novus de Paul
Klee, eternizado por Benjamin em sua tese 9 sobre o conceito de história.
Dizemos de soslaio, pois o olhar contemporâneo também está no
presente, porém muito mais alerta para enxergar as sombras / o escuro do
que as luzes. O escuro, segundo Agamben (2009, p. 63),
[...] não é uma forma de inércia ou de passividade, mas implica uma
atividade e uma habilidade particular que [...] equivalem a
neutralizar as luzes que provêm da época para descobrir as suas
trevas, o seu escuro especial, que não é, no entanto, separável
daquelas luzes.
Perceber, a um só tempo, a luz e a sombra é um estado
inquietante e muitas vezes desalentador. Por isso, anteriormente, nos
referimos à felicidade como a relação dialética entre bem estar e mal
estar. Aqui, nossa leitura toma um rumo baseado nos estudos de cultura
empreendidos por Freud em O mal-estar na civilização. Diante do
progresso aferido pela humanidade nos séculos XIX e início do XX,
Freud (1997, p. 39) percebeu que os homens passaram não somente a se
orgulhar de seus feitos, mas também
[...] parecem ter observado que o poder recentemente adquirido
sobre o espaço e o tempo, a subjugação das forças da natureza,
consecução de um anseio que remonta a milhares de anos, não
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 185
aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderiam
esperar da vida e não os tornou mais felizes.
Isso não significa que estejamos — nem Freud estava — contra o
progresso de qualquer ordem. O que queremos é perguntar, atualizando
as indagações do psicanalista austríaco: poder contactar via skype o
orientando que está longe; poder utilizar um projetor multimídia para
mostrar obras expostas no Museu do Prado para nossos alunos
brasileiros; poder ler obras inteiras em e-books; poder armazenar
informações e mais informações e dispor delas quando for necessário em
pequenos artefatos (os pendrivers), “Enfim, de que nos vale uma vida
longa [e repleta de facilidades] se ela se revela difícil e estéril em
alegrias, e tão cheia de desgraças [e de sem sabor] que só a morte é por
nós recebida como uma libertação?” (FREUD, 1997, p. 40). Enxergamos
e expomos, portanto, o lado sombrio daquilo que se chama progresso e
que, no mais das vezes, quer esquecer o passado. Isso é ser
contemporâneo e essa percepção é a que nos interessa. Queremos ser um
sujeito contemporâneo, que prioriza os problemas do presente, a fim de
possibilitar-se o seu enfrentamento, porém sem apagar os rastros do
passado, procurando não incorrer no empobrecimento das experiências2.
Voltando à questão do planejamento, planejar significa, então e também,
a transformação das formas de pensar e de agir em sociedade, mas
sempre olhando de soslaio, como o Angelus Novus.
NÃO EMPOBRECER A LITERATURA
Neste ponto, ingressamos com o tema “teoria da literatura”.
Optamos por essa expressão em lugar de “teoria literária”, tendo por base
as discussões empreendidas por Wolfgang Kayser na introdução de sua
obra Análise e interpretação da obra literária (introdução à ciência da
literatura) (1985).
2
Neste ponto, fazemos uma alusão-homenagem ao ensaio Experiência e pobreza,
de Walter Benjamin (1986b), uma chamada ao homem de como
empobrecemos a cada dia quando abandonamos os bens do patrimônio cultural
da humanidade em prol do esquecimento e, aqui, acrescentamos, do uso e da
crença exacerbada na tecnologia.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 186
Quando ingressamos em um curso de graduação ou de
bacharelado em Letras, alguns de nós pensamos que nos aprofundaremos
em temas caros às “emoções estéticas” (KAYSER, 1985, p. 3) e, quem
sabe, teremos despertado o escritor / o poeta adormecido em nós.
Começa aí uma das várias decepções que nos assolarão ao longo não
somente do curso, mas também de toda uma carreira que abraça(re)mos.
Logo no primeiro ano do curso de Letras, deparamo-nos com
disciplinas básicas para a compreensão, grosso modo, do que será nosso
objeto de estudo: a linguagem. Teoria da Literatura, Linguística, Língua
Portuguesa, Latim, Filologia Românica e Literatura Portuguesa passarão
a ser ferramentas para o reconhecimento do que seja, no caso específico
deste ensaio, um texto literário, uma vez que, como profissionais da área,
nosso interesse não deve ser tão somente contemplativo ou de fruição.
Temos, pois, um compromisso que nos solicita o conhecimento
aprofundado daquilo que pretendemos ensinar. Porém, antes de tudo, está
a leitura:
Todo o estudo teórico acerca da obra poética está inicialmente ao
serviço da grande e difícil arte de saber ler. Só quem sabe ler bem
uma obra está em condições de a fazer entender aos outros, isto é,
de a interpretar acertadamente. E só quem é capaz de ler bem uma
obra pode satisfazer as exigências inerentes à ciência da obra
poética (KAYSER, 1985, p. 4).
Assim, para procedermos à leitura literária, não nos basta o
entusiasmo ou o conhecimento da realidade empírica. É preciso
considerar que o texto literário é “um conjunto estruturado de frases [...]
portador dum conjunto estruturado de significados” (KAYSER, 1985, p.
6), tudo isso assente no uso da própria língua. Essa proposição pode
parecer, à primeira vista, por demais estruturalizante, porém, nem tanto
ao céu, nem tanto à terra: se o estruturalismo foi rechaçado por seus
sucessores, dentre eles, os estudos culturais, em face do abuso de
fórmulas que acabaram tornando-se verdadeiras panaceias, por outro
lado, como interpretar um poema, um conto sem nos (a)pegarmos,
inicialmente, às palavras e às construções erigidas por suas (des)uniões?
Diante dessa indagação, podemos, com Kayser (1985, p. 7), afirmar que
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 187
a literatura apresenta “[...] a capacidade especial que a língua literária
tem de provocar uma objectualidade sui generis, e o carácter estruturado
do conjunto pelo qual o efeito ‘provocado’ se torna uma unidade”.
Utilizamos acima duas expressões das quais não podemos
descuidar: “realidade empírica” e “estudos culturais”. Se Kayser não as
cita, ao menos, não nos deixa esquecer de que “[...] existem certos
problemas histórico-literários que levam necessariamente à inclusão de
outros objectos ainda [nos estudos de literatura]” (1985, p. 9). O objeto
central desses estudos é a obra literária, porém, há outras questões que
orbitam no campo de atração da literatura. Pensemos, por exemplo, nas
outras áreas do saber humano que são tematizadas pelo literário: a
política, a filosofia, a história, a psicanálise, a geografia, para ficarmos
somente nas ciências humanas. Basta lembrarmos que até hoje grandes
poetas e críticos literários de valor são homens dedicados também a
outras ciências: direito, política, filosofia, sociologia. Assim, a interseção
da teoria da literatura a essas e a outras ciências é útil e produtiva, no
entanto, há na ciência da literatura (expressão utilizada por Kayser) “[...]
uma zona nuclear como objecto próprio, cuja investigação acurada
constitui a sua principal tarefa” (KAYSER, 1985, p. 17). Esse objeto é o
texto literário.
Em 2007, Todorov lançou A literatura em perigo, publicado no
Brasil em 2009. É, a um só tempo, uma história de amor aos livros e ao
ensino e um alerta para o grande sentido da literatura, que é dar voz às
experiências humanas. Em nossa prática docente, percebemos que é
preciso, sim, fazer referências ao material humano contido no texto
literário. E como fazer isso? Todorov (2009, p. 78) responde que:
Lançando mão do uso evocativo das palavras, do recurso às
histórias, aos exemplos e aos casos singulares, [assim] a obra
literária produz um tremor de sentidos, abala nosso aparelho de
interpretação simbólica, desperta nossa capacidade de associação e
provoca um movimento cujas ondas de choque prosseguem por
muito tempo depois do contato inicial.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 188
Voltemos à carga com um acréscimo: e como fazer isso se nós,
professores, não soubermos ou não atribuirmos a devida importância aos
preceitos da teoria da literatura e, mais profundamente, da linguagem?
UM BREVE EXERCÍCIO ANALÍTICO
Propomos a seguir um exercício analítico, tendo como objeto um
poema de Mia Couto e por opções teóricas vertentes específicas da
crítica da literatura do século XX. Em tempo: no Brasil, o escritor
moçambicano é mais conhecido por sua obra em prosa, porém em África
e também em Portugal seus poemas começam a circular.
POEMA DIDÁCTICO
Já tive um país pequeno,
tão pequeno
que andava descalço dentro de mim.
Um país tão magro
que no seu firmamento
não cabia senão uma estrela menina,
tão tímida e delicada
que só por dentro brilhava.
Eu tive um país
escrito sem maiúscula.
Não tinha fundos
para pagar a um herói.
Não tinha panos
para costurar bandeira.
Nem solenidade
para entoar um hino.
Mas tinha pão e esperança
para os viventes
e sonhos para os nascentes.
Eu tive um país pequeno,
tão pequeno
que não cabia no mundo (COUTO, 2011, p. 52-53).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 189
Anunciamos, agora, que nossa análise tem como base as
proposições de Jean Cohen em sua Estrutura da linguagem poética
(1974) e os ensinamentos retóricos de Heinrich Lausberg em Elementos
de retórica literária. Destacamos no poema de Mia Couto os níveis
sugeridos por Cohen: fônico, semântico e de significado, tomando-os de
modo relacional e retórico.
Vejamos: os versos, livres, estão distribuídos em 4 estrofes. A
musicalidade é garantida pelo uso das rimas finais e internas e pela
repetição de palavras. Na primeira estrofe, temos a apresentação do tema
do poema, com a sugestiva repetição de “país” e de “pequeno”, palavras
que voltarão na última estrofe. Se por um lado, ambas dão a dimensão da
aparente pobreza do lugar, que também “andava descalço” e era
“magro”, por outro, esse país era uma “estrela menina”, “tímida e
delicada” – perceba-se a rima interna – isto é, uma criança-mulher que
dentro de si sabia que não era apenas o que parecia e que se era uma
menina um dia poderia crescer. E tudo isso é claro para o poeta, tão caro
e claro que na ltima estrofe o “país pequeno / tão pequeno” podia não
caber no mundo, mas cabia (implicitamente) no seu coração. O poema
abre-se e fecha-se com a obstinação infantil de saber-se pequeno, porém
saber-se capaz de crescer, de brilhar, de sonhar.
Ainda na primeira estrofe, há a metáfora do “firmamento” que
encobre esse país ainda noturno, mas não numa noite fechada e escura,
porém iluminada pela “estrela menina” que brilha por dentro, ainda que
timidamente, como que aguardando a intensidade de um céu repleto de
outras estrelas.
Na segunda estrofe, o país decai / cai do “firmamento” e desce à
sua condição mais terrena, numa premissa que, à primeira vista, poderia
ser a maior, mas é lida por nós como a menor: “sem mai scula” no nome,
sem “fundos”, sem “panos” ou “solenidade” para enaltecer a si e a seus
heróis. É a terra no rés do chão, no pauperismo da condição humana de
imaginar que o ter é o poder; que heróis, bandeiras ou hinos constroem
uma nação e trazem a ela um lugar ao sol, o sol da prosperidade do ter e
não do ser. A repetição cíclica da expressão “Não tinha” para “fundos” e
“panos” serve para deter o fluxo “[...] da informação e [dar] tempo para
que se ‘saboreie’ afectivamente a informação apresentada como
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 190
importante” (LAUSBERG, 1993, p. 166). A afetividade “saboreada” na
segunda estrofe o será com maior intensidade na última estrofe nos
versos: “Eu tive um país pequeno / tão pequeno”.
A terceira estrofe abre-se com uma conjunção adversativa,
“mas”. Inicia-se, pois, a premissa maior do poema: o lugar é pequeno,
magro, com uma estrela menina, porém nele não faltava “pão”,
“esperança” e “sonhos” para os “viventes” e os “nascentes”, esse ltimo
par em estado de rima final. É a prova de que o país do poeta não está
inserido tão somente em um espaço físico, mas sobretudo em um lugar
afetivo, o que amplifica sua importância.
Seguindo a lição de Lausberg (1993, p. 219-221) e baseados nos
elementos materiais do texto, podemos dizer que o poema de Mia Couto
configura-se, retoricamente, como um entimema, ou seja, a redução de
um silogismo. O entimema em questão refere-se ao conceito de pátria,
expressão ocultada no poema, porém, que parece o tempo todo perseguir
o leitor mais avisado. Por ser um poema, as provas foram reduzidas
àquelas que aparecem materialmente em um continente espoliado
(magreza, falta de recursos financeiros e opacidade diante do mundo) e
àquelas que são sentidas, mas não aparecem (a beleza da natureza / do
firmamento e a pequena grandiosidade da generosidade humana no
compartilhar do pouco que se tem). Essa redução amplifica o pensamento
principal, qual seja, que a pátria está em nós e não nós nela. É um
“poema didático”, como explicitado pelo título, que nos ensina o que é a
pertença a um lugar, numa conexão íntima e que ninguém, nenhum
algoz, pode nos retirar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que sob o risco de sermos chamados de antiquados, tendo
em vista especialmente nossas opções teóricas para a análise do texto
literário, há disciplinas que não podem ser destratadas ou maltratadas no
ensino das Letras. Entre elas, está a teoria da literatura. Cremos que há
em torno dela insegurança, desorientação e desconhecimento por parte
tanto de professores quanto de alunos. Sabemos que esta é uma
observação perigosa no sentido usado por Benjamin em sua tese 6 sobre
o conceito de história e já referido neste ensaio. Porém, é também um
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 191
alerta para que pensemos: que espécie de leitores literários queremos
formar em nossos cursos e em nossas vidas para além da academia?
Precisamos compreender que o curso de Letras é um construto
relacional, capacitado a oferecer instrumental teórico suficiente para a
produção de sentidos não somente para textos literários, mas também
para o próprio processo ensino-aprendizageem. Muitos dos problemas
que afligem a leitura literária residem nos conteúdos aplicados (ou não)
nas salas de aula dos cursos de graduação e na ausência de correlação
entre esses conteúdos. Se queremos produzir saberes e sabores, é
necessário que haja reflexão, problematização e investigação, isso sob a
condução de um planejamento ao modo como exposto neste ensaio.
Chamamos a atenção para que em nenhum momento de nossa
breve análise literária aludimos a Moçambique, ao processo de
descolonização, às guerras fraticidas ou à ação política do intelectual Mia
Couto. Tudo isso pode ser encontrado por um leitor médio, com um
mínimo de conhecimentos sobre o processo de independência, na década
de 1970, dos países africanos sob o domínio português, sem que um
professor de Letras, versado em teoria da literatura, precise guiá-lo.
Porém, não nos esqueçamos de que se trata de um texto literário,
especificamente, de um poema. Portanto, ainda é preciso a intervenção
de um professor de Letras, versado em teoria da literatura, para
apresentar os sentidos poéticos e humanos possíveis do que vai no texto.
THE LACK OF LITERATURE
Abstract: In this essay, we demonstrate that ‘planning’ also means
‘transforming ways of thinking and acting in society’, in this case aiming
to consider the importance of literary theory for studies of Languages and
Literature. Therefore, we will use some categories arising from Freud –
the bad feeling –, Walter Benjamin – history, experience and
impoverishment – and also from Giorgio Agamben (and his benjaminian
view of what is contemporary). Furthermore, we defend an analytical
view, based on the propositions of Wolfgang Kayser, without opting to
an attitude of ‘unquestionability’ with what is away from the literary axis
– since it is possible to state that other sciences can (and must) help us to
develop our analytical-critical characteristics. We have also opted, in
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 192
order to exemplify our hipotesis, to elaborate an exercise of literary
analysis, presenting a poem written by Mia Couto. In this analysis, based
on rhetorical concepts and on structuralism, the observations of Jean
Cohen and Heinrich Lausberg are extremely contributory.
Keywords: Literary theory; Experience; Contemporary; Structuralism;
Rhetoric.
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? In: _______. O que é o
contemporâneo? e outros ensaios. Tradução Vinícius Nicastro Honesko.
Chapecó, SC: Argos, 2009.
BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: _______. Magia e técnica, arte
e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sergio Paulo
Rouanet. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986a. p. 114-119. (V. 1).
_______. Sobre o conceito de história. In: _______. Magia e técnica, arte e
política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sergio Paulo
Rouanet. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986b. p. 222-232. (V. 1).
COHEN, Jean. Estrutura da linguagem poética. Tradução Álvaro Lorencini e
Anne Arnichand. São Paulo: Cultrix; Editora da USP, 1974.
COUTO, Mia. Tradutor de chuvas. Alfragide: Editorial Caminho, 2011.
CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa.
2. ed. revisada e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Tradução José Octávio de Aguiar
Abreu. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1997.
KAYSER, Wolfgang. Análise e interpretação da obra literária (introdução à
ciência da literatura). 7. ed. portuguesa traduzida e revista por Paulo Quintela.
Coimbra: Arménio Amado, 1985.
LAUSBERG, Heinrich. Elementos de retórica literária. Tradução R. M. Rosado
Fernandes. 4. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.
SÁ, Antonio Lopes de. Dicionário de Contabilidade. 8. ed. revista e ampliada.
São Paulo: Atlas, 1994.
TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. Tradução Caio Meira. Rio de
Janeiro: DIFEL, 2009.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 193
A LITERATURA INFANTIL EM CRISE?: EXPERIÊNCIAS
NA EDUCAÇÃO DO CAMPO
Alexandra Santos Pinheiro – UFGD 1
Resumo: A Literatura Infantil seria um dos recursos para propiciar às crianças o
mergulho em mundos imaginários, dando-lhes a possibilidade de vivenciar, a
partir dos personagens das histórias, experiências subjetivas e, a partir dos
enredos, resolverem questões que abalam o seu psicológico, como propõe a
análise psicanalítica de Bruno Bettelheim (1980). A partir desse pressuposto, o
presente texto analisa o espaço dado à Literatura Infantil, mais especificamente,
aos contos de fadas, na prática de docentes formados em um curso de Pedagogia
para Educadores do Campo.
Palavras-chave: Literatura Infantil, Educação do Campo, Leitura
“O ser humano de pouca idade
constrói seu próprio universo, capaz
de incluir lances de pureza e
ingenuidade, sem eliminar todavia a
agressividade, resistência,
perversidade, humor, vontade de
domínio e mando” (Uilcon Pereira2)
Introdução: metodologia e motivações
A preocupação com o imaginário infantil é tema de pesquisa de
teóricos como Vigotsky e Walter Benjamin, para citar dois dos principais
referenciais do presente texto. Vigotsky, na obra Imaginación y creación
em la edad infantil, discute a importância da fantasia3 para a formação do
cidadão e destaca a necessidade do adulto valorizar esse processo
1
Professora adjunta da Universida Federal da Grande Dourados.
alexandrasantospinheiro@yahoo.com.br.
2
In.: BENJAMIN, 1984, p. 11.
3
Adotaremos a definição de Jacqueline Held: “O termo fantástico [...] significa
aquilo que só existe na imaginação ou na fantasia; e, não, a acepção que
costumamos lhe dar de extraordinário, extravagante, prodigioso, incrível”.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 194
imaginativo, partindo, não do ponto de vista adulto, e sim dos interesses
demonstrados pelas crianças, uma vez que, de acordo com o pesquisador,
“la imaginación en el niño funciona de uma manera diferente que en el
adulto” (VIGOTSKY, 1999, p. 27). A Literatura Infantil seria um dos
recursos para propiciar às crianças o mergulho em mundos imaginários,
dando-lhes a possibilidade de vivenciar, a partir dos personagens das
histórias, experiências subjetivas e, a partir dos enredos, resolverem
questões que abalam o seu psicológico, como propõe a análise
psicanalítica de Bruno Bettelheim (1980).
A partir desses pressupostos, o presente texto analisa o espaço
dado à Literatura Infantil, mais especificamente, aos contos de fadas 4, na
prática docente dos acadêmicos do curso de Pedagogia para Educadores
do Campo. Tratava-se de um Curso presencial de graduação/licenciatura,
desenvolvido em parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE, a Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação-FUNDEP e o Incra/Pronera – Programa
Nacional De Educação Da Reforma Agrária. Os educandos eram
integrantes dos movimentos sociais e as aulas eram concentradas nos
meses de julho, janeiro e fevereiro. A maior parte desses acadêmicos já
atuava como professor e demonstrava, em seu discurso, não reconhecer a
importância da leitura de textos com elementos fantásticos, como fadas,
bruxas, duendes, espelhos mágicos etc, para a formação da criança.
O pouco reconhecimento por essa literatura causou certo
estranhamento, pois, quando aceitamos ministrar a disciplina de
“Literatura Infantojuvenil” no referido curso, imaginamos que seria
significativo trabalhar, com pessoas marcadas por histórias de lutas, um
ramo da arte literária que nasceu da tradição oral, a partir da necessidade
de mostrar os perigos da vida às crianças e de lhes incutir os valores
ideológicos dos adultos. Ao retomarmos a trajetória histórica dessa arte,
também lembramos que ela, muitas vezes, serviu para dar às crianças a
esperança de dias melhores, numa idade média marcada pela fome, como
lembra Nelly Coelho (1991).
4
Regina Zilberman propõe uma identificação entre Literatura Infantil e Contos
de Fadas. Para a autora, a Literatura Infantil só pode ser considerada como tal,
quando incorpora os auxiliares fantásticos dos contos de fadas (ZILBERMAN,
1987, p. 48).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 195
A leitura do referencial teórico sobre a Literatura infantojuvenil 5
mostra como esse gênero colaborou para a consolidação da família
burguesa, caracterizada pela figura feminina voltada para as
preocupações domésticas e a masculina responsável pelo sustento da
família. Nesse sentido, também teríamos, nas histórias infantis, a
valorização da criança como um ser em desenvolvimento e o papel de
destaque da mulher (mãe) nesse processo. Já a inserção do gênero nas
instituições escolares oferece outro elemento de análise, qual seja, a
distinção entre as “escolas para ricos” e a “escolas para proletários”,
questão analisada no Estatuto da Literatura Infantojuvenil:
A criança burguesa encontra-se plenamente integrada no contexto
familiar, uma vez que este foi solidificado para resguardá-la. O
agente desta proteção é a personagem materna, o que dá um
fundamento histórico e social ao complexo de Édipo, como
pretendem Stone e Poster.
[...]
A situação do setor proletário não é idêntica. A preservação da
criança visa a formação e manutenção de um contingente obreiro
disponível; e é à família, dentro da qual a responsabilidade maior
cabe às mães, que se legam esta tarefa (ZILBERMAN, 1987, p. 09-
10).
Mas a expectativa de que conhecer a história e a função desse
ramo da Literatura possibilitaria aos futuros e já atuantes educadores do
campo e líderes de diferentes movimentos sociais a oportunidade de
compreender histórica e antropologicamente a história social da família
foi confrontada pela reação de alguns acadêmicos, que se expressaram
aproximadamente nestes termos: “Professora, para que serve esse mundo
de imaginação? Nossas crianças têm que crescer conscientes do mundo
real”. Num primeiro momento, indicamos a análise de Bruno Bettelheim,
Psicanálise dos contos de fadas, e a leitura de autores que defendem a
fantasia para a formação do sujeito, como é o caso de Walter Benjamin.
De qualquer forma, essa indagação, feita no primeiro dia de aula, fez
com que repensássemos o programa e buscássemos, na teoria, respostas
5
Quando usamos a terminologia Infantojuvenil fazemos referência a dois tipos
de livros: aos destinados às crianças até a terceira série, e aos livros utilizados a
partir da quarta série.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 196
que levassem a 1ª turma de Pedagogia para Educadores do Campo a
perceber a importância de conhecer, na teoria e na prática, os elementos
constituintes dessa área de conhecimento.
Assim, o leitor e a leitora deste artigo encontrarão, nas páginas
seguintes, uma discussão sobre as possíveis causas da rejeição aos contos
de fadas, ou seja, a rejeição que parte dos educandos da primeira turma
do curso de Pedagogia para Educadores do Campo demonstrou em
relação à fantasia. Quais os motivos dessa rejeição? Baseada nas
pesquisas de Bruno Bettelheim, Regina Zilberman, Marisa Lajolo, Nelly
Coelho Novaes, Maria da Glória Bordini, Walter Benjamin e Vigotsky,
interpretamos o discurso dos acadêmicos e das acadêmicas e indicamos a
importância de se repensar o espaço da fantasia, a partir dos contos
fantásticos, em seus trabalhos docentes. Vale ressaltar que esses
acadêmicos lecionam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, para
crianças na faixa-etária de 5 a 9 anos, uma fase em que o público leitor,
conforme Bordini, “vai buscar, nos contos de fadas, lendas, mitos e
fábulas, a simbologia necessária à elaboração de suas vivências. Através
da fantasia, resolve seus conflitos e adapta-se melhor no mundo”
(BORDINI, 1988, p. 19).
Por outro lado, nas leituras das obras de Ademar Bogo,
encontramos respaldo no próprio movimento social para defender o
espaço à fantasia no processo escolar dos estudantes do campo.
O olhar descrente que alguns educandos mantiveram durante os
encontros fez-nos lembrar do discurso de Pedro Bandeira. Em entrevista
publicada no jornal Proleitura, mantido, na época, em parceria entre
UNESP-Assis, UEL e UEM, o autor falou com paixão sobre a
importância dos contos de fadas na tradição oral, quando crianças, na
Idade Média, dormiam famintas, acalentadas apenas pelas histórias de
suas avós e mães, que ofereciam, juntamente com as narrativas, a
esperança de que a situação poderia ser revertida. Dessa entrevista,
apresentamos um trecho que servirá, neste artigo, como motivador do
debate proposto:
A criança morre de medo do lobo da história da Chapeuzinho
Vermelho, mas no dia seguinte fala: “mamãe, conta de novo!” Isso
porque ela quer de novo ser protegida no colo da mamãe, passar de
novo pelo medo e resolver isso internamente, dá um salto
emocional, e é assim que se traz segurança ao ser humano, que não
vai precisar de um psicanalista mais tarde (BANDEIRA, 1998, p. 2).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 197
A questão do crescimento psicológico, apontada pelo autor,
representa, inclusive, uma das funções da Literatura destinada ao público
leitor infantil e adolescente. Como afirma Zilberman, a Literatura Infantil
preenche as lacunas deixadas pelos ensinamentos escolares e propicia a
compreensão do mundo real:
Assim, se a criança – devido não só a sua circunstância social, mas
também por razões existenciais - se vê privada ainda de um meio
interior para a experimentação do mundo, ela necessitará de um
suporte fora de si que lhe sirva de auxiliar. É este o lugar que a
literatura infantil preenche de modo particular, porque, ao contrário
da pedagogia ou dos ensinamentos escolares, ela lida com dois
elementos que são especialmente adequados para a conquista desta
compreensão do real (ZILBERMAN, 1987, p. 11-13).
Realizada a apresentação dos elementos motivadores para a
composição deste texto, resta, cabe, a seguir, discorrer sobre a
metodologia utilizada para chegarmos aos resultados aqui apresentados.
O discurso dos referidos acadêmicos fez-nos investigar, no
decorrer dos encontros, qual era o limite dos questionamentos
apresentados. Percebemos, então, que não havia uma fala contrária à
presença da disciplina na grade curricular do curso, mas, sim, uma
preocupação com os textos infantis marcados pela presença de elementos
fantásticos, como os contos de fadas. Obras como a coleção o “Pinto”,
composta por obras como Pivete (Henry Corrêa de Araújo), O dia de ver
meu pai (Vivina de Assis Viana), O menino e o pinto do menino (Wander
Pirolli); e narrativas como “O bife e a pipoca” (Lygia Bojunga Nunes)
despertaram o interesse e fomentaram calorosos debates. Em comum, os
livros mencionados apresentam enredos voltados a questões sociais,
emocionais e de violência urbana.
Os problemas citados são contextualizados em situações do
mundo real e não do fantástico. Não há a interferência de um personagem
fantástico, como fada, por exemplo, para resolver as dificuldades das
personagens. Nessa perspectiva, os pais separados não voltam a morar
juntos (O dia de ver meu pai), e os meninos de ruas morrem vítimas da
agressão policial e da fome (Pivete). Teoricamente, há a distinção entre
esses dois universos, o real e o fantástico. Como explica Regina
Zilberman, depois da década de 50, do século XX, passou a existir “a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 198
adoção de um programa, cuja perspectiva é realista na criação dos textos,
ao mostrar a vida “tal qual é” ao leitor mirim” (ZILBERMAN, 1985, p.
88). É também a autora quem sintetiza a proposta do programa de uma
literatura realista:
1. o escritor parte da constatação de que o recebedor virtual do
livro infantil, a criança, não é o mesmo de antigamente, o que o
motiva à criação de obras diferentes;
2. não apenas se modificou o destinatário, mas igualmente as
intenções do emissor: ao escrever seu livro, ele quer “manter
esta criança com os pés na terra, na realidade”;
3. o objetivo parece ser o de demonstrar que a criança não pode ser
murada, resulta daí a presença nos textos da violência; o que,
todavia, não é novidade para a criança de hoje (a violência
sempre esteve presente na Literatura Infantil) (ZILBERMAN,
1985, p. 88-89)
O discurso dos/as acadêmicos/as do curso de Pedagogia para
Educadores do Campo vai ao encontro do ds tópicos apresentados. O
principal argumento apresentado foi o de que as crianças e os jovens dos
movimentos sociais precisam crescer conscientes da realidade de
exclusão que os cerca. Talvez os textos mais voltados para o verídico
tenham sido melhor aceitos devido à história de luta vivenciada por
aqueles acadêmicos. Trata-se da preferência de adultos marcados por
experiências duras, agressivas, como a registrada por Ademar Bogo:
Nossos pais não tiveram que nos enterrar. Por sorte, escapamos da
morte. Mas, em nosso nordeste, em Pernambuco, onde moro, a fome
e a miséria têm obrigado os pais a enterrarem os filhos ainda
pequenos. Aí, sim, dá para ver que a guerra não é feita apenas com
armas de fogo. É mais perversa quando feita com armas da
concentração da riqueza, que gera a violência e a morte (BOGO,
2003, p. 22).
Por outro lado, uma das normas do MST é a de “respeitar e
entender os diferentes níveis de consciência entre as pessoas que
compõem a massa” (BOGO, 2003, p. 50). Pensando, então, nos
diferentes níveis de maturidade, não seria interessante que as crianças das
séries iniciais conhecessem a injusta realidade de inclusão e exclusão, a
partir de textos marcados por elementos fantásticos, mas que, nem por
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 199
isso, deixam de fomentar debates sobre as desigualdades social, étnica e
econômica? Ciente desse fato, elaboramos um questionário com as
seguintes perguntas:
1. Você leu literatura infantil em sua infância?
2. Em sua infância, alguém lhe contava histórias? Como eram
essas histórias?
3. Que tipo de livro você costuma ler?
4. Qual o último livro de Literatura Infantojuvenil que você
leu? O que motivou a leitura?
5. O que é imaginário para você?
6. Como você avalia a importância ou não do imaginário na
infância?
7. Em suas aulas, em quais momentos você trabalha com a
Literatura Infantojuvenil? Como você faz a seleção das
obras?
Para que não houvesse constrangimento, não solicitamos que se
identificassem e pedimos a outra professora para aplicar as perguntas. O
questionário foi respondido por 33 alunos, divididos em dois grupos: os
entusiasmados pelo assunto, que afirmaram manter uma forte relação
com o mundo fantástico; e os que reforçaram o não interesse pelo
assunto. A análise do questionário foi enriquecida com as afirmações
feitas na avaliação que fizeram do curso. Na ocasião, foi retomada a
questão dos contos de fadas, a partir de uma visão negativa. Cada
educando tinha a tarefa de escolher uma obra literária e trabalhá-la em
sala de aula. Depois, deveriam fazer um relato da receptividade do texto
por parte dos alunos. Dois pareceres, feitos a partir da visão do educador,
denotaram claramente o valor dado às narrativas realistas e a pouca
atenção aos contos com elementos fantásticos:
“Penso que por se tratar do mundo real me agradou bastante”6
“A história não agradou muito um lado, pois esta tem um
cunho ideológico no passa uma mensagem que num mundo
em que a violência predomina basta todos terem os
sentimentos de criança que o mundo melhora. Isto para mim é
6
Não identificamos os acadêmicos e mantivemos o texto conforme original.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 200
uma forma de fazer com que as crianças desde cedo tenham
uma falsa visão da realidade”.
O que os discursos apresentados denunciam, em primeiro lugar, é
a forma de analisar a realidade, vista como estática e única. Concepção
que pode ser atribuída às experiências duras vividas, que não permitiram
a esses sujeitos conviver com o fantástico. De qualquer forma, sabemos
que cada indivíduo olha para um objeto de forma diferenciada. São
olhares subjetivos, marcados por experiências individuais.
Provavelmente, quando crianças, esses acadêmicos também se depararam
com adultos que exigiram deles uma postura adulta frente à realidade.
Nesse sentido, cabe lembrar o que Vigotsky destacou sobre as diferenças
que marcam os interesses da criança e do adulto. Para o pesquisador,
“son también diferentes los intereses del niño que funciona de uma
manera diferente que en el adulto” (VIGOTSKY, 1999, p. 27). O que o
pesquisador propõe é que seja respeitada a maturidade da criança,
independentemente da proposta ideológica do grupo a que ela pertence.
Uma segunda questão que se apresenta remete à forma de
conceber a aprendizagem infantil. A “realidade”, considerada por um
determinado grupo, seria, nesse sentido, “ensinada” à criança desde a
tenra idade, negando, de certa forma, o seu direito e a sua capacidade de
observar, vivenciar e formar a sua noção de real. A preocupação em
formar a consciência política de seus militantes faz parte da filosofia do
M.S.T., como registra Bogo: “O MST desenvolve a filosofia da formação
política de seus militantes”. Páginas depois, o autor aprofunda a questão:
O sem-terra[...] deve saber o porquê das coisas na vida da
sociedade. Quem tem poder e quem não tem. Por que se pagam
impostos. Quem estabelece os preços dos produtos. Por que existe
fome... Isto quer dizer que se devem acrescentar à consciência
social, já desenvolvida pela própria experiência, aspectos políticos e
científicos, para que a consciência se eleve ao nível superior,
atingindo o estágio de consciência política (BOGO, 2003, p. 166).
Na realidade, a proposta do movimento, sintetizada acima por
Bogo, deveria ser norteadora do processo de formação de todo cidadão,
independentemente de estar ou não inserido no movimento. Se os
brasileiros, de forma geral, aprendessem a pensar a realidade que os cerca
a partir de um olhar crítico, pautado em conhecimentos científicos e
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 201
políticos, teríamos mais chances de construir um país com menos
desigualdades. Mas, quando se trata de crianças, essa preocupação em
ensinar a “realidade” deveria, a nosso ver, ser pautada no respeito à
capacidade de abstração desses indivíduos. Essa questão foi, inclusive,
abordada por Bettelheim:
Ao contrário do que se diz no mito antigo, a sabedoria não irrompe
integralmente desenvolvida como Atenas saindo da cabeça de Zeus;
é construída por pequenos passos a partir do começo mais
irracional. Apenas na idade adulta podemos obter uma compreensão
inteligente do significado da própria existência neste mundo a partir
da própria experiência nele vivida. Infelizmente, muitos pais querem
que as mentes dos filhos funcionem como as suas – como se uma
compreensão madura sobre nós mesmos e o mundo, e nossas
idéias sobre o significado da vida não tivessem que se
desenvolver tão lentamente quanto nossos corpos e mentes
(BETTELHEIM, 1980, p. 31, grifo nosso).
Para Bruno Bettelheim, o conto de fadas serviria para apresentar
o mundo real à criança e, ao mesmo tempo, confortá-la a partir de um
final feliz. A proposta do autor, desta forma, seria a de mostrar a
realidade a partir de elementos que façam parte do universo infantil e
que, ao mesmo tempo, apresentem soluções para os problemas
vivenciados. Tanto que o autor exclui do rol de conto de fadas as
histórias que não são marcadas por um desfecho reconfortante:
[...] O conto de fadas nunca nos confronta diretamente, ou diz-nos
francamente como devemos escolher. Em vez disso, ajuda as
crianças a desenvolverem o desejo de uma consciência mais
elevada, apelando à nossa imaginação e ao resultado atraente dos
acontecimentos, que nos seduz.
[...] Por esta razão, algumas das estórias mais conhecidas,
encontradas nas coleções de contos de fadas, não pertencem
realmente a esta categoria. Por exemplo, “A menina dos fósforos” e
“O soldadinho de chumbo”, de Hans Christian Andersen, são lindos
mas extremamente tristes: eles não transmitem o sentimento de
consolo final característicos dos contos de fadas (BETTELHEIM,
1980, p. 43 e 47).
A importância das histórias infantis para a formação da criança
também pode ser percebida pelo desejo apresentado por ela de ouvir
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 202
várias vezes a mesma narrativa. De acordo com Walter Benjamin, para a
criança,
Não basta duas vezes, mas sim sempre de novo, centenas e milhares
de vezes. Não se trata apenas de um caminho para tornar-se senhor
de terríveis experiências primordiais, mediante o embotamento,
juramentos maliciosos ou paródia, mas também de saborear, sempre
com renovada intensidade, os triunfos e vitórias. O adulto, ao narrar
uma experiência, alivia o seu coração dos horrores, goza novamente
uma felicidade. A criança volta a criar para si o fato vivido, começa
mais uma vez do início (BENJAMIN, 1984, p. 75).
Assim como Bettelheim, Walter Benjamin destaca a importância
de a criança vivenciar as vitórias dos personagens, ou seja, a superação
dos problemas. Compara o sentimento infantil ao do adulto, lembrando
que a necessidade de vivenciar várias vezes a mesma emoção dá à
criança o alívio que o adulto sente ao desabafar suas angústias.
Em que sentido essas afirmações podem contribuir para se fazer
acreditar na importância da Literatura Infantil, especialmente dos contos
de fadas, na prática docente dos acadêmicos do curso de Pedagogia para
Educadores do Campo? O posicionamento dos pesquisadores Bruno
Bettelheim e de Walter Benjamin sugere que as histórias infantis sejam
utilizadas pelos acadêmicos para a formação emocional de seus
educandos e não que sejam vistas como meio de alienação.
Diferentemente do que sugerem as respostas de alguns acadêmicos do
curso de Pedagogia para Educadores do Campo, trata-se de um recurso
pedagógico que contribui para a formação de cidadãos conscientes, desde
que não seja usada apenas como forma de manipular o comportamento
infantil ou como mero material didático. O trabalho com a literatura
infantil possibilita, ainda, a formação do sujeito, que recria seus
significados no confronto de seu universo de referência com a narrativa
lida e com os diversos outros que ela insere.
No texto “Estatuto da Literatura Infantil”, a pesquisadora Regina
Zilberman questiona a inserção da disciplina nos cursos de formação de
professores apenas como direcionamento de um autoritarismo
pedagógico, no sentido de formar a conduta da criança, conforme o
padrão do comportamento estipulado pelos adultos, ou como mero
material didático, que implica utilizar os livros infantis para deles retirar
o conteúdo de português, matemática, ciências etc.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 203
Pelo que observamos nos projetos de formação de professores e
no questionário respondido pelos acadêmicos do curso de Pedagogia para
Educadores do Campo, a Literatura Infantil é utilizada a partir dos
contextos mencionados por Regina Zilberman. A obra como arte literária
que requer estilo, metáforas, trabalho com a linguagem, coerência na
constituição dos personagens não é contemplada. Da mesma forma, essa
arte não é considerada enquanto aliada na formação de cidadãos seguros
e confiantes diante “das realidades” que o cercam. Esses aspectos foram,
provavelmente por pouco conhecimento no assunto, desconsiderados no
discurso dos acadêmicos. E isso é tão relevante porque alguns, inclusive,
já são docentes do Ensino Fundamental. Por isso, reforçamos a
necessidade de manter a disciplina no curso de Pedagogia para
Educadores do Campo e em outros cursos de formação de professores.
Reflexões acerca do discurso dos acadêmicos:
As respostas dadas mostraram que os acadêmicos do curso
tiveram pouco contato com a leitura de livros, resultado, principalmente,
de uma vida de privações econômicas. Por outro lado, a maioria
vivenciou o ouvir histórias e, mesmo assim, grande parte rejeitou a
inserção de histórias infantis, como os contos de fadas, na formação das
crianças. Para a apresentação da análise, adotamos a ordem das
perguntas.
Com a primeira pergunta, desejávamos identificar se os
acadêmicos haviam lido Literatura Infantil durante a infância. As
respostas giraram em torno de “sim”, “sim, mas só na escola”, “não” e
“poucas vezes”. Dos 33 entrevistados, 11 responderam “sim” e, destes, 3
lembraram que as leituras eram feitas somente na escola. 9 alunos
responderam que “não” leram Literatura Infantil na infância. Dos que
responderam não, um explicou: “pois não tinha acesso. Na escola não
tinha livros de literatura infantil”. O restante, 13 entrevistados, respondeu
que “poucas vezes” leu livros infantis.
Percebe-se, no discurso dos educandos, que a leitura da
Literatura Infantil estava diretamente relacionada ao ambiente escolar,
fato que pode ser atribuído tanto à falta de recursos financeiros das
famílias quanto à falta do hábito de se comprar livros, embora um fator
esteja, na maioria das vezes, atrelado ao outro. É fato que, no Brasil, a
má distribuição de renda não possibilita um amplo acesso a esse bem de
consumo, destinado apenas às classes mais abastadas. No entanto, as
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 204
classes menos privilegiadas economicamente contam, geralmente, com o
acervo da biblioteca da escola. É possível, porém, que, mais importante
do que os limitados acervos, seja a ausência de ações produtoras de
leitura.
Por outro lado, as respostas dadas à segunda questão, “Em sua
infância, alguém lhe contava histórias? Como eram essas histórias?”,
mostraram que os entrevistados faziam parte de um universo familiar que
cultivava a tradição oral de contar histórias. As narrativas, provavelmente
inspiradas pelo ambiente rural, tinham como temas recorrentes o folclore
brasileiro e as histórias de assombração. Dos 23 entrevistados, apenas 4
não tiveram, na infância, quem lhes contasse história. Desses 4, um
justificou: “meus pais eram analfabetos”. O que implica pensar que, para
esse entrevistado, somente conta história quem sabe ler. A capacidade de
narrar fatos, de inventar personagens e de emocionar seriam, de acordo
com tal discurso, atributos apenas de pessoas alfabetizadas.
Se olharmos por outra perspectiva, identificamos no discurso
desse acadêmico, “meus pais eram analfabetos”, uma justificativa para a
ausência dessa experiência em sua infância. Trata-se de uma visão
positiva dos contos infantis, já que, ao desculpar os pais, ele mostra que o
contar histórias deveria fazer parte do universo de todas as crianças,
inclusive da sua própria infância.
Interessante foi observar, também nas respostas dadas a essa
segunda questão, a aproximação entre as histórias narradas com os
objetivo de ensinar formas de comportamento: “sim, meu avô e minha
mãe costumavam contar histórias de quando eles eram pequenos e
causos, mitos antigos de/para me ensinar algo” e “apenas alguns mitos,
causos, no sentido de por medo em alguma situações para não fazer”. O
discurso dialoga com a utilização da Literatura Infantil em sala de aula,
em que o recurso didático é utilizado, geralmente, com objetivos
pedagógicos. Em outras respostas, é possível identificar a presença de um
tema clássico da literatura, a luta entre o bem e o mal: “Sim, meus pais.
Histórias essas referente a animais da floresta, a herois que sempre
venciam o mal. E com isso gostava muito de ouvir”.
Dentre as respostas, a que mais chamou a atenção foi a que
excluiu os contos de fadas das histórias que ouvia: “Sim, não história
ligadas aos contos de fadas, mas sim contos do povo como: Pedro
Malazardi, de assombração, conto sobre animais... etc”. Esse
entrevistado, provavelmente, tenha sido um dos que mais contestou esse
gênero narrativo.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 205
Ao oferecer textos teóricos sobre a Literatura Infantil,
pretendíamos oferecer aos educandos a possibilidade de repensar a forma
negativa de ver esse gênero literário que, em sua origem, também nasceu
de uma tradição criada pelo povo, definido por Thomé Saliba como uma
“entidade coletiva orgânica, além e acima dos antagonismos, escoimados
de todos os seus conflitos” (SALIBA, 1991, p. 63). Como descreveu
Nelly Coelho:
As primeiras formas de literatura para crianças confundiam-se com
as destinadas aos adultos e, no Brasil, chegaram com os primeiros
colonizadores portugueses. Tais formas seriam, evidentemente, as
narrativas orais que circulavam entre os povos e cortes européias e
cujas origens se perdiam no tempo. Narrativas que, transformadas
ou fragmentadas, podem ser rastreadas, hoje, tanto no folclore
brasileiro (principalmente do nordeste). Portanto, no Brasil, como
nos demais países, a literatura em forma de livro (para crianças ou
adultos) foi precedida pela forma oral (COELHO, 1995, p. 20).
A experiência da maioria dos acadêmicos seguiu, também, a
ordem apresentada por Nelly Coelho, ou seja, primeiro houve o contato
com a narrativa oral e, depois, com os livros. O mesmo entrevistado que
apresentou a distinção entre os contos de fadas e as histórias do povo -
“Sim, não história ligadas aos contos de fadas, mas sim contos do povo”
- quando respondeu a terceira questão, “Que tipo de livro você costuma
ler”, dividiu a sua trajetória de leitura em antes e depois: “Hoje mais
livros ligados à educação e política, mais li alguns romances, livros de
aventuras”. A ficção, então, faz parte de seu passado, demarcada,
inclusive, pelo tempo verbal adotado, o pretérito perfeito do indicativo. A
resposta do educando faz lembrar a importância que Charles Dickens
atribuiu à literatura dos contos de fadas para a sua formação intelectual.
Na avaliação de Bettelheim: “Dickens reconheceu o profundo impacto
formativo que as figuras e os eventos maravilhosos dos contos de fadas
tinham tido sobre ele e seu gênio criativo. Repetidamente expressava
escárnio por aqueles que, motivados por uma racionalidade desinformada
e mesquinha, insistiam em racionalizar, expurgar ou incriminar estas
estórias, e assim roubavam às crianças as importantes contribuições que
os contos de fadas podiam dar a suas vidas” (BETTELHEIM, 1980, p.
31).
Os demais entrevistados demonstraram também uma preferência
menor pelas leituras de ficção, pois apenas três, dos 33 acadêmicos,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 206
inseriram ficção no rol de livros que costumam ler. A Filosofia, por sua
vez, esteve presente na resposta de 30 entrevistados, dos quais alguns,
inclusive, demarcaram a importância de ler livros que tratem de questões
sociais: “já fui muito de ler romance, mas agora é mais livros de estudo e
da luta”.
Esse acadêmico, em seu discurso, parece demarcar preconceito
com relação ao romance, certamente por ignorar que esse gênero foi o
meio através do qual muitos autores questionaram as lutas e as injustiças
sociais de sua época. Com Victor Hugo, por exemplo, conhecemos uma
Paris marcada por desigualdades e injustiças. No Brasil, Castro Alves,
Graciliano Ramos e Monteiro Lobato, para citar apenas alguns, usaram a
ficção em defesa da população negra, e do progresso brasileiro e contra
as injustiças sociais.
Na literatura infantil, os autores também tratam de desigualdades
sociais e de outros problemas que perpassam a sociedade. Mas, nesse
gênero, a criança encontra amparo em personagens do mundo fantástico
para pensar os seus medos e as suas lutas internas. São formas subjetivas
de vivenciar sentimentos e contribuir à compreensão da complexidade do
real. Bettelheim (1980, p. 63) destaca a importância de se compreender a
capacidade cognitiva da criança e de se trabalhar a realidade social e seus
medos internos em concordância com a maturidade infantil.
Ainda sobre a terceira pergunta, “Que tipo de livro você costuma
ler”, outro educando, talvez pela falta de conhecimento teórico, fez a
distinção entre romances e literaturas dos gêneros fábulas, contos e
histórias infantis: “Livros para preparar as aulas, contos, fábulas,
histórias infantis, mas gosto muito de romances e literaturas”. Essa
resposta repete, mesmo que de forma inconsciente, um dos juízos de
valor sobre a Literatura Infantil, a opinião de ela ser algo menor, são
“historinhas” e não Literatura. Pensar que o gênero necessita de menos
empenho do artista implica, a nosso ver, desconsiderar, também, a
capacidade do leitor infantil.
Felizmente, alguns dos entrevistados responderam a partir de
uma visão positiva da leitura desse gênero, demonstrando que nem todos
o encaram como algo “menor”. Um dos entrevistados afirmou: “tenho
necessidade de fazer leituras voltadas a filosofia, em decorrência do meu
TCC, mas sempre dou um jeitinho de ler um livro infantil, pois sempre
compro e tenho muitos em casa”. A leitura das obras filosóficas, ao que
parece, seria decorrente da necessidade de escrever a monografia de
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 207
TCC, ou seja, uma leitura por obrigação, enquanto a do livro infantil
representa uma atividade prazerosa, uma escolha do acadêmico.
Em outra resposta, o acadêmico revelou que sua experiência de
leitor iniciou-se na fase adulta: “Filosofia, pois quando comecei a ler foi
quando entrei no seminário cursar o curso de filosofia até então não lia”.
A afirmação do entrevistado reflete, na verdade, a realidade brasileira:
somos um país de poucos leitores. O que talvez seja decorrente do
elevado valor dos livros ou mesmo da falta de incentivo para a atividade
da leitura.
A quarta pergunta - “Qual o ltimo livro de Literatura
Infantojuvenil que você leu? O que motivou a leitura?” – deixa mais
claro o pouco contato com a leitura. Já era esperado que eles citassem
obras trabalhadas durante os encontros da disciplina de Literatura
Infantojuvenil, mas, para nossa surpresa, três responderam que não se
lembravam. Ao afirmar que não se lembravam do último livro lido, os
acadêmicos fazem-nos pensar que o rol de títulos de narrativas infantis
passado durante os encontros não farão parte de sua prática docente.
Esses três entrevistados foram os mesmos que separaram o romance das
leituras de “luta”, para usar a palavra adotada por eles. Sobre a segunda
parte da pergunta, “o que motivou a leitura?”, as respostas variaram entre
atração pelo título e necessidade de preparar suas aulas, com ênfase na
segunda.
A quinta pergunta, “o que é imaginário para você?”, mostra o
maior questionamento dos acadêmicos em relação ao trabalho com a
Literatura Infantil marcada por elementos fantásticos, conforme
apresentamos na introdução desse texto. Ao elaborar essa questão e a
seguinte - “Como você avalia a importância ou não do imaginário na
infância?” - objetivamos que a resposta viesse deles, pois assim a questão
do imaginário tornar-se-ia mais significativa na prática educativa dos
acadêmicos. Diversas foram as maneiras discursivas de colocar a
questão, mas na resposta dos 33 entrevistados permaneceram os aspectos
positivo dos conceitos. A seguir, apresentamos quatro respostas,
consideradas mais significativas para a análise:
“é projetar para outro mundo, um mundo bom, maravilhoso”;
“é a capacidade de viajar no mundo que gostaria que fosse
realidade”;
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 208
“é tudo que está ligado ao sonho que tanto pode vir a ser real
ou continuar ligado ao mundo da fantasia, é imaginar coisas
que às vezes não se vêem, ou até se vêem mas não com um
resultado esperado”;
“o imaginário é um mundo que se cria para poder viver além
do que se vive”.
Os discursos acima apresentam o imaginário como algo positivo,
uma atividade que permite viver em um mundo melhor. Expressa, ainda,
a dor de quem vive num tempo em que já não se pode mais viver. Em
outras palavras, os acadêmicos lembraram que a imaginação permite ir
além do mundo real. Os pareceres em destaque vão ao encontro da
afirmação de Vigotsky, para quem
[...], la imaginación adquiere uma función muy importante en el
desarrollo del hombre, se hace medio de ampliacién de su
experiencia, porque le permite imaginarse aquello que no há visto y
representáselo mediante el relato de outra persona y la descripción
de lo que en su experiencia personal directa no há tenido lugar
(VIGOTSKY(1999, p. 13)
Todavia, apesar das definições sobre o imaginário terem sido,
em sua maioria, positivas, na sexta pergunta - “Como você avalia a
importância ou não do imaginário na infância?” -, três acadêmicos
mostraram-se incrédulos quanto a sua importância na infância e tomaram
como maior argumento a questão da realidade:
“Necessita ter sim o imaginário, mas a criança deve começar a
entender também a diferença entre o imaginário e o que é real. Ela
poderá estar entre uma e outra, o que não pode é ficar só no
imaginário”;
“Penso que seje importante a criança se portar para o mundo
imaginário, mas que tenha condições (com a ajuda de alguém) de
conciliar com o mundo real. Ex. Poderia ser assim, mas não é
porque?”;
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 209
“Acredito que ajuda a desenvolver os sentidos da criança, trabalha
os sentimentos, porém devemos cuidar para que a criança não viva
de imaginação”.
Outro foi ainda mais taxativo, quando escreveu: “não acho
importante, porque na infancia a imaginação da criança é bem mais para
o mundo verdadeiro que para a fantasia”. Ponderações como essas
formaram, no Brasil, a literatura infantil da década de 1930, escrita por
autores preocupados em oferecer leituras que mostrassem às crianças
temas da realidade, como a questão do menor abandonado, a violência
doméstica, a violência urbana etc. Porém, mesmo nesse período, houve
vozes críticas a essa tendência:
Formou-se no Brasil de hoje uma corrente de pedagogia contra os contos de
fadas, e é para admirar que, entre os que condenam a vulgarização de Perrault,
Grimm, Gozzi, Mme d’Aulnoy etc, haja espíritos mais ou menos brilhantes e de
sofrível cultura. Falta de visão intelectual? Falta de sentimento? Não sei. O que
sei é que dão tratados de mecânica e de eletricidade a meninos e meninas, e
aconselham como infalíveis geradores de virtudes uns certos “apólogos morais”,
que são tudo o que há de mais soberanamente enfadonho para leitores grandes
ou pequenos! Servem apenas, esses tratados e esses apólogos, para tirar a jovens
e crianças o gosto da leitura e para lhes ir a pouco e pouco embotando a mais
nobre de todas as faculdades da alma que é, sem dúvida, a faculdade de sonhar
(Gondim Fonseca. Apud COELHO, 1995, p. 59).
Quando trata da mística no MST, Ademar Bogo insere o sonhar
como um dos elementos de constituição humana: “é de fazer pensar,
sentir e sonhar que é feita a vida humana e, por isso, este ‘h mus’, em
forma de homem se diferencia dos demais seres vivos” (BOGO, 2002, p.
21). Os estudos que nos fundamentam – Vigotsky, Nelly Coelho e
Ademar Bogo – legitimam a idéia defendida nesse texto: a importância
da Literatura Infantil, com personagens do mundo imaginário como
fadas, Bruxas, duendes, etc, na formação da criança. Ao afirmar que a
criança deve estar em contato com a realidade, “com os pés no chão”, o
acadêmico desconsidera a aprendizagem e a maturidade infantil.
Apresenta uma visão de realidade muito restrita, reduzida ao
materialmente sensível. Despreza o potencial do imaginário como
constituinte do indivíduo e de seu desenvolvimento; como capacidade
humana de relacionar-se com o mundo a partir de outras perspectivas.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 210
Portanto, uma visão restrita do próprio ser humano e de suas capacidades
intelectuais.
Pela ltima pergunta, “Em suas aulas, em quais momentos você
trabalha com a Literatura Infantojuvenil? Como você faz a seleção das
obras?”, foi possível perceber que, mesmo os que avaliaram
positivamente o trabalho com Literatura infantojuvenil, utilizavam o
gênero literário apenas como recurso didático para as suas aulas, e os que
atuam na educação de jovens e adultos não recorriam a ela: “trabalho
com jovens e adultos e ainda não li nada de literatura”. Em outras
respostas temos:
“não trabalho, considerando que trabalho com adolecentes”;
“trabalho nos momentos inicial, para ilustrar algum tema”;
“período semanal, procuro vincular com os acontecimentos do
contexto real”;
“Na introdução de novos conte dos. Leio o material para ver se é
possível utilizá-lo para este momento”;
“trabalho com cursos formais e não formais no MST. Selecionamos
obras a partir da intencionalidade do curso, disciplina ou atividade”;
“não trabalho com obras”;
“procurando livros que “ajude” a desenvolver o pensar/raciocínio
das crianças digo ligada a coisas que eles conhecem para então
falarem, discutirem o texto”;
“a Literatura infantojuvenil é usada dentro de uma temática ou para
a partir desta desenvolver outras atividades se ela contemplar o
objetivo que se quer trabalhar”;
“No início da aula eu tento trabalhar historinhas que tenha
conteúdos da aula”.
E a leitura individual? E a experiência estética? E a Literatura
Infantil como arte literária, criada a partir de um estilo lingüístico e
enriquecida pelas metáforas da língua? Por que a criança sempre tem que
discutir o que leu? Por que ela sempre precisa verbalizar o que entendeu?
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 211
Na verdade, uma arte nem sempre é compreendida, às vezes desperta
sentimentos que não conseguimos nomear. Talvez por estar em sala de
aula apenas para servir de material didático é que esse gênero literário
ainda seja visto por muitos como sinônimo de “historinhas”:
Quando os contos de fadas estão sendo lidos para crianças em salas
de aula ou em bibliotecas durante a hora da estória, as crianças
parecem fascinadas. Mas com freqüência elas não recebem
nenhuma oportunidade de meditar sobre os contos ou reagir de outra
forma; ou eles são amontoados imediatamente com outra atividade,
ou outra estória de um tipo diferente lhes é contada, o que dilui ou
destrói a impressão que a estória poderia não lhes ter sido contada,
apesar do bem que possa lhes ter feito. Mas quando o contador dá
tempo às crianças de refletir sobre as histórias, para que mergulhem
na atmosfera que a audição cria, e quando são encorajadas a falar
sobre o assunto, então a conversação posterior revela que a estória
tem muito a oferecer emocional e intelectualmente, pelo menos para
as crianças (BETTELHEIM, 1980, p. 75).
Por outro lado, devemos considerar que as representações que os
acadêmicos manifestam são produto também da formação recebida e não
diferem muito das apresentadas por acadêmicos do curso de Pedagogia
comum, por exemplo. A defesa de uma leitura que vá além da
transmissão de conceitos teóricos vai ao encontro da própria visão de
alguns membros do MST, para quem a maturidade “se adquire através da
construção consciente da própria personalidade. Para isso, não basta
acumular um elevado nível de conhecimentos, é preciso saber utilizá-los
e adquirir equilíbrio moral e psicológico” (BOGO, 2003, p. 349).
De qualquer forma, o que se tem aqui é a possibilidade de
vislumbrar as lacunas do trabalho com a Literatura Infantil nas salas de
aulas. A falta de conhecimento sobre a importância da fantasia na
infância e sobre a forma com que ela atua no intelecto e no subjetivo dos
educandos das séries iniciais é, a nosso ver, a principal responsável pela
rejeição apresentada por alguns acadêmicos e pela forma com que a
maioria utiliza essas leituras em sua prática docente. Entretanto,
lembramos mais uma vez que não pretendemos atribuir culpas, mesmo
porque, ninguém ensina o que não aprendeu. Esses acadêmicos, a
maioria deles, como ressaltamos inicialmente, docentes em suas
comunidades de origem, não tiveram a oportunidade de refletir sobre
essas questões e, nesse ponto, a disciplina de Literatura Infantojuvenil
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 212
contribui para um repensar sobre a infância, sobre o imaginário e sobre a
leitura.
Movimentando-se entre a luta e o sonho
Pelo que se percebe, os movimentos sociais necessitam de
indivíduos preparados para lutar por uma sociedade mais justa, por isso,
a importância de incentivar a formação de suas crianças com a leitura dos
contos de fadas, que oferecem, a partir da fantasia, a possibilidade de
vencer lutas internas e, por ela, compreender as lutas de seu grupo de
origem, uma vez que “colocar a preservação e o desenvolvimento da vida
no centro do projeto” (BOGO, 2003, p. 262) faz parte dos fundamentos
filosóficos do próprio movimento. Esse texto, “A prática docente da
Pedagogia para Educadores do Campo: a Literatura Infantil nas séries
iniciais”, procurou dialogar com o projeto citado por Bogo, para quem a
prática docente de nossos acadêmicos/as deveria ser marcada, nas séries
iniciais, pelo respeito ao mundo de sonhos da criança. Além disso, é
importante lembrar, mais uma vez, que a partir da fantasia, as crianças
pensam a realidade, resolvem problemas internos e externos, são
confortadas e preparadas para a vida adulta.
Uma disciplina não muda a trajetória de um educando, nem
tínhamos a pretensão de atingir tal objetivo. Ao refletir sobre o discurso
dos acadêmicos da primeira turma do curso de Pedagogia para
Educadores do Campo e trazer à luz teóricos que pensaram a literatura
infantil, pretendíamos refletir sobre a importância do fantástico no
desenvolvimento da criança, independentemente do meio em que ela está
inserida. A criança que tem a oportunidade de vencer seus medos ainda
na infância tem mais chances de se tornar um adulto seguro, consciente
de seus direitos. Embora a análise tenha se restringido ao discurso de
educandos pertencentes aos movimentos sociais, gostaríamos que esse
debate abrangesse outros espaços e cursos de formação de professores.
Em outras palavras, a discussão do espaço dado à Literatura Infantil na
prática docente dos professores que atuam junto aos movimentos sociais
apresenta-se, também, como uma oportunidade de demonstrar o quanto a
disciplina se faz importante nos cursos de licenciatura, como Pedagogia e
Letras.
CHILDREN'S LITERATURE IN CRISIS?: EXPERIENCES
IN THE FIELD OF EDUCATION
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 213
Abstract: Children's Literature would be a resource to give children the plunge
into imaginary worlds, giving them the opportunity to experience, from the
characters in the stories, subjective experiences and from the plots, resolve
issues that upset his psychological as proposed by the psychoanalytic analysis of
Bruno Bettelheim (1980). From this assumption, this paper analyzes the space
given to Children's Literature, more specifically, to tales fadas in practice
teaching trained in a pedagogy course for Educators Field.
Keywords: Children's Literature, Education Field, Reading
Referências:
AGUIAR, Vera Teixeira de. Literatura: a formação do leitor: alternativas
metodológicas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.
AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura
ocidental. São Paulo: Perspectiva, 1971.
BANDEIRA, Pedro. In.: Proleitura, outubro/98/ano 6, n. 22, p. 2
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1978.
BOGO, Ademar. O vigor da mística. São Paulo: Caderno de Cultura, n. 2, 2002.
______. Arquiteto dos sonhos. São Paulo: Expressão Popular, 2003.
COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. 5. ed. São
Paulo: Ática, 1991.
______. Dicionário crítico da literatura infantil e juvenil brasileira. São Paulo:
EDUSP, 1995.
HELD, Jacqueline. O imaginário no poder: as crianças e a literatura fantástica.
Trad. Carlos Bizzi. São Paulo: Summus, 1980.
JOLIBERT, Josette. Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes Médicas,
1994.
KLEIMAN, Angela. Oficina de Leitura: Teoria e Prática. 5. ed., Campinas-SP:
Pontes: Editora da Universidade de Campinas, 1997.
LAJOLO, Marisa. Um Brasil para crianças: para conhecer a literatura infantil
brasileira: história, autores e textos. São Paulo: Global, 1986.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 214
MORAIS, José. A arte de ler. São Paulo: Ed. Da Universidade Estadual Paulista,
1996.
PALO, Maria José. Literatura infantil - voz da criança. São Paulo: Ática, 1986.
REZENDE, Neide Luiza de. Implicações das modalidades narrativas ficcionais
para o ensino. In.: Linguagem e Educação: implicações técnicas. São Paulo:
Associação Editorial Humanitas, 2006, p. 151-167.
SALIBA, Elias Thomé. As utopias românticas. São Paulo: Brasiliense, 1991.
ZILBERMAN, Regina. O verismo e a fantasia das crianças. In.: A literatura
Infantil na escola. 4. ed. São Paulo: Global, 1985, p. 87-94.
ZILBERMAN, Regina; CADERMATORI, Lígia. Literatura infantil:
autoritarismo e emancipação. 3. ed. São Paulo: Ática, 1987.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 215
ENTREVISTA
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 216
SOBRE O ROMANTISMO: ENTREVISTA COM
KARIN VOLOBUEF
João A. Campato Jr.1
Não há estudioso das artes em geral e da literatura em particular que
ignore a destacada importância do Romantismo para o Ocidente. Trata-se, com
efeito, de uma estética, de uma filosofia, de uma maneira de encarar e
interpretar a realidade que marcou vivamente o século XIX e cujas
manifestações sentimos até os dias de hoje. Importante e complexo, diga-se em
respeito ao rigor. Prova disso é que o poeta francês Paul Valéry (1871-1945),
em célebre manifestação, afirmou que seria necessário perder todo o espírito de
rigor crítico para querer definir tal movimento 2.
Se definir o romantismo é tarefa que não se cumpre, é possível, ao
menos, refletir sobre ele. Mesmo nesse campo, impera a dificuldade, uma vez
que é preciso se precaver de alguns escolhos que prejudicam a fluência das
ideias, como o são o senso comum, a tendência à simplificação, as atitudes
extremas, e o perigo superlativo de abordar o romantismo com base na
sensibilidade geral realista na qual estamos imersos de uns tempos a esta parte.
Dessa última ótica, ser romântico constitui quase defeito, e a palavra, termo
pejorativo.
Com vistas, portanto, a refletir sobre variadas questões que dizem
respeito, direta ou indiretamente, ao Romantismo, entrevistamos Karin
Volobuef. A professora Karin Volobuef possui graduação em Letras pela
Universidade Estadual de Campinas (1984), mestrado em Letras (Língua e
Literatura Alemã) pela Universidade de São Paulo (1991) e doutorado em
Letras (Língua e Literatura Alemã) pela Universidade de São Paulo (1996),
com estágio pós-doutoral, em andamento, na Universidade Federal de Santa
Catarina. Atualmente é docente do Departamento de Letras Modernas da
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus de
Araraquara, onde leciona para os cursos de graduação e de pós-graduação em
Letras. É, sem dúvidas, uma das maiores especialistas brasileiras sobre
Romantismo, investigando tanto o Romantismo alemão quanto o brasileiro.
1
João A. Campato Jr. é professor universitário, com pós-doutorado pela
UNICAMP e pela UERJ. Atualmente, é Pesquisador Associado da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
2
Cf. BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 43.ed. São Paulo:
Cultrix, 2006.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 217
Nesse sentido, reveste-se de forte interesse a leitura de seu livro Frestas e
arestas: A prosa de ficção do romantismo na Alemanha e no Brasil, publicado
em 1989, pela Editora da UNESP.
Ao longo da entrevista, foram discutidas questões como a natureza e a
filosofia do Romantismo, a necessidade de rever seu cânone de autores e obras,
a permanência de traços românticos em nossa sensibilidade e cultura atuais,
bem como foram redimensionados tópicos que têm sido entendidos de forma
inadequada ou simplificada, como é o caso da noção do mal do século.
Pergunta: Se, num exercício de imaginação de historiografia
da literatura ocidental, devêssemos manter apenas duas escolas
literárias para representar a essência do movimento dialético
artístico, o Romantismo seria uma delas?
Resposta: Com certeza, pois o Romantismo é mais do que uma
escola literária. Ele pode ser entendido como uma tendência cultural de
essência. Nesse sentido, ele estaria presente em todas as épocas sempre
que elementos subjetivos (que de alguma maneira podem estar ligados ao
intuitivo, ao que é transcendente, ao que não se conforma) ganham
supremacia. Visto desse modo, o teatro de Shakespeare, a poesia barroca,
o “Sturm und Drang”, a escola do Romantismo, etc. são diferentes
manifestações desse espírito geral, que pode ser vislumbrado inclusive
hoje (veja-se o fascínio pelos temas de magia e fantasia na literatura e
cinema de nossos dias).
P: Tendo em conta que a senhora mencionou um meio de
comunicação de massa, faço a seguinte pergunta: é mais acertado
afirmar que a telenovela brasileira é, em linhas gerais e em termos de
mimese, de teor mais romântico ou mais realista? Pergunto isso
porque há pessoas que censuram o caráter fantasioso da telenovela
nacional, ao passo que outros lhe louvam o teor realista, segundo o
qual ela faria um retrato fiel das relações sociais do país.
R: As novelas brasileiras são, até onde vejo, as duas coisas. Elas
são realistas do ponto de vista da atuação (p.ex., se um personagem
chora, o ator ou atriz tem que chorar mesmo e não apenas esconder-se
atrás de um lenço e fazer um pouco convincente barulho de choro, como
se vê, entre outros, nos filmes hollywoodianos dos anos 40) e também por
abdicarem do exagero melodramático ou açucarado. Por outro lado, no
entanto, a representação de aspectos sociais, políticos, econômicos deixa
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 218
a desejar, enveredando por caminhos que suavizam ou mascaram ao invés
de retratar com objetividade e realismo.
É na construção do enredo e do perfil dos personagens que
entram traços mais comumente associados ao Romantismo: história de
amor (que termina em casamento ou em tragédia), polarização de bons x
maus e, pela própria exigência do gênero “novela” (fragmentado em
capítulos), um ritmo que alterna momentos de repouso e tensão/suspense,
os quais acompanham o corte dos capítulos – conforme o molde dos
romances de folhetim (ritmo esse que também encontramos em Victor
Hugo, José de Alencar, etc.).
P: Ignorando deliberadamente Paul Valéry, qual seria, em
seu entender, o elemento que, excetuados todos os demais, poderia
definir, em essência, a estética romântica?
R: Eu diria que o Romantismo tem como coluna vertebral o
inacabado, incompleto, fragmentado. Mesmo aspectos como o duplo (que
parecem à primeira vista ser o oposto da incompletude) nada mais são do
que formas de expressar a cisão do indivíduo e sua busca por uma
compreensão mais plena de si mesmo.
P: O crítico literário e professor universitário Alcir Pécora3
identificou duas tendências na literatura brasileira atual, quais
sejam: uma prosa realista, com narrativa verossímil, e uma poesia
oriunda de um misto de subjetivismo e um construtivismo cabralino-
concretista ou pós-concreto. Nesse contexto, o que permanece de mais
tipicamente romântico na literatura brasileira atual?
R: Não tenho acompanhado mais de perto as produções mais
recentes da literatura brasileira. No entanto, um aspecto que me chama a
atenção é o interesse pelo fantástico, conforme vemos em publicações
como de Breno Acioly, Bráulio Tavares, Heloísa Seixas.
P: Há algum aspecto da estética romântica que a crítica
literária descurou em demasia e cuja importância é relevante o
bastante para ser recuperada ou reavaliada? Existe algum escritor
romântico brasileiro ou europeu cuja má avaliação ou cujo mau
entendimento decorre justamente desse descuido?
3
Entrevista concedida a João Adalberto Campato Jr., publicada na Revista
Tema, número 55, janeiro/junho de 2010.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 219
R: Aqui no Brasil acho que causa um grande dano menosprezar
certos autores. Alencar, na minha opinião, é um dos que mais sofrem com
isso. Enquanto leitura canônica nas escolas, seus romances são lidos em
tenra idade por obrigação e, ao que tudo indica, trabalhados pelos
próprios professores como literatura sem beleza ou profundidade. Uma
vez ministrei uma disciplina de Pós-Graduação e discuti detalhadamente
trechos de “O Guarani”. Todos os alunos tinham, é óbvio, lido o
romance. Quando pedi que relessem, vários apenas torceram o nariz. Mas
quando fiz a discussão em sala de aula, foi como se eles nunca tivessem
realmente lido Alencar. A poesia de sua prosa, a elaborada construção de
seus textos, a força com que sua linguagem cria imagens, seu poder de
representação pictórica, etc. foram percebidos pela primeira vez por
vários alunos.
Outros que eu incluo na lista de injustamente relegados a plano
inferior: Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Martins Pena, Álvares de
Azevedo (este último vem sendo resgatado há alguns anos, de modo que
já temos um novo olhar sobre sua obra).
Enfim, aqui no Brasil, o Romantismo é visto pela maioria dos
estudiosos como algo “menor”, como se a literatura brasileira só
começasse realmente com o Modernismo, abrindo-se uma pequena
exceção para Machado de Assis. Isso é o que precisaria ser revertido!
P: Apesar de algumas tentativas de resgate, como a de
Álvares de Azevedo, a senhora julga que a sensibilidade realista que
se apoderou dos críticos literários brasileiros pode vir a alterar o
cânone da literatura nacional a ponto de condenar ao ostracismo
clássicos como as narrativas de José de Alencar, do qual talvez
apenas permaneça Senhora ou Lucíola?
R: Eu sempre torço para que o cânone se alargue para incluir
cada vez mais obras românticas dentre as que receberam pouca atenção
ou mesmo foram esquecidas. Trata-se, na minha opinião, de uma missão
para muitos estudiosos e para gerações sucessivas. Mas essa revisão do
cânone só vai poder ganhar corpo se, progressivamente, a produção
romântica for sendo reeditada, lida, analisada. Um exemplo que sempre
me vem à mente é o de Franklin Távora, que insistentemente é lembrado
por causa de “O cabeleira” – romance que mais corporifica um ideário
político de seu autor (preocupado com diferenças entre o Norte e o Sul do
país) do que sua verve literária. Se quisermos efetivamente ver essa verve
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 220
ou habilidade artístico-literária de Távora, ela deve ser buscada em outras
obras, tais como “Um casamento no arrabalde”, na verdade uma
produção de juventude, mas que tem uma prosa muito mais bem-
elaborada e potente. Se essa alteração do cânone fosse empreendida,
tirando-se dos holofotes uma obra fraca e substituindo-a por um texto
deliciosamente bem-escrito, nossa apreciação do Romantismo ganharia
em substância. Mais do que isso: nossa própria visão da literatura
brasileira se fortaleceria.
P: É possível erigir um paralelo temático, ideológico e
estilístico entre um romantismo clichê – que faz parte do imaginário
dos professores de literatura menos preparados, de seus alunos e dos
livros que ambos leem – e de um romantismo não pasteurizado, que
ainda está por ser mais bem compreendido em seu projeto estético e
ideológico?
R: Esses dois romantismos são o mesmo. Tudo depende de como
se lê o texto.
O Romantismo, em seu cerne, é um movimento de renovação e
libertação e, conforme o contexto específico, vai seguir um programa
próprio. Isso não quer dizer que não haja uma linguagem e uma certa
postura comum à época.
P: Sabemos que os escritores românticos foram tradutores de
muitos poetas ocidentais. Com efeito, foram, no fundamental, os
românticos brasileiros bons tradutores? Já havia neles a consciência
da tradução como processo de criação literária importante?
R: Os românticos, tanto brasileiros quanto europeus, foram
tradutores de fôlego. A tradução atraiu-os por dois aspectos:
a) A tradução era, em muitos casos, a única maneira de ter
acesso a obras e autores de difícil acesso: alemães
traduziram avidamente ingleses, espanhóis, italianos;
brasileiros traduziram avidamente franceses, ingleses,
alemães. A tradução permitiu lançar uma ponte até línguas
que poucos dominavam, culturas que fascinavam pelo
caráter “exótico” ou pela riqueza de suas tradições, autores
com uma proposta audaciosa e incomum. Enfim, a
tradução como meio de chegar ao conhecimento do outro.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 221
b) A tradução, enquanto processo não apenas de recriação,
mas de efetiva criação, é uma ferramenta de produção,
discussão e divulgação de projetos literários.
No caso dos românticos alemães, vejo o conceito de poesia
progressiva – segundo o qual a poesia (= literatura) romântica nunca está
acabada, encontrando-se em contínuo processo de criação e destruição –
como intimamente interligado ao pensamento estético e à atividade
tradutória.
P: As figuras do gênio e do poeta consumido pelo mal do
século são duas das imagens que o Romantismo legou com mais força
para a posteridade. A visão do mal do século está de tal forma
corrompida que muitas pessoas consideram-no sinônimo, por
exemplo, de tuberculose. Em sua interpretação, o mal do século, na
origem, foi fenômeno decorrente de um sentimento particular do
mundo, em que se evidencia a oposição finito versus infinito do
homem romântico, que procura em vão o absoluto?
R: Sim, essa é uma interpretação filosófica do fenômeno. Há,
porém, estudiosos que associam o mal do século a questões
sócioeconômicas: na França, aristocratas desiludidos com a Revolução
Francesa; na Alemanha, burgueses sem perspectiva de atuação no espaço
político; no Brasil, insatisfação decorrente da condição de colônia, etc. Já
do ponto de vista psicológico ou emocional, também há que aponte para a
juventude dos românticos: o mal do século estaria então ligado à fase de
transição para a vida madura e as dificuldades de conciliar a inclinação
artística com as exigências sociais (casamento, rotina de trabalho, etc.).
Pessoalmente, acho que todas as interpretações são válidas, pois cada
uma ilumina uma faceta de um fenômeno que não se deixa reduzir a
alguma fórmula simples e unívoca.
P: Qualquer que seja a origem desse fenômeno e onde quer
que ele tenha ocorrido, a senhora acha possível dizer que, como
manifestação de escritores, foi apenas em poucos casos expressão
direta desses conflitos filosóficos, sociais, econômicos, pois, ao fim e
ao cabo, tudo se encaminhava para a pose artística? Não seria um
imperativo de "escola"? É possível, por outra, que o mal do século,
no Brasil, seja um mal do eu lírico e não do poeta empírico?
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 222
R: Sim, sem dúvida. Por mais inspirados e emotivos que os
românticos tenham sido, sempre precisamos considerar que eram pessoas
dentro de um contexto (que impõe modas e dita o que é "cool" no
momento). Assim, eu acho, sim, que para muitos é uma postura (ou
fachada) que se adotou conscientemente - e que subjaz à poesia enquanto
manifestação literária (ou seja, em vez de algo que a pessoa empírica
necessariamente sente).
P: Nessa ordem de considerações, gostaria de saber o
seguinte: os românticos brasileiros chegaram, de fato, a conhecer a
filosofia elaborada na Alemanha?
R: Sim, claro. Há os que estudaram na Europa (p.ex., Gonçalves
Dias), há os que liam muito e tinham enorme cultura (como Álvares de
Azevedo), há os que receberam as ideias mediante terceiros, em geral
franceses (Castro Alves) - e tiveram contato direto e profundo com o
pensamento alemão. Fora isso, a produção de Mme de Staël (em especial
o livro "Da Alemanha") teve papel fundamental nessa divulgação da
literatura e do pensamento filosófico dos alemães
P: A senhora julga, por exemplo, que eles conseguiam captar
os fundamentos, a essência da filosofia que foi esteio do Romantismo,
a qual, para muitos, em certos casos, é quase impenetrável? Falo da
filosofia do Eu, por exemplo.
R: Penso que nem os próprios autores alemães não atingiram esse
conhecimento profundo. Acho fundamental considerar que os poetas e
escritores em geral sempre costumam ser pessoas sagazes, sensíveis,
críticas. As ideias filosóficas, as correntes culturais de modo geral, os
acontecimentos históricos, as percepções do dia a dia, etc., tudo interessa
a eles (conforme a inclinação pessoal, certos estímulos ganham mais peso
do que outros, é claro). Assim, a filosofia provê um material importante
de reflexão para esses autores, mas nem por isso eles se transformam em
estudiosos, capazes ou interessados em fazer estudos pormenorizados.
Assim, como hoje muitos conhecem assuntos apenas por uma palestra,
naquela época havia grupos de discussão (às vezes na mesa da taverna)
em que ideias eram divulgadas e discutidas. Alguns, então, liam mais
sobre aquilo; outros ficavam só com aquela primeira impressão geral.
Enfim, para resumir: não podemos exigir do poeta a profundidade de um
pesquisador de filosofia: o poeta pode em alguns casos até alcançá-la,
mas essa não é a prioridade dele (que é sempre a literatura).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 223
ARTIGOS
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 224
A CATÁSTROFE EM “NÃO PASSARÁS O JORDÃO”,
DE LUIZ FERNANDO EMEDIATO
Tânia Sarmento-Pantoja – UFPA 1
Resumo: Pretendo apresentar algumas reflexões acerca das características do
testemunho, em particular, as noções de colapso e irrepresentabilidade nele
implicados, que costumam estar presentes na chamada narrativa da catástrofe,
considerando alguns efeitos estéticos muito presentes nessa forma narrativa,
como o insólito, o abjeto, o grotesco e o sublime. A análise contempla mais
especialmente as manifestações do insólito associado ao abjeto em “Não passarás
o Jordão” de Luiz Fernando Emediato.
Palavras-Chave: Testemunho. Catástrofe. Luiz Fernando Emediato.
I
Não passarás o Jordão
O livro Verdes Anos de Luiz Fernando Emediato é uma obra que
quebra regras no que concerne às formas literárias, uma vez que enquanto
narrativa se funda no intervalo entre o romance e a antologia de contos.
Trata-se de uma produção constituída em duas partes: Parte I - O LADO
DE DENTRO, consiste em ser formado pelos seguintes contos – que
também podem ser tranquilamente entendidos como capítulos de um
romance: O outro lado do paraíso, Cândida, Also Sprach Zarathustro, O
Deserto da Primavera e Verdes Anos. E compondo a parte II, O LADO
DE FORA, estão respectivamente A data Magna do Nosso Calendário
Cívico e Não Passarás o Jordão. Cada uma dessas sequências pode ser
lida individualmente, sem provocar nenhuma perturbação ao todo
romanesco, mas também se lermos o conjunto delas como romance,
podemos vislumbrar as correlações entre as duas partes. Assim, em
primeiro contato com o livro, o leitor irá se deparar com uma sensação de
1
UFPA – Universidade Federal do Pará. Programa de Pós-Graduação em
Letras/Instituto de Letras e Comunicação. Belém, Pará, Brasil, CEP 66075-
110. nicama@ufpa.br
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 225
estranhamento, devido às oscilações entre conto e romance ou a mistura
de ambos.
Para os limites da análise que aqui proponho foi escolhido o
capítulo-conto (opto por tratar as sequências como capítulos-contos) Não
passarás o Jordão, cuja narrativa contém o relato das torturas sofridas em
cativeiro pela personagem Claudia, uma jovem estudante de vinte e dois
anos, que ao final da narrativa sabemos ter sido sequestrada, interrogada,
humilhada, torturada e violentada (não exatamente nesta ordem). A
narração alterna entre o discurso de Claudia (a vítima), o dos
sequestradores, na verdade policiais a serviço do governo, e mais o de um
narrador em terceira pessoa. Todos assumindo a função de narradores, em
distintos trechos da narrativa. Assim, podemos acompanhar o nojo, o
desespero e o sofrimento de Claudia a partir da perspectiva contada por
ela e também o deleite dos policiais, a partir da perspectiva deles, na
medida em que a torturam e a violentam sexualmente. Bem como os
comentários do narrador em terceira pessoa.
O diálogo entre ficção e historia é bem urdido e não deixa
dúvidas quanto ao fato de que o sequestro de Claudia se dá no contexto
da repressão imposta pela ditadura civil-militar instaurada no Brasil, em
1964. Na narrativa, Claudia é sequestrada e os policiais esperam extrair
dela informações. E como forma de conseguirem respostas, aplicam
variadas torturas físicas na jovem, entremeadas por ações que envolvem
abuso sexual.
Em termos de composição estética é possível observar nesse
conto a fruição de vários efeitos que podem ser reconhecidos como sendo
próprios do insólito, do abjeto, do sublime etc, cujas evoluções e
mediações se constituem no relato com vistas não apenas à tematização
da violência, mas para igualmente estabelecer uma série de
problematizações voltadas às estratégias de estruturação do testemunho.
Como se trata de um conto cabe ressaltar que nesse processo a
reelaboração ficcional já é por si mesma uma estratégia vibrante no que
concerne à provocação especulativa acerca desse assunto.
II
A catástrofe em cena
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 226
Ao pensarmos nos traços etimológicos apontados por Seligmann-
Silva (2008, p.8) para o termo catástrofe, observamos a ligação que o
mesmo apresenta com as noções de trauma, choque e violentação.
Vejamos:
“A palavra “catástrofe” vem do grego e significa, literalmente,
“virada para baixo” (kata + strophé). Outra tradução possível é o
“desabamento”, ou “desastre”; ou mesmo o hebraico Shoah,
especialmente apto no contexto. A catástrofe é, por definição, um
evento que provoca um trauma, outra palavra grega que quer dizer
“ferimento”. “Trauma” deriva de uma raiz indo-européia com dois
sentidos: “friccionar, triturar, perfurar”; mas também “suplantar”,
“passar através”. Nesta contradição – uma coisa que tritura, que
perfura, mas que, ao mesmo tempo, é o que nos faz suplantá-la, já se
revela, mais uma vez, o paradoxo da experiência catastrófica, que
por isso mesmo não se deixa apanhar por formas mais simples de
narrativa”.
Catástrofe é ainda “o que separa um estado de necessidade ou
emergência de uma condição normal (...) o não-lugar da indeterminação
entre anomia e direito” (TELES, 2007, p. 103). Trata-se de uma narrativa
que se caracteriza ainda pelo “caráter indecidível do lugar da exceção,
expresso pela indistinção entre a exceção e a norma” que “coloca-nos a
questão sobre o momento em que a exceção torna-se a própria norma”
(TELES, 2007, p. 103). De acordo com Oliveira (2008, p.14) o percurso
etimológico do termo catástrofe sinaliza positivamente para a reflexão
acerca do horror e sua representabilidade, pois consegue capturar a
ambiguidade que por essência habita a arte pós-traumática, na medida em
que “perfura e, simultaneamente, suplanta, mostrando as duas vertentes
presentes em qualquer esforço de articulação daquilo que, sem cessar,
produz furos na malha simbólica”. Essa representabilidade, por sua vez,
resiste às soluções formais fáceis ou convencionais – lineares e
totalizantes.
No ensaio “Vozes de crianças”, Netrosvski (2008), estabelece
que após os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial eclodiu uma
nova abordagem da produção literária artística na Europa, em especial na
Alemanha, a chamada literatura de testemunho. Essa produção apreendeu
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 227
os horrores da Shoah e aponta enfaticamente, entre outros aspectos, para
os problemas inerentes à representação da catástrofe.
A partir dessas posições é possível observar que o processo de
apreensão do testemunho ou do teor testemunhal pela ficção se dá nessa
relação entre testemunho e catástrofe. E muito particularmente se faz
pontual naquilo que chamaremos aqui de cena dolorosa, ou seja, os
movimentos narrativos traçados em direção à construção do relato – ou
pelo menos a tentativa de – em que o narrador intenta capturar os
momentos cruciais do estabelecimento da ferida traumática. Essa
tentativa, porém, tem como efeito o estabelecimento de um conjunto de
apreensões voltadas à demanda por mostrar a dor sofrida, tentativa
sempre parcial, porque não consegue dar representabilidade plena a essa
dor, a partir da ferida traumática, aspecto que converge mesmo para as
soluções formais percebidas em narrativas que se voltam a tais
problemáticas. Essas configurações são passíveis de nota no capítulo-
conto de Verdes Anos selecionado para estudo, em que destaco a
narração-focalização fragmentada e distribuída por diferentes narradores,
a estranha inserção no interior da forma romanesca, a apreensão da
articulação fragmentária da linguagem testemunhal em alguns momentos
do relato da protagonista, como nesse que destaco a seguir: “A porta.
Luz. Dormir. Mesa. Estou sobre a mesa. Comer. Náuseas, vômito. Carne.
Minha carne. Quente, carne, dormir. Comer. Sede. Água, rio. Chuva.”
(Emediato, 1994, p.202).
Sendo uma das categorias estéticas mais presentes no relato o
abjeto entra na fabulação de Não Passarás o Jordão justamente para dar
conta do esmagamento a que o corpo está sujeito. As ações movidas
contra o corpo são em plenitude abjetas. Pois, como se as dores físicas
não fossem suficientes, a vítima é obrigada a experimentar o horror e o
nojo de si mesma – especialmente pelo contato com excrementos e outras
substâncias que causam algum tipo de repulsa. Alguns fragmentos do
capítulo-conto demonstram bem essa configuração:
“Dentre as beberagens que me obrigavam a ingerir,
espontaneamente ou à força - o que conseguiam entornando-me o
caldo pela boca enquanto me impediam de respirar -, lembrar-me de
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 228
misturas de algo parecido com óleo diesel ou gasolina, fezes urina,
água de esgoto, sangue coagulado, esperma e carne deteriorada.
[...] o qual faziam sorrindo toda vez que eu gritava [...]
[...] como eram eles capazes de sentir desejo quando me
violentavam, agarrando-me o corpo magro e nele penetrando com
toda a brutalidade animal de um desejo nojento e imundo”
(EMEDIATO, 1984, p.128.)
De qualquer maneira a entrada da cena dolorosa na cadeia
narrativa, marcada pelo agônico e pelo abjeto, impõe ao relato outros
efeitos determinantes da reelaboração do testemunho pela ficção, dentre
os quais destacamos os efeitos de insólito. Segundo Nogueira (2007,
p.69):
“O termo “insólito”, numa classificação bem ampla, expressa tudo o
que é desusado, incomum, infrequente, sobrenatural, incerto, raro,
extraordinário, terrível, excepcional, inusitado, extravagante,
excêntrico, não-habitual, esdrúxulo, etc., enfim, o que rompe com ou
frustra as expectativas do senso comum vigente”.
Ora, se a base do insólito é o inesperado, é o surgimento de um
estado de esgarçamento entre a norma e o tabu. Entre o esperado e um
universo em que todas essas condições são rompidas, suspensas,
invertidas e, portanto, torna-se o território do inesperado. Se o insólito se
faz, enfim, na fronteira entre o sólito e o in-sólito, nesse limite, o que
move esta análise é o papel do insólito quando manifesto em narrativas
ficcionais em que o teor testemunhal está duramente associado à
construção daquilo que chamamos de cena dolorosa em narrativas da
catástrofe, pois em geral, a cena dolorosa, pela presença do abjeto, pelo
rompimento do tabu, pela quebra da norma, pela violentação sofrida pelo
cotidiano e pelo corpo, geram efeitos de insólito.
Se do ponto de vista linguístico essa emergência se dá a partir da
inserção dos signos demarcadores da experiência, como pode ser visto
mais adiante, esteticamente é possível afirmar que a assunção da
destruição física e psíquica, se realiza no plano de movimentos estéticos a
partir da presença do abjeto, do insólito e do sublime. É o que pretendo
demonstrar, a partir de uma análise que envolve considerações a respeito
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 229
dessas categorias e o estudo da narrativa Não Passarás o Jordão, que
avalio como paradigmática em relação às hipóteses aqui apresentadas.
III
A narrativa da catástrofe no intervalo entre testemunho e ficção
Narrativas de testemunho ou com teor testemunhal pautadas no
relato da dor e do sofrimento, ao fazerem isso, constituem a cena
dolorosa como esse território em que a ferida traumática tenta se mostrar
em toda sua reverberação, em toda sua náusea, ainda que mesmo
alcançada pelas reverberações do sublime – prementes na ferida exposta,
nos dejetos mostrados, no sangue derramado, na laceração da carne em
ato na palavra escrita – mas a exatidão das palavras é sempre alcançada
pela falta, por uma espécie de censura, pois por mais objetivo que seja o
relato há sempre algo que escapa à nominação, há sempre uma dor para a
qual nenhuma apalavração é suficiente ou são palavras envergonhadas,
prenhes de gagueira, de curto-circuitos, de desarticulações. É nisso que
reside o inominável do trauma, a sua irrepresentabilidade. Agamben
(2008, p. 43) realça essa falta que há no testemunho, pois avalia ser a
falta a sua marca mais essencial.
Há ainda nessas narrativas a presença de um assombro diante do
horror, do ato inaceitável, da violência desmedida, da dor imensurável, da
sobrevivência julgada injusta. Enfim, de uma série de tabus rompidos.
Assombro que se identifica como uma paralisia – e temos aqui o signo da
suspensão que, palpitante, se faz notar.
Elaborar a cena traumática, inscrita no testemunho, implica trazer
para a narrativa, metarreflexivamente, as indecibilidades sobre como
dizer o trauma. Ginzburg (2001, p.140) assevera que a representação da
cena traumática se faz marcada por processos históricos, na medida em
que recusa a “possibilidade de volta, a resistência ao reencontro com a
cena traumática”. Tem-se aí a recusa ao reencontro com o momento de
instauração da ferida, mas não a negação das consequências do trauma.
Porém, ainda que essa característica seja premente no testemunho,
quando se trata da ficção ela pode ser configurada no interior de um
intenso jogo de rememoração-reelaboração. Nesse processo, envolto pelo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 230
território da ficção o testemunho tende a confrontar a natureza dessa
forma de lidar com a ferida traumática, apostando justamente nesse
reencontro entre a vítima e seu corpo no momento da vitimização. E os
manuseios escriturais podem, contrariamente ou suplementar à
constituição do trauma, tornar narrável de maneira radical e exasperada a
ferida traumática, que comparece parasitária da memória daquele que a
experimentou.
Dessa forma, narrativas como Não Passarás o Jordão, insistem
em elaborar o trauma justamente trazendo a lume essa não-negação
implicada na recusa. Por isso a cena dolorosa. Por isso, o relato que tenta
se constituir como uma rememoração do momento crucial e excruciante
de imposição da ferida traumática à vítima. Mais ainda: por se tratar de
uma narrativa que segue a estrutura do conto, a nucleação da cena
dolorosa torna-se ainda mais favorecida: é o momento de construção do
ferimento físico e psíquico imposto à vítima, é a imolação do corpo e a
trituração da integridade do Ser, experimentadas por Claudia em Não
Passarás o Jordão, que são realmente os grandes protagonistas aqui.
Desse modo, mais do que a dor é o delito dos algozes, prefigurado nas
torturas que machucam e humilham a vítima, o que se coloca em
evidência. Adiante, um fragmento da narrativa ilustra essa percepção:
(...) depositaram-me nua sobre a mesa, fui espancada a socos e
pontapés, chicoteada com uma espécie de chibata de cordas com
glóbulos de meta nas pontas, espezinhada com uma espécie de urtiga
ardente, que me introduziram na boca, no ânus, e na vagina,
atormentada com choques elétricos em todas as partes do corpo,
inclusive as sexuais e excretoras, e ainda estuprada, embora quase
inconsciente, por três homens consecutivamente (Emediato, 1994,
p.228)
Em ensaio sobre a função reparadora e transmissora da narrativa
de testemunho, particularmente as do Leger, Fransiska Louwagie (2006)
observa a reunião de características linguísticas provenientes ora de
espaços públicos, ora dos campos de concentração e essa comunhão entre
diferentes comunidades linguísticas formaria um idioleto próprio.
Segundo Louwagie, além dessa característica outro aspecto que chama
bastante a atenção é a presença de signos de detonação do sofrimento,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 231
estratégia discursiva que consiste em empregar figuras de substituição
tais como o eufemismo ou a metáfora animalizante, ambos implicados
nos processos de desumanização dos prisioneiros. Segundo Louwagie
(2006, p.57) a emergência desses signos “revela a existência de uma
concepção de realidade própria dos campos”. Os termos que vão compor
esse idioleto surgem “por crença em usos e menções” (BIKIALO Apud
LOUWAGIE, 2006, p. 60).
De um lado os prisioneiros utilizam “termos concentracionistas”
para descrever os sofrimentos e o lastro agônico deixados pela estadia no
campo de concentração. Por outro lado, “marcam” tais termos a fim de
denunciar como a ideologia nazista está subjacente, o que inclui no uso
destes termos um eco crítico. Nesse sentido, diz Louwagie que a
linguagem testemunhal se aproxima da ironia, pois assim como esta
combina o uso à menção crítica. Nisso reside a instauração de uma
estratégia de resistência ou do “poder” da experiência, no espaço da
linguagem. Sobre essa condição, diz ainda Louwagie: “La revendication
de sa propre langue par le témoin correspond bien à la doublemission du
témoignage, la réaffirmation du « je » et la défense de la mémoire”2.
Nesse caso, a recomposição de si serve para constituir os efeitos da
destruição física e psíquica sofridos pelo prisioneiro, possíveis, como já
observei em outro momento do presente trabalho, a partir de uma
formulação estética baseada em sólidos diálogos entre efeitos, dentre os
quais destaco os do insólito e os do abjeto.
Particularmente em relação ao insólito ressalto que,
convencionalmente, sempre esteve associado à definição de alguns
gêneros bastante conhecidos da teoria e da crítica de textos literários. Cito
Flávio Garcia (2008, p.13): “o Maravilhoso – clássico ou medieval –, o
Fantástico – e seus coetâneos, o Sobrenatural e o Estranho –, o Realismo
Maravilhoso – nomenclatura mais apropriada para o Realismo Mágico ou
Realismo Fantástico – e, mesmo, o Absurdo”. Nesse sentido, a primeira
fronteira a ser atravessada em direção ao entendimento do insólito
2
Em tradução livre: “A reivindicação de uma linguagem própria por parte do
testemunho corresponde a sua dupla missão: reafirmar um eu e a defesa da
memória”.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 232
perpassa pelo problema da representação objetiva. De acordo ainda com
Batista (2007, p.45):
“Percebem-se na História da Literatura duas orientações
narratológicas bem nítidas: as comumente chamadas narrativas
realista-naturalistas e as não realista-naturalistas. Grosso modo, as
narrativas realista-naturalistas teriam maior comprometimento com a
realidade cotidiana exterior, rejeitando tudo o que possa ferir a
expectativa do leitor. Seria uma “representação objetiva” do já
conhecido. Já as não realistanaturalistas teriam em sua estrutura
elementos cuja função seria romper com o que se acredita ser a
realidade cotidiana exterior, estremecendo as leis do universo
vivenciável pelos leitores reais”.
Ou por outro lado:
“O insólito representar-se-ia por um conjunto de elementos da
construção da narrativa que marcariam os textos com sua presença
enquanto representação de uma concepção diversa do sólido,
formando um mundo em que as verdades do universo familiar e
previsível dos leitores reais, seres do cotidiano, estariam alteradas”
(BATISTA, 2007, p.45-46).
A ausência ou omissão do sólido se faz nessa perda das
referências das coisas – elementos identitários, limites do real,
substancialidades, demarcações da experiência, valores.... Estar diante do
insólito pode significar que a existência natural foi invadida por algo
extranatural, por algo que, enfim, transcende, esgarça, desacomoda de
algum modo o universo conhecido, a realidade conhecida, para inserir
aquilo que é objeto do insólito no limite de uma zona de fronteira, que
nem sempre se restringe ao real-irreal. Por isso, o insólito sempre carrega
consigo “o levantamento de uma questão, de uma premissa nova até
então proibida ou ao menos não considerada, que a toma como hipótese
de trabalho e a desenvolve até as últimas consequências, sejam estas
quais forem, e que fez a fama da obra de Kafka ou Döblin” (CORAL,
2008, p. 72).
Ao pensar em Não Passarás o Jordão observo que mesmo se
tratando de uma ficção, a elaboração da cena dolorosa se vale
seguramente de alguns dos artifícios verificados por Louwagie,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 233
especialmente no que concerne ao manuseio dos signos demarcadores do
sofrimento e aqui ressaltamos, como primeiro aspecto observado, que há
um paralelo entre o uso da metáfora animalizante, muito encontrada nos
testemunhos analisados por Louwagie, e a deflagração de termos e
expressões que recuperam o locus da tortura, tal como ocorre em Não
Passarás o Jordão. Nessa narrativa as inscrições do sofrimento estão
fadadas a envolverem apreensões que se expressam na virulência do
próprio uso da língua. Essa deflagração se realiza fundamentalmente pela
palavra abjeta.
E aqui cabe dizer que um segundo aspecto que observo é
justamente essa associação entre o abjeto e o insólito. Conforme Júlia
Kristeva (1982, Apud MORAES, 2011) o abjeto é o que se conhece como
o rejeitado, aquilo que traz repulsa, que produz asco, que se manifesta de
forma ameaçadora, inquietante, que desperta fascínio e desejo. É o que
fragiliza nossas fronteiras, problematizando tanto a individualização dos
seres quanto os significados estabelecidos por sua cultura, por isso, não é
estranho que os artistas sintam certo deleite em representar em sua arte o
mau desempenho e desequilíbrio dos sujeitos e da sociedade, a partir do
abjeto.
Outro aspecto que destaco é a ausência de eufemismo, ligada
tanto a presença da palavra abjeta quanto a assunção dos efeitos de
insólito. Ainda no território do abjeto, a deseufemização se evidencia
pelo tom de linguagem crua, das coisas ditas a nu, como se não houvesse
preocupação em refinar e selecionar termos que fossem menos chocantes
e que provocassem menos asco a quem lê o relato, mesmo porque na
demanda por dizer cruamente subjaz a tentativa de dizer a crueldade.
Observa-se consequentemente um léxico carregado de teor obsceno e
abjetal e bastante calcado no hiperbolismo, como modo de impregnar a
experiência da tortura com as ideias de exagero e de extenuação. Além de
fazer a narrativa apontar também para o território do sublime essa
linguagem faz irromper uma erotização que se mostra bastante eficaz não
somente ao mostrar o corpo sob processo de tortura, mas, sobretudo, por
estabelecer a modo de problematizar a perversão.
Essa linguagem abjeta também me parece apresentar outra
função, essa ligada de maneira singular ao laboratório escritural realizado
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 234
na fronteira testemunho-ficção: suspeito que ela de certo modo atenua a
gagueira, a falta, tão peculiares do testemunho. No anseio de recuperar a
cena dolorosa a vítima rememora – mas também reelabora o que
experimentou e ao realizar a rememoração ganha a possibilidade de
avaliar o vivido e colocar para fora, mais do que a dor, a revolta, cujos
contornos se fazem a partir da vibração da língua em favor de um
vocabulário bruto, que explode a partir de um léxico que se ocupa de
partes do corpo consideradas tabus. Ressalto a propósito que a etimologia
do termo “abjeto” – abjicìo,is,abjéci,abjectum,abjicère: “atirar para longe
de si, lançar, atirar, despedir; derribar, deitar abaixo, matar; recusar,
rejeitar, desprezar, enjeitar' (donde abjectus,a,um 'derribado, atirado por
terra; abjeto, vil, desprezível; rasteiro, baixo, sem elevação; abatido,
prostrado, desanimado, desesperado'), abjectìo,ónis 'abjeção, baixeza;
diminuição, supressão; abatimento, prostração, desespero', adjicìo,is
'atirar, lançar, arremessar para”3 – está calcado em diversas ideias que
favorecem a movimentação de uma linguagem que busca nas palavras
consideradas vulgares um mecanismo para dizer do modo mais direto a
brutalidade sofrida.
No limite do insólito essa condição perdura como possibilidade
de expressar o inominável diante da perda de referências em relação ao
que é humano, aos deslimites que sempre configura o Mal, à crise dos
valores éticos implicados no gesto de quem levanta o braço armado para
espancar, violentar e deleitar-se com a dor do outro. E nesse sentido o
inominável torna-se nominável e por isso mesmo se configura como
insólito. O insólito está nessa permanência do colapso que, por um lado
se manifesta no cotidiano usurpado da vítima, por outro está no
desmascaramento do colapso que envolve sempre a quebra radical de
determinado conjunto de valores humanos no interior de um regime
autoritário. Nesse processo, o sofrimento da vítima e o gozo dos
torturadores funcionam como um dispositivo de infantilização, se
pensarmos com George Bataille (1989, p.19-20), que a infância pode ser
a metáfora da suspensão primeva entre os limites do Bem e do Mal, a
diluição dos interditos vinculados ao mundo racional e nessas condições
3
Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 235
podem representar também a supressão do humano4. Desse modo, deleite
e vivissecção, destruição e gozo, caminham juntos na constituição do
comportamento dos torturadores.
Para concluir, a etimologia da palavra crise – do grego krisis –
ato ou faculdade de distinguir, escolher, dividir ou resolver é marcada
pela noção de ruptura. A crise é assim um espaço de desajuste. No caso
das narrativas como a que aqui é objeto de reflexão, a crise comparece
como signo da dessimetria entre dois sistemas de valores: o de uma
determinada comunidade social e aquele que rege o comportamento dos
torturadores e por simbiose o regime autoritário por eles representado.
Envolvido na teia do insólito, a cena dolorosa de Não Passarás o
Jordão repercute um estado de crise, e como tal repercute o choque tão
próprio da catástrofe, e essa condição evoca o rompimento com as coisas
(supostamente) sólidas, fazendo com que o sólido se desvaneça, com que
o previsível seja rompido ao ponto de detonar um desencantamento e uma
paralisia que parece incessante: duas marcas essenciais da crise.
Para a protagonista do conto, contra os efeitos destruidores da
experiência do encarceramento e tortura, resta a elaboração da memória.
E a partir dessa elaboração ocorre a possibilidade da resiliência, o
confronto e enfrentamento do trauma, ainda que isso signifique voltar
atrás no passado extraindo dele o momento crucial da cena dolorosa. A
resiliência permite não apenas o reencontro com o trauma, mas sua
reelaboração, com possibilidade de, a partir de então, elaborar uma
identidade nova (CYRULNIK, 2005, p. 46), identidade de sobrevivente,
não denegadora da cena dolorosa, mas capaz de permitir o retorno do
momento da crise, aqui muito marcada pelo rebaixamento do humano.
Estabelecer o nexo com a crise é uma forma de inscrever a busca pela
integridade perdida no decorrer da experiência-limite vivenciada. É em
todo caso uma busca pela reparação.
Cabe ainda observar que o Jordão, sempre grande signo da
passagem para a felicidade, para a utopia, comparece aqui invertido,
denegando a demanda, a busca por outro lugar em que o Mal esteja pelo
menos restrito ao lícito dos tabus que o acompanha. Quanto a esse
4
Ver aqui todo o capítulo que Bataille dedica a Emily Brontë.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 236
aspecto, vale lembrar que o Jordão está intimamente associado à
travessia, condição suspensa no conto. Não há passagem possível, aqui
interposta como possibilidade de transcendência, para a jovem. Isso
significa que mesmo perante a resiliência a reelaboração não a livra da
convivência com a dor. Essa condição por sua vez realça o
desencantamento e a paralisia anteriormente referidos. Vale lembrar que
os efeitos de insólito também se fazem presentes na narrativa da
catástrofe pelo que é provocativo em relação ao desencanto. Em um belo
trecho de um ensaio escrito por Batista (2007, p.63) lê-se que ao fluir o
insólito as instâncias de normalidade e anormalidade deixam de existir, e
o extranatural se revela naquilo em que é mais avassalador: é maior que o
indivíduo, derrotado frente a essas forças usurpadoras da humanidade.
Nesse sentido, para concluir, avalio que o cruzamento entre
efeitos de insólito e abjeto são esteticamente muito interessantes para a
constituição da narrativa da catástrofe, pois é certo que esta se
fundamenta no choque, na tentativa de revelar o desastre, o aviltamento
ou, para recuperar um termo utilizado por Seligmann-Silva, o
desabamento – da história, do real, do cotidiano, da norma, dos valores,
da mesma forma que expressa a dimensão da crise que alcança a
experiência humana nesses termos. Justamente em função de haver no
interior da catástrofe os signos da suspensão e do horror em ritmos
diferentes de oscilação, é que o insólito se torna possível.
THE CATASTROPHE IN “NÃO PASSARÁS O
JORDÃO” BY LUÍS FERNANDO EMEDIATO
Abstract: I want to present some reflections on the characteristics of the
testimony, in particular, the notions of collapse and it unrepresentability
involved, which are usually present in the call narrative of the catastrophe
, considering some very aesthetic effects present in this narrative form,
like the unusual, the abject , the grotesque and the sublime. The analysis
covers more particularly the unusual manifestations associated with the
abject in "Não passarás o Jordão" by Luiz Fernando Emediato.
Key-words: Testimony. Catastrophe. Luiz Fernando Emediato.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 237
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Georgio.A testemunha. In: ______. O que resta de Auschwitz: o
arquivo e a testemunha (Homo Sacer III). Tradução de Selvio J. Assman. São
Paulo: Boitempo, 2008.
BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. Tradução de Suely Bastos. Porto
Alegre: L&PM, 1989.
BATISTA, Angélica Maria Santana. As (des)fronteiras do insólito na literatura:
reflexões e possibilidades na contemporaneidade. In: García, Flavio (org.). A
banalização do insólito: questões de gênero literário – mecanismos de
construção narrativa. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2007, p.45-65.
CYRULNIK, Boris. O murmúrio dos fantasmas. Tradução: Sônia Sampaio. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.
CORAL, Wenceslau Teodoro. O insólito banalizado e as angústias do eu: marcas
pós-modernas. In: Flavio García; Marcello de Oliveira Pinto. Regina Michelli
(org.). IV Painel "Reflexões Sobre o Insólito na Narrativa Ficcional": Tensões
Entre o Sólito e o Insólito. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2008.
EMEDIATO, Luiz Fernando. Não Passarás o Jordão. In: Emediato, Luiz
Fernando. Verdes Anos. EMW EDITORES, coleção Tirando de Letra. Vol. 2,
1984.
GARCIA, Flávio. O “insólito” na narrativa ficcional: a questão e os conceitos na
teoria dos gêneros literários. In: García, Flavio (org.) A banalização do insólito:
questões de gênero literário – mecanismos de construção narrativa. Rio de
Janeiro: Dialogarts, 2007, p.06-10.
GINZBURG, Jaime. Escritas da tortura. Diálogos latinoamericanos,
Universidade de Aarhus, v.3, 2001, pp. 131-146.
LOUWAGIE, Fransiska. Comment dire l’expérience des camps: fonction
transmissives et réparatrices du récit testimonial. Études Littéraires, vol. 38, n°
1, 2006, p. 57-68.
MORAES, Marcelo Rodrigues de. Estética e horror: o monstro, o estranho e o
abjeto. Disponível em: http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/dossie/art_11.php.
Acesso em: 29 de set. de 2011.
NOGUEIRA, Thalita Martins. A dificuldade de sistematização das
características dos gêneros literários que têm o insólito como marca distintiva.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 238
In: García, Flavio (org.). A banalização do insólito: questões de gênero literário –
mecanismos de construção narrativa. / – Rio de Janeiro: Dialogarts, 2007 p.66-
82.
OLIVEIRA, Mariana Camilo de. “A dor dorme com as palavras” a poesia de
Paul Celan nos territórios do indizível e da catástrofe. Dissertação (Mestrado).
Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Letras:
Estudos Literários, Faculdade de Letras. Belo Horizonte, 2008.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. Narrar o trauma – a questão dos testemunhos de
catástrofes históricas. Psic. Clin., Rio de janeiro. 2008. vol.20, n.1, p.65 – 82
TELES, Edson Luís de Almeida. Brasil e África do Sul: os paradoxos da
democracia: Memória política em democracias com herança autoritária. Tese
(Doutorado) Universidade São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Filosofia
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas , São Paulo, 2007.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 239
TAL PAI, TAL FILHO? CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO
DO SUJEITO MASCULINO NO ROMANCE LIMITE
BRANCO, DE CAIO FERNANDO ABREU
Gracia Regina Gonçalves – UFV 1
Juan Filipe Stacul – UFV 2
Resumo: No presente trabalho, pretendemos discutir a construção da subjetividade e
sua relação com as categorias de gênero, em especial, o caso do masculino no
romance Limite branco (1970), de Caio Fernando Abreu. Nesse texto, Abreu
empreende uma crítica sutil dos modelos normativos vigentes em sua época, a serem
passo a passo desmantelados ao longo das últimas décadas. Dessa forma, o processo
de amadurecimento da personagem nos leva a uma fluidez que coloca em xeque as
noções do que se concebe, tradicionalmente, enquanto próprias do indivíduo.
Acreditamos que a aprendizagem, ou “des-aprendizagem”, conforme propomos, se
estrutura a partir da interação/estranhamento do indivíduo para com o ambiente em
que vive, o qual se revela ora como refúgio, ora como uma das armadilhas do poder.
Enquanto referencial teórico, reflexões sobre os estudos de gênero e, dentre esses, as
levantadas pelos men’s studies, amparam as discussões aqui levantadas.
Palavras-Chave: Subjetividade. Gênero. Crise da masculinidade.
Caio Fernando Abreu tem sido visto como um escritor
paradigmático de uma geração que viveu turbulentas transformações,
sobretudo no que diz respeito à transição do ditatorialismo para a
democracia. Do mesmo modo, está ligado à revolução cultural advinda de
movimentos representativos na década de 1970, associados à conquista
de liberdades individuais. Nesse contexto, vem à tona uma literatura
marcada por um caráter transgressivo, que atravessa ao meio o
tradicionalismo burguês, propondo uma ruptura nas construções
ideológicas vigentes.
De uma maneira geral, torna-se evidente, na criação literária de
Abreu, a impossibilidade de adequação do indivíduo aos parâmetros que,
outrora, lhe foram socialmente estabelecidos. A partir disso, as barreiras
1
Doutora em Literatura. Professora Associada do Departamento de Letras (DLA) da
Universidade Federal de Viçosa (UFV), Av. PH Rolfs, Campus Universitário,
Viçosa – Minas Gerais, Brasil. CEP.: 35670-000. E-mail: graciag@hotmail.com.
2
Mestre em Literatura. Professor Substituto do Departamento de Letras (DLA) da
Universidade Federal de Viçosa (UFV), Av. PH Rolfs, Campus Universitário,
Viçosa – Minas Gerais, Brasil. CEP.: 35670-000. E-mail: filipestacul@gmail.com.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 240
que o envolviam se desmoronam em face da fluidez de novas construções
identitárias, ratificando a ideia de indefinição contida no título do
romance Limite branco (1970), escolhido como corpus da nossa pesquisa.
Quanto à obra em questão, cabe ressaltar que se trata de um texto
inaugural, mas que já traz em si o germe de uma estética inovadora e
singular. Sobre o limite, suscitado no título do romance, acreditamos que,
em vez deste dar uma aparência de ordem, atribuição ou estabilidade,
sugere, paradoxalmente, múltiplas formas de se conceber o sujeito,
ultrapassando uma noção essencialista de valores. Em consonância com
essa visão, relembra-se que o próprio branco é, antes de tudo, espectral:
atravessado pela luz, este cede lugar a outras cores, gerando profusão,
mistura, dinamicidade. De maneira análoga, o sujeito, a partir de sua
instabilidade e riqueza, se mostra um tanto mais especial por aquilo que,
ou não é visto, ou não pode, a princípio, ser percebido.
Nosso objetivo central é realizar uma leitura que alie a
constituição da subjetividade com as relações de gênero na narrativa,
enquanto formas interdependentes e também sujeitas a armadilhas
ideológicas. Alertas a posicionamentos estanques sobre o assunto,
preferimos conceber o indivíduo como passando por um processo de
aprendizagem, correspondente ao olhar crítico do protagonista na
narrativa. Surge, então, um texto subversivo e irônico, como uma nova
proposta de caráter estético, literário e social.
A respeito de uma contextualização da produção literária de
Abreu com o momento social e político no qual se insere, entre as
décadas de 1970 e 1990, surgem algumas considerações relevantes. Flora
Sussekind (1985), Fernando Arenas (2003) e Jaime Ginzburg (2007),
dentre outros, observaram a criação do autor a partir de debates sobre o
governo ditatorial e a literatura pós-64, assim como o surgimento da
cultura gay e a luta contra o vírus HIV - temáticas recorrentes nos
períodos históricos aqui referenciados.
Para discutir, especificamente, a relevância da obra de Abreu,
Sussekind toma como exemplo o conto Garopaba mon amour, presente
no livro Pedras de Calcutá (1977)3. No texto, tornam-se evidentes os
traços de uma escrita responsável por trazer à tona a realidade ditatorial, a
partir de um registro cru, com traços jornalísticos. Nas palavras de
Sussekind,
3
ABREU, Caio Fernando. Pedras de Calcutá. Rio de Janeiro: Agir, 2007.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 241
no conto de Caio Fernando Abreu, tortura e delírio se misturam,
forçando a própria narrativa a modificar-se para dar conta deles. E,
parágrafos curtos, descrições dolorosas e entremeadas de lembranças
agradáveis, se fazem acompanhar deste súbito diálogo em que se
misturam as falas de torturador e torturado, revolta e relato quase
cinematográfico. (SUSSEKIND, 1985, p. 47).
Nesse aspecto, a literatura de Abreu seria responsável por uma
crítica social que ultrapassa a descrição dos fatos para se constituir
enquanto uma abordagem literária sensorial, que revela aquilo que está
por trás da tortura (sentimentos, digressões e experiências pessoais do
torturado), de forma realista e delirante. Assim, a diferença entre a obra
de Abreu e as demais composições literárias não estaria apenas na
tipicidade dos fatos que são narrados, mas na forma como o são. O autor
atinge uma escrita que se constrói na possibilidade de descrever uma
experiência pessoal que não é baseada no senso comum, mas num
mergulho sensorial. Há, nesse caso, a nosso ver, a aproximação com a
proposta clariceana de se transformar na vítima: como Lispector o faz
com Mineirinho4, Abreu coloca-se no lugar daquele que é atingido pelo
horror, como se vivesse a experiência da tortura pessoalmente.
Para Sussekind, essa forma de narrativa aproxima a escrita
daquele que escreve. É como se determinadas barreiras fossem rompidas
para que se estabelecesse uma literatura mais intensa, visceral, com um
eu que narra muito próximo de um eu que é narrado. Já para
Albuquerque, “do início aos meados dos anos 90, a encenação das peças
de Caio Fernando Abreu [...] e outros facilitou a representação de estilos
de vida e casos sexuais não ortodoxos das mais diversas formas”
(ALBUQUERQUE, 2004, p. 35, tradução nossa5). Sobre a importância
dessas peças teatrais para as mudanças advindas a partir dos movimentos
sociais e políticos da época, o autor ainda disserta:
4
LISPECTOR, Clarice. Mineirinho. In:____. Para não esquecer. São Paulo: Ática,
1979. p. 101-102. A crônica Mineirinho retrata uma incursão sensorial no episódio
da morte do bandido Mineirinho, assassinado com treze tiros pela polícia, na
década de 1970. No texto, o cronista/narrador se insere de tal forma no fato narrado
que se transfigura aos poucos na personagem protagonista, sendo atingido pelo
ultimo tiro.
5
By the early to mid-1990s, the staging of plays by Caio Fernando Abreu (1948-
1996) and others facilitated the presentation of unorthodox lifestyles and sexual
liaisons in more matter-of-fact ways. (ALBUQUERQUE, 2004, p. 35).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 242
Com o aparecimento da AIDS no Brasil em meados dos anos 1980, o
jogo [das representações homoeróticas no teatro] mudou totalmente; no
resto da década e em grande parte dos anos 1990, a crise no cerne do
estilo de vida gay também se tornou o principal foco do teatro com
temática gay no Brasil. O teatro de Caio Fernando Abreu e outros
autores ajudou a iluminar uma esfera social periférica dominada pela
iniquidade e pela violência representadas nos confrontos com a
diferença. (ALBUQUERQUE, 2004, p. xi, tradução nossa6).
Se a literatura e o teatro de Caio Fernando Abreu são vistos pela
crítica como essenciais aos movimentos sociais ligados à defesa dos
direitos gays e à luta contra o falocentrismo, a homofobia, e tantos outros
aspectos discutidos pela política e pela crítica queer, essa importância se
tornou ainda mais evidente em meados do primeiro semestre de 2011,
quando o conto Sargento Garcia ganhou sua versão em língua inglesa na
edição de junho da renomada revista eletrônica Words Without Borders7.
Já nos é possível verificar nesse primeiro romance, Limite branco (1970),
uma escrita em amadurecimento, com a presença de um teor imagético-
sensorial que traz à construção literária uma forte carga expressiva.
No que diz respeito à estruturação do romance, verificamos que,
muito oportunamente, Abreu lança mão do Bildungsroman. Do alemão
Bildung=formação e Roman=romance, esse gênero narrativo nasce com a
obra Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1795-1796), de
Goethe, tendo sido apropriado nas mais diversas literaturas ao longo dos
últimos séculos. (MAAS, 2000, p. 12-13) A característica principal desse
tipo de obra, conforme o próprio nome sugere, é o processo formativo de
um adolescente, podendo, dentro de determinados moldes pedagógicos
específicos, se constituir sob a orientação de um educador (mentor) mais
velho. (SCHWANTES, 2007, p. 55)
A caracterização da produção inicial de Caio Fernando Abreu é
marcada por um caráter subversivo detectado no processo de formação da
personagem central. Este se constrói em torno do estranhamento do
jovem Maurício no ambiente familiar, encaminhando-se para além das
6
With the onset of AIDS in Brazil in the mid-1980s the game changed entirely; for
the rest of the decade and through most of the 1990s the crisis at the center of gay
life also became the main focus of gay-accented theater in Brazil. The theater of
Caio Fernando Abreu and others has helped to cast light on how a peripheral
society dominated by inequity and violence represents its confrontations with
difference. (ALBUQUERQUE, 2004, p. xi).
7
Edição disponível em: http://wordswithoutborders.org/issue/june-2011. Acesso:
11/7/2011.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 243
paredes da residência. Nesse aspecto, verificamos que a subjetividade
está intimamente ligada aos espaços apresentados. Compreendemos,
assim, que o processo de aprendizagem e construção do gênero é
perpassado por instabilidades, lançando-se numa descoberta de
possibilidades transgressivas das bases institucionais.
Se nos focarmos nas leituras feministas acerca do gênero
enquanto construção social permeada pelas relações de poder, chegamos
às teorizações de Janet Wolff que, em sua obra Feminine Sentences
(1990), faz uma leitura sobre as relações entre as esferas do público e do
privado, tendo como base a posição da mulher na arte que, ao apresentar
considerações sobre o espaço doméstico, nos ajuda a lançar alguns dos
olhares que propomos. Para a autora, “o processo contínuo de ‘separação
de esferas’ do masculino e feminino, p blico e privado, foi em geral
reforçado e mantido por ideologias culturais, práticas e instituições.”
(WOLFF, 1990, p.12, tradução nossa8) Nesse aspecto, surge a
compreensão de posições espaciais e temporais que garantiram, ao longo
da história, o posicionamento da mulher na vida doméstica, enquanto que
o universo das relações públicas estaria “destinado, por natureza” ao sexo
masculino.
A análise de Wolff chama a atenção para a constante reiteração
de práticas discursivas e construções culturais que instauram o
enclausuramento da mulher nas práticas do cotidiano. A imagem do anjo
do lar vitoriano, nesse aspecto, surge como forte representativa das
práticas situadas no controle dos corpos femininos a partir de seu
engendramento em espaços limitados à esfera doméstica. O corpo
feminino deve ser dócil e submisso, marcado pelo crivo da ingenuidade
angelical e beleza sutil. A mulher, na era vitoriana, deve se comportar
segundo rígidos padrões de etiqueta e moral, silenciada, recôndita em
espaços específicos. Dessa forma, “esta separação foi constante e
multiplamente produzida (e contrariada) em uma variedade de locais,
incluindo a cultura e as artes.” (WOLFF, 1990, p. 13, tradução nossa9)
A respeito dessa noção acerca das categorias de gênero enquanto
constructos de determinado tempo e espaço, Wolff aponta, ainda, as
8
the continuing process of the “separation of spheres” of male and female, public
and private, was on the whole reinforced and maintained by cultural ideologies,
practices, and institutions. (WOLFF, 1990, p.12)
9
Indeed this separation was constantly and multiply produced (and counteracted) in a
variety of sites, including culture and the arts. (WOLFF, 1990, p. 13)
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 244
possíveis origens econômico-sociais da assimetria nas construções
"gendradas". A autora afirma:
Leonore Davidoff e Catherine Hall documentaram a
"separação de esferas" em o mundo público do trabalho
e da política e o mundo privado do lar, bem como o
desenvolvimento concomitante da ideologia doméstica
que relegou mulheres de classe média para a esfera
privada. A separação de material de trabalho e de casa,
que foi o resultado tanto da Revolução Industrial
quanto do crescimento dos subúrbios, foi claramente a
pré-condição do processo geral, embora, como
Catherine Hall apontou, para muitas famílias e muitas
ocupações esta separação nem sempre ocorreu (por
exemplo, no caso de consultórios médicos). (WOLFF,
1990, p. 13, tradução nossa10)
Essa tentativa de uma rigidez nas construções de gênero, por
parte do imperativo dominante, pode ser articulada com outro aparato
conceitual levantado pela crítica feminista: a tecnologia do gênero, de
Teresa de Lauretis (1994). Para a autora, os sujeitos são, desde que são
biologicamente reconhecidos enquanto pertencentes a determinado sexo,
"gendrados" pelas estruturas sociais e familiares. Ou seja, são “marcados
por especificidades de gênero” (LAURETIS, 1994, p. 206) que tentam
determinar quais características são inerentes a cada categoria de
classificação e quais espaços são destinados aos homens e as mulheres. A
tecnologia, nesse caso, abarca tanto questões de gênero quanto de
sexualidade:
As proibições e as regulamentações dos comportamentos sexuais,
ditados por autoridades religiosas, legais ou científicas, longe de
constranger ou reprimir a sexualidade, produziram-na e continuam a
produzi-la, da mesma forma que a máquina industrial produz bens e
10
Leonore Davidoff and Catherine Hall have documented the “separation of spheres”
into the public world of work and politics and the private world of the home, as
well as the concomitant development of the domestic ideology that relegated
middle-class women to the private sphere. The material separation of work and
home, wich was the result of both the Industrial Revolution and the growth of
suburbs, was clearly the precondition of the general process , though, as Catherine
Hall has pointed out, for many families and many occupations this separation did
not always occur (for example, in the case of doctors’ practices). (WOLFF, 1990,
p. 13)
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 245
artigos, e, ao fazê-lo, produz relações sociais. (LAURETIS, 1994, p.
220).
Ao desenvolver essa noção de uma tecnologia do gênero,
Lauretis complementa a noção de que categorizações de gênero são
constructos sociais, intimamente ligados a movimentos performativos e
práticas de controle. Segundo a autora, “o gênero não é uma propriedade
de corpos nem algo existente a priori nos seres humanos”. Nesse aspecto,
portanto, entende-se que o gênero “é produto de diferentes tecnologias
sociais como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e
práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da vida
cotidiana”. (LAURETIS, 1994, p. 208).
Essa problemática dos mecanismos de uma tecnologia na
representação/construção do sujeito "gendrado" nos é cara, quando se traz
à tona a contrariedade de tais relações, já que “paradoxalmente, portanto,
a construção do gênero também se faz por meio de sua desconstrução”.
Ou seja, quando seu transbordamento “pode romper ou desestabilizar
qualquer representação” (LAURETIS, 1994, p. 209). Caminhamos, nesse
momento, para uma postura crítica que vai ao encontro, também, da
noção de liquidez da matéria dos limites, com a verificação de um
“movimento de cruzar e recruzar os limites da diferença sexual”
(LAURETIS, 1994, p. 237), ou seja, de transcendência das bases
normativas e desestabilização das definições espaciais.
É interessante notar que tais teorizações se articulam ao
promoverem uma crítica das estruturas de poder. Esse ponto de
articulação se dá, de uma forma simplificada, no que diz respeito à
impossibilidade de uma norma dominante unívoca, uma vez que as
próprias bases sobre as quais essas estruturas dominantes pretendem
promover a categorização dos indivíduos tornam-se problemáticas ante a
dinamicidade e a complexidade dos sujeitos e das relações sociais.
A discussão acerca da categorização do sexo enquanto algo
intimamente ligado à regulamentação de estruturas de poder, espacial e
temporalmente construídas, articula-se, também, com as posteriores
teorizações de Judith Butler. Em seu livro Bodies that Matter (1993), a
autora se apropria desse pensamento para desenvolver o conceito de
matéria, enquanto um fenômeno intimamente ligado ao ideal regulatório
apontado nas teorias de Foucault. Segundo a autora, a “categoria do
‘sexo’ é, desde o início, normativa”. Nesse sentido, relações de poder
entram em cena com o objetivo de instaurar “uma prática regulatória que
produz os corpos que governa”, ou seja, cuja força regulamentar é feita
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 246
claramente como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir -
demarcar, circular, diferenciar – os corpos que ele controla.” (BUTLER,
1993, p.1)
O conceito de matéria entra em cena, nesse aspecto, conforme
mencionamos anteriormente, como instaurador de um questionamento
sobre a pretensa noção de estabilidade, outrora atribuída à subjetividade
humana. Nesse contexto, lança novos olhares aos questionamentos sobre
os interesses que permeiam uma construção de gênero embasado nos
moldes assimétricos e biologizantes caracterizadores do senso comum.
Matéria é compreendida, nessa noção de Butler, enquanto
um processo de materialização que se estabiliza ao longo do tempo
para produzir o efeito de rigidez, limite e superfície que chamamos
matéria. Essa matéria é sempre materializada, penso eu, em relação aos
efeitos produtivos e, certamente, age materializando efeitos do poder
regulamentar no sentido foucaultiano. (BUTLER, 1993, p. 9-10,
tradução nossa11)
Esse processo de classificação, diferenciação e controle vai
evidenciar o que Butler denomina materialização. A materialização se
trata de procedimentos que ocorrem através do tempo, nos quais a
reiteração forçada de certas normas é utilizada para que se construam
determinações totalizantes do que diz respeito às categorizações do sexo.
Interessante notar, no entanto, que conforme a própria autora aponta, o
processo de materialização torna-se insuficiente, uma vez que a própria
dinamicidade das constituições identitárias do sujeito não se sujeitam aos
limites que lhes são impostos. Nesse sentido, Butler afirma que a própria
necessidade de reiteração das normas já evidencia a fragilidade do
movimento que objetiva a materialidade dos corpos:
Que esta reiteração é necessária é um sinal de que a
materialização nunca é completa, que os corpos nunca
se sujeitam às normas pelas quais sua materialização é
impelida. Na verdade, são as instabilidades, as
possibilidades de rematerialização abertas por este
processo, que marcam um domínio em que a força da
lei regulatória pode se voltar contra si mesma para
11
a process of materialization that stabilizes over time to produce the effect of
boundary, fixity, and surface we call matter. That matter is always materialized
has, I think, to be thought in relation to the productive and, indeed, materializing
effects of regulatory power in the Foucaultian sense. (BUTLER, 1993, p. 9-10,
grifo da autora)
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 247
desovar rearticulações que ponham em questão a força
hegemônica dessa lei intensamente regulamentar.
(BUTLER, 1993, p.2, tradução nossa12)
É a partir dessa pretensão de materialidade dos corpos objetivada
pela estrutura dominante e a consequente impossibilidade desta de
caracterizar a dinamicidade da construção identitária do sujeito que a
concepção de materialidade se articularia com a noção de
"performatividade", apresentada por Butler em Gender Trouble (1990).
Segundo a autora, a "performatividade", compreendida enquanto “prática
reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele
nomeia” (BUTLER, 1993, p. 2), torna-se uma forma pela qual o
imperativo heterossexual pretende promover a materialização dos corpos.
Ou seja, a materialização (não só dos corpos, mas da própria diferença
sexual), se constitui a partir de “normas reguladoras do ‘sexo’ [que]
trabalham de forma performativa”. (BUTLER, 1993, p. 2).
No campo específico dos estudos voltados para o estudo do
gênero masculino, nos são profícuas as propostas do men’s studies. Um
exemplo desses estudos são as teorizações de Badinter. Em sua obra Xy:
sobre a identidade masculina (1993), a autora aponta que identidade
masculina estaria associada a três momentos de identificação a partir do
olhar opositivo sobre o outro sexo: o primeiro, quando se desvincula da
imagem materna, ao concluir que não é mais bebê; o segundo, quando se
coloca em frente a uma criança do sexo oposto, chegando à conclusão “eu
não sou menina”; e, o terceiro, associado à sexualidade, quando se insere
no universo de dominação masculina e verifica que não é homossexual.
Ser dominado, portanto, seja pela figura maternal, seja por uma mulher
que não a mãe, ou por outro homem, representaria uma quebra da
“verdadeira masculinidade”. Badinter conclui:
A identidade masculina está associada ao fato de possuir, tomar,
penetrar, dominar e se afirmar, se necessário pela força. A identidade
feminina, ao ato de ser possuída, dócil, passiva, submissa.
12
That this reiteration is necessary is a sign that materialization is never quite
complete, that bodies never quite comply with the norms by which their
materialization is impelled. Indeed, it is the instabilities, the possibilities for
rematerialization, opened up by this process that mark one domain in which the
force of the regulatory law can be turned against itself to spawn rearticulations that
call into question the hegemonic force of that very regulatory law. (BUTLER,
1993, p.2)
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 248
“Normalidade” e identidade sexuais estão inscritos no contexto da
dominação da mulher pelo homem. Dentro desta óptica, a
homossexualidade, que implica a dominação do homem pelo homem, é
considerada, senão uma doença mental, pelo menos uma perturbação da
identidade de gênero. (BADINTER, 1993, p. 99)
O que verificamos, atualmente, é que o maior dos limites a serem
relativizados pelos debates acerca da masculinidade é a relação binária
que se difunde não apenas no universo literário, mas nas próprias
construções midiáticas e nas mais diversas formações discursivas
presentes no senso comum. Afinal, se os sujeitos são constituídos na
linguagem, é nesta que se instaura a possibilidade tanto de manutenção
quanto de subversão de tais concepções ideológicas/culturais.
Essa noção que Badinter propõe chama a atenção não apenas para
os perigos ideológicos referentes ao modelo dominador masculino, mas
para as próprias políticas públicas que estabelecem as práticas sociais nas
relações "gendradas". Ao propor a ruptura dos binarismos ligados à
tecnologia do gênero, Badinter chama a atenção para outra questão
constantemente problematizada pelos estudos relacionados ao universo
do masculino: A noção de novas concepções de masculino enquanto
marco conceitual e prática política para a definição de novos rumos nas
relações que envolvem os atores sociais.
A problemática trazida por Badinter (1993) é discutida também
por Nolasco (1995). O autor apresenta que essa desestabilização do
universo masculino ante as “exigências” da inserção das mulheres na
esfera pública, assim como o peso das construções do senso comum sobre
os homens, evidenciariam a concepção de um novo homem; ou, como
preferem os teóricos dos men’s studies, múltiplas formas de ser homem.
A noção de uma gama de possibilidades de construção e representação
das masculinidades é que nos permite compreender as formas de
subversão das estruturas normativas e a "performatividade" dos papéis
masculinos.
Sócrates Nolasco, no que se refere a tal noção, argumenta que
“atualmente, é possível ser homem sem ser ‘macho’ e opressor”, uma vez
que “o sujeito revela-se perpetuamente deslocado em relação ao seu
corpo sexuado”. (NOLASCO, 1995, p.7) Dessa forma, retomamos uma
noção de gênero que se desvincula da de sexo, estabelecendo um
panorama ainda mais amplo das masculinidades. Enquanto operador de
análise, as múltiplas masculinidades abrem as portas para a percepção de
relações que a noção estanque de gênero não nos permitia, evidenciando
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 249
que o masculino, assim como se percebeu anteriormente com o feminino,
se permite a representações literárias que vão muito além da descrição de
atributos físicos e psicológicos para uma própria problemática do “tornar-
se” muito maior do que a do “ser” homem.
No processo de construção das masculinidades, conforme nos
aponta Nolasco, uma rede múltipla de vigilância se instaura. O conceito
de um controle espacial e temporal dos corpos, já trazido à tona em
nossas discussões, também entra em ação no que concerne às
masculinidades. Ao deixar de ser visto como o centro natural dos
discursos, ao se deslocar da confortável posição de líder, o homem
percebe que o poder não lhe é inerente enquanto atributo, mas construído
desde a infância. Dessa forma, ocorre a percepção de um enquadramento
em crise: Tornar-se “homem” é um processo mais complexo do que se
imagina. No caso da orientação sexual, aponta-nos Nolasco, a questão
ainda é mais problemática. Nesse caso, “um menino vive sob vigilância
contínua, para que saiba quão determinado é com relação à sua escolha”.
(NOLASCO, 1995, p. 18)
A esse respeito, Vanderlei Machado, em As várias dimensões do
masculino: traçando itinerários possíveis (2005), aponta algumas
considerações que são bastante relevantes para a compreensão do
processo histórico que trouxe à tona discussões a respeito do universo
masculino, além de traçar um breve panorama geral dos estudos
atualmente discutidos acerca das temáticas referentes à desestabilização
do modelo masculino tradicional e a compreensão de múltiplas
masculinidades.
No que diz respeito à historicidade do conceito de masculinidade
o autor aponta que esta foi descrita, durante muito tempo, “como
possuindo características universalizantes e a-históricas em que se
sobressaía o modelo de homem empreendedor, guerreiro, provedor, entre
outros”. (MACHADO, 2005, p. 19) Essa concepção, no entanto, teria
passado por diversas transformações, trazendo à tona que “o olhar
das/dos pesquisadores, neste limiar do século XXI, tem se voltado para
outras formas de ver e analisar a masculinidade”. (MACHADO, 2005, p.
196) A partir dessas considerações é possível observar, portanto, que a
visão outrora atribuída aos papéis de gênero vai ganhar um novo
delineamento nas leituras contemporâneas, evidenciando a
desestabilização de bases normativas atribuídas ao longo de toda a
constituição das sociedades de base patriarcal. Para Machado, a teoria e a
política feminista, assim como suas consequências ao contexto social no
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 250
qual se inserem, são importantes para a crítica do “ser homem” na
contemporaneidade. O diálogo interdisciplinar é, portanto, uma resposta
ao panorama crítico atual:
Diante das transformações operadas em nossa sociedade, principalmente
com a conquista das mulheres por uma maior participação na esfera
pública, a partir das décadas de 1960 e 1970, e com os questionamentos
elaborados pela crítica feminista, ocorreu uma desestabilização nas
representações do gênero masculino e emerge a questão: “O que é ser
homem?”. (MACHADO, 2005, p. 196)
A desestabilização da identidade masculina traz a tona, portanto,
mais do que uma perda de valores estáticos outrora atribuídos a esta
categoria de gênero, para se situar enquanto ponto de articulação de
relações que se instauram nos meandros do público e do privado, dos
espaços que pressupõem determinadas representações e daqueles que as
oprime. Ser homem, assim como ser mulher ou gay, parte do crivo da
ciência positivista, do natural, para ser discutido enquanto construção
engendrada por normas específicas, controlada por articulações que se
enquadram em uma noção que é espacial. Nesse aspecto, feminismo e
men’s studies devem se complementar para uma crítica dos sujeitos que
vai além de interesses específicos. Afinal, hoje os limites entre as esferas
públicas e privadas parecem se abrir para um espaço transicional das
relações entre os indivíduos.
A respeito das noções de gênero enquanto espacialmente situadas
e também relacionadas a um movimento de transição, nos é marcante a
cena em que Maurício, na narrativa de Abreu, vivencia rituais de um
universo vinculado à visão tradicional de masculinidade, discutida nas
teorizações de Badinter (1993) e Nolasco (1995). Trata-se de uma
passagem do capítulo X, A viagem, na qual o jovem se coloca de frente
com um grupo de homens, formado pelo seu pai e alguns amigos deste.
Nesse aspecto, o capítulo em si já evidencia constantemente o movimento
de transição, marcado pela partida da família para a cidade grande e
apresentando, com isso, um novo processo de descobertas para o
protagonista.
A primeira imagem que observamos é a de Maurício sentado no
banco do trem, ao lado da mãe, contemplando monotonamente a
paisagem que transcorre pela janela. Nesse momento, observa a passagem
do tempo com um caráter contemplativo, sem se preocupar, a início, com
o significado de determinadas relações que se constroem dentro do vagão.
No entanto, ao observar com maior clareza ao seu redor, percebe que não
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 251
existem homens naquele espaço, o que o deixa bastante confuso. A
curiosidade do jovem, despertada por essa verificação, transforma-se em
pergunta:
_Mãe, cadê os homens, ein? Aqui só tem mulher.
A mãe levantou os olhos do tricô.
_Estão no carro-restaurante – informou.
Carro-restaurante – de novo a palavra mágica. Que fariam os homens
lá? Beberiam cerveja, jogariam cartas, usariam aquele vocabulário com
termos que ele não entendia – governo, presidente, eleição, patifaria.
Havia também outras palavras, mais misteriosas, pronunciadas
baixinho, sublinhadas por risadas esquisitas.(ABREU, 2007, p. 96)
Percebemos que a noção que ora se apresenta é a de alguém que,
a partir de um olhar delineado sobre o seu redor, percebe pela primeira
vez a divisão dos papéis de gênero em espaços específicos, fora do
ambiente familiar. Isso vai evidenciar uma múltipla rede de significações
que se descortinam ao jovem quanto aquele mundo de rituais, marcado
por palavras específicas, pelo segredo que só os homens parecem
conhecer. As atividades inerentes ao modelo masculino, da mesma forma,
tornam-se evidentes: em um vagão as mulheres tricotam e cuidam das
crianças, é um local silencioso, quase um confinamento. No outro,
apresenta-se o bar, o espaço público, onde os homens conversam e
bebem. É lá que, para Maurício, reside o mistério do desconhecido.
Interessante notar que, ao resolver ir para o vagão dos homens,
Maurício mente para a sua mãe, dizendo que precisa ir ao banheiro. É
como se já percebesse o caráter transgressivo desse ato, a impossibilidade
de transitar entre os dois ambientes a qualquer momento. Os espaços
destinados a cada gênero tornam-se cada vez mais marcados pela
oposição entre as descrições de onde ficam as mulheres e onde ficam os
homens. No caminho, as expectativas de Maurício desenham imagens
daquele espaço desconhecido, com códigos específicos.
Para Cortés, autor de Políticas do espaço (2008), o domínio
masculino é constantemente reafirmado pela própria construção dos
locais de convivência entre os indivíduos. O masculino, nesse caso, é
verificado como o neutro e o natural e institui relações sociais que partem
do falocentrismo arquitetônico à instauração de práticas corporais, tanto
subjetivas quanto coletivas. Nesse aspecto, a reiteração das divisões
esféricas é mais do que uma prática social, mas parte de um processo de
poder que se infiltra na arquitetura das cidades, escorrendo pelas ruas e
prédios, até penetrar nas frestas das portas e encerrar-se no lar: o
panóptico é urbano, mas é também constructo doméstico.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 252
É a partir dessa noção de arquitetura enquanto lugar de
construção social das relações de gênero que Cortés vai desenvolver a
ideia de corpo como arquitetura. Ou seja, a relação dinâmica entre os
espaços que constituem o sujeito relacionam-se intimamente com uma
construção do corpo enquanto movimento de materialização. Nesse
sentido, o corpo é um significante arquitetônico, um prédio – a
possibilidade de um lugar onde mora o gênero. Ou seja, “o corpo é o
lugar onde se localiza o indivíduo, onde se estabelece uma fronteira entre
o eu e o outro, tanto no sentido pessoal quanto no sentido físico, algo
fundamental para a construção do espaço social.” (CORTÉS, 2008, p.
126)
As relações entre gênero e espaço, apresentada por Cortés, são
evidentes no romance de Abreu. Nesta cena, em especial, a abertura da
porta do vagão se apresenta como uma entrada em novas terras a serem
desbravadas. A ideia do modelo masculino ao qual Maurício deveria
pertencer se apresenta de forma bastante caricatural:
Então abriu outra porta e viu o grande balcão, com o vidro cheio de
delícias desconhecidas, os banquinhos redondos, as mesas e,
principalmente, os homens fumando cigarros de palha com suas unhas
compridas no mindinho, seus dentes de ouro, seu vocabulário estranho,
cochichos roucos. Por um momento, sentiu-se perdido em meio àqueles
cheiros e formas diferentes do carro-restaurante. (ABREU, 2007, p. 98)
A descrição do espaço masculino é marcada pela representação
sensorial. As formas que se projetam na narrativa são responsáveis por
constituir um ambiente no qual ser homem é compreendido como um
estandarte a ser erguido com seus símbolos e significações, não como
uma construção subjetiva, mas como uma representação de exigências
sociais. A presença do jovem ali, portanto, remonta a um ideal social no
qual o pai o faz o filho “beber e fumar (símbolos de virilidade), até sentir-
se mal. Constantemente reprova-lhe a ausência de virilidade: ele é muito
filho de sua mãe e pouco de seu pai. (BADINTER, 1993, p. 79)” E é
nesse aspecto que Maurício percebe seu maior estranhamento, ou seja, na
não compreensão de tais rituais que constroem aquela masculinidade e no
distanciamento destes com relação a sua própria forma de constituição da
identidade.
No momento em que se percebe perdido em meio a uma série de
rituais responsáveis pela representação de um ethos masculino, Maurício
se aproxima mais das descobertas sobre aquele universo de mistérios que
entrevira na cena do lago. Ethos, nesse sentido, é compreendido como
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 253
aquilo que determina a criação de laços e o pertencimento ou não do
jovem naquele ambiente. Ou seja, “um conjunto culturalmente
padronizado de produção e organização de emoções compartilhadas por
um determinado grupo, suas particularidades e características.”
(BATISTA, 2005, p. 11)
O direcionamento heteronormativo é bastante evidente, já
apontando para uma construção "gendrada", que pretende delimitar o
papel social específico do aprendiz naquele mundo dos homens adultos.
A respeito desse processo, Badinter disserta que “o objetivo comum
desses ritos é mudar o estatuto de identidade do menino para que ele
renasça homem. [...] Bem ou mal, vencidas as provas, eis a transmutação
operada: os meninos sentem-se homens.” (BADINTER, 1993, p. 71)
Desconcertante e problemático, no entanto, o contato de Maurício
com os outros homens só evidencia ainda mais o caráter de deslocamento
das construções arquetípicas de uma masculinidade normativa:
Cutucou o pai, e ambos ficaram a observá-lo de um jeito que o fazia
sentir-se ainda mais atrapalhado.
— Teu guri é macanudo, mas tá meio flaquito. —A mão calosa descia
pelas pernas. — E meio envaretado, também. Olha aí, não falou água.
— É a idade — disse o pai. — Ele é muito quieto mesmo.
— Que idade, que nada. Sabe que do tamanho dele eu já tinha
barranqueado todas as éguas da invernada? Toma cuidado, hein, senão é
capaz de virar maricão.
— Que nada, Barbosa, é que ele gosta de andar solito e de ler.(ABREU,
2007, p. 99)
O primeiro ritual de iniciação de Maurício no universo masculino
ao qual deveria constituir-se enquanto sujeito, portanto, soa problemático.
O garoto se sente um estranho em meio às palavras que remetem a
vivências que não se encaixam no olhar sob o qual vislumbra sua própria
existência. Esse estranhamento do personagem, além de apontar para as
formas m ltiplas de “masculinidades” (MACHADO, 2005, p. 196),
remete também à inserção de Maurício em um mundo adulto que destoa
dos padrões exigidos pela estrutura familiar.
O gênero masculino construído na narrativa, destoante de um
modelo heteronormativo, desde a inserção de Maurício em espaços
destinados tradicionalmente ao microcosmo feminino, evidenciada no
início do romance, até o estranhamento do garoto ante as exigências do
grupo de homens, na viagem de trem, suscita uma problemática acerca
das masculinidades, associada à noção do aprendiz que se vê no que
seria, ou não, o momento final do s eu processo de “des-aprendizagem”.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 254
O que podemos verificar a partir do estranhamento de Maurício
com relação ao ritual de construção de uma subjetividade masculina
padrão, portanto, é o borramento das fronteiras que norteiam essa
acepção de enquadramento do indivíduo. Quando se vê diante daqueles
amigos do pais, indefeso, servindo como objeto de olhares normativos,
Maurício percebe que há uma distância muito grande entre a forma
exigida de um modelo masculino e aquela como vê a si mesmo nessas
construções hegemônicas.
Nesse aspecto, embora preceda as teorizações acerca das
múltiplas masculinidades, evidenciadas no capítulo anterior, o romance
de Abreu já lança nuances dessa problemática, a partir de um
deslocamento de Maurício diante do que se compreendia naquele
momento enquanto masculino.
O ritual de passagem para o universo masculino, dentro dos
moldes patriarcais, soa contraditório quando tenta engendrar
constituições indenitárias de certa forma destoantes do padrão.
Representa, com isso, a falha de um modelo de materialização do gênero
em uma constituição única – e isso é percebido de forma bastante clara no
trecho em questão.
A partir desse momento, Maurício conclui que o universo infantil
não mais existe e que a vida adulta já se descortina com suas descobertas
e agonias:
“Mamãe, eu não vou voltar nunca mais!”, quis gritar. Mas ela apenas
sacudia a cabeça, com um ar tão resignado que era como se já soubesse
de tudo, de tudo que ele sabia que ela sempre soubera, antes mesmo de
ele contar, antes mesmo de ela própria saber que ele já sabia. Qualquer
coisa, naquilo tudo, vinha antes. Ele não compreendia o que pensava,
então quis gritar de novo: “Mamãe, eu não vou voltar nunca mais!” E
não voltou nunca mais. (ABREU, 2007, p. 88)
Os conflitos inerentes à descoberta e à construção do gênero e da
sexualidade são acentuados, também, no capítulo O sonho. Como o
próprio título sugere, nesse momento é apresentado um sonho no qual
Maurício visualiza, de forma bastante profusa, as cenas da sua infância e
aquela à beira do lago. Delirante, inicia-se com o jovem perdido em um
labirinto no qual surgem e se desfazem no ar personagens que cercaram
seu universo infantil, tais como Edu, Zeca, Laurinda, Tia Violeta,
Luciana e tantas outras. A seguir, assume uma conotação sexual, também
de forma bastante confusa.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 255
A referência sexual se trata de uma reconstrução da cena de Zeca
e Laurinda, vislumbrada às escondidas por Maurício em determinado
momento da narrativa, agora com uma inserção do jovem dentro do ato
sexual. Nesse momento, dissolvem-se os limites corporais que definem
biologicamente quem é o homem e quem é a mulher, para se projetar uma
figura costurada de partes de ambos os sexos, misteriosa, como uma
esfinge. O jovem inicia um contato sexual com essa criatura difusa,
trazendo à tona uma vivência dos prazeres e uma noção de gênero que
desconstrói a noção corporal:
A criatura recuou outra vez, e tornou a sacudir a cabeça. Os seios fartos,
Maurício pensou, os seios grandes e o jeito triste de inclinar a cabeça
eram os mesmos de Luciana. Mas os cabelos cor de fogo pertenciam a
Zeca, e a rosa que brilhava no meio das coxas era de Laurinda. E havia
ainda as unhas longas nos dedos mindinhos, o bigode acentuando a
boca, a boca aberta para mostrar a fileira de dentes brancos. Aquele jeito
de passar a mão na cabeça da gente era o de mamãe, mas o corpo todo
estava entrelaçado de morangos vermelhos, pontilhados de grãos mais
pálidos, subindo até o pescoço com seus pés de folhas. (ABREU,
2007, p. 112)
O que vemos nascer nesse sonho de Maurício, portanto, é um ser
construído a partir de pedaços de parte marcantes de cada personagem
que com Maurício conviveu. Podemos ver sua infância representada pelas
partes da mãe e da Tia Violeta, depois as descobertas do corpo e da
sexualidade representados por Zeca e Laurinda, o mundo fantasioso e ao
mesmo tempo trágico dos sentimentos representados por Luciana. Esse
ser de múltiplas formas seduz Maurício medonhamente, convida-o a
deitar-se consigo, e a cena que se desenrola é ainda mais conflituosa.
Maurício descreve a travessia do labirinto de sentimentos e o ato
sexual com a criatura enquanto “sensações que circulavam ao seu redor,
de mãos dadas numa ciranda”. Essas sensações, conflitantes, forçavam-no
a gritar “para agarrar-se em alguma coisa, para não afundar em si
mesmo”. (ABREU, 2007, p. 113) De forma análoga ao que vai acontecer
em outros textos de Abreu, esse é o momento de confusão que vai
preceder uma transformação epifânica, uma transição da personagem para
uma nova descoberta de si mesmo. No caso, temos a experiência sexual e
sua correlação com um modelo de masculinidade enquanto elementos que
marcam uma etapa a ser alcançada após epifania.
Podemos perceber, nesse momento, uma intensificação sensorial
que lança imagens cada vez mais confusas e conflitantes, como que
criando uma esquizofrenia de sensações, objetivando uma reflexão que
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 256
ocorre a partir do caos. Esse tipo de experimentação de sensações,
corrente na literatura de Abreu, faz com que a própria narrativa assuma a
forma daquilo que descreve. O texto não está narrando um ato sexual em
um sonho, mas está mergulhando nesse ato para trazer as sensações ao
leitor. As cenas que vão se sucedendo compassadamente lembram um
rito, uma imersão em um universo alucinógeno; a sensação de paz, o
orgasmo, é atingido no final do capítulo, encerrando este momento
epifânico de Maurício e marcando o início de um novo processo.
Quando acorda, o jovem se vê deitado na própria cama, suado,
úmido pela polução noturna. Esse orgasmo ocorrido durante o sono,
entremeado por uma confusão sensorial e psicológica, é constatado
enquanto epílogo da transição de Maurício para a vida adulta e,
concomitantemente, para a vida de homem. A personagem constata sua
própria masculinidade e maturidade sexual a partir da possibilidade de
ejacular e, consequentemente, de ser um homem sexualmente ativo. O
momento em que isso ocorre pode ser evidenciado no trecho abaixo:
“Fiquei homem”, disse no escuro. As vagas advertências, e todas as
suspeitas, tudo tomava forma. Ele admitia, ele agora compreendia.
“Fiquei homem”, repetiu. Sentou na guarda de ferro da cama e ficou
olhando os reflexos que a lua cheia colocava nos trilhos dos bondes.
(ABREU, 2007, p. 115)
A respeito da constatação de Maurício, vemos uma aproximação
com a ideia, apresentada anteriormente, de que, em um modelo
tradicionalista, “a representação social dos homens é constituída a partir
do sexo” (NOLASCO, 1995, p. 18). Nesse aspecto, verificamos o
enraizamento de determinada concepção de masculinidade na forma em
que o jovem visualiza o próprio corpo e a percepção de si enquanto
homem. De caráter fluido, essa noção de masculinidade será descontruída
posteriormente, evidenciando sempre a metáfora da transição na obra de
Abreu.
O que percebemos, em todos os casos, é que o romance se pauta
no princípio da indefinição. Maurício, mesmo adulto, ainda não descobriu
a totalidade de sua subjetividade, tampouco o que é ser homem para si
mesmo – uma vez que sua forma de viver a masculinidade apresenta-se
destoante daquela que lhe fora apresentada institucionalmente.
A narrativa não se fecha porque a subjetividade também não se
encerra em momentos específicos. Não há um ritual de passagem, uma
transição para se transformar em um homem completo, conforme queria o
modelo tradicional heteronormativo. Existem possibilidades, vivências,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 257
incompletudes. Esse caráter fragmentário e aberto da construção do
sujeito e da masculinidade é evidenciado com clareza no último capítulo
do romance, Tempo de silêncio; que se trata, na verdade, de uma
continuação do primeiro capítulo, no exato momento em que este
terminara, marcando um retorno cíclico ao início.
Com esse retorno, Abreu aponta para possibilidades que estão
sempre se esboçando, se descortinando diante do sujeito. Em um dos
momentos, Maurício conclui que “é preciso organizar a ideia: tirá-la dos
limites do pensamento, arrancá-la apenas do papel e torná-la um pedaço
de mim, decisão cravada no corpo.” (ABREU, 2007, p. 167). Assim, o
final do romance não aponta para o término da aprendizagem, mas para
uma abertura de pensamento, de vivência do corpo, enfim, de uma
aprendizagem marcada pelo que está em constante mudança.
LIKE FATHER, LIKE SON? A DISCUSSION ABOUT THE MALE SUBJECT IN
THE NOVEL LIMITE BRANCO, BY CAIO FERNANDO ABREU
Abstract: In the present work we intend to discuss the construction of subjectivity in
relation to gender categories, in especial the male case, in Caio Fernando Abreu’s
first novel Limite branco (1970). In this text, Abreu undertakes a critique of
normative models of his time through the young protagonist’s point-of-view to be
gradually dismantled along the last decades. Thus, the process of maturation of the
protagonist of the narrative, takes us to face a fluidity that puts at stake the notions of
what is traditionally taken into account as appropriate to the individual. We believe
that the learning or “un-learning” process as proposed here structures itself based
upon the interaction/estrangement between man and its social environment, taken
either as refuge, or a possible trap in the hands of power. As theoretical guidance,
studies on the displacement of the gender studies and the men's studies in particular
sustain the discussions here raised.
Keywords: Subjectivity. Gender. Male crisis.
REFERÊNCIAS
ABREU, Caio Fernando. Limite Branco. Rio de Janeiro: Agir, 2007.
ALBUQUERQUE, Severino João Medeiros. Tentative transgressions:
homosexuality, AIDS, and the theater in Brazil. Londres: University of
Wisconsin Press, 2004.
ARENAS, Fernando. Utopias of otherness: Nationhood and subjectivity in
Portugal and Brazil. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
BADINTER, Elisabeth. XY: Sobre a identidade masculina. 2ª. Ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 258
BALDERSTON, Daniel; GONZALEZ, Mike. Encyclopedia of Latin American
and Caribbean Literature. New York: Routledge, 2004.
BARBOSA, Nelson Luis. “Infinitivamente pessoal”: A autoficção de Caio
Fernando Abreu, o “biógrafo da emoção”. São Paulo: USP, 2008. (Tese de
doutorado)
BATISTA, Alexandro Borges. Caserna – Lugar de “homens”: Um olhar de
gênero na formação do jovem militar. Viçosa: UFV, 2005. (Dissertação de
Mestrado)
BUTLER, Judith. Bodies that matter: on the discursive limits of "sex". New
York: RoutLedge, 1993.
CORTÉS , Jose Miguel. Políticas do espaço: Arquitetura, gênero e controle
social. São Paulo: Senac, 2008.
Escritas da tortura. Diálogos Latinoamericanos: n. 3, 2001. p. 131-146.
Disponível em: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/162/16200306.pdf>. Acesso:
15/04/2011.
GINZBURG, Jaime. Memória da ditadura em Caio Fernando Abreu e Luís
Fernando Veríssimo. O eixo e a roda: v. 15, 2007. p. 43-54. Disponível em:
<http://www.letras.ufmg.br/poslit>. Acesso: 13/03/2011.
LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloísa
Buarque de. Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de
Janeiro: Rocco, 1994.
MAAS, Wilma Patricia. O cânone mínimo: o Bildungsroman na história da
literatura. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
MACHADO, Vanderlei. As várias dimensões do masculino: traçando itinerários
possíveis. Estudos Feministas, Florianópolis, 13(1): 179-199, janeiro-abril/2005.
p. 196-199.
NOLASCO, Sócrates (org). A desconstrução do masculino. Rio de Janeiro:
Rocco, 1995.
SCHWANTES, Cíntia. Narrativas de formação contemporânea: uma questão de
gênero. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, nº 30. Brasília, julho-
dezembro de 2007, pp. 53-62.
SUSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária: Polêmicas, diários e retratos.
Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
WOLFF, Janeth. The Culture of Separate Spheres: The Role of Culture in
Nineteenth-Century Public and Private Life. In: Feminine Sentences: Essays on
Women and Culture. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
1990.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 259
O QUE TEM DE SER TEM DE SER: A FORÇA DA PROSA E DA
POESIA COMO TRANSGRESSORAS DO DESTINO
NO ANO DA MORTE DE RICARDO REIS
Augusto Rodrigues Silva Junior – UnB
Ana Clara Magalhães Medeiros – UnB 1
Resumo: O ano da morte de Ricardo Reis (1984) é romance de José Saramago que
efetiva a polifonia narrativa mesmo passando-se no ano de 1936 – período de
destacado autoritarismo. Objetiva-se mostrar como o hibridismo de gêneros, que
congrega prosa e poesia, aponta para uma saída, a um só tempo, literária e histórica.
Discute-se como a condição humana, que vive a ameaça da crise, é transposta para
esse romance labirinto. Mikhail Bakhtin é o principal referencial teórico a respeito do
equacionamento plural de tantas vozes. Gyorgy Lukács, Erich Auerbach e
Hermenegildo Bastos norteiam o pensamento sobre a intrincada rede de casualidade
que esconde a causalidade profunda alcançada pelos grandes romances. Dessa
rigorosa pesquisa a respeito do romance enquanto gênero e da poesia pessoana
multifacetada, resulta a elevação desta obra ao conjunto de romances que conseguem,
com muita fluidez e zelo artístico, discutir, desde seu cerne, graves questões
humanas. Finalmente, busca-se mostrar que a poesia da vida teima em resistir à crise
instaurada e representada pela prosa.
PALAVRAS-CHAVE: Romance. Polifonia. Poesia. Pessoa. Crise
Ao poeta Hermenegildo Bastos
A literatura das últimas décadas assume a necessidade definitiva
de mimetizar as fraturas da condição humana. O romance emerge como
gênero que mais eficazmente dialoga, experimenta e transpõe a crise da
prosificação da vida para a composição literária. Se um Dom Quixote
(1606-1615) já prenunciava o desgaste das formas artísticas e das formas
sociais, no século XIX As ilusões perdidas (1843) e Esplendores e
misérias das cortesãs (1847), de Balzac, são exemplos de prosseguimento
dessa discussão a respeito dos rumos da arte e da experiência humana em
um mundo consumido pela ascensão do individualismo. Efetuando salto
até os nossos dias, vê-se que a intuição da literatura precedente é levada
1
UnB – Universidade de Brasília –Instituto de Letras – Departamento de Teoria
Literárias e Literaturas. Brasília – DF – Brasil. CEP: 70910-900 –
augustorodriguesdr@gmail.com e a.claramagalhaes@gmail.com.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 260
aos limites e origina romances que extrapolam os contornos do próprio
gênero para dar conta da crise que é da arte, mas, sobretudo do homem.
A narrativa em Língua Portuguesa, de fins do século passado,
encontra em José Saramago nome decisivo. Equacionando problemáticas
históricas, lusitanas e, sobretudo, humanas, o autor compõe romances
dilacerados que apontam para a crise desde o modo de narrar ou desde a
construção cuidadosa dos personagens. Aqui, elege-se tratar de O ano da
morte de Ricardo Reis (1984) por ser romance em que se podem delinear
pelo menos dois níveis de crise: a de gênero, com o predomínio da poesia
e a ascensão do romance; a da situação portuguesa, com acirramento do
salazarismo e esfacelamento da história lusitana. Os dois níveis
entrelaçam-se de maneira velada, mas necessária: o livro labiríntico narra
uma história sem saída. No entanto, procurar a saída parece ser mesmo o
elemento que move os grandes romances. Afinal, eles indicam a direção e
reconstroem mundo em nomes: “pela primeira vez aqui passaram, estas
crianças que repetem Lisboa, por sua própria conta transformando o
nome noutro nome” (SARAMAGO, 2010, p.8).
O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago, é romance
usualmente enquadrado pela crítica no conjunto de obras saramagueanas
que ficaram conhecidas como romances históricos. Uma breve incursão
pela teoria de Seymour Menton leva a cogitar uma nova classificação
destas obras que apareciam atreladas a um conjunto de novelas latino-
americanas. Tais novelas, surgidas a partir de 1979, e espalhadas por toda
Ibéria e América espanhola, destacam-se pelo exercício de revisitação
histórica que efetivam e, por isso, recebem a alcunha de “novas novelas
históricas” (MENTON, 1993).
Aqui, contudo, a classificação realizada por teóricos como
Seymour Menton e Angel Rama é apontada apenas com o intuito de
mostrar que O ano da morte encontra-se em meio a uma tipologia de
romances que merece ser estudada por todos os interessados na
construção de um vasto sistema literário ibero-americano. Importa-nos
mais, neste momento, perscrutar a vinculação entre o modo muito
específico de contar de um narrador nada despretensioso e a apresentação
dos fatos históricos que tecem o fio narrativo e o fio da história luso-
brasileira.
Fator decisivo neste romance é o ano: 1936. Ano posterior ao de
falecimento do poeta Fernando Pessoa – que aqui é personagem –, ano
em que o livro de Saramago apresenta a morte do heterônimo pessoano
Ricardo Reis – que não havia sido, até então, enterrado pelo seu criador.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 261
O leitor não pode deixar de atentar, contudo, para a relevância histórica
pragmática dessa data: acirramento do salazarismo e das ditaduras
fascistas pela Europa, vitória dos republicanos comunistas nas eleições
espanholas, eclosão, meses depois, da Guerra Civil na Espanha. Isso para
listar apenas os eventos mais marcantes de um instante conturbado na
história ocidental.
Ora, o nosso narrador investe pesadamente na composição de
uma postura alheia aos fatos. Mais precisamente, procura maquiar a sua
percepção profunda da realidade apontando dados extremos como se
fossem corriqueiros, mostrando-se ingênuo diante do desenrolar dos
acontecimentos ou indiciando pistas para logo depois dissimular:
há pessoas que têm uma coragem gelatinosa, não têm culpa disso,
nasceram assim (...) a senhora que aqui morava, coitada, o que ela
chorou no dia em que saiu, ninguém a podia consolar, mas a vida às
vezes obriga, a doença, a viuvez, o que tem de ser tem de ser e tem
muita força. (SARAMAGO, 2010, p. 206-207).
Esse narrador que mescla a “safadice” (Idem, p. 370) de Ricardo
Reis e a visão arguta de Fernando Pessoa quer, a todo tempo, mostrar
eventos que, para usar terminologia de Lukács (2010), parecem
acidentais. No jogo narrativo, o leitor assiste a um conjunto de cenas
supostamente casuais, em que ninguém é responsável por movimentar a
engrenagem do romance e muito menos da vida: “nasceram assim”.
Existe um tom melancólico banalizado na obra, a senhora é uma
“coitada”, suas lágrimas são relembradas pela gente portuguesa que
contempla o mundo das janelas coloridas, sem ter nada que fazer contra a
“doença, a viuvez”, pois a certeza máxima é o destino: “o que tem de ser
tem de ser e tem muita força”.
No esteio do pensamento lukatiano, Hermenegildo Bastos (2012)
salienta:
Dada a ausência de sentido para a vida e para o mundo, tudo se
mostra cruelmente gratuito, sem razão de ser. A gratuidade,
entretanto, parece ao mesmo tempo obedecer a um sentido
predeterminado a que não se pode escapar, como uma maldição.
(BASTOS, 2012, p. 91).
Pode-se dizer que percorre toda a narrativa uma espécie de fluido
casual que vincula os fatos de maneira pictórica, uma sucessão de
quadros aparentemente ligados de modo frágil. Como se um fato ocorrido
a um personagem pouco tivesse a ver com o que se passa com outra
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 262
persona. Como se tudo o que é narrado fosse “cruelmente gratuito”, o
que imprime – tanto na história narrada como na história vivida – um
caráter absolutamente acidental.
A crítica literária já elevou o romance à condição de principal
gênero da modernidade. Mikhail Bakhtin, Erich Auerbach e Ian Watt
acentuam a presentificação da matéria romanesca: “o romance é a forma
literária que reflete mais plenamente essa reorientação individualista e
inovadora. (...) [o romance] tem por função primordial dar a impressão de
fidelidade à experiência humana” (WATT, 2010, p. 13-14). O cotidiano e
a experiência ordinária invadem a narrativa – e em obras como a de
Saramago, também o modo de narrar – que dá a ver uma sequência de
eventos particularizados de personagens cada vez mais ensimesmados:
Deus o ouça, que dessa gente, pelo que tenho ouvido, não se pode
esperar nada de bom, às coisas que o meu irmão me tem contado,
Não sabia que tinhas um irmão, Não calhou dizer-lhe, nem sempre
dá para falar das vidas, Da tua nunca me disseste nada, Só se me
perguntasse, e não perguntou, Tens razão, não sei nada de ti, apenas
que vives aqui no hotel e sais nos teus dias de folga, que és solteira e
sem compromisso que se veja, Para o caso, chegou, respondeu Lídia
com estas quatro palavras, quatro palavras mínimas, discretas, que
apertaram o coração de Ricardo Reis. (SARAMAGO, 2010, p. 172).
No trecho, tem-se um momento de diálogo corriqueiro e
enigmático entre a criada Lídia e o médico-poeta Reis. Neste ponto, o
narrador silencia sua contação para deixar que falem os personagens,
delineando apenas um comentário final: “quatro palavras mínimas,
discretas, que apertaram o coração de Ricardo Reis”. Ora, o romance –
enquanto gênero – reproduz as narrativas particularizadas da vida, em que
um personagem é incapaz de conhecer o outro: “não sei nada de ti”.
Como na vida, ninguém consegue conhecer uma vida e/ou a própria vida
em sua totalidade. Ao passo que o gênero oferece a visão de uma vida,
em determinado tempo e espaço, predomine o realismo cru, predomine a
construção formal-autoconsciente. Saramago, em uma tradição que une
grandes linhagens do romance, articula as duas coisas: linguagem e
realismo – no homem humano.
Esse desconhecimento (estilizado) acentua-se à proporção que
são mais significativas as distâncias de classe. Se Ricardo Reis pouco
sabe de Lídia, menos ainda conhece de Daniel, irmão da criada. Assim
como pouco sabe o leitor sobre este personagem simbólico, pois sequer o
narrador abre-lhe muito espaço: “Meu irmão está na marinha, Qual
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 263
marinha, A marinha de guerra, é marinheiro do Afonso de Albuquerque,
É mais velho ou mais novo do que tu, Fez vinte e três anos, chama-se
Daniel” (Idem, ibidem).
O leitor conhece Daniel pela voz de Lídia. Disso, sabe-se que o
marinheiro conta muitas coisas e é dotado de opiniões incomuns. Esse
personagem, apresentado pouco antes da metade do livro será apontado
significativamente outra vez apenas ao final da trama, quando os navios
Dão e Afonso de Albuquerque são atacados. O leitor, contudo, não se
preocupa com essa falta de dados, com a falta de coesão aparente entre
esse personagem e o resto da história, pois está muito acostumado à
tônica da existência humana “nem sempre dá para falar das vidas”. Mas
em arte isto ganha contornos simbólicos. Tudo, pela palavra, mesmo na
mais absoluta falta de sentido, isso que a que poetas e fingidores
(narradores) chamam vida, articula-se em um mundo organizado e
ordenado.
O romance mimetiza esse alheamento dos viventes em relação à
vida intuindo que “Para o caso, chegou”. É suficiente que Reis saiba de
Lídia, com quem se deita na solidão de um quarto de hotel, apenas a sua
profissão e seu estado civil. Basta que conheçamos de Daniel o seu
envolvimento com gente que o levou ao naufrágio. Chega saber que a
aristocracia espanhola repentinamente está passando férias no hotel
Bragança. Para o caso, Ricardo Reis não necessita apreender mais que o
que lhe informam os jornais salazaristas. Esses acontecimentos erigem
propositadamente, na obra, como se mantivessem uma ligação muito
frouxa entre si. Segundo alerta, Bastos (2012), entretanto, “a casualidade,
ou gratuidade, esconde uma rigorosa causalidade” (p. 94). Pode-se
equiparar esta “rigorosa causalidade” ao que, para Auerbach, atinge o
“cerne da estrutura social” (2011, p. 453) e, segundo Lukács, constitui a
“poesia das relações inter-humanas” (2010, p. 164). Perscrutemos a sua
presença n’O Ano da Morte. Este jogo entre causa e casualidade, e nunca
entre causa e consequência, abriga, ainda, um princípio pessoano. Uma
vez que a ciência não basta, deus não basta para explicar a engrenagem
de funcionamento da vida, resta ao homem de palavra a criação de
mundos e de seres. Para esta solidão de nunca completar o outro, para o
eterno retorno do silêncio, ainda vale a pena este tudo que é palavra, se a
alma resiste.
Um desabafo do narrador durante esta história nublada serve – de
maneira metonímica – para que se depreendam as relações de casualidade
e causalidade saltadas do romance:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 264
Quem disser que a natureza é indiferente às dores e preocupações
dos homens, não sabe de homens nem de natureza. Um desgosto,
passageiro que seja, uma enxaqueca, ainda que das suportáveis,
transtornam imediatamente o curso dos astros, perturbam a
regularidade das marés, atrasam o nascimento da lua, e, sobretudo,
põem em desalinho as correntes de ar, o sobe-e-desce das nuvens,
basta que falte um só tostão aos escudos ajuntados para pagamento
da letra em último dia, e logo os ventos se levantam, o céu abre-se
em cataratas, é a natureza que toda se está compadecendo do aflito
devedor. (SARAMAGO, 2010, p. 187).
Fato que não pode passar despercebido é a intermitência das
chuvas na narrativa. Justamente por isso, embora o mau tempo seja
frequentemente mencionado, o narrador faz questão de frisar a situação
climática da Lisboa de 1936. Mesmo o leitor mais descuidado é obrigado
a notar a chuva a partir da afirmação convicta que abre o capítulo: “Quem
disser que a natureza é indiferente às dores e preocupações dos homens,
não sabe nada de homens nem de natureza”. Ocorre que o trecho
transcrito esforça-se por vincular os fenômenos meteorológicos às
mazelas humanas, sem explicitar, contudo, a profundidade dessa
vinculação: “um desgosto”, “uma enxaqueca” são capazes de transtornar
“imediatamente o curso dos astros”, dentre outras alterações na
“regularidade das marés”, no “nascimento da lua” ou nas “correntes de
ar”. O narrador encerra esse excerto declarando que “a natureza toda se
está compadecendo do aflito devedor”. Não se esclarece, contudo, o
motivo que une os fenômenos humanos aos naturais. Tudo parece um
pouco “acidental” e o leitor aceita a premissa de que natureza e homem
tem algo que ver, sem compreender exatamente em que se baseia tal
entrelaçamento. Para o leitor de Pessoa, esta relação entre ser e natureza é
perceptível poética e filosoficamente. No âmbito de cada heterônimo e
nas produções ortônimas, no todo deste mundo poético criado com
múltiplos personagens, tudo que entretém a razão é, também, universo
palavrado.
Ficou dito que o narrador d’O ano da morte é um condutor do fio
narrativo por vezes omisso, desdenhoso, por vezes tagarela, comentador.
Este narrador, uma espécie de alterônimo saramagueano, é personagem
da trama forjada pelo Pessoa de carne e osso. Mas é também a força
estilizadora deste romance em que figuras pessoanas passam a ser apenas
personagens de um universo prosaico. Reis e Pessoa, uma vez
romanceados, ficam no mesmo patamar criativo. O narrador
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 265
saramagueano é um fingidor. E finge tão completamente, por sua vez, na
luta de vozes, que pretende fazer parte das calhas da roda chamada vida.
O narrador funde as dores de Pessoa, os fingimentos de Reis com a sua
alterpsicografia e conta os últimos momentos da história que iria cumprir-
se em 1936. E o narrador nestas vidas lidas (em poesia) tem a vantagem
de conhecer os desdobramentos desta memória do futuro (prevista e
sentida na narrativa).2
No trecho seguinte, o narrador fala como poucas vezes. Dá a ver,
de forma autoconsciente, a “rigorosa causalidade” (BASTOS, 2012, p.
94) que perfila a obra:
já se falou o suficiente da gente desta nação para reconhecermos nas
penas dela a explicação da irregularidade dos meteoros, somente
recordemos aos olvidadiços a raiva daqueles alentejanos, as bexigas
de Lebução e Fatela, o tifo de Valbom, e, para que nem tudo sejam
doenças, as duzentas pessoas que vivem em três andares de um
prédio de Miragaia, que é no Porto, sem luz para se alumiarem,
dormindo a esmo, acordando aos gritos, as mulheres em bicha para
despejarem as tigelas da casa, o resto componha-o a imaginação (...)
Ora, sendo assim, como irrefutavelmente fica demonstrado, percebe-
se que esteja o tempo neste desaforo de árvores arrancadas, de
telhados que voam pelos ventos fora, de postes telegráficos
derrubados. (SARAMAGO, 2010, p. 188).
Não se exige do leitor que tenha um conhecimento aprofundado
sobre a geografia e a história portuguesa. A maneira como o narrador
desenrola o tecer da trama deixa ver, com obviedade, a causa agrícola
alentejana, as pestes que atacam as regiões mais carentes, as condições
inumanas de vida em algumas cidades lusitanas. Aqui, o “cerne da
estrutura social” (AUERBACH, 2011, p. 453) é escancarado: “já se falou
o suficiente da gente desta nação para reconhecermos nas penas dela a
explicação da irregularidade dos meteoros”. Outra vez, vinculam-se
elementos tidos como casuais – a irregularidade dos meteoros – a fatos
que, necessariamente, escondem uma causa – como o sofrimento dos
portugueses marginalizados.
2
Este é um princípio muito bem utilizado por Machado de Assis a partir de
narradores, tais como os defuntos Brás Cubas e o Conselheiro Aires. Princípio
ainda mais complexo quando pensamos em uma escrita da morte: narradores
que convivem com o tempo do narrado, co-participam deste tempo, mas sempre
com o domínio suficiente da história para recontá-la romanceadamente.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 266
A causa do mau tempo português é, nitidamente, o sofrimento, a
miséria, o descaso, “as penas” todas que se alastram pela península. Isso
fica “irrefutavelmente demonstrado”, como frisa o narrador, e, para o
leitor cuidadoso, resta recompor todas as cenas meteorológicas
catastróficas para concluir que “as penas” são tão diversas (fait divers?)
quanto urgentes e têm também suas causas sociopolíticas, ainda que
veladas. Os destinos, no entanto, cruzam-se, duplicam-se nas horas
alheadas de leitura de jornal, estilizadas por longas páginas.
São os irmãos aprendendo no cotidiano o pensamento do mundo.
São os criadores, pela palavra de mundos, no mundo: o narrador, o
Pessoa escritor, o Reis nestas fronteiras humanas e escritas. São estes
personagens escritores – Pessoa e Reis pensando estar no mundo sentindo
o que causa o acaso de ser quem escreve e está no mundo. Acontece que
o motivo desencadeador das chuvas funciona como um fluxo causal para
todo o livro. De maneira muito sutil, a apatia de Ricardo Reis, a sabedoria
de Fernando Pessoa, o ousadia de Lídia, a leitura fofoqueira dos
velhinhos do Adamastor, a pompa dos espanhóis fugidos, a empreitada
marítima de Daniel, a mão paralisada de Marcenda, interligam-se pelo
tempo fechado de uma Lisboa nebulosa. Atente-se para a hipertrofia que
o próprio narrador impõe às cenas episódicas, aparentemente,
desconexas.
O narrador labiríntico, muitas vezes, aponta caminhos a serem
percorridos pelo leitor. Aqui, temos um deles: a análise pormenorizada
dos “segundos compridos” e dos “minutos longos” contidos nos
“episódios de mais extensa significação”. De acordo com a voz que narra,
o tempo constitui-se como a “mais subtil das três unidades dramáticas”.
O é porque cabe à impressão leitora a efetivação de juízo sobre os
eventos que, embora ocupem pouco do tempo da narrativa, expandem-se
em importância e duração. Vamos a um desses eventos que serve
metonimicamente para aclarar como o romance consolida-se a partir de
um tecido de pormenores que, congregados, apontam para a causalidade
do romance e da própria história lusitana:
Está Ricardo Reis nesta contemplação, alheado, desprendeu-se do
motivo que o levou ali, só está olhando, nada mais, de repente uma
voz disse ao lado, Então o senhor doutor veio ver os barcos,
reconheceu-a, é o Victor (...) O coração de Ricardo Reis agitou-se,
desconfiará o Victor de alguma coisa, será já conhecida a revolta dos
marinheiros, Os barcos e o rio, respondeu (...) afastou-se
bruscamente, consigo mesmo dizendo que fora um erro proceder
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 267
assim, devia era ter mantido uma conversa natural, Se ele sabe de
alguma coisa do que está para acontecer, com certeza achou
duvidoso ver-me ali. (SARAMAGO, 2010, p. 420).
Victor é um capataz do governo de Salazar que permanece, por
razões pouco explícitas, no encalço de Reis. O médico teme,
ingenuamente, que o agente desconfie da investida comunista – de que
participava o já mencionado Daniel – que ficou conhecida na história
como a “revolta naval de setembro” (MENESES, 2011, p. 239). A
ingenuidade de Ricardo Reis está em cogitar que Victor não teria
conhecimento da revolta, e mais, que seria talvez sua, enquanto amante
de Lídia, a responsabilidade pela descoberta do outro. Aqui, desnuda-se
veementemente a crise tensionada pelas relações de causalidade e
casualidade: “se ele sabe de alguma coisa que está para acontecer, com
certeza achou duvidoso ver-me ali”. O personagem central desta obra,
leitor assíduo de jornais, pensa ser improvável que o governo – na figura
de Victor – saiba da revolta.
O detalhe pessoano neste conjunto é o poeta impossibilitado de
olhar indiferentemente o rio. Se nas suas ficções, o interlúdio é alcançado
pela palavra, na vida romanceada esta contemplação nunca é interlúdica,
mas há de ser sempre intermitente. Uma breve incursão histórica nos
mostra a impossibilidade disso:
Diz-se mesmo que Salazar, estando muito informado por agentes
sobre o estado de espírito da tripulação do navio Afonso de
Albuquerque no regresso de um porto da Espanha vermelha, e
podendo ter impedido o desencadear do motim com medidas
preventivas, provocou o dramático desenlace, ou pelo menos deixou
intencionalmente correr as coisas neste sentido (...) Não obstante, o
motim foi explorado pelo Governo como um aviso salutar sobre os
perigos que ameaçavam Portugal e uma demonstração de força por
parte das autoridades. (MENESES, 2011, p. 239-240).
Afonso de Albuquerque é o navio onde estava o despretensioso
personagem Daniel que morre na revolta. Cabe salientar, contudo, que
para Lídia, Reis, ou para qualquer um dos passantes que viram o navio
sendo bombardeado, o fato parecia inusitado, como que uma fatalidade.
Nenhum dos personagens dá conta da gravidade deste acidente: tudo
premeditado pela força salazarista emergente. Somente Victor sabia – e
Ricardo Reis cria poder esconder-lhe tal segredo. O episódio mostra
como um evento aparentemente tão acidental tem profunda vinculação
com o mau tempo do ano em Portugal, com a gentil acolhida da
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 268
aristocracia conservadora espanhola no hotel Bragança e com o
desolamento de Reis que, assistindo à apatia não mais sua, e sim
generalizada, depois de tal cena, opta pela morte. Recorre-se uma vez
mais à crítica de Bastos: “o mundo, embora vivido como real pelos
homens, é uma aparência que oculta a essência” (2012, p. 90). Nem
sempre é possível captar a totalidade, a essência. Resta a narradores e
criadores de mundos, como Pessoa, esta possibilidade, mesmo que numa
página de livro.
A essência ocultada dos homens implica na impossibilidade da
poesia. Importa lembrar que tal romance é biográfico de um poeta
inventado, Ricardo Reis. Além disso, dá voz a um poeta morto, Fernando
Pessoa, ele mesmo, que viu, pressentiu e resistiu a esta ascensão e
consolidação do salazarismo:
Se os segundos e minutos fossem todos iguais, como os vemos
traçados nos relógios, nem sempre teríamos tempo para explicar o
que dentro deles se passa, o miolo que contêm, o que nos vale é que
os episódios de mais extensa significação calham a dar-se nos
segundos compridos e nos minutos longos, por isso é possível
debater com demora e pormenor certos casos, sem infracção
escandalosa da mais subtil das três unidades dramáticas, que é,
precisamente, o tempo. (SARAMAGO, 2010, p. 213).
O ano da morte, assim, parte de uma poesia de mundos e estilos
criados para a prosa. Esta se impõe por ser o gênero da crise, ainda
carrega vestígios das unidades dramáticas, mas um narrador
autoconsciente discutindo o gênero no interior do romance. A partir dos
tempos subtis da narrativa tanatográfica, da ação do personagem no ano
de sua morte e do espaço histórico, constrói o espaço que ele habita, as
possibilidades e impossibilidades de ação – nas causas, nas casualidades e
nas calhas de roda da atualidade viva escrita por Fernando Pessoa de
carne e osso:
A atualidade viva, inclusive o dia a dia, é objeto ou, o que é ainda
mais importante, o ponto de partida da interpretação, apreciação e
formalização da realidade. Pela primeira vez, (...) o objeto da
representação séria (e simultaneamente cômica) é dado sem
qualquer distância épica ou trágica no nível da atualidade (...) [esses
gêneros] caracterizam-se pela politonalidade da narração, pela fusão
do sublime e do vulgar, do sério e do cômico. (BAKHTIN, 2010, p.
122-123).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 269
No trecho destacado de Problemas da Poética de Dostoiévski,
Mikhail Bakhtin traça um percurso de análise em que da sátira menipéia e
de outros gêneros sério-cômicos, desembocaria o romance polifônico do
autor dos Irmãos Karamazóv. Ao longo do Século XX, a forma
romanesca se firma a partir da superação do realismo (russo). Também a
supera, por ser um minucioso trabalhador da palavra, da quebra da
imagem lógica, com seu estilo e sua escrita que vai além da simples
palavra pela palavra. Pense-se em Jorge L. Borges, Guimarães Rosa e no
próprio Saramago. Não é forçoso inferir que a representação do “dia a
dia”, a “fusão do sublime e do vulgar” aparecem de maneira muito
prodigiosa na produção saramagueana e de outros autores luso-
americanos do nosso tempo. Por congregar a banalidade da vida e, apesar
disso, aspirar à utopia polifônica, mesmo em contextos como o do
bombardeamento do Afonso de Albuquerque, o romance é tido como o
gênero que acolhe a crise e a leva ao cerne da estrutura romanesca –
superando-a e superando até mesmo a ideia:
[...] a modernidade do pensamento de Bakhtin em sua visão do
romance, ao trazer à tona seu plurilinguismo, transforma-o em um
gênero permeável que se deixa penetrar por outras linguagens de
modo dissimulado, estilizado e geralmente paródico. Tal
multiplicidade de vozes que ressoam nessa construção híbrida é o
que marca seu traço de inferioridade, de rebaixamento com relação
ao gênero épico. Isso é, no entanto, o que permite, no campo da
representação, a atualização do objeto. (ESTEVES, 2010, p. 29-30).
Ocorre que a poesia não emudece – ela é dialógica, embora
Bakhtin discordasse disso. Pode-se delinear a presença poética muito
claramente nas aparições do defunto Fernando Pessoa. Em Ricardo Reis,
por mais prosaico que seja o personagem, ainda há uma insinuação
poética, que o narrador tenta esconder, posto que é criador também. A
criação de personagens, biografias, modos de ser e de escrever advém de
um compreensão prosificada da vida (Silva Junior, 2010). Esta percepção
prosificada é o cerne da palavra e do realismo. Desta polifonia
prosificada, surgem perguntas latentes ao longo do livro: ainda é possível
fazer poesia depois da morte do “supra-Camões”? Como fazer arte
perante um regime totalitarista? Como um poeta, criado da condição
poética de um ser de carne e osso, pode habitar, pela palavra, o mundo?
Neste mundo que Reis conhecia tão bem a ponto de criar seu
próprio universo fugaz e aparentemente tão alheado, a sombra de
Camões, possivelmente, surge como uma das imagens mais decisivas
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 270
deste labirinto saramagueano. Arrisca-se dizer que, por isso, o narrador
investe em um tom poetizante, delineando-se como um outro heterônimo
pessoano, um alterônimo, sem biografia, mas que se intromete na
narrativa para imbuí-la de poesia.
Vamos a cada um desses, agora, três poetas, para que se perceba
a insistência da poesia em meio à crise romanesca:
Vivem em nós inúmeros, se penso ou sinto, ignoro quem é que
pensa ou sente, sou somente o lugar onde se pensa e sente, e, não
acabando aqui, é como se acabasse, uma vez que para além de
pensar e sentir mais nada. Se somente isto sou, pensa Ricardo Reis
depois de ler, quem estará agora pensando no lugar que sou de
pensar, quem estará sentindo o que sinto, ou sinto que estou sentindo
no lugar que sou de sentir, quem se serve de mim para sentir e
pensar, e, quantos inúmeros que em mim vivem, eu sol qual, quem...
(SARAMAGO, 2010, p. 20).
O narrador, para contar biografias de tão importantes poetas, na
história literária do futuro (que narra), também pleiteia ser poeta. Utiliza-
se de princípios do romance, inserindo inclusive o leitor na narrativa, para
tornar-se, ele também, poeta. Poeta autor de ficções – como James Joyce
e Guimarães Rosa, o esteta heterônimo, pela sua poesia, e/ou nos
pequenos prólogos biográficos, evitava os sentimentos arrebatadores e os
prazeres intensos em um exercício cínico-filosófico de desapego, para
que não lhe fosse pesado assistir à despedida dos outros: “Eu nada terei
que sofrer ao lembrar-me de ti”, bem como esperaria tranquilo a chegada
das Parcas que o levassem: “E aguardando a morte/como quem a
conhece” (SARAMAGO, p. 31-32). O Reis prosaico não precisa de
qualquer exercício cínico para se desapegar: é já um ser despregado do
mundo. Sem guardar lembranças ou saudades do Brasil, embarca para
Portugal em busca do Pessoa defunto. Em Lisboa, filia-se a uma Lídia
que lhe confere existência carnal – impossível de ser vista e/ou realizada
em sua poesia heterônima. Ricardo Reis assenta-se sobre um tripé em que
ele mesmo é pouco significante. Perceba-se como esse personagem, a um
só tempo, participa da banalidade da vida comum e verga-se a um
ensimesmar-se quase apático:
Como igualmente se tem visto em outros tempos e lugares, são
muitas as contrariedades da vida. Quando Ricardo Reis acordou,
manhã alta, sentiu na casa uma presença, talvez não fosse ainda a
solidão, era o silêncio, meio-irmão dela. Durante alguns minutos viu
fugir-lhe o ânimo como se assistisse ao correr da areia numa
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 271
ampulheta (...) hoje não, que a vida, curta sendo, não dá para
contemplações. Mas era de contrariedades que falávamos. Quando
Ricardo Reis se levantou e foi à cozinha para acender o esquentador
e o bico do gás, descobriu que estava sem fósforos, esquecera-se de
os comprar. E como um esquecimento nunca vem só, viu que lhe
faltava também o saco de fazer o café, é bem verdade que um
homem sozinho não vale nada. (SARAMAGO, 2010, p. 231).
Em uma casa solitária, o poeta vê passar os dias como se
escorregassem – “como se assistisse ao correr da areia numa ampulheta”.
Nisto, lembra a tradição contemplativa estoica que buscava seguir o
esteta inventado por Fernando Pessoa. Acontece que esta postura da
inação é absolutamente estranha a um ano tão efervescente como o de
1936 e, mais que isso, a apatia soa desconcertante em um romance tão
verborrágico e inquieto como O ano da morte, o que justifica a ressalva
do narrador: “hoje, não, que a vida, curta sendo, não dá para
contemplações”. Ricardo Reis é um poeta da solidão. Nem mesmo a
Lídia poetizada, nem mesmo o rio que desejava observar, a natureza que
o abrigava como em um quadro idílico soariam tão distantes. Mas, da
antiga condição, surge este Reis prosificado: evanescente, vivendo o ano
de sua morte. Nesta existência, agora duplicada, é necessário comer,
tomar café, amar, estar na multidão – como no episódio em que procura
Marcenda na multidão católico-festiva de Fátima. A multidão está alheia
à memória do futuro e Reis experimenta a vida – sem alhear-se, sem
desejar o que sente e deixar que o que sente pense nele.
Reis aparece como o poeta impossível porque seu modo de
poetizar é incoerente com o modo de vida de seu tempo. Saramago mata
o último heterônimo vivo justamente porque a história o enterra. No jogo
com uma criação que, no conjunto de seu tempo e de sua época coaduna
com a prática poética de Pessoa ortônimo, qual seja, a criação de mundo
pela palavra, já que a vida, ela mesma, em sua realidade já não basta, o
narrador continua o que Pessoa começara ao rebelar-se contra qualquer
tipo de poder totalitário. O poeta mais apático politicamente é o
contraponto para um narrador que guarda toda a memória do futuro. Reis,
por sua vez, tão convicto de que “acima da verdade estão os deuses”, em
poema escrito – em 16-10-1914 – dois meses do início da primeira
guerra, bastava-se a si mesmo no horizonte de sua poética. Mas sua
poética é dialógica: há um conjunto de poetas ecoando (Caeiro, Campos,
dentre outros) que cruzam suas vozes com a dele. Na forma e estilo de
cada um estão percorridos os supercamões, o Império que poderia ter
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 272
sido e que não foi e o século humilhantemente governado por um
salazarismo falido. O mesmo século que gerou Pessoa e Saramago.
Como ficou demonstrado, no livro saramagueano, há uma
convergência de poéticas. O romance nasce de um pequeno dado
biográfico do heterônimo, o fato de ter ficado vivo. Nasce também do ano
da morte de Fernando Pessoa (1935). E deste retirar-se da história e entrar
para a história pela palavra poética – mal lida em sua época – o narrador
torna-se também um poeta que habita aquele tempo, mas que percorre o
humilhante século XX. Nesta retomada de um personagem de outro,
neste defunto personagem que volta e da construção de um narrador
poeta, estas mortes, que estavam alheias ao futuro, permitem o diálogo
(romanceado) dos mortos Reis e Pessoa:
meu caro Reis, as suas odes sejam, por assim dizer uma poetização
da ordem. Nunca as vi dessa maneira, Pois é o que elas são, a
agitação dos homens é sempre vã, os deuses são sábios e
indiferentes, vivem e extinguem-se na própria ordem que criaram, e
o resto é talhado no mesmo pano, Acima dos deuses está o destino,
O destino é a ordem suprema, a que os próprios deuses aspiram, E os
homens, que papel [tirar a pergunta] vem a ser dos homens,
Perturbar a ordem, corrigir o destino, Para melhor, Para melhor ou
para pior, tanto faz, o que é preciso é impedir que o destino seja
destino. (SARAMAGO, 2011, p. 340).
Poder-se-ia pensar neste trecho como uma poesia que mescla as
identidades poéticas de Pessoa e seu heterônimo. Enquanto um busca,
pela ordem, alcançar o que está acima dos deuses – o destino – o outro,
aponta para a necessidade de superá-lo, de impedir que o que tem de ser
tenha mesmo muita força. A imbricada relação entre esses dois poetas é
que gera a poesia equacionadora da mesma problemática da narrativa: a
causalidade que precisa superar o acidental, a literatura que anseia
fortemente desvelar a crise e uma poeticidade devedora de Reis e Pessoa
que sintetiza o romance – que amplia Portugal justamente pelos seus
escritores e não pelas causas políticas conduzidas de modo sempre alheio
e injusto – modos denunciados por Camões e por Saramago.
Fernando Pessoa é o eixo de sabedoria que guia a obra – uma
sabedoria de um criador de eternidade e de multiplanaridades dramático-
poéticas. Seus momentos de aparição proporcionam sempre diálogos
arrebatadores que desnudam para os vivos – Reis e o leitor – o mundo de
desassossego e tanatografias, ou seja diálogos (romanceados) dos mortos
(SILVA JUNIOR, 2008) em que todos estão imersos. Neste jogo, Ricardo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 273
Reis funde-se, na prosificação, por ser um homem comum3. Fernando
Pessoa escapa à prosificação por sua condição de morto. Se na
empreitada pessoana um estava vivo e o outro era criação, nesta invenção
saramagueana um é morto e o outro sabe que morre:
(...) é difícil a um vivo entender os mortos, Julgo que não era menos
difícil a um morto entender os vivos, O morto tem a vantagem de já
ter sido vivo, conhece todas as coisas deste mundo e desse mundo,
mas os vivos são incapazes de aprender a coisa fundamental e tirar
proveito dela, Qual, Que se morre, Nós, vivos, sabemos que
morremos, Não sabem, ninguém sabe, como eu também não sabia
quando vivi, o que nós sabemos, isso sim, é que os outros morrem,
Pra filosofia, parece-me insignificante, Claro que é insignificante,
você nem sonha até que ponto tudo é insignificante visto do lado da
morte, Mas eu estou do lado da vida, Então deve saber que as coisas,
desse lado, são significantes, se as há, Estar vivo é significante, Meu
caro Reis, cuidado com as palavras, viva está a sua Lídia, viva está a
sua Marcenda, e você não sabe nada delas, nem o saberia mesmo
que elas tentassem dizer-lho, o muro que separa os vivos uns dos
outros não é menos opaco que o que separa os vivos dos mortos,
Para quem assim pensa, a morte, afinal, deve ser um alívio, Não é,
porque a morte é uma espécie de consciência, um juiz que julga
tudo, a si mesmo e à vida, Meu caro Fernando, cuidado com as
palavras, você arrisca-se muito, Se não dissermos as palavras todas,
mesmo absurdamente, nunca diremos as necessárias.
(SARAMAGO, 2010, p. 278-279).
Morte e vida “é tudo um”, ainda segundo Pessoa-personagem,
porque os vivos não conseguem tirar proveito da coisa mais fundamental
da vida, “que se morre”. No universo tanatográfico, em que os mortos
voltam para conversar, esse “tudo é um” se dá sempre pela palavra: Que
serão os meus sonhos/ Mais que a obra dos deuses?/ Deixai-me a
Realidade do momento... (REIS, Ficções do interlúdio, 1960, p. 209).
Dando-se conta, ainda que falhamente, da grande contradição de
estar vivo sem saber para quê, Reis insinua, no diálogo transcrito com
Pessoa, que “a morte, afinal, deve ser um alívio”. O outro o repreende
3
Pode-se delinear, dentro da obra de Saramago, uma tendência de construção de
personagens centrais que esboçam uma humildade frágil que de certa forma
embota a sua grandeza. São exemplos disso, o auxiliar de escrita José, de
Todos os nomes (1997) e o músico solitário de Intermitências da morte (2006).
Ambos personagens de variantes tanatográficas romanceadas.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 274
dizendo que, em oposição, a morte é um “juiz que julga tudo, a si mesmo
e à vida”. Julga porque o distanciamento do morto lhe permite ver a
inacabada condição humana que repercute em narrativa inacabada. É por
isso que o autor biográfico – como é aqui Saramago, que reconta
criativamente a biografia de Pessoa e de seu alterônimo – “lida com
vozes de vivos e vozes de defuntos, tendo como objetivo dar (uma nova)
chance àquele que já morreu de discursar” (SILVA JUNIOR, 2010, p.
59).
Pessoa é o personagem que se arrisca, que tem o anseio vigoroso
de dizer as palavras todas, portando, porém, a insuperável dor de estar já
morto. Dor suscitada não pela perda de si mesmo, mas pela extinção do
direito à voz, do direito maior de usar das palavras. Este Pessoa
personificado, além de ser uma imagem que volta, também, sabe o
narrador, foi criador de mundos com sua lógica interna.
A ang stia de Fernando Pessoa dá continuidade à “contrariedade”
antes apontada, conjugando o viver e o morrer, a fala e o silêncio, a
possibilidade e a impossibilidade:
É esse o drama, meu caro Reis, ter de viver em algum lugar,
compreender que não existe lugar que não seja lugar, que a vida não
pode ser não vida (...) O pior mal é não poder o homem estar no
horizonte que vê, embora, se lá estivesse, desejasse estar no
horizonte que é. (SARAMAGO, 2010, p. 151).
Fernando Pessoa, que já está fora do tempo, do espaço e da vida,
é o personagem mais inquietado com a existência humana. Está já em um
lugar que não é lugar, entre a vida comum na Lisboa chuvosa e a morte
definitiva no Cemitério dos Prazeres. E o narrador se vê contaminado
pelos poetas – o fim da citação aponta para os torneios pessoanos e
fingidores:
O pior mal é não poder o homem
estar no horizonte que vê,
embora, se lá estivesse,
desejasse estar no horizonte que é.
(SARAMAGO, 2010, p. 151).
Ocorre que o estado nebuloso deste ano e desta geração é um
estado de não vida. Quem percebe isso, quem vislumbra o horizonte a
que não se chega, contudo, é somente Pessoa. Reis, possivelmente, o intui
apenas quando opta pela morte – então já não há mais tempo. Partes do
mesmo dialogam e o poeta-personagem de romance tenta chamar a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 275
atenção do colega para a iminência do viver em vida: “a vida não pode
ser não vida”.
O narrador, finalmente, lança-se também como grande fazedor de
poesia que com discussões graves problematiza as questões históricas
urgentes por meio de uma forma narrativa desmantelada que aponta para
uma saudade velada da poesia, que é sempre caminho para a liberdade em
meio ao labirinto da vida:
talvez isto é que seja o destino, sabemos o que vai acontecer,
sabemos que não há nada que o possa evitar, e ficamos quietos,
olhando, como puros observadores do espetáculo do mundo, ao
tempo que imaginamos que este será também o nosso último olhar,
porque com o mesmo mundo acabaremos. (Idem, p. 416).
O nosso último olhar para o destino mostra que ele nos reserva
apenas a morte, como reservou a Ricardo Reis que decide partir com
Fernando Pessoa para o Cemitério dos Prazeres. Por isso, o romance
traduz-se como a contestação do “acidental” (LUKÁCS, 2010, p. 151)
como algo inevitável. Romance que questiona o triunfo do próprio gênero
– é o gênero da crise, mas que conserva a liberdade da poesia. Saramago
dissemina a poética e opta por uma tradição dúplice na qual é importante
discutir o homem na história e, ao mesmo tempo, perceber que uma das
formas de livrar-se do alheamento é justamente pela palavra – capaz de
esconder as causalidades profundas.
O narrador poeta estiliza em sua narrativa algo que lhe é próprio.
Podemos falar assim de uma poesia narrativa:
talvez isto é que seja o destino,
sabemos o que vai acontecer,
sabemos que não há nada
que o possa evitar, e ficamos
quietos, olhando, como puros
observadores do espetáculo do mundo,
ao tempo que imaginamos que este
será também o nosso último olhar,
porque com o mesmo mundo acabaremos.
(SARAMAGO, 2010, p. 416).
O mesmo narrador, por sua vez, consegue imbricar, fundir os dois
temas poéticos de Reis e de Pessoa no mesmo poema:
a agitação dos homens é sempre vã,
os deuses são sábios e indiferentes,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 276
vivem e extinguem-se na própria
ordem que criaram, e o resto é
talhado no mesmo pano,
Acima dos deuses está o destino,
O destino é a ordem suprema,
a que os próprios deuses aspiram,
Perturbar a ordem, corrigir o destino,
Para melhor, Para melhor ou para pior,
tanto faz, o que é preciso é
impedir que o destino seja destino.
(SARAMAGO, 2010, p. 340).
Enfim, O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984) é o romance de
José Saramago em que se cumpre Portugal pela palavra. E o que mais a
história falhou em cumprir resta à poesia contar. Destes personagens
intrigantes, imersos em uma narrativa inquieta e, aparentemente
insolúvel, o saldo é o da discussão da condição humana, sujeita ao tempo,
ao espaço, à vida e à morte. O trunfo parece ser mesmo o poder dizer:
“Nós não somos nada, porventura nascerá para nós o dia em que todos
seremos alguma coisa, quem isto agora disse não se sabe, é um
pressentimento” (Idem, p. 385). Resta aos homens ser alguma coisa, ser
pela palavra, sempre ação que teima em “Perturbar a ordem, corrigir o
destino” (Idem, p. 340) e efetivar, na vida, a utopia polifônica do
romance.
WHAT MUST BE MUST BE: THE POWER OF POETRY AND PROSE AS
TRANSGRESSORS OF DESTINY IN O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS
Abstract: O ano da morte de Ricardo Reis (1984) is a novel by Jose Saramago
that effects a narrative polyphony despite taking place in 1936 - the period
leading authoritarianism. It aims to show how the hybrid of genres, which
combines prose and poetry, points to an literary and historical exit. It discusses
how the human condition, which lives the threat of crisis, is transposed in this
labyrinthine novel. Mikhail Bakhtin is the main theoretical reference point
concerning the plural arrangement of many voices. Gyorgy Lukacs, Erich
Auerbach and Hermenegildo Bastos guide the thinking about the intricate web of
causality that hides deep causality achieved by the great novels. Through
rigorous research on the novel as a genre and on the multifaceted poetry of
Pessoa, this book is elevated to stand among those that, with great fluidity and
artistic zeal, discuss, from their core, serious human issues. Finally, we seek to
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 277
show that the poetry of life stubbornly resists the crisis brought on and
represented by prose.
Keywords: Novel. Polyphony. Poetry. Pessoa. Crisis.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura
ocidental. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.
BASTOS, Hermenegildo. O que tem de ser tem muita força – determinismo e
gratuidade em Angústia. In: As artes da ameaça: ensaios sobre literatura e crise.
São Paulo: Editora Outras Expressões, 2012. p. 85-110.
BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Tradução de Paulo
Bezerra. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
ESTEVES, Antônio R. O romance histórico brasileiro contemporâneo. São
Paulo: UNESP, 2010.
LUKÁCS, Georg. Ensaios sobre literatura. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1965.
______. “Narra ou descrever”. In: Marxismo e teoria da literatura. São Paulo:
Editora Expressão Popular, 2010.
MENESES, Filipe Ribeiro de. Salazar: biografia definitiva. Tradução de Teresa
Casal. São Paulo: Leya, 2011.
MENTON, Seymour. La nueva novela histórica de la América Latina 1979-
1992. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
PESSOA, Fernando. REIS, Ricardo. Ficções do Interlúdio. Obra Poética. Rio de
Janeiro: José Aguilar, 1960.
______. Obra Poética. (Org. de Maria Aliete Galhoz). 9. ed. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1986.
______. Poesia completa de Ricardo Reis. São Paulo: Companhia das Letras,
2007.
______. Poesia 1931-1935. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
SARAMAGO, José. O ano da morte de Ricardo Reis. 2. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010.
SILVA JUNIOR, Augusto Rodrigues da. Tanatografias em José Saramago: As
Intermitências da Morte. Glauks (UFV), v. 9, p. 29-53, 2009.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 278
______. Ser todos os seres: teatro e biografia na dramaturgia brasileira
contemporânea. In: Leio teatro. São Paulo: Editora Horizonte, 2010.
______. Tanatografias e decomposições biográficas: discurso da morte na
literatura. Revista da ANPOLL (Impresso), v. 01, p. 37-52, 2011.
______. Morte e decomposição biográfica em Memórias Póstumas de Brás
Cubas. 216 f. Tese (Doutorado). Instituto de Letras, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, 2008. Disponível em:
<http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2500>. Acesso
em: 16 jun 2011.
WATT, Ian. A ascenção do romance. Tradução de Hildegard Feist. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 279
OBRA ABERTA, MAS NEM TANTO: LIMITES INTERPRETATIVOS
COMO COLABORADORES NA FORMAÇÃO DO SUJEITO-LEITOR
João Luis Pereira OURIQUE1
Patrícia Cristine HOFF2
Resumo: Ao identificar pressupostos teóricos que sustentam os limites de
interpretação do texto literário – tido como “aberto” dada a sua ambiguidade e
plurissignificação –, esse trabalho preocupa-se em tecer considerações sobre como
tais aspectos levantados pela teoria podem contribuir para a formação de sujeitos-
leitores. Para isso, ampara-se, sobretudo, nos estudos de Umberto Eco, percorrendo
algumas obras desse que é um dos grandes pensadores sobre a significação artística.
Além de Eco, percorre-se nomes como Hans Robert Jauss e Hans-Georg Gadamer,
figuras emblemáticas da teoria da recepção e da hermenêutica as quais promovem a
valorização do leitor em detrimento da autoria empírica, aspecto que vai de encontro
à tradição do ensino de literatura pautado por abordagens histórico-biográficas
remanescente do século XIX. Ao final, conclui-se que cada texto literário ao mesmo
tempo potencializa e inviabiliza certas leituras, ao passo que os limites da
interpretação são impostos pelo próprio texto. Este, por sua vez, é senão o objeto do
leitor, sujeito da prática interpretativa, para quem os limites de sentido devem ser tão
caros quanto os próprios sentidos resultantes da leitura.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de literatura. Estética da recepção. Hermenêutica. Obra
aberta. Sujeitos-leitores.
Introdução
Em 13 de abril de 1967, Hans Robert Jauss proferiu em
conferência ministrada da Universidade de Constança, sob o título O que
é e com que fim se estuda história da literatura?, posteriormente
modificado para A história da literatura como provocação à teoria
literária, alguns dos pressupostos fundadores da teoria da recepção, a
qual se coloca contra a tradição da história da literatura. O local para a
conferência não fora escolhido por coincidência, uma vez que da
Universidade de Constança sobreveio o principal fruto da reforma
educacional na Alemanha durante a segunda metade da década. De forte
caráter provocativo, o discurso de Jauss busca romper com a natureza dos
estudos literários vigentes que, segundo ele, atuavam em serviço da
1
UFPel/CLC. Pelotas-RS-Brasil. 96010-610. jlourique@yahoo.com.br.
2
UFPel/CLC. Pelotas-RS-Brasil. 96010-610. paty_hoff@hotmail.com.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 280
“burguesia instruída”. Jauss critica, assim, a permanência dos ideais
burgueses do século XIX, período no qual emergiram o conceito
positivista de história e a consolidação do capitalismo. (ZILBERMAN,
2009, p. 9)
Ao ironizar e desconsiderar a postura do historiador que se apoia
“no ideal da objetividade da historiografia, à qual cabe apenas descrever
como as coisas efetivamente aconteceram” (JAUSS, 1994, p. 7, grifos do
autor), o teórico recusa os métodos de ensino da história da literatura
praticados por historiadores presos à ideia de passado acabado, que
ignoram a produção artística do presente e apegam-se ao cânone seguro
das “obras primas”. Indo de encontro a esses estudiosos, chamando-os de
parasitas da crítica tradicional, Jauss advoga pelo reconhecimento da
historicidade da arte, elemento decisivo para a compreensão do seu
significado no conjunto da vida social. Nesse sentido, afirma:
[a] qualidade e a categoria de uma obra literária não resultam nem
das condições históricas ou biográficas de seu nascimento, nem tão
somente de seu posicionamento no contexto sucessório do
desenvolvimento de um gênero, mas sim dos critérios da recepção,
do efeito produzido pela obra e de sua fama junto à posteridade,
critérios estes de mais difícil apreensão. (JAUSS, 1994, pp. 8-9)
Adjacente à crítica ao positivismo histórico e literário, tem-se,
portanto, que as noções de efeito e recepção são centrais dentro dessa
nova estética, pois recaem na formulação dialógica principal: a relação
entre obra e leitor. Uma vez privilegiada essa relação, o texto deixa de ser
imutável, de estrutura autossuficiente, e passa para o leitor, quem dá vida
à literatura. Disso emerge não apenas a função social do leitor, mas
também o desenvolvimento da sua capacidade hermenêutica frente ao
texto artístico.
Ainda no calor dos debates das teorias da recepção, Roland
Barthes, no ensaio “A morte do autor”, de 1968, causou certa polêmica ao
retirar o autor de sua posição sacra de “Autor-Deus” quando destitui da
autoria a detenção da palavra, ao ter que “[a] escritura é a destruição de
toda voz, de toda origem.” (BARTHES, 2004, p. 65) Ao atribuir à
escritura – ou seja, à linguagem (literária) – a responsabilidade pela
existência da obra, Barthes vê no leitor o lugar onde a texto adquire
sentidos, o que é possível apenas em detrimento à figura histórico-
psicológica do autor. Assim, ao pôr em crise a até então predominância
dos estudos da intencionalidade autoral, Barthes desconstrói o mito do
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 281
autor, ao mesmo tempo em que, de certa forma, propõe a criação de um
outro mito, o do leitor:
um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que
entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação;
mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar
não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o
espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas
as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um texto não está
na sua origem, mas no seu destino, mas este destino já não pode ser
pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem
psicologia; é apenas esse alguém que tem reunidos num mesmo
campo todos os traços que constituem o escrito. (BARTHES, 2004,
p. 69)
Mesmo sendo esse leitor um modelo idealizado (“sem história,
sem biografia, sem psicologia”) – como também idealizado era o autor,
porém de forma inversa –, mostra-se importante a defesa de Barthes em
prol do leitor, ou seja, para aquilo que a estética da recepção se propôs e
defender, incluída aí toda a ideologia de contestação social e luta pela
autonomia do sujeito.
A posição privilegiada do receptor no sistema literário, por outro
lado, não é destacada apenas pela teoria da recepção. Regina Zilberman
aponta que das tendências críticas que lidam com o leitor/destinatário
enquanto peça importante da teoria pode-se aludir
à retórica, à semiologia e ao estruturalismo, na medida em que se
preocupam com o processo de decodificação do texto pelos
destinatários; à psicanálise e à hermenêutica, por lidarem com a
questão da interpretação; e à sociologia da literatura que [...] analisa
a interação da obra com o p blico.” (ZILBERMAN, 2009, p. 15)
Para fins desse trabalho, no entanto, não serão discutidas todas as
teorias mencionadas, muito embora haja pressupostos comuns entre as
mesmas. Com efeito, as reflexões aqui apresentadas procuram dar conta
de aspectos relacionados tanto ao texto literário como objeto de estudo,
quanto à função hermenêutica na atuação do sujeito-leitor para com esse
objeto, recuperando-se o processo dialógico entre texto e leitor na
perspectiva do ensino.
Problemática da obra aberta e seus limites
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 282
É com base na observância do caráter ambíguo e polissêmico da
linguagem estética que Umberto Eco (1962) formula seu conceito de
“obra aberta”, cabível à obra artística como um todo e, portanto, também
à literatura. Tal conceito, todavia, não pode ser visto como uma categoria
crítica, mas como um modelo hipotético, uma abstração, “uma categoria
explicativa, elaborada para exemplificar uma tendência das várias
poéticas.” (ECO, 2007, p. 26) De acordo com Eco,
A poética da obra “aberta” tende [...] a promover no intérprete “atos
de liberdade consciente”, pô-lo como centro ativo de relações
inesgotáveis, entre as quais ele instaura sua própria forma, sem ser
determinado por uma necessidade que lhe prescreva os modos
definitivos de organização da obra fruída. (ECO, 2007, p. 41)
A partir dessa ideia, tema fundamental da longa produção teórica de Eco,
estabelece-se uma tensão entre a “fidelidade” e a “liberdade
interpretativa” frente ao objeto lido, tensão essa que só se resolve no
próprio texto, como veremos mais adiante.
No que tange à defesa do papel ativo do intérprete diante dos
textos de valor estético, abertos por excelência, Eco sofreu críticas as
quais viam a abertura do texto como espécie de terra sem lei, onde toda e
qualquer interpretação seria válida e aceita. Tais críticas fizeram Eco
escrever a Introdução à segunda edição do livro Obra aberta, na qual
justifica o conceito polemizado.
Levado, nos anos seguintes, a pesquisar os fenômenos da
significação, a fim de encontrar possíveis limites da interpretação na
sempre presente ideia de “obra aberta”, Eco amparou-se num profundo
estudo semiótico, pensando a leitura a partir do viés da sua construção
enquanto cadeia de signos. Não compete à teoria de Eco analisar, por
exemplo, os aspectos sociológicos da leitura, mas tomar o texto literário a
partir de um viés estrutural (e não estruturalista), debruçando-se sobre o
signo linguístico. Este, por sua vez, é visto não como “alguma coisa que
está no lugar de alguma outra coisa”, mas considerado
“indissoluvelmente ligado ao processo de interpretação.” (ECO, 1991, p.
3) Para isso, Eco ampara-se em Pierce na defesa da natureza
interpretativa do signo. Tem-se então que
Por interpretação (ou critério de interpretância) deve-se entender o
que entendia Peirce ao reconhecer que cada interpretante (signo, ou
seja, expressão ou sequência de expressões que traduz uma
expressão anterior) não só retraduz o “objeto imediato” ou conte do
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 283
do signo, mas amplia sua compreensão. O critério de interpretância
permite partir de um signo para percorrer, etapa por etapa, toda a
esfera da semiose. Peirce dizia que um termo é uma proposição
rudimentar e que uma proposição é uma argumentação rudimentar.
(ECO, 1991, p. 60)
O caráter rudimentar que circunda signo e significante leva, pela
necessidade da construção mais aperfeiçoada dos sentidos, à formulação
da semiose ilimitada, apontada por Peirce e utilizada por Eco. Esse
processo é, de forma simples, explicado por Eco no sentido de que
para estabelecer o significado de um significante (...) é necessário
nomear o primeiro significante por meio de outro significante que
pode ser interpretado por outro significante, e assim sucessivamente.
Temos, destarte, um processo de SEMIOSE ILIMITADA. (ECO,
2003, p. 58, destaques do autor)
No livro Os limites da interpretação (1990), ciente da visão
generalizante dessa definição, Eco admite que a semiose ilimitada não é
um modelo teórico unificado, ou “científico”, mas uma prática social,
com o estatuto de um discurso filosófico (ECO, 2010, p. 3). Assim, Eco
procura ser fiel ao modelo também hipotético da “obra aberta”, afirmando
que
Uma vez que o texto tenha sido privado da intenção subjetiva que
estaria por trás dele, seus leitores não mais têm o dever, ou a
possibilidade, de permanecerem fiéis a essa intenção ausente. É,
destarte, possível concluir que a linguagem está presa num jogo de
significantes múltiplos, que um texto não pode incorporar nenhum
significado unívoco e absoluto, que não existe um significado
transcendental, que o significante jamais pode estar em relação de
co-presença com um significado continuamente diferido e adiado, e
que todo significante se correlaciona com outro significante de modo
tal que nada fique fora da cadeia significante que prossegue ad
infinitum. (ECO, 2010, p. 283)
Diante da cadeia infinita de possibilidades semióticas, torna-se
unicamente possível (mais do que meramente confortável) assumir a
posição de que não existem interpretações certas ou erradas, e que em
nenhum momento uma única leitura finaliza todas as possibilidades de
um texto.
Não sendo razoável apontar para a boa interpretação, Eco afirma
que, “mais fácil, ao contrário, é reconhecermos as más.” (ECO, 2010, p.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 284
291) Mais profundamente sobre as más interpretações Eco trata em
Interpretação e superinterpretação (1993), em que tenta manter um elo
dialético entre a intentio operis e a intentio lectoris, utilizando sempre o
texto como fornecedor e ao mesmo tempo contestador ou afirmador de
uma dada interpretação. Nesse processo, ambas as intenções são
codependentes, mas a segunda se coloca à frente, uma vez que
A intenção do texto não é revelada pela superfície textual. [...] É
preciso querer “vê-la”. Assim é possível falar da intenção do texto
apenas em decorrência de uma leitura por parte do leitor. A
iniciativa do leitor consiste basicamente em fazer uma conjetura
sobre a intenção do texto. (ECO, 1993, p. 75)
Daí surge a noção de que o texto é um dispositivo concebido para
produzir um leitor-modelo, o qual não é um leitor idealizado, que saberá
interpretar o texto facilmente, mas nele – no leitor – surgem hipóteses
acionadas pelo texto, ao passo que o leitor também se configura como
uma estratégia interpretativa diante do objeto lido, gerando um modelo de
leitura. Ainda nesse âmbito, o texto faz-se como uma espécie de artefato
que potencializa algumas leituras em detrimento de outras. Tais leituras
são levadas a cabo pelo receptor, o qual se torna modelo por ter que
conjecturar sobre as intenções do autor-modelo (que não é igual ao autor
empírico, uma vez que também se coloca como uma estratégia
discursiva) de um texto específico, as quais se confundem com as
intenções do texto. Trata-se, portanto, de um círculo hermenêutico, no
qual
mais do que um parâmetro a ser utilizado com a finalidade de
validar a interpretação, o texto é um objeto que a interpretação
constrói no decorrer do esforço circular de validar-se com base no
que acaba sendo o seu resultado. (ECO, 1993, p. 75-6)
Para Eco, reconhecer a intenção da obra é reconhecer uma
estratégia semiótica, e a única forma de provar as hipóteses resultantes da
intenção do leitor-modelo é checá-las com o texto enquanto um todo
coerente. (ECO, 1993, p. 76)
A intentio operis econiana poderia, todavia, colocá-lo junto aos
estruturalistas, tendo o texto como uma estrutura passível de ser fielmente
interpretada. Para tentar dissolver essa associação e valorizar o processo
hermenêutico da obra de arte, Eco resguarda a ideia de que o texto tem
sua verdade, ou melhor, suas verdades. Assim, no bojo dessas discussões,
ele aponta para a diferenciação entre “interpretação” e
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 285
“superinterpretação”, ao ter que superinterpretar um texto é atribuir-lhe
conjecturas passíveis de serem rejeitadas pela coerência interna do texto.
Esta coerência estrutural, por seu turno, domina os impulsos do leitor, de
outro modo possivelmente incontroláveis.
Contribuições para o ensino de literatura
Em Educação e emancipação (1969), Theodor Adorno afirma
que educação deve projetar-se tão somente para a emancipação (ou
autonomia) do sujeito, a qual é prejudicada não pela “falta de
entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de servir-se do
entendimento sem a orientação de outrem”. (ADORNO, 1995, p. 169)
Adorno, contemporâneo a Jauss, foi um dos pensadores que, como afirma
Regina Zilberman, influenciou as reflexões da estética da recepção no
momento em que pensava a educação como uma forma de ruptura e
inovação frente às normas vigentes (ZILBERMAN, 2008, p. 93).
Ao apresentar-se como um pressuposto estético aplicado às
vanguardas do século XX, o modelo hipotético da “obra aberta”, tão caro
a Eco, além de apontar para a objetividade provocadora da obra de arte,
vai de encontro ao empobrecimento das relações entre arte e visão do
mundo de intérprete causado pela cultura de massa (BRITTO JR., 2008,
p. 6), preocupação que encontra em Adorno um dos grandes
representantes. Na Obra aberta (1962), livro interessado nas formas de
indeterminação das poéticas contemporâneas, Eco apresenta a dicotomia
entre obra de massa e obra de vanguarda:
As mensagens de massa são mensagens inspiradas numa ampla
redundância: repetem para o público aquilo que deseja saber.
Mesmo quando utiliza soluções estilísticas difundidas pela
vanguarda, a cultura de massa o faz quando estes modos
comunicativos já foram assimilados pelo grande público. Daí que ela
difunde, por assim dizer, sobre o universo uma confortável cortina
de obviedade. A tarefa da literatura de vanguarda é precisamente a
de romper essa barreira de obviedade. Diante do já conhecido
(“noto”) a vanguarda propõe o desconhecido (“l’ignoto”). Neste
sentido se enquadra no discurso informativo e aberto. Já se disse que
a tarefa da literatura é a de manter eficiente a linguagem. Se por
“manter eficiente a linguagem” se entende “renovar continuamente
as modalidades de uso do código lingüístico comum”, esse é
exatamente o objetivo da vanguarda. Com uma particularidade:
desde que um modo de falar reflete um modo de ver a realidade e de
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 286
afrontar o mundo, renovar a linguagem significa renovar nossa
relação com o mundo. (ECO, 2007, pp. 282-3 apud BRITTO JR.,
2008, p. 8)
Britto Jr. aponta para o paradigma do termo vanguarda que, em
Eco, perde a definição tradicional e passa a ser uma postura que visa a
ambiguidade como finalidade última do processo criativo. De grosso
modo, a vanguarda tradicional configura-se num conceito aplicável a um
grupo de pessoas orientadas artística e politicamente por um programa
pré-estabelecido de produção. Para Eco, no entanto, as obras
consideradas vanguardistas são aquelas feitas plurissignificativas,
revitalizando no intérprete
efeitos de estranhamento que produzem, por um lado, uma fruição
menos complacente e mais intelectualmente ativa e, por outro lado,
um questionamento das possibilidades interpretativas que, por sua
vez, redundam numa nova concepção do código que serve de base à
comunicação artística e, mais importante, às nossas concepções de
mundo. (BRITTO JR., 2008, p. 8)
Fica claro que, para Eco, as obras reducionistas em sentido,
apontando para as que se encaixam nos moldes da cultura de massas (ou
seja, as quais trazem mensagens redundantes e óbvias que petrificam a
percepção), não têm o mesmo valor estético das obras de vanguarda. O
valor, portanto, ficaria condicionado à linguagem empregada e seus
modos, muito antes de levar-se em consideração qualquer informação
extratextual. Isso não significa que o leitor atribui valor ao texto, mas,
retomando a ideia de leitor-modelo, a qualidade da leitura é “imposta”
pelas próprias intenções textuais, projetadas no leitor-modelo e refletidas
na (e pela) leitura do mesmo.
Logo, o aspecto criativo da obra de vanguarda não é atribuído
apenas ao texto. O texto vanguardista (a partir da proposição econiana de
vanguarda) se atualiza no leitor, no momento em que cabe a ele produzir
inferências múltiplas num processo infinito de manutenção da
consciência produtiva. Dado o caráter provocativo da literatura,
comentado anteriormente, sendo uma condição da “obra aberta”, é
trabalho do sujeito-leitor (aqui uma visão ampliada do leitor-modelo, a
qual quer atentar ainda para a capacidade crítica do receptor) atuar na
decodificação dos textos artísticos. É o que também aponta Regina
Zilberman:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 287
o signo estético [em oposição ao signo empregado na linguagem
prática do cotidiano] assim se revela se o espectador o perceber
enquanto objeto estético, o que determina, agora por outra via de
raciocínio, o reconhecimento da importância de sua atividade
perceptiva. É o recebedor que transforma a obra, até então mero
artefato, em objeto estético, ao decodificar os significados
transmitidos por ela. Em outras palavras, a obra de arte é um signo,
porque a significação é um aspecto fundamental de sua natureza,
mas ela só se concretiza quando percebida por uma consciência, a do
sujeito estético. (ZILBERMAN, 2009, p. 21)
É evidente que, a essa altura, não se pode falar em formação de
sujeitos-leitores senão a partir da leitura do texto literário – o que,
infelizmente, não é um procedimento óbvio se for levado em
consideração o quadro crítico em que se encontra o ensino de literatura
atualmente, ainda fortemente apoiado em únicas contextualizações sócio-
históricas das obras e seus autores. Resulta daí uma visão totalmente
extrínseca da literatura, sendo o tratamento do texto literário um mero
pretexto para conteúdos outros que não a(s) leitura(s) do texto em si.
Marisa Lajolo, em O texto não é pretexto, aponta para a gravidade de se
trabalhar o texto literário dessa forma, quando maus leitores podem
transformar bons textos em maus textos na medida em que propuserem
exercícios “que reduzem ou anulem a carga de ambiguidade e
plurissignificação do texto poético.” (LAJOLO in ZILBERMAN, 1991,
pp. 55-6) Tal consideração de leituras que “geram maus textos” retoma a
ideia de superinterpretação de Eco, quando a interpretação não se sustenta
textualmente, indo em direção à má leitura.
A questão da hermenêutica – entendida como um processo de
leitura consistente e coerente com a historicidade apontada por Jauss e
base para a teoria da Estética da Recepção –, aqui recuperada, parte,
sobretudo, da formulação de Hans-Georg Gadamer acerca dessa relação
com a obra de arte, ou seja, como o leitor se posiciona frente ao elemento
estético. O resgate da concepção gadameriana evita que a crítica contra a
Estética da Recepção (no sentido de que esta opera a partir da concepção
de um sujeito-leitor ideal, negligenciando o horizonte de expectativa real,
das suas inconstâncias e incongruências) se fundamente de maneira a
comprometer a compreensão – tida como objetivo central do pensamento
hermenêutico. A Apresentação à edição brasileira, elaborada por Marco
Antonio Casanova, situa como deve ser entendida essa abordagem
teórica:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 288
De modo algo sintético, podemos afirmar que a hermenêutica
gadameriana procura ultrapassar desde o início a suposição de que
os processos interpretativos são marcados pelo intuito primordial de
alcançar uma verdade previamente dada e constituída.
Tradicionalmente, a filosofia assumiu a posição de que verdade é
algo que precisa ser conquistado por meio de uma aproximação de
estruturas universais. (...) Normalmente orientados pelo projeto
iluminista de suspensão de todos os pressupostos e de autonomia
radical da razão, pensamos que um conhecimento só encontra seu
ponto de legitimidade quando zeramos por assim dizer nossas
crenças. O problema de tal pressuposto, contudo, é que ele passa
completamente ao largo do que propriamente acontece em todo e
qualquer processo hermenêutico. Na verdade, não é apenas
impossível produzir tal suspensão de nossos pressupostos; se
realmente conseguíssemos alcançar algo assim, o que teríamos seria
por fim ao mesmo tempo indesejável. A suspensão de nossos
pressupostos significariam propriamente uma dissolução de toda a
orientação prévia e de toda a expectativa de sentido em relação ao
que se deveria interpretar. Sem tal orientação e tal expectativa,
porém, não teríamos nem mesmo como nos aproximar do que
deveria ser interpretado, uma vez que é essa orientação e essa
expectativa que conduzem a aproximação. (CASANOVA, In:
GADAMER, 2010, p. X - XI).
Drummond e o exemplo literário
Escrito em fins de 1924 e publicado em 1928 na Revista de
Antropofagia, fundada por Mário de Andrade e representando a
vanguarda modernista no Brasil, o poema No meio do caminho, de Carlos
Drummond de Andrade, pode ser considerado um poema vanguardista
por excelência, seja no aspecto do sentido primeiro da palavra, vinculado
a um movimento de ruptura cultural, seja na qualidade de texto de valor
estético, tal qual a vanguarda entendida por Eco. O poema de Drummond,
republicado dois anos depois em seu livro de estreia de poesia, o Alguma
poesia (1930), causou reações divergentes no público, em grande parte
ainda resistente à novidade modernista. Tal repercussão deixou o poeta
subitamente conhecido, uma vez que fora ao mesmo tempo admirado e
ridicularizado por causa desse poema-escândalo. Quase quatro décadas
depois da primeira publicação, Drummond chegou, inclusive, a organizar,
em 1967, a antologia Uma pedra no meio do caminho – Biografia de um
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 289
Poema reunindo várias paródias, paráfrases e comentários positivos e
negativos acerca do poema.
Nesse sentido, é possível refletir a problemática da poesia nos
termos apresentados por Gadamer, nos quais o diálogo existente entre os
seres culturais evidencia uma tentativa de compreensão de si nos outros –
mesmo que esses outros sejam as obras de arte advindas dos mais
diversos contextos sócio-históricos.
Como é que a poesia pode levar a termo o fato de precisarmos
compreender mesmo quando nos opomos? Com certeza, podemos
denominar hermenêutica a reflexão sobre isso. Hermenêutica
significa a teoria da compreensão. No fundo, porém, uma tal teoria
não é outra coisa senão autoconscientização daquilo que
propriamente acontece quando se dá algo a compreender a alguém e
quando se compreende. (GADAMER, 2010, p. 380).
Pensado dessa forma, o poema de Drummond, tão controverso na
sua recepção, serve de exemplo para o “problema hermenêutico” do
confronto entre texto e leitor. Para fins desse trabalho, no entanto, este
poema se coloca como objeto de consideração acerca do processo de
interpretação que dele resulta, ou melhor, que pode resultar. Assim,
salvaguarda a sua repercussão, a aproximação ao poema se dará pelas
considerações sobre o mesmo, de modo a produzir sentidos. Sendo um
texto já largamente interpretado, No meio do caminho, por isso mesmo,
surge como um enunciado poético riquíssimo, inclusive do ponto de vista
da fruição literária.
Segue, então, o poema de Carlos Drummond de Andrade, cuja
análise e interpretação apontarão para a necessidade da convergência dos
vários elementos mencionados até o momento:
No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 290
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
Talvez o aspecto a prender a atenção do leitor, quando da
primeira leitura, sejam a estrutura e a forma do poema, uma vez que
aquele se sente, inevitavelmente, provocado e incomodado pelo texto.
São a repetição e a circularidade a causarem o efeito de estranhamento,
que inicialmente pode levar a redundâncias. Se for lido cuidadosamente,
todavia, percebe-se que este não é redundante – a repetição desnecessária
–, pois as ideias trazidas nos versos repetidos ora reforçam as imagens,
ora as atualizam. Assim, primeiramente, a partir de uma leitura atenta
apenas à disposição dos versos, pode-se perceber que a repetição gera a
informação causadora da novidade, do sentido inesperado.
Um segundo ponto de estranhamento da obra dá-se na sintaxe
utilizada, a qual subverte a norma culta que elege como correta a forma
“havia uma pedra”, ao invés do “tinha uma pedra”. O importante para a
leitura do poema a partir desse aspecto puramente linguístico pode recair
na ideia de que a “pedra” é algo pertencente ao “caminho”, indissociável
desse – interpretação que não seria sustentada se o verbo “haver”,
semanticamente carregado de mobilidade e sobreposição, estivesse
relacionado à “pedra”.
Outro aspecto formal a ser observado recai no quiasmo existente
entre os segundo e quarto versos (“tinha uma pedra no meio do caminho”
e “no meio do caminho tinha uma pedra”, respectivamente), nos quais dá-
se o quiasmo pelo cruzamento de grupos sintáticos paralelos e, no meio
destes, há o verso nico “tinha uma pedra”, que inclui-se ao quiasmo
tomando a posição central. Disso pode-se interpretar que a imagem da
pedra no meio do caminho é reforçada ao isolar-se (destacar-se) a pedra
entre o caminho – ou os caminhos – cruzado pela disposição dos versos
anterior e posterior.
Partindo-se para a segunda estrofe, percebe-se que esta propõe ao
mesmo tempo uma quebra no poema e a retomada da estrofe anterior. A
quebra, na ordem da expectativa frustrada do leitor, acostumado com a
repetição dos versos precedentes, se dá pelos versos “Nunca me
esquecerei desse acontecimento /na vida de minhas retinas tão fatigadas”.
A partir desses versos, o tom de rememoração e subjetividade do eu-
poético surge em oposição à imagem realista da pedra no caminho
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 291
apresentada até então. Na sequência do poema, contudo, tanto a
subjetividade quanto a objetividade unem-se quando há a repetição dessas
duas ideias do poema em um bloco nico: “Nunca me esquecerei que no
meio do caminho /tinha uma pedra /tinha uma pedra no meio do caminho
/no meio do caminho tinha uma pedra.” Mais uma vez, a imagem da
pedra do caminho é reforçada, porém agora atualiza-se na observação
subjetiva do narrador.
Até esse momento, nota-se que as considerações não saíram, por
assim dizer, do texto enquanto estrutura fechada em si, de modo que a
relevância dada aos aspectos linguísticos, estruturais e formais foi capaz
de gerar interpretações plausíveis do poema, no sentido de serem
verificáveis no mesmo. Tais interpretações, por outro lado, não sustentam
toda a obra, mas podem sustentar, ou seja, servir de base, para uma
análise mais completa e satisfatória. A partir desses elementos
considerados, portanto, pode-se questionar os sentidos empregados pelas
imagens principais – senão únicas – da pedra e do caminho. Uma leitura
mais imediata poderia acusar a pedra como símbolo das dificuldades que
o ser humano encontra no caminho, este, por sua vez, analogia para a
vida. Tal leitura simples (e não pejorativamente simplista) parece ser
mesmo uma própria intentio operis, para citar Eco, visto que nesse poema
se mostram talvez mais interessantes as peculiaridades da composição,
gerando o seu efeito estético.
Acrescido a isso, se recuperado um dos intertextos desse poema,
a interpretação até então praticamente reduzida das alegorias logra em
importância. O intertexto, ou seja, o texto com o qual é possível
relacionar o texto primeiro – o poema No meio do caminho de
Drummond –, é A divina comédia, de Dante Alighieri, ou, no caso, os
primeiros versos da obra:
Nel mezzo del camin de nostra vita
mi retrovai por una selva oscura:
ché la viritta via era smarrita.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 292
(A meio caminho de nossa vida
fui me encontrar em uma selva escura:
estava a reta a minha via perdida.)3
Dessa associação intertextual não se evidencia outra leitura senão
a ênfase na pedra drummondiana, agora fortemente considerada em
oposição à “selva” dantesca, a qual é possível transpor, inclusive com a
ajuda de um guia, Virgílio. A pedra, ao contrário, é intransponível, ela
pertence ao caminho (ideia, como já mencionado, dada pelo ver ter em
contraste com o verbo haver, que dá mais mobilidade ao seu objeto
sintático). Assim, pode-se dizer que a leitura alegórica feita somente em
relação ao poema de Drummond, se antes desprivilegiada, adquire maior
significado para o leitor ao ser complementada pela ideia dantesca.
Feitas tais considerações acerca do exemplo literário de
Drummond, faz-se mister apontar para o exercício hermenêutico aqui
apresentado, pensado ciclicamente de modo às conjecturas apontadas
serem verificadas na própria obra, tendo-se que assim pode ser
representada a ideia de limites interpretativos. Tais limites, contudo, não
restringem-se à obra, uma vez que esta é, ao mesmo tempo, “fechada”
como um produto estrutural estético e “aberta” quanto aos seus sentidos,
sentidos esses textuais e/ou intertextuais, todos válidos desde que
ampliem o alcance da obra em questão.
Conclusão
No âmbito do ensino da literatura, a posição do leitor, já
destacada pelas teorias literárias modernas, assume a dimensão do
sujeito-leitor. Com efeito, o presente trabalho vê o sujeito-leitor como
aquele que exerce a leitura com “liberdade consciente”, para citar Eco.
Tal liberdade associa-se diretamente com a autonomia adorniana, o que
consiste basicamente em considerar esse sujeito em formação um
portador de habilidades e capacidade crítica para preocupar-se com a
potencialidade da linguagem, com a coerência dos sentidos produzidos e
ainda com as dimensões sócio-histórico-filosóficas trazidas pelos textos
literários, entendidos também como construtos culturais.
3
Tradução de Ítalo Eugênio Mauro (em A Divina Comédia. São Paulo: Editora
34, 1998. 3 volumes).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 293
Destacado isso, salienta-se que os aspectos teóricos econianos
aqui brevemente apresentados têm por intuito menos pôr em crise os
complexos critérios interpretativos que propor hipóteses conceituais a
serviço do ensino de literatura e da problematização dos contrapontos que
o circundam. Assim, esse trabalho quer assegurar que muito dos estudos
de Eco podem ser empregados pelos professores em benefício da
formação de sujeitos-leitores autônomos e competentes, cuja atuação
deve ser pensada, portanto, a partir da relação com o texto, privilegiando
as “boas” leituras do mesmo. Acrescido a isso, admite-se que, de um
modo geral, ao lidar com o texto enquanto construção linguística e ao
debruçar-se sobre os signos o sujeito-leitor desenvolverá a “alfabetização
literária”, apoderando-se da linguagem artística, tornando-se um usuário
competente, “mesmo que nunca vá escrever um livro: mas porque precisa
ler muitos.” (LAJOLO 1993, p. 106)
Por fim, ainda que toda teoria apresente impasses e limitações, as
poucas proposições de Eco discorridas nesse texto procuram dar conta de
aspectos que possam ser de alguma forma relevantes ao se pensar o
ensino de literatura de forma crítica e analítica. Certamente, outras teorias
também devem ser consideradas, uma vez que a atuação docente
qualificada requer o conhecimento de inúmeros aspectos caros ao ensino.
OPEN WORK, BUT NOT THAT MUCH: INTERPRETATIVE LIMITS AS
COLLABORATORS OF THE EDUCATION OF READERS
Abstract: By identifying the theoretical assumptions that support the limits of
interpretation of the literary text - considered "open" due to its ambiguity and plural
signification -, this work is concerned with some considerations on how such issues
raised by the theory can contribute to the formation of readers. To do so, this work is
supported especially by studies of Umberto Eco, through covering some works by
him who is one of the great thinkers about the artistic significance. Besides Eco, this
work runs over names as Hans Robert Jauss and Hans-Georg Gadamer, emblematic
figures of reception theory and hermeneutics which promote the appreciation of the
reader at the expense of empirical authorship, aspect which goes against the tradition
of teaching literature guided by historical and biographical approaches remainder of
the 19th century. Finally, it is concluded each all literary text at the same time
enhances and limits certain readings, whereas the limits of interpretation are imposed
by inner text. The text, in its turn, is but the object of the reader, who is the subject of
interpretive practice, for whom the limits of meaning should be as important as the
meanings themselves resulting from reading.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 294
Keywords: Literature teaching. Aesthetics of reception. Hermeneutics. Open work.
Readers.
REFERÊNCIAS
ADORNO, Theodor. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1995.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. Rio de Janeiro: Record,
2011.
_____. Uma pedra no meio do caminho: biografia de um poema. Rio de Janeiro:
Editora do Autor, 1967.
BARTHES, Roland. A morte do autor. In: O Rumor da Língua. São Paulo:
Martins Fontes, 2004.
BORDINI, Maria da Glória; AGUIAR, Vera Teixeira de. Literatura: a formação
do leitor: alternativas metodológicas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.
BRITTO JR. Antonio Barros de. A abertura e a indeterminação dos sentidos da
obra literária como possibilidades de revolução nas concepções de mundo do
leitor. XI Congresso Internacional da ABRALIC: Tessituras, Interações,
Convergências. USP - São Paulo, 2008. Disponível em:
http://www.abralic.org.br/anais/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/043/ANT
ONIO_JUNIOR.pdf. Acessado em: 15 de setembro de 2011.
_____. Nem tudo vale: teoria da cooperação interpretativa e dos limites da
interpretação segundo Umberto Eco. 2010. Tese de doutorado. Campinas,
Instituto da Linguagem, Unicamp.
ECO, Umberto. Os limites da interpretação. Tradução de Pérola Carvalho. São
Paulo: Perspectiva, 2010.
_____. Interpretação e superinterpretação. Tradução de Monica Stahel. São
Paulo: Martins Fontes, 1993.
_____. Obra aberta. Tradução de Giovanni Cutolo. São Paulo: Perspectiva,
2007.
_____. Semiótica e filosofia da linguagem. Tradução de Mariarosaria Fabris e
José Luíz Fiorin. São Paulo: Ática, 1991, Série Fundamentos.
_____. Tratado geral da semiótica. 4ª ed. Perspectiva, 2003.
GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica da obra de arte. Seleção e tradução de
Marco Antonio Casanova. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 295
JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria
literária. Tradução de Sérgio Tellaroli. São Paulo: Ática, 1994.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo:
Ática, 1993.
_____. O texto não é pretexto. In: ZILBERMAN, Regina (Org.). Leitura em
crise na escola: as alternativas do professor. 10. ed. Porto Alegre: Mercado
Aberto, 1991. pp. 51-62.
ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e história da literatura. São Paulo:
Ática, 2009.
_____. Recepção e leitura no horizonte da literatura. ALEA: Estudos Neolatinos.
Rio de Janeiro, vol.10, n.1, pp. 85-97, Jan./June. 2008. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/alea/v10n1/v10n1a06.pdf. Acesso em: 5 fev. 2012.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 296
CORPOS LACERADOS: O SACRIFÍCIO DA PALAVRA
NA OBRA POÉTICA DE GEORGES BATAILLE
Alexandre Rodrigues da Costa – FHA 1
RESUMO: Os poemas do pensador francês Georges Bataille afirmam um lugar de
indistinção, onde as palavras se dispersam, ao obliterarem o sentido, ao se tornarem
paródias de si mesmas. Pensar a poesia, nesses termos, é articulá-la não como
interlocução do homem com o mundo, mas como obra a serviço do desespero, no
sentido de que a palavra só pode ser utilizada em função de sua própria perda. Dessa
forma, o sujeito que escreve o poema não apenas destrói o sentido funcional das
palavras, mas também se assassina, no instante em que sua ação leva-o à exclusão, a
um não lugar na coletividade. A escrita de Bataille forma, assim, uma espécie de
texto canceroso, cujas palavras se multiplicam, ao se dispersarem nas suas próprias
feridas, nos cortes que abrem sobre a página. Este artigo objetiva analisar de que
forma os poemas de Georges Bataille criam uma desordem que aponta para um lugar
inominável, onde os sentidos se perdem, já que o poema é levado à condição de
objeto sagrado, no instante em que aquele que o sacrifica nos conduz ao
desconhecido, à angústia de uma nudez a partir da qual a morte se abre soberana,
imune a qualquer projeto ou plano moral.
Palavras-Chave: Sacrifício. Morte. Informe. Nonsense. Bataille.
Ler os poemas de Georges Bataille é o mesmo que estar diante de
uma ferida que não pode ser fechada. Aberta, ela nos obriga a olhar para
a escuridão que nela se esconde, sol negro que lacera a medida, fazendo
da página o espaço do desvio, da transgressão. Cada palavra, aí, mostra
seus interstícios, a noite que a rodeia, a imensidade de sua própria
sombra. Os poemas de Bataille, nesse sentido, nos cegam, não com uma
suposta beleza idealizada, concebida pelos jogos da razão. Não, seus
poemas nos cegam com o desequilíbrio do verso, a insuficiência e a
desfiguração de suas palavras. Rasgadas, elas não se prendem a um
sentido claro e definido, mas se oferecem, ambivalentes, como naturezas
informes. Como Bataille nos diz em uma das edições de Documents:
Um dicionário começa quando ele não mais fornece o significado
das palavras, mas suas funções. Assim, o informe não é apenas um
adjetivo que dá um significado, mas um termo que serve para
1
Fundação Helena Antipoff. Faculdade de Letras. Ibirité. Minas Gerais. Brasil.
CEP: 32400-000. E-mail: rodriguescosta@hotmail.com.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 297
desclassificar todas as coisas, exigindo que cada uma delas tenha a
sua forma. O que o informe designa é o incerto que se espalha por
todos os lugares, como uma aranha ou um verme. De fato, para os
acadêmicos serem felizes, o universo precisaria ganhar forma. Todos
os filósofos não têm outro objetivo: a matéria deve servir como um
terno, um terno matemático. Por outro lado, ao se afirmar que o
universo se assemelha a nada, somente o informe é relevante para se
dizer que o universo é algo como uma aranha ou catarro.
(BATAILLE, 1970, p. 217)
Aquele que se atreve a ler os poemas de Bataille depara-se,
portanto, com essa zona incerta, onde a lógica e a racionalidade não têm
mais espaço, onde a gargalhada, o delírio e a sujeira imperam como um
processo de contra-operação: “a prática de uma atitude de pensamento
fadada ao fracasso, descontentamento e imperfeição. Nada mais do que
uma resistência contra os tediosos e formativos efeitos do pensamento
racional” (BILLES, 2007, p. 28). Nesse sentido, a contra-operação é uma
atitude que busca propositalmente a imperfeição, o fracasso, como forma
de tornar indistinguíveis o sagrado e o profano. Ela é o próprio informe
colocado em ação, uma vez que a distinção não tem mais vez e o que
prevalece é o que podemos chamar de orgia da forma. O ataque que
Bataille dirige aos acadêmicos consiste exatamente em criticar os moldes,
os limites impostos pelos vários campos do conhecimento, o “terno
matemático” de que ele nos fala. O informe assinala, portanto, a
desistência de dominar a matéria. Mas para que se vá ao encontro dessa
matéria informe, é necessário abraçar os caminhos da transgressão. E
para que a transgressão ocorra, a contradição deve ser percebida como a
afirmação daquilo que é profano, ou seja, a nossa própria existência. No
instante em que o pensamento se volta para o dualismo, não há espaço
para conciliação ou redenção, mas para o fracasso. Por isso, pensar e
conceber o poema sob os desígnios do informe deixa, na página, como se
fosse ferida, uma palavra sempre aberta, fundada no descontínuo, no
fragmentário. O desconhecido, aquilo que não tem resposta, passa a
dominar a linguagem e o que se estabelece é uma tensão não resolvida
entre nascimento e morte, entre o transitório e o permanente. Longe de
uma síntese, o informe abraça simultaneamente os dois termos, sem que
haja uma conclusão, um fim.
O informe, portanto, não pode ser fechado em uma definição
precisa, pois fazer isso seria ir contra a proposta de Bataille, que é a de
romper com os significados dicionarizados, catalogados. Ao se encarar o
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 298
informe como uma operação, os significados das palavras se tornam
deslizantes, escorregadios, à imagem da aranha ou do catarro. Os limites,
aí, são rompidos, em favor da contestação da ordem, daquilo que é dado
como certo. Não há mais um centro, no qual a razão se estabeleça, ao
contrário, é o incerto que passa a ser o fundamento da existência, no
momento em que as linhas que delimitam o contorno desabam e interno e
externo se confundem. O informe representa, assim, o colapso da
identidade pensada em termos cartesianos, pois permite a imbricação
entre sujeito e objeto, um golpe no discurso lógico e na razão.
Ao dizermos que somente o informe é relevante para se entender
que o universo se assemelha a nada, estamos muito próximos de outro
termo caro a Bataille: o impossível. O impossível (L’Impossible) é o
nome dado à segunda edição do texto originalmente intitulado Ódio da
poesia (Haine de la poésie). O livro é constituído de três partes: “Uma
história de ratos”, “Dianus” e “A Oresteia”. A ltima parte, na primeira
edição de 1947, abria o livro. Ela se constitui basicamente de poemas e de
textos voltados para a reflexão poética. A mudança da ordem do livro
assim como a de seu título são significativas e, em sua explicação do
porquê de tê-las efetuado, Bataille nos dá pistas para o entendimento de
qual a relação entre o impossível e o ódio da poesia:
A primeira vez que publiquei este livro quinze anos atrás, dei-lhe um
título obscuro: Ódio da poesia. Pareceu-me que a verdadeira poesia
só poderia ser alcançada pelo ódio. A poesia não possui nenhum
significado poderoso a não ser pela violência da revolta. Mas a
poesia apenas alcança essa violência pela evocação do impossível.
Quase ninguém entendeu o significado do primeiro título, é por isso
que eu preferi finalmente chamá-lo de O Impossível. (BATAILLE,
1971, p. 101)
Ao ligar o ódio da poesia à violência da revolta, Bataille articula
uma poesia baseada na subversão, naquilo que escapa do reinado da
ciência, do útil, do real. Para entender a relação do ódio da poesia com o
impossível, devemos ter em mente que o impossível concebido por
Bataille é o que se impõe acima de todos os direitos, “uma convulsão que
envolve todo o movimento dos seres, [...] que vai do desaparecimento da
morte à fúria voluptuosa que, talvez, seja o significado do
desaparecimento” (BATAILLE, 1971, p. 102). Essa f ria voluptuosa se
baseia em um contínuo movimento de resistência à satisfação. Seu alvo
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 299
nada mais é do que a própria forma, entendida em termos de perfeição
humana. O impossível, nesse sentido, é o ilimitado, aquilo que se oferece
acima de todas as restrições. Quando Bataille escreve, no prefácio de A
literatura e o mal, que a literatura é uma forma penetrante do mal e que
para nós ela tem o valor soberano (BATAILLE, 1989, p. 9-10), podemos
concluir que para alcançar essa soberania, a literatura deve se utilizar da
violência como uma maneira de quebrar a integridade dos corpos e das
coisas, permitindo que a poesia se cumpra em contradição permanente,
levada ao limite do impossível. Por isso, a literatura, pensada em termos
de soberania, começa quando a possibilidade da vida abre-se sem limite;
de acordo com Maria Christine Lala, “Bataille, através da prática do
comportamento soberano, remove a barreira do limite que é imposto, no
sentido de resgatar o sentido autêntico do sagrado, e o sentido verdadeiro
da poesia retornado como o seu oposto” (LALA, 1995, p. 113). Esse
sentido autêntico do sagrado está na coexistência dos contrários, na
integração e desintegração das formas, naquilo que é o próprio objeto de
horror:
O que é sagrado, sem dúvida, corresponde ao objeto de horror do
qual eu falei, um fétido, pegajoso objeto sem limites, que está
repleto de vida e ainda é o signo da morte. É a natureza a ponto onde
sua efervescência reúne intimamente a vida e a morte, onde está a
morte devorando a vida com substância descomposta. (BATAILLE,
1976, p. 83)
A poesia vista como uma das formas do sagrado não é apenas
uma mera representação da reunião de forças contrárias, mas a própria
presença delas, no instante em que se torna resto, “pegajoso objeto sem
limites”. Mas como conceber a poesia como resto, nutrir seu discurso
com um ódio capaz de lhe dissolver as formas a ponto de os seus
significados se tornarem monstruosos, irreconhecíveis? Em A noção de
despesa, livro que constitui a primeira parte de A parte maldita, Georges
Bataille relaciona o sagrado a um estado de perda: “O sacrifício não é
outra coisa, no sentido etimológico da palavra, que não a produção de
coisas sagradas (...) antes de tudo, fica claro que as coisas sagradas são
constituídas por uma operação de perda” (BATAILLE, 1975, p. 31). Mas
como se dá essa operação de perda no objeto sagrado? Na Teoria da
religião, um dos livros que compõem a Suma ateológica, Bataille nos
explica de que maneira um ser, na condição de coisa, torna-se sagrado:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 300
O princípio do sacrifício é a destruição, mas, ainda que algumas
vezes ele chegue a destruir inteiramente (como no holocausto), a
destruição que o sacrifício quer operar não é o aniquilamento. O que
o sacrifício quer destruir na vítima é a coisa – somente a coisa. O
sacrifício destrói os laços de subordinação reais de um objeto,
arranca a vítima ao mundo da utilidade e a entrega ao do capricho
ininteligível. (BATAILLE, 1993, p. 37)
Talvez, por isso, não seja estranho que Bataille aborde a questão
da identidade em um texto ao qual dá o título de “Sacrifícios”. Ao longo
da leitura desse texto, não encontramos qualquer referência explícita aos
rituais de sacrifício. O tema do texto perpassa pela noção de identidade,
de um eu que se debruça sobre o vazio ante a iminência da morte. Na
verdade, o que Bataille faz, ao abordar a experiência do eu e de sua
improbabilidade, é discutir de que forma a morte não se opõe à
existência, já que “a aproximação da podridão liga o eu-que-morre à
nudez da ausência” (BATAILLE, 1973, p. 87). Se o eu se projeta para
fora de si, criando, assim, o objeto de sua paixão, em oposição a esse
objeto está a catástrofe, pois “o pensamento vive a aniquilação que o
constitui como uma vertiginosa e infinita queda, e assim não tem somente
a catástrofe como seu objeto, sua estrutura é a catástrofe, ela se absorve
no nada que a suporta e ao mesmo tempo deixa escapar” (BATAILE,
1970, p. 94). O sacrifício seria, portanto, o momento em que, para o eu-
que-morre, é revelada a existência ilusória do eu, a inutilidade dos objetos
que o rodeiam, como se tivesse diante dele “os preparativos de uma
execução, já que a existência das coisas não pode fechar a morte que ela
traz, mas que ela mesma se projetou nessa morte que a encerra”
(BATAILE, 1970, p. 96). A destruição do eu é o sacrifício que o liberta.
Nesse sentido, a irrealidade do mundo deve ser corroída, para que a
natureza da existência esteja em concordância com a natureza extática do
eu-que-morre.
A forma como Bataille articula esse tipo de sacrifício em sua obra
se faz a partir da unificação entre aquele que sacrifica, o sacrificador, e o
que é sacrificado, a vítima. A aspiração de Bataille por “inventar uma
nova forma de crucificar a si mesmo” (BATAILLE, 1973, p. 257) se dá
como resposta a duas opções frente ao sacrifício: “a tragédia propõe ao
homem identificar-se com o criminoso que mata o rei; o cristianismo
propõe identificar-se com a vítima, com o rei destinado a morrer”
(BATAILLE, 1995, p. 196). A saída para essa antinomia, Bataille a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 301
encontra no mito de Dianus, nome que utilizou como pseudônimo na
primeira edição de O culpado e personagem-narrador em O Impossível. A
escolha por Dianus reúne tanto a figura dionisíaca do acéfalo quanto a de
Cristo, não a figura institucionalizada pela Igreja Católica, mas a vítima
sacrificial cujo renascimento advém do corpo sujo, excremental,
mutilado. Dessa forma, o mito de Dianus dá a Bataille tanto a chance de
unificar esses opostos quanto de questionar a ambivalente natureza do eu.
De acordo com Sir James George Frazer, em O Ramo de ouro, Orestes
teria sido o primeiro Dianus, pois, ao chegar ao bosque de Nemi,
assassinou o sacerdote que lá reinava e estabeleceu o culto à deusa Diana.
Esse ato deu início a um estranho ritual: aquele que assassinasse o
sacerdote seria também assassinado por seu sucessor. Dessa forma, o
indivíduo se tornava ao mesmo tempo assassino e sacerdote, sacrificador
e vítima. Bataille concebe o sacrifício como uma forma de apagar as
fronteiras existentes entre o eu-que-mata e o eu-que-morre. É o que
podemos constatar em um pequeno poema chamado “O livro”:
Eu bebo em tua ferida
e estendo tuas pernas nuas
eu as abro como um livro
onde leio o que me mata. (BATAILLE, 2008, p. 149)
O encontro amoroso se dá através dessa ferida, na qual o sujeito
faz do ler não uma forma de domínio sobre o outro, mas de perda, de tal
forma que o assassino e sua vítima tornam-se indiscerníveis. O
dilaceramento (déchirure) rompe com a homogeneidade pessoal, projeta
para o exterior um eu que nega a sua própria existência a partir da relação
que mantém com o outro. Bataille deixa isso bem claro quando se nomeia
Dianus, em O culpado: “aquele que se chamava Dianus escreveu estas
notas e morreu” (BATAILLE, 1973, p. 239). Como bem observa
Alexander Irwin, Bataille, “ao escrever sua experiência interior, é tanto
soberano e assassino, renegado matador de deuses e salvador auto-
aniquilante” (IRWIN, 2002, p. 31). Nesse sentido, esse poema, assim
como outros de Bataille, pode ser lido como um sacrifício, no qual os
papéis de sacrificador e vítima são unificados a partir de um gesto em que
vida e morte não se opõem, se complementam: “o sacrifício é a vida com
a morte confundida” (BATAILLE, 1980, p. 79). A ang stia da vítima e a
do assassino se tornam a mesma, pois, para que haja sacrifício, é
necessário antes de tudo que ocorra uma identificação entre eles. Pois se a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 302
vítima é o objeto e o sacrificador, o indivíduo, a destruição do objeto
acarreta a desintegração da identidade dos envolvidos. Já que o matar e o
morrer são solidários, não há destruição do objeto, se não houver objeto e
aquele que exerce o trabalho de destruí-lo: “A morte desorganiza a ordem
das coisas e a ordem das coisas nos mantém. O homem tem medo da
ordem íntima que não é conciliável com a das coisas” (BATAILLE,
1993, p. 43). A arte, tudo aquilo que é engendrado tendo em vista a
poeisis, é a própria materialização da angústia, no sentido de que
compactua com morte, ao destruir todo e qualquer aspecto de utilidade de
sua formação. O eu que participa desse processo é ao mesmo tempo o
sacrificador e a vítima, já que o que está em jogo é a dissolução de sua
identidade, que se realiza como estado de perda:
O termo poesia, que se aplica às formas menos degradadas, menos
intelectualizadas da expressão de um estado de perda, pode ser
considerado como sinônimo de despesa: significa, com efeito, do
modo mais preciso, criação por meio da perda. Seu sentido, portanto,
é vizinho do de sacrifício. (BATAILLE, 1975, p. 32)
Para aquele que faz o poema não há qualquer retorno material,
uma vez que o risco aí assumido exige que empenhe sua própria
existência na representação de seus escritos. Isso não quer dizer que o
poema seja uma cópia ou reflexo de seu criador, mas um resíduo, matéria
destruída, palavras sagradas “limitadas ao nível de beleza impotente, que
retiveram o poder de manifestar toda soberania” (BATAILLE, 1988, p.
342). O furor de escrever coloca-se assim a serviço do desespero, no
sentido de que a palavra só pode ser utilizada em função de sua própria
perda, do abismo que cava. Dessa forma, o sujeito que escreve o poema
não apenas destrói o sentido funcional das palavras, mas também se
assassina, no instante em que sua ação leva-o à exclusão, a um não-lugar
na coletividade. Poderíamos arriscar a dizer, invertendo o postulado de
Keats de que o poema é a máscara do poeta, que, na verdade, o poema é
onde ele se sacrifica, onde sua identidade não desaparece, mas é
despedaçada, para que, a partir de suas carnes, seus ossos, suas vísceras, o
poema surja.
O resultado disso tudo é que os textos de Bataille podem ser
vistos como orgânicos. Conforme bem observa Denis Hollier, o próprio
dicionário crítico de Bataille se ampara em um discurso anatômico-
analítico: “cada artigo, de fato, desloca o corpo, isola o órgão que trata e
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 303
desconecta-o de seus suportes orgânicos, transformando-o no lugar de
uma concentração semântica através da qual a parte ganha o valor que
está amarrado ao todo” (HOLLIER, 1989, p. 78). Cada artigo, assim,
desarticula o todo, criando insubordinação, ao fazer com que as relações
hierárquicas desabem frente à parte isolada. Em vez de se apagar no todo,
a parte se torna aquilo que Hollier chama de “obscenidade fragmentária”.
Verbetes tais como o dedão do pé, o olho, a boca, que Bataille cunhou
para o dicionário, são exatamente onde o discurso anatômico ganha
forma, já que a parte, agora isolada do corpo, não tem mais o propósito de
servi-lo como fundamento de uma imagem nica, integral: “O dicionário
crítico, em Documents, através de concentrações semânticas, produz um
tipo de ereção simbólica do órgão descrito, uma ereção da qual, no fim, o
órgão, como que se por cissiparidade, se desprende de seu suporte
orgânico” (HOLLIER, 1989, p. 79). Mas é possível perceber que essa
visão fragmentada do corpo não se restringe ao dicionário crítico. Em
alguns poemas que compõem O Arcangêlico, Bataille isola partes do
corpo, de tal forma que elas se tornam seres autônomos:
Um longo pé nu sobre minha boca
um longo pé contra o coração
pé de whisky
pé de vinho
pé louco para esmagar
ó meu chicote ó minha dor
calcanhar suspenso me pisando
choro por não morrer
ó sede
insaciável sede
deserto sem saída (BATAILLE, 2008, p. 34)
Liberto do corpo, o pé não se sustenta como uma metáfora, uma
imagem em substituição a outra, mas como aquilo que oblitera o sentido,
rompe com a ordem do discurso. Dessa forma, o pé deve ser apenas o pé;
desprendido do corpo, ele se torna bêbado, sem direção, esmagando todo
e qualquer sentido, abrindo caminho para o nonsense. Ora, o nonsense é o
que possibilita nutrir o discurso poético com um ódio capaz de lhe
dissolver as formas, de maneira que suas imagens se tornem desfiguradas,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 304
quase inapreensíveis. Para entender melhor como essa desfiguração se dá,
talvez seja interessante nos determos em uma passagem de O Impossível,
no qual Bataille escreve: “a poesia que não se eleva ao nonsense da
poesia é apenas o vazio da poesia, é apenas poesia bonita” (BATAILLE,
1971, p. 220). Para evitar essa poesia bonita, o poeta deve escapar do
mundo do discurso e aceitar o excesso como “o plano onde cada
elemento se converte em seu contrário incessantemente” (BATAILLE,
1971, p. 219). O que se tem, portanto, é uma desordem a partir da qual a
linguagem encontra o nonsense, aquilo que excede o mundo das
consequências felizes. É o nonsense, na concepção de Bataille, que
possibilita que o sentido se quebre e fique suspenso, que o poema não se
torne apenas uma coisa bonita, em conformidade com o vazio do que é
útil.
O nonsense seria, assim, uma forma de quebrar, internamente, as
engrenagens do discurso. É o que podemos ler em A oréstia: “eu me
aproximo da poesia: mas perdê-la” (BATAILLE, 1971, p. 218). Aqui, a
tradução não dá conta da violência contida no verbo manquer, uma vez
que ele pode ser traduzido não só como perder, mas também como
desfigurar, desrespeitar, estragar, falhar, faltar, ofender. A aproximação
da poesia resulta, portanto, no ódio a ela. A partir desse ódio, o discurso é
reduzido a restos, de tal maneira que a linguagem fracassa, desmorona.
Estamos, assim, no extremo do possível, onde a necessidade de dilacerar
o discurso nos remete a um lugar de extravio, de não saber. Em vez de
comunicar algo, o poema se afirma naquilo que escapa ao entendimento.
Seu fim é a imperfeição: “o sentimento que tenho do desconhecido do
qual falei é sombriamente hostil à ideia de perfeição (a servidão mesma, o
‘deve ser’)” (BATAILLE, 1972, p. 16). Se o poema é imperfeito e foge à
utilidade, o desconhecido é tanto aquilo que o ampara quanto o que se
projeta dele como horizonte do impossível. No entanto, o desconhecido
que o poema nos oferece não surge do nada: “o poético é o familiar
dissolvendo-se no estranho, e nós mesmos com ele. Ele nunca nos
desapossa totalmente, pois as palavras, as imagens dissolvidas, estão
carregadas de emoções já sentidas, fixadas a objetos que as ligam ao
conhecido” (BATAILLE, 1972, p. 17). Para que o poema se torne
desfigurado, maldito, é necessário que suas palavras tenham o sentido
obliterado, se tornem inacessíveis, de maneira que jamais constituam um
caminho a ser trilhado a fim de se alcançarem determinados objetivos, o
que seria a total rendição do poema ao discurso lógico, utilitário do dia a
dia:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 305
Dente de ódio
tu és maldita
quem é maldita pagará
tu pagarás tua parte de ódio
o horrível sol tu morderás
quem é maldito morde o céu
comigo tu rasgarás
teu coração amado de pavor
teu ser estrangulado de tédio
tu és amiga do sol
não há nenhum repouso para ti
teu cansaço é minha loucura (BATAILLE, 2008, p. 49)
A angústia, que o poema gera a partir do desconhecido, não
ocorre de repente, ela se faz na gradual desfiguração do mundo ao nosso
redor. A perda de sentido do poema, o nonsense, é a entrada ao
desconhecido, mas isso não quer dizer que o conhecido seja esquecido: “a
imagem poética, mesmo se ela leva o conhecido ao desconhecido,
prende-se, no entanto, ao conhecido que lhe dá corpo, e ainda que ela o
dilacere e dilacere a vida nessa dilaceração, se fixa a ele” (BATAILLE,
1971, p. 170). Dilacerar o conhecido não é negar-lhe a existência, mas
deslocá-lo, deformá-lo, de tal maneira que o discurso lógico que o cerca
desabe. Nesse sentido, de acordo com Bataille, “a poesia é um termo
mediador, ela esconde o conhecido no desconhecido” (BATAILLE, 1971,
p. 222), ou seja, a angústia que o poema nos oferece surge da tensão entre
aquilo que nos é familiar e o que nos foge à compreensão. Como um
“entre” a poesia conjuga duas realidades, o conhecido e o desconhecido,
sem chegar a uma síntese. À continuidade de uma palavra interrupta,
esférica, surge a necessidade de uma linguagem de ruptura, descontínua,
fundada na fragmentação. O desconhecido, a questão sempre aberta, se
estabelece nessa tensão não resolvida entre a continuidade e a
descontinuidade.
A poesia, articulada como forma de transgressão, seria, assim, o
movimento sem fim, no qual o texto se torna, pelo excesso, fracasso. O
discurso poético, nesse sentido, não é só a possibilidade de conjugar o ser
pela subtração, determinado por “um poder, que tudo pode, pode
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 306
inclusive isso, suprimir-se como poder” (BLANCHOT, 2007, p. 192),
mas a afirmação da obra que se constrói por suas ruínas, por sua
incompletude, pela proposital incapacidade de se sustentar em seu dizer.
O poema, dessa forma, se concretiza a partir de um errar que o mantém
no limite de um não saber, pergunta aberta pelo infinito da questão:
“poder enfim não saber nada, ou antes, se eu não sei nada, é que nenhuma
questão pode ser feita” (BATAILLE, 1988, p. 530). O ódio à poesia
torna-se então esse tempo sempre presente, no qual os limites da forma
desmoronam, para nos lançar nessa afirmação que não se afirma, que é a
morte.
A escrita de Bataille forma assim uma espécie de texto canceroso,
cujas palavras se multiplicam, ao se dispersarem nas suas próprias
feridas, nos cortes que abrem sobre a página. Daí a proliferação de
sentido, já que nesse texto orgânico, o câncer não só ameaça a
continuidade como causa rupturas ao longo do discurso. O texto se torna
um mergulho no desconhecido, o que é possível apenas quando se tem
em mente que o nonsense é uma forma de levar a palavra a se afirmar
além de si mesma. O que temos, então, são palavras cegas que dilaceram
o discurso lógico, à medida que o entendimento é levado à exaustão de
seus sentidos. Mas para que se chegue a essa palavra cega, é necessário
alcançar o limite onde o não saber é ainda saber:
Há no entendimento um ponto cego (tache aveugle): que lembra a
estrutura do olho. No entendimento, como no olho, só se pode
percebê-lo com dificuldade. Mas, enquanto o ponto cego do olho é
sem consequência, a natureza do entendimento quer que o ponto
cego tenha, em si mesmo, mais sentido do que o próprio
entendimento. Na medida em que o entendimento é auxiliar da ação,
o ponto é aí tão negligenciável quanto ele o é no olho. Mas, na
medida em que o homem considere a si mesmo, no conhecimento, eu
diria uma exploração do possível do ser, o ponto absorve a atenção:
não é mais o ponto que se perde no conhecimento, mas o
conhecimento nele. A existência dessa forma fecha o círculo; mas ela
não pôde fazê-lo, sem incluir a noite, de onde ela só sai para retornar
a ela. Como ia do desconhecimento ao conhecido, lhe é necessário se
inverter no topo e retornar ao desconhecido. (BATAILLE, 1973, p.
129)
Nesse ponto cego, que o conhecimento negligencia, a palavra
mergulha na escuridão, ultrapassa a medida de si mesma, para chegar ao
outro lado do discurso, de forma a se exceder naquilo que a mantém viva:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 307
o sentido. É o que nos diz Bataille em O Impossível: “Quando aceitar a
poesia troque-a pelo seu contrário (ela se torna mediadora de uma
aceitação)” (BATAILLE, 1971, p. 218). Esse contrário da poesia, sua
contraparte mediadora, se estabelece, quando a palavra se torna cega, ou
seja, a partir da multiplicidade e do esgotamento de seus sentidos. Se a
poesia torna-se mediadora, no sentido de que se abre à heterogenia, a
metáfora já não tem obrigatoriamente a função de estabelecer identidade
entre os seres, pois o que se quer é a indistinção das coisas, o entre-lugar
onde a reversibilidade rompe com a integralidade da palavra,
comprometendo os seus significados. Apaga-se a identidade, impede-se a
transposição. Cega, a palavra abraça o excesso, o equívoco, até se tornar
perda. Mas isso não quer dizer que a transposição desapareça, pois, na
verdade, ela se abre múltipla, emaranhada em si mesma.
Os poemas de Bataille nos levam para esse lugar de perda, onde o
desconhecido se afirma a partir dos destroços do discurso lógico. O que
se revela, assim, é uma desordem amparada na morte, na desintegração
que esta proporciona, no instante em que a palavra desorienta, rompe com
a medida dos significados. O nonsense passa a ser o questionamento de
todas as coisas indiferentes ao fracasso, ao desejo de se dilacerar naquilo
que nos olha e buscamos ver, já que o desconhecido mantém a estranheza
mesmo quando algo nos é familiar. A angústia gerada por esse
movimento articulado pelo desconhecido se fundamenta, portanto, em
uma palavra inacabada, aberta àquilo que a questiona, sendo ela questão
que não se formula, que se perde na morte que nomeia, ao evocar o que
está além. É a ang stia do enigma, do “eu” transformado em esfinge. A
palavra, nessa perspectiva, não é salvadora, mas, antes, desnorteadora,
pois o enigma se funde a ela, de tal forma que a escrita se realiza pela
impossibilidade de assinalar qualquer resposta e pela própria falta que a
mantém. Finita e ilimitada, a palavra poética oferece em sacrifício as
coisas que nos traz, sob a condição de colocá-las sob nossas sombras, de
fazer de nossos questionamentos os labirintos nos quais as perderemos:
INSIGNIFICÂNCIA
Adormeço
a agulha
de meu coração
choro
uma palavra
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 308
que perdi
abro
o contorno
de uma lágrima
onde a madrugada
morta
se cala. (BATAILLE, 2008, p. 129)
No poema acima, retirado dos Poemas eróticos, o espaço das
palavras passa a ser o da perda, no qual todas as representações se
ajustam a partir da noite, da morte. As palavras que compõem os versos
“a agulha/de meu coração” só podem existir como imagens precárias,
solicitadas apenas para morrer. Por isso, na palavra perdida, o que se quer
é o ilimitado, aquilo que soberanamente não se restringe a nenhuma
forma. A morte, assim, desempenha um papel crucial no poema, pois é
ela que permite não só que as identidades sejam apagadas, mas que o
impossível, o contorno rompido de uma lágrima, possa existir. Em A
parte do fogo, Blanchot diz: “somente a morte me permite agarrar o que
quero alcançar; nas palavras, ela é a nica possibilidade de seus sentidos”
(BLANCHOT, 1997, p. 312). Assim, as palavras apontam para a morte, a
partir do momento em que não somos mais capazes de nos apoiar sobre o
significado do poema. A escrita nos oferece um entendimento da morte
não como algo similar à palavra, mas como parte integrante dela, de tal
forma que morte e palavra nos levam a questionar o próprio saber, tendo
o ser como lacuna de si mesmo. Mas, para isso, é necessário esclarecer
que essa escrita só pode se articular a partir de sua própria incompletude.
Esse sentido de incompletude torna-se evidente na escrita de Bataille, no
instante em que, inapreensível, a morte torna-se representação que excede
a própria representação, questão que ultrapassa a possibilidade de
questionar. A morte seria, assim, uma forma de evitar que o poema se
torne um mero discurso amparado em um jogo de semelhanças, uma vez
que ela desarma todo arcabouço teórico e nos oferece apenas um campo
de impossibilidades, de experiências desfeitas.
Dessa forma, os poemas de Bataille geram uma angústia que é,
antes de tudo, o não saber. O não saber, segundo Bataille, desnuda, revela
o que até então o saber escondia. Ver através do não saber é deixar que o
nonsense impere. Daí a angústia da falta de explicação, de o porquê de as
coisas se apresentarem como são. Ao contrário do célebre aforismo de
Nietzsche, “aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 309
tornar também um monstro”, os poemas de Bataille parecem afirmar que
“o ódio à poesia” é aquilo que nos incita a correr o risco de olhar para o
abismo, sabendo que podemos nos transformar em monstros. O poema é
a materialização desse abismo, e sua monstruosidade, sua desfiguração,
em vez de nos assustar, é o que nos leva a aceitá-lo como espaço de
perda, onde as palavras têm o seu sentido contestado e onde nos
perdermos, dilacerados, tão incompletos quanto podemos ser.
LACERATED BODIES: THE SACRIFICE OF THE WORD
IN THE POETIC WORK OF GEORGES BATAILLE
Abstract: The poems of the french thinker Georges Bataille affirm a place of
indistinction, where words are dispersed, when they obliterate the sense, to become
parodies of themselves. Think the poetry in these terms is not articulate it more as a
dialogue between man and the world, but as the work in the service of despair, in the
sense that the word can only be used according his own loss. Thus, the subject who
writes the poem not only destroys the functional sense of the words, but also it
suicides at the instant that its action leads to exclusion, a non-place in the
community. The writing of Bataille thus forms a kind of cancerous text, which words
are multiplied, when they disperse themselves in their wounds, in the cuts which are
opened on the page. Therefore, this paper aims to examine how Georges Bataille's
poems create a disorder that points to an unnamed place where the senses are lost,
since the poem is brought to a condition of sacred object, at the instant who sacrifices
it leads us to the unknown, the anguish of a naked, from which death opens itself
sovereign, immune to any project or moral scheme.
Keywords: Sacrifice. Death. Formless. Nonsense. Bataille.
BIBLIOGRAFIA
BATAILLE, Georges. Oeuvres complètes I. Paris: Gallimard, 1970.
_______________. Oeuvres complètes III. Paris: Gallimard, 1971.
_______________. Oeuvres complètes V. Paris: Gallimard, 1973.
_______________. Oeuvres complètes VIII. Paris: Gallimard, 1976.
_______________. A parte maldita. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de
Janeiro: Imago, 1975.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 310
_______________. O erotismo. Tradução de João Bénard da Costa. Lisboa:
Antígona, 1980.
_______________. Oeuvres complètes XII. Paris, Gallimard, 1988.
_______________. A literatura e o mal. Tradução de Suely Bastos. Porto Alegre:
L&PM, 1989.
_______________. A experiência interior. São Paulo: Editora Ática, 1992.
_______________. Teoria da religião. Tradução de Sergio Góes de Paulo e Viviane
de Lamare. São Paulo: Editora Ática, 1993.
_______________. Le pouvoir. In: Le Collège de Sociologie: 1937-1939.
Organizado e apresentado por Denis Hollier. Saint-Amand: 1995.
_______________. L’Archangélique et autres poèmes. Préface de Bernard Noel.
Paris: Galllimard, 2008.
BILLES, Jeremy. Ecce monstrum: Georges Bataille and sacrifice of form. New
York: Fordhan University Press, 2007.
BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Tradução de Ana Maria Scherer. Rio de
Janeiro, 1997.
_______________. A besta de Lascaux. Tradução de Silvina Rodrigues Lopes.
Edições Vendaval, 2003.
DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na
Austrália. Tradução de Paulo Naves. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
FRAZER, Sir James George. O Ramo de ouro. Prefácio: Professor Darcy Ribeiro.
Tradução: Waltensir Dutra. Zahar Editores, 1982.
HOLLIER, Denis. Against architecture: the writings of Georges Bataille. Translated
by Besty Wing. Massachusetts: The MIT Press, 1989.
IRWIN, Alexandre. Saints of the impossible: Bataille, Weil, and the politics of the
sacred. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002.
LALA, Marie-Christine. The hatred of poetry in Georges Bataille’s writing and
thought. In: Bataille: writing the sacred. Edited by Carolyn Bailey Gill. New York:
Routledge, 1995.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 311
MANOEL DE BARROS E A BUSCA PELO
REENCANTAMENTO DA LINGUAGEM
Suzel Domini dos Santos – UNESP 1
Susanna Busato – UNESP 2
Resumo: O presente artigo analisa, com base nas ideias filosóficas de Walter
Benjamin acerca da linguagem, alguns poemas de Manoel de Barros que trazem
a reflexão sobre a poesia enquanto possibilidade de restabelecimento da
linguagem do homem que ocupa o tempo mítico que precede a história,
linguagem caracterizada pela capacidade mágica de nomeação.
Palavras-Chave: Manoel de Barros. Linguagem Adâmica. Metalinguagem.
A partir do século XIX, o modo de vida capitalista e burguês
estende-se pelo ocidente de forma definitiva e dominante, passando a
determinar com vigor, num movimento de expansão desenfreada ao
longo do tempo e do espaço, o pensamento, a cultura, a economia, a
organização social, a política ocidental. Os mecanismos do interesse pelo
lucro e pela produtividade, por extensão, engolem também “as almas e os
objetos”, como afirma Bosi (2010, p. 164) do interior de sua posição
nostálgica.
Dentro desse universo que fertilizou o individualismo e a
abstração e colocou em perspectiva de utilidade e valor de troca também
o que é da ordem do humano, a poesia sofre um processo de
marginalização e desponta como resistência. Assumindo uma postura de
reação ao mundo, a poesia recolhe os resíduos da vida moderna e passa a
atuar como instrumento de luta pelo restabelecimento da comunidade, da
vida em comunhão do homem com o homem, consigo mesmo e com a
natureza.
1
UNESP – Universidade Estadual Paulista “J lio de Mesquita Filho”. Instituto
de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Mestranda em Teoria da Literatura. São
José do Rio Preto – SP – Brasil – 15054-000 – su.domini@yahoo.com.br.
2
UNESP – Universidade Estadual Paulista “J lio de Mesquita Filho”. Instituto
de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Departamento de Estudos Linguísticos
e Literários. São José do Rio Preto – SP – Brasil – 15054-000 –
susanna@ibilce.unesp.br.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 312
Como não se configura como produto vendável e não se presta à
publicidade, a poesia tornou-se, nesse contexto, a “outra voz” (PAZ,
1976, p. 228): a voz que, à margem, flagra as moléstias da modernização.
Acuada, a poesia lança foco sobre si mesma, parecendo “condenada a
dizer apenas aqueles resíduos de paisagem, de memória e de sonho que a
ind stria cultural ainda não conseguiu manipular para vender”, defende
Bosi (2010, p. 165). Ainda de acordo com o autor, a poesia moderna foi
induzida à estranheza e ao silêncio pelas pressões do meio histórico-
cultural: as “formas estranhas pelas quais o poético sobrevive em um
meio hostil ou surdo não constituem o ser da poesia, mas apenas o seu
modo historicamente possível de existir no interior do processo
capitalista.” (p. 165).
Diante de um mundo configurado pela modernização material
(BERMAN, 1986), mundo que os poetas modernos enquanto pensadores
de seu próprio tempo consideram em derrocada, a poesia, exercendo o
papel de instrumento de resistência, assume muitas faces:
Ora propõe a recuperação do sentido comunitário perdido (poesia
mítica, poesia da natureza); ora a melodia dos afetos em plena
defensiva (lirismo de confissão, que data, pelo menos, da prosa
ardente de Rousseau); ora a crítica direta ou velada da desordem
estabelecida (vertente da sátira, da paródia, do epos revolucionário,
da utopia). (BOSI, 2010, p. 167; grifos no original)
Manoel de Barros, poeta brasileiro contemporâneo, constrói em
sua obra uma preocupação especial com relação ao fazer poético,
característica que insere sua poesia em uma perspectiva auto-reflexiva. A
poesia barrosiana é repleta de experimentalismos, a palavra é o foco da
criação e a exploração de suas potencialidades ocorre o tempo todo. A
reflexão acerca da própria linguagem é expressa, principalmente, pelo uso
marcado da metalinguagem e, assim, o trabalho de elaboração do
significante fica exposto nas malhas do próprio tecido poético.
Nesse sentido, destacamos a metalinguagem como o elemento
que move o discurso poético barrosiano; esse é um dos veios que
demarcam a contemporaneidade de sua poesia e apontam para o modo
como ela se coloca numa postura de reflexão crítica acerca dos aspectos
formais da linguagem poética. A poesia barrosiana coloca-se na esteira da
modernidade lírica, haja vista que incorpora toda a problemática referente
à criação consciente da poesia e à fé no poder demiúrgico da linguagem
poética. Manoel de Barros herdou da poesia moderna a consciência da
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 313
linguagem funcional como elemento que oblitera o verdadeiro ser das
coisas, bem como a busca pelo reencantamento da linguagem, a tentativa
de recuperação de um estado anterior, perdido e mágico, da linguagem: o
efeito nomeador da palavra adâmica, cuja qualidade está em expressar a
essência verdadeira das coisas pelo nome. Essa característica insere a
poesia de Barros na categoria de poesia mítica formulada por Bosi (2010)
que destacamos mais acima.
Tendo em vista os aspectos destacados, tencionamos analisar
alguns poemas de Manoel de Barros a fim de observar o modo como o
poeta problematiza a questão da poesia enquanto perseguição pela
recuperação do efeito mágico da palavra, o que faremos com base nas
concepções de Walter Benjamin (1992) acerca da linguagem
desenvolvidas no ensaio Sobre a linguagem em geral e sobre a
linguagem humana, escrito em 1916. Começamos com o poema “VII” da
primeira parte d’O livro das ignorãças (2010), parte intitulada “Uma
didática da invenção”. O poema em questão segue transcrito:
No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá onde a
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar não funciona
para cor, mas para som.
Então se a criança muda a função de um verbo, ele
delira.
E pois.
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer
nascimentos –
O verbo tem que pegar delírio. (BARROS, 2010, p. 301; grifo no
original)
Nos dois primeiros versos do poema, flagramos a presença de
uma intertextualidade: a referência paródica ao primeiro capítulo do
Evangelho segundo São João, que remete ao mito bíblico da criação do
mundo pela palavra de Deus: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas
as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito
se fez.” (BÍBLIA SAGRADA, 1998, p. 134).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 314
Segundo o Gênesis, Deus criou o mundo e tudo o que nele há em
seis dias pelo poder evocatório do verbo. Na conceituação de Benjamin
(1992), o verbo evocatório, que tem impressa em si a vontade criadora de
Deus, concebe-se como medium da criação e caracteriza-se como
revelação, no sentido religioso do termo, visto que manifesta em
totalidade o “puro espiritual” (p. 184), o domínio mais elevado do ser das
coisas: pelo poder do verbo evocatório, essência espiritual e essência
linguística fundem-se em comunhão absoluta constituindo uma unidade
plena. Sendo assim, o verbo evocatório surge ainda como medium do
reconhecimento: “Só em Deus existe a relação absoluta do nome com o
reconhecimento, só aí o nome constitui o puro medium do
reconhecimento, porque no mais íntimo é idêntico à palavra criadora” (p.
185), ou seja, constitui o próprio desígnio de Deus. Vale dizer: o nome é
a essência mais entranhável da linguagem e, por ele, a essência espiritual
se transporta a Deus.
Após criar o mundo, Deus criou o homem. Entretanto, não o fez
pelo poder evocador do verbo divino, não o subjugou ao poder da
palavra, antes, criou-o a partir da matéria, do barro, e moldou-o segundo
sua própria imagem e semelhança, fazendo-o senhor da natureza. Para
conferir vida ao homem, Deus insuflou-lhe uma lufada de ar nas narinas,
doando-lhe ao mesmo tempo “a vida, o espírito e a língua” (p. 185);
diante disso, a relação de comunicação entre o homem e a natureza
configura-se pela imaterialidade e pelo aspecto puramente espiritual, uma
comunhão mágica: “o som é disso símbolo.” (p. 185). Da onipotência
criadora da palavra de Deus, a linguagem humana assimilou o traço
criador, porém, o homem nomeia as coisas a partir do reconhecimento,
pois Deus fez das coisas reconhecíveis por intermédio do nome. Desse
modo, o fundamento da linguagem do homem pré-queda está no
reconhecimento das coisas e no exercício de conferir a elas a sua própria
natureza pelo ato de nomeação. Nas palavras de Benjamin, Deus quis:
libertar de si no homem a língua que lhe tinha servido como medium
de criação; Deus descansou quando abandonou a si mesma no
homem a sua força criadora. Essa força criadora, despojada da sua
actualidade divina, tornou-se conhecimento. O homem é
reconhecedor da mesma língua em que Deus é criador. [...] A
infinitude de toda a linguagem humana sempre será a de essência
limitada e analítica, em comparação com a infinitude da palavra de
Deus, criadora e absolutamente ilimitada. (p. 187; grifos no original)
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 315
Antes da queda, ou, em outras palavras, antes do homem ser
expulso por Deus do paraíso por conta do pecado original, a linguagem
humana era perfeita, o homem pré-queda era capaz de expressar o
conhecimento absoluto das coisas pela nomeação, capaz de reconhecer as
coisas e expressar sua verdade absoluta pelo nome dado a elas. Com a
queda do homem, uma parte da linguagem humana foi perdida: rompeu-
se a comunhão harmônica e absoluta entre o homem e a natureza, entre o
homem e as coisas: o reconhecimento pleno das coisas fez-se impossível
e, portanto, fez-se também impossível o ato de nomeá-las a partir do
reconhecimento integral de sua essência espiritual.
Após a queda, o conhecimento pleno da essência espiritual das
coisas não é mais comunicado na linguagem humana: só é comunicado
das coisas na linguagem humana o conhecimento sobre elas que o homem
transpõe em linguagem partindo de si mesmo. A capacidade de
reconhecimento integral das coisas foi substituída pelo pensar e pelo
experimentar, ações a partir das quais o conhecimento das coisas é gerado
e transposto em linguagem. Ou seja, depois da expulsão do paraíso, o
homem precisa empreender um esforço de pensamento acerca do ser das
coisas para formular o conhecimento sobre elas. A definição do
conhecimento, por sua vez, leva então ao reconhecimento por intermédio
do signo convencionado: a linguagem representa, pela ausência, o objeto
nomeado.
Por esta razão, no período pós-queda pulsa em imanência o
absoluto do ser das coisas. A realização do feito de se chegar à pura
essência espiritual das coisas e de se conseguir transpô-la em linguagem
humana levaria à revelação, ao restabelecimento da qualidade da
linguagem pré-queda. O homem, porém, não pode mais recuperar tal
característica por conta do pecado original: para Benjamin (1992), o
pecado original consiste no conhecimento do bem e do mal, na qualidade
de julgamento das coisas e do mundo que acabou por impregnar a própria
linguagem. O conhecimento do bem e do mal calcou na linguagem
humana três características: a sentença, por conta do julgamento; o
mediatismo (a linguagem passou a ter caráter de mediação, de signo, e,
portanto configura-se enquanto ausência da coisa sobre a qual se fala: não
há mais o imediatismo entre a coisa e o nome, o amalgamento integral e
perfeito entre coisa e nome); e, por fim, a abstração.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 316
O julgamento que impregnou a linguagem, trazendo consigo a
sentença, não expressa o conhecimento da coisa nomeada em si, mas sim,
um conhecimento externo à coisa: é o nascimento da palavra humana,
afirma Benjamin (1992), que comunica algo que está além de si mesma.
Diante do pecado original, a natureza, que não poderia mais ser,
então, reconhecida e nomeada pelo homem como no tempo pré-queda,
entra em um estado de tristeza: “o ser triste sente-se plenamente
reconhecido pelo irreconhecível.” (p. 195). O homem pós-queda não
nomeia mais as coisas pelo reconhecimento de sua essência espiritual e
sim pelo julgamento, pelo conhecimento que está fora da coisa: o nome
não é mais, após o paraíso, sinônimo da própria coisa que nomeia, antes,
caracteriza-se como ausência da coisa nomeada. Por ocasião do
julgamento como qualidade da palavra humana após o pecado original,
instalou-se, de acordo com Benjamin, a diversidade.
Voltando ao poema “VII”, observamos um tom rememorativo na
referência à criação do mundo por Deus pelo uso do verbo enquanto
medium da criação. Esse tom de rememoração percorre todo o poema,
destacando-se como o elemento que motiva e justifica a busca pela
recuperação do efeito mágico da linguagem adâmica que o poema coloca
em foco.
Pelo emprego do prefixo des- na palavra começo, logo no
primeiro verso do poema, há a criação de um neologismo que distorce o
termo presente na bíblia, provocando o desvio. O sentido de reversão que
dado prefixo atribui à palavra começo, antes de qualquer coisa, aponta
para a atemporalidade do tempo mítico do homem pré-queda. O vocábulo
“verbo”, presente no primeiro verso, refere-se à palavra dotada do poder
evocador. Nos versos segundo e terceiro, há a referência a um tempo
outro, um “depois”, o tempo histórico do homem pós-queda, o “começo”,
e a menção ao “delírio do verbo”. Depois que Deus expulsou o homem
do paraíso, a propriedade mágica do verbo foi perdida e seu encanto só se
faz presente no “delírio”, não mais no verbo em si: o encanto não é mais
possível, apenas o reencanto pelo delírio. No quarto verso, o sujeito lírico
aponta onde o delírio do verbo acontece depois da queda: na fala da
criança.
Com tom explicativo nos versos quinto, sexto, sétimo e oitavo, o
sujeito lírico indica que a criança não sabe empregar os verbos de forma
correta (nesse momento o termo “verbo” já se refere ao da categoria
gramatical) e, assim, acaba por produzir construções que escapam às
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 317
convenções da língua, como em “escutar a cor dos passarinhos”,
construção que apresenta um desencaixe semântico por conta da
composição sinestésica. Enfocamos o verbo “funcionar” no quinto verso
e do substantivo “função” no sétimo verso, visto que ambos os termos
fazem menção ao aspecto instrumental da linguagem: a criança subverte
o funcionamento da língua e pelo erro gramatical ocorre o delírio, o
deslocamento do funcionamento comum que provoca redirecionamentos
nos sentidos convencionalmente estabelecidos e esperados.
No décimo, décimo primeiro e décimo segundo versos, o sujeito
lírico menciona a poesia, declarando que, do mesmo modo como ocorre
na fala da criança, a poesia tem que promover o “delírio do verbo”.
Entretanto, existe uma diferença substancial entre a poesia e a fala da
criança que se evidencia pela afirmação do sujeito lírico de que “poesia,
que é voz de poeta, é a voz de fazer nascimentos”. Destacamos daí o
verbo “fazer”, que se liga a ideias como construção, criação, fabricação,
prática, trabalho, arranjo, produção, execução, entre muitas outras que se
encaixam neste paradigma; pelo aspecto semântico, tal verbo aponta para
a consciência criativa do poeta: a criança faz o verbo delirar
espontaneamente, o poeta não. A criança não sabe usar os verbos de
modo adequado e acaba cometendo erros. O poeta promove “erros”
sintáticos, morfológicos, semânticos e pragmáticos intencionalmente por
via da elaboração. O poder encantatório da palavra na linguagem adâmica
não dependia do raciocínio, acontecia de modo imediato no ato de
nomeação a partir do reconhecimento. Já no trabalho do poeta, que
promove o “delírio do verbo”, não há o traço da simultaneidade e o
raciocínio é imperativo. Como a criança faz o “verbo delirar” de forma
não premeditada, o sujeito aponta a fala infantil como uma maneira
natural de promoção do encanto linguístico que se equipara, em termos, à
linguagem do homem pré-queda e que serve de modelo à poesia.
Dentro desta perspectiva, destacamos a asserção de que “na voz
do poeta, o verbo tem que pegar delírio”. Salientamos daí o “ter que
pegar delírio”, pois o verbo “pegar”, de acordo com o uso corrente da
língua, não é usado em conjunto com “delírio”: delírio não se pega.
Delírio é um fenômeno que se tem, isto é, o termo exige o verbo “ter”,
não o verbo “pegar”. Ao mesmo tempo em que tece um raciocínio sobre
o poético por intermédio da função metalinguística, o de promoção do
“delírio do verbo” para se chegar à poesia, o poema traz efetivamente o
“delírio do verbo” ao fazer uma molecagem com o idioma: há o
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 318
apontamento da fala da criança como modelo a ser seguido e a execução
de uma traquinagem com a língua que, seguramente, se espelha na fala da
criança: “o verbo tem que pegar delírio”. Todavia, na voz do sujeito lírico
o “erro” é deliberado e traz toda uma carga de reflexão sobre o poético.
Ainda em relação a “delírio”, enfatizamos que se trata de um fenômeno
psíquico que ocorre com o homem, um fenômeno estritamente humano.
No poema aqui em estudo, há a atribuição desse fenômeno a algo
inanimado, imaterial: o verbo, a palavra. Essa atribuição imprópria
configura-se como outra traquinice com a língua.
A respeito da comparação entre a criança e o artista, Baudelaire
(1988) coloca que:
A criança vê tudo como novidade; ela sempre está inebriada. Nada
se parece tanto com o que chamamos inspiração quanto a alegria
com que a criança absorve a forma e a cor. [...] O homem de gênio
tem nervos sólidos; na criança, eles são fracos. Naquele, a razão
ganhou um lugar considerável; nesta, a sensibilidade ocupa quase
todo o seu ser. Mas o gênio é somente a infância redescoberta sem
limites; a infância agora dotada, para expressar-se, de órgãos viris e
do espírito analítico que lhe permitem ordenar a soma de materiais
involuntariamente acumulada. (p. 168-169; grifos no original)
Em face da concepção de Baudelaire, consideramos que a
curiosidade no artista vem sempre acompanhada do raciocínio. O enlevo
da criança diante do novo acontece no plano da sensibilidade, a criança
absorve as coisas e o mundo com aguçada curiosidade: tudo é novidade.
Na criança, o processo é espontâneo, pois ela está recebendo o mundo
pela primeira vez. O artista, na qualidade de adulto, já conhece o mundo e
as coisas que o compõem, mas, também dotado de curiosidade, procura
nas coisas habituais, nas coisas vistas todos os dias, o que elas possam ter
de novidade, o que elas apresentam em potencial que não está dito na
linguagem comum do dia-a-dia.
O “delirar do verbo” promovido pela voz do poeta consiste,
então, numa ação deliberada de dissociar o verbo de seus lugares comuns,
num trabalho de linguagem que visa cortar as ligações que prendem a
palavra à sintaxe, morfologia, semântica e pragmática convencional e
normativa. O vocábulo “delírio” traz, dentro de seu bojo semântico
atrelado à psicologia, a ideia de confusão psíquica, desnorteamento,
interpretação disparatada da realidade, desordem na capacidade de
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 319
julgamento da realidade por conta de alterações na consciência do real.
Assim sendo, se a voz do poeta faz “o verbo delirar”, promove uma
quebra, uma distorção na ordem convencional que determina o uso do
verbo. O deslocamento da palavra de seu lugar habitual, por sua vez, leva
o receptor do texto ao redirecionamento de sua interpretação da realidade:
atingido pela força do “verbo que delirou”, o receptor também passa a ter
uma visão delirante da realidade no sentido de que a palavra poética leva
a interpretações outras, interpretações que fogem do convencional.
Lembrando as ideias que o formalista russo Chklovski (1973) desenvolve
no ensaio A arte como procedimento, o trabalho do poeta seria
exatamente este, o de singularizar a linguagem, de talhar a linguagem
verbal de modo a cortar fora todas as arestas comunicativas
convencionais, as amarras que prendem a palavra ao uso gasto, ao
reconhecimento, ao automatismo. O estado automático equipara-se à
anulação de vida, já que acontece na esfera do inconsciente. Provocando
o estranhamento no receptor, a arte pode resgatar o homem do
automatismo e devolver-lhe a sensação de vida na medida em que o
desperta para a consciência das coisas.
Olhando agora para os significantes “delírio” e “delirar”, notamos
algo que merece relevo: os significantes “lírio” e “lira” estão dentro
deles.
A palavra “lira” é intimamente atrelada ao universo da poesia:
lira, lirismo, lírico, lírica, liricar, lirista são termos diretamente
relacionados ao poético e à história da poesia. A lira, instrumento musical
de cordas, era usada na antiguidade clássica para acompanhar o cantar de
versos. De seu nome derivaram os termos como lírico, lírica e lirismo,
que passaram a designar e compor o paradigma lexical de um gênero
poético. Por esta ligação, reforçamos a ideia mais acima desenvolvida
acerca da promoção do “delirar do verbo” como a ação do fazer poético:
o delírio sugere desvario, despropósito, desconexão de sentido lógico, o
que vai ao encontro do ofício do poeta, que é justamente o de criar
despropósitos, de quebrar a lógica convencional em favor de novos
empreendimentos lógicos embasados na analogia: fazer o verbo delirar =
poetar. Diante disso, voltamos a Chklovski, para quem, reforçamos, o
fazer artístico acontece como trabalho voluntário e consciente com a
linguagem.
Já o termo “lírio” faz menção às plantas herbáceas, da família das
liliáceas, de exuberantes flores, predominantemente alvas, e folhas
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 320
esparsas. O lírio, de forma geral por conta do aspecto cromático de sua
flor, é símbolo de pureza, o que nos leva a pensar na poesia como forma
de devolver a pureza às palavras. O uso desgasta a língua e as palavras
vão sendo consumidas pelo atrito que se estabelece entre seus corpos e o
peso dos sentidos e usos que vão sendo sobrepostos a elas ao longo do
tempo. Do atrito, nascem nódoas, estigmas que o poeta precisa tratar. O
tratamento opera-se pela arrancada das palavras do jugo do uso corrente
da língua e do arranjo delas num novo ambiente, isto é, o tratamento que
o poeta dispensa às palavras promove o renascimento delas, o que as
torna puras novamente: sem nódoas, sem estigmas.
Nos versos décimo, décimo primeiro e décimo segundo, o sujeito
lírico traz justamente esta ideia do trabalho do poeta como modo de
fabricação de “nascimentos”: renascimento da palavra. A voz do poeta é
apontada como responsável pelos nascimentos. O vocábulo “voz” marca
a identidade, a manifestação íntima do poeta, a sua intencionalidade: a
criação, a promoção do nascimento por intermédio da ação verbal. Por
meio da demarcação da voz do poeta com o artigo definido a, “a voz do
poeta é a voz de fazer nascimentos”, a ideia da poesia como o lugar
legítimo do renascimento da palavra é colocada em foco, e, assim, o
fundamento da poesia acaba por equiparar-se ao da linguagem adâmica: o
de nomear para dar às coisas sua natureza pelo nome.
O vocábulo “delírio” ainda traz outra acepção além da já
destacada e trabalhada anteriormente: a de êxtase, arrebatamento,
exaltação. O que nos faz pensar, na esteira do raciocínio aqui em
desenvolvimento do “delirar do verbo” equiparado ao fazer poético, na
poesia como o lugar do êxtase do verbo. Na psicologia, êxtase denomina
o estado de espírito em que os sentidos desprendem-se do plano material,
desencadeando, pelo enlevamento, uma sensação aprazível. Diante da
carga do termo em questão, lemos o êxtase do verbo como o
desprendimento da palavra de seu lugar habitual pelo estímulo a ela dado
pelo poeta, o que leva ao arrebatamento, ao encanto.
Regressando agora ao termo “descomeço”, que aparece no
primeiro verso do poema, notamos que faz referência ao tempo mítico e
atemporal do homem pré-queda e, portanto, instaura a ideia de origem.
Pelo acréscimo do prefixo des- à palavra começo, um prefixo que atribui
à palavra à que é acoplado o sentido de negação, de inversão, flagramos a
consciência da impossibilidade de se chegar à origem. O poema traz a
rememoração de um passado em que a linguagem caracterizava-se por
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 321
um poder encantatório de nomeação e ao mesmo tempo aponta para o
fato de que a volta a esse passado, a recuperação plena da magia da
linguagem pré-queda é irrealizável, o que fica evidente pelo emprego do
prefixo des- em começo.
Entretanto, mesmo demarcando a impossibilidade de se alcançar
a origem, o sujeito lírico aponta a recuperação do encanto da linguagem
pelo “delírio do verbo”, que está naturalmente na fala da criança, fala
impregnada de resquícios de uma magia ancestral da linguagem, e
também no ato poético. Gagnebin (2007), esquadrinhando a noção de
origem em Walter Benjamin, noção que se mostra um ideal, afirma que,
para o autor,
o movimento da origem só pode ser reconhecido ‘por um lado,
como restauração e reprodução, e por outro lado, e por isso mesmo,
como incompleto e inacabado [não fechado]’. O tema da restauração
[...] indica, certamente, a vontade de um regresso, mas também, e
inseparavelmente, a precariedade deste regresso: só é restaurado o
que foi destruído, quer se trate do Paraíso, de uma forma de governo,
de um quadro ou da saúde. A restauração indica, portanto, de
maneira inelutável, o reconhecimento da perda, a recordação de uma
ordem anterior e a fragilidade desta ordem. Por isso, diz Benjamin,
se o movimento da origem se define pela restauração, ele também é
‘e por isso mesmo, [algo] incompleto e não fechado’. A origem
benjaminiana visa, portanto, mais que um projeto restaurativo
ingênuo, ela é, sim, uma retomada do passado, mas ao mesmo tempo
– e porque o passado enquanto passado só pode voltar numa não-
identidade consigo mesmo – abertura sobre o futuro, inacabamento
constitutivo. (p. 14)
Diante desta característica de movimentação dupla, isto é, de
tentativa de se chegar à origem mesmo com a consciência da
impossibilidade de realização de tal feito, trazemos a noção de spleen
(melancolia) de Charles Baudelaire, noção também pensada por Walter
Benjamin. No melancólico, ou spleen, convivem o fascínio e a frustração,
a busca por algo perdido e a consciência da impossibilidade de
recuperação plena daquilo que foi perdido. Gagnebin, refletindo acerca
das ideias de Walter Benjamin acerca da poesia de Baudelaire, afirma
que:
Baudelaire não é nem um poeta kitsch romântico que ficaria preso à
nostalgia de um passado encantado, nem um esnobe triunfalista que
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 322
se limitaria a celebrar cada novidade. Sua verdadeira modernidade
consiste, segundo Benjamin, em ousar afirmar, com a mesma
intensidade, o desejo e a impossibilidade da volta a uma origem
perdida desde sempre. Como estes anjos hieráticos nos túmulos dos
grandes cemitérios burgueses do século XIX, as alegorias
baudelairianas velam por uma lembrança já morta. (2007, p. 53)
Apesar da consciência da impossibilidade, a luta do melancólico
está fundamentada pela ideia de que o perdido, em algum nível, pode ser
de restabelecido: a rememoração traz consigo a reatualização. O poeta,
enquanto spleen, ao rememorar um passado em que a linguagem tinha
características mágicas, sabe da impossibilidade de recuperação de tal
qualidade, mas logra o restabelecimento do encanto perdido em outro
nível, restabelecimento que se faz possível pelo poder demiúrgico da
linguagem poética. Assim, ao fazer poético é atribuído o papel ativo de
tentativa constante de recuperação.
O forjar do “delírio do verbo” denota a artificialidade da
característica nomeadora da linguagem poética. Pela poesia, há a
possibilidade de recuperação do efeito mágico de nomeação, mas se dá
em outro nível: antes de qualquer coisa, de modo artificial. Pelo
entrelaçamento de forma e conteúdo num todo enleado, num todo que
não se destrincha, a poesia mostra-se como o lugar da possibilidade de
recuperação do encanto da linguagem, da promoção do gesto inaugural.
Porém, na poesia, o efeito nomeador é logrado pelo esforço, pelo trabalho
consciente, pela briga com a linguagem. No poema aqui em análise, por
exemplo, o sujeito lírico indica a fala e a lógica do pensamento infantil
como modelo a ser seguido na criação poética; na realidade textual
elaborada pelo poeta, porém, não será espontâneo como na fala da
criança, será uma recriação totalmente consciente e proposital.
Aqui, trazemos ainda a metáfora do esgrimista formulada pelo
mesmo Baudelaire, que alude à luta exercida pelo artista no ato da
criação. Benjamin (2010) indica que, além de Baudelaire, outros artistas
retrataram a multidão e se dirigiram a ela, como Victor Hugo, por
exemplo, em obras como Os Miseráveis e Os Trabalhadores do Mar. De
acordo com o autor, “nenhum tema se impôs com maior autoridade aos
literatos do século XIX do que a multidão, que começava a se articular
como p blico em amplas camadas sociais.” (BENJAMIN, 2010, p. 114).
Entretanto, a diferença que Benjamin aponta entre Baudelaire e outros
escritores é a de que o poeta francês não descreve o experimento da vida
moderna: “Baudelaire não descreve nem a população, nem a cidade. Ao
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 323
abrir mão de tais descrições colocou-se em condições de evocar uma na
imagem da outra. Sua multidão é sempre a da cidade grande; a sua Paris é
invariavelmente superpovoada.” (2010, p. 116). Ou seja, Baudelaire fala,
com um olhar crítico, de dentro do próprio experimentar da vida moderna
e busca forjar no plano textual a sensação que o experimento da vida
moderna provoca nele mesmo. A reconstrução da vivência, de uma
lembrança, um pensamento em linguagem poética acarreta uma luta, um
duelo com a linguagem. Para enlear forma e conteúdo, o poeta tem que se
valer de artifícios, mecanismos, procedimentos, técnicas, tem que
manusear a linguagem de modo a moldá-la ao conteúdo e vice-versa.
Baudelaire deixou a consciência do duelo que o artista trava com a
linguagem como legado à literatura e Manoel de Barros, poeta herdeiro
da modernidade lírica, assimila este traço.
Esse é um tema bastante trabalhado por Manoel de Barros em sua
obra, o do árduo trabalho do poeta por transpor em linguagem poética o
pensamento, a vivência, ou a linguagem das coisas. Pela metalinguagem,
Barros tece sua posição acerca do tema no próprio plano linguístico. O
poema que segue logo abaixo, o poema “5” da terceira parte do livro O
guardador de águas (2010), parte intitulada “Seis ou treze coisas que eu
aprendi sozinho”, é um dos que se inserem nesta perspectiva:
A água passa por uma frase e por mim.
Macerações de sílabas, inflexões, elipses, refegos.
A boca desarruma os vocábulos na hora de falar
E os deixa em lanhos à beira da voz. (BARROS, 2010, p. 259)
Em dado poema, observamos a problematização do trabalho do
poeta enquanto luta por transpor o pensamento em linguagem poética;
mais especificamente, o pensamento acerca do poético. A questão do
pensar sobre o poético é muito forte em Manoel de Barros, bem como o
processo de transporte do pensamento para a linguagem poética.
A “água”, presente no primeiro verso do poema, permite ser lida
como o próprio pensamento, que percorre, atravessa o sujeito lírico e a
língua. Para ser comunicado, o pensamento precisa ser transposto em
linguagem e, para tanto, há a necessidade da “maceração do idioma”.
Observamos de início que “a água passa pela frase”, pela língua, e pelo
sujeito lírico. Contudo, as macerações atingem apenas o linguístico, não
atingem o sujeito, o que leva a pensar que as macerações são executadas
por esse “eu (mim)” que fala no poema.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 324
Uma das definições empregadas à maceração na língua
portuguesa a demarcam como processo de amolecimento de uma
substância sólida pela ação de um líquido ou por meio de golpes, de
pancadas. No plano do poema, a “água”, ou o pensamento, aparece como
a substância líquida responsável pela maceração de “sílabas, inflexões,
elipses, refegos”. Diante de tal relação, formulamos a ideia de que o
pensamento que se pretende comunicar em linguagem poética deve
amolecer o material linguístico, torná-lo flexível. Ampliando a relação, o
poeta, promotor da maceração do idioma, precisa transformar a língua
pela ação de seu pensamento, precisa moldar a linguagem no formato do
conteúdo de seu pensamento e, para tanto, deve macerar a língua pela
ação do pensar: em sentido duplo: macerar a língua pela ação do pensar
sobre os modos de transposição e macerar a língua pelo pensamento que
se quer transmitir.
O maceramento, em sentido figurado, alude ainda à tortura.
Nesse sentido, dentro do poema, instala-se a noção de violência sobre a
língua por parte do poeta no ato da criação, o que nos remete a Paz
(1972):
A criação poética começa como violência sobre a linguagem. O
primeiro ato desta operação consiste no desenraizamento das
palavras. O poeta as arranca de suas conexões e funções habituais:
separados do mundo informe da fala, os vocábulos tornam-se únicos,
como se acabassem de nascer. (p. 38; tradução nossa) 3
O ato poético, que começa como ação violenta sobre a
linguagem, promove a recriação, o ressurgimento da palavra, pois a
coloca em um novo contexto, ligada a novos aspectos. Enfatizamos,
todavia, que o ressurgimento da palavra no plano poético com novas
características e novas amarras não é natural; o poder nomeador, a
potência que a palavra poética tem de promover novos nascimentos não é
uma característica inata: demanda uma operação intencional e
interventiva que envolve um ato violento de arranque do verbo de seu
lugar de natureza: o uso corrente da língua.
3
“La creación poética se inicia como violencia sobre el lenguaje. El primer acto
de esta operación consiste en el desarraigo de las palabras. El poeta las arranca
de sus conexiones y menesteres habituales: separados del mundo informe del
habla, los vocablos se vuelven nicos, como si acabasen de nacer.”
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 325
Nos dois últimos versos do poema, o sujeito lírico assinala que o
ato da fala, pela “boca”, coloca os vocábulos em desalinho, os
“desarruma” e os deixa “em lanhos à beira da voz”. Tal asserção nos leva
a pensar, metaforicamente, na “boca” como o lugar da promoção das
macerações, visto que é na boca que começa o processo de digestão dos
alimentos: na cavidade bucal acontece a mastigação, a trituração, o
esmagamento dos alimentos. Essa ideia liga-se à da violência que o poeta
realiza sobre a linguagem para chegar à poesia, liga-se à ideia da
maceração. Sendo o idioma, metaforicamente, o alimento do poeta, ele
precisa mastigá-lo para que fique em lanhos, em cortes, em pedaços à
beira da voz. Só na voz, isto é, só na manifestação verbal efetiva, o que
seria o plano do poema, aconteceria, então, a reconstrução, o ato de
conceder às palavras o renascimento.
Interessante notar que os termos “inflexões”, “elipses” e
“refegos”, presentes no segundo verso do poema, ligam-se à ideia de
poesia, pois demarcam as noções de, respectivamente, desvios, omissões
e dobras. É, justamente, por caminhos como esses que a poesia opera,
pelo deslocamento, pela omissão deliberada, pelas dobras que formula na
linguagem. O maceramento e o rearranjo dos vocábulos promovido pela
operação da escrita poética apontam para os artifícios da criação, para a
engenhosidade da tecitura poética.
A preocupação constante em enfatizar o trabalho do poeta como
consciência criativa, demonstrando o esforço criador que a construção
poética demanda, reforça a ideia de que a linguagem poética é artificial
em relação ao modelo a que tenta equiparar-se: a linguagem primordial. E
denota também a consciência do poeta em relação a isso. Contudo,
mesmo que de forma artificial, a poesia desponta como criação original: a
linguagem poética promove renascimentos.
Por fim, passamos ao poema “VIII” de “Retrato quase apagado
em que se pode ver perfeitamente nada”, presente no livro O guardador
de águas (2010). O poema em questão segue transcrito:
Nas Metamorfoses, em duzentas e quarenta fábulas, Ovídio mostra seres
humanos transformados em pedras, vegetais, bichos, coisas.
Um novo estágio seria que os entes já transformados
falassem um dialeto coisal, larval, pedral etc.
Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica, edênica,
inaugural –
Que os poetas aprenderiam – desde que voltassem às
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 326
crianças que foram
Às rãs que foram
Às pedras que foram.
Para voltar à infância, os poetas precisariam também de
reaprender a errar a língua.
Mas esse é um convite à ignorância? A enfiar o idioma
nos mosquitos?
Seria uma demência peregrina. (BARROS, 2010, p. 265-266).
Nos três primeiros versos do poema, notamos a presença de uma
referência à obra de Ovídio, Metamorfoses, em que o poeta latino narra
em versos transformações de homens em coisas: objetos, animais,
vegetais. As transformações são realizadas por deuses motivados,
geralmente, por sentimentos negativos, tais como inveja, ciúme e
vingança. Um exemplo está na narração da “Morte de Orfeu”: Baco,
extremamente descontente com a morte de Orfeu, castigou as mulheres
que o assassinaram transformando-as em carvalho (OVÍDIO, 2003, p.
221-223).
O trecho inicial da obra de Ovídio, em que acontece a
apresentação do intento de Metamorfoses e a invocação da ajuda dos
deuses no ato da escrita, evidencia a referência trazida no poema de
Manoel de Barros. O trecho em questão segue transcrito abaixo:
Minha intenção é contar histórias sobre corpos que
Assumem diferentes formas; os deuses,
Que promovem essas transformações
Me ajudarão - pelo menos, assim espero, - com um longo poema
Que discorre sobre o início do mundo e se estende até os nossos
dias. (OVÍDIO, 2003, p. 09)
A partir do quarto verso do poema de Manoel de Barros, o sujeito
lírico desdobra a referência que traz para desenvolver o raciocínio de um
ideal de criação poética: a possibilidade de se falar diretamente na
linguagem das coisas: uma etapa seguinte à transformação do corpo
humano em coisa seria a aquisição da fala da coisa em que o corpo se
transformou. Tal ideal é apontado pelo sujeito lírico como possibilidade
de nascimento de “uma linguagem madruguenta, adâmica, edênica,
inaugural”, e aí temos a rememoração expressa do tempo mítico do
homem pré-queda e de sua linguagem que acaba aparecendo como
modelo para o fazer poético.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 327
Os termos “adâmica”, “edênica” e “inaugural” remetem de forma
direta à linguagem do homem pré-queda. Salientamos a presença do
artigo uma no sexto verso determinando o tipo de linguagem que nasceria
a partir da possibilidade de se falar na linguagem das coisas, pois tal
artigo, sendo indefinido, indica que não aconteceria o ressurgimento da
linguagem adâmica original, mas sim, de “uma linguagem madruguenta,
adâmica, edênica, inaugural” que não a do princípio, outra: a poética.
O vocábulo “madruguenta”, construído a partir da junção do
sufixo –enta ao radical madrug-, radical do substantivo madrugada,
aponta para uma situação de novidade, de nascimento, já que
“madrugada” vem dos étimos latinos madurare e maturicare, que
significam “amadurecer”, “apressar, acelerar”, “levantar-se cedo”, campo
semântico que traz a noção de algo novo, recém-nascido, o que permite a
associação com a linguagem poética, que prima por trazer as palavras sob
novas roupagens, por torná-las novas outra vez, como no momento em
que foram criadas.
No oitavo verso, o sujeito lírico afirma que os poetas
“aprenderiam” tal linguagem. O termo “aprender” atrela-se à ideia de
estudo, sendo assim, destacamos mais uma vez a forte presença da
preocupação em demarcar o fazer poético enquanto esforço crítico na
obra de Manoel de Barros. O ato de aprender o “dialeto coisal, larval,
pedral” demanda estudo e seu aprendizado depende de uma condição, a
de que os poetas voltem “às crianças, às rãs, às pedras que foram”. O
retorno à infância demanda ainda outra condição, a de que os poetas
“precisariam reaprender a errar a língua”. Salientamos daí os verbos
“precisariam” e “reaprender”, que, novamente, fixam a noção de criação
lúcida por parte do poeta, diante do que destacamos os versos décimo
quarto, décimo quinto e décimo sexto, nos quais o sujeito lírico aponta,
em tom interrogativo, a condição de, então, o fazer poético estar ligado à
“ignorância”, ao ato de “enfiar o idioma nos mosquitos”.
A palavra “ignorância” traz a ideia de ausência de conhecimento,
de não-saber, ideia que surge como ideal para a poesia, que tem que
trazer um conhecimento diferente do preestabelecido, um saber ignorante
em relação ao que já está definido pela convenção: um outro saber. Assim
como acontece com a linguagem instrumental, na poesia o saber, o
conhecimento transmitido também é exterior às coisas, é proveniente de
um esforço de pensamento, de um experimentar do mundo e da
transposição desse pensar e/ou desse experimentar em linguagem poética.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 328
Entretanto, a diferença está no fato de que o saber transmitido pela
linguagem poética é novidade, não está definido, não está dito na
linguagem convencional: trata-se de um saber outro que busca a
estupefação e o redirecionamento, a ampliação dos horizontes do
receptor. Barros promove isso, especialmente, a partir do
redirecionamento do olhar para o ínfimo, para o desimportante.
Recolhendo o que não tem valor, o poeta, pelo trabalho de elaboração do
significante, concede nova vida às inutilidades conferindo-lhes valor e,
assim, o inútil passa a engendrar novos conhecimentos, novos saberes, o
que modifica o olhar do leitor para o mundo, para as coisas.
Já o termo “enfiar” traz um dado de violência, o que nos leva
novamente a Paz (1972) quando afirma que o ato poético é um ato de
violência sobre a linguagem. O “enfiar o idioma nos mosquitos” aponta,
portanto, para um ato que não é natural, um ato que, para ser efetivado,
precisa do emprego da violência. Nesse sentido, trazemos novamente a
ideia de Benjamin (1992) de que a linguagem das coisas emudeceu por
conta do pecado original cometido pelo homem: o sujeito lírico indica um
ideal de criação, o de se falar num “dialeto coisal, larval, pedral”,
entretanto, ao desenvolver mais a ideia, o sujeito lírico traz em
questionamento o modo como tal feito poderia ser alcançado: pelo ato de
“enfiar o idioma nos mosquitos?”, o que demarca a consciência desse
sujeito em relação ao fato de que o falar na linguagem das coisas é
impossível e o ato de enfiar o idioma nos mosquitos indica que, mesmo
havendo a transformação do corpo humano em coisa a consciência
humana continuaria dominante, o que caracterizaria um habitar o outro
mantendo a própria consciência humana. Desse modo, a voz que falaria
de dentro da coisa habitada o faria por um idioma enfiado a força nessa
coisa, não no dialeto natural dessa coisa. O que aponta para a consciência
do sujeito que fala no poema acerca da impossibilidade de se chegar ao
real metafísico das coisas: o que se conhece das coisas após a queda do
homem são pontos de vista, conhecimentos aos quais o homem chega por
via da experimentação e do pensamento e que, traduzidos em definições,
possibilitam o reconhecimento pelo signo convencionado.
Há no poema um grande número de ocorrências de verbos
conjugados no futuro do pretérito do indicativo (“seria”, “nasceria”,
“aprenderiam” e “precisariam”) e no pretérito imperfeito do subjuntivo
(“falassem” e “voltassem”). Essas ocorrências apontam para uma situação
de possibilidade e não de ação efetiva, de realização certa, o que reforça a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 329
ideia de impossibilidade da realização de se chegar ao restabelecimento
da linguagem do homem pré-queda e demarca também a consciência do
sujeito lírico em relação à impossibilidade: esse sujeito vai elencando as
formas pelas quais a linguagem adâmica poderia ser recuperada, mas,
pela predominância de tempos verbais que demarcam possibilidade e não
realização concreta, o saber da irrealização se faz presente.
Os poetas podem até voltar, regressar às crianças que foram, às
rãs, às pedras pelo habitar o outro, entretanto, será com a consciência que
têm. O habitar o outro com a própria consciência não é natural, mas sim
um ato de “enfiar o idioma nos mosquitos”: pelo hábil manuseio da
palavra o poeta pode reconstruir a fala da criança, pode dar voz às coisas,
pode errar a língua para produzir assombros poéticos, todavia, tudo isso
será feito sempre pela reconstrução, que não se caracteriza pela coisa em
si, é sempre um re-. Tratar-se-á sempre do habitar o outro mantendo a
própria consciência.
É impossível recuperar a magia da linguagem, o poeta é
totalmente cônscio desta condição e continua numa busca constante pelo
reencanto da linguagem por meio do trabalho poético, que, afinal, é um
lugar de possibilidade de reconstrução do encanto da linguagem, mesmo
que o encanto na linguagem poética ocorra em outro nível: o da
materialidade poética. E aqui citamos Gagnebin (2007): “a dinâmica da
origem não se esgota na restauração de um estádio primeiro, quer que
tenha realmente existido ou que seja somente uma projeção mítica no
passado; porque também é inacabamento.” (p.18). Ou seja, não se trata de
uma “simples restauração do idêntico esquecido, mas igualmente, e de
maneira inseparável, emergência do diferente.” (Ibid., p. 18, grifo nosso).
O poetar configura-se, assim, como uma “demência peregrina”,
uma incessante e insana busca: uma tentativa desejosa de recuperação do
que se perdeu, mas cônscia da impossibilidade de reparação. Como
nomeação que é dentro de suas próprias características e possibilidades, a
poesia, num caráter ritualístico, refere-se ao tempo mítico do homem pré-
queda para, simbolicamente, equiparar-se em contemporaneidade àquele
tempo, para impregnar-se da energia da linguagem original: “Sendo a
criação do Mundo a criação por excelência, a cosmogonia transforma-se
no modelo exemplar para toda a espécie de ‘criação’.” (ELIADE, 1989,
p. 25).
MANOEL DE BARROS AND THE PURSUIT FOR
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 330
THE REECHANTMENT OF LANGUAGE
Abstract: This article analyses, based on Walter Benjamin’s philosophical ideas
about language, some poems of Manoel de Barros that bring the reflection about
the poetry as a possility of restoring the language of the man that occupies the
mythical time that precedes the history, language characterized by the magical
capacity of nomination.
Keywords: Manoel de Barros. Adamic Language. Metalanguage.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
BARBOSA, J. A. As ilusões da modernidade. In: ___. As ilusões da
modernidade: notas sobre a historicidade da lírica moderna. São Paulo:
Perspectiva, 1986, p. 13-37.
BARROS, M. Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010.
BAUDELAIRE, C. A modernidade de Baudelaire: textos inéditos selecionados
por Teixeira Coelho. Trad. de S. Cassal. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
BENJAMIN, W. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: ___. Obras escolhidas
III: Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. Trad. de J. C. M.
Barbosa e H. A. Baptista. São Paulo: Brasiliense, 2010.
BENJAMIN, W. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem humana. In:
___. Sobre arte, técnica, linguagem e política. Trad. de M. L. Mota, M. A. Cruz
e M. Alberto. Lisboa: Relógio d’Água, 1992, p. 177-196.
BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade.
Trad. de C. F. Moisés e A. M. L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras,
1986.
BÍBLIA SAGRADA. N.T. João 1. Trad. de J. F. Almeida. São Paulo: Sociedade
Bíblica do Brasil, 1998, p. 134-136.
BOSI, A. Poesia-resistência. In: ___. O ser e o tempo da poesia. 8. ed. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 163-227.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 331
CHKLOVSKI, V. A arte como procedimento. In: EIKHENBAUNM, B. et al.
Teoria da literatura: formalistas russos. Trad. de A. M. R. Filipouski et al. Porto
Alegre: Globo, 1973, p. 39-56.
ELIADE, M. Aspectos do mito. Trad. de M. Torres. Lisboa: Edições 70, 1989.
GAGNEBIN, J. M. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo:
Perspectiva, 2007.
OVÍDIO. Metamorfoses. Trad. de V. L. L. Magyar. São Paulo: Madras, 2003.
PAZ, O. El lenguaje. In: ___. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura
Económica, 1972, p. 29-48.
PAZ, O. André Breton ou a busca do início. In: ___. Signos em rotação. Trad. de
S. U. Leite. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 221-230.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 332
O POEMA VISUAL: DO ESOTÉRICO AO CIBERNÉTICO
José Fernandes – UFG 1
Resumo: A poesia visual, sem dúvida, acompanha a evolução das formas
artísticas resultantes das transformações por que tem passado o homem ao longo
da história. Nas três últimas décadas, os poetas interconectaram a técnica do
poema impresso com as possibilidades tecnológicas proporcionadas pela
cibernética, criando um estilo que, grosso modo, se pode chamar de ciberpoesia
ou animaverbivocovisual. A ciberpoesia, além de imprimir movimento ao
poema, criado segundo os princípios que nortearam a construturação do poema
visual, ainda permitiu a união do poético com o cinemático, elevando o tônus
estético do discurso e, sobretudo, a carga semântica, típica do texto poético,
como se demonstrará ao longo desse estudo.
Palavras-chave: poesia visual; ciberpoesia; aniverbivisualização; vídeo-poema.
O poema visual figura na evolução das formas e das fôrmas
literárias, no ocidente, desde a antiguidade. Isso significa que ele, como
arte simbiótica, perpassou toda a história e se valeu de todos os recursos
utilizados pelos artistas para se adequar aos princípios estéticos de cada
época, como ocorreu com as demais fôrmas literárias. Consoante com
essa ótica, a conformação visual impressa ao poema Un coup des dés, por
Mallarmé, ao final do século XIX, as criações visuais feitas pelos
futuristas e as recriações surgidas na segunda metade do século XX, não
provieram do nada; mas resultaram de um processo poético que nunca
deixou de acontecer na literatura. O que ocorreu, na verdade, é que em
determinados momentos da evolução das formas e das fôrmas artísticas, o
poema visual sofreu uma espécie de depressão, em que se incluiu também
a baixa exploração dos componentes simbólicos, que conferiram às
produções menor teor estético. Assim consideradas, as recriações de
poemas visuais a partir de Mallarmé imprimirão ao poema visual uma
nova dinâmica composicional que culminará, hoje, na ciberpoesia e nas
poéticas de contexto digital, ou poesia de multimídia, como veremos a
seguir.
1
José Fernandes é professor aposentado da UFG e membro da Academia Goiana
de Letras.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 333
1 – O esotérico
As primeiras criações de poemas visuais são impregnadas,
simultaneamente, por alto grau de misticismo e por preocupações
estéticas, ao ponto de haver poemas inteiramente metalingüísticos, como
o demonstra o poema Ovo, de Símias de Rodes. Essa interação da fôrma
poética com a finalidade do discurso atravessou séculos, a ponto de
Porfyrius Optatianus (324 d. C.), em seu poema Altar, repeti-la mais de
seis séculos depois. A partir do Renascimento, porém, essa fôrma poética
começou a apresentar outras direções semiosféricas. Surgiram poemas
com inteiro teor ontológico, voltados para a condição humana,
ressaltando sua dimensão metafísica e outros, apenas de cunho
louvaminheiro, destinados a angariar a simpatia de algum governante.
A interação da arte poética com a religião, no entanto, prepondera
nos primeiros séculos de exploração das interações construturais da
palavra com sinais, signos e símbolos não verbais. Assim, se analisarmos
o poema de Porfyrius Optatianus, perceberemos, já pela sua conformação
verbivisual, as relações que ele mantém com a religião, uma vez que se
denomina Altar.2 O sacrifício ali ofertado, porque inerente ao simbolismo
2
Veja como eu ergo um altar consagrado ao deus Pítio, polido pelo ofício da arte
musical do poeta. Tão honrado sou, realizando a mais sagrada oferenda, que
convém a Febo e amolda-se àquele templo em que os coros dos poetas
produzem suas aceitáveis dádivas, adornadas com tantas mulheres floridas de
musas, de cada espécie como devem ser colocados nos bosques sonoros do
Helicon. Não artifício polido com afiada ferramenta; eu não era talhado fora
de uma branca rocha da montanha da Luna, nem desde o brilhante pico de
Paros. Não era porque eu era talhado ou forjado com duro cinzel que eu seja
trabalhosamente confinado e carregue às costas minhas armas como eles
tentavam cultivar naquele tempo, em sucessiva porção, deixe-o expandir-se em
sentido mais amplo. Cautelosamente eu forço cada borda para se traçar, linha
por linha, por minúsculos degraus, em linhas viradas para dentro, desta forma
contínua, regulado por toda parte pela medida, de maneira que minha borda,
dentro do limite que lhe determina, o de um quadrado. Nesse tempo de novo,
continuando para a base, minha linha, estendendo mais cheia, é
engenhosamente desenvolvida de acordo com o plano. Sou feito pelo metro de
dez pés. Estipulado que o número de pés nunca é trocado, e a douta medida,
obedece a seus modelos, as linhas de tais poemas acrescidos e decrescidos.
Febo, pode o suplicante que oferece esta pintura, faz o metro, toma seu lugar
alegremente em seus templos e seus sagrados coros.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 334
de altar, assume uma dimensão maior, à medida que o ritual e o rito
compreendem não somente a oferta, mas sua transubstanciação operada
na essência da linguagem, à proporção que ela se transforma em arte, em
objeto poético. Não sem razão, o poeta fala em arte musical, arte musica,
porque o trabalho transformador da linguagem implica a utilização de
métodos inerentes à música, impresso ao vocábulo polido, polita. Do
mesmo modo que o altar constitui o microcosmo do sagrado,
sacratissima, o poema em forma de altar se converte no microcosmo da
linguagem, na medida em que todos os ritos se integram a um ritual
mágico, que tem como objetivo a produção de um discurso que assume as
proporções do ato primeiro da criação:
Neste sentido, o ritual e o rito se revestem, antes de tudo, como
artesania, polivit artifex, uma vez que o altar é o local do sacrifício, da
transformação da matéria lingüística em objeto dos deuses. Se o altar é o
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 335
local em que o sagrado se condensa com maior intensidade, o poema
seria o espaço sagrado do discurso por excelência, à proporção que ele
condensa na linguagem a liturgia do sacrifício — o coro e as litanias — e
a liturgia do poético, que compreende o trabalho duro com o cinzel. Para
consecução destes efeitos semióticos — palavras e signos —, é
imprescindível que o objeto do sacrifício, o altar em que se opera a
transformação, seja trabalhado segundo normas atinentes ao sagrado, pois
é dedicado a Apolo Pítio. Assim, a conformação do poema em altar
requer que todas as arestas sejam aparadas, consoante uma simetria e uma
métrica rígidas, memetra pangunt decamenarum modis, que representam
bem a estética da época, proposta por Aristóteles (1973, 1065), quando
sugeria que as artes devem aproximar-se das matemáticas: Com efeito, as
formas mais estimadas do belo são a ordem, a simetria e a limitação,
coisas que dão a conhecer, em alto grau, as ciências matemáticas.
Não é sem motivo que o poeta insiste que seu altar se erige
mediante versos de dez pés métricos, numero dum taxat pedum, porque
seguindo as normas que regem a simetria e a harmonia, pautadas pelo
metro e pela medida, o poema tem de ser composto segundo modelos
matemáticos, que têm o número como razão e essência. Ademais, como
se trata de um poema dedicado a Pítio ou Febo, epítetos de Apolo, deve
ele ser a própria expressão da harmonia e da beleza, encarnadas por esse
deus, que é luz e personificação do belo. Ora, a luz, na conjunção das
formas que compõem o poema-altar, representa bem a instalação do
sagrado que, no caso, é a própria poesia.
A semelhança do ato poético com a construção de um altar de
sacrifícios e libações materializa a própria arte poética, à medida que o
discurso deve se colocar nas mesmas dimensões que o altar: no alto. A
ação de aparar as arestas revela o tônus divino do discurso, que deve
trazer em si correlações com o sagrado, porque apresenta mistério e
magia, ritual e rito próprios da dimensão sagrada do sacrifício e da
dimensão mágica da poesia. O discurso, assim entendido, se revestiria de
caracteres divinos e humanos, á medida que o poeta se torna um elemento
de intermediação entre criador e criatura. Neste sentido, o altar-discurso
seria o lugar das libações, porque compreende o fazer humano, que
necessita purificar a linguagem e os signos, para poder chegar à essência
da palavra, ao interior do signo, e à matéria da consagração ao deus,
transformando a contemplação do sublime na dupla possibilidade de
ascensão do humano através da arte. Por isso ele obedece às regras,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 336
regula, e cresce e decresce segundo o louvor e a importância que se
atribui ao deus e à poesia.
As formas do poema visual se multiplicaram ainda na
antiguidade, mas alcançaram seu apogeu na renascença, em que se vêem
inúmeros poemas sob a forma de altares, cálices e labirintos, de que
destacamos Labirinto dificultoso, do português José da Assunção, e Altar
e Cálice dos ingleses Goerge Herbert e Puttenhan. O caráter religioso
permanece; mas, na maioria das produções, aquela dedicação aos deuses,
próprias da antiguidade, vista em Teócrito, Dosíadas, Julio Vestino e
Optatianus, transforma-se em louvação aos reis e rainhas. Em termos
estéticos, no entanto, os poemas de cunho religioso são superiores, à
medida que ideológico sobressai, como constatamos, por exemplo, no
poema Labirinto em louvor de Maria Santíssima, do português Luís
Tinoco, que destaca o nome Sacnta, ao colocá-lo no centro do quadrado
que assume configurações altamente polissêmicas, decorrentes da
semiosfera do discurso verbivisual. No momento em que o nome se
coloca no centro, põe-se sob a proteção das letras que o circundam. Por
outro lado, o labirinto materializa o sacrifício a que o devoto deve se
impor, a fim de se aproximar da Santa. Se o nome pelo menos
tangenciasse as laterais do poema, a aproximação entre devoto e Santa
seria facilitada; ele teria certeza de que seus rogos chegaram a ela mais
rapidamente. Ao se colocar no centro, permite que só os ecos do nome
cheguem ao implorante, já que o poema se compõe de um único período:
Sancta Mater istud agas! Faça isso, Santa Mãe!:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 337
Ao colocar o nome Sancta no centro, considerando a importância
da Mãe na doutrina da Igreja, podemos inferir duas interpretações. Se
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 338
atentarmos para o simbolismo do centro como o princípio de onde
emanam todas as coisas, podemos dizer que Ela se confunde com ele, à
medida que o gerou na pessoa do Cristo. Mas, não nos esquecendo de que
a frase toda é um rogo à Sancta Mater, somos levados a crer que o
simbolismo do centro se volta para a figura da Santa como o princípio
para se chegar a Cristo, através da oração.
Sendo o centro a imagem dos opostos, o poeta, através dele,
elabora uma construtura semiótico- semântica que visa a evidenciar as
relações entre o suplicante e a Santa. Enquanto a Santa, pelo fato de haver
gerado o Cristo, tornou-se a Mãe universal, o súplice representa aquele
que se encontra longe do Cristo, porque marcado pelo estigma da
condição humana, ou, como rezam os cânones eclesiásticos, nodoado
pelo pecado original. Trata-se de um poema maneirista e, por isso,
marcado por oposições: enquanto a Sancta Mater é o centro, aquele que
lhe dirige a prece recebe suas dádivas por intermédio de sua sombra.
Este processo de oposições se clarifica ao observarmos que as
letras em vermelho, que compõem o nome Sancta, acrescidas do fonema
M, de Mater, formam dois triângulos opostos. O primeiro, voltado para o
alto, visualiza a Sancta;o que se direciona para baixo se conforma à terra
e às coisas que a habitam. Por outro lado, se considerarmos que o
triangulo invertido é o reflexo daquele que se coloca com o vértice para
cima, representando o lado humano do Cristo e da Sancta, podemos dizer
que o suplicante se encontra no centro. É verdade que mediante
delegação.
Mais do que a Sancta e a humanidade de Cristo, entretanto,
constatamos que os triângulos visualizam a totalidade do sagrado: a
Trindade e a Mãe. Ora, se eles abrangem a integridade do sagrado, o
nome deixa de ser apenas a nomeação de uma divindade e passa a ser
uma palavra-objeto, capaz de albergar todas as potencias da Divindade.
Quem invoca à Sancta, sob esta ótica, dirige sua prece a toda a Trindade.
Os dois triângulos, assim interpretados, substantivam a
proximidade entre Sancta, Cristo, o Pai e o Espírito Santo, sem deixarem,
não obstante no centro, o lado humano, pois eles se encontram em cima e
embaixo. Esta interção do sagrado com o humano proporciona ao
implorante, mesmo sendo sombra e sob a sombra do sagrado, perceber as
graças solicitadas. Sob esse aspecto, o nome Sancta funciona como uma
espécie de palavra mágica, encantatória, como o era, na concepção
hebraica, ABRACADABRA, )rkrk)rk),, se considerarmos, com Matila C.
Ghyka (1959, 146), que o termo encantação deveria ser, em princípio,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 339
reservado à ação pela repetição de uma palavra, de uma fórmula, de
uma assonância, de uma periodicidade prosaica ou musical, quer dizer,
de uma ação, de um ritmo; nós constatamos que o ritmo e sua ação
encantatória estão, às vezes, em uma palavra.
Ao destacar o nome Sancta, o poeta súplice evidencia a magia da
palavra, a fim de que ela, com o poder que encerra e com a representação
que se lhe recai, possa atender ao pedido. O caráter mágico, conforme
postula Matila Ghyka, consiste na operação imediata: a concessão do
benefício. É a palavra, lida a partir do centro, que estabelecerá a distância
entre o suplicante e a Sancta. A recepção da graça solicitada causará no
implorante uma espécie de êxtase, como o que descreve Ghyka, quando
se refere às palavras mágicas.
Esse aspecto mágico inerente à palavra se torna mais claro
quando observamos que a letra inicial do nome, S, avulta-se entre as
demais. Ora, o relevo impresso ao fonema confere-lhe o caráter de
palavra, uma vez que ele se reflete sobre as demais letras, como se,
utilizando a comparação feita por Ghyka (cf. 1959, 146), estivéssemos
diante de uma bobina em que se processasse um sistema de condução de
eletricidade. Essa imagem se quadra inteiramente ao simbolismo da letra
S, em sua concepção hieroglífica: reserva de energias prestes a explodir.
Não se trata de uma explosão qualquer, mais de uma explosão cósmica,
porquanto a efervescência das graças concedidas pela Sancta conjuga-se
à detonação do transcendente, sobretudo se sobrepesarmos que ela é o
princípio, o apoio inerente também à letra S, para se chegar à Trindade,
notadamente o Filho.
Sob este prisma, a letra S deixa de ser um mero fonema e assume
a categoria de palavra, porque o poema se erige mediante uma linguagem
cifrada, condensada, que caracteriza o fenômeno mágico. Como
linguagem cifrada, a palavra também executa uma explosão cósmica de
significados, confirmando-nos as palavras de Matila Ghyka (1959, 146),
ao demonstrar-nos as dimensões do mágico, dizendo-nos tratar-se de
condensação, de liberação, de utilização, aplicação em uma direção
determinante, de energias de essência espiritual, física, desprendendo do
centro ou de reservatórios vivos.
A imagem de explosão de significados e de bênçãos se nos torna
clara, ao verificarmos que o S central se encontra também nas
extremidades do poema, compondo um quadrilátero ou dois, consoante a
visão bipartida que o próprio poema oferece e que representa a oposição
dos dois mundos: o espiritual e o material, o sagrado e o profano, o físico
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 340
e metafísico. É nesse sentido que os S são sombras do maior e que o
suplicante recebe as dádivas através da sombra, porque, mesmo situando-
se simbolicamente dentro do labirinto, lá não se encontra fisicamente,
porque humano e sob o estigma do pecado.
Seguindo esta visão, somente as lavas da explosão chegam ao
suplicante. Os S dos extremos, segundo este princípio, não assinalam
apenas o final do vocábulo agas, mas passam a compor uma entidade
significativa, ou seja, as energias liberadas pelo S do centro. Para
aclararmos o estado de sombra do implorante, temos que voltar aos
triângulos e verificar que, na verdade, seus vértices apontam para cima e
para baixo, dando a impressão de que existe um equilíbrio entre o
humano e o divino, sobretudo porque o Cristo se insere no triangulo
descendente. Se atentarmos para os triângulos formados pelas letras A e
M, verificamos uma predominância esmagadora de vértices para cima,
cinqüenta e nove, contrapondo-se a apenas quatro voltados para baixo,
formados pelo fonema N. É sob este sentido que aquele que roga se
encontra à sombra do sagrado, porque insignificante, como se fosse os S
das pontas do labirinto. As lavas que chegam a ele, a despeito da atenção
da Mãe, fazem-no de forma dissoluta.
Não obstante a letra M apontar para o alto, e até mesmo o mem,
m, hebraico configurar um quadrado com algumas pontas ascendentes, é
ela, levando adiante o simbolismo que lhe é impresso pela conformação
primeira do hieróglifo, a letra da separação das águas do alto, mayin, ym,
das águas de baixo, chamadas ma, m, ou dos limites entre os mundos de
mi, ym, e de ma,hm. Observamos, deste modo, que a trindade, juntamente
com a Sancta Mater, encontra-se nos dois extremos, pois o criador
inexiste sem o criado.
A presença de ma, hm, nos dois mundos, o do alto e o do baixo,
se torna evidente, à medida que os visualizamos nas pontas dos dois
triângulos, o ascendente e o descendente. Patenteando esta afirmação,
ainda o lemos nas direções descendente e horizontal, em todas as
extremidades dos triângulos, como a dizer-nos que a Mater, como ocorre
à Trindade, também se encontra em todas as partes, ouvindo os pedidos
de todos os implorantes.
A estada da Mater no alto e no baixo é materializada pela própria
letra M, à medida que ela conforma os triângulos ascendente e
descendente. Além disso, é ela a letra da Mãe, à proporção que no alto,
representado por Eloim, myhl), Deus, e no baixo, Adão, Md), podemos
visualizar, ao final, a letra M ou mem, que forma a palavra em, M), a
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 341
Mãe3. Assim entendido, a Sancta Maternão é apenas uma configuração
fonêmica, mas uma palavra transcendente, que corporaliza o poder
celestial e o poder maternal, porque Mãe em duplo sentido: no espiritual e
no terreno.
Se o triangulo e a letra M passam a ser , como símbolos e como
signos-palavras a Mãe sendo, em seu mais integral e concreto significado,
sentido idêntico podemos inferir do losango, que também pode ser
visualizado na conformação semiosférica do poema. A mãe, sendo a parte
feminina da divindade, confirmada pelo triangulo, em que encerra toda
uma simbologia ligada à mulher, é ainda mais caracterizada pelo lozango,
que é o feminino sendo. Ao simbolizar a matriz da vida, afina-se à ação
que os filhos imploram: que ela exercite a pratique a sua maternidade,
não somente gerando vida espiritual, mas, de modo especial, que olhe e
proteja os filhos que passam por algum perigo.
Para patentear esta interpretação, o losango, tal como se nos
apresenta, composto de dois triângulos isósceles adjacentes na base,
significaria, segundo Chevalier e Gheerbrant (1988, 558) os contatos e os
intercâmbios entre o céu e a terra, entre o mundo superior e o inferior.
Como estamos diante de um poema maneirista, em que os mundos se
opõem em termos de entronização e de rebaixamento, a figura do losango
se torna um símbolo lapidar nas relações possíveis entre o filho e a
Sancta Mater, à medida que um se situa nos limites do humano e o outro,
no da transcendência.
Sob este prisma, também a letra M, neste poema, deixa de ser
apenas o fonema inicial da palavra Mater, para ser uma palavra in
se,porque impregnada de semias que lhe fazem a construtura semântica.
É segundo esta concepção que a Sancta é, exercita e pratica a
maternidade universal, porque palavra e mãe transcendentes. Mãe que,
juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, zela pelos filhos
súplices.
É por estes motivos que a letra M multiplica o triangulo quarenta
e oito vezes, pois a multiplicidade do triangulo visualiza a explosão da
maternidade e das graças da Sancta Mater até atingir o fonema S do
3
É sob esta perspectiva que se explica a androgenia adâmica, porquanto ele
figura simultaneamente como pai e como mãe, porque Adão, estando inserto na
palavra Eloim, Deus e Mãe, também carrega em si a imagem do duplo: pai e
mãe.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 342
vocábulo agas, posicionado nas extremidades do labirinto. Considerando
que a letra M, como repetição, incorpora os simbolismos inerentes ao
número, passando a simbolizar a humanidade divina, a multiplicação dos
triângulos corporifica a multiplicação desta humanidade, à proporção que
ela atinge todos os filhos suplicantes.
Vemos, deste modo, que o labirinto, além de materializar o
estado de ser do humano, ainda conforma um poema que encerra singular
conformação semiosférica que servirá de modelo às vanguardas
provocadas do século XX, como se verá a seguir.
No século XX, a despeito de pairar uma atmosfera de
materialismo, não desaparece totalmente a utilização de símbolos
religiosos, mesmo que, muitas vezes, sejam usados como alegoria, mas
sem perder suas ligações com as raízes, como ocorre com cálices criados
por Dylan Thomas, Vicente Huidobro, César Leal e Paulo Galvão, ou
com os labirintos de Wladimir Dias-Pino, Clemente Padin ou Fernando
Aguiar. Mas um exemplo de criação do presente sobre o passado é
Memórias de Sefarad, de Leonor Scliar Cabral, que, além de recriar as
canções sefarditas, obedece, em seu plano construtural, à presença dos
judeus na Península Ibérica e à presença de Iavé, subjacente nos atos reli-
giosos, a sustentar-lhes os passos. É por isso que na primeira parte,
momento de estar e de ser do povo, é também o momento da tradição, daí o
reflexo, quase sempre, do simbólico no imaginário poético. Assim, o pri-
meiro texto, intitulado Kidushin4, constrói-se sobre o ritual do casamento,
como o próprio vocábulo o certifica, ao significar consagração. Na página
א
anterior, par, temos apenas álefe, , primeira letra do alfabeto hebraico,
dominando a página de cima a abaixo e projetando-se pelo espaço em
branco e sobre o poema, como se a imagem saísse do espelho, na letra K,
sua correspondente visual, não gráfica, uma vez que a poetisa preferiu, para
representá-la com a letra H, de Himeneu. Quem desconhece o simbolismo e
o significado inerentes a cada um dos signos, não compreenderá o porquê da
letra, seguida do espaço em branco. Ora, o álefe pertence à mesma raiz de
alleph, Pl), que significa ensinar, de onde provém o substantivo alluph,
príncipe, mestre, esposo. O que vemos no poema, senão a fala da virgem,
em sua entrega ao esposo? Himeneu ao festim de nossa aliança/eu te
aguardava na sala reservada./Tímida e ansiosa sob o véu sagrado,/eu não
4
Cerimônia de casamento.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 343
ousava levantar as pálpebras./O momento do desvelo é chegado/e nas mãos
teu tremor ao revelar-me/é transferido ao talit franjado.
Ao encerrar as semias de esposo, outras interpretações se nos
tornam possíveis, como a própria relação do álefe, em sua configuração
ideogrâmica, com o esposo, no sentido de homem-esposo do Gênese,
representado pela cabeça. Sob esta ótica, a esposa passa a ser,
alegoricamente, o povo israelita, em sua relação direta com o Criador.
Reforça este enfoque o fato de o álefe conjugar-se aos simbolismos de
fecundação, clara, também, na simbologia do pé direito rompendo a taça
que, outra coisa não é, senão a conjunção do masculino com o feminino.
Neste sentido, ainda, a esposa se revela como configuração da humanidade,
ou do criado, em sua relação de interdependência com o Criador, também
encerrada nas profundezas dos símbolos de álefe, sobretudo se atentarmos
que ele se liga à semia de calor vital, bem clara no contato das mãos do
esposo com o corpo da virgem.
O poema, assim interpretado, constitui-se de duas partes distintas:
uma, visível e inteligível, percebida na interação verbal, e outra, invisível,
que percorre o espaço em branco da folha e se acopla ao texto que se lhe
adere:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 344
Kidushin
Himeneu ao festim de nossa aliança,
eu te aguardava na sala reservada.
Tímida e ansiosa sob o véu sagrado,
eu não ousava levantar as pálpebras.
O momento do desvelo é chegado
e nas mãos teu tremor ao revelar-me
é transferido ao talit franjado.
Rumo ao dossel, na tenda já me aguardas,
por cedros e ciprestes sustentado.
Salmos nupciais em bênçãos nos embalam
e o vinho do desejo nos embriaga.
Com o despojado anel tu me consagras
pela lei de Israel e a fé mosaica
e com a memória inscrita na palavra.
As bênçãos sete vezes recebemos
e que teu pé direito rompa a taça
lembrando a dor do Templo destroçado.
O invisível, não significa ausência de discurso, mas uma mensa-
gem que se desprende da tradição e da língua hebraicas na evolução de cada
letra a partir dos hieróglifos egípcios. Assim, a relação da letra do início do
verso, H, de Himeneu, com o álefe, não constitui apenas uma seqüência,
como ocorre nos abecês, mas um jogo profundo, à medida que os
significados e os simbolismos de álefe se imbricam à forma e ao conteúdo
de Himeneu, uma vez que esposa, álefe, e casamento, Himeneu, se
completam, porquanto letra e palavra, antes de significarem, materializam e
substantivam o Kidushin.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 345
Nossa postura hermenêutica se torna mais clara, quando veri-
ficamos que o procedimento perpassa, com maior ou menor intensidade,
quase todos os poemas. Assim, o segundo poema, Meu avô, tem como
correspondente a letra beth, p. Todo o discurso se converte numa espécie de
condensação semiosférica da letra, à medida que abrange o lingüístico, o
semântico e o simbólico . Todavia, ao lermos o poema, temos a impressão
de que a letra beth nada tem a ver com seu conteúdo. Entanto, veremos, ao
final, que a referência à casa constitui a reificação sêmica da letra, ou o seu
reflexo, como se o conceito se desprendesse do signo, porquanto ela se
origina da palavra bayit, hyp, que significa casa ─ Que o profeta à mesa
sente/e abram as portas desta casa, agora transformada em templo!
Estabelecendo correlações com o poema anterior, à medida que
ele representa a relação do povo sefardita com Deus, este texto, ao colocar-
se sob o signo de beth, consubstancia esta correspondência, pois representa,
também, criação. Não é sem motivo que a fala do profeta ─ com pão ázimo,
do jugo vos libertarei, o primogênito será poupado, então vos libertarei,
meu braço mostrará o caminho, da dor vos redimirei ─ se torna a palavra
do Criador. Esta interação se robustece, quando verificamos que a esposa do
poema anterior se confunde com a criação, à proporção que, na tradição
hebraica, é ela chamada de a Virgem de Israel.
Cristalizando a trajetória cultural e religiosa do povo judeu, o
terceiro poema, correspondente à letra gimel, g, centra-se sobre um dos mais
significativos acontecimentos da tradição judia: o ano novo. O poema, Tu
Bishevat, ano novo dos frutos, não se prende à poética do festejo; antes,
explora as semias de renovação e de retorno. Mais; constitui uma alegoria
da peregrinação, como se o povo sempre estivesse em viagem e, em
decorrência, em travessia. Estes elementos, expressos, em parte, por signos
verbais, como o comprova o verbo, colocado na primeira pessoa do plural,
do futuro do presente, voltaremos, permitem-nos ler a peregrinatio em toda
a sua extensão mítica, como se o ser lírico estivesse sempre em rito e ritual
de nasa’, CMN, viajar. Entanto, esta semia se materializa, não pela palavra,
mas pelo símbolo, uma vez que, na cultura hebraica, é ele mais forte que o
logos, o hp,, no sentido de verbo divino. Deste modo, quando lemos gimel,
lmg,, como inicial de gamel, camelo, a significação de reservas para uma
longa viagem, travessia, instala-se, como se houvesse se desprendido do
ideograma primitivo, camelo, que dera origem à letra:
Grãos granados de trigo e de cevada
fumegam nas travessas abençoadas.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 346
Figos e uvas, azeitonas, tâmaras,
romãs recém-colhidas das ramagens
que na areia lavada vicejam
formam guirlandas ao longo da toalha.
Fiquem de pé, plantadas as figueiras
e dos platôs, descendo, as parreiras
que em provisória paz as mãos guerreiras
teimaram em renascê-las dos incêndios.
Mesmo curvados sob o cativeiro
para colher teus frutos, voltaremos.
Assim compreendido, todos os componentes alimentícios que perfazem o
ritual se inserem na preparação para a longa viagem que será efetuada, sem
se passar fome nem sede. Daí o acoplamento de gimel, g, voltado para um
lado, com o G, voltado para o outro, como que conformando uma caixa em
que se guardam água e grãos. Esta interpretação se torna evidente, ao
verificarmos que a letra gimel, em sua conformação hieroglífica, assume a
configuração de pilão, que, como um cadinho, contem alimentos
modificados quanto à forma, sem, no entanto, perderem a substância,
porque ainda inseridos em um ritual, tornando-se altamente simbólicos.
Constatamos, por esse e por outros poemas a serem submetidos à
análise que, nas três últimas décadas do século XX, a arte do poema
visual apresenta nuances semiosféricas que instauram uma nova estética,
fincada, entretanto, em princípios estéticos do passado. A mais radical,
iniciada na década de 50, com o Poema de processo, suprimiu a palavra
de alguns poemas e criou polêmica em torno do poético, á medida que
surgem críticos que as não admitem no reino da poesia, feita
eminentemente de palavras. Parece-nos, porém, que, a partir do momento
em que se instaura o estético, gerado na ambigüidade do discurso
eminentemente simbólico, o poético se instala, e, com ele, a literariedade,
conjugada com técnicas inerentes ao discurso pictórico. Assim, se
olharmos para o texto de Hugo Pontes, intitulado Nós, verificamos que
não se trata simplesmente de uma pintura, ou apenas de um simples
objeto visual; mas de um signo impregnado de sugestões semânticas. O
título, pela homonímia verbal, já nos coloca em uma encruzilhada.
Interpretando-o como plural de nó, somos levados, em princípio, a ver
nos nós as dificuldades por que somos acossados ao longo da existência,
mesmo quando o nó se liga ao poder, visualizado pela gravata:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 347
Por outro lado, se o nó da corda se liga a um princípio, o da
gravata que, neste caso, não se liga ao pescoço, mas à corda, transforma-
se também em princípio e em dificuldades, talvez impostas pelo cargo,
pela própria sociedade e, sobretudo, pelo sistema político dominante à
época em que o poema foi composto. Considerando a ligação do nó com
a vida primordial, o lado da condição humana fica mais evidente, uma
vez que se volta para as origens, provando que o homem, mesmo usando
gravata, carrega consigo os limites humanos inerentes á existência.
Desfazer os nós seria uma forma de o homem superar-se e
libertar-se das misérias humanas. Ocorre que, nas circunstâncias impostas
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 348
pelos códigos visuais, seccioná-los ou trespassá-los é praticamente
impossível. Deste modo, materializam eles um status quo intransponível,
à medida que, quanto mais se quer livrar-se deles, mais amarrado se
torna, uma vez que os nós mais se unem e apertam-se ao princípio, à
origem dos limites humanos. Se o desenlace representa a passagem para o
outro estágio existencial, a gravata, ao se entrelaçar com a corda e seus
nós, objetiva um estado de ser irresoluto, incapaz de superar os seus
limites e ascender a camadas mais elevadas, tanto em nível social quanto,
principalmente, em nível ontológico.
Não bastassem estas semias negativas, relativas ao signo nó,
verificamos que ele se acopla também à imagem de forca que, em sua
ambivalência, além de apontar para dificuldades intransponíveis,
correlaciona também a uma espécie de roda da fortuna, ao acaso. Sob o
signo de forca, tanto a vitória quanto a derrota podem ser detectadas.
Entretanto, como predomina nesta forca a presença dos nós, seu
simbolismo reforça a semântica de dificuldade e, sobretudo, do aspecto
vil que perfaz a existência ou o sistema político por ela simbolizado.
Importa verificar, sob esta ótica, que a gravata, símbolo de poder,
ao interligar-se aos nós da corda e à forca, exerce uma semântica às
avessas. Aponta para as amarras que a sociedade e os hábitos mantêm
para aprisionar as pessoas, convertendo um símbolo de poder e de status
social e econômico em signo de prisão e de vileza. Sob esse aspecto, o
poema conforma uma ironia impiedosa à ditadura vigente.
Esta interpretação se confirma, quando verificamos a outra face
semântica de nós: pronome pessoal. É nessa acepção que nós todos
estávamos prisioneiros dos nós da corda e da gravata. Ou seríamos os
próprios nós, à medida que o homem, em sua condição existenciária,
revela-se um mal incurável. Mas, o pronome pessoal nós também pode
simbolizar todos os brasileiros que foram vítimas do poder desmedido do
sistema ditatorial que mandava e desmandava no país à época. O fato é
que o poema, em sua riqueza simbólica proporciona essa duplicidade
interpretativa, a ponto de converter-se em verdadeiro cadinho de
símbolos, que, certamente, propiciam outras interpretações. Depende
apenas da acuidade do leitor descobri-las.
O poema visual, deste modo, passa, como a toda a literatura, a
interrogar o homem, desde a essência ou a sociedade e o mundo que
necessita de transformações, a fim de que o homem possa se descobrir e
conquistar o humano. Para proceder a este trabalho de perscrutação da
essência e do fundamento do homem, todos as semiologias se interagem,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 349
como a semiologia oftalmológica nos poemas de Paulo Galvão, ou a
cardiológica, no Soneto de coração dilacerado, de Rubervan du
Nascimento. O poeta usa, na composição do texto, os gráficos de um
eletrocardiograma. Todavia, a leitura do poema se inicia pelo vocábulo
dilacerado, adjetivo demasiado forte relacionado ao coração, entendido
como símbolo do amor. Sua semântica de aflito, despedaçado, lacerado,
machucado, atormentado, leva-nos a correlacioná-lo a momentos
diversos e contraditórios próprios da dinâmica do lírico e do trágico
inerentes ao amor. A partir, portanto, do titulo, observamos que o lado
semasiológico do poema se prende à leitura dos gráficos que se
apresentam em cada estrofe e nos levam várias leituras.
Em uma primeira interpretação, as ondas P — correspondentes à
contração dos átrios5 —, que compõem os gráficos das três primeiras
estrofes, deixam entrever, ao início, pouca distância entre as formas
sinuosas e planas, que interpretamos como a existência de inter-
relacionamento coeso entre dois seres amantes. Inter-relacionamento que
passa por momentos de tensão, tanto na final da primeira quanto da
segunda estrofe, quando diminuem os picos, e as curvas ficam quase
planas. Consoante com essa leitura, as ondas materializam momentos em
que o relacionamento passa por dificuldades, tanto que, no segundo
terceto, teríamos o total rompimento entre as duas pessoas, resultando no
dilaceramento do coração, materializado pelo gráfico correspondente à
taquicardia. Neste momento, não há oscilação, praticamente, a ponto de
no segundo terceto, mormente no último verso-gráfico consubstanciar
uma arritmia grave, advinda da impossibilidade de o coração voltar ao
estado de repouso, ou de tranqüilidade, ocasionando a morte do amante.
Entretanto, observando os detalhes todos das quatro estrofes, em
que as ondas P e T se alternam com mais veemência, como na segunda
estrofe, constatamos a matéria visual do inter-relacionamento entre dois
seres que, mesmo se amando, são atores de momentos conflitantes. Essa
interpretação se torna evidente, quando, no primeiro quarteto se tem o
retorno à tranqüilidade, como o demonstra principalmente o terceiro
verso, em que as ondas P e T estão em perfeita consonância. Mas, como à
bonança segue-se a tempestade, no segundo terceto, o processo arrítmico
chega ao máximo, e a relação se torna insuportável, resultando em inteira
5
Câmaras superiores do coração encontradas abaixo dos ventrículos direito e
esquerdo.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 350
desagregação dos seres, como se eles reproduzissem a bipolaridade dos
membros materializada pela alternância entre ritmo e arritmia e,
sobretudo, pela alternância entre as ondas6 e o QRS até seu integral
desfazimento. Essas ondas, ao funcionarem como espécies de correntes
elétricas, medem a intensidade com que se operam os movimentos de
sístole e de diástole, ou de energia despendida pelo ser humano em sua
correlação com o outro. Assim, podem empreender momentos de
alternância compreendidos como amor, se o ser estiver realmente para o
outro, naquela concepção defendida pelos existencialistas, ou contra o
outro, como ocorre em instantes de desavença entre os amantes. Esse
processo é substantivado no poema pelas ondas P, que opera a
despolarização e a contração dos ventrículos, e T, que empreende a
repolarização. No caso do poema, o gráfico ascendente, que corresponde
ao fechamento da válvula, final da diástole, não ocorre, visualizando o
processo de dilaceramento do coração.
As freqüências das desavenças entre os dois amantes
assemelham-se, deste modo, às freqüências cardíaca medida pelas ondas
que verificam a condução sanguínea entre os ventrículos. Se não houver a
correção do relacionamento entre os seres, ocorre algum bloqueio de
ramos esquerdo ou direito. Quando o relacionamento não for mais
possível, o bloqueio é integral, nos dois ventrículos, ocasionando a
separação, que corresponde à morte do relacionamento, como o
materializam os gráficos do segundo terceto:
6
As chamadas ondas revelam as voltagens elétricas geradas pelo coração,
registradas pelo eletrocardiógrafo na superfície do corpo.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 351
Outra leitura, também possível, seria exatamente o contrário, à
medida que as ondas eletrocardiográficas representam contrações
auriculares e ventriculares mediante oscilações planas, ascendentes que
revelam um coração comprometido, enfermo. Essa enfermidade,
entretanto, seria transposta para o nível do amor e revelaria o estado de
amar do ser lírico, mormente considerando-o, em princípio, como
sentimento unidirecional. Na primeira estrofe, todavia, em decorrência
das oscilações materializadas pelas ondas, ter-se-ia um relacionamento
em que o afeto não demanda, ainda, uma posição definida. Assim, se na
primeira leitura houve rompimento das relações entre os seres amantes;
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 352
nesta, haverá a plena união, resultando, inclusive, em um processo erótico
que passa por fases em crescendo e diminuendo, como se os amantes
executassem movimentos musicais distintos. Consoante esta ótica, nos
dois primeiros versos, as ondas conformariam um indivíduo em uma
situação pré-lírica, ou pré-amorosa. Porém, nos dois últimos versos do
primeiro quarteto, elas já denunciam aquele insite inicial, provindo de
uma piscadela de olhos, de um sorriso, matérias de sintonia que se
estabelece entre um ser e outro.
No segundo quarteto, as oscilações, mormente nos dois últimos
versos, diminuem a freqüência, objetivando a aceleração das contrações
das cavidades cardíacas, mostrando que o coração se encontra em ação, e
o desejo, naquela acepção do ser-um-para-o-outro, segundo uma
concepção metafísica, intensifica-se. Na escala erótica que se vai
instalando no poema, substantivada pelo jogo processado entre as ondas
auriculares e ventriculares, verifica-se o início de uma atividade
libidinosa, que se poderia definir como preliminares.
No primeiro terceto, observamos o aumento da freqüência e,
conseqüentemente, das contrações das aurículas, causadas pelo contato
direto dos corpos. O último verso do terceto constituir-se-ia a matéria
visual do coito, à medida que o coração já se coloca em movimentos
plenos que culminam na passagem para o segundo terceto, momento de
extrema taquicardia, visualização do orgasmo a que George Bataille
chama de pequena morte ou, na percepção do poeta, instante em que o
coração se dilacera, em perfeita imagem do amor pleno, ou de uma
perfeita escatologia do amar.
O poético, como vemos, pode se encontrar na letra, na palavra e,
muitas vezes, nos símbolos. Basta que alguém saiba aplicar aquele
sentido do fazer empregado pelos gregos e inseri-lo na construtura
semiosférica do discurso, e o leitor seja capaz de sorvê-lo como objeto do
prazer de ler e, sobretudo, do prazer de caminhar entre signos e poder
admirá-los.
2 – O cibernético
A exploração de recursos visuais para se obterem efeitos
estéticos e semânticos passará por verdadeiro salto crítico chardeniano
com o advento do computador, pois, em decorrência de suas múltiplas
funções, em que a cibernética, kubernvtixo¿, exercita realmente o seu
significado de condutor, de piloto, possibilita ao poeta, notadamente
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 353
aquele que se dedica ao poema visual, à ciberpoesia, transformar-se em
kubernh¯tv», piloto, e em kubeuth¯», em jogador de dados, como o
queria e como o fez Mallarmé. O poeta, assim entendido, será o
kubeutixo¯», hábil nos jogos de dados, hábil nos jogos de palavras e de
sinais que multiplicam os signos e seus semas no tabuleiro do poema.
Este poeta cibernético e kibêutico pode ser percebido no poema a que
Antonio Miranda, sob o pseudônimo de Da Nirhan Eros, intitula Basta7,
composto pela palavra-título, aposta a uma parede formada pelo vocábulo
muro, configurando um paralelogramo. Se o vocábulo muro, em si e por
si, carrega a simbologia de proteção, a fim de que o superior não se
contamine pelo inferior, a partir do momento em que ele assume a
semântica de prisão, de cerceamento da liberdade, entendida como uma
das mais profundas formas de manifestação do humano, o poema se
transforma em um cadinho de símbolos conformados pelo humor e pela
ironia. A visualização perfeita de seis colunas de palavras poderia apontar
para o significado pitagórico deste número, poder; mas, como na sétima
coluna a letra [o] foi suprimida, ironiza-se este tipo de poder,
notadamente político, dominado por tiranas ideologias. Ironia que se
avulta, à medida que o número, sete, mesmo tendo o vocábulo
incompleto, simboliza a perfeição, e o muro, tal como é retratado no
poema, revela a máxima insensatez do poder:
7
Versão animaverbivisual no link
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/poesia_visual.html.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 354
A ironia como que se materializa, se torna palpável, como que
com o dedo, ao verificarmos que a letra [o] em sua conformação
hieroglífica significa olho, visão. Ora, nada mais cego que construir um
muro para separar pessoas, para impedir a liberdade do ir-e-vir. Além
disso, a letra [o] se correlaciona diretamente com o círculo e, portanto,
incorpora significados de perfeição e, de movimento, ao significar fonte,
que pressupõem a existência, a prática e a práxis da liberdade. Não sem
motivo, as palavras se repetem sete vezes na vertical e na horizontal,
tornando a perfeição digna de riso, de mofa, como o comprova a palavra
móbile basta dissolvendo-se sobre o concreto do muro.
A dissolução do móbile basta revela a amplidão simbólica do
vocábulo-poema muro, que perde o conhecido referencial histórico e se
insere na dimensão metafísica, à medida que encerra todo tipo de
opressão, de cerceamento da liberdade. A dissolução dos fonemas ante a
dureza do concreto evidencia esta interpretação e mostra, ao mesmo
tempo, uma espécie de imponderabilidade do mal. Por outro lado, o fato
de aparecerem apenas as sombras da palavra na linha inferior do poema,
aliada à supressão do fonema [o] reitera um dos aspectos simbólicos de
muro, enquanto representação de sistemas e de ideologias políticas: o
inevitável desmoronamento, uma vez que, como diz o provérbio, não há
mal que sempre ature.
Importa ressaltar que o móbile basta, ao empreender os
movimentos reais de dissolução, converte a fôrma semiótica do poema
em matéria significante densa de significados, dificilmente conseguidos
por intermédio da palavra estática colocada sobre as outras. Assim
entendida, a dissolução do móbile, aliada à fragmentação parcial do
muro, substantiva as dificuldades de se destruírem todas as barreiras
ideológicas existentes entre povos, pessoas e sistemas políticos. Mas, ao
verificarmos que todo o poema se encontra dentro do paralelogramo,
temos a confirmação e a materialização da ironia, uma vez que ele, como
o quadrado, revela-se antítese do transcendente, ou seja, de uma ideologia
que se não sustenta por si mesma.
Todavia, ao visualizarmos a versão impressa, em que o vocábulo
basta se encontra estático frente ao muro, constatamos que a ironia vai
além da dissolução da palavra, uma vez que a ideologia impressa ao
poder ultrapassa à metafísica da liberdade. Isso quer dizer que, a despeito
de a maioria manifestar desejo de que os muros se acabem, elas estão
sempre presentes na história da humanidade, uma vez que o possível
esfacelamento do muro não implica a destruição da ideologia. O resultado
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 355
é a dissolução da palavra basta, como se ela fosse inútil diante das
potências do poder ou a posição estática que materializa a própria
impotência diante dos muros insanos das inúmeras formas de tiranias.
Assim interpretado, o conflito entre basta e muro assume uma dimensão
em que a linguagem visual incorpora uma semântica possível de ser
percebida apenas em sua face metafísica. É desse modo que vemos a
linguagem em toda a sua extensão poética e, em decorrência, em toda a
condensação do estético.
A arte, qualquer que seja, visa a cristalizar e a revelar o ser do
homem no mundo de forma estética. Por isso, a história das artes
entendida como evolução das formas e das fôrmas artísticas, percebidas
segundo uma dimensão semiosférica, encerra também a história da
humanidade, com suas interfaces de grandeza e de pequeneza, de sublime
e de miséria, de inteligência e de estupidez. Os avanços tecnológicos, ao
colocarem-se a serviço das artes, não eliminam o lado pequeno, ínfimo e
estulto da humanidade. Antes, são utilizados para materializar e para
ironizar os limites do homem, consoante a polissemia inerente à
linguagem, compreendida em sua composição de signos, de sinais e de
símbolos, como se lê no ciberpoema, ou vídeo-poema, Não é Black x
White – nós é mestiço,8 em que ela assume uma dimensão
ontologicamente diferenciada. A oposição Black/White – branco/preto –
oriunda de um preconceito, infelizmente criado pela mente de alguns
pobres de espírito, porquanto essa desgraça não existisse nestes brasis, é
materializada no poema mediante procedimentos semiosféricos inúmeros,
que instauram a ironia e o humor e mediante a negação dos contrários e,
sobretudo, do contraditório. A ironia, antes de se inserir nas palavras, em
inglês, a fim de imprimir um tom universal à nefanda acepção de
racismo, inscreve-se no signo, no sinal e no símbolo [X] que, em vez de
materializar a semântica de oposição, de rivalidade, de antagonismo,
substantiva a noção de mistério inerente à essência da letra em sua
concepção hieroglífica, como a interrogar: a quem interessa a
disseminação desse perverso e abominável preconceito?
Ademais, a correlação da letra [X] com as cores preta e branca
evidencia exatamente o mistério da insensatez, fulcralmente marcada pela
8
Ver o vídeo-poema no link
http://www.antoniomiranda.com.br/livros/poesia_e_ciberpoesia_imagens_em_
movimento.html
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 356
má-fé, por intenções escusas, à medida que a interação entre elas, em
substância, depende de prismas propagados pela luz, como já o
demonstraram cientificamente Newton e Goethe e praticaram Kandinsky
e Paul Klee na arte pictórica. Consoante essa perspectiva, as diferenças
entre elas constituem apenas ilusão de ótica e, em decorrência, cegueira,
uma vez que a oposição só existe nos olhos de quem não tem luz, como
se o cérebro do racista fosse incapaz de processar os matizes inerentes a
cada cor. Essa interpretação longe de ser uma ilação sofística,
consubstancia-se pela visualização da matéria poemática
animaverbivisualizada, em que as pessoas em movimento perdem o
contorno e, em decorrência, se tornam massa indiferenciada e, portanto,
sem referencial cromático próprio de cada raça. A ironia se adensa, à
medida que os passantes são identificados, se é que assim se pode
afirmar, unicamente pelas cores das roupas. Trata-se, entretanto, de uma
identidade que é multiplicidade, uma vez que elas se perdem no
burburinho e, sobretudo, na rapidez com que se movimentam sem se
poder determinar nenhum ser em especial. Por isso, se vêem diferenças
apenas pela metade, uma vez que o racismo configura uma visão estreita,
pequena e, portanto, execrável do ser do homem, que se percebe apenas
em humanidade e, não, em humano, porque inteiramente destituído do
sublime, do superlativo de ser. Mais impiedosa a ironia, ao constatar-se
que as cores só aparecem nas partes baixas dos membros, a mostrar que
ver os seres em um contexto racial assemelha-se a verificá-los apenas no
sentido terra-a-terra, como se fossem vistos sem os matizes que a luz
confere ao olhar em profundidade. O racismo, assim compreendido,
configura uma espécie de doença, o astigmatismo, pois o racista é incapaz
enxerga as cores de forma homogênea, à medida que tem a luz e o
cérebro refratados.
O texto verbal, extraído do filme de Glauber Rocha, Deus e o
diabo na terra do sol, recitado em sussurro, com voz cavernosa, traduz
bem a percepção obscura de quem se revela racista, porquanto fechado,
sem que se possa ferir nem matar e nem o sangue do corpo derramar. A
ironia se torna cruel, à proporção que se observa que a frase, mais que
intertextualizaçao, é repetição pura e simples de uma oração
afroubandista usada para fechar o corpo. No contexto do poema, ela se
torna ainda mais irônica, à medida que se cognomina Oração do justo
juiz. Justo juiz, ou juízo, que se carrega de humor ferino, no momento em
que se fecha o corpo exatamente contra o racismo, uma vez que os
brasileiros são mestiços. Não o fosse, e estudiosos da estirpe de Darcy
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 357
Ribeiro e Gilberto Freyre não perderiam seu tempo, a fim de comprovar o
óbvio, mas necessário aos olhos míopes e hipermetrópicos dos
demagogos, para quem o Brasil não tinha história e, portanto, não existia
até o início do século XXI. Mas, esse enclausuramento e, mormente, esse
embotamento antroposófico, patenteiam-se, notadamente, em nível
mental, na segunda parte do título do poema – nós é mestiço, pois ser
racista, em um país como o Brasil, é ignorar a conformação antropológica
do povo, visto que a maioria absoluta da população provém de algum tipo
de cruzamento que compreende todas as raças. Portanto, ser racista é
realmente ter a cabeça fechada, é não se enxergar no concerto
antropológico, antroposófico e sociológico da nação.
Para mais se materializar o absurdo da ideologia, as cores das
roupas se aglutinam e se amalgamam em matizes indefinidos do mesmo
modo que as pessoas, no corre-corre das imagens e na indefinição de
contornos operados exatamente na parte superior do tronco a constituir-se
objeto e matéria de miscigenação típica do brasileiro. Além disso, mais se
ironiza, à proporção que as cores predominantes, verde, amarelo e azul,
tanto em movimento, quanto em imagem congelada, substantivam as
cores da bandeira que é signo, sinal e símbolo do povo e da nação.
A mensagem do poema, entretanto, vai mais longe, ao empregar,
em sua conformação verbal, a distonia sintática e semântica entre o
pronome pessoal e a pessoa do verbo ser, no indicativo presente,
porquanto indica um ser plural singular ou singular plural, que é o
mestiço, e a linguagem, permitida e aconselhada pelo órgão máximo – ou
mínimo? – da educação do país. A adoção de uma variante popular de
linguagem, verdadeiro idioleto, para justificar a chamada inclusão social,
além de demagógica, é altamente preconceituosa: tão ou mais que a
racista, pois, ao se empregar a língua, instrumento de identificação ôntica
e ontológica, social e metafísica do povo e da nação, é necessário que se
observem os momentos em que ela é utilizada e, não, simplesmente
declarar uma forma admissível indiscriminadamente, ao confundir
educação e cultura com política no mais abjeto dos sentidos, uma vez que
é prática e exercício de sofismas. O preconceito lingüístico criado pelos
ideólogos de plantão é tão deplorável e detestável quanto o racista. É por
isso que esse ciberpoema, aparentemente destituído de fundamento
estético, é perfeito e, em decorrência, é sublime, porque superlativo de
arte poética em linguagens múltiplas, semiosfericamente elaboradas.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 358
Já o poema Hombre caminante,9 do poeta uruguaio, Clemente
Padim, em sua configuração congelada, representa um ser conformado
por signos que mostram a inter-relação perfeita entre homem e
linguagem. Inter-relação que se adensa, à medida que os signos
espatifados não formam nenhuma palavra, levando-se a interpretar o
poema como um homem que perdeu a linguagem verbal e incorporou
uma série de signos e de sinais em decorrência de seu estado de objeto,
perante o excesso de informações típicas da modernidade.
Por outro lado, a imagem em movimento, ou animaverbivisual,
mostra um ser também composto de signos, mas em uma dimensão mais
profunda da linguagem, porquanto materializa realmente um ser
simbiótico, a caminhar sempre para frente, naquele sentido de homo
viator, em que se é compelido a empreender uma travessia existencial.
Ter-se-ia, assim interpretado, um homem de linguagem semiosférica, à
medida que ele incorpora todos os signos necessários para ser e revelar-
se, não dispensando os signos cibernéticos próprios da modernidade.
Porém, trata-se de um homem destituído de interioridade, à medida que
caminha sempre para frente, e a perspectiva metafísica do homo viator
requer que ele caminhe, antes de tudo, para a essência, pois caminhar
sempre para frente, sob a ótica da ontologia, não leva a lugar algum.
Todavia, se se observar bem a figura em movimento, verifica-se que os
signos se movimentam também para o interior do ser, substantivando o
verdadeiro sentido do caminhar, entendido como mergulho dentro de si
mesmo. De qualquer modo, o fato de os signos não comporem nenhuma
palavra, especificamente, leva à interpretação de que esse Caminante é a
matéria e a substância do homem moderno, marcado por aquela angústia
metafísica revelada, segundo Heidegger, por uma linguagem espatifada.
Esse espatifar-se, ao ser contraposto à figura que caminha não se ligar a
uma perspectiva metafísica, porquanto o Caminante apenas caminha. Não
apresenta aquele aspecto de figura pensante, como se vê na estátua de
Rodin. Ele está mais para um ente autômato que para um ser que se
pensa:
9
Veja o poema animado no site
http://www.blocosonline.com.br/literatura/poesia/poedigital/poedig001.htm
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 359
Outra interpretação possível, considerando o fato de a cabeça da
figura humana, formar-se pelo número um, repetido três vezes, e por
zeros colocados à esquerda, também três vezes, e o cifrão, objetiva o
homem voltado apenas para a matéria, para o lucro e o consumo, tal
como se observa na atualidade. O número, ao apontar para a unidade,
constituiria uma atitude louvável, não fosse ele repetido três vezes. O
ternário, símbolo, por excelência, da ação, materializa, nessa
interpretação, um homem sem interioridade, porque conformado à ação e,
não, à busca da essência. Essa ação se confirma pela presença do
vocábulo ON a significar que ele está sempre ligado aos números, aos
cifrões de forma mecânica, apenas como matéria e, não, como busca do
humano. Assim entendido, a linguagem se espatifa exatamente porque
não lhe interessa a sua dimensão metafísica, mas a sua transformação em
instrumento de lucro, materializado pelo cifrão e pela seqüência
numérica. Essa leitura se reforça, ao verificarmos que, além da cabeça, a
parte que corresponde ao pescoço, sustentáculo da cabeça e ligação entre
ela e o corpo, se compõe de pontos, vírgulas e outros signos matemáticos,
que substantivam nossa interpretação de ser esse homem apenas um
caminhante destituído de dimensão metafísica. Não o fosse, e esses
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 360
signos não se sobreporiam às letras responsáveis pela formação das
palavras, entendidas como forma e matéria do humano.
Ainda corroborando com nossa interpretação, observamos que a
maioria dos signos que conformam o Caminante são símbolos utilizados
nas operações matemáticas. Em decorrência, o indivíduo que caminha
seria muito mais números e cifras que letras conformadoras de palavras.
Assim entendido, esse ente caminhante realmente está caminhando
sempre para frente, uma vez que não revela nenhum sentido essencial do
humano, mas a dimensão da matéria, de que os números, atualmente, são
a mais perfeita representação. Essa simbologia se torna ainda mais
evidente, ao observarmos que os dois únicos ponto e vírgula existentes
nesse discurso, encontram-se nas costas exatamente porque, a cada passo
que ele empreende, está mais longe de si mesmo, naquele sentido de
substância humana.
A dimensão da matéria, representada por sinais matemáticos,
torna-se ainda mais evidente, quando observamos que os sinais de =
criam uma ambigüidade imensa, à medida que nunca anunciam um
resultado perfeito, porquanto o um ou está antecedido pelo sinal de – ou
por sinais que não representam positividade em relação à essência do
indivíduo, considerando que se trata de um ente incógnito. Mas, esse
estado de matéria do Caminante se torna perceptível, como que com o
dedo, ao constatarmos que não vê em sua composição matemática o sinal
de +, a mostrar que se trata de uma pessoa que acumula números, mas
nada soma à sua essência. Mesmo porque o centro de seu ser é formado
por cifrão e arrobas, símbolos essencialmente relacionados aos bens
materiais.
A circunvolução dos signos nos movimentos empreendidos pelo
caminhante não se revestiria dos mesmos efeitos semânticos se a figura
não fosse animada, porque não se observaria o vai-e-vem das cifras na
cabeça e no corpo. Esse ir-e-vir dos signos, mormente aqueles típicos da
matemática, materializa um estado de perda e ganho, de ser e não-ser, à
medida que a matéria tende a ser imatéria, não porque a persona atingiu
um estado de ser; mas exatamente por caminhar entre o número e o
número, entre o igual e o negativo, entre a arroba e o cifrão. Não sem
razão, o ente criado por Padim caminha no vazio, a materializar a viagem
para o nada, visto ser essa persona inteiramente destituída de
interioridade, de valores permanentes, que o faça caminhar, também, para
a verticalidade do sublime, entendido como o encontro do homem com o
humano.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 361
Verificamos, por essas análises, que o poema visual passou pelas
mesmas transformações construturais verificadas no discurso poético
verbal, a fim de acompanhar as diversas circunstâncias existenciais
sofridas pelo homem e pela sociedade ao longo do tempo, uma vez que
elas implicam, também, transformações nos padrões estéticos de todas as
artes. Assim, o advento da multimídia exigiu, não apenas que o poema
seja visto em sua conformação estática; mas, sobretudo, em movimentos,
que imprimem ao discurso novas dimensões semânticas, tornando-o mais
expressivo, visto que a imagem em movimento incorpora a polissemia
inerente ao poético.
Bibliografia
ALLENDY, René. Le symbolisme des nombres. Paris: Chacornac Frères, 1984.
CHEVALIER. Jean & GHEERBRANT, Alain. Dictionaire des symboles. Paris:
Robert Laffont/Júpiter, 1969.
DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Trad.
Mauro Armiño. Madrid: Taurus, 1982.
FERNANDES, José. O interior da letra. Goiânia: UCG/SMC, 2007.
. O poema visual. Petrópolis: Vozes, 1996.
. O poeta da linguagem. Rio de Janeiro: Presença, 1983.
. O selo do poeta. Rio de Janeiro: Galo Branco, 2005.
. Poesia e ciberpoesia. Goiânia: Kelps, 2011.
FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna. São Paulo: Duas Cidades:
1978.
GHYKA, Matila C. Le nombre d’or. Paris: Gallimard, 1959.
HATHERLY, Ana. O prodígio da experiência. Lisboa: Imprensa Nacional,
1983.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 362
HEIDEGGER, Martin. Arte y poesia. México: Fundos de Cultura Econômica,
1982.
HEIDEGGER, Martin. Chemin que ne mene a nule part. Paris: Gallimard, 1962.
KANDINSKI, Wassily. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Barra/Labor,
1986.
KEPES, George. El language de la visión. Buenos Aires: Infinito, 1969.
MIRANDA,
Antonio.http://www.antoniomiranda.com.br/livros/poesia_e_ciberpoesia_imagen
s_em_movimento.html
PADIN, Clemente.
http://www.blocosonline.com.br/literatura/poesia/poedigital/poedig001.htm
SKARIATINE, Michel Vladimirovitch. La langue sacrée. Paris:
Maisonneuve&Larose, 1984.
SOUZENELLE, Anncik de. La lettre chemin de vie. Paris: Dervy-Livres, 1987.
WARRAIN, Francis. Théodicée de la kabale. Paris: Guy Trédaniel, 1984.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 363
RESENHAS
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 364
RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Análise de
Discurso Crítica. São Paulo: Contexto, 2006.
Wellington Costa1
A Análise do Discurso Crítica (ADC), de acordo com Fairclough
(2001), é uma abordagem que absorve conceitos e métodos oriundos da
Linguística e das Ciências Sociais para a análise de textos. Entretanto,
conforme Viviane de Melo Resende e Viviane Ramalho, professoras do
Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB), apesar do interesse
cada vez maior de pesquisadores pela ADC, há uma defasagem de obras
introdutórias na área. Por isso, com o objetivo de contemplar os interesses
de iniciantes nesse campo de conhecimento, as pesquisadoras referidas
apresentam uma revisão da obra de Norman Fairclough. Em seu livro,
Análise de Discurso Crítica, as autoras revisam os princípios básicos das
obras do linguista britânico e fazem reflexões sobre aspectos das Ciências
Sociais.
A obra é dividida em quatro capítulos, iniciando com questões
teóricas e finalizando com exemplos de análises realizadas pelas próprias
autoras.
No primeiro capítulo – Noções Preliminares – elas localizam a
ADC e apresentam as diferenças entre formalismo e funcionalismo;
asseguram que esta é a concepção de linguagem válida para os analistas
do discurso, porque associa forma e significado.
As autoras se referem também à orientação social e linguística da
ADC, ressaltando as contribuições de Bakhtin (relação da língua com o
usuário, substituição do enunciado pela enunciação e visão polifônica e
dialógica da linguagem) e de Foucault (língua como constitutiva do
sujeito, relação entre discurso e poder e mudança na prática discursiva em
decorrência da mudança social).
Para finalizar o capítulo, as professoras descrevem a origem e o
desenvolvimento da ADC, destacando a proposta de Fairclough para a
análise de discurso linguisticamente orientada e as bases para se atingir
este objetivo: visão científica de crítica social, enquadramento no campo
1
Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE) e Mestre em Educação. Email: ms.wellington@gmail.com
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 365
da pesquisa social crítica sobre a modernidade tardia e teoria e análise
linguística e semiótica.
No capítulo dois – Ciência Social Crítica e Análise de Discurso
Crítica – são destacados cinco itens, como se apresenta a seguir.
i) Discurso como prática social:
Aqui as autoras afirmam que o uso da linguagem como prática
social é constituído socialmente e constitutivo de identidades e sistemas
de conhecimento e crença, portanto o discurso é construído pela estrutura
social e constitutivo dela.
Elas enfatizam, ainda, a concepção tridimensional do discurso,
proposta por Fairclough (2001).
Embora não esteja referido no livro ora resenhado, é oportuno
observar o pensamento de Costa (2007, pág. 76-77): “Esta sequência
[texto, prática discursiva e prática social] é útil porque permite ordenar a
inserção de um sujeito em uma amostra discursiva particular antes de
apresentá-la na forma escrita. Cria-se, portanto, uma progressão analítica
da interpretação à descrição e de volta à interpretação: da interpretação da
prática discursiva (produção e consumo do texto) à descrição do texto e à
interpretação de ambas, conforme a prática social em que o discurso se
situa.”
ii) Discurso na modernidade tardia:
A modernidade tardia é descrita como as descontinuidades
institucionais em relação à cultura e aos modos de vida pré-modernos.
Para Guidens, criador dessa teoria, as pessoas escolhem estilos de vida
(construção reflexiva) ao contrário do passado, quando as escolhas eram
determinadas pela tradição. No entanto, é preciso admitir a existência de
sujeitos a quem a condição social é imposta, e eles não têm o direito a
escolhas.
iii) Discurso como um momento de práticas sociais:
Neste item, as autoras apresentam as três razões de Chouliaraki e
Fairclough (1999) para esse enquadramento do discurso: maior abertura
nas análises, interesse na análise de práticas decorrentes de relações
exploratórias e articulação entre discurso e outros elementos sociais na
formação das práticas.
iv) Discurso e luta hegemônica:
É retomado o conceito de Gramsci para hegemonia: domínio
exercido pelo poder de um grupo sobre os demais, baseado mais no
consenso do que no uso da força. Assim o poder jamais é atingido senão
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 366
parcial e temporariamente na luta hegemônica; e isso está em
conformidade com a dialética do discurso proposta por Fairclough.
São destacadas também as relações entre discurso e hegemonia:
1. Hegemonia e luta hegemônica assumem a forma de prática
discursiva em interações verbais (é a dialética entre discurso e
sociedade).
2. O discurso é uma esfera da hegemonia, a partir de práticas e
ordens discursivas que a sustentam. A hegemonia é quem ressalta
a importância da ideologia.
v. Discurso e ideologia:
Para as autoras, uma representação é ideológica quando contribui
para a sustentação ou para a transformação de relações de dominação.
Daí a importância de a análise do discurso ser orientada linguística e
socialmente.
O conceito de ideologia adotado pela ADC é baseado nos estudos
de Thompson (2007), para quem ela é, por natureza, hegemônica, pois
estabelece e sustenta relações de dominação e, portanto, reproduz a
ordem social.
Baseadas em Thompson, as autoras apresentam os modos gerais
da ideologia: legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e
reificação.
No capítulo três – Linguística Sistêmica Funcional e Análise de
Discurso Crítica – as autoras apresentam os aspectos linguísticos da
análise do discurso. Elas afirmam que a teoria social do discurso se
orienta linguisticamente pela Linguística Sistêmica Funcional, de
Halliday. Apresentam também as macrofunções da linguagem
(ideacional, interpessoal e textual), conforme Halliday, e a perspectiva do
desenvolvimento multifuncional da linguagem, segundo as funções
identificadas por Halliday (1991), Fairclough (2001) e Fairclough (2003).
Quanto a significado acional, as autoras destacam que a prática
social produz e utiliza gêneros discursivos particulares, que mobilizam
discursos de forma relativamente estável em contextos históricos, sociais
e culturais específicos.
No que se refere a significado representacional, elas afirmam que
diferentes discursos representam diferentes perspectivas de mundo,
conforme as diferentes relações que as pessoas têm com o mundo e com
as outras pessoas.
Para o significado identificacional, elas lembram que estilos se
relacionam à identificação de atores sociais em textos e que as
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 367
identidades e diferenças, por serem construções simbólicas, tornam-se
instáveis, portanto sujeitas às relações de poder e às lutas hegemônicas.
Para a ADC, no embate discursivo a estabilização é sempre relativa,
porque os sujeitos são agentes sociais criativos e capazes de criar e de
mudar identidades discursivas.
O capítulo quatro – Exemplos de práticas de análises – mostra
alguns exemplos de aplicação do referencial teórico-metodológico da
ADC em análises conduzidas pelas autoras. Na primeira parte, é
apresentado um recorte do trabalho “O discurso da imprensa brasileira
sobre a invasão anglo-saxônica ao Iraque”. A análise focalizou três
categorias: intertextualidade, representação de atores sociais e metáforas,
de modo a evidenciar a relação entre o evento concreto da invasão ao
Iraque como um conjunto de práticas sociais da instauração e sustentação
de uma “nova ordem mundial”, liderada pelos Estados Unidos. Na
segunda parte do capítulo, são analisados os significados acional,
representacional e identificacional de um folheto de cordel intitulado
Meninos de rua, parte de uma pesquisa feita por Resende (2005). A
análise linguística revela a postura crítica do autor do cordel em relação à
falta do Estado para com suas funções sociais.
Embora a leitura seja bastante didática, especialmente para
pesquisadores iniciantes na ADC, ela é bastante limitada nos seguintes
aspectos: contextualização com obras de autores brasileiros e
estrangeiros, especialmente os pioneiros em ADC; críticas à ADC; e
referências a novas tendências e objetos para a ADC, como a análise de
imagens.
REFERÊNCIAS
CHOULIARAKI, L.; FAIRCLOUGH, N. Discourse in Late Modernity.
Rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press,
1999.
COSTA, E. W. C. Análise crítica do discurso no gênero introdutório: o conceito
de professor reflexivo em monografias de especialização na UECE. [Dissertação
de Mestrado]. Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2007.
FAIRCLOUGH, Norman. El análisis crítico Del discurso como método para la
investigación en ciencias sociales. In: WODAK, R.; MEYER, M. Métodos de
análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 368
--------------------- Discurso e mudança social. Izabel Magalhães, coordenadora
da tradução, revisão técnica e prefácio. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 2001, 2008 (reimpressão).
HALLIDAY, M. A. K. Context of Situation. In: HALLIDAY, M. A. K.;
HASAN, R. (org.) Language, Context and Text: aspects of language in a social-
semiotic perspective. London: Oxford University Press, 1991.
RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Análise de discurso crítica.
São Paulo: Contexto, 2006.
------------- Viviane de Melo. Literatura de cordel no contexto do novo
capitalismo: o discurso sobre a infância nas ruas. [Dissertação de Mestrado].
Brasília: UnB, 2005.
THOMPSOM, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era
dos meios de comunicação de massa. Tradução do Grupo de Estudos sobre
Ideologia, comunicação e representações sociais da pós-graduação do Instituto
de Psicologia da PUCRS. 7 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 369
A PASSANTE SOLITÁRIA DE ALGUM LUGAR
Aline Menezes1
Paloma Vidal – Algum lugar
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009.
Primeiro romance da escritora argentina radicada no Brasil, Paloma
Vidal, Algum lugar apresenta um casal que se muda do Rio de Janeiro para Los
Angeles. A narradora protagonista, sob o pretexto de escrever a sua tese de
doutorado, muda-se para um apartamento nos Estados Unidos, acompanhada do
marido cujo nome é identificado apenas pela letra M. Ela, filha de uma argentina
expatriada, e M formam o casal recém-chegado que tenta pertencer a algum
lugar, enquanto luta para escapar da sensação de deslocamento. Além dessa obra
de 2009, a autora também publicou os livros de contos A duas mãos (7Letras,
2003) e Mais ao sul (Língua Geral, 2008) e integra o volume 25 mulheres que
estão fazendo a nova literatura brasileira (Record, 2004), entre outras
antologias.
O romance está dividido em três partes: 1) Los Angeles, 2) Rio de
Janeiro e 3) Los Angeles. A própria separação do livro dá indícios das estratégias
narrativas da autora, que faz alusão a uma rota, percurso ou trajeto de viagem. A
narração em primeira pessoa predomina, mas desaparece em determinados
momentos quando a história é contada em terceira pessoa ou, até mesmo,
segunda. Logo nas primeiras linhas de Algum lugar, para utilizar o conceito do
antropólogo francês Marc Augé, o cenário apresentado é um “não-lugar”, é um
espaço transitório: o saguão do aeroporto de Los Angeles, por onde circulam
indivíduos de diferentes nacionalidades, culturas, sotaques, idiomas, entre outras
marcas identitárias.
Na definição de Augé, os não-lugares não possuem características
pessoais, seriam espaços de anonimato no dia a dia, descaracterizados,
impessoais. Em Algum lugar, portanto, é possível que o saguão do aeroporto seja
o ambiente metonímico de como a narradora, que é a figura central do romance,
sente-se ao longo da história: sem pertencer a nenhum lugar em meio a tantas
aparentes possibilidades de pertencimento. É lá que a narradora desembarca e
permanece à espera de M, e é a partir desse momento que tem início toda a
narrativa de Paloma Vidal, que reúne os conflitos de adaptação de quem se muda
de um lugar para outro, a sensação de deslocamento, desamparo, entre outros
sentimentos e aflições comuns não apenas à experiência de mudança, mas
especialmente à ausência de pertencimento no mundo “globalizado”.
1
Mestre em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília (UnB).
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 370
Além do casal, outros personagens configuram o espaço de diversas
identidades culturais no romance: há a vizinha colombiana; o aluno americano,
Jay, que tem aulas de espanhol com a narradora; a amiga coreana, Luci, cujo
comportamento descrito sugere, em alguns momentos, um estado de quase apatia
em relação aos sentimentos da narradora; o porteiro do prédio, que é do
Tennessee e namora uma equatoriana; o colega espanhol Pablo, que surge mais
adiante, entre outros. Personagens com quem a narradora mantém algum tipo de
contato, mas não estabelece relação de intimidade (no sentido mais abrangente
da expressão).
A inserção de personagens de diferentes nacionalidades ou regiões, que
se encontram numa mesma cidade dos Estados Unidos, evidencia que a distância
entre os países se torna cada vez mais curta, principalmente considerando a nova
ordem social global, segundo a qual as noções de tempo e espaço se alteram
significativamente, as fronteiras regionais e nacionais se transformam, a
expressão “identidade cultural” se torna controversa. Se assim é possível dizer,
Algum lugar condensa aspectos da realidade social contemporânea quando traz
para uma estrutura literária questões relacionadas a essa nova ordem. Não por
acaso, o leitor nunca saberá o nome da protagonista, uma vez que nem ela
mesma sabe quem ela é na cidade de Los Angeles.
Em Novas geografias narrativas (2007), a professora Maria Zilda
Ferreira Cury reconhece não ser tão simples caracterizar e classificar as
narrativas da literatura brasileira contemporânea. Isso porque os autores ainda
estão escrevendo e publicando as suas obras, além de haver a nossa proximidade
temporal e espacial com essa escrita. No entanto, na avaliação da professora, isto
já é possível observar: a ficção brasileira contemporânea tem suas raízes no
espaço urbano.
No caso de Algum lugar, as cidades não aparecem necessariamente
como sinônimo de agitação e violência, características de grandes metrópoles,
mas dá lugar a inquietações particulares e à reflexão sobre nossa própria
condição de existência, “a vontade de ser parte de alguma coisa”, conforme diz a
narradora.
Ainda sob a perspectiva das novas geografias narrativas, no artigo O
nômade e a geografia (2004), o professor Renato Cordeiro Gomes fala sobre o
lugar e não-lugar na narrativa urbana contemporânea. Segundo ele, ao
desterritorializar a experiência do indivíduo, esse não-lugar “institui a
possibilidade e a necessidade do voltar-se sobre si próprio, abrindo
possibilidades para a configuração da subjetividade”. Desse modo, verifica-se
que a sensação de deslocamento vivida pela narradora do romance, na condição
de sujeito contemporâneo, abre espaço para novos questionamentos (“Nunca
tinha parado para pensar nessa ind stria do enterro”).
Na segunda parte do livro, a narradora – após abandonar o doutorado
(“O que me fez pensar que eu conseguiria escrever uma tese?”) – está de volta ao
Rio de Janeiro. O retorno de M ocorreu pouco antes (“Decidiu partir
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 371
abruptamente”). Ela descobre que está grávida, mas não demonstra a ansiedade
considerada própria da maternidade (“não estou com pressa de que ele chegue”).
A narradora vive agora o estranhamento dessa experiência (“Quando finalmente
o segurei nos braços, não chorei. Só entendi que era mãe quando o vi sugando de
olhos fechados o meu peito”). Assim como o pai, a criança é identificada apenas
pela letra C.
A escritora portenha Paloma Vidal – que também é professora, tradutora
e pesquisadora – não nominou os principais personagens de Algum lugar. Ela
preserva o anonimato da narradora e identifica dois personagens pelas letras M e
C, como já foi dito. Tal estratégia narrativa se assemelha a outras obras da
literatura, cujas figuras ficcionais também não têm nomes, marca tão própria das
civilizações.
Em Algum lugar, o anonimato é parte da solidão, do deslocamento, da
impossibilidade de se reconhecer neste mundo, deste sentimento de não ser de
nenhum lugar, de não poder pertencer nem mesmo aos outros, nem a si mesmo.
A falta de intimidade entre os personagens, incluindo o conflito entre a narradora
e Luci, também denuncia certa incapacidade nossa de tratar o estranho de modo
mais humano, numa época “pós-moderna”, para lembrar o sociólogo polonês
Zygmunt Bauman, em Amor líquido (2004).
No artigo Quando a esperança é subversiva (2004), o professor e crítico
cultural dos Estados Unidos, Henry A. Giroux, questiona se é possível imaginar
a esperança por justiça e humanidade depois da tortura de iraquianos detidos por
soldados americanos na prisão de Abu Ghraib, complexo penitenciário
localizado na cidade do Iraque, que ganhou as manchetes dos jornais de todo o
mundo no início de 2004. No texto, Giroux afirma que a esperança é a
precondição para a luta individual e social. Em Algum lugar, a narradora é
contemporânea desse episódio, inclusive, do início ao fim do romance, há pelo
menos quatro menções diretas ao assunto. A suspeita aqui é a de que Abu Ghraib
também constitui um não-lugar ou um lugar fora do mundo, onde as pessoas não
tinham nomes, nacionalidades, cidadania, direitos ou mesmo humanidades, eram
como objetos ou animais criados pelos torturadores.
No mundo globalizado, termo cujas raízes históricas exigem mais
reflexão, de acordo com o pensamento de Bauman, o espaço e o tempo se
comprimem, os acontecimentos geram impacto imediato sobre as pessoas e
alcançam cada vez mais lugares distantes. Abu Ghraib e Los Angeles, por
exemplo, integram a mesma narrativa, parecem lugares tão próximos, mas ao
mesmo tempo tão desconexos. Na prisão iraquiana, o terror foi exposto para o
mundo; em Los Angeles, há uma aparente naturalidade, que esconde pessoas
como “a mendiga vestida com várias camadas de roupas”, pessoas que, de
alguma forma, também estão aquarteladas (“Não há terreno neutro [...] entre
liberdade e escravidão”).
A terceira parte do romance é curta e ocupa apenas as últimas 14
páginas do livro, do total de 176, como se o que restou de toda a experiência da
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 372
narradora pudesse se resumir em poucas palavras. Nelas, a protagonista comenta
sua separação com M, que houve um ano antes, e descreve como ambos fazem
para se revezar nos cuidados de C. Ela tenta entender o que acontecera com a
relação dos dois, mas não consegue. O sentimento é de que, desde Los Angeles,
algo se diluía à medida que ela – com sua própria experiência de deslocamento –
buscava se aproximar de M. As diversas tentativas de se integrar à cidade norte-
americana produziam o efeito contrário: o impedimento de ser parte daquele
lugar.
Da mesma forma que em Los Angeles a narradora e M vivenciaram os
conflitos de adaptação, a sensação de deslocamento, o estranhamento, a
inquietação de estarem confinados e isolados, o retorno à capital fluminense
também insinua ou revela que tais sentimentos permanecem, mesmo os
personagens estando num lugar que “se reconheceria deles”. Talvez aqui estejam
as tensões do lugar e não-lugar desta contemporaneidade; a indefinição da
identidade cultural, do tempo ou do espaço, na sociedade pós-moderna, para
lembrar Stuart Hall. Independentemente do lugar para onde as personagens se
deslocam, a impressão de desamparo, de inquietude e de exclusão permanece.
Em Literatura e sociedade (2006), Antonio Candido discute no primeiro
capítulo questões que envolveram, em determinada época do Brasil, o debate
sobre a obra literária e o seu condicionamento social. Evidentemente, em se
tratando de literatura, por exemplo, seria equivocado acreditar que o valor
estético de Algum lugar se deve a certo aspecto da realidade que o livro exprime.
Contudo, ainda considerando as observações de Candido, pode-se compreender a
obra “fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra”, sob
a perspectiva de uma análise do “todo indissol vel”. Quanto a isso, fica difícil
não compreendermos que esse romance assimila a dimensão social de nossa
época, as relações entre globalização e o sujeito contemporâneo.
Algum lugar não é um típico livro sobre o relacionamento de um casal
que decide morar numa outra cidade e que depois se separa, nem muito menos
um romance que propõe um final surpreendente. A narradora nos atrai para o seu
universo particular e solitário, no qual o mundo interior é tão importante para a
compreensão da obra quanto o exterior. Seus dilemas, sua incapacidade para
escrever a tese de doutorado, sua convivência com M, sua dificuldade de se
relacionar em Los Angeles, suas impressões sobre os lugares e as pessoas, por
exemplo, ganham dimensões proporcionais à necessidade de pertencer a algum
lugar, seja um país, uma cidade, uma universidade, uma rua.
A impressão é que a narradora de Algum lugar é e sempre será uma
“passante solitária”, que vive “na cidade sem estar nela”, buscando ao menos
inventar um tipo de pertencimento.
Referências
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 373
AUGÉ, M. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade.
Campinas: Papirus, 1994. (Coleção Travessia do Século)
BAUMAN, Z. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução
de Carlos Alberto Medeiros. Editora Zahar: Rio de Janeiro, 2004.
______. Globalização: as consequências humanas. Editora Zahar: Rio de
Janeiro, 1999.
CANDIDO, A. Literatura e sociedade. 9. ed. Ouro sobre Azul: Rio de Janeiro,
2006.
CURY, M. Z. F.. Novas geografias narrativas. Revista Letras de Hoje, Porto
Alegre, v. 42, n. 4, p. 7-17, dezembro de 2007.
GIROUX, H. A. Quando a esperança é subversiva. Tradução de Edison Bariani.
Disponível em http://www.henryagiroux.com/TranslatedPublications/
When_Hope_is_Subversive.htm. Acessado em 31 de outubro de 2011.
GOMES, R. C. O nômade e a geografia (Lugar e não-lugar na narrativa urbana
contemporânea). Revista Semear. Número 10. Ano 2004. Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Cátedra Padre Antônio
Vieira de Estudos Portugueses. Disponível em http://www.letras.puc-
rio.br/catedra/revista/10Sem_12.html. Acessado em 23 de outubro de 2011.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu
da Silva e Guacira Lopes Louro. 8ª. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
VIDAL, P. Algum lugar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 374
MEMÓRIA
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 375
DA CRIAÇÃO DO MESTRADO EM LETRAS EM TRÊS
LAGOAS À CRIAÇÃO DA GUAVIRA LETRAS
José Batista de Sales – UFMS
O MESTRADO EM LETRAS
Há quinze anos, no campus universitário da UFMS, em Três
Lagoas, entrou em funcionamento o primeiro Programa de Mestrado
acadêmico em Letras do Estado de Mato Grosso do Sul. De lá para cá,
surgiram mais três semelhantes, todos rebentos desta iniciativa dos
professores do curso de Letras deste Campus.
A primeira versão do Programa submetida à avaliação da CAPES
em 1997 não foi aprovada, mas o Reitor da UFMS, João Jorge Chacha,
após consultas e análises de conjuntura, implantou o mestrado em Letras
em Três Lagoas, a partir do primeiro semestre de 1998 e devido à
aposentadoria de vários professores, foi escolhido como coordenador José
Batista de Sales. É preciso mencionar que a atitude do professor Chacha
foi bastante corajosa, pois se não conseguíssemos aprovação na segunda
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 376
tentativa, os diplomas não teriam nenhuma validade e certamente haveria
problemas sérios com a justiça.
Foi um período muito interessante, apesar da enorme dor de
cabeça, porque os responsáveis pela primeira versão do projeto
cometeram um pequeno descuido: incluíram no corpo docente os
professores de outros campi, mas não os avisaram. E alguns, ofendidos
em seus brios, brandiram suas teses, indagando aos céus, como ousam
propor um mestrado em Três Lagoas (logo em Três Lagoas!) e não me
convidam?! Apesar desse incidente, o período muito fértil para cada um
daqueles professores, pois superado o estágio de desconfiança, todos se
engajaram no projeto de forma admirável.
Na tentativa de agregar os professores de outros campi, a
coordenação do Programa de Mestrado destacava que o mestrado não era
exclusividade do campus de Três Lagoas, mas da UFMS e que sem a
contribuição de todos os professores não seria possível a existência de um
mestrado em letras.
A solução inicial para o impasse foi a de que o Colegiado de
Curso do Programa, uma espécie de “Comitê Central”, seria composto
por professores de outros campi e, mais importante, as reuniões mensais
deste colegiado seriam realizadas nos campi de Três Lagoas, Campo
Grande e Dourados, em forma de rodízio. Igualmente, os Exames de
Qualificação e de defesa/apresentação de dissertação poderiam ocorrer
nos campi de residência do orientador, Dourados ou Campo Grande. E
assim funcionou até o final de 2001.
Em 15 de março de 1998, foi ministrada a Aula Inaugural do
Programa, pelo professor José Luiz Fiorin, da Universidade de São Paulo,
profissional amplamente reconhecido no meio universitário nacional por
seus vastos conhecimentos sobre a área de estudos de Letras e de
Linguística.
Em junho de 2001, a CAPES recomendou o segundo projeto a ela
enviado e o Programa ganhou mais consistência e desenvoltura, passando
a contar com recursos financeiros especificamente originários do sistema
de pós-graduação nacional, o que permitiu, entre outras ações
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 377
fundamentais, o oferecimento de bolsas de estudos aos alunos mais bem
classificados nos exames admissionais.
A partir de 2002, o Colegiado do Programa passou a ser
composto exclusivamente por docentes lotados no curso de Letras de
Três Lagoas e da mesma forma todas as atividades do Programa, como
reuniões de colegiado, seleção de candidatos, aulas, exames de
qualificação e defesas de dissertação passam a ser desenvolvidas no
campus de Três Lagoas. E assim permanece e a cada ano incrementa e se
enriquece como instituição de ensino e de pesquisa em nível superior.
Durante esses quinze anos, o Programa de Mestrado em Letras de
Três Lagoas cumpriu dignamente o seu papel. Concedeu o título de
Mestre em Letras a mais de duzentos profissionais, a maioria dividida
entre professores da rede de ensino público dos estados de Mato Grosso
do Sul e de São Paulo e docentes do ensino superior dessas duas regiões e
mais a de Mato Grosso. Durante a formação desses profissionais, foram
promovidos encontros e seminários, para os quais houve a inscrição de
centenas de mestres, alunos, palestrantes e conferencistas de renome
nacional, além de inúmeros convidados de outros países, como França,
Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda e Estados Unidos.
Alcançados todos os objetivos de um Programa em nível de
Mestrado, os docentes, a Coordenação e a Pró-Reitoria de pesquisa estão
empenhados na implantação do doutorado. Já para 2013, entrarão em
funcionamento um “DINTER” (programa de doutorado interinstitucional)
por meio de convênio com a Universidade Mackenzie, de São Paulo, e
um Programa de Mestrado Profissionalizante. Tal up grade do Programa
de Pós-Graduação em Letras de Três Lagoas, além da relevância para a
área de Letras em si, cumpre parte relevante das exigências do Ministério
da Educação (MEC) para criar/transformar um campus universitário em
Universidade. Além disso, são iniciativas da maior relevância, pois
significam a ampliação de oportunidade de aperfeiçoamento profissional
e cultural de diferentes áreas profissionais do ensino.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 378
A FLOR DA GUAVIRA
Entre as inúmeras obrigações, a Coordenação do mestrado devia
providenciar um órgão de divulgação da produção intelectual de seu
corpo docente ou, pelo menos, que permitisse a permuta e o intercâmbio
de produções intelectuais entre os inúmeros programas de pós-graduação
nacionais e estrangeiros. À época, toda iniciativa deste gênero se
realizava sob a supervisão da Editora da UFMS e, assim, vimos que havia
uma publicação da área de Letras, com apenas dois números publicados.
Logo, decidimos, em reunião do Colegiado do Programa que esta
publicação, Papeis, seria o veículo de divulgação do Mestrado em Letras
de Três Lagoas e como tal foram publicados dois números, 3 e 4, durante
o ano de 1998.
Entretanto, durante a preparação de implantação do Programa de
Mestrado em Letras em Campo Grande, nossos colegas da capital
argumentaram que a mesma Papeis fora criada por eles, no Departamento
de Letras do CCHS, e que por direito e outros motivos a revista
pertenceria àquele Programa. Argumentamos que transformar tal
publicação em órgão divulgador do Mestrado em Três Lagoas, fora
decisão de colegiado do qual muitos deles fizeram parte e que já haveria
uma identificação entre a revista e o Programa de Três Lagoas. Mas não
chegamos a um consenso e ficamos temporariamente sem nenhuma
revista.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 379
Mas não é recomendável que um Programa de Pós-Graduação
não possua um órgão de intercambio e de divulgação de conhecimento e
de resultado de pesquisa. Assim, a Coordenação e um grupo de
professores começam a matutar numa revista que cumprisse tal função e
que, ao mesmo tempo, manifestasse um componente identificador do
perfil, das convicções literárias, linguísticas e principalmente do labor
científico e cultural de um conjunto de pesquisadores e professores desta
região do país. Iniciamos com uma pequena consulta entre alunos e
professores para a escolha do nome ou título da revista e assim chegamos
ao de guavira, também conhecida como gabiroba. Trata-se de uma
palavra de origem guarani, com o significado de árvore de casca amarga.
Por ser (ou ter sido) muito comum no cerrado do centro-oeste poderia ser
vista como um símbolo da região de Mato Grosso do Sul e, além disso,
sua folha é de rara e delicada beleza.
O primeiro número veio a público (online) em agosto de 2005.
Possivelmente pareça demasiado o lapso temporal em que o Programa
ficou sem seu veículo de divulgação, mas nesse período estava sob
acirrada discussão no âmbito da pós-graduação nacional o que deveria se
constituir como publicação universitária e de pós-graduação, qual o
perfil, qual o suporte (impresso ou online), periodicidade, critérios de
avaliação e outros fatores que, por si só, demandou mais tempo para a
constituição da nossa própria publicação.
Mas o tempo não foi consumido em vão. O primeiro número,
além de artigos elaborados por professores e alunos do Programa, abriu-
se com a oportuna e instigante Apresentação, escrita por José Luiz Fiorin,
notável professor da Universidade de São Paulo (USP) e nosso incansável
colaborador. Parece-me oportuno transcrever a epígrafe deste texto de
apresentação, pela sua clarividência e pertinência, pois se tratava do
lançamento de uma nova revista científica da área de letras: A ciência é a
procura da verdade; não é um jogo no qual uma pessoa tenta bater seus
oponentes, prejudicar outras pessoas. O autor dessas palavras é Linus C.
Pauling (1901-1994), cientista americano ganhador de dois prêmios
Nobel (1954, de Química; 1962, da Paz) que se revelou mais preocupado
com as ideias dos homens do que com fórmulas.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 380
Desde então, foram publicados quatorze (14) números, nos quais
as duas áreas de concentração do Programa foram alternadamente
contempladas, com larga e ampla abertura para as linhas de pesquisa,
para as correntes críticas e as mais diversas formas de pensamento. Neste
percurso editorial, seus responsáveis estiveram sempre conectados com as
diretrizes das melhores publicações do gênero e igualmente atentos às
orientações dos órgãos supervisores da pós-graduação brasileira, como a
CAPES. É neste sentido, por exemplo, que a composição de autores de
artigos e resenhas veio paulatinamente se transformando. Assim, se no
primeiro número contamos apenas com autores oriundos do próprio
Programa, no número quatorze, a presença de autores externos aproxima-
se de oitenta e cinco por cento (85%), o que é algo altamente salutar para
um órgão de divulgação do conhecimento voltado para a pluralidade de
ideias e de correntes críticas. O que, evidentemente, será reconhecido por
seus pares.
Ao finalizar este texto de cunho memorialístico, julgo necessário
lembrar que se a construção e a manutenção de um veículo desta natureza
demandam persistência, firme convicção sobre valores e relevância do
trabalho educacional e científico; igualmente é preciso destacar que, sem
solidariedade, sem a disposição de inúmeros profissionais que, em boa
parte, sacrificam finais de semana ou outros momentos de descanso para
a redação de seus textos, segundo as mais exigentes normas científicas,
nada, absolutamente nada dessas publicações seria realidade. De tal
forma que idealizadores, editores e autores da revista merecem todo o
reconhecimento.
Vida longa à GUAVIRA LETRAS!
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 381
CHAMADA – nº 15
Editores Responsáveis:
Rauer Ribeiro Rodrigues (UFMS)
Luiz Gonzaga Marchezan (UNESP)
Tema: O CONTO
Prazo: 15 de outubro de 2012
E-mails:
guavira.cptl@ufms.br
guavira@posgraduacaoletras.com.br
GUAVIRA LETRAS, revista do Programa de Mestrado em Letras
da UFMS, Câmpus de Três Lagoas, faz chamada para seu número
do segundo semestre de 2012. O volume trará dossiê com a
seguinte ementa:
Poéticas do conto
Os contistas paradigmáticos da literatura universal.
Teoria e prática do conto: o estado da arte no século
XXI.
Revisão bibliográfica do gênero conto.
O conto brasileiro na interface com a história do conto.
Aspectos teóricos do conto, da fábula ao microconto.
O conto como instrumento pedagógico no ensino
fundamental.
Os contos precursores em língua portuguesa.
O conto brasileiro pela análise de seus maiores
contistas.
O conto como gênero e a história da literatura.
A contribuição latino-americana para a teoria do conto.
A forma literária do conto e as novas mídias
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 382
Os editores responsáveis pelo número 15 são os professores Rauer
Ribeiro Rodrigues (UFMS) e Luiz Gonzaga Marchezan (UNESP).
As contribuições devem ser enviadas para o e-mail
guavira.cptl@ufms.br, com cópia para o e-mail
guavira@posgraduacaoletras.com.br, até o dia 15 de outubro de
2012, conforme as normas abaixo.
A GUAVIRA também publica
entrevistas, resenhas e uma sessão
com artigos que não se enquadrem
na temática geral.
Aguardamos sua colaboração. Agradecemos por divulgar
esta chamada entre professores, posgraduandos, imprensa e
demais interessados.
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO — GUAVIRA LETRAS
1 – Arquivo apenas em extensão DOC.
2 – Os artigos deverão ter no mínimo 10 (dez) e no máximo 20
(vinte) páginas e as resenhas no mínimo de 03 (três) e no máximo
de 08 (oito) páginas, respeitando-se a seguinte configuração, em
papel A4: 1,25cm de margem para parágrafo, com margens
esquerda e superior de 3,0cm e direita e inferior de 2,0cm, sem
numeração de páginas.
3 – Os trabalhos de pós-graduandos, assim como os de Mestres e
Doutores sem vínculo com instituições de ensino e pesquisa, só
serão aceitos se apresentados em co-autoria com o Prof.
Orientador.
4 – Os artigos, entrevistas ou resenhas devem ser enviados para o
e-mail guavira.cptl@ufms.br, com cópia para o e-mail
guavira@posgraduacaoletras.com.br, até o dia 15 de outubro de
2012, em programa Word for Windows 6.0 ou compatível, em um
arquivo com o título do trabalho e com identificação do
proponente e um arquivo com o título do trabalho e sem
identificação do proponente.
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 383
5 – O Conselho Consultivo, ao qual serão submetidos os textos,
poderá sugerir ao autor modificações de estrutura e de conteúdo.
Serão devolvidos para correção os trabalhos para as modificações.
Nenhuma modificação de conteúdo ou estilo será feita sem o
prévio consentimento do autor. É do autor a inteira
responsabilidade pelo conteúdo do material enviado.
6 – Os artigos deverão ter a seguinte estrutura:
6.1 – Elementos pré-textuais:
Título e subtítulo: na primeira linha, centralizados, negrito.
Fonte: Times New Roman, corpo 13, somente a primeira
letra em maiúscula em ambos.
Nome do(s) autor(es): duas linhas abaixo do título,
alinhado à direita, com o último sobrenome em maiúscula.
Chamar para nota de rodapé, onde deve informar: Sigla –
Universidade. Faculdade/Instituto – Departamento. Cidade
– Estado – País. CEP – e-mail.
RESUMO: três linhas abaixo do nome do autor; em
português. Colocar a palavra RESUMO em caixa alta,
alinhado à esquerda, sem adentramento e seguida de dois
pontos. Redigir o texto em parágrafo único, espaço simples,
justificado, de, no mínimo, 150 palavras e, no máximo, 200.
Fonte: Times New Roman, corpo 10, para todo o resumo. O
resumo do artigo deve indicar objetivos, referencial teórico
utilizado, resultados obtidos e conclusão.
PALAVRAS-CHAVE: em número de 3 (três) a 5 (cinco),
duas linhas abaixo do resumo, alinhado à esquerda, sem
adentramento, em itálico e caixa alta. Fonte: Times New
Roman, corpo 10. Cada palavra-chave somente com
primeira letra maiúscula, separada por ponto. Para maior
facilidade de localização do trabalho em consultas
bibliográficas, o Conselho Editorial sugere que as palavras-
chave correspondam a conceitos mais gerais da área do
trabalho.
6.2 – Elementos textuais:
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 384
Texto: O corpo do texto inicia-se duas linhas abaixo das
palavras-chave.
Fonte: Times New Roman, corpo 12, alinhamento
justificado ao longo de todo o texto.
Espaçamento: simples entre linhas e parágrafos, duplo
entre partes do texto (tabelas, ilustrações, citações em
destaque, etc.).
Citações: no corpo do texto, serão de até 3 (três) linhas,
entre aspas duplas. Fonte: Times New Roman, corpo 12.
Quando maiores do que 3 (três) linhas, devem ser
destacadas fora do corpo do texto. Fonte: Times New
Roman, corpo 10, em espaço simples, com recuo de 4cm à
esquerda. Todas as referências das citações ou menções a
outros textos deverão ser indicadas, após a citação, com as
seguintes informações entre parênteses: sobrenome do
autor em caixa alta, vírgula, ano da publicação, abreviatura
de página e o número desta. Exemplo: (CANDIDO, 1976, p.
73-88) (NBR 10520/03).
Evitar a utilização de idem ou ibidem e Cf. Quando utilizar
apud, colocar as mesmas informações solicitadas para o
autor do texto da qual a citação foi retirada. Exemplo:
(BOSI, 2003, p. 1-10 apud SILVA, 1998, p. 23). Informar
em rodapé os dados da obra citada de segunda mão e
colocar somente as obras consultadas diretamente nas
Referências.
Notas explicativas: se necessárias, devem ser colocadas no
rodapé da página de ocorrência, numeradas
sequencialmente, com algarismos arábicos, fonte Times
New Roman, corpo 10, justificadas, mantendo espaço
simples dentro da nota e entre as notas, no decorrer do
texto.
Títulos e subtítulos das seções: Referenciados a critério do
autor, devem estar alinhados à esquerda, sem
adentramento, em negrito, sem numeração, inclusive
Introdução, Conclusão, Referências e elementos pós-
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 385
textuais, com maiúscula somente para a primeira palavra
da seção, fonte: Times New Roman, corpo 12.
Elementos ilustrativos: tabelas, figuras, fotos, etc., devem
ser inseridas no texto, logo após serem citadas, contendo a
devida explicação na parte inferior da mesma, numeradas
sequencialmente. Serão referidas, no corpo do texto, de
forma abreviada. Exemplo: Fig. 1. Fig. 2, etc.
6.3 – Elementos pós-textuais:
Colocados logo após o término do artigo.
Título: em inglês, centralizado, em itálico e caixa alta.
Inserido duas linhas abaixo do final do texto. Recomenda-
se procurar revisão por um especialista em língua inglesa.
ABSTRACT: Duas linhas abaixo do título. Colocar a palavra
ABSTRACT, alinhada à esquerda, sem adentramento, em
itálico e caixa alta, fonte Times New Roman, corpo 10 para
todo o texto, seguida de dois pontos. Texto em parágrafo
único, espaço simples e justificado. Recomenda-se procurar
revisão por um especialista em língua inglesa.
KEYWORDS: em número de 3 (três) a 5 (cinco), duas
linhas abaixo do abstract, em inglês, alinhado à esquerda,
sem adentramento, em itálico e caixa alta. Colocar o termo
Keywords em caixa baixa. Fonte: Times New Roman, corpo
10, somente com primeira letra maiúscula, separada por
ponto. Recomenda-se procurar revisão por um especialista
em língua inglesa.
Referências: seguir as normas da ABNT em uso (NBR-
6023/02). Duas linhas abaixo das palavras-chave em
inglês, alinhada à esquerda, sem adentramento, em negrito
e caixa alta, corpo 11. Usar espaçamento 1 entre as linhas da
referência e uma linha em branco entre uma referência e
outra, em ordem alfabética, alinhamento à esquerda,
indicando-se as obras de autores citados no corpo do texto.
Bibliografia: se considerada imprescindível, deve vir duas
linhas abaixo das referências, alinhada à esquerda, sem
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 386
adentramento, em negrito e caixa alta, corpo 11. Podem ser
indicadas obras consultadas ou recomendadas, não
referenciadas no texto. Usar espaçamento 1 entre as linhas
da referência e uma linha em branco entre uma referência e
outra, em ordem alfabética, alinhamento justificado.
7 – Exemplos de referências (NBR-6023/02):
AUTHIER-REVUZ, J. Palavras incertas: as não coincidências do
dizer. Tradução de Cláudia Pfeiffer et al. Campinas: Ed. da
UNICAMP, 1998.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho
científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1986.
CORACINI, M. J.; BERTOLDO, E. S. (Orgs.). O desejo da teoria e
a contingência da prática. Campinas: Mercado das Letras, 2003.
Capítulo de livros:
PECHEUX, M. Ler o arquivo hoje. In: Orlandi, E. P. (Org). Gestos
de leitura: da história no discurso. Tradução de Maria das Graças
Lopes Morin do Amaral. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1994. p.15-
50.
Artigo em periódico:
SCLIAR-CABRAL, L.; RODRIGUES, B. B. Discrepâncias entre a
pontuação e as pausas. Cadernos de Estudos Linguísticos,
Campinas, n.26, p.63-77, 1994.
Artigo em periódicos on-line:
SOUZA, F. C. Formação de bibliotecários para uma sociedade livre.
Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação,
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 387
Florianópolis, n.11, p.1-13, jun. 2001. Disponível em: ... . Acesso
em: 30 jun. 2001.
Dissertações e teses:
BITENCOURT, C. M. F. Pátria, civilização e trabalho: o ensino
nas escolas paulista (1917-1939). 1988. 256 f. Dissertação
(Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
Artigo em jornal:
BURKE, Peter. Misturando os idiomas. Folha de S. Paulo, São
Paulo, 13 abr. 2003. Mais!, p.3.
Documento eletrônico:
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Coordenadoria Geral de
Bibliotecas. Grupo de Trabalho Normalização Documentária da
UNESP. Normalização Documentária para a produção científica
da UNESP: normas para apresentação de referências. São Paulo,
2003. Disponível em: ... . Acesso em: 15 jul. 2004.
Trabalho de congresso ou similar (publicado):
MARIN, A. J. Educação continuada. In: CONGRESSO ESTADUAL
PAULISTA SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, 1., 1990.
Anais ... . São Paulo: UNESP, 1990. p.114-118.
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1997,
Recife. Anais ... . Receife: UFPe, 1997. Disponível em: ... . Acesso
em: 21 jan. 1997.
CD-ROM:
KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.) Enciclopédia e dicionário digital
98. Direção geral de André Koogan Breikman. São Paulo: Delta;
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 388
Estadão, 1998. 5 CD-ROM. Produzida por Videolar Multimídia.
MESTRADO EM LETRAS DA UFMS
Av. Capitão Olinto Mancini, 1662
Campus Universitário 1 - Colinos
79603-011 – Três Lagoas/MS – Brasil
Fone: (67) 3509-3425
E-mail do Mestrado: secretaria@posgraduacaoletras.com.br
E-mail da GUAVIRA: guavira.cptl@ufms.br;
guavira@posgraduacaoletras.com.br
GUAVIRA LETRAS: http://www.pgletras.ufms.br/revistaguavira/
Editor Geral da Revista Guavira Letras: Prof. Rauer Ribeiro
Rodrigues (UFMS)
E-mail do Editor Geral: rauer.rauer@uol.com.br
GUAVIRA LETRAS, n. 15, jan.-jul. 2012 389
Você também pode gostar
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionNo EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (20043)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNo EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3321)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNo EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (20479)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5806)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookNo EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2515)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionNo EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (729)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseNo EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1113)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItNo EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3282)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersNo EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2315)
















![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)