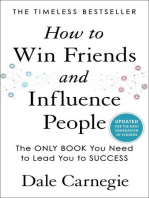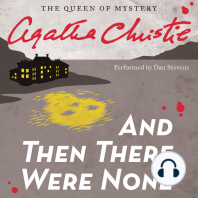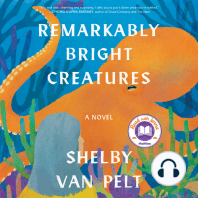Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aula 5 - Compagnon - O Leitor
Enviado por
Yasmin0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
32 visualizações14 páginascompagnon
Título original
Aula 5 - Compagnon - O leitor
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentocompagnon
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
32 visualizações14 páginasAula 5 - Compagnon - O Leitor
Enviado por
Yasmincompagnon
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
0 LEITOR
pis de “O que é a literatura”, “Quem fala?”, e “Sobre
pergunta “Para quem?” parece inevitivel. Depois da
literatura, do autor e do mundo, o elemento literario a ser
‘ado com maior urgéncia € 0 leitor. O critico do roman-
ismo M. H., Abrams descrevia a comunicacao literiria partindo
«lo modelo elementar de um triangulo, cujo centro de gravidade
ocupado pela obra, ¢ cujos trés pices correspondiam
10 mundo, a0 autor € ao leitor. A abordagem objetiva, ou
formal, da literatura se interessa pela obra; a abordagem
expressiva, pelo artista; a abordagem mimética, pelo mundo;
ea abordagem pragmitica, enfim, pelo piiblico, pela audiéncia,
pelos leitores. Os estudos literarios dedicam um lugar muito
varidvel ao leitor, mas, para que se veja com maior clareza,
como acontece com 0 autor € com o mundo, nao € inoportuno
novamente dos dois pélos que retnem as posicdes
antitéticas: de um lado, as abordagens que ignoram tudo do
leitor, € do outro, as que o valorizam, ou até o colocam em
primeiro plano na literatura, identificam a literatura sua
leitura. Em relacio ao leitor, as teses slo to radicais quanto
em relaao a intencao € a referéncia, e, naturalmente, elas
nao sao independentes das precedentes. Meu procedimento
consistiré ainda uma vez em opé-las, em critici-las e procurar
‘uma saida para essa terceira alternativa em que nos fechamos.
ALEITURA FORA DO JOGO
Sem remontarmos a muito longe no tempo, a controvérsia
sobre a leitura opés, por exemplo, o impressionismo € o posi-
tivismo no final do século XIX. A critica cientifica (Brunetiére),
depois a hist6rica (Lanson) criara polémica contra o que ela
chamava de critica impressionista (Anatole France, sobretudo),
——
seus sentimentos sobre a
dos
la semana,
que cul
suas reagdes, segundo a t
exemplarmente pelos elogios que Mon
como cultura do bonnéte homme, opde-se a necessidiade
distancia, da objetividade, do método. “Para falar francam
confessava, entio, Anatole France, “o ct
‘Senhores, eu vou falar de mim, a respe
respeito de Racine.”” Em contraste com essa primeira leitu
de amadores ¢ de ledores, a leitura pretensamente culta, ate
conforme a expectativa do texto, é uma leitura que se ne}
ela propria como leitura. Para Bruneti@re € Lanson, cada um,
a sua maneira, trata-se de escapar ao leitor € aos seus capri-
chos, nio de anular, mas enquadrar suas impressdes pel
disciplina, atingir a objetividade no tratamento da propria
obra, “O exercicio da explicacao”, escrevia Lanson, “tem como
objetivo e, quando bem praticado, como efeito, criar nos estu-
dantes o habito de ler atentamente e interpretar ficlmente os
textos literirios”.!
Uma outra negagao da leitura, baseada em premissas bem
diferentes, mas contemporanea, se encontra em Mallarmé, que
afirmava em "Quant au Livre” (Quanto ao Livrok: “Impersoni-
ficado, 0 volume, na medida em que se se separa dele como
autor, nto pede a abordagem do leitor. Tal, saiba entre os
access6rios humanos, ele se realiza sozinho: fato, sendo.”* 0
livro, a obra, cercados por um ritual mistico, existem por si
mesmos, desgarrados ao mesmo tempo de seu autor e de seu
leitor, em sua pureza de objetos auténomos, necessirios €
essenciais. Do mesmo modo que a escritura da obra modern:
nao pretende ser expressiva, sua leitura nao reivindica iden-
tificacao por parte de ninguém,
Apesar da querela sobre a intenco do autor, o historicismo
(remetendo a obra a seu contexto original) e o formalismo
(pedindo a volta ao texto, em sua imanéncia) concordaram
durante muito tempo em banir o leitor, cuja exclusao foi mais,
clara e expressamente formulada pelos New Critics americanos
do entreguerras. Eles definiam a obra como uma unidade
orginica auto-suficiente, da qual convinha praticar uma
fechada (close reading), isto 6, uma leitura idealmente obj
140
ia dl 7”
deseritiva oxos, ts ambigitidades, as tensdes,
nla os Pa
fazendo do poema
jecepcio quanto em Mallarmé. Segundo seu
— “Um poema no deve significar, mas ser” — eles
‘ec¢o do poema em laborat6rio para dele
(Os New Critics denunciavam
chamavam de “ilusio afetiva’ (affective fallacy),
seus olhos equivalente da ilusio intencional (intentional
fallacy) da qual era imperioso paralelamente desprende
Zio afetiva, escrevia Wimsatt e Beardsley, é uma confusio
- 6 poema e seus resultados (0 que ele é¢ o que ele faz).”*
Porém, um dos fundadores do New Criticism, 0 fil6sofo
I-A. Richards, no ignorava o problema enorme levantado pela
itura empirica nos estudos literdrios. Em seus Principles of
Literary Criticism (Principios de Critica Literarial (1924), ele
comegava distinguindo comentirios técnicos tratando do objeto
(erério, comentarios criticos tratando da experiéncia literaria
‘aprovava essa experiencia a partir do modelo criado por
thew Amold pela critica vitoriana, fazendo da literatura,
‘enquanto substituto da religito, 0 catecismo moral da nova
sociedade democritica. Mas, logo depois, Richards adotou um
ponto de vista decididamente anti-subjetivista, reforcado poste
riormente pelas experiéncias que tentou com a leitura e que
foram relatadas em Practical Criticism (Critica Pratical (1929),
ichards pediu a seus alunos de Cambridge
‘a “comentar livremente”, de uma semana para outra, alguns
poemas que ele Ihes apresentava, sem citar 0 nome do autor.
Na semana seguinte, ele dava suas aulas sobre tais poemas, ou
melhor, sobre os comentarios dos estudantes sobre os poemas.
Richards Ihes aconselhava a fazer leituras sucessivas dos textos
dados (em média raramente menos de quatro, € um maximo
de doze) € pedia que anotassem por escrito suas reagdes a
‘cada leitura. Os resultados foram de maneira geral pobres,
até desastrosos (alias, nés nos perguntamos sobre o tipo de
perversio que levou Richards a continuar sua experiéncia por
tanto tempo); esses resultados se caracterizavam por uma
determinada quantidade de tracos tipicos: imaturidade, arro-
gincia, falta de cultura, incompreensito, clichés, preconceitos,
sentimentalismo, psicologia popular etc. O conjunto dessas
deficigncias tornava-se um obsticulo ao efeito do poema sobre
ua
7
08 leitores, Porém, ao invés de eonelulr por um re
radical, u
a conviccao de que esses obsticu
os pela educagao; esta Ihes daria acesso & possi-
ile de uma compreensio plena e perfeita de um poema,
ssim dizer, in vitro, A ma compreensio e 0 contra-senso,
hards, nao sio acidentes mas, a0 contrario, cons.
€ provvel das coisas na leitura de um
A leitura, em geral, fracassa diante do texto: Richards
m dos raros criticos que ousaram fazer esse diagndstico
str6fico. A constatagao desse estado de fato no 0 levou,
nto, a rentincia. Ao invés de coneluir pela necessidade
hermenéutica que pesquisasse o contra-senso e a mi
1, como a de Heidegger e de Gadamer, ele reafirmou
de uma leitura tigorosa que corrigitia os eros
is. A poesia pode ser desconcertante, dificil, obscura,
for, a quem
preciso ensinar a ler mais cuidadosamente, a superar suas
s individuais ¢ culturais, a “respeitar a liberdade e
jomia do poema”.* Em outros termos, na opiniio de
ards, essa experiéncia pritica especialmente interessante,
ada com a idiossincrasia e com a anarquia da leitura,
longe de questionar os principios do New Criticism,
0, reforcava a necessidade teérica da
descompromissada do leitor,
10 con-
‘tura fechada,
teoria literdria, nascida do estruturalismo e marcada
vontade de descrever 0 funcionamento neutro do texto, 0
leitor empirico foi igualmente um inteuso. Ao invés de favo~
recer a emergéncia de uma hermenéutica da leitura, a narea~
plogia e a poética, quando chegaram a atribuir um lugar ao
lcitor em suas anilises, contentaram-se com um leitor abstrato
ou perfeito: limitaram-se a descrever as imposicdes textuais
objetivas que regulam a performance do leitor concreto, descle
que, evidentemente, ele se conforme com 0 que o texto espera
dele, O leitor é, entao, uma fungio do texto, como o que
Riffatterre denominava o arquileitor, leitor omnisciente ao qual
nenhum leitor real poderia identificar-se, em virtude de suas
aculdades interpretativas limitadas. Em geral, pode-se dizer
ua
4 em proveito de uma teoria da leitura,
é, da definigao de um leitor competente ou ideal, 0 leitor
que pede 0 texto e que se curva a expectativa do texto.
a desconfianga em relagao ao leitor é — ou foi du-
ante muito tempo — uma atitude amplamente compartilhada
nos estudos literirios, caracterizando tanto 0 positivismo
quanto 0 formalismo, tanto 0 New Criticism quanto 0 esteutu-
ralismo. © leitor empirico, a ma compreensio, as falhas da
leitura, como rufdos e brumas, perturbam todas essas abor-
dagens, quer digam respeito 20 autor ov ao texto. Daf a ten-
Lago, em todos esses métodos, de ignorar o leitor ou, quando
reconhecem sua presenga, como € 0 caso de Richards, a ten-
tagao de formular sua propria teoria como uma discipl
leftura ou uma leitura ideal, visando remediar as falhas dos
leitores empiricos.
A RESISTENCIA DO LEITOR
Lanson, apesar de sua teimosia positivista, ficara abalado
com 0s argumentos de Proust a favor dla leitura, que ele resumia
nestes termos: “Nao se atingiria nunca o livro, mas sempre um
espirito reagindo [ao) livro e misturando-se a cle, 0 nosso, ou
© de um outro leitor."* Nao poderia haver acesso imediato,
puro, 20 livro. Proust sustentara esse ponto de vista herético
em 1907, nas “Jornadas de Leitura” (prefficio 2 sua traducio
de Sésame et ies Lys (Sésame € 08 Lirios}, de Ruskin, duas
conferéncias sobre a leitura, na tradigio vitoriana da reli
do livro), em seguida em O Tempo Redescoberto. Aquilo de
que nos lembramos, aquilo que marcou nossas leituras da
infancia, dizia Proust, afastando-se do moralismo-ruskiano,
no € 0 préprio livro, mas o cenirio no qual nds o lemos, as
impressoes que acompanharam nossa leitura. A leitura tem a
ver com empatia, projecio, identificacao, Ela maltrata obriga-
toriamente 0 livro, adapta-o As preocupacdes do leitor. Como
Proust repetiri em O Tempo Redescoberto, o leitor aplica o
3
eT
Dt nilo deve se ofender se o travesti der
© escritor diz: “meu leitor", Na read
mt &, quando Ié, 0 proprio leitor de si mesmo. A
nente uma espécie de
Oleitor €
compreender 0
dependente: seu objetivo é menos
vro lo que compreender a si mesmo através
ele nao pode compreender um livro se nao se
‘cado por uma propriedade real da obra, determinando quase
Sempre uma modificagio quase idéntica dos espi
Atribuindo a Proust a imensa variedade de respostas in
feratura, Lanson acreditava que, em média, apesar
lo, as reagdes dos leitores nao eram tio singulares
\sificdveis. Mas as pesquisas contempordneas de Richards
com seus estudantes de Cambridge nos fazem duvidar que
sondagens possam levar “a um elemento permanente e comum
interpretacdo", algo como o sentido em oposi¢ao a signifi-
cacao, segundo a terminologia de Hirsch, descrita anterior-
mente e, conseqiientemente, que a estatistica seja capaz de
iar um objetivismo literdrio, a despeito de Proust.
A autoridade de Proust pesou cada vez mais nessa visio
privativa da leitura, Nesse caso, escritura e leitura coincide:
du:
14
4 sua propria situagho, por exemplo, a seus amores,
10 interior. *O dever
ia Proust, “sto 05 de um
1 traduglo, a polaridade escritura e leitura se
F-se-i que Se 0 texto
08 c6digos
bém a leitura,
rl sua propria
Através do livro, 20 mesmo tempo parole ¢ lang
\S consciéncias que se comunicam. Assim, a critica ctiadora,
de Albert Thibaudet a Georges Poulet, definira 0 gesto critico
partindo de uma empatia que esposa o movimento da criagio.
‘A hermenéutica fenomenoldgica (jf evocada no Capitulo
ID tem também favorecido 0 retorno do leitor 8 cena literéria,
jociando todo sentido a uma consciéncia. Em O que Ea
Titeratura?, Sartre vulgarizava a versio fenomenoldgica do
papel do leitor nestes termos:
© ato criador no é sentio um momento incompleto € abstrato
da produgio de uma obra; se 0 autor existisse sozinho, ele
poderia escrever tanto quanto quisesse, nunca a obra como
‘objeto seria conhecida e seria preciso que ele desistisse de es-
crever ou se desesperasse. Mas a operagio de escrever implica a
de ler como seu correlativo dialético € estes dois atos conexos
necessitam de dois agentes distintos.”
Estamos longe de Mallarmé e da obra considerada como
monumento, ou ainda de Valéry que, em seu “Curso de Poé-
tica’, afastava 0 “consumidor” tanto quanto 0 “produtor” para
interessar-se exclusivamente pela “prépria obra, enquanto
coisa sensivel”
Na esteira de Proust e da fenomenologia, so numerosas
as abordagens teéricas que revalorizaram a leitura — tanto a
primeira leitura quanto as posteriores —, como a estética da
tecepcio, identificada com a escola de Constance (Wolfgang
Iser, Hans Robert Jauss), ou a Reader-Response Theory (teoria
do efeito de leitura), segundo sua denominagao americana
(Stanley Fish, Umberto Eco). Barthes também aproximou-se
pouco a pouco do leitor: em $/Z, 0 cédigo que ele denomina
Ms
“hermenéutico® ¢ definido come um conjunto de enigmas que
itor, como descreve a Tenomenclog , qual seri
Fle de restrigao imposta pelo texto? E qual é a parte de
le conquistada pelo leitor? Em que medida a leitura €
a pelo texto, como pensava Riffatterre? E em que
1.0 leitor pode, ou deve, preencher as lacunas do texto a
ler, no texto atual, em filigrana, os outros textos virtuais?
quest6es so levantadas a respeito da leitura, mas
remetem ao problema crucial do jogo da liberdade
posiclo. Que faz do texto o leitor quando le? E 0 que
1e 0 texto Ihe faz? A leitura € ativa ou passiva? Mais ativa
sassiva? Ou mais passiva que ativa? Ela se desenvolve
ma conversa em que os interlocutores teriam a possi-
lade de cortigir 0 tito? O modelo habitual da dialética é
fat6rio? © leitor deve ser concebido como um conjunto
de reagées individuais ou, a0 contrario, como a atualizagaio
de uma competéncia coletiva? A imagem de um leitor em
liberdade vigiada, controlado pelo texto, seria a melhor?
Antes de analisar 0 retorno do leitor ao centto dos estudos
iteririos, falta, entretanto, elucidar 0 termo recepeao, com
© qual muitas vezes a pesquisa sobre a leitura se disfarca
tualmente.
RECEPGAO E INFLUENCIA
Na verdade, a hist6ria literéria nao ignorara tudo da tecepgao.
Quando se queria ridicularizar 0 lansonismo, acusava-se nao
somente © fetichismo das “fontes”, mas também a pesquisa
M6
que dava origem 3 escritura de outras
na maioria das vezes, s6 eram levados em.
10 quando se tornavam outros autores, através da
de “destino de um escritor”, um destino essencial
de Fernand Baldensperger, Goethe na Franga (1904). Sobre este
tema nio ha limites 4s variagdes. Em muitas edigdes comen-
até nos libretos de 6pera e roteiros de filme extraidos dela.
Conseqilentemente, mede-se o destino de uma obra pela sua
influéncia sobre as obras posteriores, niio pela leitura dos
que a amam.
Naturalmente, ha também excecdes: 0 grande artigo de
Lanson para o centendrio das Meditagdes, de Lamartine, em
1921, é uma preciosa pesquisa sociol6gica € histrica sobre
a difusio de uma obra literéria. E Lanson sonhava com uma
hist6ria total do livro da leitura na Franga. Entretanto,
‘como veremos no Capitulo VI, sao 0s historiadores da escola
dos Anais que se entregaram recentemente a execucao desse
programa. Gragas a eles, a leitura passou a ocupar realmente
© primeiro plano dos enquanto,
instituigdo social. Com o nome de estudos da recepcao, nao
se pensou, contudo, nem na tradicional atencao da hist6ria
Iiteraria aos problemas de destino ¢ de influéncia, nem ao
setor da nova hist6ria social e cultural consagrada A difusio
do livro, mas na andlise mais restrita da leitura como reaclo
individual ou coletiva ao texto literatio,
O LEITOR IMPLICITO.
Fiéis & antiga distinglo entre poiesis e aisthésis, ou da “pro~
dugao" e do “consumo”, como dizia Valéry, os estudos recentes
da recepgao interessaram-se pela maneira como uma obra
jor ao mesmo tempo passivo € ativo,
- - il
er), por outro lado, aqueles que se
hermenéutica da resposta publica ao texto (em Gad
mente Hans Robert Jauss).
la comum dessas categorias remont
jologia como reconhecimento do papel da consciéncia
terério” — escrevia Sartre — “é um
ho pio que s6 existe em movimento. Para fazé-lo surgic
a
leitura puder durar."® Enquanto tradicional
objeto literario era concebido no espago como um
do modelo
-amente
ivro A superficie € a exposicao do
4 fenomenologia insistiu sobre o tempo de ler. Os
LM. processo que poe o texto em relacio com normas
terarios, por intermédio dos quais o leitor
sentido & sua experiéncia do texto. Encontra-se neste caso a
nogio de pré-compreensio como condicao preliminar, indi
pensivel a toda compreensio, que é uma outra maneira de
dizer, como Proust, que nao hi leitura inocente, ou transpa-
rente: o leitor vai para 0 texto com suas préprias normas €
llores. Mas Ingarden, como fil6sofo, descrevia o fendmeno
da leitura bem abstratamente, sem dizer de maneira ex:
latitude que o texto deixa ao leitor para preencher suas lacunas
— por exemplo, a auséncia de descricdo de Manon —a partir
de suas proprias normas, nem o controle que 0 texto exerce
sobre a maneita como € lido, questdes que logo se tor
cruciais. Em todo caso, as normas ¢ valores do leitor
modificados pela experiéncia da leitura. Quando lemos, nossa
expectativa é funcao do que nés jé lemos — nao somente no
texto que lemos, mas em outros textos —, € 0s acontecimentos
8
Imprevistos que encontramos no decorrer de nossa I
as € a reinter-
tempo, para frente e para tris, sendo que um critério,
dle coeréncia existe no principio da pesquisa do sentido e das
/revisbes continuas pelas quais a leitura garante uma signi
cio totalizante 4 nossa experiéncia.
Iser, em Le Lecteur Implicite 0 Leitor Implicitol (1972) € em
LActe de Lecture[O Ato de Leitura] (1976), retomou esse mo-
delo para analisar o processo da leitura: “Efeitos e respostas”,
escreve ele, “ndo so propriedades nem clo texto nem do leitor;
© texto representa um efeito potencial que € realizado no
processo da leitura". Pode-se dizer que o texto € um dispo-
sitivo potencial baseado no qual o leitor, por sua interacio,
constr6i um objeto coerente, um todo, Segundo Iser,
pélo artistico € o texto do autor ¢ o polo estético € a realizagio
tfetuada pelo leitor. Considerando esta polatidade, & claro que
4 propria obra nao pode ser idéntica a0 texto nem & sua con-
eretizagao, mas deve situar-se em algum lugar entre os dois.
Ela deve inevitavelmente set de cariter virtual, pois cla nto
pode reduzir-se nem a realidade do texto nem 3 subjetividade
do leitor, ¢ € dessa virwalidade que ela deriva seu dinamismo.
Como 6 leitor passa por diversos pontos de vista oferecidos
pelo texto ¢ relaciona suas diferentes visdes ¢ esque’
pie a obra em movimento, ¢ se poe ele pr6prio igus
movimento."
O sentido é, pois, um efeito experimentado pelo leitor, €
nao um objeto definido, preexistente 2 leitura. Iser analisa
esse processo combinando, nao sem ecletismo, 0 modelo
fenomenoldgico com outros, como o modelo formalista
Como em Ingarden, 0 texto literirio € caracterizado por
sua incompletude e a literatura se realiza na leitura. A lite-
ratura tem, pois, uma existéncia dupla e heterogénea.
existe independentemente da leitura, nos textos e nas bil
tecas, em potencial, por assim dizer, mas ela se concretiza
somente pela leitura. © objeto literario auténtico € a propria
interagao do texto com o leitor.
19
Vw SE
0 sentido deve ser o produto de wma interagao entre os sinais
© esquema virtual (uma espécie de
ia ou de partitura) feito de lacunas, de buracos de
i. Em todo texto os pontos de indeterminagao si
jerosos, como falhas, lacunas, que sto reduzidas, sup
idas pela leitura. Barthes pensava igualmente que mesmo
ara mais rea
no entanto, ele tirava disso um argu-
contra a mimésis ¢ nao a favor da leitura. Iser di
os numerosas, serio na verdade inumeraveis.
Iser, a nogdo principal decorrente dessas premissas
leitor implicito, calcada na de autor implicito, que
introduzida pelo critico americano Wayne Booth em The
Rhetoric of Fiction A Ret6rica da Ficgao] (1961). Posicionan-
«lo-se na época contra o New Criticism, na querela sobre a
ntengdo do autor (evidentemente ligada a reflexio sobre o
leitor), Booth defendia a tese segundo a qual um autor nunca
se retirava totalmente de sua obra, mas deixava nela sempre
lum substituto que a controlava em sua auséncia: 0 autor impli-
ito. J4 era uma maneira de recusar o futuro cliché da morte
do autor. Sugerindo, entao, que o autor implicito tinha um
correspondente no texto, Booth afirmava que 0 autor “cons-
di seu leitor, da mesma forma que ele constréi seu segundo
eu, € (quel a bem sucedida é aquela para a qual
08 eus construidos, autor € leitor, podem entrar em acordo”."*
Haveria, assim, em todo texto, construido pelo autor e comple-
mentar ao autor implicito, um lugar reservado para o leitor, ©
qual ele € livre para ocupar ou nao. Por exemplo, no inicio
de 0 Pai Goriot
150
— =
‘de poeta. Ab! saiba
hem uma ficclo, nem um romance. All is true, ele € tho verda-
deiro que cada um de seus elementos pode ser reconhecido
n voc’, em seu coracao talvez
i, 0 autor implicito se dirige ao leitor implicito (ou 0
arrador 20 naratir),langa a bases de se pao, define 38
condigées de entrada do leitor real no livro. O I z
«ito € uma construgio textual, percebida como wma imposieio
pelo leitor real; corresponde ao papel atribuido ao leitor real
pelas instrugdes do texto. Segundo Iser, 0 leitor implicito
essirias para que a obra
sas predisposigdes necessirias para qi
ito — predisposigdes fornecidas, ito
ca exterior, mas pelo proprio texto.
izes do leitor implicito como conceito
Conseqentemente, as raizes de °
so implantadas firmemente na estrutura do texto; trata-se d
‘uma construcio e nao é em absoluto identificivel com nenhum
leitor real.”
eencarna to
teria exerga seu el
Iser descreve um universo literirio bem controlado, seme-
Ihante a um jogo de papéis programado. O texto pede 20
leitor para obedecer as suas instrucdes:
6 conceit de tor impli (1 vn xara text, et
urando a presenga de um receplor, sein necessariaente
Sotinlos esse eonceito pre-estutira 0 papel a ser asumido
poo receptor vo permancee verdadero mesmo quando 0s
Kenton parecem Ignorar seu receptor potendal ov exclutlo
Como elemento avo. Assim, 0 concetto de ietor implicio
deaigns ima rede de estruuras que pedem va tesposta, que
fbrigam oleitor a captar o texto
© leitor implicit propde um modelo ao leitor real; define
tum ponto de vista que permite ao leitor real compor o sentido
do texto, Guiado pelo leitor implicito, o papel do leitor real é
a0 mesmo tempo ativo € passivo. Assim, o leitor € percebido
simultaneamente como estrutura textual (© leitor implicito) €
como ato estruturado (a leitura real).
151
——
a
Baseado no leitor implieito, © ato da Jeitura consiste em
‘um arquivamento de indic
momento, espera-se que ela leve em consideragio todas
+ informagdes fornecidas pelo texto até entao, Essa tarefa &
.s sem escolha, € no poderia haver re:
1m todo texto, existem obstaculos contra os quais a concreti-
e choca obrigat6ria e definitivamente.
descrever 0 leitor, Iser recorre nao A metifora do
lor ou do detetive, mas & do viajante. A leitura, como
tiva © modificacdo da expectativa, pelos encontros
previstos ao longo do caminho, parece-se com uma viagem
avés do texto. O leitor, diz Iser, tem um ponto de vista
errante, sobre o texto. O texto todo nunca esta simulta-
\wamente presente diante de nossa atencAo: como um viajante
m carro, © leitor, a cada instante, s6 percebe um de seus
speciog as relaciona tudo o que Vi, grag 3 ava meavirla
¢ estabelece um esquema de coeréncia cuja natureza e confia-
Wide dependem de sea gars de steaglo. Mas aunca =
visao total do itineririo. Assim, como em Ingarden, a
ura caminha a0 mesmo tempo para a frente, recolhendo
\ovos indicios, e para tris, reinterpretando todos os indices
quivados até entao.
Enfim, Iser insiste naquilo que ele chama de repertério, isto
© conjunto de normas sociais, hist6ricas, culturais trazi
pelo leitor como bagagem necessaria a sua leitura. Mas também.
© texto apela para um tepertério, poe em jogo um conjunto
dle normas. Para que a leitura se realize, um minimo de inter
segio entre o repert6tio do leitor real e o repertstio do texto,
to 6, 0 leitor implicito, é indispensavel. As convencdes que
onstituem o repert6rio Slo reorganizadas pelo texto, que
desfamiliariza ¢ reforma os pressupostos do leitor sobre a rea-
idade. Toda essa bela descricao deixa, no entanto, pendente
152
uma pergunta expinhosa: como se encontram, se defrontam
fenomenol6gico
e hist¢ Estes Se ct
do texto? E, se no se curvam, como
sgressoes? No hofizonte, surge uma interro-
leitura real poderia constituit um objeto te6rico?
‘A OBRA ABERTA
Sob a aparéncia do mais tolerante liberalismo, 0 leitor
implicito, na verdade, s6 tem como escolha obedecer as ins-
trugdes do autor implicito, pois € 0 alter ego ou o sul
dele, Eo leitor real se encontra diante de uma alternativa
|; ou desempenhar © papel prescrito para ele pelo leitor
mplicito ou, entdo, recusar suas instrugdes; conseqiente-
mente, fechar o livro. Certamente, a obra é aberta (em todo
caso, ela se abre pouco'a pouco 2 leitura), mas somente para
que © leitor the obedeca. A histria das teorias da leitura nas
titimas décadas foi a de uma liberdade crescente conferida 20
leitor pelo texto. No momento, ele pode somente submeter-se
Entretanto, se 0 leitor real ainda no se libertou do leitor
implicito, em Iser, ele goza, apesar de tudo, de um grau supe~
rior de liberdade em relacao ao leitor tradicional, simples-
mente porque os textos aos quais ele se refere, cada vez m:
modernos, si cada vez mais indeterminados. Em conseqdénci
disso, cada vez mais 0 leitor tem que dar de si proprio para
completar o texto, Estamos diante de um fendmeno jé assina~
lado em relagao 2 literariedade, identificada & desfamiliari-
zag, e definida como um universal pelos formalistas russos,
baseados na estética futurista particular na qual se encon-
travam, Nesse caso, para analisar 0s textos modemos, onde
© papel do leitor implicito é menos detalhado do que num
romance realista, uma descrico nova, mais aberta, da leitura,
teve que ser elaborada, e ela foi logo eleita como modelo
universal.
Inegavelmente essa teoria € atraente, talvez até demais.
‘oferece uma sintese de pontos de vista diversos sobre a
literatura e parece reconciliar a fenomenologia e 0 formalismo
153,
10 € da liberdade). O leitor de Iser é um es
generoso, disposto a fazer 0 jogo do texto. No
fundo, € ainda um leitor ideal: extremamente parecido com
tum critico culto, familiarizado com os clissicos, mas cur
em relacio aos modemos. A experiéncia descrita por Iser
essencialmente a de um leitor culto, colocado diante dos
textos narrativos pertencentes 2 tradigo real
‘mente ao modernismo. Na verdade, € a pritica dos romances
do século XX, que, aliés, retomam certas liberdades correntes
no século XVIII, é a experiéncia de seus enredos frouxos e de
seus personagens sem consisténcia, talvez mesmo sem nome,
que permite analisar, retrospectivamente, a leitura (normal
dos romances do século XIX e das narrativas em geral. A
hipétese implicita é que, diante de um romance moderno,
cabe a0 leitor informado fornecer, com a ajuda de sua meméria
literaria, algo com que transformar um esquema narrativo
incompleto numa obra tradicional, num romance realista ou
naturalista virtual, Secundariamente, a norma de leitura pressu-
posta por Iser é, assim, 0 romance realista do século XIX,
como um paradigma do qual toda leitura proviria. Mas que
dizer do leitor que nao recebeu essa iniciagio tradicional
a0 romance, para quem a norma seria, por exemplo, 0 novo
romance? Ou, entio, 0 romance contemporiineo, as vezes qual
ficado de p6s-modemo, fragmentario e desestruturado? Seu
comportamento seria ainda regulado por uma busca de coe-
réncia baseada no modelo do romance realista?
Iser estende, enfim, a noclo de desfamiliarizagao, oriunda
do formalismo, as normas sociais e hist6ricas. Enquanto os
formalistas visavam sobretudo a poesia, que alterava princi-
palmente a tradigdo literdria, Iser, pensando no romance
moderno mais do que na poesia, relaciona o valor da expe-
rigncia estética com as mudangas que ela acarreta nos pressu-
postos do leitor sobre a realidade. Mas, entio — uma outra
restricao — essa teoria nao sabe o que fazer das priticas de
leitura que ignoram as imposigdes hist6ricas que pesam sobre
© sentido, que abordam, por exemplo, a literatura como um.
86 conjunto sincrOnico € monumental, & maneira dos cl
134
Po
iticd-la por dissimular seu tradi
, por suas referéncias ecuménicas. Ela
mo tempo livre € imposto, e essa recone’
com 0 leitor, deixando de lado 0 autor, parece evitar
literiria, principalmente 0
iteses exarcebadas. Como em toda busca
meio-termo, no entanto, mio se deixou de a
m conservadora. A liberdade concedida ao leitor es
A verdade restrita a08 pontos de indeterminagao do texto,
‘© 08 lugares plenos que 0 autor determinou. Assim, 0
itor continua, apesar da aparéncia, dono efetivo do jogo:
le continua a determinar o que € determinado € 0 que nio 0 €.
a estética da recepgio, apresentada como um avango da
voria literaria, poderia bem nao ter sido, afinal de contas,
is que uma tentativa para salvar o autot, conferindo-Ihe
1 embalagem nova. O critico britanico Frank Kermode io
se enganava a esse respeito. Ele afirmava que, com a estética
recepcao de Iser, a teoria literdria havia enfim se encon-
trado com o senso comum (literary theory bas now caught up
th common sense). Todo mundo sabe, lembrava Kermode,
ue 08 leitores competentes éem os mesmos textos de modo
iferente dos outros leitores, mais a fundo, mais sistematica-
nente, ¢ isso basta para provar que um texto nao esta plena-
mente determinado. Alias, os professores dao as melhores
notas aos estudantes que se afastam m n, no entanto,
zer contra-sensos ou car no absurdo — da leitura “normal” de
‘um texto, aquela que fazia parte do repertério até ento. No
fundo, a estética da recepcao no diz nada mais do que diria
uma observacao empirica, atenta, da leitura, e ela poderia
bem no ser senao uma formalizacao do senso comum, o que,
afinal de contas, jf no seria tio mal, Para Kermode, isso era. um.
clogio, mas ha elogios comprometedores, que nao fazem falta.
Os partidarios ce uma maior liberdade do leitor crticaram,
pois, a estética da recepgao por voltar sub-repticiamente a0
155
n, que
(como negar a
ngo tem
da tese de Michel Charles para quem a
’o tem maior peso do que a infinidade das obras
que sua leitura sugere,
O HORIZONTE DE EXPECTATIVA (FANTASMA)
A estética da recepcao tem uma primeira vertente, ligac
nenologia, interessada no leitor individual, e represen-
por Ises, mas também uma segunda vertente, onde a
fecai sobretudo na dimensao coletiva da leitura. Seu
nddlor € porta-voz mais eminente foi Hans Robert Jauss,
pretendia renovar, gracas ao estudo da leitura, a historia
literaria tradicional, condenada por sua preocupagio exces-
iva, com os autores. Coloco aqui seu fan-
tasma, pois esta vertente seri abordada no Capitulo VI, que
literatura e da hist6ria, mas ela estuda também de
perto 0 valor, a formagao do cinone, ¢ o Capitulo VII poderia
comporté-la. Essa ubiqdidade € alias sinal de um problema
©, como se vera, pode-se fazer-lhe a mesma critica que se faz
A teoria de Iser: ser conciliadora, equilibrada, demasiado
abrangente, tendo como conseqiiéncia, por um desvio, a rele-
itimagao de nossos velhos estudos sem modifici-los muito,
contrariamente a0 que pretendia.
No momento, retenhamos simplesmente que Jauss chama
de horizonte de expectativa o que Iser chamava de repertério:
© conjunto de convengdes que constituem a competéncia dle
uum leitor (ou de uma classe de leitores) num dado momento;
© sistema de normas que define uma geracao hist6rica,
156
—
© GELNERO COMO MODELO DE LEITURA
evidente de generalizagho, entre as obras indivi-
a Poética de Arist6teles
‘ou entao, se o género faz parte dessas questoes, é na depen-
déncia de uma outra questio elementar. Assim, ha pelo menos
ou aqui mesmo, a propésito do leitor como modelo de recepcao,
componente do repert6rio ou do horizonte de expectativa,
© género, como taxinomia, permite ao profissional classi-
ficar as obras, mas sua pertinéncia tedrica nao € essa: € a de
funcionar como um esquema de recep¢io, uma competéncia
do leitor, confirmada e/ou contestada por todo texto novo
num processo dindmico. A constatacao dessa afinidade entre
‘genero € recepcio leva a cortigir a visio convencional que
se tem do género, como estrutura cuja realizacao € 0 texto
enquanto lingua subjacente ao texto considerado como fala.
Na realidade, para as teorias que adotam o ponto de vista do
leitor, € 0 proprio texto que € percebido como uma lingua
(uma partitura, um programa), em oposicao & sua concreti-
zagio na leitura, considerada como uma fala. Mesmo quando
um tedrico dos géneros, por exemplo, Brunetiére, que foi
vivamente criticado por isso, apresenta a relagao do genero
com a obra, a partir do modelo dual, espécie e individuo,
suas anilises mostram que ele adota na realidade um ponto
. 17
= _
dle vinta da recepeno, neste eiK9, hisidrico, Pensou-se que ete
cred do genero, ex
10 entre a obra e 0
ulor —, como o horizonte de expe
nie, o genero € o horizonte do desequi
Por toda nto por
Por seu contexto, uma obra literai
que a precederam ¢ aquelas que a sticederam’, det
Bruni "u verbete “Critica”, de A Grande Enci-
omunidades interpretativas, como 0 repert6rio de Iser
o horizonte de expectativa de Jauss, sio conjuntos dle normas
de interpretagao, literarias € extra-literdrias, que um grupo
Iha: convengdes, um cédigo, uma ideologia, como
-m. Mas, diferentemente do repert6rio e do horizonte
dle expectativa, a comunidade interpretativa nao deixa mais a
ma autonomia ao leitor, ou mais exatamente 2 leitura,
nem ao texto que resulta da leitura: com o jogo da norma e
lo desvio, toda subjetividade € doravante abolida.
Nas comunidades interpretativas, 0 formalismo é, poi
;nulado, da mesma forma que a teoria da recepgo como projeto
Iternativo: nao existe mais dilema entre partidarios do texto
€ defensores do leitor, j que essas duas nogdes nto sto perce-
las como concorrentes ¢ slo relativamente independentes.*
A distincAo entre sujeito € objeto, tiltimo reftigio do idealismo,
nao € mais considerada pertinente, ou foi afastada, ja que
texto € leitor se dissolvem em sistemas discursivos, que no
refletem a realidade, mas sao responsaveis pela realidade,
ee
te mal
introdugio do
ios, seria suficiente anular a literatura.
por que nio adotar essa solugio definitiva?
DEPOIS DO LEITOR
como um empecilho, em nome
pelo seu retorno a cena
texto (ou entre, ou contra 0 autor € 0 texto), destruiu a poss
bilidade de confrontagao, sua alternativa tornou-se este!
zante. Mas a valorizagio do leitor levantou uma questo inso-
iteratos: a d
liberdade vigiada, de sua autoridade relativa diante dos rivais
€ a supremacia do autor, a importincia conferida & leitui
abalou o fechamento €
que a contestagio dla
rencial”, a insisténcia na leitura,
que com o progresso do form: endia a substituir-se &
sao afetiva”, teve uma virtude critica inegivel nos estudos
litetdrios. Numerosos trabalhos, inspirados na fenomenologi
ou na estética da recepcio, que levaram em consideragio a
leitura © outros elementos literirios, comprovam esse fato.
Mas, uma vez ocupado esse lugar, foi como se os adeptos do
leitor quisessem, por sua vez, excluir todos os seus concor-
rentes. © autor € 0 texto —e, finalmente, o proprio leitor —
revelaram-se impossiveis de serem excluidos das exigén
dos te6ricos da recepcao. Uma maneira infalivel de calar as
objegdes era desqualifica-los teoricamente. A distingao entre
© autor, 0 texto € 0 leitor tornou-se friavel em Eco ou em
163
Barthes, até que Fish, magistralmente, deseartousse dos (res
de uma s6 vei
parece muitas vezes uma fuga para frente, para evitar as
culdades, que — Fish lembrava — nao devem sua existén:
sendo i “comunidade interpretativa” que as faz surgit. Por
isso a teoria leva as vezes a pensar na gnose, numa cient
suprema, desprovida de todo objeto empirico.
Uma vez mais, entre as duas teses extremas que tém a seu
favor uma certa consisténcia te6rica, mas que sio claramente
exacerbadas e insustentaveis — a autoridade do autor e do
texto permite instituir um discurso objetivo (positivista ou
Formal) sobre a literatura, e a autoridade do leitor, instituir um.
discurso subjetivo —, todas as posigoes medianas parecem
frageis € dificeis de serem defendidas. £ sempre mais ficil
‘argumentar a favor de doutrinas desmedidlas e, afinal de contas,
do deixamos «le nos confrontar com a alternativa de Lanson
e de Proust. Mas, na pritica, vivemos (e lemos) no espago
existente entre 0s dois. A experiéncia da leitura, como toda
experiéncia humana, € fatalmente uma experiéncia dual,
ambigua, dividida: entre compreender ¢ amar, entre a filologia
a alegoria, entre a liberdade e a imposigao, entre a atencio
40 outro € a preocupagio consigo mesmo. A situagio mediana
repugna aos verdadeiros tedricos da literatura. Mas, como dizia
Montaigne, na “Apologia de Raymond Sebond”: “E uma grande
temeridade perder-vos v6s mesmos para perder um outro.”
164
Você também pode gostar
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (20023)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNo EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5794)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNo EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionNo EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2475)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookNo EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2515)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNo EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (19653)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionNo EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (727)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersNo EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2314)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseNo EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1107)







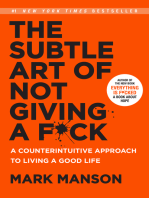



![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)