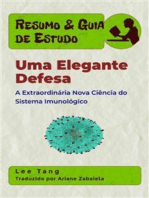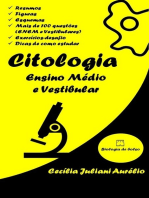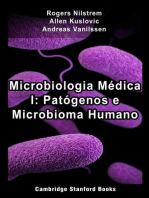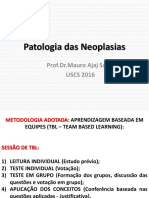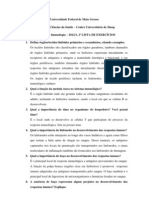Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sistema Imune - Coleção Medicina Resumida PDF
Enviado por
FABIO HENRIQUETítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Sistema Imune - Coleção Medicina Resumida PDF
Enviado por
FABIO HENRIQUEDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MEDICINA
RESUMIDA
Sistema�Imune
Autores
Evelyn Moura De Assis
Pedro Eustáquio Urbano Teixeira
Revisora Técnica
Denise Carneiro Lemaire
MR imune_1 e 2.indd 3 04/07/19 17:27
CAPÍTULO
Imunidade Inata
1
1. CASO CLÍNICO
João, um garoto de seis anos, chega em casa após um jogo de futebol
com os amigos queixando-se de dor na parte posterior da perna direita.
Judite, sua mãe, percebe um corte na perna do filho e o orienta a lavar a
região com água e sabão para evitar que algum bicho se aproveite e pe-
netre a pele machucada. João, como toda criança curiosa, pergunta: “Mãe,
por onde o bicho pode entrar?”, e sua mãe responde: “Pela sua pele lesa-
da, filho”. João, insatisfeito, questiona: “E o que eu vou fazer para tirar esse
bicho de dentro de mim, mãe? Eu vou ficar doente?”. Sua mãe responde:
“Filho, nosso corpo tem o sistema imunológico que produz barreiras e cé-
lulas de defesa para nos proteger”. Ainda intrigado, João pergunta: Mãe,
o que é sistema imunológico e como ele sabe que tem um bicho em meu
corpo?”.
Se você fosse a mãe de João, o que você teria que estudar para respon-
der a ele? Agora é sua vez!
17
MR imune_1 e 2.indd 17 04/07/19 17:27
IMUNIDADE INATA
1.1 POSSÍVEIS PALAVRAS OU TERMOS DESCONHECIDOS
• Sistema imunológico: conjunto de células e moléculas responsáveis
pela imunidade, isto é, defesa contra substâncias estranhas.
1.2 PALAVRAS-CHAVE
"Corte", "Pele lesada", "Barreira", "Sistema imunológico".
1.3 OBJETIVOS
• Conceituar e caracterizar o sistema imunológico.
• Identificar o papel da pele como barreira às infecções.
• Identificar e caracterizar as principais células efetoras do sistema
imune.
• Identificar e caracterizar os componentes moleculares e celulares do
sistema imunológico inato.
• Estabelecer os mecanismos de ativação dos componentes do siste-
ma imune inato.
• Identificar as moléculas envolvidas no reconhecimento dos micror-
ganismos pelo sistema imune inato.
18
MR imune_1 e 2.indd 18 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 01
2. INTRODUÇÃO
O sistema imunológico envolve um conjunto de células e moléculas
que atuam de forma coordenada na defesa do corpo humano contra subs-
tâncias danosas. Os mecanismos ativados em resposta a essas substâncias
são classificados em: (1) forma inicial e imediata, a qual chamamos de imu-
nidade inata ou natural; e (2) outra forma mais tardia, que aparece após
alguns dias, a qual chamamos de imunidade adquirida ou adaptativa.
As substâncias que estimulam as respostas específicas do sistema imu-
ne são denominadas antígenos. Os antígenos podem estar presentes em
microrganismos, corpos estranhos, células tumorais, órgãos transplanta-
dos, substâncias que causem alergias etc. Você perceberá durante todo
o livro que nossos exemplos e explicações geralmente se associam a mi-
crorganismos infecciosos. Além da principal função do sistema imune
ser, sim, a defesa contra esses patógenos, a compreensão dos inúmeros
mecanismos pelos quais o sistema imune funciona é facilitada quando o
agente agressor é um microrganismo patogênico. É simplesmente mais
fácil explicar, e entender, a atuação do sistema imune se for contra um ví-
rus ou uma bactéria do que contra um órgão transplantado ou uma célula
tumoral.
Os mecanismos da imunidade inata, ou natural, constituem a primeira
linha de defesa do nosso organismo e responde apenas à microrganis-
mos infecciosos ou aos produtos das células lesadas. Ele inclui estrutu-
ras celulares e bioquímicas de defesa que, constitucionalmente, já estão
prontas para atuar ou são ativados rapidamente. Esses mecanismos não
se caracterizam pela especificidade contra um determinado agente infec-
cioso, e sim pela identificação de estruturas que são comuns a grupos de
microrganismos, a exemplo do Lipopolissacarídeo (LPS) presente na pare-
de celular de bactérias gram-negativas. Além de não haver diferenciação
entre discretas composições das substâncias estranhas, não há geração de
memória imunológica. Ou seja, a imunidade inata é como o ferrolho em
sua porta ou o alarme em seu carro. Independentemente de quem tente
invadir sua propriedade, seja um ladrão ou seja um parente, a porta estará
trancada e o alarme pronto para disparar. São mecanismos contra as infec-
ções que existem, estando o agente infeccioso presente ou não.
Por outro lado, a imunidade adquirida, também chamada adaptativa,
envolve mecanismos que se caracterizam pela resposta específica ao an-
19
MR imune_1 e 2.indd 19 04/07/19 17:27
IMUNIDADE INATA
tígeno. O antígeno precisa estar presente. Após a exposição, há alterações
nas funções de determinadas células para que aquele antígeno, respon-
sável pelo estímulo à resposta, seja eliminado. Os mecanismos de defesa
não estão prontos, esperando o patógeno aparecer. Eles são montados
em resposta à presença dele. Além disso, esse tipo de resposta gera me-
mória imunológica, a qual garante uma resposta resolutiva mais rápida
em um próximo contato com aquele mesmo antígeno.
As principais características das respostas imunes adaptativas são es-
pecificidade, diversidade, memória, especialização, expansão clonal, au-
tolimitação e homeostasia.
1. Especificidade: As respostas adquiridas são específicas para cada
antígeno. Os antígenos têm porções chamadas epítopos, ou deter-
minantes, que são reconhecidos pelos receptores de linfócitos, de-
sencadeando os mecanismos efetores. Especificidade é exatamente
a capacidade de reconhecer algo próprio de cada antígeno, não con-
fundindo um com o outro.
2. Diversidade: Estima-se que o sistema imunológico de uma pessoa
possa discriminar de 107 a 10 9 determinantes antigênicos diferentes.
3. Memória: Linfócitos estimulados podem diferenciar-se em células com
meia vida longa, denominados linfócitos de memória. Essas permitem
que as respostas secundárias, ou seja, aquelas posteriores a uma primei-
ra exposição ao patógeno, sejam mais rápidas, eficientes e específicas.
4. Especialização: Cada tipo de resposta envolve a ativação de meca-
nismos que protegem contra um determinado microrganismo. Pode
até ter respostas diferentes para um mesmo antígeno.
5. Expansão clonal: Após exposição e reconhecimento, há ativação e
proliferação de linfócitos, com geração de um clone de células que ex-
pressam receptores idênticos àqueles presentes na célula que deu ori-
gem ao clone (aquele que foi ativado por um determinado antígeno).
6. Autolimitação e homeostasia: Se o antígeno for eliminado, o estí-
mulo cessa, e as respostas imunes diminuem de intensidade, retor-
nando ao basal, com os linfócitos de memória em repouso.
A maioria das respostas imunológicas do hospedeiro aos antígenos
são compostas pelos mecanismos dos dois tipos de imunidade: inata e
adquirida. Isso ocorre porque, durante o processo evolutivo, a maioria dos
microrganismos criou mecanismos para evadir à imunidade inata e per-
20
MR imune_1 e 2.indd 20 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 01
manecer no hospedeiro. Dessa forma, a resposta imune inicial consegue,
por vezes, apenas conter a disseminação do antígeno, mas será a resposta
adquirida a responsável por sua eliminação. A resposta natural, na realida-
de, estimula a resposta adquirida. Alguns microrganismos mais patogêni-
cos, entretanto, são capazes de escapar dos mecanismos efetores da pró-
pria imunidade adquirida. Eles sobrevivem e permanecem no hospedeiro,
em uma forma de latência ou de multiplicação e disseminação. O principal
exemplo é o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
Voltando ao caso, quais são as barreiras que a mãe de João disse que
compõem o sistema imunológico? Em se tratando de uma simples feri-
da na perna ocorrida há poucas horas, qual tipo de resposta imunológica
deve estar predominando no momento: inata ou adquirida?
Imagem 1: Imunidade inata e adaptativa.
Na imagem 1, acima, podemos perceber os principais componentes das
imunidades inata e adquirida e o tempo, após o início da infecção, para ativa-
ção dos mecanismos de cada tipo de resposta. Como dissemos anteriormen-
te, as barreiras e células do sistema imune natural estão sempre a postos,
prontos para prevenir ou eliminar a infecção assim que o microrganismo en-
tra o nosso corpo. Seu início, portanto, é imediato. Por outro lado, os meca-
nismos da imunidade adaptativa requerem apresentação adequada dos an-
tígenos por células especializadas e a montagem de um aparato específico
21
MR imune_1 e 2.indd 21 04/07/19 17:27
IMUNIDADE INATA
para eliminar o microrganismo de forma mais efetiva. Geralmente demoram
mais de um dia para entrar em cena; a resposta primária demora cerca de
quinze dias em média, e a secundária pode ser mais rápida, iniciando em
um ou dois dias. No nosso caso, portanto, são os mecanismos da imunidade
inata que estão predominando na batalha contra os agentes infecciosos.
3. IMUNIDADE INATA
O conjunto de mecanismos da imunidade inata é composto por barreiras
físicas, químicas e biológicas, células fagocitárias, sistema complemento e res-
posta inflamatória. Sistema complemento? Sei que muitos pensam que o siste-
ma complemento é parte da imunidade adquirida, mas quando você estudar
o capítulo que aborda especificamente o tema, vai perceber que algumas vias
de ativação do sistema complemento não dependem de mecanismos efetores
da imunidade adquirida, podendo ser considerado parte da imunidade inata.
Para um agente infeccioso, ou qualquer corpo estranho, estimular a
resposta imunológica, eles precisam primeiro invadir o corpo humano.
Isso ocorre quando as barreiras físicas e químicas são ultrapassadas. Uma
abertura em alguma dessas barreiras, como o corte na pele do nosso caso,
pode facilitar a entrada desses agentes.
As barreiras físicas são compostas pelas superfícies epiteliais, como a
pele, e pelas superfícies mucosas do trato digestório e respiratório. Esses
três (pele, trato gastrointestinal e trato respiratório) são os principais locais
de entrada de patógenos, visto que estão em contato direto com o am-
biente externo. Essas barreiras estão associadas à microbiota de bactérias
não patogênicas que competem com os patógenos pelos nutrientes e pe-
los sítios de adesão. Dessa forma, acabam por tornar-se mais uma cama-
da de proteção. Cada região possui uma microbiota que pode produzir e
liberar substâncias antimicrobianas, como o ácido lático produzido pelos
lactobacilos vaginais, que auxiliam dificultando a sobrevivência de micror-
ganismos potencialmente danosos.
As superfícies epiteliais intactas têm junções ocludentes que não dei-
xam brechas para invasão. Como dito anteriormente, além de barreiras fí-
sicas, há barreiras químicas. Os epitélios e leucócitos locais produzem
peptídeos que atuam como antibióticos naturais: defensinas e catelicidi-
nas principalmente. As defensinas, produzidas pelas células epiteliais de
22
MR imune_1 e 2.indd 22 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 01
superfícies mucosas e por leucócitos que contêm grânulos, têm toxicida-
de direta, destruindo os microrganismos, e indireta, ativando células da
resposta inflamatória. As catelicidinas, liberadas pelos neutrófilos, pele,
mucosa gastrointestinal e respiratória, agem de forma semelhante.
Veremos adiante, em ou-
tros capítulos, que os linfó-
citos B e T são as principais
células da resposta imune
adquirida. Acontece que em
nossos epitélios de barreira
há alguns subconjuntos de
linfócitos B e T que expres-
sam receptores de antígenos
com menor especificidade
e diversidade. Esses recep-
tores, ao invés de reconhe-
cerem estruturas que dife-
renciam os microrganismos,
mesmo aqueles semelhantes, Imagem 2: Barreiras epiteliais
reconhecem estruturas que
são comuns a um conjunto de patógenos, da mesma forma que os recep-
tores da imunidade inata. As células que contêm esses receptores são os
linfócitos T intraepiteliais, linfócitos B1 e linfócitos B da zona marginal do
baço. Elas atuam secretando citocinas, ativando fagócitos e auxiliando na
eliminação de células infectadas.
As mucosas podem produzir e liberar muco, que são glicoproteínas
(mucinas), e atuam recobrindo e imobilizando os antígenos. Sua ação é
auxiliada pela presença dos cílios, que promovem a expulsão do antígeno
previamente imobilizado. Mucosas gastrointestinais podem liberar subs-
tâncias ácidas, diminuindo o pH e causando desnaturação de proteínas e
consequente inativação de alguns microrganismos. Atuam, também, atra-
vés da liberação de enzimas digestivas antibacterianas, que funcionam
como barreira química.
Curiosamente, lágrimas e saliva também funcionam como barreiras,
pois, além da ação mecânica, possuem enzimas com ação antibacterianas,
como a lisozima e a fosfolipase A.
23
MR imune_1 e 2.indd 23 04/07/19 17:27
IMUNIDADE INATA
4. RECEPTORES DO SISTEMA IMUNE INATO
Lembra-se da pergunta que João fez para a mãe, de como o sistema
imunológico sabia que havia um microrganismo no corpo dele? Tudo tem
a ver com os receptores presentes em nossas células e sua interação com
as moléculas expressas pelos patógenos.
As células da imunidade inata atuam identificando e fagocitando os
antígenos ou ativando a reposta inflamatória. Essas células reconhecem
os antígenos através da ligação de alguns de seus receptores com estru-
turas características de patógenos. Que estruturas são essas? Podem ser
componentes da parede celular, algum carboidrato, ácido nucleico ou
proteína que seja diferente do que nosso organismo está acostumado etc.
Ou seja, pode ser qualquer coisa que não seja comum ao nosso corpo. O
interessante é que essas estruturas geralmente são essenciais para a so-
brevivência desses patógenos. Ou seja, elas têm que estar presentes para
que o microrganismo seja capaz de sobreviver. São chamadas de Padrões
Moleculares associados a Patógenos (PAMPs). Os receptores que se ligam
a essas estruturas são chamados de Receptores de Reconhecimento de
Padrões. Existem, também, os Padrões Moleculares Associados ao Dano
(DAMPs). Esses são expressos por células próprias que, por algum motivo,
seja diferenciação maligna ou infecção, estão lesionadas, danificadas.
Os principais PAMPs são: RNA de dupla-hélice nos vírus em replicação,
proteínas bacterianas que são iniciadas pelo aminoácido N-formilmetioni-
na, Lipopolissacarídeos (LPS) em bactérias gram-negativas, ácido tecoico
em bactérias gram-positivas e oligossacarídeos ricos em manose.
A classificação gram-negativa e gram-positiva das bactérias é devido ao
método de Gram de coloração. O pesquisador Christian Gram, em 1884, de-
senvolveu esse método de coloração em que trata o esfregaço bacteriano
com os reagentes cristal violeta, lugol, álcool e fucsina. Toda bactéria cora-
-se de roxo devido à absorção do complexo cristal violeta e o lugol. Quando
lavadas pelo álcool, entretanto, as bactérias ditas gram-positivas continuam
coradas, enquanto as bactérias gram-negativas perdem a cor. Assim, essas
bactérias quando tratadas com a fucsina, adquirem sua coloração averme-
lhada. Quando observadas no microscópio, as gram-positivas são roxas e as
gram-negativas são avermelhadas. Essa diferença na coloração ocorre de-
vido às diferenças estruturais das bactérias. O peptídeoglicano espesso nas
bactérias gram-positivas são os principais responsáveis.
24
MR imune_1 e 2.indd 24 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 01
É importante recordar que o sistema imune adquirido tinha especifi-
cidade para cada antígeno, podendo diferenciar um do outro por mais pa-
recidos que fossem. A imunidade inata não funciona assim. Se o microrga-
nismo A e o microrganismo B apresentarem o carboidrato manose, será o
carboidrato o responsável pela identificação, e não algo que os diferencie.
Já no reconhecimento pela imunidade adaptativa, o carboidrato pode até
estar presente, mas os receptores irão se ligar a outros componentes que
sejam específicos de cada microrganismo. Isso ocorre porque, de maneira
geral, os receptores da imunidade inata reconhecem carboidratos, lipíde-
os e ácidos nucleicos, ao passo que os receptores da imunidade adquirida
reconhecem, principalmente, proteínas.
Imunidade Inata
Microrganismos
Microrganism
osdiferentes
diferentes
Receptores de
manose
idênticos
Imunidade Adquirida
Microrganismos
Microrganism
osdiferentes
diferentes
Moléculas de
anticorpo
distintas
Imagem 3: Especificidade
Há vários receptores de reconhecimento de padrões: receptores se-
melhantes à Toll, Lectinas tipo C, receptores scavenger ou varredores, re-
ceptores a N-formil Met-Leu-Phe, receptores NLRs e receptores CARD. Eles
podem ser expressos na superfície celular ou no interior das células, como
25
MR imune_1 e 2.indd 25 04/07/19 17:27
IMUNIDADE INATA
na vesícula endossômica, na membrana do retículo endoplasmático e no
citoplasma.
Os receptores semelhantes à Toll (TLRs) são expressos nas membranas
de superfície e nas membranas intracelulares, onde detectam ácidos nu-
cleicos microbianos. Suas vias de sinalização levam à ativação do fator de
transcrição NF-Kappa B (NFkB) que estimula a expressão de genes que co-
dificam moléculas da resposta inata, como citocinas e moléculas de ade-
são endotelial. Sabemos que às vezes, quando juntamos muitas siglas em
um parágrafo só, fica um pouco difícil de entender. Vamos explicar com
mais detalhes esse tipo de receptor, já que é o principal, e você aplica o
conhecimento adquirido aos outros.
Os TLRs estão presentes tanto na membrana celular, virados para o
lado de fora da célula, quanto em vesículas endossomais, virados para
dentro deste compartimento membranar. Dessa forma, se um antígeno
está no meio extracelular ou foi fagocitado e está em alguma vesícula en-
dossomal, ele pode se ligar a um desses receptores. Eles detectam ácidos
nucleicos microbianos e, após o reconhecimento, ativam alguns mecanis-
mos intracelulares que culminam na secreção de citocinas e na expressão
de moléculas de adesão. As citocinas vão ajudar a recrutar leucócitos para
o local onde o microrganismo foi detectado e as moléculas de adesão vão
garantir que os leucócitos que estejam passando por perto “grudem” e se-
jam capturados para os tecidos infectados. Entendeu? Basicamente, o que
acontece é contato ⇒ reconhecimento ⇒ estímulo a algum mecanismo
que vai ajudar a eliminar o microrganismo.
Além de receptores voltados para o meio extracelular e para vesículas
endossomais (TLRs), temos alguns voltados para o citosol, prontos para
reconhecer microrganismos intracelulares. Os NLRs são um conjunto de
moléculas citoplasmáticas. Um subconjunto das NLRs chamado de Nods,
especialmente o Nod1 e o Nod2, reconhece peptideoglicanos da parede
celular bacteriana. Nas células epiteliais, por exemplo, o Nod1 é um impor-
tante ativador da resposta imunológica, pois a concentração de recepto-
res semelhantes à Toll é pequena.
26
MR imune_1 e 2.indd 26 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 01
Imagem 4: Localizações celulares das moléculas de reconhecimento de padrões do sistema imune inato.
As lectinas tipo C são moléculas que reconhecem estruturas de car-
boidratos, principalmente manose, encontradas nas paredes celulares de
microrganismos. Elas são expressas nas membranas plasmáticas.
Os receptores varredores (scavenger) representam um grupo de mo-
léculas que medeiam a captação de lipoproteínas oxidadas e microrga-
nismos para dentro das células. Por isso, estão associados à formação de
células de espuma (macrófagos repletos de LDL-colesterol oxidado) na
aterosclerose.
Os receptores a N-formil Met-Leu-Phe detectam proteínas bacterianas,
já que estas são iniciadas por N-fomilmetionina.
Os receptores CARD, que são as proteínas que contêm domínio de ati-
vação e recrutamento de caspase, são receptores citoplasmáticos que se
ligam ao RNA viral.
27
MR imune_1 e 2.indd 27 04/07/19 17:27
IMUNIDADE INATA
5. CÉLULAS DO SISTEMA IMUNE INATO
As células que expressam esses receptores são os neutrófilos, basófilos,
células mononucleares do sistema fagocítico, eosinófilos e células dendri-
tícas.
Os neutrófilos, na maioria das respostas imunológicas, são as células
que chegam primeiro nos locais de inflamação e são as mais abundan-
tes nas fases iniciais das respostas inflamatórias (até 72h). Representam a
maioria das células sanguíneas brancas circulantes. Recebem o termo leu-
cócitos polimorfonucleares porque seu núcleo é segmentado em peque-
nos lóbulos. Seu citoplasma contém 2 grânulos: (1) os específicos, conten-
do lisozima, colagenase e elastase e (2) os azurófilos, que são lisossomos.
Após atuarem no local da infecção, eles morrem e compõem o pus, que
é constituído por bactérias, neutrófilos mortos, material semidigerido e
líquido extracelular. Se não houver recrutamento dos neutrófilos, eles cir-
culam no sangue por aproximadamente 6h, morrem por apoptose e são
fagocitados por macrófagos residentes do fígado e do baço. Nosso corpo
produz em torno de 1011 neutrófilos por dia.
Os fagócitos mononucleares são os monócitos e os macrófagos. Os
monócitos são células circulantes, incompletamente diferenciadas que,
ao atravessar o endotélio, chegam ao tecido maturam-se e se transfor-
mam em macrófagos. Os macrófagos atuam promovendo a fagocitose
de microrganismos e liberando citocinas que promovem a inflamação. En-
contram-se em abundância no local de inflamação, geralmente após 72h
do início do processo inflamatório. Além disso, podem produzir espécies
reativas de oxigênio e de nitrogênio. Além de células da imunidade inata,
são consideradas células efetoras da imunidade adquirida celular, já que
os linfócitos os ativam para tornar mais efetivo o processo de degradação
dos microrganismos fagocitados. Os macrófagos recebem diferentes de-
nominações dependendo do tecido onde estão. São chamados de micró-
glia no sistema nervoso central (SNC), de células de Kupfer no fígado e de
macrófagos alveolares no parênquima pulmonar, atuando em todos esses
tecidos como células de defesa. No tecido ósseo são chamados de osteo-
clastos, promovendo a reabsorção e o remodelamento ósseo.
28
MR imune_1 e 2.indd 28 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 01
Imagem 5: Maturação dos fagócitos mononucleares.
Os eosinófilos são células que participam da defesa contra parasitas.
Como esses microrganismos são muito grandes para serem fagocitados,
os eosinófilos atuam liberando, para o meio extracelular, substâncias ca-
pazes de destruir os patógenos, como uma proteína chamada proteína
básica, que é rica em arginina e lisossomos. Ou seja, essas células contêm
grânulos em seu interior compostos por essas substâncias. Além disso,
têm um núcleo que é geralmente bilobulado, o que auxilia em seu reco-
nhecimento à microscopia.
Os basófilos têm um citoplasma carregado de grânulos grandes, que
obscurecem o núcleo. Esse núcleo é volumoso, de forma retorcida e irre-
gular, com o aspecto da letra S. Seus grânulos contêm histamina, fatores
quimiotáticos para eosinófilos e neutrófilos e heparina, que são liberados
para o meio extracelular durante a resposta imunológica. Seu citoplasma
também têm receptores para a imunoglobulina E, que participam da res-
posta alérgica.
Os mastócitos atuam como uma barreira de proteção nas superfícies
internas do organismo, que ajuda a estimular a resposta inflamatória.
Além disso, coordenam as respostas alérgicas e também estão envolvidos,
com os eosinófilos, na resposta contra helmintos.
Na atuação do sistema imunológico inato, observamos que essas cé-
lulas citadas acima, a fagocitose, a inflamação e o sistema complemento,
são os principais mecanismos de proteção contra microrganismos extra-
celulares, como bactérias extracelulares e parasitas. Para a proteção con-
29
MR imune_1 e 2.indd 29 04/07/19 17:27
IMUNIDADE INATA
tra microrganismos intracelulares, entretanto, é necessária a atuação das
células Natural-Killer (NK).
As células NK são derivadas do progenitor linfoide, comum na medula
óssea que origina os linfócitos. Essas células, entretanto, não fazem parte
da imunidade adquirida porque não têm especificidade para o antígeno.
Elas reconhecem células infectadas e/ou estressadas e respondem liberan-
do grânulos que induzem a apoptose e secretam citocinas inflamatórias.
As células NK expressam receptores ativadores e receptores inibitórios.
Uma das formas de ativação destas células envolve a interação desses re-
ceptores com seus respectivos ligantes. Isso funciona da seguinte forma:
durante o repouso dessas células, os sinais ativadores são bloqueados pe-
los sinais inibitórios e, assim, as células NK não atuam contra as células
normais. As células sadias expressam moléculas do MHC classe I, que é um
dos ligantes dos receptores inibitórios. Esses desencadeiam cascatas de
sinalização dependentes de fosfatases que inibem a sinalização depen-
dente de cinases gerada pelos receptores ativadores. Na vigência de uma
infecção, a expressão de moléculas do MHC classe I é reduzida. Dessa for-
ma, haverá mais sinais ativadores do que inibitórios e, então, as células NK
são ativadas.
30
MR imune_1 e 2.indd 30 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 01
Imagem 6: Funções dos receptores ativadores e inibidores das células NK.
A importância das células NK é que elas começam a atuar de forma
mais rápida do que as células TCD8+ da imunidade adquirida, conseguin-
do conter a infecção até que a imunidade especializada seja desenvolvida.
Além disso, a particularidade de serem ativadas pela redução ou ausência
de moléculas do MHC de classe I permite que as células infectadas sejam
identificadas e destruídas. É importante lembrar que a redução da expres-
são de moléculas do MHC pode tornar as células infectadas invisíveis às
31
MR imune_1 e 2.indd 31 04/07/19 17:27
IMUNIDADE INATA
células TCD8+, que dependem da expressão de moléculas do MHC de Clas-
se I para o reconhecimento do antígeno ou da célula-alvo.
Moléculas MHC são peptídeos antigênicos ligados à complexos pro-
teicos que são codificados pelos genes do complexo principal de histo-
compatibilidade (MHC) e são expressas na superfície celular. As células da
imunidade adquirida (linfócitos T e B) dependem dessas moléculas para o
reconhecimento de antígenos. Isso será abordado no capítulo de apresen-
tação de antígenos
As células NK, quando ativadas, liberam as proteínas de seus grânulos,
e promovem a destruição da célula-alvo. As proteínas liberadas são as per-
forinas e as granzimas. As perforinas promovem a formação de poros na
membrana plasmática que facilita a entrada das granzimas no citoplasma.
As granzimas irão induzir a apoptose, destruindo, portanto, os reservató-
rios da infecção. Ou seja, perforinas perfuram e granzimas destroem.
As células NK têm sua atividade citotóxica acentuada pela citocina IFN
tipo 1, que possui ação importante na proteção contra o vírus. Além disso,
as células NK ativadas produzem e liberam a citocina IFN-γ, que ativa os
macrófagos, aumentando sua capacidade de destruição.
Por fim, devemos conhecer as células dendríticas (DCs), que são apre-
sentadoras de antígenos e importante ligação entre a imunidade inata e
a adquirida. Elas podem ser derivadas de progenitores mieloide ou linfoi-
de na medula óssea. As primeiras são denominadas de células dendríticas
mieloides (mDCs) e as segundas de plasmocitoides (pDCs). As mDcs são
encontradas em praticamente todos os órgãos, com exceção do cérebro,
dos olhos e dos testículos, e estão presentes principalmente nos linfono-
dos, pele e tecido conjuntivo. Essas células têm como função principal a
apresentação dos antígenos aos linfócitos. Já as pDCs são encontradas
principalmente nos órgãos linfoides e sua principal função é a produção
de interferons tipo I para atuar nas infecções virais.
32
MR imune_1 e 2.indd 32 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 01
REFERÊNCIAS IMAGENS:
1. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2015.
2. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
3. Imagem Adaptada de ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv.
Imunologia celular e molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
4. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
5. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
6. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
REFERÊNCIAS
7. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
8. MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. Imunobiologia de Janeway. 7 ed.
Porto Alegre: ArtMed. 2010.
9. KUMAR, V. et al. Patologia básica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
33
MR imune_1 e 2.indd 33 04/07/19 17:27
CONFERÊNCIAS
Confira aqui a aula dinâmica do Medicina Resumida
sobre os assuntos abordados nesse capítulo!
MR imune_1 e 2.indd 34 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 35 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 36 04/07/19 17:27
CAPÍTULO
Células da Imunidade
Adquirida 2
1. CASO CLÍNICO
Paciente N.S.O., sexo masculino, 6 anos, cursa com febre baixa intermi-
tente há 1 mês, associado a astenia e hipoatividade. Genitora relata que
exame de sangue realizado na UPA há 2 semanas evidenciou anemia leve.
Foi prescrito dipirona para a febre e sulfato ferroso para a anemia. Há 1
semana, o paciente apresenta piora da febre, além de tosse produtiva e
dispneia. Atualmente, recusa ingestão de alimentos.
Ao exame: T axilar = 38ºC. Dispneico e taquipneico, pálido (hipocromia
2+/4). Chama atenção umas pequenas petéquias em MMII.
Cabeça e pescoço: orofaringe levemente hiperemiada, linfonodos pal-
páveis em cadeias cervicais e submandibulares, doloridos, móveis e não
aderidos. Um linfonodo cervical, à direita, apresenta-se indolor, imóvel e
aderido, medindo 2,5 cm.
Tórax: Macicez à percussão do terço inferior do hemitórax D, com abo-
lição do frêmito toracovocal e do murmúrio vesicular nessa localização.
Crépitos inspiratórios e expiratórios acima do local de abolição do mur-
múrio.
Abdome: leve esplenomegalia
Extremidade: petéquias em MMII e palpação óssea discretamente do-
lorida.
Dr. Kevin, o pediatra de plantão, suspeita de pneumonia, solicita radio-
grafia de tórax, exames laboratoriais e inicia antibioticoterapia.
Radiografia de tórax: pneumonia lobar à direita associada a derrame
pleural.
39
MR imune_1 e 2.indd 39 04/07/19 17:27
CÉLULAS DA IMUNIDADE ADQUIRIDA
Hemograma: anemia normocítica e normocrômica, trombocitopenia,
leucocitose < 20 mil células, presença de linfócitos atípicos.
Dr. Kevin solicita biópsia da medula óssea, que evidencia achados com-
patíveis com leucemia linfoide aguda. Nesse momento, ele se lembra da
sua professora de imunologia na época da faculdade, que lhe deu uma
bronca quando ele disse que ninguém precisava saber para que serviam
os linfócitos.
40
MR imune_1 e 2.indd 40 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 02
1.1 POSSÍVEIS PALAVRAS OU TERMOS DESCONHECIDOS
• Linfócitos naïves/virgens: linfócito plenamente desenvolvido que
ainda não foi ativado por contato com o seu antígeno específico.
• Linfócitos efetores: células que realizam funções efetoras durante
as respostas imunes, tais como secreção de citocinas, produção de
anticorpos, destruição de microrganismos ou células infectadas.
• Células de memória: linfócitos B e T produzidos pelo estímulo do an-
tígeno a linfócitos inativos. Medeiam respostas imunes secundárias.
• CD4 e CD8: marcadores de superfície dos linfócitos T que facilitam
as interações dos mesmos com as APCs ou com as células-alvo. Apre-
sentam padrões distintos de restrição do MHC. CD4 apresenta afini-
dade a moléculas da classe II enquanto CD8 apresenta afinidade a
moléculas da classe I.
1.2 PALAVRAS-CHAVE
"Linfócitos T CD4+", "Linfócitos T CD8+", "Linfócitos B", "Células Apresen-
tadoras de Antígenos (APCs)".
1.3 OBJETIVOS
• Reconhecer os diferentes tipos e subtipos de linfócitos.
• Determinar a origem e as características dos linfócitos T e B.
• Conhecer as funções dos linfócitos no sistema imune adquirido.
41
MR imune_1 e 2.indd 41 04/07/19 17:27
CÉLULAS DA IMUNIDADE ADQUIRIDA
2. INTRODUÇÃO
Agora que já sabemos tudo sobre imunidade natural e ativação de
células dendríticas para apresentação de antígenos a linfócitos T virgens,
chegou a hora de adentrarmos o mundo da imunidade adquirida. Recapi-
tulando de forma bem grosseira o que já foi discutido no capítulo anterior
deste livro, temos as barreiras epiteliais e células de defesa que compõem
o sistema imune inato, ou natural, que atuam impedindo ou controlando
a ação de microrganismos danosos ao nosso organismo, principalmente
nas portas de entrada dos mesmos no nosso corpo. Algumas células espe-
cializadas, denominadas células apresentadoras de antígenos (APCs) “pro-
fissionais”, são capazes de capturar esses agentes exógenos, processá-los
e apresentar porções desses aos linfócitos T. Agora, finalmente chegamos
aos linfócitos. Vamos só fazer umas observações importantes aqui para
caso você não tenha lido o capítulo anterior (leia!).
Nosso sistema imune atua contra bactérias, vírus, protozoários, células
tumorais, corpos estranhos, antígenos próprios etc. Usamos como exem-
plo o “ataque” contra microrganismos, porque é melhor para ilustrar as
ações imunológicas.
Quase todas as nossas células nucleadas são capazes de apresentar
antígenos intracelulares a algum tipo de linfócito T, mas apenas as APCs
“profissionais” são especializadas o suficiente para capturar antígenos ex-
tracelulares, transportá-los aos linfonodos e ativar linfócitos T virgens.
As APCs imaturas, localizadas nos tecidos epiteliais de revestimento,
quando ativadas por PAMPs ou DAMPs (ver capítulo 1), são levadas pela
linfa e percorrem o sistema linfático até os linfonodos, em que há grande
probabilidade de encontrarem linfócitos T específicos para os antígenos
que estas estão apresentando.
42
MR imune_1 e 2.indd 42 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 02
Imagem 1: Visão geral da ativação dos linfócitos e da resposta imunológica desde a entrada de agentes
infecciosos até a migração de células efetoras aos locais de infecção.
Agora que relembramos, de forma extraordinariamente resumida, os
eventos que antecedem a participação dos linfócitos nos mecanismos
efetores do sistema imunológico, vamos falar dessas células. Nesse capí-
tulo não vamos discutir sobre os mecanismos efetores da imunidade ad-
quirida. Vamos, apenas, nos familiarizar com suas principais células.
As células da imunidade adquirida têm alguns aspectos que já foram
discutidos anteriormente, como características da própria imunidade ad-
quirida. Uma delas é a especificidade. Elas possuem receptores de mem-
brana altamente específicos, que são capazes de distinguir diferentes mo-
léculas antigênicas. Dessa especificidade decorre a diversidade, visto que
os receptores celulares do sistema imunológico, marcadamente aqueles
de mecanismos da imunidade adquirida, são capazes de discriminar de 107
a 109 determinantes antigênicos diferentes. Quanto à memória, temos os
próprios linfócitos de memória, que são células diferenciadas, que detém
meia-vida consideravelmente longa, cuja função é de aumentar a capaci-
dade de resposta do organismo a uma exposição subsequente ao mesmo
antígeno.
43
MR imune_1 e 2.indd 43 04/07/19 17:27
CÉLULAS DA IMUNIDADE ADQUIRIDA
Sei que você está ansioso para iniciarmos a discussão sobre linfócitos T
e B, mas há outros conceitos que precisamos aprender antes. O que é linfó-
cito? O que é linfócito naïve, virgem ou imaturo? O que é linfócito ativado?
Linfócitos T e B são as únicas células capazes de reconhecer e distinguir os
determinantes antigênicos. Por isso são as responsáveis pela especificidade da
resposta imune adquirida. Desempenham, portanto, o papel de sensores do
sistema imune adquirido e, também, o de mediadores das imunidades humoral
e celular. Essas células se originam do precursor linfoide, na medula óssea. Volta-
remos a este assunto adiante, neste capítulo, mas desde já é bom comentar que
alguns linfócitos terminam seu processo de maturação em outros órgãos linfoi-
des. Acontece que desenvolvimento e maturação não são iguais a ativação. Um
linfócito plenamente desenvolvido e maduro ainda não entrou em contato com
seu antígeno específico. Assim, não iniciou ainda a resposta imune adquirida.
Esse linfócito é chamado de linfócito naïve. Naïve significa ingênuo em francês.
Podemos chamá-lo de linfócito virgem. Parece estranho, mas algumas fontes
usam a nomenclatura “imaturo” para se referir a estes linfócitos, ainda que estas
células já tenham passado por seu processo de maturação, e isso pode fazer
com que você se confunda. Assim, neste livro, serão usadas as denominações
“virgem” ou naïve. A diferenciação entre linfócitos B imaturos e inativos é feita
com base nos tipos de receptores de Ag (anticorpos de membrana) expressos
na membrana celular. As células B imaturas são aquelas que expressam IgM,
mas ainda não expressam IgD, enquanto as maduras, virgens, expressam am-
bas as classes de anticorpos na membrana celular. Essa informação só foi trazida
para que você não se confunda quando for ler em alguma outra fonte.
Imagem 2: Maturação de linfócitos. Os linfócitos, gerados de células-tronco na medula óssea, se desenvol-
vem nos órgãos linfoides.
44
MR imune_1 e 2.indd 44 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 02
Esses linfócitos já “nascem” com o “relógio celular” ativado e morrem
por apoptose, em cerca de quatro meses, caso não reconheçam algum
antígeno. Assim, o reconhecimento do Ag resgata o linfócito da morte
celular programada. Os linfócitos virgens e as células de memória estão
em repouso antes da ativação, na fase G0 do ciclo celular. Em resposta ao
estímulo antigênico, entram na fase G1, mas dependem de outros sinais
para progredir no ciclo e entrar na fase S e se dividir. Agora vamos revisar
mitose e meiose? É brincadeira, pode voltar aqui. Só precisamos entender
que enquanto o linfócito não é ativado, ele se mantém em repouso, mas
não indefinidamente.
As células naïve são capazes de reconhecer antígenos próprios, porém
fracamente. Dessa forma, não há sinais suficientemente fortes para ocor-
rer ativação e iniciar a expansão clonal, mas há sinais que estimulam a so-
brevida dessas células. Algumas citocinas agem aumentando a sobrevida
dos linfócitos. A IL-7, por exemplo, é um dos principais agentes de estímu-
lo à sobrevida de linfócitos T, assim como é o fator ativador de células B
(BAFF) para os linfócitos B naïve.
Após a ativação, os linfócitos adquirem a capacidade de coordenar as
ações da imunidade adquirida. Tornam-se maiores e entram em fases su-
cessivas de mitose, adquirindo características de células blásticas, sendo,
então, denominados linfoblastos. Cerca de 75% das células de um clone
se diferenciam em células efetoras: clones de células T em linfócitos T
auxiliares ou T citotóxicos; clones de células B em células especializadas
na secreção de anticorpos, os plasmócitos. Descreveremos esses tipos ce-
lulares mais adiante nesse capítulo. As demais células (cerca de 25% do
clone gerado) podem se diferenciar em células de memória, capazes de
sobreviver em um estado de ciclagem lenta durante anos, mesmo após a
eliminação do antígeno. Essas são as células responsáveis pela maior efe-
tividade e agilidade da resposta imune secundária.
3.LINFÓCITOS T
Os linfócitos T são as células efetoras da imuni-
dade celular. Desempenham algum papel na regu-
lação da ação das células B? Sim. Algumas popula-
ções específicas de linfócitos T atuam auxiliando as
45
MR imune_1 e 2.indd 45 04/07/19 17:27
CÉLULAS DA IMUNIDADE ADQUIRIDA
células B na imunidade humoral, mas a célula T é, majoritariamente, me-
diadora da imunidade celular. Essas células são originalmente produzidas
na medula óssea, mas completam seu processo de maturação no timo.
Há diferentes populações de linfócitos T que atuam mediando respos-
tas imunes distintas. Enquanto os linfócitos T CD8 reconhecem antígenos
de microrganismos principalmente intracelulares, destruindo as células
que porventura estejam infectadas, os linfócitos T CD4 ativam-se por mi-
crorganismos extracelulares e atuam auxiliando outras células efetoras.
Seus receptores de antígenos são diferentes daqueles dos anticorpos,
visto que reconhecem apenas peptídeos antigênicos ligados a proteínas
do complexo principal de histocompatibilidade (MHC). Existem três tipos
diferentes de linfócitos T que merecem destaque.
Primeiro, célula T CD4+, cuja ativação pode originar o linfócito T auxi-
liar ou helper (TA ou TH). São células especializadas na secreção de cito-
cinas, que atuam em outras células, tais como macrófagos e linfócitos B,
ativando-as ou regulando suas funções. Ou seja, se preciso de imunidade
celular, ativo macrófagos e os transformo em células efetoras da imuni-
dade celular. Se preciso de imunidade humoral, ativo células B que se di-
ferenciam em plasmócitos, secretam anticorpos e medeiam a imunidade
humoral. Isso se dá através da secreção de determinadas citocinas. Além
de ativar células B e macrófagos, há ação sobre as próprias células T, esti-
mulando sua proliferação e diferenciação. Os subtipos de linfócitos T au-
xiliares, classificados de acordo com o padrão de citocinas secretadas por
estas células, são peças-chaves na modulação da resposta imunológica.
Temos também os linfócitos T CD8+, cuja ativação pode originar os
linfócitos T citotóxicos (CTLs ou TC). Esses atuam matando as células que
estejam produzindo antígenos estranhos. Ou seja, células infectadas ou da-
nificadas. O nome “linfócito citotóxico” é bastante sugestivo, visto que essas
células têm a capacidade de destruir outras células, tumorais ou infectadas
por vírus, por exemplo. Só para constar: CD4 e CD8 são marcadores protei-
cos presentes na superfície dos linfócitos. Desempenham alguns papéis na
ativação e função dessas células, mas não entraremos nesses detalhes.
Além dos tipos celulares já descritos, existe o linfócito T regulador
(TREG). Sua ação é mais inibitória, freando as respostas imunológicas, para
que estas não lesem os tecidos em consequência de uma intensidade de
resposta exacerbada, ou fazendo com que as respostas deixem de aconte-
cer a partir do momento que não são mais necessárias.
46
MR imune_1 e 2.indd 46 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 02
A tabela a seguir resume as características mais importantes das três
principais populações de linfócito T:
Tabela 1: Características das principais populações de linfócitos T.
Diferenciação de célula B (imunidade humoral)
Linfócitos T auxiliares CD4+ Ativação de macrófago (imunidade mediada por células)
Ativação da resposta inflamatória
Linfócitos T citotóxicos Morte de células infectadas com vírus, ou bactérias ou parasitas
CD8+ intracelulares, ou células tumorais
Suprime a função de outras células T (regulação de respostas
Células T regulatórias
imunes, manutenção da autotolerância)
4. LINFÓCITOS B
Os linfócitos B, quando ativados, são as únicas
células capazes de produzir anticorpos. As células
B também se originam na medula óssea a partir do
precursor linfoide, de onde saem, na sua maioria, ain-
da não completamente maduros, sendo denomina-
dos linfócitos B imaturos. Como descrito anterior-
mente, essas células expressam IgM na membrana
celular, como receptor de Ag. Apenas após o término
do processo de maturação, que ocorre em tecidos linfoides secundários,
é que as células B tornam-se maduras, passando a expressar IgM e IgD, si-
multaneamente, com a mesma especificidade antigênica. Essas células são
capazes de reconhecer antígenos e se diferenciar em plasmócitos, que são
as células realmente secretoras de anticorpos, moléculas efetoras da res-
posta imune humoral.
Como pode ser observado no quadro a seguir, há alguns tipos dife-
rentes de linfócitos B, com funções e propriedades distintas. As células
B-2 e as células B foliculares correspondem aos linfócitos B “convencio-
nais”, secretores de anticorpos, descritos anteriormente neste capítulo.
As células B da zona marginal e as células B-1 expressam receptores de
antígeno com menor diversidade e afinidade, e atuam precocemente na
defesa, em mecanismos de imunidade inata. As células B da zona marginal
correspondem a uma população de linfócitos B localizados na zona mar-
47
MR imune_1 e 2.indd 47 04/07/19 17:27
CÉLULAS DA IMUNIDADE ADQUIRIDA
ginal do baço, que produz anticorpos IgM de baixa afinidade em resposta
a antígenos microbianos presentes no sangue.
Tabela 2: Características das principais populações de linfócitos B.
Células B foliculares
Produção de anticorpo (imunidade humoral)
B-2
Células B da zona marginal
Produção de anticorpos naturais (imunidade inata)
B-1
A imagem 3 a seguir mostra, de forma resumida, as informações mais im-
portantes para guardar sobre os linfócitos B e as principais classes de linfócitos T.
Imagem 3: Classes de linfócitos. Linfócitos B se transformam em células secretoras de anticorpos. Linfócitos
T auxiliares secretam citocinas que estimulam vários mecanismos da imunidade. Linfócitos T citotóxicos
destroem células infectadas. Células T reguladoras suprimem a resposta imune.
48
MR imune_1 e 2.indd 48 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 02
Para finalizar, entendemos que os linfócitos são as principais células
que atuam na resposta imunológica adquirida ou adaptativa. Cada uma
atua mediando um tipo de resposta. A célula B atua, principalmente, na
imunidade humoral, e a célula T, principalmente, na imunidade celular. A
imagem 4 traz informações já apresentadas nesse capítulo, porém organi-
zadas conforme o mecanismo efetor: humoral ou celular.
Imagem 4: Tipos de imunidade adaptativa. Na imunidade humoral, linfócitos B secretam anticorpos que
atuam contra microrganismos intracelulares. Na imunidade celular, linfócitos T ativam macrófagos para
matar microrganismos fagocitados ou linfócitos T citotóxicos destroem células infectadas.
Vamos, a partir de agora, estudar esses mecanismos efetores e enten-
der de que forma nosso sistema imune é capaz de bloquear a ação ou
efetivamente eliminar os microrganismos infectantes.
49
MR imune_1 e 2.indd 49 04/07/19 17:27
REFERÊNCIA DAS IMAGENS
1. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
2. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
3. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
4. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
REFERÊNCIAS
1. ABBAS, Abul K. Imunologia celular e molecular. Abul K. Abbas, Andrew H.
Lichtman, Shiv Pillai; ilustrações de David L. Baker, Alexandra Baker [tradução
de Tatiana Ferreira Robaina … et al.]. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
2. MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway [recurso eletrônico]/Kenne-
th Murphy, Paul Travers, Mark Walport; tradução Ana Paula Franco Lambert ...
[et al.]. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
CONFERÊNCIAS
Confira aqui a aula dinâmica do Medicina Resumida
sobre os assuntos abordados nesse capítulo!
MR imune_1 e 2.indd 50 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 51 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 52 04/07/19 17:27
CAPÍTULO
Órgãos e Tecidos Linfoides
3
1. CASO CLÍNICO
Paciente de 6 anos, sexo masculino, comparece à unidade de pronto
atendimento acompanhado pela genitora que refere surgimento de “ca-
roço” em região submandibular direita há 3 dias. Ela relatou infecção de
vias aéreas superiores de início há 5 dias, cursando com rinorreia, tosse e
dor de garganta.
Ao exame, paciente inquieto, choroso, pouco colaborativo com o exa-
me físico.
Apresenta rinorreia amarelada e fluida, além de tosse esporádica pou-
co produtiva.
Presença de linfonodo aumentado em região submandibular direita,
de consistência fibroelástica, aproximadamente 2,5 cm em seu maior diâ-
metro, móvel e doloroso à palpação. Não há rubor ou calor local.
Após minutos de insistência, muita luta e 12 abaixadores de língua
quebrados, foi possível, em meio ao choro vigoroso do menor, observar
hiperemia e hipertrofia de amídalas, bilateralmente, com presença de pla-
cas de aspecto purulento em amídala direita.
O heroico dr. Ulisses, ainda buscando fôlego após a batalha travada, po-
rém tomado por uma alegria estonteante pelo exame físico realizado, ex-
plica à genitora que seu filho apresenta uma “infecção de garganta”, e que
essa “íngua” no pescoço é na verdade um linfonodo que está “reagindo” à
infecção. Dr. Ulisses recompõem-se e volta-se para a interna da pediatria
que estava acompanhando o atendimento, e aproveita para explicar um
pouco sobre o sistema linfático: “A presença de infecção em determina-
do tecido leva a eventos imunológicos na cadeia linfática que realiza a
55
MR imune_1 e 2.indd 55 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
drenagem daquele tecido. Células presentes no local da infecção sofrem
migração para os linfonodos, levando os antígenos para reconhecimento
pelos linfócitos. Por isso, algumas vezes há linfonodomegalias associadas
aos quadros de infecção ou de câncer”.
- CÂNCER?! – Grita a genitora, e uma nova batalha se inicia para o Dr.
Ulisses.
56
MR imune_1 e 2.indd 56 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
1.1 POSSÍVEIS PALAVRAS OU TERMOS DESCONHECIDOS
• Linfonodo: órgãos nodulares, ricos em linfócitos, distribuídos por
todo o corpo, onde as respostas imunes adaptativas aos antígenos
surgidos na linfa se iniciam.
• Timo: órgão linfoide situado no mediastino anterior onde ocorre a
maturação dos linfócitos T.
• Hematopoese: desenvolvimento de células sanguíneas maduras.
1.2 PALAVRAS-CHAVE
"Sistema linfático", "Apresentação de antígenos", "Linfócitos", "Baço",
"Homing de linfócitos", "Recirculação".
1.3 OBJETIVOS
• Conhecer a anatomia do sistema linfoide e linfático.
• Identificar os órgãos e tecidos linfoides primários e secundários.
• Relacionar a estrutura e a localização dos tecidos e órgãos linfoides
secundários à ativação da resposta imunológica.
57
MR imune_1 e 2.indd 57 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
2. INTRODUÇÃO
Poucas vezes, quando estudamos imunologia, estamos atentos para a
quantidade de eventos que ocorre no sistema linfático. Apresentação de
antígenos, homing de linfócitos, seleção e expansão clonal: tudo aconte-
cendo em órgãos e tecidos linfáticos (e nós só lembramos que as células T
maturam no Timo). Trazemos esse capítulo para que você possa entender
esses eventos de forma mais fluida e lógica, sem precisar sair memorizan-
do o que acontece com cada célula isoladamente.
O foco não será anatomia, fisiologia ou histologia do sistema linfático,
mas é preciso ter uma noção básica desse sistema para compreender os
fenômenos imunológicos que nele ocorrem. Através do sistema cardio-
vascular temos a circulação do sangue no corpo humano. Há contínuo
extravasamento de plasma desses vasos para os espaços intersticiais, ou
intercelulares. Parte desse plasma retorna para os próprios capilares san-
guíneos, retomando seu percurso original. Ocorre que outra parte desse
líquido intercelular é recolhida pelos capilares linfáticos. A esse líquido
chamamos de linfa. Essa linfa percorrerá vasos linfáticos de maior calibre
até retornar ao sangue pelo ducto torácico (imagem 1). Durante todo
esse trajeto, a linfa irá passar por órgãos especializados chamados linfo-
nodos, onde é “filtrada”. O que realmente acontece dentro do linfonodo?
O encontro entre antígenos (substâncias virais, bacterianas etc.) e célu-
las do sistema imune, como linfócitos, células dendríticas e macrófagos.
Esse encontro se dá por conta dos fenômenos de recirculação de linfóci-
tos e apresentação de antígenos, e dele decorre a ativação dos linfócitos
e, consequentemente, a principal via de estimulação do sistema imune
adquirido.
58
MR imune_1 e 2.indd 58 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
Imagem 1: O sistema linfático. Ilustração dos principais vasos linfáticos e coleções de linfonodos.
Passada essa introdução geral, vamos recortar o conhecimento em
partes para facilitar seu entendimento do assunto. Já que falaremos muito
dos linfócitos, vale destacar onde esses são gerados e amadurecem.
59
MR imune_1 e 2.indd 59 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
3. ÓRGÃOS LINFOIDES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Todas as células sanguíneas circulantes, inclusive os linfócitos T e B, são
gerados na medula óssea. Elas se originam de uma célula tronco hema-
topoiética podendo seguir dois caminhos distintos: linhagem mieloide ou
linhagem linfoide (Imagem 2). Os linfócitos são originados da célula pre-
cursora da linhagem linfoide. Algumas citocinas produzidas por macrófa-
gos e outros componentes celulares do estroma da própria medula óssea
fornecem o ambiente propício para a geração dessas células sanguíneas.
Linfócitos T, macrófagos e outros tipos celulares também produzem cito-
cinas que influenciarão a hematopoese de forma a repor as células con-
sumidas durante as reações imunológicas. Além disso, na medula óssea
também ocorre o desenvolvimento, ou maturação, dos linfócitos B.
Imagem 2: Hematopoese. Desenvolvimento das principais linhagens de células sanguíneas.
60
MR imune_1 e 2.indd 60 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
Embora a medula óssea seja o grande órgão da hematopoese, nem
sempre essa função é desempenhada pela medula. No início do desenvol-
vimento fetal, a hematopoese é estabelecida no saco vitelínico. Por volta
do terceiro e quarto meses de gestação, o grande órgão da hematopoese
passa a ser o fígado, e só posteriormente, a medula óssea assume essa
função. Após o nascimento, em algumas condições clínicas, pode ocorrer
hematopoese extramedular, principalmente no fígado e no baço.
As células da linhagem T, por sua vez, migram da medula óssea para
o Timo, onde amadurecem. O timo é uma glândula linfoide localizada na
parte superior do mediastino, logo atrás do osso esterno (Imagem 3). As
células da linhagem T localizados no Timo, também chamados de timóci-
tos, estão em diversos estágios de desenvolvimento. À medida que eles
vão se desenvolvendo, essas células migram do córtex do timo para sua
medula. Apenas os linfócitos T maduros são capazes de deixar o timo e
ganhar a circulação. Há uma observação importante com relação à no-
menclatura dos linfócitos. Esses linfócitos desenvolvidos ainda não foram
ativados. Podemos chamá-los de inativos, naïve ou virgens. Os linfócitos só
serão ativados após contato com algum antígeno, apresentados pelas cé-
lulas dendríticas associados à moléculas do MHC. Discutiremos MHC com
detalhes no capítulo “MHC e apresentação de antígenos”.
Imagem 3: Localização anatômica do timo no mediastino superior.
61
MR imune_1 e 2.indd 61 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
A medula óssea e o timo são chamados de órgãos linfoides geradores,
ou primários. Neles, os linfócitos são produzidos ou alcançam maturidade
fenotípica e funcional. Existem, também, os órgãos linfoides secundários,
ou periféricos, onde são iniciadas e desenvolvidas as respostas dos linfó-
citos aos antígenos. Os principais são os linfonodos, mas também são ór-
gãos secundários o baço, o tecido linfoide associado ao tecido cutâneo e
o tecido linfoide associado às mucosas (MALT).
Através dos vasos linfáticos, os antígenos são transportados para os
linfonodos. Podemos pensar nos linfonodos como “barreiras de verifi-
cação” da linfa. Após passar por todos os linfonodos no percurso, a linfa
será devolvida à circulação pelo ducto torácico, por isso é importante ter
a certeza de que não se está permitindo que antígenos estranhos passem
despercebidos. Por isso, a distribuição dos linfonodos por todo o corpo é
essencial para a eficácia e a celeridade da resposta imune. Dentro desses
pequenos órgãos as células dendríticas apresentam os antígenos aos lin-
fócitos T naïves (inativos).
As células apresentadoras de antígenos (APCs), em especial as células
dendríticas, capturam os antígenos em diversos órgãos e tecidos. Alte-
rações da expressão de moléculas de adesão e o aumento da drenagem
linfática causada pelo acúmulo de líquido intersticial conduzem essas
APCs aos vasos linfáticos. Assim, os antígenos capturados são “carregados”
até os linfonodos. Alguns antígenos são transportados livremente, sem o
intermédio de APCs. Além dos antígenos, mediadores inflamatórios solú-
veis, como algumas quimiocinas, também são transportadas pelos vasos
linfáticos. Além das quimiocinas produzidas nos locais de infecção que
chegam aos linfonodos, há quimiocinas produzidas nos próprios linfono-
dos, que serão discutidas ainda nesse capítulo.
Por que precisamos de mediadores inflamatórios, quimiocinas e cito-
cinas no linfonodo? Primeiro, para ajudar no recrutamento de leucócitos.
Se o antígeno está sendo conduzido para um linfonodo, nada melhor do
que conduzir linfócitos ao mesmo local. Isso facilita o reconhecimento
de antígenos e posterior ativação dos linfócitos T e B. Segundo, para que
as células dendríticas sejam conduzidas aos mesmos locais dentro do
linfonodo para onde os linfócitos foram. Ou seja, além de chamar os lin-
fócitos para o linfonodo em que há presença de antígenos, ainda arranja
o encontro dos dois para ver se eles “dão match”. O encontro do linfócito
com o antígeno é o evento mais importante que acontece no linfonodo.
62
MR imune_1 e 2.indd 62 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
Ainda temos outros componentes do sistema linfático para discutir, mas
antes vamos esgotar todos os conceitos que podemos aprender olhan-
do apenas para o linfonodo.
Antes de qualquer coisa, é essencial que entendamos qual é a origem
da especificidade dos linfócitos. Os linfócitos não se adequam a um de-
terminado antígeno. Muitos estudantes acham que os linfócitos são uma
tela em branco que é preenchida com as informações necessárias para
sua atuação apenas após a ativação pelo antígeno. Alguns pesquisado-
res, a exemplo de Linus Pauling, defendiam esta teoria “instrucionista”,
em que se acreditava que todos os anticorpos tinham a mesma sequên-
cia e eram “moldados” pela molécula de Ag. Por mais que isso pareça ló-
gico, não é assim que funciona. Nosso organismo já detém informações
genéticas que, após recombinação durante a fase de maturação dos lin-
fócitos, determinarão a especificidade do Receptor de Linfócito T (TCR)
ou do anticorpo. Assim, cada linfócito já nasce direcionado para aquela
determinada sequência antigênica. O linfócito, então, vai ficar circulan-
do pelos sistemas cardiovascular, linfático e órgãos e tecidos linfoides
sem nunca ser ativado. Cada linfócito passa por um linfonodo em mé-
dia uma vez por dia. Esse vai e vem de linfócitos pelo sistema linfático é
chamado de recirculação de linfócitos (imagem 4). E se nenhum antí-
geno detentor daquela sequência aparecer? Os linfócitos não ativados,
virgens ou naïves, morrem por apoptose (morte celular programada) em
aproximadamente quatro meses.
63
MR imune_1 e 2.indd 63 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
Imagem 4: Vias de recirculação dos linfócitos T. Células T naïves entram no linfonodo pela corrente san-
guínea enquanto as células dendríticas entram pelos vasos linfáticos. Após ativação, as células efetoras
ganham a circulação e migram para os locais de infecção.
A imagem 5 apresenta uma estrutura do linfonodo muito importante
no processo de direcionamento dos linfócitos dentro desse órgão secun-
dário, as vênulas endoteliais altas (HEV). Os linfócitos que chegam aos lin-
fonodos pela corrente sanguínea deixam a circulação e entram no estro-
ma do linfonodo através das HEVs. Isso se dá por conta de moléculas de
adesão dentro dessas vênulas. As células ficam aderidas à parede desses
vasos específicos pela ligação de selectinas e integrinas, de forma seme-
lhante à rolagem dos leucócitos nos leitos vasculares. Assim, os linfócitos
64
MR imune_1 e 2.indd 64 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
passam mais tempo dentro do linfonodo, aumentando a chance de en-
contrar seu antígeno específico.
Imagem 5: Microanatomia do córtex do linfonodo.
Não basta, porém, que o antígeno e o linfócito estejam dentro do mes-
mo linfonodo. Eles precisam entrar em contato lá dentro. Antes de enten-
der como que se dá a migração dessas células para seus locais específicos
nos linfonodos, é preciso saber que locais são esses. Os linfócitos T se en-
contram em estruturas chamadas cordões paracorticais. A maioria é de
linfócitos T CD4+, mas no curso de uma infecção viral, por exemplo, pode
haver aumento da população de linfócitos T CD8+. As células B estão em
estruturas mais marginais chamadas folículos (imagem 6).
65
MR imune_1 e 2.indd 65 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
Imagem 6: Morfologia de um linfonodo, contendo as zonas ricas em células T e B e as vias de entrada dos
linfócitos e antígenos.
Nas regiões mais centrais dos folículos, quando ocorre ativação da res-
posta imunológica, observamos estruturas denominadas centro germi-
nativos. Esses são locais de proliferação acentuada de células B. Respon-
dem à estimulação antigênica selecionando células B que se diferenciam
em plasmócitos secretores de anticorpos de alta afinidade e gerando cé-
lulas B de memória.
Agora, como que se dá o encontro entre antígenos e células T e B den-
tro do linfonodo? A resposta é simples: eles saem caminhando aí por den-
tro. Você se lembra que os antígenos foram transportados ao linfonodo
pelas células dendríticas? E também que algumas quimiocinas são leva-
das ao linfonodo enquanto outras são produzidas dentro desses órgãos?
Pois bem, tanto os linfócitos T quanto as células dendríticas têm recepto-
res CCR7 semelhantes. Esses receptores são específicos paras as quimioci-
nas CCL19 e CCL21, que são expressas por células do estroma das zonas de
66
MR imune_1 e 2.indd 66 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
células T do linfonodo. Como os receptores são semelhantes, as quimio-
cinas são capazes de guiar esses tipos celulares para as mesmas regiões
do linfonodo. Assim, o destino do antígeno e do linfócito T acaba sendo o
mesmo (imagem 7).
Imagem 7: Ilustração das vias pelas quais linfócitos T e B imaturos migram para diferentes áreas nos linfo-
nodos, além da migração das células dendríticas em direção às zonas ricas em células T.
As células B, por sua vez, respondem a outras quimiocinas, chamadas
CXCL13. Desse modo, as quimiocinas e citocinas são importantes no ar-
ranjo das células dentro dos linfonodos. Cada população de linfócito, por-
tanto, fica em contato com a APC correspondente: T com célula dendrítica
e B com dendríticas foliculares, um tipo específico de APC que atua na
apresentação de antígenos aos linfócitos B dentro dos folículos. Vamos
focar nos linfócitos T, por enquanto. Após contato com o antígeno há a
67
MR imune_1 e 2.indd 67 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
ativação do linfócito T. Em seguida, ocorre o que chamamos de seleção
e expansão clonal. Esclareceremos esses processos adiante. Parte das cé-
lulas T ativadas, os linfócitos T foliculares (Linf TFH) também expressam re-
ceptor para CXCL13. Migram, portanto, para os folículos, onde encontram
as células B e auxiliam na sua ativação. Em seguida, as células B migram
para os centros germinativos, onde, como já foi dito, ocorre significativa
proliferação dos linfócitos B selecionados pelo antígeno. Ocorrendo a ati-
vação dos linfócitos, inicia-se um novo modelo de migração. As células T
efetoras não expressam receptor de quimiocinas CCL19 e CCL21. Dessa
forma, não há estímulos para que essas continuem nas zonas de células T
dos linfonodos. Por isso, ganham a circulação e seguem, principalmente,
para o local da infecção. As células B ativadas, além de ganharem a circula-
ção, podem produzir células de memória que retornarão à medula óssea
ou ficarão no linfonodo. Esses diversos caminhos, entretanto, não são alvo
deste capítulo.
Por isso, faço com vocês a brincadeira de dizer que nesse encontro o
linfócito e o antígeno “dão match”. O linfócito circula o corpo inteiro en-
contrando milhares de antígenos distintos sem ser ativado. Para sofrer a
ativação tem que reconhecer algum antígeno que contenha aquela sequ-
ência capaz de ativá-lo, praticamente sua “cara metade”. Ou seja, milhares,
talvez milhões de linfócitos passam cara a cara com antígenos produzidos
pelo microrganismo, sem que haja reconhecimento, ativação e estímulo à
resposta imunológica adaptativa. Para que haja esse reconhecimento, as
células precisam migrar de forma coordenada dentro dos linfonodos, e as
quimiocinas exercem papel fundamental para essa coordenação.
Pois bem, agora já entendemos que quimiocinas e citocinas promovem
o encontro de antígenos e linfócitos dentro dos linfonodos, assim como a
ativação das células B e T. Para entendermos como se dá essa ativação, é
essencial que tenhamos a compreensão acerca de dois conceitos: sele-
ção e expansão clonal. Como já explicamos anteriormente, os linfócitos já
são gerados com a especificidade para um determinado epítopo, ou se-
quência de antígeno, e circulam pelo corpo, principalmente pelo sistema
linfático, esperando o momento em que encontrarão essa sequência. Um
antígeno, portanto, pode se deparar com milhares e milhares de linfócitos
até encontrar aquele que ele é capaz de ativar. Podemos enxergar esse lin-
fócito como sendo “selecionado”. Esse processo em que um antígeno se-
leciona um linfócito em meio a milhões de linfócitos praticamente iguais,
68
MR imune_1 e 2.indd 68 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
mas com especificidade dos receptores diferente, é denominado seleção
clonal. Como temos uma diversidade muito grande entre os linfócitos, há
apenas poucos linfócitos para determinado antígeno. Após o linfócito es-
pecífico para aquele antígeno ter sido selecionado, há a necessidade de
aumentar significativamente o número de cópias dele para que se tenha
uma população suficientemente grande de células efetoras para comba-
ter a infecção que se encontra em curso (lembrando que um antígeno não
é necessariamente um agente infeccioso). O processo de proliferação do
clone específico de linfócito se chama expansão clonal.
Lembre-se de que tudo isso acontece, principalmente, em linfonodos.
Temos, entretanto, outros componentes também classificados como te-
cidos ou órgãos linfoides secundários ou periféricos. Dentre esses, vale
destaque o baço, órgão linfoide capsulado localizado no hipocôndrio es-
querdo (imagem 8). Tem como funções hematológicas a hematopoese, na
fase fetal, e a hemocaterese, processo fisiológico contínuo de destruição
de hemácias envelhecidas ou lesadas. Esse último ocorre num espaço cha-
mado polpa vermelha.
Imagem 8: Ilustração das zonas de células T e B que formam a polpa branca do baço.
Além dessas funções, o órgão apresenta algumas funções imunoló-
gicas que merecem destaque. A polpa branca, espaço caracterizado na
imagem 8, é uma região rica em tecido linfoide. Pode-se observar que,
69
MR imune_1 e 2.indd 69 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
assim como no linfonodo, há segregação entre células T e B, cada uma
tendo zonas específicas dentro do órgão. Mais uma vez, essa separação
é coordenada por quimiocinas e seus receptores. Qual é a diferença, en-
tão, entre o linfonodo e o baço, do ponto de vista imunológico? O baço é
o principal local de respostas imunológicas a antígenos provenientes do
sangue. Muitas vezes ouvimos falar que o baço é o “filtro do sangue”. Isso
é verdade quando analisamos os eritrócitos, visto que a partir do baço
selecionamos as células lesadas para serem descartadas e destruídas,
mas também é verdade quando analisamos sua função imunológica.
Enquanto os antígenos que se encontram nos tecidos são levados aos
linfonodos pelas APCs, os microrganismos que se encontram no san-
gue seguem o fluxo natural do sistema cardiovascular até o baço, que é
o principal local de fagocitose de microrganismos recobertos por anti-
corpos. Você já ouviu falar que pessoas que retiraram o baço, ou esple-
nectomizadas, têm maior risco de desenvolver infecções por germes en-
capsulados, como pneumococo e meningococo? Esses germes são mais
comumente eliminados via opsonização por anticorpos e fagocitose. No
baço temos um número muito grande de macrófagos e uma estrutura
capilar que facilita a fagocitose por essas células. Ou seja, o paciente
sem baço perde um local em que ocorre boa parte da fagocitose de mi-
crorganismos opsonizados.
Temos, também, dois sistemas de relativa importância para as respos-
tas imunes que ainda precisamos discutir. O primeiro é o Sistema Imu-
nológico Cutâneo, um sistema especializado constituído de linfócitos e
APCs presente na pele. Os três principais locais de contato entre nosso
organismo e os antígenos são a pele e os tratos gastrointestinal e respira-
tório. Muitas respostas imunológicas são, portanto, iniciadas nessas três
principais portas de entrada. Na pele, os próprios queratinócitos, que são
células diferenciadas do tecido epitelial, produzem citocinas que contri-
buem para reações inflamatórias e outras reações inatas.
70
MR imune_1 e 2.indd 70 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
Imagem 9: Componentes celulares do sistema imune cutâneo: queratinócitos, células de Langerhans e
linfócitos intraepiteliais na epiderme e linfócitos T, células dendríticas e macrófagos na derme.
Além dos queratinócitos, há células dendríticas imaturas, as Células de
Langerhans, que formam uma rede praticamente contínua na epiderme.
Quando essas encontram microrganismos, são ativadas por receptores
semelhantes a toll (TLRs). Após a ativação, perdem a adesividade à pele e
entram nos vasos linfáticos para seguir aos linfonodos para apresentarem
os antígenos aos linfócitos. Por falar em linfócitos, a pele contém linfócitos
próprios chamados de linfócitos intraepidérmicos, ou intraepiteliais, sen-
do grande parte desses constituída por linfócito T CD8+. Esses expressam
um conjunto significativamente mais restrito de receptores. Há outros lin-
fócitos T CD4+ e CD8+ com características de linfócitos ativados e de célu-
las de memória presentes, principalmente, na derme. Não se sabe ao certo
se esses se mantêm de forma fixa na pele ou se estão transitando como
parte do percurso de recirculação de linfócitos que explicamos anterior-
mente. O que se sabe é que esses apresentam a especificidade das células
que atuam no sistema imune adquirido. Por fim, há também macrófagos
71
MR imune_1 e 2.indd 71 04/07/19 17:27
ÓRGÃOS E TECIDOS LINFOIDES
situados na derme que atuam como importantes “vigilantes” ao fagocitar
microrganismos que vençam os mecanismos de barreira da pele.
O segundo sistema que faltamos falar é bem similar ao cutâneo: tra-
ta-se do Sistema Imunológico Associado às Mucosas, composto pelos
Tecidos Linfoides Associados às Mucosas (MALT). Esses tecidos estão
distribuídos, em nosso corpo, em importantes portas de entrada de mi-
crorganismos. Em particular, dois principais locais de contato do nosso
organismo com os antígenos: as superfícies mucosas dos tratos gastroin-
testinal e respiratório. O conhecimento vigente acerca desse sistema se
baseia na mucosa do trato gastrointestinal (TGI) e infere-se que no respi-
ratório os mecanismos sejam semelhantes. (imagem 10)
Imagem 10: Principais componentes celulares do sistema imunológico associado às mucosas no intestino.
Assim como a pele, essas superfícies contêm linfócitos e APCs. A distri-
buição dos linfócitos nestes tecidos, entretanto, tem algumas peculiarida-
des. Esses estão presentes em grandes quantidades em três áreas: camada
epitelial, lâmina própria e nas Placas de Payer. Essas placas correspondem
ao tecido linfoide organizado na lâmina própria. Contêm mais células B do
72
MR imune_1 e 2.indd 72 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 03
que células T, e essas, assim como nos linfonodos e no baço, também estão
agrupadas em pontos distintos. Existe a interação desse tecido com a cé-
lula M, tipo celular que realiza pinocitose ativamente e transporta macro-
moléculas do lúmen intestinal para os tecidos epiteliais, desempenhando,
portanto, importante papel na condução dos antígenos para o MALT.
De forma semelhante à pele, temos que grande parte dos linfócitos
intraepiteliais é célula T CD8+, expressando conjunto restrito de recepto-
res, enquanto que na lâmina própria os linfócitos T, em sua maioria T CD4+,
apresentam fenótipo de célula ativada. Outras células de defesa presentes
nesse sistema são linfócitos B, macrófagos, células dendríticas e mastócitos.
Agora que você já tem uma noção sobre os órgãos e tecidos linfoides,
chegou a hora de mergulharmos fundo nos processos imunológicos que
neles ocorrem.
REFERÊNCIAS IMAGENS
1. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
2. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
3. MURPHY, Kenneth; TRAVERS, Paul; WALPORT, Mark. Imunobiologia De Ja-
neway: Artmed, 2010.
4. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
5. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
6. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
7. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
8. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
9. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
10. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
73
MR imune_1 e 2.indd 73 04/07/19 17:27
REFERÊNCIAS
1. ABBAS, AK. Imunologia celular e molecular. Ilustrações de David L. Baker,
Alexandra Baker; [tradução de Tatiana Ferreira Robaina et al]. 8. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier; 2015.
2. Murphy, K. Imunobiologia de Janeway [recurso eletrônico] / Murphy K, Tra-
vers P, Walport M; tradução Ana Paula Franco Lambert et al. 7. ed. Porto Ale-
gre: Artmed; 2010.
CONFERÊNCIAS
Confira aqui a aula dinâmica do Medicina Resumida
sobre os assuntos abordados nesse capítulo!
MR imune_1 e 2.indd 74 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 75 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 76 04/07/19 17:27
CAPÍTULO
MHC e Apresentação de
Antígenos 4
1. CASO CLÍNICO
José Carlos, vinte anos, está no segundo semestre da faculdade de
medicina e durante uma aula prática da disciplina semiologia médica I,
ele teve a oportunidade de realizar uma anamnese de um paciente que
está internado em uma enfermaria. Após todos os alunos terem feito sua
anamnese, eles se reuniram com o professor para discussão de caso. Na
sua vez de relatar o caso, ele descreveu:
“H.O.S, 55 anos, pardo, casado, advogado, natural e procedente de Sal-
vador. O paciente está no décimo quinto dia do pós-operatório do trans-
plante de fígado. Refere que internou há onze dias, pois foi chamado pelo
hospital para realizar o transplante de fígado. Relata que ficou na lista de
transplante por dois anos e meio. Há quatro anos, o paciente apresentou
seu primeiro episódio de hemorragia digestiva alta, a qual foi tratada com
ligadura elástica via endoscopia digestiva alta. Depois do primeiro episó-
dio, apresentou sete episódios de hemorragia digestiva alta. No último
episódio, foi realizada a cirurgia de derivação portossistêmica porque os
tratamentos não-cirúrgicos não estavam mais funcionando e ele foi co-
locado na lista de transplante de fígado. O paciente refere que foi etilista
por 30 anos, bebia 5 L de cerveja por dia, e está abstêmio há cinco anos.
De antecedentes patológicos, é portador de hipertensão arterial sistêmica
há dez anos, diabetes mellitus tipo 2 há oito anos e dislipidemia há cinco
anos, e até a realização do transplante, apresentava insuficiência hepática.
Em hábitos de vida, refere alcoolismo como já foi citado, nega tabagismo,
refere que tomou banho de rio na infância numa cidade em região endê-
mica para esquistossomose, relata que mora com a esposa e dois filhos,
79
MR imune_1 e 2.indd 79 04/07/19 17:27
MHC E APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS
frequenta os alcoólicos anônimos (AA), nega prática de exercício físico, re-
fere alimentação balanceada. No interrogatório sistemático negou outras
alterações. Ao exame físico, bom estado geral (BEG), lúcido e orientado
no tempo e espaço (LOTE), anictérico, acianótico, afebril, hipocorado +/
IV, eupneico, PA 120/80 mmHg, FC: 85 bpm. Em pele e fâneros, presença
de eritema palmar, telangiectasias e ginecomastia. Na cabeça e pescoço,
não há nada digno de nota. No exame do tórax, expansibilidade preser-
vada, frêmito toracovocal preservado, som claro pulmonar à percussão e
murmúrio vesicular audível em ambos hemitórax No exame do precórdio,
precórdio calmo, ausência de abaulamentos e frêmitos, ictus cordis visível
e palpável duas polpas digitais, duas cruzes, localizado no quinto espaço
intercostal na linha hemiclavicular, bulhas rítmicas, normofonéticas, em
dois tempos, sem sopros. No exame do abdome, abdome globoso á custa
de panículo adiposo, presença de circulação colateral do tipo cabeça de
medusa, cicatriz umbilical na linha média, ruídos hidroaéreos audíveis, na
hepatimetria: 10 cm na linha hemiclavicular e 5 cm na linha esternal. Es-
paço de traube ocupado. Dor à palpação superficial e profunda apenas
em região de cicatriz cirúrgica. Fígado com superfície lisa, borda romba
e consistência fibroelástica. “Nada digno de nota no exame geniturinário,
neurológico e articular.”
Após terminar o relato, a discussão sobre o caso clínico iniciou e o pro-
fessor perguntou: “Alguém sabe qual tipo de terapia é importante após
um transplante?”. Um colega de José respondeu: “Terapia imunossupres-
sora, professor”. Então, o professor questionou o motivo e ninguém soube
responder. Vendo a fisionomia de curiosidade dos alunos, o professor dis-
se: “Eu vou explicar superficialmente o motivo dessa terapia e vocês pes-
quisam depois, certo?! Então, após o transplante, o paciente pode rejeitar
o órgão novo. E isso ocorre porque existe uma molécula no nosso corpo,
chamada MHC humano ou HLA, que apresenta antígenos para os linfóci-
tos T. Nesse órgão novo, essa molécula MHC será, muito provavelmente,
diferente da molécula MHC do indivíduo que recebeu o transplante. Dessa
forma, o sistema imunológico do receptor irá identificar moléculas estra-
nhas neste novo tecido, principalmente as do MHC e, consequentemente,
esse novo órgão como um antígeno. Isso gera uma resposta imunológica
contra o órgão transplantado”.
Depois dessa breve explicação, todos os alunos ficaram mais curiosos e
decidiram pesquisar em casa.
80
MR imune_1 e 2.indd 80 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 04
1.1 POSSÍVEIS PALAVRAS OU TERMOS DESCONHECIDOS
• Hemorragia Digestiva Alta: Sangramento intraluminal originário
do trato gastrointestinal que ocorre até o ligamento de treitz.
• Ligadura elástica: tipo de procedimento endoscópico realizado
no tratamento de varizes esofágicas.
• Endoscopia Digestiva Alta: Procedimento no qual passa um en-
doscópio pela boca até a primeira porção do intestino delgado
para visualizar mucosa esofágica, estomacal e duodenal.
• Derivação portossistêmica: procedimento que realiza um desvio
do sangue venoso do sistema porta para a circulação sistêmica, a
fim de reduzir hipertensão portal.
• Dislipidemia: alteração dos níveis séricos de lipídios.
• Esquistossomose: doença parasitária causada pelos platelmintos
do gênero Schistosoma.
• Telangiectasias: dilatações intradérmicas das veias.
• Ginecomastia: crescimento mamário nos homens.
• Ictus cordis: também chamado de impulso apical ou "choque de
ponta", significa o contato da porção anterior do ventrículo esquer-
do com a parede torácica.
• Espaço de traube: área de nítido timpanismo no abdome, que
quando substituído por macicez ou submacicez significa ocupação
por estrutura sólida ou líquida.
• MHC: Complexo principal de histocompatibilidade.
1.2 PALAVRAS-CHAVES
“Transplante”, “MHC”, “Apresenta antígenos para os linfócitos T”.
1.3 OBJETIVOS
• Explique o que é Complexo Principal de Histocompatibilidade
(MHC) humano (HLA).
• Caracterizar as moléculas de MHC.
• Descrever os mecanismos de processamento e de apresentação de
antígenos aos linfócitos T.
81
MR imune_1 e 2.indd 81 04/07/19 17:27
MHC E APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS
2. INTRODUÇÃO
Como já discutido previamente, a imunidade inata é a primeira linha
de defesa do organismo contra o agente infeccioso, enquanto a imuni-
dade adquirida representa a imunidade mais tardia, complexa e especí-
fica ao antígeno. É fácil entender como um patógeno que está invadindo
um tecido consegue causar reações no local onde ele se encontra. Como,
entretanto, o sistema imune consegue, à distância, sofrer alterações que
levem a uma resposta mais efetiva contra esse patógeno? É aí que entra
em ação a apresentação de antígenos através de uma APC.
Por todos os nossos tecidos há células especializadas chamadas célu-
las apresentadoras de antígenos (APCs). Essas células têm a capacidade
de capturar o antígeno, migrar até os órgãos linfoides secundários (linfo-
nodos, principalmente), e apresentar o antígeno capturado aos linfócitos
T. Essas células processam os antígenos, gerando peptídeos antigênicos e
apresentam-nos, tornando esta apresentação ainda mais eficaz.
Neste capítulo vamos abordar todos os detalhes acerca do processa-
mento e apresentação de antígenos aos linfócitos T, destrinchar as carac-
terísticas das células que cumprem essa função, e explicar um pouco sobre
o complexo principal de histocompatibilidade, que exerce papel central
nesse processo. Sugerimos que a leitura dos capítulos “Imunidade Inata” e
“Órgãos e Tecidos Linfoides” seja efetuada antes de prosseguirmos.
Você deve lembrar que temos no nosso organismo, principalmente no
sistema linfático, células T virgens circulando à “procura” de antígenos es-
pecíficos, que as resgatará da morte celular programada. Lembre-se de
que os linfócitos virgens têm meia-vida de cerca de quatro meses. Como é
impossível que essas poucas células específicas para cada antígeno saiam
vasculhando o corpo inteiro, é importante que as APCs levem os antíge-
nos capturados ao encontro dos linfócitos. As células T, então, reconhece-
rão o antígeno ligado às moléculas expressas na membrana da APC. Vale
lembrar que as células B, por sua vez, são capazes de reconhecer antíge-
nos tanto livres quanto associados a células.
Em breve voltaremos a falar do processo de apresentação de antígenos
e das células envolvidas, mas precisamos apresentar para você um concei-
to fundamental que se fará presente por todo o capítulo: MHC.
82
MR imune_1 e 2.indd 82 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 04
3. O COMPLEXO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDADE (MHC)
O que é o MHC? Muita gente tem uma vaga noção sobre esse assunto,
mas é incapaz de responder essa simples pergunta. “É algo relacionado
com transplante”. “Tem a ver com a ligação das células”. “É o Complexo
Principal de Histocompatibilidade”. Essas são algumas respostas que po-
demos escutar, mas nenhuma realmente respondeu à pergunta. Por Com-
plexo Principal de Histocompatibilidade (MHC) entende-se uma região
cromossômica, que contém genes que codificam várias proteínas espe-
cializadas, dentre elas aquelas denominadas “moléculas do MHC clássicas”,
cuja função é apresentar antígenos aos linfócitos T. Os genes que codifi-
cam as moléculas do MHC são denominados antígenos leucocitários hu-
manos (HLA). Quais células expressam algum tipo de molécula do MHC?
Quase todas as nossas células nucleadas. Isso mesmo, praticamente todas
as nossas células, não apenas as células dendríticas. Toda célula que puder
ser infectada por um microrganismo precisa ter o aparato para apresen-
tar esse antígeno ao linfócito T, e esse aparato envolve as moléculas do
MHC. O tipo de molécula do MHC envolvida no processo de apresentação
diferencia patógenos ou antígenos intracelulares, citosólicos daqueles
extracelulares, ou presentes em compartimentos membranares, apresen-
tando-os aos linfócitos T CD8+ e T CD4+, respectivamente.
Os receptores de células T são específicos para as moléculas do MHC.
Como representado na imagem ao lado, o peptídeo, produto do proces-
samento de antígenos proteicos, “encaixa-se” perfeitamente no chamado
bolsão/fenda das moléculas do MHC, mantendo alguns grupamentos do
peptídeo que deverá ser reconhecido pela célula T à mostra.
Imagem 1: Modelo de reconhecimento de um complexo peptídio-MHC pelas células T
83
MR imune_1 e 2.indd 83 04/07/19 17:27
MHC E APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS
Você já ouviu falar em MHC da classe I e da classe II? Cada um desses tipos
tem funções específicas e formas de processamentos distintos que estão en-
volvidos na diferenciação entre patógenos intracelulares e extracelulares. As
moléculas do MHC da classe I estão envolvidas na apresentação e ativação
de linfócitos TCD8+, citotóxicos (CTLs), que irão destruir células infectadas por
vírus ou tumorais. É importante que toda célula nucleada, que pode, poten-
cialmente, evoluir com um tumor ou ser infectada por um vírus, ou outro
patógeno intracelular, possa ativar os CTLs para causar sua própria destrui-
ção. As moléculas do MHC da classe II, por sua vez, são expressas por células
apresentadoras de antígenos, e atuam na ativação de linfócitos T CD4+, que
irão mediar a ativação de macrófagos para destruição de microrganismos
extracelulares fagocitados, ou a ativação de linfócitos B para produção de an-
ticorpos. A expressão dessas moléculas do MHC é aumentada pelas citocinas
que são produzidas durante as respostas imunológicas, tanto inata quanto
adquirida. As citocinas produzidas em resposta a patógenos intracelulares
irão aumentar a expressão de MHC da classe I, enquanto aquelas produzidas
em respostas a patógenos extracelulares o farão com MHC da classe II.
A principal diferença entre as moléculas do MHC da classe I e II se en-
contra no processamento de proteínas antigênicas. Essas vias conver-
tem proteínas em peptídeos e os ligam a moléculas do MHC para apresen-
tação aos linfócitos. O objetivo é produzir peptídeos a partir das proteínas
antigênicas que contenham características estruturais necessárias para
que possam se associar às moléculas do MHC. Essa ligação a peptídeos
é processo fundamental na biossíntese das moléculas do MHC e de sua
expressão na superfície celular. Ou seja, os antígenos nativos não estão
aptos a se ligar ao MHC, mas os peptídeos gerados após o processamento
intracelular desses antígenos estão. A principal diferença entre classe I e
classe II está, exatamente, no local da degradação do peptídeo.
Proteínas citosólicas degradadas em proteassomas ⇒MHC classe I
Proteínas endocitadas degradadas em endolisossomas ⇒ MHC classe II
84
MR imune_1 e 2.indd 84 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 04
Imagem 2: Via de processamento e apresentação do MHC classe I.
Na imagem 1 percebemos a via de processamento e apresentação de
peptídeos do MHC da classe I – Via Citosólica. Observe que o antígeno
proteico se encontra no citosol da célula infectada, ou seja, é um antíge-
no intracelular, citosólico. A degradação dessa proteína ocorre numa es-
trutura chamada proteassoma. O proteassoma está presente na célula
do hospedeiro desempenhando um papel de limpeza, na degradação de
proteínas que estejam danificadas ou mal dobradas. Proteínas impróprias,
como aquelas antigênicas, também sofrem essa degradação. Citocinas
podem estimular o proteassoma a aumentar a sua funcionalidade. Após
degradação, os peptídeos são transportados para a cisterna do Retículo
Endoplasmático (RE), onde são ligados a moléculas do MHC de Classe I
recém-sintetizadas. Para que essa ligação ocorra, entra em ação uma pro-
teína chamada Transportador Associado ao Processamento de antígenos
(TAP) que transporta os peptídeos do proteassoma para o retículo. No
RE há a montagem dos complexos peptídeo-MHC, que será exposto na
membrana da célula para posterior reconhecimento pelo linfócito T CD8+.
Imagem 3: Via de processamento e apresentação do MHC classe II.
85
MR imune_1 e 2.indd 85 04/07/19 17:27
MHC E APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS
Com relação à via de processamento de antígenos que envolve as mo-
léculas do MHC da classe II, a Via Endossômica, podemos perceber algu-
mas diferenças. Primeiro, podemos ver na imagem que o antígeno é cap-
turado do meio extracelular por endocitose. Estamos falando, portanto, de
antígenos extracelulares. Não são todas as células que têm a capacidade de
endocitar antígenos do meio extracelular. Por isso as moléculas do MHC da
classe II são expressas apenas por APCs, enquanto que as da classe I são ex-
pressas por quase todas as células nucleadas do hospedeiro. As proteínas
endocitadas são digeridas nos endolisossomas, que se comunicam com os
lisossomas para conseguir essa degradação. Observa-se, portanto, que a via
endossômica de processamento de antígeno não segue o mesmo percurso
da via citosólica. A degradação é mediada por proteases, sendo a catepsina
a mais abundante. As moléculas de MHC da classe II ligam-se a uma proteína
denominada cadeia invariante, ainda no retículo endoplasmático. A cadeia
invariante não permite que peptídeos antigênicos ocupem as fendas das
moléculas do MHC da classe II no retículo endoplasmático. Em uma célula
apresentadora de antígeno, que expressa tanto as moléculas da Classe I com
as da Classe II, se houver algum peptídeo derivado de antígeno citosólico
sendo transportado ao RE, esse não terá como se ligar à molécula de MHC da
classe II, só da classe I. Importante lembrar que, neste caso, esta célula está in-
fectada ou é uma célula tumoral e, portanto, passa a ser uma célula-alvo da
ação de linfócitos TCD8+, citotóxicos, que reconhecem peptídeos associados
a moléculas do MHC da Classe I. As cadeias invariantes só são desacopladas
das moléculas do MHC da classe II após serem transportadas, via aparelho
de Golgi, até o endossoma, onde estão os peptídeos. Esse complexo pep-
tídeo-MHC da classe II migra para a membrana celular e poderá, então, ser
reconhecido pelo linfócito T CD4+.
Algumas células dendríticas, entretanto, possuem a capacidade de
endocitar células que estejam infectadas por algum microrganismo in-
tracelular, como um vírus. Como o antígeno foi endocitado, deveria ser
apresentado pela via do MHC da classe II aos linfócitos T CD4+. Trata-se,
entretanto, de um patógeno intracelular. Nessa situação, mesmo sendo
antígenos endocitados, esses são degradados por proteassomas e se-
guem a via do MHC da classe I, sendo reconhecidos por linfócitos T CD8+
virgens. Neste caso, a célula dendrítica atua como APC e não como célu-
la-alvo.
86
MR imune_1 e 2.indd 86 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 04
Imagem 4: Apresentação cruzada de antígenos para célular T CD8+
Qual é a importância dessas vias de processamento que acabamos de
descrever? A via de apresentação do antígeno irá determinar qual subcon-
junto de célula T irá atuar na eliminação do microrganismo. A depender
do subconjunto, teremos respostas imunes completamente diferentes.
Imagem 5: Funções de diferentes células apresentadoras de antígeno.
Antígenos intracelulares, como proteínas virais e tumorais, estarão pre-
sentes no citosol. Dessa forma seguirão a via do MHC da classe I. Os peptí-
deos serão reconhecidos por linfócitos T CD8+ que irão causar a morte da
célula-alvo expressando o antígeno.
87
MR imune_1 e 2.indd 87 04/07/19 17:27
MHC E APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS
Antígenos extracelulares serão endocitados e estarão presentes em
vesículas endossômicas. Dessa forma seguirão a via do MHC da classe II.
Os peptídeos serão reconhecidos por linfócitos T CD4+ que irão auxiliar
linfócitos B na produção de anticorpos e ativarão macrófagos para a des-
truição dos antígenos fagocitados.
4. CÉLULAS APRESENTADORAS DE ANTÍGENOS
Agora que já falamos sobre o MHC, precisamos falar das células que
efetivamente realizam essa ponte entre as imunidades natural e adquiri-
da. O primeiro conceito que devemos ter em mente é de que a apresenta-
ção de antígenos por células especializadas, além de garantir o contato do
linfócito com o antígeno, garante uma resposta mais efetiva, já que essas
células atuam na ativação dos linfócitos T. Diferentes células atuam como
APCs. São elas: macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Algumas cé-
lulas endoteliais e epiteliais também exercem esse papel, mas vamos focar
nas três iniciais. É importante destacar que as células dendríticas são as
únicas APCs chamadas de profissionais, visto que, a sua principal função
é a ativação de linfócitos T virgens. Já os linfócitos B e os macrófagos não
possuem essa capacidade de estimular linfócitos T virgens. Eles são capa-
zes de ativar apenas linfócitos TCD4+ efetores (Th e Treg).
As APCs liberam citocinas que são essenciais na diferenciação de célu-
las T em células efetoras. Além disso, expressam moléculas denominadas
coestimuladoras cuja função é fornecer sinais adicionais para a ativação
desses linfócitos. Por fim, as APCs também recebem sinais dos linfócitos
que melhoram sua função como apresentadoras de antígenos, num pro-
cesso chamado retroalimentação positiva bidirecional.
Como as respostas primárias dos linfócitos T ocorrem nos órgãos lin-
foides secundários, os microrganismos e antígenos proteicos são condu-
zidos pelas APCs a esses órgãos, como demonstrado na imagem 6 abaixo.
88
MR imune_1 e 2.indd 88 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 04
Imagem 6: Vias de entrada do antígeno.
As células mais capazes de realizar a captação e o transporte dos antí-
genos para serem apresentados aos linfócitos T são as células dendríticas.
Elas estão presentes em todos os tecidos, mas são mais abundantes nos
órgãos linfoides e nos tecidos epiteliais de revestimento, interfaces com o
ambiente externo. São dois tipos principais de células dendríticas:
89
MR imune_1 e 2.indd 89 04/07/19 17:27
MHC E APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS
Clássicas (convencionais): subconjunto mais numeroso em órgãos
linfoides. Provenientes de precursores mieloides migram para os tecidos
linfoides e não linfoides. Na ausência de infecções, parecem capturar an-
tígenos próprios e apresentarem a linfócitos autorreativos, para causar
morte ou inativação dos mesmos ou gerar células T reguladoras, que se-
rão importantes para a autotolerância e prevenção de autoimunidade.
Plasmocitoides: encontradas no sangue e em pequeno número nos
órgãos linfoides. Adquirem morfologia e propriedades funcionais das
células dendríticas somente após ativação. Sua função principal é a se-
creção de grandes quantidades de interferons do tipo I em resposta a
infecções virais.
Muitas são as propriedades das células dendríticas que as tornam as
APCs com maior eficiência para iniciar respostas de células T. Em primeiro
lugar, elas se localizam em epitélios e locais de entrada de antígenos. Além
disso, expressam receptores que permitem a captura de microrganismos
e, após a endocitose do antígeno, são guiadas por quimiocinas a zonas
de células T nos linfonodos. Células dendríticas maduras expressam níveis
elevados de peptídeos ligados a moléculas do MHC, além de citocinas
e moléculas coestimuladoras, sendo eficientes na ativação de linfócitos
T virgens. Por último, são capazes de realizar a apresentação cruzada de
peptídeos de células infectadas a linfócitos T CD8+.
Algumas características das outras APCs listadas anteriormente tam-
bém merecem ser descritas. Nas respostas mediadas por células, os ma-
crófagos fagocitam o patógeno, apresentam os antígenos para células T
efetoras, e são ativados por essas para destruírem o patógeno fagocitado.
Dessa forma, atuam como APC e como célula efetora da imunidade celu-
lar. Nas respostas imunes humorais, os linfócitos B atuam de forma seme-
lhante. Inicialmente, internalizam os antígenos proteicos, processando-os
e apresentando os peptídeos às células T. Em seguida, são ativados por
essas células e diferenciam-se em células produtoras de anticorpos. Não
podemos esquecer, entretanto, que quase todas as células nucleadas do
hospedeiro são capazes de apresentar peptídeos derivados de antígenos
presentes no citosol a linfócitos T CD8+Efetores, citotóxicos.
90
MR imune_1 e 2.indd 90 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 04
REFERÊNCIAS IMAGENS
1. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
2. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
3. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
4. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
5. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
6. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
REFERÊNCIAS
1. ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
2. MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. Imunobiologia de Janeway. 7 ed.
Porto Alegre: ArtMed. 2010.
91
MR imune_1 e 2.indd 91 04/07/19 17:27
CONFERÊNCIAS
Confira aqui a aula dinâmica do Medicina Resumida
sobre os assuntos abordados nesse capítulo!
MR imune_1 e 2.indd 92 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 93 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 94 04/07/19 17:27
CAPÍTULO
Antígenos e Anticorpos
5
1. CASO CLÍNICO
Pedro é um garotinho de 6 anos que foi levado por sua genitora para
consulta com a pediatra, Dra. Evelyn. No final da consulta, a pediatra tinha
colhido essas informações em sua anamnese:
“Queixa principal: Diarreia há 20 dias.
História da moléstia atual: Paciente vem para consulta acompanhado
da genitora que relata que a criança está apresentando diarreia há 20 dias.
Refere quatro evacuações diárias de consistência mole e gordurosa asso-
ciada a dor abdominal em cólica, flatulências e perda ponderal de 3 kg
nesse período. Relata que ela e o genitor apresentaram esses sintomas
também e foram diagnosticados com giardíase, já tendo iniciado o tra-
tamento. Traz laudo de exame parasitológico de fezes do paciente com
presença de cistos de giárdia.
Interrogatório sistemático: Nega outras alterações.
Antecedentes obstétricos: Nascido de parto natural com 40 semanas,
sem intercorrências. Realizou oito consultas de pré-natal e não apresen-
tou doenças durante o período gestacional. Triagem neonatal completa,
sem alterações.
Antecedentes patológicos: Genitora refere que desde um ano de ida-
de, o paciente apresenta infecções de via respiratória recorrentes (apro-
ximadamente 10 IVAS ao ano), tendo que fazer uso de antibióticos. Nega
internamentos prévios. Nega antecedentes transfusionais. Calendário va-
cinal completo.
História famiiar: Genitores portadores de HAS.
97
MR imune_1 e 2.indd 97 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
Hábitos de vida: Mora com os genitores e um irmão de 10 anos em
casa própria de alvenaria no interior da Bahia. Água encanada. Presença
de saneamento básico. Frequenta escola e durante o período escolar se
alimenta com as refeições que a escola fornece.”
Diante da identificação de cistos de Giardia lamblia nas fezes, a pedia-
tra prescreveu o tratamento adequado e solicitou retorno ao final do tra-
tamento.
Após uma semana de tratamento, o paciente retorna com a genitora,
que relata que a criança ainda não melhorou. A pediatra então, diante do
passado de IVAS recorrente e giardíase resistente ao tratamento, faz a sus-
peita de deficiência de IgA e solicita dosagem sérica de IgA.
A mãe de Pedro, preocupada, questiona o que seria essa deficiência de
IgA e a pediatra responde: “IgA é uma classe de imunoglobulina que está
presente nas secreções mucosas e glandulares e protege a gente contra
agentes infecciosos nas superfícies corporais. Essa classe de anticorpos
faz parte da imunidade denominada humoral. Quando existe deficiência
dessa classe de anticorpo, a pessoa fica mais suscetível a alguns tipos de
infecção.
Pensativa, a mãe de Pedro fala: “Doutora, não entendi esses nomes que
a senhora me disse. Me explica novamente.”
E aí, se você fosse Dra. Evelyn, que conhecimentos você precisaria ad-
quirir para responder às dúvidas da genitora de Pedro?
98
MR imune_1 e 2.indd 98 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
1.1 POSSÍVEIS PALAVRAS OU TERMOS DESCONHECIDOS
• Anticorpo (Ac): glicoproteína circulante secretada pelos plasmó-
citos em resposta ao reconhecimento de estruturas estranhas co-
nhecidas como antígenos, por linfócitos B, que expressam a forma
membranar desta molécula (Ac).
• Antígeno: qualquer substância que pode ser especificamente liga-
da por uma molécula de anticorpo ou receptor de célula T.
• Imunoglobulina: sinônimo de anticorpo.
1.2 PALAVRAS-CHAVE
"Anticorpos", "Antígenos", "Imunidade humoral".
1.3 OBJETIVOS
• Conceituar e caracterizar anticorpos e antígenos.
• Descrever a estrutura básica de uma molécula de anticorpo, rela-
cionando-a às suas funções biológicas.
• Caracterizar as diferentes classes e subclasses dos anticorpos.
• Listar as funções das classes e subclasses de anticorpos.
• Conceituar o que são anticorpos monoclonais e suas principais
aplicações.
• Descrever as características relacionadas com o reconhecimento
do antígeno.
99
MR imune_1 e 2.indd 99 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
2. INTRODUÇÃO
Desde a infância, todo mundo aprende que para cada chave existe uma fe-
chadura, pois elas são específicas uma para outra. Usando esse conhecimen-
to, podemos pensar em antígeno (Ag) e anticorpo (Ac). Os anticorpos são
proteínas circulantes, produzidas em resposta à exposição a antígenos que
medeiam a imunidade humoral contra todas as classes de microrganismos.
Desempenham diversas funções efetoras no controle de infecções e elimina-
ção de patógenos que serão discutidas com mais detalhes em capítulos sub-
sequentes. Ou seja, o anticorpo é um componente do sistema imunológico
que é específico para um antígeno, assim como a chave é para a fechadura.
Nesse capítulo, iremos focar em sua estrutura e interação com os antígenos.
Essas moléculas são sintetizadas somente pelos plasmócitos (“linfóci-
tos B em um estágio mais avançado”), produtores de anticorpos, e podem
existir ligados à membrana dos linfócitos B ou livres no plasma. Quando
ligados à membrana, agem como receptores de antígenos, ativando os
linfócitos e estimulando-os a se proliferarem e se diferenciarem em plas-
mócitos secretores de anticorpos de mesma especificidade do receptor;
quando secretados na forma solúvel, neutralizam toxinas e eliminam mi-
crorganismos por diversos mecanismos efetores.
O reconhecimento do antígeno por parte do anticorpo se dá de forma
muito específica, com grande habilidade em discriminar diferentes antíge-
nos. Assim, um anticorpo apresenta alta especificidade para um único epí-
topo (região da molécula do antígeno que se liga ao anticorpo). A elimina-
ção do antígeno geralmente requer a interação do anticorpo com algum
outro componente do sistema imune, como os fagócitos.
3. ESTRUTURA DO ANTICORPO
Os anticorpos compartilham características estruturais básicas, como
uma estrutura composta de dois tipos de cadeias polipeptídicas, sendo
duas cadeias leves e duas pesadas, idênticas entre si. Apresentam, entre-
tanto, grande variabilidade, entre as moléculas de anticorpos, nas regiões
nas quais os antígenos se ligam.
Cada cadeia tem cerca de 110 resíduos de aminoácidos. Essas se do-
bram em domínios chamados “domínios Ig”. Cada domínio desses com
100
MR imune_1 e 2.indd 100 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
duas camadas de folhas β-pregueadas, compostas por 3-5 fitas de cadeia
polipeptídica antiparalela mantidas por pontes dissulfeto e conectadas
por pequenas alças. Gravou tudo? Não? Basta entender que, mesmo
sendo moléculas “relativamente pequenas”, são compostas por muitos
componentes dispostos de múltiplas maneiras, o que confere grande
possibilidade de variabilidade aos anticorpos, estabilidade e resistência
à molécula para exercer suas funções. Uma alteração numa sequência de
aminoácido ou na interação entre cadeias pode gerar um anticorpo di-
recionado a outro antígeno. Por isso, podemos ter milhões e milhões de
anticorpos diferentes entre si.
Imagem 1: Estrutura de uma molécula de anticorpo.
VH = região V de cadeia pesada
VL = região V de cadeia leve
CH = região C de cadeia pesada
CL = região C de cadeia leve
Voltando ao que interessa (e agora é para tentar gravar mesmo), pode-
-se observar na imagem 1 anterior, que representa uma molécula de IgG
secretada, a distinção entre cadeias leves (L) e cadeias pesadas (H). A par-
101
MR imune_1 e 2.indd 101 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
te mais importante, porém, é a diferença, em um mesmo tipo de cadeia,
entre as regiões variáveis (V) e aquelas mais conservadas, denominadas
constantes (C). Nota-se que a área que engloba as regiões VH e VL corres-
ponde ao local de ligação do antígeno. Ou seja, a região V é onde o an-
ticorpo interage com o antígeno. Por isso, é preciso que seja uma região
de alta variabilidade estrutural entre os anticorpos, já que cada região V
deve reconhecer um antígeno distinto. Ou seja, “V” de “V”ariável. A alta
variabilidade estrutural (sequência de resíduos de aminoácidos) dessas
regiões que interagem com Ag e determinam a especificidade do Ac está
relacionada à diversidade de reconhecimento de antígenos pelo sistema
imunológico.
Por outro lado, as regiões C não participam da ligação aos antígenos.
Elas fazem parte das interações com outras células e moléculas do sistema
imune, importantes para a realização das funções efetoras dos anticorpos.
Como o número de células diferentes no nosso sistema imune é bem me-
nor do que o número de antígenos a que somos expostos, as regiões C
não precisam de tanta variabilidade. São, portanto, regiões mais constan-
tes do que as regiões V. Ou seja, “C” de “C”onstante.
Em suma, temos que lembrar o seguinte:
• Regiões V: VH + VL = local de ligação do antígeno. Alta variabilida-
de para a diversidade de reconhecimento dos antígenos.
• Regiões C: Não participam da ligação aos antígenos. Interagem
com outras células e moléculas do sistema imune (principalmente
cadeia pesada – CH) ⇒ funções efetoras dos anticorpos.
Ainda sobre a variabilidade das regiões destinadas ao reconhecimento
de antígenos e ligação a esses, existem trechos da molécula de Ac conhe-
cidos como regiões hipervariáveis, nas quais se dá a maioria das diferen-
ças de sequência entre os diferentes anticorpos. Observando o modelo
das estruturas secundária e terciária de um domínio V, é possível notar
que esses segmentos estão localizados no sítio de ligação ao Ag, de forma
a serem os principais pontos de interação com o epítopo. Eles formam
uma superfície que é complementar à forma tridimensional do antígeno
ligado. Por isso, são chamados “Regiões Determinantes de Complementa-
riedade”, ou CDRs. São três em cada cadeia da região V, como demonstra-
do na imagem 2 a seguir, que retrata apenas a cadeia leve.
102
MR imune_1 e 2.indd 102 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
Imagem 2: Regiões hipervariáveis das moléculas de imunoglobulina.
Em A, as linhas verticais mostram a extensão da variabilidade. Isso indica
que a maioria dos resíduos variáveis é mantida agrupada em três regiões. Em
B, vemos a conformação tridimensional em alças desses trechos específicos.
A ligação dos antígenos pelas moléculas de anticorpo é, primariamen-
te, uma função das regiões hipervariáveis de VH e VL.
4. TIPOS DE ANTICORPOS
A divisão do anticorpo em classes e subclasses é determinada com
base nas diferenças na estrutura das regiões C da cadeia pesada (CH). Essas
classes, ou isotipos, são IgA, IgD, IgE, IgM e IgG, e possuem distribuição
tecidual diferentes.
A IgM é secretada normalmente na forma polimérica (pentâmeros). Ao
ligar-se ao Ag, pode ativar a via clássica do sistema complemento. Esta
classe de Ig tem importante papel como receptor de Ag na superfície de
linfócitos B virgens. É secretada precocemente na resposta imune adquiri-
da humoral, sendo as primeiras imunoglobulinas encontradas nos testes
sorológicos das infecções agudas, indicando que a infecção está ocorren-
do, decaindo após uma ou duas semanas.
A IgG, secretada na forma monomérica, é a classe de imunoglobulinas
mais abundantes no soro e nos tecidos. Existem 4 subtipos de IgG (IgG1-4),
que são distintas pelas diferenças estruturais das regiões C da cadeia pesa-
da. Em geral, os anticorpos IgG aparecem em fases mais avançadas nas in-
103
MR imune_1 e 2.indd 103 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
fecções e permanecem por mais tempo no soro. Está presente no sangue,
na linfa e outros fluidos corporais. São capazes de atravessar a barreira pla-
centária, possibilitando imunidade passiva ao feto e recém-nascido. Suas
principais funções biológicas são: opsonização, neutralização, aglutinação,
precipitação e ativação da via clássica do sistema complemento. Pode ter
função de receptor de Ag na superfície de linfócitos B de memória.
Na resposta primária, a IgM é a primeira e a principal imunoglobulina pro-
duzida. Ocorre também síntese da IgG, porém, mais tardiamente e em títu-
los menores. Já na resposta secundária, a principal classe de imunoglobulina
produzida é IgG, em concentrações séricas maiores e mais persistentes.
A IgA pode ser secretada nas formas dimérica e monomérica. Ela é a
imunoglobulina presente nas mucosas dos tratos gastrointestinal, respi-
ratório e urogenital e em outras secreções exócrinas, como suco gástrico,
saliva, lágrimas e leite materno (é o principal anticorpo presente no leite
materno). Pode, também, ter função de receptor de Ag na superfície de
linfócitos B de memória.
A IgD, secretada na forma monomérica, é essencialmente uma imu-
noglobulina de membrana, cuja única função efetora conhecida é a de
receptor de Ag de linfócitos B virgens, assim como IgM.
E, por fim, a IgE, que é secretada na forma monomérica, está envolvida
em processos alérgicos e na defesa contra helmintos, devido à sua capaci-
dade de se ligar a receptores de alta afinidade presentes nas membranas
de mastócitos e basófilos. Assim como IgG e IgA, também pode ter função
de receptor de Ag na superfície de linfócitos B de memória.
Diferentes classes e subclasses de anticorpos realizam diferentes funções
efetoras. Isso se dá porque a maioria das funções efetoras é mediada pela
ligação das regiões C da cadeia pesada aos receptores Fc nas diferentes célu-
las, como fagócitos, células NK, mastócitos e a outras proteínas plasmáticas.
Com relação à IgG, observa-se uma meia-vida muito superior aos ou-
tros isotipos. Isso se dá por conta do FcRn, que é um receptor ligante de
IgG no meio ambiente ácido dos endossomas. As moléculas de outros iso-
tipos de imunoglobulina são continuamente degradadas em lisossomas
nas células endoteliais. Esse receptor age direcionando as moléculas de
IgG para longe da degradação lisossomal, liberando-as em vesículas para
posterior exocitose. Dessa forma, a imunoglobulina G consegue “driblar”
sua degradação, como demonstrado na imagem 3 a seguir.
104
MR imune_1 e 2.indd 104 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
Imagem 3: O FcRn contribui para a longa meia-vida das moléculas de IgG.
Outra característica inerente às moléculas de anticorpos é a flexibili-
dade, o que permite que elas se liguem a diferentes antígenos. Cada anti-
corpo contém pelo menos dois locais de ligação ao antígeno. Assim, duas
moléculas de antígenos podem ser ligadas de uma só vez.
Imagem 4: Flexibilidade das moléculas do anticorpo.
105
MR imune_1 e 2.indd 105 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
4.1 ANTICORPOS MONOCLONAIS
Vamos dar uma pausa nas características gerais dos anticorpos para
apresentarmos um tipo específico de anticorpo desenvolvido em labora-
tório que vem ganhando importância clínica e, principalmente, no âmbito
da pesquisa científica: anticorpos monoclonais (mAbs). Afinal, o que são
anticorpos monoclonais? Diferentemente dos anticorpos presentes nos
líquidos corporais, que são produzidos por vários clones de plasmócitos
(policlonais) e têm diversas especificidades, os mAbs são produzidos por
um único clone celular e são idênticos. A forma mais fácil de entender é a
partir da forma como esses anticorpos são desenvolvidos.
Primeiro, é importante compreender que um tumor de plasmócitos,
como um mieloma (clone de plasmócitos), é capaz de gerar anticorpos de
uma mesma especificidade. Essas células, como são células tumorais, são
“imortais”, podendo secretar esses anticorpos de forma continuada. Quando
se realiza a fusão dessas células tumorais com células B de um animal imu-
nizado, é possível obter o que chamamos de hibridomas, que são clones ce-
lulares com características das duas células que os originaram, imortalidade
e especificidade para um determinado Ag. Esses hibridomas são capazes de
secretar anticorpos continuamente, assim como as células tumorais, porém
esses anticorpos secretados são de especificidade herdada pelas células B
do animal imunizado. Esses são os anticorpos monoclonais, que podem ser
selecionados de acordo com a especificidade e a classe de Ac produzido. A
imagem 5 a seguir descreve, de forma ilustrada, todo esse processo.
106
MR imune_1 e 2.indd 106 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
Imagem 5: Geração dos anticorpos monoclonais
107
MR imune_1 e 2.indd 107 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
Podemos observar como há a possibilidade de criar células produtoras
dos anticorpos que queremos. Algumas das aplicações desses anticorpos
monoclonais estão listadas a seguir:
• Identificação de marcadores fenotípicos únicos aos tipos celulares
particulares.
• Imunodiagnóstico, pela detecção de antígenos ou anticorpos atra-
vés de imunoensaios, como o ELISA.
• Identificação tumoral, através de anticorpos monoclonais específi-
cos contra tumores.
• Terapia, através de anticorpos monoclonais contra células ou mo-
léculas específicas envolvidas na patogênese das doenças, como,
por exemplo, anticorpos contra a citocina TNF no tratamento da
artrite reumatoide.
• Análise funcional da superfície celular e moléculas secretadas,
através da produção de anticorpos monoclonais que se ligam às
moléculas de superfície celular, produzindo efeito de inibição ou
estimulação dessas moléculas e, assim, descobre-se a função des-
tas moléculas.
O problema do uso para terapia é que são gerados em camundongos,
e algumas pessoas podem produzir anticorpos anticamundongo (HAMA),
que bloqueiam a função ou aumentam a eliminação do anticorpo mo-
noclonal injetado, além de poderem causar um distúrbio denominado
doença do soro. Devido a este risco, técnicas de engenharia genética
estão sendo utilizadas para produzir anticorpos monoclonais híbridos,
isto é, possuem a especificidade antigênica do anticorpo monoclonal do
camundongo associado à estrutura central de imunoglobulina humana,
sendo chamados de anticorpos humanizados.
5. SÍNTESE DOS ANTICORPOS
As cadeias polipeptídicas, tanto as pesadas quanto as leves, assim
como as demais proteínas secretadas ou de membrana, são sintetizadas
em ribossomas ligados à membrana do retículo endoplasmático. Dentro
do retículo há proteínas que coordenam o dobramento apropriado das
cadeias pesadas, chamadas chaperonas. As cadeias sofrem um processo
de modificação de carboidratos (isto é, são glicosiladas) no complexo de
Golgi e, posteriormente, são transportadas para a membrana plasmática
108
MR imune_1 e 2.indd 108 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
em vesículas. Nos linfócitos B, as cadeias pesadas possuem a porção trans-
membrana, o que implica na forma membranar do Ac. Em plasmócitos, a
ausência da porção transmembrana resulta na forma solúvel de Ac.
Imagem 6: Tipos de imunoglobulina IgM e IgG.
Além desse processo que envolve as organelas celulares, é importante
compreender que à medida que as células B vão amadurecendo a partir
dos seus progenitores da medula óssea, ocorrem alterações na expressão
do gene da imunoglobulina, que resulta na produção de moléculas de
anticorpos e seus componentes em diferentes formas, como mostrado na
seguinte imagem 7:
Imagem 7: Expressão de Ig durante a maturação do linfócito.
Expressão de Ig durante a maturação do linfócito. Estágios na maturação do linfócito B são mostrados com
mudanças na produção das cadeias pesadas e leves de Ig. As cadeias pesadas de IgM são mostradas em
vermelho; as cadeias pesadas de IgD estão em azul; e as cadeias leve em verde.
109
MR imune_1 e 2.indd 109 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
Observa-se como o processo de produção das cadeias que compõem
o anticorpo sofrem alterações à medida que o próprio linfócito vai se de-
senvolvendo.
6. LIGAÇÃO DOS ANTICORPOS A ANTÍGENOS
A primeira pergunta que deve ser respondida é: o que é um antígeno?
Um antígeno é qualquer substância que pode ser especificamente ligada
por uma molécula de anticorpo ou receptor de célula T. A segunda pergunta
que vem automaticamente à cabeça de qualquer um que esteja estudando
a interação entre antígenos e anticorpos é: que tipo de substância pode ser
considerada como antígeno? A resposta é simples: praticamente qualquer
uma. Isso mesmo, os anticorpos podem reconhecer quase todas as molé-
culas biológicas, sejam açúcares, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios etc. As
células T, entretanto, reconhecem principalmente os peptídeos.
O fato de um antígeno ser reconhecido não significa que o mesmo seja
capaz de ativar os linfócitos e estimular respostas imunológicas. As molé-
culas que são capazes de estimular tais respostas são conhecidas como
imunógenos ou antígenos completos. Temos, portanto, que nem todo
antígeno é imunógeno, ou seja, alguns são incompletos, pois ligam-se aos
receptores de Ag, mas não estimula a resposta imunológica. Um exem-
plo são as moléculas de baixo peso molecular, denominadas haptenos,
que não são capazes de estimular a resposta imunológica, mas, quando
ligadas a outras moléculas maiores, chamadas carreadoras, os complexos
hapteno-carreador adquirem essa capacidade.
A maioria dos antígenos, particularmente os imunógenos, são macro-
moléculas, de tamanho similar ou mesmo maiores do que a molécula de
Ac. Assim, é razoável considerar que, quando um antígeno é grande de-
mais, o anticorpo não se ligará a toda a molécula antigênica. Haverá regi-
ões específicas nas quais ocorre a ligação entre o antígeno e o anticorpo
(sítio de ligação ao Ag). Chamamos esse local de ligação de epítopo, ou
determinante antigênico.
O tipo de ligação entre antígeno e anticorpo é reversível e envolve forças
moleculares não covalentes. Por conta da flexibilidade da molécula de Ac,
apresentada anteriormente, conferida pela região da dobradiça, um único
anticorpo pode se ligar a mais de um epítopo (idênticos) simultaneamen-
110
MR imune_1 e 2.indd 110 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
te, podendo estes estarem presentes em uma única molécula de Ag ou em
moléculas diferentes. A valência de interação de um antígeno depende do
número de epítopos. Antígenos monovalentes irão interagir em um único
local de interação, enquanto antígenos polivalentes poderão interagir em
mais locais. O anticorpo envolvido também tem papel relevante na confor-
mação da ligação. Na figura a seguir, observa-se como uma molécula de IgG
pode se ligar a mais de um epítopo de um antígeno, caso os epítopos este-
jam próximos o suficiente. Já uma molécula de IgM, caso a proximidade dos
epítopos permita, pode se ligar a até 10 determinantes distintos.
Imagem 8: Valência e avidez das interações anticorpo-antígeno
Dois conceitos que dizem respeito à força dessa ligação são afinidade e
avidez. A força da ligação entre o sítio de ligação do anticorpo e o epítopo
é a afinidade, e é determinante para a estabilidade da interação Ag-Ac.
111
MR imune_1 e 2.indd 111 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
A força total de ligação entre as moléculas de Ag-Ac deve considerar, en-
tretanto, o resultado de todas as interações entre o sítio de ligação do Ac
e os epítopos disponíveis. Essa força geral, que é muito maior do que a
afinidade a qualquer epítopo, é a avidez.
A união dos anticorpos a antígenos gera complexos antígeno-anticorpo,
denominados imunocomplexos. Por vezes, há mais antígenos do que an-
ticorpos nesta estrutura supramolecular. Assim, os anticorpos se ligam aos
antígenos que conseguirem, mas haverá um excesso de antígenos que fi-
carão “boiando”. Quando há mais anticorpos do que antígenos na solução,
rapidamente todos os Ag se ligarão ao Ac, e os anticorpos restantes é que fi-
carão “boiando”. Como não serão gerados imunocomplexos contendo vários
anticorpos ligados a vários antígenos de uma só vez, as zonas de excesso de
anticorpo ou de antígeno geram pequenos imunocomplexos. Se tivermos,
porém, uma zona de equivalência entre moléculas de antígenos e de anti-
corpos, a interação Ag-Ac poderá levar à formação de grandes imunocom-
plexos. Não entendeu? Então dá uma olhadinha nessa imagem 10 a seguir.
Imagem 9: Complexos antígeno-anticorpo. Os tamanhos dos complexos antígeno-anticorpo (imune) são
uma função das concentrações relativas do antígeno e do anticorpo. Grandes complexos são formados
em concentrações de antígenos e anticorpos multivalentes, que são ditos como zona de equivalência. Os
complexos são menores em antígeno relativo ou excesso de anticorpo.
Outro conceito importante que envolve a interação entre antígenos e
anticorpos diz respeito às respostas imunológicas humorais primárias
e secundárias. São chamadas de primárias as respostas decorrentes do
112
MR imune_1 e 2.indd 112 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
primeiro contato entre o organismo e o antígeno. Secundárias, por conse-
guinte, são as respostas subsequentes. Na resposta primária, por exposi-
ção natural ou vacinal, ocorre a ativação e diferenciação dos linfócitos B em
plasmócitos e células de memória. Essa resposta é didaticamente dividida
em três fases: a primeira consiste no aumento exponencial dos níveis de
anticorpos; logo em seguida ocorre a fase platô, na qual a quantidade de
anticorpos estabiliza; a última fase é a de declínio, em que ocorre redução
progressiva dos títulos de anticorpos circulantes. A resposta imunológica
secundária é mais rápida, mais intensa e mais duradoura, pois já existem
células de memória específicas para um determinado antígeno. Dessa for-
ma, a quantidade de antígeno necessária para estimular a resposta é me-
nor, o tempo para iniciar a síntese de anticorpos também é menor, e a fase
exponencial é maior. Os títulos de anticorpos no soro tornam-se maiores
em relação ao observado à resposta primária, a fase de platô é atingida
mais precocemente e dura mais tempo, enquanto a fase de declínio ocorre
mais lentamente. Podemos ter, portanto, uma resposta mais eficaz.
Agora que já conhecemos o que são anticorpos, antígenos e suas in-
terações, vamos ao nosso último objetivo de estudo: descrever as carac-
terísticas relacionadas com o reconhecimento do antígeno. Algumas
dessas características já foram descritas como conceitos no decorrer desse
capítulo ou em outros capítulos do nosso livro, mas vamos apresentar de
forma ordenada agora para você. Listaremos as três principais. São elas:
especificidade, diversidade e maturação de afinidade.
Especificidade: Alto grau de especificidade é necessário para que an-
ticorpos gerados em resposta aos antígenos não reajam com as próprias
moléculas estruturalmente similares. Ou seja, qualquer mínima alteração
na estrutura do antígeno, mesmo se for um aminoácido só, pode implicar
em não reconhecimento pelo anticorpo. Apesar da elevada especificida-
de dos Ac, pode, em algumas situações, ocorrer uma reação cruzada. Ou
seja, Ac produzido em resposta a um epítopo de determinado Ag se liga a
epítopos iguais ou semelhantes em outro Ag. A ocorrência da reação cru-
zada tem implicações importantes em laboratório clínico e no organismo,
causando, por exemplo, resultados falso-positivos e reações autoimunes,
respectivamente.
Diversidade: Decorre do grande número de especificidades que pode
ser gerado em cada indivíduo. Se cada anticorpo é específico para um an-
tígeno, então temos uma diversidade imensa de anticorpos. A diversidade
113
MR imune_1 e 2.indd 113 04/07/19 17:27
ANTÍGENOS E ANTICORPOS
de Ac produzida independe do contato com o Ag, pois está relacionada à
organização dos genes de Ig e à recombinação genética que ocorre du-
rante a maturação dos linfócitos B na medula óssea.
Maturação de Afinidade: O mecanismo para que tenhamos ligações
fortes entre antígenos e anticorpos (alta afinidade e alta avidez) envolve
pequenas alterações nas regiões V do anticorpo que podem ocorrer no
decorrer das respostas humorais {em particular, nas respostas nas quais
há participação dos linfócitos T auxiliares (TH)}. Assim, após ativação dos
linfócitos B, há modificações nas regiões V que podem resultar em perda
ou em aumento de afinidade do Ac pelo Ag. As células B que foram ca-
pazes de gerar tais estruturas que culminaram numa ligação mais “forte”
aos antígenos irão, obviamente, se ligar preferencialmente aos mesmos,
sendo selecionados como células B dominantes para as exposições sub-
sequentes àquele antígeno. Esse processo é chamado de maturação de
afinidade. Consequentemente, há um aumento na afinidade das ligações
antígeno-anticorpo à medida que a resposta imune avança. As respostas
secundárias a antígenos T-Dependentes, portanto, além de serem mais
específicas, rápidas e eficazes, geram Ac com ligações de maior afinidade.
As funções efetoras propriamente ditas dos anticorpos, ou seja, os me-
canismos pelos quais eles levam à eliminação do microrganismo e con-
trole das infecções, serão discutidas detalhadamente em outros capítulos.
7. CURIOSIDADES
• Um homem adulto, saudável, pesando 70 kg, produz cerca de 2-3
g de anticorpos por dia.
• 2/3 dos anticorpos produzidos são do isotipo IgA pelas células B
dos tratos gastrointestinal e respiratório, sendo transportados ati-
vamente para o lúmen desses tratos.
• “Troca de isotipo”: quando uma célula B é ativada por um antíge-
no, ela pode passar por um processo chamado “troca de isotipo”,
no qual há alterações estruturais na região CH, levando à produção
de um isotipo diferente de anticorpo. As regiões V não sofrem tal
alteração.
• As regiões CH dos anticorpos desempenham papel na distribuição
tecidual dos anticorpos
114
MR imune_1 e 2.indd 114 04/07/19 17:27
CAPÍTULO 05
REFERÊNCIA DAS IMAGENS
1. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
2. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
3. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
4. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
5. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
6. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
7. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
8. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
9. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
REFERÊNCIAS
1. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. 8. ed Rio de Janeiro: Elsevier. 2015.
2. MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. Imunobiologia de Janeway. Porto
Alegre: ArtMed, 7 ed.. 2010.
3. ABBAS, Abul K. ; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e
Molecular. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2008.
115
MR imune_1 e 2.indd 115 04/07/19 17:27
CONFERÊNCIAS
Confira aqui a aula dinâmica do Medicina Resumida
sobre os assuntos abordados nesse capítulo!
MR imune_1 e 2.indd 116 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 117 04/07/19 17:27
MR imune_1 e 2.indd 118 04/07/19 17:27
Você também pode gostar
- Parasitologia 1: Helmintos de Interesse MédicoNo EverandParasitologia 1: Helmintos de Interesse MédicoAinda não há avaliações
- Parasitologia 2: Protozoários de Interesse MédicoNo EverandParasitologia 2: Protozoários de Interesse MédicoAinda não há avaliações
- Resumo & Guia De Estudo - Uma Elegante Defesa: A Extraordinária Nova Ciência Do Sistema ImunológicoNo EverandResumo & Guia De Estudo - Uma Elegante Defesa: A Extraordinária Nova Ciência Do Sistema ImunológicoAinda não há avaliações
- Imunologia 2Documento39 páginasImunologia 2Carolina NascimentoAinda não há avaliações
- BIO - Relatorio Extração DNA Do MorangoDocumento9 páginasBIO - Relatorio Extração DNA Do MorangoAletheia Devi67% (3)
- Microbiologia e Parasitologia HumanaDocumento105 páginasMicrobiologia e Parasitologia HumanaLítia Amanda100% (4)
- Biopráticas: Atividades experimentaisNo EverandBiopráticas: Atividades experimentaisAinda não há avaliações
- Hemograma: entenda seus resultados em caracteresDocumento6 páginasHemograma: entenda seus resultados em caracteresKarla PatríciaAinda não há avaliações
- FarmacologiaDocumento187 páginasFarmacologiaJoana Fronteira100% (1)
- Material Didático - ImunologiaDocumento70 páginasMaterial Didático - ImunologiaRudvan Cicotti100% (1)
- Introdução À PatologiaDocumento23 páginasIntrodução À PatologiaAna Kelia Silva MeloAinda não há avaliações
- Introdução à Imunologia: Imunidade Inata e AdquiridaDocumento27 páginasIntrodução à Imunologia: Imunidade Inata e Adquiridafelipe33% (6)
- Amebíase e Giardíase: agentes causadores, formas, ciclo de vida e manifestações clínicasDocumento38 páginasAmebíase e Giardíase: agentes causadores, formas, ciclo de vida e manifestações clínicasKatia Calandrine100% (2)
- Nutrigenômica e Nutrigenética PDFDocumento61 páginasNutrigenômica e Nutrigenética PDFMichelle Lima100% (1)
- Questões de ImunologiaDocumento13 páginasQuestões de ImunologiaPriscila da Hora89% (147)
- Bacilos Gram-negativos anaeróbios facultativos da microbiota intestinal humanaDocumento34 páginasBacilos Gram-negativos anaeróbios facultativos da microbiota intestinal humanaMarina SalesAinda não há avaliações
- UNDEREATING - A energia do guerreiroDocumento25 páginasUNDEREATING - A energia do guerreiroTony Bruno VivasAinda não há avaliações
- Microbiologia Médica I: Patógenos e Microbioma HumanoNo EverandMicrobiologia Médica I: Patógenos e Microbioma HumanoAinda não há avaliações
- Livro Manual Do BiomedicoDocumento48 páginasLivro Manual Do BiomedicoBruna Oliveira100% (1)
- Anemia Falciforme e Comorbidades Associadas na Infância e na AdolescênciaNo EverandAnemia Falciforme e Comorbidades Associadas na Infância e na AdolescênciaAinda não há avaliações
- ImunologiaDocumento65 páginasImunologiaLorenaAraújoMarçal100% (1)
- Modulo 3 Imunologia ClinicaDocumento62 páginasModulo 3 Imunologia ClinicaGabriella LinharesAinda não há avaliações
- Sexagem fetal PCRDocumento1 páginaSexagem fetal PCRAna cecilia Julio100% (3)
- Sistema ImunológicoDocumento53 páginasSistema ImunológicoVanessa Gaudiano100% (3)
- Farmacocinética e farmacodinâmicaDocumento51 páginasFarmacocinética e farmacodinâmicaAlvaro Galdos100% (1)
- Introdução à ImunologiaDocumento186 páginasIntrodução à ImunologiaCristie Araujo100% (2)
- A bioquímica por trás do bronzeadoDocumento123 páginasA bioquímica por trás do bronzeadoSilvia100% (1)
- Introdução à Parasitologia VeterináriaDocumento267 páginasIntrodução à Parasitologia Veterináriaaff vei100% (2)
- Fe LVDocumento25 páginasFe LVmaggy19100% (2)
- O papel da imunologia clínica no diagnóstico de doençasDocumento72 páginasO papel da imunologia clínica no diagnóstico de doençasAndréia Vieira50% (2)
- Resumo de Imunologia abrangendo os principais conceitosDocumento29 páginasResumo de Imunologia abrangendo os principais conceitosÍtalo AlmeidaAinda não há avaliações
- Apostila Microbiobiologia - 2012Documento50 páginasApostila Microbiobiologia - 2012Ivanildo PereiraAinda não há avaliações
- Princípios gerais da utilização de antimicrobianos na farmacologia veterináriaDocumento84 páginasPrincípios gerais da utilização de antimicrobianos na farmacologia veterináriaLaura Schulz100% (1)
- Teste PanvelDocumento1 páginaTeste PanvelLuisa Devonne LovatoAinda não há avaliações
- Resumo da Imunologia: Introdução à Imunidade Inata e AdquiridaDocumento16 páginasResumo da Imunologia: Introdução à Imunidade Inata e AdquiridaClaudiasenatore SenatoreAinda não há avaliações
- Apostila de Imuno IDocumento22 páginasApostila de Imuno Iju15anjinhaAinda não há avaliações
- 1 - Microbiologia - VirusDocumento24 páginas1 - Microbiologia - VirusMariana LinsAinda não há avaliações
- Microbiologia geral e patogênicasDocumento50 páginasMicrobiologia geral e patogênicasCamila Bastos60% (5)
- Apostila BIOQUIMICA PráticaDocumento64 páginasApostila BIOQUIMICA PráticaMaria Perpétua Oliveira RamosAinda não há avaliações
- Resumo de Imunologia com ênfase em Imunidade Inata e AdaptativaDocumento32 páginasResumo de Imunologia com ênfase em Imunidade Inata e AdaptativaRayssa Duarte67% (9)
- Patologia - Completo (2016) Med ResumoDocumento78 páginasPatologia - Completo (2016) Med ResumoHannah Dâmaris RamalhoAinda não há avaliações
- Sistema imune inato e adaptativoDocumento62 páginasSistema imune inato e adaptativoDianna Harper80% (10)
- Laboratório ParasitologiaDocumento23 páginasLaboratório ParasitologiaPaloma Gonçalves PintoAinda não há avaliações
- Farmacologia do Sistema RespiratórioDocumento43 páginasFarmacologia do Sistema Respiratóriojomiguel411Ainda não há avaliações
- Imunologia e seus invasoresDocumento194 páginasImunologia e seus invasoresLuiz Fernando Zoch100% (1)
- Sistema ComplementoDocumento6 páginasSistema ComplementoCamille Moura100% (1)
- Apresentação de Antígenos e MHCDocumento4 páginasApresentação de Antígenos e MHCBárbataAinda não há avaliações
- MEDresumo PatologiaDocumento77 páginasMEDresumo PatologiaMax Grossl Rodrigues100% (5)
- Exercicios Sobre Patologia Das NeoplasiasDocumento98 páginasExercicios Sobre Patologia Das Neoplasiasnipeal100% (3)
- Menino ou Menina? Os Distúrbios da Diferenciação do Sexo – Vol. 2No EverandMenino ou Menina? Os Distúrbios da Diferenciação do Sexo – Vol. 2Ainda não há avaliações
- Ligação génica DrosophilaDocumento40 páginasLigação génica DrosophilaMafalda Rocha100% (1)
- Introdução A ParasitologiaDocumento22 páginasIntrodução A ParasitologiaelisramoscasAinda não há avaliações
- Microbiologia e ImunologiaDocumento36 páginasMicrobiologia e Imunologiaizabela100% (1)
- Introdução à Parasitologia BásicaDocumento36 páginasIntrodução à Parasitologia BásicacrisAinda não há avaliações
- Manual de Parasitologia HumanaDocumento42 páginasManual de Parasitologia HumanaBrunoNascimentoAinda não há avaliações
- Hipersensibilidades e doenças autoimunesDocumento69 páginasHipersensibilidades e doenças autoimunesDaniloGomes100% (1)
- Resumo Medstudents InflamaçãoDocumento33 páginasResumo Medstudents Inflamaçãoanjosjr100% (3)
- Imuno ResumoDocumento59 páginasImuno ResumoRenata Gomes100% (1)
- Apostila de Microbiologia MédicaDocumento64 páginasApostila de Microbiologia MédicaElizabeth Honorina LouroAinda não há avaliações
- Prova de Microbiologia 206.3Documento7 páginasProva de Microbiologia 206.3api-3727946Ainda não há avaliações
- Hipersensibilidade Imediata: Classificação e MecanismosDocumento38 páginasHipersensibilidade Imediata: Classificação e MecanismosClaudinei Lenz100% (1)
- PIF REVISÃO BIBLIOGRÁFICADocumento4 páginasPIF REVISÃO BIBLIOGRÁFICAJanaina de SouzaAinda não há avaliações
- Órgãos linfoides primários e secundáriosDocumento6 páginasÓrgãos linfoides primários e secundáriosmarciofsilva1375% (4)
- Microbiologia VeterináriaDocumento4 páginasMicrobiologia VeterináriaGuilherme KusterAinda não há avaliações
- Ciclo de esteróides de Arnold SchwarzeneggerDocumento2 páginasCiclo de esteróides de Arnold SchwarzeneggerFABIO HENRIQUEAinda não há avaliações
- Franco Columbo TREINO COMPLETODocumento3 páginasFranco Columbo TREINO COMPLETOFABIO HENRIQUEAinda não há avaliações
- BRAÇOS EM 3 FASES - N. 1Documento3 páginasBRAÇOS EM 3 FASES - N. 1FABIO HENRIQUEAinda não há avaliações
- Dimensões Das CarretasDocumento3 páginasDimensões Das CarretasFABIO HENRIQUEAinda não há avaliações
- Distúrbios ácido-básicos em pacientes com ingestão de álcool tóxicoDocumento4 páginasDistúrbios ácido-básicos em pacientes com ingestão de álcool tóxicoFABIO HENRIQUEAinda não há avaliações
- Genética e Biologia Molecular para o Ensino Médio e FundamentalDocumento34 páginasGenética e Biologia Molecular para o Ensino Médio e FundamentalSamira GonçalvesAinda não há avaliações
- Plano de Ensino de FundamentosDocumento8 páginasPlano de Ensino de FundamentosJannaina Lima CoelhoAinda não há avaliações
- Biodiversidade e célula: unidade estrutural e funcionalDocumento15 páginasBiodiversidade e célula: unidade estrutural e funcionalAntónio LucasAinda não há avaliações
- Exercícios - Ácidos NucleicosDocumento4 páginasExercícios - Ácidos NucleicosAntonia AlvesAinda não há avaliações
- Simulando A Sintese de ProtenasDocumento2 páginasSimulando A Sintese de ProtenasDuda SilvaAinda não há avaliações
- Divisão CelularDocumento5 páginasDivisão CelularAfroditeAinda não há avaliações
- CELULAS E BIOMOLECULAS EM BIOLOGIA CELULARDocumento2 páginasCELULAS E BIOMOLECULAS EM BIOLOGIA CELULAREnsina -meAinda não há avaliações
- Evolução e origem da vidaDocumento10 páginasEvolução e origem da vidaJosé Almeida FerreiraAinda não há avaliações
- Mecanismos de Ação de AntibióticosDocumento23 páginasMecanismos de Ação de AntibióticosmsantoslopesAinda não há avaliações
- Teoria Dos OncogenesDocumento15 páginasTeoria Dos OncogenesAsiloEspinosa0% (1)
- Estratégias de melhoramento genético para bananeirasDocumento13 páginasEstratégias de melhoramento genético para bananeirasMarinês BomfimAinda não há avaliações
- Cel SatélitesDocumento10 páginasCel SatélitesAmanda CarneiroAinda não há avaliações
- Inovação - Aché Industria FamacelticaDocumento16 páginasInovação - Aché Industria FamacelticaLucas BalconiAinda não há avaliações
- Tipos de PCR e suas aplicações molecularesDocumento34 páginasTipos de PCR e suas aplicações molecularesVinicius MincaroneAinda não há avaliações
- Botanica SistematicaDocumento15 páginasBotanica SistematicaSérgio LourençoAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho Sobre Reprodução Assexuada e Sexuada IDocumento5 páginasFicha de Trabalho Sobre Reprodução Assexuada e Sexuada IPaula Alexandra Costa País CabralAinda não há avaliações
- MitoseMeioseNDMDocumento12 páginasMitoseMeioseNDMjr1234Ainda não há avaliações
- BIOINFORMÁTICADocumento8 páginasBIOINFORMÁTICAJandira LemosAinda não há avaliações
- Crise e Revisão Do Conceito de GeneDocumento36 páginasCrise e Revisão Do Conceito de GenePatrícia Sérvulo TéuAinda não há avaliações
- Gene tagging estratégias para isolamento de genes específicosDocumento15 páginasGene tagging estratégias para isolamento de genes específicosTárik Galvão NevesAinda não há avaliações
- Relação de obras e cursos de radiologia médicaDocumento4 páginasRelação de obras e cursos de radiologia médicaMauricio Mitsuo Monção100% (1)
- Vacina COVID-19 CertificadoDocumento1 páginaVacina COVID-19 CertificadoEmanuel ValérioAinda não há avaliações
- Biologia e Geologia 11 Teste 1 2019 2020Documento12 páginasBiologia e Geologia 11 Teste 1 2019 2020Joaquina JúliaAinda não há avaliações