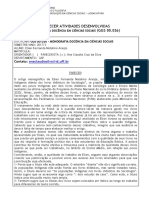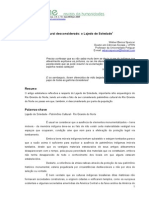Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fala Evento MN
Enviado por
Ellen F. Gusa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
20 visualizações11 páginasFala para evento mn
Título original
Fala evento mn
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoFala para evento mn
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
20 visualizações11 páginasFala Evento MN
Enviado por
Ellen F. GusaFala para evento mn
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
Em
primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade de debater a pesquisa que
apenas começo a esboçar junto ao povo indígena Fulni-ô. O que vou apresentar aqui
hoje são alguns dos momentos do trabalho de campo preliminar que realizei junto a eles
durante 30 dias, entre os meses de janeiro e fevereiro desse ano, aquilo que eu chamei
no título de frações da vida Fulni-ô. Além disso, vou aproveitar a ocasião para
compartilhar algumas reflexões que venho esboçando a fim de conceber melhor um
horizonte teórico e de questões para qualificar o meu retorno a campo, que
provavelmente se dará em julho. Em outras palavras, eu vou expor algumas dificuldades
e possibilidades que eu considero, ou tenho a impressão, de estar em jogo. Adianto
também que ‘etnografia do possível’ a que faço referência na chamada ao trabalho nada
mais é do que o nome muito provisório que cunhei, inspirada nas proposições da filósofa
belga Isabele Stengers, meio inadvertidamente, para a posição desde a qual eu penso
minha prática antropológica e para aquilo que eu acredito ser possível criar a partir dela.
Frações da vida Fulni-ô
Os Fulni-ô constituem um povo indígena que habita o semi-árido pernambucano, na
região do planalto da Borborema, em uma terra demarcada de 11.500 hectares, desde
o final do século XIX, dentro da qual os brancos, apropriando-se de uma porção do
território indígena, abriram ruas e erigiram edifícios a fim de construir uma cidade, no
início do século XX, a qual batizaram de Águas Belas. Dados levantados pela Sesai,
atestaram que 4.689 Fulni-ô viviam na aldeia, em 2014. Nesse mesmo período, o IBGE
contabilizou no município uma população composta por mais de 40 mil águas-belenses.
O antropólogo alagoano Estevão Pinto - que dedicou boa parte de sua carreira à
etnologia das populações indígenas do nordeste - calcula ser 1700 o ano em esse povo
deparou-se com a máquina colonialista. Desde então, os Fulni-ô se viram enredados no
drama civilizatório que, em um mesmo ato, ceifou centenas (ou, quem sabe, milhares)
de suas vidas e os fizeram nascer para “história da humanidade”. É dizer: enquanto seus
corpos caíam ao chão defenestrados pelos golpes do “herói” colonizador, eles passavam
a existir enquanto uma variedade da população humana a quem era necessário
apresentar os desígnios do Criador e os quais era interessante conhecer a fim de
adicionar mais um verbete ao catálogo antropológico.
No começo da tarde de uma quarta-feira, desembarquei em Águas Belas do ônibus que
havia tomado cedo, na rodoviária de Recife. Única passageira com aquele destino, desci
pelas portas do coletivo e sem olhar para os lados, peguei rapidamente minha mochila
no bagageiro e sentei-me no banco da calçada defronte à casa que fazia as vezes de
terminal rodoviário. Atrás da tela do celular, tentava me esconder dos olhares curiosos
das pessoas que passavam por aquela via calçada por paralelepídos montadas em suas
motos, dirigindo seus carros, sentadas na carroceria de caminhões, ou caminhando sob
o abrigo de um céu ensolarado que a sombrinha de alguns tentava esquivar. Com o
telefone em mãos eu também tentava, sem sucesso, contato com Awassury – o jovem
fulni-ô com quem vinha trocando mensagens depois de sermos apresentados por um
amigo em comum. Depois de quase uma hora sentada, “sozinha e rodeada de meus
equipamentos”, achei por bem interromper aquela “cena malinowskiniana” antes de
sofrer uma insolação e ficar impossibilitada de seguir com o plano para começar o
trabalho de campo. Uma mochila nas costas, outra à frente, ergui a cabeça e pus-me em
direção ao pequeno hotel que o Google me indicava.
Pouco tempo depois, Awassury veio ao hotel e finalmente tivemos a chance de nos
conhecer pessoalmente. Ao me apresentar, contei a ele que a possibilidade de estudar
a planta jurema tinha me motivado a sair do Rio de Janeiro para ir conhecer os Fulni-ô.
Ele me deu uma rápida olhada de viés, esboçou um leve sorriso acanhado e nada
respondeu. Trocamos mais algumas palavras e Awassury me convidou para conhecer a
aldeia. Sob a moto Honda CG 125 dirigida por ele cruzamos, o muro, há dois minutos do
hotel, erguido em tijolo e cimento, que separa os limites da cidade de Águas Belas e da
aldeia. Por entre ele, passam sem cessar jovens e velhos fulni-ô pilotando suas
incontáveis motocicletas em direção à cidade ou trazendo de lá sacolas cheias com as
compras do supermercado. Em uma rua contígua àquela que dá entrada à aldeia,
encontrei, nesse primeiro dia, uma pequena concentração de pessoas sentadas na
lateral da igreja de Nossa Senhora da Conceição, de frente a uma padaria que seria
inaugurada no final da tarde. Awassury me apresentou como a pessoa que tinha saído
do Rio de Janeiro para estudá-los. Sentados, tomando uma garrafa de água, dois homens
e uma mulher, jovens, riram para mim e passaram a conversar divertidamente com
Awassury sobre o nome escolhido para batizar a padaria, “Pão da aldeia”. Parece que
tinha havido todo um debate anterior na escolha da alcunha adequada e eles estavam
animados para a festa de inauguração que ocorreria mais tarde com a participação de
uma banda de forró Fulni-ô.
Não demorou muito, chegou Xicê, um homem em vistas de completar seus 60 anos, tio
da esposa de Awassury. Na mão ele trazia uma pequena bolsa plástica que guardava o
celular que tinha acabado de comprar na cidade. Sentando ao meu lado, Xicê me
pergunta o que eu queria estudar ali. Respondi que anteriormente estudara tabaco
entre populações ameríndias, que também me interessava pelas plantas, mas que não
tinha havia decidido um tema único para a pesquisa. Ele, então, logo se apresentou
como adequado aos meus interesses, pois era um grande conhecedor das plantas
medicinais, possuía, inclusive, um laboratório de manipulação para as ervas e já havia
colaborado para a composição de um livro sobre aquele conhecimento. Me perguntou
quanto tempo eu ficaria para ele poder preparar as coisas para me mostrar. Respondi,
“trinta dias” e, com cara de espanto, ele assentiu levemente com a cabeça. Comentei
que estava querendo alugar um quarto dentro da aldeia e ele falou que sua casa era o
ideal, lá eu podia pagar a mesma diária de R$50 da pensão onde eu estava e além de
hospedagem eu teria à disposição o conhecimento dele. Para obter isso tudo, Xicê falou,
“o pessoal paga é R$150 por dia”. Naquele primeiro encontro, Xicê também logo me
advertiu sobre as condições para o aprendizado: “era um conhecimento da para vida
toda” e “havia coisas que eu não podia saber”.
Seguindo por entre as ruas da aldeia, do centro até a ponta da rua, casas de arquiteturas
variadas alinham-se uma ao lado da outra com suas dimensões diversas. Todas são
construídas com alvenaria e o acabamento das fachadas costumam denotar a situação
financeira de seus habitantes. Os Fulni-ô dependem de dinheiro para suprirem suas
necessidades materiais. Vivem em um espaço, contíguo à cidade, onde não há área para
plantio, nem animais para a caça. O córrego que margeia a aldeia é completamente
poluído. Além disso não há água potável para consumo próprio, menos ainda para irrigar
plantações ou manter criações de animais. A Funai fornece cestas básicas às famílias, o
exército manda carros-pipa, porém as distribuições não são suficientes, e eles precisam
complementar o sustento de suas famílias. Contudo não há muitas formas de obter
renda. Muitos recebem benefícios do governo, como bolsa família ou aposentadoria por
idade. Alguns fazem artesanato com palha e saem para vendê-lo fora da aldeia, no Rio
de Janeiro ou São Paulo, por exemplo, no mês de abril, por ocasião das celebrações pelo
dia do índio. A situação não é de abundância, contudo já foi pior.
Muitos fulni-ô, atualmente, têm oportunidades de estudar fora da aldeia e de Águas
Belas e se formam nas mais diferentes profissões. O médico que atende no posto da
Funasa, por exemplo, é fulni-ô, os enfermeiros igualmente. O próximo dentista, que
prestará atendimento será um fulni-ô recém-formado, os agentes de saúde são nascidos
e criados na aldeia, os professores da escola indígena também. Muitos desses jovens e
adultos que hoje possuem uma situação financeira mais favorável são filhas, de pais que,
nas décadas de 1970, migraram pioneira e isoladamente para outras cidades a fim de
obter instrução formal e que, ao retornarem, posteriormente, foram lotados em cargos
administrativos da Funai. Outros compõem a primeira geração de suas famílias que
obtiveram a chance de adquirir qualificação profissional. Não posso precisar o número
de fulni-ô que saiu, nos últimos anos, para estudar fora da aldeia ou mesmo de
Pernambuco, mas algo que me parece notório é que a maioria que sai para estudar,
retorna à aldeia depois de um tempo, e lá permanecem, mesmo que isso signifique ficar
desempregado.
Depois de passar doze dias no quarto do pequeno hotel e de não poder encontrar com
os Fulni-ô com a regularidade que eu gostaria, Awassury me mandou uma mensagem
dizendo que já estava tudo acertado em relação à minha mudança para a casa de sua
irmã Suyane, localizada na ponta da rua. Ela acabara de chegar da aldeia do povo Kariri-
Xocó, situada na cidade alagoana de Porto Real do Colégio, para onde tinha ido com seu
marido e sua pequena filha, Sanawá, em visita aos sogros e na intenção de participar do
ritual religioso conhecido como Ouricuri que havia começado por lá, em meados de
janeiro. Na tarde do dia posterior, Awassury foi me buscar e me levou à casa de Suyane.
Apesar de não compreender o yaatê, a língua nativa do Fulni-ô, falado entre os irmãos
percebi que aquela não era a melhor hora para minha chegada. Ela me disse que não
tinha tido tempo ainda de arrumar a casa depois que voltara da viagem. Eu disse que
tudo bem, que, se preferisse eu podia voltar depois, ou que eu também podia ficar e
ajuda-la na arrumação. Assim fizemos.
No final da tarde, sob uma forte chuva, cuja água Wide aproveitava para encher a
cisterna, limpamos o chão e os móveis dos três quartos, sala, cozinha, copa e do
banheiro, que ficava do lado externo da casa. Logo que comecei a varrer, Suyane me
advertiu que eu não podia entrar, em nenhuma circunstância, na suíte que ela dividia
com Wide, “pois ali tinham coisas de índio”. Desde aquele dia, evitei olhar na direção do
quarto, mesmo estando a porta trancada, a maior parte das vezes. Finalizada a
arrumação, jantamos e passamos a conversar de maneira mais demorada. Antes de nos
sentarmos à varanda, onde Suyane e Wide passaram a fumar um fumo de corda num
cachimbo que eles chamam xanduca, ela havia me contado que sua casa era como um
ponto de hospedagem para visitantes, pois desde que seu avô morrera, a casa de sua
mãe, localizada no centro da aldeia, onde Awassury também morava com a esposa,
tinha se tornado um local interditado à presença de não indígenas em virtude das
frequentes atividades religiosas que lá aconteciam, principalmente no período noturno.
A mãe de Suyane e Awassury é uma senhora, de nome Marilena, muito respeitada e
conhecida na comunidade. Era uma sexta-feira quando ela me convidou para almoçar
em sua casa atendendo a um pedido meu para conhecê-la. Para a refeição havia os
alimentos que os fulni-ô estão acostumados a comer no dia-a-dia: arroz, feijão, salada
de verduras, farinha e carne. Naquele dia fora servido um peixe ensopado com pirão
preparado por Awassury com auxílio de sua esposa Ubirânia e da funcionária doméstica
que trabalha para a família.
Depois do almoço, Dona Marilena me levou para conhecer a escola bilíngue que ela
havia fundado ainda na juventude, na década de 1970, para que as crianças e jovens
pudessem aprender o yaatê, pois muitos desconheciam a língua fulni-ô já que o
português havia se disseminado como idioma corrente. Ela comentou que estava indo
à escola para fazer uma reunião com os professores e para dar uma palestra aos alunos.
Entre as residências fulni-ô, numa rua perpendicular ao centro da aldeia, a escola de
Dona Marilena é composta por um pátio interno ao qual se chega pelo portão de
entrada, a partir do qual estão alinhados dois corredores com salas de aula. Dona
Marilena me levou a uma pequena salinha que parecia fazer as vezes de secretaria
escolar onde estava sentada uma professora que trabalhava no turno noturno, mas que
estava ali aquela tarde para registrar novas matrículas. Ficamos conversando sobre a
vontade dela em fazer antropologia até que Dona Marilena mandou me chamar ao
pátio. Sentadas em círculo, dezenas de crianças, umas bem pequenas, se acomodavam
para ouvir a fundadora da escola. Dona Marilena falava expressões em yaatê que os
pequenos fulni-ô em coro repetiam. Eu observava, sentada em uma cadeira que
colocaram para mim acima de um pequeno palco, ela corrigir a pronúncia das palavras
e falar da importância de eles conversarem na própria língua com seus pais e avós. Dona
Marilena perguntou se eu não gostaria de filmar aquela bonita exibição de seus alunos.
Logo depois, pediu desculpas aos alunos por não poder cumprir a promessa que os havia
feito anteriormente de ensinar-lhes alguns os aspectos sagrados do mundo fulni-ô e
justificou a impossibilidade pelo fato de estar presente entre eles uma antropóloga, que
era muito bem-vinda, mas que não podia saber dos segredos. Depois da palestra, Dona
Marilena passeou comigo de carro por entre a aldeia e a ponta da rua e me disse que
não podia hospedar em sua casa não-indígenas, sobretudo agora que Awassury fora
escolhido o novo pajé dos Fulni-ô.
Desde dezembro passado, os Fulni-ô estão vivendo um tenso processo político que
envolve a destituição à revelia do cacique e do pajé antigos e a nomeação de novas
pessoas para o cargo. Uma vez escolhido para a função de pajé, Awassury me contou
com certo pesar que precisou abandonar o curso de Direito que vinha cursando na UnB
para se dedicar exclusivamente à missão. Suyane, em mais de uma ocasião, lamentou
comigo, algumas vezes emocionada, esse problema que os Fulni-ô enfrentavam. O
quanto a divisão da aldeia, entre a minoria que permanecia legitimando a posição dos
antigos pajé e cacique e a maioria que havia lhes destituído do cargo a despeito de se
tratarem de posições vitalícias. Em suas reflexões, que partilhava comigo, quase sempre
à mesa do almoço, ela comentava que o individualismo e o materialismo tinham tomado
conta das pessoas e que isso vinha destruindo a sociabilidade de seu povo. Que o ritual
religioso, Ouricuri, que realizam anualmente, no decorrer dos meses de setembro a
dezembro, era ainda a única oportunidade que eles ainda tinham de viverem juntos, de
acordo com os princípios ideais. E que foram fatos ocorridos no último Ouricuri, que se
organiza por uma sequência de atos que recontam a história de seus ancestrais, ela me
contou certa vez, que os Fulni-ô decidiram romper, de forma inédita, com a regra
vitalícia do exercício dos cargos de pajé e cacique e destituir as antigas lideranças – que
já não lhes agradava havia um tempo. Depois que tomaram a decisão, por meio de
muitas conversas, eles “oficializaram-na” por meio de um abaixo assinado contendo
mais de 3 mil assinaturas que entregaram à Funai e ao Ministério Público, órgãos que
contudo, disseram não poder interferir nas questões políticas internas.
Apesar da percepção negativa que os Fulni-ô parecem nutrir em relação ao casamento
com não indígenas, tais uniões são bastante frequentes. Além daqueles nascidos das
uniões com brasileiros, haviam grogojôs com ascendentes estrangeiros, tais como
alemães, espanhóis, italianos, norte-americanos e cubanos. A única maneira dos
grogojôs poderem participar do ritual do Ouricuri e, assim, integrarem a comunidade
fulni-ô, era serem iniciados nas cerimônias desde a mais tenra idade. Isso levou, me
contou Suyane, a uma mulher fulni-ô (que era grogojô e se casou com um americano) a
mandar sua filha recém-nascida, sozinha, em um vôo que partiu dos Estados Unidos com
destino à Recife. Como a situação migratória dessa mulher não estava regularizada, ela
não podia deixar o país estrangeiro para acompanhar a filha, mas isso não a impediu de
entrega-la aos cuidados de uma aeromoça para que a pequena fosse iniciada no Ouricuri
que estava para começar.
Em minha última semana de campo, o centro da aldeia foi enfeitado para a realização
da festa que realizam todos os anos para a qual pessoas não-indígenas são convidadas
a participarem dos diversos eventos e festividades (como dança do toré, corrida de
jegues, shows das bandas locais, campeonatos de futebol, etc.). Esse é o único período
também em que a pequena igreja se abre para a celebração de missas com o pároco da
cidade e que se realiza uma procissão para Nossa Senhora da Conceição. Esse ano,
porém, a festa foi boicotada pelos Fulni-ô uma vez que as organizou foram as antigas
lideranças, dois homens que já não possuem mais, entre a maioria dos Fulni-ô, a
legitimidade para proceder a qualquer tipo de iniciativa. Para encher a igreja, no
primeiro dia de festa, e evitar o completo fracasso da festividade, o antigo pajé
conseguiu convencer os Fulni-ô, conhecidos como Xixiaclá, que vivem em uma espécie
de aldeia rural localizada a 3km da aldeia urbana. Ainda assim, a festa não triunfou.
Questões para uma etnografia dos possíveis
Minha intenção inicial junto aos Fulni-ô era a de conduzir uma pesquisa a partir dos
agenciamentos da planta jurema que eu supunha possuir centralidade naquela
sociocosmologia. Um colega antropólogo – após conhecer alguns homens Fulni-ô na
cidade fluminense de Petrópolis em uma “vivência” indígena em que se preparavam e
bebiam infusões daquela planta – visitou-os na aldeia no ano de 2016, e, ao voltar,
compartilhou comigo que acreditava ser lá um locus interessante para eu conduzir uma
pesquisa de campo sobre a jurema. Após defender dissertação sobre o interesse
ameríndio voltado a planta de tabaco, minha ideia era seguir, no doutorado, focalizando
as “plantas de poder” apostando na rentabilidade teórica que o tabaco havia me
mostrado possuir para os povos indígenas sul-americanos, ao operar como espécie de
“dobradiça” entre dimensões internas e externas daqueles mundos. Minha aposta era
que a jurema poderia abrir a sociocosmologia indígena em direção a sociocosmologia
afro-brasileira uma vez que essa planta também está presente em religiões de matriz-
africana praticadas principalmente no nordeste brasileiro. Tais ilações constituíam-se
em hipóteses muito vagas e que vem ficando ainda mais tênues.
Antes de chegar ao campo, estava com muito receio do que os Fulni-ô iriam achar de
mim à primeira vista. A literatura antropológica que havia lido, antes de chegar lá,
contribuía, e, muito, para que eu me sentisse daquele jeito: destaca-se em vários
escritos a desconfiança característica desse grupo indígena em relação aos
pesquisadores; falava-se até em queima de etnografia imprópria por revelar “segredos
culturais” - aquela escrita por Estevão Pinto, em 1956 (FOTI, 2011). Ciente de que o
sucesso da prática antropológica depende da qualidade das relações constituídas entre
o pesquisador e o grupo de pessoas com quem se deseja pesquisar, tinha medo de ser
despachada logo no primeiro dia, de fazer perguntas impróprias, de me expressar mal.
Assim, desde minha partida, período que andava lendo textos da filósofa belga Isabele
Stengers para um trabalho de disciplina, o que mais afligia me não era propriamente
minha capacidade de tolerá-los, ou de conjurar a maldita tolerância que viesse a sentir
como nos exorta a autora, mas o fato se os Fulni-ô seriam (ou melhor, serão) capazes
de me tolerar.
Os Fulni-ô tem um contato forçado com a sociedade ocidental desde o século XVII. São
íntimos, assim, do interesse alheio pelo seu modo de vida e por suas terras. Estão
acostumados a receber pesquisadores e outros tipos de curiosos. Ninguém, até o
momento, me questionou sobre o que faz uma antropóloga, eles sabem, e, acredito
que, por isso, repetidas vezes, me questionam sobre o recorte temático da pesquisa.
Pensando nos termos de Stengers, os Fulni-ô me impõe a habilidade de saber fazer
antropologia na presença deles. Eles fazem juízo sobre o meu ofício, tomam a palavra
sobre mim. Tem suas próprias ideias do que é a sociedade que eu pertenço e de como
ela se distingue da que eles pertencem.
A aldeia em que os Fulni-ô vivem tem muitas características urbanas, suas casas são de
armação de concreto, quase todos se locomovem de moto ou carro, e as roupas que
usam são iguais aos dos habitantes de Águas Belas. Não há assim uma diferença que
salte aos olhos de quem os vê desde a cidade. A baixa “distintividade cultural” que esses
grupos indígenas do nordeste possuiriam em relação à sociedade brasileira é
compreendida, dentro da etnologia brasileira, como uma categoria marcante desses
povos, a qual justificaria o desinteresse dos pesquisadores (em relação aos povos
indígenas amazônicos, por exemplo) e o não reconhecimento estatal e acesso aos
direitos específicos (CARVALHO & REESINK, 2018). A maior parte da antropologia que se
fez sobre esses grupos, guiou-se pelas categorias de identidade e etnicidade e buscou
descrever elementos culturais marcadores de uma indianidade. Ademais, relacionou-se
os processos de afirmação identitária desses povos a uma necessidade por território a
que todos os grupos humanos estariam submetidos.
Minha pouca experiência em campo tende a confirmar o que se diz sobre a interdição
aos não-indígenas do conhecimento das particularidades de seus rituais sagrados, da
cosmologia de seus mundos, etc. Mas minha pouca experiência também me mostrou
que essa dimensão, longe de constituir um domínio separado da vida dos Fulni-ô, ao
qual eles só recorreriam a fim de afirmar suas identidades perante as pessoas não
indígenas e o estado brasileiro e que eles precisariam manter escondido como quem
esconde um tesouro do branco pilhador - atravessa as ações cotidianas e os discursos
do dia-a-dia. Praticamente todos os dias escutei sobre fatos corriqueiros ocorridos no
último Ouricuri, quase todos os Fulni-ô me falavam da percepção e importância daquele
ritual em suas vida. Diante disso, creio que a questão do segredo, se é um limite para a
pesquisa junto aos Fulni-ô certamente não é o no sentido geográfico daquilo que
encerra e separa os Fulni-ô do outro e impede qualquer ato comunicativo, se é um
limite, creio que seja mais no sentido matemático, daquele que descreve o
comportamento de uma função na medida que seu argumento se aproxima de um
determinado valor, o segredo, pregnante que é àquela vida, funcionaria então como
uma espécie de vetor que aponta para as dimensões que importa àquela vida. A chave
do enigma não seria, creio, decifrá-lo, mas segui-lo, uma vez que a partir dele os Fulni-
ô se enredam em sucessivos processos de diferenciação.
Certo dia, acompanhei Isnar – primo de Suyane que me ajudou no campo com
entusiamo – em uma de suas caminhadas, na saída de Águas Belas. Como é um jogador
de futebol, reconhecido por suas habilidades, ele tem o hábito de se exercitar
diariamente para manter a forma física, no auge de seus quase cinquenta anos. Entre
uma passada e outra, falávamos sobre os limites do território Fulni-ô, e de um processo
de revisão que está parado na Funai há alguns anos, e eu comentei, com certa
indignação, que seria difícil aquilo se concretizar devido à política bélica do nosso atual
presidente. Sem mudar de humor, Isnar disse que o atual presidente “não iria fazer nada
contra eles”, desconsiderando que ele tivesse qualquer força. Retruquei dizendo que as
pessoas, em geral, e incluindo ele, não estavam acreditando do que o eleito era capaz.
Mas Isnar mais uma vez desdenhou dos meus alertas. Disse que, “na verdade, eu não
podia entender, mas que aquele presidente não tinha nenhum poder sobre os Fulni-ô,
que eu podia não acreditar, mas que ele sabia”. Que “quando o presidente pensasse em
prejudicar os Fulni-ô, os espíritos que os protegem os avisariam antes, o plano estaria
arruinado”.
Pois bem, nesses tempos em que a “alteridade tende a perder toda a aspereza” como
diz GUATARRI (2001 [1989], p.8), estou interessada em compreender e etnografar o
comum (no termos de Stengers) em torno do qual os Fulni-ô se reúnem e o que os “faz
pensar, imaginar, criar, de modo que o que cada um faz importa para os outros”. Não
estou interessada propriamente nos sinais diacríticos expressivos de sua cultura
particular, mas, se posso dizer assim, aos seus pertencimentos, à força presente em suas
vidas e que os permitem ser outra coisa que nós. Se Isnar se sente forte e capaz diante
do horror que mais vez se instala diante dos indígenas e de nós encarnadas nas figuras
abjetas que tomam o poder atualmente é certamente porque os Fulni-ô não
desaprenderam a reunir-se em torno de um comum que os permite criar quase
infinitamente um campo de possíveis de modo a reiventar suas vidas contitnuamente e
resisitir às barbáries que o ocidente vem-lhes impondo há trezentos anos.
Você também pode gostar
- Atividade 2 - 3 ABCD - IV Unidade - 13seta18setDocumento2 páginasAtividade 2 - 3 ABCD - IV Unidade - 13seta18setEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Fala Congresso LucineiaDocumento5 páginasFala Congresso LucineiaEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Atividade 3 - 2 ABCDEF - III UnidadeDocumento1 páginaAtividade 3 - 2 ABCDEF - III UnidadeEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Os Fulni-ô no Nordeste: por uma etnografia dos possíveisDocumento14 páginasOs Fulni-ô no Nordeste: por uma etnografia dos possíveisEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Sociologia - Professora Ellen apresenta atividade do ENEMDocumento5 páginasSociologia - Professora Ellen apresenta atividade do ENEMEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Lapenda 1965 PerfilDocumento21 páginasLapenda 1965 PerfilEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Gabarito 1 Dia Caderno 1 Azul 2 Aplicacao PDFDocumento1 páginaGabarito 1 Dia Caderno 1 Azul 2 Aplicacao PDFEllen F. GusaAinda não há avaliações
- 2020-02-08 12-25Documento1 página2020-02-08 12-25Ellen F. GusaAinda não há avaliações
- MNA824ellen AraujoDocumento9 páginasMNA824ellen AraujoEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Ciencias HumanasDocumento55 páginasCiencias HumanascortesebAinda não há avaliações
- Fala Dirigida A Alunos Da Graduaçã0Documento7 páginasFala Dirigida A Alunos Da Graduaçã0Ellen F. GusaAinda não há avaliações
- Cópia de Texto NansiDocumento6 páginasCópia de Texto NansiEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Prova SociologiaDocumento14 páginasProva SociologiaEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Edital Convoca Provas PDFDocumento5 páginasEdital Convoca Provas PDFMaicon DiasAinda não há avaliações
- Tex - #01 - O Signo Da Serpente - 2 EdiçãoDocumento132 páginasTex - #01 - O Signo Da Serpente - 2 EdiçãoEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Parecer Ellen LicencDocumento2 páginasParecer Ellen LicencEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Despesas CorrentesDocumento23 páginasDespesas CorrentesEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Tex - #01 - O Signo Da Serpente - 2 EdiçãoDocumento132 páginasTex - #01 - O Signo Da Serpente - 2 EdiçãoEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Esque MaDocumento2 páginasEsque MaEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Ellen Fernanda N Araujo - CV PROFA.Documento3 páginasEllen Fernanda N Araujo - CV PROFA.Ellen F. GusaAinda não há avaliações
- Ellen Fernanda N Araujo - CV PROFA PDFDocumento2 páginasEllen Fernanda N Araujo - CV PROFA PDFEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Esque MaDocumento2 páginasEsque MaEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Memóia Gengibre - EllenDocumento1 páginaMemóia Gengibre - EllenEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Prof Mestre SociologiaDocumento2 páginasProf Mestre SociologiaEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Artigo - Libras - Ellen Fernanda Natalino AraujoDocumento13 páginasArtigo - Libras - Ellen Fernanda Natalino AraujoEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Memóia Gengibre - Ellen PDFDocumento1 páginaMemóia Gengibre - Ellen PDFEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Enade - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio TeixeiraDocumento2 páginasEnade - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio TeixeiraEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Artigo - Libras - Ellen Fernanda Natalino AraujoDocumento13 páginasArtigo - Libras - Ellen Fernanda Natalino AraujoEllen F. GusaAinda não há avaliações
- Dossie VQCDocumento1 páginaDossie VQCEllen F. GusaAinda não há avaliações
- 6º Ano Estudos Amazônicos 1º SemestreDocumento51 páginas6º Ano Estudos Amazônicos 1º SemestreAdriana Ipiranga100% (1)
- Resultado preliminar concurso público CRF-PIDocumento14 páginasResultado preliminar concurso público CRF-PIJunio OliveiraAinda não há avaliações
- Panteão Brasileiro de A À ZDocumento8 páginasPanteão Brasileiro de A À ZHelena PereiraAinda não há avaliações
- Tapanhuns, Negros Da Terra e CuribocasDocumento28 páginasTapanhuns, Negros Da Terra e CuribocasMaria Do CarmoAinda não há avaliações
- 25905-Texto Do Artigo-29971-1-10-20120618Documento14 páginas25905-Texto Do Artigo-29971-1-10-20120618Fernanda PittaAinda não há avaliações
- Angyone Costa - 1939 - Migrações e Cultura Indígena Ensaios de Arqueologia e Etnologia Do BrasilDocumento289 páginasAngyone Costa - 1939 - Migrações e Cultura Indígena Ensaios de Arqueologia e Etnologia Do BrasilTatipsique Tatiana SccpAinda não há avaliações
- A máfia dos medicamentos falsosDocumento17 páginasA máfia dos medicamentos falsosCarla SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Historia 7 Ano 3 Bimestre ProfessorDocumento29 páginasApostila Historia 7 Ano 3 Bimestre ProfessorTricia Carnevale88% (8)
- O Fracasso Escolar Como Culpa Do Aluno: A Escola Como FábricaDocumento100 páginasO Fracasso Escolar Como Culpa Do Aluno: A Escola Como FábricaJales RenanAinda não há avaliações
- Edgard Leite: Notórios Rebeldes: A Expulsão Da Companhia de Jesus Da América Portuguesa.Documento306 páginasEdgard Leite: Notórios Rebeldes: A Expulsão Da Companhia de Jesus Da América Portuguesa.Textos de Edgard LeiteAinda não há avaliações
- Diversidade cultural dos povos indígenas do BrasilDocumento31 páginasDiversidade cultural dos povos indígenas do BrasilBrincando com AliciaAinda não há avaliações
- Memórias em conflito sobre a colonização do Planalto da ConquistaDocumento223 páginasMemórias em conflito sobre a colonização do Planalto da ConquistaElis Silva Voluntária100% (1)
- Patrimônio cultural desconsiderado do Lajedo de SoledadeDocumento31 páginasPatrimônio cultural desconsiderado do Lajedo de SoledadeArsmagneticaAinda não há avaliações
- Cultura Yanomami na contemporaneidadeDocumento2 páginasCultura Yanomami na contemporaneidadebeatriz almeidaAinda não há avaliações
- Trabalho de HIstoria 2Documento35 páginasTrabalho de HIstoria 2Eliel jrAinda não há avaliações
- Genoveva Santos Madijá Ritual Do Ajié PDFDocumento146 páginasGenoveva Santos Madijá Ritual Do Ajié PDFRaial Orutu PuriAinda não há avaliações
- O pensamento mestiço de GruzinskiDocumento5 páginasO pensamento mestiço de GruzinskiJuliana SouzaAinda não há avaliações
- Pan-Indianidade do NMAIDocumento238 páginasPan-Indianidade do NMAIhilaineAinda não há avaliações
- Indios PataxosDocumento3 páginasIndios PataxosLourival FilhoAinda não há avaliações
- Índios Tamoios: Aliança indígena que resistiu à colonizaçãoDocumento10 páginasÍndios Tamoios: Aliança indígena que resistiu à colonizaçãoIasmimAinda não há avaliações
- Plano de Producao de Girassol100%Documento19 páginasPlano de Producao de Girassol100%humbertoAinda não há avaliações
- RFCM2 - Negros (Pretos e Pardos) (NE) - Ensino Médio - Médio Técnico - Assistente em AdministraçãoDocumento15 páginasRFCM2 - Negros (Pretos e Pardos) (NE) - Ensino Médio - Médio Técnico - Assistente em AdministraçãoEugenio AfrobrasAinda não há avaliações
- Variaçao Dentaria Nas AmericasDocumento14 páginasVariaçao Dentaria Nas AmericasgabrielaAinda não há avaliações
- Quilombolas e IndígenasDocumento6 páginasQuilombolas e IndígenasProf Jussara LiraAinda não há avaliações
- TCC Fusione Della CucinaDocumento111 páginasTCC Fusione Della CucinamurangaaAinda não há avaliações
- História dos povos indígenas do Espírito SantoDocumento11 páginasHistória dos povos indígenas do Espírito SantoFrancesco SuannoAinda não há avaliações
- A Arqueologia ColaborativaDocumento11 páginasA Arqueologia ColaborativaRafael Lemos de SouzaAinda não há avaliações
- Os Índios Carijós Nos Primórdios de Conselheiro LafaieteDocumento3 páginasOs Índios Carijós Nos Primórdios de Conselheiro Lafaietenilzacantoni100% (2)
- Resultado inscrição CFS 2 2023Documento874 páginasResultado inscrição CFS 2 2023Débora AlmeidaAinda não há avaliações
- As 7 Faces Do Dr. Lao0001Documento119 páginasAs 7 Faces Do Dr. Lao0001Newton Boccia100% (2)