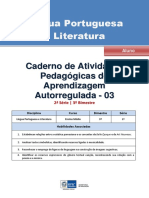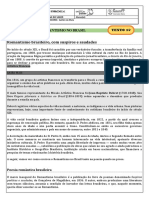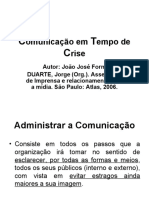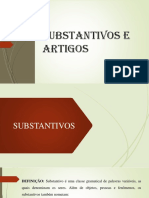Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Entrevista relembra pioneira do jornalismo baiano Zilah Moreira
Enviado por
WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVA100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
59 visualizações6 páginasA entrevista resume a carreira da pioneira jornalista Zilah Moreira no jornalismo baiano. Zilah foi a primeira correspondente mulher do jornal O Estado de S. Paulo na Bahia durante a ditadura militar e ajudou a criar a primeira sucursal do jornal no estado. Ela cobriu eventos importantes como as mortes dos guerrilheiros Carlos Marighella e Carlos Lamarca.
Descrição original:
Título original
NAVARRO FALA DA MORTE DE LAMARCA
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoA entrevista resume a carreira da pioneira jornalista Zilah Moreira no jornalismo baiano. Zilah foi a primeira correspondente mulher do jornal O Estado de S. Paulo na Bahia durante a ditadura militar e ajudou a criar a primeira sucursal do jornal no estado. Ela cobriu eventos importantes como as mortes dos guerrilheiros Carlos Marighella e Carlos Lamarca.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
59 visualizações6 páginasEntrevista relembra pioneira do jornalismo baiano Zilah Moreira
Enviado por
WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAA entrevista resume a carreira da pioneira jornalista Zilah Moreira no jornalismo baiano. Zilah foi a primeira correspondente mulher do jornal O Estado de S. Paulo na Bahia durante a ditadura militar e ajudou a criar a primeira sucursal do jornal no estado. Ela cobriu eventos importantes como as mortes dos guerrilheiros Carlos Marighella e Carlos Lamarca.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
ENTREVISTA / CARLOS NAVARRO
IMPRENSA EM QUESTÃO
Lembranças de uma pioneira no jornalismo baiano
Por Washington Fagner Abreu Ramos Amorim em 12/09/2011 na edição 659
Neste ano de 2011 comemoram-se 200 anos do jornalismo baiano. O surgimento do
jornal Idade D’ouro do Brasil, também chamado de Gazeta da Bahia, em 14 de maio de
1811, foi o marco no trabalho da imprensa. De lá para cá, inúmeros jornais foram
surgindo no estado, como Diário da Bahia (1856), Diário de Notícias(1875), Jornal da
Bahia (1853),A Tarde (1912), Jornal da Bahia (1958)e Correio da Bahia (1978). Mas
na comemoração deste bicentenário é importante lembrar de uma das mais importantes
jornalistas que a Bahia criou. Estou falando de Zilah Moreira, a primeira correspondente
mulher do jornal O Estado de S. Paulo na Bahia durante a ditadura militar e uma das
pioneiras no estado.
Zilah Moreira teve sua história marcada no jornalismo baiano devido aos constantes
embates com o, à época, prefeito de Salvador e, posteriormente, governador da Bahia
Antonio Carlos Magalhães. Zilah Moreira ainda fez a cobertura das mortes dos
guerrilheiros Carlos Marighella e Carlos Lamarca e foi uma das responsáveis pela
criação da primeira sucursal do O Estado de S. Paulo na Bahia. Para contar a história
desta jornalista, conversei com o também jornalista Carlos Navarro, que ingressou
no Estadão através de Zilah Moreira e que, por muito tempo, foi o chefe de redação da
sucursal baiana. Zilah Moreira faleceu em 25 de fevereiro de 2007, em decorrência de
uma infecção hospitalar, depois de uma cirurgia de correção do fêmur, aos 85 anos de
idade.
“Naquela época ainda existiam repórteres”
Como o senhor ingressou no jornalismo? Por que escolheu a profissão? Qual foi o
primeiro veículo?
Carlos Navarro– Eu faço jornalismo desde garoto. Com 14 anos de idade eu tinha um
programa de rádio,A Voz do Estudante, lá em Alagoinhas (108 Km de Salvador) e
pouco tempo depois me engajei em uma turma que editou uma revista local
chamada Revistinha Cometa. Já fazia política estudantil e me engajei na política
convencional. Fiz vestibular para jornalismo, passei e vim estudar em Salvador.
Simultaneamente, quando passei no vestibular, um amigo de Alagoinhas chamado Alan
Garcia, que já morreu, trabalhava no Jornal da Bahia e me levou para trabalhar lá.
O jornalismo era muito diferente naquela época?
C.N.– Era muito diferente. Naquela época ainda havia repórteres. O sujeito que recebe a
pauta e vai para a rua apurar, investigar e trazer a informação de volta a redação. É bem
diferente de hoje porque não havia computador, não havia internet. O repórter tinha que
ir pessoalmente, as entrevistas eram presenciais, o sistema telefônico era precário,
principalmente se fosse fora de Salvador, no interior do estado, por exemplo. Naquela
época, eu diria que ainda existiam repórteres, um sujeito que vai para a rua pedir
informação. Hoje, em qualquer redação, o sujeito recebe três, quatro pautas, na sua
mesa mesmo ele levanta, telefona, vai no Google e produz as suas matérias. Acho que
essas matérias são tão pasteurizadas, tão iguais em todos os jornais, em todos os blogs e
as fontes são praticamente as mesmas.
“Advogada, ela virou jornalista no Estadão”
O senhor era do Jornal da Bahia. O que o fez sair do jornal e ingressar no Estadão?
C.N.– É. Eu comecei no Jornal da Bahia, quando passei no vestibular em 1969 e um
ano e meio depois eu entrei no O Estado de S. Paulo justamente pelas mãos de Zilah
Moreira. Haviam alguns repórteres novos no Jornal da Bahia e quem mais se destacava
era eu e Mariluce Moura, uma moça que se mudou para São Paulo e era uma repórter
brilhante. E tinham pedido a Zilah um repórter para ajudá-la. Na época, ela era
correspondente do Estadão. Então, ela me contou depois que tinha eu e Mariluce e
aquele que chegasse primeiro na redação no dia que ela estava lá, que era um dia de
sábado, ela escolheria para fazer a entrevista com o Carlos Garcia que era o diretor da
sucursal de Recife. Isso no final de 1970. A Bahia, politicamente no jornal, pertencia a
Pernambuco que era a única sucursal que tinha no Nordeste. Normalmente todo
moleque faz farra na sexta-feira, especialmente em redação, e era um dia que eu nunca
chegava cedo. Mas, nesse dia quem se atrasou foi Mariluce e foi ai que Zilah me
escolheu. Ela me perguntou se eu queria conversar com o Garcia e foi assim que eu
entrei no Estadão.
E como Zilah Moreira ingressou no jornal?
C.N.– A história de Zilah é curiosa no jornalismo. O irmão dela era jornalista, chamado
Roschild Moreira. Trabalhava no jornal A Tarde e era correspondente do Estadão. Isso
nos anos 60, não me lembro muito bem. Talvez início dos anos 60. E o Roschild
morreu. Como tinha filhos pequenos, o jornal, para ajudar a família – porque naquela
época as pessoas não eram contratadas, eu mesmo só fui contratado quatro anos depois
de entrar no Estadão – e mantiveram Zilah até como maneira de ajudar as crianças até
elas atingirem a maioridade. O jornal era um jornal de família e não como é hoje, uma
empresa. Então as pessoas gostaram da Zilah e ela foi ficando. Zilah era advogada, não
era jornalista. Ela aprendeu na prática, pela tenacidade dela. Era muito despachada. Sem
nunca ter feito jornalismo, de repente começou a fazer matéria, cobrir esportes e assim
ela virou jornalista no Estadão. Naquele tempo, o jornal não tinha sucursal, não tinha
base aqui. Então ela se instalou no Jornal da Bahia, talvez pela ligação da família
Mesquita com João Falcão, não sei direito. E Zilah ficava lá porque naquele tempo você
passava as matérias por telefone, ou por rádio (Western) ou pelo telex. E o Jornal da
Bahia tinha o telex.
“Ela escrevia os textos à mão e o teletipista datilografava”
Tinha outras mulheres no jornalismo baiano naquela época? E no Estadão aqui na
Bahia, teve outras ou pode-se dizer que ela foi pioneira?
C.N.– Foi em 1969 que houve a regulação da profissão, com a nova legislação da
ditadura. Manteve aquelas pessoas que não tinham diploma, até porque aqui na Bahia os
jornalistas eram advogados, ou faziam filosofia. Então, com a regulamentação, os
jornais começaram a procurar estudantes de jornalismo. Nessa época, no Jornal da
Bahia, estavam todas estudando, Mariluce Moura, Ana Sampaio, Lúcia Ferreira.
Na Tribuna da Bahia havia pouquíssimas, uma ou duas mulheres, Evanice Santos e uma
morena que não me lembro o nome. Eram pouquíssimas.
É verdade que no início ela fazia reportagens de todas as editorias? Era fácil para ela?
C.N.– Olha, para outras mulheres talvez fosse difícil. Não para Zilah Moreira. Com a
desenvoltura dela, com a espirituosidade ela entrava em qualquer lugar. Para ela poderia
ser um estádio de futebol, um palácio do governo. Zilah era muito arisca. Falava muito,
procurava e investigava.
Até então ela era correspondente. Como e quando o Estadão decidiu implantar uma
sucursal de fato?
C.N.– Ficamos eu e Zilah até 1973 quando foi criada a sucursal. Criada a sucursal, veio
um diretor de São Paulo, o Cleonte Pereira de Oliveira, e aí nos começamos a produzir
matérias em um outro nível de trabalho que já não era mais correspondência. Éramos no
início três ou quatro repórteres. Passei a chefiar a reportagem e produzíamos cinco, seis
matérias por dia. Começamos primeiro ali no Edifício Bráulio Xavier, na frente da
Praça Castro Alves. Agora com a sucursal já funcionando, nessa época já trabalhava eu,
Pedro Formigle, Carlos Gonzáles, Fernando Escariz. Então, a sucursal ganhou um
dinamismo de redação. Nós tínhamos pautas discutidas, ou propostas por Salvador ou
propostas por São Paulo. E não tinha muito sentido estar Zilah neste corre-corre. Ela já
era uma senhora. Então ela ganhou uma sala, ficou na área administrativa, como chefe
da sucursal, e fazia as reportagens, mas no ritmo dela, tipo uma matéria especial, um
pedido de São Paulo e que não precisasse do corre-corre. Me lembro que no começo
Zilah nem datilografava. Ela escrevia os textos à mão para Simão Alves, que era o
teletipista, datilografar.
“O cara se suicidou com quatro tiros nas costas”
E como era a relação do jornal com a sucursal? Como eram enviadas as reportagens?
C.N.– O Estadão tinha uma coisa positiva. Respeitava o seu trabalho. Era conservador,
mas protegia o repórter dele. O jornal podia até não publicar a matéria, mas também não
alterava.
Ela participou diretamente ou indiretamente da cobertura das mortes de Carlos
Lamarca e Carlos Marighella?
C.N.– A morte de Marighella, eu não estava no jornal. Mas a morte de Lamarca, Zilah
cobriu também. Eu fui fazer para o Jornal da Bahia e Zilah foi comigo para o Estadão.
A cobertura da morte de Lamarca dividiu o Estadão. Dois repórteres foram para o local
onde ele tinha sido morto. E outro grupo ficou aqui. Eu estava no Jornal da Bahia nesta
época. E vi, cheguei a tocar no corpo de Lamarca no Nina Rodrigues. Além das marcas
de bala, ele tinha umas marcas em baixo, mas não era de balas, parecendo que enfiaram
o sabre nele. E aí o famoso Charles Pittex, um legista que colocava o charuto no dedão
do pé do defunto, disse que era bala. Eu me lembro que as pessoas que falaram disso fui
eu, Zilah e uma menina repórter do jornal O Globo e falamos que aquilo não era bala,
era marca de sabre. Charles Pittex confirmou. Mas, um agente de segurança disse para
gente que nós não tínhamos visto nada e que tudo aquilo ali era marca de bala. E
ninguém publicou nada, nem eu nem a menina do Globo, nem Zilah. E Zilah esteve ao
meu lado o tempo todo. O caso de Iara, mulher de Lamarca, é um caso que eu acabei
assistindo. Zilah chegou e me disse: “Aconteceu um tiroteio na Pituba, vai pra lá.” Eu
fui. E aí, duas coisas: primeiro ninguém sabia quem era Iara, eles não divulgavam,
fomos saber depois. Mas nesse dia teve um caso interessante: um cara foi morto com
quatro tiros nas costas e o coronel Luiz Arthur (chefe da Polícia Federal na Bahia) disse
que ele se matou, que se suicidou. Ai disse que o cara se matou com quatro tiros nas
costas. E nesse dia Iara morreu. Não podíamos entrar porque ela morreu no apartamento
e hoje fica a dúvida se ela se matou ou não, mas me parece que ela realmente se matou
para não se entregar. Nós voltamos para a redação. Invariavelmente, o coronel Luiz
Arthur chegava na redação com um papelzinho na mão dizendo assunto tal proibido e
ninguém podia dizer nada.
“Por muitos anos, Zilah foi minha chefe”
Ela é famosa também pelos conflitos com o ex-governador Antônio Carlos Magalhães?
Houve um tempo em que o próprio político pediu a cabeça de Zilah Moreira
no Estadão?
C.N.– Ela se destacou muito aqui quando ousou na ditadura “bater” em Antonio Carlos
Magalhães. Quando falo em bater é publicar matérias que não agradava Antonio Carlos.
Antonio Carlos, então, começou a persegui-la. Ele ainda prefeito, não era nem
governador. Quando eu entrei no Jornal da Bahia estava no início de uma briga com
Antonio Carlos. Antonio Carlos se desentendeu com João Carlos Teixeira Gomes e
começou a perseguir o Jornal da Bahia. Não chegou a fechar, mas quase destruiu o
jornal. No início, a redação tinha 35, 40 pessoas, ficaram seis ou oito. E Zilah,
possivelmente influenciada por esse clima de reação a Antonio Carlos, fez matérias que
não agradaram a ele, que ameaçou demiti-la. Naquele tempo, os Mesquitas tinham
pavor de Antonio Carlos. Já não estavam bem com a ditadura. O Estadão ajudou a fazer
o golpe de 64, mas logo depois rompeu devido à censura a imprensa. Zilah era tão
espirituosa que ia para as entrevistas coletivas e peitava Antonio Carlos. Isso deu-lhe
muita notoriedade, até porque o Estadão garantia e divulgava e foi exemplo para todo
mundo, com a coragem de encarar um poderoso e, ainda mais, na ditadura.
Eu soube que ela simpatizava muito com o ex-governador Roberto Santos. Mas ele não
foi governador indicado pelas Forças Armadas?
C.N.– Eu acho que Zilah não tinha ideologia política. Se fosse olhar por esse lado, ela
seria uma conservadora até porque ela era de uma família tradicional daqui, pelos
costumes, pela cultura dela, não tinha nada de revolucionária. Agora eu mesmo fui
amigo de Roberto Santos. O motivo era porque nós brigávamos com Antonio Carlos.
O jornal deixou de circular alguma vez, neste período?
C.N.– Não, nunca deixou de circular. O que acontecia era que se tinha uma matéria que
falava mal de Antonio Carlos, o malote que chegava aqui ou ele comprava tudo na mão
do distribuidor ou ele mandava apreender no aeroporto.
Como era sua relação com Zilah Moreira?
C.N.– Por muitos anos, Zilah foi minha chefe. Ela era a correspondente e eu era uma
espécie de repórter auxiliar, embora eu fosse jornalista e ela não. As coisas com São
Paulo todas eram tratadas com Zilah. Quando instalou a sucursal, Zilah meio que
chefiando a parte administrativa e eu chefiando a redação.
“Ela dirigia mal pra burro”
Por que ela saiu do jornal?
C.N.– Tenho impressão que Zilah se aposentou no início dos anos 80, porque em 88 nós
nos mudamos para o Max Center e Zilah já não estava mais conosco. Saiu para se
aposentar.
Para o senhor, qual a importância de Zilah Moreira para o jornalismo baiano?
C.N.– A vida e o trabalho distância as pessoas. Quando deixei o jornal, tive que sair de
Salvador porque aqui eu não podia trabalhar – Antonio Carlos não deixava. Boa parte
dos meus amigos estavam trabalhando no governo, mas mesmo assim eu não ia
conseguir nada. Fui para São Paulo fazer campanha política e só voltei para Salvador
em 2004 para a campanha de Nelson Pelegrino. Sou muito amigo do sobrinho dela,
Marquinhos Moreira. Conversávamos muito por telefone, mas de Zilah eu tinha só
notícias através de amigos em comum. Mas como Zilah já não andava mais nas
redações e eu vim para cá para fazer uma campanha, depois fui para a Prefeitura, fiquei
lá seis meses e saí para ir para o Tribunal de Justiça. Então eu fiquei um pouco afastado.
Mas claro que eu fui informado da morte dela, fui para o velório, fui para o enterro e
claro que entristeceu todo mundo.
Um caso interessante.
C.N.– Isso é um caso importante. Em 1965, o dr. Julio Mesquita veio aqui para
Salvador. Não sei se tinham preparado uma recepção para ele, mas foi Zilah que o foi
recebeu no aeroporto, com um fusquinha todo velho arrebentado. Ele circulou pela
Bahia, dispensou carro oficial que o governo botou à disposição com batedor e tudo e
saía só com Zilah no fusquinha dela. Luiz Viana era o governador. Então ele ia com
Zilah para as reuniões com Luiz Viana. Estava recém-inaugurado o Hotel da Bahia. E
Zilah dirigia mal pra burro, era barbeira.
*** [Washington Fagner Abreu Ramos Amorim é jornalista, Salvador, BA]
Fonte:
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_lembrancas_de_uma_pioneira_
no_jornalismo_baiano
Você também pode gostar
- Avaliação Sujeito-PredicadoDocumento4 páginasAvaliação Sujeito-PredicadokadumeisAinda não há avaliações
- Impasses Da Cultura Moderna No Brasil-2Documento6 páginasImpasses Da Cultura Moderna No Brasil-2Anna Mathias do Nascimento100% (1)
- Guia de Língua Portuguesa no 2o AnoDocumento2 páginasGuia de Língua Portuguesa no 2o AnoAlissandra Santos100% (1)
- Literatura - Pré-Vestibular Impacto - Arcadismo - Neoclacissismo - Aspectos GeraisDocumento2 páginasLiteratura - Pré-Vestibular Impacto - Arcadismo - Neoclacissismo - Aspectos GeraisLiteratura Qui100% (1)
- Atividade de PortuguêsDocumento3 páginasAtividade de PortuguêsJelmacel JuniorAinda não há avaliações
- Jogo Das ConjunçõesDocumento30 páginasJogo Das ConjunçõesPAULO HENRIQUEAinda não há avaliações
- Atividade 2 Quem Escolhe o Que Eu Vejo TI 1A e BDocumento4 páginasAtividade 2 Quem Escolhe o Que Eu Vejo TI 1A e BhigorsgamesAinda não há avaliações
- Atividade A Vida É Uma ArteDocumento10 páginasAtividade A Vida É Uma ArteHelida MendonçaAinda não há avaliações
- A avaliação do telefone no passado e presenteDocumento11 páginasA avaliação do telefone no passado e presenteAnonymous ywG0ZNR9F67% (6)
- Aula Revisão RomantismoDocumento17 páginasAula Revisão RomantismoMichele de OliveiraAinda não há avaliações
- A Política Cultural No Município de MucajaíDocumento15 páginasA Política Cultural No Município de MucajaíThiago Almeida de CarvalhoAinda não há avaliações
- Análise Da Música Paisagem Na JanelaDocumento3 páginasAnálise Da Música Paisagem Na JanelaGivas DemoreAinda não há avaliações
- Ementa - Língua PortuguesaDocumento3 páginasEmenta - Língua PortuguesaRonaldo CardosoAinda não há avaliações
- Projeto Café Literário (7º Ano Ao 9º Ano)Documento2 páginasProjeto Café Literário (7º Ano Ao 9º Ano)Kelvin SousaAinda não há avaliações
- A linguagem poéticaDocumento46 páginasA linguagem poéticaAna Paula Homobono PintoAinda não há avaliações
- 3 Fase Do Pós Modernismo - Poesia e ProsaDocumento3 páginas3 Fase Do Pós Modernismo - Poesia e ProsaAdauto Rafael FlügelAinda não há avaliações
- O Colocador de Pronomes - AnáliseDocumento3 páginasO Colocador de Pronomes - AnáliseSandra DiasAinda não há avaliações
- Amigos, influências e Projeto de VidaDocumento5 páginasAmigos, influências e Projeto de VidaLussandra Marquez MeneghelAinda não há avaliações
- Planejamento história 8o ano crise Antigo RegimeDocumento5 páginasPlanejamento história 8o ano crise Antigo RegimeANA PAULA ALBUQUERQUE100% (1)
- Unidade Curricular - Paixão Razão e ConsumoDocumento34 páginasUnidade Curricular - Paixão Razão e ConsumoPaula Maria da Silva Gomes FerreiraAinda não há avaliações
- Pad CHLDocumento8 páginasPad CHLrafael santiagoAinda não há avaliações
- Caderno Período Diagnóstico Língua Portuguesa - Avaliação Inicial 2022Documento8 páginasCaderno Período Diagnóstico Língua Portuguesa - Avaliação Inicial 2022Israel GonzagaAinda não há avaliações
- Parnasianismo e SimbolismoDocumento4 páginasParnasianismo e SimbolismoAdeeh Way CarvalhoAinda não há avaliações
- TD de Recuperação 1º Ano SociologiaDocumento2 páginasTD de Recuperação 1º Ano SociologiaEEEP Dona Creusa do Carmo RochaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino 4º Bimestre 2016 - História 2° e 3° Ano Ensino MédioDocumento6 páginasPlano de Ensino 4º Bimestre 2016 - História 2° e 3° Ano Ensino MédioMarcos KellerAinda não há avaliações
- A Origem Da Agricultura No EgitoDocumento1 páginaA Origem Da Agricultura No EgitoWELINGTON Juarez TávoraAinda não há avaliações
- Poesia de Cecília Meireles analisa o significado do fazer poéticoDocumento2 páginasPoesia de Cecília Meireles analisa o significado do fazer poéticoMaria Celma Vieira SantosAinda não há avaliações
- Lendas e origensDocumento4 páginasLendas e origensSuellen AmorimAinda não há avaliações
- 73 Jogos Sobre A ÁfricaDocumento79 páginas73 Jogos Sobre A ÁfricaTatipsique Tatiana SccpAinda não há avaliações
- Proposta - Carta Do LeitorDocumento1 páginaProposta - Carta Do LeitorKarina PereiraAinda não há avaliações
- AS - Literatura Norte-AmericanaDocumento15 páginasAS - Literatura Norte-AmericanaAna Paula VillelaAinda não há avaliações
- Ciranda pernambucana: aprendendo sobre a dança e cultura nordestinaDocumento14 páginasCiranda pernambucana: aprendendo sobre a dança e cultura nordestinaXavier Raphael BarbosaAinda não há avaliações
- Plano de Aula ArcadismoDocumento2 páginasPlano de Aula ArcadismoNilknarf SiaromAinda não há avaliações
- SLIDE: Pré-Modernismo BrasileiroDocumento25 páginasSLIDE: Pré-Modernismo BrasileiroCLARA TEODORO GONÇALVES EVANGELISTA [MARIA CLARA]Ainda não há avaliações
- Violência contra mulher negra em conto de Conceição EvaristoDocumento11 páginasViolência contra mulher negra em conto de Conceição EvaristoSakura HoseokAinda não há avaliações
- A Vida dos Ex-Escravos após a AboliçãoDocumento21 páginasA Vida dos Ex-Escravos após a AboliçãoBrunoVassilievichAinda não há avaliações
- Avaliação Da Aprendizagem em Processo: Língua PortuguesaDocumento16 páginasAvaliação Da Aprendizagem em Processo: Língua PortuguesaWilliam RuottiAinda não há avaliações
- Slides - ApresentaçãoDocumento14 páginasSlides - ApresentaçãoEDUPAinda não há avaliações
- Gêneros textuais HQDocumento11 páginasGêneros textuais HQana cláudia farias pedrozoAinda não há avaliações
- A contribuição cultural africana no BrasilDocumento5 páginasA contribuição cultural africana no Brasileveliz3martinsAinda não há avaliações
- Racismo no Brasil é ignorância de nossas origensDocumento1 páginaRacismo no Brasil é ignorância de nossas origensbetaagosAinda não há avaliações
- Atividade (Traduzida) Enigmas Complexos, Eixo LeituraDocumento3 páginasAtividade (Traduzida) Enigmas Complexos, Eixo LeituraWanderson Pill100% (1)
- Plano de ensino de Português para 1o ano do Ensino MédioDocumento5 páginasPlano de ensino de Português para 1o ano do Ensino MédioThays Maijwski PascalAinda não há avaliações
- Atividade - GABARITODocumento3 páginasAtividade - GABARITOTássylaFeernanda100% (2)
- Teste de Nivelamento de Ingls - Continente 414588 PDFDocumento11 páginasTeste de Nivelamento de Ingls - Continente 414588 PDFluis Fernando souzaAinda não há avaliações
- Arte Povera e MinimalismoDocumento22 páginasArte Povera e MinimalismoGeorgeAinda não há avaliações
- Resenha crítica sobre o gênero resenha e o filme Os MiseráveisDocumento6 páginasResenha crítica sobre o gênero resenha e o filme Os MiseráveisFrederico SodréAinda não há avaliações
- Operários de TarsilaDocumento6 páginasOperários de TarsilaRogiellyson AndradeAinda não há avaliações
- Apostila 12 - Romantismo No Brasil 1Documento13 páginasApostila 12 - Romantismo No Brasil 1api-518632873100% (1)
- 70 pinguins encontrados mortos em praias de FlorianópolisDocumento11 páginas70 pinguins encontrados mortos em praias de FlorianópolisAmanda NovaisAinda não há avaliações
- Mapa Mental LiteraturaDocumento6 páginasMapa Mental Literaturaghostposeidon999Ainda não há avaliações
- Simulado PORTUGUESDocumento4 páginasSimulado PORTUGUESJully BritoAinda não há avaliações
- Projeto didático sobre literatura de cordel na educação básicaDocumento25 páginasProjeto didático sobre literatura de cordel na educação básicaManuel Sena CostaAinda não há avaliações
- Projeto Fake NewsDocumento5 páginasProjeto Fake NewsE.E.Francisco SoaresAinda não há avaliações
- Avaliação de História aborda escravidão e tráfico negreiroDocumento3 páginasAvaliação de História aborda escravidão e tráfico negreirocanegro100% (1)
- A Menina Que Roubva LivrosDocumento3 páginasA Menina Que Roubva LivrosLuciene FonsecaAinda não há avaliações
- Unidades Centro-Sul BrasilDocumento3 páginasUnidades Centro-Sul Brasildanielgospel100% (1)
- Panorama histórico de Antas: Aspectos políticos e culturaisNo EverandPanorama histórico de Antas: Aspectos políticos e culturaisNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- A Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60Documento23 páginasA Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Ensinando História de forma significativaDocumento219 páginasEnsinando História de forma significativaBonifacio Luiz HAinda não há avaliações
- A Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60Documento23 páginasA Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Arquivos Da Ditadura LiberadosDocumento2 páginasArquivos Da Ditadura LiberadosWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Representaçoes Varios AutoresDocumento29 páginasRepresentaçoes Varios AutoresBelinniAinda não há avaliações
- Ensinando História de forma significativaDocumento219 páginasEnsinando História de forma significativaBonifacio Luiz HAinda não há avaliações
- A Sombra Da Tradicao Producao Difusao e Consumo Do Saber Historico No Brasil PDFDocumento15 páginasA Sombra Da Tradicao Producao Difusao e Consumo Do Saber Historico No Brasil PDFWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- A Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60Documento23 páginasA Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Bensaid Nova Escrita Da HistóriaDocumento9 páginasArtigo Sobre Bensaid Nova Escrita Da HistóriaWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- A Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60Documento23 páginasA Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Embaixada Monitorava BrasileirosDocumento2 páginasEmbaixada Monitorava BrasileirosWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Desafios e Caminhos Da Teoria e Da História Da Historiografia PDFDocumento843 páginasDesafios e Caminhos Da Teoria e Da História Da Historiografia PDFWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- História oral como métodoDocumento19 páginasHistória oral como métodoWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Geisel Sofreu Atentado em 77Documento2 páginasGeisel Sofreu Atentado em 77WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Entre A "Arca Do Sigilo" e o "Tribunal Da Posteridade": o (Não) Lugar Do Presente Nas Produções Do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1889)Documento350 páginasEntre A "Arca Do Sigilo" e o "Tribunal Da Posteridade": o (Não) Lugar Do Presente Nas Produções Do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1889)Isadora MalevalAinda não há avaliações
- A Sombra Da Tradicao Producao Difusao e Consumo Do Saber Historico No Brasil PDFDocumento15 páginasA Sombra Da Tradicao Producao Difusao e Consumo Do Saber Historico No Brasil PDFWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Versoes e Controversias Sobre 1964 Carlos FicoDocumento33 páginasVersoes e Controversias Sobre 1964 Carlos FicoWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Estado e Oposição No Brasil ResenhaDocumento5 páginasEstado e Oposição No Brasil ResenhaAmilson Barbosa Henriques100% (1)
- A Arma Da Critica e A Critica Das Armas MR 8Documento229 páginasA Arma Da Critica e A Critica Das Armas MR 8WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- HISTORIA NOVOS PROBLEMAS LE GOFF Jacques NORA PierreDocumento1 páginaHISTORIA NOVOS PROBLEMAS LE GOFF Jacques NORA PierreWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVA50% (2)
- Projeto Andrees TeseDocumento14 páginasProjeto Andrees TeseWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Livro Resgata Seiva Do PCBDocumento4 páginasLivro Resgata Seiva Do PCBWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Cerco Prisoes e TorturasDocumento20 páginasCerco Prisoes e TorturasWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- A Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60Documento23 páginasA Influencia Da Revolução Cubana Na Ação Popular Nos Anos 60WILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- O Que É Ser ComunistaDocumento4 páginasO Que É Ser ComunistaWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Criacoes Da Memoria Defensores e Criticos Da DitaduraDocumento248 páginasCriacoes Da Memoria Defensores e Criticos Da DitaduraDirtskullmanAinda não há avaliações
- Entre o Movimento Estudantil e A Luta ArmadaDocumento24 páginasEntre o Movimento Estudantil e A Luta ArmadaWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Organizações Revolucionárias No Brasil - Frederico Falcão PDFDocumento534 páginasOrganizações Revolucionárias No Brasil - Frederico Falcão PDFribeiroviniciusAinda não há avaliações
- Bona TeseDocumento0 páginaBona TeseAndré Luiz AndreolaAinda não há avaliações
- 17 - Produção de Texto (Carta de Leitor)Documento2 páginas17 - Produção de Texto (Carta de Leitor)Instituto GeniusAinda não há avaliações
- Comunicação em tempos de criseDocumento25 páginasComunicação em tempos de criseAriana RamosAinda não há avaliações
- Ciaar 2013 Ciaar Primeiro Tenente Dentistas Conhecimentos Basicos ProvaDocumento11 páginasCiaar 2013 Ciaar Primeiro Tenente Dentistas Conhecimentos Basicos ProvaAdilsonAinda não há avaliações
- Jornalismo e objetividadeDocumento5 páginasJornalismo e objetividadeefaeffafAinda não há avaliações
- Produção de narrativas com celulares em projeto de extensão na UFRRJDocumento11 páginasProdução de narrativas com celulares em projeto de extensão na UFRRJEvandro MedeirosAinda não há avaliações
- Mario QuintanaDocumento6 páginasMario QuintanaMatías Iglesias CalongeAinda não há avaliações
- Modas femininas do século XIX em Lisboa e Rio de JaneiroDocumento14 páginasModas femininas do século XIX em Lisboa e Rio de JaneiromarciaAinda não há avaliações
- Viva Saúde - Edição 175 - (Dezembro 2017)Documento100 páginasViva Saúde - Edição 175 - (Dezembro 2017)Valnei NascimentoAinda não há avaliações
- Diário de São José relata circulação de nova variante e vacinação de idososDocumento16 páginasDiário de São José relata circulação de nova variante e vacinação de idososMario Mello SouzaAinda não há avaliações
- BARBOSA - Interactividade-A Grande Promessa Do Jornalismo OnlineDocumento10 páginasBARBOSA - Interactividade-A Grande Promessa Do Jornalismo OnlineDicionários EscolaresAinda não há avaliações
- Media 280408Documento35 páginasMedia 280408sonia alvesAinda não há avaliações
- Regras para publicação no Caderno do CedesDocumento6 páginasRegras para publicação no Caderno do CedesEliacir FrançaAinda não há avaliações
- CE A1.1 - Comunicação Social - Processo Da ComunicaçãoDocumento5 páginasCE A1.1 - Comunicação Social - Processo Da Comunicaçãodilermando.netoAinda não há avaliações
- O que é charge? Características e funçãoDocumento3 páginasO que é charge? Características e funçãoPatricia LiberatoAinda não há avaliações
- Bloc 4 - Produção Escrita - TesteDocumento4 páginasBloc 4 - Produção Escrita - TesteIsabel E Rui GuimarãesAinda não há avaliações
- Crônica da velha contrabandistaDocumento2 páginasCrônica da velha contrabandistaVânia GasparAinda não há avaliações
- Simulado Fuvest - 31.220 - PortuguêsDocumento16 páginasSimulado Fuvest - 31.220 - PortuguêsThiago de Paula e SilvaAinda não há avaliações
- Você Aguenta Ser FelizesDocumento1 páginaVocê Aguenta Ser Felizesjp werrAinda não há avaliações
- Minha Primeira Materia ApuradaDocumento20 páginasMinha Primeira Materia ApuradaJoseph SilvaAinda não há avaliações
- Substantivos, artigos e grausDocumento27 páginasSubstantivos, artigos e grausDenise GonçalvesAinda não há avaliações
- Construção de PontesDocumento3 páginasConstrução de PontesAmanda Carrijo SchneiderAinda não há avaliações
- 8documentos Da Comunicação EmpresarialDocumento4 páginas8documentos Da Comunicação EmpresarialYsis MorenoAinda não há avaliações
- Pai fantasiado leva lixo na Espanha para alegrar vizinhosDocumento2 páginasPai fantasiado leva lixo na Espanha para alegrar vizinhosELIZABETE LUCIANI DAS NEVESAinda não há avaliações
- O que é Repertório Legitimado no EnemDocumento2 páginasO que é Repertório Legitimado no EnemRafael MotaAinda não há avaliações
- Aula02 Unidade01 Ed00 Diagramado FinalDocumento12 páginasAula02 Unidade01 Ed00 Diagramado FinalJosé Silvestre da Silva GalvãoAinda não há avaliações
- Proteção Das Mãos PDFDocumento1 páginaProteção Das Mãos PDFagnaldoAinda não há avaliações
- Lingua Portuguesa 5ºbcDocumento2 páginasLingua Portuguesa 5ºbcLuís AugustoAinda não há avaliações
- Manobras Na Casa Branca.Documento2 páginasManobras Na Casa Branca.eugenia_ribeiro_12Ainda não há avaliações
- A Nova Critica de Afranio CoutinhoDocumento5 páginasA Nova Critica de Afranio CoutinhoFabiano de AndradeAinda não há avaliações
- Afirma Pereira - Antonio TabucchiDocumento150 páginasAfirma Pereira - Antonio Tabucchiswitzpaul100% (1)