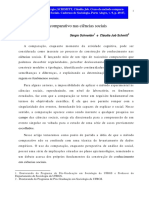Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MIYAMOTO, Shiguenoli - A Questão Ambiental e As Relações Internacionais
MIYAMOTO, Shiguenoli - A Questão Ambiental e As Relações Internacionais
Enviado por
Ana Paula Da Cunha Góes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações26 páginasTítulo original
MIYAMOTO, Shiguenoli - A questão ambiental e as relações internacionais
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações26 páginasMIYAMOTO, Shiguenoli - A Questão Ambiental e As Relações Internacionais
MIYAMOTO, Shiguenoli - A Questão Ambiental e As Relações Internacionais
Enviado por
Ana Paula Da Cunha GóesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 26
A Questao Ambiental e as
Relagoes Internacionais
SmicuenoLt Miyamoto
Doutor em Ciéncia Politica pela USP.
Professor do Departamento de Ciéncia Po-
tien da Universidade de Campinss —
UNICAMP
‘Ao contrétio do ocorrido em 1972, em Estocolmo, quando compare-
ram representantes de pouco mais de uma centena de paises, & Conferéncia
das Nagdes Unidas sobre Meio Ambiente ¢ Desenvolvimento (CNUMAD),
a ser realizada no Rio de Janeiro em 1992, deverdo estar presentes dele-
gagdes de pelo menos 160 Estados.
A quantidade de pessoas previstas, de Estados representados ¢ a cober-
tura dada pela midia mostram a importancia assumida pela questéo am-
biental nos tiltimos anos, principalmente na década de 807.
1A bibliogratia sobre a questo do meio ambiente é extremamente vaste, €
Acessivel a qualquer interessado, principalmente em virtude do grande ntimero de
institulgGes que tem se dedicado 20 tema, Para efeito deste texto sSo feltas apenas
algumas referéncias que dizem respeito diretamente ao seu contetido, mesmo assim
sem qualquer preocupagio em lstar bibliograties, ademais bastante conhecidas.
Embora clente da distingfo que se deve fazer entre ambientalismo e ecologia, o8
mesmos sfo aqui utilizados indistintamente, com significados idénticos. Sobre
esta diferenca conceitual ver. por exemplo. Héctor R. LEIS (org.) — Ecologia €
politica mundial, Rio de Janeiro: Voses/FASE/AIRI/PUC, 1991, pp, 11-12.
2 Nos anos 80, as publicagées sobre ecologia se multiplicaram rapidamente.
Especificamente sobre o tema em aprago consultar: Bernardo PERICAS NETO
— “Melo ambiente e relngées internacionals", Conterto Internacional (8): 9-17,
jan/jun. 1989; Elmar ALTVATER — “Faléncia e destrui¢So: ou de como a crise
Tinanceira internacional e o destruigho da fioresta tropical estéo interligadas”.
Contexto Internacional (10): 7-42, jul/dez. 1989; Mércia JABOR CANIZIO
“Beologia ¢ ordem internacional: uma disctssio sobre os paradigmas de anélise”.
Conterto Internacional (12): 29-52, jul,/dez. 1990.
R. Int. legist. Brasilia. 28 m. VIZ out./dex. 1997 107
A concorréncia pelo local de realizagiio também ¢ outro indicador:
Noruega e o Canadé, que disputaram com o Brasil o privilégio de sediar
© encontro, tinham consciéncia da dimens&o que o assunto representa no
contexto internacional.
O interesse e 08 debates sobre 0 meio ambiente que se tém verificado
nos Gltimos anos nfo sio gratuitos: as chuvas Acidas sobre os Estados
Unidos ¢ 0 Canada, a destruigio da camada de ozdnio, a derrubada das
florestas tropicais, a poluigéo dos ares, dos rios e dos mares tém-se con-
vertido na ordem do dia.
Afinal de contas, todos sio direta ou indiretamente afetados, sem
excegiio, pela queda de qualidade ambiental.
Se as relagSes internacionais se encontram, ainda, grande parte,
estruturadas e amparadas nas teorias de poder, onde as fronteiras so con-
sideradas invioléveis e a soberania alardeada como absoluta, o mesmo nio
pode ser dito sobre as implicagdes de polfticas publicas mal conduzidas,
sem os devidos cuidados com o meio ambiente, fazendo com que as conse-
qiitncias se verifiquem no sé no ambito regional, mas podendo apresentar
implicagdes mundiais.
Desta forma, como resultado da utilizagéo macicga de sprays, a ca-
mada de oz6nio tem sido progressivamente afeteda. Um vazamento de
Petréleo, ainda que involuntério, acaba destruindo tudo ao seu redor, ao
largo de centenas de quilOmetros quadrados, sem respeitar as fronteiras
de qualquer pafs, ¢ com consequéncias ecoldgicas desastrosas.
Como exemplo deste diltimo caso podem ser citados inémeros aci-
dentes ocorridos recentemente: em 24 de margo de 1989, 0 Exxon Valdez
deixou escapar 42 mil toneladas de dleo na entrada do Canal Principe
William, na porcdo sul do Alaska, tendo a empresa responsdvel sido con-
denada a pager US$ 1 bilhdo de indenizagéo por danos & natureza; ® em
8 de fevereiro de 1990, 0 petroleiro USA American Trader derramou um
milhao de litros de petréleo na costa da Califérnia, em frente a cidade de
Huntington Beach; ‘ e do superpetroleiro Haven escoaram pelo menos 30
mil toneladas de petréleo no Mediterrfineo, préximo ao porto de Génova,
em 11 de abril de 19915,
Na Eurésia, Mikhail Gorbachev, por exemplo, assume que somente
nos anos mais préximos a Uniéo Soviética comegou a se preocupar com
8 questo ecolégica, considerando o tema de vital importincia.
Para o dirigente soviético, 0 medo do confronto nuclear sempre res-
tringiu a visio governamental que pricrizou outros assuntos, motivo pelo
3 Cf. Veja, 5-4-80; Folha de S. Paulo, 14-3-91, 2-1,
4 © Estado de S. Paulo, 9-2-90, p. 12.
5 Jornat da Tarde, 18-4-91, p. 12.
108 R. Inf, Hegisl, Brasilia a. 28 on. 112 out./dex. 1997
qual 0s investimentos obedeciam “‘prioridades mais relevantes”. Isto é,
desde 0 inicio da industrializagio do pais, a URSS nfo se preocupara em
prestar tengo para assuntos considerados, naqueles momentos, “secun-
darios”, como o meio ambiente. Além do mais, justifica Gorbachev, as
dimensées do pafs e suas riquezas também encorajaram uma falta de cuida-
dos ecolégicos *.
Por estes motivos, a poluiggo do lago Baikal e do mar Baltico, a
contaminagéo do solo e do ar com residuos de usinas petroquimicas nos
Urais, além da prépria desertificagao do mar de Aral, devido a retirada de
Agua para irrigagio, nunca tinham sido objeto de maiores cuidados.*
O vazamento de gas t6xico da empresa norte-americana Union Carbide
em Bophal, na India, em 1984, ocasionando 1800 vitimas fatais, a bomba
de hidrogénio “esquecida” pelos Estados Unidos no fundo do mar, ao
Sul do Japo, o acidente da usina nuclear de Chernobyl, a poluigo do
ar na cidade do México, a contaminagio do mar Adridtico através de
fosfato e outros poluentes, a erosio da bacia hidrogrdfica do Himalaia, a
chuva 4cida na Polénia, Alemanha e Checoslovdquia, a cianida afetando
95% dos corais filipinos so outros exemplos que podem ser arrolados
para demonstrar que em todo o mundo o pouco zelo para com a natureza
€ visivel ®.
Como se vé, as grandes pottncias, independentemente de ideologias,
sempre tiveram atitudes discutiveis perante o problema ambiental, ainda
que criticas cerradas sejam feitas apenas as nagdes do Terceiro Mundo.
Estes, por sua vez, nada mais tém feito do que repetir os mesmos erros
cometidos pelos Estados Unidos, pela URSS.
Em fungio do desgaste progressivo da natureza, chegando a niveis
alarmantes, ¢ com possibilidade de converter-se em situagdes itreversiveis,
a questéo ambiental tornou-se alvo de atengao cada vez maior nos iltimos
anos.
Assim, a ecologia passou a fazer parte da agenda cotidiana de dis-
cusses dos mais diferentes Estados © entidades internacionais, servindo
6 Mikhail GORBACHEV — “Natureza, direito do homem”. O Ertado ds
8. Patilo, 21-4-90, p. 2.
1 Jornal da Tarde, 14-1-88, Caderno de Sébado, p. 8. Folka de S, Paulo,
14-8-90, 2-1.
um megaton, escorregou e cau no mar, 'a quatro quilémetros de profundidade
sendo que nenhuma providéncia fol tomada para resolver o problema. Cf. Isto
Senhor (1026): 7, 17-6-80; Jornal da Tarde, 14-1-89, Caderno de Shbedo, p. &
}. legist, Basilio a. 28 m. 112 out./dex, 1997 109
inclusive como ponto de referencia para concessio ou néo de fundos para
(os pafses que negligenciam a qualidade de vida ambiental.
Pode-se mencionar aqui instituicdes como o Banco Mundial, que ape-
nas libera recursos quando obtém promessas de que o ecossistema ser&
preservado, ou entfo que cuidados seréo tomados para minimizar os danos,
através de relatérios de impacto ambiental.
As agéncias internacionais de financiamento e as grandes potincias
— aqui entendidas como os paises altamente industrializados — ao agirem
desta maneira obviamente entendem o concerto das relagdes internacionais
com ética distinta dos paises do Terceiro Mundo, operando com 0 conceito
de soberania restrita, ou compartifhada, relegando a idéia de inviolabili-
dade territorial e de ndo ingeréncia em assuntos internos de outros Estados.
‘Uma anilise ainda que superficial do funcionamento do sistema inter-
nacional € suficiente para confirmar que esse comportamento € rotineira-
mente adotado pelas grandes poténcias quando seus interesses sio coloca-
dos em jogo. Mas estes mesmos palses jamais aceitam que principio idén-
tico se Ihes aplique.
Como detentores de poder econdmico e militar, e possuindo tecnolo-
gia mais avangada, controlam todas as instituigdes importantes, fazendo
com que a ordem internacional seja ditada de acordo com a sua vontade €
conveniéncia.
Se, ao nivel retérico, discursos se fazem presentes em todos os mo-
mentos, na defesa da soberania deste ou daquele pafs, conclamando 2 inte-
grado e repudiando 0 confflito, a prética das grandes nagtes desmente este
comportamento, comprovando que a igualdade existe apenas no plano das
palavras.
A década de 1980 presenciou muitas atitudes contrariando as normas
que deveriam reger a ordem internacional em busca de paz, ¢ onde 0
temor da guerra fosse deixado de lado. Os Estados Unidos, por exemplo,
desembarcaram em Granada e no Panam; a Unido Soviética continuou
no Afeganistéo, e a Grd-Bretanha guerreou no Atlintico Sul, em defesa das
tetras geladas de sua Majestade, ainda que as ilhas objeto de disputa este-
jam proximas so tertitério argentino, cujo governo reivindica sua posse.
Verifica-se, concretamente, uma distincia enorme entre 0 que se diz ¢
aquilo que se faz. O que, realisticamente falando, néo deve ser motivo de
assombros maiores, porque as relagdes internacionsis nfo se apéiam apenas
em concepgées sonhadoras de paz universal, mas moldam-se, em grande
parte, pela étice do conflito.
Néo custa lembrar que a propria expressio Nagtes Unidas, utilizada
pela primeira vez por Franklin D. Roosevelt, em 1.° de janeiro de 1942,
em plena guerra, na "Declaragio das Nagdes Unidas", constitulase em
no
Inf, legis. Brasilia a, 28 1,
/dex, 1991
um compromisso de guerra quando representantes de 26 pases se dispu-
seram a Jutar contra as poténcias do Eixo,®
Enquanto se fala na necessidade de entendimento para a manutengo
da paz mundial e para colocar fim as desigualdades s6cio-econémicas, pat
ses como os Estados Unidos agem atendendo exclusivamente seus inte-
resses e impondo condigdes a propria Organizagio das Nagdes Unidas,
como de fato ocorreu na guerra movida contra o Iraque, & frente de uma
alianga. 1°
A instrumentalizagfio das entidades como a Organizagio das NagGes
Unidas (ONU), ou a Organizagdo dos Estados Americanos (OEA), pelas
grandes poténcias faz com que as intervengdes destas em assuntos
ticos de outros paises sejam até mesmo legitimadas em detrimento dos
objetivos fixados pelas prprias organizagdes, Ou seja, as relagdes de for-
ca, de poder, ainda so determinantes na cantexto internacional.
Se este modo de agir faz parte do cotidiano das politicas desenvolvi-
das pelas poténcias na defesa de seus interesses politicos, ideolégicos, eco-
nOmicos ou estratégico-militares, buscando resguardat suas soberanias, neste
caso percebidas como invioliveis, idéntica postura € reproduzida no ém-
ito da questo ambiental.
Na verdade sempre houve grandes obstdculos para que @ questo ant
biental fosse tratada a contento, e visando apenas o bem comum. £ um
problema antigo, embora s6 nas wiltimas trés décadas tenha adquirido uma
dimenséo verdadeiramente universal.
Defende-se a necessidade urgente de melhorar a qualidade de vida €
de manter a paz, mas paises como os Estados Unidos e a Unifio Soviética
(hoje abalada em seu império), mantém seus arsenais atOmicos; assinam
tratados restringindo os mfsseis nucleares, mas no os eliminam definitiva-
mente. Nem mesmo diminuem cua capacidade destrutiva, visto que a
reducdo quantitativa de misseis de curto e médio aleance nio implica na
perda qualitativa de poder.
Como diz Henry Kissinger, ao comentar a ordem internacional, logo
depois do acordo START (Acordo para redugdo de armas estratégicas),
“aps as redugdes estipuladas, o némero de ogivas ficou apenas ligeira-
9. Tais palavras foram posteriormente incorporadas & propria ONU, entidade
malor de toda a histéria da Humanidede, que estabeleceu como fim, em seu
art, 19 “manter » paz eo seguranca internacionals, e, para isso, tomar coletiva-
mente medidas efetivas para evitar ameacas & paz e Teprimir os atos de agressio”.
Antonio José FERNANDES — Organtzagdes politioas internacionais, Lisboa: Bdi-
tarlal Presenga, 1980,
10 Algumas considerag6es sobre este confiito podem ser encontradas em
Christian G. CAUBET — As verdades da guerra contra o Traque. Sho Paulo:
Académica, 1991.
R. Inf. legist. Brasilia a. 2B nm. 132 out./dex. 1997 m1
mente menor que o da época do inicio das negociagées. Mas o sumento
do grau de preciso dos misseis compensa a pequena redugdo nfimerica”,
As desconfiangas miituas reinantes entre as duas superpoténcias, to-
davia, sempre fizeram com que a politica de equilfbrio de poder prevale-
cesse. 42 Mesmo as providéncias tomadas com a distensio iniciada nos
anos 70, primeiro com os acordos SALT, seguides de outros, coms o
assinado por Gorbachev e Reagan, em Washington, em 1987, reatringindo
os misseis de médio alcance instalados na Europa, até o START, nunca
foram suficientes para colocar ponto final ao equilfbrio do terror.
Tanto é assim que o overkill de ambos os Estados permanece inal-
terado, ainda que medidas sejam periodicamente tomadas, como em setem-
bro de 1991, quando os, Est Estados Unidos anunciaram a redugéo unilateral
de misseis nucleares téticos, seguidos pela URSS que prometeu adotar
idéntica posigéo poucos dias depois, no inicio de outubro.
E também nao abrem miio de sua condicdo de dominadores da ordem
mundial (pelo controle do Conselho de Seguranga e demais setores da
propria ONU), se bem que estes gestos recentes de Washington e Moscou
podem ser um novo marco no relacionamento internacional, culminando
com eventual liquidagao, até mesmo das armas nucleares de longo alcance.
Durante anos o tema do inverno nuclear se converteu, inclusive, em
uma das grandes bendeiras levantadas contra a possibilidade de uma guer-
ra atémica, mas que nunca sensibilizou significativamente os governantes
das grandes poténcias. O projeto norte-americano “Guerra nas Estrelas””
€ um dado constatével da defasagem entre intengfo e ago, pois, enquanto
negociam a paz, investimentos em tecnologia militar sio realizados envok
vendo cifras de bilhdes de délares,
‘Assim, o proprio deputado Les Aspin, presidente da Comissio das
Forgas Armadas da Cfimara dos Deputados norte-americana denunciou
que o orgamento de defesa para 1991, estimado em 291 bilhées de délares,
sofreria uma redugdo de apenas 500 milhdes de délares.
A ameaga de um conflito nuclear se constituiu, até recentemente, no
perigo maior A destruicgio do meio ambiente, incluindo a prépria Huma-
nidade.
A longa noite de guerra frie finalmente terminou, sepultando, pelo
menos em principio, 0 confronto ideolégico reinante desde a Segunda Guer
11 Cf, Henry KISSINGER — “‘As superpoténcias na nova ordem interna-
clonal”, O Estado de S. Paulo, 13-8-01, p. 2.
a 4 billeratfia que trate do esnunto 6 ample, motivo pelo qual escuso-me
de menciond-la
1s cr, vee 24 (40): 87, 2-10-91.
Wz R. Inf. legis, Brasilia o. 28 n. 112 out./dex. 1991
1a Mundial. Todavia, os armamentos nucleares acumulados sfo ainda pro-
va suficientemente forte para colocar em divida as resis intengdes das
grandes poténciais em desfazer-se um dia de seu poder atémico.
Os intimeros esctitos de Henry Kissinger, que nunca considerou a Unifio
Soviética completamente insuspeita, sempre deixam margem a incertezas
sobre as manifestagdes pacifistas de seu pais pois a0 ponderar a consti-
tuic&o dos grandes blocos, alertava para a necessidade de a Organizagio
do Tratado do Atlntico Norte (OTAN), pensar a defesa da Europa ligada
diretamente & dos Estados Unidos. Certamente contra seu tinico opositor em
termos estratégico-militares, 0 poder soviético. *
‘As transformagdes do império soviético, com a glasnot ¢ a perestroika
comandadas por Gorbachev, também tem-se demonstrada insuficientes para
convencer © governo ameticano de que nfo hé mais nenhum perigo a
temer.
A ascensiio de Boris Yeltsin, ao cenério internacional, face aos acon-
tecimentos de agosto de 1991, com a redistribuigéo do poder soviético,
também indica claramente que a questéio nuclear nfo € algo resolvido. Nao
séo gratuitas as divergéncias apresentadas entre as reptiblicas para esta-
belecer quem ficaria com os arsenais atémicos espalhados por toda a Unifio
Soviética.
Apesar de no se falar em conflitos com outras poténcias, os arma-
mentos nucleates continuam sendo elementos imprescindiveis no jogo de
cena do poder mundial, tanto por parte de Washington quanto de Moscou.
Dessa forma, o perigo de destruigéo do meio ambiente permancce e, na
prética, os acordos até agora realizados pouco representa, ao n{vel estra-
tégico-militar, jé que se mantém inalterada a capacidade militar de am-
bos os paises.
Prevalecendo no cenério mundial as relagdes de poder, é Sbvio que o
dominio da tecnologia nuclear & de vital importéncia para se ocupar papel
de realee no mundo.
Por isso, aqueles que nao faxem parte do clube atémico igualmente
buscam alcangar o dominio da tecnologia nuclear, visando, com isso, & pos-
sibilidade de possuir sua propria bomba, como € 0 casa do Brasil e de
outros paises, ainda que se ressalva sempre que o objetivo dos programas
nucleares visa a fins pacificos.
Intimeras so as nages que sempre se posicionaram contrérias a0
Tratado de NaoProliferasdo Nucleer (TNP), como é 0 caso da Franga
Cf. Henry KISSINGER — “EUA buscam um papel na nova OTAN",
0 itodo des Paulo, ‘4-12-89, p. 42.
KR. Inf, legisl, Brosilio a. 28m. 112 out./dex. 1991 na
e da China. Mais proximos, o Brasil e a Argentina adotam posigio seme-
thante, ainda que recentemente tenham se manifestado favordyeis & assi-
natura do tratado de 1968, dependendo, Sbvio, de outras negociagSes,
No caso brasileiro hé uma dubiedade de comportamento: enquanto 0
Presidente Fernando Collor em 1990 langava uma pé de cal nas instalagdes
da base de Cachimbo, a Secretaria de Assuntos Estsatégicos (SAE) utili-
zava, no primeiro semestre de 1991, 65 milhdes de délares em projetos
secretos, de conteddo militar, evidentemente.
Nao se deve esquecer, também, que quando se propés, por iniciative
de Brasilia, a criagio de uma “Zona de Paz e de Cooperacéo no Atlantica
Sul”, as Forgas Armadas exigiram que ficasse nitidamente caracterizada
a diferenca entre desmilitarizagao e ndo-militarizagdo. *
A corrida armamentista, com investimentos da ordem de bilhdes de
délares, efetuados por varios paises, em nada contribui para recuperar ou
melhorar as condigées ambientais do mundo. Os governantes declaram-se
politica e economicamente contrarias & degradagio do meio ambiente, mas
a0 nivel estratégico-militar tomam decisées que contrariam frontalmente
seus discursos. Tal afirmaggo € verdadeira tanto para os paises desenvol-
vidos, quento para aqueles outros que almejam fazer parte do clube atOmi-
co.
O armamento nuclear ¢, sem divida alguma, o t6pico que mais preo-
cupagdes tem causado & sociedade internacional, motivo pelo qual emergt-
ram, a partir dos anos 60, movimentos pacifistas em grande quantidede,
mormente na Europa, palco e espélio dos dois grandes conflitos.
fo & questéo da guerra, as chuvas dcidas, a camada de oz6nio,
das populagées indigenas, ¢ a destruiggo principalmente das
florestas tropicais, converteram-se nos grandes temas que tém mobilizado
e sensibilizado a’ opiniéo piblica mundial.
A prépria exploragao da Antértica tem sido igualmente objeto de aten-
80 € alvo de cobica, tanto por parte dos grandes paises, quanto de outros
que, procurando garantir seu quinhéo, instalaram bases ¢ tealizatam pes-
quisas para prover que tém direita adquirido sobre a regido. "
15 Cf. Resenha de Politica Bzterior do Brasil, ntimero especial sobre “Zona
de Pas e de Cooperacéo no Atiéntico Sul”, edicdo suplementar, dezembro de 1966.
16 Apenas para efeito de ilustracKo consultar: Carlos J. MONETA “Antértida,
ordem Antértida? Fatores econdmicos, estratégicos ‘
siletra de Politica Internacional, XXII (89-92): 129-174, 1960 e os ensalos de
XH, R. LEIS ¢ Clovis Brigageo, th Héctor LETS (org.), op. ett.
na R, lof, tegist, Beanie a. 28 on. 192 out./dex. 1991
Considerada a iltima fronteira, com riquezas inexploradas, pelo me-
nos & Antértica foi proibida toda atividade de minerago ou prospecgio
petrolifera até 2041, conforme estipulou a Conferéncia Antértica reali-
zada em Madrid, em abril de 1991, ¢ que contou com a presenga de 26
paises.
No cémputo geral, todavia, as recomendasées feitas no encontro de
Estocoimo, em 1972, nic tém ‘sido levadas a sério pelos paises que 16
compareceram. 1?
A queda acentuada da qualidade de vida, fundamentalmente dos paises
subdesenvolvidos, e mesmo dos industrializados, parece ter alertado 0s go-
vernos de que providéncias precisam ser tomadas para reduzir conseqiién-
cias de politicas incompetentes.
£ certo que nos anos 70 algumas demonstragSes de boa vontade sur-
giram, como o proprio relatério Brandt.
As divergéncias sobre como resolver os problemas, entretanto, tém
sido maiores que as solugdes, impedindo que medidas eficazes sejam ado-
tadas,
© obstéculo maior e que normalmente bloqucia os entendimentos €
justamente quando sc vao estabelecer os custos ¢ beneficios das resolu-
‘G6es a seem tomadas, ¢ sobre quem vai cair a responsabilidade de arcar
com os prejutzos. Ou seja, como nenhuma das partes se dispde a exercer
tal papel, as negociagdes prolongam-se durante largo tempo, enquanto a
situago interna dos paises pobres vai se tornando cada vez mais aguda,
seja pelas suas proprias contradigées internas, com quadro politico-insti
tucional pouco consistente, falta de planejamento adequada, até o endivi-
damento externo. '*
As tentativas de resolver os problemas globais, com resultados pouco
favordveis aos paises do Terceiro Mundo, tornam visiveis as razées por
que as politicas a serem implantadas caminham a passos vagarosos.
12 Para uma observagSo répida sobre a Conferéncia de Estocolmo e parti-
trabalho encontram-se, ainda, a Declaragfo de Estocolmo, 0 Plano de Agso de
Estocolmo e & Declareséo de Nairobi.
18_ Willy BRANDT — Norte-Sur — un programa para la supervivencia. Bo-
goté: Editorial Pluma Ltde., 1980.
19 Sobre o funcionamento do sistema internacional, os mecanismos de nego-
clagho, ver por exemplo, Celso LAFER, Paradaros ¢ possibitidades, Rio de Janeiro.
Nova Fronteira, 1982.
RIF. Nasi 28 n. 112 owt,/dex. 1991 M5
Os culpados também sfio facilmente identificados, pelo menos na ética
dos patses pobres. Segundo estes, so os pa(ses industrializados os respon-
sfiveis pela aceleracio da queda de nivel de vida. Ou seja, os paises ricos
que jé alcancaram apreciével desenvolvimento cientifico tecnolégico, a
custa da destruigio de seu meio ambiente, tentam agora impor solugdes a0s
outros, Assim, o alerta € para que nao imitem seu préprio modelo de
desenvolvimento, o que acarretaria conseqiiéncias desastrosas para as gera-
ges futures.
Para os paises subdesenvolvidos, reduzir a destrvigdo do meio am-
biente implica na necessidade de os demais apresentarem contrapartida,
isto é, transferéncia de tecnologia e fundos que compensem a utilizagio
menor de seus recursos naturais. E que os pafses ricos também abram
mio de seu elevado consumo, utilizando menos elementos comprometedo-
res da natureza como 0 clorofluorcarbono (CFC).
Sobre este comportamento adotado pelos paises pobres, € interessante
anotar aqui, observacio feita por Lord WAYLAND KENNET, no mesmo
ano da Conferéncia de Estocolmo, Ao refutar as solicitagées dos pafses
industrializados para que se preocupassem com o meio ambiente, os paises
pobres utilizavam-se dos seguintes argumentos: “Compreendemos as suas
preocupages econdmicas, Nao hé divida de que estragaram os seus paises.
Também apreciamos a sua preocupagSo para que nao repitamos 08 seus
erros. Contudo, é precisamente o que pensamos fazer. Vocts desenvolve-
ram os seus paises e os poluiram, visto que o seu povo era pobre, Agora
‘0 seu povo é rico e Vocés querem limpar o ambiente. Os nossos povos
so pobres, muitos est&o de fato morrendo de fome, e pensamos fazer como
Vocés fizeram, e pagar mais tarde. Naturalmente se Vocés estiverem dis-
postos a nos pagar agora para nos desenvolvermos de mancira limpa €
ecolégica, ai a questéo seria outra”. *°
Pode-se Jembrar aqui também frase atribuida ao entéo ministro do
Planejamento brasileiro, Joao Paulo dos Reis Velloso, que teria dito qua-
tro meses antes da conferéncia de Estocolmo, em 1972, que, se progresso
é poluigéo, entiio vamos poluir. Tal afirmago, como se sabe, causou dissa-
bores enormes, tendo os membros da comitiva brasileira utilizado depois,
todo © tempo da conferéncia para desfazer 0 equivoco da frase do ex-
ministro, sobre as reais intengdes do governo acerca do assunto, 2
20 Wayland Kennet — “The Stockholm Conference on the Human Envi-
ronment”, International Conciliation, jan./1992, p. 37. Apud G. E. NASCIMENTO
E SILVA — “O melo amblente e a politica exterior”. Revista Brasileira de Politica
Internacional, XK (117-118), 1987/1, p. 58.
1 Ct. O Estado de S. Paulo, 19-5-91, p. 19,
6 TR. inf, legisl. Brosilia a, 28 mn, 112 out./dex. 1991
Pelo que se viu nos anos posteriores, as consideracdes de Lord KENNET
aplicavam-se no s6 aos paises em desenvolvimento, mas a todo o resto
da comunidade internacional, principalmente aos Estados industrializados.
A questio ambiental, contudo, no pode ser pensada, pelo menos 20
nivel das relagdes internacionais, amparada apenas na idéia de que se tem
que eliminar as queimadas, a chuva acida ou o CFC para resolver os pro-
blemas do mundo.
© problema tem uma dimensio mais abrangente e deve ser remetido
& forma como a ordem internacional se encontra constituida, Se sio os
pafses do Terceito Mundo os alyos maiores de criticas, devido A m4 im-
plementacio de suas politicas publicas, esses assim agem precisamente pot
nao disporem de condigées técnicas e recursos financeiros suficientes para
sanar suas dificuldades, além, é claro, da prdépria incompeténcia gover-
namental.
As voltas com seus intimeros problemas como o desemprego ¢ a infla-
Go, 0s paises pobres sempre relegaram a questio ambiental. Por outro
lado, providéncias sio tomadas apenas quando impactos politicos favoré-
veis sao capitalizados pelos governantes, interna ou externamente. Tal fato
pode ser apreciado no excmplo brasileiro quando a explosio das pistes
utilizadas pelos garimpeiros, a demarcagdo das terras indigenas ou a di-
minuig&o dos indices de queimadas das florestas, sao utilizadas para efeito
publicitétio e largamente divulgadas pelo governo. 2?
Para os paises do Hemisfério Sul, a ecologia diz respeito & propria
deterioracao das condigdes de vida dos grandes centros urbanos, af incluia-
do os servicos piblicos, como os meios de transportes insuficientes, 0 pre-
cfrio servigo de sancamento bésico, a deficiéncia do sistema educacional
€ da assisténcia médica, a caréncia de moradias, além do esvaziamento do
setor rural (decorrente da falta de politicas agricolas satisfatGrias) etc.
Essas dificuldades que afetam a sociedade esto intrinsecamente liga-
das ao modelo econémico adotado. O pagamento dos pesados servicos da
divida, a dificuldade para captago de novos recursos, aliados & malver-
sagio ¢ incompeténcia na gestio dos recursos publicos, bloqueiam a pos-
sibilidade desses paises adotarem politicas saudaveis para a melhoria das
condigées de vida da populago, e que em sentido amplo constituem a
questao ambiental.
A insergao no sistema internacional, como subdesenvolvidos e com
poucas chances de alterar o quadro a seu favor, se tem convertido na ques-
tao crucial para os paises pobres. Além de apresentarem elevadas dividas
externas ¢ serem contemplados com processo inflacionétio, dependentes de
tecnologia, nfio possuem conseqiientemente capacidade de impor condigées
22 Ct. Fotha de S, Paulo, 29-6-91, 1-4,
R. Inf. legisl. Brasilia a. 28 om. 112 out./dex. 1997 n7
‘ow de exercer influéncia nos foros mundiais, no que tange 3s decisdes poli-
ticas, econdmicas e, muito menos, no Ambito estratégico-militar,
Até porque os grandes paises nfo raciocinam em termos de ordem
justa ou injusta, mas sim considerando interesses. Como diz o embaixador
RUBENS RICUPERO, atual representante brasileiro junto ao governo
norte-americano, “é nesse mundo dspero, sem compaixio, nem filantropia,
que teremos de operar nossa insergi0, nao a desejavel, ou ideal que reque-
reria um mundo ideal e um pais ideal, mas a necessiria, a inevitdvel, a
resultante do ponto de encontro entre as oportunidades ¢ limitagbes do
sistema internacional e as do Brasil.*
Convém lembrar que a prépria legitimidade da ordem internacional nao
€ estabelecida levando em conta os interesses de todos os Estados, mas 0
sistema internacional é considerado legitimo quando as grandes poténcias
chegam a um conscnso sobre como ele deve funcionar.
© exercicio do poder pelas poténcias, e a distribuigéo de influéncias
entre elas mesmas, faz com que a ordem internacional assemelhe-se a um
jogo com cartas viciadas, restringindo a agdo de outros membros da comu-
nidade ¢ tornando dificil romper com esse arranjo pré-estabelecido.
Concretamente verifica-sc uma distancia insuperdvel entre o discurso
€ a pratica das grandes nagdes frente aos demais paises, interferindo em
qualquer lugar do mundo e advogando a tese de soberania compartilhada
quando seus interesses forem de alguma forma afetados,
A impossibidade de influenciar decises mundiais tem levado, por-
tanto, & polarizago de comportamentos: de um lado os pafses desenvolvi-
dos que ditam as normas que regem o comportamento do sistema inter-
nacional, e, de outro, os que, apresentando limitada capacidade de bar-
ganha, mantémsc ignorados mesmo nas decisses que os afetam direta-
mente, inserindo-se em um quadro pré-estabelecido francamente desfavo-
rével, restando-Thes pequenas margens de manobra, mas que séo insufi-
cientes para alterar os rumos do vento a seu favor.
Destarte, a perenizaco da ordem mundial contribui para que 08 pro-
blemas ambientais se agudizem nesses paises, uma vez que apenas detendo
posse de seus recursos naturais, a sua mé utilizagéo é ainda mais prejudi-
cada em fungo da caréncia de fundos e de tecnologia. © que contribui
para que a distancia entre ambos os lados v4 aumentando gradativamente,
23 Ct. Rubens RICUPERO — “A insergéo internacional desejada e # posstvel
para © Brasil”. Coleco Documentos, n? 12, do IEA/USP, margo de 1991, p. 11.
24 Sobre a estratificacSo do sistema internacional ver, por ex, Helio JAGUA-
RIBE — “Autonomia periférica ¢ hegemonia céntrica” Relagdes Internacionais
(UnB), 3 (6): 8-24, junho de 1980,
8 ~ R. Inf, logisl. Brosilic @, 28 n, 112 out./dex. 1997
tornando cada vez mais dificil romper esta barreira quase intransponjvel,
resultante da diferenca do capacitagaio tecnolégica.
Enquanto as nagées industrializadas acumulam superdvits — se bem
que as vezes também apresentem suas préprias adversidades politices ou
econémicas —, investindo em pesquisa e desenvolvimento, o mesmo nao
se verifica no outro lado. Devedores aos primeiros, com inflagio fora de
controle e baixas expectativas de vida, a uma grande maioria dos paises
do Hemis{ério Sul nio sobram recursos suficientes para aplicagSes que
precisariam ser feitas cm escala maciga, em ciéncia e tecnologia, para
superar suas dificuldades.
A propria formagio dos megablocos & outro indicador de que a
ordem internacional sofre reajustes, redividindo influéncias politicas, eco-
némicas ¢ militares entre os principais atores. Porém sem transferéncia
substancial acs pafsos pobres que compdem a outra face da moeda, muito
menos alterando 0 status quo de poder vigente.
Apenas a consciéncia de que a queda sem limites da qualidade de
vida dos paises pobres acabe colocande em risco seus préprios intercsses
tem feito com que as poténcias se preocupem com as dificuldades do
Terceiro Mundo.
Exatamente por nao obedecer fronteiras, a degradacao do meio am-
Diente, como a derrubada das florestas tropicais, pode ter conseqiiéncias
globais, 0 que nao é de interesse para nenhum pats, onde quer que se
situe.
A preocupagio & percebida nao no sentido de climinar os problemas
dos paises pobres, mas sim em procurar evitar que a mé geréncia adotada
por esses acabe apresentando efeitos nocivos sobre outros Estados.
Por isso a ecologia tem sido colocada como um tema internacional,
um assume que diz respeita a coda a Humanidade, Pactinds deste prin
cipio a soberania deve, pois, ser colocada de lado, j4 que se trata de reso-
lugdo de problemas comuns a todos os paises, ¢ nao referidas especifica-
mente a este ou aquele outro, Como sao os paises pobres os que mais
criticas tém recebido, porque menos cuidados teriam com a poluigio am-
biental, so esses que devem urcar com os custos da soberania compar-
tilhada.
A bem da verdade, a culpa 6 de ambos os lados: dos paises indus-
trializados que mio desejam abdicar das vantagens adquiridas; e dos paises
pobres, cujos governantes tém-se pautado pela m4 utilizago dos parcos
recursos publicos, executando politicas na maior parte das vezes desas-
trosas pata a sociedade, apenas exercitando o jogo do poder ¢ distribuin-
do as benesses para scus grupos.
R. Inf. legisl. Brosilia a. 28 m. 112 out./dex, 1997 ng
‘As acusagées dos paises industrializados tém, por outro lado, produ-
zido efeitos contraproducentes, despertando a vertente nacionslista dos
governos daqueles Estados que se julgam feridos em seus brios, motivo
pelo qual o deputado federal Fabio Feldman, em visita aos Estados Uni-
dos, pedia moderacio nas criticas ao Brasil?
A teacdo do ex-presidente José Sarney, ao final de seu governo, ¢
esclarecedora sobre esse ponto, ao bradat que o Brasil jamais venderia
um metro quadrado de seu territério, e que no hayeria no mundo dinhei-
10 capaz de tal, Esta declaracdo, aliés, surpeendeu a todos, desde o Depar-
tamento de Estado norte-americano a0 Banco Mundial, que consideravam
@ noticia de venda da Amazénia como uma novidade.*
Em parte, posturas como essa tém razo de ser. Acuados, 08 govet-
nantes sentenrse obrigados a dar alguma satisfagio para consumo do babii
co interno.
Assim, o governo cria fatos para justificar sua importéncia na defesa
dos interesses nacionais, ressaltando que o pafs é soberano, que néo admite
ingeréncias externas, que nao aceita a idéia de ter que discutir seus assun-
tos internos com outros paises, nem submeté-los 2 foros internacionais, ¢
outros argumentos semelhantes. 77
Ainda que se observe uma polarizagio Norte-Sul na questo ecolé-
gica, os interesses envolvidos sio tio acentuados que mesmo entre os
paises industrializados desacertos sio percebidos para se tentar chegar a
um denominador comum.
Para o governo norte-americano, por exemplo, os acordos sobre polui-
so so pouco interessantes, ¢ freqiientemente se convertem em objeto de
contestago nos foros adequados. Ao dar primazia as negociagdes bilate-
rais, que sio mais flextveis, Washington dé mostras de preferir jogar nesse
campo onde pode propor, com maior desenvoltura, barganhas separadas
com seus parceiros.
As posturas norte-americanas tém-se caracterizado por se apresenta-
rem no mfnimo dibias. Apoiando inicialmente a reducdo de COs, a Casa
Branca recuava nesta decisio quando George Bush, ao patticipar de um
painel intergovernamental sobre mudanga de clima, na Universidade de
Georgetown (patrocinado pela ONU e pela Organizagio Meteorolégica
Mundial), em fevereiro de 1990, insistia para que os cientistas aprofun-
‘35 Cf, Fotha de S. Paulo, 16-8-89, C-4.
26 Cf. Fotha de S. Paulo, 11-2-89, A-5.
27 Sobre s questio ver Mércla JABOR CANIZIO — O Brasil e a questio
‘ambiental ..., op. cit,
a0 R, Inf, legisl, Broaiia a. 28 on. 112 out./der, 1997
dassem mais em estudos especificos ¢ econémicos, antes de adotar medi-
das que pudessem prejudicar as grandes inddstrias.
Posigéo idéntica seria repetida em 17 de abril do mesmo ano perante
representantes de 17 paises reunidos na Conferéncia sobre Alteracdes Cli-
miéticas, na propria Casa Branca.”
As discordancias entre norte-americanos ¢ curopeus se fazem notar
principalmente quando a pauta de discussdes tenta fixar prazos para eli-
minar as emissdes de carbono. Embora contribua com cerca de 26% para
© efeito estufa e a Europa com 13%, 0s Estados Unidos se mantém equi-
distantes da proposta européia de reduzir drasticamente a emisséo de car-
bono até o final do século,
Para justificar este comportamento a Casa Branca alega — ai tendo
como aliados a Gra-Bretanha, o Canada e 0 Japdo — que alterar os padrdes
de consumo de combustiveis fésseis ¢ uma tarefa muito diffcil para os
paises industrializados.
Segundo esses governos, a necessidade de mais experiéncias ¢ impres-
cindfvel, inclusive para se ter certeza de que o efeito estufa de fato é uma
realidade incontestavel, se est se agravando, em que niveis isto ocorreria,
© se este provém daemissio de COs.
Esta forma de agir de Washington, ao defender tal posigéo, prova-
velmente encontra respaldo nos esiudos realizados pela propria NASA.
Nesses, afirma-se, embora sem assumir cardter definitiv, que o efeito
estufa ainda nfo afetou o planeta, nfo tendo este se aquecido no perfodo
compreendido entre 1979 € 1989. De acordo com os cientistas da NASA,
Roy Spencer e John Christy, em artigo publicado na revista Science, de
marco de 1990, “a composigio da atmosfera foi afetada, o desmatamento
estd acontecendo, ¢ a qualidade da dgua esté caindo, mas nio hé qualquer
sinal de que a temperatura da Terra esteja subindo.
Por outro lado, ao encertar a mesma conferéncia sobre clima, em
fevereiro de 1990, Bush fazia um mea culpa, afirmando que a agao am-
biental nio pode esperar a ciéncia. *
Em anos anteriores, 0 governo norte-americano também se_manteve
hesitante, quando se trata de adotar medidas drasticas. O prdéprio encon-
tro em Londres, realizado em junho de 1989, para fortalecer o Protocolo
de Montreal existente desde 1987 ¢ outro exemplo da conduta daquele
pafs. Como se sabe, aquele protocolo fixava a obrigagao de reduzir em
Cf. © Estado de S. Pauio, 62-90, p. 12.
Ct. © Estado de S. Paulo, 18-4-00, p. 10.
Ct. Folha de S. Pauio, 31-83-90, C-4; O Batado de 8. Paulo, 3-4-90, p. 10.
Cf. © Estado de S. Paulo, 19-4-00, p. 12.
#2888
»
int, legist, Brasilia o. 28 n. 112 oxt./dex. 1991 Wat
50% a produgao dos CFCs, ainda na década de 90, conforme compro-
misso firmado por 56 paises.
Os Estados Unidos além de sempre rejeitar proposta nesta diregdo,
recusavam-se igualmente a contribuir para a constituigio de um fundo
especial no montante de 160 milhdes de délares, destinado sos paises sub-
desenvolvidos, com a finalidade de auxilié-los a utilizar ¢ desenvolver tec-
nologias que nao coloquem em risco a camada de ozénio.
Mas em junho de 1989, em Londres, o governo norte-americano assu-
mia estratégia de atuacio diferente da adotada até entio. Ao invés de
negar-se a cumprir o profocolo, o que mostraria sua face intransigente c
pouco afeita a obedecer acordos, Washington decidiu aceité-lo. Mas pro-
punha, em contrapartida, que o dinheiro fosse administrado por um -comi-
16 executivo com peso proporcional contribuigéo de cada pais, ou seja,
asseguranda aos Estados Unidos, como maior contribuinte, o controle dessa
prépria instancia.
Na Otica dos paises subdesenvolvidos, a proposta americana nio 6
deveria ser desconsiderada, como também alvo de protesto por parte deles.
Assim, Juan Mateos, representante mexicano no Programa do Meio Am
biente das Nacdes Unidas (PNUS considerava inaceitavel a idéia de
que um pais pudesse ter uma participagio passivel de prejudicar os de-
mais.™ E defendia a necessidade de existir um comité executivo forte,
com competéncia para agir independentemente, como era o desejo dos
delegados dos paises ali presentes.
Com gestos cambiantes, George Bush em um momento afirmava wna
coisa e na préxima oportunidade defendia postura diametralmente oposta &
anterior. Orientado por John Sununu, chefe de gabincte, em outra ocasiao
Bush se negava a acatar compromisso anteriormente assumide de destinar
25 milhes de délares para um fundo de ajuda as nagSes pobres, com a
finalidade de criat condigées para que esses paises fossem capazes de
arcar com os custos visando substituir os CFCs por outros produtos
quimicos. *
Em junho de 1990, porém, o presidente norte-americano mudaria de
posigéo, considerando principios estritamente econémicos. Considerando
que a China ¢ a {ndia detém juntas cerca de 40% da populacéo mundial,
0 abandono dos CFCs por esses significaria « possibilidade de se criar um
novo mercado para os Estados Unidos. Isto €, aqueles dois pases teriam
que encontrar produtos alternatives, por exemplo, para seus sistemas de
tefrigerag3o, momento em que os Estados Unidos aproveitariam para au-
32 Cf, O Estado de S. Paulo, 22-6-90, p. 13,
33 Idem.
34 Cl. O Estado de S. Paulo, 22-6-90, p. 13,
22 R. inf, tegial, Brasilia 0. 20m. 112 out,
mentar suas vendas nesses loceis, oferecendo produtos manufaturados, ob-
tendo, conseqiientemente, lucros altamente significativos. ©
Como se vé, a questio ambiental nio sé para os Estados Unidos,
como para es grandes poténcias é, acima de tudo, um grande negécio.
A resisténcia em transferir recursos ¢ tecnologia para os paises sub-
desenvolvidos € percebida nitidamente por alguns des representantes dos
paises industrializados como © canadense Maurice Strong, Secretdrio-Gerat
da Eco 92.
Para ele. este comporiamento dos patses industrializados ¢ um dos
obstaculos que bloqueiam a pussibilidade de se alerar a ordem econdmica
c ambiental do planeta.
De acordo com Strong, um des objerives da Fco 92 serd justamente
© de colocar & mesa de negociagoes a criayéo de um imposto internacional
que incidiré sobre a polui¢go do ar. Esta taxa deverd se constituir em
elemento-chave para a sustentagéo de uma Convengio Mundial de Atmos-
fera, destinada a fazer com que o crescimento do efcito estufa seja restrin-
gido, da mesma forma que a deterioracéo da camada de o7énio, € as cons-
tantes chuvas dcidas. A existéncia de recursos desta natureza_poderi
assim, possibilitar 0 repasse de tecnologias destinadas 3 methoria de pro-
dutividade ¢ de lucros, orientadas nao s6 para a propria conservacao de
energia, como também para limpeza ambiental. *”
Nisto, alids, tinha 0 apoio do atual Ministro da Educagio José Gol-
denberg. para quem “'somente com tal transferéncia de tecnologia pag por
uri fundo internacional custeado pelos paises poluidores poderemos avan-
gar rumo 20 equilibrio ambiental com prosperidade e justiga social”. **
A exprimeira Ministra norueguesa Gro Herlem Brundtland. ao de-
fender 2 mesma idéia de Strong, acredita que debates desse porte pode-
riam amadurecer a idgia ¢ efetivamente resultar na criac3o de um fundo
mundial, quando os paises ricos contribuiriam cam 0.1% de seu PIB.
Esses recursos, por sua vez, seriam obrigatoriamente “epassados para pro-
gramas de desenvolvimento sustentdve!, c utilizados pelos paises que atual-
mente se descuidam de set patrimdnio florestal por falta de caminhos
alternativos. °°
Ao propor a formagéo do fundo, Gro Brundtland criticava. simulta-
heamente, o atgumento de que a interagio entre Estados para se tentar
resolver problemas comuns que afetam a todos, pudesse ferir a soburania
38 Cf, O Estado de S, Paulo, 22-6-90, p. 13.
36 Cf, Folha de S. Paulo, 28-4-91, 4-3.
37 Ct, Jornal da Tarde, 9-8-90, p. 10.
33
39
Idem,
OF. Jornat da Tarde. 3-2-80, p, 10,
R nf. legis, Brovilio «28m,
12 omt/dex, 1991 123
dos povos. Ou seja, aludia & necessidade de se implementar didlogos onde
pudessem imperar maior interdependéncia ¢ cooperacio internacional.
E explicava o que deveria ser entendido por soberania no atual con-
texto das relagdes internacior “A verdadeita soberania, num mundo
que se assemelha a um condominio, onde todos precisam estabelecer enten-
dimento ¢ acordos reciprocos sob pena de a casa comum perecel
desordem, consiste na integragio de esforgos em prol de um Besenvolvi-
mento sustentado da Humanidade”, ‘°
A falta de unanimidade no trato de questées ambientais nio 96 é
patente no eixo Estados Unidos—Europa, mas também no préprio con-
tinente europeu, onde divergéncias cotidianas so observadas
Para o eterno herdeiro do trono britinico, principe Charles, 0 pro-
blema nfo se resume apenas em colocar a culpa nos paises em desenvot-
vimento pela deterioraggo do meio ambiente. Segundo ele, os pa(ses in-
dustrializados deveriam perguntar-se primeiro em quantos casos 0 proceso
de deterioracio foi iniciado pela agio de individuos © companhias das
nagées hoje desenvolvidas,
Mas, por outro lado, a Holanda pode ser considerada um bom exem-
plo de pafs que leva a sério o meio ambiente. E ainda que por motives
estritamente particulares, mantém-se francamente favorével a redugio de
CO2. Jogando com a possibilidade de existéncia do efeito estufa, 0 que
significaria elevacdo da temperatura, o derretimento do gelo das calotas
polares elevaria o nivel dos mares, ocasionado um desastre sem prece-
dentes inundando os Pafses Baixos.
Mas se essas posturas diferenciadas se sucedem, propostas também
sao apresentadas. Conforme Lauren J. Brinkshorts, responsével pela polf-
tica ambiental da comunidade européia, um plano de ago necessita
contemplar a converséo da divida por investimentos e conservacao am-
biental. Ao mesmo tempo deveriam estabelecer-se cédigos de conduta
para inddstrias dos paises ricos, importadores de madeira, e facilitar a
fiberagdo de recursos adicionais para os paises do Terceiro Mundo, visando
| preservacio da floresta e sua exploragfo econdmica de forma racional
© sustentavel. “*
Para resolver, pelo menos em parte, os problemas ambientais que
afligem 0s paises do Terceiro Mundo, o Parlamento alemao elaborou inclu-
sive um projeto de conservacdo que tornard poss{vel, a partir de 1994, a
transferéncia de cerca de 6 bithdes de délares anuais para a preservagio
0 Idem.
41 Ct. O Estado de S. Paulo, 8-2-90, p. 4.
42° Cf. O Estado de S, Paulo, 7-11-89, p. 14.
43 Ct. O Estado de S. Paulo, 1-7-0, p. 16.
126 R. Inf. legist. Brasilia a. 28 on. 112 out./dex. 1997
de Horestastropicss,sendo 0 Brasil congiderado um dos patses prorttios
ara recepo de parte desses recursos. #
Essas verbas poderiio ser utilizadas a partir de um fundo especial a
ser criado e administrado pela propria ONU, sendo que o projeto deverd
ser ratificado na reuniéo da Eco 92. Quer dizer, leva-se em consideragao
que se os paises desistem voluntariamente da exploracdo predatéria de
seus recursos naturais, principalmente as florestas, nada mais justo de que
os mesmos devam ser recompensados por esta atitude,
Devese observar que estas propostas, além de ofertas da Itélia, da
Gré-Bretanha, da Franca etc., para a resolugio de problemas dos pafses
subdesenvolvidos nfo se constituem em gestos de caridade. Ao agirem
desta forma, procurando auxiliar pafses como o Brasil a implementar polf-
ticas que visem ao desenvolvimento, sem a necessidade de destruicao do
meio ambiente, estéo simultaneamente cuidando de seus prdprios interesses.
Isto é, a conservacio da Amazénia, por exemplo, implicaria em ter, como
acentua José Goldenberg, uma usina bioldgica retemora de carbono, neutra-
fizando as ameagas climéticas, que poderiam afetar o mundo inteiro. *
Segundo tais interpretagdes, os paises ricos conscientizaram-se de que
a Terra forma um ecossistema frégil, fechado, e que as politicas adotadas
no Terceiro Mundo, despreocupadas com a conservacio do meio ambiente,
acabam afetando globalmente todas as nag6es, indistintamente, ricas ou
pobres, independente de fronteiras e soberanias.
G combate a destruigfo da natureza, por parte dos paises industria-
lizados, nao significa que estejam comportando-se como bons samaritanos,
mas o fazem movidos por extrema necessidade de preservar um bem
comum, 0 meio ambiente, de que todos dependem em igual pi
Quer dizer, 0 Terceiro Mundo, ao evitar sua politica de destruigao do
meio ambiente, faré com que 0 mundo inteiro se beneficie com tal atitude.
Entao, diz Strong, a solugaéo para se resolver o problema encontra-se jus-
tamente na necessidade de que todos ajudem. *°
Este, aliés, € 0 mesmo veredito da Comissiio Mundial sobre Meio
Ambiente © Desenvolvimento, criada pela Assembléia Geral das Nacoes
Unidas, em 1983, em relatério apresentado quatro anos depois, sobre o
futuro ‘comum da Humenidade, onde se afirma que o meio ambiente €
Himitador da natureza, ¢ néo 0 contrétio.
De acordo com 0 relatério, a adogéo de politicas vidveis, pare o meio
ambiente & necesséria e faz sentido, no a curto, mas a longo prazo, eco-
44 Cf. Jornal da Tarde, 2-6-90, p. 10.
45 idem.
48 Ct. Veja, 24 (22): 7.
29-5-91,
R. inf, legit, Brasilia oc, 26 m, 112 out./dex. 1997 125
nomicamente falando. Por outro lado, também se vislumbra, igualmente,
a possibilidade de “‘a curto prazo serem necessérios grandes gastos fin
ceiros em campos como o do desenvolvimento da energia renovével, equi-
pamento de controle de poluigio ¢ desenvolvimento rural integrado”, sendo
que, “‘para tanto, os paises em desenvolvimento precisatio de assisténcia
macica, e mais generalizada, pata reduzir a pobreza. Atender a essa neces-
sidade financcira significa fazer um investimento coletivo no futuro”. *
Mas para Maurice Strong ndo so medidas isoladas que resolverio a
degradagio ambiental. Deve-se partir de um entendimento de que o
componente ambiental esté incorporado definitivamente ao proceso pro-
dutivo, E isso exige que os pafses pobres tenham que ser ajudados pelos
paises ricos. Os primeiros, por sua vez, tém que se conscientizar de que
se torna impossivel insistir em formas de desenvolvimento que nao tenham
retorno para a natureza, ou seja, politicas irresponsdveis para com a propria
natureza. Isto porque a economia poluidora é mais pesada, gera produtos
cars € se torna pouco competitiva no mercado internacional. ‘*
© proprio GATT também foi envolvido. nas discussdes sobre meio
ambiente, ao perceber a relacio direta entre ecologia ¢ comércio mundial.
Quando se reuniu em 30 de maio de 1991, a agenda do GATT spontava
a necessidade de se aprofundar as andlises para determinar as interferéncias
do meio ambiente na expansio do proprio comércio internacional,
A onda ecolégica que varre o mundo hé algum tempo pressionava
no s6 governos, mas inclusive 0 GATT, exigindo providéncias de enti-
dade, no sentido de proibir a importagéo de qualquer produto considerado
nocivo 4 natureza,
Tal preocupacdo tinha fundamento, visto que os pafses ricos a0 sub-
sidiarem produtos agricolas incentivam a utilizagiio em massa de agrotéxicos,
aumentando a producdo, porém dificultando a comercializacéo dos pro-
dutos oriundos dos paises pobres que sc tornam pouco competitivos no
mercado mundial.
Polémica onde este catdter ¢ ressaltado pode ser verificada, por exem-
plo, no primeito semestre de 1991. Apesar de estar em vigéncia acordo
entre Brasilia e Buenos Aires, dentro do marco de integracdo regional, o
governo brasileiro mostrou-se disposto a importar trigo norte-americano
em virtude da diferenga de pregos do produto, deixando de privilegiar 0
similar portenho. O trigo americano, subsidiado pelo governo, sairia a
um custo sensivelmente inferior a0 produto argentino, criando desconten-
47 Comissio Mundial sobre Melo Ambiente e Desenvolvimento — Nosso futuro
comtum. Flo de Janeiro: Fundacéo Getiilio Vargas, 1988, pp. 974-375.
48 Cf. Veja, 24 (22): 7-9, 29-5-91.
49 Cf. Folha de 8. Paulo, 31-5-01, 2-5,
126
Ink, Fe Brosilia . 28 m, 112 out,/dex. 1997
tamento dos empresitios daquele pais, que viam 0 processo de integragio
ser relegado em favor de uma grande poténcia.
_ ,Partindo do prinefpio de que 0 controle do meio ambiente € benéfico
para todos, os paises ticos sempre se arvoraram cm defensores da ordem
mundial, ditando normas para os demais, considerando-os imaturos etc.
© presidente Frangois Miterrand chegou a apontar, em Londres, que
2 posigio dos 7 grandes paises sempre foi arrogante, tomazdo ares de um
pequeno grupo que quer influenciar o futuro do mundo. Para ele. 0
Grupo dos 7 ndo pode ter vocagio para scr o diretério do mundo. E dizia
que © grupo anterior surgido por iniciativa de Valéry Giscard D'Estaing,
quando ainda eram 6 membros (sem o Canada), se reunia discretamente,
sem u presenga da imprensa, ¢ nem sequet elaboravam qualquer documen-
to final. Hoje, verifica-se uma completa alteracio dos objetivos iniciais,
com a arrogancia medida pelo PNB.
O problema, contudo, no pode ser visto estritamente pela ética de
que os paises desenvolvidos querem impor uma ordem mundial seguado
sua exclusiva vontade, Se isto é uma realidade amparada na idéia de que
us influéncias mundiais sio distribufdas através de relagdes de poder assi-
métricas, entre os diversos Estados.do munda, é fato, também, que grande
parte da culpa cabe aos proprios governantes dos patses criticados.
Neste caso, sem divida alguma, o Brasil tem-se destacado como “vil
mundial”, em virtude da depredagéo da Amaz6nia, abarcando aspectos
variades como as queimadas, as populagdes indigenus ¢ a contaminagao
dos rios pelo merctrio. ™
Alvo de atengiio internacional nos anos 80, 0 Brasil viu-se cercado
por todos os lados, tanto por setores ligados 4 Igreja, como o Conselho
Indigenista Missionario (CIMI), como por grupos ccolégicos que criti-
cavam o governo nao s6 pelas grandes queimadas verificadas na segunda
metade da década passade, mas também pela exploragio dos garimpos,
‘com 0 avango da fronteira éconémica, colocando em risco a existencia dos
yanomamis. As preccupages governamentais foram de tal ordem que
acabaram culminando no Projeto Calha Norte, de inspiragéio militar, ©
Alids, a questéo ambiental, no pais, sempre foi tratada sob o vigs
militar, pelas préprias caracteristicas do regime no periodo anterior a
1985. A. permanéncia dessa concepeio, onde os interlocutores governa-
mentais da questo ambiental se apdiam em conceitos de seguranca na-
‘30 Cf. O Estado de S. Paulo, 18-1-01, p. 8.
51 Esse t6pico esté melhor desenvolvido em meu texto “‘Amazbnia: politica
© ecologia” (em fase final de elaboragio).
52 Cf, meu texto: “Diplomecia ¢ militarismo: o Projeto Calha Norte e
ecupagho do espaga amenénico". Revista Brasieira de Ciéncia Politica, 1 (1):
146-168, margo de 1989,
R. Inf. logitt, Brasilia, 28m. 112 ow./dex, 1991 127
cional, pode ser observada através de relatérios elaborados pela Secretaria
de Assessoramento de Defesa Nacional-SADEN (atual Secretaria de Assun-
tos Estratégicos-SAE), ao Presidente Sarney, alertando sobre a atuagio
dos movimentos ecoldgicos, que desejariam transformar a AmazOnia em
patriménio da Humanidade,
© proprio “Programa Nossa Natureza”, de abril de 1989, caminha
nesta dirego, adotando critérios embasados na perspectiva castrense,
A incapacidade que os paises subdesenvolvidos tém demonstrado na
formulacio e implementagio de suas politicas piblicas pode, em grande
parte, ser responsabilizada pelos danos & causa ambiental.
Se bem que haja recursos internacionais & disposigdo, os mesmos nfo
sio devidamente aproveitados pelos paises pobres. O que ¢ confirmado
pelo proprio coordenador da Rede de Formacgao Ambiental para a América
Latina ¢ Caribe, Enrique Leff Zimmerman, para quem os paises subdesen-
volvidos tém perdido muitas oportunidades de financiamento pace preser-
vaso do meio ambiente por falta de projetos bem elaborados, ®
© Tropical Forest Protection Plan, por exemplo, aprovado pela Ale-
manha em 1989 para contemplar nagBes do Terceiro Mundo, destinou a0
Brasil cerca de 250 milhes de marcos. Todavia, o governo brasileiro per-
deu em 1991 cerca de 60 milhées de marcos, exclusivamente por culpa
propria, pois elaborou planos, mas mio cumpriu outras exigéncias ente-
riormente assumidas de pagamento da divida. *
A falta de agdes concretas de governos, como o de Brasilia, fizeram
m com que bancos internacionais suspendessem financiamentos a
serem aplicados em reas da regio amazénica, visando & construgéo de
usinas elétricas, condicionando a liberagfo dos recursos a medidas efetivas
de protec#o ambiental por parte do governo brasileiro.
© Brasil é, certamente, o pais que mais tem sido alvo das pressdes
internacionais para cuidar de seu meio ambiente. As atitudes reticentes
do governo brasileiro em aceitar “ingeréncias” em seus negécios internos
tém levado freqiientemente a desacordos com os paises ricos.
Considerando 0 assunto come elemento da soberania nacional, o ex-
Presidente Sarney recusou-se até o final de seu governo a acatar qualquer
sugestiio para a preservacéo da Amazdnia.
68 Ct. O Estado de S, Paulo, 9-2-89, p. 18.
Sa Ver, por sxemplo, ® entrevista do Denia consedida 9
Jornal eae do's Paulo, O01, p12 © Revenha Ge Polition ksterior do Bréstt
(OD): 11-24, abr/jun. 1989,
85 Ct. Folha de S. Paulo, 2-3-89, C-8.
86 Cf. Folha de $. Paulo, 29-3-01, 4-3.
128 R. Inf, legisl, Brasilia @. 28 nm. 112 out./des. 1997
Essa atitude brasileira de evocar a soberania nfo ¢ sequer recente.
Ao final dos anos 60, 0 pais divulgou memorando criticando os paises
detentores de tecnologia nuclear pelo fato de desejarem que o Brasil
assinasse 0 TNT.®
Ao recusar tal acordo, o Brasil considerou importante a obtengdo de
tecnologia nuclear porque s6 com a sua posse seria possivel um salto qua-
litativo no desenvolvimento nacional. Naqueles anos, o relacionamento
internacional nfo era visto sob a perspectiva adotada por Castello Branco.
Sob Costa ¢ Silva se pensou na seguranga econémica coletiva, com 0 tema
do desenvolvimento/subdesenvolvimento permeando as discussdes brasi-
leiras, orientadas segundo a perspectiva Norte—Sul.
Refutando as tentativas de fazer com que o pais aderisse 20 TNP,
ainda que tivesse concordado com o Tratado de Prescrigao de Armas Nu-
cleares na América Latina, 0 Embaixador Araujo Castro discorreu sobre
© “congelamento do poder mundial”. Nesta ética, o mundo estaria pola-
rizado em dois grupos: de um lado os paises detentores da tecnologia
nuclear, considerados adultos, maduros; ¢ de outro lado, aqueles que deve-
tiam subordinar-se a este fato, visto serem imaturos, irresponsdveis. **
Esta postura brasileira de referir-se a quase todos os assuntos evocando
‘a soberania e a seguranga nacional foi constantemente reproduzida pelo
governo nas tltimas décadas. Desde o Tratado de Cooperagéo Amazénica
(TCA), firmado em 1978 com mais sete paises da regiéo, o meio ambiente
foi convertido em tema de seguranga nacionat.
Comportamento idéntico era também repetido por outros chefes de
Estado regionais. Na III Reunido de Chanceleres do Tratado de Coope-
racio Amaz6nica, em margo de 1989, em Quito, o Presidente equatoriano
Rodrigo Borja realcava que a “‘defesa da Amazénia é tarefa que compete
somente aos paises amaz6nicos sem intervengdes estrangeiras”.
A Declaracao da Amaz6nia assinada pelos presidentes do TCA reu-
nidos em Brasilia, dois meses depois, reproduz o discurso de defesa da
soberania.
Apés a morte de Chico Mendes, em dezembro de 1988, as criticas
estrangeiras, tanto pela midia, quanto pela visita de politicos e artistas ao
pais, comecaram a se tornar mais aguda, fazendo com que José Sarney
57 Sobre o assunto ver Celso SOUZA E SILVA — “Protiferacho nuclear
tratado de néo-proiferagio”. Revista Brasileira de Politica Internacional, XXX
(17-118) : 6-8, 1987/1,
88 Cf. J. A. ARAUJO CASTRO — “O congelamento do poder mundial”.
Revista Brasileira de Estudos Politiccs (88): 7-80, jan. 1972.
59 Cf. O Estado de S. Paulo, 7-3-89, p. 16.
60 Cf. Resenha de Politica Exterior do Brasil (61): 25-34, abr./jun. 1989.
R. Inf, legist, Brasilia a, 28 n. 112 out./dex,
129
passasse a assumir um discurso nacionalista ¢ agtessiyo frente 8 acusa-
gées de pouco cuidado dispensado & natureza e aos povos da floresta.
© governo brasileiro nunca viu com bons olhos essas visitas, cada
vez mais constantes, tendo como objetivo principal a questo amazénica.
‘Ainda que tolerasse, nfo admitia que opiniGes fossem manifestadas por
essas pessoas.
Quando o pais recebeu 5 congressistas norte-americanos, acompa-
nhados de jornalistas, em janeiro de 1989, em viagem de duas semanas &
América do Sul, para tratar a divida externa ¢ a protecfio ambiental, o
Secretério-Geral do Itamaraty Paulo Tarso Flecha de Lima reagiu afirmando
que “‘a maior responsabilidade pela poluigo ambiental do mundo era dos
pafses industrializedos, com destaque para a Europa”.
No mesmo dispaséo Serney reafirmava mais uma vez que so 0s ricos
que agridem o meio ambiente. ®
O final da década de 80 foi um perfodo que muito trabalho deu ao
Itamaraty, face as fortes criticas internacionais. Entre os motivos que
deram margem & agressividade do discurso brasileiro pode ser mencionada
a propria querela em torno da rodovia BR-364. Segundo o governo bra-
sileiro, o presidente Bush terie solicitado a0 Japao para que nao liberasse
recursos para aquele projeto, tido como prejudicial ao meio ambiente. O
Japdo, por sua vez, negava tal intengdo em 18 de marco de 1989, e poucos
dias depois publicava no The New York Times carta afirmando que nfo
estava envolvido no projeto. *
A afirmagio de Frangois Miterrand de que os paises deveriam abrir
mao de sua soberania também foi alvo de irada resposta do governo brasi-
Ieiro. Houve mesmo reclamago contra o anincio da de
Haia, mandado publicar pelo governo francés, ao final da Conferéncia
Internacional sobre a Protegéo da Atmosfera do Globo, realizada em
margo de 1989, na Holanda, e que contou com a presenca de 26 pafses. *
Conforme © teor da declareglo, ‘os signatérios se dispunham a sbrir mio
de sua soberania em favor do combate A poluigao.
Para fazer frente a todas essas criticas o Ministério das Relacdes
Exteriores chegou mesmo a criar um departamento especial para tratar a
questo ambiental, assumindo a diplomacia do verde.
Sob uma avalanche de criticas, pais inclusive sentiu que poderia
set isolado internacionalmente, convertendose em uma nova Africa do
1 Cf. Jornal da Tarde, 14-1-89, p. 11.
62 Cf. Jornal da Tarde, 271-280, p. 6; Folha de S. Paulo, 4-3-0, A-B.
48 Cf. Folha de S. Paulo, 24-2-89, B-1; Fotha de S. Paulo, 26-21-88, oy
Jornal da Tarde, 25-2-89, p. 7; O Estado de S. Paulo, 9-3-80, p. 19 ¢ 19-8-89, p.
€4 Ct. Folhe de S. Paulo, 12-8-89, C-2.
65 Cf. Folha de S. Paulo, 5-4-09, C-6.
130 R. Inf. logisl. Bresilia a, 28 m, 112 out./dex. 1997
Sul, como se manifestava Fernando Cesar Mesquita, entdo Presidente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis.
© governo sequer cogitou de discutir a conversio da divida em pro-
jetos ambientais — j4 em negociagiio em outros paises como a Bolivia, o
Paraguai, a Costa Rica e as Filipinas — considerando que propostas deste
género, além de ferir a soberania nacional, nao resolviam, nem os proble-
mas do meio ambiente, nem solucionavam a questdo da dfvida, motivo
pelo qual, nos anos Sarney, este tema se converteu em verdadeiro tabu. %*
Mas ao mesmo tempo, 0 pais prometia colaborar com 20 mil délares
para criagdo de uma rede mundial de informagSes sobre meio ambiente. ®
Em parte, 0 governo brasileiro tinha motivos para tratar com cautela
as visitas estrangeiras porque os congressistas americanos em janeiro de
1989 afirmavam através de Peter Benclev, que a ecologia néo era mais
uma questéo local. Pouco tempo depois, 0 chefe da comitiva, Senador
Timothy Wirth, manifestava receio de que o prolongamento da BR-364
pudesse representar um aumento das relagdes comerciais entre o Brasil
€ © Japao, com nova safda para o Pacifico,
A caréncia de recursos deixou claro, todavia, que, embora aspero nas
criticas as tentativas de ingeréncias externas, o governo brasileiro passou
a considerar que a questo ambiental deveria ser tratada de forma compa-
tivel com as necessidades do pais. Assim, 0 Ministro Clodoaldo Hugney
Filho comperecia a Washington na sede do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) para apresentar 0 novo Plano de Protego do Meio
Ambiente & Comunidades Indigenas (PMACI). 7
No decorrer do tempo, as posturas do governo brasileito tornaram-se
mais flexiveis. O chanceler Francisco Rezek chegou a admitir que o
Brasil estava inclinado a assinar 0 TNP, justificando que o Secretério de
Estado norte-americano James Baker considerava a possibilidade de os
paises desenyolverem tecnologia nuclear com objetivos ndo militares, ™
E se a conversio da divida era tabu no governo Sarney, o atual Mi-
nistro das Relacdes Exteriores declarava a0 ex-Primeizo Ministro francés
Michet Rocard que esse assunto era perfeitamente discutivel, desde que
houvesse afronta ao direito internacional ¢ & soberania nacional. ™
Ct, © Estado de 8. Paulo, %-4-88, p. 12.
Ct. © etado de S. Paulo, 23-12-89, p. 4.
Ct, Folha de S. Paulo, 27-3-89, C-8,
Ct, Veja (1073): 32-33, 20-3-89.
Ct. O Estado de S. Paulo, 21-9-88, p. 11.
Ct, Foiha de 8. Paulo, 12-5-90, A-7,
Ct. Jornal da Tarde, 30-6-90, p. 8.
Baessegrs
Inf. legisl. Bros
@. 28 m. 112 out./der. 1991 131
Como se verificou depois, o préprio Banco Central regulamentou a
conversio da divida externa em projetos ambientais estabelecendo teto de
100 milhées de détares. "
Apesar de critica, a imprensa internacional as vezes reconhecia que
@ questo ambiental nao era tratada a contento. Em editorial de 24 de
julho de 1990 0 jornal The New York Times considerava hipocrisia dos
Estados Unidos criticarem o Brasil por devastar suas florestas, quando
aquele pafs destruiu as florestas de Porto Rico e do Haval, sendo que neste
filtimo, 75% da flora foram por cles devastados. *
Mesmo na Suécia, que costumeiramente ¢ vista como modelo de pre-
servagéo do meio ambiente, criticas também sio observadas. Pelos dados
estatisticos, na Lap6nia calcula-se que apenas 5% de florestas naturais
sobraram, ainda que o resto tenha sido replantado devido 4 obrigatorieda-
de de reflorestamento. Por outro lado, constitui-se no terceiro maior ex-
portador mundial de papel e madeiras, sendo que 49% das florestas encon-
tram-se em mfos de pessoas fisicas, 25% em mios do Estado e 26% so
posse de pessoas juridicas. 7°
Esta politica desenvolvida pelo governo sueco & objeto de criticas
por parte de seus préprios habitantes. Ake Aronsson, naturalista da Agén-
cia Nacional de Protegao Ambiental, em Gallivare, diz 0 seguinte sobre
as florestas suecas: “Nunca paramos de derrubé-las. Florestas_antigas
abrigam espécies Gnicas e enraizam a identidade escandinave. Florestas
cultivadas sio um desastre cultural e biolégico; frvores iguais, mesma idade,
mesmas cores, menos espécies e menos animais”. 7°
Como se pode constatar, tanto os paises subdesenvolvidos como de-
senvolvides igualmente depredaram © continuam devastando a natureza.
Deve-se admitir, porém, que uma das causas do estrago da natureza no
Terceiro Mundo 6, sem’ duvida alguma, a presso para o pagamento da
divida externa, que induz o paises pobres a adotarem politicas derrubando
florestas, aumentando o consumo de recursos naturais de forma pre-
a.
A preservacao através de desenvolvimento de tecnologias adequadas
de menot consumo energético ¢ 0 uso racional de fontes de energia ainda
ngo se converteram em realidade para os patses pobres. Mesmo porque
nao dispondo desses recursos também nio os recebem dos paises indus-
trializados sem exigéncias que Ihes parecem completamente descabidas.
© que também nao é totalmente verdadeiro.
® Cf. O Estado de S, Paulo, 17-71-91, p. 8.
. Folha de S. Paulo, 25-71-90, C-8. A integra do editorial do The New
York ‘rice fo! publicada por O Estado de 3. Paulo 33-1000, Pp. 1
15 Cf. Ricardo ARNT — "Suecos cortam floresta da ‘Amazona fris™, Folha
de S. Paulo, 4-6-91, 2-1.
18 Idem.
Tf. por exemplo, Eimar ALTVATER, op. eit.
132, R. Inf, fegisl. Brosilia @. 28 a, 112 out./dex. 1997
Você também pode gostar
- Juntos Os Rituais Os Prazeres e A Politica Da CooperaçãoDocumento1 páginaJuntos Os Rituais Os Prazeres e A Politica Da CooperaçãoAna Paula Da Cunha Góes100% (2)
- SCHNEIDER & SCHMITT - O Uso Do Método Comparativo Nas Ciências SociaisDocumento43 páginasSCHNEIDER & SCHMITT - O Uso Do Método Comparativo Nas Ciências SociaisAna Paula Da Cunha GóesAinda não há avaliações
- ALMEIDA & BOSCHETTI - Devotas e Instruídas - A Educação de Meninas e Mulheres No Brasil - 1846 A 1930Documento9 páginasALMEIDA & BOSCHETTI - Devotas e Instruídas - A Educação de Meninas e Mulheres No Brasil - 1846 A 1930Ana Paula Da Cunha GóesAinda não há avaliações
- WOOD Ellen Meiksins - A Origem Do CapitalismoDocumento72 páginasWOOD Ellen Meiksins - A Origem Do CapitalismoAna Paula Da Cunha GóesAinda não há avaliações