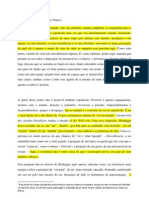Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Jung e o significado pós-moderno de significado
Enviado por
Ljacintho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
21 visualizações5 páginasTítulo original
A pedra que nu00E3o u00E9 uma pedra
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
21 visualizações5 páginasJung e o significado pós-moderno de significado
Enviado por
LjacinthoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
A “PEDRA” QUE NÃO É UMA PEDRA
C. G. Jung e o significado Pós-Moderno do “Significado”
David L. Miller
A psicologia profunda – junto com a física pós-einsteniana, a linguística estruturalista
pós-saussureana, e a filosofia pós-heideggeriana – é uma contribuidora para a revolução
do significado de “significado” no século vinte. Em relação a essa revolução,
certamente não é suficiente dizer, como Thomas Kuhn, que o paradigma do significado
mudou. As transformações indicadas por essas disciplinas são tão radicais que tornaram
o próprio paradigma de “paradigma” irrelevante, já que pertence a um significado de
“significado” que implica um princípio aristotélico de identidade. Termos como
“charme” na física e glissement na semiótica indicam um princípio fundamentalmente
diferente trabalhando nas suas lógicas, um princípio de diferença que, como queria
Bachelard, é radicalmente não-aristotélico.
Foi mostrado por Jacques Lacan, Julia Kristeva e Norman O. Brown (entre outros) que
as descobertas e o discurso de Freud compartilham e promovem a descentralizadora
revolução copernicana no pensamento, mesmo contra a intenção de Freud e sua retórica
redutiva. Embora ele tenha sido limitado pelo seu próprio uso de uma lógica
mecanicista causal e uma noção cientificista habitual de “significado”, os textos de
Freud revelam a natureza revolucionária do seu próprio pensamento sobre o
pensamento. O mesmo é verdade em relação a Jung. Este último é totalmente
participante em um momento radical no que C. K. Ogden e I. A. Richards chamaram de
“o significado do significado”, e embora a dicção da linguagem de Jung disfarce as
implicações revolucionárias do seu pensamento, elas estão presentes com ousadia nos
seus textos. Pouco foi feito (com a exceção da obra de Paul Kugler e Ed Casey) para
mostrar esse lado dos escritos de Jung, que pretendemos mostrar a seguir.
Que o próprio Jung estava interessado na questão do significado do “significado”, caso
isso ainda não fosse óbvio, foi estabelecido por Aniela Jaffé no seu livro O Mito do
Significado na Obra de C. G. Jung. Contudo, Jaffé parece localizar o senso de suposto
“significado” de Jung em um paradigma “unitário”, obscurecendo assim sua natureza
radical. Ela observa que Jung identificou um senso de falta de sentido com a
psiconeurose, e relata que Jung “valorizava a ansiosa esperança de que o significado iria
prevalecer” sobre a falta de sentido. Sentimentos como esse são claramente regidos
mais por um princípio aristotélico de identidade do que por uma perspectiva pós-
moderna de diferença. Contudo, como já vemos no título de Jaffé, onde “significado” é
considerado (como no próprio livro) um “mito”, há uma falha na armadura de
aristotelismo protetor. De fato, Jaffé observa que para Jung o “mito do significado é o
mito da consciência”, o que nos próprios termos de Jung torna “significado” unilateral
ou neurótico. Além disso, Jaffé dá a um dos seus capítulos o título “A Realidade
Oculta”, referindo-se ao fato de que a natureza do suposto “significado” é algo que
nunca pode ser aparente ou expresso. Jaffé diz que “até o fim de sua vida Jung
reservava um lugar para o significado e a falta do significado no seu esquema de
coisas”. E Jaffé relata fielmente que o que Jung pensava que o “significado” era uma
“conjectura”, e que certa vez, na sua velhice, ele estava conversando na sua casa com
um grupo de psiquiatras dos EUA, Inglaterra e Suíça, e depois de dizer-lhes que
precisavam criar um mito do significado para eles mesmos, Jung acrescentou, “então
vocês precisam aprender a se tornarem inconscientes de modo decente”.
De fato, embora Jung apreciasse termos suspeitosamente aristotélicos, como
“identidade”, “identificação”, “união”, unio mentalis, “função unificadora”, “harmonia”
e “coincidência”, e ainda que Jung frequentemente escrevesse dogmaticamente que isso
é aquilo, ou que tais e tais coisas inequivocamente se referissem à “anima”, “sombra”
ou “Self”, quando ele refletia sobre a natureza das suas próprias reflexões psicológicas,
das palestras de Zofingia nos seus dias de estudante até o final da sua vida, há sempre
um adiamento da certeza nas identificações e uma afirmação de duplicidade e diferença
no interesse de autoconhecimento realista e generosidade terapêutica. Em momento
algum essa fronteira radical do pensamento crítico de Jung torna-se mais explícito do
que no seu uso da expressão “nada além de” (nichts als).
Foi de William James que Jung pegou emprestada essa expressão, usada por ele com
tanta frequência. James havia escrito no seu livro sobre pragmatismo que “quando o que
é superior é explicado pelo que é inferior e tratado sempre como um caso de “nada além
de””, o raciocínio é defeituoso. Jung ampliou o uso de James dessa expressão para
incluir o pensamento sobre algo cuja natureza é incognoscível como se pudesse ser
conhecido e, mais simplesmente, pensar ou falar sobre algo de uma maneira unilateral
ou definida quando uma humilde reticência ou generoso agnosticismo teria sido mais
apropriado.
Jung admitiu que o mundo prefere um “significado” regido pelo princípio de identidade,
que torna noções de “nada além de” possíveis. Ele escreveu: “pacientes e médicos
querem ouvir que a neurose é um “nada além de””. Contudo, ao contrário da maioria
das pessoas e da sua profissão, Jung era intensamente – ou mesmo apaixonadamente –
oposto a tal pensamento sobre seu próprio pensamento. Ele atribuía ao pensamento
“nada além de” adjetivos como “repressor”, “insalubre”, “neurótico”, “unilateral”,
“desalmado”, “banal”, “mefistofélico”, “obsessivo”, “infantil”, “histérico”, “destrutivo”,
“estéril”, “reducionista” e “barato”. A linguagem de Jung é forte, e depõe contra os
junguianos, tanto quanto os freudianos, quando os primeiros caem no hábito de dizer,
“este é um problema da anima”, ou “aquele é um complexo pai-filha”, acreditando
assim que alguém disse alguma coisa. Não surpreende que Jung tenha dito “graças a
Deus eu... não sou junguiano” e tenha até mesmo afirmado, “só posso esperar e desejar
que ninguém se torne “junguiano””. De fato, no caso de Freud, Jung observou que o
pensamento “nada além de” frequentemente é, nas suas palavras, “o destino da segunda
geração” dos seguidores de grandes pensadores. Jung vinculou explicitamente a
“certeza”, no sentido cartesiano, com o pensamento “nada além de”, e preveniu que tais
fantasias em relação ao próprio conhecimento e compreensão eram mecanismos de
defesa e proteção contra a ameaça percebida do desconhecido.
Jung, por sua vez, era “claro” quanto a não ser claro. Ao falar sobre o pensamento “nada
além de”, observou: “acredito não ter dado espaço para o mal-entendido de que sei
qualquer coisa sobre a natureza do “centro” [do Self] – pois ele é simplesmente
incognoscível...” Novamente, Jung escreveu: “todos nós temos demais o ponto de vista
da psicologia “nada além de”, isto é, ainda pensamos que o novo futuro que está
forçando a porta pode ser espremido para caber na moldura do que já é conhecido”. Em
uma carta, ele observa que “não há como aprender psicologia analítica estudando o seu
objeto, já que ele consiste exclusivamente daquilo que você não sabe sobre si mesmo”.
Quando Heinrich Zimmer dedicou um livro a Jung com as palavras “mestre daqueles
que sabem”, Jung escreveu a Zimmer, censurando-o por dizer isso: “sua gentil
dedicatória... contudo, oculta que tudo que eu sei vem do meu domínio do não-saber”.
Jung corrigiu outro admirador pelo correio, dizendo “o conceito do inconsciente não
propõe nada, só designa o meu desconhecimento”. Nas suas memórias, Jung observou
que ao utilizar o termo “inconsciente”, o discurso da psicologia profunda está
“admitindo que não sabe nada sobre ele, pois ele não pode saber nada sobre a substância
da psique quando o único meio de conhecer alguma coisa é a psique”. E em “Resposta a
Jó”, Jung escreveu “estou ciente de que me movo em um mundo de imagens, e que
nenhuma das minhas reflexões toca a essência do incognoscível”. Coerente com essa
deferência baseada no princípio da diferença, Jung afirma, no fim de suas memórias,
que concorda com Lao Tzu: "Todos os seres possuem clareza; só eu permaneço
obscuro". Ou seja: todos estão com Descartes e Aristóteles, mas “significado” para mim
tem um significado diferente.
Em 1906, Jung escreveu em apoio às “leis de associação... simultaneidade... [e]
similaridade” de Aristóteles. Esse era o período em que Jung estava trabalhando com
testes de associação de palavras. Mas à medida que sua vida e trabalho evoluíram, sua
visão contra Aristóteles tornou-se tão dura quanto sua visão contra a natureza
adamantina do pensamento “nada além de”. Já em 1964 ele prevenia contra as pessoas
que hesitavam em jogar fora pressupostos filosóficos anteriores, e em 1938 em Eranos
ele argumentou que um “raciocínio aristotélico” produz um “nominalismo” no
pensamento que de modo geral trabalha contra a psicologia profunda e particularmente
contra o conceito de arquétipo. À medida que Jung avançou no seu interesse posterior
na lógica da alquimia como um análogo para a lógica da psicologia profunda, suas
declarações contra os princípios aristotélicos do raciocínio tornaram-se ainda mais
fortes. Ele cita o alquimista Dorn: “aquele que deseja aprender a arte alquímica não
deve aprender a filosofia de Aristóteles, mas sim aquela que ensina a verdade... pois os
seus ensinamentos... são os melhores mantos para mentiras”. E Jung menciona com
aprovação o pedido e Padrizi ao Papa Gregório XVI de permitir que Hermes substitua
Aristóteles como o filósofo da Igreja!
Nas suas memórias, Jung diz que no início da sua carreira ele “ainda não havia
encontrado a linguagem certa” para o seu trabalho, masque com a alquimia ele
descobriu “uma imaginação mitopoética”, em oposição ao pensamento “nada além de”.
Jung escreveu: “... percebi a concordância entre esse mito poético [a lenda do Graal] e o
que a alquimia tinha a dizer sobre o unum vas, a una medicina, e a unus lapis”. Assim,
Jung chegou a uma compreensão poética, mítica, simbólica e metafórica do significado
do “significado” no seu próprio discurso psicológico. A unidade nunca mais poderia ser
concebida sob o princípio aristotélico da identidade. A maneira como Jung lidou com o
conceito da unus lapis, a “pedra [filosofal], “mostra o pensamento de Jung regido pelo
princípio não da identidade, mas da diferença, já que, em relação à ideia da lapis
philosophorum, Jung afirma diretamente que não é possível tirar dela algum sentido
com o raciocínio “nada além de”.
A “pedra filosofal”, diz Jung, era a meta da opus alquímica, e, por analogia, era a meta
da terapia (isto é, individuação) também. Jung gostava de citar a injunção alquímica
“transformem-se em pedras filosofais vivas!” Mas o que isso quer dizer? O que é essa
pedra?
É muitas coisas, com certeza, mas é uma só. De fato, ela é o um e os muitos, e ao
mesmo tempo o mediador entre o um e os muitos. É um pássaro, e é a sua comida. É
seu corpo e carne, e é espírito e vida. É a dor, e, na forma do Cristo, é a salvação da dor.
Acima de tudo, é uma pedra (comum e rejeitada pelas pessoas como sendo sem
importância), e, no entanto, não é uma pedra. Jung frequentemente citava a fórmula
“lithos ou lithos”, a pedra que não é uma pedra. Fica claro que nenhum significado do
“significado” que baseado em um princípio de identidade está implicado nisso.
De fato, embora a “pedra” tenha fala, ou seja linguagem, seu discurso, de acordo com
Jung, é o da imagem e metáfora. Todo o conhecimento da “pedra” e por meio da
“pedra” é metafórico ou, como Jung gostava de dizer, simbólico. Jung enfatizou isso
repetidamente.
Se a alquimia, na própria visão de Jung é a pista para a natureza da lógica do seu
discurso psicológico, se o lapis philosophorum é o “tesouro” daquele discurso que fala
por si mesmo, e se voltar-se para a lógica da alquimia para uma psico-lógica profunda
significa afastar-se de Aristóteles e do pensamento do tipo “nada além de”, então uma
transformação radical do significado do dito “significado” é implicado nos textos
maduros de C. G. Jung.
Não surpreende que a simbologia da pedra tenha sido uma pista para o sentido radical
de Jung do significado do “significado”. Ele nos conta como na sua infância ele
costumava sentar-se em uma pedra específica diante do muro do pátio quando se sentia
perturbado por questões de “significado”. Sentado na pedra, sua perplexidade era
substituída por um novo enigma. Nas palavras de Jung, “a questão então surgia: ‘sou eu
quem está sentado na pedra, ou sou eu a pedra onde ele está sentado?’”. Mesmo na
meia-idade, Jung voltava àquela pedra e sentava-se nela, perguntando-se “se ela era eu
ou se eu era ela”. Jung relata que sempre que pensava sobre o “significado secreto” da
pedra, o conflito entre o significado e a falta de significado cessava. A pedra, disse
Jung, era “o Outro em mim”. Foi certamente este outro Jung, falando “como poeta”,
como Russell Lockhart explicou tão bem, que disse: “a vida no seu cerne é aço sobre
pedra”.
Em relação à “substância desejada, a lapis”, a unidade representada por ela enquanto
meta, segundo Jung, “não é realmente uma questão de identificação”. O princípio da
identidade de Aristóteles não é aplicável. Antes, como diz Jung, é na verdade uma
questão do sicut hermenêutico – “como” ou “semelhante a”. Por meio dessa estratégia,
observa Jung, “o alquimista... realça... a humildade”.
Assim, Jung viria a dizer que o Self, que é como a “pedra” que não é uma pedra, é de tal
natureza que o discurso psicológico “preferiria não falar dela”. Nesse sentimento, Jung
estava repetindo um comentário sobre a lapis feito em Eranos em 1935 por Rudolf
Bernoulli. Este disse: “não existem palavras ou imagens adequadas para comunicar
isso... e os poucos que a conheceram só encontraram um modo de expressão: o
silêncio”. Não é preciso dizer que esta perspectiva corresponde à visão de Jung da
função do conceito de “inconsciente” na psicologia profunda.
Ela também corresponde à noção de Jung do que ele chamava de “o arquétipo do
significado”. Esse complexo psicológico era representado, para Jung, por figuras como
a Velha Sábia e o Velho Sábio. Mas como essas figuras sempre se apresentavam com
dois lados – isso é, como diferença simultânea – o significado do “significado” expresso
em tais figuras imaginais tinha de ser constantemente evitado, tornando o psicólogo –
como o alquimista – agnóstico, irônico e humilde. Jung, como Heidegger, veio a
perceber que se insistíssemos demais no “significado” do tipo Aristotélico, seria apenas
uma questão de tempo até que esse próprio “significado”, através daquilo que Jung
chamava de uma “ousada enantiodromia”, se transformasse no seu oposto. A falta de
significado está integrada no próprio arquétipo do significado. O caminho da sabedoria
consiste em evitar o julgamento unilateral em relação ao significado.
Essa evitação no interesse da diferença individuada é exatamente o que o neologismo
différance de Jacques Derrida pretende sugerir. Sua intenção é realçar tanto a
“diferença” ontológica, como fizeram Kierkegaard e Heidegger, e sugerir a permanente
“evitação” humana das identificações com e apegos a pretensões de verdade e alegações
de “significado”, tudo no interesse do respeito à vida e saúde, sem falar nas boas
maneiras.
A ideia nesse deslocamento da identidade à diferença é viver entre “unidades de
diferença [na vida] que não oferecem ressonância de relação” sem exigir de si mesmo
ou do seu objeto uma concordância ou identificação. A atmosfera de diferenciação (ou
individuação, como Jung a chamava), em vez de identificação, consiste em deixar as
coisas serem, permitindo que mundos se apresentem, colocando entre parênteses a
questão de “significado” ou “falta de significado” do modo como fazem essas filosofias
orientais que enfatizam a “ipseidade” (suchness) [N.T.: também traduzida como
“talidade”). A obsessão com a certeza, com a verdade e o dito “significado” dariam
lugar a viver no maravilhoso mundo da multiplicidade, sendo com tais mundos como
eles são, em um modo de generosidade e humildade em relação à verdade e
“significados”.
A maneira de Jung de expressar essa différance pré-derrideana foi usar o termo
“simbólico”. “Cada ponto de vista”, ele escreveu, “que interpreta a expressão simbólica
como sendo análoga a uma designação abreviada para alguma coisa conhecida é
semiótico. Um ponto de vista que interpreta a expressão simbólica com a melhor
formulação de uma coisa relativamente desconhecida, que por esse motivo não pode ser
expressa de modo mais claro ou característico, é simbólico”. Essa é uma distinção bem
conhecida entre sinais e símbolos que ocorre nos meios junguianos, tillichianos e em
outras ortodoxias pós-kantianas do início do século vinte. Os sinais apontam para algo
conhecido; os símbolos participam daquilo para o qual apontam e envolvem
profundidade, mistério e o desconhecido. Eles são o modo apropriado para a humildade
epistemológica.
Mas como James Hillman, entre outros observou, com o passar do tempo o simbolismo
se afastou do desconhecido na direção do conhecido. Na ortopraxia psicológica
junguiana, sabemos que gatos nos sonhos dos homens “significam” a anima, que ovos
nos sonhos de uma mulher “significam” a fecundidade, e assim por diante. Aristóteles e
seu princípio de identidade retornam, e Jung e a profundidade da sua psicologia são
perdidos. Há uma ironia nisso.
Na linguística pós-saussureana, a semiologia indica a natureza radicalmente cheia e
hiatos ou paratática do dito “significado” onde o princípio da diferença é honrado. O
simbolismo agora indica a presença de uma segurança semântica residual baseada no
princípio de identidade de Aristóteles. Se Jung fosse fazer hoje sua observação sobre
um discurso psicológico implicando um “desconhecimento”, ele teria de chamá-lo de
“semiótico” para proteger a radicalidade da natureza do seu significado do destino da
segunda geração que lida com símbolos, não simbolicamente, mas como significações
de conhecimento.
Então, não é surpresa que Jung, de modo positivamente pós-moderno, quando tinha
cinquenta e quatro anos, tenha escrito: “a vida é louca e significativa ao mesmo tempo.
E quando não rimos sobre o primeiro aspecto e especulamos sobre o outro, a vida é
excessivamente monótona, e tudo é reduzido à menor escala. Há então pouco senso e
muito pouco nonsense. Quando pensamos sobre o assunto, nada tem significado,
quando não há ninguém para pensar, não há ninguém para interpretar o que aconteceu.
Interpretações são apenas para aqueles que não compreendem...” Vinte e nove anos
depois, aos oitenta e quatro anos, Jung acrescentou: “o elemento que pensamos ter mais
peso que o outro, seja o significado ou a falta de significado, depende do
temperamento... Provavelmente, como todas as questões metafísicas, ambos são
verdadeiros: a vida é – ou tem – significado e falta de significado”. O dito “significado”
é para sempre evitado. A diferença psicológica e a diferenciação são afirmadas. A
“pedra” não é uma pedra.
Você também pode gostar
- 13343-Texto Do Artigo-49374-1-10-20110720Documento26 páginas13343-Texto Do Artigo-49374-1-10-20110720LjacinthoAinda não há avaliações
- Winicott (Arquivo Comprimido)Documento80 páginasWinicott (Arquivo Comprimido)LjacinthoAinda não há avaliações
- Notes 200528 173152 504Documento2 páginasNotes 200528 173152 504LjacinthoAinda não há avaliações
- C.G.jung - Seminários Sobre o Zaratustra de Nietzsche - Do I Ao VDocumento408 páginasC.G.jung - Seminários Sobre o Zaratustra de Nietzsche - Do I Ao VWalisson100% (7)
- Artigo Fantasma Opera PDFDocumento12 páginasArtigo Fantasma Opera PDFLjacinthoAinda não há avaliações
- Quercetina: Aspectos Gerais e Ações BiológicasDocumento9 páginasQuercetina: Aspectos Gerais e Ações BiológicasJulianoToledo100% (1)
- Campbell analisa origem religiãoDocumento3 páginasCampbell analisa origem religiãoRenan ReisAinda não há avaliações
- Roteiros de imaginação para persona e herói interiorDocumento131 páginasRoteiros de imaginação para persona e herói interiorAmanda AyresAinda não há avaliações
- Os Deuses e o Homem - Jean Shinoda BolenDocumento232 páginasOs Deuses e o Homem - Jean Shinoda BolenBranco de Paula100% (6)
- Gilbert Durand e a pedagogia do imaginárioDocumento7 páginasGilbert Durand e a pedagogia do imaginárioevaldogondimAinda não há avaliações
- 2018-03-15 181626Documento7 páginas2018-03-15 181626LjacinthoAinda não há avaliações
- Os Contos de Fadas e o Processo de Individuacao PDFDocumento133 páginasOs Contos de Fadas e o Processo de Individuacao PDFLjacinthoAinda não há avaliações
- 2018-03-15 182044Documento4 páginas2018-03-15 182044LjacinthoAinda não há avaliações
- A imaginação criadora em Jung e BachelardDocumento9 páginasA imaginação criadora em Jung e Bachelardlacan5Ainda não há avaliações
- Robert Hopcke - Jung, Junguianos e A Homossexualidade PDFDocumento104 páginasRobert Hopcke - Jung, Junguianos e A Homossexualidade PDFLjacintho100% (2)
- Ferro (Arquivo Comprimido)Documento89 páginasFerro (Arquivo Comprimido)LjacinthoAinda não há avaliações
- Dissertação UFMG - Carl Gustav Jung e o Mal-Estar Da ModernidadeDocumento255 páginasDissertação UFMG - Carl Gustav Jung e o Mal-Estar Da ModernidadeLjacintho50% (2)
- UM RETORNO AOS MITOS: CAMPBELL, ELIADE E JUNGDocumento7 páginasUM RETORNO AOS MITOS: CAMPBELL, ELIADE E JUNGRenata MontoroAinda não há avaliações
- A Mente Primordial e A Psicanálise de Crianças HojeDocumento17 páginasA Mente Primordial e A Psicanálise de Crianças HojeLjacinthoAinda não há avaliações
- Dissertação Puc - Estudo Psicológico de Pacientes Obesas e JungDocumento78 páginasDissertação Puc - Estudo Psicológico de Pacientes Obesas e JungLjacinthoAinda não há avaliações
- Trbalho de PortufuesDocumento14 páginasTrbalho de PortufuesJulio Cesar Cavalcante JanuarioAinda não há avaliações
- Conceitualização do Plantão PsicológicoDocumento4 páginasConceitualização do Plantão PsicológicoLjacinthoAinda não há avaliações
- UnipDocumento30 páginasUnipMaicon Augusto SantosAinda não há avaliações
- Imaginario Mítico - O Simbolismo Do Herói À Luz de Joseph Campbell e Carl Gustav Jung - Solange Missagia de MattosDocumento117 páginasImaginario Mítico - O Simbolismo Do Herói À Luz de Joseph Campbell e Carl Gustav Jung - Solange Missagia de MattosElmano Madail100% (3)
- Dissertação - o Debate Entre Freud e Jung Sobre A Teoria Da LibidoDocumento109 páginasDissertação - o Debate Entre Freud e Jung Sobre A Teoria Da LibidoLjacinthoAinda não há avaliações
- O Ciúme e o Amor Carlos ByingtonDocumento14 páginasO Ciúme e o Amor Carlos ByingtonLu27OliveiraAinda não há avaliações
- A contribuição da Alquimia para a Psicologia AnalíticaDocumento12 páginasA contribuição da Alquimia para a Psicologia AnalíticaLjacinthoAinda não há avaliações
- Reimaginando Indivíduo, Personalidade e Internalidade PsíquicaDocumento11 páginasReimaginando Indivíduo, Personalidade e Internalidade PsíquicaLjacinthoAinda não há avaliações
- Jung e sua relação com a religião: como influenciou seus estudosDocumento13 páginasJung e sua relação com a religião: como influenciou seus estudosLjacintho100% (1)
- 3 Husserl-Intencionalidade e FenomenologiaDocumento9 páginas3 Husserl-Intencionalidade e FenomenologiaAntonio CavalcanteAinda não há avaliações
- Hermenêutica Jurídica: da Antiguidade à ModernidadeDocumento18 páginasHermenêutica Jurídica: da Antiguidade à ModernidadeRomário MoreiraAinda não há avaliações
- Vestibular 2019 Período VespertinoDocumento27 páginasVestibular 2019 Período VespertinoGustavoluis GuAinda não há avaliações
- Conceitos Fundamentais de Hermenêutica FilosóficaDocumento43 páginasConceitos Fundamentais de Hermenêutica Filosóficafacediro100% (1)
- Escritos Sobre Arte - AlmandradeDocumento140 páginasEscritos Sobre Arte - AlmandradePaloma Costa0% (1)
- TCC Pós FinalDocumento15 páginasTCC Pós FinalMaria ClaraAinda não há avaliações
- A Força Transformadora Da Demanda Pelo Sentido: Universidade de Lisboa Faculdade de Letras Departamento de FilosofiaDocumento200 páginasA Força Transformadora Da Demanda Pelo Sentido: Universidade de Lisboa Faculdade de Letras Departamento de Filosofiamatheus chequitoAinda não há avaliações
- A crítica de Dostoiévski e Heidegger ao pensamento calculadorDocumento20 páginasA crítica de Dostoiévski e Heidegger ao pensamento calculadorFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Sartre e a Educação-RevoltaDocumento12 páginasSartre e a Educação-RevoltaBruno GonçalvesAinda não há avaliações
- Atualidade Do Conceito de Angustia de Kierkegaard PDFDocumento13 páginasAtualidade Do Conceito de Angustia de Kierkegaard PDFmarcelo_da_luz1795Ainda não há avaliações
- A Fenomenologia Antropológica de BinswangerDocumento18 páginasA Fenomenologia Antropológica de BinswangerPatricia MoreiraAinda não há avaliações
- História do pensamento existencial e fenomenológicoDocumento7 páginasHistória do pensamento existencial e fenomenológicoVerônica MoraesAinda não há avaliações
- Corpo-teatro e a necessidade de por-se em cenaDocumento13 páginasCorpo-teatro e a necessidade de por-se em cenaStéphane DisAinda não há avaliações
- Perform Are) Ana MendietaDocumento21 páginasPerform Are) Ana MendietaCivone Medeiros100% (2)
- Feijoo Sit Clinicas Solidao Identidade FemininaDocumento15 páginasFeijoo Sit Clinicas Solidao Identidade FemininaCyntia Regina Oliveira Yamauchi67% (3)
- A contribuição de Jaspers, Binswanger, Boss e Tatossian para a psicopatologia fenomenológicaDocumento13 páginasA contribuição de Jaspers, Binswanger, Boss e Tatossian para a psicopatologia fenomenológicaEdi A. RossiAinda não há avaliações
- A Ecúmena - Unidade entre Homem e NaturezaDocumento9 páginasA Ecúmena - Unidade entre Homem e NaturezaPedro Andrade MotaAinda não há avaliações
- A doutrina de Platão sobre a verdade segundo HeideggerDocumento9 páginasA doutrina de Platão sobre a verdade segundo HeideggerFrancy RochaAinda não há avaliações
- Poesia no cotidianoDocumento84 páginasPoesia no cotidianoDanieliRosaAinda não há avaliações
- A vida cristã primitiva e a temporalidade em HeideggerDocumento179 páginasA vida cristã primitiva e a temporalidade em HeideggerMarcelo Ribeiro da SilvaAinda não há avaliações
- A Angustia, o Nada e A Morte em HeideggerDocumento5 páginasA Angustia, o Nada e A Morte em HeideggerHenrique Shody100% (1)
- Araujo, 2006Documento31 páginasAraujo, 2006Erivelton NunesAinda não há avaliações
- Biopolítica e Zoopolítica: A Condição HumanaDocumento18 páginasBiopolítica e Zoopolítica: A Condição Humanagabriel ramosAinda não há avaliações
- FENO1 - A Existência para Além Do Sujeito PDFDocumento17 páginasFENO1 - A Existência para Além Do Sujeito PDFneiva_andrade9812Ainda não há avaliações
- A sedução da letra: antropotécnica e violência em SloterdijkDocumento11 páginasA sedução da letra: antropotécnica e violência em SloterdijkSartoretto LucasAinda não há avaliações
- Claude Geffré - Como Fazer Teologia - Paulinas, 1989Documento329 páginasClaude Geffré - Como Fazer Teologia - Paulinas, 1989Geka SkafAinda não há avaliações
- NecropsiaDocumento43 páginasNecropsiaClonyz100% (1)
- Ciência e Imagem de Mundo: PlanificaçãoDocumento24 páginasCiência e Imagem de Mundo: PlanificaçãoSamuel Castro RibeiroAinda não há avaliações
- Módulo 1 sobre conceitos da fenomenologia de HusserlDocumento18 páginasMódulo 1 sobre conceitos da fenomenologia de HusserllaiiizAinda não há avaliações
- Humanismo e ExitencialismoDocumento2 páginasHumanismo e Exitencialismomatheus toriscoAinda não há avaliações