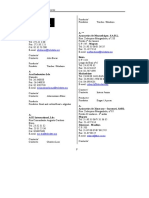Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fichamento LAINS & SILVA História Econômica de Portugal
Enviado por
Tiago Silva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações3 páginasTítulo original
Fichamento_LAINS_&_SILVA_História_econômica_de_Portugal
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações3 páginasFichamento LAINS & SILVA História Econômica de Portugal
Enviado por
Tiago SilvaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
CAP – II – MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A ocupação da terra.
→[p. 67-91]
CAP – III – SÁ, Isabel dos Guimarães. O trabalho.
→[p. 93-121] “peso esmagador do trabalho agrícola na economia portuguesa. Com
exceção de Braga, Lisboa, Évora e respectivo termo e o caso de Portimão (onde o
número de trabalhadores indiferenciados parece excessivo), o grosso da mão de obra
insere-se no sector primário” [97]. No tocante à divisão regional desse setor, “no Norte,
sobretudo no Minho, predomina a figura do lavrador que trabalha terras suas ou
arrendadas, prescindindo geralmente de trabalhadores rurais contratados a termo. Até ao
concelho da Feira, o número de jornaleiros permanece sempre abaixo dos 10%;
contudo, nas unidades seguintes, o seu número corresponde já a mais de 40% dos
trabalhadores agrícolas. Em contrapartida, à medida que caminhamos para o Sul,
diminui o número de lavradores”. “Embora não forçosamente proprietários da terra que
cultivavam, os lavradores exploravam uma ou mais herdades, enquanto os seareiros se
responsabilizavam pelo cultivo de simples courelas, distinguindo-se dos assalariados
pela posse de um capital fixo. Na hierarquia do trabalho da terra, os lavradores
constituíam trabalhadores enraizados, estando claramente acima dos seareiros e
assalariados, que constituíam a massa esmagadora dos trabalhadores do campo no
Portugal mediterrânico”. “A forma de exploração da terra reflete a grande dimensão das
propriedades fundiárias” [100]. Em relação ao quadro da agricultura, “a pesca tem uma
expressão reduzida, uma vez que apenas se representam três localidades do litoral com
atividade significativa (Póvoa do Varzim, Matosinhos e Cascais)”. “Não será excessivo
frisar uma vez mais o carácter irregular e inconstante do trabalho agrícola, onde os
tempos mortos alternavam com períodos de grande azáfama, possibilitando aos
habitantes das zonas rurais a participação numa gama de actividades tanto industriais
como comerciais” [101].
CAP – V - SERRÃO, José Vicente. Agricultura.
→[p. 145-175] “Talvez em nenhuma outra época da história de Portugal se tenha
discutido e escrito tanto sobre a agricultura como nos finais do século XVIII e
princípios do século XIX. Para as elites econômicas, administrativas e políticas, a
reflexão sobre a situação e os destinos da economia do país passava na ordem do dia e,
o que é mais, tinha sido hegemonizada por preocupações e concepções agraristas. Daí
resultou uma abundante literatura, publicada ou não, composta por largas dezenas de
escritos de toda a espécie (opúsculos, memórias acadêmicas, pareceres, consultas,
cartas, relatórios, planos, projetos, etc.) dedicados à agricultura ou onde esta, de uma
forma prioritária ou não, é objeto de atenção” [145]. De onde surge tamanho interesse?
Tem a ver com um diagnóstico de fracasso ou com uma preocupação relativa à remoção
dos obstáculos para seu contínuo avanço? “Por outras palavras: [esses escritos]
reportavam-se a uma agricultura decadente e que havia fracassado ou a uma agricultura
em crescimento que se confrontava com fatores de bloqueio?” Talvez um pouco de tudo
isso tenha sido referido, com tendência forte a frisar o atraso. Mas do ponto de vista dos
fatos, “na globalidade, pode-se dizer que o século XVIII foi um bom século agrícola”
[147]. “Visto do lado do setor agrário, o século XVIII apresenta assim uma quadro
macroeconômico que, simplificando muito, se poderia caracterizar do seguinte modo:
havia mais gente para alimentar e querer terra; havia mais dinheiro para investir nela;
havia mais oportunidades de mercado; e havia até, devido à ‘abundância’ de meios de
pagamentos das importações, a oportunidade para abdicar de atividades agrícolas menos
rentáveis”. O contexto era, portanto, de crescimento populacional e de divisas,
proporcionadas em grande monta pelo ouro brasileiro [149]. Mais ainda, o que vinha
animar a agricultura portuguesa era a expansão do mercado, seja interno, impulsionado
pelo aumento dos rendimentos monetários de uma parte da população, seja ele externo,
puxado pelo Brasil e pela Inglaterra, principalmente [152]. “Recapitulando:
enriquecimento e reconversão da paisagem e do produto agrícola, alargamento da área
cultivada, aumento da produção, algumas novidades técnicas, maior investimento na
agricultura, maior dependência e boa reação aos estímulos do mercado, revalorização
comparativa da agricultura no quadro geral da economia portuguesa. O balanço é,
portanto, globalmente positivo”. Mas havia gargalos: alguns deles diziam respeito à
“estrutura da propriedade, com sua distribuição social e com os regimes de apropriação
da renda agrícola, onde se destacavam as restrições ao investimento e à mobilidade do
mercado fundiário impostas pelos vínculos, pelos bens de mão-morta e pelos direitos
coletivos, bem como o efeito de descapitalização da atividade agrícola provocado pelos
direitos senhoriais e contratuais”. Outros gargalos derivavam de uma infraestrutura
precária e de um modo de vida de autoconsumo de comunidades alheias aos impulsos
do mercado. Mas o que era mais frisado era a falta de pão, entendida como
consequência do problemático uso do solo ou do seu não uso, o que levava à importação
de cereais estrangeiros [154]. Até que ponto os críticos da época tinham razão? “o
século XVIII não conheceu uma tendência única: registrou períodos de expansão da
produção, períodos de declínio e períodos de verdadeira crise. Tanto para o conjunto da
agricultura como naquilo que diz respeito especificamente ao setor cerealícola, está,
portanto, fora de questão tomar o século XVIII como uma época de declínio sistemático
da produção, ou de crise, ou de decadência – os dados existentes não dão sustentação a
essa tese. Aliás, na maioria dos casos em que é possível fazer a comparação, verifica-se
que a produção cerealífera era mais elevada no século XVIII do que no XVII” [161].
Mas então os críticos da época não tinham razão alguma em suas admoestações
relativas à carência de cereais e à submissão portuguesa nesse tocante às importações
advindas das mais diversas regiões europeias e inclusive dos EUA a partir do final da
década de 1770? “a dependência frumentária do exterior existia, sem dúvida, mas, no
cômputo nacional, ela nada tinha de dramático. Apenas no que respeitava ao
abastecimento da capital era flagrante a prevalência dos cereais importados, e, a serem
corretos os valores de 1729, pode dizer-se que esse fenômeno se tinha acentuado no
decurso do século. A questão foi muito empolada pelas elites intelectuais e políticas da
segunda metade do século XVIII. Mais familiarizadas com a situação de Lisboa, que era
a que conheciam melhor, e mais dominadas por preconceitos de ordem política ou moral
(a defesa do ‘interesse público’, do ‘bem comum’ e da soberania), terão tomado a parte
pelo todo, construindo a partir daí uma imagem muito criticada do conjunto da
agricultura, carregada de tons negros e genericamente pessimistas”. Portanto, “há que
rever seriamente essa visão tradicional que os publicistas da época nos legara (e da qual
a própria historiografia tem tido dificuldades em se libertar), segundo a qual o país
padecia de uma grave dependência frumentária, sinal de crise profunda da
cerealicultura, ou mesmo, nalgumas generalizações ainda mais ousadas, sinal de que
toda a agricultura portuguesa chegou ao final do século XVIII mergulhada na crise”
[172].
Você também pode gostar
- Ed 11 2022 PapqDocumento15 páginasEd 11 2022 PapqTiago SilvaAinda não há avaliações
- Dialnet ALeituraDoPeAntonioVieiraSobreOsImpassesEconomicos 6077177Documento19 páginasDialnet ALeituraDoPeAntonioVieiraSobreOsImpassesEconomicos 6077177Tiago SilvaAinda não há avaliações
- Lucasbraga, 44-60Documento17 páginasLucasbraga, 44-60Tiago SilvaAinda não há avaliações
- A Centralidade Da Cultura Oral Nas Sociedades AfricanasDocumento22 páginasA Centralidade Da Cultura Oral Nas Sociedades AfricanasTiago SilvaAinda não há avaliações
- SEI GOVMG - 38786802 - FAPEMIG - Homologação de ResultadoDocumento3 páginasSEI GOVMG - 38786802 - FAPEMIG - Homologação de ResultadoTiago SilvaAinda não há avaliações
- Luizamoraes 106 Texto Do Artigo 511 1 10 20190904Documento17 páginasLuizamoraes 106 Texto Do Artigo 511 1 10 20190904Tiago SilvaAinda não há avaliações
- Edital Proppg 10 22Documento10 páginasEdital Proppg 10 22Tiago SilvaAinda não há avaliações
- Áfricas Ocidental e Central AtlânticaDocumento15 páginasÁfricas Ocidental e Central AtlânticaTiago SilvaAinda não há avaliações
- Atividade sobre RenascimentoDocumento5 páginasAtividade sobre RenascimentoTiago SilvaAinda não há avaliações
- Atividade I Sexto ANODocumento4 páginasAtividade I Sexto ANOTiago SilvaAinda não há avaliações
- Brasil País Dos OrixásDocumento15 páginasBrasil País Dos OrixásTiago SilvaAinda não há avaliações
- Idade Média e Renascimento na HistóriaDocumento3 páginasIdade Média e Renascimento na HistóriaTiago SilvaAinda não há avaliações
- Atividade II Sexto ANODocumento3 páginasAtividade II Sexto ANOTiago SilvaAinda não há avaliações
- Era VargasDocumento12 páginasEra VargasTiago SilvaAinda não há avaliações
- Cidadania no Brasil: direitos e deveres em evoluçãoDocumento15 páginasCidadania no Brasil: direitos e deveres em evoluçãoTiago SilvaAinda não há avaliações
- Rotas Comerciais Entre Oriente e OcidenteDocumento4 páginasRotas Comerciais Entre Oriente e OcidenteTiago SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento RAMINELLI Viagens UltramarinasDocumento7 páginasFichamento RAMINELLI Viagens UltramarinasTiago SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento - PINTO, João R. Imagem e Conhecimento Da ÁfricaDocumento1 páginaFichamento - PINTO, João R. Imagem e Conhecimento Da ÁfricaTiago SilvaAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO SEXTO ANO (História) 2021Documento2 páginasAVALIAÇÃO SEXTO ANO (História) 2021Tiago SilvaAinda não há avaliações
- Atividade Viii 6 Ano HistóriaDocumento2 páginasAtividade Viii 6 Ano HistóriaTiago SilvaAinda não há avaliações
- A conquista espanhola e a colonização da AméricaDocumento5 páginasA conquista espanhola e a colonização da AméricaTiago SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento - PINTO, João R. Imagem e Conhecimento Da ÁfricaDocumento1 páginaFichamento - PINTO, João R. Imagem e Conhecimento Da ÁfricaTiago SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento NEVES Independence Au BrésilDocumento2 páginasFichamento NEVES Independence Au BrésilTiago SilvaAinda não há avaliações
- Atividade Iv 6 Ano Ens ReligiosoDocumento2 páginasAtividade Iv 6 Ano Ens ReligiosoTiago SilvaAinda não há avaliações
- Atividade Viii 6 Ano Ens ReligiosoDocumento2 páginasAtividade Viii 6 Ano Ens ReligiosoTiago SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento LAINS & SILVA História Econômica de PortugalDocumento3 páginasFichamento LAINS & SILVA História Econômica de PortugalTiago SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento - ELLIOT, John. A Espanha e A América Nos Séculos XVI e XVIIDocumento2 páginasFichamento - ELLIOT, John. A Espanha e A América Nos Séculos XVI e XVIITiago SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento NEVES Independence Au BrésilDocumento2 páginasFichamento NEVES Independence Au BrésilTiago SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento RAMINELLI Viagens UltramarinasDocumento7 páginasFichamento RAMINELLI Viagens UltramarinasTiago SilvaAinda não há avaliações
- Manual de Identificação de Pragas de Milho AtualizadoDocumento69 páginasManual de Identificação de Pragas de Milho AtualizadoFábio Luís Mostasso100% (1)
- Agronomy vocabulary crossword puzzle termsDocumento1 páginaAgronomy vocabulary crossword puzzle termsVitória MelloAinda não há avaliações
- Lista Exportadores Produtos ContatosDocumento41 páginasLista Exportadores Produtos ContatosAniceto Salomão Machava100% (1)
- Domínios morfoclimáticos do BrasilDocumento2 páginasDomínios morfoclimáticos do BrasilJackson Vinicius OliveiraAinda não há avaliações
- Peças agrícolas CompactaDocumento24 páginasPeças agrícolas CompactaALCIMAR ANGELO CONSALTER MEAinda não há avaliações
- Manejo de Gliricidia Sepium em RoraimaDocumento8 páginasManejo de Gliricidia Sepium em RoraimaNewton de Lucena CostaAinda não há avaliações
- Arações: tipos, componentes e regulagensDocumento22 páginasArações: tipos, componentes e regulagensDiego MarinAinda não há avaliações
- Orç 2 Fazenda Tres RanchoDocumento1 páginaOrç 2 Fazenda Tres RancholuisdanielcgarciaAinda não há avaliações
- GÊNERO ANDROPOGON ProntoDocumento50 páginasGÊNERO ANDROPOGON Prontoanelise_50% (2)
- Cultivo do algodoeiro: preparo do solo e semeaduraDocumento20 páginasCultivo do algodoeiro: preparo do solo e semeaduraFrancisco De AssisAinda não há avaliações
- 1 AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS 3º ANO-2º Trimestre SoloDocumento2 páginas1 AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS 3º ANO-2º Trimestre SoloDricoSouza89% (19)
- Cultivo Batata DoceDocumento64 páginasCultivo Batata DocejearjearAinda não há avaliações
- Relatório 2 Ecologia AgricolaDocumento2 páginasRelatório 2 Ecologia AgricolaJoão Rubens MartinsAinda não há avaliações
- Poaceae: Características e importância da família das gramíneasDocumento22 páginasPoaceae: Características e importância da família das gramíneasdelineide0% (1)
- 5908 12697 1 PBDocumento10 páginas5908 12697 1 PBMarcio RolimAinda não há avaliações
- O Espaço Rural BrasileiroDocumento42 páginasO Espaço Rural BrasileiroLeticia Duarte de CamposAinda não há avaliações
- A Matemática No InglêsDocumento27 páginasA Matemática No InglêsAlvaro BenattiAinda não há avaliações
- BR Princesa Web-5Documento5 páginasBR Princesa Web-5Luiz Felipe Rossato67% (3)
- Quais alimentos foram trazidos pelos japonesesDocumento7 páginasQuais alimentos foram trazidos pelos japonesesLeandro SakaeAinda não há avaliações
- Pneus AgrícolasDocumento45 páginasPneus AgrícolasAlessandro MaiaAinda não há avaliações
- Introdução ChocolateDocumento18 páginasIntrodução ChocolateBenilda GasparAinda não há avaliações
- Cultivo Alfafa CppseDocumento10 páginasCultivo Alfafa Cppseapi-3807298Ainda não há avaliações
- Custo de produção e rentabilidade da alfaceDocumento6 páginasCusto de produção e rentabilidade da alfaceLuandersonGamaAinda não há avaliações
- Anuário GazetaDocumento24 páginasAnuário GazetadruedatAinda não há avaliações
- 1 ETAPA - APOSTILA - Culturas Anuais - MágnoDocumento37 páginas1 ETAPA - APOSTILA - Culturas Anuais - MágnoEmily VitóriaAinda não há avaliações
- Preparo Inicial do SoloDocumento28 páginasPreparo Inicial do SoloWilliam Jhone Ferreira DiasAinda não há avaliações
- Check List GuindautoDocumento16 páginasCheck List GuindautoCicinhaAinda não há avaliações
- 9 Aula-Avaliacao Da Fertilidade Do SoloDocumento30 páginas9 Aula-Avaliacao Da Fertilidade Do SoloVitor Joel ChavesAinda não há avaliações
- Calagem de solos ácidos corrige acidez e aumenta produtividadeDocumento5 páginasCalagem de solos ácidos corrige acidez e aumenta produtividadeCássioAinda não há avaliações
- Sistemas Agrários em Paraíba Do Sul - 1850-1920 - Um Estudo de Relações Não-Capitalistas de Produção - João Luis Ribeiro FragosoDocumento197 páginasSistemas Agrários em Paraíba Do Sul - 1850-1920 - Um Estudo de Relações Não-Capitalistas de Produção - João Luis Ribeiro FragosoSergio Rodrigues RibeiroAinda não há avaliações