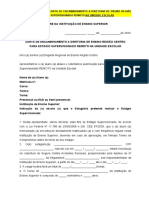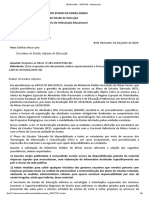Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Rosa Cruz e Silva
Rosa Cruz e Silva
Enviado por
Saymon Siqueira100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
138 visualizações17 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
138 visualizações17 páginasRosa Cruz e Silva
Rosa Cruz e Silva
Enviado por
Saymon SiqueiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 17
AS FEIRAS DO NDONGO.
A OUTRA VERTENTE DO COMERCIO
NO SECULO XVII
por
ROSA DA CRUZ E SILVA
Arquivo Histérico Nacional — Luanda
‘A comunicagao que trazemos a este semindrio pretende ser a nossa
contribuicao, para a caracterizagéo de uma sociedade africana no sécu-
lo XVII, o antigo reino do Ndongo, centrando a nossa andlise nos principais
circuitos comerciais vigentes, e que desembocavam nos varios mercados €
feiras que se foram organizando ao longo dos tempos no conjunto das
aglomeracées urbanas, ali onde as condigGes climaticas, sobretudo, favore-
ceram de facto 0 assentamento das populagées. Assim, entende-se facil-
mente que neste caso, os mercados ¢ feiras a que faremos referéncia neste
texto se posicionem em zonas nao muito afastados dos principais cursos de
4gua. Esta tentativa de reconstituicgo do modelo econémico pré-colonial
no Ndongo, e as alteragées que af se operaram na sequéncia dos contactos
que se foram estabelecendo com os europeus, na medida que permitirem
as fontes ao nosso alcance, visa, em primeira instancia, chamar a atengio
para o estudo que se impde sobre as instituigGes africanas antigas, cujo
nivel de abordagem, entre nés, € muito escasso. Quanto as insuficiéncias
das nossas fontes, j4 que estas, na sua maioria, se constituem de crénicas,
descriges de missionérios, ou até de relatérios e outros documentos de
governadores, cuja forma de olhar e aprender este mundo para si desco-
nhecido nfo deixa de ser, salvo as excepgSes, em muitos casos, preconcei-
tuoso, o facto é que a nossa curta experiéncia em lidar com tais materiais
demonstrou que, através deles, podemos ir refazendo gradualmente as vé-
rias fases desse passado longinquo dos antigos reinos que integram hoje
territério de Angola.
E nosso propésito rever a dinfmica sécio-econémica das sociedades
afticanas, localizadas ao longo € na confluéncia dos principais cursos flu-
viais, nesta regio, sendo que af a pratica do comércio permitiu a abertura
de rotas comerciais importantes que estabeleceram a ligacao entre os povos
407
ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA
das diversas regides, sejam as mais vizinhas, como as de reas mais afasta-
das. Rotas essas que vao ser retomadas pelos novos parceitos comerciais
com a intervengo dos Portugueses que, chegados no tiltimo quartel do
século xvi via Adantico, «invadem» o Kwanza e penetram no interior do
Reino do Ndongo.
As contribuigées de Jan Vansina e de David Birmingham, que iniciam
a abordagem da problematica do comércio pré-colonial na regiao central-
-ocidental de Africa, sao as luzes que indicam a estrada que nos resta percorrer
para que se alcance um maior conhecimento destas sociedades.
Os mercados do Ndongo, no periodo a que se refere este texto, assu-
mem uma importancia extraordinéria, porquanto 0 seu estudo, em nosso
entender, permite avaliar o tipo de relages econémicas que entéo domi-
navam, o nivel de intervengao dos poderes afticanos nesses mesmos circui-
tos comerciais, e ainda verificar como se processou a reac¢ao africana &
nova realidade econémica que se construfa no seu territério.
E nossa intengao trazer a lume a problematica das rotas comerciais
antigas que ligavam esses mesmos estados ou os seus povoados entre si. Em
que medida permaneceram ou nfo as rotas ¢ todo o sistema de comércio
preexistente, de que a referéncia & feira como espaco privilegiado das tran-
sacgGes comerciais para este caso é nota dominante na maior parte dos
documentos portugueses seleccionados para este estudo.
O Perfopo PRE-CoLoNIAL
As primeiras noticias sobre a pratica do comércio entre os Mbundu,
mais concretamente no Reino do Ndongo, chegam-nos dos escritos dos
missionérios jesuitas (portugueses ¢ castelhanos) que integraram a comiti-
va de Paulo Dias de Novais, aquando da sua primeira viagem as terras de
Ngola Kiluanje, o soberano do Ndongo. Chegados a barra do Kwanza no
ano de 1560, ¢ movidos pela ambigao da expansio comercial, das
potencialidades minerais, o que levaria posteriormente & conquista do rei-
no, falam-nos com algum pormeénor dessa aventura que foi o tentar des-
408
AS FEIRAS DO NDONGO
bravar a terra, € os esforcos empreendidos para conquisté-la. Puderam es-
tes homens entrar rio acima para serem conduzidos até & corte do Ngola.
Por todos os caminhos, dizem os cronistas, 0 mercado era uma constante.
«{..-] todos los dias del mundo hazen por sus tierras el mercado adonde
trae todas sus cossas a vender, la sal es alla su moneda y con el compran
todas sus cossas que an menester [...].»!
Nao parece existir diivida quanto as possibilidades dos recursos ¢ a
capacidade destes povos de os explorar, para a criagio de espacos prdprios
para a organizacio do comércio. A produgao local supria as necessidades
das comunidades, permitindo 0 abastecimento regular dos mercados na
maioria dos povoados, que foram entio visitados pelos prdprios missiond-
ios, No decorrer das negociagSes entre os portugueses dirigidos por Paulo
Dias de Novais e Ngola Kiluange, e dadaa demora de tal processo negocial,
os mantimentos que se guardavam a bordo das embarcagées portuguesas
escassearam a tal ponto que estes nao tiveram outra alternativa que nio
fosse abastecer-se de alimento nos mercados que se faziam na proximidade
da barra do Kwanza: «[...] esteue toda la gente alli muy enferma y quasi a
la muerte, porque nao tenia y a que comer sino harina de la tierra cozida
que trase los negros a uender alli [...]2.» As fontes minerais, (sal, ferro), os
aiveis de produgio vindos da agricultura e da pastoricia, ou ainda de uma
pequena industria local, foram suficientes para fazer movimentar homens
© mercadorias e fomentar uma complexa rede de comércio, primeiro os
mercados locais que supriam as necessidades mais ingentes das populagées
locais ¢ Areas vizinhas, ou nas grandes feiras onde a amplitude das transac-
Ses comerciais exigia obviamente outros recursos, sendo que os seus con-
correntes eram provenientes de paragens mais longinquas. Af, o circuito
comercial existente antes da presenga portuguesa na regiao fazia correr gente
de regides muito afastadas, 0 chamado comércio de longa distancia. O sal
da Kissama a poucos quilémetros da costa, no interior, controlado pelos
titulares do poder Ngola, era bastante procurado nas feiras do Ndongo por
gente vinda do Songo ou até mesmo da Lunda’. A diversidade de unidades
2 PE. ANTONIO BRASIO, Monumenta Missiondria Africana, vol. 1, p. 511, Agencia Geral do
Ultramas, 1953.
2 Ibidem, p. 499.
3 Ibidem, p. 520. Citado em BIRMINGHAM, (1970), p. 165.
409
ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA
de troca nestas transacgées explica por si a complexidade destes circuitos
comerciais.
No que se refere & diferenciagao que também aqui nos parece licita
estabelecer entre 0 mercado e a feira propriamente dita, para usar a termi-
nologia das nossas fontes, partindo do pressuposto que tais conceitos obe-
decem exclusivamente aos padrdes mentais dos missiondrios que os des-
creveram, ainda assim julgamos que podemos avangar um pouco mais nes-
ta problemética a partir dos contributos dos historiadores que se dedica-
ram ao estudo das actividades comerciais em periodos muito espectficos de
outras sociedades cuja organizagao econémica pouco se diferencia da que
vimos tratando neste texto. As feitas ¢ mercados vistos como um fenémeno
universal sio a sequéncia Idgica da organizagio de um espaco urbano em
que os produtores se obrigam a dar um destino adequado aos seus exce-
dentes, provocando-se naturalmente a expansio das transacgdes comer-
ciais, sendo que estas variam de acordo com o volume de mercadorias que
intervém neste tipo de operagées.
Segundo Virginia Rau no seu estudo As Feiras Medievais Portuguesas,
ena senda de Henti Pirenne, o mercado ¢ um modelo com caracteristicas
muito locais de pequena dimensio, destina-se exclusivamente a prover a
populagio dos bens alimentares correntes, no quotidiano ¢ nos espagos em
que estes tém lugar‘. De acordo com esta classificagao, em nosso entender,
ela ajusta-se ao exemplo do Ndongo. Os mercados descritos pelos missio-
nérios da comitiva de Novais, para se referirem a frequéncia de tal pratica
na maioria dos povoados por si visitados, mesmo porque cles préprios
também se tornaram clientes ao abastecerem-se dos viveres africanos quando
se esgotou a reserva vinda de Lisboa, como vimos mais acima.
Quanto as feiras também reveladas nos documentos relativos aos pri-
meiros contactos que tiveram lugar com as autoridades do Ndongo ¢ sua
gente, estas implicam outros mecanismos ¢ mais recursos. Ainda, segundo
Virginia Rau, as feiras constituem o ponto de reunifo periédica de merca-
dotes profissionais. E um espaco onde se aumentam os mimeros seja de
mercadores como de mercadorias, bem como a proveniéncia dos mercado-
res que geralmente se deslocam em caravanas para percorrer distancias lon-
4-Vinciia Rau, Feiras Medievais Portuguesas, Substdios para o Seu Estudo, 1983, p. 56.
410
AS FEIRAS DO NDONGO
gas’. Af sim, estamos perante uma feira. [al como nas demais sociedades,
sejam elas europeias ou nao, este fendmeno repete-se, a diferenca aqui por-
-se-4 mais em termos do tempo em que estas actividades ocorreram, tendo
em conta as suas especificidades ¢ que correspondem naturalmente ao ni-
vel de desenvolvimento de cada sociedade. E Henri Pirenne vai mais longe
quando afirma: «(...] Por primitiva que seja, toda a sociedade sedentéria
tem a necessidade de fornecer aos seus membros centros de reuniao ou, se
quiser, lugares de encontro. A celebrago do culto, 0 arranjo dos mercado-
res, [...] fixam necessariamente a indicagio de locais destinados a receber
homens que querem ou deyem participar nesses actos [...]’» No caso do
Ndongo, e para falar jé das feiras que os cronistas nos anunciaram, estas
posicionam-se numa escala de valores que vai desde o rei, junto & Corte do
qual se organiza a feira de maior importancia, aos sobas seus vassalos, ou
ainda a qualquer particular que 0 possa em razao das suas possibilidades
organizar.
Cabe aqui referir que os espacos comerciais obedeciam obviamente a
um conjunto de regras que garantiam o seu normal funcionamento. Sen-
do que o poder politico tinha uma forte capacidade de intervensio, vale a
pena deixar um extracto do documento de 1582-1583 que nos elucida
melhor sobre a hierarquizagao desses espagos, onde o politico e comercial
se justapdem, «{...] Antre elles no ha moeda de ouro nem de metal, nem
cousa que responda a elle, mas usam em lugar disso de certas cousas que
pial
E para isto, alem das feiras particulares que cada Senhor faz em suas terras,
tem seus precos certos e ordinarios, nos quais entrdo escravos [
ha outras gerais a que concorrem de todas as partes. E a principal se faz em
Cabaga, que he a cidade onde residem os reis, ¢ nesta ha hu home da terra
posto pello Rey, que tem por officio andar sempre no lugar em que se
uendem as pecas para saber se algiia dellas he livre do qual tem grande
pena o que o vende. E elle fica liure. E cujdo que o mesmo se faz nas outras
feiras, pois sa6 regidas por officiais do Rey. E a experiencia que temos hé
que antre os mesmos gentios se estranha tanto uenderse por escravo 0 que
hé liure, que logo se sabe, polos rebates que dam nos passos, por onde
5 Ob. cit., 1983, p. 57.
© Henri PiRenne, As Cidades da Idade Média, Publicagoes Europa Amética, p. 55.
411
ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA
pode sair, e maliJos que buscao pera o empedir’.»» O mercado afticano
obedece obviamente a regras préprias.
Neste caso vemos que a componente feira de escravos est mais expli-
cita no documento que elegemos para o nosso trabalho. O papel do oficial
do rei em todas as feiras, para além de ser o garante da paz da feira, tem
como fungao 0 controlo do nivel de transacgdes efectuadas, 0 apuramento
das receitas arrecadadas, bem como o controlo cerrado sobre a provavel
venda de cidadaos livres, que, como vimos na passagem do documento
acima transcrito, trata-se de estatuto de grande reputacao entre os Mbundu.
O estatuto de escravo, 0 que se vende nas ditas feiras, € a de um ho-
mem a quem foi retirada alguma liberdade por motivos que resultam da
aplicagao de penas por crimes varios por este cometidos, ou os capturados
no decorrer das guerras entre estados vizinhos. O que nos parece impor-
tante aqui destacar é que esta sociedade que vimos tratando, para realgar a
componente econémica vista através dos circuitos comerciais, informa um
dado de capital importancia. A questio do homem livre que goza inclusive
de protecgao das autoridades do reino, quando uma situagao anémala,
como neste caso, lhe pode retirar a respectiva liberdade. Julgamos que 2
organizacio de qualquer uma das feiras, a de mantimentos ea de escravos,
obedecem seguramente aos mesmos pressupostos. © garante da paz da
feira € fundamental, pelo que os oficiais do tei cumprem tal papel, seja
para avaliar os lucros que possam servir de referéncia para a tributagao a0
rei, seja para dar aos mercadores principalmente os de fora (vindos de pa-
ragens distantes), a tranquilidade que a concentrago de pessoas em mer-
cado ou feira implica.
Esta questio foi objecto de andlise igualmente no trabalho de Virginia
Rau sobre as feiras medievais portuguesas, em que a dado passo se Ié: «No
local onde se faziam as feiras existia uma paz especial, a paz da feira, que
proibia nele toda a disputa ou vinganga, ou todo o acto de hostilidade,
com penas severas como castigo em caso de transgressio. Todos os que as
frequentavam estavam seguros pela protecdo outorgada pelo senhor
territorial, © conductus. Guardas especiais, custodes nundinarum, fiscaliza-
vam as transaccées ¢ tinham a seu cargo o policiamento das feiras ¢ a s
7 Ob. cit, 1953, p. 227
412
AS FEIRAS DO NDONGO
jurisdigao®, Vemos pois que inclusivamente as regras de conduta para fazer
funcionar os espagos de comércio em pouco variam nas sociedades que
aqui se pem em confronto.
A OuTRA VERTENTE DO COMERCIO
Estamos assim em presenga de dois tipos de comércio, o de manti-
mentos e 0 de escravos. Por um lado vendem-se os mantimentos como
resultado da acumulagio da produso excedentaria local e, por outro, os
escravos, a mao-de-obra, que jé nesta altura era bastante solicitada para as
plantagées da cana-sacarina em Sao Tomé e no Brasil. Digamos mesmo
que nos mercados afticanos de mantimentos se fazia igualmente a venda
dos escravos. Este tiltimo tipo de comércio chegou ao Ndongo muito an-
tes da intervencao oficial das autoridades portuguesas, que por esta altura
mantinham com 0 Kongo ¢ com os seus mais altos dignitdrios relagdes
politicas ¢ econémicas frutuosas. Os moradores de Séo Tomé, jé nas pri-
meiras décadas do século xv1, recebiam navios transportando escravos, pro-
venientes dos mercados do interior do Ndongo, situacao que teria provo-
cado um mal-estar entre Lisboa ¢ o rei do Kongo, visto que este soberano
africano reclamava para si o monopélio do comércio com Portugal. A de-
manda de mao-de-obra escrava, com vista a satisfazer as necessidades do
Brasil, das Indias e de Castela, nao se conformava com 0 movimento ma-
ritimo no porto de Mpinda, pelo que, 2 margem da lei, os mercadores
particulares portugueses percorriam o interior do reino com as suas fazen-
das em busca do negécio barato. Daf que os mercados no Ndongo se fo-
ram tornando ao mesmo tempo no espago para a venda de mantimentos e
de escravos. Importa saber quais teriam sido as rotas para a circulac4o dos
mantimentos e dos escravos.
As tentativas da coroa portuguesa para o estabelecimento de contac-
tos oficiais com o Ndongo datam de 1520, porém sem grandes resultados.
® Ob cit, 1983, p. 42.
413
ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA
‘As informagGes sobre as potencialidades do reino, designadamente as mi-
nerais, chegaram rapidamente a Lisboa, o que levaria mais tarde, entre
1560 1575, a organizacao de duas misses consecutivas capitaneadas por
Paulo Dias de Novais.
Estabelecidos os integrantes das comitivas (militares ¢ missionétios)
na cidade de Luanda, miicleo inicial da colénia portuguesa nesta regio
engendram-se a partir de af as estratégias para a ocupagio do tertitério,
visto que o rei do Ndongo nao se mostrou nada receptivo as propostas de
Lisboa. Os movimentos militares que entio se foram desencadeando com
vista ao controlo das principais rotas comercais existentes, apesar da resis-
téncia das forcas afticanas, levou & ocupacao paulatina do reino.
A progressio militar acompanhou naturalmente as vias que os con-
duziram & capital do reino, tentando dominar os vatios sobas ao longo de
mesmo percurso. Ai se foram estabelecendo os presidios como garantes
desse dominio. Acontece porém que os locais eleitos para a construg
destas casas militares nao € arbitréria. Eles posicionam-se nos pontos de
maior concentragao das populagées, eles acompanham os centros de co-
mércio, isto é os mercados ¢ as feiras. Digamos que as feiras de que tanto
falam os documentos jesuftas, ¢ que se multiplicam a um ritmo assustad
com o crescendo da conquista, nao sio igualmente criagdo europeia’. Elas
existiam jé para responder as solicitagSes do consumo interno € nao sé.
bem ao ritmo da realidade econdmica deste estado africano. Com o acen-
tuar desta intervengao, elas adaptam-se ao novo quadro vigente.
‘A problematica levantada por Adriano Parteira relativamente 20
balho de Jan Vansina, «Long-Distance Trade-Routes in Central Africa»
torna-se bastante pertinente neste caso. Vansina caracteriza 0 comércio d
Africa Central Ocidental em dois perfodos distantes: a fase anterior € pos
terior & presenga europeia. No primeiro caso, antes dos Europeus, os AE
canos dessa Africa Central-Ocidental protagonizavam um comércio de «a=
ta distancia», entre vizinhos, comércio de caracteristicas essencialme:
de
regionais”; para o segundo caso, ainda nesta éptica, ocorre a novid:
«comércio de longa distancia», que no caso do Ndongo ¢ introduzida p=
* Eucenio Ferreina, Fetras ¢ Presidios, p. 47.
"© ADRIANO PARREIRA, Economia e Sociedade no Tempo da Rainha Njinga, 1990, pp.
414
AS FEIRAS DO NDONGO
los Portugueses. Aqui est4 0 pomo da discédia de Parreira, que admite a
existéncia desse comércio de longa distancia antes da intervengo europeia
e argumenta esta posi¢ao partindo de uma avaliacio desse mesmo comér-
cio, nao pela amplitude do espaco percorrido pelos mercadores e seus pro-
dutos, mas pelo perfodo de tempo percorrido, tendo em conta os condicio-
nalismos climéticos entre outros, que naquela época acabavam por interfe-
rir negativamente em qualquer intengSo de fazer chegar mais longe as
mercadorias para a troca, Daf que nao admita a assercao de que 0 comércio
de «longa distancia» tenha sido uma inovagao portuguesa; a novidade, essa
sim, seria a ligagdo transatl4ntica das mercadorias afticanas que passaram a
chegar a outros mundos, como muito bem assinala Parreira. Os exemplos
do Ndongo, a que mais acima nos referimos, so quanto a nés suficientes
para sustentar a argumentacfo de Parreira e que nés partilhamos.
Perante estas evidéncias, torna-se mais importante avaliar de facto
como funciona este circuito, quais as regras que 0 orientam e como se
articulam os produtos do mercado tradicional africano ¢ as novidades que
The chegam do exterior do continente.
A entrada em cena dos novos protagonistas no sistema comercial do
Ndongo, isto ¢ os mercadores, militares e missiondrios, ansiosos de faze-
rem embarcar os navios de escravos e outras mercadorias afticanas, trouxe
naturalmente algumas alteracées ao sistema jé estabelecido.
Os interesses da economia portuguesa nfo se resumem exclusivamen-
te ao negécio de escravos, como jé tivemos oportunidade de assinalar; ou-
tros produtos estavam também na lista da demanda dos novos parceiros
comerciais do Ndongo. E tido j4 como consenso geral que o negécio do
trdfico se destacou nesta regido ¢ neste perfodo concretamente, quer pelos
dados estatisticos que se vo podendo apresentar, quer pelas consequéncias
que daf advieram para o Ndongo, cujo poder politico se viu desmoronar
apés longos anos de guerra. Contudo hd que destacar que, para além dos
escravos, outro tipo de mercadorias foram igualmente exportadas, embora
se no conhegam ainda os ntimeros reais dos navios que as transportaram
ou mesmo os valores apurados no erdtio dos principais protagonistas des-
tas operagdes. Especial realce vai para a tacula, produto de muita procura
no conjunto das necessidades dos portugueses. «Este pao de tacula o ouera
Sua Magestade mandar lhe uiessem mujtos nauios per sua conta carrega-
415
ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA
dos ao rejno, e fizera nele muito mais prouajto do que fas no que lhe uem
do Brazil, por ser de mor prestimo, mais groso e que valer4 mais dinheiro
que odo Brazil [...]»» Outros produtos mais terdo entrado nesta lista, que
no fossem escravos: marfim, cera, algilia, cobre, ferro, etc. Digamos que
anova vertente do comércio orientava via Aclantico outro tipo de merca-
dorias afticanas, cujo contributo para a renda da coroa portuguesa, ou
para as cortes africanas, é-nos para ja desconhecida,
O curso seguido pelos produtos africanos, seja no interior do reino ou
com os seus vizinhos, em nada se alterou mesmo apés a chegada dos Por-
tugueses. As zonas de maior concentragéo humana, pelas condig6es favo-
raveis do clima ou outras, propiciavam o assentamento das populagées,
daj que as principais mbanzas se situassem nao muito afastadas dos rios.
Neste caso particular, vamos encontrar ao longo do corredor do Kwanza
um sem niimero de povoados, cada qual com o seu grau de importancia
seja politica como econémica.
Os mercados af fixados funcionaram como principais elos de ligacéo
entre os varios povoados. Nas tiltimas décadas do século XVI, 0 recurso &
guerra respondia tio sé as barreiras que os Africanos se viram obrigados a
desenhar para ver garantida a manutengao do seu dominio no tertitério.
Temos noticia que jé nos anos 80 do referido século os Portugueses se
haviam instalado por algumas zonas a0 longo do corredor do Kwanza,
com vista ao controlo do cixo comercial af estabelecido, mercé das varias
investidas militares desencadeadas desde Novais até Joao Corteia de Sousa
Submetidas as autoridades em Massanganu, Muxima e Kambambe, est
vam criadas as condig6es para uma presenga portuguesa no interior d
reino. Nestas trés localidades foram neste petiodo edificados os respectives
fortes como sinal dessa presenga. Esta op¢éo corresponde a importincia de
cada uma no contexto politico ¢ econémico do reino. E dizer que nesses
locais se vai assistir & adaptagéo dos novos intervenientes no sistema es
belecido. Os mercados de mantimentos que corriam nesses lugares antes
Ob, cit, 1953, vol Il, p. 745. Do professor Eugénio dos Santos (Universidade do Po
no decorrer do debate no Seminario Internacional de Histéria de Angola «Encontto de Pow
Culcuras», obtivemos a informagio que o pau de tacula serviu 8 indiistria mobilidria para a ae
nobre, 2 exemplo do que vinha acontecendo com a madeira, também nessa época mui
rada no Brasil.
416
AS FEIRAS DO NDONGO
da intervenco europeia, véo passar a funcionar expondo as duas modali-
dades, ora os produtos da venda tradicional ora os escravos a embarcar
para o Novo Mundo, porque a demanda de mao-de-obra crescia, provo-
cando-se também a abertura de novas feiras.
Nos primeiros anos de Seiscentos, as acces militares sucederam-se a
um ritmo sem precedentes na regio, em que ambas as partes envolvidas
no conflito conheceram ora algumas vitérias ou até derrotas retumbantes.
A reaccio afticana a esta pritica belicista tornou impraticével qualquer
sucesso na actividade mercantil, porque suspenderamse as feiras € por to-
dos os meios se impediu a circulagao de homens ¢ mercadorias, 0 que no
deixava de ser nocivo aos préprios chefes afticanos que também se viam
beneficiados com as mercadorias que lhes propiciava 0 comércio com os
Europeus. Apesar de em certas areas vigorar a administragao militar portu-
guesa, ainda assim, ¢ mesmo af, 0 comércio nao cortia, Tratava-se da res-
posta africana aos intimeros abusos, desmandos € razias que a Ansia dos
mercadores, missionarios e governadores impunham aos Africanos para
ver facilitada, em seu entender, 0 movimento dos navios negreiros que
partiam para as Américas.
A OFICIALIZAGAO DAS FEIRAS
No decorrer do século xv, 0 movimento do tréfico enfrenta algumas
dificuldades. A guerra nao era a via mais segura para o prosseguir do ritmo
do comércio entéo em voga. A conquista do territério africano nao era
posta em causa, apesar dos desaires militares, e nesta sequéncia o decrésci-
mo dos niveis de captura de escravos. Outros mecanismos teriam de ser
encontrados para se alcancarem os mesmos objectivos. Havia que se adop-
tar outras medidas perante a inflexibilidade manifestada pelos titulares
Ngola que conduziram na altura os destinos do Ndongo. Teria sido assim
com Ngola Kiluanje, Ngola Mbande, e depois com Njinga Mbande, que
esteye & frente dos destinos do reino cerca de quatro décadas até & derroca-
da final, em que o Ndongo perde efectivamente a sua independéncia po-
417
ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA
Iitica. Mandato marcado por intimeras vicissitudes, acordos, contratos,
guerras, sempre para evitar a perda do dominio do territério.
A medida que o poder militar portugués se instalava no interior, fica-
va mais ficil naturalmente o controlo sobre as rotas do comércio, seja para
aquisicao dos escravos, seja para outro tipo de mercadoria africana, Os
espagos onde se realizavam as feiras antigas passam em alguns casos para 0
controlo dos Portugueses. Porém, a partir dessa altura, véo-se registar imen-
sas dificuldades para o seu normal funcionamento.
Esta situago nao agrada as autoridades afticanas, que por diversas
vvezes, como jé havlamos visto, obrigam & suspensio das vendas, impedin-
do a circulagéo dos escravos. i dizer que o poder politico portugués se
circunscreve as fronteiras do pres{dio, porque este nao tem capacidade de
interferir como convém no sistema jé estabelecido, ainda que subtrafdos
os espacos de actuagao do poder dos Africanos. Finalmente sdo estes que
dominam de facto as rotas do comércio, sejam as interiores do territério
seja a transatlintica. Sem mercados, sem escravos, sem mantimentos, tor-
nava-se muito dificil governar.
Este novo cendrio € descrito por Fernao de Sousa cujo mandato tem
infcio em 1624. O regimento a partir do qual se orientou a sua governagao
realcava explicitamente a proibigao da guerra, recomendava uma actuagio
capaz de levar os reis africanos a permitirem 0 cumprimento dos objecti-
vos portugueses!”, Ele torna-se o maior impulsionador da abertura das fei-
ras antigas ou ainda da criagéo de novas feiras. Dizia a este propésito no
seu extenso relatério aos filhos (1625-1630): «Procurey por todas as vias
abriras feiras de escrauos por ser a sustancia deste Reyno, e depender dellas
as armagGes € 0 contrato, ¢ pera ter effeito tive cé dona Anna di Sousa
sefiora d’Angola todas as boas correspondencias, e em Bumba Aquizanzo
mandei abrir a feira de Dongo, ¢ nela puz mani quitanda, e todos os mais
officiaes, e meirinhos, e lancey bandos que nao passase fazendas da ditta
feira polla terta dentro c6 pena dissi perdere, ¢ c6 regimento que nao antrasse
nella homes brancos, ¢ tudo o que mais couinha pera conseruacio da feira.
Em Samba Angombe abri outta, ¢ a isso mandey 0 capitéo Manoil di
1 CE «Regimento do governador de Angola de 20 de Margo de 1624», Bearaix Hemtze,
1985, p. 145.
418
AS FEIRAS DO NDONGO
Medella c& mani quitanda, [...] Abri outra em Caqulo Cacabaca, ¢ 20
soua Amboyla mandey pedir que a abrisse em suas tetras, ¢ para o obrigar
the mandei um presente, offerecendolhe pax e amizade com que o obriguey
a fazelo, e nista feira pz mani quitanda, ¢ (officiaefs); e pola misma ma-
neira ordiney feiras de mantimentos em todos os sitios em que as podia
aver pera c6 clas baratear os pregos dos mantimentos, ¢ c6 a cobica da
uenda obrigar os souas, ¢ ao gentio todo a tratar do comercio (como faziao
antes das guerras) e polos obrigar a gostar da pax!»
«A oficializagio das feirasy, isto ¢ a passagem para o dominio portu-
gués das referidas feiras, dependia sempre o seu sucesso da vontade das
autoridades africanas que permitiam ou ndo a circulagao dos produtos,
Digamos que os poderes neste periodo coexistiam no tempo. Se por um
lado os Portugueses mantinham algum poder militar bem no interior do
reino, € também verdade que nese mesmo perfodo o poder africano é em
simulréneo um facto, mesmo porque sem a sua anuéncia ndo podem cor-
rer normalmente as feiras,
Pensamos que as feiras que Fernao de Sousa se propoe abrir, como as
que se localizavam principalmente no corredor do Kwanza ¢ seus afluen-
tes, Tombo, Massanganu, Dondo, ou ainda entre os rios Bengo e Ndande,
so em nosso entender feiras antigas que na sequéncia da guerra haviam
deixado de funcionar. Julgamos nés que tais feiras eram as tradicionais a
que se referiram os missiondrios no século xvi. A interferéncia portuguesa
transformou tais espagos de comércio, privilegiando a venda dos escravos,
Pois os niimeros que se exigiam para os navios negreiros obrigavam natu-
ralmente a abertura de novas feiras. Assim, melhor se compreenderd a ac-
tuagao de Ferngo de Sousa que, por meios persuasivos, deveria junto dos
sobas obrigé-los, através de virios expedientes, a abrir as feiras antigas ou,
em alguns casos, a abrir novos espagos de comércio de escravos bem como
de mantimentos.
Importa também aqui sublinhar que as feiras de escravos exercidas no
territério sob o controlo dos militares portugueses usavam os mesmos
métodos que os antigos mercados africanos. Por exemplo, ¢ bastante
referenciado nos documentos a figura de maniquitanda", sempre presente
"3 Ibidem, p, 223,
“Cf. BEATRIX HEINTZE, 1985, pp. 121 ¢ 127,
419
ENCONTRO DE POVOS £ CULTURAS EM ANGOLA
nas feiras mandadas abrir aos sobas por Fernao de Sousa. Este personagem
&0 correspondente do oficial do rei do Ndongo, que tinha por tarefa vigiar
a actividade do comércio nas feiras gerais, particulares ou na do rei, para
evitar irregularidades possiveis, como ja aqui tivemos a oportunidade de
assinalar, A venda de um cidadao livre, por exemplo, retirava a0 pais um
homem livre, que passaria a escravo, caso nao fossem tomadas as devidas
precaugdes. O curioso neste caso € 0 termo da lingua kimbundu empregue
nos documentos de Fernao de Sousa para nomear o fiscal da feira, Mani-
-Quitanda que Beattix Heintze correctamente descodificou. Pensamos tra-
tar-se de um cargo que existia naturalmente entre os oficiais do rei do
Ndongo nas feiras que os missionérios que acompanharam Novais & corte
do Ngola nos anunciaram téo logo tomaram contacto com esta sociedade,
€ que os Portugueses vo aplicar no circuito que eles prdprios se propdem
organizar ¢ controlar, através de afficanos, ao que parece da sua inteira
confianca"®.
A interferéncia dos Portugueses no circuito comercial do Ndongo,
feito & custa de acces de guerra em primeira instdncia, viria a demonstrar
mais tarde que a sua adaptagéo na sociedade afticana, ainda que sob ©
estigma da submissio dos donos da terra, passava necessariamente pela
aplicagéo dos mecanismos locais vigentes, como vimos com a ocupacao
dos espagos de comércio antigo, isto é as feiras tradicionais no Ndongo «
posteriormente com a utilizagio dos mecanismos de controlo até entao
empregues pelos Africanos. Vimos finalmente que tais préticas em pouco
se diferenciavam das jd conhecidas pelos Portugueses nas sua feiras.
45 Vejacse BEATRIX HEINTZE, 1985, p. 122.
420
AS FEIRAS DO NDONGO,
BIBLIOGRAFIA
BirmincHaM, David, A Conquista Portuguesa de Angola, Porto, A Regra de Jogo, 1974.
—, A Africa Central até 1870, Luanda, Empresa Nacional do Disco ¢ Publicag6es
(ENDIPU-U.E.E), 1992.
—, Trade and Conflict in Angola, The Mbundu and their Neighbours under the influence
of the Portuguese, 1483-1790, Oxford, Clarendon Press, 1966.
BiRMINGHAM, David, Grav, Richard (eds.), Pré-Colonial African Trade, Essays on Trade
in Central and Eastern Aftica Before 1900, Londres, OUP, 1970.
BRASIO, Pe. Anténio, ed. Monumenta Missiondria Africans, 15 vols., Lisboa, Agencia
Geral do Ultramar, Academia Portuguesa de Historia, 1952-1988.
Baio, Domingos de Abreu, Um Inguérito a Vida Administrativa de Angola e do Brasil.
Segundo manuscrito existente na Biblioteca Nacional de Lisboa. Publicago re-
vista e prefaciada por Alfredo de Albuquerque Felner, Coimbra, Imprensa Uni-
versitdria, 1931.
Caorneca, Anténio de Oliveita, Histéria Geral das Guerras Angolanas, 3 vols., Lis-
boa, Agencia Geral das Colénias, 1940-1942.
CasTELLo Branco, Francisco, Histéria de Angola. Desde 0 Descobrimento até a Implan-
tagao da Reptiblica (1482-1910), Luanda, ed. autor, s.d.
Cavazz1, Joao Anténio M., Descrigao Historica dos Trés Reinos do Congo, Matamba e
Angola, Tradusio, notas ¢ indices por Graciano Maria Leguzzano, 2 vols., Lis-
boa, Junta de Investigag6es do Ultramar, 1965.
Connatt, Graham, African Civilization Precolonial Cities and States in tropical Africa:
an archeological perspective, Nova lorque, Cambridge University Press, 1987.
CopeiRo, Luciano, Questdes Histérico-Coloniais, 3 vols., Lisboa, Agencia Geral das
Colénias, 1935-1936.
—. Viagens e Exploragées e Conguistas dos Portugueses, 6 vols., Colecgéo de Documen-
tos, Lisboa, 1881.
Cornea, Elias Alexandre da Silva, Histdria de Angola, 2 vols., Lisboa, Editorial Atica,
1937.
Davinson, Basil, Lost Cities of Aftica, Boston, 1959.
Decavo, Ralph, Histéria de Angola, 2 vols., 1482-1648, Benguela, 1948.
Dias, Gastio de Sousa, Relagées de Angola. Primérdios da Ocupacao Portuguesa, Coimbra,
Imprensa da Universidade, 1934.
FELNer, Alfiedo de Albuquerque, Angola - Apontamentos sobre a Ocupagiio ¢ Inicio do
Estabelecimento dos Portugueses no Congo, Angola e Benguela, Coimbra, Imptensa
da Universidade, 1933.
421
ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA
Fernetra, Eugénio, Feiras e Presidios - Eshoco de Interpretagto Materialista da Coloniza-
gio de Angola, Lisboa, Edig6es 70, 1979.
Garcia, Carlos Alberto, Paulo Dias de Novais e a Sua Epoca, Lisboa, Agéncia Geral do
Ultamar, 1964.
Heintze, Beatrix, Fontes para a Historia de Angola do Século XVII, vol. 1, Stuttgart,
Franz Stein Verlag, 1985.
—, «Angola nas garras do tréfico de escravos: as guerras do Ndongo (1611-1630)>, in
Revista de Estudos Africanos, n.° 1, Janeiro-Junho de 1984.
— «0 contrato de vassalagem afro-portugués em Angola no século xvi, in Paideuma,
25, 1979. Tradugao do alemao por L. Pfluger (texto dactilografado).
Lopes, Edmundo Correia, A Escravatura. Subsidios para a Sua Histéria, Lisboa, Agén-
cia Geral das Colénias, 1944.
Loves DE Lima, José Joaquim, Ensaios sobre a Statistica das Possessées Portuguesas ma
Africa Occidental e Oriental, vol. m1, Angola e Benguela, Lisboa, 1846.
Mata, Cordeiro da, Ensaio de Dicionério Kimbundo-Portugués, Lisboa, 1893.
Miter, Joseph, Kings and Kinsmen: Early Mbundu States in Angola, Oxford, Clarendon
Press, 1976.
Pangeira, Adriano, Diciondrio Glossografico ¢ Topontmico da Documentagio sobre 1
gola, Séewlos XV-XVH, Lisboa Editorial Estampa, 1990.
—, Economia e Sociedade em Angola na Epoca da Rainha Jinga, Século XVIL, Pref
de Jan Vansina, Lisboa, Editorial Estampa, 1990.
PoMso, Pe. Manuel Ruela, Anais de Angola (1630-1635). Epoca da Decadéncia no Ge
verno de D. Manuel Pereira Coutinho, 1945.
Rav, Virginia, Feiras Medievais Portuguesas. Subsidios para o Sew Estudo, 2.* edic
Lisboa, Editorial Presenga, 1983.
ReDINHA, José, «Quem so os Ambundos?», in Boletim da Camara Municipal de Laz
da, Luanda, 1962.
—, «O rio afticano, factor de etno-estratégiay, in Bolerim da Camara Munici
Luanda, n° 31, Abril-Maio-Junho de 1971, pp. 19-22.
Santos, Joao Martinho, Angola na Governagao dos Filipes. Uma Perspectiva de Fi
Econémica e Social, Lisboa, 3 Janeiro-Junho de 1979, pp. 53-76.
‘Vansina, Jan, «Long-Distance Trade-Routes in Central Aftica», in The Journal o
History, vol. it, n.° 3, 1962.
—, Les Anciens Royaumes de la Savane, Institut de Recherches Economiques et Somes
Université de Lovanium, Leopoldville, 1965.
422
Você também pode gostar
- Anexo 1 Modelo de Carta de Encaminhamento Da Instituio de Ensino Superior para Estgio Na EscolaDocumento2 páginasAnexo 1 Modelo de Carta de Encaminhamento Da Instituio de Ensino Superior para Estgio Na EscolaSaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- O Livro Dos Mortos Do Egito Antigo PDFDocumento14 páginasO Livro Dos Mortos Do Egito Antigo PDFSaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- CHS e LGG - Cultura em Movimento - Diferentes Formas de Narrar A Experiência HumanaDocumento114 páginasCHS e LGG - Cultura em Movimento - Diferentes Formas de Narrar A Experiência HumanaSaymon Siqueira100% (1)
- PPC SociologiaDocumento68 páginasPPC SociologiaSaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- Memorando - Resposta Ao of - Cio - 805-2020R - SEEDocumento6 páginasMemorando - Resposta Ao of - Cio - 805-2020R - SEESaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- Miers Kopytoff EscravidãoÁfricaDocumento66 páginasMiers Kopytoff EscravidãoÁfricaSaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- Lâmina - Chess Alpha FIC FIMDocumento1 páginaLâmina - Chess Alpha FIC FIMSaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- GÂNDAVO Do Gentio Que Há Nesta Província, Da Condição e Costumes Dele, e de Como Se Governam Na PazDocumento8 páginasGÂNDAVO Do Gentio Que Há Nesta Província, Da Condição e Costumes Dele, e de Como Se Governam Na PazSaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- Carta de Apresentação e Aceite - Lab IIIDocumento1 páginaCarta de Apresentação e Aceite - Lab IIISaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- Anexo 3 Modelo de Termo de Compromisso de EstgioDocumento3 páginasAnexo 3 Modelo de Termo de Compromisso de EstgioSaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- Miguel Nicolelis - 'A Ciência, Como Qualquer Abstração Da Mente Humana, Tem Limites' - Aliás - EstadãoDocumento7 páginasMiguel Nicolelis - 'A Ciência, Como Qualquer Abstração Da Mente Humana, Tem Limites' - Aliás - EstadãoSaymon SiqueiraAinda não há avaliações
- O Mediterraneo Medieval Reconsiderado - Sumario - e - ApresentacaoDocumento20 páginasO Mediterraneo Medieval Reconsiderado - Sumario - e - ApresentacaoSaymon SiqueiraAinda não há avaliações