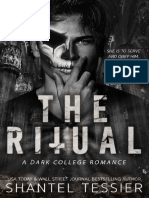Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Grande Sertão: Crossroads Blues
Enviado por
Pedro Beja Aguiar0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
24 visualizações5 páginasTítulo original
Silviano Santiago - Grande Sertão, crossroads blues
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
24 visualizações5 páginasGrande Sertão: Crossroads Blues
Enviado por
Pedro Beja AguiarDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
Suplemento Pernambuco
16 de junho de 2020
GRANDE SERTÃO: CROSSROADS BLUES
Silviano Santiago
O crítico literário Roland Barthes e o filósofo Giorgio Agamben se encontram na
definição do que é o contemporâneo em arte. “O contemporâneo é o inatual”. A
definição serve não só para explicitar a magia atemporal, ou intempestiva, do
romance Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa, como também para
salientar a inesgotável riqueza alegórica de sua prosa ficcional. Nada é mais inatual
artística, social e politicamente e, no entanto, nada é mais contemporâneo nosso, que o
romance escrito e publicado em meados do século XX, no momento em que o cidadão
brasileiro está a vibrar com a construção de Brasília no planalto central e com a
abertura, na selva ainda ocupada pelos indígenas, da moderníssima rodovia
Transamazônica.
Desde a primeira linha do romance o leitor enfrenta dificuldades. Páginas
adiante, elas se justificam na proposta da composição literária inédita: “quem mói no
aspr’o não fantaseia”. A escrita selvagem da ficção é moída no áspero e não fantasia.
Cada palavra é esmigalhada pelo escritor, assim como o moinho, graças a artimanhas
mecânicas, tritura o grão para a boa alimentação. Pela moagem das mil e uma palavras
da língua portuguesa e de línguas afins, a escrita ganha a materialidade da fala do
jagunço Riobaldo, narrador e protagonista do romance.
Em invenções inesperadas e surpreendentes, as sílabas/grãos moídos passam a se
agrupar em palavras, frases e parágrafos, constituindo um manuscrito monstruoso.
Mesmo sem outras e novas sílabas a moer, o engenho continua a triturar. O trabalho já
feito passa por constantes revisões. Saltemos algumas páginas para ler: “A mó de
moinho, que, nela não caindo o que moer, mói assim mesmo, si mesma, mói, mói!”. O
engenho e a arte da escrita roseana, mesmo se desprovido de novas sílabas, continua a
triturar o já-escrito em busca da perfeição absoluta: “mói assim mesmo, si mesma, mói,
mói”.
Recordemos as saliências artísticas no Brasil da década de 1950. Menos é
mais — eis o princípio que governa a estética minimalista de então.
João Cabral de Melo Neto tinha anunciado a poupança minimalista desde os
anos 1945, quando publica O engenheiro, seu terceiro livro de poemas. Poetar com
apenas 20 palavras, sempre as mesmas. Anos depois, Haroldo e Augusto de Campos
mais Décio Pignatari pregam em sucessivos manifestos que a poesia concreta reduzirá o
verso e até o poema a uma palavra. Dito e feito. A Bienal de São Paulo de 1954, ano em
que se comemora o quarto centenário da metrópole brasileira, abole a representação da
figura humana no pavilhão do Parque Ibirapuera e propõe o abstracionismo geométrico
como o estilo moderno e atual. Prêmios são conferidos à escultura Unidade tripartida,
do suíço Max Bill, e a telas do brasileiro Ivan Serpa. Rádios e gravadoras privilegiam o
singelo, doce e nostálgico balanço da canção bossa-nova, tão cool quanto o modern jazz
que o vocábulo qualifica tão bem. Lembram “do barquinho a deslizar no macio azul do
mar” (Roberto Menescal)?
Exemplos semelhantes se sucederiam ao infinito e desautorizariam a atualidade
do atrevido, embriagante e descomunal Grande sertão: Veredas.
O romance é incompreendido. Menos não é mais. Apenas um exemplo. Não
preocupa o escritor enumerar em longa frase as diferentes alcunhas que referendam a
presença, ou a inexistência, do Diabo nos sertões do Alto São Francisco. A repetição
sinonímica não abastarda o estilo ficcional moderno; transforma a prosa ficcional de
Rosa em forma peculiar de ladainha às avessas, ou de exorcismo. Cito o exemplo: “E as
ideias instruídas do senhor me fornecem paz. Principalmente a confirmação, que me
deu, de que o Tal não existe; pois é não? O Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o
Indivíduo, o Galhardo, o Pé-de-Pato, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o Coxo, o Temba, o
Azarape, o Coisa-Ruim, o Mafarro, o Pé-Preto, o Canho, o Duba-Dubá, o Rapaz, o
Tristonho, o Não-sei-que-diga, O-que-nunca-se-ri, o Sem-Gracejos... Pois, não existe!”.
Em 1956, faltam leitores ao romance. O monstro não se entrega sem as
asperezas e transgressões estilísticas que caracterizam a fala num enclave arcaico,
perdido no sertão do Alto do Rio São Francisco. O monstro incomoda demais e sequer
seduz os profissionais das letras. Em entrevistas curtas, publicadas na revista Leitura,
romancistas e poetas são reunidos para falar mal do romance. A matéria ganha título
demolidor: “Escritores que não conseguem ler Grande sertão: Veredas”. Autor do
originalíssimo A luta corporal (1954), Ferreira Gullar declara: “Li 70 páginas
do Grande sertão: Veredas. Não pude ir adiante. A essa altura, o livro começou a
parecer-me uma história de cangaço contada para os linguistas”.
Compete a uma notável geração de críticos literários, com destaque para
Antonio Candido e Benedito Nunes, assumir a tarefa de demonstrar alcance, significado
e valor do romance. Apesar de o texto de Rosa ser intempestivo e inatual, os críticos se
entusiasmam com o ineditismo de sua prosa e se dedicam à tarefa de amansar para o
leitor o bicho intratável. Assimilam-no à tradição dos mestres regionalistas brasileiros.
Tornam-no palatável ao gosto do leitor comum. A compreensão do romance seria
facilitada. O interesse pela trama enigmática seria despertado. Ainda que pelo viés da
falsa analogia, estariam evidenciando sua atualidade e minimizando sua
intempestividade.
Gera-se um consenso. Grande sertão: Veredas é tão relevante, moderno e atual
quanto Os sertões (1902), de Euclides da Cunha. No pioneiro número 8 da
revista Diálogo (1958), os mestres da crítica concordam: ainda que inatual, o romance
de Guimarães Rosa é tão genial quanto a obra-prima de Euclides da Cunha.
Assassina-se a letra; salva-se o espírito?
Assim se constitui uma tradição de leitura do Grande sertão: Veredas que hoje
nos incomoda e perturba, haja vista a recente e iconoclasta montagem teatral do
romance, de responsabilidade de Bia Lessa. A qualidade selvagem de Grande sertão:
Veredas — sua wilderness — tinha sido domesticada pelos que recomendavam sua
leitura pela mediação da prosa de Os sertões.
Des/domesticar a monstruosidade do romance, eis uma nova proposta de leitura.
O contemporâneo é o inatual. A fatura de Os sertões é histórica e simbólica. Grande
sertão: Veredas pouco ou nada tem a ver com os acontecimentos históricos narrados
com brilhantismo por Euclides da Cunha, acontecimentos que levam a nação brasileira a
transitar do período monárquico ao republicano pelo relato da revolta dos
conselheiristas (beatos) no interior do sertão baiano. Reparem. Não há uma única data
no romance de Rosa. Riobaldo não menciona uma só vez o nome da então capital da
República, o Rio de Janeiro. Descreve-se um enclave de natureza luxuriosa e arcaico à
época em que, a poucos quilômetros de distância, está sendo construída em concreto e
vidro a nova capital.
A fatura de Grande sertão: Veredas é alegórica e paradoxal. Quando é que
quisemos ser modernos e terminamos por gerar regiões mais atrasadas do que as mais
atrasadas? Desde sempre. Na já longa história da nação brasileira, é assim que os
administradores públicos e privados agem de maneira intermitente. Os governos
intervêm e dialogam com a história política e econômica da nação, despreocupando-se
com a condição e o destino dos menos favorecidos. Gestamos enclaves selvagens e
modernizamos.
No período pós-escravidão africana, fomos modernos na construção no
estilo belle époque da Avenida Central no Rio de Janeiro e erigimos as favelas nos
morros. Em tempos de Vidas secas, construímos nova e moderníssima capital federal e
esquecemos ao lado, no Alto São Francisco, um enclave onde a anarquia feroz dos
jagunços se assemelha à encontrada hoje nas penitenciárias das metrópoles. Em tempos
da rebeldia na cadeia de Carandiru, motivo para a obra-prima de mesmo nome do
cineasta Hector Babenco (2000), quisemos armar um sistema de controle de enclaves
miseráveis, afinado com o moderno saber das Ciências Sociais, e nos tornamos tão ou
mais irascíveis que Zé Bebelo. O esforço positivo da modernização cria enclaves
ferozes de párias — favelas, bairros miseráveis, prisões, manicômios etc. — onde
violentas forças antagônicas se defrontam e se afirmam pela ferocidade da
sobrevivência, acirrando a ira no controle e no mando.
“Viver é perigoso” — eis o leitmotiv da trama de Grande sertão: Veredas.
Ao afirmar que o contemporâneo é o inatual, Giorgio Agamben se descola das
luzes do presente em que vive para perceber o escuro da realidade em que vivemos
todos. O artista contemporâneo neutraliza o clarão sedutor que norteia o artista na época
moderna, para enxergar as trevas, de que as luzes são inseparáveis. Só é contemporâneo
quem recebe no rosto o facho de trevas – e não o clarão – que provém do seu tempo.
Recebe o facho de trevas no rosto e, no entanto, enxerga.
Notável em Grande sertão: Veredas é o fato de que, no mais profundo da vida
miserável e autodestrutiva — na morte do humano, há lugar para o afeto e o amor. Ao
compasso de espera, Riobaldo e Diadorim, os dois jagunços enamorados, dançam novos
e felizes tempos. Como vagalumes que a mata do sertão libera à noite, piscam a alegria
de viver. Piscam como os vagalumes que, em seu conto As margens da
alegria (Primeiras estórias, 1962), iluminam a noite em que os tratores derrubam
árvores centenárias para que Brasília se construa. Remeto-vos às linhas finais do conto:
“voava a luzinha verde, vindo mesmo da mata, o primeiro vagalume. Sim, o vagalume,
sim, era lindo! — tão pequenino, no ar, um instante só, alto, distante, indo-se. Era, outra
vez em quando, a Alegria”.
Na mesma época em que Benito Mussolini e Adolf Hitler apertam as mãos no
Berghof, na Baviera alemã, Pier Paolo Pasolini e seus amigos se refugiam na localidade
de Pieve del Pino, nos arredores de Bolonha. Em 1941, acampados no alto do morro,
deparam com uma revoada de vagalumes. Cito trecho da carta que Pasolini escreve a
um amigo: “nós invejamos os vagalumes porque se amavam, porque se tocavam em
voos amorosos e luzes”. Vagalumes se acendem e se apagam e, em voos noturnos e
amorosos, se tocam. Trevas e luzes.
Neste momento em que a pandemia do covid-19 assola o planeta e as
manifestações públicas tomam conta das cidades norte-americanas, expressando uma
mensagem de esperança acesa pelo sacrifício de George Floyd, Bob Dylan, em
entrevista ao jornal The New York Times, destaca os músicos negros que foram
importantes na sua formação. Em certo momento, destaca o inesperado Robert Johnson
(1911-1938) e justifica sua enorme admiração (e, indiretamente, a de Eric Clapton e de
Keith Richards) pelo velho compositor e cantor de blues. Cito-o: “Foi um dos mais
inventivos gênios de todos os tempos. Mas, na verdade, não teve uma plateia a quem se
dirigir. Estava tão à frente de seu tempo que nós ainda não o alcançamos. Hoje, seu
prestígio não poderia ser mais elevado. No entanto, nos seus dias, suas canções
confundiram as pessoas. Isso revela apenas que o grande artista segue seu próprio
caminho”. Em 1936, dois antes de falecer envenenado num bar com mistura de uísque e
naftalina (segundo reza a lenda), Johnson escreve e canta seu próprio e notável Grande
sertão: Veredas, na cidade de San Antonio, Texas. Escutemos Crossroads blues, e
prestemos várias homenagens ao mesmo tempo: https://www.youtube.com/watch?
v=kXFAlFqjSlM .
Você também pode gostar
- ANDRADE, Mário De. A Poesia em 1930. IN Aspectos Da Literatura Brasileira.Documento12 páginasANDRADE, Mário De. A Poesia em 1930. IN Aspectos Da Literatura Brasileira.Sb__Ainda não há avaliações
- Memórias Rua Do OuvidorDocumento332 páginasMemórias Rua Do OuvidorTeágá VieiraAinda não há avaliações
- Romantismo no século XIXDocumento5 páginasRomantismo no século XIXJorge AlessandroAinda não há avaliações
- Modernismo 2º Geração Prosa Poesia AutoresDocumento35 páginasModernismo 2º Geração Prosa Poesia AutoresRaíssa ValeAinda não há avaliações
- 100 Questoes Sobre Premoder-ModerDocumento49 páginas100 Questoes Sobre Premoder-Moderdionesio6933% (3)
- GUIDIN, Maria Lígia. O Romance de 30Documento3 páginasGUIDIN, Maria Lígia. O Romance de 30Ioneide Piffano de SouzaAinda não há avaliações
- 2023.modernismo 2 Fase - Exercícios - Com GabaritoDocumento6 páginas2023.modernismo 2 Fase - Exercícios - Com GabaritoMargarete DiasAinda não há avaliações
- Ribeiro, Rego, Rosa e Rocha.Documento11 páginasRibeiro, Rego, Rosa e Rocha.Sílvia BritoAinda não há avaliações
- Romant Is MoDocumento2 páginasRomant Is MoMiquéias SartorelliAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios - Literatura Prosa de 30Documento4 páginasLista de Exercícios - Literatura Prosa de 30Maria Celma Vieira SantosAinda não há avaliações
- A Geração Modernista de 1930-1945Documento27 páginasA Geração Modernista de 1930-1945Robson WilliamsAinda não há avaliações
- Antonio - Cabrita - Joao Pedro Grabato DiasDocumento14 páginasAntonio - Cabrita - Joao Pedro Grabato DiasCarlos Alberto MachadoAinda não há avaliações
- Introdução à obra Uma Abelha na Chuva de Carlos de OliveiraDocumento90 páginasIntrodução à obra Uma Abelha na Chuva de Carlos de Oliveiraaaoogg100% (1)
- Introdução à obra Uma Abelha na Chuva de Carlos de OliveiraDocumento90 páginasIntrodução à obra Uma Abelha na Chuva de Carlos de OliveiraAmine MariaAinda não há avaliações
- Janeiro de 1963: Ntonio Ândido de Ello E OuzaDocumento16 páginasJaneiro de 1963: Ntonio Ândido de Ello E OuzaAline Cristina MazieroAinda não há avaliações
- O Cão Sem PlumasDocumento4 páginasO Cão Sem PlumasCláudioLiraAinda não há avaliações
- Literatura ModernismoDocumento20 páginasLiteratura ModernismoDevair FiorottiAinda não há avaliações
- Literatura - Aula 25 - Modernismo No Brasil - 2 Fase (Prosa)Documento10 páginasLiteratura - Aula 25 - Modernismo No Brasil - 2 Fase (Prosa)Literature Literatura100% (3)
- Aula - Modernismo 2 FaseDocumento74 páginasAula - Modernismo 2 FaseVicente AzevedoAinda não há avaliações
- Adriano Alves 3 Série e Curso Literetura 29-09-15Documento6 páginasAdriano Alves 3 Série e Curso Literetura 29-09-15Lohane AguiarAinda não há avaliações
- 2a - Chaves Luuanda PDFDocumento14 páginas2a - Chaves Luuanda PDFFloriza FernandesAinda não há avaliações
- Resenha Dois Rios Joao Batista Santiago SobrinhoDocumento6 páginasResenha Dois Rios Joao Batista Santiago SobrinhoAna Paula DacotaAinda não há avaliações
- LAFETÁ, João Luiz. A Representação Do Lírico Na Paulicéia Desvairada in A Dimensão Da NoiteDocumento13 páginasLAFETÁ, João Luiz. A Representação Do Lírico Na Paulicéia Desvairada in A Dimensão Da NoiteAmanda Osti da Silva100% (1)
- Literatura, Pão e Poesia: História de um Povo Lindo e InteligenteNo EverandLiteratura, Pão e Poesia: História de um Povo Lindo e InteligenteAinda não há avaliações
- Lista Literatura Brasileira FacilDocumento12 páginasLista Literatura Brasileira FacilCarla Rafaela BarrosAinda não há avaliações
- Anotações Sobre Fagundes VarellaDocumento11 páginasAnotações Sobre Fagundes VarellaLeandro ScarabelotAinda não há avaliações
- Literatura Resumo 40 50Documento9 páginasLiteratura Resumo 40 50Clayton BaroneAinda não há avaliações
- Modernismo brasileiro 2a geração poesiaDocumento21 páginasModernismo brasileiro 2a geração poesiaMirian RodriguesAinda não há avaliações
- A Cidade Nos Poemas de Astrid Cabral e Al BertoDocumento6 páginasA Cidade Nos Poemas de Astrid Cabral e Al BertoKenedi AzevedoAinda não há avaliações
- A dialética da literatura brasileiraDocumento13 páginasA dialética da literatura brasileiraCyber BronzilAinda não há avaliações
- Literatura - EnemDocumento20 páginasLiteratura - EnemBianca BarretoAinda não há avaliações
- Literatura - Aula 11 - Gerações Românticas No BrasilDocumento10 páginasLiteratura - Aula 11 - Gerações Românticas No BrasilLiterature Literatura100% (16)
- A prosa barranqueira do escritor Osório Alves de CastroDocumento4 páginasA prosa barranqueira do escritor Osório Alves de CastroJames WilkerAinda não há avaliações
- 2 Fase Modernista (1930-1945)Documento43 páginas2 Fase Modernista (1930-1945)Kleber GomesAinda não há avaliações
- Pré-Modernismo: transição entre séc. XIX e ModernismoDocumento4 páginasPré-Modernismo: transição entre séc. XIX e ModernismoNatália NarcizoAinda não há avaliações
- Macabea Secular Claudia NinaDocumento6 páginasMacabea Secular Claudia NinaMirela SinghAinda não há avaliações
- A Cidade Nos Poemas de Astrid Cabral e Al BertoDocumento6 páginasA Cidade Nos Poemas de Astrid Cabral e Al BertoKenedi AzevedoAinda não há avaliações
- Literatura gaúcha: dos primórdios ao contemporâneoDocumento29 páginasLiteratura gaúcha: dos primórdios ao contemporâneothaisAinda não há avaliações
- Ensino Médio - Literatura RomânticaDocumento5 páginasEnsino Médio - Literatura RomânticavalesktedeAinda não há avaliações
- Romantismo ApresentaçãoDocumento18 páginasRomantismo ApresentaçãoMaria Carmo Moraes FernandesAinda não há avaliações
- Resumo Romantismo No Brasil + Morte e Vida SeverinaDocumento5 páginasResumo Romantismo No Brasil + Morte e Vida Severinaw2qh22nzt5Ainda não há avaliações
- Análise Do Livro Brás Bexiga e Barra FundaDocumento5 páginasAnálise Do Livro Brás Bexiga e Barra FundaPaulo Henrique SiqueiraAinda não há avaliações
- Literatura Clarice LispectorDocumento5 páginasLiteratura Clarice LispectorCacia PimentelAinda não há avaliações
- A herança lírica de Raul Brandão na ficção e poesia portuguesasDocumento11 páginasA herança lírica de Raul Brandão na ficção e poesia portuguesasR CAinda não há avaliações
- Sarney e o Brejal Dos GuajasDocumento6 páginasSarney e o Brejal Dos GuajasmlevilsAinda não há avaliações
- José Lins Do Rego Introdução HistoricaDocumento3 páginasJosé Lins Do Rego Introdução HistoricaAdeilson SousaAinda não há avaliações
- Melhores Cronicas de Raquel de QueirozDocumento116 páginasMelhores Cronicas de Raquel de QueirozDaianefran33% (3)
- BOSI, Alfredo. Notas Sobre o ArcadismoDocumento6 páginasBOSI, Alfredo. Notas Sobre o ArcadismolucaspensadorAinda não há avaliações
- Modernismo e a Semana de 22Documento15 páginasModernismo e a Semana de 22Marcelo MendoncafilhoAinda não há avaliações
- Pre ModernismoDocumento17 páginasPre ModernismoMayla PrattAinda não há avaliações
- Aula 11 - Literatura PDFDocumento10 páginasAula 11 - Literatura PDFLgSalgadoAinda não há avaliações
- Revista Brasileira 78 - A Cronica e A CidadeDocumento21 páginasRevista Brasileira 78 - A Cronica e A CidadeDjanira AlvesAinda não há avaliações
- REALISMODocumento8 páginasREALISMOTania CazadoAinda não há avaliações
- A cartomante reveladaDocumento17 páginasA cartomante reveladaMarcela LyraAinda não há avaliações
- 1956 - o Ano Da Literatura Brasileira (Alberto Mussa - Jornal Do Brasil)Documento5 páginas1956 - o Ano Da Literatura Brasileira (Alberto Mussa - Jornal Do Brasil)Renato Forin Jr.Ainda não há avaliações
- Prova - Capitães Da AreiaDocumento3 páginasProva - Capitães Da AreiaYan FurtadoAinda não há avaliações
- Um mês de poesia com Machado de AssisNo EverandUm mês de poesia com Machado de AssisAinda não há avaliações
- Teste - 1º Bim - 3º AnoDocumento1 páginaTeste - 1º Bim - 3º AnoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Material para o 3º Ano - RomantismoDocumento1 páginaMaterial para o 3º Ano - RomantismoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Teste 1 - 3º Bim - 3º AnoDocumento3 páginasTeste 1 - 3º Bim - 3º AnoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Teste - 1º Bim - 1º AnoDocumento1 páginaTeste - 1º Bim - 1º AnoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Material para o 3º Ano - NeoclassicismoDocumento1 páginaMaterial para o 3º Ano - NeoclassicismoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Material para o 3º Ano - Neoclassicismo (Obras e Artistas)Documento1 páginaMaterial para o 3º Ano - Neoclassicismo (Obras e Artistas)Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Material para o 3º Ano - RomantismoDocumento2 páginasMaterial para o 3º Ano - RomantismoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- A Morte de Marat de DavidDocumento2 páginasA Morte de Marat de DavidPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Teste - 1º Bim - 2º AnoDocumento1 páginaTeste - 1º Bim - 2º AnoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Material para o 1º Ano - 2020Documento1 páginaMaterial para o 1º Ano - 2020Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Teste 1 - 3º Bim - 9º AnoDocumento1 páginaTeste 1 - 3º Bim - 9º AnoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Material para o 3º Ano - ModernismoDocumento3 páginasMaterial para o 3º Ano - ModernismoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- ENSAIO Pensar Debruçado - Georges Didi-HubermanDocumento28 páginasENSAIO Pensar Debruçado - Georges Didi-HubermanPedro Beja Aguiar100% (1)
- Arte no pós-II GuerraDocumento4 páginasArte no pós-II GuerraPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Prova de História da Arte sobre perspectiva, teatro, simbolismo e arteDocumento2 páginasProva de História da Arte sobre perspectiva, teatro, simbolismo e artePedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- 7º Ano - PROVA BIMESTRAL - 4º BimestreDocumento2 páginas7º Ano - PROVA BIMESTRAL - 4º BimestrePedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Material para o 3º Ano - Neoclassicismo (Arcadismo)Documento2 páginasMaterial para o 3º Ano - Neoclassicismo (Arcadismo)Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- 6º Ano - PROVA BIMESTRAL - 4º BimestreDocumento2 páginas6º Ano - PROVA BIMESTRAL - 4º BimestrePedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- 8º Ano - Prova Bimestral - 4º BimestreDocumento2 páginas8º Ano - Prova Bimestral - 4º BimestrePedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Prova de História da Arte aborda estilos artísticos e conceitosDocumento1 páginaProva de História da Arte aborda estilos artísticos e conceitosPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- A era do automóvel na sociedadeDocumento5 páginasA era do automóvel na sociedadePedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Lista de Leituras 2019Documento2 páginasLista de Leituras 2019Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Lista de Leituras 2017Documento2 páginasLista de Leituras 2017Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Lista de Leituras 2020Documento3 páginasLista de Leituras 2020Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Lista de Leituras 2021Documento2 páginasLista de Leituras 2021Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Lista de Leituras 2018Documento4 páginasLista de Leituras 2018Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- A historiografia da Revolução Francesa: as fases de sua interpretaçãoDocumento22 páginasA historiografia da Revolução Francesa: as fases de sua interpretaçãoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Lista de Leituras 2016Documento3 páginasLista de Leituras 2016Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Anotações - Lista de Definições Do FascismoDocumento20 páginasAnotações - Lista de Definições Do FascismoPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Anotações - Crise de 1929Documento5 páginasAnotações - Crise de 1929Pedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Dicionario de Termos Da Critica Textual e Da FilologiaDocumento2 páginasDicionario de Termos Da Critica Textual e Da FilologiaFernanda PortoAinda não há avaliações
- Tiago Teste Lusíadas 2Documento12 páginasTiago Teste Lusíadas 2Marlene SantosAinda não há avaliações
- Mitos e Tradições Religiosas - 5 AnosDocumento10 páginasMitos e Tradições Religiosas - 5 AnosTeresa Gonzalez Enríquez100% (4)
- Aulas de Língua Portuguesa e Compreensão TextualDocumento1 páginaAulas de Língua Portuguesa e Compreensão TextualJeisson CarlosAinda não há avaliações
- Vanessa Vai A Luta PDFDocumento9 páginasVanessa Vai A Luta PDFLeonor LopesAinda não há avaliações
- Anne Gracie - Cavaleiros Infernais 05 - Noiva Por EnganoDocumento231 páginasAnne Gracie - Cavaleiros Infernais 05 - Noiva Por EnganoFabio CandiottoAinda não há avaliações
- O Diálogo Entre Materiais - Maria Lúcia PupoDocumento6 páginasO Diálogo Entre Materiais - Maria Lúcia PupoVini CairesAinda não há avaliações
- Matriz Teste3Documento2 páginasMatriz Teste3José HenriquesAinda não há avaliações
- Teatro EspanholDocumento21 páginasTeatro EspanholSalinas João GualbertoAinda não há avaliações
- Aula 09 - Antiquarismo e A Inauguração Do Tratamento DocumentalDocumento19 páginasAula 09 - Antiquarismo e A Inauguração Do Tratamento DocumentalEduardo PereiraAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho A 1Documento2 páginasFicha de Trabalho A 1Cidalia CarvalhoAinda não há avaliações
- A beleza está na sensação e no intelectoDocumento22 páginasA beleza está na sensação e no intelecto001Ainda não há avaliações
- Poema 5o anoDocumento3 páginasPoema 5o anorisoleideAinda não há avaliações
- Plano de curso Língua Portuguesa 1o ano Ensino FundamentalDocumento82 páginasPlano de curso Língua Portuguesa 1o ano Ensino FundamentalGi AmaralAinda não há avaliações
- Lições Bíblicas CPAD - 4º Trimestre 2005 - Lição 1Documento16 páginasLições Bíblicas CPAD - 4º Trimestre 2005 - Lição 1jadertrompete1Ainda não há avaliações
- O Guardador de Rebanhos IDocumento25 páginasO Guardador de Rebanhos IAluno Mariana Reis MonteiroAinda não há avaliações
- 1 Série - Rotina PedagógicaDocumento5 páginas1 Série - Rotina PedagógicaROSIANE RODRIGUES ALVES CANDIDOAinda não há avaliações
- O poder das palavras e a felicidade dos jovensDocumento6 páginasO poder das palavras e a felicidade dos jovensLuiz AlbertoAinda não há avaliações
- José Dassunção Barros - História CulturalDocumento26 páginasJosé Dassunção Barros - História CulturalJeferson RamosAinda não há avaliações
- Arcadismo Brasil ResumoDocumento10 páginasArcadismo Brasil ResumoEPS彡PandaAinda não há avaliações
- Utensilhos de Cozinha Da Cultura Afro-BaianaDocumento32 páginasUtensilhos de Cozinha Da Cultura Afro-BaianaRafael LealAinda não há avaliações
- Raciocinio - Logico - 8a.indd 1 03/03/22 15:44Documento80 páginasRaciocinio - Logico - 8a.indd 1 03/03/22 15:44Mariany Marinho100% (1)
- Mensagem para Voce PNLD2020 PRDocumento172 páginasMensagem para Voce PNLD2020 PRleticia grasselli100% (1)
- A Cinemateca Brasileira Ea Preservacao DDocumento318 páginasA Cinemateca Brasileira Ea Preservacao Ddecioufrgs2491Ainda não há avaliações
- Desdobramentos Da Semana de 22Documento24 páginasDesdobramentos Da Semana de 22Eliane Mantovano RamoAinda não há avaliações
- O tricô e as questões de gêneroDocumento20 páginasO tricô e as questões de gêneroSergio LimaAinda não há avaliações
- Questionário VARK - Descubra seu estilo de aprendizagemDocumento3 páginasQuestionário VARK - Descubra seu estilo de aprendizagemMarcia MouraAinda não há avaliações
- O Sonho de ÍcaroDocumento44 páginasO Sonho de ÍcaroAdrianaAinda não há avaliações
- The Ritual by ShantelDocumento441 páginasThe Ritual by Shantelmandinha Durães0% (7)
- Bingo Dos GênerosDocumento42 páginasBingo Dos GênerosEscola Municipal Miguel Calado Borba100% (3)