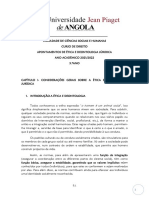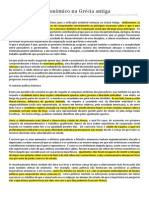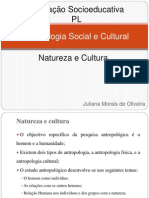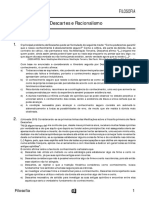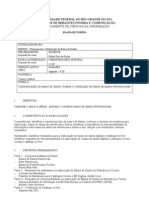Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A invenção da política segundo os gregos
Enviado por
Carlos Barbosa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
78 visualizações29 páginas1) O autor aceitou falar sobre a invenção da política pelos gregos, mas depois refletiu que isso seria etnocêntrico e falso, já que todos os povos viveram politicamente.
2) Os gregos reconheceram que a política não é característica de um povo em particular, mas sim constitutiva da natureza humana, já que os homens precisam viver em comunidade.
3) O autor argumenta que falar sobre a invenção da política pelos gregos no contexto da descoberta do Brasil repetiria os er
Descrição original:
Título original
A Invenção da Política
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento1) O autor aceitou falar sobre a invenção da política pelos gregos, mas depois refletiu que isso seria etnocêntrico e falso, já que todos os povos viveram politicamente.
2) Os gregos reconheceram que a política não é característica de um povo em particular, mas sim constitutiva da natureza humana, já que os homens precisam viver em comunidade.
3) O autor argumenta que falar sobre a invenção da política pelos gregos no contexto da descoberta do Brasil repetiria os er
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
78 visualizações29 páginasA invenção da política segundo os gregos
Enviado por
Carlos Barbosa1) O autor aceitou falar sobre a invenção da política pelos gregos, mas depois refletiu que isso seria etnocêntrico e falso, já que todos os povos viveram politicamente.
2) Os gregos reconheceram que a política não é característica de um povo em particular, mas sim constitutiva da natureza humana, já que os homens precisam viver em comunidade.
3) O autor argumenta que falar sobre a invenção da política pelos gregos no contexto da descoberta do Brasil repetiria os er
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 29
A Invenção da Política – Francis Wolff
Quando, há alguns meses apenas, em Paris, meu amigo Adauto
Novaes propôs que eu abrisse este terceiro ciclo de conferências
consagradas à descoberta do Brasil com uma exposição sobre a
Grécia clássica intitulada “A invenção da política”, logo achei a
ideia excelente e senti-me tão honrado com a proposta que aceitei
de pronto. Foi depois (tarde demais!) que me pus a pensar. Afinal,
perguntei-me eu, para que falar da Grécia quando se trata da
origem do Brasil? E, sobretudo, por que falar da
invenção grega da política? Não teria qualquer povo, à sua
maneira, inventado a política e, entre eles, por que não, os índios
da América de antes de Cabral? É verdade que os gregos são
sólidos inventores em todos os domínios (na mesma época,
inventam a ciência física, a demonstração matemática, a pesquisa
histórica, a reflexão filosófica, para não falar dos cânones
estéticos e da tragédia). E isso é verdade também no campo
político: uma boa parte de nosso vocabulário político vem do
grego — “tirania, “monarquia”, “democracia”, “aristocracia”,
“oligarquia” e em particular a palavra “política”, derivada
da Polis grega. Além disso, é claro que os primeiros pensadores
políticos foram gregos, sejam eles historiadores (Heródoto,
Tucídides), sofistas (Protágoras) ou filósofos (Platão, Aristóteles).
Mas entre inventar palavras ou conceitos e inventar a coisa, a
política ela mesma, há um abismo. Refletindo melhor, essa ideia
de atribuir-lhes a invenção da política pareceu-me mesmo tão
perigosa, quanto falsa.
Ideia perigosa porque etnocêntrica. Seria, me parece, fazer do
político privilégio de um só povo e em particular do povo do qual
a civilização ocidental vangloria-se de ser herdeira. Seria relegar à
sombra do apolitismo ou do pré-político todas as formas de vida
em comum anteriores aos gregos e sobretudo exteriores à
civilização europeia. Porém, o que poderia fundamentar a
superioridade desse modelo de poder para que tenhamos o direito
de qualificá-lo, e a ele só, de “político”?
Ideia falsa porque isso seria confundir a vida política com uma de
suas formas. Ora, todos os povos vivem politicamente. A partir do
momento em que houve humanidade em alguma parte da terra,
houve política. E isso todos nós sabemos… desde os gregos! A
primeira sociedade particular na qual se reconheceu que a política
não é característica de uma sociedade particular, mas do homem
em geral, foi a sociedade particular grega. Assim, Protágoras
explica que os homens devem viver politicamente, pois lhes
faltam as qualidades biológicas de que dispõem as outras espécies
animais para poder sobreviver na luta pela vida, e devem,
portanto, se unir e dar prova das virtudes necessárias à cooperação
e à vida em comum.
Platão explica a vida política a partir da insuficiência dos homens
para satisfazer individualmente as próprias necessidades e da
necessidade da divisão do trabalho.
Aristóteles vê no homem um “animal político” por definição, isto
é, um ser que vive naturalmente em comunidades políticas e que
não pode ser feliz senão nessa vida com seus semelhantes.
Era, portanto, à natureza em geral, ou pelo menos à natureza do
homem, e não ao gênio grego em particular, que os pensadores
gregos atribuíam a invenção da vida política. Sempre se pode, é
claro, “ser mais realista que o rei” e atribuir aos gregos um
privilégio que nem eles mesmos se concediam! Ou então dizer
que a invenção particular dos gregos é justamente essa: a
consciência de que eles nada têm de particular, o reconhecimento
da universalidade do político, mas seria ainda uma vez confundir
a reflexão política e a vida política, o conceito e a coisa. Mais vale
concluir: ser fiel aos gregos, a seu gênio único, é dizer que o
político é constitutivo do homem. Não existem inventores do
político. Ele está na natureza do homem, que não o inventou…
E eu não deveria ter aceitado esta conferência.
E deveria menos ainda por situar-se ela no quadro de um ciclo
consagrado à descoberta do Brasil. Ora, se todos os homens
sempre viveram politicamente, esse é em particular o caso dos
índios do Brasil de antes da descoberta. E era precisamente o que
os descobridores europeus recusavam-se a reconhecer. Das tribos
tupinambás, ele diziam com desprezo: “Sociedade sem fé, sem
lei, sem rei”.
Mas era só porque eles não reconheciam sua fé, sua lei, seu rei, e
porque identificavam o político com sua realização nas
sociedades de onde eles próprios vinham, nas quais reinavam
monarquias “absolutas” e “de direito divino”. Ao pretender falar,
em um ciclo consagrado à descoberta do Brasil, da invenção
grega do político, eu iria não somente ser infiel à mensagem grega
a respeito da política, mas repetiria os mesmos erros da
descoberta do Brasil.
Todavia, tendo aceitado, devo continuar. Devemos, portanto, nos
deter um instante nessa descoberta grega da universalidade do
político. O que significa aqui “político”? O que seria esta vida
política constitutiva da vida humana, segundo os gregos?
De ordinário, o termo “político” não evoca de forma alguma um
caráter geral da vida humana, mas certos homens em particular
(os “políticos”, deputados ou ministros, ou os militantes), certos
aspectos determinados da vida humana (ambição, popularidade,
lutas pelo poder…), certos momentos privilegiados da vida
pública (campanhas eleitorais, manifestações), ou ainda certos
setores da vida social (por oposição à economia, à cultura, à
educação…). É preciso romper com essas imagens para
compreender a essência do político e sua ligação com o humano
em geral. É preciso também mudar de método: não mais enumerar
empiricamente aquilo que é político, mas deduzir a priori o seu
conceito, esforçando-se para imaginar o que
aconteceria sem política.
Duas coisas seriam possíveis. Poderíamos imaginar, para
começar, o homem vivendo como a maioria dos animais, em
estado isolado ou em casais erráticos que se formariam de
maneira mais ou menos sazonal, quem sabe em pequenos grupos
familiares mais ou menos estáveis. Sabe-se que esse não é nunca
o caso. Além dos indivíduos, dos casais, dos grupos de
consanguíneos, existe sempre outra comunidade que os inclui,
uma comunidade que tem uma permanência no tempo
transgeracional e uma identidade no espaço transfamiliar.
Em outras palavras, existem comunidades políticas. Eis então um
ponto acertado. Dizer que o homem vive politicamente é dizer
que, de fato, vive e que, de direito, ele não poderia,
indubitavelmente, viver fora dos laços que o unem a essa
comunidade relativamente estável que transcende as relações
biológicas. Uma comunidade política assim tende efetivamente a
conservar sua unidade mantendo-se como espaço de coexistência,
como meio de troca de bens reais ou simbólicos — as
mercadorias, as palavras ou as mulheres, para retomar a
tricotomia de Lévi-Strauss — e como recinto de uma experiência
histórica idêntica, passado e porvir, real e imaginária. Nunca é
somente o laço biológico que reúne os homens, embora às vezes
os mitos originários que eles transmitem ou a ideologia
nacionalista (a do sangue) que circula entre eles façam com que
acreditem descender, todos, de um ancestral comum, fundador
longínquo da linhagem ou pai da comunidade: esse tipo de ilusão,
como qualquer outro laço simbólico, tende a soldar a comunidade
e mantê-la unida. Concluamos este ponto: uma tribo, uma Cidade
antiga, uma nação moderna, um império, uma federação são
comunidades políticas; aqueles que fazem parte dela têm uma
memória comum e um sentimento de pertinência, distinguindo o
interior (nós) e o exterior (eles), muitas vezes até, mais
radicalmente, o amigo e o inimigo, o civis do hostis.
O interior é, ou antes, deveria sempre ser, a paz. O exterior é, ou
antes, sempre poderia ser, a guerra. A vida política é, portanto, a
vida dessa comunidade enquanto tal, o que faz com que ela seja e
permaneça sendo uma comunidade, além de todos os riscos
internos (desordens, dissensos) ou ameaças externas (agressões,
guerras).
Contudo, o comunitário não é suficiente para definir o político.
Aliás, o próprio fato de que sejam necessários, por exemplo, as
crenças, os mitos ou as ideologias que acabamos de evocar para
garantir o laço politico, mostra bem que a vida política não é
natural ao homem como a respiração o é. Os homens não vivem
na comunidade como um peixe na água. Eles vivem todos e
sempre de modo político, mas isso não quer dizer que tal aconteça
sem esforço nem coerção. Eis o paradoxo: eles
vivem necessariamente em comunidades políticas, mas não
podem fazê-lo sem coerção, isto é, sem política, justamente. E
viver politicamente é isso. É como se a natureza os obrigasse a
viver contra a sua natureza. E essa dupla natureza é o político.
Expliquemo-nos. Perguntávamos há pouco o que aconteceria em
um mundo onde seres em tudo semelhantes aos homens vivessem
sem política. Nesse mundo, dizíamos, esses homens, que homens
não seriam, poderiam viver dispersos, ou seja, fora de qualquer
comunidade política. Mas existe outra possibilidade. Nesse outro
mundo, seres que não seriam mais homens do que os precedentes
poderiam viver nessas mesmas comunidades, mas sem política.
Eles viveriam serenamente, harmoniosamente, no mais perfeito
entendimento, sem conflito, estariam na comunidade, no seio de
seus semelhantes como um peixe na água; a comunidade se
manteria por si só em sua unidade e se reproduziria sozinha.
Nenhuma necessidade de rei, de regras, de proibições, de castigos,
de uma polícia, de um governo, em suma, de
uma instância política para assegurar a sobrevivência da
comunidade contra ela mesma ou contra as agressões exteriores,
para evitar ou regrar os conflitos etc. Em uma palavra, nenhuma
necessidade de um poder. (Esta quimera de uma comunidade sem
poder, ou pelo menos dotada de um poder não-coercitivo, sem
exército nem polícia, alimentou inúmeras utopias desde T. More
até certas teorias “anarquistas” ou “comunistas”. Pode-se
compará-la com um outro mito, o do paraíso como lugar
imaginário onde os homens poderiam viver sem trabalhar. Como
as utopias comunistas imaginavam um lugar onde as comunidades
políticas poderiam viver e se perpetuar satisfazendo as próprias
necessidades sem a obrigação do trabalho. Sem dúvida, o trabalho
é para o homo economicus o que o poder é para o homo
politicus. Eles são, um e outro, as duas faces da maneira humana
de viver aqui embaixo.)
A política define-se, portanto, por dois traços essenciais. É
preciso uma comunidade e é necessário que, no próprio
seio dessa comunidade e não fora dela, exista uma instância de
poder. Existe política a partir do momento em que uma
comunidade se coloca a questão do poder ou desde que o poder
exercido por alguns (tais indivíduos, tais castas ou tal classe
social) se exerça no quadro de uma comunidade e tendo em vista
o seu modo de vida. Dissemos poder e não hierarquia, autoridade
ou comando. Talvez existam comunidades não-hierarquizadas,
pode-se discutir essa possibilidade. Mas é certo que existem
certas comunidades hierarquizadas, nas quais alguns homens
comandam outros homens, mas que não têm poder político
propriamente dito. Dessas comunidades, pode-se dizer
que têm uma política, mas não que sejam comunidades políticas.
É o caso, por exemplo, de uma universidade ou de uma empresa.
Uma empresa moderna é uma comunidade fortemente
hierarquizada, onde existem relações de autoridade, onde
decisões são tomadas, ordens são dadas: logo, existe nesse sentido
uma “política da empresa”. Mas não é uma comunidade política
porque, nesta, as ordens e decisões só podem ser aplicadas, pelo
menos normalmente, se forem garantidas pelo direito ou pela
força do Estado, isto é, pelo poder propriamente político.
Tais são, portanto, os dois aspectos opostos e complementares
constitutivos do político: de um lado, o comunitário, de outro o
poder. Não há política sem a ideia de uma comunidade separando
o “nós” e o “eles”. Mas também não há política sem um poder
que assegure, e geralmente pela força, a continuidade da
existência da comunidade.
Embora os dois polos do político estejam sempre associados nas
sociedades humanas, como as duas faces de uma mesma moeda, é
importante notar que conceitualmente eles são perfeitamente
distintos. E, em certo sentido, até antagonistas. É o que prova o
estranho laço que mantêm com a natureza do homem. É como se
esta última fosse contraditória. Se, de fato, os homens pudessem
viver naturalmente em harmonia, sem paixões egoístas, o poder
seria supérfluo, a vida política seria espontaneamente uma vida
comunitária; então seria possível uma comunidade sem poder,
uma sociedade sem polícia; em outras palavras, uma vida política
sem política. Se, inversamente, a concórdia fosse contranatura
para os homens, se eles não pudessem viver juntos, se fossem por
natureza rebeldes a qualquer sociedade, viveriam isolados, e a
vida política reduzir-se-ia à violência e à guerra, isto é, não
haveria nenhuma diferença entre a comunidade (onde reina, em
princípio, sempre a paz) e seu exterior (onde pode sempre reinar a
guerra). Ainda aqui, seria o fim do político. Os homens, são,
portanto, de uma natureza tal, que querem viver em comunidade,
no entanto só podem fazê-lo sob coerção. Eles são essencialmente
sociáveis, mas é preciso forçá-los a entrar em sociedade e a
acomodar-se aos outros. É o que Kant, em célebre fórmula,
chamava de “insociável sociabilidade”.
Essa natureza contraditória do homem traduz a dupla essência do
político — a menos que seja o inverso. E é por isso que a história
da filosofia política parecia hesitar bastante entre esses dois
conceitos do político: ou o político é definido a partir do laço
social — e o poder é então um simples meio de garanti-lo; ou é
definido a partir das relações de coerção, de comando e de luta —
e a comunidade é um simples meio de realizar sonhos de poder ou
a perpetuação amortecida de uma violência originária. Ora as
filosofias políticas são teorias da sociedade e do bem comum e ao
mesmo tempo projetos de sociedades melhores; ora são teorias do
poder (como alcançá-lo, conservá-lo), do bom governo (como
comandar os homens, administrar as coisas) e de excelência da
ação (oportunidade, decisão). As duas tendências, bem entendido,
estão mais ou menos presentes em todos os autores, mas sua
preponderância determina todavia estilos teóricos distintos. Não é
difícil ver que os primeiros muitas vezes pintam o politico sob
uma claridade luminosa, vendo nele a realização do Bem,
enquanto os segundos insistem na inelutável perfídia do político,
vendo nele um mal necessário.
Tais são, portanto, a essência contraditória do político e sua
ligação com a natureza contraditória do homem. Eis por que todos
os homens sempre viveram politicamente, do bando primitivo ao
Estado moderno. Nenhuma sociedade é mais política que a outra.
Nenhum homem inventou a política… E nenhuma razão justifica
que eu lhes fale aqui da invenção da política.
No entanto, se houvesse uma sociedade na qual os dois conceitos
opotos que definem o político — de um lado a comunidade, de
outro o poder — se encontrassem reunidos a ponto de serem
confundidos, indistinguíveis, poder-se-ia dizer de tal sociedade
que ela, a seu modo, fundou a possibilidade da unidade do
político e inventou, de certa maneira, seu conceito — um
conceito único e não duplo. Se houvesse uma comunidade que,
em lugar de manter-se por meio de um poder distinto dela mesma
(uma instância organizada para esse fim, um chefe todo-poderoso,
um grupo dirigente, uma classe dominante, um Estado), se
conservasse em sua unidade apenas por sua própria potência, uma
sociedade na qual o poder político só pudesse ser localizado na
comunidade política em seu conjunto, poderíamos dizer dessa
sociedade que ela realizou a ideia do político. Tal conceito de
político, no qual se confundem os dois polos da comunidade e do
poder, tem um sentido? Alguma vez existiu uma sociedade que
realizasse esse conceito? Creio que sim. E vejo até duas — e
nenhum delas é qualquer uma. Vejo justamente a Grécia clássica
e… os índios do Brasil de antes da descoberta!
Consideremos, de fato, as sociedades indígenas da floresta, tais
como descritas por P. Clastres (La société contre l’État).
Existe, é claro, uma instância política, encarnada nos chefes
(os mburuvicha). Mas, salvo algumas exceções — atestadas por
alguns grupos arawak localizados no Noroeste, onde as chefias
são organizadas em castas eles não gozam de nenhum poder
coercitivo; o papel do chefe é “apaziguar as querelas, regular as
discórdias, não através do uso de uma força que ele não possui e
que não seria reconhecida, mas fiando-se apenas nas virtudes de
seu prestígio, de sua eqüidade e de sua palavra. Mais que um juiz
que sanciona, ele é um árbitro que procura reconciliar”.
Logo, segundo a expressão de R. Lowie ele é um “fazedor de
paz”, uma instância moderadora do grupo — e isso graças
unicamente à sua palavra: é por isso que somente um bom orador
pode ascender à chefia. O dever do chefe não é comandar, mas
falar. Ele não dispõe de nenhum domínio direto das coisas ou dos
homens, mas somente das palavras. Sua palavra tem como função
restabelecer a ordem interior lá onde a desordem ameaça,
reacomodar a unidade do grupo cada vez que o tecido social
estiver correndo o risco de esgarçar. Mas esse tecido social e essa
unidade da comunidade, não está em seu poder criá-los, assim
como não dispõe de nenhuma arma, de nenhuma polícia ou
milícia para garantir a ordem; o chefe tem autoridade, mas não
tem poder; a unidade e a ordem não emanam dele, mas da própria
sociedade: confundem-se com ela. Não é ele, portanto, quem
exerce o poder sobre ela, é ela que exerce o poder sobre ela
mesma através e por intermédio da palavra do chefe — pelo
menos em tempo de paz, pois durante as expedições guerreiras o
chefe adquire poder soberano e autoridade absoluta sobre todos.
Falar para fazer a paz, comandar para fazer a guerra, estas são as
duas funções opostas do chefe indígena — e, por assim dizer, as
duas maneiras de garantir a existência da comunidade. Em tempo
de paz, a coletividade é a fonte de todo poder, e o chefe lhe é
subordinado, não tendo senão uma função mediadora; em tempo
de guerra, o chefe é a fonte de todo poder, exerce um função de
comando, e os membros da coletividade lhe são subordinados.
Assim, ao contrário de um poder que se exerce do exterior sobre a
sociedade, um poder que, a exemplo do Estado moderno, dispõe
do monopólio do direito e da força, para fazer de um monte de
indivíduos um todo, é a própria coletividade que exerce, sem
nenhuma violência, obrigação ou coerção, se não a sua própria
existência, um poder absoluto sobre todos os seus membros, sobre
todos aqueles que a compõem e que ela reúne em uma unidade. É
assim que, como escreve ainda uma vez P. Clastres, a
“propriedade essencial da… sociedade primitiva é exercer um
poder absoluto sobre tudo aquilo que a compõe, é proibir a
autonomia de qualquer um dos subconjuntos que a compõem, é
manter todos os movimentos internos que alimentam a vida
social, conscientes e inconscientes, dentro dos limites e da direção
desejada pela sociedade” (La société contre l’État, p. 180). Todo
o esforço da sociedade volta-se para impedir a constituição de um
poder autônomo e estranho a ela mesma. Podemos ver o que opõe
esse tipo de sociedade primitiva às sociedades modernas dotadas
de um Estado. A sociedade primitiva resiste à possibilidade de
nascimento do Estado concentrando em si mesma todo o poder
possível, na coletividade como tal: nada de individual escapa ao
império do coletivo. É o inverso do Estado moderno: o Estado
define-se como poder absoluto e autônomo em relação à
sociedade e como única autoridade legítima que a controla. Mas,
em compensação, essa exterioridade do Estado em relação à
“sociedade civil”, ou seja, essa onipotência do Estado em
detrimento da coletividade permite, mais ou menos, a existência
de uma esfera de liberdade para os indivíduos, deixa uma
margem de independência, variável mas certa, às pessoas, às
famílias ou aos grupos e garante um “jogo” para os movimentos
multidirecionais da sociedade e para as ações centrípetas de seus
membros, suas opiniões ou seus interesses. Ao concentrar no
Estado, isto é, fora dela mesma, todo o poder, a sociedade
moderna renuncia à onipotência da coletividade sobre os
indivíduos e os grupos sociais. Inversamente, ao concentrar nela
mesma todo o poder, que a cada instante só se exerce na palavra
precária e desarmada do chefe, a sociedade primitiva renuncia a
toda forma de violência legal, mas renuncia ao mesmo tempo a
toda forma de lei, que é o que define o livre jogo da ação
individual, garantindo-a. É nos regimes totalitários, nazismo ou
stalinismo, onde são reduzidas a nada a identidade e até a
existência da sociedade civil, que o Estado, por assim dizer,
absorve o poder que, de ordinário, é exercido
pela coletividade enquanto tal sobre os indivíduos e os grupos, e
concentra, por assim dizer, as duas onipotências, aquela que é
habitualmente sua, o monopólio da força e do direito, e aquela
que, nas sociedades sem Estado, cabe à comunidade, a potência
de unidade e de conformidade ao coletivo enquanto tal (até
mesmo, como é o caso do nazismo, com o mito da unidade
de proveniência original própria das sociedades primitivas).
Assim, o Estado totalitário moderno aparece com a absolutização
de um poder exercido contra a sociedade, assim como a
sociedade indígena aparece, simetricamente, como a
absolutização do poder exercido pela sociedade sobre ela mesma.
À “sociedade contra o Estado” dos tupis-guaranis, respondeu,
cinco séculos mais tarde, “o Estado contra a sociedade” dos
regimes totalitários.
Percebe-se, portanto, em que sentido é possível dizer que os
índios do Brasil de antes da conquista inventaram de certa forma a
ideia do político. Justamente no sentido em que são “sem fé, sem
lei, sem rei”. Isso não é sinal de que vivem de maneira não-
política, conforme a interpretação dos conquistadores, mas, ao
contrário, de que realizam a essência do político, sem a mediação
de uma fé para garantir sua autoridade, de uma lei para fazer
reinar a ordem e de um rei para ordenar. Não há necessidade de
uma fé para acreditar na palavra do chefe, não é um livro sagrado
que dá fundamento ao poder, que não precisa ser fundamentado,
pois se confunde com a existência mesma do grupo. Não há
necessidade de rei comandando seus súditos, nem mesmo de uma
instância enunciadora das leis para viver politicamente. É através
dessas ausências, que não são faltas e sim recusas inconscientes
da sociedade, que se define a unidade do político. Pois a instância
comunitária, longe de ser, como é o caso na maioria das
sociedades, distinta da instância coercitiva, forma com ela uma
só, que é a própria instância política.
Existe outra sociedade histórica que, por vias totalmente diversas,
realizou ela também a unidade das duas instâncias políticas
opostas, aquela pela qual os homens vivem juntos e aquela pela
qual eles se submetem uns aos outros. Trata-se da Cidade grega,
mais exatamente da Atenas clássica do século V.
É sabido, com efeito, que os gregos inventaram uma forma de
vida em comum na qual o poder político é exercido pela própria
comunidade política. Trata-se da “democracia”? De fato,
costuma-se dizer que os gregos inventaram a democracia. Mas se
entendemos por democracia aquele regime sob o qual vivemos
desde, por alto, o século XVIII, então isso é falso. O regime que
conhecemos sob esse nome tem uma origem histórica bem
diferente daquela da Grécia — foi tecido por três revoluções: a
inglesa, a americana e a francesa — e repousa sobre princípios
totalmente diversos daqueles da democracia ateniense, que aliás
não se chamava a si mesma de “democracia”, mas de “isonomia”
(= lei igual ou distribuição igual [do poder]).
Há, no entanto, entre os dois regimes, a “democracia” antiga e a
moderna, dois princípios gerais comuns, aliás complementares. O
princípio de soberania do povo e o princípio da igualdade
política de todos os membros da comunidade política. Esses
princípios comuns são suficientes para que se diga que, nos
regimes que hoje chamamos de democráticos, é a coletividade
que exerce o poder sobre ela mesma? Não, pois esses dois
princípios gerais encontram-se completados e realizados em
nossos dias em dois princípios particulares que têm justamente
como objetivo, ou pelo menos como efeito, garantir a
exterioridade entre a comunidade e o poder, enquanto na
democracia antiga, ao contrário, esses dois princípios gerais
vêem-se completados e realizados em dois princípios particulares
que têm como finalidade garantir a mais completa identidade
possível entre as duas instâncias constitutivas do político.
Nos regimes modernos, de fato, o primeiro princípio, o da
soberania popular, se exerce e se realiza por meio
de representantes (os deputados, os senadores, talvez os
ministros) — o que é uma ideia perfeitamente estranha aos gregos
e totalmente estranha à tradição democrática. Recordemos os
propósitos severos de Rousseau contra a ideia de representação:
“A Soberania não pode ser representada, pela mesma razão que
não pode ser alienada…”; e o povo que vive sob este regime [o
povo inglês] “pensa ser livre; está muito enganado, ele só o é
durante a eleição dos membros do parlamento; tão logo estes são
eleitos, ele se torna escravo, ele nada é. Nos curtos momentos de
sua liberdade, o uso que faz dela bem merece que ele a perca”
(Do Contrato Social, III, XV). E, como mostra B. Manin em seu
livro Principes du gouvernement représentatif, o regime de
representação destinava-se justamente, no espírito de seus
fundadores, a afastar os membros da própria comunidade das
decisões políticas e a reservá-las para alguns cidadãos
particularmente selecionados. Ao contrário, na democracia o
princípio de soberania popular se realiza imediatamente, e essa
soberania se exerce na Assembleia do Povo, a Ekklesia, que é
responsável em conjunto pelas principais decisões tomadas pela
comunidade e para esta, a Polis: lá, as proposições são feitas por
qualquer cidadão, e, depois de debatidas, as decisões são tomadas
por maioria de votos. Pode-se perceber que em um dos casos a
ideia de soberania popular não impede a constituição de um órgão
de poder independente da própria comunidade (o Parlamento) e a
constituição de um grupo, aquele dos “homens políticos”,
especializado nos negócios de todos, enquanto, no outro caso,
todo o esforço da instituição política parece destinado a garantir o
exercício real do poder político por todos aqueles que fazem parte
da comunidade política.
Nos dois regimes — “democracias” antiga e moderna — o
princípio geral de soberania popular é completado por um
segundo, a igualdade política de todos os membros da
comunidade. Mas ainda uma vez, tal princípio se realiza de duas
maneiras opostas. Entre nós, os Modernos, essa igualdade se
realiza essencialmente na operação de escolha dos governantes, a
eleição dos representantes segundo o princípio do sufrágio
universal; uma cabeça, uma voz. E nada nos parece mais
democrático que esse princípio. Não era assim entre os gregos,
para quem a eleição é, por definição, um princípio
antidemocrático, o princípio do governo que eles mais
frequentemente opõem à democracia: a oligarquia. De fato, no
espírito de seus defensores, a eleição serve para selecionar a
priori aqueles que, no entendimento geral, são mais competentes
para exercer determinados cargos dirigentes essenciais. Portanto,
o duplo pressuposto da eleição é: de um lado, apenas
“alguns” (oligoi), os melhores, devem exercer as funções de
comando; em outras palavras, os interesses de todos dizem
respeito à competência de alguns (pressuposto “tecnocrático”:
poder da competência); de outro, uma competição entre os
pretendentes a tal cargo deve permitir que se escolham os
melhores — é a eleição, na qual intervêm nascimento, influência,
autoridade, reputação pela experiência do passado, proposições
para o futuro e outras considerações (pressuposto “aristocrático”:
poder concedido aos melhores). Mais uma vez, é possível ver que
o funcionamento dos regimes pseudodemocráticos modernos tem
como efeito, se não por fim, confiar a alguns os interesses de
todos, reservar o domínio político para uma elite especializada, ou
seja, separar a instância do poder daquela da comunidade.
Muito diferente era o que acontecia com os antigos, entre os quais
o princípio de igualdade não se realizava no sufrágio universal,
mas em três instituições complementares que realmente
completam o princípio de soberania popular: a isègoria ou igual
direito de todos à palavra política, a rotatividade dos cargos e o
sorteio — instituição absolutamente oposta à eleição, e
verdadeiramente definidora da democracia antiga.
Comecemos então por ele. Na democracia ateniense a seleção dos
políticos se fazia essencialmente através do sorteio.
À primeira vista, isso parece absurdo, ainda mais porque o sorteio
diz respeito a numerosas e importantes funções: são escolhidos
dessa forma não somente a maioria dos “magistrados”, isto é, os
funcionários da administração pública (cerca de 600 dos 700
magistrados do século V), mas também os 500 membros do
Conselho (a Boulè, Assembleia que prepara as reuniões e aplica
as decisões da Assembleia do Povo), assim como todos os
membros dos tribunais populares, os 6.000 heliastas que
dispunham de importantes funções políticas, pois a Heliéia
acabava funcionando como uma espécie de “Conselho
Constitucional” encarregado de controlar a legalidade das
decisões da Assembleia. A eleição, que está no princípio do
regime aristocrático, é a exceção na democracia e não concerne
senão os cargos públicos que necessitavam, aos olhos dos
atenienses, de competências especiais, essencialmente as funções
militares (em particular os “estrategos”, o que valeria a Péricles a
eleição para tal magistratura quase vinte vezes) — às quais virão
se juntar no século IV as magistraturas financeiras. Como explicar
essa instituição do sorteio, que parece politicamente enigmática e
mesmo irracional, pois, conforme observavam os antigos
adversários da democracia, Xenofonte e Platão, permite que
qualquer um, não importa quais sejam as suas aptidões, exerça
uma função pública?
O sorteio democrático por muito tempo pareceu tão irracional
para os historiadores modernos, que outrora eles o explicavam por
razões religiosas. A sorte, diziam eles, não era para os gregos um
acaso cego, mas vontade divina: são os deuses e não os homens
que escolhem aqueles que desejam colocar à frente da Cidade.
Essa interpretação é, hoje, unanimemente rejeitada. Observa-se
primeiramente que a aparente irracionalidade da instituição é
temperada pelas seguintes considerações: não poderiam ser
escolhidos senão os candidatos voluntários, o que, tendo em conta
o peso dos encargos e dos riscos incursos em caso de má gestão,
implicava uma auto-seleção severa; depois os candidatos eram
submetidos a um exame — a dokimasia — não de suas
competências, mas de suas virtudes cívicas; em seguida, todos os
cargos sorteados eram assumidos colegialmente, o que diminuía
os efeitos nefastos de escolhas infelizes e conferia um papel
determinante à deliberação coletiva; por fim, cada magistrado
poderia ser suspenso em curso de mandato por um voto da
Assembleia, sob a simples acusação de qualquer cidadão, e
deveria de todas as formas, ao final do mandato, “prestar contas”
publicamente de sua gestão.
Mas não basta que a irracionalidade do sorteio seja temperada por
essas condições de aplicação para que possa ser justificada
politicamente. Ele se torna, contudo, facilmente explicável e
perfeitamente legítimo na medida em que se guardam na memória
os conceitos que destacamos: o sorteio é o sistema mais eficaz
para impedir a constituição de uma instância do poder distinta da
instância da comunidade — e em última instância oposta a ela; é
também o único sistema que permite que todos os membros da
comunidade, enquanto tais e não como políticos especializados,
participem de seu governo. Examinemos essa questão mais de
perto.
Para compreender melhor a razão de ser do sorteio, é preciso
aproximá-lo de um outro princípio do funcionamento da
democracia, o princípio da “alternância dos cargos”, que significa
duas coisas: para começar, negativamente, que ninguém poderia
exercer por duas vezes o mesmo cargo — o que implica, dado o
número de postos a preencher em relação ao número de cidadãos,
que uma proporção importante deles deveria ser levada, mais dia
menos dia, ao exercício de uma função pública; mas o princípio
de alternância implica também, positivamente — é um ponto
sobre o qual os democratas gregos insistiam —, que todo o
cidadão deveria ser alternadamente “governante e governado”.
É justamente o que define, para Aristóteles, a virtude cívica; “ser
capaz de bem comandar e bem obedecer” (Pol. III, 1277-27). Só
pode comandar bem, deleitavam-se os gregos em repetir, quem
obedeceu.
Conforme observa B. Manin: “A alternância dos cargos
fundamentava assim a legitimidade do comando. O que conferia
títulos de comando era o fato de ter ocupado a outra
posição” (Principes du gouvernement représentatif, p. 46). E tem
mais: “na medida em que aqueles que comandavam num dia
haviam obedecido anteriormente, eles tinham a possibilidade de
levar em consideração, em suas decisões, o ponto de vista
daqueles a quem as decisões eram impostas(…) Melhor ainda
(…): aquele que comandava num dia era dissuadido de tiranizar
seus subordinados porque sabia que teria, em outro dia, que
obedecer-lhes” (ibid., p. 47).
O princípio da alternância e o princípio do sorteio formam,
portanto, um sistema e definem um regime que visa à mais
perfeita adequação entre aqueles sobre os quais se exerce o poder
— ou seja, a comunidade — e aqueles que o exercem, a mais
perfeita identidade entre os dois polos do político.
Mas esse princípio do sorteio democrático — oposto ao princípio
oligárquico da eleição — forma um sistema sobretudo com a
instituição complementar que realiza a igualdade dos membros da
Cidade democrática, a isègoria. Sabe-se que, na Assembleia do
Povo, órgão da soberania popular, todos os cidadãos são
convidados a se levantar para opinar sobre a decisão a ser tomada
ou a lei a ser votada. De forma que a democracia implica não
apenas que se tomem decisões em maioria, mas sobretudo que a
elas se chegue por meio do debate público, isto é, da defesa
argumentada das posições opostas. E lá onde prevalece a
autoridade da deliberação coletiva domina a persuasão e,
portanto, a retórica. É o que acontece em todos os lugares
políticos em que se joga coletivamente a sorte da Cidade:
tribunais, assembleias populares ou reuniões comemorativas. É o
que observa Aristóteles, que assim nos leva a distinguir três tipos
de retóricas, nas quais se opõem o justo e o injusto, a fim de
julgar o que foi feito no passado (retórica judicial do tribunal); o
útil e o inútil, a fim de julgar o que convém fazer no futuro
(retórica política da Assembléia do Povo); ou o bem e o mal, a
fim de que a Cidade possa lembrar seus valores presentes
(retórica epidíctica das reuniões cívicas).
Mas isso leva Aristóteles a fundar o caráter naturalmente político
do homem em sua aptidão para a palavra, pois o homem está não
somente predisposto a viver em sociedade (apto a viver em
comunidade, como outras espécies gregárias) — o que, segundo a
análise que propusemos, é apenas uma das duas condições do
político —, mas também a nela viver politicamente, isto é, a
colocar justamente a questão do poder — o que constitui para nós
o outro polo do político. Essa aptidão para o poder, no entanto
não se manifesta de modo algum, para Aristóteles, na capacidade
natural de certos homens para comandar, por exemplo, mas
precisamente na aptidão de todos para falar — a falar não para dar
ordens aos outros ou para expor-lhes a ordem do mundo, mas para
argumentar, opor prós e contras, dizer o bem e o mal, o justo e o
injusto.
Ora, o que é notável é que essa ligação entre o político e a
linguagem está inscrita na instituição mesma da isègoria: todos
os homens, e todos os homens igualmente, simplesmente na
medida em que falam, estão aptos a viver em comunidade e,
precisamente porque falam e podem dizer o justo e o injusto, a
participar do poder da referida comunidade. Encontra-se no
funcionamento da isègoria até mesmo uma aplicação do princípio
igualitário idêntica àquela que se encontra na instituição do
sorteio. De um lado, o órgão supremo da decisão política, a
Assembleia: através da instituição da democracia direta, ela está
aberta igualmente a todos os membros da Cidade, e, pela
instituição da isègoria, a palavra é dada a todos os cidadãos
voluntários, de modo que todos aqueles que querem colocar sua
opinião a serviço da Cidade podem pesar igualmente na decisão,
qualquer que seja a sua competência a priori; o funcionamento é
no fundo análogo para as magistraturas, órgãos do governo e de
administração pública: elas são abertas igualmente a todos os
membros da Cidade e, através da instituição do sorteio, a tarefa é
confiada a todos os cidadãos voluntários, de modo que todos
aqueles que queiram colocar as próprias qualidades a serviço da
administração pública possam pesar igualmente, qualquer que
seja a sua competência a priori.
Pode-se ver, portanto, como a Cidade grega e seu regime
isonômico, bem melhor que as ditas democracias modernas,
aplicam, em seus princípios de funcionamento, os princípios
gerais de soberania popular e de igualdade de todos. A
democracia moderna aplica o princípio da soberania popular por
meio de representantes e não dá igualdade a todos senão como
direito de eleger os próprios representantes. Tudo se passa como
se esse regime se esforçasse para constituir, fora da comunidade
política da qual ela deveria emanar, uma instância separada
encarregada de exercer sobre ela o poder e de governá-la do
exterior. A democracia antiga, ao contrário, aplica o princípio de
soberania popular por intermédio da isègoria, e além disso dá,
através do sorteio, direito igual a todos de participar da
administração pública. Tudo se passa como se esse regime se
esforçasse para impedir qualquer dicotomia entre a comunidade e
o poder e para reconciliar as duas instâncias do político. De modo
que, a despeito de seus dois princípios aparentemente comuns, a
democracia antiga e a democracia moderna são na verdade dois
sistemas opostos. A democracia parlamentar permanece sendo um
regime politicamente “bipolar” entre comunidade e poder, entre
governados e governantes, entre coletividade de todos aqueles que
vivem politicamente e a casta estreita daqueles que vivem da
política, mesmo que — por oposição a todos os outros regimes —
a ideia de representação pareça oferecer a garantia de que o
segundo polo saiu do primeiro, que é um seu reflexo depurado,
filtrado, como que ideal. Por oposição, a Cidade democrática
oferece um dos raros exemplos de regime “unipolar”, em que
nenhum grupo particular da coletividade monopoliza o político e
onde nenhum setor particular da vida pública é excluído da vida
política. É como se tudo o que fosse comum fosse político porque
todos aqueles que participam do comum são políticos. É por isso
que a Atenas democrática nos parece uma das raras sociedades a
não viver politicamente, seria o caso de todas, mas a inventar uma
maneira política de viver baseada na essência una do político.
Desse ponto de vista, e a despeito do abismo que separa as duas
sociedades, suas dimensões, seu modo de produção econômica,
suas relações sociais, seu estágio de desenvolvimento técnico, sua
cultura, sua história, existe justamente uma analogia entre a tribo
tupi-guarani de antes da descoberta do Brasil e a Cidade
ateniense. Tudo se passa como se uma e outra se esforçassem para
impedir a constituição de uma esfera do poder político autônoma.
Sem dúvida, nos dois casos verifica-se certamente o exercício de
uma função propriamente política e órgãos encarregados de
exercê-la: o chefe entre os índios, as Assembleias e magistrados
em Atenas. Mas, a despeito das aparências, nem um nem os
outros são distintos da sociedade. Eles não têm, por eles mesmos,
nenhum poder, sua autoridade depende de um poder que está na
própria sociedade, a coletividade tribal de um lado, a Cidade
reunida do outro. O chefe indígena não tem outro poder se não
aquele de que a coletividade dispõe sobre seus próprios membros
e que ele se limita a relembrar em seu discurso. Assim também, o
que permite que os órgãos políticos governem Atenas não é o seu
próprio poder, pois eles não são, em sua composição como em seu
modo de funcionamento, mais do que a comunidade, ela mesma
sendo atriz de sua própria vida, sujeito e objeto do político. E,
assim como P. Clastres pode falar da tribo indígena como de uma
“Sociedade contra o Estado”, pode-se dizer que Atenas era uma
“Cidade contra o Estado”, se entendemos por Estado o aparelho
que, nas sociedades modernas, monopoliza o poder político, isto
é, o direito e a força que se impõem a todos.
Talvez seja possível levar mais longe o paralelo. Vimos que a
tribo indígena é política justamente ao ser, como, sem perceber,
bem diziam os primeiros colonos, “sem fé, sem lei, sem rei”.
Assim também, mutatis mutandis, para a Cidade grega. É claro,
como os índios, os gregos são religiosos; seus deuses são até
deuses cívicos. Mas, como observa M. Finley, “a religião não
fornecia nenhuma justificação doutrinal ou ética, no sentido
próprio, nem para a estrutura do sistema [político] como um todo,
nem para as ações realizadas ou projetadas pelo poder”.
Da mesma forma, os gregos clássicos não têm um monarca
— é, aliás, o que chocava os seus visitantes estrangeiros na
antiguidade, assim como chocava os conquistadores ocidentais
dos índios no século XV. Ao arauto de Tebas que se espanta com
tal ausência, Teseu responde, em As Suplicantes: “Esta cidade
não é governada por um só homem; ela é livre. Nela o povo é rei;
cada um recebe o poder alternadamente por um ano. Ela não
concede nenhum privilégio à fortuna, mas os pobres e os ricos
nela possuem direitos iguais (404-408).” Por fim, sem dúvida, os
gregos dispõem de leis, ao contrário dos índios — eles talvez até
sejam os inventores da ideia moderna de lei, fórmula geral que
determina direitos e deveres sem distinção de pessoa. Mas não
dependem de nenhuma lei anterior nem exterior a seu próprio
poder absoluto de legiferar, não obedecem a nada além das leis
que conscientemente deram a si mesmos, e enquanto eles próprios
não se dotarem de outras. Conforme observa C. Castoriadis, no
caso da Grécia antiga, existe um “reconhecimento do fato de que
a fonte da lei é a própria sociedade, de que nós fazemos nossas
próprias leis, de onde resulta a abertura da possibilidade de
colocar em causa e em questão a instituição existente da
sociedade, que não é mais sagrada”.
Nesse sentido, o nomos grego, que no século V significava
apenas “costume” e opunha-se à necessidade, à constância e à
universalidade da natureza, é tão frágil e precário quanto a palavra
do chefe indígena. Em todo caso, nada que o iguale ao absoluto
de uma lei fundamental, à onipotência de um texto canônico ou à
idéia moderna de “lei da natureza”, necessária e universal. De
modo que, do ponto de vista do fundamento de suas instituições
políticas, pode-se muito bem dizer que os gregos, eles também,
são “sem fé, sem lei, sem rei”.
Eis então o primeiro princípio, aquele da soberania: nossas duas
sociedades, indígena e grega, têm soberania absoluta sobre si
mesmas. Mas existe um segundo princípio fundamental
necessário à unidade do político, aquele da igualdade de todos os
membros do corpo social diante do poder. Vimos como todo
esforço das instituições governamentais atenienses era de
preservação. Pode-se mesmo acrescentar outra instituição
estranha e típica da democracia grega, o ostracismo, que permitia
excluir da Cidade por dez anos qualquer cidadão cuja reputação
eminente ou cujas qualidades excepcionais pareciam constituir
uma ameaça à democracia e um risco de retorno à tirania. Com
isso, a Cidade parecia dizer a quem queria ser chefe: lembra-te de
que não és mais que os outros. Encontra-se o mesmo
igualitarismo entre os índios. P. Clatres escreve: “Em virtude
mesmo do estreito controle ao qual a sociedade submete, como
todo o resto, a prática do líder, raros são os casos de chefes
colocados em situação de transgredir a lei primitiva: tu não és
mais que os outros.” Pois em sua relação normal com seus
semelhantes, o chefe não se faz de chefe. Esse é o testemunho do
cacique Alaykin, chefe de uma tribo abipone do Chaco argentino,
respondendo “a um oficial espanhol que queria convencê-lo a
lançar sua tribo em uma guerra que ela não desejava:
‘os abipone, por uma ordem recebida de seus ancestrais, fazem
tudo de seu jeito e não do jeito de seu cacique; se eu usasse as
ordens ou a força com meus companheiros, logo eles me
voltariam as costas. Prefiro ser amado por eles e não temido por
eles’” (La société contre l’État, op. cit., p. 177).
Existe ainda um último ponto comum entre nossas duas
sociedades. Vimos que, segundo sua função ordinária, o chefe
deve garantir a unidade e a perenidade do grupo apaziguando os
conflitos internos unicamente através da autoridade de sua
palavra. Mas o chefe tem também uma função excepcional em
caso de agressão exterior. Essas duas faces da vida política
encontram-se em todas as sociedades, conforme já observamos,
mas na Atenas clássica elas se apresentam da mesma maneira que
entre os indígenas. De fato, os textos antigos que descrevem a
vida política associam frequentemente os dois tipos de líderes da
Cidade em uma expressão única, “os oradores e os generais”, uma
fórmula que reunia, por assim dizer, os dois meios políticos de
garantir a existência da comunidade: a palavra entre amigos (os
cidadãos) e a guerra com os inimigos. Recordemos, além disso,
que os militares, e notadamente os estrategos, fazem parte das
raras magistraturas eleitas, isto é, daquelas que supõem uma
competência e sobretudo uma autoridade reconhecida e aceita por
todos (como aquela do chefe militar das sociedades indígenas). É
como se as duas sociedades inventoras do conceito de política
colocassem em evidência em suas instituições as duas relações
possíveis entre a comunidade e o poder. No interior, em tempo de
paz, o poder vem da comunidade, pois quem quer que seja, chefe
indígena ou orador ático, não dispõe senão da força persuasiva de
sua palavra, e suas opiniões não têm efeito, exceto quando
encontram a adesão coletiva. No exterior, em tempo de guerra, o
poder vem do exterior da comunidade, do guerreiro indígena ou
do estratego ateniense: é como se ela lhe delegasse por um tempo,
aquele em que sua própria existência se encontra ameaçada, seu
próprio poder, um poder do qual, de ordinário, ela não abria mão
e que se confunde com a potência de falar para convencer.
Pois é evidentemente pelo papel central, e por assim dizer único,
que nossas duas sociedades, indígena e grega, concedem à arte
retórica, na vida política, que elas são as mais próximas uma da
outra. Sabe-se que, na Atenas clássica, o nascimento e o
desenvolvimento da retórica estão ligados ao nascimento e ao
desenvolvimento da democracia. E é bem natural: se é o povo que
é soberano, e não um homem ou uma casta, o poder real vem não
daquele que fala, mas daqueles a quem ele se dirige. São eles que
decidem. A única competência possível, nessa concepção do
político onde não existe competência política, é a arte de
persuadir, a retórica. Por isso, pode-se dizer que Atenas é uma
“civilização da palavra pública”. Tudo que deriva do comum, isto
é, da comunidade política, deve ser colocado em comum, isto é,
comunicado pela palavra. O mesmo acontece, conforme vimos,
com o chefe indígena. Como ele não tem outro poder que não
aquele que lhe vem de todos, não tem outra função a não ser a de
falar, e uma só competência exigida, a retórica.
Mas façamos um resumo. Eu deveria, no quadro de um ciclo
sobre a descoberta da Brasil, falar-lhes da invenção da política na
Grécia. Mas todas as sociedades, não importa quais sejam,
parecem inventar a política à sua maneira, pois todos os homens,
sempre, vivem politicamente, ou seja, em comunidades políticas e
em conformidade com relações de poder, sendo os dois
constituintes heterogêneos do político. Eu não deveria, portanto,
ter aceitado esta conferência. No entanto, percebemos que
existem sociedades cujas instituições inventam a ideia do político,
pois conseguem reunir os dois polos opostos – e trata-se
justamente das sociedades indígenas dos tempos do
descobrimento e das Cidades democráticas gregas. Em certo
sentido, portanto, fiz bem, finalmente, em aceitar o desafio. Com
a condição de frisar que a Atenas antiga, a despeito da
inventividade extraordinária de suas instituições políticas, não
gozava, no plano dos princípios, de nenhuma exclusividade, pois
parecia apenas ter reencontrado a intuição primeira de certas
sociedades primitivas, notadamente as indígenas, e inscrito em
suas instituições o seu princípio fundamental: a comunidade é o
princípio e o fim de todo poder; consequentemente, a coletividade
é soberana, e todos os seus membros o são igualmente. Tal seria
então a invenção do político.
Invenção do político, talvez. Mas trata-se da invenção da política?
Não haveria, desse ponto de vista, um privilégio dos gregos?
Retomemos o último ponto comum entre os índios tupis-guaranis
e a Atenas clássica, a onipotência da retórica, e vejamos de fato
como ela se realiza nos dois casos. O que faz o chefe indígena
para persuadir os eventuais criadores de tumulto a se acalmarem?
P. Clastres observa que “os meios do chefe limitam-se ao uso
exclusivo da palavra nem sequer para arbitrar as partes, pois o
chefe não é um juiz e não pode, portanto, tomar partido de um ou
de outro, mas para tentar, armado unicamente de sua eloquência,
persuadir as pessoas de que é preciso apaziguar-se, renunciar às
injúrias, imitar os ancestrais que sempre viveram em bom
entendimento” (La société contre l’État, p. 176). Assim, a
palavra do chefe “não é feita para ser ouvida”. Ritualizada, ela
diz, cotidianamente e em horas fixas: “Nossos antepassados
estavam bem vivendo como viviam. Sigamos o seu exemplo e,
dessa maneira, levaremos juntos uma vida agradável” (ibid., p.
135). Oporemos essa retórica àquela dos oradores áticos.
Três traços as distinguem. Enquanto a palavra do chefe é uma
palavra essencialmente repetitiva, ritualizada, cujo conteúdo é
mais ou menos sempre o mesmo, não importa quem sejam os
ouvintes ou a situação crítica, é rompendo com todas as formas
rituais de discurso que nasce a retórica. O orador de Assembleia
deve inventar argumentos sem cessar, modelá-los para seu
público particular e sobretudo adaptá-los à situação presente e à
crise singular que a Cidade enfrenta. É por isso que é tão difícil
ser um bom orador; também é por isso que, desde a aparição da
retórica no século V, proliferam Manuais retóricos que tentam
inferir os procedimentos de persuasão dos auditórios. Mas
nenhum deles, nem mesmo o de Aritóteles, vai conseguir enunciar
receitas gerais de sucesso, fixas e certas, pois a regra de ouro do
discurso é aquela do misterioso kairos, regra sem regra, princípio
de oportunidade e de ocasião.
Há uma segunda diferença entre os dois usos da retórica, o do
chefe indígena e o dos oradores antigos. O discurso do chefe é,
por assim dizer, dele para a comunidade. Não é assim entre os
gregos. Sem dúvida, por oposição à dialética, que é a arte da
argumentação dialogada, a retórica antiga é uma arte do discurso
monológico. O orador grego fala sozinho; portanto, para a
comunidade reunida. No entanto, seu discurso opõe-se, de direito
e freqüentemente de fato, a outro discurso que sustenta — ou
poderia sustentar — a tese contrária. É assim nos tribunais, na
Assembleia ou nas reuniões cívicas. Trata-se sempre de sustentar
uma tese contra outra, de opor os prós e os contras: é justo ou
injusto condenar Sócrates, é útil ou nocivo à Cidade construir
longos muros, é feio ou bonito vingar-se dos inimigos? Em outras
palavras, a retórica grega é sempre virtualmente antilógica — e é
por isso que ela permite, como diz Aristóteles, “concluir os
contrários” (Ret. I, 1355 a 33). Pode-se ver, desse ponto de vista,
tudo que a contrapõe à arte oratória do chefe indígena. Este não
precisa saber concluir os contrários, não tem necessidade de opor
o pró e o contra, sua argumentação não se choca com nenhuma
argumentação que deveria ser refutada. De fato, ele se contenta
em invocar a necessidade de fazer cessar a discórdia entre
membros da comunidade. Mas o que o orador faz é justamente o
inverso! A Cidade grega coloca em cena incessantemente a
oposição de teses, põe em evidência a contradição no discurso,
representa na palavra a oposição trágica dos contrários. A
retórica, e também a política grega, imita a guerra na palavra. Ela
representa o máximo de contradição no mínimo de violência, pois
toda oposição se exprime e se resolve na linguagem. No interior
da Cidade, só conta o logos; entre cidadãos, só vale a luta dos
argumentos, enquanto no exterior o combate é real, a luta armada.
É como se nessa disputa interna, que causa tanto temor aos
membros da sociedade primitiva a ponto de eles fazerem tudo
para apaziguá-la, para negá-la, a sociedade grega se deleitasse em
afirmá-la, em exacerbá-la — jogá-la politicamente para evitar que
se torne apolítica.
E há uma terceira diferença entre as duas retóricas, e não se refere
mais à forma do discurso ou a seu contexto, mas à sua mensagem.
O chefe indígena tem um argumento essencial para manter a
ordem: a imitação dos ancestrais: como estes últimos permitiram
que a sociedade se perpetuasse tal como era até a sociedade tal
como é, deve-se voltar à harmonia de ontem para reencontrar a
harmonia de hoje; e basta, para fazer cessar a desordem presente,
retornar à ordem passada e perpetuá-la no futuro. A sociedade
deve enfrentar as crises tomando o seu passado como único
modelo. A verdade política existe no eterno ontem, e basta repeti-
la. É o inverso na cidade grega. Como diz Aristóteles, a retórica
política tem por objeto não o passado, mas o futuro: o que fazer
amanhã, que decisão tomar, o que é mais útil? Ela tem que
enfrentar situações sempre novas e inventar respostas originais,
resolver as crises sem que nenhuma solução esteja
antecipadamente garantida — e é justamente por isso que
nenhuma argumentação pronta é universalmente válida; por isso é
preciso opor os prós e os contras, argumentar sem jamais ter
nenhuma certeza a priori da verdade, pois esta não está inscrita
em parte alguma, em nenhum modelo preestabelecido.
Portanto, as três diferenças entre as retóricas se completam. É
porque faz apelo à repetição da ordem antiga que o discurso do
chefe indígena é repetitivo; é porque é garantida a priori pela
existência passada da comunidade que sua argumentação corre
em sentido único. Ao contrário, é porque a Cidade afronta uma
ordem sempre nova que o discurso dos oradores deve ser sempre
oportuno; é porque ela não encontra no futuro incerto nenhuma
garantia de verdade que a argumentação retórica é antilógica e
deve inventar sem cessar as suas razões.
Em suma: entre essas duas maneiras de utilizar politicamente a
retórica, há toda a distinção existente entre uma comunidade
que evita a política e uma outra que inventa a política. Pois esta é
no fundo a verdadeira diferença, não apenas entre suas retóricas,
mas, de uma forma mais geral, entre as duas maneiras de nossas
duas sociedades inventarem o político. Uma inventa o político
fazendo tudo para conjurar o risco da política outra inventa o
político inventando também a política, ou seja, pela primeira vez
e em uma das raras vezes na história, fazendo política.
As sociedades indígenas fazem de tudo para não fazer política.
Elas resistem com todas as forças a tudo aquilo que se assemelha
ao poder. Talvez seja a esse temor, a esse ódio pela política, e
mais particularmente à escalada do poder das chefias por ocasião
da conquista, que se deve atribuir a reação de fuga das
comunidades para esses movimentos proféticos em busca da
Terra sem Mal. Como se o mal aqui embaixo fosse a política, isto
é, o poder de alguns ou a ação coletiva voltada para o futuro.
Temendo um e não podendo inventar a outra, elas fugiam e se
dissolviam. Como se, ao contrário da Cidade grega, essas
sociedades primitivas não tivessem conseguido inventar a prática
coletiva do poder para fazer face a um poder que ameaçava se
impor fora da coletividade. Aconteceu o contrário na Grécia.
Havia como que um desejo, um amor pela política. Pois a Cidade
ateniense, como também todas as outras sociedades, vivia
politicamente, mas como nenhuma outra, sem dúvida, vivia da
política. A invenção da política foi para ela a outra vertente da
invenção do político.
O que é, de fato, essa invenção da política pelos gregos? Pode-se
defini-la nos termos de J.-P. Vernant: é a “emergência de um
campo privilegiado em que o homem se percebe como capaz de
regrar por ele mesmo, através de uma atividade de reflexão, os
problemas que lhe concernem, depois de debates e discussões
com seus pares.
Portanto, inventar a política não é somente, como
inventar o político, fazer com que não haja outro poder exceto
aquele que a própria comunidade exerce sobre si mesma para se
perpetuar e proteger; é também inventar os meios para que a
própria comunidade tome o poder para enfrentar o mundo. Nos
dois casos, as comunidades tentam por todos os meios, conforme
vimos, impedir a constituição de uma casta política separada e
especializada. Mas não do mesmo modo. A sociedade indígena se
defende da tirania de alguns confiando a um chefe a incumbência
de representá-la junto a ela mesma e de chamá-la, de modo
incessante, à sua própria ordem. Os gregos fizeram diferente.
Costuma-se dizer com frequência que eles temiam acima de tudo
a profissionalização da política. Creio que é preciso retificar esse
ponto. Não é que eles impedissem a profissionalização da
política; o que eles evitavam era que alguns fossem profissionais,
e não todos. O ideal seria uma Cidade em que todos fizessem
política profissionalmente. Ideal em parte realizado, aliás, com a
retribuição aos cargos públicos, tais como a participação nos
tribunais, nas magistraturas e mesmo nas seções da Assembleia
do Povo. Aristóteles via, a justo título, nessa misthoforía um dos
sinais mais seguros da democracia: em todo caso, é um dos mais
originais. Nele, pode-se ver, como diz Vidal-Naquet, “a tomada
de consciência da autonomia do político”. Mas é preciso entender
sobretudo que, com essa reforma, Atenas assegurava que todos os
cidadãos, qualquer que fosse a renda que percebessem, poderiam,
não apenas de direito mas também de fato, participar dos negócios
públicos. Ela fazia da atividade política negócio de todos e de
cada qual um profissional da política. Mas esse ideal de uma
comunidade que faz política está inscrito não somente em suas
instituições, mas também em seu imaginário. Para um grego,
fazer política é, de fato, o gênero de vida mais elevado: como,
conforme queria Aristóteles, a vida humana é política, o que
poderia ser mais digno de um homem do que viver para a
política? a “identificação de si com a política, transformada em
identidade, fazia com que a vida política (…) fosse considerada a
única”.
O estilo próprio da democracia grega não é o triunfo dos valores
populares, mas a extensão a todos dos valores militantes e éticos
da nobreza. Enquanto os tupis sonham com uma coletividade em
que fosse possível ser apolítico, uma comunidade em que
ninguém teria o poder, os gregos sonham com uma Cidade em
que todos fossem políticos, em que todos tivessem o poder.
Podemos ir mais adiante dizendo que a invenção do político entre
os tupis e os atenienses tem de singular o fato de que eles vivem
politicamente, tanto uns como outros, sem fé, sem rei e, de certa
forma, sem lei. Podemos então precisar mais as coisas em relação
a Atenas. A invenção da política é a ideia de que é preciso
inventar coletivamente o futuro da comunidade e de que para isso
é necessário enfrentar três vazios: o Céu, antes de tudo. Sem
dúvida, o Céu está cheio de deuses, mas eles não decidem nada
por nós, somos nós que decidimos. Está vazio também o lugar do
Mestre, como diria C. Lefort: é esse lugar que os índios se
recusam a ocupar e que os atenienses querem ocupar
coletivamente. É vazia sobretudo a imagem que a Cidade tem de
si mesma, vazia de modelo, e por isso é preciso imaginá-la,
construí-la, inventando o que ela será amanhã. De modo que a
comunidade indígena tenta incessantemente reproduzir sua
identidade passada, enquanto a Cidade ateniense deve sem cessar
inventar sua identidade futura.
Em um texto extremamente sugestivo, C. Lévi-Strauss opõe dois
modelos de sociedade: as sociedades-relógio, que, como as
primitivas, são máquinas “frias”, e as sociedades-máquina a
vapor, que, como as modernas, são máquinas “quentes”. As
primeiras “produzem extremamente pouca desordem, o que os
físicos chamam de ‘entropia’, e têm uma tendência a manter-se
indefinidamente em seu estado inicial, o que explica, aliás, o fato
de elas nos parecerem sociedades sem história e sem progresso”.
No lado oposto, as sociedades modernas “utilizam para seu
funcionamento uma diferença de potencial, que se encontra
realizada em diferentes formas de hierarquia social (…) a
escravidão, a servidão ou(…) a divisão em classes”.
É como se elas usassem as diferenças econômicas e a desordem
social para criar história e progresso. Talvez seja possível aplicar
tal distinção à esfera política. Diríamos então: dois tipos de
sociedade inventaram o político, ou seja, a unidade da
comunidade e do poder: sociedades frias, como as tribos tupis, e
sociedades quentes, como a Atenas clássica. Nas primeiras, é
como se a coletividade assimilasse e digerisse todos os poderes
para fazê-los seus a fim de que ninguém em particular os possua,
e se esforçasse para reproduzir o seu próprio passado, para
manter-se o mais identicamente possível, como um relógio —
logo, para fazer o menos possível de política. Nas segundas, é
como se, ao contrário, o poder tivesse tomado conta da
comunidade para fazê-la sua a fim de que todos dele participem
igualmente, de que ela possa produzir seu próprio futuro e seguir
indefinidamente adiante como uma máquina a vapor, e de que
todos façam o máximo possível de política.
Assim, se nenhuma sociedade inventou a vida política, se os
brasileiros de antes da descoberta do Brasil inventaram o político,
foi com certeza a Atenas democrática que inventou a política.
Logo, fizeram bem em pedir-me para falar da invenção grega da
política na Grécia clássica em prelúdio à descoberta do Brasil.
Cabe a vocês dizer se fiz bem em aceitar. Em todo caso, agradeço
a todos por terem me ouvido.
Você também pode gostar
- Apostila Alfabetizacao para Autistas PDFDocumento62 páginasApostila Alfabetizacao para Autistas PDFMaiquel Appel78% (9)
- Bert Hellinger - Conflito e PazDocumento149 páginasBert Hellinger - Conflito e PazGiovannaMello100% (7)
- Eu Sou Assim e Vou Te MostrarDocumento32 páginasEu Sou Assim e Vou Te MostrarAlbenir Oliveira92% (26)
- Jogos de HerançaDocumento342 páginasJogos de HerançaDébora Florencio De Souza100% (4)
- Qual Seu Nível de Inteligência EmocionalDocumento3 páginasQual Seu Nível de Inteligência EmocionalCarlos Barbosa100% (1)
- Qual Seu Nível de Inteligência EmocionalDocumento3 páginasQual Seu Nível de Inteligência EmocionalCarlos Barbosa100% (1)
- Aline - Livro O Mundinho de Boas Atitudes PDFDocumento11 páginasAline - Livro O Mundinho de Boas Atitudes PDFElisangela Santos80% (5)
- Filosofia para quê?: a importância do pensamento filosófico para reflexões atuaisNo EverandFilosofia para quê?: a importância do pensamento filosófico para reflexões atuaisAinda não há avaliações
- Resumo de Direito RomanoDocumento15 páginasResumo de Direito Romano71727172Ainda não há avaliações
- DIREITO: REGRAS, SISTEMAS E FACULDADESDocumento34 páginasDIREITO: REGRAS, SISTEMAS E FACULDADESclsilva77100% (2)
- Az Livro Biologia 3a Serie Aluno 1o Bimestre MioloDocumento380 páginasAz Livro Biologia 3a Serie Aluno 1o Bimestre MioloFabiana MonteiroAinda não há avaliações
- Resumo Raça e HistóriaDocumento7 páginasResumo Raça e HistóriaPatriciaEduAinda não há avaliações
- Ética Geral e JurídicaDocumento319 páginasÉtica Geral e JurídicaThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Tanque Rede CodevasDocumento72 páginasTanque Rede CodevasMauro BorgesAinda não há avaliações
- A Crítica de Habermas Ao Pensamento de Nietzsche e o Outro Da RazãoDocumento18 páginasA Crítica de Habermas Ao Pensamento de Nietzsche e o Outro Da RazãoCarlos MachadoAinda não há avaliações
- Ética e Deontologia JurídicaDocumento9 páginasÉtica e Deontologia JurídicaGenoveva AlbertoAinda não há avaliações
- Poder e Pobreza em Foucault - Luis EstenssoroDocumento30 páginasPoder e Pobreza em Foucault - Luis EstenssoroLuis EstenssoroAinda não há avaliações
- História das ideias políticasDocumento13 páginasHistória das ideias políticasmagideAinda não há avaliações
- DIREITO ADMINISTRATIVO. Apontamentos PDFDocumento177 páginasDIREITO ADMINISTRATIVO. Apontamentos PDFBruno100% (2)
- Teoria da Janela Quebrada e o Direito Penal brasileiroDocumento13 páginasTeoria da Janela Quebrada e o Direito Penal brasileiroAna OliveiraAinda não há avaliações
- Thomas HobbesDocumento15 páginasThomas HobbesNalcho GilAinda não há avaliações
- As Vicissitudes Do Estado Enquanto Causa e Consequência Da Impossibilidade Dos Estados em Assegurar Seus Fins e FunçõesDocumento22 páginasAs Vicissitudes Do Estado Enquanto Causa e Consequência Da Impossibilidade Dos Estados em Assegurar Seus Fins e Funçõesabilio_968449394100% (1)
- Direito Natural e JusnaturalismoDocumento39 páginasDireito Natural e JusnaturalismoCamila.Ainda não há avaliações
- O Pensamento Sociológico de DurkheimDocumento22 páginasO Pensamento Sociológico de DurkheimNakaoka Ricardo100% (2)
- Características da ciência moderna e antigaDocumento2 páginasCaracterísticas da ciência moderna e antigaAMNMartins100% (4)
- Como melhorar os fatores que bloqueiam a comunicação empresarialDocumento4 páginasComo melhorar os fatores que bloqueiam a comunicação empresarialptneto100% (1)
- Direito Natural e Direito PositivoDocumento3 páginasDireito Natural e Direito Positivonatalia200065Ainda não há avaliações
- Constituição 1934 BrasilDocumento5 páginasConstituição 1934 BrasilDalva NetaAinda não há avaliações
- Direitos HumanosDocumento11 páginasDireitos HumanosPaulo VanyAinda não há avaliações
- Ética No Mundo Grego PDFDocumento14 páginasÉtica No Mundo Grego PDFGabrielle Suamy Gomes Campelo0% (1)
- A concepção do homem na história do OcidenteDocumento9 páginasA concepção do homem na história do OcidenteMatheus Malagueta100% (1)
- As Teorias Contratualistas de Locke, Rousseau e HobbesDocumento4 páginasAs Teorias Contratualistas de Locke, Rousseau e HobbesTribeiro TribeiroAinda não há avaliações
- Antropologia I - Introdução à Antropologia Social e CulturalDocumento15 páginasAntropologia I - Introdução à Antropologia Social e CulturalVogelsAinda não há avaliações
- A CulturaDocumento3 páginasA Culturaanon-553076100% (1)
- Pensamento econômico GréciaDocumento6 páginasPensamento econômico GréciaAodrenns ZousaAinda não há avaliações
- 2 - Conceitos e Tipos de Constituição PDFDocumento6 páginas2 - Conceitos e Tipos de Constituição PDFleoAinda não há avaliações
- O positivismo e o utilitarismo: as bases do pensamento social e político no século XIXDocumento2 páginasO positivismo e o utilitarismo: as bases do pensamento social e político no século XIXDiego Figueiredo100% (1)
- Mito e Logos Na Filosofia de PlatãoDocumento5 páginasMito e Logos Na Filosofia de PlatãowerbsoncalinAinda não há avaliações
- Teorias Contratualistas Hobbes Locke RousseauDocumento4 páginasTeorias Contratualistas Hobbes Locke RousseauEmanuella Santos100% (1)
- Apostila de Filosofia MedievalDocumento11 páginasApostila de Filosofia MedievalLuiz Guilherme D ImperioAinda não há avaliações
- História e Evolução Do Direito EmpresarialDocumento8 páginasHistória e Evolução Do Direito EmpresarialJesse ReisAinda não há avaliações
- A Filosofia Política da Antiguidade à ModernidadeDocumento5 páginasA Filosofia Política da Antiguidade à ModernidadeLeonildo HuoAinda não há avaliações
- Ideologia e Indústria Cultural em Theodor Adorno e Max HorkheimerDocumento18 páginasIdeologia e Indústria Cultural em Theodor Adorno e Max HorkheimerJossivaldo MoraisAinda não há avaliações
- Introdução Geral A Sociologia ApostilaDocumento48 páginasIntrodução Geral A Sociologia ApostilaALAN JOSE REZENDE DA SILVAAinda não há avaliações
- Ética Da Autenticidade Taylor - S R C PDFDocumento18 páginasÉtica Da Autenticidade Taylor - S R C PDFNayara Ngb100% (1)
- Excludentes de ilicitude e antijuridicidadeDocumento9 páginasExcludentes de ilicitude e antijuridicidadem2saraivaAinda não há avaliações
- O Realismo em Portugal e No BrasilDocumento4 páginasO Realismo em Portugal e No BrasilKarol MartinsAinda não há avaliações
- Introdução à Filosofia Política: Noções BásicasDocumento29 páginasIntrodução à Filosofia Política: Noções BásicasRedilson LuzoloAinda não há avaliações
- O método comparativo de Radcliffe-Brown na antropologiaDocumento5 páginasO método comparativo de Radcliffe-Brown na antropologiaLuana CostaAinda não há avaliações
- Jusnaturalismo SlidesDocumento8 páginasJusnaturalismo SlidesPedro Henrique GomesAinda não há avaliações
- Compara reformas Brasil, EUA, UEDocumento2 páginasCompara reformas Brasil, EUA, UETeresinha Da Conceição MendesAinda não há avaliações
- Educacao Desenvolvimento PDFDocumento13 páginasEducacao Desenvolvimento PDFAnonymous wDwjAYlAinda não há avaliações
- Auxiliares da HistóriaDocumento3 páginasAuxiliares da Históriaxenasilva100% (5)
- Histórico da SociologiaDocumento73 páginasHistórico da SociologiaRaema Almeida100% (2)
- Resenha Livro - A Fabula Das Abelhas de Mandeville (1714)Documento2 páginasResenha Livro - A Fabula Das Abelhas de Mandeville (1714)Roberto Basílio LealAinda não há avaliações
- Controle Social Do Poder Politico em MocambiqueDocumento92 páginasControle Social Do Poder Politico em MocambiqueInacio Manuel Winny Nhatsave100% (1)
- Positivismo Filosófico e Positivismo JurídicoDocumento4 páginasPositivismo Filosófico e Positivismo JurídicopragouveiaAinda não há avaliações
- ABREU. 'Laura Bohannan Conta Hamlet'Documento3 páginasABREU. 'Laura Bohannan Conta Hamlet'Karla NielsAinda não há avaliações
- História Da Antropologia - Os Quatro Pais FundadoresDocumento2 páginasHistória Da Antropologia - Os Quatro Pais FundadoresEricka Santos100% (2)
- Filosofia para alunos de DireitoDocumento25 páginasFilosofia para alunos de DireitoAngelo AnalysisAinda não há avaliações
- Antropologia Social e CulturalDocumento15 páginasAntropologia Social e Culturalju-bijuAinda não há avaliações
- Ética, Cidadania e Educação na Formação do CidadãoDocumento5 páginasÉtica, Cidadania e Educação na Formação do CidadãoRodrigo Daniel SilioAinda não há avaliações
- Formas de Estado - Estados Unitários e FederaisDocumento20 páginasFormas de Estado - Estados Unitários e FederaisEl MatavelAinda não há avaliações
- Resumos Economia Política I - 1 FrequênciaDocumento20 páginasResumos Economia Política I - 1 FrequênciaSusana Martinho100% (2)
- Instrumentos de Controle SocialDocumento2 páginasInstrumentos de Controle SocialElleni Lesqueves100% (1)
- Comte e o Positivismo PDFDocumento27 páginasComte e o Positivismo PDFluferos100% (1)
- "A gente leva o dinheiro, mas fica o couro": A vida e a lida de camponeses piauienses após o trabalho no corte de cana em agroindústrias brasileirasNo Everand"A gente leva o dinheiro, mas fica o couro": A vida e a lida de camponeses piauienses após o trabalho no corte de cana em agroindústrias brasileirasAinda não há avaliações
- Coronavirus Aqui NaoDocumento3 páginasCoronavirus Aqui NaoCarlos BarbosaAinda não há avaliações
- Livrinho de Identidade-1 PDFDocumento21 páginasLivrinho de Identidade-1 PDFMeira da SilvaAinda não há avaliações
- Fabulas Esopo Volume1Documento21 páginasFabulas Esopo Volume1Mia ZillahAinda não há avaliações
- Descartes e o Racionalismo em 6 questõesDocumento4 páginasDescartes e o Racionalismo em 6 questõesCarlos BarbosaAinda não há avaliações
- Educa AssertividadeDocumento7 páginasEduca AssertividadeBrunno SantosAinda não há avaliações
- PortinariDocumento9 páginasPortinariClaudiavanuzaAinda não há avaliações
- Guia de relacionamentos com 8 miniguias ilustradasDocumento22 páginasGuia de relacionamentos com 8 miniguias ilustradasCarlos BarbosaAinda não há avaliações
- Identificando Circulo ViciososDocumento1 páginaIdentificando Circulo ViciososCarlos BarbosaAinda não há avaliações
- 1 5068920127861293246Documento24 páginas1 5068920127861293246Marcos OAinda não há avaliações
- Segredos de criançaDocumento5 páginasSegredos de criançaUMBERTOGYNAinda não há avaliações
- A Horta Mágica de ChicoDocumento28 páginasA Horta Mágica de ChicoCarlos BarbosaAinda não há avaliações
- Sintese ChauiDocumento2 páginasSintese ChauiCarlos BarbosaAinda não há avaliações
- P. Filosofia 2anosDocumento4 páginasP. Filosofia 2anosCarlos BarbosaAinda não há avaliações
- Arotinadeumautista PDFDocumento79 páginasArotinadeumautista PDFAnonymous jH2v0BAinda não há avaliações
- Sobre o Kit de Ferramentas Da Autism Speaks para A Comunidade EscolarDocumento11 páginasSobre o Kit de Ferramentas Da Autism Speaks para A Comunidade EscolarAcácio Coixão DuarteAinda não há avaliações
- Teste de MeteorologiaDocumento9 páginasTeste de MeteorologiaMaria Teresa PinheiroAinda não há avaliações
- A Realidade Do Veterinario Recem FormadoDocumento15 páginasA Realidade Do Veterinario Recem FormadoGabriel DiasAinda não há avaliações
- Transtorno HistriônicoDocumento2 páginasTranstorno HistriônicoSaulo HamuAinda não há avaliações
- Questões Extras - Biologia - BernoulliDocumento28 páginasQuestões Extras - Biologia - BernoullirilderAinda não há avaliações
- Livro - Fundamentos de Estabilidade de Alimentos - 2a Ed - CLV12015Documento329 páginasLivro - Fundamentos de Estabilidade de Alimentos - 2a Ed - CLV12015Anny Kelly VasconcelosAinda não há avaliações
- Trabalho de Hematologia (Leucogenese Mielocitica)Documento2 páginasTrabalho de Hematologia (Leucogenese Mielocitica)EdilvaniaAinda não há avaliações
- Avaliação Sobre MesopotâmiaDocumento3 páginasAvaliação Sobre MesopotâmiaElengleides CoelhoAinda não há avaliações
- CAPACITORES CERAMICO ApresentacaoDocumento18 páginasCAPACITORES CERAMICO ApresentacaoJake douabeAinda não há avaliações
- Topologia dos Números ReaisDocumento40 páginasTopologia dos Números ReaisMatheus FerreiraAinda não há avaliações
- Miscelânea de questões CESPEDocumento4 páginasMiscelânea de questões CESPEDandara DantasAinda não há avaliações
- Chamada Publica AGI 01 2024 Regionais Versao AtualizadaDocumento16 páginasChamada Publica AGI 01 2024 Regionais Versao Atualizadavaniaaguia4Ainda não há avaliações
- Teste 1 1P 7ºanoDocumento4 páginasTeste 1 1P 7ºanoClaudio SerraAinda não há avaliações
- PIX - Sistema de pagamentos instantâneos do BacenDocumento9 páginasPIX - Sistema de pagamentos instantâneos do Bacenmaiara BevilacquaAinda não há avaliações
- Exercicios Maquinas TermicasDocumento19 páginasExercicios Maquinas Termicasluiz_scribd0% (1)
- Lição 05 - Dons de ElocuçãoDocumento2 páginasLição 05 - Dons de ElocuçãoValmir Ramos - Imagine StudioAinda não há avaliações
- Profissões Das Ciências SociaisDocumento2 páginasProfissões Das Ciências SociaisMaria FernandesAinda não há avaliações
- O Caminhar Como Prática Estética - Thaís Leandro PDFDocumento4 páginasO Caminhar Como Prática Estética - Thaís Leandro PDFThaís CavalcantiAinda não há avaliações
- BIB03028 A - Planejamento e Elaboração de Bases de DadosDocumento3 páginasBIB03028 A - Planejamento e Elaboração de Bases de DadosCABAMAinda não há avaliações
- Compact 8 10 12 14Documento138 páginasCompact 8 10 12 14AntônioAinda não há avaliações
- Atestado de Conformidade Das Instalações ElétricasDocumento1 páginaAtestado de Conformidade Das Instalações ElétricasFranklin MedeirosAinda não há avaliações
- O relógio mágicoDocumento3 páginasO relógio mágicoPatrícia AntunesAinda não há avaliações
- Módulo II-Perícia JudicialDocumento22 páginasMódulo II-Perícia JudicialRaphael Mendes Baptista leahparAinda não há avaliações
- Manual TecnicasSaneamentoTratResiduosSolidosUrbanosDocumento271 páginasManual TecnicasSaneamentoTratResiduosSolidosUrbanosEpiactis LdaAinda não há avaliações
- BucoDocumento44 páginasBucoMarcos Antonio de LimaAinda não há avaliações
- 04 Bloco 2.15Documento364 páginas04 Bloco 2.15andre nascimentoAinda não há avaliações
- PrescricasoDocumento20 páginasPrescricasoBiancaMaschioAinda não há avaliações