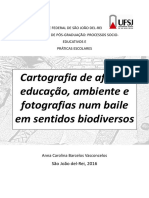Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
10 - MAHER A Educação Do Entorno para A Interculturalidade e o Plurilinguismo
10 - MAHER A Educação Do Entorno para A Interculturalidade e o Plurilinguismo
Enviado por
Fernanda Chichorro0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
33 visualizações19 páginasTítulo original
10 - MAHER a Educação Do Entorno Para a Interculturalidade e o Plurilinguismo
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
33 visualizações19 páginas10 - MAHER A Educação Do Entorno para A Interculturalidade e o Plurilinguismo
10 - MAHER A Educação Do Entorno para A Interculturalidade e o Plurilinguismo
Enviado por
Fernanda ChichorroDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 19
A Educagao do Entorno para a Interculturalidade ¢ o Plurilingiiismo
Terezinha Machado Maher
A motivagao inicial para escrever este texto adveio de um certo desconforto que venho
sentindo com a nogio, tao cara & Lingiifstica Aplicada, de empoderamento. O trabalho de
Cameron et all publicado em 1992 contribuiu, de forma decisiva, para colocar o conceito na
agenda de investigaco de muitos lingiiistas aplicados. Apoiada nesses autores, eu mesma
inscrevi 0 estudo que fiz em meu doutorado no rol das pesquisas que elegem como meta,
além da produgao de conhecimento cientifico, 0 empoderamento (empowerment) dos
sujeitos pesquisados.' Aliado ao meu interesse académico de melhor entender a relagao
Iingua, discurso ¢ identidade, existia a intengo politica de que aquele trabalho contribufsse,
tanto para dar voz ¢ visibilidade ao grupo de professores indigenas acreanos sujeitos da
pesquisa,” quanto para tornd-los mais conscientes de seus direitos lingiifsticos e do modo
como esses direitos estavam sendo aviltados. Esse iiltimo objetivo foi contemplado nas
Iongas conversas que tive com eles durante 0 processo de geragdo de dados e nas ocasides
em que refletimos sobre os resultados da pesquisa. Como conseqiiéncia, ndo apenas dessas
nossas conversas, evidentemente, mas também de varias outras agGes desenvolvidas no
interior do projeto de educagio no qual esses docentes estio inseridos, os professores
indigenas em questdo est4o muito mais fortalecidos politicamente: para eles suas inguas
do so mais “girias” — como foram levados a acreditar. Sabem, hoje, que as Kinguas
indigenas so Imguas plenas, so linguas de direito. Nao leram Berenblum (2003), mas
adquiriram consciéncia de que o confisco da legitimidade de suas linguas é resultado de
processos histéricos que permitiram que houvesse uma invengio de nagdo ¢ uma invengio
de lingua nacional. E mais: sabem que so esses os fatos que explicam a atual situagao de
risco lingiistico em que se encontram suas comunidades de fala. Se as Kinguas indigenas
acreanas vém enfraquecendo, se em algumas aldeias as familias j4 “optaram” por criar seus
Cf, Maher, 1996:59,
* Esses professores, membros de sete diferentes grupos éinicos (Kaxinawa, Yawanawa, Jaminawa,
‘Shawadawa/Arara, Katukina, Manchineri ¢ Asheninka), fazem parte de um projeto de formagio continuada
para o magistério indigena coordenado pela organizacio nio-governamental Comissdo Pré-tndio do Acre
(CPI-Ac). Marilda Cavalcanti e eu vimos, desde 0 inicio da década de 90, atuando nesse projeto como
docentes, consultoras e pesquisadoras,
filhos monolingies em lingua portuguesa, esses professores sabem que isso se deve, em
gtande parte, a uma coergio ideolégica. A uma coergdo perfeitamente explic4vel, rastredvel
historicamente: a construgdo de um “Brasil”, de uma “Nagao Brasileira” dependia da
capacidade de se construir uma uniformidade intema, uma uniformidade lingtfstica,
inclusive. As demais Iinguas ali presentes precisavam ser apagadas e para tanto eta preciso
comegar por denegriclas na consciéneia de todos, inclusive na de seus préprios falantes.
Tendo feito o deslocamento ideol6gico necessario — Iingua indigena é uma Iingua como
outra qualquer, nao € “giria” -, tendo tomado consciéncia da necessidade urgente de
aumentar 0 prestigio de suas linguas matemnas para tentar conter 0 avango predatério da
Ingua portuguesa nas aldeias, os professores indigenas bilingiies acreanos, amparados por
um conjunto de legislagdes favordvel, * incluiram suas Iinguas tradicionais em seus
curriculos escolares, tanto como objeto de ensino, quanto como lingua de instrugao.* E
investiram, pesadamente, na elaboragio de materiais didéticos adequados: hoje eles podem
contar com materiais escritos em suas linguas para ensinar matemitica, geografia, histéria.
Porém — € aqui esté 0 n6 da questio — apesar de muitos alunos indfgenas estarem
aprendendo os contetidos curriculares em suas Iinguas maternas, técnicos de secretarias
municipais insistem que as provas, nessas mesmas escolas, sejam elaboradas e feitas em
portugués! E no em qualquer portugués, diga-se de passagem, mas na variedade
considerada padrao dessa lingua: o Portugués Indigena também é menosprezado na regiao.>
E 0 cerceamento aos direitos indigenas nao vem ocorrendo apenas no que se refere a
questdes lingiifsticas. Culturalmente insensfveis, alguns técnicos de secretarias de educagao
locais pressionam os professores para o “cumprimento do programa”, por exemplo, sem
considerar que as pedagogias indigenas estio freqiientemente assentadas em outras nogGes
de tempo de ensino e tempo de aprendizagem. Em outras ocasides, a cobranga refere-se &
“observancia estrita ao calendério escolar”. Ora, os Referenciais Curriculares Nacionais
> A Constituigio de 1988, a Lei de Diretsizes e Bases da Educagiio Nacional e o Plano Nacional de Educagio
atualmente asseguram aos povos indigenas o direito de terem suas linguas, seus costumes e seus principios
ceducacionais respeitadas no processo de escolarizagao formal (Grupioni, 2001).
* Algumas das atuais estratégias empregadas por esse grupo de professores para compor ume politica de
_manutengao e revitalizapao das linguas indfgenas acreanas estio descritas em Maher, 2006b.
* CE, Maher, 1996,
para as Escolas Indfgenas (RCNEI) contemplam, entre outras coisas, a construgao de
calendérios escolares especificos para esses ambientes educativos: em época de colheita e
dos rituais a ela associados, por exemplo, as atividades escolares em muitas comunidades
indgenas tém que ser interrompidas de modo a permitir que os alunos possam acompanhar
‘05 adultos nessa importante esfera de socializagao. Mas nao pense o leitor que é apenas
quando tém que lidar com 0 aparato escolar que os professores indigenas se véem em
situagdes dificeis por conta de suas especificidades culturais e lingiiisticas. Sao intimeros os
contextos em que se véem discriminados por falarem ou se comportarem de forma
diferenciada, Varios deles relatam, por exemplo, o constrangimento que sentem quando tm
que tirar documentos:
As vezes, quando o {ndio vai para o cartério para tirar um documento e
ele quer registrar o seu filho com nome indfgena, eles ndo aceitam, néo
querem registrar. Eles dizem que 0 nome s6 pode ser em portugués! Eles
discriminam os Huni Kui... (Prof. Tadeu Mateus Sia Kaxinawa)*
Com o que venho dizendo quero argumentar que nio basta as minorias brasileiras ~ e aqui
estou, como muitos autores, utilizando “minorias” em um sentido politico, nao
necessariamente demogréfico’ — terem consciéncia de seus direitos para que o cenério de
opressao lingtifstico-cultural em que vivem seja, na prética, no varejo, no cotidiano,
modificado, Dai o meu desconforto com 0 modo como o termo empoderamento vem sendo,
em muitas situagdes, utilizado. Creio que politizagdo ou fortalecimento politico dos grupos
sociais destituidos de poder traduzem melhor o que buscamos com nossas pesquisas € agdes
educativas. Porque 0 empoderamento de grupos minoritétios ¢, parece-me, decorréncia de
tts cursos de aco: (1) de sua politizagao, (2) do estabelecimento de legislagées a eles
favordveis ¢ (3) da educagao do seu entorno para o respeito a diferenga. A politizagao é
apenas um dos alicerces — um alicerce absolutamene necessério, mas nio suficiente -,
quando se pensa a arquitetura de projetos emancipatérios para eles voltados. Sem que 0
entono aprenda a respeitar € a conviver com diferentes manifestagdes lingiifsticas ¢
culturais, mesmo que fortalecidos politicamente ¢ amparados legalmente, estou convencida
© Huni Kui & como 0 povo Kaxinawa se autodenomina em ocasives,
” CL, por exemplo, Tollefson (1991), Cavalcanti (1999) ou Chiodi e Bahamondes (2001).
que 0s grupos que esto & margem do mainstream nao conseguirdo exercer, de forma plena,
sua cidadania,
Educacio intercultural: algumas consideragées iniciais
Como a escola nos moldes ocidentais entra nas aldeias como decorréncia do contato com a
sociedade envolvente, com os ndo-indios, a questao da interculturalidade, i. e, do conseguir
fazer dialogar conhecimentos ¢ comportamentos construfdos sob bases culturais distintas e
freqiientemente conflitantes deve ser entendida como o esteio, como a razio de ser da
escola indigena, Como ja afirmei anteriormente, o desafio posto pela interculturalidade nao
pode, nesse contexto, ser entendido como um plus, como um enriquecimento, como um
bénus porque o investimento no estabelecimento do didlogo, na capacidade de resolugao do
conflito intercultural é 0 alicerce, € o que justifica mesmo a existéncia dessa escola, é 0 que
da a ela relevancia politica.’ E esse grande desafio tem que ser estendido para todas as
escolas do pais, Porque se antes as culturas estavam mais ilhadas ¢, por isso mesmo, mais
ptotegidas, o fato é que a crescente urbanizagao, a intensificagao dos movimentos
migratérios, a globalizago, a ampliagéo e a expansio vertiginosa dos meios de
comunicagdo vém, cada vez mais, expondo as culturas umas as outras. E € essa exposi¢io
que exige, sem mais adiamentos, que nos preparemos para o sempre dificil encontro com 0
outro, com o diferente, Claro est4 que muito mais facil seria viver em um mundo afinado
por um mesmo diapasdo cultural, como desejavam os tedricos da modernidade. Mas o
mundo nao € assim: ele é extremamente diverso, dissonante. E que respostas vimos dando &
tamanha pluralidade cultural?
A retérica do multiculturalismo ¢ os processos educativos
A pluralidade cultural sempre fez parte do mundo; 0 fato, em si, nao é novidade. © que é
novo € a atengdo que ela vem recebendo, principalmente por parte de educadores. O
‘multiculturalismo — termo preferido, na tradigdo anglo-saxdnica, para referir 0 fendmeno —
tem sido tema de publicagses de varios estudiosos, os quais, dada a polifonia do termo, se
* CE, Maher, 2006.
preocupam em explicitar os miiltiplos usos que dele se vem fazendo.’ Em primeiro lugar,
14 que se fazer uma distingao entre, por um lado, aqueles que atribuem ao termo um valor
negativo e, por outro, aqueles que véem o multiculturalismo na educagao como uma
benesse. Os adeptos da primeira opinido sio taxativos: defendem os modelos de
pensamento e as priticas escolares eurocéntricas; deslegitimam tudo que nio seja
hegem@nico (crengas, valores, conhecimentos, Iinguas) ¢ acreditam que o papel da escola é
contribuir para a assimilagao dos grupos sociais que julgam inferiores & ordem estabelecida
Os que subscrevem a essa perspectiva — denominada por Peter McLaren (2000)
Multiculturalismo Conservador ~ condenam veementemente os defensores do ensino de
base multicultural, os defensores da educagdo bilingie para minorias, por julgarem que
esses fomentam ci
Ges € conflitos sociais, Os que elegem o multiculturalismo como
bandeira, no entanto, ndo podem ser enquadrados em uma tinica perspectiva: multi sao os
sentidos de multiculturalismo no interior desse bloco. Grosso modo, no entanto, eles
podem ser divididos em duas categorias: hé aqueles que adotam uma perspectiva liberal
face ao fendmeno ¢ hé aqueles que assumem uma perspectiva critica ao examiné-lo.
Todos os adeptos do Multiculturalismo Liberal reconhecem, como legitimas, as diferencas.
© enfoque dado ao tratamento do diverso, no entanto, ndo é 0 mesmo: ha aqueles cuja
grande aposta é na universalidade ¢ ha aqueles que apostam todo o seu cacife na propria
diferenga, O primeiro grupo enfatiza que, apesar das diferengas, todos os seres humanos sto
intelectualmente iguais.'° Freqiientemente bem intencionados, argumentam que, desde que
se garanta igualdade de condigGes, i. e., desde que se garanta que todos tenham as mesmas
oportunidades académicas e econdmicas, todos terio condigGes de competir, em pé de
igualdade e ser bem sucedidos. Essa énfase na equidade e na meritocracia individual abre
espago para posturas que culpam a prépria vitima pelo fracasso escolar: se o individuo
falhou & porque nao estava motivado o suficiente, no se esforgou o suficiente para
aprender.'' Acredita-se, equivocadamente, que todos os seres humanos sao totalmente
“livres” para fazer suas escolhas. Mas, eles nao so. Suas escolhas, como ja nos lembrava
Cf, por exemplo, Candau (2002), Moreira (2002), Veiga-Neto (2003) e Kubota (2004).
© Essa visio corresponde ao que McLaren (op.cit,) denomina Multiculturalismo Humanista Liberal ©
‘Moreira (2002), Multiculturalismo Benigno.
* Cf, Kubota, 2004,
Tollefson em 1991, so determinadas, sio condicionadas por fatores sécio-politicos mais
amplos. Nao é como se um aluno proveniente de um grupo marginalizado pudesse, sempre
¢ livremente, optar entre motivar-se, ou nao, para a aprendizagem; esforgar-se, ou no, por
aprender. Porque nao ha como disassociar a diferenca das relages de poder: sio essas
iiltimas que criam e preservam a primeira, Nao h4, portanto, como analisar as diferengas
ssem levar em conta que determinadas minorias, identificados por fatores relativos a classe
social, género, etnia, sexualidade, religido, idades, linguagem, tém sido definidas,
desvalorizadas ¢ discriminadas por representarem 0 outro, 0 diferente, 0 inferior.
(Moreira, 2002: 18).?
Ao ignorar as questdes de poder imbricadas nas diferencas culturais, os defensores dessa
visio de multiculturalismo, banalizaram o termo: “educagao multicultural”, para muitos,
nao é mais do que mera bandeira politicamente correta.'* E é por isso que nessa perspectiva
as diferengas culturais sio sempre trivializadas: celebra-se apenas aquilo que esti na
superficie das culturas (comidas, dangas, miisica), sem conecté-las com a vida real das
pessoas ¢ de suas lutas politicas. Assim orientadas, as escolas se apressam em promover
verdadeiros “saféris culturais”, nas quais as culturas aparecem engessadas e o diferente €
exoticizado. Nao ha espago nessas celebragdes para, por exemplo, um indio Pataxé ou
Kaxinaw contemporaneo, que usa um celular, que acessa a internet; 0 que se quer (¢
muito!) € celebrar 0 “indio auténtico” (leia-se: 0 indio mumificado). Assim, nessa
perspectiva liberal, “tolera-se” uma certa dose de diferenga, cria-se uma igualdade
ilusionista, enquanto mantém-se as relagdes de poder existentes as quais, espera-se, as
pessoas marginalizadas possam ser assimiladas (Kubota, op.cit. pg.36)
A vertente do Multiculturalismo Liberal que enfatiza, no a igualdade, mas a diferenga,
argumenta, por outro lado, que nao € possivel ignorarmos as especificidades culturais, pois
E importante esclarecer que, assim como Andrea Semprini, entendo que a experiéncia de exclusio, de
‘marginalizagio — e nio necessariamente uma base “objetivamente” énica, politica ou nacional ~ & que faz
‘com que alguns grupos sociais se reconkeram como possuidores de valores comuns e se percebam como um
{grupo a parte (Semprini, 1999, pg. 44). E so justamente as reivindicagdes desses grupos, dessas "minorias
(0s objetos de reflexio da Antropologia Interpretativa, dos Estudos Culturais e da Pedagogia Critica, matrizes
te6ricas das quais me alimento,
* Cf, Kubota, op. cit
so justamente essas que justificam os valores ¢ as préticas sociais de diferentes grupos
humanos.'* Aqui, embora nao se desconsidere que os grupos humanos sao constitufdos por
relagdes desiguais de diferentes naturezas, seus seguidores tendem a “essencializar” as
diferencas e a eleger certas experiéncias culturais como as tnicas ‘auténticas’, na falsa
crenca de que a politica de localizacdo de uma pessoa, de alguma forma, garante
previamente uma postura ‘politicamente correta’ (McLaren, op. cit., pg.121). Todo
qualquer indio, todo ¢ qualquer negro, todo € qualquer homossexual — dependendo em que
grupo oprimido se esté inserido ou que se est4 defendendo — & visto, automaticamente,
como isento de contradigdes ou equivocos. Ora, como esclarece 0 autor, estamos todos
inseridos em formagdes discursivas e ideolégicas muito complexas e, ainda que nossas
experiéncias coletivas sejam importantes na construgdo de nossa identidade politica, essas
experigncias precisam ser analisadas no interior dessas formagées.
Se na primeira versio liberal de multiculturalismo as culturas minoritétias sao fetichizadas,
nessa iiltima, elas sao santificadas, beatificadas. E enquanto aquela primeira postura
preconiza a assimilagdo plena dos grupos minoritétios, essa outra, em contrapartida, tende a
promover o separatismo, a guetizagio. Se politizar a diferenga € preciso, promover a
criagao de apartheids culturais nesse processo nao € preciso, nem produtivo.
Na base das percepedes acriticas de multiculturalismo deseritas até 0 momento, esté um
conceito de cultura que, tendo sustentado a criagdo dos projetos coloniais de estado-
nacio,* € também o conceito que prevalece no senso comum: a cultura vista,
equivocadamente, como “coisa”, como um conjunto de attibutos essencializados, imutveis
€ univocos. Por isso, fago aqui um hiato para expor, brevemente, um outro modo de
entender 0 conceito, j4 que € esse entendimento que sustenta 0 Multiculturalismo Critico ~
ou, como prefiro chamar, a Interculturalidade - tema que abordarei em seguida
“ McLaren (op. cit} chama essa corrente de Mulriculturalismo Liberal de Esquerda,
* Cf. Hall (2003), Skliar (2003) ou Silva (2005), entre outros.
“ Cf, Hall (op. cit), Almeida (2002) ¢ Beremblum (2003).
Examinando 0 conceito de cultura
Cada um povo tem, no centro dele, como viver. Cada
um de nds temos o nosso direito de saber como viver,
conviver, desenvolver e sobreviver de acordo com a
nossa realidade.
Prof, Valmar Yube Kaxinawa
A cultura & um sistema compartilhado de valores, de representagdes ¢ de agdo: € a cultura
quem orienta a forma como vemos ¢ damos inteligibilidade as coisas que nos cercam; ¢ 6
ela quem orienta a forma como agimos diante do mundo ¢ dos acontecimentos. '’ Porque se
€ verdade que todas as populagdes humanas pertencem a uma mesma espécie, também é
verdadeito o fato de elas se diferenciarem entre si por suas escolhas culturais, cada um
inventando solugdes originais para os problemas que Ihe sdo colocados (Cuche, 2002:10-
11). A cultura, assim, ndo é uma heranga: ela é uma produgao histérica, uma construgao
discursiva. A cultura, portanto, € uma abstragio; ela nfo é “algo”, no € uma “coisa”, Ela
no é um substantivo. Antes, como explica Brian Street, a cultura é um verbo. Ela é um
proceso ativo de construgao de significados. Ela define palavras, conceitos, categoria,
valores. E é com base nessas definigdes que vivemos nossas vidas. Por isso, insiste 0 autor,
muito mais importante do que nos preocuparmos em definir cultura, em estabelecer 0 que €
cultura, 6 tentarmos entender a natureza das definigdes que a cultura oferece, € tentar
entender porque diferentes grupos humanos acreditam no que acreditam, agem do modo
como agem (Street, 1993:25). Dito de outro modo, o grande desafio ndo € desctever as
crengas € os comportamentos de um dado grupo cultural; € entender a I6gica por detras
dessas crengas e comportamentos. E é fundamental que esse entendimento seja sécio-
historicamente localizado porque a cultura no € s6 pensada, ela € vivida. Diamte de
qualquer mudanga produzida por forgas externas, todos os agrupamentos humanos irdo,
inevitavelmente, avaliar seus esquemas de significagao ¢, se julgarem conveniente,
transformé-los.'* As culturas, entendo, funcionam para os grupos humanos como biissulas.
Buissolas inteligentes, eficazes porque, sensfveis as mudangas, permitem aos homens nao
CE. Sahlins (1990), Geertz (1997), Cuche, (op cit) ¢ Hall (2003).
E por isso que, do ponto de vista antropolégico, nenhuma cultura pode jamais ser vista como um todo
acabado: todas elas estio, sempre, em constante processo de (re)construgo de si mesmas,
somente adaptarem-se a seu meio, mas também adaptar esse meio a suas necessidades, aos
seus projetos (Cuche, op.cit.:10). F essa, € nenhuma outra, a fungao precipua da cultura,
Importa também aqui considerar que a cultura nio é automaticamente partilhada por todos
05 seus membros: a cultura nao forma um todo homogéneo, integrado, coerente, A cultura
pode ser alvo de disputas; ela freqiientemente é alvo de disputas."” Porque as culturas
_ ndio se assemetham a algo assim como um ‘texto’ cifrado, revisado e
dotado de uma légica univaca por alguma inteligéncia impessoal. As
pessoas, os atores, os membros de uma sociedade fazem sua historia. E
a trama de suas relagées constréi uma histéria de diferencas ¢
diferentes histérias. Quando se trabalha com as culturas, portanto,
temos que nos precaver para néo apresentar os atores dessas culturas
como representantes exemplares das mesmas. Temos que buscar as
matrizes comuns, mas também abrir espago para a diversidade de
expressies, para a possibilidade e para a existéncia real de
divergéncias e criagaes individuais ¢ coletivas que variam no tempo ¢
no espago. (Chiodi e Behamondes, 2001. pg. 58; énfase minha).
Se hé dissenso no interior das culturas, elas s6 podem ser vistas, entéo, como uma
multiplicidade de discursos, em interago ou em disputas, dentro de um complexo sistema
de configuragdes, de manipulagio © produgao de politicas culturais, Dai ser impossivel
falarmos em uma “cultura nacional”, pois, se a cultura nao € uniforme, se ela é sempre alvo
de disputas, quem falaria em nome de todos? O que seria tomado como padrao dessa
totalidade que é heterogénea? E assim sendo, também, nada justifica considerar qualquer
individuo emblema, encamagio de sua cultura.
E se as culturas nao sao fixas, ndo so unas, elas tampouco sio irtedutfveis. Muito pelo
contrério: as culturas so absolutamente permedveis umas as outras. E isso vale para todas:
ndo € como se houvesse, de um lado, culturas “puras” ¢, de outro, culturas “ja
120
contaminadas”, culturas “mestigas”.”° Nao, todas as culturas séo sineréticas, hibridas; todas
Cf. Ditks et al,1994
* CE Cache, op. cit, pg. 140.
10
clas so, desde o seu inicio, amélgamas de varias outras.”! Mas se os sistemas culturais sio
‘mutantis, $80 abertos, isso nao significa dizer que, em seus processos de mudanga, as
culturas “incorporam”, simplesmente, influéncias extemas. Porque o funcionamento de
toda e qualquer sociedade est sempre baseado em uma Iégica cultural auténoma, 0 que €
novo, 0 que é estrangeiro € sempre “orquestrado” por seus membros, que irdo Ié-lo,
ressignificé-lo de acordo com o seu proprio sistema de significagao (Sahlins, 1990, pg.9
Hi, portanto, criatividade nas culturas.
Tendo discorrido sobre as propriedades da cultura, resta a questo: de que modo diferentes,
culturas podem ser comparadas entre si? Se, inicialmente, os principios dos paradigmas
evolucionistas advogavam que as culturas podiam ser hierarquizadas, pois algumas
estariam em estdgios evolutivos mais avangados do que outras, a crenca em supremacias
culturais é desafiada, no final do século dezenove, pelos trabalhos etnograficos de Franz
Boas, que institui o conceito de relativismo cultural> A perspectiva relativista defende a
validade ¢ a riqueza de qualquer sistema cultural e argumenta que cada cultura, por ser
resultado de fatores sécio-hist6ricos tinicos, tem sua especificidade e, por isso mesmo, nio
pode ser comparada a nenhuma outra: s6 pode ser analisada com base em critérios
conceituais proprios. Nenhuma cultura pode ser julgada por padrdes externos a ela. Na
perspectiva pés-modema, no entanto, ainda que se dé crédito & nogio de relativismo
cultural por ter denunciado o etnocentrismo daqueles que pretendiam avaliar outras culturas
a partir de seus préptios padrdes culturais, actedita-se que esse mesmo conceito, a0
apregoar, assepticamente, a suspensio de qualquer julgamento de valor, desconsidera 0
caréter relacional das culturas, mascara suas convergéncias ¢ interpenetragdes, além de
ignorar as relagdes de poder entre clas.”*
* Se 6 fato que todas as culturas se influenciam mutuamente, € preciso xessaltar que a interpenctrasio
ccultural quase nunca ocorre, como explica Cuche (op. cit, pg. 129), de forma simétrica. Para nos
convencermos do argumento do autor, basta pensarmos no impacto da produpio cultural estadunidense nas
cdemais culturas globais, vis @ vis 0 impacto de tagos dessastltimas no modus vivendi norte-americano.
* A esse respeito, ver também De Certeau (1996) ¢ Garcia Canclini (2003).
® Uma descrigo das contribuigées de Boas na insttuigo do conceito pode ser encontrado, por exemplo, em
‘Agar, 1994.
* Cf,, por exemplo, Hall (1998) ¢ (2003)
uw
Multiculturalismo Critico ou Interculturalidade?
As consideragdes sobre cultura ¢ relacées entre culturas feitas acima nao orientam as
perspectivas de multiculturalismo delineadas anteriormente, mas servem bem aos
propésitos do que varios autores vém se referindo como Multiculturalismo Critico.> Além
desse ponto de vista reconhecer 0 cardter dinimico, hibrido, ndo consensual € nao
hierarquiz4vel das culturas, ele traz para o centro do debate as diferencas de forcas entre os
diferentes grupos culturais. A epistemologia desse modo de entender o multiculturalismo
esta, segundo Semprini (1999), assentada em quatro premissas: a) a realidade é€ uma
construgdo, b) as interpretagdes so subjetivas e construidas discursivamente, ¢) os valores,
so relativos ¢ c) 0 conhecimento é um fato politico.”® Orientados por esses preceitos,
muitos linguiistas aplicados, muitos cientistas sociais, muitos educadores clamam por uma
abordagem de educago — e por pesquisas que possam informé-la, subsidié-la — que
contribua para promover wma leitura positiva da pluralidade social ¢ cultural e para
assegurar a igualdade de oportunidades para grupos sociais desprestigiadas no pafs
(Fleury, 2003, pg.24)."” Porque perseguem esses objetivos varios desses estudiosos,
argumentam a favor de estudos e ages educativas que contribuam para aumentar a
consciéncia das formas de dominagao, i. ¢., que contribuam para desvelar as estratégias
utilizadas — na midia, nos livros didéticos, nas interagées em sala de aula, em cursos de
formagao para a docéncia, etc. — para construir, ou justificar, discursivamente, uma pretensa
superioridade de individuos ou grupos sociais em relagdo a outros.”* Varios desses
estudiosos, contra-hegemonicamente, também pregam que todo o conhecimento, ¢ néo
somente o “conhecimento oficial”, seja considerado nas pesquisas ¢ no ensino.”* Como se
* Cf, Me Laren (2000), Canda
102), Moreira (2002), Veiga-Neto (2003) Kubota (2004) eSilva (2005),
Essas premissas, por invocar a instabilidade, a mistura e a relatividade como fundamentos de seu
ppensamento propéem uma ruptura com o paradigma munocultural (Semprini, op. cit, pg 89).
% Embora esse modelo de educagio seja comumente denominado Educagdo Multicultural nos Estados
Unidos, na Inglaterra e no Canads, ele recebe diferentes denominagdes em outras partes do mundo, tais como:
Educagdo para a Alteridade, Educagéo para a Diversidade, Pedagogia do Acolhimento, Educagao
Emancipatéria, Educagéo para a Igualdade de Oportunidades, Fducagao para a Interculturalidade ou,
simplesmente, Educagdo Intercultural (Fleury, op. cit).
* Ver, entre outros, Candau (2002), Moreira (2002), Kubota (2004), Silva (2005), Maher (2006a) ¢ Moita
Lopes (2006).
® CE, por exemplo, Canagarajah (2005) e Cavalcanti (2006),
12
Vé, aqueles que se apdiam em uma visio critica de multiculturalismo pretendem contribuir
para que, na escola, se v4 muito além de uma mera celebragao ou tolerancia das diferengas.
Silva coloca essa questao nos seguintes termos:
As diferengas ndo devem ser simplesmente respeitadas ou toleradas. Na
medida em que elas esto sendo constantemente feitas e refeitas, 0 que
se deve focalizar sao precisamente as relagdes de poder que presidem
sua produgdo. Um curriculo inspirado nessa concegdo ndo se limitaria,
pois, a ensinar a tolerancia e 0 respeito, por mais desejdvel que isso
possa parecer, mas insistiria, em vez disso, numa andlise dos processos
pelos quais as diferengas so producidas através de relagoes de
assimetria e desigualdade. Num curriculo multiculturalista erttico, a
diferenga, mais do que tolerada ou respeitada, & colocada
permanentemente em questao (Silva, 2005, pg. 88)
Ao argumentar a favor do exame permanente ¢ critico das causas da diferenga, essa
corrente do multiculturalismo nao preconiza, no entanto, a separagdo entre as culturas. Se
ainda hoje acreditassemos que a assimetria entre os grupos humanos fosse fixa ¢
inreversivel, que os donos do poder o detivessem irremediavelmente para todo o sempre,
claro esta que nenhuma forma de didlogo seria produtivo. Melhor mesmo seria manter os
grupos minoritérios em guetos. Mas, Michel Foucault (1979) nos ensinou que o poder nao é
unilateral; ele nao esta fixado em um tinico ponto, nao esta centrado em um tinico lugar. O
poder também é alvo de disputa. Por isso o multiculturalismo critico propde a instaurago
do didlogo entre as culturas: & af, nesse didlogo, que o poder pode ser negociado, pode ser
desestabilizado © que relacdes mais equanimes podem ser contruidas. Agora, a0 no se
incentivar o isolamento, o mutismo cultural, ndo se supée, ingenuamente, a possibilidade de
‘um congragamento geral entre as culturas. Porque o dislogo proposto, nao hd que se ter
nenhuma ilusa0, é competitivo, é tenso, é dificil. E no apenas porque 0 que esti em jogo
sio relagdes de poder. E que diferengas de valores e de comportamentos podem ser, em.
muitos momentos, ininteligiveis ou inegocidveis. A resolugao de um dado conflito
intercultural, avisa Joanildo Burity (2001), nfo zera os inevitaveis antagonismos culturais -
apenas os deslocam para outros lugares. Cedo ou tarde, eles voltardo a brotar, assumindo
novas formas. Nao se trata, portanto, de tentar escamotear a diferenga, mas de se preparar
1B
para com ela conviver da forma mais informada e respeitosa possivel. E em sendo a
diferenga © cerne da questdo, talvez seja preciso colocar 0 termo “diversidade” sob
suspei¢do porque ele , muitas vezes, utilizado como um bdlsamo trangililizante, talvez com
0 objetivo de anular ou atenuar os conflitos culturais e seus efeitos; um balsamo que cria a
falsa idéia de uma equivaléncia dentro da cultura e entre as culturas (Skliar, 2003, pg.
205). Daf, também, eu pessoalmente considerar que “interculturalidade” traduz melhor a
esséncia daquilo que tanto chama nossa atencdo ¢ nos preocupa contemporaneamente.
Além de muito menos polifénico ¢ menos saturado, banalizado do que
“multiculturalismo”,”” o termo interculturalidade evoca, mais prontamente, a relago entre
as culturas, que é 0 que de fato importa
0 Plurilingiiismo e a Diferenca
A imensa maioria dos brasileiros, conforme afirmou Marilda Cavalcanti, em 1999, nao
(re)conhece a extensdo da pluralidade lingiiistica de seu pais. Porque actedita que o Brasil
é, ou deveria ser, lingitisticamente uniforme, essa maioria olha para 0 nosso atlas lingiifstico
e nio
ou faz. que no vé, as mais de 180 linguas indfgenas ¢ as cerca de 30 Iinguas de
imigrantes faladas cotidianamente por cidadaos brasileiros natos. Tampouco enxerga, ou vé
com bons olhos, o uso das linguas de sinais brasileiras’' os nichos religiosos onde ainda
se fazem presentes, em canticos e oragdes, Iinguas africanas. Isso sem falar na diversidade
no interior da prépria lingua majoritaria: aqui o problema é que apenas uma delas é vista
como legitima — as demais séo consideradas variedades impuras ou mesclas bastardas, E
por tudo isso que uma parcela muito significativa da populago brasileira se vé subtraida de
‘um de seus direitos mais elementares, mais bisicos: 0 direito de ndo ser discriminada pelo
modo como fala.”
» Gloria Ladson-Billings, em entrevista concedida a Gandin et all (2002), informa que, na atualidade, até
supermercados so apresentados aos consumidores norte-americanos como “‘multiculturais”. O termo,
infelizmente, favorece mesmo um entendimento de “culturas em display’
™ Refiro-me A LIBRAS e & lingua de sinais do povo Urubu-Kaapor.
> © direito lingUistico, convém lembrar, faz parte do rol dos direitos bumanos, assim como o direito & saide,
A educagio, ao trabalho ¢ & moradia (Hamel, 1995).
14
Nao so poucos os académicos que vém tentando convencer a opinido publica da
importincia de se assegurar, a todos os cidadaos brasileiros, os seus direitos lingiifsticos. E
sabido, no entanto, que esse esforgo nao tem rendido os frutos esperados. Por que t@o pouco
retorno a tanto investimento? Em nossas buscas por respostas a essa pergunta talvez tenha
nos faltado considerar que na base de nossas frustragbes esteja a pressuposi¢ao equivocada
de que possivel trabalhar o respeito & diferenga lingiifstica por si s6, isoladamente.
Tomamos como dado que aqueles a quem nos dirigimos jé atribuem um valor positivo &
diferenga, em seu sentido mais amplo. E que, por isso, podemos pegar um atalho ¢ nos
concentramos apenas nos direitos as diferengas lingifsticas entre os homens. Mas talvez a
educagio lingifstica nfo possa dar frutos sem que primeiro se discuta o significado de
“cultura”, sem que se problematize a questdo da tensa relagao entre as culturas.”? Acreditar
nisso — como acredito — significa concordar com o que, em 1997, Stuart Hall afirmou: €
preciso colocar a cultura em uma posicao central para se pensar 0 mundo, Nao porque a
cultura, explica o autor, ocupe uma posigio privilegiada na vida humana ou porque a
cultura seja epistemologicamente uma dimensio superior & politica ou & economia, por
exemplo ou, ainda, porque ela seja um descritor auténomo da diferenga entre os homens.
Nao se trata disso. A virada cultural tem apenas a ver com a crenga de que a cultura
atravessa, perpassa toda a vida social: todos os nossos valores, todas as _nossas
representagGes e todas as nossas agdes so determinados culturalmente.
A Educagio do Entorno para a Diferenga Lingiifstica e Cultural
O argumento com que abri este texto € que todo projeto educative voltado para o
empoderamento de grupos minoritérios no pafs tem que também contemplar a educagao do
entomo para a convivéncia respeitosa com as especificidades lingiifsticas e culturais desses
grupos. * Os contornos e as implicagdes da educagdo para a interculturalidade ¢ para o
Preocupado com o divércio freqiientemente estabelecido entre lingua e cultura, Agar (1994) chega a propor
‘6 termo “languaculture” para evidenciar a indissociabilidade enue elas: no apenas porque a Kngua € uma
dimensio da cultura, mas também porque a cultura é construfda nos usos da linguagem:
inca é demais enfatizar que na andlise da diferenga cultural ha que se considerar as
social, de género, de sexualidade, de geragio, de espago, etc
ivagens de classe
> Tendo em mente esse objetivo, Marilda Cavalcanti ¢ eu vimos coordenando cursos destinados a téenicos de
secretarias de educagio envolvidos com o funcionamento de escolas indigenss no pais ou com a formagio de
15
plurilingiismo em contextos de minorias ainda precisam, sem diivida alguma, ser mais bem
conhecidos, mas os resultados de pesquisas ¢ algumas agdes educativas que tenho
examinado apontam, para o que, ao meu ver, podem ser consideradas algumas das
exigéncias desse tipo de educacao. A primeira delas se refere & necessidade de aprender a
aceitar o carater mutivel do outro, Essa 6 uma questdo particularmente importante para
aqueles que interagem com as sociedades indigenas. Porque colocadas no papel de reféns
de suas préprias ancestralidades, as mudancas nelas observadas so, categoricamente,
denunciadas como “perda cultural”. E aqui é importante apontar que mesmo entre os
simpatizantes da causa indigena ha aqueles que precisam ser educados a rejeitarem a nogio
de que as culturas indigenas sio estéticas: incrédulos quanto & capacidade dos povos
indigenas de gerenciar, criativamente, as novas tecnologias com que entram em contato (a
escrita € 0 computador, por exemplo), muitos simpatizantes véem a introdugao dessas
novidades nas aldeias automaticamente como ameagas as linguas indigenas ¢,
conseqiientemente, como motivos para o “enfraquecimento” dessas culturas. Mas, é
preciso insistir que a cultura nao é “algo” que um determinado povo “possui” ¢, portanto,
nao pode ser “enfraquecida” ou “perdida”. Uma outra exigéncia da educagao para a
interculturalidade e para o plurilinguismo é a necessidade de aprender a destotalizar 0
outro, Porque a tendéncia, sabemos, é ver o diferente de forma univoca e a eleger padrdes
culturais “modelares”. Assim é que acabamos elegendo como surdo legitimo aquele que faz
uso, ou deseja fazer uso, de lingua de sinais — o surdo que, por ventura, preferit fazer uso de
leitura labial é visto como “surdo de segunda categoria”.*° Na mesma linha de pensamento,
indio que se preza fala uma lingua indfgena — 0 indio monolingue em lingua portuguesa €
indio falso”.*” E também o nao reconhecimento da complexidade, da multiplicidade de
expresses no interior dos grupos culturais que nos leva a pensar em “culturas de aprender”
de forma monolitica. Ryoko Kubota, em seu artigo de 2004, relata os efeitos danosos que a
estereotipificagao de filhos de imigrantes orientais nos Estados Unidos tem para a
aprendizagem de muitos deles: porque vistos, automaticamente, como “étimos alunos”,
professores indigenas. Tais cursos farem parte do CEFIEL - Centro de Formagio de Professores do Instituto
de Estudos da Linguagem da Unicamp.
* Cf, Santana ¢ Bérgamo, 2005.
» Na raiz. dessas classificagées esté a nogio equivocada que atribui & malerialidade linglistica, e no a0
discurso, o papel definidor de identidade cultural ¢ étnica (Maher, 1996),
16
como “estudantes aplicadissimos”, aqueles que apresentam dificuldades para aprender
matemética, por exemplo, desconcertam de tal modo seus professores, que esses tendem a
ignoré-los por completo em sala de aula. Assim, o nosso desafio é chamar a atengdo, nao
apenas para as diferengas interculturais, mas também para as diferengas intraculturais.
Um bom comego para se trabalhar a diferenga é 0 que sugerem Chiodi ¢ Bahamondes
(2001): o exame da prépria cultura. Quando o aluno toma consciéncia de que a nagdo
brasileira € produto de relagSes interculturais, quando ele se vé confrontado com a
mutabilidade, a hibridez, a ndo-univocidade de sua propria matriz cultural é mais fécil ele
perceber que estd operando com representagdes sobre 0 outro, E que as representagdes que
faz das culturas € dos falares minoritérios nao sao nunca verdades objetivas ou neutras,
‘mas, sim, construgdes discursivas.
Referéncias bibliograficas
AGAR, M. (1994) Language Shock - Understanding the Culture of Conversation. N. York:
William Morrow.
ALMEIDA, M. V. (2002) “Estado-Nagéo © Multiculturalismo”. Revista Manifesto,
novembro.
BERENBLUM, A. A Invengao da Palavra Oficial: Identidade, Lingua Nacional e Escola
em Tempos de Globalizagdo. Belo Horizonte: Auténtica, 2003.
BRASIL (1998) Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indigenas. Monte, N. L.
(coord.). Brasilia: MEC/SEF/Coordena¢ao Geral de Apoio as Escolas Indigenas.
BURITY, J.(2001) Globalizasdo ¢ Identidade: desafios do multiculturalismo in
www fundaj.gov.br/tpd/107.html Acessado em 23/01/2005.
CAMERON, D., FRAZER, E., HARVEY, P., RAMPTON, M B. H. ¢ RICHARDSON, K.
(1992) Researching Language - Issues of Power and Method. Londres: Routledge,
Chapman e Hall.
7
CANAGARAJH, S. A. (2005). “Reconstructing Local Knowledge, Reconfiguring
Language Studies”, In Reclaiming the Local in Language Policy and Practice. Oxford:
Oxford University Press, pgs. 3-24.
CANDALU, V. M. F. (2002) “Sociedade, cotidiano escolar ¢ cultura(s): uma aproximagio”
in: Dossié ‘Diferengas’ - Educagdo e Sociedade, Campinas: CEDES, vol. XXII, n° 79,
agosto, pgs. 125-162.
CAVALCANTI, M. C. (1999) “Estudos sobre Educacdo Bilingiie ¢ Escolarizagao em
Contextos de Minorias Lingtifsticas no Brasil”. D.E.L.T-A., 15, pp. 385-417,
CAVALCANTI, M. C. (2006) “Um Olhar Metatedrico ¢ Metametodolégico em Pesquisa
em Lingiifstica Aplicada: implicagdes éticas ¢ politicas” in: MOITA LOPES, L. P. (org.)
Por uma Lingiifstica Aplicada Indisciplinar, Séo Paulo: Pardbola Editorial.
CHIODI, F. e BEHAMONDES, M. (2001) Una Escuela, Diferentes Culturas. Santiago,
Chile: CONADIL
CUCHE, D. (2002) A Nogao de Cultura nas Ciéncias Sociais. Tradugao de Viviane
Ribeiro. (2° edigao) Bauru: EDUSC.
DECERTEAU, M. A Invengao do Cotidiano. (2° edigao) Petrpolis, RJ: Vozes, 1996.
DIRKS, N. B., ELEY, G. ¢ ORTNER, S. B. (1994) “Introduction” In DIRKS, N. B. ELEY,
G. e ORTNER, S. B. (orgs.) Culture / Power / History, A Reader in Contemporary Social
Theory. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
FL
23.
RI, R. M. (2003) “Intercultura ¢ Educagio”. In Revista Brasileira de Educagdo, n°
FOUCAULT, M. (1979) Microfisica do Poder. Rio de Janeiro, Graal.
GANDIN, L. A., DINIZ-PEREIRA, J. E. e HYPOLITO, A. M. (2002) “Para além de uma
Educagao Multicultural: Teoria Racial Critica, Pedagogia Culturalmente Relevante ¢
Formagao Docente” in: Dossié ‘Diferengas’ - Educagdo ¢ Sociedade, Campinas: CEDES,
vol. XXIII, n° 79, agosto, pgs.275-296.
GARCIA CANCLINI, N. (2003) Culturas Hibridas: Estratégias para Entrar e Sair da
Modernidade.(4* edigao) Traducio H. P. Cintrao, A. R. Lessa. Sao Paulo: Edusp.
18
GEERTZ, C. (1997) 0 Saber Local: Novos Ensaios em Antropologia Interpretativa
Petrépolis: Ed. Vozes
GRUPIONI, L. D. As Leis e a Educagao Escolar Indfgena:Programa Pardmetros em Agdo
2001.
¢ Educagao Escolar Indégena, Brasilia: MEC/SEF,
HALL, S. (1997) “A Centralidade da Cultura: notas sobre as revolugées culturais do nosso
tempo” in: Educagao & Realidade, v. 22, n. 2, Jul,/Dez., pg. 17-46.
HALL, S. (1998) A Identidade Cultural na Pés-modernidad. Rio de Janeiro: DP&A.
HALL, S. (2003) “A Questao Multicultural”. In SOVIK et all. (orgs) Da Didspora —
Identidades ¢ Mediagdes Culturais, Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasilia
Representagao da UNESCO no Brasil.
HAMEL, R. E. (1995) “Introduccién: Derechos Lingiifsticos como Derechos Humanos:
debates y perspectivas” in: HAMEL, H. E. (org.) Derechos Humanos Lingiisticos en
Sociedades Multiculturales, Revista Alteridades, 5 (10), pgs. 11-23.
KUBOTA, R. (2004) “Critical Multiculturalism and Second Language Education” in:
NORTON, B. ¢ TOOHEY, K. (orgs) Critical Pedagogies and Language Learning
Cambridge: Cambridge University Press.
MAHER, T. M. (1996) Ser Professor Sendo Indio: Questaes de Lingua(gem) ¢ Identidade
Tese de Doutorado. IEL, Unicamp, (inédita),
MAHER, T.M. (2006a) “Formagao de Professores Indigenas: uma discussao introdutéria”
in: L.D.B. GRUPIONI (org.) Formagdo de Professores Indigenas: repensando trajetérias.
Brasilia: MEC/SECAD.
MAHER, T. M. (2006b) “Uma Pequena Grande Luta: a escrita e 0 destino das linguas
indigenas acreanas” in: D. SCHEYREL e K. MOTA (orgs.) Espagos Lingiifsticos:
Resisténcias ¢ Expansdes. Salvador: Editora da UFBA.
McLAREN, P. (2000) Multiculturalismo Critico. S40 Paulo: Cortez. Editora,
MOITA LOPES, L. P. (2006) “Uma Lingiifstica Aplicada Mestiga ¢ Ideolégica:
Interrogando o Campo como Lingitista Aplicado” in: MOITA LOPES, L. P. (org.) Por uma
Lingiiistica Aplicada Indisciplinar. Sao Paulo: Pardbola Editorial
19
MOREIRA, A. F. B. (2002) “Curriculo, Diferenga Cultural ¢ Didlogo” in: Dossié
'Diferengas’ - Educagéo e Sociedade, Campinas: CEDES, vol. XXIII, n° 79, agosto,
pgs.15-38.
SANTANA, A. P. e BERGAMO, A, (2005) “Cultura ¢ Identidade Surdas: Encruzilhada de
Lutas Sociais ¢ Teéricas” in: Educagdo ¢ Sociedade, vol. 26, n° 91, maio/ago., pg. 565-
582,
SAHLINS, M. (1990) IIhas de Historia, Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
SILVA, T. T. (2005) Documentos de Identidade — wma introdugdo as teorias do curriculo
(2* edigo). Belo Horizonte: Auténtica Editora
SKLIAR, C. (2003) Pedagogia (Improvavel) da Diferenga — ¢ se 0 outro néo estivesse af?
(tradugao: Giane Lessa), Rio de Janeiro: DP&A Editora,
STREET, B. (1993) “Culture is a Verb: Anthropological Aspects of Language and Cultural
Process”, in: GRADDOL, D., THOMPSON, L. ¢ BRIAN, M. (orgs.) Language and
Culture, Clevedon: BAAL e Multilingual Matters.
TOLLEFSON, J. W. (1991) Planning language, Planning Inequality — Language Policy in
the Community. Nova York: Longman,
Você também pode gostar
- 14 - LEFFA Do Método Ao Pós-MétodoDocumento28 páginas14 - LEFFA Do Método Ao Pós-MétodoFernanda ChichorroAinda não há avaliações
- 2 - Ensino de PLE e Formação de Professores Na UFAMDocumento18 páginas2 - Ensino de PLE e Formação de Professores Na UFAMFernanda ChichorroAinda não há avaliações
- BULLA Revel Na EscolaDocumento28 páginasBULLA Revel Na EscolaFernanda ChichorroAinda não há avaliações
- TESE Yara Miranda - NARRATIVAS EM CURSO PLACDocumento296 páginasTESE Yara Miranda - NARRATIVAS EM CURSO PLACFernanda ChichorroAinda não há avaliações
- A Relação Entre As Crenças, Emoções e Ações de Uma Professora de Inglês em Tempos de PandemiaDocumento174 páginasA Relação Entre As Crenças, Emoções e Ações de Uma Professora de Inglês em Tempos de PandemiaFernanda ChichorroAinda não há avaliações
- Annie Ernoux o AcontecimentoDocumento88 páginasAnnie Ernoux o AcontecimentoFernanda Chichorro100% (1)
- Dissertacao Anna Carolina BarcelosDocumento137 páginasDissertacao Anna Carolina BarcelosFernanda ChichorroAinda não há avaliações
- Afilosofiadalinguagemdo Crculode Bakhtinea LAindisciplinarDocumento23 páginasAfilosofiadalinguagemdo Crculode Bakhtinea LAindisciplinarFernanda ChichorroAinda não há avaliações