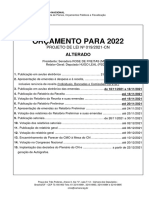Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MONDZAIN Homo Spectator
MONDZAIN Homo Spectator
Enviado por
joseanap0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
364 visualizações191 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
364 visualizações191 páginasMONDZAIN Homo Spectator
MONDZAIN Homo Spectator
Enviado por
joseanapDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 191
marie-josé
mondzain
N. Cham.: 701.15 M734h.P1 2015
Autor: Mondzain, Marie-José.
Titulo; Homo spectator : ver > fazer
10521 6264:
210521606 = Ac. 626432
Esta reflexao estd inteiramente habitada pela
preocupacao do espectador em que hoje nos tor-
ndmos, reféns assustados que, com demasiada
frequéncia, consentem nas produgoes especta-
culares que tém como Unico efeito o aniquila-
mento do espectador. Se 0 espectador nascente
for o préprio homem, a morte do espectador
seré a morte da humanidade. Ea barbarie que
ameaca um mundo sem espectador,
Marie-José Mondzain é fildsofa ESTE LIVRO DEVE SER DEVOLVIDO NA ULTIMA
@ directora de investigagao no DATA CARIMBADA __
Centre National de la Recherche
Scientifique, em Paris.
Considerada uma referéncia
fundamental do pensamento 16 OUT 2017
contemporaneo, a autora
reflecte essencialmente sobre o 14 NOV am
uso politico das imagens, desde
11 SET 2017
o periodo bizantino e da sua
iconoclastia & publicidade e as
artes contemporaneas,
Publicada em varias Ifnguas,
Mondzain tem contribuido
para o debate vital acerca do
poder persuasivo das imagens
contemporaneas, articulando
0 campo da estética com as
principais preocupagées éticas.
Entre os seus titulos, destacam-
-se A Imagem Pode Matar?,
Le Commerce des regards
e Images (a suivre).
MOD. BU - O16
os 2 fo
marie-josé jy 3)).)
mondzain 20\5.--
15
uh.
homo spectator
VER > FAZER VER
prefacio e tradugado
luis lima
U.F.M.G, - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
MC
NAO D,
Obra publicada com o apoio do Centro Nacional do Livro
MUNISTERIO DA CULTURA FRANCES
Ouvrage publié avec le soutien du Centre national du livre
MINISTERE FRANGAIS CHARGE DE LA CULTURE
Biblioteca Universitaria
!2_/12 1 Jog
.2|052 606
TITULO ORIGINAL
Homo spectator: Voir, faire voir
AUTORA
Marie-José Mondzain
PREFACIO £ TRADUGAO
Luis Lima
REVISAQ
Nuno Quintas
CONCEPGAO GRAFICA
Rui Silva | wwwealfaiatariaorg
IMPRESSAO
Guide - Artes Graficas
COPYRIGHT
‘© 2007 Editions Bayard
© 2015 Orfeu Negro
1 EDIGAD
Lishoa, Setembro 2015
DL 398204/15
ISBN 978-989-B327-43-7
ORFEU NEGRO
Rua Gustavo de Matos Sequeira, 0,” 39 - 1."
1250-120 Lisboa | Portugal | t +351 23 3244170
info@orfeunegroorg | wwworfeunegroorg
TRABALHOS DO OLHAR
LUIS LIMA
Especialista em estudos sobre a iconoclastia e 0 estatuto
das imagens, Marie-José Mondzain interessa-se desde
sempre pelos trabalhos do olhar. No seu percurso, tro-
cou a analise traumatica da escuridao e 0 jubilo encan-
tatério das visées pela reflexdo diante das imagens do
corpo e o panorama das imagens do mundo. Contor-
nando as armadilhas do palavreado conceptual contem-
poraneo, a filésofa apoia-se ora nos textos sagrados e
nas monografias antropolégicas, ora nos romances de
Musil, Céline ou Djuna Barnes, para animar conceitos
que sabe tao vivos como as imagens que alimentaram,
ha mais de trinta mil anos, os primeiros homens na
gruta de Chauvet.
Os conceitos que Mondzain nos oferece podem ser
utilizados como invdlucros para arrumarmos 0 caos
da hist6ria da imagem tal como é aqui narrada, a luz da
especularidade humana. £, justamente, nestes traba-
Thos do olhar que a autora reconhece 0 momento inau-
gural do humano, na abertura de uma distancia que
separa o animal do humano. Para a autora, devir-humano
é imaginar, produzir imagens e dar a vé-las, dando a
ver e fazendo ver, enquanto poder de reconhecimento,
num movimento apelidado autoridade. Nao bastou ao
homem que se fez tal, sair da caverna platénica gragas
ao recuo da imagem de si, foi preciso conjurar os medos
€ as angustias da finitude existencial, de onde natural-
mente brotam, de mos dadas, a criatividade, a arte, a
experimentacao e a melancolia, afecto potencialmente
mortificante.
Temos, portanto, entre as maos um tratado sobre o
olhar, que nos leva até as paisagens do medo e da angtis-
tia, que nos guia pelas desventuras humanas para revelar
como se fez da melancolia uma alavanca para a supera-
bundancia de humanidade, confrontando-nos com a forga
libertadora, e simultaneamente assustadora, das ima-
gens. Imagens essas que os detentores do poder sempre
disseram nao lhe pertencerem mas que nunca dispen-
saram, servindo para sustentar tanto reinados seculares
quanto temporais. E é assim, por vezes com uma veloci-
dade estonteante, propria de um estilo que procura ser
erudito sem ser hermético ou rebuscado, que Mondzain
nos deixa quase desnorteados como quando, a par-
tir de um questionamento profundo a respeito de uma
epistola de Sao Paulo, nos leva até as trincheiras da Pri-
meira Guerra Mundial para falar do tratamento dado aos
cadaveres, ¢ rematar 0 seu pensamento com dissonan-
cias entre Aristoteles, Godard ou Musil. Homo Spectator
assenta em trabalhos anteriores da autora, cimentando
ideias e conceitos desenvolvidos em Image, icéne, écono-
mie (Seuil, 1997) e Le Commerce des regards (Seuil, 2003).
Uma pergunta atravessa o livro e é retomada, sob
diversos prismas, ao longo dos varios capitulos: antes
do humano existiriam ja imagens, existiriam deuses?
Sera Homo spectator aquele que, intermitentemente, se
liga ao fora de si para poder langar um olhar sobre esse
desejo de ter um objecto por contemplar: um desejo
de ver deus? Um deus que se torna filho de Maria, um
filho-deus-morto do qual é preciso fazer o luto da ima-
gem porém invisivel, num sofrimento inimaginavel,
como nos conta M.-J. Mondzain? Assim nos é contada
esta historia do deus-homem, filho e pai de sua mae,
autogerado por via da imagem carnal do eterno femi-
nino inefavel que intercede e devérn espectador.
Esta pergunta angustiante aproxima-se do medo
contemporaneo diante da suposta proliferagao das ima-
gens, que, segundo a autora, nao decorre de uma crise
das instituigdes, mas sim de uma falta de reconheci-
mento subjectivo que conduz a uma crise da identidade,
uma crise da autoridade, como é propalada diariamente
nos assuntos ligados 4 pedagogia e psicologia familiar.
Passando pela tematica, sem deixar de nos alertar para
a existéncia maioritaria de criancas que nao reconhe-
cem a autoridade paterna porque os pais nao saberiam
praticd-la sem recorrer ao exercicio do poder, Mondzain
explica-nos, de forma muito clara, que a autoridade
sé pode existir num esquema horizontal de reconhe-
cimento miutuo, onde a intermiténcia da liberdade é
consentida mediante a alternancia de papéis, e nao
num esquema vertical de poder absolutizante, imposto
a forca de subjugacao e sujeicao. Dizer sim é saber que
se pode dizer ndo, reconhecendo a autoridade daquele
a quem se aquiesce.
O Homo spectator entra na perspectiva de uma cora-
gem que pretende «resistir» a todos os «reinados do
pavor. Assim concebe a imagem como uma aposta
entre a liberdade e o prazer sem crime nem constran-
gimento com que as nossas sociedades do espectaculo
nao sabem conviver nem respeitar. A cena do primeiro
homem que na gruta descobre 0 caminho que vai de
si a si é o que o século passado reviveu com Margue-
rite Duras, com Alain Resnais, Antonioni ou Godard.
Gragas ao cinema moderno, reconhecemos essas maos
(as maos de Jorge Molder), tal como reconhecemos as
imagens que nos vém dos textos de Bataille ou de Leroi-
-Gourhan, que tanto inspiraram Gilles Deleuze, que a
autora cita mais de uma vez. Trata-se, pois, de compreen-
der o que ha de fundador no acto que faz de um animal
um humano e é, como diria Deleuze, uma questio de
devires, Mondzain sublinha que «devir humano é nas-
cer, logo, separar-se» (p, 222),
Ha uma ameaga de barbarie que paira ao longo de
todo o livro e que reside no perigo do desaparecimento
da retraccao e do recuo criador do intervalo que permite
fazer do animal a espreita um espectador. A anulacdo
de tal distanciamento equivale a elisao da marca civili-
zacional de um consumidor critico e reside nos signos
decorrentes dos sinais emitidos. A autora nunca deixa
de nos alertar; uma mao na parede da gruta, a constitui-
gao do horizonte na planicie, uma mae que chora 0 filho,
a confusdo das linguas numa terra em que a comunica-
gdo-mundo sé pode derivar do dom apostdlico das lin-
guas de fogo que pacificam Babel.
Como lembra Mondaain, «o habitante da lingua nao
tem domicilio fixo» (p, 181). E junta-se, desta feita, aos
defensores de uma concepcao alargada da tradugao que
desejam nao sé a possibilidade de traduzir de uma lin-
gua para outra, como também que o proprio processo
de traducio esteja no seio da linguagem, fazendo que
falar seja equivalente a traduzir: um siléncio, as pala-
vras dos outros (Michaux) ou até as emogoes. O que nos
deixa com a sensacao, no final do livro, de que nao exis-
tem linguas de chegada, mas apenas linguas de partida.
FE é com uma renovada fé que a autora nega ser mistica
e nos confessa o seu desejo, numa proposta de crenca
naquilo que nao se vé, o que equivale a fazer votos para
que o desejo seja «o sitio infinitamente sensivel onde a
ficcdo 6 uma questao de confian¢a» (p. 366).
Aos olhares que me sao muito queridos,
os de Raya, Simon e Judith,
o de Philippe.
INTRODUGAO
Falar do Homo spectator como se fala do Homo sapiens:
o homem sapiens, isto é, 0 que pode saber, que pode
pensar. Esse homem produz signos que lhe permi-
tem ouvir e ver, dar a ouvir e dar a ver os movimentos
do seu desejo e os do seu pensamento. A pré-histé-
ria satida assim a chegada 4 historia daquele que,
diante do espectaculo assustador do mundo, percebe a
medida da sua fraqueza e inscreve os recursos do seu
dominio. Esse dominio nao pode ser senao imaginario,
eo homem assinala-o como a capacidade de instaurar
0 espaco e o tempo nas trevas originais de uma pri-
meira indistingao. Foi preciso libertar do corpo o pen-
samento, como nos ensinou Leroi-Gourhan, sem fazer
do pensamento uma entidade fora do corpo e indepen-
dente dele, Pelo contrario, ¢ ao por o pensamento den-
tro do corpo e nos gestos desse corpo que 0 homem
que nasce para a humanidade inventa a vida das coi-
sas na auséncia destas. A retracgao a partir da qual o
olhar e a palavra podem nascer é, antes de mais, um
gesto do corpo, Nao basta apresentar todos os carac-
teres fisicos que nos separam para sempre dos antro-
poides para que se assegure a producao dos signos que
designam as coisas na sua auséncia. Esses caracteres
sao as condigées de possibilidade do que esta por vir,
mas nao é ja, pois, o paleontélogo quem decifra as mar-
cas de um desaparecido, mas 0 espectador do mundo
que nos convida a olha-lo na sua indestrutivel apari-
¢ao. A paleontelogia descobre 0 homem no momento
em que este se faz ver, ao dar a ver aquilo que ele quis
mostrar-nos. O nascimento do seu olhar esta endere-
gado ao nosso. S6 sabemos alguma coisa deste remoto
antepassado porque ele deixou marcas. Tracos, gestos,
da sua tecnicidade, do seu engenho, da inteligéncia no
que remeteu. Porem, se a paleontologia nos ensina o
que esse homem sabia fazer, eu proponho dar a ver
© que esse homem via. Mais ainda, pretendo encenar
uma ficcdo verosimil e mostrar que esse homem se
apresenta aos milénios vindouros como um especta-
dor. Assim se poderia conceber uma espécie de proso-
Ppopeia: «Eu sou aquele que vé, que designa 0 que vé e
que se designa no reconhecimento do olhar de todos
os que saberao compreender essas marcas.» O autor
das imagens deixadas atras de si para que delas pudés-
semos recolher algo relativo 4 nossa propria definicao
¢ o primeiro espectador, isto é, o homem que entra na
histéria que ele pode inscrever, narrar, partilhar.
Este ensaio partira assim de uma ficcao constituinte
para abordar o espectador como um sujeito nascente,
fragil e corajoso, cujas marcas inalteradas nos servirao
16
de guia para compreender a aventura do olhar moderno
sobre o mundo. O primeiro espectador acena-nos.
Esta reflexao esta inteiramente habitada pela preo-
cupago do espectador em que hoje nos tomamos, reféns
assustados que, com demasiada frequéncia, consentem
nas producées espectaculares que tém come unico efeito
a aniquilamento do espectador. Se o espectador nascente
for o proprio homem, a morte do espectador sera a morte
da humanidade. E a barbarie que ameaga um mundo sem
espectador. Mas, paradoxalmente, a industria do espec-
taculo aniquila pouco a pouco os recursos desse especta-
dor. As massas, as quais se oferece diariamente milhdes
de coisas para ver, tornadas «ptiblico», perdem de vista,
em bom rigor, a sua prépria aparicdo subjectiva no campo
cruzado do reconhecimento. O verbo ver torna-se um
infinitivo sem sujeito, ou seja, uma operacao organica
que absorve o olhar nos objectos que ele consome e que
oconsumem.
O que é ver? O que é ver algo? O que é ver uma ima-
gem? Poder-se-ia crer, ao ler estas trés perguntas, que se
engendram naturalmente nesta ordem, uma apés outra,
e que, desta feita, aquele que possui a visao, pelo simples
facto de ter olhos, preenche a primeira condigao neces-
saria e suficiente para ver e para ver algo. Partindo deste
ponto, poderiamos, para mais ampla determinagao dos
poderes e da poténcia do dito érgao, considerar, além
do dominio geral da percepcao, objectos especificos que
7
certos sujeitos propdem a visdo de outros sujeitas e aos
quais se chamaria imagens. Logo, chamar-se-ia imagem
a uma certa categoria desses objectos para designa-los
vagamente, como objectos visiveis que nao sdo, em
rigor, coisas entre as coisas nem signos entre os signos,
mas uma espécie de aparicées especificas, propostas so
ao poder dos olhos, excluindo qualquer outro orgao. Por
possuirmos olhos, seriamos entao capazes de ver o que
esta na nossa presenga e de dar a ver aquilo que nao esta
como se estivesse. Pode ainda dat-se o nome imagem a
tudo o que faz de um sujeito que vé um sujeito capaz
de estabelecer com 0 visivel uma relagao de espectador.
Este ponto de partida levanta, pois, a questdo da rela-
¢ao com as imagens por parte de um sujeito que nao
vé ou que vé mal. Estara um cego, por isso, privado de
qualquer relagao com a imagem? Basta conversar com
um cego para constatar que o termo imagem encontra o
seu lugar no seu vocabulario dos invisuais, que empre-
gam muito naturalmente o verbo ver para designar ope-
rages de exploracao e reflexao sobre o mundo sensivel
a partir de todo o seu corpo e de uma experiéncia pri-
vilegiada do toque. Pode argumentar-se que esta utili-
zacao do verbo ver pelos cegos ¢ mera aquisicao devida
ao uso da lingua que sdo obrigados a partilhar com
quem vé, Assim, os invisuais usam o verbo ver tal como
os estropiados podem utilizar os termos andar ou cor-
rer. Ora, 0 caso é outro, o verbo ver tem mesmo o seu
18
significado junto dos que nao véem porque a questao
da imagem, isto é, da producao interna dos signos da
separacao e da auséncia, encontra em todos os sujeitos
dotados do dom da palavra o seu regime constituinte,
A questao reside antes em saber como se compoe 0
espectaculo do mundo para um espectador cego. Nao
vou tratar directamente dessa questao neste ensaio.
E procurando o que faz cada um de nés um especta-
dor, por sermos simplesmente humanos, que retomarei
por outra via o problema da cegueira. Direi apenas, com
base numa longa experiéncia de partilha com invisuais,
que a cegueira nos impée a partida a distingao entre a
visdo e a imagem.
E por isso que proponho partir de um ponte total-
mente distinto. Ja nao se deve considerar o visivel nem
a imagem como 0 material sensivel de uma experiéncia
sensorial primeira, nem fazer do visivel a causa da visao.
Com efeito, o movimento do pensamento segundo o
qual ver seria um efeito do visivel, que, por sua vez, se
abriria a nés por meio da visao, gera uma circularidade
sem fim do pensamento sobre ele prdprio. A reflexao
sobre o visivel e a visao pode cair na armadilha da meta-
fora reflexiva e produzir um retorno circular da causa
e do efeito. Esta circularidade cria um embarago tauto-
légico ou uma vertigem especular que varre a angistia
por meio dos prazeres da retorica. Era isto que o vocabu-
lario grego da visao dava a entender e queria denunciar
gtagas ao logos, designando opsis a operacao de ver,
0 orgao da visao, mas também o espectaculo que é seu
abjecto no exercicio do proprio érgao. Entao, 0 espec-
tador nao ¢ ja o homem que se serve dos olhas quando
todos os outros sentidos estao em repouso mas sim o
theates, aquele que olha ou contempla o que o mundo ou
outro homem lhe da a sentir para que possa compreen-
dé-lo. £ um cidadao preso no espectaculo de uma accao
que o afecta e da qual faz, por sua vez, alguma coisa. Este
alguma coisa, que ele deve a poténcia do logos e nao ao
poder dos seus olhos, faz dele um cidadao apto a julgar 0
que vé e a decidir o que quer com outras coisas. A rever-
sibilidade da causa e do efeito na opsis deixou Aristételes
indeciso quanto 4 participacao do espectaculo no efeito
catartico, sem se dispor a fazer das operacdes do logos um
prazer ou um assunto organico. De onde vem a luz que
ilumina a nossa alma? Sera possivel que nada deva ao
Sol? Nesse caso, para qué continuar a falar de luz, mesmo
metaforicamente, a partir de iluminagées proprias ao
logos? Porque o logos é antes de mais relagao, uma rela-
cao do sujeito com uma exterioridade ou a aplicacao de
uma relagdo entre o sujeito que vé e o que diz aquilo que
vé, Ainda assim, é preciso compreender em que medida
a aplicagéo de uma relacao produz essa iluminacao que
é a katharsis. Ou seja, sera possivel dispensar 0 sujeito
falante quando se considera a sua relagao com o sen-
sivel, faga ou ndo uso dos seus olhos? Também nao se
20
pode dizer que a luz que nos ilumina nada deve ao Sol.
E assim que 0 olho grego (omma) é concebido, ao mesmo
tempo como receptaculo e como fonte de luz. Sente-se
claramente que, nesta paisagem filosdfica, o visivel e
a imagem balangam juntos nas aporias disjuntivas ou
nos embaracos circulares onde ja ndo se distingue o que
designa uma prova do real dos beneficios retirados da
respectiva metafora. Disso resulta que, para acabar com
as tensdes contraditérias que impedem a soberania da
verdade face a labilidade do sensivel, se optou com fre-
quéncia por separar o visivel da imagem, ora para des-
qualificar a imagem como simulacro que finge 0 visivel,
ora para a sobrequalificar tornando-a invisivel.
Nao se trata aqui de confrontar a visao destes objec-
tos com a questao do ser e da verdade, mas de ter em
conta o que releva da verdade do sujeito no caminho das
suas operacoes reais e imaginarias — isto, na respectiva
telagao com um lugar sensivel que pode ou no ser da
ordem do objecto visivel ou nao. O estado de espectador
é aquele que se mantém até durante os nossos sonhos
quando todas as outras operacoes estao em repouso €
se submetem a outro tipo de figurabilidade. O estado de
espectador é aquele cujo fim reconhecemos e identifi-
camos quando sentimos a necessidade ritual de cerrar
as palpebras dos mortos e de lhes fechar a boca.
Amudanga de perspectiva, que consiste em interro-
gar o nascimento do sujeito que vé, pode, por sua vez,
2
levar a uma situagao de crise: ou 0 visivel é posto do
lado do que se cré ser um objecto e menos do que uma
imagem, ou entao é a imagem que se torna mais do que
um objecto e menos visivel do que ele. Talvez seja pela
aproximacdo ao espectador que possamos estar em con-
dices de dizer se a imagem é ou nao um objecto ese é
o estatuto do proprio objecto que o olhar do espectador
pde em crise. E porque o nosso mundo parece estar a
fazer de todas os cidadaos espectadores que reencontra-
remos os diferentes niveis da constituigao subjectiva na
sua relacdo com a producao de imagens enderegadas ao
olhar e a producao de objectos propostos ao consumo.
Abandonando temporariamente o que esteve no
centro dos debates histéricos sobre a dignidade e a fia-
bilidade do visivel e das imagens, volto-me, portanto,
para 0 sujeito, sem o qual a propria problematica nao
existiria. Quem ¢ entao esse sujeito que vé e do qual
agora se repete a exaustao tratar-se de um espectador?
Quem é este homem espectador que esta em vias de se
transformar numa particula elementar de uma massa
designada «ptiblico», num certo ambiente tecnoldgico,
industrial e financeiro?
Quantas vezes terei dito que o meu interesse pelos
séculos de crise no primeiro impeério cristao relevava
de wma estranha adicao por tempos ainda privados das
luzes da razao. Os filésofos apreciam pouco o incansavel
recurso aos debates teoldgicos sobre o tema da imagem.
22
Tendo em conta a Historia, a dos homens, das guerras,
das revolugées e das ideias, a maioria deles conclui que
a questao da imagem e a fortiori do cinema, propria do
século xx, relevam de um outro vocabulario que nada
deve a esses obscuros bizantinos. E a partir de Hegel e
depois dele que é preciso pensar as quest6es da moder-
nidade, logo, da imagem. Seriamos, pois, levados a acre-
ditar sem discussdo que termos como imagem, carne,
corpo, encarnacdo, visivel, sensivel, invisivel, icone,
idolo, representagao nao tém estritamente nada que ver
com o sentido que tiveram para aqueles que os inventa-
ram pela primeira vez e que os usaram sabiamente para
compreender o destino do olhar e o da visao. Esquece-se
com demasiada facilidade a origem do termo encarna-
cdo ou ainda em que consiste precisamente a distincio,
abandonada porém no uso corrente, entre 0 corpo e a
carne, Dado que os Padres da Igreja nao sao ja donos das
nossas crengas, é suposto que 0 seu pensamento nao
tenha qualquer efeito na lingua. Em suma, obscuran-
tista ou até com veia mistica, terei passado ao lado das
Luzes e, com esse desvio, ao lado de todas as grandezas,
todas as revolugdes e todo o esclarecimento que lhes
devemos. Contento-me incansavelmente em regressar
aos textos fundadores da tradicao crista ocidental para
mostrar com quanta pertinéncia e quanta forga formu-
laram problemas que ainda sao os nossos. Mas nao é
tudo, porque esta também em causa uma leitura critica
23
desses textos que dizem respeito a histéria dos abusos,
das ditaduras e das credulidades que esses mesmos
pensadores souberam instaurar.
Nao é estranho que a teologia pareca fora de moda
num mundo que simula um retorno macico a religiao
para melhor dissimular os verdadeiros objectivos do
poder? Sera possivel fazer-se uma historia do espectador
sem nela anotar uma histéria da crenga e, logo, de todas
as figuras sub-repticias ou violentas da persuasao e da
convicgéo? O assunto parece-me antes milenar, senao
mesmo eternamente na moda. £ por isso que, partindo
do sitio das primeiras cavernas, reencontrarei a parada
de poder e autoridade que essas imagens rupestres accio-
nam e que a histéria do olhar e da visdo incessantemente
tem trabalhado, em todos os sentidos. E a partir desse
espectador que vou acompanhar o olhar do leitor pelos
caminhos que me pareceram constituir as provagoes
maiores pelas quais passou o homem que vé na relacao
com o homem que mostra, incluindo quando ocupa ele
proprio essas duas posigdes, Essas provacées, nomeei-
-as, formam a trama deste breve caminho percorrido na
companhia do sujeito nascente, desejante e falante. Cha-
mam-se antes de mais coragem e medo, pois respeitam
também os regimes da separacao: separagao das linguas,
separagdo quanto aos mortos. Relevam, por fim, dos regi-
mes de dominagio, consoante o espectador se situe no
campo do poder ou no da autoridade. E por o espectador
24
ser causa de si, causa do que vé e do que da a ver, que esta
breve meditacdo retomara necessariamente a questao do
autor e a do actor.
As hipdteses das quais este livro parte tém a visibili-
dade do sonho, e as conclusées a que gostaria de chegar
a invisibilidade de uma esperanga.
25
PRIMEIRA PARTE
A IMAGEM:
UM CASO DE CORAGEM
E UM CASO DE MEDO
5
AS IMAGENS QUE
NOS FAZEM NASCER
Expirar e surgir sio um so gesto,
VALERE NOVARINA
E um belo e grande espectaculo ver 0 homem sair,
de uma forma ou de outra, do nada pelo seu prdprio esforco.
JEAN-IACQUES ROUSSEAU:
A historia que gostaria de contar 6, de certa maneira,
a do sujeito que vé. O meu propésito vai justamente
ganhar a forma de um relato, relato que imagina, fic-
cao que recolhe das maos do que foi o primeiro espec-
tador a capacidade de falar e de dizer hoje que gestos
fizeram nascer juntos o homem e a imagem e os desa-
fios associados. Nao se trata minimamente de um mito
da génese que faria de um demiurgo o produtor todo-
-poderoso da luz e de uma criatura feita a sua imagem.
Pelo contrario, é a histéria da imagem do homem feita
por mao de homem, a qual se deve termos olhos que se
abrem para o mundo de modo incomparavel. Podemos
tentar ver nascer e reconhecer 0 sujeito que se tornara
um dia o espectador do mundo e que também dara a ver
aoutros sujeitos os mundos que ele vé, Por sua vez, esses
outros sujeitos constituem-se, nesta troca, como espec-
tadores e produtores de intimeros mundos. Vou inter-
rogar a historia da experiéncia colectiva representada
pelo nascimento da visao no sujeito que vem ao mundo
quando seu nascimento propriamente dito ja ocorreu.
Ou seja, quando vem o espectador ao mundo? Esta dili-
géncia talvez permita captar como e em que momento
a imagem encontrou o seu lugar nesta historia do nosso
nascimento para a propria humanidade. A imagem nao
sera interrogada na qualidade de um objecto da visao
entre outros, mas, ao invés, como surgida de um gesto
que funda a condicao de possibilidade de uma relagao,
a do nosso olhar com um mundo visivel. A constitui-
40 de uma histéria do imaginario, dos gestos da ficcao
que precederam e condicionaram a manifestagao de um
mundo entao designado real. O sujeito torna-se espec-
tador do que lhe escapa, espectador do limiar com o qual
vai instaurar relacées.
Ultrapasso, pois, e desvio-me das fontes bizantinas
ou mais amplamente teolégicas, bem como das fontes
modernas e contemporaneas que alimentaram os deba-
tes sobre o visivel e a imagem.
Aproximo-me das inscrigdes graficas descobertas
pela paleontologia. Todos reconhecem nelas, doravante
e ha mais de um século, as marcas de um homem, que
provocam emogao tal que ¢ costume falar-se de arte
30
rupestre com todas as precaucdes que o uso moderna
desse termo requer perante o enigma levantado por
essas figuras magistrais. Quando digo «magistrais» é
justamente para indicar que ai detecto algo da ordem
da transmissao. Um sinal que nos é dirigido esta ins-
crito nesses lugares de rocha tenebrosa. Podemos tentar
captar na fonte, isto ¢, nas marcas dos primeiros vesti-
gios, a maneira como o homem assinala, para si pro-
prio e para os milénios vindouros, a possibilidade de ver
no seio da escuridao, Esta possibilidade parece ligar-se
aqui a impossibilidade fundadora de se ver a si proprio.
£ aqui que se manifesta a necessidade humanizante
das operagdes imagéticas para um Homo sapiens que se
aventura corajosamente pelo caminho imaginario dos
signos. Neste caminho, vou entrega!-me a um exerci-
cio de filosofia elementar: dizer aquilo que o homem.
da gruta de Chauvet, ja que se trata de um dos mais
antigos registos graficos, da a ver a si proprio em pri-
meira instancia e a humanidade inteira que lhe sucede.'
O fazer-ver é, nestes lugares, a fabricagao de um Homo
1 Trata-se da gruta ormamentada mais antiga que se conhece até hoje. Data
de ha mais de trinta mil anos e foi descoberta na regiao francesa de Ardé-
che, a 18 de Dezembro de 1994, por trés espeledlogos: Eliette Brunel, Jean-
-Marie Chauvet e Christian Hillaire, Esta gruta esta fechada ao ptblico.
Remeto aqui para o documentario realizado por Pierre-Oscar Lévy Dans
le silence de la grotte Chawvet, rodado entre 1999 ¢ 2003 gracas a uma auto-
rizagao concedida pelo Ministério da Cultura. Ver também o sitio www.
hominides.com/html/art/grotte-chauvet,litm.
a
faber que encena a fabrica dos signos, ao usar aqui fer-
ramentas imagéticas como a boca e as maos. No interior
da gruta, a mao nao agarra nem talha, antes deposita,
inscreve um intervalo que vai propor aos olhos. Aqui,
a mao produz diante dos olhos o objecto do primeiro
olhar. Se estas imagens nos perturbam tanto, nao é so
por descobrirmos nelas, com certo deslumbramento,
ajusteza ea sensibilidade grafica de um gesto sem falhas
nem inabilidade, Também nao é por o enigma destas
marcas despertar em nés a magia sempre possivel dos
deuses esquecidos. O fazer-ver destaca-se numa auto-
nomia plena, separado de qualquer querer-dizer, e nao
tenho a menor intencao de propor uma interpretacao
para esses desenhos e esses signos. Estas imagens per-
turbam-nos porque estamos directamente implicados
neste envio potente, recebemos de chofre um sinal emi-
tido cujo destinatario é o nosso olhar. Diz-nos alguma
coisa porque diz coisas sobre nds. O que esta aqui em
jogo é 0 sentido de um gesto e nao o significado de um
objecto. No siléncio milenar destas imagens, passa-se
da virtualidade sonora de uma articulagao decisiva do
espectador A palavra, logo, da situagéo de espectador
aquilo que se designou condicao humana.
Longe dos templos e dos museus, eis-nos nas tre-
vas rupestres onde, ha trinta e dois mil anos, uns
homens hominizados se designaram a si proprios a espé-
cie encarregada da tarefa singular que hes incumbia:
32
humanizar-se. Esse corpo conquistado aos antropdides
nao sera apenas o mais habil, o mais astucioso e inven-
tivo na manipulagao das coisas, sera também o mais
fragil e o menos integrado no seu meio natural. E o
homem desarmado, o homem da impoténcia e do medo
face 4 desmedida de um mundo enigmatico, imprevisi-
vel e nao dominado. Uma espécie de desadapta¢ao sobe-
rana dos gestos a simples sobrevivéncia, ja que a mao
e a boca, em determinado momento, terao de mudar
de funcao e de fim. Instala-se uma intermiténcia origi-
naria, a intermiténcia propria do espectador e do cria-
dor de signos. Um tempo que nao é ja o dos dias e das
noites, nem a das estacoes. Vai surgir uma duracdo sin-
gular que escapa a que faz da sua vida um segmento
organico entre o nascimento e a morte. O homem des-
via 0 seu corpo e os seus gestos das tarefas quotidia-
nas de sobrevivéncia e conservacao. Ha um tempo para
viver e havera doravante wm tempo para olhar a vida e
para pensa-la, O homem que aqui vem desenhar expe-
rimenta uma temporalidade nova cujos vestigios trans-
portam a marca, Vai tornar-se, num tempo singular, o
dono do dia e da noite. O nascimento do Homo spectator
é uma insurreicao do nascimento do sujeito imagético,
o acto de trazer ao mundo a sua eternidade porque ele
sabe que é mortal.
As imagens rupestres sao inumeras e oferecem
estranhas constantes ao longo de milhares de anos e a
33
milhares de quilémetros de distancia. Os paleontélogos
e os antropdlogos interrogaram-se incessantemente
sobre a sua significacdo ritual, religiosa, xamanica,
sexual. Foi sem divida Leroi-Gourhan quem se apro-
ximou primeiro daquilo que a filosofia pode esperar de
tal testemunho, pois esse grande sabio ora produziu fic-
cdes analdgicas e hipéteses aproximadas ora renunciou
a elas. Leroi-Gourhan reconheceu a dupla inscrigao da
diferenga dos sexos e do acesso as operagdes simbélicas,
logo, a palavra, na base da evolucdo organica do corpo,
ao considerar a distribuicao das figuras rupestres. Des-
creveu de forma magnifica a libertagao do pé, da mao e
da fronte e a construcao milenar da memoria. Se a sua
interpretacao das figuras de animais deu lugar a con-
trovérsia, nem por isso deixou de ser ele o primeiro a
formular a possibilidade de uma leitura das imagens
rupestres como nascimento das operagdes simbélicas.
Para mim, nao se trata de situar o meu relato ao nivel
da ciéncia paleontolégica mas antes de localizar dispo-
sitivos de separacao e distanciamento, dando conta do
que a paleontologia nos ensinou a descobrir e a com-
preender, Estes distanciamentos relevam tanto da dife-
renga sexual quanto do que separa as espécies, ou entao
do que separa o mundo animado do mundo inanimado,
ou ainda o mundo das trevas do mundo da luz, o dos
vivos e o dos mortos, Produzir imagens é inscrever no
visivel com o préprio corpo, aqui com as maos e a boca,
operadores de separacao, logo, de alteridade. Foi por isso
que decidi falar das maos, que se encontram um pouco
por toda a parte, negativas ou positivas, conforme a sua
marca tenha sido feita por impressao ou por aplicagao,
O que vou, pois, evocar com o maximo de phanta-
sia possivel, ao lancar-me eu propria numa operacao
imagética ¢ o cenario que instaura simultaneamente
a impossibilidade de se ver, o nascimento da imagem
como operacao de retrac¢ao, a identificacao de si na dis-
semelhanca e a necessidade do apoio do mundo para
existir fora dele, 4 distancia dele, numa palavra, gosta-
ria de evocar a inscrigdo das imagens rupestres como
o cenario inaugural que instaurou o homem enquanto
espectador numa relacao de alteridade,
Qual é, pois, a minha phantasia?
Ei-la:
Um homem abandona a superficie da terra e afunda-se
numa gruta. Avanca no seu interior até escolher um lugar
para se deter. Esse lugar longe do sol nao é mais do que
trevas, e o homem ilumina-o com uma tocha. £ certamente
pela incessante danga do fogo das tochas que o homer
vé dangarem as sombras e sairem das paredes fugazes
figuras que evocam, como Ia fora o fazem as nuvens,
a silhueta desejada ou temida do que faz vacilar todos
35
os nossos desejos ou até os nossos terrores. O homem
que aqui esta, sozinho ou nao, correu ao longo deste tra-
jecto orisco de um afundamento nas trevas desconheci-
das, no sitio regressivo de um retorno a terra, a noite de
onde saiu para nascer. Mas o homem que um dia veio ao
mundo e que vai morrer, esse homem ainda nao nasceu
para a sua propria vida de sujeito separado e falante. Ele
desempenha o papel de um retorno, de uma descida de
regresso a uma caverna matricial, um lugar desabitado
e que nao se destina a habitacao. Esses lugares sao esco-
lhidos para as imagens e frequentemente para o culto
dos mortos. Estamos no local de uma partida, no campo
de todas as separacées, Ao contrario do que os tedlogos
e mais de um filésofo imaginam, o homem que se torna
humano nao é aqui o sujeito mitico de uma queda a partir
da luz até as sombras definitivas de uma condicao desas-
trosa. Este homem dos mitos esta ja concebido como o
sujeito dos poderes de um outro sempre mais forte €
mais poderoso do que ele. O homem que nascew na luz
é tomado por relacées de forga nas quais a sua impo-
téncia determina apenas a sua fraqueza e nunca sobera-
nia alguma. Mas 0 homem que acompanhamos na sua
descida subterranea seguiu um caminho totalmente
diferente. Regressa a negridao da terra para construir
a sua defini¢ao ao pdr em causa a disposicao das trevas
eo destino do que as devera iluminar., Vai transformar
uma relacao de forgas na qual o real 0 esmaga numa
36
relagdo imaginaria que lhe da a capacidade de nascer,
logo, de ser a causa de si proprio, de se trazer ao mundo
e de manter com esse mundo um comércio de signos.
Nao é 0 Sol nem nenhuma divindade fotofora ou lucife-
rina que o ilumina. Nao, é a tocha que acendeu com as
suas proprias maos. Ele esta aqui, diante de um muro na
noite cuja claridade foi produzida por ele.
Face a rocha, mantém-se imdvel, de pé na opacidade
deum face-a-face, confrontado com a muralhaqueéoseu
horizonte, macica, muda e sem olhar, como pode ser la
foraa incomensurabilidade dos obstaculos e dos terrores
sem nome. Este muro éo mundo que resiste a dominagao
e a penetracao. Ai estara, porém, 0 seu ponto de apoio, o
sitio irredutivel que vai tornar ponto de partida, E daqui
que vai partir depois de se ter voluntariamente «enter-
trado». Ei-lo a estender o brago, apoiado na parede e afas-
tando-se dela num mesmo movimento: a distancia de
um brago, é esse, de facto, o primeiro distanciamento
de si em rela¢ao ao plano no qual vai compor um elo por
via de um contacto. Ja nao é como |a fora, ao sol, onde os
seus olhos yéem muito para la do que as suas maos con-
seguem tocar, No mundo subsolar, os seus olhos sao os
utensilios da previdéncia, de uma distancia a percorrer
ou a escavar, La fora, os olhos alcangam um horizonte
que interrogam e que provoca o desejo de conquistas.
O horizonte é a prova de um distanciamento que suscitaa
sonho ou o dominio. A sua inacessibilidade é propicia as
37
Você também pode gostar
- PLN 19 2021 CalendárioDocumento1 páginaPLN 19 2021 CalendáriojoseanapAinda não há avaliações
- PLN 19 - 2021 - Orçamento para 2022Documento11 páginasPLN 19 - 2021 - Orçamento para 2022joseanapAinda não há avaliações
- Almeida Junior Sobrevivencias SintomasDocumento13 páginasAlmeida Junior Sobrevivencias SintomasjoseanapAinda não há avaliações
- Nota IFI Reforma EleitoralDocumento32 páginasNota IFI Reforma EleitoraljoseanapAinda não há avaliações
- Do Moderno Ao ContemporaneoDocumento4 páginasDo Moderno Ao ContemporaneojoseanapAinda não há avaliações
- Raio X Orcamento 2022 Autografo v1Documento4 páginasRaio X Orcamento 2022 Autografo v1joseanapAinda não há avaliações
- Querelas Que Interessam Forensic ArchiteDocumento21 páginasQuerelas Que Interessam Forensic ArchitejoseanapAinda não há avaliações
- Stephane HuchetDocumento16 páginasStephane HuchetjoseanapAinda não há avaliações
- Uwe FlecknerDocumento17 páginasUwe FlecknerjoseanapAinda não há avaliações