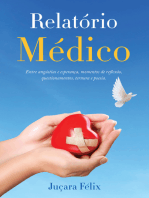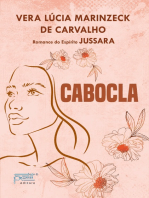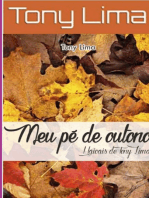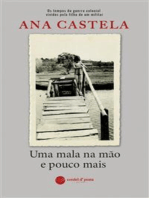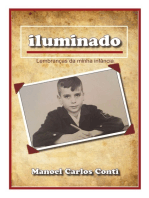Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
22 Capitão
Enviado por
Higino Macedo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
50 visualizações85 páginasCapitão
Título original
22Capitão
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoCapitão
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
50 visualizações85 páginas22 Capitão
Enviado por
Higino MacedoCapitão
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 85
CAPITÃO
Promovido a capitão, segui na mesma função e com as mesmas missões. A imediata
era a Comissão de Seleção (CS). Mas eu ficara preocupado. Quando em Feijó, o capitão
comandante de companhia me disse um dia: – “Higino, se você der uma mancada, você
ainda é tenente e tenente pode dar “mancada”, eu como CAPITA, já não posso mais. Por
isso é que peço o máximo de informação sobre alguma coisa. Além de Capita, sou
comandante de Companhia Destacada”. Agora eu era Capita. Teria que se cuidar “das
mancadas”. E havia um folclore, não tanto folclórico, por minha observação, que vagueia
pela cavalaria. Na cavalaria, todos os oficiais podem fazer as besteiras que quiserem. Mas
até a ESAO. Aí se passa uma borracha no passado negro (se “deletam” as besteiras) e
começa tudo novo, com a carreira “reformatada”, usando a linguagem atual. Depois, se fizer,
vai ficar no ostracismo. Assim, se vai selecionando os que figurarão com potencial para o
generalato. Notado o potencial, toda a turma o auxilia para tal não só estimulando para
desempenho escolar como também para servir em posição de destaque: instrutor, assistente
de general, missão no exterior, curso no exterior...
Mas, voltando à CS, terminada a fase Itajubá, chegou o momento da parte volante,
que ia às cidades previamente identificadas em função de sua capacidade de fornecer
soldados (o município ser ou não tributário, no jargão); nesta brincadeira, havia necessidade
de viaturas. O quartel fornecia uma picape que transportava o material. E havia a Kombi
para a qual nós fazíamos uma cota para pagar o combustível e dar um troco ao motorista.
Todos os da CS recebiam diárias para os dias de seleção fora da sede. E havia prefeituras
que bancava as estadias em hotel e as refeições. Aí a economia era maior. Para mim era
um grande turismo, pois na organização da Comissão quase nada sobrava a mim a não ser
assinar certificados do pessoal que tinha sérios problemas e classificados como “isentos do
serviço militar”. Recebia o certificado chamado de CI - Certificado de Isenção. Assim,
conheci São Lourenço, Caxambu e outras cidades chamadas de Estância Hidrominerais.
Mas, indo de Itajubá para São Lourenço, íamos por umas estradas rurais que passava por
Maria da Fé, uma cidade com quase dois mil metros de altitude e que fazia um frio danado
no inverno. Era a maior produtora de bata inglesa e cenoura no sul de Minas. Bom, tinha um
lugar com umas serras muito altas. Notei que bem em cima do morro havia uma plantação
de milho. Aí eu perguntei; – “mas como esses camaradas plantam em lugar tão inacessível”!
No mesmo momento vira o cabo motorista (que nascera no mesmo dia, mês e ano que eu)
e diz: –“Capitão é o milho cartucheira: eles enchem um cartucho com milho e atira no morro.
Pra colher, colhe com um laço.” Foi uma gargalhada geral... Mas acabei por não saber como
eles plantavam milho nas pirambeiras.
Quanto às batatas e as cenouras colhidas em Maria da Fé acontecia algo inusitado.
As batatas eram colhidas, selecionadas e mandadas, as melhores, para o CEASA (Centrais
de Abastecimento S/A) de São Paulo, na verdade CEAGESP. Os supermercados, mercados
e feiras, de Itajubá, iam a São Paulo e compravam, para revenda, a batata de Maria da Fé. A
cenoura era selecionada e, em Itajubá, ficavam as “não nobres”. As cenouras graúdas e
melhores iam para o Rio de Janeiro, para o Hipódromo, para servir de ração aos cavalos. O
que é o capitalismo: tudo por dinheiro...
Em Itajubá a seleção de conscritos foi dentro dos padrões normais. Tinha mais apto
que inapto para o serviço militar. Entretanto, havia muitos problemas de saúde bucal. Mas
quando fomos para o interior, “a coisa” ficou feia. Pelas estatísticas dos anos anteriores, se
tinha uma ideia da percentagem de contribuição dos municípios ditos “tributários”. Mas a
baixa qualidade sanitária era terrível. Mesmo cidade como São Lourenço, a grande maioria
dos jovens vinham do meio rural. A relação peso altura era gritante. Identificava elevada
desnutrição. O estado sanitário bucal era outro desastre. Bom, tivemos que alertar ao
médico para não ser muito exigente, cuidado que a ele, no estágio, foi muito recomendado.
Fiquei deveras decepcionado por que se estava no “Sul de Minas”, também o dito triângulo
São Paulo – Rio – Belo Horizonte, região de contato dos três maiores estados da federação
tanto educacionalmente como economicamente. A educação era mais caótica ainda.
Tive que substituir o médico. Inicialmente era um temporário do 4º BE Cmb e que fora
substituído por outro da Fabrica de Armas. – hoje IMBEL. O jovem surtou, e passou dois ou
três dias sem ir ao quartel. Fora encontrado embriagado num bairro pouco recomendado.
Não foi possível apurar, mas havia alguma coisa com droga. Era um excelente
oftalmologista, de uma família de oftalmologista em Belo Horizonte. Durante a CS,
conversando com ele, fiquei assustado. Esse camarada me alertou que eu teria déficit de
inteligência porque o “aralen” que tomei, contra a malária, iria atacar ou já tinha atacado
alguns neurônios, da parte do cérebro que armazenam dados. Um Alzheimer
medicamentoso. Poderia atacar os neurônios do nervo ótico também. Mas, depois disso
conversei com um sem número de médicos e todos negaram ou saíram pela tangente
dizendo que “não há estudo científico sobre isso”. Mas já notava alguma dificuldade em
decorar alguma coisa.
Mas tivemos dois casos interessantes de se conhecer. Numa das cidades, um
cidadão veio com o filho, à cavalo os dois. O senhor veio pedir para que o filho não fosse
servir ao quartel. Resolvi fazer a entrevista com o jovem. Ele queria servir. Trabalhava desde
criança numa fazenda e não queria continuar lá como seu pai e seus avós. Era analfabeto e
via no quartel a possibilidade de aprender a ler. Quase chorei, no momento, pela falta de
coragem de dizer que o Exército, há muito, cancelara as chamadas Escolas Regimentais
que, como Asp Of, fui diretor, em Alegrete. Como ele chegara até a entrevista, é porque
tinha passado pela inspeção médica. Resolvi ouvir o pai. Até então ele havia falado com os
sargentos. Perguntei a ele porque motivo não queira que seu filho “servisse”, se tinha outros
filhos, estava numa fazenda e não dependia nem desse e nem dos outros filhos, tendo o
mais velho mais de vinte e cinco anos e que também ele fora pedir para não servir. Ele
responde que “não carecia sirvi, uai: u minino é bom tiradô di leitchi e cuida bem das vaca
da fazenda”. Perguntei de quem era a fazenda ele disse lá um nome de uma pessoa que
morava em Juiz de Fora. Contou que a família dele sempre morou dessa fazenda e
acompanhava os donos há muito e muitos anos. Com orgulho, disse que o tataravô dele
trabalhou na fazenda para a mesma família de fazendeiro; disse que o patrão poderia ficar
aborrecido pela falta do menino. Subiu um fogo telúrico de índio terenense e uma vontade
de mandar fuzilar o fazendeiro: aquilo era escravidão pura e simples: escravidão psicológica,
econômica e social. Disse ao senhor que eu faria tudo para seu filho servir. Ele só não
serviria se eu morresse ou por alguma força legal. Caso patrão dele aparecesse na fazenda,
até “x” dias, eu gostaria de falar com ele. O coitado, decepcionado, esperou terminar a parte
burocrática do filho, montou seu cavalo e voltou. Havia uma manobra legal que era pré-
qualificar e assim forçar a “designação” (palavra chave da seleção). Para isso, teria que o
conscrito tivesse alguma especialidade que interessasse à unidade. Tasquei lá carpinteiro
para o peão. E não é que, no outro, dia foi lá, não o fazendeiro, mas a mulher dele.
Perguntei a ela, como era a relação da família fazendeira com o tal empregado, ela disse
que quase de irmãos. Eles faziam tudo para poder dar o melhor para eles na fazenda.
Perguntei se o tal menino era tão imprescindível assim e ela disse que era, mas que por ela
ele iria servir, pois viviam muito preso á fazenda, ele e os irmãos, e que dificilmente iam á
cidade. Agradeci ao empenho dela e disse que faríamos tudo para incorporar o menino. No
íntimo, eu e o tenente, que me era bem mais velho, não acreditamos nela. Pensamos que
fosse das mentiras necessárias que nos contou com medo de ter incorrido em alguma
infração de lei. Foi livrar a pele dela e do marido e não a do menino e família, pensamos.
Saindo da cronologia, o menino foi designado e incorporado. Para isso, se fazia uma
cerimônia com a presença da família, no quartel. Qual não foi minha surpresa quando lá
chegou a fazendeira, o marido, o pai e a mãe do peão. Sabiam meu nome e me procuraram
para agradecer por ter conseguido incorporar o jovem. Aí foi esclarecida a coisa: o menino
queria servir; a mãe e os irmãos queriam; os patrões queriam; o único, que não queria, era o
pai. Ele tinha uma gratidão, um dever de lealdade, uma fidelidade hereditária e não queria
ter o constrangimento de alguém falar que seu filho fora ingrato aos patrões. Foi um belo
soldado: analfabeto de início, mas muito atento, inteligente, virou atleta e se matriculou
numa escola de alfabetização - MOBRAL, na época. Penso que ainda exista por lá tal
escravidão psicológica e completa dependência econômica. É certo que os fazendeiros
dispõem de mecanismos legais para proteger suas propriedades, mas o peão não tem
alternativa: se sair da fazenda, não arruma outro emprego e morre de fome em alguma
periferia.
Outro caso foi de um jovem praticamente proprietário da fazenda onde ele morava
com a mãe. Ficava próximo a Itamonte ou Itanhandu, não me lembro bem. Mas a senhora
ficara viúva no início do ano. Tinha mais um filho e uma filha, casados, médicos e morando
no Rio. Os irmãos, não queriam saber de fazenda: passaram suas partes de herança para a
mãe e o irmão. Ela foi com o menino de modo que ele fosse dispensado. Deixamo-lo passar
pela inspeção e no final, na entrevista, começamos a aprofundar no caso. O tenente, da
Mobilizadora, era advogado. Pela história, o menino era “arrimo” de família (arrimo - coisa
que se encosta ou se apoia; encosto, apoio; por analogia - indivíduo ou situação que pode
servir de auxílio, proteção, apoio afetivo, financeiro). Isso porque a mulher tinha mais filhos
adultos capazes de ampará-la. Ainda bem que eles tinham os documentos da desistência
dos outros filhos. Assim, copiamos tudo e abrimos um processo de arrimo. Fomos elogiados,
pela 4ª RM, pelo perfeito entendimento de ARRIMO e o enquadramento do caso. Na
verdade, fora o tenente o grande responsável pelo sucesso. A senhora ficou tão agradecida
achando que fizemos um enorme favor e não apenas cumprimento da lei. Um belo dia, o
tenente mobilizador entra em minha sala com o jovem arrimo. Ele fora a Itajubá para nos
levar, oficiais, sargentos, cabos e soldados, um presente: um queijo curado de uns três
quilos cada um, da sua fazenda. Foi sua forma de agradecer aquilo que ele tinha por direito.
Em Itajubá tinha coisas engraçadas. Não sei se será na cronologia, mas havia um
sargento, negro, mecânico, carioca que tinha a bagatela de dezesseis filhos e dezoito
dependentes. Era o segundo casamento. Havia filhos dele, de casamento anterior; filhos
delas de casamento anterior e filhos deles do atual casamento, pois os dois eram viúvos, se
não me engano. Tinha filhos com vinte e um anos e tinha recém nascido. Não lembro se a
sogra ou a mãe dele também morava junto. Eles ocupavam dois PNR. Mas, o custo de vida
em Itajubá não era tão barato. E ele vivia eternamente endividado. Tinha uma associação de
sargentos em Itajubá, um clube, juntando os sargentos do BE e da Fábrica de Armas. O
presidente da Associação resolveu ajudar o companheiro. Fez uma comissão onde eles
passaram a gerenciar o pagamento do dito mecânico. Na verdade o salário era depositado
no banco, o mecânico fazia um cheque com o valor total e entregava à comissão que
pagava, comparava... ele e a mulher não viam a cor do dinheiro. Para saldar inadimplência
antiga, resolveram rifar uma televisão colorida, na época uma relíquia permitida aos mais
ricos. Após a apuração, caíram na besteira de entregar a ele o dinheiro para que fosse pagar
suas dívidas mais prementes. Ele foi..., mas comprar um terno novo ao filho mais velho que
faria vinte e um anos de idade. Aí o presidente do clube jogou a toalha... o comandante
puniu o mecânico por desonrar compromisso pecuniário.
Essa rifa teve um desdobramento terrível. Muito mais tarde, lá pelo final do ano, foram
roubados dois revólveres do alojamento dos alunos do CAS (Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos). Um dos sargentos roubado fez registro na delegacia de polícia. Havia uma
equipe, de serviços gerais, muito competente, e de total confiança do comandante. O
sargento chefe da equipe, carioca, chegou a viajar para o Rio, com viatura, para fazer
compras para o batalhão. Tinha um soldado, que era afina flor da educação e de
capacidade. Era grande pedreiro. Ficou algumas vezes como caseiro do Comandante
enquanto ele viajava. Mas, numa madrugada, a polícia pegou dois assaltantes em flagrante,
um deles armado de revólver. Os dois sem documentos deram nomes inventados. Um dos
investigadores resolveu conferir a arma que um dos assaltantes conduzia. Não deu outra:
era a arma roubada de um sargento do CAS. O delegado, na madrugada mesmo, nos
comunicou. Fui até lá e qual não foi a surpresa: os dois assaltantes eram soldados do BE.
Os dois dos Serviços Gerais: um antigo com mais de cinco anos de quartel, homem de
confiança absoluta do comandante, e outro soldado mais novo. Como o antigo estava acima
de qualquer suspeita, seria do último a quem se teria desconfiança. Bom, recolhido para o
batalhão, à disposição da justiça comum, o soldado mais antigo abriu o bico: eles
assaltavam e o sargento seu chefe nos Serviços Gerais, também acima de qualquer
suspeita, era o receptador. E a grande revelação: a TV colorida, doada pelo sargento, para
rifa, era produto de assaltos anteriores. Eles assaltavam casas há mais de cinco anos. O
soldado antigo era quem tinha roubado todas as armas dos armários dos sargentos do CAS.
E quem dava a dica de qual armário tinha arma era o sargento chefe, com acesso ao
alojamento sem suspeita. Foi uma enorme decepção a todos.
Fora da cronologia: o nascimento da segunda filha. E foi de parto cesariano. Na
época não tinha o FUSEX. Tudo seria pago, incluído alguma coisa do hospital que embora
fosse Santa Casa, para ter um quarto particular teria que pagar alguma coisa. E foi
exatamente no momento que eu teria que fazer, na semana, a Seleção em Cristina, uma
cidade na serra da Mantiqueira. Bem, o movimento seria pouco e então o tenente fez tudo
por mim. Coube apenas, a mim, assinar os papéis que iriam para a 4ª Região Militar. Não
sei por que motivo, mas eu não tinha dinheiro. Assim, teria que fazer um empréstimo na
Caixa Econômica, por consignação. Isso demorava meses e eu não sabia o quanto pedir
emprestado. Teria a despesa do médico e do hospital. Bom, acabei, para atender o
imediato, pedindo emprestado o dinheiro a um capitão da turma de 70, que acabou por ser
meu companheiro de ESAO em 1980. O mesmo que encontrei em Posses quando estive no
4º BEC.
Por vários momentos eu passei a responder pela chefia do NPOR. Cheguei algumas
vezes a dar instruções sobre trabalhos de Segunda Seção, mas em ambiente de guerra. Há
uma gama enorme de documentos que são feitos: uns diariamente; outros de tempo em
tempo.... há um manual de campanha que lista tudo isso. O NPOR de Itajubá tinha um
capitão, um tente e dois sargentos, muito bons tanto intelectualmente como nas atividades
praticas e burocráticas. Mas, logo que cheguei, em Itajubá, havia um tenente japonês que
era instrutor do NPOR, cargo que requer nomeação. Bom, o jovem foi dar instrução de
Lança Rojão. Com uma granada de exercício, ele se atrapalhou e acionou a tecla do gatilho.
Uma explicação: para instrução, as munições são classificadas em: inerte (que não tem
carga de projeção e nem carga de iniciação (para fazê-la explodir); munição de exercício
que tem a carga de projeção, mas não tem carga de iniciação; e tem a munição real, que
como o nome diz, é para o uso em combate, mas que também se usa na instrução antes de
ir praticar o tiro. Bom, ao acionar a tecla do gatilho, acionou também a carga de projeção e a
granada varou a parede da sala de aula, fazendo um enorme buraco perto do teto. Foi um
susto grande, pois por engano se poderia estar usando uma granada como de exercício e na
verdade ser uma granada real. Felizmente ficou só no susto.
Fora da cronologia, mas sem poder deixar de comentar, registro a passagem, pelo
BE, como comandante, de uma figura carimbada no EB, e, pior, oficial de engenharia. Fora o
comandante anterior ao que encontrei. A figura servira em Cruzeiro do Sul, como capitão.
Perto das oficinas de viaturas e posto de abastecimento, lá em Cruzeiro, havia um bosque
de enormes árvores nativas. A figurinha mandou fazer uma casa em uma delas que
dispunha de vários galhos, a mais de vinte metros de altura. Vivia como Tarzan. Dormia lá:
subia por uma corda, no braço, e descia no outro dia cedo, para o expediente. Ficou
conhecido lá não pelo seu desempenho, mas por sua personalidade esquizofrênica. Era tido
como altamente operacional: tinha kit para tudo. Era separado da mulher, também pudera.
Havia comentários, não conclusivos, de dúvidas sobre sua heterossexualidade. Mas em
Itajubá se consagrou como intelectual e erudito. Apesar de que a instrução tivesse elevado
desempenho, ele sempre fazia alguma papagaiada não muito a gosto da população da
cidade, todos bem mineiros no conservadorismo. Uma das papagaiadas foi fundar uma
banda de música que servia aos momentos de confraternização e também participava das
noites itajubenses. Os soldados viraram profissionais músicos e não mais militares. O nome
da banda, fundada por ele, era SAM-B.E. Não contente, ele fundou uma Escola de Samba,
no bairro onde se situava o batalhão. A escola recebia reforço, para melhoramento de
desempenho, do Rio de Janeiro: mulatas passistas, mestre sala, porta bandeira e mestre de
bateria. Todos alojados no batalhão livre de casa e comida. Vinham na sexta e voltavam no
domingo. Para fins de adestramento, ele construiu uma piscina, perto da sala de aula do
NPOR. Pois bem, nos finais de semana de ensaio da escola de samba, as mulatas tomavam
conta da piscina dentro do quartel. Elas com os trajes de praia. Os comentários eram os
mais variados possíveis, tanto na cidade como na vila militar. A escola de samba desfilou no
carnaval de Itajubá. Além desse feito, ele se destacou como um intelectual altamente
erudito: letras, pinturas e música. Segundo muitos, ele fez uma trapaça com um regente e,
numa ocasião da apresentação de um concerto em Itajubá, ele regeu duas peças.
Comentavam que ele tinha um sítio em Penedo, Estado do Rio, com inúmeros animais
selvagens. Tinha também um jovem trazido de Cruzeiro do Sul para cuidar dos animais.
Porque o rapaz de Cruzeiro? Ninguém sabia. Mas ele ser esquizofrênico paranóide até se
tolera. O intolerável foram os comportamentos de seus comandantes, tanto no 7º BEC como
o escalão superior do BE em Itajubá. Como puderam deixar um debilóide desse fazer tanta
asneira se tinha duas subordinações: a AD, de Pouso Alegre e a 4ª DE, em Belo Horizonte.
Por causa de um maluco desses, a unidade leva dez anos para recuperar a credibilidade.
Mas entre uma atividade e outra sempre parecia alguma novidade e alguma coisa
para ser aprendida. Uma dessas coisas foi assistir à fabricação de fuzil na fábrica de Itajubá.
Era uma concessão da fábrica, belga, do fuzil 7,62. Em Itajubá se fazia todas as peças do
fuzil. Muitas partes eram de ferro fundido. Apenas a parte de baquelita (ou Plástico ou
nylon) era terceirizada: coronha, punho... . Mas a parte mais fascinante era a do cano. O
cano se inicia com uma barra de ferro com o comprimento do futuro cano, mas com uma
singularidade: a barra era quadrada. Era presa pelas pontas, passava por uma prensa onde
uma haste entrava na barra quadrada e fazia um furo no comprimento. Tal haste tinha
quatro ranhuras que fazia um furo, reto, com as ranhuras das futuras raias. Depois disso ia
para outra máquina, toda eletrônica e pré-programadas, quase um robô, aonde dezenas de
martelos iam batendo no cano e tornando-o redondo. Mas na medida em que recebia as
marteladas, uma das pontas fazia um giro torcendo todo o conjunto. E recebia mais
martelada... assim, o cano ficava redondo e com as raias em helicoidal, ou como uma rosca
sem fim. Numa das pontas, que ficava mais grossa, era feita uma rosca que iria se rosquear
na culatra. Na outra ponta, recebia mais outro tratamento para ficar como a ponta do cano
capaz de receber a baioneta e os lançadores de granada e os furos de dispersão de gases.
A rosqueagem do cano na culatra tinha um fato interessante de se ver: embora houvesse
um torquímetro, para dar a carga correta de aperto, para fixar o cano na culatra, cada
funcionário deixava a arma com um pequeno defeito que depois seria corrigido arma por
arma. Se um determinado funcionário estivesse dando o aperto, a arma desviaria o tiro para
a direita, numa hipótese; quando trocava de funcionário, as armas rosqueadas por ele
passavam a dar desvio de tiro para a esquerda. Assim, todas as armas, uma a uma, eram
testadas com tiro amarrado e outro funcionário ou apertava mais ou afrouxava mais até que
o tiro estivesse no alvo. Aí fazia a fixação definitiva. Depois da definitiva, caso se tentasse
desenroscar, danificaria tanto a culatra quanto o cano. O cano da pistola seguia o mesmo
processo do cano do fuzil.
Um belo dia a polícia aprendeu uma pistola .45 (ponto 45), fábrica de Itajubá, da
mesma que fiz disparar e quebrar meu joelho, portada por um assaltante de casas. Embora
fosse crime civil, com a arma militar, eu segui o inquérito passo a passo, por ordem do
comandante da 4ª DE. Refazendo a rota da aquisição o delegado e os agentes chegaram
num funcionário da fábrica, já aposentado. A arma fora retirada peça a peça durante vários
anos. As peças que não passavam no controle de qualidade, embora com pequeno ou
pequeníssimo defeito, atendia a funcionalidade da arma. O funcionário, antes de devolver o
material para refundição, retirava para ele. Assim, a arma não apresentava numeração e
nem as armas da republica na culatra, como era feito nas armas que passassem pelo
controle de qualidade. A dúvida era se apenas aquela arma fora desviada assim ou havia
um sistema de desvio envolvendo o terrorismo. Felizmente fora a única. Foi melhorado o
sistema de controle de circulação peças no interior da fábrica.
A vida ia tocando embora sem muita rotina. Como já disse, passava mais tempo à
paisana. Bastava que alguém no sistema de informação emitisse um informe verossímil, lá ia
eu ou os sargentos checar isso. Valia o de cabo da PM, destacado numa cidadezinha ou
vila, ou um Secretário do Estado, numa visita. Mas a maioria era de delegados de polícia.
Eu não tinha carteira de motorista. Mas mesmo assim comprei de um capitão da
turma de 70 um corcel branco. Como dificilmente havia fiscalização em Itajubá, arrisquei
dirigir sem carteira embora soubesse dirigir. Os exames, de direção, eram feitos de ano em
ano e a equipe vinha de Belo Horizonte. Acabei por discutir com o examinador, que cheio de
autoridade dava ordem como se estivesse num campo de concentração. Não deu outra: não
fui aprovado. Mas, como se usava o carro mais no final de semana, pouco risco se corria.
Usando as estradas vicinais, que já conhecia bem, visitamos São Lourenço, Caxambu,
Itamonte, Itanhandu, Brasópolis, Paraisópolis, e quase chegamos a Campos de Jordão por
uma estrada de terra, a partir de Brasópolis. Fazia-se um farnel de lanche para adultos e os
alimentos das meninas, que tinha, uma, um ano e, a outra, apenas meses. Na hora do
almoço se parava numa sombra, com paisagem bonita e ali fazíamos piquenique. Antes dos
piqueniques, houve um momento de tumulto familiar com parentes ameaçados de câncer. E
como teria que conciliar muita coisa: mulher grávida, filha pequena e viagem urgente, para o
Acre, o dinheiro não dava. Numa manobra mal feita na rua, afundei o porta-malas batendo
num poste, no meio-fio. Bom, resolvi vender o carro imediatamente para ter dinheiro. Vendi-
o ao filho do tenente QAO que trabalhara comigo na Comissão de Seleção. Vendi com
prejuízo de uns quarenta por cento. Não me lembro de valores, pois a época era de elevada
inflação. No outro ano, depois de pagar o empréstimo da Caixa, e se mudar para o Morro
Chic, comprei de um sargento um outro corcel, do mesmo ano, mas de cor amarela. Este
levei para Porto Velho.
Ao mudar para o Morro Chic, eram vizinhos um casal de velhos (setenta anos mais ou
menos) aposentados do Correios. Ela era muito falante e prestativa. Não tinha filhos apenas
uma moça adotada desde menina e que tinha lúpus eritematoso. Pelo excesso de
medicamento, era gorda e bem feia, mas boa gente para se conversar. O Senhor era seu
Lopes e a senhora dona Zozó. Nunca soube direito o nome verdadeiro da Zozó. Quando
nasceu a minha filha mais nova, ele foi até a banca e comprou um Jornal do Brasil e colocou
num saco plástico e pediu que abrisse quando ela fizesse dez anos e soubesse a ler. No
final de ano seu Lopes morreu de infarto. Tinha sérios problemas cardíacos e decidiu não
fazer cirurgia. Com uma ponte de safena ele escaparia por vários anos. Questão de filosofia:
segundo ele o custo era elevado e o resultado, para a época, pouco convincente. Assim,
estava pronto para morrer a qualquer momento. E assim aconteceu: teve um colapso pela
tarde e á noite morreu no hospital. Ficou a Zozó, que me deu algumas ferramentas que
ainda hoje guardo como lembrança de seu Lopes. A dona Zozó tinha duas irmãs solteiras,
coisa muito comum no sul de Minas, que moravam em Piranguinhos, uma cidadezinha a
vinte quilômetros de Itajubá, direção Pouso Alegre, que gostavam de brincar com as
meninas: tia Doca e tia Nicota.
Um dia, estávamos num domingo á frente da casa da Zozó quando chegou um seu
sobrinho com um corcel igualzinho ao nosso. Logo em seguida ele resolveu ir embora,
entrando em seu carro e arrancando rápido. Minha filha mais velha quase morre de
desespero porque o homem estava levando “minha caoo, minha caoo”, correndo na rua
numa aflição torturante e aos prantos. Peguei-a no colo e mostrei o nosso carro ao lado, na
garagem. Ela ficou um tanto sem graça, o que procurei amenizar o constrangimento
abraçando-a bem forte para mostrar que tinha apoio do pai. Foi a primeira “mancada” dela
(hoje seria mico) ainda neném com pouco mais de dois anos.
Em Piranguinho tinha o melhor pé-de-moleque, segundo os mineiros do sul de Minas,
do mundo. Passando pela BR, numa meia encosta, se via a cidadezinha abaixo com uma
cota de uns trinta a quarenta metros abaixo, onde se via a estrada de ferro também em
direção a Itajubá. Nessa meia encosta, equilibrando em palafitas, havia várias barracas de
madeira com pé-de-moleque. Todas elas com suas receitas e mistérios para atrair
fregueses. As mais famosas eram as barracas de cor vermelha e a de azul ( talvez tenham
inspirado os bois de Parintins: Caprichoso e Garantido). O produto era muito bom com
amendoins moídos e em grãos inteiros. A estrada de ferro e a BR corriam em paralelo. Por
algumas vezes a BR cortava a estrada de ferro e, numa transposição dessas, vi uma coisa
engraçada: um gaiato pegou uma placa de sinalização da rodovia e colocou na ferrovia. A
placa era de: PROIBIDO ULTRAPASSAR.
Um 1º Tenente de Engenharia, que servia na ESA e que fora Asp Of em Itajubá, de
passagem para o Rio, num sábado, parou na Barraca Vermelha para comprar pé-de-
moleque. Ao pagar, deixou a carteira no capô do carro. Esquecido, arrancou. Parou em
Itajubá, na minha casa, que fora dele. Em Lorena, ao abastecer, notou que perdera a
carteira. Telefonou-me do posto de gasolina. Imediatamente acionei um dos sargentos, que
trabalhava comigo e que ficava de sobreaviso, para ir até o local. Por sorte e com faro,
descobriu quem achou e recuperou a carteira com todo o dinheiro. O Tenente telefonou
algumas horas depois e recebeu a boa notícia. Já tinha colocado a família num hotel e
tentaria ir até Três Corações, não muito longe, para conseguir dinheiro para pagar o hotel e
a gasolina abastecida. Voltou e reouve sua carteira e todos os documentos. Como coronel
foi comandante do 5º BEC.
Em Itajubá, havia uma especialidade da terra que era uma delícia. Era Pé de Porco. O
pé de porco era cozido até se desmanchar, mas cozido com feijão branco. Quase todos os
domingos se comia o saboroso quitute, se é que isso seja quitute.
Como eu fora a Juiz de Fora para estágio da CS, o comandante resolveu me mandar
até lá para trazer vários materiais que estavam a disposição do batalhão, mas que não tinha
transporte e nem dinheiro para pagar transportadora. Fui de caminhão. A grande maioria do
material já se encontrava no 4º B Log. Este batalhão tinha uma grande particularidade: tinha
dois aquartelamentos: parte em Juiz de Fora e parte na cidade de Santo Dumont, cidade
onde nascera o pai do avião, no jargão brasileiro. Bom, B Log já é algo esquisito, pois
misturaram várias especialidades juntas: Material Bélico, Intendência e Saúde. Assim, um B
Log tinha uma companhia de cada especialidade. Ultimamente pioraram a coisa: se era
mistura de companhias distintas para formar um B Log, agora misturaram pelotões apenas
para se ter “Companhias Logísticas”. No Brasil, foi a solução para se dar comando a oficial a
de artilharia, que, há muitos anos, vem sendo formados além da necessidade do Exército.
Assim, como não há unidade especifica de artilharia para todos, então a fuga é comandar B
Log. Mas o de Juiz de Fora era muito particular: quartel dividido. Mas em Santo do Dumont
tem uma idiossincrasia própria: quem pedir água mineral para beber vai comprar briga.
Dizem as más línguas que Santo Dumont era heterofóbico. E que a culpada disso era a
água do local. Portanto, beber a água natural da cidade era risco elevado. A população não
gostava da brincadeira. Mas... “No creo en brujas, mas que las hay, las hay”.
Em Juiz de Fora fiquei sabendo que foram abertas as inscrições para o curso de
“Operações” na Escola Nacional de Informações - ESNI. Voltei empolgado. Como capitão
faria este curso; mais tarde, como oficial com Estado Maior, poderia fazer o de Analista de
Informações, o que permitiria se enveredar nas altas confusões de informações e até
espionagem. Em Itajubá, perguntei pelo rádio, do sistema de informações, mais detalhes e
como fazer a inscrição. Qual não foi minha surpresa, quando um oficial Aspirante de 69, um
esbelto infante, que fora da seleção de futebol comigo, chegou a Itajubá conciliando suas
necessidades em “operações de informações” e querendo falar comigo sobre meu interesse
no curso. Ele tinha o curso e exercia suas funções em Belo Horizonte. Conversamos em
minha sala. Ele completamente descaracterizado que até tive dificuldade em reconhecê-lo.
Disse-me ele que era para eu saltar fora disso. Ele, depois que terminara o curso, teve uma
vida infernal. Estava recém-casado, mas antes tivera dois noivados desfeitos porque as
moças não conseguiam entender o trabalho dele uma vez que era militar e sua atividade
nada tinha de militar. No final, acabava por gerar desconfiança e esfriamento no
relacionamento. Ao sumir por três quatro dias ou telefonar de outros estados da federação
era inexplicável a qualquer namorada. Assim, para eu não botar a vida, e a família, em roda
viva era melhor eu não me meter nisso. Pela enorme sinceridade e disposição dele de ir até
Itajubá, para me explicar tudo de sua experiência na coisa, fiquei-lhe muito agradecido e
ainda mais passei a admirá-lo. Mais tarde moramos na mesma quadra em Brasília e lhe
agradeci por isso embora ele não se lembrasse mais do caso.
A CS ia até 03 de novembro... No final do ano, para aqueles que não tinham feito a
seleção tinha uma repescagem em Itajubá que terminava em novembro e era para todas as
“juntas do serviço militar”.
Em meados de novembro recebemos a informação que Itajubá receberia a visita do
Presidente da Republica Ernesto Geisel. Na mesma semana, chegou o destacamento
precursor. Era uma atividade com pelo menos dez eventos. Na verdade todos estávamos
batendo palma para maluco dançar. A visita era eminentemente política. Itajubá foi a cidade
onde estudara o Vice-Presidente, Aureliano Chaves – Escola Federal de Engenharia de
Itajubá - EFEI. Excelente escola de engenharia elétrica. Na época, era a única faculdade
federal. O Vice-Presidente estava, até aquele momento, cotado para ser Presidente civil.
Qual não foi nossa surpresa, comandante e eu, quando a 4ª DE me nomeou como
responsável pela segurança da área. Eu, capitão novo, sem tanta experiência na atividade
de informações e responsável por tudo o que se relacionasse à visita: conseguir viatura,
estabelecer quantidade de pessoas nos eventos; credenciar pessoas (políticos, imprensa,
autoridades e penetras de toda ordem); segurança dos locais de eventos; segurança velada,
segurança de comboio, ocupação de pontos dominantes, ocupação de pontos sensíveis
(rádio, antena de telefone, estação de tratamento d’água, estação de luz...).
Logo de início, já me estranhei com um camarada do Itamarati, do cerimonial. O
bendito começou a desfiar uma série de necessidades muito fácil para Brasília, Rio, BH. Aí
eu perguntei a ele quando que tais materiais, incluídos veículos, e providencias, chegariam a
Itajubá. Ele olhou pra mim e disse: – “isso tem que ser providenciado por vocês”. Usei minha
finesse terenense, na hora. Disse que na cidade não tinha aquilo; que o quartel não tinha
dinheiro para alugar, comprar ou emprestar; assim, eu iria conseguir o possível; o impossível
ele apresentaria a quem de direito, até ao Presidente se quisesse. Pela ousadia, ele me
olhou espantado. Tinha um capitão da minha turma, de cavalaria, responsável pelo comboio
de autoridades. Ele sentiu minha atropelada e sentiu que o diplomata do cerimonial acusou o
golpe. Entrou como deixa disso e apresentou a solução: em três dias eu apresentaria o que
poderia conseguir e o restante da lista eu mandaria para BH, para a 4ª DE. Foram para o
rádio da 2ª Seção e falaram com o E/2 da DE, um tenente-coronel. Ele entendeu a coisa e
ficou como ligação entre eu e o destacamento precursor.
O Presidente chegaria à pista de pouso de Pouso Alegre. A AD/4 faria a segurança do
comboio até o nosso limite de segurança interna, daí até ao primeiro evento seria conosco.
Fui descobrir que não havia nada, nenhum manual de segurança de comboio de autoridade.
Eu havia recortado algumas revistas e também algumas publicações do próprio Exército,
sobre as falhas de segurança em sequestros, tanto no Brasil como no exterior. Com isso
montei rapidamente uma nota de serviço com as figurinhas de modo a ter alguma coisa para
mostrar aos motoristas e ter uma doutrina nossa, para aquela missão. Assim a nota virou
atitude padrão. Uma atitude eficiente segurança de comboio. Mandei uma cópia para a 4ª
DE que o aprovou como estava. Bem mais tarde encontrei minha nota de serviço. Já
ampliada na EsNI (Escola Nacional de Informação).
O trabalho para a visita foi gigantesco. Uns três dias antes chegaram de volta o
destacamento precursor. Fomos repassar eventos por evento, confirmar a quantidade de
pessoas por evento, as velocidades de deslocamento, os acessos. Como em tudo, tem-se
muito momento de aporrinhação, mas tem também os momentos cômicos.
Um momento tenso, mas que agora é engraçado foi um telefonema de um ex-
deputado, Presidente da ELETROBRÁS que me telefonou insistentemente. Inicialmente eu
não quis atender porque era véspera da chegada do Presidente e tinha muita coisa ainda
para arrumar: todos os pontos estavam ocupados, com varreduras feitas. Para toda essa
gente, que ocupavam pontos, deveria ter café, almoço e jantar. Haveria rodízio entre muitos,
mas havia os que ficariam de castigo, pela noite inteira. Os que deveriam ficar como
segurança velada e cobrir os pontos, deveriam estar trajando terno e gravata e com o
sistema de identificação correta. Resolvi atender o tal senhor. Ele disse que iria para Itajubá
e queria estar em todos os eventos. Eu disse a ele que todos os eventos já tinham os
efetivos completos, as credenciais feitas, portanto não tinha como encaixá-lo. Ele insistia
dizendo ser político e que tinha que estar próximo do Presidente e iria a Itajubá de qualquer
maneira. Respondi para não fazer isso, pois quem credenciava era eu e não havia como
colocá-lo. Tentou me amedrontar dizendo que telefonaria para o Presidente ao que respondi
que então fizesse isso, mas se eu o visse, em qualquer evento, sem credencial, ele seria
retirado. Por fim desistiu e disse que não iria. A tal figura era o, depois, tão famoso e
prepotente, Antônio Calos Magalhães, o popular ACM, de tão triste memória como homem,
como político e como cidadão.
Havia um programa humorístico com Chico Anízio onde ele interpretava vários
personagens por ele criados. O Programa se chamava “Chico Total”, me parece, na rede
Globo. Um dos personagens era o Bozó. Um simplório que se dizia ser da “Gulobo”, e assim
atraia as meninas candidatas a atriz. Ele entabulava uma conversa e no momento de ser
descartado pela jovem, ele jogava seu trunfo: “ eu sou da gulobo”. Bom, já era quase dez da
noite e eu previa uma noite de cão. Era um tal de trocar credencial, retirar um colocar outro
que não parava mais. Havia, para perturbar o juízo: o cerimonial da Presidência da
Republica, com um monte de paisano folgado; o cerimonial da Vice-Presidência, que era de
mal com o cerimonial do Presidente; assessores de Ministros, o pessoal do Destacamento
Precursor, políticos aos montes. Pois bem, chega ao corpo da guarda um carro com placa
de São Paulo com três homens da minha idade. O comandante da guarda anunciou a
chegada e eu pedi que trouxesse até minha sala o chefe deles. O rapaz, um pouco
assustado, com ar de cansado, entrou. Tinha comigo vários sargento. Perguntei, ao rapaz, o
que queria e ele usou o velho “processo abre porta”: – “eu sou da Globo”... Um dos
sargentos não perdeu a deixa: – “Você é o Bozó?!!!. Foi uma risada danada... Todos, rimos
muito o que serviu para aliviar a tensão do dia, aliviar a tensão do jovem... Para credenciar
repórteres necessitava de fotografia. O bendito não tinha. O motorista e o cinegrafista, mais
experimentados, trouxeram. O jeito foi mandar um sargento com ele, ao hotel onde se
hospedaram, tentar achar uma carteira de estudante para arrancar dela a foto. Quando
voltou, pelo incomodo, ele se desculpou e disse que acabara de cobrir a presença do
Presidente em São Paulo e que fora escalado, de ultima hora, para cobrir também Itajubá.
Acabara de chegar e que foi difícil encontrar um quarto de hotel. O que conseguira só tinha
uma cama. Alguém dormiria no chão e o motorista no carro. Ele sentiu que trabalhávamos
sério e com vontade de acertar. Hoje é âncora de jornal do SBT e muito conhecido. Mas o
Bozó serviu para risadas por muito tempo.
Na madrugada do dia D, o Presidente recebera noticia que falecera sua mãe em
Porto Alegre. De São Paulo seguiu para o velório. Todas as cerimônias seriam conduzidas
pelo Vice-Presidente em Itajubá. E a partir daí foi um “Salve-se quem puder”. Uma
maluquice geral, imbecilidades flagrantes: o cerimonial do Presidente se afastou totalmente
das atividades e passamos a nos entender com o cerimonial do Vice-Presidente. Mas a
coisa é tão absurda como se uma não soubesse que a outra existisse. E mais, um monte de
gays todos ressentidos um com os outros por anos de atividades atritadas. Os eventos
foram reajustados. O Vice, que dormira em Itajubá, casa de políticos, escolheu o que ele
achava mais significativo para uma visita política. E para ajustar os credenciados, para cada
evento? Bom, eu que credenciava, criei caso: “só vão para os eventos os que estavam
credenciados para aquele evento, tanto fazia ser do Presidente ou, agora, do Vice
Presidente”. Mas tinha político, grande político, que, não estando o Presidente,
simplesmente foi embora. E, assim, sempre tinha um pequeno político querendo entrar no
lugar do que tinha ido embora. Era infernal aguentar essa gente.
É melhor explicar mais como funciona a coisa: o cerimonial e a segurança pessoal da
autoridade ficam junto da autoridade. Assim, num evento como inauguração qualquer, o
local onde fica a autoridade, por onde passa a autoridade é problema do cerimonial; a
segurança dela, autoridade, é problema da segurança da autoridade. A nossa
(responsabilidade de área) era com o deslocamento da autoridade; o mais crítico, o
desembarque, tudo previamente discutido, cronometrado. Até a velocidade do carro nós
tínhamos que determinar (sempre se colocava um carro batedor para regular a velocidade).
Se algum “gaiato” penetrasse, a culpa era da segurança de área; se alguma autoridade não
era para estar no local, a culpa era da segurança de área, o credenciador.
O último evento foi um almoço no Clube Itajubense. O cozinheiro viera não sei de
onde. O fato é que me recomendaram o cozinheiro ficar de quarentena, isto é, ele chegou
vinte e quatro horas antes. Tivemos que arrumar uma forma de ele dormir no clube, já feita a
varredura (varredura era um vasculhamento feito pela polícia federal para verificar se não
tinha bombas, escutas clandestinas, e outra qualquer ameaça). Alguém recomendou o
cardápio. O fato é que às dez horas eu deveria estar no Clube para experimentar a comida
juntamente com um camarada do cerimonial. Na pratica foi eu porque com a mudança de
cerimonial, o gajo correspondente não veio e nem sabia disso. Bom, fiquei de boi de piranha,
pois se a comida estivesse envenenada, eu era o primeiro a morrer. O mais engraçado foi
na hora do almoço. A regra era a seguinte: depois que a mais alta autoridade entrar, não
entra mais ninguém. Bom, dizem que desde o tempo de Alexandre, o Grande, há alguém
atrasado em cerimônia importante. Quando fechamos a entrada com vários sargentos, sem
fechar a porta propriamente, aparece um velhinho no primeiro degrau da escadaria. Apontei-
o para um sargento e o militar partiu para dar um tranco no velhinho que vieram com muita
disposição. Saiu um diplomata do cerimonial voando escada abaixo para salvar o velhinho.
Era um Ministro não me lembro mais de que. Mas o sargento chegou a abordá-lo lhe
informando que a entrada estava encerrada porque a maior autoridade já tinha entrado. Mas
o do cerimonial contornou a situação. Depois que o Ministro entrou, o diplomata veio querer
tirar satisfação comigo: “capitão, o senhor não conhece o Ministro XX”? Eu lhe respondi que
não, o índio terenense já havia aflorado, e não tinha a menor vontade de conhecer porque
eu era um homem amazônico e fazia questão de não saber quem era o bando de
incompetente que compunha o governo; só respeitaria algum deles depois que tivessem a
quinta malária, como eu. Ele ficou assustado, pediu desculpa e sumiu. E terminado o
almoço, nós da segurança de área ficamos sem almoço... Às duas da tarde, tentamos comer
alguma coisa no quartel. Foi a paga.
Comentei com meu comandante o que pude notar, em tão pouco tempo, de
falsidades nos bastidores da corte. O pessoal do cerimonial era simplesmente inimigo entre
si. O pessoal de segurança, por serem a grande maioria de militares de todas as forças, era
confiável. Tinha até delegado na segurança. Ali estabeleci um limite para minha carreira e
profissão: nunca pertencer e nem me dobrar a qualquer agente de qualquer escalão da
corte.
Assim chegou o final do ano. Não me lembro bem, mas acho que houve viagem de
férias até Campo Grande. Meus pais já moravam a tempo no apartamento do Conjunto
Afonso Pena.
Engraçado foi o meu comandante, o dito judeu que já me referi. No final do ano era
praxe o comandante elogiar seu oficiais e sargentos e os oficiais aos praças subordinados.
Era um agradecimento pelo ano que se passava. Depois isso foi literalmetne proibido, uma
vez que a coisa também degenerou, pois o mau uso da recompensa ficou como uma
obrigação rotineira. Aí o elogio perdeu sua grande finalidade que é o reconhecimento do
trabalho do subordinado. A rotina em sí é obrigação. A dedicação superlativa a que era para
ser considerada. Mas ele, na virada do ano me disse, em reuinião de oficiais: – “olha eu não
vou fazer elogiou a voce porque neste ano já fiz dois. Eu não sei mais o que dizer sobre seu
profionalismo e nem sobre o seu desempenho. Assim, quebrando a praxe, não será dado o
elogio de final de ano. Bom, o elogio era concedido pelo comandante. Não era eu que
pedia...
Na virada do ano, geralmente na segunda quinzena, era a incorporação. Haveria a
necessidade, para cumprir a legislação, nomear uma comissão para conferir o fardamento e
fazer a distribuição, para as companhias, de todo o fardamento estocado no almoxarifado. O
comandante me informou que todos os que estiveram na comissão de Seleção estaria na tal
comissão. Assim formamos uma “comissão de incorporação”. Fomos reforçados com um
sargento das Relações Públicas, coisa que também era da minha responsabilidade.
Como dito anteriormente, os jovens aptos eram designados para um quartel. Para
cada conscrito vinha, da Região Militar, uma Ficha de Incorporação, impressa num
formulário contínuo, que continha todos os dados coletados, na seleção, do conscrito. A
ficha vinha em ordem decrescente de soldados a incorporar. Assim, a ficha número 1 era do
melhor conscrito a ser incorporado. Os designados eram 20% a mais que a necessidade do
quartel. E eram, portanto os menos recomendados. Para completar o raciocínio, os “em
excesso de contingente” era os não aconselhados a incorporar. No quartel, os designados,
todos, era submetido a outra inspeção de saúde, mais rigorosa e poderia ainda ser
dispensado (receber CDI) por ficar entre os vinte por cento a mais, que não seriam
incorporado. Bom, como dito, na seleção, Ficha de Seleção, todos os alistados são
submetidos a pesos, medidas, testes psicotécnicos e avaliação sanitária. Ali se tem um
registro do perfil sanitário do município, do Estado ou da Região. Na Ficha de Incorporação
consta tudo do futuro soldado: além de sua indicação de especialização, tem informação de
suas medidas de roupa e calçado. Com as fichas de incorporação recebida bem antes,
bastaria usar um critério qualquer para distribuir o pessoal pelas companhias. Nós usamos
da antiguidade dos comandantes de companhia. Assim, a primeira ficha foi para a
companhia do capitão mais antigo, pois as fichas vinham em ordem decrescente de
qualificação dos conscritos. Então o melhor era o da primeira ficha. Assim se ia até ao
comandante mais moderno. Daí a próxima ficha, que seria do melhor, a ser distribuído, ia
para o mais moderno. Ao final havia o equilíbrio na incorporação. As qualificações,
necessárias ao quartel, só seriam atendidas depois do período básico, isto é, na fase de
qualificação. Isso feito, uma semana antes, o pessoal das companhias separava todo o
material de incorporação em embalagens próprias. O recruta, ao chegar, é só pegar seu
material e ir se vestir. Em duas horas estarão todos fardados. Sempre haverá motivos de
ajustes: calça, coturno, gandola. Caso se tenha algum conscrito, distribuído, que não passe
no novo exame médico, ou por algum problema na entrevista, sua ficha é retirada e em seu
lugar entra o primeiro dos que vieram como o 20% de reserva. Todo esse sistema leva uma
semana. Assim, grosso modo é que funciona e para que serviria uma Comissão de Seleção
e a Comissão de Incorporação.
O cerne do sistema era a entrevista e o correto assinalamento das aptidões do jovem.
Portanto, isso era rigidamente seguido. Até hoje é válido o conceito de que: quanto melhor o
funcionamento da Comissão, melhor será o soldado no ano seguinte.
O ano de 1978 entrou bastante rotineiro. Pouca coisa aconteceu. Mas, em São
Lourenço, teve algo engraçado. Havia um senhor, com registro na Segunda Seção não
como subversivo, comunista ou algo assim. Na verdade, foi fichado como agitador, por
alguma autoridade local. Ele era um vereador da oposição ao governo federal, mas muito
criador de caso com seus colegas de câmara e com os Prefeitos. Até com o prefeito do seu
partido. Ele fazia o partido dele: quem não estivesse de acordo com ele era contra ele. O
Prefeito não tinha maioria na Câmara. Bom, havia uma votação importante para a vida da
cidade. E o Presidente da Câmara, mesmo partido do Prefeito, queria fazer passar a
votação. Sabia que, se esse senhor lá estivesse, arrastaria alguns outros e não teria a
maioria para aprovação. O Presidente da Câmara esteve em Itajubá e foi conversar conosco
sobre o caso. O Comandante estava de férias e respondia pelo comando o major.
Resolvemos fazer o seguinte: no dia da votação, o tal senhor seria convocado para ir ao
batalhão para prestar um depoimento sobre suas atividades políticas. Assim, um ofício do
comando o convocava para ir ao batalhão na data tal, que também era o da votação. Os
sargentos foram até lá e o trouxeram pela tarde. Começamos dizendo que queríamos o
depoimento dele, tomada termo, sobre o que constava sobre ele e assim, confiando na
sinceridade, na honestidade sempre demonstrada e na sua idade (mais ou menos uns
sessenta anos) e retirar todas as anotações comprometedoras e assim, acabar com dados
inúteis constante ainda no seu “Dossiê”. Ele disse que tinha uma reunião importante naquele
dia. Perguntamos o que seria mais importante: ele se livrar logo das acusações que sobre
ele pesava ou uma reunião que ele sabia o resultado – a não aprovação. E também que
teria reuniões na Câmara até o final da vida. Com isso, ele se consolou e ficou. Ele pensava
que o prefeito, mesmo sem o voto dele contra, não conseguiria aprovar a lei. Como
prometeu, o Presidente da Câmara conseguiu votar tudo naquela noite. Deixamos o cidadão
sair só às nove da noite. Até São Lourenço, à noite, pela BR 381, ele só chegou lá depois da
meia noite. Para o bem de São Lourenço fizemos essa falcatrua com o senhor, cujo nome
não tenho muita certeza agora. Deve ter ficado bravo e também aliviado. Ao sair do quartel,
ele disse que tinha lavado a alma, pois ninguém o havia perguntado se realmente o que
constava contra ele era verdade ou não. Hoje seria o tão na moda “contraditório”.
Mas, um sargento que serviu em Itajubá, estava em Brasília na Diretoria de
Movimentação. Alguns sargentos escreveram cartas a ele no sentido de sondar as possíveis
transferências do batalhão. Talvez pelo posicionamento do BE, era muito concorrido servir
ali. É que, por legislação, o pessoal que vinha de guarnição especial, e havia muitos na
engenharia, fossem oficiais ou sargentos, podiam escolher a cidade e até a unidade para
servir. Assim, só se cumpria o tempo mínimo e se era transferido, para outra unidade e abrir
vaga aos que, por direito, pediam para lá sua transferência. Bom, mandei que sondasse a
minha situação. Não deu outra: minha ficha fora selecionada, para transferência assim que
cumprisse o tempo mínimo, para abertura de vaga. E era o tal sargento que trabalhava com
tal fichário. Eu fora selecionado para servir em Cuiabá – 9º BEC. Ora, servir em Cuiabá,
onde não era guarnição especial, correr o risco de ser destacado, ficar três anos de tempo
mínimo e fazer o mesmo trabalho que no 5º BEC, resolvi escrever uma carta ao comandante
do batalhão agora meu desconhecido. Disse, caso ele concordasse, que gostaria de voltar e,
para isso, ele, via 2º GEC, fizesse minha proposição. Mandei os dados todos. Um tanto
cético quanto a esta possibilidade, restava aguardar. Para o gáudio meu, saiu minha
transferência no meio do ano, como sairia se eu nada tivesse feito, para Cuiabá. Lá estava
eu novamente voltando para o 5º BEC. Agora com duas filhas.
É bom, complementar algumas coisas que saíram da cronologia. A cada final de ano,
e no meio, saia e chegava gente. Em 78, chegou um tenente, da turma de 73, que ficou
como meu substituto eventual. Para isso era feito uma investigação tanto do caráter quanto
da aptidão do militar para as atividades de informações. O coitado aguentou todas as
lambanças do companheiro de 72, incluídas as motocicletas contrabandeadas. Para
felicidade minha, tudo estourou quando eu estava na comissão de seleção. Era só eu sair
por uma semana que chegava pedido de busca, informações particularizadas do amigo
enrolado ou alguma informação complementar. E lá ia o substituto atrás. O informado
achava que era perseguição. Aliás, essa mania de perseguição é própria das pessoas que
gostam de agir com as facilidades. Acham que facilidades é um direito. Esse mesmo tenente
da confusão conheceu uma figura que depois foi protagonista de um escândalo nacional. O
tenente conheceu no Rio a figura raríssima de Alexandre Von Baumgarten, tido como
jornalista e escritor e se vangloriava demanter contato com o SNI. Morreu misteriosamente
com a explosão de um barco no mar onde morreu a esposa e o barqueiro juntos e culparam
o General Newton Cruz, caluniosamente. Mas a figura esteve em Itajubá na casa do tenente,
e depois fez uma denuncia contra o comandante do batalhão com dados fornecidos pelo
tenente. Não deu outra: IPM envolvendo o comandante e o tenente. Nada comprovado, o
tenente foi novamente punido. E o meu substituto na confusão.
Um belo dia a filha mais velha aparece com o corpo todo cheio de marcas vermelhas
como se estivesse levado vários beliscões. O pediatra estava fora. Procurou-se outro. Pediu
alguns exames de sangue. Um deles foi extremamente cruel. Isso que foi feito na Santa
Casa de Itajubá, por freiras. A menina já tinha retirado sangue não fazia muito tempo. Então
ela ficava apavorada. Nisso não conseguimos retirar o sangue pelo braço. As freiras pediram
para ir com ela até uma sala que iriam retirar pela artéria femoral. Eu caí na asneira de
deixar. Pelo berro que a menina deu acho que fincaram a agulha nela sem nenhuma
anestesia. Quando achei o lugar onde a menina chorava, a coisa já tinha acontecido. Fiquei
maluco, com vontade de agredir a freira. Ela vendo meu destempero, ficou acuada e tentou
me acalmar dizendo que era a única solução e que o exame era extremamente necessário.
Até hoje a coitada tem pânico de agulha de injeção. Mas o resultado dos exames deu
número baixíssimo de plaquetas e daí o mal ter o pomposo nome de: Púrpura
Trombocitopênica Idiopática.
A púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) é uma doença caracterizada por uma
baixa de plaquetas (trombocitopenia) no sangue periférico, de causa desconhecida
(idiopática), secundária à destruição excessiva de plaquetas por fatores imunológicos. Mas
para garantir esse diagnóstico teria que fazer alguns exames que não eram feitos em
Itajubá. Assim, o médico pediatra nos encaminhou para Taubaté para uma consulta com
uma especialista em sangue – hematologista. Conseguiu-se marcar por telefone a consulta.
Para variar, um terrorismo médico: a baixa de plaquetas assim de forma violenta poderia
falar a favor de possível leucemia. Uma boa embrulhada: uma menina recém-nascida e
outra para ser consultada em uma cidade que não se conhecia nada. Felizmente, o ônibus
de Itajubá parava na cidade. A neném ficou em casa de um capitão de minha turma. Feita a
consulta, a médica pediu um exame conhecido por mielograma, isto é, um exame da medula
que, no caso, foi extraída do osso externo. Da experiência anterior, a coisa foi brutal, pois a
menina simplesmente entrava em pânico. Mas desta vez a coisa era feita com anestesia.
Segundo a médica que extraiu o material, ela chorava apenas pelo trauma anterior. Mas o
exame não era feito naquela cidade: era feito na cidade seguinte: São José dos Campos. Lá
se foi, de ônibus, para levar o material. Optou-se pela melhor situação: ficar num hotel em
São José até o outro dia quando o exame ficaria pronto pelas razões apresentadas ao
laboratório: não se morar na região. O prazo normal era de uma semana. Ainda tinha que
levar o exame a hematologista. O diagnóstico firmado: apenas Púrpura. A leucemia foi
descartada. O tratamento era à base de corticoide: prednisona, coisa que eu tomo
diariamente hoje, por isso a precisão do nome do remédio. Um bom trote. Detalhe: o
primeiro pediatra dela ficou uma fera porque fizemos o mielograma. Mas... se tentou uma
segunda opinião médica.
Como o parágrafo anterior fora sobre problemas médico, é o momento para relatar o
da cesariana do nascimento da segunda filha. A cesariana não era simples e o médico
estava testando novas técnicas. Havia também, no útero, um enorme mioma, que disputou
espaço com a criança. Ele resolveu fazer a cesariana e extirpar o mioma. Isso se daria pela
redução do útero, de 2/3 e as consequências futuras, particularmente na velhice. A
metodologia era fazer a cesariana e futuramente fazer outra cirurgia, parecida, para retirar o
mioma. Como ele era professor da Faculdade de Medicina de Itajubá, podia ditar regras
novas em pacientes estranhos, pois se não desse certo, o óbito ficaria pelo risco cirúrgico.
Graças a Deus nunca teve efeitos colaterais acentuados. Depois da cirurgia, na volta para o
quarto, as visitas começaram a chegar. Parece que todo o quartel resolvera vir numa hora
só. E aí os cuidados com o “não falar” foi não foi respeitado. E por desatenção da
enfermagem e dos pacientes, porque o acompanhante também é paciente, deram uma sopa
de feijão como a primeira refeição. Não deu outra, um aumento excessivo de gases, tanto
pelo feijão como pela fala antes da hora. Lá pelas dez da noite a barriga parecia um
pandeiro. Pedi de chamassem o médico. Ele veio meio contrariado, e mandou que
colocasse uma sonda nosogástrica (entra pelo nariz) para aliviar os gases. Bom, essa sonda
iria para uma bomba de sucção que retiraria os gases. Meia hora de funcionamento e tudo
continuava na mesma e a dor aumentando. Fui olhar a bomba: era de 220 volts e a energia
de 110 volts. Chamei a enfermagem: ninguém sabia o que fazer. O eletricista só no outro
dia. Quase tive um acesso de loucura. Parti para a solução de improviso. A bomba tinha
uma mangueira que se fixava na tampa de um vido. Na mesma tampa, por outro caninho, se
ligava a mangueirinha da sonda. Se funcionasse, a bomba provocaria vácuo no vidro que
sugaria o estômago. Então retirei a bomba e fazia a sucção com a boca, pela mangueirinha.
Mas em cinco minutos já tinha retirado a metade do vidro. Era um suco esverdeado. Bom, lá
pela meia noite todos estávamos dormindo.
Ainda em consequência por problemas de saúde, de pessoas da família, fizemos uma
boa aventura. Gravidez de seis ou sete meses da segunda filha e um diagnóstico de câncer
em Rio Branco. Nós nos atiramos para São Paulo, de ônibus. Eu pedira oito dias para
desconto em férias. Em São Paulo, direto para Congonhas. A mulher fora para Rio Branco e
eu para Campo Grande com a menina mais velha. Fiz uma viagem ótima. As mamadeiras
foram feitas a tempo e a hora. Ela por algumas vezes queria saber onde estava a “mamãe”.
Ficamos em Campo Grande por uns três dias. Foi decidido trazer a parente para Itajubá. Por
telefone acertamos um encontro no aeroporto de Campo Grande onde eu entregaria a
menina para embarcar no avião. Na verdade era uma tentativa. A polícia federal poderia
criar caso. Bom, falei com o delegado do aeroporto e ele entendeu e até auxiliou no
embarque. Assim, fui até a aeronave e entreguei a menina. Admirei a coragem da mulher:
grávida, filha de ano e meio, mala e parente, sem conhecer São Paulo. Fui direto para a
Rodoviária e me toquei para São Paulo e de lá para Itajubá. Chegando em casa, todos
estavam bem e a parente já tinha sido consultada. Cirurgia rápida e nada de câncer ou coisa
parecida.
Em um dia, que minhas alterações dizem ser 12 de setembro de 1978, fui desligado e
me foi concedido 30 dias de trânsito para chegar a Porto Velho. Ainda pelas alterações,
cheguei a 19 de setembro de volta ao 5º BEC, pela segunda vez.
Fui direto para Porto Velho. Não havia previsão de PNR. Também a mudança só
chegaria com um mês depois da entrega em Itajubá. Assim, fiquei um bom tempo no Clube
dos Oficiais que era o hotel de trânsito. Como não havia previsão de moradia, depois de
trinta dias no Clube eu deveria alugar um PNR. O Sub Comandante era também uma
raridade. Fora desde tenente instrutor da Escola de Instrução Especial (ESIE), no Rio. Era
desquitado e tomava diariamente um porre e ia ao quartel com óculos escuro. Metido a
arbitrário do tipo “faz porque estou mandando”. Quando eu estava no Clube dos Oficiais ele
também era hóspede lá: aguardava a reforma de uma casa na vila da cidade. Bom, como já
era final de ano fui ficando pela sede. Perguntei ao Subcomandante sobre a possibilidade
que eu tinha de ficar na sede, pois como não haveria PNR eu pretendia a alugar uma casa,
mas aí se fosse destacado eu já teria a casa alugada. Ele disse que ainda não sabia bem
como seria o ano seguinte por isso também não garantiria se eu ficaria ou não na sede.
Vencido meus dias de trânsito, fui recebendo um monte de funções na sede. Como Capitão,
a coisa era puramente burocrática.
No mesmo momento de minha apresentação formal fora feito a despedida do então
Tenente ALVAREZ. Carioca, chegara como sargento. Era o último pioneiro a sair. Cultivava
um enorme bigode. Recebera um chaveiro de ouro que o então coronel WEBER mandara
confeccionar. E que fora dado aos pioneiros, quando transferidos. Ele chorava muito. Como
eu era o único conhecido que retornara ao batalhão, ele passou o dia todo, pois à noite
haveria um jantar de despedida dele, me recomendando coisas que não deveria ser
esquecidas no batalhão. Foi uma despedida muito marcante para mim. Mais tarde nos
encontramos de novo.
O batalhão estava assim configurado (desdobrado, no jargão): 1ª Companhia em Vila
de Rondônia; 2ª Companhia ainda em Rio Branco; Residência Especial de Abunã, em
Abunã; Humaitá fora desmobilizado. Vilhena havia passado para o 9 BEC. Veja se eu não
me viro para voltar ao 5º!!! Poderia estar em Vilhena. Os funcionários de lá que eram
oriundos do DNER retornaram para o órgão. E a 3ª Companhia de Engenharia já tinha saído
do KM8 e ido para Caritianas, a uns trinta Km antes de Ariquemes. Ficava ali também o
Britador e a Usina de Asfalto. Nesse local tinha malária como nunca. Ficava do lado direito
da BR, direção Cuiabá e na margem esquerda do Rio Jamari. O local chamava-se Caritianas
porque ali fora uma maloca dos índios caritianas. Mas dava os dois tipos de malária: Vivax e
Falciparum. Entre os tenentes, quando alguém sentava na cama e dizia: “ui, estou com o
corpo todo moído” é porque já estava com indícios de malária. Bastaria apenas fazer a
lâmina. Pois bem, quando alguém anunciava o indício havia apostas para saber quantas
cruzes o distinto teria: “2 falciparum e uma vivax; ou duas vivax e três falciparum...”. Era uma
forma de encarar o flagelo. Junto do acampamento havia um cemitério. Fora cercado e
limpo. Um dia apareceu por lá um senhor que era funcionário do DNER aposentado. Quando
ele viu o local do acampamento chamou a todos de maluco: aquelas sepultura eram de
funcionários do DNER que morreram de malária ali, que fora uma residência (havia até uma
caixa d’água de concreto abandonada). E, segundo ele, até os índios caritianas se mudaram
dali por causa da malária. O Batalhão, trinta anos depois, colocava um acampamento no
mesmo local. Agora já era tarde e só mudaria se a missão se estendesse além de
Ariquemes.
Passei umas duas ou três vezes pela companhia em Caritiana, sem malária, para ver
o trabalho lá. Era um tipo de estágio porque quando saí não havia o trabalho em
asfaltamento.
Tem um lance engaçado com o Chefe da Residência de Abunã. A abreviatura da
residência era REA – Residência Especial de Abunã. Lá estava um vibrante 1º Tenente da
turma de 74. O comandante do Batalhão resolveu fazer uma viagem de inspeção em Abunã
e no dia seguinte em Rio Branco. Isso tinha um cerimonial: preparava-se um almoço ou
jantar mais caprichado; preparação de casa de hóspede; uma preparação de apresentação
sobre o trecho; esperar o comandante no limite do trecho e principalmente apresentar as
dificuldades (choradeira padrão). Mas o indócil tenente foi para o trecho ver os trabalhos e,
encontrando vários problemas, foi até Porto Velho. Chegou lá pelas nove da manhã, o que
se presume ter saído de madrugada. Apresentou-se ao Subcomandante por ter vindo à sede
resolver problemas de sua Residência. O Subcomandante perguntou: - “o que você está
fazendo aqui se o Comandante foi para sua Residência?” – “Ué! Vim resolver problema da
REA? Quem sabe o problema dela sou eu, o Chefe da REA”. O subcomandante foi á
loucura: – “suma daqui se não te prendo... vá, voa para Abunã e receba o Comandante... se
ele chegar lá, sem você, considere-se preso; você é chefe da REA e o comandante é
comandante do batalhão e de você. Suma!”. Tentou ainda argumentar: – “mas o coronel
conhece o trecho e a Residência. É só ele perguntar as coisas para o meu pessoal; o
pessoal está afiado para qualquer pergunta”. Aí que o subcomandante quase tem um
enfarto: – “Tenente Fulano: suma da minha frente; já falei... se chegar depois do coronel,
você estará preso”. E eu, do lado de fora do gabinete, esperando para despacho, ouvindo
tudo isso. A coisa era hilária e eu não perdi a oportunidade de rir bastante. O jovem saiu
bufando, xingando mais que o satanás quando vê cruz. Afinal ele era o Chefe da REA.
Logo fui nomeado para uma sindicância lá na REA. Havia uma denúncia que duas
moças haviam sido estupradas por dois soldados. Mandaram os soldados, para Porto Velho,
presos. As moças moravam com o pai numa terra grilada perto de Abunã e tinha uma casa
de palha num corte enorme, próximo de um igarapé. Gente pobre e humilde. Fui falar com
eles sobre o caso e avisá-los que iriam comigo até lá. Falei com o subcomandante para
retirá-los da cadeia, irem ás suas casas, trocar de roupa e pegar o material de higiene para
irmos para Abunã. Na passagem pegamos as moças e seus pais para ir até a REA, para lá
fazer as inquirições, pois necessitaria de máquina de escrever e um bom datilógrafo. Aos
soldados, pedi que me contassem a história como realmente foi, pois se me mentisse eu
ficaria como inimigo e não tinha razão para me mentir. Tudo começou com uma festa num
sítio perto de Abunã, já na vila. Era comum festa no sítio onde eram cobradas entrada e
bebidas. As moças estavam na casa de algum parente, em Abunã, e resolveram ir à festa
com mais outras parentes. No local, os soldados, embriagados e segundo eles uma delas
embriagada, tiveram relações sexuais normais. A segunda com o segundo soldado a
princípio não queria, mas por incentivo da que fizera primeiro acabou aceitando. Nenhuma
delas era virgem e todas tinham dezoito anos e mais. Ao voltar para a vila e no outro dia
ficaram com medo de ficar grávida e disseram ao pai e mãe que foram forçadas a ter
relações sexuais com os soldados. Na versão das moças, elas disseram que foram á festa e
que começaram a namorar os soldados. Na hora de virem embora, eles as acompanharam
e, no caminho, resolveram ter relações com elas e as forçaram a isso.
Bom, levei um dia para ouvir todo mundo incluído os pais, os organizadores da festa,
as moças e os soldados. Nada batia com nada. Ficou a fala de um contra a do outro. Nem a
acareação resolveu. As parentas, das moças, também arranjaram namorados e vieram na
frente, de nada sabiam. Assim minha sindicância caminhava para o arquivamento “por falta
de provas”. O último recurso era solicitar um exame de corpo de delito em Porto Velho. Aí eu
teria que levar todo mundo para Porto Velho e dar um jeito de alojar filhas, pai e mãe. O pai
das meninas estava chateado, pois ele confiava muito nas palavras delas. Quando eu
apertei nas perguntas uma delas chorou dizendo que se o pai soubesse de tudo as
mandaria para fora de casa. Mas o pai me disse que já tinha feito uma ocorrência na
Delegacia de Porto Velho. Perguntei a ele porque então fora dar queixa no quartel,
respondeu que pelo quartel eles eram obrigados a casar com elas e assim elas ficariam
amparadas. Telefonei ao subcomandante comentando da minha dificuldade e sobre o
Boletim de Ocorrência em Porto Velho. Ele mandou que eu encerrasse tudo e que tudo seria
resolvido, então, pela justiça civil. Assim, dispensei a todos, deixei os soldados trabalhando
em Abunã, trouxe a família para seu rancho e voltei para Porto Velho. Ali encerrei minha
sindicância por “ordem do comando uma vez que o fato seria apurado pela justiça civil”.
Narrei o fato acima por ser isso uma constante nos trechos e nos destacamentos.
Propositalmente, as meninas se deixam engravidar, tendo a gravidez como instrumento de
chantagem. Por absoluta ignorância do futuro do jovem soldado, na esperança de ter
segurança no casamento, elas se atiram nessas aventuras. Poucas sabem que isso só é
verdade se o soldado for estabilizado, com mais de dez anos de serviço. Fora disso, ele fica
os nove meses de serviço obrigatório ou até seis anos como engajado. O casamento vira
uma loteria, na maioria das vezes, com o resultado frustrante.
Mas antes da sindicância, por ser o oficial de inteligência, eu fiquei sabendo que o
nosso incansável Chefe da REA, ao dirigir uma picape, indevidamente, atropelou e matou
uma menina em Abunã, na vila. O fato foi registrado na delegacia, mas o inquérito foi
arquivado. Testemunhas disseram que a menina atravessou na frente do veículo ao
atravessar a rua, que era BR, para ir da casa da avó, para casa da vizinha. Qualquer que
fosse o motorista, o acidente seria inevitável. Mas havia um comentário que o pai da menina
havia ameaçado fazer vingança porque o tenente não deu a devida atenção ao acidente e a
menina não foi socorrida a tempo. O tenente estava seriamente preocupado com uma
possível tocaia. Mas, por pura coincidência, um dia me ligaram do Corpo da Guarda
informando que um civil gostaria de falar comigo. Pedi que o trouxesse até minha sala. Para
total surpresa era um ex-funcionário civil, operador de D/8, que trabalhara comigo em Feijó.
Depois dos cumprimentos, perguntei a ele o que o trazia até ali. Ele disse que soubera que
eu voltara e que gostaria de falar comigo sobre a morte de sua filha. Fiz-lhe as perguntas de
praxe, para quem já tinha alguma experiência militar: onde, como quando, por quem. Disse
que a menina, de seis ou sete anos, estava na casa da avó, em Abunã, quando foi
acidentada; ficou chateado porque o tenente, chefe da residência, estava dirigindo e nada
fez para salvar a menina. Perguntei a ele se a menina poderia ter vindo até Porto Velho com
vida o que respondeu que não. Então disse: “Companheiro, o que o tenente poderia ter feito,
a não ser pedir ao médico da residência que fosse vê-la e, em lá chegando, a encontrou
morta.” Perguntei se ele gostaria de falar com o tenente, ele disse que sim. Como já tinha
marcado minha ida, por causa da sindicância, marcamos para conversar em Abunã. Marquei
a hora, perto do almoço, exatamente para permitir ao tenente convidá-lo para almoçar
conosco. Assim foi feito. Eles conversaram por mais de hora e mais ainda depois do almoço.
O peão estava desempregado, pois a dois anos fora demitido do 5º BEC onde trabalhara por
quase dez anos e estava muito difícil serviço fixo. O tenente até conseguiu um emprego para
ele numa fazenda, perto dali, cujo proprietário o tenente conhecia. Pediu mais, que o tenente
pudesse comprar o terreno e fazer um túmulo de alvenaria para a menina no cemitério da
vila ao que o jovem Chefe da REA se prontificou de imediato. Assim, dois possíveis inimigos
ficaram amigos. Dei um esculacho no tenente, por dirigir sem necessidade, uma vez que
todos os tenentes tinham motorista, civil ou militar, à sua disposição. E o companheiro de
jornadas duras foi apaziguado, o operador de D/8.
A sede era uma rotina danada: as formaturas ainda eram as mesmas: seis da manhã
e ás treze horas. O dispositivo era o mesmo, os deslocamentos, as canções, tudo igual,
ainda bem.
As Seções eram chefiadas por capitães mais antigos. Os da Seção técnica, com três
capitães, e o da fiscalização administrativa eram da turma de aspirantes de 1969. Assim, o
batalhão estava revitalizado. O SAS era um capitão de minha turma mais antigo.
Numa oportunidade, estando na seção técnica, ouvi um QSO (diálogo por rádio) de
um dos capitães da SecTec e alguém da usina de asfalto. O desgraçado estava enrolado
com o traço da usina: a massa saía sem que todas as britas estivessem envolvidas de
asfalto. Isso é um defeito grave. E o nosso capitão começou a dar soluções a partir de sua
cadeira: “então você inverta a entrada na usina: primeiro areia, depois ‘filler’ – cimento, na
verdade - depois...” e foi desfiando soluções. O interlocutor começou a contestar e aí ele deu
outra solução: – “então entra primeiro o CAP ‘nome do asfalto’ depois a brita...” e assim foi
invertendo e mudando a entrada de material na usina. Aí eu me “queimei no pulo” como se
diz na terrinha. E perguntei: – “mas camarada, essa solução vai resolver? O cara está
angustiado na usina. É o caso de ir lá até acertar o traço”. Ele disse que era longe e que
com aquelas soluções o jovem tenente acertaria o traço. Foi aí que eu cunhei o mote
“solução teórica à distância”. Ora, sempre achei isso um enorme desrespeito para com o
pessoal do trecho.
Transferido, encontrei um companheiro de turma que fora aspirante comigo em
Alegrete já saindo de Porto Velho. Segundo as más línguas, ele fora destituído do comando
da 3ª Companhia. Recebera a missão de mudá-la do Km 8 para Caritiana, mas parece que
ele dificultava a coisa: não queria ir para Caritiana porque teria que vir para casa só no final
de semana. Ele gostava mesmo era das coisas de “intelligentsia”: sempre telefonando para
delegado, comandante de polícia, polícia federal... É o mesmo companheiro que encontrei
em Teresina e que fizera o autoelogio como comandante do PELOPES. Quando cheguei a
Porto Velho o amigo comandava a Companhia de Comando e Serviço. Bom, mesmo sendo
já finais de setembro, as atividades de trecho era intensa. Era comum, soldados chegarem
tarde da noite e, por dificuldades de ônibus urbano, dormir no quartel. Um deles trouxe um
quati. O bicho adulto é perigoso pelas suas dentadas certeiras e rápidas. O bicho estava
amarrado pela cintura. O soldado deixara o quati amarrado ao pé de sua cama. Outro
soldado, de calção ou cueca, levanta à noite para ir ao banheiro e é atacado pelo bicho que
lhe dá um corte na perna. O nosso capitão, cumprindo o regulamento dá uma Parte de
Acidente (amparar o soldado mordido). Mas o texto de sua parte, mais ou menos
reproduzido, é que ficou ambíguo: “Participo-vos que o soldado xxxx foi mordido por um
quati no alojamento em que dormia. O quati fora capturado no trecho e fora colocado no
alojamento. Informo ainda que não houve imperícia, imprudência ou negligencia do mesmo”.
Pelo texto a imperícia, imprudência e negligência fora por parte do quati e não pelo ofendido.
Isso era o folclore do momento nas rodas de almoço, formatura e reunião com o
comandante. O companheiro foi o mesmo que, quando Cadete, anexou um prego à sua
parte como Auxiliar do Oficial de Dia.
Um belo dia o subcomandante me chama e me dá ordem para assumir a 1ª
Companhia em Vila de Rondônia. O capitão que lá estava, de 72, fora para a sede e
pensava em pedir transferência, pois já tinha tempo. Entretanto, a minha ida para Vila de
Rondônia tinha a forte sugestão da Sec Tec: eu teria que preparar a companhia para
começar, no início do período seco, o asfaltamento de um lote em que a Vila de Rondônia
ficaria ligeiramente ao meio. Seriam cem quilômetros de asfaltamento. Eu chegando, os
trabalhos teriam seguimento, pelo menos por dois anos, teria continuidade. Daí a retirada do
capitão anterior por já ter tempo vencido.
A picape que levou o comandante da Companhia, que saia seria a mesma que me
levaria com as minhas tralhar necessária. A mudança ficaria no almoxarifado após eu dar o
pronto em Ji-paraná. Chovia como nunca. Eu, na cara de pau fui ao comandante e perguntei
se o batalhão pagaria duas passagens aéreas para eu e a mulher. Tinha uma linha regional
feita por avião bandeirante, ligados à VARIG. A picape foi só coma bagagem e eu segui no
dia seguinte. E me esperou no aeroporto de Ji-paraná recém-construído e não inaugurado.
Depois de um mês, o chefe da Seção Técnica me faz uma visita na tentativa de me
convencer a voltar a Porto Velho, para comandar a 3ª Companhia. Disse que seria uma
honra, mas eu aceitaria numa condição: mudar a estrutura de acampamento. Eu
descentralizaria as diferentes turmas e faria com que cada tenente tivesse seu
acampamento: terraplenagem, bueiros, base e subase, usina de asfalto e britador... o
comandante simplesmente poderia me dar a missão e pronto. Mas teve a consideração de
me consultar. Entretanto, a missão de cem Km em Ji-paraná ainda era real. Entre uma a
estruturar e outra funcionando, resolveu me deixar onde estava, antes que me fosse dada a
missão e eu mexer em tudo no que ele considerava bom.
O capitão de 72, que saíra de Ji-paraná por pensar em transferência, acabou por
assumir a 3ª Cia em Caritianas por desafio a si próprio. O subcomandante resolveria meu
problema de PNR embora ficasse com o problema de PNR para o capitão que assumira a 3ª
Companhia. A minha mudança estava em um depósito no quartel. Fora levada, para Ji-
paraná parte no caminhão baú, pequeno, e parte no caminhão de carga da companhia. O
que chegara de caminhão de carga tomou uma chuva danada. Foi até motivo de
aborrecimento, que tive, por falta de compreensão em casa.
Mas o comandante do batalhão era uma figura ímpar. Era gaucho de Porto Alegre e
por lá fez seu exército. Trabalhara com tenente ou capitão num dos batalhões Rodoviários e
nos ferroviários que estacionavam pelo sul do Brasil trabalhando nas ditas ferrovias do
tronco sul. Ele, no 5º BEC, como é a regra, era o dito “Ordenador de Despesa,” o OD, no
jargão. Caberia a ele total responsabilidade com a aplicação do dinheiro recebido. Daí ele se
envolver completamente com isso. O restante do Batalhão ficava por conta do
Subcomandante, como já dito, com rompantes ditatoriais e por conta das diretivas da
SecTec. Eu via o filme pela segunda vez: subcomandante que comandava. O coitado do
comandante passava o dia inteiro lendo e relendo os empenhos. E assim, falava sozinho
conversando com o empenho (diálogo ou monólogo?): “porque será que o fulano pediu tanto
prego... será que para o ano inteiro... acho que vou mandar reduzir essa quantidade... bom
o empenho é nesse valor, mas eu não preciso adquirir tudo... posso fracionar a compra com
esse empenho...; e esse de pneus... não é possível... é muito pneu... o fulano exagerou” . E
assim ele passava dias e dias em seu gabinete. Ao invés de analisar os pedidos, criando um
gargalo na entrada, ele queria fazer os cortes já no final do processo. E dava galhos
homéricos: tinha firma que baixava o preço em função da quantidade. Depois de expedido o
empenho a aquisição era bem menor e, portanto, a firma não queria manter o preço unitário.
E ainda gerava outro documento chamado “anulação parcial de empenho”. Assim o batalhão
ia aos soluços. Muito raramente o comandante ia ao trecho. A principal frente era na BR 364
com o asfaltamento. Mas havia ainda as obras dos assentamentos do INCRA que era uma
enorme dor de cabeça.
No momento em que assumi Vila de Rondônia, a vila vivia ares de Ji-paraná. Todo o
Território seria preparado para ser Estado. A vila, para o ano seguinte, teria Prefeito
nomeado, com o nome de Prefeito. Havia um cidadão que fez a transição: era, antes,
administrador da Vila e agora, Prefeito. Mas, legalmente, desde 1977, a cidadezinha fora
elevada de categoria de vila para município. Já tinha prefeitura construída e toda a estrutura
administrativa de uma cidade: delegacia, secretarias municipais e todas as partes
burocráticas para um futuro município. Não tinha vereadores. Mas tudo faltava ajustar: uns
chamavam o local de Vila de Rondônia e outros já de Ji-paraná, separado, ou Jiparaná,
tudo junto. Em outro local falarei mais sobre isso.
Nesta minha segunda ida ao 5º BEC, encontrei um capitão QOE, mecânico de
viaturas e ficamos muito amigos, pois eu saí em defesa dele e da sua seção, STA, pois
estava esvaziada de bons mecânicos, mas muito cobrado por desempenho. Já capitão nos
últimos dias de EB, não tinha as jovialidades que um chefe de STA requeria e nem vivência
de BEC. Sempre fora mecânicos de unidades de cavalaria e infantaria. Gostava mais do
protocolo burocrático que produtividade. Segundo ele, o seu substituto imediato era um
embromador danado. O tal imediato, um primeiro sargento, pegava uma prancheta e uns
dois catálogos de peças e parava numas das oficinas. Quando via o capitão, saia em
disparada pelo pátio, passava pelo almoxarifado e entrava noutra oficina. Quando o capitão
se aproximava dele, ele saía em disparada para outra oficina; ao passar pelo capitão dizia:
-“é dureza, chefe, é muito serviço....” E assim passava o dia e a semana. Mas, ao se chegar
às oficinas, que eram várias, sempre faltavam peças, vinha peça errada, não era dada
prioridade ao mecânico... O capitão ficava uma fera, subia a pressão, tinha arritmia
cardíaca... Mas com o capitão eu resolvi meu problema como motorista. Eis que o capitão
acabou por ser nomeado, pelo DETRAN, como inspetor da Comissão de Exames de
Condução Auto. Isto é, ele era um inspetor que aprovava ou não um candidato à CNH.
Alguns sargentos eram os examinadores. Com isso, muitos soldados do Batalhão aprendia a
direção e tiravam suas carteiras no próprio batalhão. Os mais interessados saiam habilitados
até em ônibus e carretas, coisa que o batalhão tinha muito. E o curso no batalhão era muito
concorrido e bastante apertado. Bom, disse ao capitão que eu não tinha carteira, mas que
comprara um carro em Itajubá (dito corcel amarelo com o qual andei todo o sul de Minas).
Aí ele me mandou toda a papelada, para eu preencher e pediu a fotografia e mais alguns
exames para eu assinar. No final, fui aprovado em tudo como motorista médio, apenas para
veículos leves. Em quinze dias eu estava habilitado. Finalmente a carteira de motorista!!!
Segundo minhas alterações, eu fui para Vila de Rondônia a 23 de novembro de 1978.
A companhia ficava bem ao lado da BR, duas quadras antes da ponte sobre o Rio
Machado ou Ji-paraná. O nome Ji-paraná, separado, quer dizer “rio Machado”. Ponte feita a
mais de quinze anos, de concreto protendido, com comprimento de mais de cem metros.
Uma ponte enorme. O terreno da companhia, herança de uma residência do DNER, media
mais ou menos 50X50 m, não mais que isso. À frente, lado sul do terreno, era a entrada; à
esquerda, ficava o pavilhão da Administração; mais à esquerda a casa de hóspede; à direita
um pavilhão grande que era Almoxarifado, subtenência e Armazém do SAS; ao fundo ficava,
à direita, a enfermaria e, logo, o Rancho, o grupo gerador, caixa d’água; já no limite da cerca
uma pequena carpintaria; à esquerda, já no lado da BR ficava as oficinas, um galpão bem
mal feito. Toda a instalação era de madeira e com o mesmo projeto – casa pré-fabricada. A
casa do comandante era uma casa muito boa, de alvenaria, três quartos, sala cozinha e
dependência de empregada e ficava do outro lado da rua paralela á BR e ao lado do terreno
da companhia. O projeto era o mesmo das casas de oficiais, tanto em Porto Velho quanto
em Humaitá. Vizinho, nesta rua paralela, ficava uma Loja Maçônica; seguindo a rua que
passava frente á companhia se chegava ao Banco da Amazônia - BASA. Havia uma vila de
sargentos, cabos e soldados, tudo junto. Era também de madeira e pré-fabricada. Ficava a
duas quadras da companhia, na direção paralela à BR; perto da vila ficava o Banco do
Brasil. E já era o centro da cidade. Ali ficava o correio na mesma casa construída por
Rondon que a fez e instalara seu posto de telégrafo. Tudo isso ficava na margem esquerda
do Rio Ji-paraná, lado de Porto Velho. Na margem direita, a cidade era rarefeita com o
comércio incipiente. De bom, tinha a sorveteria, uma churrascaria e algumas lojas de
roupas. A margem esquerda era bem mais vivificada. Há que ressaltar que tudo era sem
asfalto, um poeirão medonho e tudo improvisado: casa de comércio, hotéis, clinica médica,
oficinas, açougue, lojas de roupa, na grande maioria, feitos de madeira. Quando chovia era
um salve-se quem puder: lama até a canela. Parecia com velho oeste dos filmes americano,
mesmo. Ao invés do cavalo, tinha trator. Essa foi, em rápidas palavras, a Ji-paraná que
encontrei. Conhecia de passagem quando trabalhei em Vilhena, quando tenente. Agora iria
conhecer morando.
A minha missão era passar o período de chuvas (que chove muito, por ser verão) e
preparar a companhia para um lote de asfaltamento. Levei o bendito do projeto do lote de
rodovia que seria feito pela companhia. Caberia eu reconhecer, particularmente, as jazidas
de pedras para britador, jazida de areia, em fim, locais de possíveis colocações da usina de
asfalto. No projeto tinha tal locação. Mas se conseguisse outras, de modo a diminuir as
distâncias médias de transporte, seria o ideal. Na companhia nada seria aproveitado. Teria
que calcular tudo: da panela à Usina de Asfalto. Até a mudança da sede da companhia eu
queria mudar. No local onde estava, era uma quadra de terreno. O limite de
responsabilidade, para asfaltamento, era Pimenta Bueno. O 9º BEC havia feito trabalhos de
terraplenagem em Pimenta Bueno, cujo trecho não me lembro mais. Tal trecho acabou por
passar novamente ao 5º BEC e coube a eu recebê-lo. Ariquemes, o outro limite de trecho, a
estrada estava relativamente boa com alguns pontos inspirando cuidados. Era o que eu
chamava de transferência de atoleiro: num trecho problemático num período de chuva, o
esforço ali era grande no tempo de seca; outros trechos não recebiam a mesma atenção
porque não tinha meios e nem orçamento para tal; no período chuvoso os problemas
fatalmente estavam transferidos para ali. Como companhia, só tinha o nome porque tudo se
resumia em três equipes: três ou quatro caçambas; uma carregadeira, um caminhão de
combustível e um trator D7 para fazer cascalho para as três equipes. Assim, o cavalo-
mecânico tinha que estar em perfeitas condições. Os acampamentos eram simplesmente
inconcebíveis. As benditas das equipes viviam de favores de alguns bons samaritanos que
permitiam eles acamparem perto se suas chácaras ou fazendas. Quando muito tinha algum
resto do que fora barracão e ali, com lonas eles se aguentavam quinze dias por três de
descanso, na sede.
Os rios grandes, como Jaru, Ji-paraná, Pimenta Bueno, Barão de Melgaço, tinham
pontes de Concreto, muito bem feitas, todas com concreto protendido; tecnologia de ponta
na época (início da década de setenta). Além dos operadores, lubrificadores, motoristas e
ouros profissionais necessários, havia uma equipe de ponte de madeira, o que havia
bastante no trecho. Era comandada por um cabo, depois sargento do quadro especial.
Todos os das pontes já eram velhos e desgastados. Com cinquenta anos já eram quase
caquéticos A atividade e o desconforto os consumiram prematuramente. Ao todo eram uns
dez: alguns funcionários do DNER e outros do batalhão, mas com mais de dez anos de
serviço. Mas me chamou a atenção a forma de eles trabalharem: tanto no trecho como até
na companhia, nas barbas do comandante, se fosse trabalho de rotina, simplesmente
embromavam escandalosamente. Fui reclamar e eles me disseram: – “Capitão, trabalhando
rápido ou devagar vamos ganhar do mesmo jeito”. Mas se o trabalho fosse por tipo tarefa,
mas com vantagem para eles, aí trabalhavam rápidos e, muitos, depois do horário. Deixei os
mais atrevidos na mira: sempre que tinha “boca pobre” era deles e sem muito conforto e com
missão sem tarefa. E na primeira oportunidade, de corte em funcionários, indiquei cinco de
uma vez. Vieram perguntar por que eles foram escolhidos na demissão se tinha funcionário
com menos tempo de casa, que ficaria. Aí eu disse tudo o que tinha vontade a eles. Mas o
mais gritante é que eles achavam que isso era certo: enrolar o serviço se não fosse por
tarefas que lhes beneficiasse e assim ficar mais um ou dois dias em casa. O trabalho
rotineiro era castigo. Tinha um negro, com jeito de cuiabano, mas era mineiro que era
simplesmente afrontoso. Era irritante o seu desempenho. Esse encabeçou a lista. Havia um
boliviano, funcionário do DNER, que morava em Cuiabá. Uma vez por mês ele ia até lá levar
dinheiro. Era um excelente marceneiro. Com pouquíssima ferramenta, muitas delas criada
por ele mesmo, e com sucatas de máquinas, criavam móveis com perfeição. Fez uma
estante giratória para a companhia onde se guardavam os catálogos de máquinas e
viaturas. Tudo com madeira arranjada pelo trecho e rolamentos, parafusos e hastes de
sucata. Era muito criativo.
Em fevereiro as chuvas apertaram e o pessoal entre Ouro Preto e Jaru começaram a
ficar mais tempo no trecho, que era chefiado por um sargento temporário. Quando havia
dispensa do trecho, havia sempre um voluntário que ficaria de vigia das máquinas e viaturas.
Na semana seguinte era a vez dele, vigia, vir à cidade. Havia um tratorista que trabalhara
comigo em Feijó. Lá era operador de trator agrícola. Agora era o operador do D/7. Ele e o
sargento estavam sempre de vigia. Não feriam a lógica porque eram solteiros. Ora o vigia
tinha que fazer sua comida além de ir até a cascalheira ver como estava o trator e a
carregadeira. Eu comecei a ficar desconfiado da repetida vezes que eles eram voluntários.
Voluntário para passar mal era de estranhar. E assim que começou a diminuir as chuvas a
coisa apareceu. Foi um morador, desses assentados pelo INCRA, reclamar que não fora
feito o seu açude e ele já tinha pago dois porcos ao Batalhão. Queria saber do comandante,
que era eu, quando seria construído o açude dele. Pedi que um Sargento, o mais antigo,
fosse até o trecho e anotasse todos os moradores que tiveram seus açudes construídos
antes do reclamão, bem como local, forma de pagamento e quando, mais ou menos, a coisa
se dera. Foi rápido que desfiou uns vinte ou mais locais. Pedi que, na segunda feira o
sargento mais antigo fosse até a casa do cidadão e fosse aos outros moradores, que ele
havia listado, e, no terreno, verificar a veracidade dos açudes, fotografando quando possível.
Aí a coisa veio á tona: o sargento do trecho quando ficava de vigia, contratava os serviços e
dava o preço; na outra dispensa, o tratorista ficava e fazia o serviço. Houve alguns bem
distante onde o trator se deslocou mais de dez quilômetros, á noite quase toda, rodando.
Havia açude de todo os tamanhos.
Quando o sargento do trecho veio de Porto Velho, chamei-o para uma conversa com
o sargento mais antigo junto. Como não havia como argumentar ele confessou tudo. No
começo não entendi a facilidade de ele confessar. Depois sim: o seu tempo estava
terminando e ele já fora para a companhia como que de castigo. Sabia que não seria
renovado seu tempo. O funcionário então contou desde o primeiro até o último açude. Eu
ficara conhecendo seus pais e ele pediu apenas que fosse dito que era corte e ele seria
demitido. Em casa de seus parentes estava o fruto do trabalho, fora os valores que
receberam em dinheiro: uns dez porcos, um sem fim número de patos, galinha, pintinho...
tinha de tudo. E o bom é que o jovem sargento sabia de quem era cada bicho. Facilitou a
devolução dos animais e foi dado aos proprietários tempo para pagar os trabalhos, cujos
valores foram colocados na conta do SAS. O funcionário, demitido, mas sem boletim de
ocorrência, o que lhe foi prometido se confessasse (hoje seria delação premiada). Pediu
demissão para não ser demitido por justa causa. O Sargento, como eu ia até a sede por
algum motivo, levei-o. Pela parte especial que dei, ele fora licenciado sendo antes punido
com alguns dias de prisão. Foi daí que comecei a desconfiar dos “muito eficientes”: – “deixa
comigo, chefe... deixa que eu faço domingo... eu adianto do meu bolso e depois o senhor
repõe...” trabalhar cansa e é sacrificoso.
Quando eu já tinha reconhecido quase todas as jazidas de cascalho e areia,
pedreiras, fonte de águas, locais de acampamentos, todos do projeto que levara, recebi uma
ordem de ir até a sede do batalhão. Em lá chegando o comandante me chamou e me disse:
–“Higino, refaz seus planejamentos. Já recebi alguns papéis teus, mas refaz porque não
será mais cem quilômetros e sim cinquenta; o que você sugere além de Ji-paraná ou aquém
de Ji-paraná”? Sugeri além, porque o terreno para aterro e de material para base e subase
era melhor. Para o lado de Ouro Preto, havia muito morro e corte em pedra. Eu apresentara
ao Fiscal Administrativo um levantamento completo de todo o material que eu iria necessitar.
Literalmente de talheres até usina de asfalto. Desci a detalhes de ferramentais tanto para a
sede como para cada mecânico. Se a coisa saísse, ali seria um grande laboratório. Voltei
triste não só pelo trabalho e tempo perdido, mas também porque encurtaram a obra. Eu
tinha certeza que era uma meta ousadíssima, para um primeiro ano de implantação de
canteiro de obras que tem o nome pomposo de “mobilização logística”. Logo após eu
assumir, numa reunião com a Sec Tec, eu e o coronel, em Ji-paraná, havíamos calculado,
pelo orçamento anunciado, o peso em notas de mil cruzeiros, o dinheiro da época, se
recebêssemos dinheiro em espécie: daria cinquenta carretas de quarenta toneladas...
Lembro muito bem da nossa surpresa e euforia.
Num dia qualquer, passaram-me a missão de receber o trecho do 9º BEC. Vilhena
retornara para o 5° BEC. Redefiniram os limites. A terraplenagem feita, pelo 9º BEC, ficaria
comigo. Um primeiro tenente fora para lá designado. O limite entre Vilhena e Ji-paraná seria
em Marco Rondon.
O engraçado desse recebimento é que tudo fora contatado pela sede. Por rádio, me
disseram que logo pela manhã eu estivesse em frente ás instalações do INCRA, em Pimenta
Bueno, para me encontrar com um capitão do 9º BEC. Saí cedo, na madruga, e às sete da
matina eu já estava lá. Era nove e nada do capitão. Peguei uma chave de roda da picape e
comecei a fazer um furo no meio da pista, para saber quantas camadas tinham do que seria
uma subase. Quando eu já passava na segunda camada, atingindo o aterro, chega o tal
capitão, mais moderno que eu. Ele ficou desgostoso porque ao fazer o furo estaria
espionando o trecho dele. Perguntou o porquê daquilo, e eu disse que, na verdade, eu
voltaria com uma equipe de laboratório de solo para verificar como fora a execução da obra
uma vez que agora já era de minha responsabilidade. Só naquele furo eu passei a ter várias
dúvidas, disse. Ele se chateou pela minha ironia e sutileza paquidérmica... . Mais tarde
ficamos grandes amigos. Vi com ele o trecho implantado e fomos até Marco Rondon onde
seria meu limite com Vilhena. Dali pra diante ele teria que se ver com o tenente que lá
assumiria. Ainda teve tempo de ir até Ji-paraná onde o recebi com sua esposa e almoçamos
juntos em casa.
Em Ji-paraná a companhia tinha um bom time de “futebol socity”. Para surpresa dos
demais, eu tinha futebol para jogar no time. Tinha um soldado que era juiz com curso na
Federação de Rondônia e era comentarista de futebol de uma rádio local. Nossos
adversários era o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, INCRA e por ai a fora. Na virada do
ano Ji-paraná recebeu seu prefeito. Era um ex-funcionário do INCRA. Fora nomeado.
Num dia que não me lembro, num mês que também não me lembro, mas deve ser
logo no início do período seco, fui informado que seria inspecionado pela seção técnica. O
Chefe da Seção Técnica, recém-chegado, não conhecia o trecho. Iria de avião até Vilhena.
Inspecionaria Vilhena e depois seguiria para minha companhia em picape de Vilhena. Eu
teria que ir para o início do meu trecho esperar a comitiva: dois capitães da seção técnica.
Três dias antes do evento chovia como nunca. Fui até Marco Rondon e recebi a comitiva.
Houve um enorme atraso e chegaram quase três da tarde. O tenente de Vilhena entregou o
pacote e tratou de voltar. Seguimos então para Ji-Paraná. Lá pelas seis da tarde, já
escurecendo, num aterro entre Pimenta e Cacoal, encontramos um ônibus atolado. E o
diabo que nos dois lados não tinha nenhum outro veículo capaz de puxar o ônibus: nem para
frente e nem para trás. Tentamos ajudar com a picape, mas seria uma temeridade forçar
muito: a embreagem se estragaria em pouco tempo. Avisei aos amigos que pela primeira
vez eu dormiria num atoleiro. E como estávamos longe de Cacoal, ficaríamos sem comida
também. Os capitães estavam se preparando para passar a noite na picape, todos
preocupados com a quantidade de pernilongo que teriam que suportar. Bom, o meu
motorista era muito experiente. Fui com ele e uma lanterna reconhecer a lateral do ônibus.
Havia acabado de dar uma chuva forte. O espaço entre a traseira do ônibus e o barranco
cabia a picape. Passando aquele ponto crítico, o restante era fácil de passar. O desafio era
eu aguentar a traseira da picape, no ponto crítico de modo que ela não rolasse aterro abaixo
e nem batesse no ônibus. Vi que havia risco, mas possível de corrê-lo. Se eu não
aguentasse a picape desceria a saia do aterro de ré e não tombaria (o motorista pisaria na
embreagem e ela desceria pela gravidade). Avisei aos capitães que eu tentaria passar. Eles
não perguntaram como e, meio desolados, ficaram conversando. O motorista apontou a
picape e novamente avaliamos a possibilidade. Limpamos o farol que estava embarrado.
Pedi a ele que saísse em terceira e com meia aceleração. Vazia, a picape saia em segunda
marcha e em seguida ele mudaria para terceira. É que em terceira marcha e com a chuva
recente, o carro iria patinar muito e assim ficaria mais leve a traseira que eu tinha que
segurar, ou melhor, dirigir: nem cair no barranco e nem bater no ônibus. Segurando no para-
lama traseiro do ônibus, consegui segurar com mais apoio no ponto mais crítico. Como
pensamos, passado o mais crítico os outros foram uma tranquilidade. Em três minutos
passamos o carro. Fui chamar os capitães, um deles com muita vivência no nordeste. Ficou
impressionado com a nossa experiência e a minha maluquice de correr risco. Isso aumentou
a minha popularidade de “trecheiro”. Fomos dormir em Ji-Paraná, quase uma hora da
manhã onde havia um jantar ainda nos esperando.
Antes, paramos em Cacoal, num bar de beira de estrada. Todos com fome.
Perguntamos o que tinha para comer, só havia sardinha. Mas o capitão chefe da Seção
Técnica a todo o momento perguntava se alguém queria tomar alguma coisa. O outro disse
que tomaria coca-cola. Continuou a insistência: – “alguém quer tomar outra coisa...” o dono
do bar entendeu a deixa que eu e o outro capitão não pescamos. Disse o dono: – “é... com
essa chuva toda, nada como esquentar o corpo com uma cachaçinha...” Eu entendi e
convidei: – “topas tomar uma dose de alguma coisa”?, e ele prontamente: – “vamos aceitar a
sugestão do senhor, aí, e experimentar o que ele tem de melhor em cachaça”. Assim,
derrubamos meio copo cada um que era a dose mínima do bar, para felicidade nossa. Os
dois com a mesma vontade, mas constrangidos por não se conhecerem melhor.
Mas apareceu um caso inusitado. Um belo dia chega um índio do aldeamento de
Riozinho, entre Cacoal e Pimenta Bueno. O índio pedia que eu comprasse para ele uma
passagem de avião para Brasília – “bruarasílha”; pronunciava Brasília com o “R” tão
carregado que ficava difícil de entender. Disse a ele que isso era impossível. Mas ele ficou
rondando a companhia por uns dez dias. No final, já não tinha onde ficar e ficou na
companhia, pela comida. Disse a ele que teria que ir embora porque não tinha como arranjar
a passagem. Até tentei junto à Prefeitura, mas nada consegui. Perguntei a ele porque queria
falar com o Presidente – “Prurusidenti” como dizia, respondeu que iria “reclamar" do chefe
da FUNAI que administrava o aldeamento de Riozinho. O nome do administrador eu não
lembro, mas hipoteticamente vou chamá-lo de Franklin pela dificuldade que o índio tinha de
falar – dizia, parece, “furanqui”. Ele disse que o Franklin tinha uma plantação de café a dez
quilômetros mata adentro e que colocava os índios para plantar e colher e só pagava com
comida. E a comida era ruim: feijão carunchado, arroz ruim e sem carne. Também mandava
os índios garimpar diamante para ele. Por isso queria falar com o Presidente. Já há mais de
dez dias fui falar-lhe que aquele era o último dia que ficaria na companhia. Ele ficou
desolado porque não iria à Brasília. Perguntei de que tribo era, respondeu que era Cinta-
Larga. Perguntei se, para chegar ao Aripuanã, onde estava a tribo dele, era longe e quantas
tribos ele teria que passar, respondeu que ficava a uma semana de caminhada e que
passava algumas tribos, toda amigas, como os gaviões, os cabeça seca ... e foi desfiando
nomes de tribos que eu nunca imaginei ser tantas. Aí fui na ferida: - “Porque você não mata
o administrador e foge para sua aldeia? Duvido que alguém vá te prender nessa mata”. Ele
levou quase um susto e falou: “e é isso que vou fazer: vou matar o Franklin”. Na mesma
hora virou, pegou um saco que carregava e nem se despediu ou olhou para trás. Nunca
fiquei sabendo se matou ou não o administrador. A companhia se livrou do índio.
Das pessoas da cidade, a que mais me chamou a atenção foi um espanhol que
acabou por morrer por lá. Ele tinha uma vida obscura. Já velhão, deveria ter mais de
sessenta anos de idade. Era casado com uma mulher bem mais jovem, de Porto Velho,
também extremamente reservada. Viva numa casa enorme e bonita. Ele, quando na cidade,
de vez em quando tomava alguns porres. Num desses porres, ele foi até a companhia, pois
conhecia a maioria dos cabos antigos dali. Começamos a conversar e ele se mostrou de
uma cultura geral muito grande. Acabamos por falar em livros. Dias depois ele me procurou
na companhia, mas sóbrio. Demonstrou ser uma pessoa tímida. Entabulamos mais conversa
e fui com ele até a sua casa para pegar uns livros que ele me sugerira. Peguei dois livros: A
Boina Basca e um outro cujo nome e nem autor me lembro mais. O autor era um inglês com
nome de latino e o tema era contrainteligência. Era autobiográfico e o tal autor fora
interrogador. Seu método era o de surpreender o interrogado submetendo-o em contradição
com nomes de ruas, hotéis, igrejas de inúmeras cidades que ele conhecia. Conhecia muito
bem a Europa particularmente a França, a Bélgica, a Holanda e aqueles países que formam
os Países Baixos. Mas o Espanhol me contou que ele vivia de garimpar diamante, pois a
Serra dos Parecis era rica em diamantes. Algumas autoridades, da cidade, o chamavam de
contrabandista de ouro e diamante uma vez que ele não garimpava, mas comprava como
atravessador. Assim a polícia federal o tinha na mira. Por ele fiquei sabendo de uma
hierarquia que existia entre os garimpeiros. O garimpeiro nobre era o garimpeiro de
diamante. Por dinheiro nenhum garimparia ouro ou qualquer outro metal ou pedra. Em
segundo era o garimpeiro de ouro; em terceiro e os mais pobres e mais ralés, pois eram
compostos de bandidos, alcoólatras e algo mais eram os de cassiterita, esses existindo
particularmente em Rondônia. Segundo o espanhol, se uma turma de garimpeiro de
diamante visse um colega garimpando ouro, era expulso do grupo. O tal espanhol conhecia
o mundo todo, onde pudesse produzir ouro. Morou na Índia, e por muito tempo na África.
Chegara ao Brasil na década de sessenta. Conhecia a região como poucos. Acho que ele
me evitava por eu ser militar e saber especular as coisas. Ele várias vezes me perguntou se
eu trabalhava no serviço de informações. Devolvi os livros e não consegui pegar outros
mais. A sua biblioteca era muito grande: pra mais de mil livros. Isso para Ji-paraná era de se
admirar. Mas tudo organizado em estande. Apenas pediu que eu devolvesse os livros.
Devolvi não a ele, mas à sua mulher que me recebeu muito mal: mandou que eu deixasse o
livro na mesa e sumiu casa adentro. Fui um idiota por não explorar mais os conhecimentos
do espanhol. Arrependi por algumas vezes por isso. Fiquei sabendo de sua morte quando
voltei a Porto Velho em 1984. Tomara que a viúva tenha dado um bom destino a aquilo tudo.
A vida na cidade era boa. O fato de ser capitão dava um status elevado na cidade.
Assim, era convidado para tudo. O médico, que atendia à Companhia era contratado pelo
FUNRURAL e depois pelo INPS, trabalhava quatro horas todos os dias de expediente na
companhia. Era muito influente na cidade e assim, com ele fui me adaptando ao pessoal.
Entre os militares, eu era o único oficial. Na verdade minha companhia tinha apenas o nome,
pois o efetivo e os equipamentos eram de residência. Os cabos e soldados, todos
estabilizados e com família no local, eram muito amistosos e camaradas. Os sargentos
muito mais ainda. Assim, qualquer atividade nos finais de semana em suas casas o convite
vinha sempre. Engraçado que na cidade, e era muito executado entre os militares, havia o
que se chamava de “assustado”. Era assim: se havia alguém de aniversário, eles se reuniam
na casa de alguém e lá ficavam reunidos até à meia noite. Daí partia para a casa do
aniversariante, pois passado a meia noite já se estava no dia do aniversário. Então, juntava
alguns músicos e se fazia tipo uma seresta. Acordava o aniversariante de surpresa. Mas
todos os visitantes levavam bebidas, salgados, bolos, pois o dono da casa era pego de
surpresa, por isso ASSUTADO. Realmente ao se acordar com um sem número de gente em
sua casa e não ter nada organizado é um grande susto. Um dos músicos que sempre estava
nessas confusões era um mecânico de caminhão da companhia. Era descendente ou de
índio ou era boliviano. Era muito educado, tocava muito bem pistão e assim era bom tê-los
em nosso meio.
No carnaval que se passou lá, houve convite da diretoria do Clube Primevara, da qual
o nosso médico fazia parte. Assim, se pôde ainda mais se integrar à sociedade local.
Um certo dia houve uma reunião de comandante de companhia em Porto Velho. Se ia
de picape. Para aproveitar melhor, se pedia para sair na sexta, antes do meio dia, de modo
a se aproveitar o sábado, para algumas compras em Porto Velho, agora sem trabalhar até
ao meio dia. A estrada, depois de patrolada e pelo intenso movimento de caminhão, ficava
completamente coberta de poeira. Quando se parava, no leito havia quase um palmo de um
talco vermelho pronto a subir com o vento de deslocamento dos caminhões que eram
muitos. Qualquer que fosse a direção que se encontrasse um caminhão, logo depois se
andava pelo menos uns dez quilômetros com poeira tão densa que tinha que acender os
faróis e mesmo assim se corria sérios riscos de acidentes. Particularmente quando a estrada
atravessa um longo trecho de mata alta. Assim, sem vento canalizado, a poeira custava a
baixar. Então se viajava com os vidros todos levantados, até que a poeira baixasse. Dentro
era um calor infernal. As duas meninas viajavam de shorts. Quando chegávamos a Porto
Velho até nos cílios tinha poeira. Batia nos cabelos e a poeira subia. A mais velha estava no
colégio maternal, mais pra socializar que para outra coisa e lá aprendia músicas infantis.
Numa dessas viagens ela cantou de Ji-paraná até Porto Velho duas musiquinhas: a da cotia:
“a cotia corre mais não tem rabinho; quando está comendo mexe com o focinho”; e a da
água: “água fresquinha para beber; nhoc, nhoc, nhoc...”. A menina mais nova ainda não era
fluente: fala o necessário para a sobrevivência: mãe, pai, água...Foi quase uma tortura
chinesa. Para ela era uma felicidade só. Para a viagem se fazia uma farofa para ser comida
antes de chegar a Ariquemes e perto de Nova Vida.
Em Porto Velho havia uma pelada de futebol de salão no Clube dos Oficiais. E por ali
se ficava até quase dez da noite não só jogando, mas também tomando cerveja e comendo
um “churrasco de gato”, patrocinado pelo batalhão. Mais tarde fui saber que todos os
pernilongos que ali existia eram anofelinos. Não deu outra, peguei uma malária que fora
explodir no retorno a Ji-paraná. Em Porto Velho também fiquei sabendo que eu fora incluído
na relação final para o curso da ESAO. Isto é, minha turma fora dividida em duas partes.
Como eu era da segunda metade, na classificação da AMAN, então eu iria somente em
1981. Mas alguns pediram adiamento; outros, demissão do Exército e por isso acabaram por
me incluir. Assim eu me prepararia em 1979 e faria o curso em 1980. Fui ao Subcomandante
para sondar qual seria a melhor alternativa: ir para o curso ou também pedir adiamento. E
ele, muito francamente, me disse: “– faça logo o curso e se livra disso: dente doendo se
arranca logo para aliviar o sofrimento”. Assim recebi uma papelada do curso preparatório. O
Exercito foi pioneiro no Brasil, como em tudo, nessa atividade de curso a distância.
Durante a reunião confirmaram que meu trecho, para asfaltamento, havia diminuído
drasticamente: seriam os cinquenta quilômetros apenas. O lote iria de Ji-paraná para Ouro
Preto e não como eu havia sugerido. Este trecho eu não havia estudado nada. E era um
trecho de muitos morros de pedra. Senti que tudo parecia trote. Mas... Fiquei triste com o
Fiscal Administrativo (turma de 69 e cabeça de turma): ele havia engavetado todo o
levantamento e estudo que eu fizera para formação de um acampamento. Eu queria fazer
tipo Vade Mecum. Calculei de panela até jogos de ferramentas para equipes de vinte:
cinquenta, cem e quinhentas pessoas. Na época, não tinha o tal computador e nem Xerox.
Tudo era datilografado, letra a letra. Não fizemos uma cópia em carbono. Portanto acabei
por perder todo o meu trabalho que até hoje considero muito bom.
Voltei a Ji-paraná com a missão de refazer tudo sobre o asfaltamento. Bom, não era a
primeira vez que trabalhava de graça. O trabalho que eu fizera também sumiu no batalhão,
agora na SecTec. Tudo feito a dedo e tudo datilografado. Foram dezenas e dezenas de
folhas. Fui ao detalhe de calcular até a quantidade de equipamentos pesados: escreiperes,
trator de esteira, usina, britador... Uma trabalheira inútil. Refazer para metade do trecho não
era dividir, por dois, o material do trecho anterior. Teria que recalcular tudo função do volume
de terra a ser movimentado conforme o projeto.
Depois de uns dez dias de trabalho uma moleza infernal no corpo. No outro dia, febre.
No outro, ainda, moleza e febre no mesmo horário. Estava fácil o autodiagnóstico – malária.
O médico civil mandou que se fizesse uma lâmina. A malária seria curada em Ji-paraná
mesmo. Deu negativa. A febre aumentou de intensidade e frequência. Mais lâminas, agora
em laboratórios da cidade: todas negativas. Febre a 42 graus, sem exageros. O médico me
mandou para Porto Velho, depois de conversar com os médicos do Batalhão. A história, já
contei em outro lugar: minhas experiências com medicina. Como complementação, a malária
fora adquirida no clube dos oficiais. Outros oficiais também ganharam o mesmo presente.
Além do trabalho diário, pela noite eu enfrentava o curso preparatório. Era uma
enorme dificuldade uma vez que os nomes técnicos de combate eu os tinha praticado muito
pouco. Assim, a linguagem de comando, no jargão, eu era deficiente. Meus estudos tinham
que ser muito alongado: primeiro descobrir o significado das palavras e depois suas
aplicações. Tive enorme dificuldade.
Num domingo, havia uma enorme quantidade de gente em frente à minha casa. Fui
atendê-los. Havia jornalistas, fotógrafos e um monte de gente. Eram fazendeiros e
chacareiros pedindo intervenção do Exército para desocupação de suas fazendas invadidas
por agricultores sem terra, um eufemismo até hoje usado pra bandidos invasores de terra.
Eu não prometi nada e apenas disse ao líder, que era conhecido em Ji-paraná que levaria a
reivindicações ao comando do batalhão em Porto Velho. Mas o senhor insistia que eu teria
que mandar imediatamente a tropa expulsar os invasores. E aí ficou aquela conversa de
bêbado. Não deu outra: na segunda feira saiu num dos jornais de Porto Velho uma matéria
onde dizia que “o capitão de Ji-paraná dá total apoio aos fazendeiros de Ji-paraná contra as
invasões de terra”. Antes de eu ligar ao Coronel, o subcomandante já me procurava antes
das sete da matina. O batalhão, para fins de Informações (agora inteligência) era
subordinado à 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Lá fui eu convocado a ir a Porto Velho
para explicar o ocorrido ao general. Na verdade não me explicar porque no corpo da matéria
o reporte fora fiel e colocou o que eu disse: “vou levar o problema ao meu comandante”. Fui
apenas para relatar melhor o ocorrido, os riscos e a evolução da coisa. Fui fazer uma
informação verbal ao General. Mas quase me enrolo com toda essa confusão de terras em
Rondônia, o que não era nova.
Parece que foi nessa ida a Porto velho, que vi uma coisa interessante. Passando por
Caritiana, vi o meu mestre de terraplenagem, como sempre perto de um corte, dirigindo os
trabalhos. Era quase em frente à entrada do acampamento da 3ª Cia. Parei e vi que as
escreiperes estavam trabalhando num esforço danado. Estavam retirando material, para um
aterro, de uma caixa de empréstimo, ao lado do aterro. Mas, ao carregar eu notava que as
máquinas mal rodavam e os operadores pareciam inquietos, pela baixa velocidade.
Comentei com o chefe de campo a coisa e ele disse que, desde o dia anterior, as máquinas
trabalhavam muito forçadas. Aí o convidei para irmos até a caixa de empréstimo. Vi que o
material era escuro. Quando examinei o horizonte de material escuro, que era de um metro
e meio, vi que era cassiterita pura, granulada, coisa que qualquer garimpeiro chamaria de
“filé”. Falei com o mestre que ele estava fazendo aterro nobre, com cassiterita. Ele levou um
susto. Imediatamente foi falar com o comandante da Companhia. A solução era entupir a
caixa de empréstimo com entulho, abrir outra, em outro lugar e cobrir logo o material que já
estava na pista. É que se fosse anunciado que ali tinha cassiterita pura, com certeza
garimpeiros saquearia a caixa de empréstimo, e o aterro junto, tanto à noite como depois
que o trecho fosse entregue. As mineradoras viviam ás turras com os garimpeiros
clandestinos. Vários funcionários, do BEC, foram demitidos por garimparem nas áreas das
mineradoras, ilegalmente. Era uma constante luta de gato e rato. O mineral era muito caro e
fácil de ser explorado manualmente.
Os trabalhos de conservação rodoviária estavam sendo feitos, no meu trecho. Não
como deveria e como recomendava a boa técnica, mas... fazia-se o possível - tentar fazer
algo mínimo no máximo de quilometragem com os recursos destinados. Como já dito, a BR
já merecia ser asfaltada há pelo menos uns dez anos antes. Um dos trabalhos, que eu
chamava de “embromativo”, era o de patrolamento de quase toda a extensão do trecho. Era
a tal de “regularização da plataforma,” no jargão. Na verdade, esta raspagem deveria ser
feita em todo o trecho, mas bem feito. A forma como era feito, tornava, de há muito, o leito
estradal excessivamente desgastado. Bem executado, implica em: refazer o abaulamento,
umedecer a plataforma, colocar cascalho novo, em camadas de dez ou vinte centímetros,
compactar e, depois, refazer as saídas d’água (bigode da estrada na linguagem dos peões).
Isso apenas era feito em pequenos trechos onde haviam tido fortes atoleiros no ano anterior.
O que se fazia, então, era patrolar pura simplesmente. Isso removia as poucas camadas de
cascalho que ainda restava, aumentava a poeira que, no período chuvoso, se transformaria
em lama e seria um local para atoleiro. Era o atoleiro mudando de lugar, como já dito. A
única coisa útil era as desobstruções de bueiros (com a equipe de ponte), e reparos nas
saídas d’água (bigode). Este “patrolar” requeria uma motoniveladora trabalhando
isoladamente cem, duzentos quilômetro da sede companhia e cinquenta, sessenta dos
acampamentos de conservação. Assim, o patroleiro comia mal, dormia pior ainda e, o
inconcebível: vivia de favor de moradores, donos de bar e outras coisas mais, até para
comer. Seu apoio sempre era uma caçamba, quando isso era possível. Mas motoniveladora
não tem pneu de socorro (step), como é dito no vulgo e ”estrepe”, na linguagem dos peões.
Quando furava um pneu, se perdia dois dias de serviço. O patroleiro teria que pegar uma
carona em algum caminhão, ir até ao acampamento, voltar com uma caçamba, com pneu
reserva e as ferramentas, para efetuar a troca. Um pneu completo pesa cerca de cento e
vinte quilos. Um homem só apenas o retira e o coloca na máquina. Assim mesmo, se muito
experiente de modo a usar o centro de gravidade da máquina sobre a lâmina e aliviar a
carga na roda de pneu furado. Mas não o coloca numa viatura caçamba. Daí eu resolver a
colocar um pneu de “step” nas nossas motoniveladoras. Quando comandante da Companhia
de Equipamento, ainda tenente, já havia comprado vários aros e pneus de modo que, nas
conservas de rodovias, se tivesse pneus prontos, para serem trocados mais rapidamente,
nos acampamentos. Na 1ª Companhia havia uma motoniveladora e lá com um “soldado
soldador” e o mecânico de viatura criativo, começamos a elucubrar. Primeiro, achar uma
posição que permitisse retirar o pneu com aro sem atrapalhar os movimentos da lâmina,
mesmo em posição de rampa; segundo, altura tal que permitisse ao operador retirar o pneu
sozinho; terceiro, criar o suporte; quarto, convencer os operadores a testar a ideia, mesmo
que parecesse absurda (era mais cômodo ter desculpas para passar um dia sem fazer
nada). Quanto à posição, encontramo-la logo acima da roda dianteira, quando o “pescoço”
da motoniveladora faz uma curva, de raio longo, para baixo; tangente à curva ficaria o pneu;
dali permitia o operador retirar o pneu cheio embora não permitisse recolocar o furado;
quanto ao suporte, foi um achado: havia antigas rodas de caçambas que se encaixavam
perfeitamente nos aros de pneus das motoniveladoras. Mas havia um problema que foi
facilmente resolvido pelo soldador: cortar o cone com os furos e soldá-los do lado do flange
(ficava invertido em relação ao original). Assim, o suporte era fixado em um “U”, de chapa,
que continha três parafusos de roda Mercedes, que se fixava no cone que fora invertido.
Assim, o flange limitava a roda que se ajustava ao cone. Uma travessa de pedaço mola de
caminhão, fixada por um parafuso longo, soldado no “U”, trabalhava como trava. No uso, o
operador tinha uma porca apenas pra retirar a trava e colocar o pneu no chão. Era só usar o
truque de equilibrar a máquina na lâmina e aliviar o peso no pneu furado. E a incidência
maior de furos em pneus era nas rodas dianteiras, por motivos óbvios. O pneu furado ou era
deixado na casa de moradores ou escondido no mato até chegar o apoio de caçamba. As
reações dos operadores não foram das melhores. Achavam que o pneu reserva, o step, iria
atrapalhar. Dei a eles um mês para experiência. Se me convencessem que era inútil, eu
voltaria atrás; mas se eu me convencesse que era bom, os que fossem contrário poderiam
procurar outra companhia para trabalhar. Com esse último “aconselhamento alternativo”,
passei a ter adeptos a favor, muito mais que contra. Muitos anos mais tarde, já na reserva
soube que foram encontrados dispositivos parecidos em Brasília, por um dos então
sargentos que em Ji-paraná comigo servira, agora procurador da República.
Um fato engraçado aconteceu com um tenente da 3ª Companhia. Fui a Porto Velho
prestar uma prova do curso por correspondência, da ESAO. Ali faria a prova com outro
capitão da minha turma. Quando passava pela área da 3ª Companhia, num lugar onde tinha
inúmeros afloramentos de pedras, e por isso o local era chamado de “Pedrinhas”, havia um
enorme aterro com mais de dez metros de altura, em curva. Os “Offset” eram longas varas
de bambu (Offset: são os pontos de início e o final da altura do aterro em projeto. Vi o
tenente e lhe disse que teria um volume grande de aterro. Ele me chamou de lado e disse: –
“olha bem e veja se precisa tudo isso de aterro. Já pedi para a seção técnica para refazer o
projeto. Não precisa ser dessa altura; basta aumentar a rampa até aquele corte (que ficava
à nossa frente)”. E ele tinha toda razão. Depois de dois dias, volto e encontro o aterro quase
pronto, com os “offset” faltando meio metro para serem completados. Mais adiante vi o
tenente. Fui conversar com ele e disse; – “camarada, como você adiantou esse aterro.?
Falta apenas um metro para atingir a ponta do offset” (em geral pintada de vermelho, pela
topografia). Ele foi direto ao assunto, pela confiança que depositava em mim: – “é... como
eles não decidiam a mudança do projeto, eu cortei o offset em um metro e meio; passamos
o facão nos bambus.” Aquilo me deu uma crise de riso que quase não consigo viajar. Ele de
momento ficou meio constrangido, mas sentiu que minha gargalhada era verdadeira e
sincera ele passou a rir também. Alguns anos depois passei pelo local, de carro e de ônibus
e da mesma forma me vinha o riso. E continuo a rir, agora ao contar o fato a algum
companheiro. O aterro ficou como o tenente fez: um metro e meio abaixo da altura de
projeto. Somente alguém com um olho clinico muito bom para notar alguma coisa diferente.
Um leigo jamais notará nada.
Neste mesmo local tem um bueiro muito diferente. Era uma ravina funda e curta. Pelo
projeto, era para se fazer um “Corta Rio” (desvio da água) da água que seria represada,
para outro bueiro, uns trinta metros antes. Pois bem, passando por lá vi um tenente todo
enrolado pelo fato acontecido naquela manhã: ao limpar o terreno vegetal, exatamente no
meio da ravina apareceu uma mina d’água de mais de duas polegadas. Era forte, de água
pura e fria. Bom, para continuar a obra ou teria que desviar o eixo da estrada ou fazer ali um
bueiro. Mudar o eixo implicava em novos estudos, pois se corria o risco de aumentar o
volume de terra a movimentar. E se teria uma enorme contra encosta. Fazer bueiro? como!!!
se não teria a boca de montante, uma vez que a água saia do meio da estrada?
Conversando com o tenente, sugeri o bueiro: colocaria um tubo de um metro de diâmetro
sobre o olho d’água, depois de escavar com uma retro escavadeira; fazer um furo no tubo. A
partir do furo, se colocaria tubos de concreto de sessenta centímetros, pois tal água não
aumentaria o volume por não ter acumulo de água de superfície. Alguns anos depois parei
no lugar e vi que a coisa funcionou: o aterro estava firma, a águas continuava a escorrer
limpa e fria. Mas o bueiro só tinha uma boca: a de jusante.
Um belo dia o prefeito me chama pelo telefone e pede para eu ir até a prefeitura. Ele me
avisou oficialmente que o Presidente da República iria a Ji-paraná a convite de Jorge
Teixeira. Em Ji-paraná, inauguraria a nova pista de pouso que só tinha a pista asfaltada. As
construções civis ficariam para uma próxima vez. O acesso ficava a uns quinze quilômetros
da cidade, à esquerda do eixo da estrada e a uns três, da ponte do Ji-paraná em direção a
Cuiabá. A manobra era muito mais política que administrativa. E a manobra seria assim:
Presidente viria de Boeing até Porto Velho, faria alguma atividade lá e depois seguiria para
Ji-paraná em um avião Búfalo, da FAB. Após a inauguração faria o caminho inverso. Uma
semana depois chegaram os elementos do destacamento precursor. Nisso minha picape
ficou “confiscada” para transporte de autoridade para qualquer eventualidade. Informava
tudo ao meu comandante. Bom, as maiores autoridades da cidade eram: o prefeito e o
Bispo. Como autoridade militar, eu contava com meu comandante ou o comandante da
Brigada. Três dias antes, eu liguei ao comandante do batalhão sobre a visita. Perguntei a ele
quem viria recepcionar o Presidente. Qual não foi minha surpresa quando ele falou que
ninguém viria. Aí eu perguntei como eu ficaria o que ele respondeu: – “você me representa
na cerimônia”. Havia um azedume político que eu não sabia e nem queria saber. No dia da
visita, que seria a partir das três da tarde, o prefeito que fora a Porto Velho e viria antes
para recepcionar o Presidente em seu município, telefonou dizendo que viria junto com o
presidente, no avião. As maiores autoridades passaram a ser: eu, capitão, e o Bispo. O
pessoal do cerimonial que chegaram antes, de avião búfalo e bandeirante, me escalaram
para receber o Presidente. Assim que o avião aterrissou fomos eu e o bispo e um elemento
do cerimonial: o bispo como “mais antigo” e eu a seguir. O Presidente recebeu o bispo com
uma alegria imensa. Depois, como um capita enquadrado, fiz minha apresentação
regulamentar e acabei por deixar o Presidente embananado: enquanto eu me apresentava
regulamentarmente, ele me estendeu a mão. Ficou de mão estendida até eu terminar.
Afetuosamente me bateu no obro e me falou: – “capita, o que você faz nesse fim de mundo?
Respondi que era comandante de companhia destacado. Tentei falar do meu trabalho, mas
ele cortou logo. Disse: – “tinha que ser de engenharia...” Para minha surpresa e imensa
preocupação, eis que sai do búfalo do Presidente o comandante do CMA. Era tido como
excessivamente rígido. Punia até a sombra dele. Eu fiquei encabulado e chateado: meu
comandante dissera que não viria nenhuma autoridade militar. Como é que o Comandante
do CMA que, em maior escalão, era meu comandante e estava na comitiva? Assim que o
presidente ocupou o palanque, eu fui até ao general e me apresentei. Disse a ele que havia
sido informado que não viria nenhuma autoridade do CMA, para aquele evento. Ele disse
que não viria, resolveu de última hora. Fui tratado com muita consideração e
companheirismo por ele. Na comitiva havia alguns conhecidos que serviam no gabinete da
Presidência. O mais conhecido era meu colega de turma e de cavalaria, o mesmo que fora a
Itajubá dois ou três anos antes. Ele me pediu que ajudasse a fazer um corredor polonês para
a saída do Presidente. Isso já estava escurecendo. Eu e alguns policiais militares do Estado
ajudamos no tal corredor. Quando o Presidente ia passando na minha frente salta um peão
com uma maleta na mão e na frente do Presidente. Não sei por onde passou. A segurança
aproximada também não. O peão disse ao Presidente que queria ir a Brasília visitar parentes
e não teria dinheiro, para passagem de ônibus, e pedia uma carona, no avião presidencial. O
Presidente concordou e ali mesmo ele se incorporou à comitiva. Foi manchete de jornais e
revistas. Como toda imprensa sempre fora comprometida com a esquerda, logo atacou a
segurança e poucas elogiaram o Presidente de ter permitido ao peão viajar.
Mas eu estava de olho no general do CMA. Assim que o Presidente decolou e atrás
dele várias outras aeronaves da FAB e Táxi Aéreo com autoridades civis, o comandante do
CMA também decolaria num búfalo que fora até ali como reserva para o Presidente. Iria
direto para Manaus. Assim que o avião taxiou, uns cem metros, voltou. Havia uma pane.
Espertamente esperaria o avião decolar. Na verdade era praxe, nos BEC, esperar avião
decolar para depois se sair do aeroporto. Quando o avião voltou e disseram que havia uma
pane, quem quase entrou em pânico fui eu: onde, como e por quanto tempo iria hospedar o
general em Jiparaná!!! Vi um funcionário do INCRA, conhecido por todos na companhia que
retornava à cidade. Pedi a ele (não havia celular) que acionasse a companhia para preparar
a casa de hóspede, chamar cozinheiro e todas essas coisas. Tive o censo de pedir ainda
que alguém fosse a um hotel fazer uma reserva de última hora. Perto da Companhia havia
um hotel de boa qualidade para a cidade. O General desembarcou e fui ter com ele. O
comandante do avião dissera que a pane seria resolvida rápido. Mas... resolvi dizer a ele
que mandara preparar a casa de hóspede. Assim, ele estava em casa e com apoio. Com ele
estava apenas um capitão ajudante de ordens, na época ainda havia isso. Quando o
General já estava quase desistindo de decolar, deram o pronto no avião. Isso já era nove da
noite. Para mim foi um alívio. Chegando à companhia, desmanchamos tudo o que fora feito.
Aproveitei para “jantar a janta do general” com dois ou três sargentos da companhia. Não foi
difícil ficar na pista até às nove da noite, com muito carapanã perturbando, mas sim ter
assunto para conversar com um General de Exército sendo um capitão sem ESAO. Cada
posto (ou idade?) tem sua beleza e seu nível de conhecimento. Ainda bem que ele entendia
bem da atividade da engenharia e assim foi mais fácil para ele entabular conversa por mais
de três horas no aeroporto.
Uma coisa marcante a mim foi o primeiro dia de aula de minha filha mais velha. Antes,
ela levantava pela manhã, trocava de roupa e dizia: “vou pro coréjo” (reproduzindo o som).
Engraçado, ela não pedia, apenas informava que iria, como se tudo estivesse decidido.
Embora meio desconfiado com a precocidade, mas considerando outras crianças da idade
dela se colocou no colégio. Tinha até uniforme: blusa branca e saia com suspensórios
xadrez de branco e um tom avermelhado. Fui à emoção, pois numa enorme reflexão ali
estava dando os primeiros passos de longos anos. Por ser maternal, era ainda o primeiro
passo em direção ao primeiro degrau. Quantas e quantas preocupações, se viveria até
terminar o último ano de uma graduação qualquer. Prometi a mim mesmo, naquele
momento, que a acompanharia, de mãos dadas, até o último dia da faculdade que fizesse. E
lá se foi ela toda empolgada para seu “coréjo”. A escola ficava na mesma rua de casa a uns
três quarteirões à frente.
Como voltei logo depois de dois anos, ainda peguei alguns oficiais que deixei em
1976. Um deles foi o então tenente que chegou a Humaitá quando eu estava por lá. Agora
era o comandante da Companhia de Equipamento. Por enorme afinidade, resolveu-se pedir
que, ele e sua mulher, batizassem a segunda filha. Numa ida à Porto Velho, isso foi feito:
numa igreja pequena, na entrada da cidade. Assim, o Tenente passou a ser meu compadre.
Tem um lance engraçado. Eu necessitava de uma coroa e um pinhão para o
diferencial de uma motoniveladora. Como era uma peça que dificilmente se estragava, a não
ser por falta de manutenção (ajustagem de ano em ano), resolvi mandar um radiograma
urgentíssimo, que na linguagem telegráfica é abreviado como “UU”. Chegando à Companhia
de Equipamento fui direto ao compadre e lhe perguntei sobre o meu pedido da coroa e
pinhão. Ele, meio surpreso, com aquela careta que lhe era peculiar, me perguntou:
“Compadre, quando foi feito esse pedido? Não me lembro dele”. Aí, eu, quase ofendido, lhe
respondi: “mas compadre, eu lhe mandei um radio “UU”. Sabendo que viria a Porto Velho
resolvi adiantar o pedido.” Ele, pendendo a cabeça para o lado: “meu compadre, UU são
todos os rádios que eu recebo. Ninguém manda rádio abaixo de urgentíssimo. Agora só
atendo os UUPC.” O anjo aqui, cai na armadilha: “e o que é radio UUPC?” Ele, me olhando
nos olhos e com aquele sorriso maroto me responde: “é o Urgentíssimo Pra Caramba”. Esse
“caramba” substitui uma palavra com outro sufixo.
Quando aconteceu o ato acima narrado, eu fora a Porto Velho fazer a última prova do
curso de preparação para a Escola de aperfeiçoamento. Fiquei hospedado na casa do
companheiro de turma. Viramos a noite estudando, pois era a parte específica da Arma. E já
valeria alguns pontos de nota, no curso. Eu estava muito despreparado. Tinha perdido
completamente o contato com os jargões, com o linguajar de comando e achava um
desvairo teórico sem fim. Em caso de guerra eu não seguiria nada daquilo. Havia muita
coisa. Seria necessário eu decorar muitas palavras, pois era como se me falassem outro
idioma. Das vezes que participei de manobras e nos momentos em que eu servi em
unidades de combate, nunca vira ninguém usar tal linguajar. A cada dia eu ficava mais
apavorado.
Voltando para Ji-Paraná, vim com o compromisso de comprar um caminhão de milho,
cerca de cento e cinquenta sacos. Ali eu compraria diretamente do produtor e sairia mais
barato. Era para o SAS, onde esse meu companheiro de turma era o fiscal. Bom, procurei o
pessoal mais antigo para me orientar como fazer tal compra. Assim, foi noticiado que o
batalhão compraria milho. Logo apareceram os interessados. Procurei comprar do que tinha
vendido no ano anterior. Pois bem o milho foi comprado e pago. O maldito entregaria o milho
em duas semanas, pois teria que debulhá-lo com máquina. Era uma esperteza que eu não
conhecia e o meu pessoal, metidos a muito malandro, também caíram no golpe. É que o
milho na espiga guarda mais umidade que debulhado. Assim o peão foi debulhar o milho
para que, com mais umidade, ficasse também mais pesado. Mas, demos azar: choveu um
mês inteiro e não havia como apanhar o milho que ficava num ramal de uma colonização do
INCRA um pouco antes de Ouro Preto. O agricultor veio por duas vezes até Ji-paraná para
falar que o milho estava pronto e que pela umidade que tinha e pela umidade da chuva, iria
se estragar. E não deu outra: o milho criou fungo e bolor e apodreceu todo. O motorista do
batalhão foi até lá para trazer a carga, em duas vezes. Trouxe meia e com o milho estragado
para mostrar o estado dos grãos. Não tive dúvida: mandei-o de volta para trazer todo o milho
e que levasse assim até Porto Velho, pois como nós iríamos justificar tal perda se não
mostrássemos o estado do material? Parti pra cima do agricultor alegando a ele que embora
nos tivesse avisado, não avisou antes de começar de apodrecer o milho, portanto tinha
culpa no cartório. Consegui que ele devolvesse trinta por cento do valor já que na verdade o
grande errado fomos nós e pior: comprar o milho recém debulhado com toda a umidade que
tinha, naturalmente e, ensacado, só poderia era apodrecer mesmo. O comandante quase
que me faz pagar o bendito milho.
Como dito acima, quando tentei descrever a cidade, a vila dos sargentos e cabos era
bem no centro perto do Banco do Brasil, do mercado, do Correio e da torre da EMBRATEL,
esta com o uso da tecnologia de “visibilidade direta”. As casas era todas de madeira, pré-
fabricadas e com mais de vinte anos de uso. Estavam caindo aos pedaços. E nunca havia
dinheiro para alguma melhoria. A tal torre ficava no terreno ao lado da última casa que era
de um soldado que acabou por ser meu compadre. O local da vila era privilegiado. Um belo
dia recebi um oficio do comandante do batalhão onde solicitava um parecer sobre a cessão
dos terrenos da vila para a EMBRAEL. Eu fui logo falar com os funcionários para saber o
que eles estavam tramando. Foram direto ao comandante e não falaram comigo. A
EMBRATEL iria melhorar seu desempenho na cidade e para isso criaria instalações fixas
com fibra ótica. Essas instalações, por motivo de economia, deveriam ficar o mais próximo
da torre. Ora os terrenos da vila era uma dádiva. Os outros terrenos, embora atendessem
suas necessidades, os proprietário, não muito proprietário assim, passaram a cobrar preço
absurdo uma vez que eram os poucos que tinham títulos definitivos. Como órgão público, a
EMBRATEL queria algo já regularizado. A EMBRATEL sempre teve o dinheiro que quisesse
ter, em particular nos ditos governos militares. Assim, o terreno era a oportunidade de uma
enorme barganha. Pelo documento do batalhão eu teria que justificar os pontos positivos e
negativos da cessão pura e simples. Cabe um esclarecimento. Ji-paraná (Vila de Rondônia)
era uma cidade, ainda não um município. Para ser promovido a tal posição, teriam que ser
regularizados os terrenos, tanto urbanos como rurais. Isso coube a uma repartição do
INCRA. Todos os terrenos urbanos estavam cadastrados. O terreno da vila, o da companhia,
e o da casa do comandante da companhia estavam cadastrados como para regularização
ao Ministério do Exército. Assim que fossem expedidos os diplomas de propriedade, pois
tínhamos a posse em terras da união (território federal), eu teria que remetê-los ao batalhão
para regularizá-los junto a 12ª RM, ao Patrimônio Geral da União que não tinha delegacia
em Porto Velho e sim em Manaus. Nas minhas justificativas, coloquei um único ponto
positivo: baratearia os custos da empresa. Bom, depois de um mês lá vem ordem do
comandante: ceder o terreno para a EMBRATEL. Ela nos cederia terrenos e casas de
madeira pré-fabricada (coisa com muita fartura nas serrarias de Ji-paraná) num lugar mais
longe do centro e mais próximo da prefeitura. Um lugar alto e bem seco onde fora o antigo
campo de pouso onde eu já havia pousado quando de carona na FAB vindo de Vilhena: o
avião que chovia dentro. Ficou entendido por mim que tais terrenos e casas seriam
registrados para o Ministério do Exército. Bem mais tarde fui saber que eu tinha sido
enganado e pelo meu antigo comandante. Passei a considerá-lo um ingênuo que pensou, ao
estar resolvendo o problema da EMBRATEL, que estaria resolvendo o problema do Brasil.
Em Porto Alegre, quando eu servia no CPOR, o encontrei. Ainda eu não sabia da traição.
Realmente fiquei com nojo do freguês. Mas, o motivo de eu querer ter ali alguma coisa do
Exército era porque a cinco Km da futura vila, ficava o Rio URUPÀ. Era um rio que nós de
engenharia chamávamos de “rio com margem americana”. Seria o ideal para ali se implantar
uma companhia de engenharia, da brigada de Porto Velho. Rio de vinte metros de largura,
margens arenosas, rio encaixotado com margens em torno de um metro e meio. Eu nunca vi
um rio tão ideal para instrução de engenharia. Fiz um documento para o Batalhão de modo
que fosse sugerido à 17ª Brigada instalar ali a sua Companhia de engenharia de brigada. Se
não estivesse no Plano Diretor do Exército, pelo menos tomaria a iniciativa de solicitar o
terreno para aquartelamento. Mas, minha sugestão deve ter ficado numa gaveta qualquer: o
bom moço já tinha se comprometido com a EMBRATEL. Alguns anos passados, falou-se em
colocar nessa cidade um batalhão de infantaria. Portanto, meu sonho não era nenhuma
heresia. Adiantando o filme, em 1985 fui buscar a regularização dos terrenos e fiquei
sabendo que eram da EMBRATEL e que nós já não tínhamos mais nada, pois tudo fora
registrado a ela e a nós foi cedido na forma de comodato. Assim, passei a ter outro
excelente exemplo negativo.
Na casa do comandante de Companhia, ao fundo, tinha um terreno baldio que pelas
cercas não se sabia se pertencia ao terreno da casa ou não. Havia um funcionário,
catarinense e descendente de polonês. Resolveu fazer uma horta. Plantou inicialmente
couve. Pois nunca vi couves tão viçosas como aquelas. Os pés, depois de seis meses tinha
quase dois metros de altura. Ele usava adubo natural, hoje o tão decantado adubo orgânico
e também alguns defensivos orgânicos. Mas a horta passou a ter tomates, cheiro verdes e
couve de tal qualidade que para defendê-los das pragas foi necessário usar produtos
químicos. O nome da figura era Luciano, carpinteiro de pontes. O próprio Luciano ficou
maravilhado com a qualidade das verduras. Cedo, cinco da manhã ele já estava molhando,
desfolhando ou fazendo alguma coisa para melhorar a horta. No final do expediente,
novamente vinha ele ver o que se passava com as plantas. Diziam que ele cuidava mais da
horta que da noiva. Casou-se já com uns quarenta de idade. Registro isso para mostrar que,
embora fosse na casa do capitão, a amizade, antes da superioridade de chefe, permitia tal
coisa onde um funcionário livre e espontaneamente fez uma horta de onde colhia não só
para a casa do capitão, mas também para a dele.
Mas, um dia apareceu na companhia, um japonês que se dizia médico. Trouxe um
calhamaço de xerox de diplomas, cursos, estágios... Havia até um de Haward. E tudo com
nomes em letras góticas.
Coversamos por mais de horas. Ele me convidou para visitar sua clinica. Como aquilo
era um Velho Oeste danado, a maioria das clinicas eram de madeira embora com ar
condicionado e outros confortos da época. Eu estava pressionado pelo curso preparatório da
ESAO. Por isso me saia muitas aftas. Fui até lá. O “japa” me recebeu muito bem. Eu disse
que queria me consultar; disse o que sentia. O bandido me colocou numa maca apertou
minha barriga, auscultou... Chamou outro japonês por nome de Paulo. Chegou de cara feia e
também me examinou. Logo depois ele chamou outra “japinha”. A “japinha” estava
preocupada com sequelas de malária. Bom, no final, o Paulo me receitou uma longa lista de
remédio. Mas continuava com a cara amarrada. Passado um mês, estoura a noticia: o CRM
de Rondônia, com a polícia, estourou a clinica. O japonês era farmacêutico e fazia até
cirurgia; a japinha era enfermeira. O único que era médico era o Pulo. A clinica foi fechada e
os “japos” presos. O Paulo ainda continuou por lá com consultório apenas. Fiquei uma arara:
fui enganado pelo japonês.
Como disse, reencontrei muitos oficiais que havia deixado. Outro, foi o Tenente que
eu deixara em Vilhena. Agora capitão, estava comandando a 2ª Companhia em Rio Branco.
Pois éramos os dois com mais tempo de Batalhão. Nas reuniões de Comandante de
Companhia, sempre sabíamos alguma coisa a mais que o próprio comandante ou outros
oficiais do Estado Maior. Assim, sempre tínhamos a última palavra; ou não nos deixávamos
entusiasmar por algo que já tínhamos visto. Teve um lance bem engraçado, mas que na
época foi ameaçador. Fomos convocados para uma reunião onde o tema central da pauta
era demissão de funcionários. O Batalhão estava com poucas obras. A frente principal era o
asfaltamento a cargo da 3ª Companhia, em Caritianas. Os que efetivamente tinham missões
de conservação ficariam quase sem ninguém como CLT batalhão. Os funcionários civis
ficariam restritos aos oriundos do DNER e da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A meta era
demitir de 30 a 40 por cento. A reunião era presidida pelo Subcomandante, um Tenenete
Coronel que já tracei seu perfil antes. Bom, aproveitei e fiz uma limpa em particular dos que
encontrei em Ji-Paraná e eram embromadores. Muitos até pegariam uma boa indenização.
Mas, vi que da sede sairia muito pouca gente: dos serviços gerais que tinha para mais de
trinta pessoas; da granja, onde tinha algumas galinhas; do SAS embora se pagasse com
recursos do SAS, mas sempre havia o sangramento das verbas da estrada. Na hora do
almoço comentei com alguns dos oficiais e em particular com esse capitão da 2ª
Companhia. No retorno, pela tarde, ele foi direto: –“Coronel – estamos todos nos
sacrificando... e a sede não vai ceder ninguém para a demissão? Os Serviços gerais, por
exemplo?” O Subcomandante começou a ficar vermelho e achei que ele iria explodir. –
“Você sabe, que a sede não tem como demitir porque qualquer que seja o montante de
obra, a sede sempre terá as mesmas missões. Não admito que considere o pessoal da sede
como irresponsável”. E gastou a saliva dele por quase meia hora. No outro dia apareceu a
demissão de alguns pedreiros, eletricistas e alguns vaqueiros da granja. Foi aí que eu
entendi que um batalhão tipo I ou II não trás economia a ninguém: a cabeça sempre será a
mesma e grande. Gastar-se-á mais com a gerência que com a produção. O pelotão de obras
quase vale uma cadeia ao capitão.
No período em que passei fora, esse mesmo capitão de Rio Branco e outro de sua
turma em Abunã, por distribuição de caçamba, solicitaram que fosse mudado o limite de
trecho entre os dois. Rio Branco receberia mais caçamba por ser companhia e ter maior
trecho: limite Acre / Rondônia até Sena Madureira. O de Abunã receberia menos caçamba e
seu trecho seria de Porto Velho até o limite Rondônia / Acre, tendo o Rio Madeira e balsa
sob sua responsabilidade. Esse era também o limite leste da Companhia de Rio Branco.
Havia uma placa no Igarapé do Marmelo onde se dava limite do Estado do ACRE e do então
Território de Rondônia. O dito capitão de Rio Branco, no retorno para Rio Branco, parou e
retirou a placa de limite e rodou uns dez quilômetros e num igarapé tal a recolocou. Assim
ele encurtou seu trecho em 10 km. O Outro só foi descobrir a malandragem quase três
meses depois. Não sei se aplaca retornou ao local de origem. Mas houve problemas de
limites entre os dois estados inclusive com tropas estaduais em atitude de guerra. A 17ª
Brigada de Porto Velho teve que intervir e se postou entre as duas tropas. Não garanto que
tal coisa tenha interferido no limite, mas que houve a mudança da placa, isso houve.
Numa dessas reuniões na sede, foi levantado a dificuldade em encontrar pneu para
carregadeira de rodas (CR) da Caterpillar, modelo 966, em todo o Brasil. Havia algumas
delas paradas, em particular na 3ª Companhia, responsável pelo asfaltamento. O Fiscal
Administrativo tentava se justificar perante ao comandante da companhia, ao comandante
do batalhão... Em fim havia um clima de constrangimento. Eu sabia que havia alguns pneus
no almoxarifado. Disse que havia alguns pneus no almoxarifado do batalhão. Logos os
burocratas de plantão disseram que aquilo era estoque morto; que era de carregadeira
modelo 950 e o necessário era para carregadeira modelo 966; e outros tantos argumentos
teóricos. No intervalo fui até a Seção Técnica e me muni de um Manual de Produções da
Caterpillar. Com ele, manual que quase havia decorado, quando comandante da Companhia
de Equipamentos, arrotei meu conhecimento avançado sobre pneus para Caterpillar. O pneu
não só servia como também, para alguns trabalhos, era o mais recomendado. E era apenas
duas ou três polegadas mais baixo que o especificado por padrão o que aumentaria o torque
e assim forçaria o motor. Portanto, em alguns trabalhos deveriam diminuir a carga na concha
(caçamba). Saí endeusado não só pelo alívio que dava aos trabalhos como também por
demonstrar que eu sempre estudava muito aquilo que fazia. Se já era respeitado, agora
atingira o nirvana.
Eu era e sou avesso a papel. Claro, sou e era esclarecido o suficiente para entender
que tudo deve ter um mínimo de organização, um máximo de controle e uma excelência de
execução. Havia um documento, a apropriação, que era obrigado a ser feito todo o final de
mês. Nele estavam contidos todos os serviços executados e os gastos desses serviços: Mão
de obra, combustível, peças em geral. Assim, dividindo o serviço concluído, pelos valores
dos gastos, se verificava os preços unitários e assim, a sede comparava o preço orçado com
o preço executado. Claro, que havia gastos com material que não era totalmente aplicado.
Então havia o estoque. Bom, para acompanhar o estoque nas companhias, era feito um
documento conhecido como Ficha Modelo 3. Tinham tr~es destinos: as de máquinas eram
concentradas na Companhia de Equipamento; as de viatura no então STA (Seção de
Transporte Auto); as de materiais não específicos, para o grande almoxarifado conhecido
como Seção de Suprimento. Depois de conferidos, era obtido um valor de estoque global do
batalhão, remetido à Seção Técnica para fazer a apropriação geral do Batalhão, pela Seção
do OCA (Órgão Central de Apropriação). Na companhia, se abatia o material aplicado e se
acrescia o material recebido ou transferido. Mas não havia microcomputador. O miserável do
datilógrafo fazia aquilo em três vias com carbono. Terminava um, já começava outro porque
as aplicações eram poucas, na minha companhia. Então era uma loucura os controles de
guia de remessa, conferências no escaninho, etiquetas de material recebido; guias de
remessa quando o material ia para o trecho, material devolvido do trecho que ás vezes eram
considerado já aplicado. Era, usando a palavra da moda: um estresses contínuo. Se não
entrasse na data certa de calendário, havia cobrança no dia seguinte. Tal Ficha modelo 3
era remetido com o Relatório de Apropriação. Eu achava aquilo o fim da picada. Tinha
absoluta certeza que eles apenas usavam o valor da soma total. Várias vezes pedi e insisti
que fosse mudado tal documento. Para isso deveria alguém parar e pensar uma forma de
aliviar o pessoal destacado. Era rechaçada minha ideia por todos os burocratas presentes e
ainda invocados os que já tinham se ido. Eu ficava amargurado. E tudo ia para uma gaveta.
Aí resolvi acrescentar, por mais de três meses, um estoque de anofelinos. Parti para a ironia.
Todos os meses eu acrescentavas alguns e diminuíam outros. Depois desse tempo, eu parei
de informar. Se tal documento fosse lido, como sempre afirmavam, então deveriam ter
dados por falta dos anofelinos. Numa reunião eu levantei o problema mais uma vez. Já ia
sendo massacrado pelo Fiscal Administrativo quando eu pedi um tempo e mostrei minha via
de Ficha Modelo3 com os estoques de anofelinos. Disse eu: – “então tal documento não é
lido e não tem a finalidade que aqui decantam”. Foi uma risada geral. Os destacados com a
cara de desforra; os da sede com a cara de decepção. Mas o diabo da ficha continuou em
vigor da mesma maneira. Claro, prometeram nomear uma comissão para estudar o caso.
Como dizia um oficial que serviu no próprio 5º BEC, da turma de 72:
– “quando se tem um problema e não se sabe como resolvê-lo: nomeia-se uma
Comissão;”
– “quando se tem o problema, não se sabe como resolvê-lo e se quer empurrar com a
barriga, até esquecê-los, se faz um Grupo de Estudo;”
– “quando se tem o problema, não se sabe como resolvê-lo, se sabe que em algum
momento a bomba vai estourar, quer empurrar com a barriga, para adiar o problema, para
estourar na mão de outro, nomeia-se uma Comissão Interministerial”. Ali seria
Interministerial, com certeza.
Na parte burocrática, na minha saída, houve um fato pitoresco. Eu chegara a outubro
do ano anterior (1978). O meu companheiro de turma chegara a janeiro de 1978. A
legislação, até então, era a seguinte: qualquer que fosse o curso no EB, se o futuro aluno
partia de guarnição especial, era considerado BIÔNICO. Biônico era, e ainda é, termo
pejorativo que indicava privilégio, por plágio da situação de senadores nomeados pelo
presidente, que os comunistas apelidaram de biônicos. Ser biônico, no EB, indo para uma
escola era um privilégio porque tal aluno escolheria um lugar para servir, fora da
classificação geral por mérito intelectual. Um prêmio pelo sacrifício da fronteira ou guarnição
insalubre. O biônico escolhia primeiro e, em geral, escolhia a melhor vaga. Depois dele é
que o primeiro, o segundo e assim por diante os classificados no curso, escolheria seus
lugares para servir. Em julho ou agosto de 1978, saiu uma portaria que mexia na regulação
dos biônicos: a partir daquela data, os futuros alunos teriam que cumprir 2/3 do tempo
mínimo de guarnição para serem biônicos. Nas minhas alterações diz que me apresentei
pronto para o serviço em 13 de outubro de 78. Como o tempo mínimo era de 24 meses, eu
teria, para merecer o direito a ser biônico, que ficar pelo menos dezoito meses. A data
máxima para se apresentar na escola era a 03 de março de 80. Bom, 13 de outubro de 78 a
03 de março de 80 dariam 16 meses e 18 dias. Mesmo que saísse de avião dia 03 de março
e me apresentasse no mesmo dia, mas ultimo dia para Escola, não daria os 18 meses.
Assim, deixei de ser biônico. Meu companheiro de turma o foi: tinha chegado antes da
portaria. Com meu colega isso deu desdobramento que contarei no momento oportuno.
Cumpri minha missão em Ji-praná. Um belo dia chega o caminhão da GRANERO e
tudo foi embalado para seguir para o Rio de Janeiro. O EB contratava o transporte. Foram
vendidas camas, berços, sofás e outras coisas maiores porque seriam adquiridos no Rio e
também, pela qualidade, não valia apenas levar. Aproveitei a estrutura da companhia e fiz
uma churrasqueira desmontável com restos de bueiros e canos galvanizados. Ficou
pesando quase cem quilos. Foi uma ideia de jerico. Em Ji-paraná, não me lembro qual
órgão, fez um jantar de despedida para mim. Lembro bem que fora encabeçada pelo
advogado BIANCO, mais tarde político com larga influência em Rondônia. Houve também
uma despedida feita pela companhia, encabeçada pelo sargento mais antigo para todos da
companhia e mais os ditos meus amigos, incluído aí o bispo. Foi numa chácara com direito a
dois bois mortos por conta do churrasco e muita cerveja por conta de não sei quem. De
Porto Velho foi convidado meu companheiro de 12º BE Cmb e 5º BEC, servindo juntos pela
terceira vez.
Antes de seguir viagem e nas férias, as festas de fim de ano foram passadas no Acre.
Fomos com o Corcel amarelo, revisado, até Porto Velho. A estrada já estava bastante
molhada.
Daí em diante, seria uma aventura e em duas etapas: Porto Velho - Abunã e Abunã -
Rio Branco. Chegamos a Abunã com alguns sustos, pois já havia atoleiros difíceis, para
carro pequeno. As duas meninas no banco traseiro, biscoito, água em garrafão térmico e
muita lama e disposição. De Abunã, saímos cedo para pegar a primeira balsa no Rio
Madeira. Conversando com caminhoneiros, disseram que a estrada estada relativamente
fácil, mas que perto de Rio Branco havia chovido, no dia anterior. Assim, se chovesse
novamente poderia ter enroscos em vários lugares. Bom, dava para fazer o seguinte
prognóstico: em geral chove pela noite; como só chegaríamos por lá já pela tarde, haveria
quase um dia de sol, então facilitaria a chegada. A partir da divisa entre Rondônia e Acre, o
solo começava a piorar e a argila ficar mais pegajosa. Foi uma viagem tranquila até depois
do entroncamento com a BR 317, uns 50 km para chegar. Pelo andar da carruagem
imaginamos que pelas quatro da tarde estaríamos na casa de hóspede. Dali até Rio Branco
havia chovido na noite anterior, mas sem o dia de sol que eu imaginava. Cada ladeira era
um sacrifício. Era um jogar o caro para um lado e para o outro, mas sem deixá-lo cair na
valeta. O corcel era valente com sua tração dianteira. E o pior era que, em muitos lugares,
havia caminhões ou ônibus atravessados. Fomos ganhando metro por metro. Chegamos por
volta das dez da noite. Eu já quase estava decidindo dormir na estrada, para tocar com luz
no outro dia e evitar algum acidente, quando passou uma Toyota e perguntei ao motorista a
que distância eu estava da cidade, pois escurecera rápido. Ele disse que eu já estava na
cabeceira da pista do aeroporte, portanto a menos de cinco Km da cidade. Aí foi só
administrar o farol (que teria que ser limpo de tempo em tempo) e chegar. Engraçado que
quando parei frente a casa de hóspede, quase não consigo sair do carro. Estava literalmente
travado. Nunca imaginei que pudesse ficara tão tenso daquela maneira. Fomos a Feijó de
monomotor. Engraçado que, na chegada a Feijó, chovia muito. O avião, voando baixo, já
perto da cabeceira, começou a balançar muito. A mulher começou a gritar e aí interveio um
velho amigo de seu pai, que se incomodou com os reclames: - “deixe de bobagem, pois se o
avião cair a gente caba de chegar à pé ... olha a pista ali...” Foi uma risada geral, pois o
avião de seis lugares estava completo. A filha mais velha, três ou quatro anos talvez, se
divertia com os pulos. A volta foi de Búfalo da FAB: eu levara minha farda de capitão: tinha
prioridade de embarque no CAN. Viagem tranquila, mas com muito balanço. Mas em Rio
Branco, nos quinze ou vinte dias que saímos, choveu muito. Fui até a rodoviária perguntar
sobre as condições da estrada: estava muito ruim e para carro pequeno, nem pensar. O
ônibus estava levando três ou quatro dias. Solução: encontrei um caminhoneiro que seguia
para Porto Velho, sem carga, pois queria carga em Porto Velho e assim garantir uma
chegada fácil até lá. Paguei o transporte do meu carro e fomos de avião, afinal, havia
recebido ajuda de custo. Em Porto Velho, em dois dias recebi o carro, no batalhão. Ali
mesmo o deixei para ser transportado carro pelo Otávio, um paraibano que fazia transporte
do Rio – Porto Velho e Roraima através do Escritório do Rio, do meu amigo Gilvan. Já me
referi a ele em outros locais. O carro eu o pegaria em Cuiabá, na casa de Hóspede do 9º
BEC. Na época era uma casa da vila que funcionava como tal. Não me lembro bem da
despedida formal. Em caso de transferência, a placa de despedida sempre era entregue
numa formatura geral e depois se fazia a despedida oficial, no salão nobre do batalhão.
Engraçado que não me lembro de nada: da despedida, do embarque em avião, da última
hospedagem. É bem possível que entrei de férias e o transito seria publicado sem minha
presença. Iria também meu companheiro de turma que estudamos o curso preparatório,
juntos. Pelas alterações eu entrei em férias, desisti das férias e entrei em Trânsito a quinze
de janeiro de 1980. Pelas regras da ESAO eu deveria me apresentar com todas as férias
gozadas. O meu subcomandante, raposa velha em dar nó nas legislações do EB (vários
anos de ESIE e Rio), me disse que embora eu tivesse duas férias a serem gozadas, era
melhor eu levar uma para ser gozada logo depois do curso. Nunca se sabia o que poderia
acontecer. Foi uma premonição.
Pela segunda vez “eu não vivia em vão”. Era como ter visitado a família e ter que ir
embora. Saudades de todos e de tudo: ali se vivi eternas adrenalinas.
Depois de uns três dias em Cuiabá, seguimos para o Rio. Próximo destino: Campo
Grande. Por ter recebido o carro com atraso ou por outro motivo, não sei bem qual, o fato é
que saímos de Cuiabá pela tarde. Resolvemos dormir num hotel, a uns cinquenta
quilômetros de Cuiabá, depois de subir a serra, onde têm umas águas quentes, como
aquelas de Goiás. Foi muito bom e relaxante. Trocamos de roupa e antes do jantar fomos
todos ao banho com água quente vindo de fontes naturais. Durante a viagem, no meio da
manhã, o carro soltou uma peça na roda dianteira direita. Isso atrasou bem nossa viagem.
Fui bem de vagar, uns quarenta por hora até encontrar uma cidade que tivesse oficina.
Encontramos uma oficina dessas de beira de estrada. Em uma hora o mecânico sanou o
problema e tocamos em frente. Paramos alguns dias em Campo Grande. O pai e a mãe
ainda moravam no apartamento da Avenida Afonso Pena. Ficamos hospedados no Hotel de
Trânsito. Incomodaria menos, pois agora éramos quatro para ser alojados num apartamento
de dois quartos apenas. Numa madrugada, seguimos para São Paulo. Resolvi ser
conservador: Campo Grande, Presidente Prudente e Ourinhos e, mais à frente, pegar a
Castelo Branco – SP 280, a mais moderna rodovia brasileira, até então, que eu vira a
construção durante meus dias de Cadete. Teria oitocentos quilômetros a rodar. Resolvi
dormir o mais próximo de São Paulo e atravessar a cidade durante o dia. Eu nunca tinha
dirigido em São Paulo. Dormimos em algum lugar que não sei mais onde era. Paramos já
quatro da tarde. Carro muito cheio. Bagagem que na verdade era mudança, ocupava cada
cm³ que existia no carro. O velho corcel parecia que ia abrir as pernas de tão carregado.
Seguimos logo cedo, seis horas já na estrada: precisávamos de mais tempo para se perder
em São Paulo. Quando acabou a Castelo Branco eu não sabia onde estava. Apenas segui
uma placa que indicava a direção da Rodovia Presidente Dutra. Reconheci logo a Marginal
do Tietê – um enorme esgoto a céu aberto. Mas no meio da avenida, que eu conhecia
apenas de dentro de ônibus, o combustível do caro começou a acabar. Eu me descuidei e já
estava a um quarto do tanque. Quase entro em desespero. Se eu saísse da margem do rio
eu nunca mais voltaria a ela. A solução era sair da Marginal, abastecer e se sentisse
perdido, pagar a um taxi para ir à frente até onde eu me sentisse seguro. Mas quando eu já
estava tentando sair para as laterais à procura do posto, eis que surge um bem junto da
avenida. Só foi cruzar as faixas e se aproximar do posto. Que alívio!!! Tanque cheio, melhor
informado pelo frentista, “me fui” como dizem os gaúchos. Mas tínhamos que chegar ao Rio
durante o dia. Eu também conhecia o Rio de Janeiro de dentro dos ônibus. Há se já
houvesse o Google-maps ou GPS!!! Tudo seria em função do que eu me lembrasse dos
tempos de Cadete. Dormimos não sei onde: talvez em Resende ou até Itatiaia. Lembro que
as meninas, com três e quatro anos, não perturbavam em nada. Parada para abastecer,
almoçar ou dormir sem um choro ou algum desconforto.
Chegamos ao Rio quase na hora do almoço. Sabia que teria que pegar o túnel
Rebouças para sair na Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico e Clube Militar, onde eu
tencionava hospedar. Claro, sem telefonar e sem avisar, pois eu não tinha um dia certo para
chegar, portanto não tinha como reservar apartamentos. E eu era sócio do Clube Militar
desde os tempos de Aspirante a Oficial. Parando na frente da portaria, fui recebido por um
carioca típico: mulato, mais para gordinho que esbelto e com uma cara de aborrecido porque
fora incomodado com a chegada de alguém, eu. Disse que precisava de um apartamento
para dormir e se possível ficar até por uma semana. Ele, sem me olhar disse: – “é... você
não vai ficar porque está tudo lotado... tudo reservado... não tem vaga”. Aí eu cresci... – “O
que? Não tem vaga? Ah!!! vai ter que ter... Quem é o Presidente do Clube e onde ele está
agora?” O funcionário ficou meio assustado, disse que não sabia. Disse a ele: – “você tem
cinco minutos para descobrir onde ele está e como falar com ele”. O coitado desapareceu
escada acima e voltou quinze minutos depois. – “O senhor vai falar primeiro com o coronel
XYZ...” Lá fui eu. O coronel me recebeu com uma cortesia esmerada. Mandou que me
sentasse, o que não fiz. Disse que gostaria de ajudar, mas que realmente o clube estava
completamente lotado. Aí eu não deixei por menos: – “Coronel, eu não vim a passeio; vim
para a ESAO; venho de Porto Velho; venho dirigindo desde Cuiabá; sou sócio do Clube
deste o primeiro dia de aspirantado; e agora que preciso do Clube, o senhor me descarta
dizendo que não tem como resolver”? “E para onde eu vou”? “Para alguma espelunca em
Deodoro”? Ele acusou o golpe. Disse: – “sente aí que eu vou falar com o presidente”.
Respondi: – “caso o senhor ache conveniente eu também vou”. Disse que gostaria de ir
sozinho. Meia hora depois, retornou. – “O presidente autorizou a usar a suíte que fica à
disposição dele”. “Revendo as reservas, caso você não se importa de mudar, pelo menos
umas duas vezes, poderemos hospedá-lo por uma semana como deseja”. Respondi que a
semana era uma projeção apenas, pois tudo dependeria de como estariam os PNR da
ESAO e que eu iria até lá no dia seguinte. Quanto às mudanças de apartamentos isso era o
de menos. Assim foi meu batismo de chegada ao Rio.
No outro dia toquei para a Escola, fardado, é claro. A família ficou no Clube Militar
onde tinha restaurante e toda a comodidade. Como não entendia nada do Rio, por aquelas
bandas, voltei pelo túnel Rebouças, e fui a Deodoro, pela Avenida Brasil. Não foi difícil
chegar até Deodoro e Vila Militar. Na ESAO me apresentei ao Curso de Engenharia. Não
conhecia o Comandante do curso, e três outros majores, mas conhecia todos os capitães,
pois eram contemporâneos da Academia. Fui com o responsável pelos apartamentos. Logo
me disse que o que fora a mim distribuído estava em condições de ocupar e se eu quisesse
poderia ir com ele fazer a vistoria. Não perdi tempo: recebi o apartamento na bucha. Voltei
para o Clube Militar chegando lá pela tarde, com enorme preocupação das filhas, pois o Rio
sempre esteve com sua fama de violência, traficante, assaltante: Cara de cavalo na década
de sessenta; Lucio Flávio na de setenta; Escadinha, na década de oitenta; Fernandinho
Beira-Mar na de noventa; Elias maluco na virada do segundo milênio... Coisas e heranças
do Brasil colônia e do Rio capital do Brasil. Havia que comprar coisas para o apartamento:
cama para todos, geladeira, fogão e, particularmente, escola para as meninas. Assim, dois
dias de Clube Militar, fomos acampar no apartamento. Seguimos, sem conhecer nada
daqueles subúrbios, para Realengo, Padre Miguel, Bangu e adjacências. Conseguimos
matrícula apenas em uma escolinha em Realengo. Teria que ser escolas ditas maternais. A
escola era bem próxima de um supermercado muito famoso na época: Casas da Banha que
tinha como símbolo um porquinho estilizado. Diz minhas alterações que me apresentei a 10,
ainda em trânsito; a 15 de fevereiro pronto para o serviço, ficando adido até a data de
matrícula e a matrícula a 03 de março de 1980, dando início às aulas.
Considerando a antiguidade do aspiratado, a minha turma de ESAO teria a metade da
turma de 70 e metade da minha – turma 71. Nesta situação eu era um dos mais modernos:
eu fui relacionado na última hora por desistência de alguns. Eu era 25/48, no aspirantado.
Acresce a isso os dito OFICIAIS DAS NAÇÕES AMIGAS – ONA. Na minha turma de
engenharia, tinha dois venezuelanos, dois colombianos, um paraguaio e um equatoriano.
Em todas as Armas tinha ONA. Uma peculiaridade da minha turma toda de ESAO era a
antiguidade. Sempre ficavam, uns e outros, atrasados de sua turma de AMAN ou por
conveniência ou por desleixo em aplicar a legislação. Assim, tinha capitão cuja turma já era
major. Foi só terminar o curso e ele foi promovido a major, em dezembros. Mas o forte dos
atrasados era da turma de 69, alguns ex-atletas e companheiros nas diferentes seleções.
Completava a turma, no caso da engenharia, dois fuzileiros navais da MB.
Logo nos primeiros dias, senti que teria dificuldade. Era uma decoreba danada.
Particularmente, a mim que estivera muito tempo nas lides de construção. Assim eu não
dominava as linguagens ditas de “comando”. Os dados com os quais se trabalharia eram
todos teóricos: as condições, as ideais em material e pessoal, completos. E todos sabiam
que aquilo tudo era fantasia. Faltou um preparo psicológico por parte da escola. Por isso
quando eu encontro jovens, que vão cursar a ESAO, eu os preparo psicologicamente, para o
que vão encontrar. Tecerei comentários sobre isso. Mas o meu curso, em particular, fez uma
enorme besteira. No primeiro dia de aula, o Instrutor Chefe pediu que cada um dos oficiais
se apresentasse e dissesse as unidades que serviram, os curso que fizeram e os cursos
civis que estavam ou que cursaram. Bom, lá foi o primeiro, o segundo, o terceiro, todos com
mais tempo em OM de combate que em construção, com curso de direito, administração,
engenharia civil e por aí a fora. Quando chegou a minha vez, eu não tinha curso de nada,
estágio de nada. Levantei e disse que tinha servido em Alegrete, Porto Velho, Itajubá e
novamente Porto Velho; quanto a curso eu tinha Estágio de Malária: até ali cinco, todas
adquiridas no trecho. O momento foi cômico, mas no final dos risos ficou o traço do
constrangimento, tanto pela minha ironia, nada sutil, e porque ali eu representava os
“idealistas”, gênero de militares que nunca chegam a lugar nenhum, a não ser um esforçado
cumpridor do dever. Na mesma situação minha, estava outro capita cujo apelido era Tic-Tic
(ele quando queria chamar a atenção de alguém dizia: “Tic-tic, você aí...”). Disse ele que
nunca mais se meteria em locais longínquos, pois ele era paulista, gostava de mussarela e
de pizza. Falou e cumpriu: só na ESAO, como instrutor, ficou por mais de dez anos.
O curso era arrastado. O tal curso nos habilitaria a comandar batalhão. Além de,
normalmente ser oficial do estado maior de batalhão. Então, por isso tínhamos que entender
de unidade operacional de Divisão de Exercito que era o comando apoiado por um batalhão
de engenharia. Mas a Seção de Doutrina, que ministrava emprego de outras armas, ficava
no escalão brigada, que para nós, era baixo e de pouca matéria para emprego. Ao contrário
da infantaria, cavalaria, artilharia que tudo se desenrolava no âmbito brigada. A cada dia,
mais eu me convencia de que tudo aquilo, que me ensinavam, eu deveria ter aprendido
como Cadete para poder aplicá-lo como tenente e ou capitão novo. A coisa era fórmula de
bolo. Tinha que decorar e esta era minha grande dificuldade. Lembrei-me de quando servia
em Itajubá, alertado pelo médico temporário que foi comigo para a Comissão de Seleção,
como contado em outra parte. Por problemas psicológicos acabou por ser licenciado. Era
Oftalmologista. Disse que o aralen, que tomei contra a malária, atacava neurônios, tanto os
do nervo ótico quanto os de “armazenamentos de dados”. Como já dito, ouvido outros
médicos, eles saíram pela tangente alegando não ter ainda estudos científicos a respeito. O
fato é que na ESAO eu senti uma enorme dificuldade de decorar. Aliás, tenho até hoje.
O curso seguia um rotinão danado. Fora de cronologia, narro alguns acontecimentos.
Vendi o corcel a um venezuelano. Dei um azar e uma sorte. Vendi muito barato, abaixo do
preço de tabela. Comprara uma Brasília, creme, zero quilômetro, financiada pela Caixa
Econômica. Mas, dois dias depois que o venezuelano comprou o carro, ele deu um
problema na junta homocinética dianteira direita. A mesma que fizera barulho na viagem
entre Cuiabá e Campo Grande. O Venezuelano pensou que eu o havia enganado, mas
consegui explicar-lhe e por sorte tinha até a nota fiscal que o mecânico havia me dado.
Infelizmente, o carro quebrou na mão dele. A sorte foi não ter quebrado de vez na viagem,
particularmente na Marginal do Tiete, em São Paulo, ou na Avenida Brasil, no Rio. O azar foi
estourar na mão do venezuelano que era de engenharia.
A compra da Brasília foi inusitada. A conta corrente para recebimento de pagamento
era a Caixa Econômica. Chegamos lá para retirar talão de cheque, coisa “chic” era ter um
cheque especial – Cheque Azul. Em lá chegando, anunciava-se que a Caixa estava
financiando carros novos. Perguntamos ao gerente as condições. Isso era duas da tarde de
um dia qualquer que deve ser numa quarta feira. Ele falou do baixo juro e a facilidade de ser
o pagamento em consignação o que baixava mais o juro. Bom, fizemos a papelada e fui
direto para a concessionária indicada. Lá, na hora pegamos o carro. Voltamos para a caixa
para encerrar o processo. O gerente com um sorriso amarelo dizia que a caixa acabara de
suspender os financiamentos de carro novos. Bom, somente eu comprei um carro naquela
agencia e um soldado ou cabo que comprara uma moto. Foi um rasgo de sorte. São as
coisas feitas apenas para me ajudar. Entre duas e quatro da tarde compramos o carro.
Brasília era a máquina um degrau acima dos ditos populares: fusca, Fiat 147, etc...
Na Vila Militar havia o Circulo Militar da Vila Militar. A diretoria não era eleita, mas
nomeada pelo comandante da guarnição da Vila Militar, o Comandante da 2ª DE. Na época,
o Presidente era um major de artilharia e instrutor na Escola. Havia uma enorme boa
vontade de fazer o Círculo funcionar para atender bem aos alunos, mas ninguém
prestigiava. Há uma cabeça de burro nos tais Circulo Militares. Pela minha experiência,
apenas dez por cento da população militar frequenta círculo. É que todos querem receber e
ser tratado como autoridade, mas arregaçar as mangas e chegar junto, ninguém quer. Pois o
major resolveu fazer uma feijoada com apresentação de mulatas. Mais tarde ele contou o
que acontecera: o empresário recebeu a metade do dinheiro do show e quase não vem: não
tinha as mulatas. Teve que ir a Madureira juntar algumas para completar o show. Saiu a
Feijoada e o show só lá pelas três da tarde. A minha filha, com uns quatro anos, roubou os
aplausos da festa: ela sambava muito melhor que as contratadas. Mereceu até fotografia.
Como eu era um dos mais modernos, ficava na fileira mais do fundo. Pois bem, para
perturba o pessoal da frente, sempre havia alguém, desta última fileira, que gritava pelos da
frente: –“Oh! careca?...” olhavam quatro ou cinco, muito careca apesar dos trinta e poucos
anos. O mesmo acontecia quando se chamava: – “Arataca?... ai olhava uns dez pois tinha
muito nordestino na turma.
Uma coisa boa do curso foi rever os companheiros de outras armas. Foi aí também
que completei a convicção de que peça rara não muda: apenas fica mais experiente, mas
continua peça rara. Vi companheiros muito envelhecidos para a idade – entre trinta e trinta e
cinco anos; vi também outros em plena forma física, talvez melhor que quando Cadete. Era
o caso do meu companheiro de equipe da AMAN, o nobre infante: o Gato. Para minha
surpresa, uma manhã aparece um companheiro de cavalaria me convidando para correr a
maratona do Rio. Ele veio me fazer o convite porque ainda pensava que eu fosse o mesmo
quando Cadete. Nem eu era o mesmo em condicionamento físico e nem ele também o era,
pois como Cadete não corria nada.
Em Marechal Hermes, bairro próximo à Vila Militar, encontrei um companheiro que
fora da equipe de futebol comigo. Saiu Asp Of de artilharia. Infelizmente ainda como
segundo tenente foi acometido de uma doença de pele, terrível, conhecida como “Fogo
Selvagem” (Pênfigo Foliáceo – PF – doença auto-imune). Doença incapacitante, ele foi
reformado. Encontrei-o na padaria. Abraçamos-nos efusivamente e disse a ele que nossa
turma estava na ESAO e que gostaria que ele fosse nos fazer uma visita. Havia se formado
em tal especialidade que o permitia ser professor. Eu pensei que realmente ele fosse nos
visitar, mas não foi. Nunca mais soube dele. Quando do meu curso na ECEME, soube que
falecera prematuramente. Fora do CM do Rio, bem classificado na artilharia, era um baixinho
rápido, como ponta direita. Aproveitando o momento, falo também do nosso companheiro de
engenharia que pediu demissão do Exército como capitão novo. Era inteligente, um dos
primeiros da turma. Primeiro ele pediu adiamento da ESAO e ao longo do ano pediu
demissão. Talvez para ter mais dinheiro. Nunca um apelido caiu tão bem: era o “amigo da
onça”. Cearense de boa cepa era o gaiato. Mandou uma carta dizendo que tinha dado um
trote naquela turma de ESAO, pois a sua desistência e demissão deu oportunidade para que
um nosso amigo desastrado que comentarei a frente, viesse em sua vaga. Recebeu várias
respostas sendo xingado. Outro, que se manifestou em carta foi outro cearense infante que
como tenente fizera um curso de direito aí por Santa Catarina e ingressou na magistratura,
por concurso. Dele tirei uma lição. Embora com melhores salários, melhor posição social era
menos feliz que como os infantes eram pelos brasis desse continente.
Tinha um companheiro de turma, o que veio na vaga do “amigo da onça”, que era um
desastrado em tudo que fazia ou dizia. Era de uma insegurança total. Tentava ser tipo
popular, mas sempre estava em enrascada. Como um permanente desastrado, estava às
voltas com a turma, pelos vexames, atrapalhadas e constrangimentos que o amargurava
muito. Ele tentava ser diferente e aí é que a coisa piorava. Mas era de uma alma fidalga
quando alguém precisava dele. É daqueles que o dito popular diz que “tira a camisa para dar
a um amigo”. Pelos despautérios era vítima de brincadeiras de mau gosto e até perversa.
Uma dessas brincadeiras de mau gosto, no curso, era, no intervalo das aulas, passar cola
de bastão (na época estava na moda a cola Prit) na carteira e nela colar os calcos e cartas
que se estava trabalhando. Quando ele voltava que ia retirar a carta, xingava, resmungava o
que era motivo para grandes risadas. Para se entrar no estacionamento da escola, entrava-
se por um portão lateral e, junto ao correio, para evitar uso indevido, na hora do almoço, tal
acesso era barrado com uma corrente. Todos sabiam disso e todos estavam alertados que o
acesso ao estacionamento só seria possível pouco antes do inicio dos expedientes. Pois
bem, o amigo fora almoçar em casa e voltou um pouco mais cedo para a escola. Estava eu
a conversar com o pessoal de infantaria que juntos almoçamos na escola, quando ouvimos
um enorme estrondo. No mesmo momento atinei: é o meu amigo desastrado. Corremos lá e
não deu outra coisa: ele havia atropelado a corrente. Não vira a corrente mesmo estando de
óculos. O seu carro, uma VARIANT, da VOLKSWAGEN, ficou com o teto achatado. Por
pouco que não fica preso nas ferragens, Felizmente nada sofreu. Foi matéria para uma
semana de chacota. Mas um companheiro de infantaria ficou em desamparo porque sua
mulher baixara ao Hospital Central do Exército (HCE) e teve que vender o carro. O amigo
desastrado emprestou sua Variant por um mês. Fazia compra de supermercado e pagava
taxi, mas não desamparou o companheiro infante. Um gesto nobre, fidalgo de alguém que
só era visto como um desastrado. As histórias e estórias desse amigo daria um livro
tragicômico. Mas é de alma nobre.
Eu havia aberto uma enorme expectativa com o curso. Nos primeiros meses já havia
uma enorme frustração. Havia mais rótulo no linguajar pré-fabricado do que conhecimentos
ser transmitido. Tudo era decorado. Alguns instrutores achavam que linguajar empolado,
técnico, decorado era conhecimento técnico da matéria. Nessa época eu já havia
despertado para a leitura de assuntos diversificados. E assim já tinha passado por obras
clássicas: livros da própria Biblioteca do Exercito. Já havia lido sobre Alexandre, Aníbal e
César, de Cezar Zama; os Cézares, de Suetônio e o que me faz a aprender a pensar: René
Descarte com seu DISCURSO DO MÉTODO. Resolvi brigar com o curso. Fazia as provas
para tirar sete que eu achava justo, pelo salário que ganhava. Média cinco era a média
requerida para aprovação. Assim fui para a rabeira da turma. Talvez o terceiro de trás para
frente. Alguns instrutores vieram falar comigo. Tinha chegado a fama de grande experiência
amazônica, de líder nato e outros adjetivos que não me tocava a vaidade. Aloprei com o
curso.
Num dia, que não sei quando, mas já havia passado a matéria de defensiva,
aconteceu algo engraçado, hoje, mas que me deu um enorme susto. Nas salas de aula
havia um “celotex” ao fundo. Ali os oficiais-alunos escreviam suas brincadeiras com outros
alunos e também com os instrutores. O assistente do comandante, um major, passava nas
salas e colhia as brincadeiras mais engraçadas ou pitorescas e entregava ao general. Uma
vez por mês o general reunia os alunos no auditório e lá fazia as recomendações dele.
Aproveitava as brincadeiras e as lia na reunião e assim ela acabava por ser algo mais leve e
menos cansativa. Eu estava numa baixa de moral, enorme. Escrevi num papel, com tinta
vermelha, a seguinte frase: “ESAO: escola de decepção; início de desilusão de carreira.”
Alguns companheiros me viram pregar o papel e leram a frase. No outro dia, a engenharia
tinha aulas comuns com a cavalaria, na sala da cavalaria. Já perto do almoço, recebemos
ordem para, ao terminar a aula, ir para o auditório, ante do almoço, com falas do general.
Houve um espanto, pois ainda não estava na época do general reunir os alunos. Chegando
ao auditório, o general já estava lá, coisa que antes fazia após estarem todos os alunos
reunidos. Abriu a fala como se declamasse um monólogo: “o companheiro que escreveu
isso não conhece a tradição da escola” e, como se estivesse só, repetia uma frase que não
se podia ouvir. Depois, começou a falar alto sobre os sessenta anos de existência da escola.
Foi até a missão francesa no Brasil (de 1919 até 1940), passou pela segunda guerra, foi até
Napoleão, Osório e Caxias... E, de vez em quando, falava uma frase inteligível. Depois de
falar por meia hora, resolveu ler pausadamente a frase até então inteligível: “ESAO: escola
de decepção; início de desilusão de carreira. O companheiro que escreveu isso, não pode
acreditar no que escreveu”. Saiu de repente, abruptamente, surpreendendo o mais antigo,
não me lembro quem era, para o cerimonial de sua saída. Eu fiquei “na minha”. A frase era a
mesma que eu havia escrito. Só não sabia como o general ficou sabendo dela. Logo no
início da tarde, num intervalo, fui ao instrutor chefe de engenharia, ainda major, e disse que
eu fora o autor e, para que não houvesse anonimato, eu assumia os efeitos que a frase
pudesse causar. Perguntei de como o general ficou sabendo do texto uma vez que fora
afixado no fundo da sala. Foi aí que soube ser obra de seu assistente que copiava tudo dos
celotex dos alunos de todos os cursos. Num arroubo de capitão, disse que, se o general
quisesse, eu repetiria e diria a ele o porquê daquilo a ele. Passado uns quinze dia, o instrutor
chefe, apelidado de torpedrobangalori (Torpedo Bangalore é uma engenho explosivo para
abrir trilhas em campo de mina empregada pela engenharia na segunda guerra, palavra que
ele repetiu “trocentas vezes” numa palestra para toda a escola) me avisou que pela tarde o
general queria falar comigo. Ele iria junto. Pela tarde eu já me considerava preso. Chegando
frente à sala do general (PC) nos apresentamos e o general mandou que entrássemos.
Mandou vir o subcomandante. Assim, na sala ficamos eu e o major instrutor chefe em frente
a mesa; do lado direito o subcomandante e do lado esquerdo o tal assistente. – “E então
capitão, porque você escreveu aquilo.” Disse:
– “General, eu acabo de aprender a doutrina de defensiva. Sou de engenharia, mas
se o senhor me mostrar um barranco eu não sei, tecnicamente, se é obstáculo ou não. Eu
responderei de forma empírica e não técnica. Assim, não me acho pronto para assumir uma
companhia de engenharia em combate. Penso que estou perdendo meu tempo, o senhor o
do senhor e o Exército fazendo um enorme esforço para me trazer de Porto Velho até aqui”.
O general se levantou de supetão, surpreendendo a todos e disse, olhando para o
subcomandante: – “o capitão tem razão. Isso aqui está muito teórico. É muito emprego de
brigada. Os alunos não aprendem o necessário para seus batalhões. Eu sempre disse isso
a vocês, aqui.” Tomou um fôlego e continuou: – “Capitão, concordo com você. Mas já
recebemos um planejamento pronto, feito no ano anterior. Uma pena que você não estará o
ano que vem. Vamos melhorar isso”. Falou mais algumas amenidades com os outros oficiais
e eu fiquei calado. No momento pensava: “entrei para sair preso e saio glorificado; então
minha forma de pensar está certa.” O meu instrutor chefe, pai e mãe do “cagaço”, concordou
com tudo o que o general disse e com que eu disse. Saímos e na volta o major começou a
querer vender o peixe dele: – “é, você tem que ter mais cuidado com que escreve ou fala”.
Aí eu cresci: – “Major, o general concordou comigo. Não tenho que prestar atenção a nada.
Acho que o curso deveria me escutar mais e não se fechar numa masmorra de teoria
ultrapassada”. Aí, ele sentiu que minha falta de educação era bem maior que a dele (se
considerava um diplomata, um fidalgo, na verdade um cortesão de deixar Baldassare
Castiglione rubro de vergonha). O general gostava de andar pela escola particularmente no
intervalo grande (era como o recreio de alunos primários). Quando eu cruzava com ele,
sempre perguntava: – “Higino e curso”? E eu respondia: – “continua teórico, General”.
Um fato hilário. Quem fez o anuncio da reunião, dita acima, com o general, foi um
instrutor de cavalaria, um gaucho desses com sotaque bem fronteiriço, mais para fazer
gênero que por cultivo gauchesco ou saudades nativas. Alguns alunos tentaram argumentar:
“mas agora..é hora do almoço... caramba não vai dar tempo de ir ao banco...” O gauchão
instrutor reforçou o sotaque e emendou sobre o último reclamão e disse: – “tá reclamando
de que? O salário tá em dia... jurou que ia morrer e nunca foi ferido... tá reclamando de
que?” Foi uma risada geral. Mais tarde, eu aperfeiçoei esse dito do instrutor: reclamas de
que? pagamento está em dia; jurou que sacrificaria a vida, mas está gordo e sadio; jurou
que daria a vida e nunca foi ferido; o único sangue derramado foi o da tipagem sanguínea .
Reclamas de que? Gostando ou não fomos para o auditório.
Um esclarecimento: fruto da missão francesa, no Brasil (de 1919 até 1940),
predominou, como modelo a ser seguido pelo Exército Brasileiro, a doutrina militar francesa
– totalmente voltada para defensiva. Fora trazida ao país pela Missão Militar Francesa,
liderada primeiramente pelo general Maurice Gamelin. Este, e a missão, tratavam os oficiais
brasileiros como animais privilegiados: na escala acima do cachorro e abaixo do cavalo.
Felizmente tudo foi atomizado pelo exército alemão e assim caiu em desgraça a doutrina e
os franceses, pelo mundo.
O encerramento, da matéria DEFENSIVA, foi com um exercício no terreno na região
perto de Deodoro (segundo minhas alterações na região do rio Guandu e em 06 de outubro).
Esse o tal exercício que falei ao general que eu não aprendera nada. Ficamos onde há a
sede de um batalhão de Fuzileiros Navais. Não havia dinheiro para exercício fora do Rio de
Janeiro. Ficamos alojados ali por cinco dias. Era um exercício em conjunto. A infantaria faria
sua parte, a manobra; as armas de apoio planejariam os apoios para o plano da infantaria.
A engenharia foi dividida em seis grupos e cada grupo então faria todo o planejamento. Em
particular do complicado “Plano de Barreiras”. No segundo dia, quando se fazia trabalhos de
escritório, foi anunciado que uma turma seria sorteada para fazer uma apresentação ao
comandante da escola. Assim, um grupo de infantaria apresentaria sua manobra; um de
artilharia, faria o apoio de fogo; a engenharia... e assim em diante, até os médicos. Eu me
adiantei e falei ao major, que dirigia o exercício de engenharia, que eu faria o sorteio. Peguei
um papel e recortei seis tiras escrevi nela o número das equipes e enrolei fazendo rolinhos
iguais. Tinha um grupo que, pelo sorteio dos grupos, ficara com os três capitães que
brigavam pelo primeiro lugar no curso. Lembro bem, era o grupo 4. Desse grupo saíram dois
generais, mais tarde. Não tive dúvida, coloquei em todas as tiras o numero quatro. Levei ao
instrutor chefe e ele sorteou que grupo? O Grupo quatro. Rapidamente, peguei os rolinhos e
joguei na lata de lixo. Qual não foi minha surpresa ao ver o equatoriano mexer no lixo. Vi ele
com os rolinhos na mão. Fui até lá e perguntei o que ele fazia. Ele ainda abaixado, olhou
para cima, na minha cara, e me disse, com aquele sotaque castelhano que me fazia lembrar
o sotaque de meu avô: - “Higino (Hirrino) és um mafioso, hijo da puta...” e deu uma enorme
gargalhada. Riu porque não era o grupo dele. Também ri e lhe disse: “dá-me isso aqui
porque pode haver outro curioso como você”. Fui até o rancho e coloquei os rolinhos no
fogo. Matei a prova do crime. O Gringo poderia até abrir o bico, mas não provaria nada.
Muito pouca gente sabe disso. Assim, o grupo quatro teve a oportunidade de apresentar seu
trabalho, que por sinal foi muito questionado. O meu grupo teve solução mais audaciosa.
Eles, querendo preservar a situação de primeiros na turma, ficaram nas soluções
conservadoras e óbvias.
Embora escola, todos os procedimentos quanto a tiro e educação física eram
mantidos. Quanto ao tiro, eu não fiz nenhum treinamento. Mas era obrigado a realizar o
Teste de Aptidão de Tiro – TAT. A atividade de tiro é como cobrar pênalti, no futebol: tem
que treinar, se possível, diariamente. Quanto mais treinar melhor fica. Se assim não for ao
chegar a hora de realizá-lo ou a hora que precisar dele, vai falhar. Para a realização do TAT,
os boxes na escola eram bem baixos. A minha cabeça passava quase meio metro acima da
parede lateral. Quando eu estava preparado para posicionar pés e pernas para o tiro,
esperando a autorização do instrutor, o companheiro ao lado se precipitou e deu um tiro. Eu
iria atirar bem depois de que todos iniciassem, pois eu queria proteger o ouvido com estopa.
Esquecera os chumaços de algodão. Mas o estampido, pelo lado esquerdo, não sei se pela
parede lateral baixa, ou por eu estar desprevenido, ou as duas coisas juntas, foi tão forte
que fiquei atordoado, quase tonto e com uma dor infernal no ouvido. A partir desse dia fiquei
com um zumbido que carrego até hoje. Anos depois, fazendo exames, foi constatada a
perda de 50% da audição. Até hoje fico chateado pela minha displicência. Na educação
física também se fazia o Teste de Aptidão Física – TAF. Pela nossa idade e pelo manual de
educação física da época, nós teríamos que fazer abdominal com tempo; flexão de braço
com tempo; barra sem tempo e corrida de 12 minutos (teste de Cooper). Quando o curso de
engenharia estava fazendo abdominal, braço e barra ao lado fazia a mesma coisa o curso
de intendência. Na barra o nosso instrutor, turma de 69, arremessador de peso quando
Cadete, fez a demonstração: pendurar na barra, estender todo o braço e quando ele desse o
‘já” então se começava a execução. Bom, ele estava certo e assim é o correto. Mas o índice
do pessoal caiu muito. Os que não estavam na execução, pois era em dupla, notaram os de
intendência fazendo mal a barra, com total conivência do instrutor deles: o aluno saltava
para pegar a barra a aproveitava o impulso para contar a primeira barra. E o hilário, ao invés
de baixar o corpo com a força do braço para fazer a segunda puxada, eles mantinham o
braço encolhido e fazia a flexão apenas da cabeça: levantava o queixo por sobre a barra e
conta uma vez, baixava o queixo novamente... o levantava e contava outra vês. Os sempre
desvalidos e desprotegidos protestaram junto ao nosso instrutor. Ele foi pelo amparo legal:
–“se fazem errado é problema deles; aqui se fará assim”. Liberalmente, decidiu o melhor,
isto é o legal. Mas que fora hilário, ah isso foi.
Como disse, parti para tirar nota sete. Fui um dos últimos na classificação. Pensei que
seria o último. Quando decidi pelo grau sete eu chamei os companheiros de turma mais
chegados, pois, modéstia à parte era muito considerado pelos companheiros de turma, e
avisei de minha decisão. Bom sobrou para eu escolher entre Alegrete, o 12º BECmb e o 1º
BECmb, no Rio. Decidi por Alegrete. Claro havia alguma cisma minha, pois lá servira como
Aspirante. Mas eu precisava exorcizar meu azar com o acidente do tiro.
A escolha no final do curso teve seus folclores. O dito popular que colocam nas
constituições: todos são iguais perante a lei - sempre será sofisma de advogados espertos
que fazem colocar na constituição federal, mecanismo que favorecem seus ganha-pães. O
termo é, na pratica, nunca aplicado, filosoficamente impossível e doutrinariamente inviável.
E, na escolha, não se aplicou a mesma lei. O companheiro que viera comigo de Porto Velho
veio como aluno BIÔNICO. Ele era o único da engenharia. Havia outros de cavalaria e
infantaria. Os biônicos escolhiam primeiro. Depois a escolha era pela classificação do curso.
O companheiro escolheu o Batalhão Logístico de Recife, pois o bom arataca era de Recife.
Depois de quinze dias veio uma ordem para ele retificar a escolha: teria que ser uma
unidade de engenharia onde pudesse aplicar os conhecimentos militares adquiridos. Ele,
ironicamente, disse que então escolheria qualquer unidade de engenharia no Iraque. Só
assim poderia aplicar os conhecimentos militares adquiridos. Na época havia a guerra Irã -
Iraque, sendo o ocidente todo a favor do Iraque para onde foram muitos equipamentos
bélicos fabricados no Brasil. Antes de refazer sua escolha, eis que um de turmas atrasadas,
de cavalaria, foi anunciado que voltaria como Ajudante de Ordem do Presidente da
República, de onde viera. Aí o biônico cresceu. Se o cavalariano pode aplicar os
conhecimentos militares adquiridos na Presidência da Republica, eu posso aplicar os meus
num Batalhão Logístico. Ficou o impasse. Os alunos de engenharia já haviam escolhido as
vagas restantes. Onde botar o biônico. Já nos dias finais do curso é que abriram uma vaga,
em Natal, ao biônico, com anuência dele, transferindo um azarado qualquer para outro lugar,
para abrir a vaga. Coisas de burocratas sem guerra.
Aproveitando que falo de oficiais mais antigos, havia o caso de um de cavalaria que
fora da seleção de futebol comigo. Ele sempre chegava no último momento antes do início
das aulas. Por vir sempre apressado, sempre estava acalorado, por agora cultivar um
elevado sobrepeso. Mal colocava seus pertences na mesa logo pedia ao instrutor para ir à
frente ligar o ventilador. Bem em cima dele tinha um ventilador de teto. Na sala havia vários.
Nesse dia, parte da engenharia teria aulas junto com acavalaria. Pois um gaiato,
cavalariano, claro, chegou antes e colocou talco na pá do ventilador do amigo. No momento,
todos os ventiladores funcionavam, menos o sobre a cabeça do amigo. O amigo pediu ao
instrutor para se levantar e ir à frente ligar o ventilador. O instrutor, até hoje acho que sabia
da brincadeira, demonstrando ser cortês foi lá e ligou o bendito. Todo o talco que estava na
pá caiu sobre o amigo atrasado. A sala ficou coberta de talco e o amigo e os de junto deles
ficaram cobertos de talco, todos muito branco. Detalhe, o tal amigo atrasado é negro retinto.
Foi ao mesmo tempo hilário, mas com raios de constrangimento. A aula atrasou de uns dez
minutos até o talco assentar.
O nosso instrutor chefe, como nunca saíra do Rio, era bem relacionado. Morava em
Ipanema. Por isso fez uma confraternização em uma boate em plena Copacabana. Foi
ótimo. O preço que cabia no bolso. O mais difícil não foi ir, mas voltar de madrugada. Na ida
o guia foi um companheiro, da turma de 70, conhecido dos tempos de Itajubá.
Logo chegamos ao final do ano. Teve uma comissão que organizou um baile num
lugar esquisito lá pela Vila Valqueire. O preço era um pouco alto. É que para uma festa á
noite, já naquele momento de final de ano não teria com quem deixar as meninas. Até me
arrependi de não ter ido. A formatura foi padrão, no auditório com “prêmios aos primeiros
colocados e entrega simbólica dos diplomas aos concludentes”.
Já começava a sentir saudade dos vizinhos. Consegui manter um bom trânsito entre
todos os companheiros de outras armas. Sabia que nunca mais encontraria a maioria
daquela turma. Alguns, na ECEME se eu a fizesse. Acaba virando uma família.
Meu vizinho de frente foi o Tic-tic, de engenharia; o de baixo um arataca de Maceió,
que fora da seleção de futebol. O de cima foi o japonês pára-quedista. O arataca, o Zé do
Coco, não sei por que do apelido, tinha um filho de dois anos. Fomos assistir a uma pelada,
doidos para sermos convidados, no campinho em frente à vila e também ao QG da Brigada
Pára-quedista. Estávamos ligados no jogo quando o menino começou a bater o pé bem forte
no chão e falar ai, ai, ai... Eu olhei para o pé dele e havia uma formiga saúva, daquela bem
cabeçuda, com suas lâminas totalmente enterradas no dedo do menino. Já escorria um fio
de sangue e ele só dizia ai, ai. Não chorou. Fiquei admirado com a resistência do moleque.
Pena que nunca mais tive oportunidade de revê-lo.
Após a formatura, a escola colocou todos os alunos em trânsito. Isso confiando que
depois de uma semana todos receberiam as ajudas de custo. Assim, no outro dia foi uma
correria para marcar mudança e seguir destino uns e outros ainda passar o final de ano com
familiares em algum ponto do Brasil. Como segui o conselho do subcomandante do 5º BEC,
eu tinha umas férias em atraso. Então entrei em férias. E, aí, nada dos recursos chegarem.
Alguns entregaram a mudança para transportadora e não tinha mais onde ficar. Outros
desmarcaram o embarque da mudança. A agonia demorou o mês inteiro. Como ninguém
mais sabia se viria recurso ainda naquele ano, muitos resolveram se apresentar novamente
na escola. Havia amparo legal para isso. A nota triste foi com um companheiro de
intendência. Como era do Rio e no Rio ficaria, resolveu fazer com recurso próprio a
mudança. Tudo embalado e quando os trabalhadores embarcavam as caixas, o seu filho de
três ou quatro anos subiu numa caixa e caiu da sacada da área de serviço, do quarto andar.
Teve morte instantânea. Foi um segundo de descuido e o ano dele foi de tragédia. O
apartamento dele fazia fundos com o meu, embora eu no segundo andar. Era filho único.
Quase pira, o amigo.
Mas enquanto todos se debatiam com falta de recursos financeiros e mudança, eu
estava em férias, mas preocupado. Segundo meus assentamentos, entrei de féria a 05 de
dezembro de 1980. As notícias sobre a ajuda de custo eram as mais estapafúrdias. Assim,
se ficasse para o ano seguinte, em algum momento eu deveria desocupar o apartamento
para ser preparado para aproxima turma. A Escola só tinha janeiro e fevereiro para isso,
com todos os transtornos de férias, encerramentos de exercício financeiro, transferência e
festas de fim de ano. Fui à Escola e soube que, com certeza, a ajuda de custo sairia entre
vinte e trinta de dezembro. Não se sabia o dia, mas era de todo confiável que sairia até 30
de dezembro.
Decidi que era o momento de ir embora. Acertei com a empresa transportadora e
marquei a mudança. Por coincidência e sorte, um companheiro de Comunicações, quem
nunca mais vi, ficaria no Rio, ali mesmo na vila. Segundo ele, não se mudaria, pois sempre
sobrava apartamento na Vila Militar. Mas foi de férias, pois não teria trânsito, para Campos,
cidade no Estado do Rio. Assim, ofereceu seu apartamento para eu ficar o quanto quisesse
após a entrega do meu apartamento. É que os transportes eram contratados pelo Exército.
Ora, as transportadoras tinham contratos anuais. Se passasse o ano, teria que ter novas
licitações. Eu deveria entregar a mudança, e todos os demais também, por isso a correria,
antes do dia trinta e um de dezembro. Mas o dinheiro nada.
Num dia qualquer que deve ser segunda feira fui a Escola e me confirmaram que o
dinheiro sairia até dia trinta e um. Fui à Caixa Econômica e conversei franco e aberto com o
gerente. Eu queria viajar, mas não tinha dinheiro, para chegar ao destino. Portanto dependia
da ajuda de custo. A Escola garantiu que sairia até dia trinta e um. Então eu precisava que
ele me concedesse pelo menos três talões de cheques especiais (Cheque Azul), pois esses
eram facilmente aceitos em qualquer praça ao longo do caminho até o destino. Como a
conta estava no Rio tais cheques só seriam compensados depois de remetidos para o Rio,
na época via malote. Portanto, teria tempo para ser depositada a ajuda de custo. Ele me
disse que o alto escalão da Caixa em Brasília, garantiu aos gerentes, que os recursos
sairiam no ano de qualquer maneira (problema no Brasil inteiro). E assim me deu cinco
talões de cheques. Também necessitaria de dinheiro para talvez alugar uma casa em
Alegrete.
Numa sexta feira dia 19 de dezembro, segundo as alterações, me apresentei na
escola desistindo do restante das férias e entrando em trânsito. A mudança fora entregue
naquela semana e ficamos três ou quatro dias no apartamento do nosso amigo
comunicante. Pelas minhas contas, saímos do Rio no dia 22 e dormimos em Resende.
Chegamos ao meio da tarde. Pude ir até a Academia, já fora do expediente e mostrar às
minhas filhas, ainda muito pequenas, a Academia Militar da Agulhas Negras onde nunca
mais pusera os pés. Achei tudo majestoso. Tudo era limpo, asseado, cuidado embora
apresentasse os desgastes dos anos. Fiquei mais fascinado do que sempre fora. Andamos
pelo centro de Resende e voltamos ao hotel de trânsito. Seguimos cedo já no dia 23 de
dezembro. O natal seria em qualquer ponto da BR 116 em algum estado da região sul. A
meta era atravessar São Paulo. Para isso, loucamente seguia as placas de indicações para
chegar à Rodovia Regis Bittencourt. Para minha felicidade, era só seguir a Marginal do
Tietê, novamente. Seguir as placas como me orientou um motorista de caminhão. Ao
começar São Paulo, completamos o tanque da, agora, Brasília. Ela estava entupida. Afinal
ali teria que ter material para se acampar em qualquer lugar. Quase que faço uma
barbeiragem e passo do lugar de entrada da Régis. Felizmente, ainda era um lugar de
poucas construções. Consegui dar uma ré de trinta metros e entrar no ramal certo. Como o
trecho daria em torno de 700 km, tentamos dormir em Curitiba. Lá por meio dia, na BR Regis
Bittencourt, pegamos uma chuva de granizo. Tinha uns renques de eucalipto e aí a dúvida:
fica em baixo e se livrar das pedras, que eram grandes, ou ficar sob os galhos que poderiam
se quebrar e cair sobre o carro. Foi um drama. Dormimos em Curitiba. Algum sufoco para
entrar e outros para sair de uma cidade tão grande, mas foi mais fácil que pensei. Não tinha
tanto rodoaneis como hoje. O próximo trecho seria até Porto Alegre, já no dia 24 de
dezembro. Trecho de uns 600 km, segundo o Google, hoje, mas na época, medido num bom
mapa do Guia Quatro Rodas. A noite seria natal: sem presentes, sem árvore, sem casa e
sem destino. Perto de Araranguá, Santa Carina, chovia muito. Pegamos um rio enchendo
com água já cobrindo o asfalto. Imagino que se demorássemos mais umas duas horas, não
mais passaríamos com o carro tão carregado e pesado. Foi um lance de sorte. Pelo andar
da carruagem resolvemos pernoitar em Osório, perto de Porto Alegre. Osório é uma cidade
onde nasceu o General Osório e ali tem um parque-museu em homenagem a Osório. Ao
lado da estrada tinha um hotel de arquitetura bonita. Parei mais cedo e preparar o espírito
para alguma coisa que pudesse lembrar o Natal. As meninas eram muito criança para ficar
sem falar em Natal. O bandido do hotel não teve nada do natal. Nem pagando. O jantar foi
muito mixuruca. Uma decepção e motivo para dormir cedo.
Na manhã de 25, seguimos rumo a Porto Alegre. Dali para frente eu dominava a
estrada. Passamos pela ponte sobre o Rio Guaíba – ponte elevatória no vão central.
Seguimos pela BR 290. Lembrei-me da primeira viagem, como Aspirante: “em ...tal cidade...
tem MUMU... Alegrete tem só MU”. Almoçamos em Rosário. As filhas pequenas não
entenderiam que ali se pisava sobre a história do Brasil. Pelas quatro da tarde, chegamos.
Resolvi entrar pela segunda entrada, vindo de Porto Alegre (primeira, vindo de Uruguaiana).
Lembrei da letra da música Canto Alegretense – “quem vem de Rosário ao fim da tarde...” –
sol direto na cara. Assim poderia já mostrar a Vila Militar. À medida que entrávamos, eu
recordava dos detalhes da cidade. Nada havia mudado. Acertei todas as ruas. Resolvi parar
na casa do sogro de um companheiro de turma. Foi uma surpresa geral. Todos da casa me
reconheceram de imediato e me receberam com euforia. Era como se o tempo houvesse
parado, tanto pelo reencontro com os amigos quanto pela involução da cidade. Esse sogro
era uma figura impar. Não tomava banho quente nem no forte do inverno. Segundo sua
mulher, que ficava segurando a toalha na porta do banheiro, pois tinha pena dele, saia tufos
de fumaça de seu corpo ao aguentar a água a quase zero grau. Depois da breve recepção,
fomos nos alojar em um hotel. E aí foi duro. Além de ruim era caro. Chegamos quase sem
dinheiro. Acho que passamos o “Primeiro do Ano” com os familiares do amigo.
Pela manhã fui ao quartel informando que teria quase um mês de trânsito e que
estava na guarnição e no hotel. O comandante do batalhão estava desesperado: não tinha
nenhum capitão no quartel. Imediatamente começou a me enrolar na bandeira. Ficou
acertado que eu ocuparia uma casa, até então fechada na vila; o quartel me daria colchão e
roupa de cama para que acampássemos na casa. O tenente aprovisionador conseguiu um
fogão de quatro bocas e botijão de gás para café e outros detalhes. Em fim, tudo facilitado
para eu desistir do restante do trânsito. Assim perdera quinze dias das férias e perderia uns
vinte de trânsito. Eu precisava de um lugar para ficar e o BE precisava de mim. Bom, fui
direto do hotel para a casa, isso já dia 26 de dezembro. Quando paguei o hotel, ficara com
dinheiro suficiente para apenas almoçar. Antes de ir para a casa da vila, passei na Caixa
Econômica e falei com o gerente. Contei a aventura e disse que estava ali para ele me
transferir a conta com o saldo, e pagar um valor maior por folha de cheque por que eu teria
que sobreviver por algum tempo. Imediatamente ele telefonou para a agência de Deodoro e
o gerente lá confirmou o depósito no dia 23 de dezembro. Ah! Se eu adivinhasse... Eu agora
tinha saldo. Fora solicitada a transferência da conta. Assim as folhas que trocara em
Alegrete iria para o Rio; como a conta já estaria a caminho de Alegrete (via correio – nem se
sonhava com e-mail) as folhas viriam para Alegrete para ser abatidas do saldo. Assim, teria
um bom tempo para fazer saldo médio, condição que ampliava ou diminuía o valor do
cheque especial.
Mas a casa estava toda reformada. Inclusive com sinteco novo. É que um capitão da
turma de 70 a preparara para ele. Como fora nomeado instrutor da ESA, nem chegou a
ocupar a casa. Ao entra na vila era a terceira casa á esquerda com um enorme pinheiro
perto da porta. Segundo as “informações de baias”, fora plantada pelo então tenente-coronel
Atos, o mesmo que fora meu comandante em Porto Velho. A casa fora casa de comandante.
Piso de sinteco (parquet para os gaúchos) com dois dias o sinteco soltou tudo. À medida
que se varria, ele ia estalando e se soltando. Começou na sala e foi por todos os quartos.
Tive que pagar a um soldado para refazer o serviço num sábado e domingo – raspar e
passar o sinteco (resina). O BE não dispunha de dinheiro para contratar terceiros para
refazer o serviço e nem comprar material. Foi duro aguentar por mais ou menos três dias
aquele cheiro forte e lacrimejar dos olhos. Acampamos, no acampamento da casa: na
cozinha.
Comecei a trabalhar sem as formalidades legais. Nas alterações dá a entender que
cumpri todo o ritual de transito. Perdi cerca de vinte dias do transito. Como tinha ESAO, fui
assumindo tudo; Era subcomandante e S 1234 ou SS1234, no jargão: um S de
Subcomandante e o outro S de S1; S2; S3 e S4. Ou S - tudo. Uma compensação: algumas
funções eram de majores e como eles não existiam, pagava-se a diferença, pois se tinha a
responsabilidade e não compensação. Logo passei a receber algumas gratificações de
majore sendo os descontos como capitão. Uma pena que isto mais tarde acabou. Era uma
coisa justa.
A cidade era a mesma, os quartéis os mesmos: uma companhia de Comunicações,
um BE, agora da 3ª DE, uma CSM, o 10º B Log e o 6º RCB.
O meu comandante fora promovido à coronel, por merecimento. Houve uma
cerimônia, um tanto dispensável quanto inútil, mas para algumas pessoas as aparências são
mais importantes que a capacidade de realizar. Assim, além dos cumprimentos de todos os
oficiais comandantes na guarnição, participava o comandante da guarnição que era do 10º B
Log, até então mais antigo, passou a mais moderno. Esse comandante do B Log era surdo
como porta. Usava parelho. Segundo seus oficiais, quando ele estava aborrecido, ele
desligava o aparelho e o pobre do subordinado, que ia despachar, só ouvia como resposta:
Ah... ahnn... haran...
Havia a viatura do comandante, uma Rural Willis e que levava as filhas, a mulher o
tempo todo para a cidade, colégio, cabeleireira e ainda atendia ao coronel que vinha almoçar
em casa. Havia comentários desairosos na cidade. Se colocasse um motorista para a
madame e usasse o carro deles, até se entenderia... mas um carro VO?... Como nosso
pessoal é inocente, chegando à infantilidade que alimenta frivolidade de mulheres pouco
evoluídas!
Por falar em B Log, registro uma situação de um companheiro de turma de Material
Bélico. Fizemos a ESAO junto. Não relatei antes, na cronologia, para que o caso todo fosse
contado por completo. Assim, ao terminar o curso ele me procurou por saber que eu viria
para Alegrete. Ele também escolhera ali. Mas era separado e até então não havia resolvido
o problema de divorcio. Assim, não podia incluir sua mulher de momento como dependente.
Como era separado legalmente, mas não divorciado, teria ajuda de custo de solteiro e
transporte para solteiro. Ele me pedia uma carona na minha metragem. Eu teria direito a
trinta metros cúbicos mas na verdade a mudança daria uns vinte metros cúbicos no máximo.
Aceitei levar muita coisa dele. O outro oficial que iria para Alegrete era da turma de 70, mas
ele não conhecia. Como era um companheiro muito acessível, compreendendo a situação
do amigo, também levou um monte de coisas dele. Enfim, fez sua mudança junto com a
nossa. Gozou seu transito e um belo dia chegou a Alegrete. Fora de taxi até perto da vila e
desceu errado. Numa tarde, eis que ele chega com a mulher, ela com uma enorme barriga,
se arrastando. Não tinha dinheiro para o hotel e pedia para fica em casa pelo menos uns
dois dias. Saiu da escola sem saber quando se pagaria a ajudada de custo. Fez o mesmo
esquema que fiz, na caixa e, dois dias, se mudou para uma casa alugada. O amigo até hoje
é muito agradecido pela ajuda. Já na vila, nasceu seu menino.
O outro capitão que fora comigo para Alegrete era da turma de 70. Como Cadete era
um dos líderes de sua turma. Era imensamente pratico. Ao se apresentar, foi designado para
a terceira seção e eu para a quarta seção. Ele tentou trocar, mas o comandante que saía,
por eu ter segurado o touro a unha, na virada do ano e o que mais deu trabalho foi a quarta
seção, ele resolveu me dar como prêmio tal seção. Eu explorei muito a experiência do velho
paranaense, pois fora fiscal administrativo em Cuiabá, no 9º BEC.
Também da ESAO fora para Alegrete um capitão de Comunicações. Chegou depois
de ter esgotado todo o trânsito. Não me lembro bem o porquê, mas ele ocupou a casa de
comandante da companhia. Depois de três meses, teve que mudar para um apartamento
alugado. Depois de seis meses, fora nomeado comandante da companhia. E voltou para a
casa na vila. Além de um bom cervejeiro, era uma pessoa de bom papo e peladeiro. Logo
conseguiu um time de veterano para jogarmos. Era vizinho do outro lado da rua. No forte do
inverno, tomamos cerveja na temperatura ambiente: fazia zero grau e a sensação térmica
era de menos cinco. Sentado no muro de sua casa, íamos retirando as garrafas do
engradado, abrindo e tomando. No interior das geladeiras estava a cinco graus.
O comandante havia sido nomeado instrutor na ECEME. Aliás, ele teve a bagatela de
quinze anos de ECEME. Tudo acertado quando chega a notícia: o comandante nomeado
pedira transferência para a reserva. Achou que o comando do 12º BECmb era muito pouco
para sua capacidade. Dava a si mais importância que a tinha. Foi o boato que correu na
época. Assim, ficamos no impasse: o comandante que saia, tinha que seguir, o a chegar,
não chegaria. Então, salomonicamente: passar o comando ao subcomandante e este passar
ao próximo nomeado. Daí, um comandante que assumiria em janeiro, chegaria em abril, se
não me engano. Mas, o tal subcomandante após assumir, reuniu a todos e disse que não
gastaria nada dos recursos do FOMEX. Deixaria tudo para o novo comandante.
Convém esclarecer o que seja FOMEX – Fomento do Exercito. Era um planejamento
do ano A-1 para o ano A. Se fazia fichas baseadas num manual onde tudo era codificado:
Elemento de Despesa – ED (os governos de esquerda alteraram - agora é ND – natureza
de despesa), subelementos e daí por diante. Grosso modo, os grandes títulos eram de
Material de Consumo; de Serviços de Terceiros e muito pouco de Material Permanente. A
parte de pessoal era com a alta administração. É claro que as estatísticas, até aquela época
não eram tão confiável. Portanto, haveria necessidade de ajuste. O então Ministério do
Exercito tinha a estrutura organizacional (bem diferente de hoje) baseada em
departamentos. A organização do EB era Departamental. Assim, tinha diferentes atividades
(em diretorias) agregadas a diferentes departamentos. Não listarei os departamentos e suas
diretorias pela monotonia e também pela obsolescência, uma vez que a alta administração,
depois que fui para a reserva, sofreu inúmeras modificações, de nomenclatura, mas de
eficácia duvidosa. Quando as atividades eram muito específicas, eram agrupadas em
Secretarias (comando de Gen de Ex). Mas, para o caso, tinha uma superdiretoria com o
nome de Diretoria Geral de Administração Financeira – DGAF que evoluiu para Secretaria
Economia e Finanças. Depois que o governo federal criou a estrutura de controle
orçamentário com o advento do Sistema de Administração Financeira – SIAF, e nas
adaptações que se fizeram necessárias, no EB, foi criada uma diretoria de Administração
Financeira. Pois bem, essa churumela toda é para dizer que o orçamento dos recursos para
a vida vegetativa (jargão da época, mas que quer dizer a sobrevivência diária) era planejada
no ano anterior, mas ajustava no ano considerado. Não podia pedir muito, se não
entesourava e faltaria dinheiro a alguém; se pedisse pouco, faltaria para alguma coisa: água,
luz, telefone, material de faxina... Olha era uma tarefa hercúlea do pessoal dessa diretoria a
tentar educar homens velhos com arcaicos vícios. Para ação motivacional, criaram um
jargão que era arrotado, a todo o momento, nas reuniões nas sedes de Regiões Militares,
para os ajustes: “O comandante é um administrador Verde-oliva” (embora o uniforme já não
mais fosse verde-oliva e sim camuflado). Se ajustar ao planejamento, a consumir o
planejado... era uma luta. Pois bem, o imbecil do meu então subcomandante, simplesmente
me proibiu de refazer o FOMEX. Perdemos a data do calendário. Assim, já em abril não
teria mais dinheiro para nada. E vencido o prazo, a diretoria não mandava dinheiro algum.
Ficaríamos sem água, luz, telefone, material de faxina, material de expediente, etc... etc...
Logo em fevereiro, o inverno começou a dar o ar de sua força. Antes de sua chegada
fomos a Uruguaiana e a “Paso de Los Libres”, “Província de Corrientes”, na Argentina, fazer
compras de roupa de inverno. Bom, por razões outras, não foi possível satisfazer a todos.
Na primeira oportunidade fomos a Santa do Livramento, vizinha com Rivera, no Uruguai.
Fugindo da cronologia, o inverno naquele ano foi bem forte. Para se dar banho nas filhas era
preciso aquecer o ar ambiente do banheiro com a lata de manteiga, com dois dedos da
álcool. Assim se retirava a suas roupas, colocava-as sob o chuveiro e em seguida se vestia
a roupa rapidamente. À noite, para pô-las em suas camas se passava com ferro elétrico os
lençóis e logo em seguida as colocava sobre o lençol e cobria com seus dois ou três
cobertores. As temperaturas eram em torno do zero grau. Mas havia um vento sul batizado
de MINUANO, com uns trinta a cinquenta quilômetros por hora que congelava qualquer
cristão. A sensação térmica era de menos cinco ou seis graus. A geladeira, dentro era de
cinco graus positivos. Assim, se se fechasse na geladeira, estaria melhor abrigado do frio do
que se estivesse fora.
A cidade também oferecia pouca opção para comida. O município é o maior do
estado em área e em rebanho de gado de abate. Tinha o maior frigorífico do Brasil, segundo
eles. Mas a carne, que se comia lá, era de vaca. As carnes de boi eram para exportação.
Assim, qualquer churrasco era de carne de ovelha e não as tais picanhas e costelas das
bravatas gauchas. Carecia também os hortifrutigranjeiros. Como ali não se plantava nada,
as hortaliças vinham de Porto Alegre, que vinham do CEASA de São Paulo.
Quando cheguei, encontrei um problema do comando anterior, que ainda refletia no
comando que saía e que ficaria para o que iria assumir. E eu tirei o corpo fora. A mulher do
então tenente-coronel Athos, comandante do batalhão, pintara um quadro, copiado ou
criado, retratando o Passo da Pátria, efeito de engenharia em combate que originou o
patrono Vilagran Cabrita. Bom, ficou isso no cassino dos oficiais. Eu não me lembro dele
quando fora ali tenente, depois do fato. O então tenente-coronel saiu general. E quando ele
foi a Alegrete, em inspeção, quis ver o tal quadro. Não acharam. De Brasília ele pedia que
apurassem o que foi feito com o quadro. Abriu-se uma sindicância. O quadro fora para o
cassino dos sargentos e de lá, retiraram a tela e a madeira fora para a granja. A tela nunca
mais foi recuperada. Mas quando sai, do batalhão para o CPOR, ainda havia a cobrança do
bendito quadro. Nunca soube do resultado final.
Num dia qualquer apareceu a noticia do novo comandante. Viria de Brasília.
Chegando e assumindo o comando, notou-se que o comandante casou-se velho, com
uma mulher velha e tinha filhos novos. Isto é, tinha os mesmos problemas que a gente,
capitão, com crianças no pré-escolar. Para as esposas dos tenentes e capitães foi bom
porque nas reuniões as conversas giravam em torno de filhos na pré-escola.
A figura era meio rara. Não era maldosa, mas temperamental. Tinha dificuldade de
articulação de ideias por pensar mais rápido do que falava. Fumava desbragadamente.
Como eu também fumava da mesma marca que ele – Hollywood – algumas vezes ele fumou
o meu cigarro e o dele; muitas vezes pegou meu cigarro que estava maior que o dele e
deixava no cinzeiro o menor que era o dele. No final eu não fumava mais durante o
despacho. Era um tanto inseguro, pois estava afastado das lides “quartelenses”. Assim,
cada despacho era uma ligação para a diretoria que controlava tal atividade. Após assumir o
comando, o que estava interino, em março ou abril fora promovido a coronel e pediu
passagem para a reserva. Era de Pernambuco ou Piauí.
Mas havia o “pepino” a ser descascado: a verba FOMEX. Lá por abril teve a bendita
reunião com a SEF(Secretaria de Economia e Finanças), em Porto Alegre. Quem deveria ir
era o comandante e, se possível, o comandante e o Fiscal Administrativo. Os de PA era
obrigatório a ida dos dois. Mas o bendito do comandante me escalou com uma série de
recomendações. O grande administrador verde oliva, Diretor da Diretoria de Administração
Financeira – DAF – era a pessoa que distribuía os recursos. Ele mais tarde fora o fundador
da POUPEX. Depois de discorrer sobre o orçamento do ano e as medidas restritivas do
governo (sempre o velho chavão de orçamento curto) passou a atender as unidades
(comandante) sobre complementação do FOMEX. Sempre teria que apresentar fatos novos.
E ali fui enfrentar a fera. Quando disse que nada fora solicitado no prazo de calendário
porque o comandante interino não quis, ele quase teve um colapso. Ficou tão nervoso que
achei que me atiraria sua vareta de apontar. Ficou lívido de raiva. Disse a ele que não era
culpado. Era apenas o Fiscal Administrativo e que o comandante, que assumiu, me escalou
para apresentar o problema. O Comandante, na verdade pediu que eu consultasse o chefe
de gabinete desse general, porque eles eram da mesma cidade – Bagé. Mas o pobre
coronel (depois servi com ele em Porto Velho; ele como general da 17ª Brigada de Selva)
nada podia fazer porque os pedidos e as dúvidas eram tirados no auditório, para todos
ouvirem e questionado diretamente pelo general. Fiquei numa situação vexatória completa:
de roldão fui taxado de incompetente juntamente com o comandante interino e com o atual.
Eu de pé e um monte de gente rindo de mim e rindo para o general. Mas consegui os
recursos para o ano todo, muito magro, mas o suficiente para aguentar o ano.
Chegando ao quartel, o coronel ainda me questionou sobre o meu desempenho. Pedi
a ele que se ligasse com o seu coronel conterrâneo. E ele não se fez de rogado: telefonou
na minha frente. Acho que levou uma bronca, pois começou a falar que tinha mandado um
capitão novo e inexperiente para a reunião (o que era verdade). Parece que quando o
coronel reconheceu nele o caso do capitão que ficou lá com cara de estátua, ele baixou a
voz e só grunhia: é... hann... tá certo... hanran. Depois que terminou ele me disse: – “é ele
gostou de sua atuação, pois o general não estava disposto a ceder nada”. Senti que eu fora
boi de piranha – se desse errado eu seria desculpado pela inexperiência; se ele,
comandante, fosse à reunião, tal inexperiência não poderia ser alegada.
Voltando ao quartel e sabendo que deveria economizar, ao máximo, com material de
expediente e de faxina, e transpor essa economia para água, luz e telefone, aconteceu algo
inusitado. Marquei uma reunião com os subtenentes, os responsáveis pela manutenção de
todos os materiais e instalações de suas companhias. Havia uma lista de material de
limpeza de cada subunidade. Quando ela fora feita, não se sabia. O Tenente almoxarife
(também aprovisionador) me alertou que a tal lista estava desatualizada. Bom, falei aos
subtenentes que precisava da atenção deles devido a nossa “pobreza”. Por sugestão de um
deles, resolvi fazer uma inspeção geral no quartel. Falei com o comandante e nomeamos
uma comissão para avaliar sobre os gastos de tudo no quartel, comprado pela verba do
FOMEx. A comissão era eu, o almoxarife e dois subtenentes mais antigos.
Fomos primeiro para a companhia do mais antigo. Lá começamos por esvaziar o
depósito. Olha, era tanto material “encafofado”, como disse um soldado que nos auxiliava.
Tinha material do tempo da cavalaria hipo. Tinha porta que não se sabia a última vez que
fora aberta, pois o agora subtenente servia, na mesma companhia, por dez anos e nunca a
vira aberta. Até explosivos exudando foram encontrados. Bom, encontramos tudo o que
precisávamos: sabão, papel higiênico, vassoura, rodo e... por ai a fora. Tudo fora recolhido
ao almoxarifado. Tinha resmas e resmas de papel se estragando. É que as bendita lista era
uma cota onde não se pedia o que precisava e sim o que estava na lista, precisando ou não.
Passadas as companhias, o balanço inicial era de mais de quatrocentos cabos de rodo e ou
vassoura; mais de duzentos rodos; umas cem vassouras; remas de papel que era o
consumo de um ano; tinta de mimeógrafos, réguas, canetas, lápis borracha... clip metálico
então daria para fazer um tapete para o pátio de formatura. Passamos para as seções
administrativas do batalhão. Novamente muito material estocado. Tudo o que excedia a um
mês de consumo, fora recolhido. Reajustamos as tais listas. Assim, ficamos com material
para o ano todo, claro com ajuste em alguns itens. Foi aí que eu aprendi a ter má vontade
com “cafofo” fechado, particularmente os de subtenentes, nas subunidades; gavetas
fechadas; armários trancados... Numa das companhias, havia todo o ferramental, de viaturas
descarregadas, e que fora até motivo de sindicância por haver desparecido. Estava num
sótão.
Disse ao comandante que gostaria de recompor e refazer as pistas que existiam no
batalhão. Afinal todas foram feitas pela minha turma. Havia a de combate, da qual eu
participei direto como projetista quando recuperava da cirurgia do joelho; a de corda, igual a
da Brigada Paraquedista e a de Guerrilha Urbana, modelo copiado pelo REI, Regimento
Escola de Infantaria, em São Domingos. Eram todas cordas grossas, de uma polegada. Tais
cordas não são vendidas por metro, mas por quilo. Resolvi pesquisar a praça. Comprar na
cidade sempre é uma forma de prestigiar o comércio, obrigar ao comerciante se organizar e
outras vantagens para o local.
Na segunda casa pesquisada, fui atendido por um rapaz de voz forte. Perguntei sobre
a tais cordas. Ele me disse que não tinha para pronta entrega e que isso teria que vir de
Porto Alegre. Instintivamente eu disse: - “Puta merda”... Do outro lado, o jovem que me
atendeu pareceu que não guardara o nome, apenas o “capitão”. Disse ele, depois do “puta
merda”: – “Capitão qual seu nome mesmo”? Eu disse: – “Higino”! Ele perguntou ainda: –
“mas o tenente Higino que foi aspirante aqui”? Respondi que sim, era eu mesmo voltando. Aí
ele deu uma baita gargalhada do outro lado: – “Eu fui do seu pelotão; fui o soldado X, lhe
reconheci pelo ‘puta merda’... é o mesmo de Aspirante”... . Rimos desbragadamente pelo
telefone. Os sargentos da seção ficaram até assustados. Tive que explicar para eles o caso.
Também riram do inusitado. Acabei por visitar o jovem onde trabalhava e era meio gerente
da loja. Enfim acabei por não comprar: nosso dinheiro não dava nem para o começo.
Um dia veio o tenente das oficinas e o operador de motoniveladora, um cabo... Hoje
não me lembro dos nomes deles. Vinham com um rol de peças para a recuperação de uma
motoniveladora. Senti que nenhum dos dois estava seguro da relação de peças, pois em
duas perguntas sobre o catálogo de peças foi o suficiente para enrolá-los. Levantei e fui com
eles ver a tal máquina. Chegando à oficina, pedi o catálogo. Fui à plaqueta de identificação e
levantei os dados: série e modelo. Com o catálogo descobri que a maquina simplesmente
era de 1942, seis anos mais velha que eu. Quando aprofundamos a inspeção na máquina,
apenas precisaria uma máquina nova, em peças novas, para fazer aquilo andar.
Fui ao comandante e expus a ele a situação. Por telefone, marquei um dia para que o
representante da Caterpillar, sediado em Uruguaiana, fosse a Alegrete e alia avaliarmos
mais a máquina. Como eu desconfiava, não existiam mais peças para ela. Tudo seria pedido
à Caterpillar Miami, que pediria às fabricas de peças. Pedi isso por escrito, junto com uma
avaliação estimada de custo, pois tudo era importado e seria com o valor do dólar do dia do
pagamento. A relação cambial era absurda: “Z” mil cruzeiros por dólar. No orçamento dos
quartéis, o tal FOMEX era proibido falar em material importado. Importado deveria ser
pedido numa ficha, no ano A-2... Dificuldade para não comprar mesmo. Fizemos um
expediente à Região Militar solicitando autorização para alienar. Antes, telefonei para o
chefe da Seção de Material de Engenharia, do Escalão Logístico – canal “prezado amigo”, o
que mais funciona em órgãos públicos. A palavra final seria dele. E foi favorável. Assim, com
a ajuda do outro capitão que serviram em Cuiabá, pedimos uma cópia de uma licitação de
alienação. Pois teve maluco que comprou. Não me lembro quem, mas alguém que tinha
uma ruma de máquina velha e trabalhava com prefeituras, fazendas e lavouras topou a
parada. Fui dar uma inspeção geral no material de engenharia, como fizera com o material
de expediente nas companhias. Não deu outra: era tanta peça velha, obsoleta que lotou
meio caminhão de peças inservíveis, tanto da motoniveladora alienada quanto de trator que
não mais existia. Minha primeira reação foi vender por quilo, como ferro velho. Mas tive um
momento de lucidez: convidei o senhor representante Caterpillar a visitar o batalhão
novamente, pois ele vinha quase todas as semanas a Alegrete. Foi o tempo de relacionar
tudo, pois estavam com etiquetas com referencias e quantidades. A quantidade de
retentores, filtro de óleo, combustível e de ar era elevado. Ele pediu um mês para tentar
levantar o preço da relação. Logo descartou o interesse de ficar com o material por troca por
outros, para nós necessários, ou ficar em consignação. Qual não foi minha surpresa que o
rol de peças dava uma baba de dinheiro. Telefonei para o senhor que comprara a
motoniveladora, na alienação, e ofereci o material com quarenta por cento de desconto,
conforme o preço mandado pela Caterpillar. Ele pediu para pensar. Na verdade ele telefonou
para a Caterpillar Uruguaiana e, eu soube, depois para a de Porto Alegre, também. Topou
comprar. Aí fui pedir o aval do comandante, mas da seguinte forma: comprar colchões, pois
na incorporação não pudemos fazer o internato por falta de colchões. E o que estava nas
camas simplesmente era deprimente para jovens que saiam da casa dos pais para dormir
naqueles lixos.
O comandante topou e assim negociamos. Entre o papo com o comandante e a
resposta ao senhor, incluí as cordas das pistas. Precisávamos de trezentos colchões e
duzentos e tantos metros de corda de uma polegada. O colchão deveria ser de boa
qualidade: especificamos por colchão que tinha na cidade. Ele comprou muito mais barato
em Porto Alegre. Assim, um belo dia chegaram os trezentos colchões e as cordas das
pistas. Fiquei numa enorme felicidade: tinha transformado ferro velho em algo de muita
necessidade. Colchão para cá, peças velhas para lá. Os sargentos mais velhos do batalhão
ficaram maravilhados com a ousadia e a determinação de se fazer as coisas. Claro, havia
irregularidade: as peças deveriam ser alienadas como peças obsoletas ou como ferro velho.
Mas se havia a irregularidade, se estava fora da lei, a ação era extremamente moral e
vantajoso para “Fazenda Nacional”, segundo o jargão. Na nova incorporação teve internato.
O mesmo tenente que veio com a relação de peças da motoniveladora, numa
segunda feira, me procura com o motorista do comandante, um soldado antigo do meu
tempo de tenente. O soldado estava com a cara de um derrotado. O tenente com ares
preocupadíssimo. Assim que entraram, em minha sala, o tenente desembuchou: – “capitão,
o carro do comandante bateu o motor em Rosário, quando vinha de Santa Maria” (não me
lembro do motivo que para lá fora o carro). “É uma coisa grave; o motorista, com tanto
tempo de motorista, não podia ter deixado acontecer isso; vim aqui para o senhor publicar a
minha nomeação para o Inquérito Técnico; tomara que a Região não transforme isso num
IPM”. O soldado quase explodia de nervoso. Perguntei ao tenente e ao soldado se eles
sabiam o que teria feito o motor superaquecer até trancar os pistões: falta d’água ou falta de
óleo? O tenente resolveu mostrar conhecimento com aquele sotaque carioca chiado: –
“Capitão, pode ter sido por ‘causaxs técnicaixs’ ou ‘falhaxs humanaxs’...”. Explodi e disse:
“Vá a m... quero saber por que parou”. Perguntei ao soldado sobre água e óleo. O soldado
disse que por falta d’água não foi; por falta de óleo também não foi. Disse eu: – “vamos
trazer o carro para cá e vamos investigar o motivo disso”. O Tenente deu um salto na
cadeira: - “Maixs capitão, isso é manutenção de quarrrto exscalão !!! Só o B Log ou o
Parrrque de Santa Maria podem mexerrr no carro”... De novo eu disse: – “Vá a m... se não
sabemos o que aconteceu... como recolher um carro que não se sabe o diagnóstico. Vai
assinar atestado de burrice”? Ele ficou vermelho, azul, mas engoliu. Mal sabia ele que eu já
havia aberto motor de D/8 em plena caixa de empréstimo, no trecho. Pegamos uma viatura
de ponte, 5 toneladas, e mandei o soldado motorista do carro com motorista do caminhão,
como castigo, trazer a viatura que ficara no quartel em Rosário. Chegando, pedi que o
sargento mais experiente fosse fazer a retirada do motor para que se tivesse uma ideia do
que acontecera. O carro era um Aero-Willis, já em vias de ser aposentado. Quando soltaram
a bomba d’água viram que a engrenagem (polia) do eixo de manivela havia quebrado ao
meio (problema na fundição da peça) e trancado tudo. O soldado veio correndo, esbaforido e
alegre, desde a oficina, para me informar que o motor não havia trancado (não havia batido,
segundo o jargão). Logo depois viera o Tenente com cara de aliviado da responsabilidade
de ver aberto um motor nas oficinas do BE. Liguei para o Blog, ali de Alegrete, e falei com o
fiscal administrativo, o jovem capitão de quem eu trouxe parte de sua mudança. O infalível
uso do canal técnico “prezado amigo,” sobre algum carro descarregado ou em vias de tal
processo administrativo. Disse que tinha quatro. Falei-lhe do acontecido e ele autorizou
retirar a polia boa e colocar a quebrada no lugar. Bom, em meio dia o carro do comandante
estava funcionando, o soldado feliz da vida porque não fora relapso, como já se insinuava, e
o tenente maravilhado pela nossa ousadia: capitão, tenente, soldado... Aí contei a eles
minhas experiências de trecho. Se não tenho cancha, o carro ficaria uns dois anos para ser
recuperado. O soldado seria massacrado, pela pecha de descuidado. Os burocratas, ou
melhor, os omissos legais, tem uma facilidade de encontrar um culpado e assim
“desassumir” responsabilidades.
Um belo dia chega a Alegrete o Chefe do Serviço de engenharia do Escalão Logístico
da 3ª Região Militar. Era tenente-coronel da mesma turma do meu comandante. Fora lá para
coordenar a transferência de equipagens de pontes B4A1. No meu elogio de despedida o
comandante botou que era a transferência de ½ equipagem, mas para mim era muito mais.
É que ao 12º BE Cmb, anos anteriores, recebera portadas e uma equipagem de ponte
“ribbon bridge” ou “ponte fita” em português. Para acomodar a “Ribbon”, a B4 A1 teve que
ser desalojada e apodrecia na chuva e sol, incluídas as viaturas todas DODGE de 1940. Era
o fim da picada: material obsoleto já na 2ª Grande Guerra, seria gasto um montão de
dinheiro para redistribuir tal material. Tinha parte de equipagem – ¼ de equipagem – que
fora distribuída para o 6º BEC em Roraima. Isso porque lá, nunca entendi, funcionaria um
curso de aperfeiçoamento de sargentos e, para tanto, necessitava de material de pontes.
Ora, porque não continuava o aperfeiçoamento em Itajubá? Mas... Coisas do EB... Alguém
seria promovido pela brilhante ideia. Eram vagas e vagas de caminhões... Um pontão já era
uma carga de um caminhão. No final, tinha mais material que nos controles. É certo que
material descarregado fora reincorporado indevidamente. Redistribui ali mesmo por conta
risco: – “se está sobrando, coloque no lote do 6º BEC”. Sabia que, se faltasse um parafuso,
eles nunca mais receberiam: material obsoleto, sem peças de reposição e importado, o que
era pior. Do chefe do serviço de engenharia, recebemos elogio pela licitação da
motoniveladora. Ele só não ficou sabendo da química feita para transformar peças velhas
em colchões. Lei de Lavoisier: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma; no mínimo
se copia.
Quando me apresentei pronto e fazia uma visita ao aquartelamento tropecei com uma
figura até elegante, mas a mim desconhecida, vista apenas nas Revistas Americanas: um
blindado lançador de pontes. O 12º BE sempre teve sua definição de subordinação e apoio
bem confusa: fora de apoio divisionário da Divisão de Cavalaria de Uruguaiana, cujo número
nunca soube, mas deduzo ser 2ª DC; depois a tal Divisão virou 2ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada e o BE continuava a lhe ser subordinado; Depois colocaram uma Divisão de
Exército em Santa Maria, a 3ª DE (enquadrar as diversas brigadas na fronteira), e então o
BE lhe passou a ser subordinada, agora coerente: Batalhão de engenharia para uma Divisão
de Exército. Dosagem de apoio correta, no jargão. Mas quando cheguei, a tal Brigada de
Uruguaiana não tinha sua companhia de engenharia, orgânica no jargão, arranjo copiado de
americano que sempre fui contra: uma Brigada tem em sua organização uma companhia de
engenharia de combate (absurdo doutrinário e semântico). Daí, já no meu tempo de
Aspirante, havia uma companhia de engenharia do BE que era companhia de engenharia
blindada (sem carro blindado), coisas do “faz de conta”. Bom, tudo isso acima para justificar
que tal carro lançador de pontes era para a tal companhia de engenharia blindada para
apoio à 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana.
Em tempos de internet, descobri uma joia de matéria onde tem até imagem do tal
carro. Trabalho de um dos tantos “especialistas” no Brasil; este, especialista em defesa, da
Universidade Federal de Juiz de Fora: www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/XLP10.pdf . No
sítio da UFJF tem a página que trata de outros assuntos de defesa:
http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/.
Bom, o sistema era denominado de XLP-10 porque a ponte suportaria classe (coisa
complicado de explicar, particularmente para infante e cavalariano) até 10 toneladas. O
carro, plataforma, era a antiga perereca CCL - blindado da segunda guerra – M3A1-
STURAT, adaptado com motor SCANIA. Era com cinco marchas à frente e uma a ré e 55
km/h no máximo. Na adaptação ficou com a nomenclatura de CCL-XP. As adaptações
foram feitas pela empresa civil BERNARDINI Indústria e Comércio, de São Paulo. Esta
empresa era especializada em fabricar cofres de segurança de qualquer tamanho.
A Ponte era de alumínio, com dez metros de comprimento (oito metros úteis, pois um
metro de cada lado deveria se apoiar no barranco do vão a ser vencido). Pesava 2.600 kg, o
que significava ser impossível ser manipulada a braço. O próprio motorista do carro lançava
a ponte com tempo estimado de três minutos usando sistema hidráulico para lançamento e
recolhimento. A ponte ficava sobre a torre que fora retirada para a adaptação. Então, o
carro, com a ponte toda deslocada para frente, ia até à brecha, lançava a ponte, atravessa
primeiro e esperava os veículos previstos passarem; logo atrás, recolhia a ponte; Havia dois
XLP-10 porque enquanto um estava parado esperando o tráfego, o outro estava em
condições de cobrir outras brechas adiante.
Depois de uns três meses, passando pela oficina, perguntei quem eram os motoristas
que foram treinados para dirigir o tal XLP-10. Apresentaram-se dois cabos. Pedi que
preparassem o carro para eu ver o lançamento e recolhimento, no outro dia. Na passada
disse ao novo comandante dos tais carros. No fim, fomos todos do Estado Maior assistir à
apresentação. Durante a demonstração, fiquei sabendo que os carros já faziam dois anos
que estavam no batalhão e que deveria ter sido feito um teste com eles, no campo. Deste
teste, deveria se fazer um relatório. Foi pra logo que nomeei uma comissão: igual à equipe
de futebol escolhida pelo dono da bola: “eu” e mais dois oficiais: um tenente de engenharia e
o tenente das oficinas. Levamos um carro, transportado em prancha, carreta, até a nossa
granja, à beira do riacho Caverá. O outro, já em situação de teste, foi rodando: uns vinte
quilômetros. Nesse deslocamento era para verificar a maior velocidade que se obtinha em
estradas asfaltada. O terreno na granja era do tipo americano: locais planos, locais com
morrotes (coxilhas, para os gaúchos) com grande inclinação, terreno arenoso, terreno
pedregoso... tinha terreno para todo os gostos. Bom, quando chegou o XLP que fora por
terra, já tivemos uma informação terrível. O comando hidráulico, para movimentação da
ponte e estabilização do conjunto, por sapatas, com quatro ou cinco alavancas, ficava
exatamente à frente da caixa de marcha. E por isso, a quinta marcha não entrava, por que
no curso da alavanca de cambio, ela tocava na dita caixa de comando hidráulico. Assim, não
foi possível chegar à velocidade máxima, pois em quarta marcha se chegou a quarenta
km/h. Fomos para os testes de deslocamento no campo, ataque a rampa e barrancos. Nada
do que as características técnicas prescreviam, funcionava. As marchas eram complicadas:
até a terceira e a ré, ficava fácil, mas a quarta era com algum esforço e a quinta impossível.
Quando, a trinta km/h, com freada brusca, a ponte balançava tanto que tocava a ponta no
chão. Havia um pino trava, que, num desses movimentos bruscos, o danado se partiu e a
ponte caiu do carro. Outro inconveniente: se por acaso a bateria perdesse a carga com a
ponte, em posição de transporte, não se tinha acesso ao cofre do motor nem para retirar a
bateria e nem para dar “chupeta”. Na realização da chupeta, manualmente, havia risco da
ponte cair do carro, e até acidentar alguém. Para terminar o teste, uma das lagartas
arrebentou. Foi um pára para acertar: recolher o carro de volta. Fizemos o Relatório da
Comissão. O coronel enviou para a 3ª Região Militar. Depois de uns trinta dias, chegaram
três engenheiros e um coronel da reserva, de cavalaria e sem ECEME. O coronel disse que
tínhamos sido muito rigorosos, que o carro era um protótipo, que exageramos nos testes... e
começou a falar sobre o emprego de bilindados. Deixei-o falar bastante. Disse a ele que ali
estava um oficial de engenharia que não estava preocupado com emprego de blindados e
sim com o apoio de engenharia. Para tal apoio, o conjunto era deficiente, pouco operacional.
Reconhecia o esforço de se fazer um material nacional, mas ele teria que ter confiabilidade
mínima. Não era uma brincadeira de crianças com carrinhos de controle remoto. O coronel
foi à loucura: quase tem um infarto. Eu disse que se eles aperfeiçoassem o carro eu estaria
pronto a fazer o teste de campo e não cobraria nada.
Como tinha estourado uma lagarta, resolveram mandar de São Paulo uma equipe
para recolocar e emendar a tal sapata. Chegaram dois jovens com uma caixa de
ferramentas. Solicitaram o apoio em máquina de solda. Fiquei curioso. Disse que quando
fossem fazer a solda eu gostaria de estar junto. E assim foi feito. Eles trouxeram alguns elos
e com eles tentaram emendar a lagarta (que em trator é esteira) refazendo os patins (que
em trator é telha da esteira). A conversa foi se alongando e as confianças estabelecendo.
Perguntei ao mais experiente e que estava de chefe, como eram feitas as alterações
necessárias, lá na Bernardini. Se os engenheiros redesenhavam a peça, ou o conjunto, e
depois a seção de produção fazia as adaptações práticas ou era, como eu estava
pensando: corta, emenda, testa e, se der certo, redesenha. Acertei na mosca: corta e solda.
Exatamente como faziam meu soldador japonês em Feijó: – “Tenente, isto é fácil: corta com
máquina de solda; solda a outra parte e fazemos a peça...”. A figura do XLP-10 era bonita e
imponente, muito boa para os desfiles de sete de setembro. Mas ainda era um protótipo bem
protótipo. A Bernardini já trabalhava no XLP-20, para brecha de vinte metros e classe que
não me lembro.
O S/3 marcou uma reunião com o comandante e todo o Estado Maior: viria o
comandante da 3ª Região em inspeção administrativa. Informações das baias davam conta
de que era “despacienciado”, grosso e até agressivo. Ninguém, em Alegrete, tinha servido
com o homem. Tudo era incógnita. E a nossa unidade seria a primeira a ser visitada.
Engraçado que em Alegrete o único lugar onde se tinha apartamento para hóspede era no
Hospital da Guarnição. Ao Fiscal Administrativo, segundo a orientação da Ordem de Serviço
recebida, caberia apresentar e justificar as necessidades de obras, estar em condições de
inspeção de viaturas e equipamentos de engenharia.
O comandante, desse dia em diante passou a fumar três carteiras de cigarros por
expediente. No batalhão ainda explorava a cantina o velho Barua, o mesmo que tinha a
cantina no meu tempo de Aspirante e onde algumas vezes almocei. Na cidade, fora
promovido de mestre de obras para construtor. Fiz uma inspeção geral de obras. Pensei em
solicitar um engenheiro da CRO/3. Fiquei sabendo que apenas o chefe era de origem de
engenharia. Sem “pré – conceito”, mas com alto índice de constatação, os de outras armas,
com curso de fortificações, estão sempre à beira do colapso. Fui com cada comandante de
companhia, almoxarifado, garagens e oficinas. Disso levantamos uma ordem de prioridade
com o comandante. Estabelecida a ordem, com o auxilio dos capitães e almoxarife, passei
três dias com o Barua medindo e calculando para orçamento segundo os preços da cidade e
sua experiência para orçamento do material e mão de obra. Consegui montar um mapa
(hoje seria “planilha Excel”) onde tinha: o pavilhão; o serviço a ser executado; o preço do
material, se fosse executado pelos “Serviços Gerais”; preço da mão de obra se
comprássemos o material; preço total se fosse tudo empreitado e o tempo estimado para
execução de cada obra.
Após a “expedita exposição do comandante”, como estava na Ordem de Serviço,
saímos ver as instalações. Fomos direto para o pavilhão do almoxarifado. O telhado além de
velho estava preste a cair. Assim que o general olhou para cima a primeira coisa que
perguntou foi: quanto custa para reformar isso? Respondi na lata, com meu mapa na mão:
custo total é tanto; se for só o material custa tanto, se empreitar a mão de obra, fica em
tanto; como é uma obra de extensão, somos de parecer que seja empreitado, pois requer
profissionais bem experiente (na verdade estava querendo arrumar serviço para o Barua
para compensar o tempo que ele perdeu comigo). O general ficou quieto; fomos para uma
companhia onde o banheiro estava um desastre. Veio a pergunta: em quanto fica isso?
Resposta como a anterior: se for empreita total fica em x; se.. fica.. se .. fica em... Esta, o
nosso serviços gerais tem condições de fazer bem feito... E assim fomos. Nas garagens o
general pediu meu mapa. E veio o momento de ápice: –“Coronel, eu quero parabenizar seu
pessoal em particular ao capitão; tudo muito bem orçado e com alternativas; garanto de
imediato o recurso para o telhado do almoxarifado; vou levar este mapa e vou conseguir
dinheiro para isso, isso e aquilo; quero uma cópia do mapa para mostrar às demais
unidades como se planeja obras, para uma inspeção de Região Militar”. O homem bravo era
todo sorriso e gentileza conosco.
Mas sempre tem o “porém”. O comandante resolveu mostrar o XLP-10. Colocaram o
danado na frente das oficinas, um lugar plano. O motorista do carro entrou, ligou e nada... o
general virou e me disse: –“Capitão, isso não pode acontecer”!!! Eu respondi: –“General,
agora de manhã, antes de o senhor chegar, ele funcionou; eu testei”. Quando disse “eu
testei” seu rosto voltou a ser o que era, pois simplesmente ele o tinha se transformado numa
coisa agressiva. E, aí, o que era para ser a apoteose ficou como vexame. Rapidão, soltamos
os pinos de trava da ponte; assim com acesso à bateria, troca de bateria sem fixar bem o
bornes e o danado funcionou quando o general estava a vinte metros já indo embora. Ele iria
para o PC do comandante e eu e as oficinas ficaríamos com o Escalão Logístico para
inspeção de viaturas e máquinas. O general se dignou a voltar e ver a demonstração que
era até bonita... Senti que o chefe era temperamental, mas também que gostava de
sinceridade e de pronta entrega no que se fazia. No meu setor, viu o esforço para se fazer
os orçamentos e aceitou o argumento de, pessoalmente, ter ido funcionar o blindado.
Com o escalão logístico, fomos verificar as diversas viaturas. Um major e um tenente
QAO. Perguntei por onde começaríamos uma vez que gostaria de mostrar alguns problemas
de peças para as viaturas 5 toneladas da ponte “ribbon”, os caminhões com motores e
chassi Mercedes-Benz, mas com suspensão de uma empresa que não me lembro. Esta
suspensão em ”tandem”, como de motoniveladora, foi chamado de “boomeang”, e as
viaturas pegaram o apelido, de “viaturas boomerang”. Havia uns benditos de uns retentores
que o manual mandava substituir a cada dois mil quilômetros. Entretanto, nem a fábrica fazia
mais o tal retentor. A solução: ou se adaptava outro retentor ou se fabricaria em algum lugar,
pois da forma que estava todas iriam para o “cavalete” (suporte onde se colocava as viaturas
para retirar o pneu do chão). Perguntei se ele iria verificar o registro de todas as viaturas
(Livro Registro, de manutenção). Disse que não precisava. Chamou-me para uma viatura
onde estavam o sargento de manutenção e o motorista, como manda o regulamento, e me
disse: –“Olha isso aqui: tudo nessa viatura tem INDÍCIOS DE MANUTENÇÃO bem feita; se
vê que a graxa não foi posta ontem, pois os pinos estão limpos; as pinturas não foram feitas
para nos receber, mas se vê que foram pintadas a pouco tempo; se vocês estão insistindo
para mostrar os livros é porque estão escriturados; portanto não vou perder tempo vendo o
que já sei como está. Vamos nos reunir em algum lugar com todos os sargentos mecânicos
e vamos conversar sobre a manutenção e de como estão chegando os suprimentos”. Foi
uma aula que levei para o resto da vida: INDICIOS DE MANUTENÇÃO.
Tínhamos ganhado da família de amigos (sogro do companheiro de turma casado em
Alegrete) um cachorro Collie. Aquela raça que ficou famosa com uma série de cinema –
LASSIE - com a cachorra LASSIE. Enquanto pequenino, foi uma festa. Mas logo ficou
grande e começou a dar trabalho: ele arrastava as meninas e, sendo novo, as derrubava e
apertava-as no chão. A coisa começou a ficar ameaçadora.
A vida estabeleceu-se na rotina: quartel, filhas no colégio, final e semana sem ter o
que fazer. Do colégio das filhas foi interessante o primeiro desfile delas, num Sete de
Setembro. Um enorme coração de cartolina e as duas uniformizadas segurando o dito. Não
Deu outra: lá pelas tantas o coração começou a se rasgar e a mais nova preocupada,
começou a chorar. A outra, encantada com a plateia, não prestava atenção e o coração ia
cada vez se rasgando mais. Quase que não chegam ao final do desfile.
Por duas ou três vezes fomos à “Estância” do amigo, sogro do companheiro de turma.
Numa delas encontrei uma ninhada de perdizinhas. Pequei todas e levei para a sede.
Bobagem minha: soltei-as e elas se foram na mesma tarde. É que perdiz se cria sem a mãe.
Os filhotes se espalham e sobrevivem sozinhos. Também, para matar um feriado grande,
acampamos em Rosário, à beira do Rio Santa Maria. Estava bem vazio e suas margens
formavam lindas praias de areias bem brancas e finas. Fora um treino para acampamento
no futuro.
Num final de semana qualquer, fomos a uma pizzaria à rodízio. Esta modalidade
estava começando. Foi pela noitinha. Lá pelas onze da noite, a filha mais nova, fez barulho
abrindo a porta da geladeira. Levantando rápido e a socorrendo, ela disse querer água,
porque “aquela pitiça estava com muito sal”. Foi uma boa gargalhada.
Final de ano, férias. Como era fiscal Administrativo, não poderia tirar férias entre
dezembro e janeiro do ano seguinte. Assim, lá fui eu de férias em Outubro, segundo minhas
alterações. E lá se fomos de férias para o Acre. Não passamos por Campo Grande. Para dar
uma variada, e atiçar as curiosidades das meninas, fomos até Porto Alegre de trem. Ele
vinha de Uruguaiana e passava em Alegrete seis ou sete da noite. Amanhecendo o dia
chegava-se a Porto Alegre. Como o avião sairia para São Paulo (Porto Alegre - São Paulo -
Campo Grande – Cuiabá - Porto Velho - Rio Branco) lá pelas dez, ficou fácil dar essa
experiência às filhas. Para a viagem, deixamos o cachorro com um major de intendência do
B Log. Tinha outros cachorros e a sua esposa, uma sueca abrasileirada, gostava do Collie.
Na volta das férias, passamos dois ou três dias em Porto Alegre. Para retornar a Alegrete
voltamos novamente de trem.
Havia a intenção de se livrar do cachorro. Em particular eu gostava dele, pois
cachorro sempre foi o meu animal predileto. Mas este estava grande demais. E havia a
resistência por parte das meninas. Entretanto, em Porto Alegre conseguimos “trocar o
cachorro” por uma Piscina de Plástico de trezentos litros. Afinal, ainda era verão e o sol em
Alegrete era mortal. Compramos a piscina e embarcamos no trem. Quase que não
conseguíamos trazer a bendita piscina, pois o pacote era grande demais para ser
despachado como bagagem. Teria que ser como carga. Bom, depois de algum bate-boca foi
despachado e a dita viajou no mesmo trem, mas como carga. Coisas de burocrata.
Como a mulher do major já tinha se apaixonado pelo cachorro, ele nem voltou para
casa. Ficou lá mesmo. Um dia, ela, passeando com ele, foi até em casa e ele na coleira.
Quando me viu, acho que me reconheceu e, com a enorme força que tinha, se soltou da
mão da senhora e veio me fazer festa. Colocou as duas patas dianteiras no meu peito e
lambeu meu rosto. Era da minha altura. Bicho novo, tudo era festa. Agora sim que arrastaria
e amassaria as meninas. Ficou um lindo animal. Até hoje lembro sua imagem. Pena que não
se tirou foto dele.
A piscina teve um bom uso. Foi armada no fundo do quintal, com um plástico preto
forrando o piso cimentado. Apenas um pequeno incidente. Por trás do muro das casas da
vila, havia uma rua e nos muros um portão que dava acesso a tal rua. Por ali se colocaria o
lixo. Assim fora feito quando o batalhão retirava o lixo. Com o advento do trabalho feito pela
prefeitura, a rua ficou com capim, o portão inútil e o lixo colocado na rua da frente. O capim
emendava com o do terreno do quartel da 14ª Companhia de Comunicações. Um dia, as
meninas entrando e saindo da piscina, vi o plástico preto se mexer. Achei estranho. Levantei
o plástico bem devagar e ali estava uma cobra, cujo nome não sei. Mas era das comuns nos
campos. Rapidamente retiramos as meninas e matei a cobra a paulada.
De volta ao trabalho em novembro, recebi um telefonema de um capitão da turma de
72. Falava em nome do comandante do CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva). Ele, desesperado, tentava alguém para substituí-lo como instrutor chefe do Curso
de Engenharia porque teria que ir para a ESAO. Mas havia algumas imposições, pelo
escalão superior: primeiro teria que tentar encontrar alguém na mesma Região Militar;
depois no mesmo Exército (no caso então III Exército) e depois para outros Estados do
Brasil. E havia imposição de legislação: a vaga, de Instrutor–chefe, do Curso de Engenharia,
era para capitão, com ESAO ou major. Ele ali estava por absoluta falta de oficial de
engenharia com o curso de aperfeiçoamento. Pedi as famosas 48horas: 24 para falar com a
família e 24 para falar com o comandante. Para a família foi uma ótima solução: mudar-se
para Porto Alegre. Para o comandante foi uma péssima notícia, segundo ele. Entretanto, não
pôs obstáculo visto que ele não poderia impedir. Eu com um ano de guarnição, pela
legislação, seria nomeado instrutor. Assim, lá fui eu preparar para nova mudança. De final
de 78 a 82 foram: Itajubá – Porto Velho (Ji-paraná) – Rio (ESAO) – Alegrete – Porto Alegre.
Seria a mim um novo desafio. Nunca fora instrutor. Havia recusado o convite da
AMAN, quando 1º Tenente tanto por falta de perfil quanto pelo problema físico, o bendito
joelho estuporado. Alegrete fora um ano de profícuo trabalho. Havia um problema a ser
resolvido: onde morar numa cidade que não se conhece nada. Fomos para Porto Alegre
fazer um reconhecimento de tudo. A bela capital não tem hotel de trânsito para oficiais.
Assim, fui obrigado a se servir do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana, dos
sargentos da guarnição. Fomos ver onde melhor se poderia alugar um apartamento de modo
que não ficasse tão longe do quartel e tivesse escolas para as meninas. Fui ao CPOR
consultar o pessoal mais antigo e ver as sugestões. Bom, foi eleito o Bairro Menino Deus e
adjacências. Restava o trânsito, o tempo para achar um apartamento, receber a mudança,
matricular as meninas. Por isso, o tempo teria que ser bem administrado, porque a ajuda de
custo, embora os documentos falassem para ser solicitado ainda no ano anterior, só chegou
nos meados de fevereiro. O comandante estava com sorte. Por término da ESAO se
apresentou um colega de turma, o mesmo que se casara em Alegrete e que se aplicou em
aprender a dançar a chula. Ficou no meu lugar, função que já exercera.
Feita a despedida, fui logo a Porto Alegre. Novamente para o Geraldo Santana, agora
até alugar alguma coisa. Consultados os classificados de jornais, acabei por optar por um
apartamento, de três quartos na Avenida Getúlio Vargas quase em frente à Editora Globo,
uma das mais velhas do Brasil. Ficava também, vizinho a umas instalações do Ministério da
Fazenda. Dava para ir, ao quartel e ou levar e trazer as meninas do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, à pé. Contornou-se a falta de fiador para o aluguel, com uma Carta de
Fiança fornecida pelo quartel. Este instrumento, não sei se ainda existe, foi uma medida
administrativa de profundo alcance a todos os militares. A rua do edifício era bem
movimentada. Subindo, ia dar na Rua José de Alencar, bem atravancada de trânsito. Dela,
para a direita, se ia para o Beira Rio; para a esquerda saia no Estádio do Grêmio e no antigo
Bairro da Azenha, palco de escaramuças históricas. Continuando a subir, se ia à escola das
meninas e ao CPOR, minha nova unidade.
O bairro era bem residencial. O prédio tinha quatro ou cinco andares e, portanto, sem
elevador. O aluguel foi feito por uma imobiliária que ficava bem no centro da cidade. Quando
souberam que eu era militar, não complicaram em nada o contrato. Apenas o tal fiador que
não tinha como dispensar. No edifício, havia crianças na mesma idade das minhas e
estudavam no mesmo colégio. A garagem era nos fundos do terreno feita de madeira e telha
de Eternit. Nunca conheci o Síndico. Apenas o zelador. No prédio, morou um jogador do
Grêmio – Cesar, que marcou o gol que deu ao Grêmio a Taça Libertadores, passe do
Renato Gaucho.
A cidade era grande e o centro antigo. Engraçado que a principal rua do centro
chama-se Rua da Praia, mas não se tem praia. O Rio Guaíba, que para alguns estudiosos é
a continuação da Lagoa dos Patos, é majestoso e a cidade o acompanha por vários
quilômetros, na sua margem esquerda. Na margem direita se pode ver a cidade de Guaíba
onde estive algumas vezes quando tenente e baixado ao hospital.
Bom, a saída de Alegrete só se deu em 12 de fevereiro, segundo minhas alterações.
Fiquei adido ao Batalhão até o recebimento da ajuda de custo. Com trânsito e instalação, fui
me apresentar pronto par ao serviço somente a 14 de março. Com isso, a incorporação dos
alunos já havia sido feita. Peguei o bonde andando. Veio mais cedo, um capitão transferido
do 6º BE Cmb e já havia um 1º Ten do ano anterior e que também viera do 6º BE.
Desenrolaram bem a incorporação e estavam levando bem a vida de instrutor.
Logo depois da apresentação formal, comecei a entender a organização do CPOR.
Além dos oficiais e sargentos dos cursos, tinham os da administração e a companhia de
Comando e Serviço. Havia dois de engenharia: um Chefe da Seção de Educação física e
outro na Seção Técnica de Ensino. Levei um susto quando visitei a seção técnica de ensino.
Não imaginava quantos controles, rigorosos, quanto à didática, ao sistema de elaboração de
provas, e à correção de provas. Pensei que eu não desembocaria aquilo. Como sempre,
minhas inseguranças. A Seção Técnica de Ensino era maior que todas as outras seções
administrativas da Escola.
Fui conhecer o quartel e suas instalações. O CPOR fica na Rua Correia Lima, o
patrono dos oficiais temporários. Tem um complexo de quartéis por ali: CPOR, Polícia do
Exercito, 1ª Divisão de Levantamento (1ªDL) e Companhia de Guardas da Região Militar.
Tudo isso fica numa ladeira danada subindo um morro conhecido como Morro de Santa
Teresa tendo no cume uma emissora de televisão e rádio: Radio e TV Gaucha. O quartel
ficava num socavão, na verdade uma ravina que era uma nascente natural. Hoje não se
construiria ali: seria área de preservação. Bom, toda água que descia da meia encosta, a
partir da Rua Correia Lima, era escoada por ali. Particularmente num sistema de canalização
que passava ao lado do pavilhão do curso de engenharia. Nesse imprensado tinha local
para educação física, campo de futebol, quadras de esporte, área de lazer e ainda sobrava
terreno intocado. Pelo CPOR se chegava a um paiol, que atendia todas as unidades locais.
Era um túnel em direção à PE. Um dia, numa instrução sobre Teodolito a alunos de
engenharia, pela1ª D L, pedi ao sargento que medisse a coisa, no nível e depois projetasse
na rampa, para ver até onde iria o túnel. Tinha pra mais de cinquenta metros. Não deu
outra: ele terminava em baixo do pavilhão de comando da PE. E no fundo do túnel é que
ficavam a munição pesada da artilharia e os explosivos da engenharia. Se houvesse um
acidente, o comandante da PE iria visitar Jesus, rapidamente.
Quando me apresentei, o subcomandante era um infante QEMA, apelidado de JC,
pelos instrutores. Houve certo momento, no EB, em que os subcomandantes de escolas e
centro de instruções eram QEMA. Assim, já o treinavam para ser o futuro comandante, ali.
No fim, isso não deu certo pelos QI – quem indica, para o comando. Particularmente acho
que era muito desgastante: seria quase um comando de quatro anos. Nessa apresentação,
disse que era estradeiro e que nada sabia de escola. Portanto, estava ali debutando e pedia
tolerância nas minhas bobagens, por inexperiência. No mesmo tom, o subcomandante disse:
– “sempre fui guerreiro e estou aqui para aprender também; vamos juntos, no mesmo
barco”. O Comandante era coronel pleno, de artilharia, e pelo papo, embora gaúcho, tinha
mais tempo de Rio de Janeiro que o Pão de Açúcar. Era “de fino trato”, polido e um gentil
homem, bem como requeria, na época, os candidatos à promoção, por escolha.
Já o Sub era espiroqueta, mas educado no dar bronca. Ele resolveu fazer do CPOR
um quartel. Até então senti que aquilo, antes, era mais escola de freira que um quartel. Eu
sempre chego atrasado às coisas boas e desorganizadas. Até o ano anterior, e assunção do
atual comandante, o expediente ia até ao meio dia, para alunos e instrutores. Naquele ano
só para alunos que, pela tarde frequentavam, as suas faculdades. Os oficiais e sargentos
ficariam no quartel se preparando para a instrução do dia seguinte. Regulou a entrada e
saída do quartel. Era uma vergonha: só não saiam de sunga e chinelo porque não era beira
de praia. Como dizia os instrutores-chefes mais antigos: - “isso aqui era o ‘CéuPOR’ e agora
o JC fez disso um quartel de infantaria”.
O JC era detalhista. Aprendi muito com ele. Os documentos tinham que ser práticos.
Uma Nota de Serviço, de acampamento, demorava uma semana discutindo com ele. Seguia
toda a rotina e perguntava o que, o como e o porque seria feito. O que seria feito teria que
estar no papel. Assim, seguia os horários passo a passo e perguntava: – “bom se tal grupo
faz isso, outro faz aquilo e o pessoal, de tal outro, o que faz”? Ele sempre encontrava
alguma incongruência (hoje na moda é inconsistência). A coisa ficava tão pratica que
facilitava até decorar e não se precisava ajustes, mudanças e os consequentes sustos,
improvisos e cortes. Ele perguntava até do material a ser usado. Exemplo: tiro de lança-
rojão: quantos tiros por aluno, quantos tinha no paiol; quem levaria, quando levaria para o
campo; quem era o instrutor, qual o local do tiro (tinha que estar locado, por coordenadas,
no campo de instrução). Se alguma pergunta não tivesse resposta o oficial teria que ir atrás
da resposta e depois continuar com ele. No exemplo, se não sabia quantas munições tinha
no paiol e quantas iriam usar na instrução, teria que se informar e depois ir continuar o
despacho e fazer as alterações na minuta onde ele, pessoalmente, fazia as alterações.
Tinha uma paciência de Jó ou, no jargão chulo, um s... de ouro.
Como disse, eu me apresentei com o barco navegando. A mim caberia, quase no
final, do ano dar instrução sobe o emprego da arma por ser o Instrutor-Chefe. Por isso, a
necessidade de ser um Capitão aperfeiçoado. Os dois oficiais já tinham dividido entre eles
todas as outras instruções.
A coisa funcionava mais ou menos assim: Período básico onde todos os alunos
tinham as mesmas instruções e, depois, período das Armas onde, como na AMAN, havia a
escolha de armas. Todos os assuntos, os objetivos, as cargas horárias estavam previstos
com seis meses de antecedência: tudo estava no PGE - Programa Geral de Ensino,
documento cujas diretrizes vinham do Departamento de Ensino e Pesquisa – DEP. No
CPOR era feito em setembro (A-1)e remetido para aprovação no Rio de Janeiro. Portanto,
não se criava nada além da forma de apresentar os assuntos. Tudo previsto: até o dia de
entrada das provas na Seção Técnica. O PGE era a tortura dos instrutores. Tinha até um
oficial de engenharia cuja função era fiscalizar todo e qualquer evento com o PGE, logo
recebeu o apelido de Senhor PGE. Os alunos, no ato da matrícula, eram distribuídos
aleatoriamente. Um pouco direcionado já: a infantaria com três pelotões, no básico, ficava
com a TI, T2 e T3 (T de turma), cavalaria T4 e T5; artilharia – T6; engenharia T7 e
intendência T8. Mas, depois da escolha de armas deveria ficar assim: Infantaria com três
pelotões (I-1; I-2 e I-3) de quarenta homens; a cavalaria com dois de quarenta (C-1 e C-2) e
engenharia, artilharia e intendência com um de quarenta, no total: oito pelotões ou 320
alunos.
Período Básico era o básico de qualquer combatente: da Academia Militar a qualquer
incorporação de recruta. Como era comum, no CPOR juntavam todos os instrutores e
dividiam a carga de instrução irmãmente por todos, de todas as armas. Os alunos divididos
em tantos pelotões quantos fossem os múltiplos de trinta. Escolhia um dos instrutores mais
antigo que ficava responsável pela organização desse período básico – S3 ou seção de
instrução. Um dos instrutores chefes, mais antigo, ficava de comandante de batalhão quase,
pois eram oito pelotões. Os outros instrutores-chefes ficavam sem fazer nada.
Como eu havia chegado depois, nenhuma missão me cabia. Apenas eu lia
desesperadamente para entender tudo aquilo. Logo veio a primeira observação: eu, embora
Instrutor-Chefe, era mais moderno que os capitães da cavalaria e da infantaria, apenas
instrutores. O da cavalaria era o dito S/3. Esse planejamento era confuso. Tinha que se
adequar oito pelotões com seis salas de aula e cinco horas de instrução. Bom, ou se fazia
rodar os pelotões, pois as salas eram fixas; ou se rodava os instrutores. Todos os modelos
tinham lá suas deficiências. Bastava um instrutor atrasar uma instrução que atrasava tudo.
Muitas vezes tinha que se marcar recuperação no sábado, pela manhã, o que era normal.
Eu achava melhor rodar o instrutor. Rodar os pelotões perdia-se mais tempo com o se
colocar “em forma” e o “deslocamento em forma”. Para atender isso, se fazia o “jogo da
Velha”: pelotões na horizontal do cabeçalho – X; e as salas na vertical - Y. No encontro,
colocava-se o Pelotão. Esse era o melhor jogo da velha.
Houve um acampamento como encerramento do curso básico. Nesse acampamento
pedi para dar algumas instruções: Navegação Noturna, com bússola. Para jovens urbanos,
andar pelos campos e matas, durante o dia, já era uma aventura, imagine andar á noite
onde todos os morros são iguais e todas as árvores parecidas; os buracos são não
identificados; os córregos sãos sem fundos. Foi uma festa. Muitos não conseguiram chegar
ao ponto final. Ao amanhecer, com o sol, viram o quanto bisonhos eram. Aliás, quem não o é
na escuridão da noite.
Era uma enorme dificuldade se levar cento e vinte e cinco jovens com os recursos
materiais existentes – material de acampamento. Havia uma peregrinação pelos quartéis.
Pedimos material emprestado até em Cachoeira do Sul, ao BE, pelos “laços táticos”,
característica de engenharia. As instruções também eram por rodízio.
Logo terminou o básico e houve a escolha de armas. A escolha era por mérito:
colocava-se em coluna por um pelo desempenho intelectual do básico. Os primeiros
colocados iam escolhendo as armas por simpatia ou por afinidade. Tal qual era feito na
AMAN. Para a engenharia vieram os melhores classificados. Por sinal também um sem
número de atletas. O primeiro lugar do curso foi para a engenharia e passou a ser o “porta-
símbolo” do Centro nas formaturas gerais.
Na instrução da arma a atividade era mais intensa em salas de aulas pela própria
natureza do curso. Passei a assistir diversas aulas. Depois, nos intervalos, eu conversava
com o instrutor para ou esclarecer algo que achava que ficou enrolado ou para elucidar mais
a coisa. Foi um ótimo sistema, pois não era cobrança, era cooperação. Assim, quase que a
instrução ficou a quatro mãos. Logo em abril era o dia da engenharia. Não sei como,
conseguiram patrocínio e com a ajuda do CPOR fizemos um jantar pelo dia da arma
convidando alguns oficiais de engenharia que eu conhecia e que estavam em Porto Alegre:
o meu antigo comandante de curso na AMAN; um coronel que servimos em Alegrete (era o
tal Capitão que levou mais de dois meses pra chegar a Natal) e dois ou três tenente R/2 do
meu tempo de Alegrete. Devia já estar no PGE, a comemoração da arma.
Numa determinada época foi feita uma olimpíada interna ente as Armas. Na soma
geral a engenharia foi a campeã. Particularmente vôlei. Tinha dois ou três alunos que eram
de equipes de vôlei da cidade, quase profissionais: um com certeza era da SOGIPA
(Sociedade de Ginástica Porto Alegre).
Havia um sistema de apoio, de outras unidades, que recebia o nome de PCI - Plano
de Cooperação de Instrução. Na verdade era uma chateação para as unidades que prestava
esse tipo de apoio. Para a engenharia, o cristo era o 3º BECmb, em Cachoeira. Mas
também incomodávamos outras unidades: 6º BECmb – São Gabriel. Como o Tenente que
estava mais tempo no CPOR tinha servido ali, pediu e foi colocado no PCI do ano anterior tal
apoio. Na fase bem inicial de pontagem, na aprendizagem de nomenclatura, eles
mandavam uma seção de ponte Ribbon Bridge. Assim, apertando um pouco, se ensinava
até a montagem e desmontagem. Para o exercício de montagem e desmontagem de vários
equipamentos de pontagem aí seguíamos todos para Cachoeira do Sul – 3º BE Cmb – e, ali,
por cinco dias. Foi bom porque encontrei muita gente da minha turma que estava lá. Estava
também lá um capitão de engenharia do exército norte-americano. Todos da turma já
estudavam forte para o concurso da ECEME.
Já mais para o final do ano, havia um baile patrocinado pelo Centro. Nesse baile era
escolhida a Madrinha da turma. Então, cada curso apresentava sua madrinha. Uma
comissão no baile escolhia a que melhor representaria a turma. Bom para que cada arma
tivesse sua madrinha, cada curso fazia sua festa e até baile, para escolher uma madrinha.
Os alunos apresentavam irmãs, primas ou colegas de faculdade. Em Porto Alegre não era
muito difícil encontrar meninas muito bonitas. Algumas que se apresentaram eram até
modelos.
Já quase no final do curso havia um acampamento de engenharia. Ali eram
praticados todos os tipos de espaldões e tiros com armas coletivas previstas para a
engenharia. Eu passei a ministrar instrução de lança-rojão. Antes, fizera a parte teórica na
sala, em Porto Alegre. O local de acampamento era no Campo de Instrução de Butiá. Não
sei bem onde começa Butiá e São Jerônimo. Bom, também para se fazer acampamento das
armas era um sacrifício, pois todas tinham a previsão para a mesma época – no PGE.
Éramos obrigados, pela região militar, a usar os benditos fogões NA (norte-americano) que
funcionava a gasolina. Eram perigosos, pois usavam gasolina sobre pressão. Além dos
maçaricos entupirem constantemente, havia o perigo de pegar fogo e isso sempre acontecia.
Alguns subtenentes levavam uma trempe com bocas para usar gás de cozinha. Acontece
que não havia previsão de compra de gás de botijão de 13 quilos (P13) para quartel. Assim,
o rancho (aprovisionamento) não poderia fornecer o bendito gás. Lá se ia fazer química. Um
dia, não sei bem porque, fui ao então (hoje não mais existe o órgão, por extinção) Deposito
de Material de Intendência. Havia para mais de vinte gabinetes de fogões NA descarregado.
Foram alienados e não houve interessado. Iria ser vendido como ferro velho, por quilo. Na
volta ao Centro, falando com o Subtenente de engenharia, rato antigo de construção de
pontes e bueiros, nos ferroviários, por isso muito criativo, ele perguntou se não poderíamos
conseguir três gabinetes. Na própria oficina do CPOR ele faria a adaptação trocando o
maçarico de gasolina por bocas de gás (fogão industrial) com ligações por canos de cobre
rosqueáveis, mangueira de fogão e uma válvula. Tais materiais o Centro poderia comprar.
Usaríamos três fogões ao mesmo tempo com botijão de gás de 45 quilos (P45). Este era o
mesmo botijão que o Centro usava no rancho e, portanto, poderia comprar para
acampamento. Telefonei ao major com quem conversara e ele me disse que poderia levar
os vinte e tantos. Fomos até lá de jipe e escolhemos três dos melhores. Tinha até panelas
sobrando por lá, cujo tamanho era para tais fogões, que foram incluídas na doação. Assim,
nos equipamos para qualquer acampamento. Levaríamos um fogão NA a gasolina para
mostrar aos alunos que ele existia e como funcionava. É que na guerra não se usa gás de
cozinha e sim gasolina. Bom, testamos no acampamento da engenharia. Quando os outros
cursos souberam da novidade, o major do Depósito se livrou de todas as carcaças. Não só
os outros cursos foram buscá-las como também as unidades de Porto Alegre. Ficamos com
os louros da criatividade.
O curso de cavalaria, para movimentar o Centro, e claro, fazer a propaganda do
curso, montou uma competição de saltos, usando os cavalos do CPOR. Apresentei como
interessado. Marcaram uns dias de treinamento. Bom, no primeiro dia, me deram um bom
cavalo. Comecei no aquecimento, depois em obstáculos baixo, depois foi subindo... Num
certo momento o Piu-Piu, capitão instrutor, me disse: “olha, é bom você parar porque faz
tempo que não monta e vai sacrificar a perna. Fiz que entendi, mas fiquei ainda uns vinte
minutos. Depois que tomei banho é que vi o estrago. A parte interna das coxas estava
arroxeada – os pêlos da perna foram arrancados; o coturno e a aba da sela beliscava o
couro da canela que estava em carne viva. No outro dia quase que não andava. Levei uns
três dias para voltar a montar. Nessa competição eu fiquei em segundo lugar. Na grossura:
apontava o matungo para o obstáculo, aliviava a sela e deixava o beiçudo agir por conta.
Mas tem um lance engraçado, mas na época preocupante. O capitão de engenharia
de educação física também se candidatou à competição. Resolveu pegar algumas técnicas
com o tenente de cavalaria. Estava até muito bem: apontava o matungo para o obstáculo,
olhava para o infinito e quando o cavalo começasse a subir a cabeça, aliviava a sela,
colocando o peso só nos estribos. No dia da competição, até a metade do percurso ia ele
muito bem. Mas, num dado obstáculo, quando ele olhou para o infinito o cavalo saiu para a
direita e ele foi arremessado no obstáculo. Levantou com uma dor nas costas e não tentou
mais competir. À noite a dor continuou e foi ao hospital militar. Radiografia e lá estava fissura
em duas vértebras. Isso lhe deu trinta dias de colete de gesso. Nesse ano houve duas
competições e fiquei entre os três primeiros em todas. Na primeira recebi o batismo no
bebedouro dos cavalos: banho com roupa completa.
O tenente de engenharia, que fazia faculdade, conseguiu uma palestra com um dos
seus professores. Era uma das maiores autoridades em energia. Continuava, na época, a
busca frenética por fontes de energia alternativa. O professor Leão fez a palestra para o
Curso de engenharia apenas. O JC, subcomandante, foi assistir. Ao final perguntou se
poderia repetir o tema, mas para todo o CPOR. Depois do aceite, vieram vários oficiais do
QG. O interessante é que o Professor Leão, para a segunda palestra, trouxe várias cópias
de seu currículo, com diferentes datas. Em todos eles a primeira linha tinha: Oficial de
Cavalaria, da turma de 1949 (eu tinha um ano de idade). Ele tinha mais orgulho de ter sido
oficial R/2 que de todos os cursos que tinha. Seu argumento era: os ensinamentos do CPOR
é que permitiram ele chegar até onde chegou. Talvez, se não tivesse sido aluno da casa,
não teria a dedicação, a persistência, a determinação para vencer as provas-testes que a
vida nos submete. No forte da emoção e no entusiasmo, ao falar do seu curso, disse: – “se
eu tivesse que voltar no tempo e me fosse dado o direito de escolha, pelo destino, faria três
coisas, antes de fazer minha faculdade: 1º - ser oficial do Exército; 2º - ser oficial de
cavalaria e 3º - ser aluno do CPOR. A partir daí virou guru do Centro”.
Como eu, havia os capitães de infantaria e cavalaria, prontos para iniciarem o curso
de preparação para concurso da ECEME. Estudávamos independentes, pois era um período
para adquirir massa crítica de conhecimento. Na verdade eu nada estudava. Apareceu um
esperto e nos reunimos, com pessoas interessadas fora do centro (civis) para um curso de
memorização e leitura dinâmica. Foi um mês. Eu particularmente gostei. É claro que tudo
tem que treinar. Aumentei minha velocidade de leitura. A compreensão demorou muito mais
tempo para aumentar. Essa sempre fora a minha maior deficiência, desde menino. Eu tenho
que ler duas ou três vezes para assimilar o que se quer dizer. As técnicas de sublinhar as
partes importantes, comigo não funciona: eu só assinalo o que não é importante. A parte de
memorização também foi boa, mas tem que treinar. Alguns companheiros não gostaram do
curso e no dia final ficou até um clima de constrangimento.
Lá por setembro ou outubro, chegou o período de confecção do PGE. Tentamos, e
colou, um estágio-visita ao 1º Batalhão Ferroviário – Lages. Assim, para o ano teríamos algo
mais a mostrar aos alunos. Ajustamos toda a instrução. O capitão que viera de São Gabriel
tinha inteligência acima da média. Bastava ter a ideia e ele conseguia viabilizá-la com certa
rapidez. Para o ano teríamos nossas viagens e nossos estágios mais defasados das demais
armas. Assim teríamos mais material para acampamento. Pelo menos pensamos isso
embora o PGE desse uma faixa bem estreita para manobrar.
Final de ano, formatura do Centro no “Gigantinho” – ginásio de esporte do
Internacional Futebol Clube. Era uma cerimônia concorrida com presença de autoridades
estaduais, de familiares e de convidados. O aluno primeiro de turma era de engenharia. À
noite um baile, com uniforme de gala. Não consegui convencer o comando para que se
fizesse um baile com espada. Há muitos anos que isso não acontece. Depois do Brasil
república isso foi esquecido. Há um falso pudor, na minha visão: achar que tal festa, se paga
por terceiros, e era o caso do CPOR, é demonstração de esnobismo, coisas de cortesãos e
gasto de elite com dinheiro do povo. Talvez o último, de D Pedro II, na Ilha Fiscal, até
poderia ter sido. Nada mais representativo de classe média e pobre que os oficiais do
Exército do Brasil. Postos e graduações não se compram; se conquista, não de uma vez,
mas ao longo de uma vida.
Neste primeiro ano houve uma experiência pioneira no CPOR: a criação de uma
seção psicotécnica, com uma estagiária, para cada pelotão. A que ficou na engenharia era
bem inteligente e de fácil trato. Assim, combinei com ela sobre como deveríamos trabalhar.
Era uma seção por semana. Ela teria condições de arrancar dos alunos reclamações, ponto
de vista e descontentamentos. Isso independia de aparecerem os problemas pessoais de
cada um. A mim interessava o aspecto formação de oficiais. Pois bem, ela entendeu bem a
coisa. Quando os alunos reclamavam de algo, coisa mais dura, ela vinha perguntar como e
porque a coisa era assim. E na seção posterior ela dava uma resposta coletiva pelo
questionamento particular, sem citar a fonte que fez a pergunta. Quando era problema
disciplinar, aí eu agia de modo a não parecer que fora ela quem detectara; quando era falha
nossa, de como conduzir a coisa, aí era só discutir com os outros instrutores e nós nos
corrigirmos. Essa predisposição de nós nos corrigirmos foi o que ela mais achou
interessante.
A nossa psicóloga foi considerada a que mais produziu e que mais contribuiu com
assuntos diferentes para o CPOR.
Final de ano, férias quase coletiva. Em casa, se resolveu passar férias diferentes. É
que ir para Mato Grosso do Sul ou Acre as finanças estavam meio que abaladas: pagamento
de aluguel. Lá pelo meio do ano comprei um reboque adaptado para Brasília, pagos em
suaves prestações a perder de vista. Em Novo Hamburgo tinha firmas especializadas nisso
e em ônibus-dormitório. E aí começa a tralha: barraca para cinco pessoas e avanço para
cozinha; fogão de duas bocas; conjunto para acampamento: panelas, pratos, canecas...;
colchonetes; lampião, fios e lâmpadas. Olha que o reboque quase ficou pequeno! Saímos
sem rumo. O destino não seria no Rio Grande do Sul. Partimos, por indicação, rumo geral
para Laguna, em Santa Catarina. Antes de chegar até lá paramos uns dois dias num local de
acampamento (camping) em Araranguá, região muito bonita, chamada de Morro dos
Conventos. Têm vistas de serras, vales, dunas; o mar é aberto e as ondas bem agitadas.
Fomos para Laguna. Custamos achar um local para acampar. Entretanto, achamos um
excepcional. Eram os donos que, além de morarem no local, cuidavam de tudo. Tinha bons
banheiros, locais para churrasco e cozinha, um bar razoável. E a praia não era longe: uns
duzentos metros. Do local dava para ver o molhe e a entrada da laguna com seus
pescadores indo e vindo e as pescas de camarões. O interessante é que havia um bando de
golfinhos que trazia os cardumes do mar para a laguna. Depois de eles se saciarem, os
pescadores caiam matando a pau com redes e tarrafas pescando sardinha e outros peixes
miúdos. Era a cooperação do homem com os golfinhos. O molhe era de uns dois
quilômetros. Não entendi muito a sua finalidade.
Havia, já saindo da cidade, na direção de Florianópolis, vários quilômetros de praias
com altas dunas. Assim, se não quisesse tomar apena sol, poderia andar. Havia lindas
paisagens. Na própria cidade havia mirantes de muita beleza. Talvez por causa do molhe,
na praia existia, no entardecer, leva e levas de siris. Tinha de todos os tamanhos. Tinha um
catarinense de Florianópolis, acampado com a “namorada” eufemismo barato para sexo
fácil, com gente fácil, em lugar fácil, mas boa gente, que pegava quinze ou vinte e cozinhava
com água do mar. Fazia lá um molho e, pronto, comia com se fosse caranguejo. E tinha
caranguejo também.
A cidade tinha uma parte bem antiga. Era tombada. Esse aspecto motivou quase o
rompimento de uma amizade. A esposa, do então tenente com mais tempo no curso, era
professora. Gostava desses aspectos históricos, culturais (num país de menos de dois
séculos com cultura é forçar a situação) e outros detalhes psicoarquitetônico. Quando soube
da passagem das férias em Laguna, entusiasmadamente comentou: – “uma cidade muito
importante; cidade histórica!” E eu, na minha irreverência, atropelei: – “entendi: cidade
histórica é o novo nome para cidade feia”. Ela fechou a cara e não falou mais até ir embora.
Mas em Laguna tem o museu de ANA NERY a mulher que participou da Revolução
Farroupilha e foi mulher de Garibaldi um inquieto italiano que andou pelo Brasil em 1835. O
museu tem ainda roupas, fotografias e utensílios de casa usados na época. A história de
Ana Nery é a historia da Revolução Farroupilha de 1835 a 1845. O Giuseppe Garibaldi era
um carbonário que voltou para a Itália e ainda participou das revoluções de integração do
seu país. Antes, Itália era apenas o terreno, um cabo em forma de bota, formado de zilhões
de cidades, principados, condados... Virou o Estado Italiano, localizado no cabo (península e
muito forte) da Itália, após a unificação.
A partir de Laguna, se conheceu a Ilha de Florianópolis, e suas diversificadas praias,
todas tomadas por argentinos.
Vencida as férias, retorna-se para o segundo ano de CPOR. Nova incorporação,
novos companheiros, novas expectativas: eu estava propenso a ficar mais um ano, isto é, o
ano seguinte.
Assim que cheguei ao CPOR, o JC me chamou e me informou que eu seria o S/3 do
Curso Básico. Lógico, por ser mais moderno que capitães instrutores. Aprendi com o
cavalaria, S/3 do ano anterior, todas as manhas do “jogo da velha” e saí a quase decorar o
PGE. A próxima providencia foi solicitar cancelamento do curso de preparação à distancia
do concurso da ECEME. Eu não teria como dar conta de tudo. Algo teria que ser sacrificado.
A experiência do ano anterior nos levou-nos a dotar um procedimento pouco
ortodoxo, mas de grande praticidade. E o JC logo incorporou a coisa. Era o café da manhã.
Todos os instrutores-chefes tomavam café na mesma hora e juntos. Incorporava à mesa
alguns oficiais da Seção Técnica de Ensino e o JC. Todas as mudanças, devido a algum
motivo, eram informadas no café. As mudanças, no PGE, eram sempre. Assim, quem
perdesse o café, por algum motivo, ficaria desinformado. Logo vinha a pergunta: – “você
estava no café ontem”? Assim, a “decisão do café”, como o instrutor-chefe do curso de
infantaria nomeara, era muito mais importante que Regulamento, Ordem de Serviço ou PGE.
Como normal, havia muita mudança de pessoal. Vários tenentes e dois instrutores
chefes eram novos. O tenente de engenharia era primeiro de turma e vinha de Aquidauana –
9º BECmb. Até hoje não sei bem como ele fora proposto, pois eu mesmo não o indiquei. Era
um bom menino. Tinha problema físico: coluna. Seus pais eram de Porto Alegre.
Reiniciado o ano, a minha função era mais dirigir os horários para que cada instrutor
não passasse de seu tempo e assim, no final do expediente, não ter um atraso muito
grande. O “jogo da velha” tinha que ser cumprido à risca. A coisa era atropelada pela
manhã, mas tranquila à tarde. Pelo final da tarde a nossa Educação Física era com uma
indefectível pelada de futebol de salão. Muito dos peladeiros eram esforçados chutadores de
bola. Jogar mesmo... As escolhas eram por antiguidade. Tinha um instrutor do curso de
infantaria que brincava com os tenentes: – “Atenção a tenentada, corrida também é esporte”.
Numa manhã, lá pelas nove, um telefonema para o centro e me foram procurar aos
gritos: meu apartamento pegava fogo. Cederam-me um jipe e saí no limite das velocidades.
Chegando, já havia bombeiro no local. Uma mangueira de plástico, do fogão a gás,
encostou-se ao fundo do forno e aí, com o aquecimento do forno, a mangueira pegou fogo.
O fogão ficava quase junto à porta que saia para a área de serviço. Havia uma tubulação de
cobre que atravessava a parede e se ligava à botija por uma mangueira de plástico afixada
por abraçadeira; na parte da cozinha também a ponta do cano de cobre se ligava ao fogão
por uma mangueira de plástico e abraçadeiras. A figura era patética: um bombeiro
esguichando pó químico sobre o fogão; o labareda no bico de cobre onde a mangueira
estava fixa (tinha um resto de mangueira); o apartamento completamente tomado de pó; as
famílias do andar superior fora evacuadas; e o bombeiro, cheio de autoridade, com um
extintor de quinze a vinte quilos com rodas, jogando pó no fogão. Perguntei por que não
pagava o fogo e ele responde que teria que resfriar o local da chama até que acabasse o
gás da botija. Disse ao cabo: –“bombeiro, cai fora; deixa de ser covarde...” ele se assustou,
mas não iria reagir com um capitão fardado. Entrei pela cozinha e fui até o botijão e fechei a
torneira de gás. Aí o labareda apagou Nem vi o bombeiro ir embora. A ocorrência fora
assinada pelo zelador do prédio. Voltei ao quartel e pedi um dia de dispensa. Quase que
peço dois porque fomos até de madrugada limpando pó químico, do combate a incêndio,
graças ao bombeiro. Era minha segunda má experiência com bombeiro. Apesar de todo o
estereótipo de competência de bombeiros, eu tenho minhas dúvidas. O patrimônio, por não
serem deles, eles arrasam tudo com água, pó e espuma. O coitado do dono ou proprietário
que se dane com o prejuízo. Eles não raciocinam com “preservar patrimônio”. O que o fogo
não destrói por reação química, o bombeiro destrói com excesso d’água, pó ou espuma.
Pelo excesso de calor junto ao bico do lado do fogão, duas cerâmicas se desprenderam e
quebrara. Mais tarde passamos a peregrinar em cemitérios de azulejo até encontrar os dois
que faltavam. Depois de recolocados, nem pareceu que havia tido fogo.
Novamente foi um deus nos acuda o acampamento do curso básico. Nova
peregrinação nas unidades com ofícios em mãos, assinados pelo comandante. Era uma vida
de pedinte. Escalei a mim mesmo para ministrar as instruções de transposição de
obstáculos ou “Pistas de Corda”. Na verdade era uma equipe, pois além de ministrar a
instrução, tinha que ensinar a usar as diferentes técnicas para explorar bem os instrumentos
de transposição e tinha que montar e desmontar a pista. Assim fui dois dias antes com
tenentes e sargentos. Fiquei com a transposição mais perigosa que era uma”ponte de três
cordas”. Se não usar bem a técnica, o freguês pode virar e cair da pista. E ela estava bem
alta. Usamos muito as árvores altas que o local tinha, às margens de um riacho. Hoje, tem
gente que paga uma fortuna para fazer algo semelhante, mas com o nome de “Arborismo”.
Como eram muitos alunos, eu, no início da tarde já não aguentava mais olhar para
cima. Os músculos do pescoço simplesmente entraram em colapso. Deitei no chão e
coloquei uma madeira redonda (15 cm de diâmetro) sob o pescoço. Foi um alívio imediato e
recuperador. Usei isso muito mais tarde em marchas na selva e numa UTI de hospital. No
meio da tarde apareceu o JC e me viu dando instrução deitado, de barriga pra cima. Não tive
dúvida, continuei deitado e lhe expliquei que estava só, ali, e que sofrera uma contratura no
músculo do pescoço (torcicolo) de tanto olhar para cima. Se ele acreditou, não sei, mas
nunca falou nada.
Novas estagiárias psicólogas agora chefiadas pela esposa de um dos tenentes
instrutores de cavalaria. A da engenharia já não era tão interessada como a anterior. Ela cria
mais na orientadora-chefa que nas nossas experiências. O trabalho dela ficou árido: servia
tanto para o CPOR, quando para a Mitsubishi, no Japão. Mas, mantive a ideia de ser
informado de tudo que era passível da intervenção do comando. Não admitia os “segredo de
confissão” que também o pessoal de saúde gosta de arrotar.
A novidade foi acrescentar uma estagiária para acompanhar os soldados da
Companhia de Comando. Esta teve muito trabalho devido a problemas pessoais de cada
soldado. Virou psicóloga, mãe, orientadora sentimental, sexual e muito mais.
Terminado o período básico, escolha de armas, e a engenharia recebera novamente
os melhores classificados. Novamente o primeiro do curso era de engenharia. As coisas
entraram no rotinão: olimpíada no CPOR, reuniões, palestras, saltos organizados pela
Cavalaria. No PGE estava previsto uma competição englobando o Colégio Militar. O CPOR,
por ter alunos já adultos, ganhava de lavada.
Quando eu cheguei ao CPOR descobri que, a cada ano de estágio dos Aspirantes
R/2, nas unidades, os comandantes expediam relatórios sobre todas as atividades
desenvolvidas pelo aspirante, no estágio. Na verdade as observações eram dos capitães
comandantes de companhia. Bom, quase sempre ficava no “não observado” a parte técnica
de engenharia. Talvez pela época dos estágios: janeiro a março, onde a formação dos
soldados eram apenas o básico. O que dava para observar bem era a desenvoltura com os
desempenhos de Ordem Unida e de guia ou condutor de Educação Física. E isso vinha
criticas contundentes.
Como disse acima, fui à seção técnica de ensino e li os relatórios de cinco anos
passados. Todos reclamavam das bisonhices na ordem unida e educação física.
Reuni os oficiais e decidimos exigir isso deles. Todos deveriam estudar e treinar a
sequencia de educação física. Durante a educação física deles, um aluno seria o
comandante e outro o guia. O guia poderia ser mudado a qualquer momento conforme
decisão do oficial orientador ou sargento monitor. Também foi recomendado o treinamento
de voz de comando de modo que cada um encontrasse o ritmo e a cadência, da voz de
comando, próprios. Valia tudo para isso, em particular imitar oficiais e sargentos que eles
achassem terem boas impostação e extensão de voz. Na ordem unida, todos se revezavam
como comandante do pelotão dando ordem unida. Em 1983, o relatório já veio com
observações bem melhores, função da atitude tomada em 1982.
Entre o primeiro e o segundo ano, um sargento terminou seu tempo. A pedido, trouxe
um de Alegrete, que era de Porto Alegre e estava em Alegrete desde meus tempos de
Aspirante. Mas, havia um sargento tido como problemático, no curso de Infantaria. Ele não
queria pedir transferência porque estava estudando direito e faltavam uns dois anos ainda
para termina-lo, embora tivesse tempo para transferência. Seu desentendimento era com
dois outros sargentos mais antigos. No início do ano, o sargento que trabalha no controle de
alunos e notas, me informou sobre a situação do dito. Tido como problemático, pelos
companheiros, imagine para os chefes! Assim, estava meio sem função e estava bastante
sem autoestima. Pedi que ele viesse falar comigo. Conversamos bastante. Fui falar com o
instrutor chefe da Infantaria. Ele queria de alguma forma punir o sargento. Pedi que ele me
cedesse o sargento até o final do ano, pois estava com sargentos sobrecarregados. Ele
aquiesceu e falei com o Subcomandante. Bom, o esbelto infante veio para a Eng. Ficou na
parte burocrática: controles, pedidos, dispensas... Abri o jogo: – “aqui é engenharia; o
homem vale pelo que produz; sem embromação; dedicação total; se não entender, pergunte
na hora; se entendeu só volte com a missão cumprida”. Olha, foi uma enorme aquisição.
Além de esperto, gostava de trocar ideias sobre direito e as coisas que aprendia na
faculdade. Além de ajudar o companheiro, nos ajudou muito e deixou de ser problema. No
final do ano, concedi-lhe um elogio consistente.
Em agosto, os capitães mais antigos foram promovidos a majores. No ano seguinte
seria eu. Novamente a espada de Dâmocles se armava sobre a cabeça: passar no concurso
para a Escola de Estado Maior. Isso é uma verdadeira esfinge grega: ou decifra-me ou eu te
devoro. Ser oficial superior sem ter esse curso é ser subaproveitado pela força. Até hoje não
se encontrou uma fórmula para atender a isso.
Também me matriculei num curso de inglês no Yazigi. Era uma matéria do concurso e
eu nunca aprendi nada de inglês. Era completamente analfabeto. Fiz apenas um semestre.
O dinheiro não dava. E também por motivos familiares. Deu para sentir que o bicho não era
tão feio como eu julgava. Nesse ano e durante o curso de inglês estourou a guerra das
Malvinas: argentinos, com um presidente louco, contra ingleses de Margaret Thatcher. O
professor de inglês era um porto-alegrense, que morou e casou na Argentina e viveram
alguns anos nos EUA. A sua mulher vivia em pânico: tinha um irmão oficial do exercito
argentino e de infantaria. Nunca soube se morreu. O professor também saiu da escola.
No curso de engenharia, logo que se entrou na fase de arma, repetimos o que vinha
dando certo: material de pontagem de São Gabriel, estágio de pontes em Cachoeira. Em
Cachoeira encontrei o General Atos, meu ex-comandante em Porto Velho e agora Diretor de
Material de Engenharia – DME, hoje extinta. Durante o almoço ele me perguntou quando eu
seria promovido a major. Mais tarde isso vai ser importante na minha vida, mas na hora não
captei nada. No almoço assumimos toda a conversa falando do nosso tempo de 5º BEC.
Esse dominar as falas, pelo pessoal de engenharia, me foi chamada a atenção pelo
instrutor chefe do curso de infantaria, um home rude, alfabetizado depois de adulto quase e
que fez a Escola Preparatória e a AMAN. Fora peão de fazenda. Disse ele que numa mesa
onde sentam dois oficiais de engenharia, eles dominam a conversa porque tem muito mais
vivencia de Brasil e coisas fora dos quartéis que os demais militares. As experiências de
batalhões de construção era uma lição de vida, além da maturidade profissional. Agradeci a
primeira lição. A segunda lição foi quando comentávamos sobre os poucos generais de
engenharia e a pouca atuação desses poucos. Aí ele falou: “o tchê, não interessa quem seja
o general; importante é o homem que faz a nota (nota de serviço, nota de publicação, nota
de boletim...); o general não pensa em nada, não faz nada: ele está ali pra decidir segundo
sua experiência e nível de informação que dispõe”. Na verdade tudo estava na mão dos
coronéis que elaboravam os estudos e os materializavam em ações, com a aprovação do
general. O general poderia ser de engenharia, de cavalaria... Não importaria a origem.
Na parte de instrução de equipamentos rodoviários, conseguimos que o JC deixasse
o Capitão de Engenharia, da Seção Psicotécnica, seguisse conosco. Como tinha muito mais
instrução que instrutor, levamos o capitão para dar instrução de operações e manutenção de
equipamentos. Foi uma oportunidade de massagem no ego. Eu não sabia que tinha fama na
turma e na engenharia. O capitão, não me conhecia, mas servira em Lages como tenente.
Ele foi ao Fiscal Administrativo, do 3º BE, que servira com ele em Lages, perguntar sobre um
dado equipamento. O fiscal, da minha turma, lhe disse: “vá perguntar ao Higino; ele é o
camarada, da nossa turma, que mais entende de emprego de equipamento; talvez o que
mais entende hoje na engenharia”. Ele foi humilde pra caramba. Chegou e me contou o
ocorrido e me perguntou por que eu não daria a instrução de equipamento. Aí eu lhe disse
que seria a oportunidade de ele também se apaixonar por máquinas. Eu já era. Assim, ele
tocou a matéria com muita propriedade. Mais tarde fomos nos encontrar mais vezes e com
equipamentos.
Naquele ano conseguimos um estágio, na verdade um passeio em Lages – 1º
Batalhão de Engenharia Ferroviário. Pelas alterações foi de 09 a 15 de outubro de 1983. O
JC não deixou levar o Capita da Seção Psicotécnica. Fomos de ônibus e lá passamos uma
semana. Aproveitei para mostrar mais equipamento, e agora as locomotivas. Como cada
aluno seria um multiplicador de informações, ali estava bem plantado o que sempre pensei
serem operações psicológicas. Fomos visitar uma companhia destacada, que no momento
era comandada pelo capitão que fora do CPOR, da Seção de Educação Física, e que caíra
do cavalo. Percorremos um longo trecho de trem e íamos parando onde havia problemas
técnicos, para serem visto. Lá havia uma fábrica de dormentes de concreto protendido. Era a
melhor tecnologia no Brasil, até então. O comandante do batalhão era um alegretense que
mais tarde fomos nos encontrar. Era um gozador. Foi alçado a general por alguns motivos.
Na oportunidade contarei sobre sua promoção. Mas como elemento com grande penetração
na Rede Ferroviária, conseguiu que fosse feita uma manobra com transporte de blindados
em prancha rodoviária. Assim foram feitos os adestramentos da Rede Ferroviária e do
Regimento de Carros, em transporte ferroviário.
Mais uma vez aconteceu algo que massageou o ego. O Chefe da Seção Técnica do
Batalhão era de minha turma e, com curso de IME, mas primeiro da turma de AMAN. Qual
não foi minha surpresa, quando me mandou chamar à Seção Técnica onde estavam dois
engenheiros da prefeitura, para avaliar que serviço seria feito nas ruas da Vila Militar para
melhorar o pavimento asfáltico. Na verdade era “areia-asfalto”, bem oxidado, com forte
formação de “couro de jacaré”. Perguntei por que ele queria minha presença, ao que
respondeu: – “você tem mais experiência em asfaltamento que eu; nunca trabalhei nisso;
como teremos que pagar, gostaria que você visse se a solução deles é a mais correta”.
Nada de imprevisibilidade: a solução era o recapeamento e assim foi combinado. Registro
que quando ele me falou que eu tinha mais experiência que ele e considerando que eu
estava diante de um oficial que fora aspirante em primeiro lugar da AMAN, da Preparatória e
professor do IME, fiquei muito emocionado. Era a maior prova da enorme grandeza moral do
amigo. Poderoso na inteligência, mas humilde de alma. Se eu já o respeitava tanto, agora eu
chegava ás raias da admiração. Senti também um halo de orgulho pelo elogio de quem
vinha. Fora um dos vários elogios não oficiais que me marcaram a vida de oficial. As horas
de estudos sobre asfaltamento valeram a pena.
Fora da cronologia, já no meio do ano, surgiu uma informação vinda de Brasília, sobre
os oficiais de engenharia. Havia falta de majores para serem subcomandante nos BECmb.
Eu fiquei num dilema: queria ficar mais um ano, pois pretendia estudar mais forte no ano
seguinte par ao concurso da ECEME; também seria promovido a major lá por agosto do ano
seguinte; como teria ficado o terceiro ano, seria transferido automaticamente no final do ano
seguinte; eu poderia ser transferido para Alegrete novamente, ou outra unidade no sul por
falta de majores. Havia também o aluguel que estava pesando. O senhorio, mesmo falando
pessoalmente, para manter o mesmo valor de aluguel, não concordou. Assim, tratei de achar
um substituto para o curso de engenharia. Tratei, também de preparar minha volta para a
Amazônia. Eu conhecia o Chefe do EM do 2º GEC. Fiz uma carta a ele de modo que o
grupamento fizesse uma proposta e assim facilitaria minha transferência: um pedido para ir e
outro solicitando a vinda para a Amazônia, em qualquer batalhão.
Voltando ao quartel, a vida seguiu a rotina: instrução, provas, olimpíada, baile da
escolha da madrinha...
Continuamos fazendo os alunos praticarem muito forte o ministrar educação física e
dar ordem unida. O comandante do CPOR recomendou a metodologia para todos os cursos
Achar um substituto não foi fácil. Seguia-se o mesmo critério de quando me
convidaram. No estado, na Região Militar e no então III Exército, não achei nenhum
voluntário. Meio sem querer, um companheiro de turma servindo em Natal, topou. Era
solteiro e queria voltar ao Rio Grande do Sul, pois fora Aspirante em São Gabriel – 6º B E
Cmb. Não sei se de brincadeira ou se de verdade, o comandante do Centro, que terminaria
também sua designação, me ameaçou com prorrogação automática: da engenharia sairia os
dois capitães. Fiquei muito aliviado com a aceitação do amigo: o terceiro ano, no centro,
seria promovido a major e com risco de retornar para o interior e ali ser sepultado: eu e a
carreira.
Pelas minhas alterações, a 23 de outubro foi publicada minha transferência para o 5º
BEC, pela terceira vez. Até hoje não sei se era sina ou coincidência. Para mim era como
voltar para casa.
Também por essa época foi feito o acampamento dos alunos de engenharia. Por falta
de material, o acampamento foi feito junto com a artilharia. Assim, havia acampamento em
barracas com alunos de artilharia, um rancho no meio e um acampamento de engenharia do
outro lado. O pessoal de rancho seria menos sacrificado. Eu era o comandante do
acampamento por ser o mais antigo. Durante a noite, para nãos deixar os alunos sem nada
fazer, criávamos situação para patrulhas de reconhecimento comandadas por eles mesmos,
mas não distante que um km do local do acampamento. Aproveitávamos para fazer
inquietação, atacando as patrulhas em emboscadas. Numa dessa, estava eu e o capitão de
engenharia, da seção de educação física (na seção de educação física saiu um e entrou
outro de engenharia), levado emprestado, caminhando à noite para um determinado lugar.
Eu sempre gostei de me deslocar no escuro. Os olhos acostumam com a quantidade de luz
e dá para se enxergar bem. O pessoal de minha turma me dizia que eu era assim por ser
índio. Mas o lugar do acampamento já o era por longos anos. Pois bem, quando o capitão
começou a acender a lanterna a todo o momento eu fui falar com ele: –“apaga...” não
terminei de falar. Caí num espaldão de lança-rojão. O danado é estreito e eu caí de cabeça
para baixo. E não conseguia espaço para virar. O bandido do capitão, quase tendo um
colapso de tanto rir não conseguia me tirar, puxando pela perna. Parecia aqueles desenhos
de pateta: eu entalado de cabeça para baixo. Foi uma luta para sair.
Nesse mesmo acampamento, tinha instrução de campo de mina. Pois bem, eu resolvi
colocar nas pontas dos acionadores uma bombinha de São João. Assim, eu escolhia uma
mina anti-carro e a ativava. Os alunos, usando a técnica de levantar minas com bastão de
sondagem teria que descobrir, e cavar mais fundo, para desativar a mina. Pois bem, um
bisonho deixou a bombinha estourar na cara dele e uma grande quantidade de areia entrou
em seus olhos. Foi removido ao hospital militar de Porto alegre, feita a limpeza, voltou para o
acampamento. Felizmente só foi o susto, dele e meu. Eu sempre inventado coisas e
pagando pelas consequências. Com a artilharia, aprendi “tomada de posição, em silêncio
absoluto”. É tarefa para prisioneiro chinês. Que bela ralação. Fui dormir quatro da madruga.
Os artilheiros dormiram, mas eu levantei cedo para acompanhar a engenharia.
Tinha um instrutor da artilharia, a turma de 70, com uma particularidade impar. Na
verdade chegou para ser da Seção Técnica de Ensino, dono do PGE. Por falta de instrutor,
foi parar no curso de artilharia. Era sua risada. Ele ria com muita facilidade. Mas a risada
mais expressiva ele começa devagar e ia crescendo até se explodir de rir. Era como em
câmera lenta. A maioria das pessoas ria, mais da forma de ele rir, do que do motivo da
risada. Foi um grande companheiro.
Lá por novembro, o JC pediu que eu deixasse rascunhada a Ordem de Serviço do
curso básico, do ano seguinte - 1984. Não seria difícil: só pegar a daquele ano – 1983 - e
adaptá-la com o PGE do ano seguinte. Isso eu faria num dia. Como sairia eu e o de
Cavalaria (ele já no terceiro ano) o JC optou que eu fizesse a Ordem de Serviço. Deu para
deduzir que meu desempenho foi melhor, como S/3 do básico, que o do cavalaria; se assim
não fosse, seria o cavalaria a ser convidado a fazer o documento por ser ele de uma arma
dita operacional. O JC ainda trazia esperança de ser comandante e assim teria no papel
toda a experiência bem sucedida dos anos anteriores. Infelizmente, algo mudou. Eu só
soube da nomeação de outro comandante quando recebi cópias das minhas alterações em
Porto Velho. E aí matou as pretensões do JC, que aborrecido, passou para a reserva. Pela
regra, o JC assumiria o Centro.
Quando comecei a verificar o rol de matérias e as cargas horárias, notei que poderia
se criar três companhias do Curso básico: duas a três pelotões e uma a dois pelotões.
Todas com os seus tenentes e capitães comandantes. Bastaria acertar as instruções com o
jogo da velha – compor horário, salas, pelotões e matérias. Assim foi criada a 1ª companhia
com o curso de infantaria (três pelotões e três tenentes), a 2ª com a cavalaria e engenharia -
que eram vizinhos – (três pelotões, dois tenentes de cavalaria e um de engenharia) e a 3ª
com a Intendência e a Artilharia (dois pelotões com um tenente de cada arma). Bom, a
critério do comando, um capitão instrutor seria o comandante da companhia. Os demais
capitães seriam instrutores e teria um Estado Maior do Básico. O Instrutor-Chefe mais antigo
seria o Comandante do Curso Básico; o segundo mais antigo o Chefe do EM (ChEM). O
Jogo da Velha ficou quase que eliminado: o rodízio era na companhia e em suas próprias
salas. Para algum equipamento especial seria feito o rodízio. Houve uma sobrecarga de
instrução aos tenentes e aos capitães instrutores. A coisa quando engrenou no teórico, foi
uma facilidade. Eu tinha medo era na pratica. Fiquei enrolado foi no caso de acampamento:
eu queria uma companhia por semana. Assim se pediria muito menos material emprestado.
E o melhor: o primeiro a acampar montava e o ultimo desmontava o acampamento. Havia
também que ajustar feriados, visitas e essas atrapalhadas outras... Contei com a inteligência
do “capita” do curso de engenharia. Rapidão ele matou os rodízios dos acampamentos. Eu
patinei na coisa por três dias. O bom foi que nós fizemos uma memória descritiva. Todas as
nuances que interfeririam em alguma coisa, foram numeradas e explicadas na memória
descritiva que assim ficavam aclareadas. Levei ao JC como proposta. Ele ficou com a
minuta por uma semana. Achei até que ele tinha engavetado. Pra minha surpresa, me
chamou e pediu uma série de informação. Discutimos a minuta por uma manhã. Sempre
muito prático, pediu que as elucidações, anotadas por ele, e suas observações particulares,
fossem acrescidas em algum lugar: no corpo da Ordem de Serviço ou na memória
descritiva. Mais uma vez, tive que me socorrer dos inteligentes do curso para me ajudarem.
Depois de pronta, o JC ficou maravilhado: tudo enquadrado, previsto, amarrado, controlado,
esclarecido... Como um bom infante gosta. O engraçado que eu fora para Porto Velho e o
Capita foi para Boa Vista. Em junho ou julho, o companheiro de turma, que me substituiu,
me telefonou perguntando como se fazia o tal planejamento, pois queriam repetir e não
sabiam como. Eu ajudei no que pude e pedi que entrassem também em contato com o
capita. Soube mais tarde que o nosso trabalho funcionou muito bem e que repetiram no ano
seguinte a experiência.
Pelas alterações, foram férias de 19 de dezembro a 17 de janeiro e desligamento a 18
de janeiro. Acho que fui direto. Emendei férias e os trinta dias de trânsito. Não me lembro de
despedidas no CPOR. Apenas tenho a placa. È certo que não esperei meu substituto. Eu saí
antes de ele chegar. Tenho uma vaga lembrança de, novamente, faltar moradia na vila. Por
isso, saí rápido.
Na entrega do apartamento aconteceu algo engraçado. Antes de entregar a mudança,
acertei com a imobiliária a entrega do apartamento. Eu teria que pintar o apartamento.
Perguntei a eles quem poderia fazer o serviço. Sempre tem uma picaretagem nisso. Assim,
eu resolvi pagar o que eles pediam. Dei o dinheiro e a imobiliária pagaria a pintura a quem
de direito. Entregue a mudança, fui ate a cidade e entreguei a chave. Disse que sairia
naquele dia. Como eu pagaria a pintura a eles, não quiseram fazer vistoria. Confiaram. Mas
tirei uma cópia da chave. Assim, acamparia no apartamento com colchonete e sairia na
madrugada. A velha Brasília, com o reboque, estava até a tampa. Como haveria madruga,
fomos dormir cedo. Qual não foi a surpresa que nove da noite alguém abriu a porta e entrou.
Quem entrava levou um susto e a gente também. Refeitos do susto, expliquei que sairia de
madrugada e que a chave seria jogada por sob a porta. Mas a surpresa maior foi que o
pintor era exatamente o encarregado das vistorias e era o funcionário da imobiliária. Ficou
um pouco sem graça, mas começou o serviço dele que era retirar os espelhos de
iluminação, guardar o material de pintura e outros detalhes. Eles fariam o grosso do serviço
no final de semana. Como visto, picaretagem na coisa: estava correndo o risco de eles não
aceitarem a pintura caso eu fizesse com outras pessoas.
Na ultima semana de CPOR, o JC me chamou junto com o cavalaria e disse que
gostaria que nós dois fizéssemos a ECEME, pois eram de oficiais como nós que o EB
precisava. Fizemos ali um compromisso de fio de bigode. Felizmente os dois cumpriram a
promessa.
Foram dois anos de intensa criação. Saí porque corria o risco de voltar para o interior.
Pena que nunca mais pude voltar lá. Já passeei por lá, pelo mapa do Google. Hoje tal
tecnologia nos permite esses passeios. È um local de onde guardo bastante saudade.
Primeiro, férias, depois a transferência. Então, todos em direção à Laguna.
Madrugada e confusão de modo a andar de vagar porque eu nunca tinha viajado com
reboque e muito menos tão carregado. O caminho era conhecido: Laguna, direto para o
Camping do Molhe da Barra. Ainda era o mesmo dono e a mesmas condições. A barraca
ficou bem perto do local coberto onde se podia usar como cozinha. Algumas aventuras por
Florianópolis. Havia uma data limite para ali ficar. No local, se conheceu uma família de
Curitiba. Depois de uns quinze dias, no camping, surgiu a ideia de passar uns dias em seu
apartamento, num bairro que até hoje não sei onde fica. Por algum motivo, que não me
recordo, essa estadia em Curitiba foram de dois dias. Abrindo o mapa rodoviário, vi que se
poderia a sair em Ourinhos e ali se pegar a rodovia (Castelo Branco) que daria em Campo
Grande e por ela seguir por onde eu já tinha viajado. No trecho Laguna - Curitiba, senti mais
o problema de o feixe de mola do reboque não ser suficiente arqueado. Ou o reboque estava
muito pesado. O fato era que, qualquer balanço, o pneu encostava-se aos para-lamas e
freava o carro. O itinerário, no geral era: Curitiba - Ponta Grossa; Ponta Grossa – Ourinhos;
Ourinhos - Campo Grande e daí a Porto Velho. Mas, em Ourinhos resolvi dar uma chegada
em Brasília e não passar por Campo Grande: pegar a direção norte-sul - BR 153 – São José
do Rio Preto – Goiânia – Brasília (BR 060) depois de mais de1200 km. Na passagem, antes
de Ponta Grossa, a visita ao Parque Estadual de Vila Velha com suas esculturas no arenito
feitas pelo vento. A viagem foi fácil: não me perdi nenhuma vez e nem o carro deu algum
problema. A estrada tem vistas panorâmicas bonitas, particularmente quando se começa a
subir o planalto central. Havia também inúmeras barragens nos rios paulistas. Dormida em
São José do Rio Preto. Como não conhecia a cidade, fui entrando e parei bem no centro.
Naquela noite havia o balé das andorinhas. Havia até equipes de socorristas para tratar das
andorinhas que se machucavam nos fios e paredes. Era muita andorinha. Era muita sujeira
que elas deixavam. Mas era um espetáculo bonito de se ver. Segui via Goiânia, onde, numa
via lateral da BR se almoçou. O almoço foi num restaurante bem alinhado. Foi feito o pedido
de uma carne diferente. Qual não foi a surpresa ver que a carne vinha crua (picanha fatiada)
em uma chapa de ferro fundido quase ao rubro de quente sobre uma tábua e num carrinho.
O garçom ficava ao lado passando a carne na chapa: mal passada, bem passada. O
fumaceiro era daqueles que recebem elogios das mulheres. Tocando em frente, chega-se
em Brasília. Sem conhecer nada, uma primeira dificuldade foi encontrar o tal hotel de
Trânsito. Bom, nada como um taxista para explicar. Felizmente, e foi um enorme risco, havia
vaga no hotel de trânsito. A ideia era: dois ou três dias que viraram uma semana. Não me
lembro bem, mas parece que foi um final de semana que se chegou. No domingo, encontrei
alguns conhecidos, no restaurante do hotel de trânsito. Aproveitou-se para conhecer os
pontos turísticos mais comuns na época.
Matada a curiosidade sobre Brasília, seguiu-se para Porto Velho. Esta volta tinha um
motivo não oculto, mas de disfarce. A lógica era ter ido por Campo Grande, mas foi evitado.
Para Porto Velho, se volta até Goiânia (BR 060); daí, Jataí (sai da 060 e entra na BR
364). Em Jataí resolvemos dormir no Batalhão de infantaria que lá tem – 41º BIM (Batalhão
de Infantaria Motorizado) e sair na “madruga”. Meta: Jataí – Rondonópolis - Cuiabá. Em
Cuiabá, haveria que ter um planejamento mais refinado. Teria que ter mais informação sobre
as estradas. Requeria uma parada de dois ou três dias para dar uma geral no reboque e na
Brasília, carro novo com três a quatro anos, mas viajando desde Porto Alegre. Para romper
cerca de 1200 km (Jataí-Cuiabá), era preciso de madrugada e confusão para se chegar,
com dia, em Cuiabá. Ali procurar o quartel do 9º BEC e, pelo o oficial de Dia, encontrar a
Casa de Hóspedes. Tudo deu certo. O quartel ficava, e fica, na entrada da cidade. Na ida
um supermercado, perto do quartel, então uma parada para reforço de água mineral e
comida. Não se sabia o que encontrar na Casa de Hóspede e nem se tinha vaga.
A hospedagem foi tranquila. Também parece ter sido final de semana, pois no almoço
de domingo apareceu o comandante do batalhão. Antes, tiveram as fatídicas peladas de
dupla de vôlei. Até hoje não entendi como se consegue praticar alguma coisa em tão baixa
qualidade e, mesmo assim, se manter a atividade. Isto vale para tênis, basquete, peteca. O
ridículo é menor em futebol de salão porque logo os atletas de final de semana se cansam.
É um ridículo de vinte, trinta minutos. No dia anterior encontrara um companheiro de turma,
de infantaria, que servia no 44º BIM, em Cuiabá. Com um capitão de engenharia, que servira
comigo no 5º BEC, segunda passagem, (o tal que cortou as”offset” do aterro) fizemos uma
pelada de “futsal” de boa qualidade.
A ideia era sair na terça feira. Na segunda deu uma chuva daquelas. Era o período
chuvoso. A partir de Vilhena, era o dito “inverno amazônico”, uma asneira absurda: chove
porque é verão. Distorção levada pelos nordestinos. Mesmo assim tentei obter o máximo de
informação possível sobre a BR. Tudo desencontrado. Até as empresas de ônibus tinha
informações desencontradas. O governo decidira asfaltar Cuiabá-Porto Velho em três anos.
Antes se seguia pela BR 364 de Cuiabá – Vilhena – até Porto Velho. A opção do governo foi:
pela BR 070 Cuiabá – Cáceres; Cáceres (inicio da BR 174) - Pontes e Lacerda (homenagem
a dois homens: Antonio Pires da Silva Pontes, mineiro, e Francisco José de Lacerda e
Almeida, paulista) – Vilhena. Agora, a quase 500 km de Cáceres, a BR 174 coincide, com a
364, numa cidade, hoje município, que se chama Comodoro. Havia obras de Cáceres até
Porto Velho. Onde teria atoleiro? Só a viagem diria.
Resolvi sair na terça. Parte do trecho, até Cáceres, era do 9º BEC fazendo asfalto em
TSD – Tratamento Superficial Duplo. A cinquenta quilômetros, a chuva havia levado um
bueiro. No momento estava interrompido o trecho. Não passava nada. Seria feito um desvio,
mas só depois que chovesse menos. Voltei para Cuiabá, casa de hóspede. Com o reboque
seria uma temeridade ir com as duas meninas. Três dias depois, liguei para a seção técnica
do 9º BEC, me disseram que já se passava pelo desvio. Não havia mais filas de caminhões.
Resolvi deixar o reboque. Fizemos algumas trocas: coisa do reboque a ser levada e coisa a
ser deixada. O reboque seria levado pelo motorista autônomo, paraibano, que fazia
transporte para os BEC até Boa Vista. Era o Otávio. Sempre contratado pela representação
no Rio. Ele encontraria um jeito de colocar o reboque por sobre a carga enlonada. Resolvi
fazer um trecho curto por falta de informação. Meu maior medo era onde abastecer. Cuiabá-
Cáceres estava asfaltado. Depois Cáceres - Pontes Lacerda; daí, até Vilhena. A partir daí,
embora não soubesse como estava o trecho, eu conhecia bem. Sai depois do almoço de
Cuiabá para dormir em Cáceres. Sabia que tinha o 2º Batalhão de Fronteira e que tinha
também uma casa de hóspede. Chegando lá, por informação, fui até ao batalhão e pelo
oficial de dia até à casa de hóspede. Já à noite fomos fazer um lanche rápido, numa
lanchonete à beira do Rio Paraguai, perto de uma praça onde também havia o balé das
andorinhas. O lanche foi terrível. Na estrada, encontrara um viajante com um fusca
vermelho, bem baleado. O motor falhava bastante. Estava lotado de gente. Perguntei qual
seu destino, disse que seria uma cidade, que não me lembro o nome, mas que teria que
chegar até Pontes e Lacerda e depois ir até a cidade dele. Ele queria uma companhia para
comboio. Disse-lhe que não tinha essa coragem para tocar a noite. Respondeu que tudo
estava asfaltado. A partir de Pontes de Lacerda tinha um ou outro desvio. Segundo ele a
estrada estava boa. Não quis pagar pra ver.
Queria fazer mais uma madrugada, pois se o motorista do dia anterior estivesse certo,
poderia dormir em Vilhena. Na saída, um pneu baixo. Até achar um posto, para abastecer e
verificar o pneu, foram-se duas horas de viagem a menos. Até Pontes e Lacerda tudo
asfaltado – TSD. Almoçamos em Pontes e Lacerda. Nessa cidade, a BR 174 corta o Rio
Guaporé (Itenez para os bolivianos) onde ele tem uns cinquenta metros de largura. A partir
de Vila Bela, será o limite entre o Brasil e a Bolívia até perto de Guajará-mirim onde se
incorpora ao Mamoré. Abastecido, tocamos em frente. Chegamos a Vilhena no anoitecer.
Realmente havia muitos desvios ou de bueiros ou de algum pequeno trecho com problemas.
Mas nada superior à dois quilômetros, de desvio, por sinal, muito bem conservados.
Nenhum enrosco. Nenhuma atolada. Passei limpo, limpo. Procuramos um hotel para passar
a noite. Pela portaria acabamos de reencontrar a dentista que foram para Vilhena quando eu
era tenente. Ela fincara raiz ali, estava casada e com uma filha. Por ela fiquei sabendo que a
casa de Rondon havia sido recuperada e era ponto turístico.
Antes de Vilhena, na divisa de Mato Grosso e Rondônia (12 km do centro da cidade)
tem uma Fiscalização alfandegária. Ali também tinha um posto de vacinação contra febre
amarela. Havia placas recomendando aos turistas ou viajantes a tomar a vacina. Como
estávamos chegando, teríamos que tomar. As meninas nunca tinham tomado. Para dar o
exemplo... vamos ao sacrifício. Mas quando cheguei, parei o carro, não vi ninguém no posto.
Chamei por alguém, ninguém apareceu. Quando eu estava voltando apareceu um
funcionário com aquele traquejo: – “que é que ocê quiria? É vacina é, é”? Entrei no carro e
de lá gritei: –“era... Mas agora se quiser vacinar chame a polícia; vou dormir em Vilhena”.
Tive que usar minha “finesse” na chegada.
Vilhena a Porto Velho foi um pulo. Na saída tentamos identificar onde morei. Tudo
estava modificado. As instalações tinham voltado para o DNER e o que era a casa do
comandante era moradia do japonês, nosso motorista de caminhão. O bairro chamava-se
Quintobec. Segui devagar tentando reconhecer os lugares. A estrada asfaltada havia
modificado o traçado em muitos lugares. Tentei e não achei o Aterro Grande. Fora desviado
por mais de dois quilômetros para a esquerda do traçado original. Á medida que ia entrando,
ia me lembrando dos detalhes de quando era estrada de chão. Em varias situações
reconhecia os locais e aí acontecia algo intrigante: aumentava-me a batida cardíaca e as
imagens me vinham com enorme nitidez: atoleiro de Marco Rondon; Posto Indígena do
Riozinho; o local onde tinha a casa do cabo e a barreira do 5º BEC em Pimenta Bueno; o
posto de gasolina de Pimenta; restaurante do Japonês, no mesmo local; o posto de gasolina
de Cacoal; as pedreiras do Castanhal e as instalações do Sr Andrézinho; Presidente Médici
como município; a ponte do rio Ji-paraná. Quis ir até o local onde fora minha companhia,
cujo local havia sido devolvido ao DNER. Vi de longe a casa onde morei. Arrependo-me de
não ter ido até lá. Almoço em Ji-paraná, num restaurante perto da Prefeitura. E assim foi
desfilando os meus velhos lugares conhecidos: Ouro Preto, Corte do Künner, Jaru. Alguns
lugares, com dificuldades de reconhecê-los, como já dito, pelos novos traçados, como foi o
caso de Nova Vida. Ariquemes, agora uma enorme cidade e outros pequenos municípios
que nada mais eram que serrarias, entradas para antigas mineradoras e velhos
acampamentos do 5º BEC. Numa seção nostalgia cheguei a Porto Velho. Minha morada
pela terceira vez.
Muitos, quando conto isso, me perguntam se eu fui masoquista, pois repetir três
vezes o mesmo local, amazônico, não seria gostar de sofrer? Bom, nunca foi pelo prazer do
sofrimento, mas pela oportunidade de não ir para onde não queria. E também, fazer o que
se gosta e o que se domina é prazer. Ali, pela legislação, eu tinha a passagem de volta
assim que completasse o tempo mínimo. Por isso, nunca precisei dos canais “prezado
companheiro” para sair de lá. Também tinha prestígio na Arma suficiente ser transferido para
qualquer parte do Brasil inclusive, nesta opção, de retornar para o 5º BEC, local terrível e
difícil a muitos. Para minha formação profissional foi ótimo. Eu tive três comandantes
distintos, mas no mesmo batalhão, com muitos de seus componentes, civis e praças, sendo
os mesmos; num terreno que eu conhecia bastante. Assim muitas variáveis foram
eliminadas. Claro com missões diferentes. Assim pude avaliar melhor as atitudes dos
comandantes e deles extrair muito de suas formas de comandar: de uns, nunca fazer o que
eles fizeram e, de outros, copiar a forma com que eles procederam. Assim eu formei meu
arcabouço de comando.
Quando cheguei ao Clube dos Oficiais, foi um enorme alívio. Claro, nada de aviso e
ou reserva de apartamento. Assim fiquei na suíte (diária mais cara). O interessante que já
estava em Porto Velho o futuro e primeiro comandante da Base Aérea de Porto Velho. O
aeronauta, quando me viu chegar, com uma Brasília, completamente carregada, vindo pela
estrada, ficou com uma inveja danada. Na outra semana, teria que ir ao Rio trazer a família.
Assim, deixou de vir via aérea e veio pela estrada, apenas pelo prazer do desafio. Chegou
num opala meio avermelhado, também entupido até o teto de coisas. A mulher e os filhos
vieram de avião.
Segundo as minhas alterações, apresentei-me pronto para o serviço a 13 de
fevereiro de 1984. Cheguei a 06, poderia ficar até 18, pois entrara em trânsito 18 de janeiro.
O comando do batalhão estava mudando. Era uma coisa boa: chegar novo numa unidade
junto com o comandante. A passagem de comando fora a 04 de fevereiro. O novo
comandante ainda estava no Clube dos Oficiais. Problemas de mudanças e parece
pequenas manutenção na casa de comandante. Assim, eu não peguei a passagem de
comando.
Nem conheci o comandante que saiu. Infelizmente a fama que deixou não foi das
melhores. Não por ele, mas pela sua mulher. Este sempre foi um problema de Batalhões de
Construção: companheiros que deixam os deslumbres das esposas, muitas de espírito fútil,
transpor os portões do quartel. E olha que é uma praga que graça gerações. No caso, a
senhora pressionou tanto o desdito que este, usando verbas do SAS, comprou um Ford
Galaxie, mandou reformar para servir de transporte exclusivo para a “madame”. E com
motorista militar.
Este camarada foi meu guru sem eu lhe conhecer pessoalmente por dois motivos:
entre os fornecedores de equipamentos e viaturas, ele, capitão e major, era conhecido como
um homem que entendia muito do emprego e das características que cada conjunto deveria
ter para atender determinado tipo de serviço. Conhecia com profundidade as capacidades,
velocidades, cargas, rusticidade, manutenção de quase tudo. O segundo motivo foi ele ter
concebido a melhor estrutura física de uma Companhia de Equipamento, no 3º BEC, em
Picos. Foi a mais perfeita que já conheci. Ao conhecê-la, ainda tenente, fiquei com uma
inveja danada. Pena que ele não fez algo parecido no 5º BEC.
Mas inventou um negócio estranhamente diferente no EB. Ele fez um “comando em
reunião permanente”. Assim, numa sala de reuniões que era também salão nobre, ele
colocou seu birô e determinou que cada um dos oficiais chefes de seção, incluída a seção
técnica fizesse o expediente no mesmo ambiente. Assim qualquer informação de uma seção
a outra estava em condições de informar. Só esqueceu que o chefe de seção não é
computador e nem banco de dados. O chefe de seção precisava dos seus auxiliares para
fazer alguma coisa e buscar informação em algum lugar. Não durou um mês a experiência.
Como o novo comandante estava no Clube, tive oportunidade de conversar muito
com ele. Era carioca e fez do Rio sua única morada. Exército carioca. Nos últimos dez anos
fora instrutor da ECEME. Antes do comando, passara cinco anos como instrutor de Apoio
Logístico.
No batalhão, havia muitos conhecidos. Tanto que três deles, dois da Tu 70 e um da
minha turma, foram me fazer alvorada assim que souberam que eu havia chegado.
Novamente eu servia com o agora major que servimos em Alegrete, em 72, da turma de 70.
Era o subcomandante e Chefe da Seção Técnica. Aliás, o batalhão recebeu apenas um
capitão vindo do IME e oriundo de Material Bélico, da turma de 73. O batalhão, antes de eu
chegar, havia contratado dois engenheiros civis: o Maduro e o Zeca (esqueci o nome). Bom,
eu chegando e dois capitães saindo para fazerem curso no Rio no CEP (Centro de Estudo
do Pessoal). Curso de oito, nove meses. Mas os dois com um drama: o dinheiro não dava
para alugar moradia no Rio. Também havia o problema de filhos em escola. Assim
resolveram alugar casa em Porto Velho e deixar a família ali. Bom, isso gerou algumas
confusões administrativas: os familiares ainda achavam que o batalhão tinha algumas
responsabilidades sobre eles; mas na verdade nada tinha que ver com eles, a não ser a
solidariedade sempre praticada com familiares de companheiro.
Já mal cheguei teve reunião em Manaus: pela Secretaria de Finanças. Fui porque eu
seria o próximo Fiscal Administrativo. O da função estava seguindo para o tal curso no CEP.
Logo em seguida foi a reunião para ajustamento do plano de trabalho, para aquele
ano, também com o mesmo oficial na função e eu o futuro. A coisa era indecisa e indefinida.
A missão prenunciava ser grande: BR 364 - Variante do Samuel, Ponte; INCRA - alguma
coisa restante do Projeto Urupá, entrega do Projeto Sidnei Girão e continuidade do Projeto
Acrelândia.
Na verdade, eu continuava apenas “trecheiro”. Da parte burocrática eu não entendia
nada. Estava um tanto inseguro, pois muita coisa era feita de modo empírico. Senti que as
atividades conduziam as pessoas e não as pessoas conduziam as atividades. A legislação
era volumosa e detalhada. Eu não entendia a sequência dos documentos elaborados na
Fiscalização, nem como controlar tudo aquilo. Havia os donos dos setores: o que controlava
as verbas por origem (convênio): DNER, INCRA; INFRAERO. Feito o empenho, ele abatia
do saldo, empenho por empenho. No final do dia tinha o saldo restante; o que fazia o
empenho e fazia a classificação dentro do elemento de despesa; o que controlava o
empenho assinado para a distribuição; o que recebia as notas fiscais liquidadas pelo
almoxarifado ou até no trecho e daí juntava as notas fiscais com as notas de empenho e
remetia para pagamento; o que, na tesouraria, elaborava o pagamento; o do almoxarifado...
os do setor de requisição – almoxarifado– que em BEC recebe o nome de Suprimento. Em
fim eram feudos. Era mais fácil demitir o comandante que mudar funcionários. Eu sempre fui
cético com isso.
As reuniões em Manaus era uma coisa maluco: o comandante explanava o Plano de
Trabalho; os oficiais com curso do IME do grupamento e DOC discutia a parte técnica; se
encontrassem inconsistência (e sempre encontravam, para ficar bem com o chefe) os
oficiais com curso do IME, dos batalhões, como malucos, iriam recalcular e refazer o plano
de trabalho. O fiscal administrativo ficava como um bobo esperando que algum dado lhe
fosse solicitado. Eram relações e relações de preços, valores, enfim, um banco de dados em
folhas. Havia um documento que era o martírio dos fiscais administrativos: Orçamento
Analítico. Este documento tinha que acompanhar o Plano de Trabalho da época.
Formulados pela seção técnica, os serviços a serem executados, consultando tabelas de
preço de serviços, ou compondo esses preços, no final se tinha um número em dinheiro do
total do plano de trabalho. Aí entrava o fiscal de modo a calcular quanto se gastaria com
todos os insumos e o valor de cada insumo. Isso era classificado por, na época, ELEMENTO
DE DESPESA, hoje Natureza de Despesa. Os “esquerdinhas” atuais, no governo, fazem
como no Big Brother, do Livro 1984 -: 1 apagam tudo que fora do regime anterior. Bom
tinham os grandes elementos e os subelemento. O total dos subelementos somavam os
grandes elementos. E depois de aprovado o Plano de Trabalho, não se podia passar verba
de um grande elemento para outro. Poderia dentro do mesmo elemento. Isso era uma
trabalheira danada. Hoje com planilhas e banco de dados é uma beleza. Na época, se fazia
um rascunho a lápis e, depois de pronto, um desgraçado de um datilógrafo trabalhava a
1
Livro de George Orwell - (Mil Novecentos e Oitenta e Quatro - em inglês: Nineteen Eighty-Four –
08/06/1949) – Autor Eric Arthur Blair – pseudônimo – George Orwell
noite inteira para apresentar o tal Orçamento Analítico pronto. E no meu batalhão a coisa era
feita no chute. O Major,a quem substituí, olhava para a funcionária de empenho e
perguntava: – “quanto gastamos, em óleo diesel, ano passado? a funcionária respondia; ele
olhava pra cima e dizia: – “bom, para a sede do batalhão, coloco 10%; então neste item
coloco tanto”. E, assim ia, desde pagamento de CLT até material permanente. Dava a
bagatela de mais de trezentos itens. É claro que no final ia faltar dinheiro para algum
elemento de despesa. E aí vinha o drama: de qual item retirar para contemplar os itens até o
momento de zero valor? aí, olhava para cima e dizia: - “então vou colocar só 5% de óleo
diesel para a sede”. No batalhão, na verdade o esboço do Plano de Trabalho (seria final,
depois da aprovação, pela DOC), ficava mais fácil por ter algum parâmetro (o empenho do
ano anterior). Mas como fazer isso lá em Manaus? Era um tal de conta de chegar. E não
raro zilhões de telefonema para Porto Velho para perguntar à funcionária da carteira de
empenho. Senti que aquilo não poderia ser assim.
Voltando da reunião de discussão do Plano de Trabalho, eu não tinha dimensão da
trabalheira que teríamos. De começo, fui levado pelos acontecimentos como os outros o
foram. Mas depois comecei a tomar a rédea.
Já em Porto Velho, estudei a fundo o manual do DNER que era o mais completo para
fazer o Orçamento Analítico. Aliás, a bagunça no Brasil era tão grande que o único órgão
que exigia tal documento com o Plano de Trabalho era o DNER. Os outros conveniados nem
conhecia. E o DNER era o correto. Detalhava item por item dando nome: areia; óleo diesel,
graxa; pagamento de horas extras; serviços de terceiros: transporte, aluguel... e por aí afora.
O sistema SIAFFI estava começando. Hoje tem Manuais da Secretaria do Tesouro
explicando tudo nos mínimos detalhes. Em Roraima ou no Rio Grande do Sul, o
procedimento é o mesmo.
O difícil era manter o Orçamento Analítico com uma inflação de dez, quinze por cento
ao mês. Como atualizar tudo se não tinha ainda computador? Teria que ter uma estrutura de
banco para saber no dia qual o valor real que se tinha. O valor do plano de trabalho estava
em torno dos quinze milhões de dólares, tanto para a estrada como para a ponte. Essa era
só medir e pagar a medição com correção. Ela fora dada em empreitada.
As aquisições de maior valor, na chegada do material, no almoxarifado, eram
dolarizadas. Assim, ao aplicá-lo, se tinha uma estimativa do novo valor. Outro macete usado
era não considerar material em estoque. Era considerá-lo aplicado, entrar com ele na
apropriação, mas mantê-lo em prateleira para ser usado na época certa. Claro, o
cronograma físico-financeiro ficava estourado, mentiroso: mais gasto que produção.
Os contratos eram uma parafernália. Chegou momento que os reajustes de parcelas
de pagamento ficavam maiores que o valor original contratado.
Foi muito difícil trabalhar durante todo o ano de 1984. Recebi um Orçamento Analítico
feito por outro oficial que guardava tudo de cabeça. Todos os dias tinha susto. Vivíamos de
soluço em soluço.
O meu pessoal era ruim de qualidade técnica. Estavam acostumados a serem donos
de tudo. Repetiam sempre o que aprenderam fazer, muitas vezes coisas criadas pela
cabeça deles. Qualquer sugestão eles arrotavam que “sempre foi feito assim”. Acontecia que
o momento não era de o “sempre”. Eu tentei atualizar os saldos diariamente, mas dependia
da inflação do dia. Não se tinha internet: ou se fazia um fax a algum órgão ou se esperava o
jornal do dia, que em Rondônia chegava ao final da tarde vindo do Rio ou São Paulo. Fazer
o funcionário entender isso foi uma parada. Tive que sugerir a transferência de alguns da
seção. Mais tarde, descobri porque eles se acomodaram para não sair e se ajustaram ao
que eu queria. É que, pela contiguidade da tesouraria e Fiscalização (mesmo pavilhão)
depois de assinado os cheques, mais tarde Ordem de Pagamento, eles rapidamente
informavam ao interessado dizendo que o pagamento estava pronto. Mas essa informação
tinha do “da cerveja”. Descobri que o “da cerveja” era muito mais que o da cerveja. Assim,
combinei com o tesoureiro de modo que, após a assinatura, mantivesse com ele o
pagamento. Quando o governo adotou a Ordem de Pagamento – transferência da conta do
batalhão para a conta do interessado - aí ficou mais fácil esconder o pagamento dos
funcionários: o tesoureiro é quem levava ao banco os pagamentos. Aprofundei e vi que os
empenhos liquidados e prontos para o pagamento, dos que davam o “da cerveja,” sempre
eram acelerados. Passei a selecionar os pagamentos, segundo a data da liquidação.
Ficaram uma arara comigo, mas... O que me aborrecia muito era que eles deixavam
estourar valores de itens importantes. Tive a paciência de assinalar em vermelho os itens
que não poderia ser esgotado, pois teria que solicitar transposição ao DNER. No pico da
obra, vinha o distinto com cara de cachorro perdido informar: “capitão, o item X da 31.32
estourou desde a semana passada; agora tem mais empenho que tem que ser classificado
nesse item”. Eu ia à loucura. Pior, naquele ano, junto com o sistema de apropriação
(relatório mensal do volume de produção e o preço dessa produção), tinha que informar o
empenhado, por itens contidos no Orçamento Analítico. Aí que o angu criou caroço: – “mas
capitão, isso nunca foi feito!!!. Dois ou três palavrões e ia direto ao assunto: – “mas, de hoje
em diante, vai ter que ser feito; Não é o que está na diretriz”?
E o que mais me deu trabalho foi não ter alguém experiente no Suprimento,
particularmente nas carteiras de Licitação. Hoje é um setor obrigatório em qualquer órgão
publico, incluído os militares. No EB é SALC – Seção de Aquisição, Licitação e Contratos;
noutro é seção de licitações e contratos e aí fazem os arranjos convenientes. Na época tinha
um sargento de intendência com vinte anos de paraquedismo e outro de engenharia que
entendia o linguajar dos trecheiros. Foi um duro combate: fazer, ler, corrigir editais, relatório
de licitações, estudar propostas...
O pior que o sistema de trabalho do 5º BEC estava errado para a época: havia novas
legislações e formas consagradas de trabalho não só em órgãos civis como em outros BEC.
O almoxarifado, para BEC - Seção de Suprimento, deveria receber as solicitações de
necessidade de material e ou serviço; função do valor executar as licitações. Apurado os
vencedores, no próprio almoxarifado deveria ser feito os empenhos de todos os itens
licitados. Na licitação já se estabelecia em que verba, qual o título, qual o elemento de
despesa deveria ocorrer tal gasto. Mas no 5º BEC não era. Tudo era na Fiscalização
Administrativa. O Fiscal Administrativo, dez anos antes (antes de 1984), era quem assinava
os empenhos com o comandante. No tempo relatado, já era obrigação do Almoxarife ou
chefe do Suprimento. Por isso tudo ali perto do Fiscal. A função principal de assessor do
comandante e, junto com a seção técnica, pensar nas próximas obras, como atacá-las, o
momento oportuno de aquisições, função de parcelas de recursos, isso ficava para ontem.
Era de sustos e soluços: “dia tanto vai iniciar o transporte de base e subase: tem que fazer
licitação; tem o senhor Pedro das Couves, Francisco do Coco...” Era a coisa que mais me
irritava: ser conduzido pelos eventos.
Em Manaus fora discutido um plano de trabalho para o ano de 1984, com trabalhos
previstos já em março. O término era novembro. Bom, função do tempo disponível, se foi
dimensionando tudo. Assim se fez orçamento analítico. Assim a Companhia de Equipamento
se preparava. Assim a 3ª Companhia se organizava. O Plano de Trabalho era: 57 km de
asfaltamento completo, isto é, até a sinalização horizontal; término da Ponte sobre o Rio
Jamarí, de 270 metros, e recapeamento de trechos que já tinham quase dez anos de
construídos, próximo de Porto Velho. A Ponte e os 57 km eram frutos da Barragem do
Samuel (um local) feito no Rio Jamarí, um riozinho bem acanhado para servir a hidrelétrica.
Antes da inauguração, já estava obsoleto. Mas o lago cobriria vários pontos da estrada no
traçado original e mais a ponte sobre o igarapé São Pedro (velho local de acampamento de
Conserva). Esse desvio, em relação ao traçado antigo tomou o nome de Variante do
Samuel. Aí houve um erro tático: condicionamos conquistar um “objetivo A” confiando e
necessitando conquistar o “objetivo B”, de igual valor. Isto é, em determinado momento, só
poderíamos continuar o asfaltamento se a ponte estivesse concluída. A construção fora
empreitada. Caberia a nós o encabeçamento e o enrocamento dos aterros com gabião e
manta de Bidin (uma manta de nylon que permite passar a água e não a areia).
Mas, um belo dia chega um documento pedido para que tudo fosse reformulado. O
Presidente da República, João Figueiredo, queria inaugurar a BR 364 em setembro daquele
ano. Todo o plano e trabalho fora reformulado. Ao invés de irmos a Manaus, vieram a Seção
Técnica da DOC e a do Grupamento a Porto Velho. A minha parte pouco mudava a não ser
alguns itens que estavam previstos e foram descartados e outros não previstos a serem
incluído. E tudo isso dependendo de licitação. Tudo dependia do DNER nos repassar
crédito. Era por Dotação Orçamentária (Orçamento da União). A dotação orçamentária era
repassada por cotas. A parte financeira (pagamento), que dependia da arrecadação do
tesouro, era repassada também pelo DNER. O nosso trecho se restringiria apenas à dita
Variante do Samuel: 57 km e a ponte. O restante da BR fora totalmente entregue à
empreiteiras: de Cuiabá até início da variante e, do final dela, até Porto Velho. O trecho
Variante-Ariquemes fora dado a empresas, para refazer trechos desgastados e refazer as
sinalizações. As obras do INCRA foram para a geladeira.
Fora da cronologia, registro alguns acontecimentos que servem de exemplos a “não
serem seguidos”. Registro de como um general não deve proceder. O que se espera, como
ação de general, é que deva ser alguém capaz de ser líder, orientador e estimulador.
Ao que me referirei, era diretor da DOC. Eu Cadete o conheci comandante do então
2º Batalhão Ferroviário (que por desrespeito às tradições e à história do batalhão, deixaram
que fosse mudado o nome para 11º B Eng Cnst). Acabei por servir com ele, nos seus
últimos dias de General Divisão, no DEC. O comandante, anterior à minha chegada, com a
seção técnica (meu companheiro quando tenente, de Alegrete e Porto Velho), não puderam
mudar de lugar a usina de asfalto para junto do britador. Isso implicava em custo cujo
recurso não havia. Segundo o general, o dinheiro havia. E fora feita, a mudança, em
fevereiro de 84, já com algum recurso e sem muito atropelo. Pois, isso fez com que o tal
comandante, meu guru de manutenção, caísse em desgraça. A tal ponto que, servindo no
DEC após o comando, sofria tratamento desairoso do tal general da DOC nos corredores do
DEC. Passou para reserva, prematuramente, no dia em que saiu coronel. O general tinha
outro aborrecimento: a execução da ponte do Jamarí fora contratada e não feita por
administração direta, como ele queria.
O general era daqueles oficiais de engenharia com curso do IME. Pavão era fichinha.
O Criador construiu o universo e o general foi o arquiteto. Assim, ele entendia de tudo: do
alfinete ao foguete. Reconheço que era um camarada decidido, desenrolado e franco. Tão
franco que era ofensivo no trato com subordinado. Sua equipe técnica era de capitães
antigos e majores, com pouca vivencia de trecho, embora fossem oriundos de engenharia e
servindo em Seção Técnica de BEC. Assim, para o tal general tudo se resumia numa grande
seção técnica da qual ele era o grande chefe. Os assessores eram de uma deslealdade
lateral incrível. Em suas intervenções, colocava os comandantes de unidade em situação
constrangedora. Tanto que havia noticias, não me lembro da unidade, de que, na reunião de
coordenação de um determinado trabalho, o comandante foi destituído do comando, na
mesa de reunião, pelo tal general. Em outro lugar esclarecerei melhor o que era a DOC na
época e o mal que ela trouxe à Arma de Engenharia. Notei que sua raiva não de uma ou
outra pessoa: era do batalhão e das pessoas que viessem para o batalhão. De tempo em
tempo dizia que éramos vagarosos; que trabalhávamos mal; que o culpado era o
comandante anterior (a indireta era para o chefe de seção técnica); que a Arma de
Engenharia iria passar vergonha porque tudo estaria pronto para inauguração e nós não
cumpriríamos o plano de trabalho; que o Exército ficaria mal perante a sociedade e perante
o governo (que tinha como presidente um militar – General Figueiredo). Quando ia para o
trecho, implicava com máquinas, com viaturas, com pessoal que encontrava: tudo estava
errado. No momento oportuno, direi por que quase lhe mando para aquele lugar. Quando se
falava em telefonema dele, todos, ficávamos apreensivos; nas quatro ou cinco vezes que
veio pessoalmente era um “eterno pisar em ovos”. No Grupamento, o chefe da 4ª Seção,
meu instrutor na ESAO, vindo da ECEME, major, quase enlouquece. Além de me controlar,
se é que teria tempo (tudo no papel impresso e datilografado, não havia internet e nem
computador), teria que manter o fluxo de óleo diesel e asfalto Manaus-Porto Velho. Pelo
menos duas vezes por semana, o da DOC pedia ao General do Grupamento para prender o
chefe da 4ª seção; duas vezes por mês, mandava substituí-lo. Assim, ao invés de ele
estimular seus subordinados, apenas os intranquilizavam e os ameaçavam. Se ele tinha
convicção que o meu comandante, ou que o chefe da seção técnica, ou que eu, Fiscal
Administrativo e ou chefe da 4ª seção, do GEC, éramos incompetentes, caberia a ação de
comando dele e mandar nos substituir. Trouxesse os que ele achasse competente. Mas, o
caso era espezinhar. Na verdade, queria uma plateia que o aplaudisse e em coro dissesse:
inteligente... inteligente... Achava que o sol nascia só para aquecê-lo. Esse não é, e nunca
foi, procedimento de comandante: nem na antiguidade, nem no império romano, nem na
idade média e nem nas grandes guerras contemporâneas. Assim, me foi um péssimo
exemplo.Tinha o cacoete de falar: – “neeeeegativo mocinho..... neeeeegativo cumpadi”.
O comandante do grupamento era um “banana”. Nunca veio ao nosso socorro.
Quando muito, telefonava ao comandante do batalhão, tentando pôr panos quentes nas
ofensas do outro. Até mesmo as liberações de créditos coisa que ele poderia nos ajudar, por
intermédio do Distrito Rodoviário de Manaus, ele não fazia. Nós, de Porto Velho, é que
tínhamos de correr atrás. Entretanto, era o único que nos dizia que cumpriríamos o plano de
Trabalho; que estávamos indo bem; que estávamos produzindo acima da nossa capacidade.
Hoje eu duvido da sinceridade. Fui me decepcionar com ele mais tarde, profundamente, ao
mesmo tempo entender o que ocorrera naquele ano 1984.
Ainda fora da cronologia. É o caso do roubo de cheque. Três dias depois que eu me
apresentar, na volta do almoço, estava o comandante, o subcomandante e o major, que eu
substituiria, todos tensos: sumira um cheque da gaveta da mesa do Sargento da Tesouraria.
Era recurso SAS. Equivaleria hoje a dez mil reais. A falta foi dada às 13 horas. O sargento
saíra às 11 horas para o almoço e voltara às 13. Correram ao banco, mas já haviam sacado.
O sacador era um moreno, com cara de índio, de óculos escuros e boné... Conluio do caixa,
com certeza: tal característica era de todo rondoniense, na época. Cheque preenchido com
valor, assinado faltando colocar o nome do beneficiado, pois o comandante não parava no
posto de comando. E o jovem major, que eu substituiria, todo cheio de autoridade,
pressionando o coronel para abrir um IPM: –“temos que apurar a responsabilidade; foi vacilo
do sargento!” Eu cheguei, o coronel me informou e perguntou minha opinião. Eu disse ao
major: – “Jovem, você está indo; nós ficaremos; ninguém vai conseguir apurar o responsável
ficando o dito pelo não dito e o coronel com a pecha de roubo no seu comando; temos uma
enorme obra que, se não cumprida, coloca o nome do EB em jogo; portanto, sendo SAS, em
dois meses recuperaremos o prejuízo; portanto, sou contra o IPM”. Firmamos a convicção
de não abrir o IPM. O Sargento era um dos insubstituíveis: o mais competente do universo;
mais puro que o anjo Gabriel. Tudo confirmava a tese de um companheiro de
Comunicações: “o somatório de desempenho é zero”. Se algo desponta muito para um valor,
veja se não há outro em sentido contrário, pois no final tudo será zero. Nunca descobrimos
quem, como e porque roubaram o cheque. Por pedidos mil, o sargento ficou na mesma
função, na mesma sala e na mesma cadeira. Continuou a colocar documento importante em
sua gaveta.
Ao ser refeito o Plano de Trabalho, o diretor da DOC, ainda com “pinimba” com o
Subcomandante e também chefe da Seção Técnica, começou a nos espicaçar. Foi o
primeiro a nos colocar contra a parede dizendo que não tínhamos gabarito e garra para
concluir a missão no prazo. A partir daí, foram visitas mil e inspeções que nos atrapalhavam
profundamente.
Toda semana visitas: de militares, querendo uma fatia do bolo da visibilidade que a
obra traria; de políticos fazendo campanha, pois vinha declarar seu apoio e solidariedade ao
Exército, embora na tribuna dissesse que o Brasil era uma ditadura. O DNER e o Ministério
dos Transportes era visita duas vezes por semana. O infeliz do comandante não tinha tempo
para atender a administração; o Chefe da Seção técnica, que deveria acompanhar
execução, planejamento e correção técnica, era um zumbi de cansado por ter que resolver
tudo à noite. Eu era o segundo mais antigo da arma e, pela função, ficava na sede também
recebendo outras visitas menores, atendendo zilhões de ligações para o comandante e ou
seção técnica e mais as minhas que não eram poucas.
No nosso caso teríamos que trabalhar no limite de produção. A logística era infernal.
Para asfalto e óleo diesel, dependíamos de Manaus. Nossa capacidade de estoque de
asfalto era limitada: duas semanas; tínhamos limitação de balsas adaptada para transporte
de asfalto: três conjuntos de oitenta toneladas; o nosso consumo na média era oitenta
toneladas semanais, no pico chegava a cento e vinte; e tinha problemas de abastecimento
por parte da Petrobrás, que nomeio do caminho levou um tranco para nos dar prioridade. E
para completar, tínhamos o problema de cota de credito, embora, na época por legislação,
não se fazia licitação para órgãos públicos e autarquias. O problema não era o pagamento, a
parte financeira, pois eles sempre seriam os últimos a receber e até prioridade para restos a
pagar. O problema era a autorização para gastar, o credito, a parte orçamentária. De
Manaus a Porto Velho, subindo, e carregadas, na época de seca, eram dez dias de viagem;
descendo vazia, seis. Assim, atender tal equação com tantas variáveis era coisa para
mágico.
Convém explicar sobre a massa asfáltica e o asfalto. A massa asfáltica era um
concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, no jargão. Era um concreto como se vê nas
construções, só que, ao invés de ser água, pedra, areia e cimento, no lugar da água, o
asfalto quente, a 120° C. A mistura ficava assim, com as devidas proporções, testadas em
laboratório: brita corrida, areia, pó de brita, cimento e asfalto. A parte de rocha (brita, areia,
pó de brita) era para tentar recompor a massa o mais compacta possível, preenchendo os
vazios entre as pedras. Isto é, uma graduação densa. Era uma tentativa de refazer a pedra
original. Mas para preencher os vazios menores usava-se material mais fino que era o
cimento – filler, no jargão. Dependendo da mistura, até usa-se um tipo de calcário, desses
empregados em agricultura. Portanto, não era só a pedra britada.
O asfalto era o asfalto denso – CAP 20, isto é “cimento asfáltico de petróleo” de
viscosidade 20. O bendito vinha em tanques de asfalto especiais com um sistema de
aquecimento por maçarico a óleo diesel, muito prejudicial ao asfalto; ou óleo térmico,
aquecido com óleo diesel, circulando por serpentina dentro do tanque. Não raro, a coisa
pegava fogo. O asfalto não pode ser aquecido acima de 150°C porque oxida e nem abaixo
de 80°, pois não há bomba que o puxe. Saía de Manaus quente, desligava-se o maçarico e
dois dias antes de chegar, se colocava fogo para aquecer; em Porto Velho se bombeava
para balsas depósitos que ficava com maçarico aceso até ser transportado para usina; lá ia
para os tanques de uso, mantido a óleo térmico, até ser empregado. Se junta a isso, o
asfalto diluído de petróleo (ADP) – CL (cura lenta) diluído em óleo diesel; CM (cura média)
diluído em querosene; CR (cura rápida) diluído em gasolina; tinha o número função da
proporção asfalto (CAP) X diluente. Trabalhamos com o CM-70. Tinha ainda um tipo de
asfalto que era a emulsão. Usado como “pintura de ligação”, isto é, ligar camada velha de
asfalto com asfalto novo; trecho já feito e sendo refeito. Isto era caro pra burro e só uma
empresa no Brasil fazia. Era um tipo de asfalto, com um processo que misturava o asfalto
com um tipo de água e um emulsificante. Lançado no solo, a água evaporava e ficava a
camada de asfalto bem parecido com o CAP. A evaporação da emulsão dá-se o nome de
“Ruptura”, podendo ser lenta ou rápida – RL a lenta; RR a rápida. Só o CAP era mantido
aquecido, pois caso contrário não tinha como retirá-lo do recipiente. Havia uma modalidade
que não deu certo pelo preço e mão de obra: o CAP ensacado. Haja tanque de
armazenamento. Consumimos quase cem mil toneladas de CAP. O consumo diário era
oitenta toneladas dia, claro de vinte e quatro horas: a usina não parava.
Para a produção de brita, os explosivos eram adquiridos em Piquete, em São Paulo,
da fábrica da IMBEL, também sem licitação. O problema era o consumo e estoque: não
tínhamos capacidade de armazenar tanto explosivos: quer pela segurança contra assalto,
roubo, quanto pelo perigo de explodir por algum motivo. Assim, se comprava o máximo que
a parcela de credito permitia, e se fazia um cronograma de entrega.
O cimento era comprado junto à fábrica – Cimentos ITAU - Goiânia. Esses bandidos
nunca deram um quilo de bonificação. Também era comprado, pago e entregue mediante
cronograma. Também se paga tudo eantecipado. Alguém assinava a nota fiscal que
recebera o material no batalhão. Se assim não fizesse, não tinha cimento: chantagem
industrial.
Era o risco do Ordenador de Despesa, que nunca ficava sabendo disso: pagar antes
de receber. Não dava tempo.
Bem depois, mas em pleno plano de Trabalho, a Seção Técnica informou que
tínhamos que nos preparar para transportar base e subase. Perguntei como fora concebido
isso no Plano de Trabalho, me disseram que era para ser feito por administração direta, mas
dada a compressão do Plano, agora teria que contratar tal transporte. Havia forma de fazer
isso, pois o que não faltava era empreiteiros com caminhões, cooperativas de caminhões e
camioneiros autônomos. Pelo volume, pela distancia média de transporte e pelo preço
praticado por empreiteiras que trabalhavam próximo de nós, era uma pequena fortuna.
Rapidamente, via telex, o e-mail de hoje, consultei Mercedes, Chevrolet e Ford sobre
aquisição de caçamba em vinte dias. Não havia chassis e muito menos daria tempo para
fazer a caçamba em vinte dias. Vindo do trecho vi um representante do Caminhão
Volkswagen, de Porto Velho. Mandei o motorista manobrar e parar lá. O Representante não
estava no momento e pedi que me procurasse, com a possível urgência, no 5º BEC. Mal
cheguei à seção, ele chegou. Era um francês, que morara na Rússia e na Venezuela ou
Colômbia e que estava em Porto Velho. Fora capitão do exército francês na Argélia.
Brincando, perguntei se a Interpol sabia que ele estava vivo. Era também meu irmão de fé.
Contei a ele nosso drama: comprar e ficar com o resíduo (caminhões seminovos) ou
empreitar e entregar tudo às empresas. De um lado deveria o Estado, o EB, o 5º BEC
contribuir com serviços a civis e assim melhorar as condições de vida do povo; do outro
estava o empresário a defender o melhor emprego do dinheiro publico. Também, corria o
risco de tudo ser ganho numa licitação e o dinheiro ir parar no Paraná, Santa Catarina ou
Goiás. O francês, quer como negociante quer como interessado pelo local, era a favor da
aquisição que permitiria mais dez anos com capacidade de trabalho proporcionado pelas
caçambas. O distinto disse que entregaria as caçambas com vinte dias, pois estavam
prontas. Nunca disse como tinha vinte caçambas prontas. Talvez tivesse sido alguma
desistência de empresa. Fui ao comandante e ao chefe da seção técnica: todos com a ideia
de comprar. A licitação era quase dirigida, pois nem a Mercedes, nem a Ford e nem a
Chevrolet teria como fornecer a caçamba completa: chassi e a parte de basculante
hidráulica com capacidade de 8/10 m³. Atitude de imediato: solicitar autorização à DOC
(gerente dos céus e terras), pois se tratava de aquisição de material permanente. Se fosse
contrato de transporte, não precisaria da autorização. Qual não foi a surpresa: o general
respondeu o telex, de quase uma folha, com duas palavras: – “Não autorizo”. Na semana
seguinte, ele viria a Porto Velho. O coronel se ligou com ele e ele prometeu discutir, mais a
fundo, a coisa em Porto Velho. Sabíamos o porquê do “NÃO.” È o descrito abaixo.
O 8º BEC, há uns dois ou três anos passados, havia adquirido tais caçambas. A
Volkswagen colocou numa revista nacional uma propaganda com seus caminhões, com
logotipo do 8º, num desmatamento, com uma frase mais ou menos assim: os caminhões
Volkswagen prestam o serviço militar. Dizem que “puxa-saco e caspa diminuem, mas não
acabam”. Nos ditos governos militares era comum os puxa sacos do EB (e a gente
acreditava que eles prestavam sinceras homenagens de reconhecimento – pobres
ingênuos). Mas, os caminhões não aprovaram não tanto pela consolidação do produto
(produto novo ) e sim pelas condições severas de uso. Faltou o apoio cerrado de
manutenção e assistência técnica. O General fora um dos que sugeriu o uso do caminhão
porque seria mais uma marca de viatura para conhecimento e adaptação do pessoal -
adestramento. Tudo justo e perfeito, na teoria. Na pratica, foi ruim. Assim, ele não queria
nem ouvir falar do tal caminhão. Na verdade o caminhão era bem “Mandrake”, como se dizia
na minha juventude, de coisas que parecia verdadeira, mas era ilusão, por mágica, como
eram as coisas na revista do Mandrake. Volks só tinha a cabine e o chassi. O motor era
MWM; a caixa de marcha Allison e o diferencial era Tink ou Timken. Uma bonita salada.
Mas tudo já se ajustara e até existia séries com alguns conjuntos sendo trocados por outras
marcas. Hoje a salada é maior.
Bom o general chegou e o primeiro bom dia foi perguntando se eu, fiscal
administrativo estava maluco. Respondi que primeiro iríamos sentar e depois que eu falasse,
ele tiraria suas conclusões; no momento tudo seria prematuro, tanta a minha defesa quanto
ao seu ataque. Ele ficou meio cabreiro porque não esperava uma “reação terena” na lata. No
batalhão apresentamos nossos argumentos. O mais forte e foi eu que o apresentou, foi o
seguinte: –“General, esses caminhões novos, mesmo que a assistência técnica seja
deficiente, cumprirá o PTrab com folga; depois da inauguração da BR, o senhor estará aqui,
naturalmente, nós retiraremos pneus e baterias, que estarão ainda muito bons e
colocaremos fogo em tudo, uma enorme fogueira, porque tudo fora pago; lucraremos os
pneus e baterias; hoje, agora, temos os motoristas e só nos faltam viaturas confiáveis ”. Ele
me olhou e disse: – “Você é insistente; mas com esse argumento, não há mais porque
negar”. Mesmo assim ele resolveu falar com o representante, o francês. Deu um esculacho
no pobre sobre a cerrada assistência técnica que deveria dar. Levou a bronca por
antecipação de algo que poderia acontecer ou não. E não aconteceu. As viaturas chegaram
a tempo. Motoristas foram treinados na manutenção e alguns detalhes do hidráulico
extraindo o melhor das máquinas. As basculantes foram uma excelente aquisição. Em1993,
na passagem de comando de um companheiro de turma, no 5º BEC, ainda vi duas delas
paradas no pátio da companhia de equipamento.
Como disse, tudo trabalhava acima da capacidade teórica, até o pessoal. Um dia
qualquer, mal cheguei ao quartel, seis da manhã, o comandante da guarda me informou que
o tenente da usina estava me procurando. Saíra da usina e viera na madrugada, pois a
usina parara por ter quebrado uma peça, que nunca deveria quebrar, lá pelas duas da
manhã. O trabalho estava tão intenso que tínhamos basculantes contratadas para tal
trabalho; as caçambas tinha que ser novas (máximo três anos de uso), trucada e no mínimo
17 m³. Parar a usina naquele instante era a sentença de nossa forca. Estava ele com o
catálogo debaixo do braço, junto com um cabo mecânico da usina (velho chefe de campo
dos tempos de Acre). Esperamos dar sete horas Porto Velho, oito Porto Alegre, para
começar as negociações. Falei com o comandante que não informasse nada a ninguém,
pois teríamos o nosso tempo de arrumar a usina; se passasse de 24 horas, aí nós
comunicaríamos e daí aguentar zilhões de ideias imbecis tipo: “mas como, não tem peças
reserva... isso não era previsível.... não tem alguma empresa que possa emprestar uma”... e
assim tanta lorota de engenheiros de obras feitas. A usina era da marca Clemente Cífali. Na
internet diz que era a CLEMENTE CIFALI & FILHO; hoje é conhecida como CIBER
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. Entretanto, tudo era em Porto Alegre. A peça não
era nem grande nem cara. A dita peça, teoricamente, não poderia ter quebrado. Fora
alguma coisa relacionada com a fundição e ou tratamento. O fato era que ela inviabilizava a
pesagem de todos os ingredientes da mistura. E colocar as misturas à braço era impossível.
Com vários telefonemas e acertos, ficou adquirido tudo, com garantias de remessa do
empenho via fax e depois via correio o original. Agora era o despacho. Assim, coloquei o
cabo mecânico com uma linha telefônica só para ele para, à medida que a coisa fosse
andando, me informar. Assim que a empresa entregou à Varing, Porto Alegre, pegamos o
telefone do depósito; falei com o responsável que prometeu despachar no primeiro avião
que voasse para São Paulo; pegamos o telefone do encarregado em São Paulo; esperamos
o tempo necessário e eu falei com o camarada de São Paulo: teria que colocar no vôo tal
que chegaria em Porto Velho às 17 horas (São Paulo – Campo Grande – Cuiabá – Porto
Velho). E assim foi feito. O porque desse relato: comprovaçãodo adágio popular – quem
quer vai, quem não quer manda. Se eu ficasse na “omisão legal” tudo pararia porque a parte
legal seria: pedido, licitação, emprenho, remessa empenho, transporte da peça quando a
VARIG quisse... uma semana depois a usina ainda estaria parada. Se alguém perguntasse
alguma coisa teria a resposta: – fiz tudo o que era rápido e legal. Sem a omissão, ela
funcionou menos de 24 horas: às vinte horas o cabo velho avisou pelo rádio, que ficara na
escuta, “acabamos de soltar a primeira carrada agora 10 da noite”. Todos os chatos ficaram
sabendo por notícias uma semana depois.
No meio das confusões, o E/4 do GEC me telefona: –“Higino, não tem asfalto; o navio
que vinha com petróleo, para a refinaria de Manaus, está quebrado em Belém e só chega
depois de um mês”. Bom, inicialmente fiquei mudo. Depois perguntei se ele tinha pensado
numa azimute de fuga. Respondeu que não e que eu deveria primeiro falar com meu
comandante. Fui até ao coronel e dei-lhe a notícia. Lembro que era no início da tarde. Ele
pediu que nos reuníssemos lá pelas três com o chefe da seção técnica junto. Ele iria se ligar
com o comandante do grupamento, que já deveria saber e com o Diretor da DOC. Quando
voltei para minha sala tinha um senhor que transportava asfalto para diversas empresas de
terraplenagem. Vinha oferecer as carretas da CERAMA para transportar asfalto nosso, da
beira do rio para nossa usina: ele tinha carretas, de transporte asfáltico, ociosas. Disse para
ele na lata: –“volte aqui com uma proposta para transportar de Paulínia 2400 toneladas
chegando as primeiras carretas daqui a seis dias, três carretas por dia”. Levou um susto e se
foi. Reunião com o coronel e ele apresentou o resultado de suas ligações telefônicas: o
óbvio – tudo era problema do comandante: aguardar, atrasar, comprar asfalto fora, pedir
emprestado de alguém... a solução era nossa. Até o Grupamento optou pela “omissão legal”:
a decisão é o comandante; apenas gostariam de saber qual seria. Eu falei ao coronel da
visita inusitada da CERAMA e o que eu pedira ao representante: um baixinho cearense de
boa cepa. Pelo avançado da tarde, só no outro dia para se pensar na solução. Mas no outro
dia bem cedo estava lá a proposta. Licitação iria pro brejo: solicitamos dispensa de licitação
até ao “bispo diocesano”. A conta foi simples: nosso consumo era oitenta toneladas/dia; em
trinta dias seriam 2400 toneladas; capacidade de vinte a vinte e cinco ton/carreta então teria
que chegar de três a quatro por dia, todos os dias. Haja solução logística: nenhuma carreta
poderia quebrar, atrasar ou pegar fogo. O velho jargão de engenharia de manter em reserva
“um terço do necessário” foi p’ro brejo também. Solução final: atraso de vinte dias de asfalto
de Manaus, mais a vinda da balsa de dez dias, fechou os trinta dias. Nunca uma coisa deu
tão certo. Teve dia que saía das carretas e ia direto para a usina. Não atrasou nada, não
quebrou nada. Entretanto o custo ficou no mesmo. Na época, a Petrobrás, para órgãos
públicos, entregava in loco. Assim, alguém em Brasília ou Manaus conseguiu que nós
fossemos ressarcidos dos gastos com a CERAMA.
Um belo dia o comandante marca comigo para ir ao trecho. Sairíamos as seis do
quartel para chegar pelas oito até ao britador. Iríamos ver o britador. Chegando ao quartel
tinha um recado: a usina parou. Mas o bendito rádio estava desligado e só entraria às sete.
Bom, atrasamos a saída até saber o que tinha acontecido e o que fazer. Disseram ser
alguma regulagem do aquecedor de óleo térmico. Teria que levar o mecânico da Cia Eqp.
Era um cabo que trabalhara comigo em Humaitá. Mandamos a viatura, do comandante, ir
até a casa dele, pegá-lo com suas ferramentas, voltar ao batalhão e todos irmos juntos. Que
lição! Em BEC cada um vale pelo que sabe. Jamais em outra Arma aconteceria isso: o cabo
se deslocar na viatura do comandante de batalhão!!!. Pois o momento era do especialista e
não da autoridade. O comandante foi humilde e inteligente o suficiente para entender o
momento. Assim o cabo chegou e em poucos minutos resolveu o problema. Alguns
gozadores, com uma ponta de ironia diziam que o cabo chegou com pinta de general de
brigada.
O Brasil da época ainda era pequeno. Num determinado momento, precisou-se de
um, apenas um, pneus de escreiper 621C (hoje a série é G). Um erro de tratorista e se foi o
pneu. Simplesmente a Caterpillar Brasil, a Pirelli e a Goodyear não tinham para entregar. O
momento de construção rodoviária era tanto que não tinha o pneu. E nós não podíamos
parar uma pá manual quanto mais uma escreiper. Foi recolocado um já retirado por
desgaste, no ano anterior, que trabalharia até estourar torcendo para comprar o novo.
Fomos encontrar numa empresa em Fortaleza. Solicitamos a uma transportadora, que não
me lembro do nome, para transportar em caráter de urgência. Não estava mais em jogo o
barato ou caro: estava em jogo terminar ou não a obra para inauguração. No Brasil não
havia pneu de máquina no comércio.
Fora da cronologia, além do sufoco dos trabalhos ainda tínhamos as coisas
essencialmente militares. Afinal aquilo era um quartel que teria que fazer tudo que o quartel
faz mais os compromissos de construção rodoviária. Era ChEM da 17ª Brigada um coronel
de artilharia que foram major instrutor chefe do curso de artilharia nos meus tempos de
Cadete. Coincidiu com a chegada de quatro ou cinco concludentes da ECEME, todos já
majores antigos e ou tenentes-coronéis. Havia um serviço de superior de dia tirado por
capitães e majores. Num desses serviços, que o final era como ChEM, havia sumido o livro
de ocorrências e eu não pude fazer minhas anotações, que seria tudo sem alterações.
Chamou o Chefe da primeira seção, um tencel de infantaria, depois meu padrinho de
maçonaria, e perguntou do livro haja vista que ficava com ele. Respondeu que ainda não
encontrara, mas estava em diligencia e que com certeza estava com ele. Assim que ele saiu
o Coronel me disse: “está com ele! ele é meu suspeito número um”. Quase que me dá uma
crise de riso, pela cara que o coronel fez.
Noutro serviço, foi para encher a paciência. Porto Velho chovia como nunca; sem
vento, a chuva não era pingada, mas derramada. Eu havia feito minha ronda perto das onze
horas da noite. Duas da manhã, tocou o telefone e era o ChEM. Disse que havia um
problema com o major veterinário, num bar num bairro perto do centro que por sinal eu sabia
onde. O major havia dado vários tiros em um sargento. Quem telefonara para o QG fora a
polícia militar e o oficial-de-dia havia ligado ao ChEM. Fui ao bar e lá encontrei o major
embriagado, com uma pistola 9 mm, do EB, sobre a mesa, carregador fora, e duas viaturas
da PM. Disse aos PM que o caso passava a ser comigo e que ele estavam convidados a ir
até o QG para nós fazermos os procedimentos legais: flagrante, não flagrante, crime civil...
O Coronel telefonou, eu já no QG. Pediu que eu apertasse o major para saber se não havia
coisas de homossexualidade entre o major e o sargento. Disse ao Coronel que seria o caso
de imediato abrir uma sindicância para apurar se o fato era crime militar, porque crime civil
era: tentativa de homicídio. Os PM fizeram seus boletins, mas não registraram o BO na
delegacia. No bar, o major não reagiu, entregou a pistola; perguntei aos PM sobre o
sargento, eles disseram que o dito havia corrido e não fora baleado; perguntei ao major se
ele devia alguma coisa ao bar, respondeu que já havia pagado as despesas; perguntei ao
dono do bar se havia algo a ser indenizado respondeu que tudo não passou do susto e do
inusitado, pois os dois eram fregueses no bar. O major estava bem alcoolizado. Não falava
coisa com coisa. Era obeso e respirava com dificuldade. No QG, pedi para contar sua
história, o que os PM também queriam saber; pedi para os PM contarem as versões que
eles souberam no bar. No momento em que estou anotando tudo, toca o telefone: era do KM
8 onde tinha o paiol de munição e onde tinha uma guarda comandada por um cabo. Um
soldado informava que havia caído um raio num poste de alta tensão e que lá estava escuro;
disse que o cabo fora ver um fogo que começara no campo, mas que pela chuva, não seria
no capim e talvez em fios, por isso fora ver. O major, já quase dormindo, só dizia que o
sargento era baseado e que o desrespeitara. Repetia isso de minuto a minuto. Ficou uma
arara comigo quando fiz a pergunta sobre a homossexualidade... Eu disse que caso não
quisesse me responder o que eu perguntasse, eu iria chamar o ChEM. Aí ele ficou mais
esperto e respondeu tudo. Os PM quando satisfeitos se foram. Uma hora depois do telefone
do soldado, ele volta a telefonar: O cabo que fora ver o fogo, morreu eletrocutado. O raio
derrubou uma árvore; que caiu na alta tensão; que arrebentou e caiu na cerca de arame. O
cabo, ao pegar no fio de arame, para ultrapassar a cerca, morrera ali grudado e
carbonizado. Quase que outros soldados também ficam grudados, na ânsia de arrastar o
cabo. Bom, disse ao oficial de dia que ele cuidasse do caso Cabo que eu prosseguiria no
caso major. Determinei ao Sargento Adjunto do oficial de dia que pegasse a viatura de dia e
fosse ao KM 8; avisamos ao hospital também. Terminei minha parte no livro já cinco da
manhã. O caso major me custou uma ida a Manaus, para depor como testemunha na
Auditoria. Houve sindicância e houve IPM. O caso era que o major estava interessado na
mulher do sargento e a mulher conseguia ludibriar os dois. O major se sentiu enganado e foi
contar ao sargento seu caso com ela. O sargento, aproveitou e também falou o que sabia da
mulher dele com o major. Daí o falatório descambou para agressão verbal e o major, para se
impor, dera três ou quatro tiro no sargento. Este, ao ver o major tirar a pistola, correu pela
rua e o major atirou a esmo. A isso o major chamava desrespeito. Pela embriaguês o major
jamais acertaria nele. Na mesma cerca que o cabo morrera, também encontraram cinco ou
seis vacas mortas que, por algum motivo, encostaram-se à cerca antes de a CERON
(Centrais Elétricas de Rondônia) desligasse a linha..
O trabalho era intenso. Chegava-se às seis da manhã e ia terminar por nove, dez
hora dnoite. Eu, em particular, para não levar trabalho para casa. Felizmente, o clube dos
oficiais tinha bastante atividade no sábado e domingo. No domingo, a cervejada padrão. O
SAS bancava a bebedeira para ser pago no final do mês. E tinha mês que a conta era
grande. Maior do que deveria. Naquele ano fiquei conhecendo o baile de Carnaval que o
clube dos oficiais patrocinava. O diretor do clube, por nomeação, era o chefe da segunda
seção. Então se fazia o baile para os oficiais e convidavam pessoas da “socyte” local, que
pagava o preço pedido que iria amortizar o investimento do SAS. E era disputadíssimo. No
primeiro dia houve umas confusões e acabei por não participar. Vaidades e somente
vaidades...
No meio dos coriscos caindo, não estava dando tempo para fazer a papelada: pedido,
empenho, recebimento do material, certificação do recebimento (liquidação, no jargão) na
nota fiscal e daí para pagamento. Alguns bandidos nos fazia cometer outras irregularidades,
pois só despachavam o material depois de pago – inversão da despesa, no jargão. Mas no
caso de peças de viaturas e máquinas, em Porto Velho, a coisa ficou séria porque,
inventaram um tal de “pedido provisório” – o PP. Ficou famoso o tal PP, figura criada antes
de eu chegar. As empresas, querendo vender, aceitaram aquilo como se fosse um
empenho. Na verdade era um mero bilhete pedindo o material, sem valores: jurídico,
contábil, financeiro, fiscal... Assim, se pegava o material fiado, como se na caderneta fosse
(pedido provisório assinado pelo Serviço de Suprimento). Depois de junho ou julho, a dívida
estava enorme. Tive que chamar todos os credores e fazer uma conta de chegar. Fiz uma
Carta Convite aberta. Disse eu: para fulano, devemos tanto e aqui estão os perdidos
provisórios; bom, para três ou quatro firmas, que nós devíamos, deveriam apresentar
propostas da seguinte forma: itens tais e tais, o preço de tal firma é o correto; fulano e
sicrano coloquem vinte por cento mais caro que os das cópias de PP que estão recebendo
agora; e assim fui distribuindo papeis com preço; e como cada uma dela deveria preencher.
Marcamos o dia correto para abertura das propostas, com ata e tudo o mais. Assim, fiz uma
licitação aberta e todos ficaram satisfeitos. Ou cooperavam ou não iriam receber tão cedo.
Como dito, a inflação era enorme: três, quatro, cinco por cento ao dia. As empresas
de serviço e as de revendas de peças não queria participar e não participavam mesmo de
licitação, pois, por incrível que pareça, não era permitido corrigir valores de peças e serviços;
entretanto poderia para obras. Por isso nasceu o tal PP: se pegava as peças como se
fossem em consignação. Na semana da licitação, então eles atualizavam os valores das
peças. A atualização era bem escandalosa: pega o preço do dia da retirada, em dólar, e
depois pegava o estimado para o dia da licitação e pagamento. Era uma confusão que não
tinha como dominar: ou fazia assim ou não compraria nada. Era a lei do cão.
No bom da festa, quando se estava a pleno vapor, num dia, logo pela manhã, vejo o
subcomandante, e Chefe da Seção Técnica, apavorado. Pergunto o que houve e ele, já
quase saindo, para o trecho com o comandante: – “o vão central da ponte caiu e morreu um
funcionário da empreiteira”. Além das chateações com os aspectos legais, imprensa, não
raro hostil, por não receber matérias pagas, havia o atraso. É o que eu disse antes: aí foi o
planejamento errado: um objetivo a ser conquistado dependendo do sucesso de outro. A
ponte deveria estar pronta de modo a se passar por ela as massas asfáltica para o trecho
restante que era de dez ou quinze Km. Agora teria que, ou reparar o trecho abandonado e
muito ruim que estava, e ficaria cara a recuperação, ou tentar um desvio junto da ponte. Fui
até lá com um tenente e fizemos um reconhecimento. Havia como abrir um caminho de
serviço de mil metros a mil e quinhentos e transpor o braço do lago, em bueiros metálicos, a
jusante da ponte. Rapidamente, em uma noite e um dia se fez o desvio com um TSS
(tratamento superficial simples), embora a base e subase fossem compactadas no olho.
Foi nessa época: peça da usina, navio quebrado e vão da ponte caindo que a
aconteceu o caso, contado em outro local sobre a passagem aérea para o cabo e sua
mulher para verem a entrega do espadim para seu terceiro filho oficial, graças ao internato
do Colégio Militar de Manaus. Como disse lá, paguei á empresa representante de máquinas
um cheque que, no momento dividido pelo líquido do meu contracheque, a pouco recebido
daria 250 anos de meu salário líquido. Com inflação de trinta, quarenta por cento ao mês,
bastariam dois dias do cheque na minha gaveta e eles teriam um bom monte de dinheiro
perdido. Nesse embalo é que também achaquei estas empresas das passagens e outras
duas com material para o clube dos sargentos. Pedi, para as três empresas, jogos de mesas
metálicas (quarenta, vinte e vinte) para o clube. Poderia colocar o logotipo, propaganda, o
que quisesse. Mas teria que parecer iniciativa deles: fariam um documento ao comandante
oferecendo a cortesia. Um faz de conta de que uma empresa sabendo que outra havia feito
queria fazer também. Assim foi entendido, assim aceito. A doação foi cerimoniosa e
comemorada, mas que foi na marra foi.
Perto da inauguração, no meio do tiroteio, fui promovido a major. Segundo minhas
alterações, foi a contar de 31 de agosto de 1984, mas publicado só em 05 de setembro,
portanto data que eu pude usar as insígnias.
Assim mudo a página para a de major. O posto de capitão me foi bom pelas inúmeras
experiências fora da arma: comissão de seleção; ESAO, CPOR e as missões de fiscal
administrativo em Alegrete e Porto Velho. Foi muito proveitoso para a formação do futuro
comandante. Também foi o posto da consolidação da profissão. Já não havia o risco de eu
dar “mancadas”, como me dissera o meu então comandante de 3ª Companhia, de Murbano.
– 88888888888888888888888888888888888888 –
Você também pode gostar
- A Enciclopédia: 10 habilidades para ter sucessoNo EverandA Enciclopédia: 10 habilidades para ter sucessoAinda não há avaliações
- Relatório Médico: Entre angústias e esperança, momentos de reflexão, questionamentos, ternura e poesiaNo EverandRelatório Médico: Entre angústias e esperança, momentos de reflexão, questionamentos, ternura e poesiaAinda não há avaliações
- É rindo que se aprende: Uma entrevista a Gilberto DimensteinNo EverandÉ rindo que se aprende: Uma entrevista a Gilberto DimensteinAinda não há avaliações
- Tudo o Que Vi e Vivi - Rosane MaltaDocumento245 páginasTudo o Que Vi e Vivi - Rosane Maltamacedonino100% (1)
- Vida Altaneira Profissionalmente Do Cap. PM José Batista Pereira FreitasDocumento47 páginasVida Altaneira Profissionalmente Do Cap. PM José Batista Pereira FreitasHellianCangussu100% (1)
- Atividade para A 1º SérieDocumento7 páginasAtividade para A 1º SérieRayane MouraAinda não há avaliações
- A Noiva Virgem Do Chefe - Livro UnicoDocumento247 páginasA Noiva Virgem Do Chefe - Livro Unicomariacicera silvaAinda não há avaliações
- O Encontro de Zé Pilintra e LampiãoDocumento2 páginasO Encontro de Zé Pilintra e LampiãoRobson Belmiro MarquesAinda não há avaliações
- Arquivos Da REAL VOL. IIIDocumento153 páginasArquivos Da REAL VOL. IIIteku33Ainda não há avaliações
- Vida após a morte de Lineu JrDocumento32 páginasVida após a morte de Lineu JrEverton Ferreira GuedesAinda não há avaliações
- 8 de AgostoDocumento5 páginas8 de AgostoBianka RodriguesAinda não há avaliações
- Ser ReconhecidoDocumento1 páginaSer ReconhecidoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Parece Mas Não ÉDocumento1 páginaParece Mas Não ÉHigino MacedoAinda não há avaliações
- 0ANALECTOSDocumento87 páginas0ANALECTOSHigino MacedoAinda não há avaliações
- SabiáDocumento1 páginaSabiáHigino MacedoAinda não há avaliações
- Juntos e DistantesDocumento1 páginaJuntos e DistantesHigino MacedoAinda não há avaliações
- Solid ÃoDocumento1 páginaSolid ÃoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Um CorpoDocumento1 páginaUm CorpoHigino MacedoAinda não há avaliações
- PRET PerfeitoDocumento1 páginaPRET PerfeitoHigino MacedoAinda não há avaliações
- IroniaDocumento1 páginaIroniaHigino MacedoAinda não há avaliações
- Ter Opinião A Ser MetamorfoseDocumento3 páginasTer Opinião A Ser MetamorfoseHigino MacedoAinda não há avaliações
- PreconceitoDocumento1 páginaPreconceitoHigino MacedoAinda não há avaliações
- FelicidadeDocumento1 páginaFelicidadeHigino MacedoAinda não há avaliações
- VingançaDocumento1 páginaVingançaHigino MacedoAinda não há avaliações
- TOLOSDocumento1 páginaTOLOSHigino MacedoAinda não há avaliações
- Insônia e SonhoDocumento1 páginaInsônia e SonhoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Testament oDocumento1 páginaTestament oHigino MacedoAinda não há avaliações
- Bem Te VIDocumento1 páginaBem Te VIHigino MacedoAinda não há avaliações
- BUGRINHADocumento1 páginaBUGRINHAHigino MacedoAinda não há avaliações
- Estações Do AnoDocumento1 páginaEstações Do AnoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Ao MundoDocumento1 páginaAo MundoHigino MacedoAinda não há avaliações
- TempoDocumento1 páginaTempoHigino MacedoAinda não há avaliações
- Cruel EspelhoDocumento1 páginaCruel EspelhoHigino MacedoAinda não há avaliações
- A NaturezaDocumento1 páginaA NaturezaHigino MacedoAinda não há avaliações
- A SeriemaDocumento1 páginaA SeriemaHigino MacedoAinda não há avaliações
- 26experiência e AprendizagemDocumento172 páginas26experiência e AprendizagemHigino MacedoAinda não há avaliações
- 25 CoronelDocumento60 páginas25 CoronelHigino MacedoAinda não há avaliações
- Banco de DadosDocumento1 páginaBanco de DadosHigino MacedoAinda não há avaliações
- 04as InstalaçõesDocumento3 páginas04as InstalaçõesHigino MacedoAinda não há avaliações
- 03A ChegadaDocumento5 páginas03A ChegadaHigino MacedoAinda não há avaliações
- ReVISTA de SOALHÃESDocumento5 páginasReVISTA de SOALHÃESsatierfAinda não há avaliações
- Os tambores das 'Yabás': raça, gênero e cultura no Bloco Afro Ilú Obá De MinDocumento134 páginasOs tambores das 'Yabás': raça, gênero e cultura no Bloco Afro Ilú Obá De MinÁgata100% (1)
- Livro Toca de LoboDocumento60 páginasLivro Toca de LoboBorgesAinda não há avaliações
- Origem e evolução do carnaval brasileiroDocumento3 páginasOrigem e evolução do carnaval brasileirovania paula100% (1)
- Resenha Os - Indios - Antes - Do - BrasilDocumento27 páginasResenha Os - Indios - Antes - Do - BrasilRudinei FreitasAinda não há avaliações
- Vozes das Velhas Guardas da Portela e ImpérioDocumento219 páginasVozes das Velhas Guardas da Portela e ImpériorpdigaoAinda não há avaliações
- Carnaval e Identidade NacionalDocumento15 páginasCarnaval e Identidade NacionalAnna Luisa MascarenhasAinda não há avaliações
- Aula 3 Mandato Cultural e A Abrangência e Limites Da Participação Cristã Na CulturaDocumento10 páginasAula 3 Mandato Cultural e A Abrangência e Limites Da Participação Cristã Na CulturaCid CaldasAinda não há avaliações
- Cavalhadas de PirenópolisDocumento96 páginasCavalhadas de PirenópolisVinícius GomesAinda não há avaliações
- É Garantido, É Caprichoso, É Carnaval - Parintins em Desfile Da Acadêmicos Do Salgueiro em 1998Documento17 páginasÉ Garantido, É Caprichoso, É Carnaval - Parintins em Desfile Da Acadêmicos Do Salgueiro em 1998Alex FonteAinda não há avaliações
- O samba paulista e suas origens nordestinasDocumento26 páginasO samba paulista e suas origens nordestinasMarcos VerdugoAinda não há avaliações
- O Carnaval em PortugalDocumento21 páginasO Carnaval em PortugalOs Lusitanos SI Portugaise50% (2)
- Carnaval no Sesc com programação para toda famíliaDocumento80 páginasCarnaval no Sesc com programação para toda famíliaLuis CarlosAinda não há avaliações
- Metrópole À Beira-Mar O Rio Moderno Dos Anos 20 by Ruy CastroDocumento314 páginasMetrópole À Beira-Mar O Rio Moderno Dos Anos 20 by Ruy CastroGuilhermina Lopes100% (3)
- Metodologia de Projeto Na Prática Escolar - Teoria e Prática Ação TransformadoraDocumento7 páginasMetodologia de Projeto Na Prática Escolar - Teoria e Prática Ação TransformadoraSandro Olímpio SIlva VasconcelosAinda não há avaliações
- Marchinha HistoriaDocumento8 páginasMarchinha Historiaalexandre oliveiraAinda não há avaliações
- Programação da Gincana Dom BoscoDocumento3 páginasProgramação da Gincana Dom BoscoPdU LorenaAinda não há avaliações
- GONZALEZ Lélia e HASENBALG Carlos. Lugar de Negro - OCR PDFDocumento60 páginasGONZALEZ Lélia e HASENBALG Carlos. Lugar de Negro - OCR PDFDaniela Santos100% (1)
- Jornal Visão Edição 507Documento16 páginasJornal Visão Edição 507Jornal VisãoAinda não há avaliações
- Manual Do Passista Jacob Melo PDFDocumento191 páginasManual Do Passista Jacob Melo PDFFerDinando Nodre100% (5)
- Diretoria da SBHC 2016-2018Documento284 páginasDiretoria da SBHC 2016-2018Anderson AntunesAinda não há avaliações
- A Casa Da Madrinha Lygia Bojunga NunesDocumento5 páginasA Casa Da Madrinha Lygia Bojunga NunesFrancisco TeixeiraAinda não há avaliações
- Moacyr Scliar - Folha de São PauloDocumento48 páginasMoacyr Scliar - Folha de São PauloArnoldo JúniorAinda não há avaliações
- Prova 13 - Engenheiro (A) de Geodésia JúniorDocumento15 páginasProva 13 - Engenheiro (A) de Geodésia JúniorDeise MachadoAinda não há avaliações
- Princípios de contagem: multiplicação e soma para eventos independentes e mutuamente excludentesDocumento72 páginasPrincípios de contagem: multiplicação e soma para eventos independentes e mutuamente excludentesRobson BarbosaAinda não há avaliações
- O Dia RJ 210223Documento16 páginasO Dia RJ 210223Oliveira JuniorAinda não há avaliações
- Livro Literatura Exposta Completo PDFDocumento80 páginasLivro Literatura Exposta Completo PDFyyAinda não há avaliações
- Mestre Churrasco Capoeira AngolaDocumento26 páginasMestre Churrasco Capoeira AngolaLucas TeixeiraAinda não há avaliações
- Quem é o dono do samba? Discursos sobre origem e apropriaçãoDocumento118 páginasQuem é o dono do samba? Discursos sobre origem e apropriaçãoAndré de MenezesAinda não há avaliações
- 08 CoroadoDocumento64 páginas08 CoroadoTarcísio MadyAinda não há avaliações