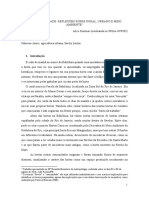Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sérgio Ricardo: o músico e cineasta da bossa nova e do cinema novo
Enviado por
EvaniaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Sérgio Ricardo: o músico e cineasta da bossa nova e do cinema novo
Enviado por
EvaniaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SÉRGIO RICARDO: ponto de partida
1
Carlos Alberto Cordovano Vieira
Sérgio Ricardo foi um artista que mergulhou fundo nas agruras de seu
tempo, de sua terra. Seu coração parou de bater em julho de 2020, foi-se
irmanado com outros tantos milhares de brasileiros, vítimas do genocídio.
“Bandeira de retalhos” foi seu último filme, narra o episódio ocorrido
307
em 1977 em que moradores do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro,
enfrentaram uma tentativa de remoção de barracos por força da
especulação imobiliária. Marina Lutfi, sua filha, observa que Sérgio Ricardo
concebia o cinema como música: o cenário era a harmonia, as cenas e os
diálogos, a melodia e a montagem, o ritmo. Seu primeiro filme de 1961, o
belíssimo “Menino da calça branca”, soa mesmo como uma música, a câmera
na mão seguindo com delicadeza uma criança por vielas de uma favela,
pelas ruas da cidade, em sua relação com o pai, personagem interpretado
pelo próprio Sérgio. Por certo a caligrafia da câmera de Dib Lutfi, seu irmão,
contribui para esse andamento musical do filme e note-se que Nelson
Pereira dos Santos, tendo visto o copião, se dispôs a montá-lo. A trilha
composta por Sérgio guarda ainda a coloração “bossa-novística” dos
primeiros tempos de sua criação musical – embora a temática da canção
“Enquanto a tristeza não vem” já se deslocasse para o morro. A favela
também é o cenário de seu segundo filme, “Esse mundo é meu”, de 1964,
cujo tema musical tornou-se um clássico na voz de Elis Regina, com Zimbo
Trio. Ali, uma visão da complexidade da formação social brasileira, o
contraste entre um engraxate negro, interpretado por Antônio Pitanga, e o
operário branco, interpretado pelo próprio Sérgio. “Juliana do amor
perdido”, mais lírico, de 1968, transita para uma comunidade de pescadores
– Sérgio já havia composto a canção “Barravento”, inspirada no filme de
mesmo nome de Glauber Rocha. A canção “Mundo velho”, que acompanha
as recorrentes passagens de um trem pela vila dos pescadores, revela a
maestria de um melodista que não se furta das notas alongadas, as vogais
do poema estendidas, com forte expressão emotiva, sem perder o
refinamento. Em 1974, uma década depois de “Deus e o diabo na terra do
sol”, Sérgio retorna ao universo nordestino para fazer “A noite do
1
Professor do Instituto de Economia da UNICAMP. cordovanovieira@gmail.com.
Revista Fim do Mundo, nº 3, set/dez 2020
espantalho”, um cordel musical em torno da propriedade fundiária. Alceu
Valença faz o papel do espantalho que narra a história e canta as canções da
trilha. Com efeito, a força de sua voz cortante engrandece essa obra-prima
da trilha cinematográfica – e registre-se a participação de Geraldo Azevedo
nos arranjos e também no elenco.
Sérgio Ricardo esteve presente na criação daquilo que foi o
momento crucial da história do cinema brasileiro, compondo as trilhas de
“Deus e o diabo na terra do sol” e “Terra em transe”, o canto icônico que
308 acompanha Antônio das Mortes e a perseguição a Corisco, peça feita sobre
o poema de Glauber Rocha, inspirada em cantadores de feira nordestinos.
Em 1965 compôs uma trilha para a peça “O coronel de Macambira”, do
dramaturgo pernambucano Joaquim Cardoso; décadas mais tarde, a música
“Bichos da Noite”, parte da trilha, ressurgiria em “Bacurau”, na cena do
cortejo. Sérgio compôs outras tantas obras musicais para cinema, teatro e
televisão. Sublinhemos a peça “Ponto de partida”, que Gianfrancesco
Guarnieri montou, em 1976, inspirado na canção de mesmo nome. Uma
belíssima canção com a riqueza harmônica e melódica própria de sua obra,
cuja poética é também uma espécie de libelo ético, talvez prenúncio do
“homem novo”, expressão de valores que devem ter orientado a “busca
como medida” desse artista irmanado com seu povo, morador do morro do
Vidigal. Em “Ponto de partida”, Sérgio foi também ator. Sublinhemos ainda
“Flicts”, uma peça infantil de Ziraldo em que os personagens são cores. Na
trilha, Sérgio se mostra um compositor capaz de penetrar no imaginário
infantil sem se afastar da sofisticação musical, rítmica em particular –
encantado por este livro musicado, Drummond foi procurá-lo, com um
cordel.
Seu último show foi justamente constituído pelo repertório de trilhas.
A banda no palco e ao fundo a tela em que se projetava trechos de seus
filmes. Uma proposta que ensejava uma espécie de síntese, e nessa síntese,
Sérgio Ricardo no palco, diante de seu instrumento, parecia ter a densidade
de uma montanha de mármore.
Ator, cineasta, pintor, Sérgio Ricardo era essencialmente um músico.
Na canção “Contra a maré”, um dos temas, aliás, de “Bandeira de retalhos”,
Sérgio escreveu, a propósito de não ter mágoas, “(...) se assim não fosse eu
havia de ser um poço (...)”. Sérgio conhecia bem o “poço” desde uma
experiência auditiva infantil. Quando criança costumava se debruçar sobre
um velho poço para ouvir os sons que ecoavam do fundo, em contraste com
os reflexos da água. Aos oito anos – nasceu em 1932, em Marília –,
Revista Fim do Mundo, nº 3, set/dez 2020
matriculado no conservatório da cidade, descobriu o piano. Mergulhou na
música desde então. Ali teve uma formação erudita. No rádio, ouvia os
principais cantores populares da época, particularmente Luiz Gonzaga e
Jackson do Pandeiro. Aos dezessete foi para São Vicente trabalhar com um
tio na Radio Cultura e, alí, à sua formação de pianista erudita, somou-se o
contato cotidiano com vasto espectro de tradições musicais. Essa experiência
no rádio viria contribuir para uma reorientação do seu repertório pianístico
na direção da música popular – Lupicínio Rodrigues, Dorival Caymmi, Ary
Barroso – e, ainda em São Vicente, tornou-se um pianista da “noite”. Essa 309
combinação do erudito e do popular – o conhecimento da música árabe,
inclusive – deve ter conformado o solo fértil para o futuro compositor. Já no
Rio de Janeiro dos anos cinquenta, consolidou sua carreira como pianista na
efervescência das noites cariocas. Nessa época, trabalhou também como
ator na televisão, levado por um irmão de Grande Otelo. Aliás, foi para
melhor moldar sua imagem de galã que João Lutfi assumiu o nome artístico
carregado de “erres”, Sérgio Ricardo.
No Rio, conheceu diversos músicos, Geraldo Vandré, Newton
Mendonça, João Donato, Johnny Alf, para ele um mestre, outros tantos
pianistas. Mas talvez o encontro de consequências particularmente decisivas,
o encontro como chegada e como ponto de partida, tivesse sido mesmo
com Tom Jobim. Quando Tom deixou a noite para se dedicar a suas
primeiras composições com Vinícius, Sérgio foi substituí-lo. Tom, em
observações críticas a seu estilo, lhe abriu novas perspectivas harmônicas.
Em contraste com o piano caudaloso, marcadamente arpejado, que vinha da
formação erudita, Tom, com menos prumo técnico, menos notas, sugeriu a
Sérgio que concedesse um novo estatuto para a harmonia. Estimulado por
Tom, foi estudar harmonia, contraponto e orquestração, ao passo que o seu
estilo ao piano ficava mais sintético. Foi justamente aí que começaram a lhe
brotar melodias na cabeça e Sérgio Ricardo tornou-se compositor.
Antes do cinema novo, Sérgio Ricardo esteve presente noutro
momento crucial da cultura brasileira no século XX: a criação da bossa nova.
Sérgio Ricardo já era amigo de João Gilberto, com quem costumava
caminhar de madrugada pela orla do Rio. Consta que João Gilberto, a
propósito de uma conversa sobre espiritualidade, lhe sugeriu que lesse Marx
– desde que a família se mudara para as bordas do Jacarezinho, Sérgio
costumava caminhar pelas favelas. Mas nessa época, Sérgio também
frequentava as casas da gente endinheirada onde se gestava a Bossa Nova.
Com um repertório de composições próprias, tomou parte no movimento.
Revista Fim do Mundo, nº 3, set/dez 2020
Depois de ter gravado “Dançante n. 1”, em 1958, o disco de 1960, “A bossa
romântica de Sérgio Ricardo”, com músicas como “Pernas”, “Poema azul”,
“Ausência de você” ou “O nosso olhar”, constitui um registro dessa época
marcada pela estética da Bossa Nova. Curioso notar, entretanto, que, já em
1960, a composição “Zelão”, com sua melodia que parece escorrer com a
chuva pelo morro, desloca o eixo da Zona Sul carioca, da beleza de suas
orlas, para o tema da enxurrada na favela que carrega os barracos e a vida
dos pobres – Sérgio, aliás, testemunhou de sua janela a destruição de
310 barracos por uma tempestade e depois ouviu da boca de uma moradora,
que perdera tudo, a frase que transformou em verso: “o pobre ajuda outro
pobre”. Essa tensão, digamos, se traduzia também em termos propriamente
musicais. Embora suas primeiras composições, de fato, estivessem em linha
com os parâmetros estéticos do movimento, Sérgio chegou a dizer que não
partilhava do espírito jazzístico dos músicos da década de 1950 e que, a
tudo, preferia Dorival Caymmi, principalmente por ser uma expressão mais
pura daquilo que se poderia conceber como uma música genuinamente
brasileira. Mas Sérgio participou dos shows que popularizaram a nova
canção e esteve no episódio histórico, no Carnegie Hall, em 1962, quando a
Bossa Nova ganhou projeção mundial – note-se, pois, que, alí, Sérgio cantou
justamente “Zelão”.
Na década de 1960, nos fluxos das novas experiências políticas e
estéticas que brotavam, Sérgio se afastaria da Bossa Nova. Nesse passo, se
ligou cada vez mais à produção dos Centros de Cultura Popular da União
Nacional dos Estudantes – o filme “Esse mundo é meu” viria estrear em 1964,
justamente no dia do golpe; Sérgio Ricardo deixou o cinema vazio e foi
direto para a UNE.
Quanto a essas transições, talvez não seja ocioso observar um traço
de sua biografia. Sérgio Ricardo vinha de uma família de imigrantes sírios
das classes médias. Seu pai, como outros habitantes de Sydnaia, nas
circunvizinhanças de Damasco, preservara o costume que vinha da
antiguidade de extrair mármores de montanhas dos arredores para utilizar
na construção de casas, templos, e mesmo na criação de esculturas – tocava
um alaúde que certa feita fora queimado por ele próprio sob a suposição de
trazer maus presságios; sua mãe costumava cantar. No Brasil, a família se
dedicara ao comércio e à fabricação da seda, que garantiam uma vida de
classes médias aos filhos. Mas no governo Dutra, a produção de seda no
Brasil foi severamente atingida pela concorrência estrangeira e a família
sofreu um relativo empobrecimento do qual nunca mais se recuperou. Era
Revista Fim do Mundo, nº 3, set/dez 2020
natural que Sérgio tivesse bastante clareza dos limites estéticos e políticos
de uma arte criada nos estratos de proprietários da sociedade brasileira –
uma sociedade que jamais superou os traços coloniais de sua formação. É
certo que, no Brasil do pós-guerra, as mudanças em curso, o avanço do
processo de industrialização – industrialização pesada na década de 1950 –,
a urbanização, a constituição de um estado nacional continham promessas
civilizatórias, descortinavam potencialidades de uma civilização brasileira. E
talvez não seja exagero sustentar que, tanto quanto o velho
“desenvolvimentismo” se convertera numa espécie de ideologia desses 311
progressos, a Bossa Nova, no plano estético, traduzia as projeções futuras da
nacionalidade brasileira. Não por outra razão, um intelectual insuspeito
como Nelson Werneck Sodré, no livro Síntese de história da cultura brasileira,
por exemplo, tomou-a, de modo bastante positivo, como uma expressão
decisiva da cultura nacional em formação.
Mas a quadra histórica subsequente trouxe à luz, em toda a parte, as
contradições que se gestavam no capitalismo do pós-guerra. No Brasil,
projetos de desenvolvimento democrático, reformista, tal como Celso
Furtado concebera, por exemplo, num livro como A pré-revolução brasileira,
deram lugar à noite sombria da ditadura. A nosso juízo, é nesse momento
que Sérgio Ricardo se afirma, não somente como um músico talentoso – e o
era –, artesão de harmonias e melodias, mas, mais que isso, um artista
profundamente ligado às agruras de seu tempo e de sua terra, com uma
leitura lúcida do processo histórico em que sua obra se engastava. Sérgio,
que fora um dos criadores da bela música brasileira da década de 1950, com
o desprendimento dos que têm a “busca como medida”, tornou-se um dos
principais artífices da renovação da música brasileira dos anos 60. Já no seu
disco de 1963, “Um sr. talento”, se, no conjunto, as músicas continuavam a
ecoar os contornos melódicos e os encadeamentos harmônicos bossa-
novísticos, os temas de algumas das letras, na linha de “Zelão”, passaram a
evocar um universo popular, a tradição do samba urbano, a favela, o
trabalho, a exemplo de “A fábrica” ou “Enquanto a tristeza não vem”. Mas
talvez se possa dizer que músicas como “Esse mundo é meu” e “Barravento”,
mais que uma reorientação temática, já insinuavam traços rítmicos,
melódicos e harmônicos que se desprendiam daqueles cânones. Assim
também, em certa medida, o conjunto a trilha do filme “Esse mundo meu”.
Com efeito, a ruptura definitiva viria mesmo em 1964 – talvez não por acaso
– com a trilha de “Deus e o diabo na terra do sol”.
Revista Fim do Mundo, nº 3, set/dez 2020
Foi um traço de parte da geração dos anos 60 o retorno às raízes
populares como fonte para uma renovação da música brasileira. Nesse
sentido, desnecessário dizer que o Show Opinião permanece como um
marco icônico. Naturalmente, é emblemática a obra de Chico Buarque, em
seus primeiros discos, que, sem abrir mão do legado harmônico de Tom
Jobim e João Gilberto, recupera contornos melódicos do choro e, no
conjunto, toda uma vertente do samba urbano. A temática também
transitava para um universo popular e, naturalmente, para a crítica social.
312 Não é necessário retomar os exemplos de Geraldo Vandré ou Sidney Miller.
Sérgio Ricardo não esteve à margem dessa tendência; ao contrário. Quanto a
isso, podemos nos valer da síntese elaborada pelo próprio Sérgio nos versos
de “Vou renovar”, em que ele diz cantar “cantoria popular (...) cuja fonte está
no povo, onde eu vou buscar o novo”. O limiar do golpe de 1964 fez
estilhaçar definitivamente quaisquer expectativas que tivessem movido as
gerações precedentes. Na dimensão da cultura, significou a radicalização do
processo de massificação, própria do capitalismo contemporâneo, que se
ensaiava na vida brasileira pelo menos desde o fim da guerra. A canção,
como se sabe, se debatia entre a mimese acrítica por parte da Jovem Guarda,
a resposta antropofágica tropicalista – tudo isso no bojo da irrupção da
cultura pop que, desde os Beatles, varria o mundo – e uma resistência
nacionalista que se voltava às tradições. Sem dúvida, a partir daí, sobretudo
as raízes da música sertaneja nordestina constituíram uma matéria
fundamental para Sérgio. O samba, por suposto. E, registre-se, também, os
diálogos com a música latino-americana e suas novas trovas. Nesses
campos, as criações de Sérgio preservaram a sofisticação harmônica,
melódica e rítmica que sempre lhe caracterizarou. Parece-nos, contudo, que,
no novo quadro, os elementos ganham novo sentido: harmonias dissonantes
e certos contornos melódicos menos óbvios cumprem menos uma função de
exprimir, digamos, uma beleza sinuosa, moderna, e mais a de traduzir, por
vezes de modo áspero, uma vida bruta. A poesia das letras também
acompanha essa aspereza.
Com sua formação erudita, seu conhecimento de diversas vertentes
da canção popular, sua experiência de compositor já consolidada, com um
espírito criativo que transita por diversas linguagens, o cinema em particular,
e movido por um sentido ético que o liga definitivamente à miséria do povo,
Sérgio Ricardo mergulha nessa nova quadra histórica para produzir muitas
das mais belas canções da música popular brasileira. Em 1964, lança o disco
“Esse mundo é meu” com a trilha do filme de mesmo nome. A busca por
Revista Fim do Mundo, nº 3, set/dez 2020
algo de matrizes africanas que ouvimos em canções como “Cabocla Jandira”
e “Pregão” já prenunciam grandes obras como “Palmares”. “A grande música
de Sérgio Ricardo”, de 1967, segue na mesma linha. Na década de 1970,
deparamo-nos com um Sérgio Ricardo compositor já maduro, com um estilo
próprio, bem definido, que produziu suas obras mais significativas. Em 1971,
“Arrebentação”, com canções mais densas – a começar pela que dá nome ao
disco –, por vezes com temas inusitados que vão dos registros pré-históricos
a negociações da diplomacia internacional, viagens espaciais. “Labirinto”,
“Jogo de dados”, um trava-línguas nordestino, “Conversação de paz”, 313
“Bezerro de ouro”, canção com escalas do Mediterrâneo antigo sobre o
fetiche do dinheiro, “Mundo velho”, já mencionada, “Analfavile”, uma música
sobre a tortura, “Juliana rainha do mar”, “Espécie espacial”, entre outras. Em
1973, produz, com os músicos que dão título ao disco, “Piri, Fred, Cássio,
Franklin e Paulinho de Camafeu com Sérgio Ricardo”. Em que pesem os
pendores subjetivos, esta talvez seja sua obra-prima, dez canções magistrais,
os arranjos à altura concebidos pelo próprio Sérgio, certamente um dos
maiores discos da história da música popular brasileira. A conhecida
“Calabouço”, composta em referência ao assassinato, pela ditadura, do
estudante Edson Luís; “Deus de barro”, “Semente”, “Sina de Lampião”,
canções belíssimas; “Juliana do amor perdido”, tema do filme já referido;
“Beira do cais”, a regravação de “Deus e o diabo na terra do sol”; “Canto
americano”, uma das mais belas canções brasileiras, uma de suas melhores
composições, expressão sublime do cancioneiro latino-americano; “Vou
renovar” e “Tocaia”, composta como homenagem a Carlos Lamarca. Em
1974, outra obra-prima, o disco “A noite do espantalho”, a trilha do filme. “A
canção do espantalho”, “Toda história que se conta”, “Meu nome é Zé do
Cão”, “A pena e o penar”, “Tulão das estrelas”, “Pé na estrada”, “Noite de
Maria”, “Mutirão”, “Festa do mutirão”, “Briga de faca”, “Martelo, bala e facão”,
“Macauã”, são canções fundamentais da música brasileira.
Em 1975, lançou a coletânea, “Sérgio Ricardo, MPB espetacular”; em
1979, o disco “Do lago à cachoeira”; em 1980, o singelo disco infantil, já
referido, “Flicts”; em 2001, “Quando menos se espera”; e, em 2008, “Ponto de
partida”, um disco de regravações, com novos arranjos. Outras tantas
canções poderiam ser mencionadas, “Cacumbu”, “Dulce Negra”, “Canto
vadio”, “Tarja cravada”... Mas cumpre destacar outra obra-prima da música
brasileira, um de seus trabalhos mais densos: “Estória de João-Joana”, de
1983. Trata-se de um cordel de Carlos Drummond de Andrade que ecoa o
universo roseano, brilhantemente musicado por Sérgio. Na gravação, este
Revista Fim do Mundo, nº 3, set/dez 2020
poema sinfônico teve participação especial de Chico Buarque, João Bosco,
Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Telma Tavares, e foi orquestrado por
Radamés Gnatalli.
Com mais idade, dedicou-se à pintura.
Não surpreende que ditadura, em seu projeto de massificação, visasse
destruir, à força bruta, a cultura brasileira, condenar obras como a de Sérgio
Ricardo a uma espécie de desaparecimento político. Não foi somente o peso
da censura – e Sérgio foi, de fato, bastante visado. O ponto é que, em tudo,
314 a ditadura foi historicamente vitoriosa. Sem ter sido propriamente
derrubada, moldou o país dali em diante e dissolveu a si própria no
momento em que suas formas políticas não eram mais necessárias. Quando
passou, a sociedade estava transfigurada em suas bases e já não se colocava
a hipótese de que se recuperasse qualquer elo perdido da cultura brasileira.
A ditadura destruíra o país. Por certo, as promessas da “redemocratização” e,
posteriormente, do “neoliberalismo”, sob as formas devastadoras do
capitalismo contemporâneo que levaram a massificação ao paroxismo,
tampouco se cumpriram. O regime do capital vive uma crise estrutural que,
no Brasil, toma a forma de um processo regressivo. Hoje a sociedade
brasileira agoniza nessa espécie de fascismo neocolonial, que trouxe de
volta, à luz do dia, os porões e tudo quanto há de mais abjeto. A barbárie se
descortina a olhos vistos. Sérgio Ricardo morreu em meio a um genocídio.
Não cabe nesse modesto obituário examinar o sentido de sua obra hoje.
Naturalmente, ela é bem maior do que o espaço que se lhe destina na
cultura de massas contemporânea. E se o país tiver algum futuro, deverá ser
revisitada e reconhecida em seu devido lugar, entre as grandes obras da arte
brasileira do século XX.
São Paulo, 10 de outubro de 2020.
Revista Fim do Mundo, nº 3, set/dez 2020
Você também pode gostar
- VICTOR PAPANEK - Design For The Real World - Intr-Capi1 - BRDocumento35 páginasVICTOR PAPANEK - Design For The Real World - Intr-Capi1 - BREvaniaAinda não há avaliações
- Resenha Agonia D ErosDocumento7 páginasResenha Agonia D ErosEvaniaAinda não há avaliações
- 17 MuseusDocumento211 páginas17 MuseusEvaniaAinda não há avaliações
- Identidade sem Pessoa: A transformação do conceito de identidadeDocumento7 páginasIdentidade sem Pessoa: A transformação do conceito de identidadeEvaniaAinda não há avaliações
- Yvy Porã - Página 23 - Um Projeto de PermaculturaDocumento18 páginasYvy Porã - Página 23 - Um Projeto de PermaculturaEvaniaAinda não há avaliações
- MANZINI Design para A Inovação Social e SustentabilidadeDocumento105 páginasMANZINI Design para A Inovação Social e SustentabilidadeRodrigo Boufleur83% (6)
- Espaco e Lugar A Perspectiva Da ExperienDocumento4 páginasEspaco e Lugar A Perspectiva Da ExperienMaressa Freitas BurgerAinda não há avaliações
- Design para ressignificar um não-lugarDocumento113 páginasDesign para ressignificar um não-lugarEvaniaAinda não há avaliações
- Os cinco macacos e o pensamento crítico: uma análise críticaDocumento5 páginasOs cinco macacos e o pensamento crítico: uma análise críticaEvaniaAinda não há avaliações
- Hortas urbanas na Babilônia: significados de rural e urbanoDocumento11 páginasHortas urbanas na Babilônia: significados de rural e urbanoEvaniaAinda não há avaliações
- O Conceito "Capital Cultural" em Pierre Bourdieu e A Herança EtnograficaDocumento22 páginasO Conceito "Capital Cultural" em Pierre Bourdieu e A Herança EtnograficaChristiane MartinsAinda não há avaliações
- Horta ArtigoDocumento12 páginasHorta ArtigoFernanda FreitasAinda não há avaliações
- Cultura e A Agenda 2030 No Brasil 5 Macrorregies em Rede 337513Documento12 páginasCultura e A Agenda 2030 No Brasil 5 Macrorregies em Rede 337513EvaniaAinda não há avaliações
- Abordagem Sistêmica Na Gestão de Design para Construção de Plataforma Habilitante Destinada À Agricultura Orgânica FamiliarDocumento15 páginasAbordagem Sistêmica Na Gestão de Design para Construção de Plataforma Habilitante Destinada À Agricultura Orgânica FamiliarEvaniaAinda não há avaliações
- Dialnet AsCidadesEAsArtesDeRua 6408133Documento14 páginasDialnet AsCidadesEAsArtesDeRua 6408133Eduardo BrunoAinda não há avaliações
- Conflitos e Disputas Pela Mercantilização de TerritóriosDocumento144 páginasConflitos e Disputas Pela Mercantilização de TerritóriosEvaniaAinda não há avaliações
- Lucio Costa e o Patrimonio Historico e Artestico NDocumento13 páginasLucio Costa e o Patrimonio Historico e Artestico NEvaniaAinda não há avaliações
- Fabiocastro,+RFM3 M1.CordovanoDocumento8 páginasFabiocastro,+RFM3 M1.CordovanoEvaniaAinda não há avaliações
- A Vingança de GaiaDocumento5 páginasA Vingança de GaiaEvaniaAinda não há avaliações
- Resenha Bem ViverDocumento8 páginasResenha Bem ViverEvaniaAinda não há avaliações
- ALICEA - MARQUESDES DESIGNINOVAOEESTRATGIASNATURAIS AplicaodePrincpiosBiomimticoseBioflicosemProjetosCriativos 2018 DESIGNGRFICODocumento86 páginasALICEA - MARQUESDES DESIGNINOVAOEESTRATGIASNATURAIS AplicaodePrincpiosBiomimticoseBioflicosemProjetosCriativos 2018 DESIGNGRFICOEvaniaAinda não há avaliações
- Hortas e Jardins Micro LocaisDocumento68 páginasHortas e Jardins Micro LocaisEvaniaAinda não há avaliações
- Amar e Brincar - Fundamentos Esquecidos Do Humano (Humberto Maturana & Gerda Verden-Zoller)Documento243 páginasAmar e Brincar - Fundamentos Esquecidos Do Humano (Humberto Maturana & Gerda Verden-Zoller)Gabriel Fagundes100% (5)
- Identidade sem Pessoa: A transformação do conceito de identidadeDocumento7 páginasIdentidade sem Pessoa: A transformação do conceito de identidadeEvaniaAinda não há avaliações
- Segredos Do Braço Do Violão - Nome Da MúsicaDocumento38 páginasSegredos Do Braço Do Violão - Nome Da MúsicamarcianomalaAinda não há avaliações
- 14 - Verb Patterns (Gerund and Infinitive)Documento9 páginas14 - Verb Patterns (Gerund and Infinitive)Augusto LRAinda não há avaliações
- Propriedades Físicas do SomDocumento60 páginasPropriedades Físicas do SomtrebiziAinda não há avaliações
- O urso que tinha música na barrigaDocumento2 páginasO urso que tinha música na barrigaJosiane MarchioriAinda não há avaliações
- A Musicoterapia No Tratamento de Doenças Mentais: Da Gênese Ao Tratamento PsicoterápicoDocumento3 páginasA Musicoterapia No Tratamento de Doenças Mentais: Da Gênese Ao Tratamento PsicoterápicoitalomazoniAinda não há avaliações
- Os Paranoicos de Caio ValentimDocumento54 páginasOs Paranoicos de Caio ValentimCaio ValentimAinda não há avaliações
- Apostila 7º Ano 2021 - COMPLETA Pedro IIDocumento106 páginasApostila 7º Ano 2021 - COMPLETA Pedro IIHelder OliveiraAinda não há avaliações
- case3: S MUSICAISDocumento15 páginascase3: S MUSICAISJefinho GarciaAinda não há avaliações
- Resultado Preliminar PPMDocumento2 páginasResultado Preliminar PPMSarah MoraesAinda não há avaliações
- EJA 8 Ingles Aprendendo Mais PAE Vol 1 Campos PDFDocumento4 páginasEJA 8 Ingles Aprendendo Mais PAE Vol 1 Campos PDFTalitta Priscilla Gomes MadeiraAinda não há avaliações
- Cavaquinho Básico LiçõesDocumento2 páginasCavaquinho Básico LiçõespgsantiagoAinda não há avaliações
- Avulsos Com Partitura Separado 128a Av S Cicatrizes Soprano PDFDocumento2 páginasAvulsos Com Partitura Separado 128a Av S Cicatrizes Soprano PDFMarcio VendittiAinda não há avaliações
- Tocando em frente com clarinete em SibDocumento1 páginaTocando em frente com clarinete em SibjairbaixoAinda não há avaliações
- Programação TV Brasil Segunda e TerçaDocumento87 páginasProgramação TV Brasil Segunda e TerçaFernando DiltonAinda não há avaliações
- Luciana Fernandes Rosa VCDocumento345 páginasLuciana Fernandes Rosa VCLucas BorbaAinda não há avaliações
- Ensaio Reg Caucaia 21 05 2023Documento1 páginaEnsaio Reg Caucaia 21 05 2023Lucas FrançaAinda não há avaliações
- Cifra Club - Jorge & Mateus - Louca de SaudadeDocumento4 páginasCifra Club - Jorge & Mateus - Louca de SaudadeRayan FássioAinda não há avaliações
- Tá Chorando Por Quê? - Música de Filipe EscandurrasDocumento2 páginasTá Chorando Por Quê? - Música de Filipe EscandurrasSamuel AlvesAinda não há avaliações
- Planilha1: Aluno Nome Do Aluno Situação Do Cadastro Do AlunoDocumento32 páginasPlanilha1: Aluno Nome Do Aluno Situação Do Cadastro Do Alunogos000Ainda não há avaliações
- Deusa do Amor OlodumDocumento1 páginaDeusa do Amor OlodumVasco Jean AzevedoAinda não há avaliações
- Cifra Club - Milton Nascimento - Maria, Maria ADocumento2 páginasCifra Club - Milton Nascimento - Maria, Maria AFlávia FernandesAinda não há avaliações
- Eu sei que vou te amarDocumento1 páginaEu sei que vou te amarGuilherme Dartaganan da SilvaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Intervalos e Campos HarmônicosDocumento2 páginasAula 1 - Intervalos e Campos HarmônicosDavid AragãoAinda não há avaliações
- Técnica vocal e repertório no canto coralDocumento2 páginasTécnica vocal e repertório no canto coralAna Paula Pereira - LIBRASAinda não há avaliações
- Frases incompletasDocumento6 páginasFrases incompletasMatheus MorariAinda não há avaliações
- Aprenda violão nota por notaDocumento8 páginasAprenda violão nota por notaPonte MusicAinda não há avaliações
- A Historia Das Cantigas de RodaDocumento9 páginasA Historia Das Cantigas de RodaDarcicley de Carvalho LopesAinda não há avaliações
- Canción Tal como soyDocumento2 páginasCanción Tal como soyEri Ck100% (1)
- Magias de Bardo Nível 0-5Documento4 páginasMagias de Bardo Nível 0-5luisadautoAinda não há avaliações
- Nao Muito Feio Pra Te Fazer Passar Vergonha - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaNao Muito Feio Pra Te Fazer Passar Vergonha - Pesquisa GoogleGustavinn GHAinda não há avaliações