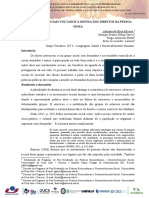Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Movimento LGBT no Brasil: das primeiras iniciativas aos desafios atuais
Enviado por
Alana ValescaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Movimento LGBT no Brasil: das primeiras iniciativas aos desafios atuais
Enviado por
Alana ValescaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
do século 21, tem estimulado a discussão de temas como a autonomia do movimento
trans diante de outros movimentos sociais, a luta internacional pela despatologização,
a diversidade sexual e de gênero das identidades trans, os privilégios da
cisgeneridade, o reconhecimento da infância e adolescência trans, a reparação dos
déficits educacionais, a inserção no mercado de trabalho formal e a representatividade
nas artes e na política partidária, questões essas que vão formatando pautas políticas
amplas, no complexo cenário dos novíssimos movimentos sociais.
JAQUELINE GOMES DE JESUS é doutora em Psicologia Social pela UnB e professora do
Instituto Federal do Rio de Janeiro
Múltiplas e diferentes identidades LGBT
1. Regina Facchinidisse:
12 de junho de 2018
As primeiras iniciativas ativistas reconhecidas como explicitamente politizadas datam do final dos anos 1970
(Arte Andreia Freire)
Intensidades políticas e emocionais do movimento LGBTI
Tornar-se ativista é um modo de reinscrever a própria história, de construir
possibilidades de voltar a habitar um mundo devastado pela violência, pelos
apagamentos e exclusões. Nos últimos quarenta anos, o movimento LGBTI tem sido
mais do que meramente representante das múltiplas vozes e demandas que se
incluem direta ou indiretamente no acrônimo pelo qual se faz conhecido. Tem sido
aquele que conta as mortes e agressões, que reconhece os corpos e zela pelo enterro
digno daqueles(as) que não contaram com familiares que pudessem fazê-lo, que alerta
sobre os riscos e que faz com que seus mortos tenham voz e conjuguem verbos.
Mais ainda, o lugar de acolhida das inquietações, dos receios e das dores e de
construção da esperança e de projetos de vida possível de um conjunto muito diverso
de sujeitos. Não são quaisquer sujeitos. São as(os) socialmente marcadas(os) a partir
de sua sexualidade ou identidade de gênero divergentes da norma e, por isso,
chamados a disputar discursos de verdade sobre a sexualidade e a subjetividade. Essas
intensidades políticas e emocionais são indissociáveis das disputas acerca do melhor
modo de dizer de si e de suas demandas, que constituem os fluxos de linguagem,
práticas e sentidos que atravessam as teias de relações entre indivíduos e instituições
que integraram o movimento LGBTI ao longo de sua trajetória.
A homossexualidade como substantivo
As primeiras iniciativas ativistas reconhecidas como explicitamente politizadas datam
do final dos anos 1970. Entre o final dos anos 1970 e meados dos anos 1990 há um
momento em que se dá um “centramento” do então chamado Movimento
Homossexual Brasileiro (MHB) em torno da noção substantivada de
homossexualidade.
Ao final dos anos 1970, momento em que os primeiros grupos de reflexão e afirmação
do MHB iniciam suas atividades e constroem boa parte da pauta política em torno da
qual atua até os dias de hoje, o “assumir-se” emerge como ferramenta política que era
usada ainda por poucas pessoas e olhada com desconfiança por tantas outras.
Debates e tensões focalizavam oposições como ser ou estar homossexual ou criticavam
que se tomasse homossexualidade como substantivo. Era um momento marcado por
forte ímpeto antiautoritário e por projetos de transformação social mais amplos.
Outras tensões nos primeiros grupos ativistas remetiam tanto à representação
de questões de gênero e de raça na prática cotidiana dos grupos quanto a diferentes
projetos de transformação social, opondo autonomistas e socialistas.
A partir de meados dos anos 1980, apesar da redução expressiva da quantidade de
grupos e das dificuldades trazidas pela epidemia do HIV/aids, há mudanças
significativas, com o crescimento da influência de ativistas cuja atuação é mais
pragmática e dirigida para os direitos de homossexuais.
É fundamental nesse processo de “centramento”, ou de produção de um sujeito
político estável, a vitoriosa campanha que levou à obtenção de parecer do Conselho
Federal de Medicina (CFM) e à retirada do “homossexualismo” do código de doenças
utilizado no Brasil, em 1985.
A demanda pela não discriminação por orientação sexual levada à Constituinte de
1987-8 e a luta pelo direito à vida, representada pelas demandas de combate à
epidemia do HIV/aids e à violência letal, colocaram em cena a mobilização da
categoria orientação sexual.
Tal mobilização procurava apaziguar as tensões em torno de tomar a categoria
homossexualidade como um substantivo. Contudo, deixava abertas as intersecções
entre sexualidade, gênero e raça, que já haviam demonstrado sua importância desde
os primeiros momentos do movimento, mas também as tensões em torno da
estabilidade da identidade sexual e do encapsulamento da potencial fluidez do desejo.
A cidadanização dos sujeitos LGBT
Os anos 1990 e 2000 assistem a um processo de cidadanização desses sujeitos
políticos e um “descentramento” que faz emergir o movimento como LGBT. Tem como
condições de possibilidade a “redemocratização”; a visibilidade que o sensacionalismo
midiático traz ao associar aids e homossexualidade; a chamada “resposta coletiva à
epidemia”; a aproximação entre setores de Estado e movimento na formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas e a consequente institucionalização
do movimento; além de um cenário permeável aos direitos sexuais e reprodutivos no
âmbito das Nações Unidas.
Intensificam-se lançamentos de candidaturas, criação de projetos de lei, incidência
política dirigida principalmente ao Legislativo e ao Executivo, participação em espaços
de diálogo socioestatal, como comitês e conselhos e nas conferências destinadas a
embasar a formulação e a avaliação de políticas públicas.
Embora a homossexualidade apareça pela primeira vez em um documento público
federal não relacionado especificamente à saúde ainda durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso, o ápice desse processo se dá ao longo das gestões do Partido dos
Trabalhadores no Governo Federal. Tem como marcos o lançamento do Programa
Brasil sem Homofobia, em 2004, e a imagem do então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva segurando a bandeira do arco-íris na abertura da I Conferência de Políticas para
LGBT, em 2008.
O diálogo socioestatal exigia clara delimitação de sujeitos e demandas, o que levou a
duas respostas diferentes.
A primeira, uma ênfase na clara delimitação de identidades e o consequente
acirramento dos processos de disputa por visibilidade no interior de um movimento
no qual o sujeito político se torna mais e mais complexo. Multiplicam-se as redes
nacionais e regionais de organizações, mas também as letras do acrônimo que nomeia
o movimento, cuja ordem se estabiliza apenas com a adoção da formulação LGBT –
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – na I Conferência Nacional de
Políticas para LGBT, em 2008. Criam-se, ainda, articulações entre LGBT e outros
“segmentos”, de modo a constituir grupos e redes de negras(os) e de jovens LGBT.
A segunda resposta, a visibilidade massiva protagonizada pelas Paradas do Orgulho, é,
em parte, complementar à incidência política, visto que dava corpo, por assim dizer, à
“comunidade”, mas também a dotava de uma face mais plural, produzindo
deslocamentos em relação a estratégias vitimistas.
A difusão de todo um vocabulário marcado por categorias como “populações”,
“segmentos”, “especificidades” e “transversalidade” e as disputas por recursos sempre
escassos, faziam com que comitês técnicos e plenárias de conferências se
constituíssem como espaços privilegiados de conflito e de pactuação, de construção da
unidade.
Tratava-se ainda de criar pontes entre classificações oficiais e as formas de
autoatribuição encontradas nas “bases”. É esse o processo que faz emergir demandas
pelo reconhecimento da necessidade de combater especificamente a lesbofobia e
a transfobia e que, ao final desse momento, conduziu ao emprego da
categoria LGBTfobia.
Um cenário melancólico nos anos 2010
Embora conquistas como o reconhecimento judicial das “uniões homoafetivas”, o
acesso a mudanças corporais para pessoas trans no SUS e as portarias que
reconhecem o direito ao uso do nome social tenham transformado a vida de LGBT no
país, o cenário no início dos anos 2010 era um tanto melancólico.
Por um lado, crescia no interior do próprio movimento uma inquietação com relação
aos limites dos espaços de participação e ao escopo efetivamente alcançado pelas
políticas direcionadas a LGBT. Por outro, intensificavam-se os sinais de uma
“politização reativa” do campo religioso e da articulação dessa reação com outros
setores conservadores no campo político.
Isso nos leva ao cenário atual, no qual há uma diversificação nos modos de fazer do
ativismo, muitos dos quais deixam de ter na figura do Estado o principal interlocutor.
Este momento aprofunda mudanças que já se faziam sentir desde a década anterior.
Massificavam-se críticas à institucionalização dos movimentos sociais e à
possibilidade mesma de representação política, com desvalorização do “essencialismo
estratégico” e descrédito nas possibilidades de obtenção de direitos via diálogo com
instâncias estatais.
Tal cenário tem sido marcado pelo desfinanciamento de organizações não
governamentais, pela desvalorização de formas institucionais de organização e
atuação e pela valorização da horizontalidade, da autonomia, da “espontaneidade” e da
instantaneidade da reação das ruas e das redes e do artivismo. É ainda atravessado
pelo processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e pelo violento e rápido
ataque a estruturas governamentais, garantias legislativas, mas também a lideranças e
formas de organização políticas, que visavam combater e corrigir desigualdades
sociais no Brasil.
Reencantando a política em novas frentes de luta
Os efeitos da popularização da internet e do acesso ao ensino superior, bem como o
acesso facilitado a aportes teóricos, se fazem sentir nas gerações mais jovens de
ativistas, com destaque para a difusão dos estudos queer, de teorias interseccionais e
descoloniais e do feminismo negro.
Novas categorias de identidade e processos de produção e mobilização de identidades
também ganham lugar. A ênfase na experiência como base de legitimidade política
cresce. A mobilização da noção de lugar de fala desloca o modo negociado como vinha
se produzindo a relação entre diferenças relativas a gênero e raça e visibilidades,
colocando o corpo ao centro para autorizar ou barrar a aparição dos sujeitos.
Emergem também processos de construção de um “outro não marcado”,
protagonizados por sujeitos cuja visibilidade foi insistentemente negada, como no caso
da produção e mobilização das categorias cisgênero e cisnormatividade por ativistas
trans.
A própria noção de homossexualidade praticamente desaparece de textos acadêmicos
e do vocabulário político e a apropriação de recursos teóricos, muitos oriundos de
perspectivas feministas, coloca ao centro as transidentidades, as lesbianidades e
as bichas, sapatões e trans pretas e/ou periféricas, empoderadas e com formas de
visibilidade renovadas.
Entre as formas de atuação mais institucionalizadas ou afeitas ao diálogo com atores
estatais, emergem mais fortemente enquadramentos que enfatizam a dor e o
sofrimento, a partir das figuras das mães de LGBT, de LGBT periféricos(as), de
travestis e de transexuais e das pessoas intersexo.
Desde meados dos anos 2000 intensificou-se a incidência política de redes ativistas no
Judiciário, com resultados importantes como as decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre as “uniões homoafetivas” e sobre a alteração de registro civil de pessoas
trans sem necessidade de laudos, cirurgia ou decisão judicial.
Embora com menos acesso a recursos e em um cenário político muito desfavorável, as
organizações e conexões construídas no período de maior ênfase no ativismo por vias
institucionais seguem incidindo sobre os rumos da política sexual, especialmente em
espaços mais permeáveis. Ativistas LGBT fortalecem sua organização no interior de
outros movimentos sociais, como no MST, e seguem disputando espaço em partidos
políticos e buscando representação por via eleitoral.
Vivemos um momento político permeado por altas voltagens emocionais, no qual o
terror é evocado frequentemente pela acelerada retirada de direitos sociais,
trabalhistas e sexuais e reprodutivos, pelo esvaziamento ou destruição de projetos de
futuro.
A atual ênfase na experiência funciona a um só tempo como forma de contraste em
relação às políticas de identidade do período anterior, mas também como forma de
reencantar a política, conectando-a ao cotidiano e a estruturas de poder que incidem
diretamente sobre a vida dos sujeitos e daqueles(as) que consideram como sendo
os(as) seus(suas).
Apesar do cenário de forte retrocesso, retomar a trajetória do movimento e de seus
experimentos e apostas políticas evidencia os avanços, sobretudo aqueles que não
serão destruídos porque se incorporaram aos próprios sujeitos. Evidencia também as
várias frentes de luta e, embora parte significativa das(os) ativistas não espere mais
construir unidade política, ajuda a entrever possíveis pontes ou pontos de contato.
REGINA FACCHINI é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, professora de
Antropologia Social na Unicamp e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu
Você também pode gostar
- Plano Curso Tecnico Design MoveisDocumento49 páginasPlano Curso Tecnico Design MoveisFausto Andrade RosarioAinda não há avaliações
- Antologia Mil Poemas para Gonçalves Dias PDFDocumento757 páginasAntologia Mil Poemas para Gonçalves Dias PDFZid Santos100% (2)
- Manual de Manutenção Euro 5 Acima 10 TonDocumento122 páginasManual de Manutenção Euro 5 Acima 10 TonCarlos Buzolo100% (3)
- Preconceito contra homossexualidades: a hierarquia da invisibilidadeNo EverandPreconceito contra homossexualidades: a hierarquia da invisibilidadeAinda não há avaliações
- Gênero, neoconservadorismo e democracia: Disputas e retrocessos na América LatinaNo EverandGênero, neoconservadorismo e democracia: Disputas e retrocessos na América LatinaAinda não há avaliações
- Pensando identidades pós-fixas, diversidade e tecnologias na construção dos corposDocumento409 páginasPensando identidades pós-fixas, diversidade e tecnologias na construção dos corpostamaniniufprAinda não há avaliações
- A História da Educação por Thomas Ransom GilesDocumento30 páginasA História da Educação por Thomas Ransom GilesGabriel Haddad0% (1)
- O Movimento LGBT - Revista MovimentoDocumento16 páginasO Movimento LGBT - Revista MovimentoLívia Caldieraro de SouzaAinda não há avaliações
- Exercícios sobre a Independência do BrasilDocumento8 páginasExercícios sobre a Independência do BrasilMarcella MagaldiAinda não há avaliações
- Formação Econômica Do Brasil, Caps. 25, 26, 27 e 28 - Furtado, C.Documento3 páginasFormação Econômica Do Brasil, Caps. 25, 26, 27 e 28 - Furtado, C.Carla Akiko TakahashiAinda não há avaliações
- Avaliação Desigualdade Social e Pobresa GeografiaDocumento4 páginasAvaliação Desigualdade Social e Pobresa GeografiaAna Paula GomesAinda não há avaliações
- Direitos Sociais e Movimentos Sociais no BrasilDocumento6 páginasDireitos Sociais e Movimentos Sociais no BrasilHaulison Renner LimaAinda não há avaliações
- Movimentos sociais e ONGs no BrasilDocumento17 páginasMovimentos sociais e ONGs no BrasilTales FigueiredoAinda não há avaliações
- Movimento LGBT Brasileiro: Campo e ArenaDocumento28 páginasMovimento LGBT Brasileiro: Campo e ArenaEdipo Goergen100% (1)
- Antropologia e diversidade de gênero e sexualidade no BrasilDocumento17 páginasAntropologia e diversidade de gênero e sexualidade no BrasilRebecca BertelliAinda não há avaliações
- Movimento LGBT e Lutas Por Politicas Publicas Conquistas Desafios e Lutas Sociais LGBTDocumento9 páginasMovimento LGBT e Lutas Por Politicas Publicas Conquistas Desafios e Lutas Sociais LGBTCaroline AzrddAinda não há avaliações
- Não Somos, Queremos - Por Richard MiskolciDocumento12 páginasNão Somos, Queremos - Por Richard Miskolcipanterasrosa69Ainda não há avaliações
- Assédio moral contra LGBTs no trabalhoDocumento31 páginasAssédio moral contra LGBTs no trabalhoVincius BalestraAinda não há avaliações
- A Interseccionalidade em Um Movimento Social LGBTQI+ de Teresina (PI) : Trajetória Do Grupo MatizesDocumento22 páginasA Interseccionalidade em Um Movimento Social LGBTQI+ de Teresina (PI) : Trajetória Do Grupo MatizesOlivia Cristina PerezAinda não há avaliações
- 10 anos de políticas LGBT no Brasil: conquistas e desafiosDocumento28 páginas10 anos de políticas LGBT no Brasil: conquistas e desafiosAnonymous Vdmgn0Ainda não há avaliações
- Políticas Públicas No Brasil Voltadas para A População LGBT Reflexos Que o Movimento Enfrenta Com Relação À Sociedade Civil1Documento29 páginasPolíticas Públicas No Brasil Voltadas para A População LGBT Reflexos Que o Movimento Enfrenta Com Relação À Sociedade Civil1Leandro EblingAinda não há avaliações
- Direitos LGBT, políticas públicas e desafios sociaisDocumento18 páginasDireitos LGBT, políticas públicas e desafios sociaisProfa Alessandra FigueiredoAinda não há avaliações
- Políticas Públicas para DiversidadeDocumento16 páginasPolíticas Públicas para DiversidadeHiago SoaresAinda não há avaliações
- SocioDocumento4 páginasSocioDaniel FreitasAinda não há avaliações
- Política Brasileira No Século XxiDocumento15 páginasPolítica Brasileira No Século Xxiklever.albertoAinda não há avaliações
- BARSTED - Lei Maria Da Penha - Uma Experiência Bem-Sucedida de Advocacy FeministaDocumento25 páginasBARSTED - Lei Maria Da Penha - Uma Experiência Bem-Sucedida de Advocacy FeministaDiego Ken OsoegawaAinda não há avaliações
- 6.TC - Biroli - EP19 A Reacao Contra Genero e Democracia FICHADODocumento12 páginas6.TC - Biroli - EP19 A Reacao Contra Genero e Democracia FICHADOCilesia LemosAinda não há avaliações
- Batalhas Morais - Política Identitária Na Esfera Pública Richard Miskolci 2021 Autêntica EditoraDocumento100 páginasBatalhas Morais - Política Identitária Na Esfera Pública Richard Miskolci 2021 Autêntica EditoraDiogo Silva CorreaAinda não há avaliações
- Combate à Homofobia e Visibilidade LGBT no BrasilDocumento3 páginasCombate à Homofobia e Visibilidade LGBT no BrasilLeandro CastroAinda não há avaliações
- Movimento Homossexual No Brasil Recompondo Um HistricoDocumento45 páginasMovimento Homossexual No Brasil Recompondo Um HistricoRafael LimaAinda não há avaliações
- Adolescentes LGBT e políticas públicasDocumento20 páginasAdolescentes LGBT e políticas públicasKésia MaximianoAinda não há avaliações
- Itaborai, Nathalie Reis. o Pessoal É Politico Lacunas e Horizontes Da Revolucao de Genero.Documento20 páginasItaborai, Nathalie Reis. o Pessoal É Politico Lacunas e Horizontes Da Revolucao de Genero.alineAinda não há avaliações
- Análise do protesto negro no Brasil de 1978 a 2010Documento4 páginasAnálise do protesto negro no Brasil de 1978 a 2010Gabriella SouzaAinda não há avaliações
- Em Nome de dEUs A Luta Trans Travesti CotidianaDocumento5 páginasEm Nome de dEUs A Luta Trans Travesti CotidianayanahAinda não há avaliações
- Hs Movimento LGBTDocumento10 páginasHs Movimento LGBTRene Ventura AmaralAinda não há avaliações
- História do movimento LGBT e construção de políticas inclusivasDocumento28 páginasHistória do movimento LGBT e construção de políticas inclusivasHandherson DamascenoAinda não há avaliações
- A relação entre espaço urbano e LGBTQIADocumento5 páginasA relação entre espaço urbano e LGBTQIAFabiana AmaralAinda não há avaliações
- A Historicidade Do Movimento LGBTDocumento9 páginasA Historicidade Do Movimento LGBTbbAinda não há avaliações
- Aspectos Conceituais Sobre Gênero, Orientação SexualDocumento19 páginasAspectos Conceituais Sobre Gênero, Orientação SexualRENATAAinda não há avaliações
- Evolução do movimento LGBT no BrasilDocumento16 páginasEvolução do movimento LGBT no BrasilRodrigo AndradeAinda não há avaliações
- Negros - LDBDocumento14 páginasNegros - LDBMaattheus PiresAinda não há avaliações
- Preconceito e direitos LGBT nos meios de comunicaçãoDocumento12 páginasPreconceito e direitos LGBT nos meios de comunicaçãoIsabela AlvarengaAinda não há avaliações
- Ilse Scherer Warren Redes Sociais America LatinaDocumento14 páginasIlse Scherer Warren Redes Sociais America LatinaQuezia AlcantaraAinda não há avaliações
- Movimentos SociaisDocumento2 páginasMovimentos Sociaisbruno.camargos23Ainda não há avaliações
- Rios - Antirracismo, Movimentos Sociais e Estado (1985-2016)Documento31 páginasRios - Antirracismo, Movimentos Sociais e Estado (1985-2016)klever.albertoAinda não há avaliações
- Desafios Contemporâneos A1Documento1 páginaDesafios Contemporâneos A1Fabrício R.B-DARKAinda não há avaliações
- Teles, Edson - DH, Ação Política e As Subjetivações OceânicasDocumento31 páginasTeles, Edson - DH, Ação Política e As Subjetivações Oceânicasthiffany souzaAinda não há avaliações
- O MOVIMENTO LGBT VAI AO MUNDO: UMA ANÁLISE HISTÓRICO-DISCURSIVA DE SUA INTERNACIONALIZAÇÃODocumento16 páginasO MOVIMENTO LGBT VAI AO MUNDO: UMA ANÁLISE HISTÓRICO-DISCURSIVA DE SUA INTERNACIONALIZAÇÃOmatheusmccAinda não há avaliações
- Políticas Públicas para A Sexualidade e Gênero 1 1Documento36 páginasPolíticas Públicas para A Sexualidade e Gênero 1 1Flavinha FonsecaAinda não há avaliações
- Social - Retratos Transnacionais e Nacionais Das Cruzadas AntigêneroDocumento5 páginasSocial - Retratos Transnacionais e Nacionais Das Cruzadas AntigêneroMariana GomesAinda não há avaliações
- Artigo SBSDocumento27 páginasArtigo SBSPaulo Gracino JúniorAinda não há avaliações
- Resumo Expandido AdrianaDocumento5 páginasResumo Expandido AdrianaAdrianaAinda não há avaliações
- Das Mobilizações Aos Movimentos Sociais de Scherer-Warren ILseDocumento22 páginasDas Mobilizações Aos Movimentos Sociais de Scherer-Warren ILseAndrea VazAinda não há avaliações
- Movimentos sociais no BrasilDocumento4 páginasMovimentos sociais no BrasilSandro SilvaAinda não há avaliações
- Cultura Política e Movimentos SociaisDocumento9 páginasCultura Política e Movimentos SociaisJoscelyn Antonio JúniorAinda não há avaliações
- 47610-Texto Do Artigo-185977-1-10-20220310Documento23 páginas47610-Texto Do Artigo-185977-1-10-20220310ThiagoAinda não há avaliações
- Um Balanco Critico Acerca Da Regressao DDocumento20 páginasUm Balanco Critico Acerca Da Regressao DLouise BianchiAinda não há avaliações
- Movimento Lgbtqia Inserção e Ampliação Do Direito No Espaço Social e Da Participação Política Nas Relações InternacionaisDocumento12 páginasMovimento Lgbtqia Inserção e Ampliação Do Direito No Espaço Social e Da Participação Política Nas Relações InternacionaisLeonardo LimaAinda não há avaliações
- Participação Social Da Pessoa Idosa - Modulo3 - S - MDocumento15 páginasParticipação Social Da Pessoa Idosa - Modulo3 - S - MCRAS 31 DE MARÇOAinda não há avaliações
- sbs2003 gt09 Silvana MarianoDocumento15 páginassbs2003 gt09 Silvana MarianoGabriela MachadoAinda não há avaliações
- 5050 17294 1 PBDocumento29 páginas5050 17294 1 PBrafael.carranoAinda não há avaliações
- Polarização PolíticaDocumento9 páginasPolarização PolíticaMARIANTÔNIA DE OLIVEIRA LOPESAinda não há avaliações
- Entendendo a Bússola Política: Direita, Esquerda e as Liberdades IndividuaisDocumento2 páginasEntendendo a Bússola Política: Direita, Esquerda e as Liberdades IndividuaisRenato NogueraAinda não há avaliações
- I - Artigo BTPDocumento21 páginasI - Artigo BTPJoão FerreiraAinda não há avaliações
- Judicialização Dos Direitos Sociais: Uma Análise Das Experiências Do Grupo Matizes em Teresina (Pi)Documento16 páginasJudicialização Dos Direitos Sociais: Uma Análise Das Experiências Do Grupo Matizes em Teresina (Pi)Olivia Cristina PerezAinda não há avaliações
- Neoconservadorismo e o impacto na vida das mulheres na pandemiaDocumento13 páginasNeoconservadorismo e o impacto na vida das mulheres na pandemiaAriana SantosAinda não há avaliações
- 9762-Texto Do Artigo-38342-1-10-20200522Documento5 páginas9762-Texto Do Artigo-38342-1-10-20200522alessandroalfaia5Ainda não há avaliações
- Dissertação FarmDocumento2 páginasDissertação FarmGeovana Manuelle Aguiar PratesAinda não há avaliações
- A Modernização Do Rio de Janeiro Nas Crônicas de Olavo BilacDocumento174 páginasA Modernização Do Rio de Janeiro Nas Crônicas de Olavo BilaccjrsouzaAinda não há avaliações
- Resumo Historia Brasil ParteIDocumento40 páginasResumo Historia Brasil ParteImurilo_formigoni100% (2)
- 2021-07-09 DiarioSP - sextaPL - OKDocumento16 páginas2021-07-09 DiarioSP - sextaPL - OKRita Thomazini OfranteAinda não há avaliações
- Diferentes, Mas Não Desiguais! Viva A DiferençaDocumento18 páginasDiferentes, Mas Não Desiguais! Viva A DiferençaJéssica KarolineAinda não há avaliações
- Jeitinho é Corrupção apoie campanhaDocumento9 páginasJeitinho é Corrupção apoie campanhaCarlos UngarettiAinda não há avaliações
- Bahiana - Área de Saúde - Prova - 2021 - 1Documento18 páginasBahiana - Área de Saúde - Prova - 2021 - 1Bruna SabaAinda não há avaliações
- Catalogo Palacio Tiradentes WebDocumento15 páginasCatalogo Palacio Tiradentes WebGajo Romário0% (1)
- Christus Online Roteiro Atividade Compulsoria - 1 Etapa - 2 em - Med (2) (1) 8272436149041823122Documento2 páginasChristus Online Roteiro Atividade Compulsoria - 1 Etapa - 2 em - Med (2) (1) 8272436149041823122n/aAinda não há avaliações
- Identidade Cultural e Alimentação Maria Eunice MacielDocumento8 páginasIdentidade Cultural e Alimentação Maria Eunice MacielPaloma Maria Rodrigues AugustoAinda não há avaliações
- O Sertao Vai Virar MarDocumento12 páginasO Sertao Vai Virar MarMelissa BellaAinda não há avaliações
- Estudo DormentesDocumento2 páginasEstudo DormentesTeste DownloadAinda não há avaliações
- Trabalho Didatica e Avaliação Gestao Politica EducacionalDocumento10 páginasTrabalho Didatica e Avaliação Gestao Politica EducacionalRaquel Ferreira LuppiAinda não há avaliações
- Poesia ao vivo: a cena literária nas periferias de São PauloDocumento25 páginasPoesia ao vivo: a cena literária nas periferias de São PauloDenis Moura de QuadrosAinda não há avaliações
- A gênese da indústria da seca no Aracati durante a grande seca de 1877-1880Documento22 páginasA gênese da indústria da seca no Aracati durante a grande seca de 1877-1880João Emanoel Lima de OliveiraAinda não há avaliações
- Economia Solidária e Desenvolvimento SocialDocumento134 páginasEconomia Solidária e Desenvolvimento SocialNaty MoraesAinda não há avaliações
- Gazeta de Votorantim, Edição 257Documento16 páginasGazeta de Votorantim, Edição 257Gazeta de VotorantimAinda não há avaliações
- Economia da Cultura e DesenvolvimentoDocumento7 páginasEconomia da Cultura e DesenvolvimentoRoberta CibinAinda não há avaliações
- Catalogo Atualizado-CompletoDocumento125 páginasCatalogo Atualizado-CompletoCassiano MacedoAinda não há avaliações
- ARTE Revista A BIBLIA E DIREITOS PDFDocumento90 páginasARTE Revista A BIBLIA E DIREITOS PDFJordana SouzaAinda não há avaliações
- Povos indígenas do BrasilDocumento2 páginasPovos indígenas do BrasilRian MotaAinda não há avaliações
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde de Luanda Angola - o Alinhavar de Missangas Na Cooperacao Do BrasilDocumento96 páginasPrograma de Agentes Comunitários de Saúde de Luanda Angola - o Alinhavar de Missangas Na Cooperacao Do BrasilcamilaAinda não há avaliações
- Relatório Técnico Sobre A Nova Capital Da RepúblicaDocumento284 páginasRelatório Técnico Sobre A Nova Capital Da RepúblicagejuinaAinda não há avaliações