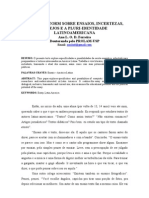Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
História Publica
Enviado por
Ana Lod0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
216 visualizações10 páginastexto enviado para marta rovai, que por esses meses organiza uma publicação sobre historia pública.
este doc foi criado dia 30 de abril e enviado à pesquisadora, por email, no mesmo dia.
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentotexto enviado para marta rovai, que por esses meses organiza uma publicação sobre historia pública.
este doc foi criado dia 30 de abril e enviado à pesquisadora, por email, no mesmo dia.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
216 visualizações10 páginasHistória Publica
Enviado por
Ana Lodtexto enviado para marta rovai, que por esses meses organiza uma publicação sobre historia pública.
este doc foi criado dia 30 de abril e enviado à pesquisadora, por email, no mesmo dia.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
História Pública: uma introdução, um encontro
Ana L. O. D. Ferreira
Doutoranda pelo PROLAM/USP
Nos dias 14 a 17 de fevereiro deste ano de 2011 foi ministrado, na Universidade
de São Paulo, por iniciativa do Núcleo de Estudos em História da Cultura Intelectual, um
curso de Introdução à História Pública.
A proposta, definida em ementa, era trabalhar o discurso histórico como uma
profusão de diferentes narrativas, construídas pelos mais diversos sujeitos, grupos sociais,
corporações, etc. Quer dizer, como algo um tanto mais complexo e polifônico do que
muitos dos historiadores de carreira tendem a trabalhar; como algo que ignora as paredes
dos departamentos, ultrapassa os muros da universidade e que é, afinal, público.
Em sua palestra, Sara Albieri, professora do Departamento de História da USP,
lembrou o conceito alemão de “consciência histórica”, que seria característica de toda a
espécie humana, independentemente do tipo de organização social. Das tribos ameríndias
às grandes metrópoles cosmopolitas norte-americanas: o interesse, a preocupação e o
trabalho com memórias e registros de fatos e dados passados seria, portanto, natural aos
seres humanos.
Para qualquer concepção que se tenha de história, e seja qual for o campo
historiográfico ao qual o especialista se dedique, segundo tal ponto de vista a história é,
em essência, sempre pública.
Segundo Dolores Hayden, professora da Universidade de Yale, a História Pública
prima por se basear em e se voltar à comunidade; por considerar diversas perspectivas de
sua audiência em relação aos temas de que trata. Por isso, lembra ela, o pesquisador
Michael Frisch fala em “shared autority”, e o pesquisador Jack Tchen fala em “dialogic
history” (HAYDEN: 48).
De acordo com a historiadora australiana Paula Hamilton, que contribuiu com um
interessante texto para um livro muito conhecido no Brasil, os historiadores públicos se
comprometem com uma percepção do processo histórico que respeita diversas visões em
relação à memória coletiva; ou, em outras palavras, se comprometem com “a intervenção
em uma ampla gama de arenas sociais” (HAMILTON: 82).
Entretanto, também conforme a ementa do curso, note-se bem: a Historia Pública
não seria denominada “pública” apenas por ter como objeto percepções comunitárias,
comuns, difundidas acerca da historia. Ela assim se denominaria porque visaria à
formulação de narrativas históricas em formatos e estilos que garantam um alcance
público maior do que o alcance esperado, comumente, pelos historiadores universitários.
Já se disse que é de domínio público uma percepção mais ou menos subjetiva,
mais ou menos crítica acerca do passado: a memória. Mas hoje são também de domínio
público métodos de interpretação mais formais, assim como fontes de consulta. A
despeito da regulamentação da profissão de historiador, em março deste ano, a ampliação
dos mercados editoriais e o advento da Internet tornam quase ilimitadamente livre o
acesso de leigos tanto a reflexões mais teóricas, metodológicas, quanto a boas pesquisas
na área. Torna-se também viável, através da prática de digitalização e da divulgação em
sites institucionais, o acesso a fontes primárias dos mais variados tipos.
Isso se faz patente de maneira mais e mais marcante a cada dia. Daí ser premente
que historiadores se dediquem a pensar a história enquanto pública. Daí a necessidade de
questionamento, legitimação e divulgação desse campo historiográfico.
Conforme Albieri, diversos podem ser os objetivos do especialista na área: tornar
de conhecimento público informações obtidas em documentos particulares, como cartas,
diários e registros cartoriais pessoais; tornar de conhecimento público fontes encerradas
em arquivos de entidades privadas ou mesmo públicas; trabalhar pela publicação de
documentações cujo acesso tende a ser sistematicamente restringido pelo Estado.
Aliás, uma tarefa que, segundo o ponto de vista de Albieri, deve ser explorada
pelos interessados em História Pública é o tornar público questões bem marcadamente
pessoais. O especialista em História Oral, por exemplo, tem direito de revelar
informações que julga importantíssimas, mas que foram obtidas através de conversas
informais e não autorizadas? Como lidar com famílias que não autorizam investigadores
que trabalham com diários e cartas a explorarem defeitos, vícios e equívocos cometidos
por determinados indivíduos?
Nesse sentindo, há hoje duas outras temáticas de interesse público em relação às
quais o interessado em História Pública, ou mesmo qualquer historiador brasileiro de hoje
não pode deixar de se atualizar: o Wikileaks, organização transnacional sem fins
lucrativos que divulga anonimamente documentos de extrema relevância política
internacional; e as discussões sobre a abertura dos arquivos sobre a ditadura, no Brasil.
Outra questão importante: para se trabalhar com História Pública o pesquisador
precisa, cada vez mais, se servir de múltiplos saberes. Podemos dizer que a História
Pública se constitui na fronteira entre distintos campos da História, e também entre
campos do conhecimento humano que se encontram para além dos espaços
tradicionalmente explorados pelos historiadores. Ela é, então, por essência,
transdisciplinar e paradisciplinar.
Assim, também podem ser considerados de interesse da História Pública: projetos
pedagógicos, projetos para exposições e museus, projetos de revistas, jornais, sites, blogs
na área, CD-ROOMs e videojogos; projetos de livros didáticos e paradidáticos; e ainda
trabalhar com documentários e com assessoria a programas de televisão, romancistas,
telenovelistas, dramaturgos, cineastas, e cartunistas autores de HQs sobre fatos célebres
da história nacional.
Nesse sentido, a História Pública coloca uma questão fundamental a ser
destrinchada pelos historiadores em geral: o fato de nos apresentarmos como principais
autoridades nos assuntos consciência histórica, memória e história. Ora, conforme
Albieri, para nos auto-afirmarmos como competentes, nós especialistas definimos certos
procedimentos primordiais de análise e investigação. Nesses casos, qualquer tipo de
narrativa que fuja um tanto ao que se tem como padrão do discurso especialista tende a
ser considerada reduzida, desprezível ou ingênua. A exigência de dados requisitos chega
muitas vezes a nos isolar do restante da sociedade.
Essa maneira de ver as coisas – tantas vezes inconsciente e marcante – traz
implícita a crença em que existiria uma verdade sobre o passado, uma verdade dada,
objetiva, cumulativa, controlável, e que só o historiador treinado pode apreender.
Entretanto, nenhuma fonte é suficientemente transparente, nenhum marco teórico é
completo e nenhuma narrativa complexa pode se isentar de contradições ou conflitos.
Sim, nenhuma abordagem deixa de reduzir e a universidade não é sinônimo de totalidade.
Albieri brinca com os fatos: Se há respeitáveis e verdadeiramente bons livros e
filmes de ficção científica, que não põem em jogo a validade das ciências experimentais,
porque é tradado com certo desprezo pelo historiador universitário o colega que faz
assessoria a filmes de ficção histórica. Será que o biólogo ou o botânico não se interessa
mais pela televisão do que o intocado historiador? Por que é visto como não-historiador
ou como vendido, o investigador que trabalha para empresas, sob encomenda? Baseando-
se em que critérios a Academia condena o estilo do jornalista que trabalha a história
nacional? Se nos negamos a dialogar com o grande público, e perdemos o grande público,
a auto-crítica me parece mais urgente e necessária do que a crítica.
Aliás, é exatamente por tal razão, por essa tendência da História Pública à
diversidade de falas, que a proposta do curso era oferecer oficinas e mini-cursos com
profissionais de diferentes áreas exploradas por historiadores, e também por não-
historiadores.
Na primeira tarde do curso, nos falou a pesquisadora da UFF Ana Maria Mauad.
A proposta de Mauad no Laboratório de História Oral e Imagem é, após trabalhar com
uma comunidade de entrevistados, devolver a ela um produto videográfico. O que isso
quer dizer? Bom, os pesquisadores vinculados ao LABOI, após realizarem seus trabalhos
investigativos e produzirem textos para divulgação em revistas acadêmicas, dedicam-se a
editar algo para ser devolvido aos homens e mulheres leigos que contribuíram para o
desenvolvimento dos projetos com depoimentos de vida, com suas memórias. É editada,
então, a chamada “escrita videográfica”, a qual tem o mesmo tema da pesquisa feita, e
uma estrutura bem peculiar: constitui-se de imagens encontradas pelo grupo de
pesquisadores ou disponibilizadas pelos entrevistados, e textos escritos e narrados, por
locutores profissionais, pelos próprios investigadores ou, preferencialmente, pelos
entrevistados. Por vezes, explora-se também músicas e cantigas contextualizadas. Esses
produtos não têm fins comerciais, e são de livre acesso, quer dizer, foram publicados e
podem ser acessados no site do Laboratório: http://www.historia.uff.br/labhoi/
Na manhã do dia seguinte, 15 de fevereiro, assistimos à oficina com a radialista
Marta Fonterrada, da Rádio Cultura. Fonterrada e nos apresentaram belos exemplos de
áudio-documentários. Esses áudio-documentários consistiam numa profusão de falas
dissonantes e por vezes bem embaralhadas, sons ambientes (que elas chamaram
“paisagem sonora”) e música. Cada detalhe é importante: um trecho em volume mais alto,
ou uma narração mais sussurrada; um eco, um recorte abrupto de uma canção ou uma
continuidade aparentemente despropositada.
Fonterrada também apresentaram sugestões mais técnicas: programas e
procedimentos para captação e edição dos sons.
As ministrantes apresentaram uma questão problemática; confessaram: edições
sonoras mais complexas, mais eruditas, menos simplistas, mais artísticas, não têm espaço
nos principais veículos de divulgações, as grandes rádios comerciais. Conforme disseram
“hoje não se fala mais em rádio”; os programas em geral nada mais são do que seleções
musicais, uma canção que sucede à outra. Me, pergunto, então, se não seria a hora e a vez
das rádios comunitárias: elas, que ganharam projeção no Brasil quando da invasão do
Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e que têm importância definitiva para o
Movimento Zapatista, no México. Ao historiador caberia pensar sobre as disputas de
poderes que envolvem as possibilidades de divulgação de informação, e explorá-las de
maneira a garantir um espaço para divulgação de seus trabalhos; mas também cabe a ele
se inspirar na linguagem do rádio, do áudio-documentário, e produzir num estilo crítico,
plural e acessível. Conferir nos seguintes links exemplos de rádios comunitárias:
http://jornalvozdacomunidade.com.br/2011/?p=606 e http://radiozapatista.org/?
cat=1&lang=en
A mim me ocorreu que a edição de áudio-documentários pode ser a base de um
excelente projeto pedagógico de História. Como é de conhecimento de qualquer professor
do ensino básico em nosso país, nossas crianças e jovens têm grande dificuldade em
ouvir: apurar os ouvidos, considerar a fala do outro, prestar atenção, com carinho e com
acuidade. Incumbi-los da tarefa de apreender sons (ambientes, falar, músicas), selecionar
e ordenar em uma narrativa pessoal pode resultar numa experiência profícua e
gratificante.
A criação de rádios escolares também não deixa de ser interessante, e, como uma
breve googleada nos permite descobrir, hoje mobilizam professores de diversas
instituições de ensino, sobretudo públicas, com resultados significativos para os alunos,
para as escolas e para as comunidades.
Essas duas primeiras oficinas levaram a audiência a pensar na utilização dos
recursos tecnológicos pelo historiador. Fechado em arquivos poeirentos e se restringindo
a utilizar o computador como máquina de escrever, o velho modelo de pesquisador da
área de História se choca com ou goza da possibilidade de acessar revistas especializadas
ou fontes digitalizadas e divulgadas em sites dos mais diversos rincões do planeta; e se vê
diante da possibilidade de gravar depoimentos, de editar fontes imagéticas e sonoras, e de
divulgar amplamente os resultados de suas investigações.
Nas tarde do dia 15, nos falou a jornalista da Agência USP de Notícias Valéria
Dias. Então, abordamos a divulgação do trabalho científico. Conforme Dias, o metiér dos
jornalistas da Agência USP é simples: telefonam a pesquisadores que estão concluindo
investigações importantes, realizam uma curta entrevista, e divulgam aquilo que foi
apreendido – no site da instituição, através da newsletter, de redes sociais e de um
microblog. A oficina de Dias não nos ofereceu grandes contribuições sobre como o
historiador pode vir a explorar ele mesmo, de maneira atualizada, plural e complexa,
possibilidades de divulgação de seu trabalho. Porém, teve o papel de apresentar duas
questões fundamentais que passam em geral despercebidas por pesquisadores da área de
História, e que, sendo repensadas por nós, possivelmente viabilizariam que mais
facilmente nossos trabalhos fossem acessados e despertassem o interesse das mídias
especializadas ou não.
Primeiramente, a partir da fala da jornalista me ocorreu que não nos preocupamos
o necessário com a formulação dos resumos de nossos artigos, dissertações e/ou teses.
Conforme indicou Dias, é procedimento da Agência USP como de diversos jornais que
acessam tanto a agência como o banco de teses da USP interessar-se pelas primeiras
linhas; em geral a falta de tempo e correria das redações impedem que um jornalista se
foque por tempo demasiado em textos mais amplos. Isso nos leva a considerar que deve-
se atentar para o conceito de “lide” (ou “lead”) tanto nos cursos de jornalismo, quanto nos
cursos de História, caso nos interessemos e projetemos a importância de uma História
Pública.
Em segundo lugar, nos rendeu ricas apreciações a entrevista que Dias promoveu,
ao findar de sua apresentação, com um dos historiadores da platéia. Pretendendo
demonstrar como procedia em seu ofício, a jornalista acabou por nos fazer pensar muito
mais sobre nós mesmos, pesquisadores de história. Através da análise da postura e da fala
do colega entrevistado, foi interessantíssimo e importante constatar como temos
dificuldades de fugir às terminologias demasiadamente específicas, em “trocar idéias”
com não-especialistas, e como o dialogismo é tão menos característico da História do que
o discurso, o monólogo, o palanque.
A questão da divulgação da História poderia ter sido explorada em outras frentes.
Por exemplo: O que os historiadores têm feito para tornar seus trabalhos mais acessíveis?
Nesse sentido, caberia uma análise do Portal Scielo e das edições eletrônicas
especializadas, que cresceram consideravelmente nos últimos anos; na área da História,
embora ainda com problemas relacionados à falta de profissionalismo de muitas editorias
de revistas, fato é que a ampliação das possibilidades de ser lido, implica na vantajosa
formação de uma rede de pesquisadores, integrados. Nesse sentido caberia um mini-curso
sobre regras e métodos para fundação, elaboração e divulgação de uma revista eletrônica.
Ainda no âmbito da divulgação e circulação de saberes históricos, é preciso que
remetamos a recursos hoje muito explorados por professores do ensino básico, por
estudantes e por leigos, interessados na área: as revistas impressas de larga divulgação nas
bancas (a Revista de História da Biblioteca Nacional e a Revista Aventuras na História,
por exemplo), e as redes sociais (sobretudo o Café História e a Rede Histórica); isso sem
contar as centenas de milhares de diários de bordo de docentes espalhados pela
blogosfera.
Na quarta-feira pela manhã, dia 16 de fevereiro, apresentou-se um dos
organizadores do evento: o jornalista de formação e doutorando em Historia Social pela
USP Ricardo Santhiago, do Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral, da Escola de
Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste.
Santhiago nos falou sobre a importância da História Oral para a História Pública.
Por um lado destacou o valor de se recorrer a sujeitos viventes, a memórias subjetivas
vivas em mentes e corações de homens e mulheres, para se testar versões da história
tradicionalmente consolidadas. Ressaltou ainda a possibilidade de, através da História
Oral, realizarmos estudos que garantam voz aos excluídos das fontes oficiais.
Tal como Fonterrada, Santiago também abordou aspectos e recursos técnicos e
tecnológicos.
Na tarde de quarta-feira, tivemos a oficina da historiógrafa Viviane Tessitore, do
Centro de Documentação e Informação Científica da PUC-SP. A palestrante explanou
sobre critérios de seleção de material, e desenvolveu o argumento de que não é viável
nem pretendido que, ao organizarmos núcleos de documentação, optemos por conservar
todos os documentos disponíveis. Conforme Tessitore, é preciso definir objetivos e
recortes, e estabelecer também critérios tais como condições de preservação e de leitura e
análise. Sendo assim, a seu ver, o historiador público interessado em arquivologia deixa
de ser um mero guardião de fontes amontoadas, e assume a função de garantir uma lógica,
um sentido para o corpo documental, e de viabilizar a exploração do acervo por outros
especialistas.
Encaixar-se-ia nesse ínterim uma discussão sobre organização de fontes,
documentos, objetos artísticos, e cultura material, pertencentes a arquivos de museus.
Como os museus brasileiros e estrangeiros têm dialogado com a memória coletiva,
problematizado a história, e elaborado exposições de amplo interesse? O que dizer sobre
as exposições itinerantes que ano a ano ganham públicos cada vez maiores? De fato, a
noção de “patrimônio histórico” merece ser pensada pelo historiador público.
Cabe aqui também uma reflexão sobre a possibilidade de arquivamento dos
depoimentos coletados através de entrevistas promovidas por pesquisadores ligados à
História Oral. Santhiago afirmou que, por serem essas coletas bem direcionadas a
interesses investigativos específicos, considera pouco provável que um historiador do
futuro venha a trabalhar a coleta de um colega. Que não há recursos financeiros, espaciais
nem tecnológicos para manter grandes arquivos de fontes orais, e que é responsabilidade
de cada historiador proceder o arquivamento, segurança, acesso e qualidade de audição
das fontes que coletou.
Mas não é rico e valiosíssimo o trabalho do Museu da Pessoa? Conferir em:
http://www.museudapessoa.net/
Tal como Tessitore, o palestrante da manhã do último dia do curso, 17 de
fevereiro, também nos falou sobre a importância fulcral de estabelecermos critérios de
seleção, escolha de informações e de organização, para lutarmos contra a “obesidade
informacional” que caracteriza as sociedades contemporâneas.
O professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Paulo Nassar, nos
despertou para a importância de estudarmos a História das Entidades como História
Pública.
Especialista em História Empresarial, o comunicólogo defendeu a idéia de que as
empresas não podem nem são capazes de controlar as narrativas tecidas a respeito de sua
importância e sua trajetória. Nassar falou sobre grupos especializados em Reputation on
line. Porém, a seu ver, por mais que pretendam controlar versões e disponham de capital
para fazê-lo, contratando investigadores, escritores e prospectores dos mais competentes,
efetivamente as histórias das empresas são, a seu ver, por essência, públicas. Nasser
também percebe que há uma certa tendência à “banalização e homogeneização das
narrativas”. Entretanto, ele acredita que a história de uma empresa, história pública e
disseminada, corresponde sim à profusão de versões variadas acerca dela: desenhadas
pela chefia, pelos funcionários, pelos consumidores, pelos parceiros comerciais, pela
imprensa, pelo governo.
Nasser acredita que o interesse por financiar estudos sobre sua história, por parte
das grandes empresas, decorre da impressão, hoje disseminada nos meios empresariais, de
que o crescimento está relacionado com a excelência, e de que a excelência, por sua vez,
está diretamente ligada à transcendência. Em outras palavras, para ele não basta produzir
bem e de maneira ventável; é preciso investir numa imagem cativante aos olhos dos
consumidores. É preciso que os consumidores se identifiquem com a história da empresa;
e, para tanto, é preciso que a empresa alcance uma meta difícil, a responsabilidade
histórica.
A apresentação de Nassar foi sem dúvida a mais polêmica de todas. Até que ponto
deve o historiador vender-se ao mercado? Perguntávamos, muitos de nós, historiadores da
platéia. Não devemos ser financeiramente independentes, para trabalharmos livremente a
história dos poderes? A História Empresarial bancada por financiamento privado não vai
de encontro ao princípio de que o lucro não pode ser a base sobre a qual se sustenta a
pesquisa científica; e sim a relevância social?
A noção de “responsabilidade histórica empresarial”, ditada por Nasser, questiona
tal visão tradicional e corrente, entre os universitários de História. No entendimento desse
professor, muitas empresas têm sim se aberto a investir em uma análise plural, crítica e
complexa acerca de seus erros e acertos.
De minha parte, questiono: não submetemos nossos interesses e propósitos de
análise, dia-a-dia, às modas em voga na Academia, ao sabor dos interesses dos
pesquisadores renomados, e dos que controlam as agências de financiamento de
pesquisas? O historiadores já estão acostumados a perder a briga por recursos públicos
para pesquisadores das áreas de Exatas e Biológicas; irão seguir abdicando de disputar
espaço com jornalistas, para produzir História Empresarial? Afinal, no mundo do
capitalismo avançado, no mundo das grandes organizações, não parece um contra-senso o
pesquisador de História desprezar os grandes ícones capitalistas? Que tal analisarmos
antes de criticar trabalhos como, por exemplo, o Museu da Energia, ou os livros de
Eduardo Bueno sobre a Caixa ou sobre a ANVISA?
Por fim, acredito que ficou um vazio em relação à possibilidade de o historiador
público trabalhar com assessoria a televisão, teatro e cinema, assim como com autores de
romances e de livros didáticos.
Quanto às relações entre Arte e História Pública, admito desconhecer graduações
ou pós-graduações dedicadas especificamente à área de História que contenham, em suas
grades, disciplinas que se dediquem a uma formação especializada, crítica e profunda de
investigadores consultores. Também desconheço sites, publicações ou grupos de
pesquisadores dedicados a divulgar análises bem embasadas acerca do conteúdo histórico
de novelas, peças, filmes de grande repercussão; esse seria um serviço de fundamental
importância para professores do ensino básico, estudantes, audiência em geral.
Quanto às relações entre Educação e História Pública, acredito ser essencial
destacar que, embora a produção sobre livros didáticos seja extensa, acaba por não
ultrapassar os muros da academia. Pouco se vê, nas escolas, palestras de historiadores que
realizaram profundas análises das edições disponíveis, de maneira a inspirar uma escolha
mais substancialmente crítica dos livros a serem estudados pelos alunos. Tampouco há
prática de se fazer da escolha do livro didático um debate claro, baseado em investigação
e crítica minuciosas, por parte de coordenação e professores capacitados. Por fim, existem
pouquíssimas revistas eletrônicas especializadas em Ensino de História com
funcionamento regular; e, apesar de haver muitos blogs de autoria de professores-
historiadores, circulam de maneira truncada informações sobre programas, aplicativos e
CDROOMs com temáticas históricas e com metodologia de ensino atual e interessante.
A título de conclusão, diria que o curso ministrado em fevereiro foi muito
inspirador. Propôs-se como uma Introdução, por isso muitos aspectos relativos à História
Pública ficaram em aberto, mas nos fez, como historiadores, pensar sobre estilo de
pesquisa, objetivos de investigação, motivações, recursos e possibilidades de campos a
explorar.
Fica aqui, porém, uma sugestão minha, como graduada em História, para futuros
cursos na área: que tragam às mesas historiadores. A bem da verdade, o curso organizado
pelo Núcleo de Estudos em História da Cultura Intelectual compôs um quadro de
ministrantes no qual menos de 50% era historiador de formação.
A maioria era formada em Comunicação Social. Ora, ao inscrito incauto não teria
ficado a impressão de que o Jornalismo nos há de guiar nas veredas da História Pública?
Na verdade, não. É claro que nós historiadores universitários temos muito a
aprender com os jornalistas; porém, não devemos nos esquecer das contribuições de
artistas, literatos, roteiristas, diretores, antropólogos, sociólogos, etc.
Além disso, deve-se ter em mente que muito tem sido feito na área por iniciativa
de historiadores; e há vários anos. Talvez esses historiadores públicos não tenham é tanto
prestígio acadêmico quanto os jornalistas interessados em História Pública de hoje. Mas
tal condição justamente reforça a idéia de que devemos atentar para o absurdo, nos
preocupar em tomar frente no processo de legitimação desse espaço de investigação, e
bem ocupar esse espaço no mercado de trabalho.
Referências bibliográficas:
HAMILTON, Paula. Os debates sobre memória e história: alguns aspectos internacionais.
In: FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, Janaína. Usos e abusos da história oral.
Rio de Janeiro: FGV, 1996.
HAYDEN, Dolores. The Power of place: urban landscapes as Public History.
Cambridge: The Mit Press, 1997.
Você também pode gostar
- Michael W. Apple - Ideologia e CurrículoDocumento248 páginasMichael W. Apple - Ideologia e CurrículoMateus Pinho Bernardes100% (9)
- Radio Tetra - Artigo Apresentado No ITA em 2006Documento3 páginasRadio Tetra - Artigo Apresentado No ITA em 2006PX5517Ainda não há avaliações
- Candomblé de Ketu: origem e principais aspectos da nação africana no BrasilDocumento1 páginaCandomblé de Ketu: origem e principais aspectos da nação africana no BrasilWagner Barreto0% (1)
- Teoria e prática da avaliação qualitativaDocumento10 páginasTeoria e prática da avaliação qualitativaAna LodAinda não há avaliações
- Suporte Básico Vida Pré-TesteDocumento2 páginasSuporte Básico Vida Pré-TesteMafalda Portas80% (5)
- Era Uma VezDocumento31 páginasEra Uma VezAna LodAinda não há avaliações
- ANPOCS - Etnografia Da Resistência em Yumani - Uma Retomada Da Pachamama e Do Suma QamañaDocumento14 páginasANPOCS - Etnografia Da Resistência em Yumani - Uma Retomada Da Pachamama e Do Suma QamañaAna LodAinda não há avaliações
- O Construtivismo Esta Nos DetalhesDocumento8 páginasO Construtivismo Esta Nos DetalhesAna LodAinda não há avaliações
- Teresa Egler Mantoan - InclusaoDocumento2 páginasTeresa Egler Mantoan - InclusaoAna LodAinda não há avaliações
- Análise crítica da Base Nacional Comum Curricular de GeografiaDocumento14 páginasAnálise crítica da Base Nacional Comum Curricular de GeografiaCarlos MendoncaAinda não há avaliações
- Livreto MariaTerezaMantoanDocumento50 páginasLivreto MariaTerezaMantoanSamara Gisch FerreiraAinda não há avaliações
- Proposicoes de Cipriano LuckesipdfDocumento5 páginasProposicoes de Cipriano LuckesipdfAna LodAinda não há avaliações
- Disputas BNCC PDFDocumento12 páginasDisputas BNCC PDFAna LodAinda não há avaliações
- A avaliação da aprendizagem na escolaDocumento6 páginasA avaliação da aprendizagem na escolaEudeir BarbosaAinda não há avaliações
- 53061-Texto Do Artigo-751375213290-1-10-20201112 PDFDocumento13 páginas53061-Texto Do Artigo-751375213290-1-10-20201112 PDFAna LodAinda não há avaliações
- 54002-Texto Do Artigo-751375213270-2-10-20201112 PDFDocumento11 páginas54002-Texto Do Artigo-751375213270-2-10-20201112 PDFAna LodAinda não há avaliações
- BNCC, Agenda Global E Formação DocenteDocumento15 páginasBNCC, Agenda Global E Formação DocenteDiego NascimentoAinda não há avaliações
- 2.ALIMENTAÇÃO No RenascimentoDocumento25 páginas2.ALIMENTAÇÃO No RenascimentoAna LodAinda não há avaliações
- Mostesquieu PDFDocumento21 páginasMostesquieu PDFAna LodAinda não há avaliações
- TCCDocumento142 páginasTCCAna LodAinda não há avaliações
- Curriculum Vitae - Ensino SuperiorDocumento10 páginasCurriculum Vitae - Ensino SuperiorAna LodAinda não há avaliações
- América Latina Na Escola PDFDocumento1 páginaAmérica Latina Na Escola PDFAna LodAinda não há avaliações
- Fchmto BOTOMÉDocumento5 páginasFchmto BOTOMÉAna LodAinda não há avaliações
- A Minha Mãe Disse Que Era Um Pequeno VulcãoDocumento1 páginaA Minha Mãe Disse Que Era Um Pequeno VulcãoAna LodAinda não há avaliações
- História Ambiental Feita Na América LatinaDocumento13 páginasHistória Ambiental Feita Na América LatinaFredmAinda não há avaliações
- ComentáriosDocumento2 páginasComentáriosAna LodAinda não há avaliações
- Curriculum Vitae - Ensino Fundamental e MedioDocumento10 páginasCurriculum Vitae - Ensino Fundamental e MedioAna LodAinda não há avaliações
- Rompendo o Seculo - RevistoDocumento36 páginasRompendo o Seculo - RevistoAna LodAinda não há avaliações
- Plano de Tabalho DocenteDocumento10 páginasPlano de Tabalho DocenteAna LodAinda não há avaliações
- ComentáriosDocumento2 páginasComentáriosAna LodAinda não há avaliações
- ComentáriosDocumento2 páginasComentáriosAna LodAinda não há avaliações
- História da História ComparadaDocumento19 páginasHistória da História ComparadaAna Lod100% (1)
- EnsaioDocumento19 páginasEnsaioAna LodAinda não há avaliações
- ITQ - Resumo (Introd. Teologia)Documento8 páginasITQ - Resumo (Introd. Teologia)RobinsonAinda não há avaliações
- Lista de Exerccios 1 FsicaDocumento2 páginasLista de Exerccios 1 FsicaSamilly MariaAinda não há avaliações
- Ao Cair Da Tarde ProgramacaoDocumento3 páginasAo Cair Da Tarde ProgramacaoGustavo MatiasAinda não há avaliações
- DominusDocumento2 páginasDominusjonesvgAinda não há avaliações
- Padrões visuais para hidrojateamentoDocumento28 páginasPadrões visuais para hidrojateamentoOtávio FernandesAinda não há avaliações
- Aula 7 e 8 - RLMDDocumento3 páginasAula 7 e 8 - RLMDBruno SantosAinda não há avaliações
- O Absurdo camusiano na angústia do sagrado e na solidão do homemDocumento14 páginasO Absurdo camusiano na angústia do sagrado e na solidão do homemIgor Capelatto IacAinda não há avaliações
- Resumo Do Adventismo No BrasilDocumento4 páginasResumo Do Adventismo No BrasilPaulinho Viviane OliveiraAinda não há avaliações
- Teoria Da CorDocumento25 páginasTeoria Da CorPaulo Emilio LagoAinda não há avaliações
- Windows 7 Ultimate Lite x86Documento9 páginasWindows 7 Ultimate Lite x86Auricelio Ferreira de Sousa25% (4)
- Questões - Trefilação e ExtrusãoDocumento2 páginasQuestões - Trefilação e Extrusãotavares.21raquelAinda não há avaliações
- Currículo Do Sistema de Currículos Lattes (Jeferson Candido Alves)Documento9 páginasCurrículo Do Sistema de Currículos Lattes (Jeferson Candido Alves)Rosenilson SantosAinda não há avaliações
- Crepes doces e salgados para todas as ocasiõesDocumento11 páginasCrepes doces e salgados para todas as ocasiõesAlexandra CabralAinda não há avaliações
- Formação de professores do ensino superiorDocumento17 páginasFormação de professores do ensino superiorCleo SoaresAinda não há avaliações
- Revista Aeross 2010 PDFDocumento84 páginasRevista Aeross 2010 PDF4ponto2Ainda não há avaliações
- Líquido sinovial: composição e examesDocumento16 páginasLíquido sinovial: composição e examesEveraldo BernadoAinda não há avaliações
- DIABETESDocumento2 páginasDIABETESMário Neto SantosAinda não há avaliações
- Uma Análise da Variação Linguística em InglêsDocumento17 páginasUma Análise da Variação Linguística em Inglêsbrenda.motaAinda não há avaliações
- Copa2022horáriosDocumento10 páginasCopa2022horáriosAlex SimõesAinda não há avaliações
- EMAEI Manual ProcedimentosDocumento20 páginasEMAEI Manual ProcedimentosclaudiaAinda não há avaliações
- Genro / Mada / SograDocumento7 páginasGenro / Mada / SograThe LastAinda não há avaliações
- PISO PLANO Condicoes Gerais e GarantiaDocumento2 páginasPISO PLANO Condicoes Gerais e GarantiaEurobraz Moveis Dpt. ComercialAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre A Paisagem Sonora Hospitalar: Musicalidade e Emoção Audível Na Perspectiva Filosófica de Victor ZuckerkandlDocumento24 páginasReflexões Sobre A Paisagem Sonora Hospitalar: Musicalidade e Emoção Audível Na Perspectiva Filosófica de Victor ZuckerkandlcrisdeoAinda não há avaliações
- Reiki N2Documento26 páginasReiki N2Givaldo Cruz100% (1)
- Juliano RanzolinDocumento71 páginasJuliano RanzolinAnonymous Dp1NT6YiXSAinda não há avaliações
- Conflito Conjugal e Estratégias de ResoluçãoDocumento14 páginasConflito Conjugal e Estratégias de ResoluçãoLaís Gonçalves FariaAinda não há avaliações