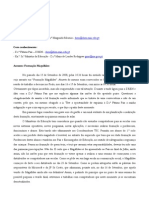Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Descaminhos Da "Riqueza Sustentável"
Enviado por
flaviabv0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações4 páginasTítulo original
Descaminhos da “riqueza sustentável”
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações4 páginasDescaminhos Da "Riqueza Sustentável"
Enviado por
flaviabvDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
Descaminhos da “riqueza sustentável”
Henri Acselrad*
O documento oficial de balanço de dezoito meses de governo Lula sugere,
redesenhando com novas ênfases, o que seria o programa efetivo dessa
administração. A conhecida opção pela inserção passiva na globalização nos
é aí apresentada como se fosse “um novo modelo de desenvolvimento”. Mas
trata-se, com efeito, da já conhecida estratégia que combina o agronegócio
exportador com a intenção de que afl orem tecnologias competitivas.
Acrescentam-se apenas traços do que tem sido chamado de “modernização
ecológica”, ou seja, a referência a um meio ambiente “de negócios” (aquele
já posto em cena pelo Avança Brasil, do segundo governo Fernando Henrique
Cardoso) destinado a oferecer imagem ecológica internacionalmente
favorável. A face “ambiental” do modelo apresenta- se assim como a soma
das divisas a serem obtidas com um “ecoturismo” com as divisas da
monocultura produtora de celulose – esta última intencional e
indevidamente apresentada como prática de “refl orestamento”. O neologismo
“riqueza sustentável”, que dá título a um subcapítulo do referido
relatório, surpreende. Ficam, diante dele, desconcertados, em particular,
aqueles que sempre consideraram estar a riqueza (de poucos) fortemente
ligada à pobreza (de muitos). Aos que acreditam que a riqueza e a pobreza
são pólos conexos de um mesmo processo de distribuição desigual, a idéia
de “riqueza sustentável” preocupa mesmo. Isso porque por meio dela somos
levados a supor que, ao lado da sustentação da riqueza, vamos continuar
observando, com desalento, a um simultâneo espetáculo de “sustentação” da
pobreza.
O que vemos, com efeito, é uma estratégia voltada para exportar a qualquer
custo, justificada pelos imperativos do ajuste macroeconômico. A
pretensão de que se esteja adotando um modelo dito “nacional-globalista”,
que combine afirmação de interesses nacionais no contexto “inevitável “da
globalização, esbarra no fato de que não há de fato base social interna
beneficiária de um tal modelo que não o próprio setor empresarial
exportador com sua capacidade sabidamente muito limitada de gerar
empregos. E é notável, além disso, a ausência de qualquer menção à vontade
de se impedir a desestruturação predatória que as culturas de exportação
produzem em economias locais, com o conseqüente agravamento da
desigualdade. Nenhum charme é atribuído às formas não globalizadas de
produção. Mais uma vez, prevalecem os velhos cacoetes da retórica
desenvolvimentista: dirige-se a mensagem do “desenvolvimento” para o
capital, a do “social” para os pobres e a do “ambiental” – basicamente um
ambiente “florestal” – para os verdes; notadamente os internacionais (a
expansão da soja na Amazônia, afirmou recentemente um responsável da área
agrícola do governo, dar-se-á nas áreas degradadas “por causa da opinião
pública internacional”).
Conseqüentemente, não se vislumbra nenhuma iniciativa destinada a limitar
os mecanismos predatórios da vida social e do meio; nenhum esforço de
originalidade que mesmo um programa moderado e pragmático poderia supor,
tal como, digamos, o de um “agronegócio territorialmente combinado com
pequena produção diversificada”, a adoção de “inovação técnica com
reconhecimento da contribuição inventiva do saber operário e do pequeno
produtor rural” ou até um “empreendedorismo ecologicamente
condicionado”... ou seja, um discurso que mostrasse a intenção de
desacelerar os mecanismos pelos quais, na últimas décadas, se tem
reproduzido tanto a dominação sobre os trabalhadores como sobre seus
ambientes.
LIMITES ESTRUTURAIS
Ao priorizar o agronegócio exportador como um subproduto da estratégia de
estabilização econômica, o governo internalizou uma defi nição externa
(leiase, a defi nição proposta pelos ideólogos da total liberdade de
movimento para os capitais) do que se consideram “limites estruturais”.
Tidos esses limites como imperativos, diante deles todas as políticas
governamentais passam a se curvar: toda prioridade foi dada, assim, à
busca de credibilidade junto ao capital internacional. Ao se colocar os
indicadores de risco-Brasil no posto de comando, abdicou-se de explorar as
possibilidades da política, ao menos da capacidade de, por meio dela, se
questionar os limites ditos estruturais tais como eles estão sendo
impostos pelo “mercado”, quer dizer, pelos próprios agentes econômicos
detentores do poder “de dar fuga aos capitais”. Por via de conseqüência,
vimos ocorrer, neste um ano e oito meses, não só um deslocamento com
relação ao que foi apresentado no programa eleitoral, mas, sobretudo, com
relação a um modo de fazer política – até então, na perspectiva do chamado
campo democrático e popular, com P maiúsculo. Com efeito, ao ceder à
chantagem locacional dos capitais – ou seja, à pressão exercida pelas
grandes corporações sobre os rumos da política econômica sob a ameaça que
fazem de retirar do país os seus investimentos –, o governo abriu espaço
para a ofensiva liberal, para o efeito desorganizador do realismo e da
abdicação da política. É o que explica a força das multinacionais da
transgenia no debate da Lei de Biossegurança (força quase silenciosa, dada
a prevalência de um cientismo de inspiração progressista, que até
dispensou o maior comparecimento das próprias empresas na cena pública), o
ataque organizado contra o sistema de licenciamento ambiental apontado
como importante “causa do desemprego no país”, a ousadia do capital
imobiliário na introdução do dispositivo – artigo 64 – que procura afastar
a aplicação do Código Florestal nas áreas urbanas e de expansão urbana
etc. Ou seja, temos visto se esboçar um conjunto de ações que apontam para
a confi guração de um verdadeiro e orquestrado desastre ambiental no país.
Isto porque, dado o tamanho da crise do emprego, grande parte da vontade
política do governo federal apresenta-se hoje aprisionada nas mãos dos que
detêm o “poder do investimento”.
Mas como se apresenta hoje o campo de forças onde se dá o embate central
em torno ao modelo de desenvolvimento no Brasil? Sabemos que duas linhas
coexistem no governo Lula desde o seu início: a que privilegia a
estabilidade monetária a qualquer custo – notadamente ao custo social do
desemprego – e a que privilegia o crescimento econômico – em nome do
inadiável combate ao desemprego. O nível das taxas de juros e as
facilidades oferecidas aos movimentos do capital financeiro, pilares da
política econômica ortodoxa, separam efetivamente estas duas linhas. Não
há dúvida que contra o financismo rentista – que promete à população um
futuro radioso, dando aos especuladores um presente de Fausto – a corrente
desenvolvimentista pretende reconstituir um projeto nacional e recuperar
os instrumentos de política industrial para além do que simplesmente o
mercado impõe.
ESTRATÉGIAS PRODUTIVAS
Mas uma mesma lógica parece unir, no atual momento, essas duas correntes
no que diz respeito às estratégias produtivas – a lógica da preferência
por um crescimento centrado no agronegócio exportador. Verifica-se,
assim, no interior da própria vertente minoritária antifi nanceirização,
uma aliança tácita entre o desenvolvimentismo nacionalista (que busca a
criação de emprego a qualquer custo) e o capital agroexportador, inclusive
multinacional (que pretende estar concorrendo orquespara a geração de
divisas também a qualquer custo). Encontraremos, por exemplo, essa aliança
presente na crítica às chamadas “restrições ambientais ao
desenvolvimento”. Na promoção desta campanha, temos visto os mesmos
agentes que pedem o Estado mínimo virem à cena pública acusar o
licenciamento ambiental de lento e burocrático, pressionando para obter o
que seria, de fato, uma espécie de “licenciamento mínimo”. Alegando a
responsabilidade ambiental das empresas, fazem, na verdade, ofensiva
cerrada contra o que até aqui se conquistou como pertinente à
responsabilidade ambiental do Estado.
Assim é que, tal como hoje se configura, o modelo de desenvolvimento em
vigor vem demonstrando ter como seus verdadeiros sujeitos os agentes
fortes no mercado mundial. E a força destes agentes reside exatamente na
“chantagem locacional” pela qual os grandes investidores envolvem, quando
não submetem a, todos aqueles que buscam o emprego, a geração de divisas e
a receita pública a qualquer custo. No plano nacional, se não obtiverem
vantagens fi nanceiras, liberdade de remessa de lucros, estabilidade etc.
os capitais internacionalizados ameaçam se “deslocalizar” para outros
países. No plano subnacional, se não obtiverem vantagens fiscais, terreno
de graça, fl exibilização de normas ambientais, urbanísticas e sociais,
também se “deslocalizam”, penalizando, conseqüentemente, os Estados e
municípios onde é maior o empenho em se preservar conquistas sociais e
ambientais. Ao mesmo tempo, ao escolher o espaço mais rentável onde se
relocalizar (ou seja, aqueles locais onde conseguem obter vantagens fi
scais e ambientais), acabam premiando com seus recursos Estados e
municípios onde é menor o nível de organização da sociedade e mais débil o
esforço em assegurar o respeito às conquistas legais. Ou seja, neste
quadro político-institucional, os capitais conseguem “internalizar a
capacidade de desorganizar a sociedade” (quer dizer, adquirir o poder de
desorganizar a sociedade), punindo com a falta de investimentos os espaços
mais organizados, e premiando, por outro lado, com seus recursos, os
espaços menos organizados.
A CARA DO GOVERNO
Nesse contexto, cabe perguntar: seria possível inibir a ofensiva liberal,
contestando a idéia do agronegócio exportador como “a cara do governo
Lula”? A despeito da adversa correlação de forças, temos visto algumas
experiências que apontam na direção de uma resposta afirmativa. A ocupação
de área plantada com monocultura de eucalipto no sul da Bahia em maio
deste ano, realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), por exemplo, mudou a qualidade do debate sobre o modelo de
desenvolvimento no país. Ao ocupar pela primeira vez terras tidas
correntemente como “produtivas”, os sem-terra puseram na agenda pública
uma inovadora discussão sobre o conceito de “produtividade”. Ou seja, por
essa demonstração, pôs-se em dúvida a idéia corrente do que seja “terra
produtiva”. Ao agitar a metáfora de que “não se come eucalipto”, os
ocupantes estavam de fato afirmando: “Não é, de fato, produtiva a terra
que produz qualquer coisa a qualquer custo”. Não se deveria, segundo eles,
considerar produtiva a terra que pode estar contribuindo para gerar
divisas, sim, mas ao custo de secar os rios, destruir a biodiversidade e
contaminar os solos, recursos que são indispensáveis para a existência de
pequenos agricultores, comunidades quilombolas, pescadores artesanais,
assentamentos de reforma agrária e núcleos urbanos.
Deu-se assim, nesse episódio, uma demonstração de resistência à “chantagem
de localização” a partir de baixo – dos próprios trabalhadores. É legítimo
– sugerem eles – dar ao povo a oportunidade de discutir – de forma plural
e plenamente informada – as condições pelas quais lhe são prometidos
empregos. Não é, por outro lado, legítimo, escapar a esse debate,
cultuando noções de produtividade que só servem aos grandes
empreendimentos monoculturais ou deslocando simplesmente os investimentos
danosos para outra região onde a crise a desorganização da sociedade seja
maior. Problematizando o conceito de “produtividade”, essa resistência,
pela base, ao desenvolvimento concentrador de recursos, mesmo que efetuada
em localidades determinadas, mostra que é possível discutir as condições
de entrada e saída de capitais também a nível nacional. Caberia aos
dirigentes na escala federal tirar as conseqüências. Pois resistir à
“chantagem da deslocalização”, seja nos planos local ou nacional, significa atingir o
núcleo duro da reprodução da desigualdade de poder nos tempos
de globalização, ou seja, os instrumentos pelos quais os capitais procuram
adquirir a capacidade de desorganizar a sociedade.
*Henri Acselrad é professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ)
Fonte: Brasil de fato, setembro de 2004
http://www.brasildefato.com.br/debate/debate-81.htm
Você também pode gostar
- Modernização, Estado e Questão AgráriaDocumento22 páginasModernização, Estado e Questão AgráriaJon SousaAinda não há avaliações
- Cynthia Sarti - Feminismo e ContextoDocumento18 páginasCynthia Sarti - Feminismo e ContextoNatã SouzaAinda não há avaliações
- Da Redistribuiçao Ao Reconhecimento? Dilemas Da Justiça Numa Era "Pós Socialista"Documento9 páginasDa Redistribuiçao Ao Reconhecimento? Dilemas Da Justiça Numa Era "Pós Socialista"VivianSanchesTeodoroAinda não há avaliações
- Howard Becker - Mundos Artisticos - Arte e Sociedade (1977)Documento18 páginasHoward Becker - Mundos Artisticos - Arte e Sociedade (1977)SaraNurogaAinda não há avaliações
- A Reinvenção dos Territórios na América LatinaDocumento49 páginasA Reinvenção dos Territórios na América LatinaflaviabvAinda não há avaliações
- DAHRENDORF - Sociologia e Sociedade IndustrialDocumento4 páginasDAHRENDORF - Sociologia e Sociedade IndustrialflaviabvAinda não há avaliações
- Da Redistribuiçao Ao Reconhecimento? Dilemas Da Justiça Numa Era "Pós Socialista"Documento9 páginasDa Redistribuiçao Ao Reconhecimento? Dilemas Da Justiça Numa Era "Pós Socialista"VivianSanchesTeodoroAinda não há avaliações
- Para Abrir As Ciencias SociaisDocumento75 páginasPara Abrir As Ciencias SociaisflaviabvAinda não há avaliações
- Os 3 Tipos de Dominação Legítima - Max WeberDocumento7 páginasOs 3 Tipos de Dominação Legítima - Max Weberfernando rosaAinda não há avaliações
- Hebert Marcuse Anticapitalismo e Emancipação - Izabel LoureiroDocumento14 páginasHebert Marcuse Anticapitalismo e Emancipação - Izabel LoureiroCarmen SilvaAinda não há avaliações
- Descaminhos Da "Riqueza Sustentável"Documento4 páginasDescaminhos Da "Riqueza Sustentável"flaviabvAinda não há avaliações
- Francisco de Oliveira - O OrnitorrincoDocumento24 páginasFrancisco de Oliveira - O OrnitorrincoFlavia Braga VieiraAinda não há avaliações
- Dicotomia Geo Fisica Geo HumanaDocumento13 páginasDicotomia Geo Fisica Geo HumanaDan IelAinda não há avaliações
- Destilação multicomponente Faculdade SalesianaDocumento48 páginasDestilação multicomponente Faculdade Salesianafeliciatcb0% (2)
- Portugues Concurso - Questões de Língua Portuguesa Polícia Federal PDFDocumento21 páginasPortugues Concurso - Questões de Língua Portuguesa Polícia Federal PDFAgiane GomesAinda não há avaliações
- Jogo das Virtudes ensina sobre evolução espiritualDocumento1 páginaJogo das Virtudes ensina sobre evolução espiritualHenrique BurgerAinda não há avaliações
- Pessoas, Ideias e AfectosDocumento524 páginasPessoas, Ideias e AfectosARCILAinda não há avaliações
- Teoria da reciprocidade em Malinowski e MaussDocumento4 páginasTeoria da reciprocidade em Malinowski e MaussJúlia PessôaAinda não há avaliações
- Juízo estético e subjetivismoDocumento15 páginasJuízo estético e subjetivismoGfdsvf Safdgfdsf100% (1)
- A Ordo SalutisDocumento5 páginasA Ordo SalutisIgorLemosAinda não há avaliações
- José Luis PeixotoDocumento27 páginasJosé Luis Peixotodavidaaduarte100% (1)
- Aspectos inefáveis da realidadeDocumento47 páginasAspectos inefáveis da realidadeDiogo AlbanezAinda não há avaliações
- Exercicios - Sociologia - U1Documento10 páginasExercicios - Sociologia - U1Melissa MoraisAinda não há avaliações
- Plano de aula sobre águaDocumento4 páginasPlano de aula sobre águaCibele BarnezeAinda não há avaliações
- ConectoresDocumento2 páginasConectoresAndreia SantosAinda não há avaliações
- Manual Modulo 1 Interpretação Do Desenho InfantilDocumento18 páginasManual Modulo 1 Interpretação Do Desenho InfantilVivo xsoAinda não há avaliações
- Supremacia de Deus Na Pregação - John PiperDocumento107 páginasSupremacia de Deus Na Pregação - John PiperGustavo Marchetti67% (3)
- Documento 0289924 Diego Ricardo Pacheco Conteudo LicenciaturaDocumento66 páginasDocumento 0289924 Diego Ricardo Pacheco Conteudo LicenciaturaDiego Ricardo PachecoAinda não há avaliações
- Fundamentos da Educação IntegralDocumento135 páginasFundamentos da Educação Integralsandrinhasnet6090Ainda não há avaliações
- Sociedade Do CansaçoDocumento8 páginasSociedade Do CansaçoDiego Dos Santoss RibeiroAinda não há avaliações
- Relatório Experimento Empuxo - MecFlu PDFDocumento6 páginasRelatório Experimento Empuxo - MecFlu PDFGiovanna LippertAinda não há avaliações
- Projeto de estruturas resistentes a sismosDocumento30 páginasProjeto de estruturas resistentes a sismoslf_lunkesAinda não há avaliações
- Projeto de Lei #03-2017 - Folga Remunerada A Servidores Públicos No Dia Do Aniversário - Luciano Peixoto MonteiroDocumento2 páginasProjeto de Lei #03-2017 - Folga Remunerada A Servidores Públicos No Dia Do Aniversário - Luciano Peixoto Monteirodanilo_intAinda não há avaliações
- Arquivologia - Teoria Das 3 IdadesDocumento1 páginaArquivologia - Teoria Das 3 IdadesAnonymous pvFhyGTCA2Ainda não há avaliações
- NP en 1993-1-2 (2010 PT) PDFDocumento87 páginasNP en 1993-1-2 (2010 PT) PDFlixoecompanhiaAinda não há avaliações
- Como Reconquistar A Ex NamoradaDocumento7 páginasComo Reconquistar A Ex NamoradaFilipeMoura100% (4)
- A Morte Do Mané Bufão - ANONIMODocumento24 páginasA Morte Do Mané Bufão - ANONIMODanilo MonteiroAinda não há avaliações
- R.N.C.C.I. - Rede Nacional de Cuidados Continuados IntegradosDocumento57 páginasR.N.C.C.I. - Rede Nacional de Cuidados Continuados IntegradosFilipa Santos100% (1)
- PROJECTOS AGRO-PECUÁRIOS - Apresentação (Porco Preto)Documento14 páginasPROJECTOS AGRO-PECUÁRIOS - Apresentação (Porco Preto)David QuintinoAinda não há avaliações
- Resenha Capitulo 1 - O Que É ArteDocumento2 páginasResenha Capitulo 1 - O Que É ArteRaquel PereiraAinda não há avaliações
- (lIVRO) Skinner-Vai-Ao-Cinema-Volume-3 PDFDocumento313 páginas(lIVRO) Skinner-Vai-Ao-Cinema-Volume-3 PDFmariellem6marchiolliAinda não há avaliações
- ReclamaçãoDocumento3 páginasReclamaçãomupAinda não há avaliações